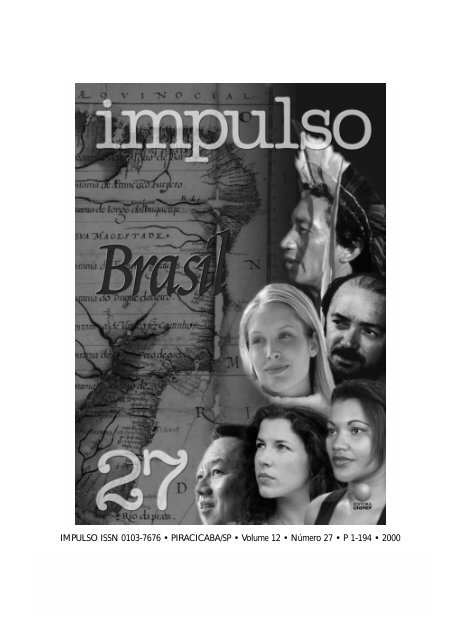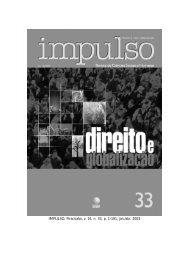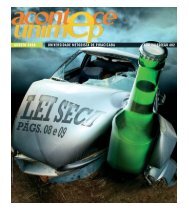impulso 1 nº 25 - Unimep
impulso 1 nº 25 - Unimep
impulso 1 nº 25 - Unimep
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IMPULSO ISSN 0103-7676 • PIRACICABA/SP • Volume 12 • Número 27 • P 1-194 • 2000<br />
<strong>impulso</strong> 1 nº <strong>25</strong>
Universidade Metodista de Piracicaba<br />
Reitor<br />
ALMIR DE SOUZA MAIA<br />
Vice-reitor Acadêmico<br />
ELY ESER BARRETO CÉSAR<br />
Vice-reitor Administrativo<br />
GUSTAVO JACQUES DIAS ALVIM<br />
EDITORA <strong>Unimep</strong><br />
Conselho de Política Editorial<br />
ALMIR DE SOUZA MAIA (PRESIDENTE)<br />
ANTÔNIO ROQUE DECHEN<br />
CASIMIRO CABRERA PERALTA<br />
CLÁUDIA REGINA CAVAGLIERI<br />
ELIAS BOAVENTURA<br />
ELY ESER BARRETO CÉSAR (VICE-PRESIDENTE)<br />
FRANCISCO COCK FONTANELLA<br />
GISLENE GARCIA FRANCO DO NASCIMENTO<br />
NIVALDO LEMOS COPPINI<br />
Comissão Editorial<br />
AMÓS NASCIMENTO<br />
ELIAS BOAVENTURA (PRESIDENTE)<br />
JORGE LUIS MIALHE<br />
JOSIANE MARIA DE SOUZA<br />
TÂNIA MARA VIEIRA SAMPAIO<br />
Editor executivo<br />
HEITOR AMÍLCAR DA SILVEIRA NETO (MTB 13.787)<br />
Equipe técnica<br />
Secretária: Ivonete Savino<br />
Apoio administrativo: Altair Alves da Silva<br />
Revisão: Sabrina R. Bologna<br />
Revisão em inglês: Margaret Ann Griesse<br />
Supervisão gráfica: Carlos Terra<br />
DTP e produção: Gráfica <strong>Unimep</strong><br />
Capa: Genival Cardoso<br />
Foto: Cristina Martins Fargetti<br />
(imagem do índio juruna)<br />
Foto do homen com bigode: cedida pela Visão Mundial<br />
Impressão: Yangraf Gráfica e Editora Ltda.<br />
Produzida em setembro/2000<br />
A revista IMPULSO é uma publicação quadrimestral<br />
da Universidade Metodista de Piracicaba –<br />
<strong>Unimep</strong> (São Paulo, Brasil). Aceitam-se artigos<br />
acadêmicos, estudos analíticos e resenhas, nas<br />
áreas das ciências humanas e sociais, e de cultura<br />
em geral. Os textos são selecionados por processo<br />
anônimo de avaliação por pares (peer<br />
review). Veja as normas para publicação no final da<br />
revista.<br />
IMPULSO is a quarterly journal published by the<br />
Universidade Metodista de Piracicaba – <strong>Unimep</strong><br />
(São Paulo, Brazil). The submission of scholarly articles,<br />
analytical studies and book reviews on the<br />
humanities, society and culture in general is welcome.<br />
Manuscripts are selected through a blind<br />
peer review process. See editorial norms for submission<br />
of articles in the back of this journal.<br />
Impulso é indexada por:<br />
Impulso is indexed by:<br />
Base de Dados do ibge; Bibliografia Bíblica Latino-<br />
Americana; Índice Bibliográfico Clase (UNAM); e<br />
Sumários Correntes em Educação.<br />
Administração, redação e assinaturas:<br />
Editora <strong>Unimep</strong><br />
www.unimep.br/editora<br />
Rodovia do Açúcar, km 156<br />
Tel./fax: 55 (19) 430-1620 / 430-1621<br />
13.400-911 – Piracicaba, São Paulo/Brasil<br />
E-mail: editora@unimep.br<br />
Revista de Ciências Sociais e Humanas<br />
da Universidade Metodista de Piracicaba<br />
V. 1 • Nº 1 • 1987<br />
Quadrimestral/Quarterly<br />
ISNN 0103-7676<br />
1- Ciências Sociais – periódicos<br />
CDU – 3 (05)<br />
dezembro 2 99
EDITORIAL<br />
Dá o que pensar...<br />
O ano 2000 se reveste de especial significado para a Universidade<br />
Metodista de Piracicaba. Além de celebrar seu Jubileu de Prata e<br />
preparar-se para a entrada em um novo milênio, a <strong>Unimep</strong> dá especial<br />
importância à discussão sobre os 500 anos de Brasil. A coincidência<br />
dessas importantes demarcações temporais representa, assim, um momento<br />
propício de iniciativas que contribuam para a memória, a reflexão<br />
e a crítica do significado histórico, atual e futuro tanto da Universidade<br />
como do cenário maior no qual está inserida, que são a história<br />
e o contexto brasileiro em uma era de globalização. Este é, pois,<br />
o marco plural no qual se insere o tema desta edição da Impulso.<br />
O número 500 não pode ser tomado como um marcador rígido,<br />
pois é facilmente relativizado. Culturas pré-colombianas habitaram<br />
por milênios o que entendemos como território brasileiro; a independência<br />
do jugo colonial português somente veio em 1822; a abolição<br />
da escravatura e a proclamação da República ocorreram respectivamente<br />
em 1888 e 1889 (ou seja, bem recentemente na escala histórica);<br />
anos de ditadura foram muitos, e poucos, os presidentes democraticamente<br />
eleitos. O Brasil é detentor de um dos mais perversos índices<br />
de desigualdade social do planeta. Qual, então, o significado destes<br />
“500 anos”?<br />
Ao dedicar-se a esse tema, a revista participa do processo iniciado<br />
em 1990, com as discussões sobre o significado do “descobrimento”<br />
da América por Cristóvão Colombo. Embora programações oficiais<br />
tenham então insistido no tom celebrativo da efeméride, muitas vozes<br />
críticas se opuseram à idéia de descobrimento, fazendo valer o argumento<br />
de que, na realidade, desde 1492 ocorrem uma “conquista” e<br />
um genocídio brutais, com funestos efeitos para o continente inteiro.<br />
Tal crítica gerou discussões e suscitou controvérsias por toda a<br />
América Latina, alcançando também a <strong>Unimep</strong>. Em 1992 a Pastoral<br />
<strong>impulso</strong> 3 nº <strong>25</strong>
Universiária dedicou-se ao tema. Em 1997, o projeto “500 Anos de<br />
Brasil: Descobrimento ou Conquista?” levou à constituição da “Comissão<br />
500 Anos”, encarregada de organizar, no âmbito da Universidade,<br />
os eventos relativos à data. Posicionando-se diante de várias iniciativas<br />
polarizadas pela mera celebração e a crítica radical, a Comissão<br />
optou por buscar um marco referencial que permitisse a pluralidade<br />
de expressões sobre essa temática.<br />
Lançando esse desafio, a Comissão definiu-se, assim, como a instância<br />
de discussão, planejamento e execução de atividades reunidads<br />
sob o marco geral do projeto “Reconstruindo o Brasil”. Esta edição da<br />
Impulso é a resposta da Editora <strong>Unimep</strong> e da Comissão Editorial desta<br />
revista a tal desafio.<br />
Os diversos ensaios temáticos publicados neste número 27 abordam<br />
temas variados, que expressam uma pluralidade de posições. Logo<br />
de início, e por estarmos inseridos no âmbito acadêmico, a questão da<br />
educação torna-se de fundamental relevância. Esse é o tema tratado, de<br />
modo complementar, por Almir de Souza Maia e Hugo Assmann. Se<br />
Maia abre esta edição com uma visão retrospectiva, mostrando como<br />
o Brasil – ao contrário de outros países latino-americanos – colocou a<br />
questão da educação tardiamente nas discussões sobre a sua identidade<br />
e seu projeto nacional, e agora se defronta com grandes desafios, Assmann<br />
parte desse pressuposto para enfatizar a necessidade de se sonhar<br />
um novo projeto de modo mais ousado, afirmando que os novos desafios<br />
constituem também oportunidades que hoje se nos apresentam<br />
para podermos sonhar um Brasil solidário. Por sua vez, Lucy Seki traça<br />
um panorama da multiplicidade das línguas atualmente faladas no Brasil,<br />
registrando sua relevância e a reivindicação das comunidades indígenas<br />
pela integração de suas próprias línguas e culturas nos processos<br />
educacionais.<br />
Questões como estas não se limitam ao território brasileiro, mas<br />
têm implicações profundas nas relações internacionais, como o expressam<br />
tanto Paulo Roberto de Almeida como José Augusto Lindgren<br />
Alves. Ambos partem de suas experiências no âmbito diplomático,<br />
mas extraem distintas conseqüências. Almeida desenvolve uma<br />
periodização da história da diplomacia no Brasil e indica uma progressiva<br />
maturidade nas relações diplomáticas do Brasil com vários outros<br />
países, revelando, assim, a crescente inserção do País como sério interlocutor<br />
na arena internacional. De sua parte, Lindgren trata da<br />
questão do racismo no Brasil, advertindo sobre o risco, em tal análise,<br />
de se tomar de modo acrítico as categorias dos movimentos oriundos<br />
dos Estados Unidos, sem que se leve em conta uma série de questões<br />
dezembro 4 99
étnicas e culturais muito particulares àquele país. Ambos os autores<br />
nos lembram, portanto, do quanto as visões externas ao Brasil estão<br />
em jogo em políticas internas.<br />
Outra temática importante e que aglutina diferentes ensaios é a<br />
questão da ciência. Também aqui se pode falar de dois pólos, quase<br />
que extremos, e em relação de complementariedade, pois Ubiratan<br />
D’Ambrósio se dedica à matemática, enquanto Ataliba de Castilho se<br />
concentra na lingüística. D’Ambrósio parte de seu projeto de uma<br />
etnomatemática para indicar como várias formas de conhecimento<br />
matemático – astronomia, geometria, navegação etc. – foram articuladas<br />
de modo sui generis no mundo ibérico à época do “achamento”<br />
do Brasil, embora culturalmente representassem distintas culturas e escolas<br />
do saber. Castilho expõe a importância da linguagem oral e o desenvolvimento<br />
da lingüística aplicada no Brasil, mas questiona a acepção<br />
de que a linguagem escrita, definida em moldes formais, seja necessariamente<br />
mais rica do que a linguagem falada ou a invalide.<br />
Três outros artigos poderiam ser aglutinados, se vistos sob um<br />
prisma antropológico. Edvaldo Bortoleto vincula a religião no Brasil<br />
não só ao contexto dos 500 anos, mas ao próprio “descobrimento” do<br />
Novo Mundo, ao tratá-los como fenômeno de “encobrimento do outro<br />
enquanto outro”. Por outro lado, Pierre Sanchis busca identificar<br />
características que marcam o campo religioso no Brasil a partir das luzes<br />
que projeta sobre a transferência de hábitat empreendida pelos<br />
portugueses – vindos de uma “terra de raiz” – às costas brasileiras – um<br />
espaço “sem limites”. Tece, assim, um retrato ágil sobre esta experiência<br />
histórica, daquilo que Sanchis chama de “construção aberta e porosa<br />
de identidades”. Iolanda Ide, de sua parte, identifica e contrapõe<br />
os vários momentos de violência de gênero em nossos cinco séculos de<br />
história, destacando a que incide sobre a sexualidade das brasileiras em<br />
suas inúmeras experiências de exclusão. E atesta: o desafio de igualdade<br />
social entres os gêneros masculino e feminino no Brasil ainda<br />
permanece um ideal a ser conquistado.<br />
Por último, mas na realidade trazendo o que talvez seja a questão<br />
fundamental na discussão sobre os 500 anos, alguns artigos articulam<br />
questões sociais especificamente brasileiras, que não podem escapar à<br />
nossa atenção. O texto de Angela Maria Corrêa e José Marcelo de<br />
Castro nos leva, indiretamente, ao próprio significado do termo “Brasil”.<br />
Embora tenha sua origem como referência à madeira abundante<br />
nas terras colonizadas pelos portugueses, o nome do País se presta atualmente<br />
como caracterização de outro fenômeno: “Brazilianization”<br />
(ou “Brasilianisierung”, no alemão) é o termo técnico internacional-<br />
<strong>impulso</strong> 5 nº <strong>25</strong>
mente aplicado hoje em dia para identificar os mais altos níveis de desigualdade<br />
econômica e social, tema este discutido por Corrêa e Castro<br />
a partir da análise dos mais importantes índices e relatórios econômicos<br />
sobre a realidade brasileira.<br />
As Comunicações desta edição da Impulso trazem textos de autores<br />
que têm, indubitavelmente, vasta produção teórica e ação prática<br />
em seus respectivos campos e que aqui apresentam aspectos mais pontuais<br />
de seu trabalho. Roberto Kishinami vale-se de sua intensa experiência<br />
na organização Greenpeace para expor temas relacionados ao<br />
antagonismo entre natureza e economia, com destaque à questão agrícola.<br />
Ivone Gebara, até bem pouco tempo submetida ao silêncio pela<br />
Igreja devido à provocativa articulação que elaborou entre feminismo<br />
e teologia, discute a questão do “discurso sobre o mal”. José Marques<br />
de Melo, reconhecido por suas inúmeras publicações e iniciativas na<br />
promoção da comunicação social no Brasil e na América Latina, retoma<br />
a linha de suas mais recentes pesquisas para discorrer sobre a “interseção<br />
entre o jornalismo prático e o acadêmico”.<br />
Assim, após passarmos em revisão essa multiplicidade de textos,<br />
não temos como aspirar a uma conclusão unívoca quanto ao significado<br />
destes “500 anos”. Tampouco poderia ser esta a pretensão da Impulso<br />
27.<br />
Se há algo conclusivo, só pode ser o fato de que, certamente, o<br />
número 500 é um símbolo que nos dá o que pensar.<br />
COMISSÃO EDITORIAL<br />
dezembro 6 99
O DESCOBRIMENTO TARDIO:<br />
as raízes, o nascimento e os atuais<br />
desafios da universidade brasileira<br />
The late discovery: from roots to present<br />
challenges of the Brazilian university<br />
ALMIR DE SOUZA MAIA 9<br />
RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL:<br />
ensaio de síntese sobre os primeiros 500 anos<br />
Brazilian international relations:<br />
Essay of assessment on the first 500 years<br />
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 21<br />
500 ANOS...<br />
DE PORTUGUESES A BRASILEIROS<br />
Five hundred years... from Portuguese to Brazilians<br />
PIERRE SANCHIS 33<br />
HÁ 500 ANOS, QUE MATEMÁTICA?<br />
500 years ago, which Mathematics?<br />
UBIRATAN D’AMBROSIO 47<br />
SERIA A LÍNGUA FALADA MAIS<br />
POBRE QUE A LÍNGUA ESCRITA?<br />
Could spoken language be poorer than written language?<br />
ATALIBA T. DE CASTILHO 59<br />
TERRA BRASILIS: do paraíso de deus(es)<br />
e de gentes (in)crédulas ou do lugar d’onde<br />
“não existe pecado do lado debaixo do equador”<br />
The land brasilis: the paradise of the god(s) and (in)credulous<br />
people or the place where “there is no sin below the equator”<br />
EDIVALDO JOSÉ BORTOLETO 73<br />
NO PEITO E NA RAÇA – a americanização<br />
do Brasil e a brasilianização da América<br />
The Americanization of Brazil and the Brazilianization<br />
of America in the Race Question<br />
J.A. LINDGREN ALVES 91<br />
MULHERES: 500 anos de muitas<br />
perdas e alguns ganhos<br />
Women: 500 years of many losses and some gains<br />
IOLANDA TOSHIE IDE 107<br />
Sumário<br />
<strong>impulso</strong> 7 nº <strong>25</strong>
Sumário<br />
BRASIL: cinco séculos de<br />
riqueza, desigualdade e pobreza<br />
BRAZIL: five centuries of wealth,<br />
income inequality and poverty<br />
ANGELA M. C. JORGE CORRÊA &<br />
JOSÉ MARCELO DE CASTRO 127<br />
BRASIL 500 ANOS:<br />
o sonho educativo de um Brasil solidário<br />
500 years of Brazil:<br />
the educational dream of a solidary Brazil<br />
HUGO ASSMANN 143<br />
Línguas Indígenas do Brasil<br />
no limiar do século XXI<br />
Native Languages of Brazil at the Threshold of the XXI Century<br />
LUCY SEKI 157<br />
...............................<br />
Comunicações 171<br />
BRASIL 500 ANOS DEPOIS<br />
Brazil 500 Year Later<br />
ROBERTO KISHINAMI 173<br />
500 ANOS E O DISCURSO<br />
SOBRE O MAL FEMININO<br />
500 Years and the Discourse on Feminine Evil<br />
IVONE GEBARA 181<br />
JORNALISMO NO BRASIL:<br />
olhar e ação da academia<br />
Journalism in Brazil:<br />
The Perspective and Action of the Academy<br />
JOSÉ MARQUES DE MELO 189<br />
dezembro 8 99
O DESCOBRIMENTO<br />
TARDIO: as raízes, o<br />
nascimento e os atuais<br />
desafios da universidade<br />
brasileira<br />
The late discovery: from roots to present<br />
challenges of the Brazilian university<br />
ALMIR DE SOUZA MAIA<br />
Reitor da Universidade Metodista<br />
de Piracicaba (UNIMEP)<br />
asmaia@unimep.br<br />
RESUMO O artigo traz uma síntese histórica dos debates e tendências em torno do surgimento da universidade brasileira,<br />
bem como a história das primeiras instituições universitárias. Destacam-se o surgimento e a atuação das escolas<br />
superiores de cunho confessional. Conclui-se o artigo com uma análise da realidade atual do ensino superior<br />
brasileiro, com ênfase nas universidades e nos desafios a serem por elas enfrentados.<br />
Palavras-chave universidade – história – ensino superior – educação confessional.<br />
ABSTRACT The article makes a historic synthesis of the discussions and tendencies concerning the emergence of the<br />
Brazilian university, as well as providing a history of the first universities in Brazil. There is a special focus on the church-related<br />
institutions of higher education. The article concludes with an analysis of the current reality of Brazilian<br />
higher education with emphasis on the universities and the challenges that face them in the new century.<br />
Keywords university – history – higher education – church-related education.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 9
Para se falar dos<br />
cinco séculos da<br />
formação de nosso<br />
povo é preciso<br />
atentar tanto para<br />
as vozes quanto<br />
para os silêncios<br />
ao longo de nossa<br />
história<br />
INTRODUÇÃO<br />
Inserir reflexões sobre a história da universidade brasileira no contexto<br />
das celebrações dos 500 anos de descobrimento do Brasil pode parecer<br />
despropositado, dado que a primeira universidade de fato em nosso<br />
país data de 1920. Entretanto, para se falar dos cinco séculos da formação<br />
de nosso povo é preciso atentar tanto para as vozes quanto<br />
para os silêncios ao longo de nossa história. Estes simbolizam o que<br />
deixou de ocorrer e que, por vezes, teve conseqüências marcantes na<br />
vida da nação brasileira.<br />
Neste artigo pretende-se, inicialmente, analisar o processo tardio do surgimento da<br />
universidade no País, suas causas e seus efeitos históricos sobre o desenvolvimento da sociedade<br />
brasileira. Concluindo, discute-se a atual configuração do sistema universitário<br />
nacional, a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),<br />
de dezembro de 1996.<br />
AS RAÍZES DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA<br />
Em 1538 é fundada a primeira universidade no continente americano, em São Domingos,<br />
coincidentemente o local do descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo,<br />
em 1492. Mas essa foi uma universidade de vida breve. Treze anos mais tarde, funda-se a<br />
Universidade de Lima como um seminário dominicano, São Marcos. No mesmo ano de<br />
1551, inaugura-se, no México, a segunda universidade do chamado Novo Mundo, espelhada<br />
no modelo das universidades espanholas, sobretudo da Universidade de Salamanca.<br />
Posteriormente surgiram as universidades de São Felipe (Chile), Córdoba (Argentina), entre<br />
outras. 1<br />
Enquanto isso, no Brasil, o silêncio. Ou melhor, era possível ouvirem-se algumas<br />
vozes no campo da educação, mas sua direção era seguramente outra que não o ensino<br />
universitário. O primeiro estabelecimento de ensino em nosso país, o Colégio dos Meninos<br />
de Jesus, 2 em São Vicente, foi fundado em 1550 pelos jesuítas, que ainda criariam outros<br />
16 colégios no Brasil, destinados a estudantes internos e externos, filhos de funcionários<br />
públicos, senhores de engenho, criadores de gado e artesãos. Escolas voltadas a ensinar as<br />
primeiras letras e ao ensino secundário, algumas agregavam o ensino superior em artes e<br />
teologia. O Colégio dos Meninos de Jesus foi modelo para outros em São Paulo, Espírito<br />
Santo, Bahia, Paraíba, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Pará.<br />
A experiência educacional jesuítica revelou-se, contudo, uma tentativa de transplantação<br />
de uma cultura em vias de extinção. Dita humanística, na verdade fundavase<br />
em valores e princípios pré-renascentistas. Alguns autores consideram que seu estabe-<br />
1 Referências cronológicas retiradas de CUNHA, 1980, p. 11.<br />
2 MARTINS, 1997, p. 13.<br />
10 <strong>impulso</strong> nº 27
lecimento e sua difusão foram responsáveis por criar uma<br />
atitude mental retrógrada e subserviente à atividade intelectual<br />
nacional. 3<br />
Por mais que os padres jesuítas tenham se empenhado<br />
numa obra séria, altamente civilizadora e alicerçada fortemente<br />
no elemento ético – enfrentando quase que solitariamente<br />
o ambiente moral dissoluto da colônia 4 –, o sistema<br />
por eles montado não teve relação direta com o processo de<br />
surgimento do ensino superior em sua forma atual.<br />
No período colonial, marcado pela política deliberada<br />
de Portugal de buscar a perpetuação de seu poder sobre a colônia,<br />
impediu-se o desenvolvimento autônomo da terra brasileira.<br />
Proibia-se a criação de universidades em terras brasileiras,<br />
pois temia-se que a existência de uma comunidade<br />
universitária viesse a contribuir para o surgimento e expansão<br />
de movimentos independentistas. Pode-se levar em consideração,<br />
ainda, que Portugal não possuía uma forte tradição<br />
universitária. No século XVI, enquanto a Espanha abrigava<br />
oito universidades, famosas em toda a Europa, Portugal tinha<br />
apenas a Universidade de Coimbra, relativamente de<br />
pequeno porte.<br />
Raymundo Faoro 5 discute o modelo econômico e cultural<br />
dependente, configurado pelo pacto colonial, em virtude<br />
do qual o sentido último da produção nacional era a exportação,<br />
diferentemente do significado que seria exportar em<br />
um contexto multilateral de comércio. Outros elementos referentes<br />
à formação da América colonial portuguesa são discutidos<br />
por Gilberto Freyre, 6 que apresenta a sociedade colonial<br />
como “agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração<br />
econômica, híbrida de índio – e mais tarde de negro –<br />
na sua composição”. Tudo isso subordinado à política de dominação<br />
da Metrópole.<br />
No século XVIII, com a Inconfidência Mineira, o País<br />
quase veio a ter sua primeira universidade, pois os inconfidentes<br />
planejavam a criação de uma instituição universitária<br />
em São João del Rei, nos moldes da de Coimbra. Contudo, a<br />
3 Ibid., p. 27.<br />
4 Para uma análise detalhada da trajetória e dos efeitos da educação dos<br />
jesuítas sobre a sociedade brasileira, ver MARTINS, 1997.<br />
5 FAORO, 1973.<br />
6 FREYRE, 1981.<br />
situação do ensino superior só viria a se alterar a partir do século<br />
XIX, com a invasão de Portugal pela França, o que causou<br />
a transferência da corte para o Brasil e a elevação da colônia<br />
a reino. A partir de então, surgem no Brasil instituições<br />
anteriormente exclusivas da Metrópole, como a Biblioteca<br />
Nacional, imprensa, bancos e fábricas, mas mesmo assim<br />
não foram criadas universidades, apesar do registro histórico<br />
da existência de várias reivindicações neste sentido.<br />
Paradoxalmente, o príncipe regente inspirou-se na<br />
França, na época rival de Portugal, para delinear o modelo<br />
de educação superior nacional. Criaram-se cátedras com o<br />
objetivo específico da formação profissional, como o Curso<br />
de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia (criado na Bahia, em fevereiro<br />
de 1808) e, quando a Corte se mudou da Bahia para<br />
o Rio de Janeiro, a Escola de Cirurgia, as Academias Militares<br />
e a Escola de Belas-Artes. Anísio Teixeira 7 considera que as<br />
escolas profissionais de então eram uma solução substitutiva<br />
ou compensatória. Por sua finalidade, argumenta o<br />
autor, as escolas profissionais não buscavam o saber pelo saber,<br />
mas sim uma fatia do conhecimento de aplicação prática<br />
(funcional). Porém, identifica-se nestes primeiros estabelecimentos<br />
de educação profissionalizante o desejo inconfesso<br />
de transformarem-se em universidades, vontade esta<br />
traduzida em certa ambigüidade, com o surgimento de escolas<br />
não totalmente utilitárias nem perfeitamente clássicas<br />
ou escolásticas. Havia, em meio à elite imperial, uma resistência<br />
à universidade enquanto forma ou organização de<br />
ensino superior, entretanto, almejava-se a cultura intelectual<br />
que lhe é inerente.<br />
No final do Império, período de acirrado debate sobre<br />
a questão do ensino superior, Rui Barbosa, 8 como relator da<br />
Comissão de Instrução Pública, apresentou à Câmara dos<br />
Deputados um precioso texto denominado “Reforma do ensino<br />
secundário e superior”. Nele, levantou algumas preocupações<br />
relacionadas à educação nacional, como a baixa qualidade<br />
do ensino, a falta de profissionalismo dos professores,<br />
a utilização de metodologias ultrapassadas (baseadas na retórica<br />
e na memorização), a insensibilidade dos poderes pú-<br />
7 TEIXEIRA, 1989.<br />
8 BARBOSA, 1882.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 11
licos e a necessidade da instituição de processos de avaliação.<br />
Os partidários de Rui Barbosa e defensores de uma educação<br />
de qualidade enfrentavam, contudo, fortes oposições,<br />
inclusive à proposta de criação de universidades, sob a alegação<br />
de que estas eram instituições obsoletas. 9<br />
Diante do impasse, perdurou no Brasil o modelo de<br />
ensino superior oferecido por estabelecimentos isolados, com<br />
cursos profissionalizantes, particularmente de medicina, direito<br />
e engenharia, encerrando-se os períodos colonial e imperial<br />
sem o registro da existência de uma universidade. Vale<br />
registrar que alguns estabelecimentos de ensino superior do<br />
País já se tornavam tradicionais, com realizações científicas<br />
e produção literária dignas de reconhecimento internacional,<br />
revelando-se grandes nomes em estudos sociológicos, etnográficos,<br />
antropológicos, geológicos e geográficos.<br />
A Proclamação da República trouxe outra dinâmica<br />
ao debate, marcadamente a partir da inspiração positivista dos<br />
republicanos e da atuação do ministro Benjamim Constant<br />
(ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos). A publicação<br />
da Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental<br />
na República, conhecida como Reforma Rivadávia Corrêa,<br />
também concorreu para abrir caminho para a concretização<br />
do ideal universitário. 10 Conforme Rossato, 11 entre 1889 e 1915<br />
foram fundados 37 estabelecimentos de ensino superior, entre<br />
faculdades e escolas superiores. Em 1892, o deputado Pedro<br />
Américo apresenta, ainda que sem êxito, o primeiro projeto de<br />
criação de Universidade da República.<br />
9 Para um registro mais detalhado dos debates, ver TEIXEIRA, 1989.<br />
10 Para uma visão mais detalhada sobre as transformações sociais, culturais,<br />
políticas e econômicas atravessadas pelo País no período subseqüente<br />
à Proclamação da República, concomitantes e até mesmo<br />
coadjuvantes ao nascimento das primeiras universidades, ver CUNHA,<br />
1980, pp. 137-177.<br />
11 ROSSATO, 1989. 12 ROSSATO, 1989.<br />
A UNIVERSIDADE TARDIA<br />
As experiências universitárias pioneiras no Brasil tiveram<br />
como característica comum a sua efemeridade. A primeira<br />
delas de que se tem registro no País foi a Universidade<br />
de Manaus, criada em 1909, no auge do ciclo da borracha.<br />
Dela restou a Faculdade de Direito, que viria a se incorporar<br />
à Universidade do Amazonas em 1962. Em 1911, surge a primeira<br />
instituição universitária paulista, a Universidade de<br />
São Paulo, criada por particulares, mas que encerrou suas<br />
atividades por dificuldades de financiamento. Seguiu-se, em<br />
1912, a Universidade do Paraná, que igualmente não teve<br />
continuidade. A breve duração dessas primeiras universidades<br />
e a ausência de repercussões maiores oriundas de sua<br />
existência fazem com que seja questionado o seu direito à<br />
“primogenitura”.<br />
Duas experiências universitárias de maior vulto iriam<br />
se seguir: em 1920, é criada a Universidade do Rio de Janeiro,<br />
com a fusão das escolas públicas de medicina e engenharia<br />
e de uma escola particular de direito; em 1927, em Minas Gerais,<br />
arquitetou-se iniciativa semelhante, com a união das faculdades<br />
de engenharia, direito, medicina, odontologia e farmácia,<br />
já existentes em Belo Horizonte.<br />
Apesar de terem subsistido, a legitimidade do pioneirismo<br />
dessas duas universidades é colocada em dúvida, sob a<br />
alegação de que foram universidades “de ofício”, dada sua<br />
criação via fusão de vários estabelecimentos isolados. O principal<br />
argumento dos críticos reside no fato de se ter denominado<br />
universidade um conjunto de escolas profissionais,<br />
não se alcançando assim o verdadeiro espírito universitário.<br />
No ano de 1934, contudo, surgiria o mais ambicioso<br />
projeto universitário, a Universidade de São Paulo, desta vez<br />
como iniciativa pública estadual. Seu impacto foi tamanho<br />
que levou à remodelação da Universidade do Rio de Janeiro,<br />
em 1937. Pode-se considerar essas duas instituições o marco<br />
inicial do esforço para firmar genuínos padrões universitários<br />
no Brasil.<br />
No fim do primeiro período presidencial de Getúlio<br />
Vargas, em 1943, o Brasil contava com quatro universidades<br />
federais e uma estadual, todas públicas. Conforme Rossato, 12<br />
somente a partir de 1946 começam a surgir as universidades<br />
particulares. Nesse ano, foram reconhecidas as PUC do Rio de<br />
Janeiro e a de São Paulo.<br />
Contudo, a universidade nacional não logrou cumprir<br />
com sua ambiciosa missão. Persistiu a tradição da escola superior<br />
independente e auto-suficiente e a da universidade do<br />
tipo confederação de escolas profissionais. A concepção clás-<br />
12 <strong>impulso</strong> nº 27
sica de universidade ultrapassa, certamente, o modelo confederado,<br />
por ser instituição criada pela sociedade para os<br />
fins muito específicos de gerar, produzir, preservar e difundir<br />
o conhecimento com a preocupação de assegurar o caráter<br />
universal da busca e da manifestação do saber.<br />
Na década de 60, havia quase 700 escolas isoladas de<br />
ensino superior, o que acarretava falta de integração neste nível<br />
de ensino, bem como duplicação de equipamentos e de<br />
corpo docente. Assim, começou-se a esboçar uma reforma<br />
universitária para melhor aproveitamento dos recursos humanos<br />
e materiais existentes e para racionalização dos serviços<br />
de ensino oferecidos pelo sistema universitário, o qual,<br />
até então, havia crescido de forma desordenada.<br />
O regime militar determinara novos rumos para a política<br />
educacional brasileira. Para atender às exigências de<br />
um modelo econômico desenvolvimentista, da urbanização<br />
crescente e da necessidade de recursos humanos mais qualificados,<br />
promoveu a expansão acelerada do sistema de ensino<br />
superior, via sua privatização.<br />
Em 1968, o governo federal criou um grupo de trabalho<br />
com a missão de estudar a “reforma da Universidade<br />
brasileira, visando sua eficiência, modernização, flexibilidade<br />
administrativa e formação de recursos humanos de alto<br />
nível para o desenvolvimento do país”. 13 O governo militar da<br />
época tinha como um de seus intentos estratégicos a expansão<br />
do ensino superior, como forma de se obter recursos humanos<br />
melhor qualificados. Pretendia, contudo, exercer<br />
maior controle sobre as instituições de ensino superior, em<br />
geral, e as universidades, em particular.<br />
A reforma universitária consubstanciou-se na Lei<br />
n.º 539/69, complementada pelos Decretos-leis n.º s 464/69<br />
e 465/69. A universidade foi apontada como forma por excelência<br />
do ensino superior, admitindo-se a faculdade isolada<br />
como exceção. Deveria ser polivalente, multifuncional<br />
e promover, de modo indissociável, o ensino, a pesquisa e a<br />
extensão. Associada à Lei de Diretrizes e Bases de 1961<br />
(LDB, Lei n.º 4.024/61), esse arcabouço legal definiu o modelo<br />
da universidade brasileira, de forma homogênea, ignorando<br />
peculiaridades regionais ou de outra espécie. O período<br />
entre a reforma universitária e a nova LDB foi marcado<br />
pela departamentalização, com estruturas idênticas vigendo<br />
em todas as universidades do País.<br />
Registra-se, portanto, o silêncio de mais de 400 anos,<br />
na história brasileira, sobre a questão universitária, com conseqüências<br />
graves sobre a formação da intelectualidade nacional.<br />
A elite do País foi moldada no estrangeiro ou em escolas<br />
profissionalizantes, carecendo da formação de espírito<br />
crítico, bem como do desenvolvimento da necessária curiosidade<br />
científica e seus métodos experimentais. Paralelamente<br />
à importação de bens de consumo, que relegava o País<br />
à condição de produtor de matérias-primas e o alijava do<br />
processo de industrialização, o Brasil conviveu com a importação<br />
“cultural”, geradora de uma elite alienada e incapaz de<br />
se voltar para os problemas nacionais, contribuindo para a<br />
perpetuação de uma situação de dependência do País no cenário<br />
internacional.<br />
Machado de Assis, no conto “Teoria do medalhão”,<br />
retrata com fino humor e ironia a postura intelectual viciada<br />
da elite nacional, no fim do século XIX. No trecho abaixo, extraído<br />
desse texto, vê-se um pai a aconselhar o seu filho sobre<br />
as supostas virtudes que deveria cultivar:<br />
– Nenhuma imaginação? (pergunta o filho).<br />
– Nenhuma; antes faze correr o boato de que um tal<br />
dom é ínfimo.<br />
– Nenhuma filosofia?<br />
– Entendamo-nos: no papel e na língua alguma, na<br />
realidade, nada. ‘Filosofia da História’, por exemplo, é<br />
uma locução que deves empregar com freqüência,<br />
mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que<br />
não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo o que<br />
possa cheirar a reflexão, originalidade etc. etc. 14<br />
Essa visão de comportamento aceitável e socialmente<br />
reconhecido foi também identificada por Sérgio Buarque de<br />
Holanda:<br />
É freqüente, entre os brasileiros que se presumem intelectuais,<br />
a facilidade com que se alimentam, ao mesmo<br />
tempo, de doutrinas dos mais variados matizes e<br />
13 Decreto 62.937, de 2/jun./68. 14 MACHADO DE ASSIS, 1962.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 13
com que sustentam, simultaneamente, as convicções<br />
mais díspares. Basta que tais doutrinas e convicções se<br />
possam impor à imaginação por uma roupagem vistosa:<br />
palavras bonitas ou argumentos sedutores. 15<br />
Pode-se alegar que a demora na criação das universidades<br />
no Brasil deveu-se sobretudo à proibição expressa de<br />
Portugal à sua criação. De fato, o sistema de educação na sociedade<br />
portuguesa representava planos conscientes e determinados<br />
da Igreja e do Estado para a formação do caráter<br />
social desejado. Entretanto, mesmo após a Independência,<br />
passou-se mais de um século até o efetivo surgimento das<br />
universidades em nosso país.<br />
O movimento em prol da universidade não vicejou da<br />
população nem tampouco atraiu as elites nacionais, que<br />
aceitaram a comodidade das escolas profissionais e da ida<br />
para o exterior, especialmente para as Universidades de Coimbra,<br />
Montpelier e Paris, daqueles que desejassem uma formação<br />
mais clássica. Se a escola existente não era valorizada<br />
como um bem cultural em si mesma, o que dizer da utopia<br />
universitária? Esta só viria a se concretizar quando as circunstâncias<br />
conjunturais próprias da evolução da sociedade<br />
brasileira, como a urbanização, a industrialização e o crescimento<br />
e fortalecimento da classe média, tornaram a universidade<br />
algo imprescindível.<br />
Procurou-se, assim, sintetizar brevemente a trajetória<br />
da universidade brasileira até 1986. Em seguida, faz-se um<br />
registro histórico importante sobre o projeto universitário<br />
confessional. Passa-se, depois, a analisar a universidade atual<br />
e seus desafios, no contexto criado pela LDB, de dezembro de<br />
1996.<br />
15 BUARQUE DE HOLANDA, 1982.<br />
A EDUCAÇÃO SUPERIOR<br />
DE CUNHO CONFESSIONAL<br />
As denominações de confissão protestante, que chegaram<br />
ao País no século XIX, tinham projeto educacional claro<br />
e já aspiravam ao ideal universitário. Como característica<br />
comum, há o fato de terem se originado do movimento de<br />
imigração de norte-americanos ocorrido durante e após a<br />
Guerra Civil em seu país, com exceção dos luteranos, originários<br />
predominantemente da Alemanha. Empreenderam<br />
várias iniciativas educacionais, no fim do século XIX e início<br />
do século XX, as quais, entretanto, não lograram êxito naquela<br />
oportunidade.<br />
Concorreram para tanto questões internas às igrejas,<br />
sobretudo relacionadas a tensões entre os brasileiros, que<br />
buscavam a autonomia, e às jurisdições norte-americanas,<br />
quanto a questões de políticas governamentais para a educação<br />
superior no Brasil.<br />
Os batistas fundaram sua primeira escola, o Collegio<br />
Americano Egidio, em 1898, na Bahia. Em 1907, o educador<br />
batista dr. J. W. Shepard já falava no projeto da universidade<br />
batista, ideal que se fez presente de forma freqüente em informativos<br />
internos da Igreja até 1930. Entretanto, o ideal<br />
universitário batista ainda não se concretizou, apesar de, recentemente,<br />
ter se verificado uma expansão dos cursos superiores<br />
oferecidos por instituições desta corrente religiosa.<br />
Os adventistas fundaram o Colégio Internacional de<br />
Curitiba, sua primeira escola, em 1896. Mas a raiz do ensino<br />
superior adventista seria plantada em 1915, com a fundação<br />
do Instituto Adventista de Ensino em São Paulo, com dois<br />
campi reservados para o ensino superior, um na própria capital<br />
paulista, outro na cidade de Engenheiro Coelho, próxima<br />
a Campinas. Este último recebeu, em 2000, o credenciamento<br />
como Centro Universitário e tem como intento a sua<br />
transformação em Universidade.<br />
Os presbiterianos foram, talvez, os que mais aguerridamente<br />
perseguiram o ideal universitário. Em 1869 fundavam<br />
sua primeira escola, o Collegio Internacional de Campinas,<br />
e já no ano seguinte há registros de referências ao ensino<br />
superior e ao projeto de universidade presbiteriana. Em 1887,<br />
funda-se o Curso Superior da Escola Americana, posteriormente<br />
Mackenzie College, que nasceu claramente direcionado<br />
para o ensino superior. Novamente, por tensões no relacionamento<br />
com a Igreja-mãe norte-americana e, posteriormente,<br />
por dificuldades com o governo brasileiro, adiou-se a concretização<br />
da universidade. Mas, em 1952, era credenciada a<br />
Universidade Mackenzie, a primeira universidade confessional<br />
de origem protestante no Brasil.<br />
A Igreja Metodista também se inclui entre as que tinham<br />
um projeto definido de universidade, tendo dado início<br />
aos primeiros cursos superiores no Instituto Granbery, em<br />
14 <strong>impulso</strong> nº 27
Juiz de Fora, a partir de 1904. Desde os seus primeiros concílios,<br />
há registros de discussões a respeito da transformação<br />
do Granbery na Universidade Metodista do Brasil. Contudo,<br />
pelas mesmas razões já expostas, a primeira universidade<br />
metodista brasileira só viria a ser reconhecida em 1975, a<br />
Universidade Metodista de Piracicaba. 16<br />
O projeto universitário católico, por sua vez, é marcado<br />
por duas vertentes. Conforme exposto inicialmente, os jesuítas<br />
fundaram as primeiras escolas brasileiras, às quais<br />
agregaram, com o tempo, o ensino superior. Algumas dessas<br />
escolas persistiram e se tornaram universidades. É o caso da<br />
PUC-RJ, reconhecida em 1946, e da Unisinos, reconhecida em<br />
1969 e originária do Colégio Nossa Senhora da Conceição,<br />
fundado em 1869 por padres jesuítas espanhóis. Há também<br />
registros de escolas católicas fundadas por outros ramos,<br />
como a PUC-RS, reconhecida em 1948 e originária de uma<br />
escola fundada pelos irmãos maristas, no século XIX.<br />
A outra vertente reproduziu o modelo de formação de<br />
universidades via fusão de escolas isoladas. É o caso da PUC-<br />
SP, criada, em 1946, a partir da junção da Faculdade de Filosofia<br />
e Letras de São Bento com a Faculdade Paulista de<br />
Direito; e da PUC-PR, fundada em 1959, a partir da união de<br />
oito escolas superiores isoladas.<br />
A REALIDADE APÓS 500 ANOS<br />
A LDB de dezembro de 1996 trouxe mudanças significativas<br />
para a educação brasileira, inclusive para o ensino<br />
superior e para as universidades. O ideal no qual se fundamenta<br />
é o pleno desenvolvimento da pessoa humana e um<br />
novo projeto para a educação nacional.<br />
A lei foi articulada em dois eixos, flexibilidade e avaliação.<br />
Flexibilidade para permitir que as instituições se organizassem<br />
da forma mais conveniente para a consecução de<br />
seus objetivos. Avaliação com o objetivo de se medir a efetividade<br />
do sistema como um todo.<br />
Em termos de flexibilidade, seguiu-se a linha de descentralizar,<br />
desregulamentar e dar maior autonomia para as<br />
universidades, enquanto na lei anterior estas tinham características<br />
fixas e uniformes em todo o território nacional. Na<br />
16 Para um registro mais detalhado da vocação universitária protestante e<br />
suas primeiras iniciativas nesta linha, ver SCHULZ, 1999.<br />
lei atual, registra-se apenas que as universidades são instituições<br />
pluridisciplinares de formação de quadros profissionais<br />
de nível superior, de pesquisa, de extensão e<br />
de domínio e cultivo do saber humano. 17 E autoriza-se a<br />
criação das chamadas universidades especializadas por<br />
campo de saber (art. 52).<br />
As universidades passam a poder registrar seus diplomas<br />
e a oferecer outras formas de ingresso, além do tradicional<br />
vestibular. Os currículos mínimos foram extintos, criando-se<br />
as diretrizes curriculares e buscando-se a valorização<br />
dos projetos pedagógicos dos cursos, respeitando-se as peculiaridades<br />
de cada região.<br />
Surge a figura do centro universitário, que fica liberado<br />
da obrigação da pesquisa institucionalizada. Regulamentados<br />
pela Portaria do Ministério da Educação n.º 639,<br />
de 13 de maio de 1997, os centros universitários gozam de<br />
prerrogativas de autonomia, antes concedidas apenas às universidades,<br />
como o direito de criar, organizar e extinguir, em<br />
sua sede, cursos e programas de educação superior. Certamente,<br />
o objetivo do legislador, ao definir essa autonomia, foi<br />
possibilitar a expansão do ensino superior, de comprovada<br />
excelência, com mais flexibilidade e menos amarras burocráticas.<br />
Pela legislação, os centros universitários são instituições<br />
de ensino superior pluricurriculares, abrangendo uma<br />
ou mais áreas do conhecimento, que se caracterizam pela<br />
excelência do ensino oferecido, comprovada pela qualificação<br />
de seu corpo docente e experiência acumulada em cursos<br />
de pós-graduação lato sensu; condições de trabalho<br />
acadêmico (carreira, capacitação docente); atualização e renovação<br />
do acervo bibliográfico, conexão a redes; e disponibilidade<br />
de recursos de informática.<br />
Em outra grande mudança, os cursos superiores deixam<br />
de habilitar para o exercício profissional. O diploma passa<br />
a ser apenas prova da formação recebida por seu titular.<br />
18<br />
Os termos avaliar e avaliação aparecem em 13 artigos<br />
da LDB e são repetidos 23 vezes, sinalizando o outro eixo<br />
da lei. O artigo 9.º assegura à União a prerrogativa de avaliar<br />
17 Lei n.º 9.432/96, art. 52.<br />
18 Lei n.º 9.194/96, art. 48.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 15
todos os níveis de ensino. As universidades passam a ser obrigadas<br />
a fornecer informações institucionais de caráter interno,<br />
como programas, duração, procedimentos de avaliação<br />
de cursos, critérios de seleção, qualificação do corpo docente,<br />
infra-estrutura etc.<br />
Outros pontos da lei demonstram claramente a preocupação<br />
dos legisladores com a qualidade do ensino universitário.<br />
Instituiu-se o Exame Nacional de Cursos, a ser aplicado<br />
a todos os formandos. Estabeleceu-se a exigência de titulação<br />
de mestrado ou doutorado para, no mínimo, um terço<br />
do corpo docente e de atuação da mesma fração do total<br />
de professores em regime de tempo integral. A autorização e<br />
o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento<br />
das instituições, passam a ser periódicos e a depender dos<br />
resultados do processo regular de avaliação. A Portaria MEC<br />
n.º 637 estabeleceu como exigências para o credenciamento:<br />
a existência de infra-estrutura de pesquisa (pesquisa institucionalizada);<br />
a existência de pós-graduação implantada;<br />
o exercício de atividade efetiva de pesquisa em, pelo menos,<br />
três áreas; a manutenção de fundo de pesquisa próprio, destinado<br />
ao financiamento de projetos acadêmicos e científicos<br />
e tecnológicos da instituição, com recursos equivalentes a, no<br />
mínimo, 2% do orçamento operacional.<br />
Com base nos resultados da avaliação, o governo reservou<br />
para si o direito de cancelar o reconhecimento de cursos,<br />
intervir nas instituições, suspender temporariamente suas<br />
prerrogativas de autonomia e até mesmo descredenciá-las.<br />
Outra das exigências, já sinalizada pela Constituição Federal e<br />
confirmada pelo Decreto n.º 2.306/97, é a indissociabilidade<br />
entre as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão.<br />
Apesar das bem-vindas mudanças introduzidas pela<br />
LDB, a universidade brasileira ainda está distante de representar<br />
um instrumento decisivo na política de formação de<br />
recursos humanos, bem como de ser um interlocutor próativo<br />
na formulação e execução da política nacional de educação,<br />
cultura, ciência e tecnologia. É preciso que as novas<br />
soluções organizativas e metodológicas para a universidade<br />
estejam associadas ao cumprimento mais eficaz de seu papel<br />
social no forjamento de uma nação.<br />
DESAFIOS PARA A<br />
UNIVERSIDADE BRASILEIRA<br />
O período em que vivemos tem sido comumente chamado<br />
de Era do Conhecimento, um tempo no qual a educação,<br />
o conhecimento e a informação terão a desempenhar<br />
um papel de crucial importância para a vida humana.<br />
A globalização e a adoção de inovações tecnológicas e<br />
organizacionais têm exigido, no âmbito das empresas, a disponibilidade<br />
de recursos humanos mais qualificados e melhor<br />
preparados, prontos a intervir em um quadro de atividades e<br />
práticas de complexidade crescente e capazes de reagir rapidamente<br />
aos câmbios do cotidiano. Todos os campos da existência<br />
humana passam por um processo sem precedentes de transformações<br />
aceleradas e os governos e sociedades começam a se<br />
dar conta de que, para lidar com realidades mutantes, precisarão<br />
se tornar comunidades aprendentes e adaptativas.<br />
A inserção do Brasil nesse cenário globalizado exige<br />
de nós reflexão, preocupação e ação. Detentor do décimo<br />
maior PIB mundial, o País ainda situa-se entre os piores no<br />
tocante aos indicadores sociais e de distribuição de renda. A<br />
superação da instabilidade da espiral inflacionária não tem<br />
se traduzido em melhorias na qualidade de vida da maioria<br />
da população, existindo ainda 28,7% de miseráveis no País,<br />
ou seja, pessoas que sobrevivem com renda inferior a US$<br />
1,00 por dia, segundo o critério da ONU.<br />
A difícil conjuntura social tem gerado desencanto generalizado<br />
e insegurança, uma vez que as pessoas convivem<br />
com a recessão, o desemprego, a violência, as injustiças e a<br />
impunidade. As famílias são atingidas pela combinação perversa<br />
de juros altos, queda na renda e desemprego, com conseqüente<br />
redução no seu poder de compra, comprometimento<br />
de sua capacidade de pagamento e dificuldades para<br />
assumir compromissos para o futuro.<br />
Por outro lado, cresce a concentração do poder financeiro<br />
nas mãos de grandes corporações, nascidas do acelerado<br />
processo de fusões e aquisições, no plano mundial. Essa<br />
realidade revela-se com uma análise rápida de alguns dados<br />
levantados pela Organização das Nações Unidas: 19<br />
19 FOLHA DE S.PAULO, 15/fev./00.<br />
16 <strong>impulso</strong> nº 27
• as 10 maiores empresas do setor de sementes (as<br />
maiores interessadas na questão dos transgênicos)<br />
detêm 32% do faturamento anual de US$ 23 bilhões<br />
do setor;<br />
• as 10 maiores indústrias farmacêuticas, 35% de um<br />
faturamento anual de US$ 297 bilhões;<br />
• as 10 maiores da área de computação, 70% de US$<br />
334 bilhões;<br />
• as 10 maiores do setor de pesticidas, 85% de US$ 31<br />
bilhões;<br />
• as 10 maiores do setor de telecomunicações, 86%<br />
de US$ 262 bilhões;<br />
• as 20 maiores empresas de comunicação já possuem<br />
renda conjunta anual superior a US$ 1 trilhão,<br />
valor superior ao PIB da Grã-Bretanha.<br />
Paralelamente, cresce também a concentração do conhecimento<br />
científico e tecnológico nos países-sede dessas<br />
megacorporações, a partir da existência de recursos abundantes<br />
para financiamento da pesquisa e do desenvolvimento<br />
e, conseqüentemente, da inovação tecnológica.<br />
Essa nova configuração do mundo e de nosso país alimenta,<br />
imediatamente, o debate sobre os novos paradigmas e<br />
as novas exigências quanto à educação, sobretudo no campo<br />
da educação superior. O País dispõe hoje de um arcabouço legal<br />
capaz de imprimir novos rumos à educação brasileira. A<br />
legislação por si só, todavia, não assegura que tais modificações<br />
venham a ser incorporadas ao sistema educacional. Para<br />
que isso aconteça, é necessário que o País seja capaz de forjar<br />
um novo pacto em defesa da educação, investindo e aplicando<br />
de forma eficaz maiores recursos, bem como exercendo o regime<br />
de colaboração em sua plenitude.<br />
Outro documento sobremodo importante para a educação<br />
nacional é a proposta de Plano Nacional de Educação,<br />
em tramitação no Congresso Nacional, e que se orienta por cinco<br />
diretrizes básicas: erradicação do analfabetismo, universalização<br />
do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino,<br />
formação para o trabalho e promoção humanística, científica<br />
e tecnológica do País. O Plano apresenta três grandes objetivos:<br />
elevação global do nível de escolaridade da população,<br />
melhoria geral na qualidade do ensino e redução das desigualdades<br />
sociais e regionais no tocante à educação escolar.<br />
Assim, a partir deste pano que fundo traçado até aqui,<br />
vamos destacar alguns desafios do ensino superior brasileiro.<br />
O primeiro deles está relacionado à necessidade da expansão<br />
desse nível de ensino. Pesquisas mundiais indicam que o seu<br />
crescimento já tem sido espantoso, com um aumento da ordem<br />
de sete vezes, em três décadas. No Brasil, a taxa média<br />
de crescimento de estudantes matriculados em cursos de<br />
graduação tem sido de 7% ao ano, projetando 3 milhões de<br />
alunos nas universidades em 2004. Em 1999, eles eram 2,3<br />
milhões, o que representa um crescimento de 53% em relação<br />
ao início da década de 90.<br />
Contudo, essa projeção ainda está abaixo da meta estabelecida<br />
pelo governo federal, em sua versão do Plano Nacional<br />
de Educação. Pretende-se prover, até 2005, a oferta de<br />
ensino pós-médio para pelo menos 30% da faixa etária de 19<br />
a 24 anos. Pela projeção populacional do IBGE, seriam necessárias<br />
mais de 6 milhões de vagas. De todo modo, o Brasil é<br />
um dos países com menor taxa de atendimento, no ensino<br />
superior, à população na faixa etária de 18 a 24 anos, 12%, ou<br />
seja, bastante inferior aos 40% na Argentina, aos 26% na Venezuela<br />
e aos 21% no Chile. A pressão por ampliação é positiva<br />
e necessária. O percentual da população brasileira entre<br />
20 e 24 anos que freqüenta o ensino superior, 7,7%, é ainda<br />
muito baixo. Da população como um todo, apenas 8% possuem<br />
a formação em nível superior. E o patamar de desenvolvimento<br />
industrial e tecnológico do País exige um urgente<br />
aumento desses percentuais.<br />
A prioridade dada pelo governo federal à educação<br />
básica, nos últimos anos, é também fator que repercute na<br />
ampliação do ensino superior. Verifica-se, no nível básico,<br />
um crescimento exponencial de matrículas. De 1991 a 2000,<br />
registra-se, apenas no ensino médio, crescimento de 132% –<br />
de 3.770.230 para 8.774.000 alunos matriculados! O Ministério<br />
da Educação estima que, em 2005, serão mais de 10 milhões<br />
de alunos matriculados no ensino médio. Ao absorver<br />
esse contingente de novos alunos, as instituições de ensino<br />
superior devem trabalhar com critérios e normas de seleção<br />
que levem em conta a articulação com o ensino médio.<br />
No contexto da expansão do ensino superior brasileiro,<br />
tem-se constatado falta de ordenação do crescimento. Nos últimos<br />
quatro anos, o Ministério da Educação autorizou a<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 17
abertura de 117.584 vagas, porém existem graves distorções,<br />
como a concentração das novas vagas em alguns cursos específicos<br />
(por exemplo, 27,7% delas foram para o Curso de<br />
Administração) e a concentração em regiões específicas (a<br />
maioria das vagas foi criada na região Sudeste, já possuidora<br />
de elevados percentuais de matrícula no ensino superior). Um<br />
país de dimensões continentais como o Brasil deve voltar-se<br />
para o atendimento às necessidades educacionais do conjunto<br />
da população, sem desconsiderar as peculiaridades de cada<br />
uma das diferentes unidades da federação e do conjunto dos<br />
municípios. Significa afirmar que a política e o planejamento<br />
educacional devem deixar espaço para a diversidade.<br />
Essa pressão por ampliação, entretanto, não tem sido<br />
acompanhada por investimentos públicos na magnitude necessária<br />
para dotar o sistema de ensino superior de uma infra-estrutura<br />
adequada, em parte por restrições conjunturais<br />
e em parte pela própria decisão do governo de priorizar a<br />
educação básica. Esse quadro de escassez de recursos, aliado<br />
ao crescimento quantitativo e à massificação, requer gestores<br />
criativos e capacitados a lidarem com o imperativo da otimização<br />
dos recursos e da manutenção da qualidade. No setor<br />
público, há que se resolver questões como o elevado custo per<br />
capita, superior até mesmo ao de países desenvolvidos, e a<br />
capacidade instalada subutilizada. Para o setor privado, inexiste<br />
política de financiamento por parte dos órgãos públicos,<br />
ficando tal financiamento dependente das anuidades. Os estudantes,<br />
por sua vez, enfrentam as dificuldades conjunturais<br />
sem poder contar com uma política oficial efetiva de apoio, a<br />
despeito da reformulação do Crédito Educativo Federal (CRE-<br />
DUC) e da criação do Fundo de Investimento no Ensino Superior<br />
(FIES). Como contraponto, a proposta governamental<br />
de estabelecer o Plano Nacional de Educação prevê que, em<br />
10 anos, os gastos públicos em educação deverão alcançar<br />
7% do PIB. Propõe-se também implementar mecanismos que<br />
visem à rigorosa manutenção e desenvolvimento do ensino,<br />
garantindo-se a alocação de valores por aluno que correspondam<br />
a padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos<br />
nacionalmente.<br />
Outro desafio da expansão é que ela se processe de<br />
modo a assegurar a qualidade. Aqui, pois, destaca-se a necessidade<br />
de considerar cuidadosamente as questões centrais<br />
de funcionamento da educação superior no País. Entre elas,<br />
destacam-se: a autonomia universitária, a organização do<br />
sistema da educação superior, os sistemas de avaliação e de<br />
reconhecimento e de credenciamento de cursos e instituições.<br />
Como pontos básicos, situam-se o papel da universidade na<br />
sociedade, sua identidade, suas relações com o mercado de<br />
trabalho e demais segmentos sociais, sua contemporaneidade<br />
aos novos perfis profissionais requeridos pela sociedade,<br />
sua contribuição para o avanço científico e tecnológico.<br />
É certo que a relevância do ensino superior relacionase<br />
ao seu alcance, mas também está diretamente vinculada<br />
ao mundo do trabalho. Os jovens devem ser preparados de<br />
acordo com os novos perfis demandados, mas também precisam<br />
receber uma educação humanista e de vocação social,<br />
que lhes permita atuar em contextos multiculturais. Diferentemente<br />
da abordagem conteudista, preocupada em dotar os<br />
estudantes de um elevado estoque de conhecimento, os docentes<br />
devem procurar desenvolver em seus alunos aptidões<br />
dinâmicas, as quais vão permitir que eles lidem com o fluxo<br />
do conhecimento, aprendendo a aprender. Os egressos devem<br />
estar aptos a viver em um mundo de rápidas mudanças<br />
e ter condições de manter sua empregabilidade e sua versatilidade<br />
dentro de um campo de atuação profissional configurado<br />
a partir das necessidades sociais.<br />
Está em curso, e precisa se acelerar, uma mudança no<br />
processo de ensino e aprendizagem, que deixa de se centrar<br />
no professor, para focalizar o estudante. Em termos pedagógicos,<br />
deve-se valorizar a interdisciplinaridade e o cultivo de<br />
um espírito empreendedor. Esse processo é facilitado pela incorporação<br />
de novas tecnologias, que rompem com limites<br />
temporais e espaciais, e novas metodologias, as quais alteram<br />
a antiga verticalidade da relação entre professor e aluno. O<br />
docente passa a fazer parte do grupo e os estudantes tornamse<br />
co-aprendizes, configurando-se uma relação de contornos<br />
horizontais, de parceria, na construção do conhecimento.<br />
A análise da pertinência do ensino superior passa<br />
também pela questão da ética. Na verdade, antes de se buscar<br />
o tipo de instituição de ensino superior que se quer construir,<br />
é necessário definir o modelo de sociedade que se busca alcançar.<br />
O ensino superior tem de estar envolvido com as<br />
grandes questões que permanecem como desafios para toda<br />
a humanidade, como a construção da paz, a luta pelo de-<br />
18 <strong>impulso</strong> nº 27
senvolvimento sustentável, o respeito à multiculturalidade, a<br />
cooperação internacional e a democracia.<br />
Além de todas as novas competências que o profissional<br />
do futuro precisará dominar, as instituições de ensino superior<br />
precisam dotá-lo com a responsabilidade de agir com<br />
ética e sentimento solidário. As instituições de ensino superior<br />
devem reforçar seu papel de serviço extensivo à sociedade, especialmente<br />
as atividades voltadas para a eliminação da pobreza,<br />
intolerância, violência, analfabetismo, fome, deterioração<br />
do meio ambiente e enfermidades.<br />
Ainda a respeito da educação superior, o Plano Nacional<br />
de Educação apresenta objetivos e metas bastante importantes,<br />
como o desenvolvimento da modalidade de educação a<br />
distância, a consolidação e institucionalização de um sistema<br />
de avaliação de qualidade, a diversificação da oferta de ensino,<br />
a duplicação do número de pesquisadores qualificados, o incremento,<br />
a uma taxa anual de 5%, da titulação de mestres e<br />
doutores no sistema nacional de pós-graduação, o aumento<br />
dos recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica, que,<br />
em dez anos, deverão ser triplicados.<br />
Estes são alguns dos desafios que o País, nos próximos<br />
anos, deve enfrentar na área educacional. E tal esforço não<br />
terá êxito se não ocorrer de forma integrada, associando todos<br />
os segmentos interessados, especialmente os diferentes<br />
níveis existentes no próprio sistema educacional. A sociedade<br />
brasileira precisa realizar um esforço conjunto para apresentar<br />
soluções efetivas, e em prazo rápido, para os principais dilemas<br />
enfrentados pela educação nacional. Destaca-se, de<br />
modo especial, a atuação da universidade no desenvolvimento<br />
e consolidação dos demais níveis de ensino e no processo<br />
de construção da cidadania nacional.<br />
O nascimento tardio da universidade brasileira teve<br />
conseqüências expressivas na formação intelectual da elite<br />
brasileira e sobre o próprio processo de desenvolvimento nacional.<br />
A demora em romper o silêncio neste campo trouxe,<br />
também, uma sobrecarga para a universidade brasileira que,<br />
além de sua renovação para responder às novas demandas<br />
sociais e ao ritmo de transformações da sociedade atual, tem<br />
de se esforçar para se livrar de alguns vícios de origem e recuperar<br />
o tempo perdido.<br />
Em uma tentativa de síntese dos desafios postos diante<br />
da universidade brasileira, pode-se dizer que ela precisa<br />
gerar sua própria dinâmica. Durante anos tem perdurado,<br />
em alguns meios universitários, uma cultura de desenvolvimento<br />
descontínuo, gerado por pequenos choques de novidades,<br />
trazidos por reitores ou docentes no retorno de viagens<br />
internacionais. Essa cultura precisa ser substituída por outra,<br />
na qual o processo de geração da dinâmica institucional seja<br />
endógeno e autocontrolado, sem desconsiderar a importância<br />
de se articular em escala planetária, diante do fenômeno<br />
da globalização.<br />
As universidades devem refletir sobre sua forma de<br />
atuação à luz do novo contexto econômico, social, político e<br />
cultural, em alguns casos seguindo, em outros se antecipando,<br />
às tendências mundiais. A universidade brasileira deve se<br />
transformar, cada vez mais, no locus propício de discussões<br />
de vanguarda e que promovam a transformação do Brasil.<br />
Referências Bibliográficas<br />
BARBOSA, R. Reforma do Ensino Secundário e Superior. Rio de Janeiro: Ministério de Educação e Saúde, 1882.<br />
CUNHA, L.A. A Universidade Temporã: o ensino superior da Colônia à era de Vargas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,<br />
1980.<br />
FAORO, R. Os Donos do Poder – formação do patronato político brasileiro. 6.ª ed., Rio de Janeiro: Globo, 1973, vol. 2.<br />
FOLHA DE S. PAULO, 15/fev./2000.<br />
FREYRE, G. Casa-Grande e Senzala. 34.ª ed., Rio de Janeiro: Record, 1981.<br />
HOLANDA, S.B. Raízes do Brasil. 15.ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1982.<br />
MACHADO DE ASSIS, J.M. Papéis Avulsos. São Paulo: Brasileira, 1962.<br />
MARTINS, W. História da Inteligência Brasileira: 1550-1794. São Paulo: Cultrix, 1977, vol. 1.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 19
ROSSATO, R. Universidade: reflexões críticas. Santa Maria: UFSM, 1989.<br />
SCHULZ, A. Projeto de Universidade Protestante no Brasil. Piracicaba: UNIMEP, 1999. [Tese de doutoramento em Educação].<br />
TEIXEIRA, A. Ensino Superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969. Rio de Janeiro: FGV, 1989.<br />
20 <strong>impulso</strong> nº 27
RELAÇÕES<br />
INTERNACIONAIS<br />
DO BRASIL:<br />
ensaio de síntese<br />
sobre os primeiros<br />
500 anos<br />
BRAZILIAN INTERNATIONAL RELATIONS:<br />
essay of assessment on the first 500 years<br />
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA<br />
Doutor em Ciências Sociais pela<br />
Universidade de Bruxelas.<br />
Diplomata, ministro conselheiro<br />
na embaixada do Brasil<br />
em Washington<br />
pralmeida@brasilemb.org<br />
RESUMO Síntese crítica sobre as tendências fortes das relações internacionais do Brasil, desde a formação da nação<br />
até a atualidade, destacando as grandes linhas e orientações do desenvolvimento brasileiro do ponto de vista da inserção<br />
internacional do País.<br />
Palavras-chave Brasil – relações internacionais – política externa.<br />
ABSTRACT Critical assessment on the main trends of Brazilian international relations, from the constitution of the<br />
nation to the present, stressing the general features and the pathways of Brazilian development, from the perspective<br />
of the nation’s international insertion.<br />
Keywords Brazil – international relations – foreign policy.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 21
Um certo consenso<br />
historiográfico<br />
costuma dividir<br />
nossa história<br />
política em uma<br />
primeira fase<br />
colonial claramente<br />
determinada, uma<br />
segunda fase<br />
independente e<br />
uma fase dita<br />
“nacional”<br />
INTRODUÇÃO<br />
Qualquer balanço que se decida empreender sobre as relações<br />
internacionais do Brasil nos primeiros 500 anos de sua existência<br />
enquanto “entidade tipificável” do ponto de vista da<br />
ordem internacional – isto é, um território geograficamente<br />
delimitado, dotado de estruturas de poder reconhecidas como<br />
formalmente legítimas pelos demais Estados participantes<br />
dessa ordem, mesmo que não dispondo de autonomia política<br />
própria – deve partir de um entendimento preliminar quanto à periodização suscetível<br />
de ser aplicada à sua história. Ora, no caso do Brasil, um certo consenso historiográfico costuma<br />
dividir sua história política em uma primeira fase colonial claramente determinada –<br />
ainda que alguns coloquem seu fim em 1808 e outros, apenas em 1822 –, uma segunda fase<br />
independente, que se desenvolveria a partir da proclamação da autonomia política, ou mais<br />
afirmadamente, a partir das regências, e uma fase dita “nacional”, de contornos menos reconhecíveis,<br />
mas que se estenderia da Revolução de 1930 até nossos dias. 1 Uma divisão de<br />
natureza econômica poderia eventualmente deslocar para frente ou para trás alguns desses<br />
limites de tipo político, mas não alteraria fundamentalmente o caráter algo paradigmático<br />
dessa periodização tão simples quanto desprovida de grandes problemas epistemológicos.<br />
AS GRANDES ETAPAS DAS RELAÇÕES<br />
INTERNACIONAIS DO BRASIL<br />
Poder-se-ia, portanto, começar esta análise sintética ordenando as fases do relacionamento<br />
externo do Brasil em três grandes “blocos históricos”, correspondendo cada um (e<br />
de forma sucessiva) aos períodos seguintes:<br />
a) colonial, isto é, a partir de 1530-1550, aproximadamente (com a implantação<br />
do sistema de governo geral do Brasil pela Coroa portuguesa, no seguimento da<br />
atribuição das primeiras capitanias hereditárias) até os anos 1808-1822, que assistem<br />
ao movimento gradual mas irreversível em direção da independência;<br />
nessa fase, as relações internacionais da nação americana em formação são claramente<br />
determinadas pelos interesses metropolitanos;<br />
b) independente, a partir daquela última data, até a Revolução de 1930, que assiste,<br />
ainda que de maneira algo involuntária, à conclusão do ciclo colonial-exportador<br />
da economia brasileira; nessa fase longa de quase um século e meio, os<br />
principiais problemas de relações internacionais do jovem Estado autônomo são<br />
compostos sobretudo pela definição e legitimação externa do território herdado<br />
1 Para uma discussão mais pormenorizada sobre a problemática da periodização nas relações internacionais<br />
do Brasil, remeto ao capítulo 2, “A periodização das relações internacionais do Brasil”, de meu livro O<br />
Estudo das Relações Internacionais do Brasil (ALMEIDA, 1999b, pp. 39-75). Esse e outros livros, bem<br />
como artigos diversos sobre a integração e as relações internacionais do Brasil, podem ser conferidos na<br />
web-page: http://pralmeida.tripod.com<br />
22 <strong>impulso</strong> nº 27
da fase colonial e pela difícil afirmação dos interesses<br />
nacionais numa era de afirmação arrogante<br />
dos imperialismos europeus;<br />
c) nacional, que se estende desde então até os nossos<br />
dias, com diferentes subperíodos depois de 1930, a<br />
começar pelo longo interregno varguista até 1945,<br />
sucedido pela existência tormentosa da República<br />
“populista” de 1946, por novo interregno autoritário<br />
a partir de 1964, este seguido pela fase de redemocratização<br />
que se inicia em 1985; em termos de relações<br />
internacionais, essa fase assiste à lenta construção<br />
de elementos autônomos de afirmação internacional,<br />
claramente vinculados ao esforço industrializador<br />
e à própria reorganização do Estado.<br />
Vejamos, com um pouco mais de detalhe, os principais<br />
componentes das relações internacionais em cada uma<br />
dessas grandes etapas. Numa primeira fase, que corresponde<br />
grosso modo aos três séculos da era colonial, a problemática<br />
dominante na definição da inserção internacional do País é,<br />
obviamente, representada pelo status colonial no contexto da<br />
economia mercantilista portuguesa. Nesse longo período parece<br />
óbvio, também, que se trata de uma inserção dependente<br />
da formação social brasileira no sistema da economia mundial<br />
pré-capitalista de então, com uma absorção passiva das<br />
alianças internacionais que se desenham no continente europeu<br />
(isto é, o fluxo de “relações exteriores” do Brasil refletindo<br />
o movimento errático das alianças dinásticas e dos tratados<br />
de “amizade e de navegação” concluídos por uma Coroa<br />
portuguesa temerosa de seus grandes vizinhos europeus,<br />
a Espanha e a França em primeiro lugar). A expansão continental<br />
do território brasileiro se faz, nessa conjuntura, seguindo<br />
o ritmo das relações interibéricas (a anulação da linha<br />
de Tordesilhas pela obra das entradas e bandeiras), mas<br />
observando mais adiante a dinâmica própria de uma sociedade<br />
em formação e em expansão contínua, nas fronteiras<br />
abertas ao invulgar empreendimento dos desbravadores do<br />
sertão (bem mais interessados em ouro e índios, está claro, do<br />
que em qualquer projeto consciente de “engrandecimento<br />
pátrio”.<br />
No período final da “era colonial”, observa-se no<br />
Brasil a lenta estruturação de uma “consciência nacional”<br />
apreendendo a nação independentemente do estreito quadro<br />
mental da metrópole tutelar, ao mesmo tempo em que o movimento<br />
autonomista se aproveita politicamente dos <strong>impulso</strong>s<br />
resultantes da grave crise do sistema colonial (acelerado<br />
pela “grande desordem” provocada pela hegemonia napoleônica<br />
no continente europeu) bem como dos avanços propiciados<br />
pela ideologia iluminista em ascensão. Contrariamente,<br />
porém, aos demais territórios colonizados da América ibérica,<br />
o Brasil emergeria do processo de independência sem<br />
grandes rupturas socioeconômicas ou mesmo políticas em<br />
relação ao passado português.<br />
A era independente, que então tem início, vem introduzir<br />
um fator inédito de legitimação externa para a jovem<br />
nação, que emerge como novo Estado autônomo a partir de<br />
um processo de transação – nem sempre dotado de plena legitimidade,<br />
pois que resultante de um tratado de “aquisição”<br />
do reconhecimento pleno da nova situação soberana – entre<br />
o antigo poder colonial e as potências da época, a começar<br />
pela Grã-Bretanha. Com a figura de founding Father de<br />
José Bonifácio começa a sustentação de um projeto próprio<br />
de construção nacional em face dos interesses de poderes hegemônicos<br />
externos, processo em parte perturbado pelos fortes<br />
vínculos externos, no caso portugueses e acima de tudo<br />
familiares, do primeiro monarca “brasileiro” da dinastia dos<br />
Braganças. A abdicação assume características traumáticas,<br />
já que coloca em perigo a própria definição da unidade nacional,<br />
que seria lograda a partir do regime regencial transitório.<br />
Este não hesita quanto aos meios mais adequados<br />
para obtê-la, ainda que à custa de brutal repressão contra<br />
certos movimentos regionais autonomistas, assim como contra<br />
insurreições de caráter propriamente social e mesmo étnico.<br />
A era independente, já sob o regime republicano, ainda<br />
assistiu ao acabamento da obra de delimitação das fronteiras<br />
do território pátrio, mas não logrou consolidar uma economia<br />
realmente independente, pois que preservada esta em<br />
suas funções básicas de fornecedora de alguns poucos produtos<br />
primários a economias mais avançadas.<br />
A era nacional, coincidentemente inaugurada numa<br />
fase de grave crise da economia mundial, começa a tarefa de<br />
afirmação dos interesses externos da nação, em face dos desafios<br />
políticos de um mundo em transição entre o capitalis-<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 23
mo estilo laissez-faire da belle époque, e a fase de intenso<br />
intervencionismo do Estado na vida econômica, que iria durar<br />
até os anos 80 do século XX pelo menos. O regime varguista,<br />
tanto em suas fases provisória e “constitucional” como<br />
sob o impacto do fechamento Estado-novista, dá a partida ao<br />
lento processo de elaboração das condições políticas e institucionais,<br />
inclusive externas, para a tarefa de modernização<br />
do País. A afirmação dos interesses propriamente nacionais<br />
do Brasil, num mundo crescentemente diferenciado entre<br />
grandes potências e nações de “segunda classe”, passa pelo<br />
projeto auto-assumido da industrialização básica, uma das<br />
muitas facetas – com a capacitação tecnológica independente<br />
– do interminável processo de prosseguimento da obra incontornável<br />
do desenvolvimento. De certa forma, a construção<br />
do “Estado varguista” – isto é, modernizador-autoritário<br />
e intervencionista – continua até o período culminante do<br />
regime militar inaugurado em 1964 (depois do “breve” interregno<br />
da República democrática de 1946), mesmo se<br />
muitas das ações políticas empreendidas pelos generais-tecnocratas<br />
nos anos 60 e 70 tenham estado especificamente<br />
orientadas ao desmantelamento do populismo varguista que<br />
eles desprezavam. Em todo caso, o regime militar também<br />
deu um alto sentido de profissionalização e de “finalidade”<br />
(busca de resultados) – ainda que se possa discutir suas escolhas<br />
ideológicas – à política externa nacional, constituída<br />
objetivamente como um dos sustentáculos da afirmação do<br />
“poder nacional”.<br />
Nessas várias eras e fases sucessivas do relacionamento<br />
externo do Brasil, os “agentes” sociais e humanos, bem como<br />
os principais “vetores” de sua inserção externa, são qualitativamente<br />
diferentes em cada etapa, resultantes de fenômenos<br />
complexos de estruturação social, regional e “societal” que<br />
concorrem, de maneira diferenciada, para compatibilizar (ou<br />
não, segundo a conjuntura histórica) as “relações internacionais”<br />
do País e o “desenvolvimento histórico-social” da nação.<br />
Nas duas primeiras fases, os agentes do relacionamento “internacional”<br />
da nação – açucarocracia nordestina, fazendeiros<br />
de café, grandes comerciantes dos principais portos da<br />
costa atlântica, representantes da Administração – possuem<br />
alto grau de dependência desses “vetores” externos: o Estado<br />
português no primeiro caso, o poder econômico de fato dos<br />
interesses comerciais e financeiros britânicos no segundo (o<br />
que de forma alguma nega autonomia na determinação dos<br />
interesses brasileiros na região platina, por exemplo). Na era<br />
contemporânea, os novos agentes sociais encontram-se claramente<br />
identificados com um Estado nacional já plenamente<br />
constituído e consciente de seu papel impulsionador do desenvolvimento<br />
econômico do País.<br />
RELAÇÕES INTERNACIONAIS<br />
SEM AUTONOMIA POLÍTICA?<br />
A questão inicial de ordem metodológica que se coloca<br />
em relação à definição da primeira das eras apontadas é<br />
saber se apenas as duas últimas, classificadas como “independente”<br />
e “nacional”, podem ser cobertas pela categoria<br />
“relações internacionais”, ou então, se a fase anterior, apresentada<br />
sob o signo do estatuto “colonial”, também estaria<br />
compreendida nesse conceito. As formações coloniais, como<br />
se sabe, não costumam ter política externa. Simplesmente<br />
não dispõem do atributo indispensável para tanto: um Estado<br />
nacional independente, em condições de exercer sua vontade<br />
soberana perante os outros atores do sistema internacional.<br />
Elas podem ter, no máximo, relações exteriores, sempre pautadas<br />
e balizadas, é claro, pelo poder hegemônico que detém<br />
o controle de seus mecanismos de organização política e administrativa.<br />
No entanto, as comunidades políticas introduzidas no<br />
devir histórico na condição de formações sociais colonizadas<br />
– ou reduzidas a esse status por ulterior dominação externa<br />
– dependem, talvez mais do que qualquer outra sociedade,<br />
do contexto externo. É no quadro da ordem internacional vigente<br />
a cada etapa de seu desenvolvimento histórico-social<br />
que essas formações se afirmam progressivamente enquanto<br />
nações individualizadas, dotadas de características próprias,<br />
social, étnica e historicamente diferentes das demais unidades<br />
políticas do sistema internacional.<br />
A determinação externa é ainda mais importante no<br />
caso das configurações histórico-culturais chamadas, na caracterização<br />
antropológico-evolutiva defendida por Darcy<br />
Ribeiro, de “povos novos”. 2 Nas formações sociais extra-eu-<br />
2 RIBEIRO, 1968, 1970 e 1975.<br />
24 <strong>impulso</strong> nº 27
opéias dessa parte do “Novo Mundo” – que, devido a uma<br />
espécie de “pecado original” propriamente ibérico, nunca<br />
deixou de ser “periferia” do sistema internacional ao longo de<br />
toda a sua história –, as relações externas representam um<br />
elemento constitutivo da própria nacionalidade e determinam,<br />
por assim dizer, os contornos básicos de suas identidades<br />
nacionais respectivas: povo, território, administração política,<br />
organização social e estrutura econômica. Em virtude<br />
de que, nessas configurações sociais, o processo de Statebuilding<br />
precedeu historicamente ao de Nation-making, 3<br />
a determinação externa inerente ao status colonial impregna<br />
todo o itinerário histórico de formação do Estado-nacional<br />
independente.<br />
Em outros termos, nas formações sociais desta América<br />
“iberizada” – para empregar uma caracterização mais<br />
correta, de cunho histórico-antropológico, e não simplesmente<br />
o conceito habitual de “América ibérica”, de natureza<br />
propriamente etnolingüística –, a nação emerge como o produto<br />
indireto do processo de constituição de estruturas políticas<br />
e administrativas estabelecidas pelas potências tutelares,<br />
surgindo o “Estado” como resultado imediato das “relações<br />
externas” que afetaram cada um dos territórios incorporados<br />
originalmente a suas respectivas esferas hegemônicas.<br />
No que se refere ao Brasil, mais especificamente, a<br />
formação da nacionalidade sempre se colocou sob a dependência<br />
direta da ordem internacional – mediata e imediata –<br />
que presidiu, num longo processo multiforme, à delimitação<br />
de seu território, à constituição de suas fronteiras, à estruturação<br />
de sua economia, à conformação de seu povo e à lenta<br />
emergência de uma consciência nacional autônoma. A constituição<br />
da nação brasileira – que desponta primeiro como<br />
território indevassado, definido na aparente aposta do acerto<br />
3 O conceito de State-building, na literatura especializada de política<br />
comparada, está geralmente associado ao processo de unificação política<br />
nacional e refere-se, mais especificamente, ao desenvolvimento de uma<br />
burocracia centralizada e eficiente, capaz de aumentar significativamente<br />
as capacidades reguladora e extrativa do sistema político em causa. Já a<br />
noção de Nation-making enfatiza os aspectos culturais do desenvolvimento<br />
histórico e social num determinado país, caracterizando o processo<br />
pelo qual as pessoas transferem sua devoção e lealdade das<br />
pequenas comunidades e vilas para um sistema político central muito<br />
mais amplo, geralmente de tipo impessoal. Para uma teoria sistêmica<br />
dessa problemática, a despeito de uma visão marcadamente estruturalfuncionalista,<br />
ver ALMOND & POWELL, 1966.<br />
de Tordesilhas, para muito depois emergir como entidade<br />
política – resulta de um primeiro processo de negociações<br />
diretas entre Estados que prescindem da intermediação vaticana,<br />
exemplo precoce do que se poderia chamar de “diplomacia<br />
dos descobrimentos”. 4<br />
O Brasil, não é preciso relembrar, só se constitui como<br />
Estado independente no alvorecer do século XIX, mas a formação<br />
social que lhe dá fundamento se forja gradualmente<br />
nos três séculos anteriores à conquista de sua autonomia política.<br />
É no passado colonial brasileiro que se constituíram, no<br />
dizer de Caio Prado Jr., “os fundamentos da nacionalidade”, 5<br />
emergindo, no mesmo processo, aquilo que o historiador José<br />
Honório Rodrigues chamou de “aspirações nacionais”. 6 Essas<br />
aspirações seriam as seguintes: independência e soberania,<br />
integridade territorial, ocupação efetiva do território,<br />
unidade nacional, equilíbrio nacional em face dos regionalismos<br />
e desenvolvimento econômico e bem-estar. Em termos<br />
contemporâneos, se poderia, resumidamente, enfeixar<br />
todos esses conceitos ao abrigo da fórmula clássica: “desenvolvimento<br />
com soberania”.<br />
Quando exatamente teria o Brasil deixado de figurar<br />
como objeto histórico no quadro de um subsistema imperial<br />
(Portugal) integrado ao moderno sistema de Estados-nacionais<br />
e passado à condição de agente autônomo de suas próprias<br />
relações internacionais? Os mais otimistas diriam que a<br />
passagem se fez por ocasião do movimento de Independência<br />
política e no processo ulterior de afirmação progressiva dos<br />
interesses nacionais específicos do Estado brasileiro vis-à-vis<br />
as potências hegemônicas da época. Mas como considerar,<br />
então, a persistente dependência econômica do País e seu<br />
status subordinado no âmbito do sistema internacional, ou<br />
mesmo simplesmente hemisférico?<br />
A resposta a essas questões não é provavelmente teórica,<br />
sendo antes dada pela própria transformação real dos<br />
agentes e atores em causa. Contrariamente a certas idéias<br />
“fora do lugar”, caberia ressaltar que, em relação a sua in-<br />
4 O tema foi desenvolvido no capítulo pertinente, “A diplomacia dos descobrimentos:<br />
Tordesilhas e a formação do Brasil”, de meu livro Relações<br />
Internacionais e Política Externa do Brasil: dos descobrimentos à globalização<br />
(ALMEIDA, 1998a, pp. 101-120).<br />
5 PRADO Jr., 1979, p. 10.<br />
6 RODRIGUES, 1963.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 <strong>25</strong>
serção no sistema internacional da “economia-mundo” capitalista,<br />
o Brasil não é atrasado em termos absolutos e, independentemente<br />
do caráter mais ou menos “dependente”<br />
de seu sistema econômico interno, ele sempre foi relativamente<br />
“moderno” quanto às suas possibilidades de inserção<br />
no sistema internacional. Com efeito, diferentemente de certos<br />
países asiáticos ou mesmo da Europa central e oriental,<br />
nunca existiu, no Brasil, uma sociedade “tradicional”, “arcaica”<br />
ou, metaforicamente, um ancien régime que devesse<br />
ser reduzido ou necessariamente eliminado para que pudessem<br />
avançar o sistema capitalista e o processo de modernização<br />
social.<br />
O BRASIL E A EMERGÊNCIA DA ORDEM<br />
INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA<br />
Aceitas as considerações acima, parece claro que o<br />
que definimos como delimitação cronológica das “relações<br />
internacionais do Brasil” deve ser entendido numa acepção<br />
bastante larga, englobando inclusive os primórdios do descobrimento<br />
e a totalidade do período colonial, estendendo-se<br />
ainda ao contexto internacional em que se situava a potência<br />
tutelar. Nos limites relativamente estreitos deste ensaio caberia,<br />
contudo, enfatizar um tratamento mais “moderno” dessa<br />
ampla problemática, propondo um exame mais acurado da<br />
“matéria-prima” evolutiva das relações internacionais do<br />
Brasil para o período contemporâneo, isto é, grosso modo a<br />
era republicana.<br />
No fim do século XIX, a despeito de transformações<br />
econômicas ocorridas durante o Império, o Brasil se inseria<br />
na divisão internacional do trabalho da mesma forma como<br />
em seu início: como uma nação dotada de afirmada vocação<br />
agrícola para o monocultivo de exportação, ainda que alguns<br />
produtos momentâneos – a borracha, por exemplo – viessem<br />
a disputar a primazia ao café nessa fase e no começo do<br />
século XX. A República trará poucas modificações a uma estrutura<br />
econômico-social essencialmente conservadora, não<br />
obstante a promissora experiência industrializadora de seus<br />
primeiros anos. O que a República introduz de novo são<br />
princípios alternativos de política externa, como o pan-americanismo,<br />
numa área em que o Império tinha mantido, ou<br />
sido mantido em, um relativo isolamento das demais repúblicas<br />
do continente. A afirmação da República se dá num<br />
terreno em que o legado monárquico não tinha ainda se esvanecido,<br />
sobretudo nos meios diplomáticos, ocorrendo mesmo<br />
alguns episódios “jacobinos”, no caso das intervenções<br />
estrangeiras durante a Revolta da Armada, por exemplo.<br />
Mas, do ponto de vista econômico, os problemas que<br />
passam a atormentar a jovem República eram os mesmos<br />
que tinham angustiado a jovem nação independente: o problema<br />
da mão-de-obra (desta vez como imigração) e os investimentos<br />
estrangeiros e os capitais de empréstimo, origem<br />
de monumental dívida externa que estaria sempre sendo jogada<br />
para a frente. A questão financeira – com a negociação<br />
do Funding Loan de 1898 7 – e o problema da “defesa do<br />
café” (promoção comercial e propaganda no exterior) são os<br />
grandes assuntos da diplomacia econômica do Brasil nesse<br />
período, cuja inserção na divisão internacional do trabalho<br />
continuaria sendo feita pelo simples lado da exportação primária.<br />
Tem início, assim, uma diplomacia do café, que continuaria<br />
durante todo o período de afirmação de nossa “vocação<br />
agrícola”.<br />
A ERA DO BARÃO, 1902-1912<br />
Os elementos relevantes do relacionamento externo<br />
nessa fase são os dos limites territoriais deixados em aberto<br />
pela nulificação do Tratado de Madri, mediante o trabalho<br />
diplomático de delimitação das fronteiras ainda duvidosas. A<br />
figura proeminente nessa fase é, evidentemente, a do barão<br />
do Rio Branco (1902-1912), verdadeiro patrono e elemento<br />
ideológico central no processo de formação da moderna diplomacia<br />
brasileira. Outras questões proeminentes são a do<br />
equilíbrio no Cone Sul, problema indissociável da política<br />
americana conduzida pela Chancelaria, e a da participação<br />
do Brasil nas conferências de paz de Haia. Na vertente econômica<br />
destacam-se os empréstimos para estocagem de café<br />
e o primeiro exemplo de “currency board” de nossa história<br />
econômica, com a criação da Caixa de Conversão em 1906.<br />
A REPÚBLICA DOS BACHARÉIS,<br />
1912-1930<br />
Essa República de “bacharéis”, que vai atravessar<br />
grosso modo todo o primeiro período republicano, tenta in-<br />
7 PALAZZO, 1999.<br />
26 <strong>impulso</strong> nº 27
serir o Brasil no chamado “concerto de nações”, inclusive<br />
pelo envolvimento na Primeira Guerra e na ulterior experiência<br />
da Liga das Nações, motivo de uma das grandes frustrações<br />
na história multilateral da diplomacia brasileira.<br />
No que se refere às questões relativas à inserção do<br />
País no “concerto de nações civilizadas”, parecia evidente que<br />
o relacionamento político com as potências econômica e militarmente<br />
significativas não poderia se fazer em pé de igualdade,<br />
como a visão bacharelesca e jurisdicista das elites monárquicas<br />
e republicanas pretendeu, inutilmente, alimentar a<br />
ilusão durante um largo período. Desde as agruras do relacionamento<br />
com a Inglaterra vitoriana, passando pela participação<br />
algo frustrada nas conferências de paz de Haia, até a<br />
experiência humilhante da Liga das Nações, o Brasil se verá<br />
confrontado a posturas externas que iam do desprezo e da<br />
soberbia ao que – mais tarde e em outro contexto – se chamaria<br />
de benign neglect. Cabe destacar, porém, que, mesmo<br />
num contexto cultural ainda fortemente “colonizado” ideologicamente,<br />
a “República dos bacharéis” não se afastará,<br />
grosso modo, da missão já desenhada pelas elites da “monarquia<br />
ilustrada” no sentido de buscar, incessantemente,<br />
afirmar os interesses nacionais no quadro de um sistema internacional<br />
fortemente discriminatório em relação a “potências<br />
menores”, nações anteriormente colonizadas, ou, enfim,<br />
formações periféricas de um modo geral.<br />
CRISE E FECHAMENTO INTERNACIONAL:<br />
1930-1945<br />
A “era nacional” introduz, no cenário das relações internacionais<br />
do Brasil, o que se poderia chamar de “mudança<br />
de paradigma”. As alterações na correlação de forças sociais<br />
e na própria estrutura decisória do sistema político brasileiro,<br />
introduzidas pela Revolução de 1930 (e por seus desenvolvimentos<br />
subseqüentes), não poderiam, é claro, deixar<br />
de afetar a natureza do relacionamento externo do País, em<br />
escala ainda não experimentada até aquela conjuntura histórica.<br />
Apesar de que a diplomacia brasileira continua, por<br />
certo tempo mais, a apoiar-se na tradição bacharelesca e jurisdicista<br />
vinda do século XIX e sem embargo de que as preocupações<br />
de seus quadros principais ainda estivessem marcadas<br />
por uma atitude “essencialmente ornamental e aristocrática”<br />
– para empregar a terminologia cunhada por Hélio<br />
Jaguaribe 8 –, é nessa fase que se passa de uma postura mais<br />
ou menos passiva em relação ao sistema internacional dominante<br />
para uma tentativa de inserção positiva, e portanto<br />
afirmativa, nos quadros da ordem mundial em construção.<br />
O subperíodo é dominado pela redefinição de prioridades<br />
políticas e das alianças externas no contexto das crises<br />
da ordem política e econômica internacionais dos anos 1930,<br />
com dificuldades para a preservação de escolhas autônomas<br />
em face dos limites objetivos – guerra e bloqueios – à atuação<br />
puramente diplomática. Elementos de destaque no contexto<br />
externo são constituídos pela crise econômica inaugurada<br />
pelo crack da bolsa de Nova York, em 1929, pela questão<br />
da dívida externa – na qual se observa uma moratória de fato,<br />
seguida de renegociação com os credores bilaterais – e,<br />
sobretudo, pela política de alianças e de equilíbrio pendular<br />
entre imperialismos rivais, entre os quais se destacam os Estados<br />
Unidos e a Alemanha nazista.<br />
Em muitos países europeus e em diversas outras regiões<br />
do mundo civilizado se travava então uma surda (por<br />
vezes aberta) luta entre doutrinas ideológicas rivais, com destaque<br />
para as correntes fascistas e autoritárias e, em menor<br />
plano, os diversos movimentos de afiliação socialista ou comunista.<br />
No plano interno, não se pode deixar de notar os<br />
desafios insurrecionais comunista e integralista, respectivamente<br />
em 1935 e 1938, que não deixaram de ter conexões internacionais<br />
bem marcadas. A guerra civil espanhola, na<br />
qual chegam a combater inclusive voluntários brasileiros –<br />
geralmente saídos do movimento aliancista de 1935 9 –, epitomiza<br />
essa fase de intensos conflitos ideológicos e de apelos<br />
dramáticos à solidariedade internacional. No final do período,<br />
o Brasil define-se pela política de “grande aliança atlântica”,<br />
confirmada pela participação na Segunda Guerra<br />
Mundial e pelo alinhamento com as posições norte-americanas.<br />
Persiste em filigrana, durante toda essa fase, uma<br />
consciência nítida das elites dirigentes em relação ao atraso<br />
material e tecnológico do País, mesmo se essa percepção ainda<br />
não tivesse sido conceitualmente definida nos termos da<br />
8 JAGUARIBE, 1958, pp. 226-227.<br />
9 ALMEIDA, 1999c.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 27
grande divisão entre desenvolvimento e subdesenvolvimento<br />
que vai mobilizar a agenda internacional no imediato pósguerra<br />
e nas décadas seguintes. Em todo caso, grande parte<br />
das energias da diplomacia varguista, no capítulo das relações<br />
econômicas externas, será mobilizada em virtude da necessidade<br />
de se lograr recursos financeiros e materiais para a<br />
instalação de uma usina siderúrgica no País, o que será alcançado<br />
mediante o apoio dos Estados Unidos à construção<br />
de Volta Redonda.<br />
POLÍTICA EXTERIOR TRADICIONAL:<br />
1945-1960<br />
Essa fase tem início pela participação tentativa e parcial<br />
do Brasil na construção de uma nova ordem mundial, na<br />
conferência de Bretton Woods, em 1944, a partir de quando a<br />
reorganização econômica do mundo é enquadrada pela luta<br />
entre os modelos rivais do liberalismo e do socialismo. Tem<br />
continuidade com a afirmação incisiva – já no segundo governo<br />
Vargas – dos interesses nacionais no quadro inédito de<br />
diminuição dramática dos atores relevantes no plano internacional<br />
– em razão da bipolaridade introduzida pela Guerra<br />
Fria – e, portanto, de redução simultânea das parcerias economicamente<br />
“rentáveis” nesse quadro de opções obrigatórias.<br />
Mas a “opção americana” que então se desenha se faz<br />
também no contexto da emergência de uma diplomacia do<br />
“desenvolvimento”, que se afirmará plenamente na fase seguinte.<br />
Se, por um lado, a doutrina da “segurança nacional”<br />
define o sustentáculo ideológico da Guerra Fria, o pan-americanismo,<br />
por outro, mobiliza os esforços da diplomacia para<br />
a “exploração” da carta da cooperação com a principal potência<br />
hemisférica e ocidental. É nesse quadro de barganhas<br />
políticas e de interesse econômico bem direcionado que o Brasil<br />
empreenderá sua primeira iniciativa multilateral digna de<br />
registro, a Operação Pan-Americana, proposta pelo governo<br />
Kubitschek em 1958.<br />
No plano econômico externo, é nessa fase que tem<br />
início a negociação dos primeiros acordos de produtos de<br />
base – café, cacau, açúcar, entre outros –, com a criação<br />
concomitante das organizações multilaterais setoriais que se<br />
ocupam desses produtos, ao mesmo tempo em que o Brasil<br />
suscita, em 1956, mediante a demanda formal de reestruturação<br />
das dívidas oficiais bilaterais, a criação de um foro de<br />
credores que mais adiante evoluirá para a constituição do<br />
Clube de Paris (1961). Ainda no terreno da diplomacia econômica<br />
multilateral, essa fase corresponde aos primeiros<br />
exercícios negociadores de política comercial no GATT, o<br />
Acordo Geral de Tarifas e Comércio, quando o Brasil renegocia<br />
sua adesão, em 1957, a partir da nova Lei Aduaneira e de<br />
reclassificação tarifária.<br />
A política regional é marcada por certa ambigüidade<br />
entre o equilíbrio estratégico e o isolamento diplomático, visível<br />
sobretudo no relacionamento com o principal parceiro<br />
e rival, a Argentina, mas o quadro evolui, sobretudo a partir<br />
da era Kubitschek, para a superação da competição e sua<br />
substituição pela convivência e pela cooperação. Começa a<br />
ter voga, nessa época, sob a impulsão do economista argentino<br />
Raul Prebisch, o chamado “modelo cepalino”, isto é, a<br />
promoção do desenvolvimento nacional por meio de políticas<br />
ativas de industrialização, eventualmente mediante a cooperação<br />
econômica no contexto sul-americano e a promoção<br />
de esquemas de integração. Tais esforços, inclusive por um<br />
certo mimetismo em relação ao mercado comum europeu<br />
recentemente (1957) instituído, resultarão, em 1960, na criação<br />
da Associação Latino-Americana de Livre-Comércio<br />
(ALALC). No plano institucional interno, é também nessa fase<br />
que se completa a profissionalização da carreira diplomática,<br />
cujo acesso passa a se dar, desde 1946, por vestibular organizado<br />
pelo Instituto Rio Branco e na qual a ascensão funcional<br />
confirma mais intensamente o mérito do que o background<br />
familiar.<br />
A POLÍTICA EXTERNA INDEPENDENTE:<br />
1961-1964<br />
A prática da política externa independente, em sua<br />
primeira modalidade nos conturbados anos Jânio Quadros/<br />
João Goulart, representa uma espécie de parênteses inovador<br />
num continuum diplomático dominado pelo conflito Leste-<br />
Oeste. O impacto da revolução cubana e o processo de descolonização<br />
tinham trazido o neutralismo e o não-alinhamento<br />
ao primeiro plano do cenário internacional, ao lado<br />
da competição cada vez mais acirrada entre as duas superpotências<br />
pela preeminência tecnológica e pela influência<br />
28 <strong>impulso</strong> nº 27
política junto às jovens nações independentes. Não surpreende,<br />
assim, que a diplomacia brasileira comece a repensar<br />
seus fundamentos e a revisar suas linhas de atuação, em especial<br />
no que se refere ao tradicional apoio emprestado ao<br />
colonialismo português na África e a recusa do relacionamento<br />
econômico-comercial com os países socialistas. A aliança<br />
preferencial com os Estados Unidos é pensada mais em<br />
termos de vantagens econômicas a serem barganhadas do<br />
que em virtude do xadrez geopolítico da Guerra Fria. Formuladores<br />
protagônicos dessa nova maneira de pensar foram<br />
políticos relativamente tradicionais, como Afonso Arinos e<br />
San Tiago Dantas, e alguns diplomatas de espírito inovador,<br />
como Araújo Castro.<br />
É nesse período que, ao lado da tradicional dicotomia<br />
Leste-Oeste, se começa a proclamar uma divisão do mundo<br />
ainda mais insidiosa, Norte-Sul, entre países avançados e países<br />
subdesenvolvidos. O Brasil foi um dos articuladores mais<br />
ativos das propostas desenvolvimentistas que resultaram na<br />
criação, em março de 1964, da Conferência das Nações Unidas<br />
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), cujos objetivos<br />
eram nada mais, nada menos do que a revisão completa<br />
da arquitetura do sistema multilateral de comércio e a<br />
criação de mecanismos – sustentação de produtos de base,<br />
sistema geral de preferências comerciais em favor dos exportadores<br />
de matérias-primas, não reciprocidade nas relações<br />
de comércio – suscetíveis de promover uma inserção mais<br />
ativa dos países em desenvolvimento na economia mundial.<br />
Quando a primeira sessão da conferência se realizava, em<br />
Genebra, o golpe militar no Brasil sinalizou, entretanto, um<br />
retorno a padrões mais tradicionais de política externa.<br />
A VOLTA AO ALINHAMENTO,<br />
1964-1967<br />
O reenquadramento do Brasil no “conflito ideológico<br />
global” representa mais uma espécie de “pedágio” a pagar<br />
pelo apoio dado pelos Estados Unidos no momento do golpe<br />
militar contra o regime populista do que propriamente uma<br />
operação de reconversão ideológica da diplomacia brasileira.<br />
Em todo caso, observa-se um curto período de “alinhamento<br />
político”, durante o qual a nova “diplomacia do marechal”<br />
Castelo Branco – em contraposição àquela resolutamente<br />
nacionalista aplicada por Floriano Peixoto durante a revolta<br />
da Armada – adere estritamente aos cânones oficiais do<br />
pan-americanismo, como definidos em Washington: registre-se,<br />
numa seqüência de poucos meses, a ruptura de relações<br />
diplomáticas com Cuba e com a maior parte dos países<br />
socialistas, assim como a participação de força de intervenção<br />
na crise da República Dominicana. A política multilateral<br />
e as relações bilaterais, de modo geral, passam por uma<br />
“reversão de expectativas”, para grande frustração de parte<br />
da nova geração de diplomatas que tinha sido educada nos<br />
anos da política externa independente.<br />
No plano econômico externo, a volta à ortodoxia na<br />
gestão da política econômica permite um tratamento mais<br />
benigno da questão da dívida externa, seja no plano bilateral,<br />
seja nos foros multilaterais do Clube de Paris ou nas instituições<br />
financeiras internacionais, como o FMI. É sintomático,<br />
aliás, que a única assembléia conjunta das organizações de<br />
Bretton Woods, a realizar-se no Brasil, tenha tido por cenário<br />
o Rio de Janeiro da primeira era militar, em 1967, quando<br />
também se negocia a instituição de uma nova liquidez para<br />
o sistema financeiro internacional, o Direito Especial de Saque<br />
do FMI. 10<br />
REVISÃO IDEOLÓGICA E BUSCA DE<br />
AUTONOMIA TECNOLÓGICA:<br />
1967-1985<br />
A postura de princípio favorável a uma política exterior<br />
de tipo “tradicional” ou a aceitação indiscutida de regras<br />
diplomáticas caracterizadas pelo “alinhamento incondicional”<br />
às teses do principal parceiro ocidental vinham tendo<br />
cada vez menos vigência no Brasil contemporâneo, mesmo<br />
no regime dos militares adeptos da doutrina da segurança<br />
nacional. Basicamente, essas atitudes apenas se manifestaram<br />
nos primeiros anos do pós-guerra e no seguimento imediato<br />
do movimento militar de 1964, para serem logo em seguida<br />
substituídas por atitudes mais pragmáticas. A atitude<br />
“contemplativa” em relação aos EUA – partilhada igualmente<br />
pelos militares e pelas elites, de modo geral, durante a Guerra<br />
Fria – cede progressivamente lugar a uma diplomacia alta-<br />
10 Ibid.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 29
mente profissionalizada, preocupada com a adaptação dos<br />
instrumentos de ação a um mundo em rápida mutação, e instrumentalizada<br />
essencialmente para o atingimento dos objetivos<br />
nacionais do desenvolvimento econômico.<br />
Tem início, então, a participação plena do Brasil nos<br />
esforços de construção de uma “nova ordem econômica internacional”,<br />
com atuação destacada em todos os foros multilaterais<br />
abertos ao engenho e arte de uma diplomacia mais<br />
madura e liberta das alianças exclusivas da Guerra Fria. O<br />
período pode ser caricaturalmente identificado com a “diplomacia<br />
dos rótulos”, que efetivamente se sucedem entre<br />
1967 e 1985, a saber: 1. “diplomacia da prosperidade” ainda<br />
no governo Costa e Silva; 2. “Brasil Grande Potência”, no período<br />
Médici; 3. “pragmatismo responsável”, sob a presidência<br />
Geisel; 4. “diplomacia ecumênica”, já no último governo<br />
militar desse ciclo, o de Figueiredo. 11<br />
A despeito dessas classificações mais ou menos arbitrárias,<br />
tratou-se, basicamente, de uma “diplomacia do crescimento”,<br />
consubstanciada na busca da autonomia tecnológica,<br />
inclusive a nuclear, com uma afirmação marcada da<br />
ação do Estado nos planos interno e externo. Mas observa-se<br />
também nesse período a confirmação da fragilidade econômica<br />
do País, ao não terem sido eliminados os constrangimentos<br />
de balança de pagamentos que marcaram historicamente<br />
o processo de desenvolvimento brasileiro: as crises do<br />
petróleo, em 1973 e 1979, seguida pela da dívida externa, em<br />
1982, marcam o começo do declínio do regime militar.<br />
REDEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES E<br />
AFIRMAÇÃO DA VOCAÇÃO REGIONAL:<br />
1985-2000<br />
Os elementos mais significativos da postura internacional<br />
do Brasil poderiam ser atualmente caracterizados pelos<br />
seguintes processos: redefinição das prioridades externas,<br />
com afirmação da vocação regional – processo de integração<br />
subregional no Mercosul e de construção de um espaço<br />
econômico na América do Sul –, opção por uma maior inserção<br />
internacional e aceitação consciente da interdependência<br />
– em contraste com a experiência anterior de busca<br />
11 VIZENTINI, 1998.<br />
da autonomia nacional –, com a continuidade da abertura<br />
econômica e da liberalização comercial, no quadro de processos<br />
de reconversão e de adaptação aos desafios da globalização.<br />
A diplomacia passa a apresentar múltiplas facetas,<br />
que não exclusivamente a de tipo bilateral ou aquelas de ordem<br />
estritamente profissional corporativa: são elas a regional,<br />
a multilateral (em especial no âmbito da OMC) e a presidencial.<br />
As mudanças de ordem política, econômica e diplomática<br />
nas relações internacionais do País, neste período recente,<br />
são tão variadas, e de tal magnitude – tanto as surgidas<br />
internamente como as induzidas de fora –, que qualquer tentativa<br />
de levantamento das “questões relevantes” nesta fase da<br />
história nacional correria o risco de deixar de fora problemas<br />
importantes de uma agenda externa crescentemente diversificada<br />
e extremamente complexa, seja no âmbito multilateral<br />
ou nos diversos planos bilaterais. Mencione-se, por obrigatória,<br />
a questão nem sempre bem colocada da “opção” entre<br />
uma “política externa tradicional” – por definição “alinhada”<br />
– e uma “política externa independente”, problema dramatizado<br />
por anos de enfrentamento bipolar no cenário geopolítico<br />
global. Superando, contudo, o invólucro “ideológico” da<br />
postura externa do País nesse período, e mesmo os diversos<br />
“rótulos” com os quais se procurou classificar a diplomacia da<br />
era “militar”, assume importância primordial, independentemente<br />
da postura política particular de cada governo diante os<br />
desafios do cenário internacional, a questão do desenvolvimento<br />
econômico, verdadeiro leit motiv da diplomacia brasileira<br />
contemporânea.<br />
A política externa brasileira, desde os anos 50 pelo<br />
menos, foi basicamente uma política econômica externa,<br />
mesmo se problemas de ordem regional (rivalidade com a<br />
Argentina), de tipo político-ideológico (desafio insurrecional<br />
segundo o modelo “castrista”) ou de cunho social-humanista<br />
(direitos humanos, por exemplo) ocuparam frações significativas<br />
da agenda diplomática em momentos determinados<br />
desse período. Sem praticamente nenhum tipo de exceção,<br />
todas as grandes questões de política interna do País – industrialização,<br />
capital estrangeiro, política energética e de<br />
“segurança nacional” (começando pelo petróleo, passando<br />
pelo programa nuclear e chegando à política de informáti-<br />
30 <strong>impulso</strong> nº 27
ca), modernização tecnológica etc. – são também, e antes de<br />
mais nada, questões de política externa da nação.<br />
CONCLUSÕES<br />
São essas as questões – acrescidas de algumas outras<br />
que delas derivam: dívida externa, meio ambiente, exportações<br />
de artigos militares etc. – que estão no centro das relações<br />
internacionais do Brasil contemporâneo e que, como<br />
tais, devem conformar o próprio “menu” de um estudo global<br />
das relações internacionais do País. Uma outra questão,<br />
mais recente, mas que faz parte igualmente da agenda econômica<br />
“externa” da nação, veio a elas se juntar em forma<br />
permanente: a política de integração regional, em especial o<br />
processo de constituição de um mercado comum no cone sul<br />
americano. 12<br />
Ainda que esta última issue diplomática tenha resultado,<br />
basicamente, de uma opção de public policy cuja natureza<br />
foi fundamentalmente política – e mesmo “geopolítica”,<br />
no bom sentido da palavra –, isto é, a decisão tomada, ao<br />
concluir-se o período militar, de encerrar a tradicional postura<br />
de conflito e de concorrência com a Argentina para<br />
substituí-la por uma de cooperação e de integração, essa<br />
questão representa, igualmente, um capítulo específico, ainda<br />
que inédito, da densa agenda brasileira no campo das relações<br />
econômicas internacionais. Ela é uma vertente, provavelmente<br />
a mais importante na atualidade, da já chamada<br />
“diplomacia do desenvolvimento”. 13<br />
Assim como a industrialização e a modernização econômica<br />
do País foram perseguidas de maneira persistente,<br />
desde longas décadas, pela sociedade em seu conjunto, a integração<br />
regional passa a fazer parte do horizonte histórico<br />
futuro da nacionalidade. Num mundo em rápida mutação,<br />
com cenários geopolíticos e geoeconômicos ainda não totalmente<br />
claros, a opção de política regional adotada pelo Brasil<br />
passa a conformar um dos pontos mais importantes de sua<br />
agenda internacional. Como tal, essa questão deve figurar em<br />
12 ALMEIDA, 1998b.<br />
13 RICUPERO, 1989.<br />
posição de destaque em qualquer estudo que se empreenda,<br />
doravante, sobre as relações internacionais do Brasil.<br />
Finalmente, nem um estudo das relações internacionais<br />
do Brasil poderia descurar a perspectiva propriamente<br />
globalizante – e “primariamente” comparatista –, consistindo<br />
em pensar sua inserção num sistema internacional cujas<br />
bases de funcionamento estão em processo de transformação<br />
acelerada. Não está ainda totalmente claro que estrutura de<br />
tomada de decisões políticas, em nível mundial, e que conformação<br />
precisa, em termos de sistema hierarquizado (ainda<br />
que segundo novos princípios), terá a ordem emergente<br />
atualmente, que passa a substituir o cenário bipolarizado enterrado<br />
ao mesmo tempo em que se cobre de terra o caixão<br />
do socialismo mundial.<br />
Em todo caso, essa “nova ordem” já não mais consistirá,<br />
apenas, de duas superpotências, algumas potências<br />
médias e vários Estados “emergentes”. Os fenômenos de<br />
“globalização” – não apenas restrito à internacionalização<br />
dos circuitos produtivos – e de “regionalização” – com a formação<br />
de blocos econômicos e políticos em diversas regiões<br />
do planeta – prometem introduzir novas variantes nos modelos<br />
até aqui conhecidos de sistema internacional, como referidos<br />
anteriormente: o modelo dos impérios universais, o<br />
das cidades-Estado comerciais e o moderno sistema de Estados.<br />
O cenário histórico futuro indica, previsivelmente, que<br />
o estudo das relações internacionais de um País como o Brasil<br />
terá de trabalhar, durante certo tempo ainda, com os conceitos<br />
de “Estado periférico” e de “potência média”. Ainda<br />
assim, o padrão de relacionamento de um Estado desse tipo<br />
com os atores principais do sistema internacional, bem como<br />
o peso específico de nações “periféricas” na estrutura do poder<br />
mundial, sofrerão mudanças significativas em direção do<br />
horizonte 2000. Nesse sentido, uma reflexão comparada sobre<br />
as tendências de desenvolvimento dos Estados médios,<br />
com base nos elementos de análise já disponíveis, poderá<br />
contribuir a uma melhor compreensão da agenda diplomática<br />
de um país-continente como o Brasil.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 31
Referências Bibliográficas<br />
ALMEIDA, P.R. de. O Brasil e o Multilateralismo Econômico. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1999a.<br />
________. O Estudo das Relações Internacionais do Brasil. São Paulo: Unimarco, 1999b.<br />
________. Brasileiros na Guerra Civil Espanhola, 1936-1939: combatentes brasileiros na luta contra o fascismo. Revista de<br />
Sociologia e Política, Curitiba: UFPR, 4 (12): 35-66, 1999c.<br />
________. Relações Internacionais e Política Externa do Brasil: dos descobrimentos à globalização. Porto Alegre: UFRGS,<br />
1998a.<br />
________. Mercosul: fundamentos e perspectivas. São Paulo: LTr, 1998b.<br />
ALMOND, G.A. & POWELL Jr., G.B. Comparative Politics: a developmental approach. Boston: Little Brown, 1966.<br />
JAGUARIBE, H. O Nacionalismo na Atualidade Brasileira. Rio de Janeiro: Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 1958.<br />
PALAZZO, C.L. Dívida Externa: a negociação de 1898. Brasília: Da Anta Casa Editora, 1999.<br />
PRADO Jr., C. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. 16.ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1979.<br />
RIBEIRO, D. O Processo Civilizatório. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.<br />
________. As Américas e a Civilização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.<br />
________. Configurações Histórico-culturais dos Povos Americanos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.<br />
RICUPERO, R. A diplomacia do desenvolvimento. In: PEREIRA DE ARAÚJO, J.H.; AZAMBUJA, M. & RICUPERO, R. Três<br />
Ensaios sobre Diplomacia Brasileira. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 1989.<br />
RODRIGUES, J.H. Aspirações Nacionais: interpretação histórico-política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.<br />
VIZENTINI, P. A Política Externa do Regime Militar Brasileiro: multilateralização, desenvolvimento e construção de uma potência<br />
média (1964-1985). Porto Alegre: UFRGS, 1998.<br />
Washington, dez./99<br />
32 <strong>impulso</strong> nº 27
500 ANOS...<br />
DE PORTUGUESES<br />
A BRASILEIROS<br />
FIVE HUNDRED YEARS...<br />
FROM PORTUGUESE TO BRAZILIANS<br />
PIERRE SANCHIS<br />
Professor Emérito da<br />
Universidade Federal<br />
de Minas Gerais.<br />
Doutor em Antropologia<br />
pela Universidade de Paris<br />
psanchis.bhe@terra.com.br<br />
RESUMO A chegada dos portugueses às costas brasileiras representou para aquele grupo humano uma das transferências<br />
de hábitat mais drásticas que a história conheceu: desde uma terra de raiz até um espaço sem limites, onde<br />
quase impossível tornava-se o enraizamento, mas imperativa, a relação ao “outro”. O artigo pretende sugerir que um<br />
fato social aparentemente tão simples pode ter projetado suas conseqüências sobre a “longa duração” da história brasileira,<br />
chegando mesmo a desenhar, quem sabe até os dias de hoje, algumas características do campo religioso no<br />
Brasil.<br />
Palavras-chave Portugal – Brasil – espaço – nomadismo – sincretismo religioso.<br />
ABSTRACT The arrival of the Portuguese on the Brazilian coast represented one of the most radical transferences of<br />
habitat that history has ever known: people who were first so deeply rooted started living in an unlimited space, in<br />
which rooting was nearly impossible and the relationship with “the other” was imperative. The article suggests that<br />
such an apparently simple social fact may well have had long-run consequences in Brazilian history. It may even account<br />
for some very recent features of our religious field.<br />
Key words Portugal – Brazil – space – nomadism – religious syncretism.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 33
A relação com o<br />
lugar de sua<br />
inserção (o topos)<br />
contribui para definir<br />
a vida social de um<br />
grupo<br />
500 anos!... Tantos são os aspectos que poderiam ser escolhidos para comentar<br />
esta data!... Escolhi um, que parecerá, quem sabe, bastante superficial<br />
num primeiro momento: a relação com o espaço onde vive ajuda um grupo<br />
humano a se construir em sua particularidade histórica, cultural e social.<br />
No caso, duas relações, comparadas: a dos portugueses com o seu minúsculo<br />
Portugal, a dos brasileiros com o seu imenso Brasil. E, mais ainda<br />
do que uma comparação estática, a visão da passagem histórica do primeiro<br />
tipo de relação ao segundo: aquela passagem que, precisamente 500 anos atrás,<br />
transformou os portugueses em “brasileiros”. 1<br />
Está se tornando cada vez mais comum na ciência social contemporânea (Scheller,<br />
Dumont, Norbert Elias, Giddens etc.) a alusão à problemática do espaço: a relação com o<br />
lugar de sua inserção (o topos) contribui para definir a vida social de um grupo. Velha<br />
problemática da geografia humana, que a história de há muito assumiu (O Mediterrâneo,<br />
de Braudel) 2 e que parece impor-se atualmente às ciências sociais: é importante o nicho<br />
ecológico em que se insere o homem, a dimensão, a extensão, a proporção... e a desproporção,<br />
o equilíbrio ou a desmedida, o definido e o sem fim.<br />
Por sua vez, Michel Foucault atribui qualificações propriamente políticas a essa referência<br />
ao espaço: “Território é sem dúvida uma noção geográfica, mas é antes de tudo<br />
uma noção jurídico-política: aquilo que é controlado por um certo tipo de poder”. 3 Com<br />
todas as conseqüências que o fato implica.<br />
É nesta perspectiva que quero falar de Portugal e do Brasil.<br />
PORTUGAL, ESPAÇO FEITO DE ALDEIA E DE MAR<br />
De que Portugal falarei? Não do Portugal da grande cultura e dos expoentes históricos,<br />
também não do das cidades importantes e dos fluxos contemporâneos de modernidade,<br />
mas daquele, nos interiores, que um contato modesto de pesquisa, há trinta anos,<br />
me deu a conhecer: o aldeão no seu quotidiano e nas suas festas, quem sabe próximo ao<br />
grande número daqueles que, há 500 anos, povoavam as caravelas, mais tarde os paquetes,<br />
daqueles que afinal começaram a fazer o Brasil. Ora, o que minha experiência de campo<br />
me sugere sobre esta problemática da relação ao espaço neste Portugal profundo poderia<br />
ser resumido em dois pontos.<br />
Antes de tudo, o português (do Norte e Centro) que conheci era o homem de sua<br />
aldeia. Encontrei na obra recente sobre Portugal de Miguel de Almeida, um antropólogo<br />
português que visita freqüentemente o Brasil, dois subtítulos significativos no mesmo sentido:<br />
“A terra natal como umbigo da história” e “História de vida, história de aldeia”. 4 É de<br />
1 Boa parte das idéias deste texto foi desenvolvida em SANCHIS, 1997a e 1997b.<br />
2 BRAUDEL (1949), 1966.<br />
3 FOUCAULT, 1979, p. 156. Herodote, o dialogante de Foucault neste capítulo, insiste: “Entre o discurso geográfico<br />
e o discurso estratégico, pode-se observar uma circulação de noções: a região dos geógrafos é a<br />
mesma que a região militar (de regere, comandar) e província o mesmo que território vencido (devincere).<br />
O campo remete ao campo de batalha...” (Ibid., p. 158).<br />
4 ALMEIDA, 1995.<br />
34 <strong>impulso</strong> nº 27
fato ali, neste topos limitado e concreto, que se enraizam – e<br />
se particularizam – os dois universais que, em outro plano,<br />
abrem o português para o mundo: o sentimento de sua pátria,<br />
a adesão à sua religião. Português e católico, o aldeão,<br />
antes de tudo, é filho de sua terra. São muitas as lembranças<br />
das conversas, das trocas e reflexões que me impuseram esta<br />
convicção: “Mandar os nossos rapazes combater no ultramar,<br />
não!”, diziam-me durante a guerra colonial. “Ainda se<br />
fosse para defender nossa aldeia...”. Quanto ao catolicismo<br />
(objeto de minha pesquisa, lá e aqui), sobretudo no Norte ou<br />
Noroeste – precisamente de onde terão ido os futuros brasileiros<br />
–, era um catolicismo visivelmente enraizado numa<br />
identidade local, mais presente em muitos casos do que<br />
o da identidade regional ou nacional. Referências históricas<br />
inscritas na topografia, as narrativas familiares, as genealogias,<br />
os patronímicos, que articulavam, através do casamento,<br />
esta identidade local a outras de mesmo tipo no interior de<br />
uma rede regional de aldeias, mais do que a uma identidade<br />
regional propriamente dita; cristalizações simbólicas de tipo<br />
emblemático, não exclusivamente, mas o mais das vezes de<br />
natureza religiosa: o vigário, a igreja, os padres aposentados<br />
que, até havia pouco, costumavam voltar a viver em casas de<br />
suas linhagens, os santuários de romaria e os caminhos que<br />
levam a eles, santuários e caminhos que, todos, continuavam<br />
marcando o mapa imaginário e sentimental da região, o calendário,<br />
“os trabalhos e os dias” locais, as festividades que os<br />
acompanham; o próprio Santo, o “padroeiro”, quase inscrito<br />
nas tábuas genealógicas da comunidade (“O São Bento daqui<br />
é primo do de Santo Tirso”; ou ainda: “São Torcato apareceu,<br />
São Bento não o pode porque ainda tem irmãos vivos”,<br />
“São Bento, não, não conheci; já não é do meu tempo”...); a<br />
Confraria, que recapitula os vivos (presentes ou ausentes por<br />
emigração) e os mortos – os vivos, aliás, enquanto futuros<br />
mortos (as missas encomendadas com antecedência, que tecem<br />
entre si as gerações); as festas, enfim, romarias ou não,<br />
emblemas, às vezes agressivamente fechados, da comunidade<br />
local ou, ao contrário, operadoras da articulação entre a<br />
comunidade local e o espaço regional. Uma identidade religiosa<br />
– e mais amplamente social – que se constituía sobre<br />
a base ao mesmo tempo do local (topos) e do passado<br />
num processo unitário, ao termo do qual a Igreja, referência<br />
fundamental, era vivida como autóctone, nascida desta<br />
terra, identificando-se com ela e com suas raízes históricas.<br />
E esse passado, que encontrei ainda vivo, também impõe<br />
ao historiador a permanente imagem matricial de uma<br />
aldeia. Sobre ela insistem nos dias de hoje os medievalistas,<br />
situs de fixação das populações bárbaras, que tornou-se<br />
“paróquia” já na época carolíngia, definitivamente implantada<br />
como estrutura fundamental do catolicismo nos séculos<br />
XI-XIII, e que acaba envolvendo Portugal numa trama geográfico-social<br />
e demográfica que articula e trança, de um lado,<br />
o fio das comunidades locais, com a sua tendência para<br />
a organização autônoma muitas vezes apoiada pelo poder<br />
real; de outro lado, os fios variados das forças de senhorialização,<br />
com as relações de dependência, em nível militar, judiciário<br />
e religioso, que elas conseguem pouco a pouco implantar.<br />
Mas, em todos os casos, é em referência a um espaço<br />
determinado (“chão”, domínio, terra, território, denotação<br />
de um acidente geográfico) que se constrói uma identidade<br />
comunitária, com dois pólos: o castelo e, com ele ou contra<br />
ele, a paróquia, com sua igreja e seus santuários, que se constitui<br />
em centro, fulcro difusor, emblema e cristalização desta<br />
identidade local.<br />
Mesmo quando os paroquianos perdem o direito de<br />
eleger o seu cura, nem por isso a igreja deixa de constituir,<br />
afinal, um dos principais vínculos da solidariedade<br />
campesina. É nela, pertencente ou não ao senhor,<br />
que todos os habitantes da freguesia se reúnem<br />
para celebrar coletivamente os ritos de passagem, de<br />
entrada na vida e na morte, aí que pedem a benção<br />
divina para os filhos, os animais e as searas, aí que se<br />
refugiam quando chegam os cavaleiros para praticarem<br />
violências e abusos. 5<br />
Palavras de historiador, referidas à Idade Média. Mas<br />
pouco deveria mudar o etnógrafo para falar do quase hoje<br />
(<strong>25</strong>, 30 anos atrás...) de muitas aldeias, ou melhor freguesias<br />
(paróquias), no seu quadro geográfico, real e imaginário,<br />
com seu conjunto de atividades associadas aos ciclos na-<br />
5 MATTOSO, 1985, p. 294. Aliás, é bom notá-lo, do mesmo historiador<br />
que acaba de coordenar a edição de um livro sobre as mudanças espantosas<br />
do Portugal imediatamente contemporâneo.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 35
turais e às suas redes próprias de sociabilidade. Um Portugal<br />
medieval, outro ainda contemporâneo, os dois construídos<br />
na base destas redes de identidades locais, topologicamente<br />
de-terminadas, de-limitadas. Como não pensar, então, entre<br />
estes dois momentos – a Idade Média e uma época recente –<br />
no Entre-Douro-e-Minho do século XVI, celeiro das primeiras<br />
levas portuguesas que implantarão o Brasil?<br />
É preciso, com efeito, acrescentar a esta primeira característica<br />
da relação portuguesa com o espaço uma outra,<br />
aparentemente contraditória. Um Portugal inclinado em anfiteatro<br />
para o mar, território pequeno, cercado pela Espanha<br />
e situado na extremidade da Europa, não tendo outra possível<br />
expansão senão o mar. Por isso, o homem da aldeia é<br />
também o do Oceano. “A força atrativa do Atlântico, este<br />
grande mar povoado de tempestades e de mistérios, foi a<br />
alma da nação e foi com ele que se escreveu a História de<br />
Portugal”, diz Jorge Dias. 6 Num primeiro momento, esta força<br />
atrativa faz acumular no litoral as aglomerações urbanas,<br />
ao contrário da vizinha Espanha, que implanta no seu centro<br />
a sua capital. Mas esse passo é só primeiro: o mesmo português<br />
aldeão, preso a um horizonte marcado, balisado pela<br />
história, diferenciado até o detalhe, pouco globalizado e todo<br />
voltado para o círculo interior, é também atraído pela voragem<br />
do não marcado, do imensamente aberto, do sem limites.<br />
De costas para – e sempre preso à – origem que o<br />
sustenta, o nutre por dentro mas o lança rumo ao desconhecido;<br />
ele precisa, mesmo neste arrancar ativo a si mesmo, da<br />
continuidade do laço que define e identifica.... Um enraizado,<br />
mesmo se viajante, ou então, se ficou, aquele cuja permanência<br />
articula-se sempre à referência a uma parte de si<br />
que se foi. Desde que se conhece por gente, Portugal sonhou<br />
com os seus que o deixaram – sem deixá-lo, pois o levavam<br />
consigo.<br />
E continua até os dias de hoje.<br />
Mas na imensidão não marcada do mar é só possível<br />
traçar caminhos. Impensável nele criar raízes, novas raízes,<br />
para substituir aquelas que foram arrancadas lá. No mar, era<br />
impossível implantar um novo Portugal. Em terras, apesar<br />
de infinitas, oceano florestal, era pelo menos pensável.<br />
Aqui se situa a metamorfose. Melhor, talvez, a inversão.<br />
Um desenraizado, errante longe de suas referências, mas<br />
encostado ainda no seu imaginário, ao passado de seu torrão<br />
natal, encontra um horizonte no qual – utopicamente –<br />
pode pensar em criar novas raízes. Do seu topos tradicional<br />
à atopia do mar, o português; da utopia da floresta infinita<br />
em direção ao novo topos de outro assentamento, o brasileiro.<br />
Movimentos arrevesados, que desde há séculos não acabam<br />
de acabar.<br />
BRASIL, ESPAÇO SEM LIMITES<br />
Num primeiro momento, imagine-se o espanto que a<br />
descoberta do espaço brasileiro criou em tais viajantes! Da aldeia<br />
e dos santuários familiares para um mundo sem limites,<br />
no qual a imensidão geográfica implicava, impartida por um<br />
Estado e uma Igreja pouco presentes no quotidiano, uma tarefa<br />
desestruturadora. Pouco mais de um século depois,<br />
constata Caio Prado Junior,<br />
(...) no tratado de Madri (1750), já as fronteiras atuais<br />
do Brasil foram quase que definitivamente fixadas,<br />
em nome da povoação efetiva: “Cada parte há de ficar<br />
com o que atualmente possui”. Isto já nos mostra, a<br />
priori, que de fato a colonização portuguesa ocupara<br />
esta área imensa que constituiria o nosso país. (...)<br />
Obra considerável, não há dúvida, daquele punhado<br />
de povoadores capazes de ocupar e defender efetivamente<br />
(...) um território de oito milhões de quilômetros<br />
quadrados (...) mas, ao mesmo tempo, ônus penoso<br />
que pesará sobre a colônia e depois sobre a nação,<br />
provocando como provocou esta disseminação<br />
pasmosa e sem paralelo que afasta e isola os indivíduos,<br />
cinde o povoamento em núcleos esparsos de contato<br />
e comunicações dificeis, muitas vêzes até impossíveis.<br />
7<br />
É uma nova relação com o espaço que assim se instaura.<br />
Para durar.<br />
6 DIAS, 1971, p. 15. 7 PRADO Jr., 1969, pp. 36-37.<br />
36 <strong>impulso</strong> nº 27
8 BASTIDE, 1971, pp. 56-57.<br />
9 RIBEIRO, 1981, p. 90.<br />
Se é dentro do quadro de determinado meio cósmico<br />
socialmente assumido que se elabora uma visão do mundo,<br />
se estrutura um universo de valores e implanta-se a segurança<br />
afetiva e psicológica dos indivíduos, através de uma rede<br />
de relações que definem o grupo e o inserem em perspectivas<br />
que o ultrapassam, este primeiro contato com o continente<br />
novo devia funcionar, como o dirá Bastide, “à maneira de<br />
uma carga de dinamite que fez essa sociedade [portuguesa]<br />
explodir em pedaços (...). As forças centrífugas predominam<br />
sobre as forças de coesão”. 8<br />
Logo intervêm as tentativas de reagrupamento. Marcadas<br />
todas por um duplo fator: mobilidade, mistura.<br />
É nas bandeiras que se delineia o Brasil, vetores de penetração,<br />
marcas num mapa imaginário, cotejo do homem<br />
com um espaço que lhe é desproporcional – e, ao mesmo<br />
tempo, instrumentos de contacto com a presença humana<br />
neste espaço. Já que esta natureza tinha dono, por mais que<br />
o imaginário social tenha tentado convencer o brasileiro –<br />
conforme o escrevia, há poucos anos ainda, uma professora<br />
primária – de que “quando os portugueses chegaram ao<br />
Brasil, não encontraram aqui nada: só tinha mata e índios”...<br />
A relação com o espaço então torna-se imediatamente<br />
relação com o que era percebido como o lado humano da<br />
mesma natureza. Relação captadora, mas relação: “O sertanista<br />
e o bandeirante” – descreve Darcy Ribeiro – “dominavam<br />
uma técnica terrível de, com arma de fogo, com cães,<br />
muito cuidado, aprisionarem índios. Havia bandeiras que<br />
eram cidades ambulantes, conduziam milhares de pessoas,<br />
iam fazendo roças, se fixando, e depois se deslocando”. 9 Até<br />
as “cidades” eram nômades..., mas já congregavam vários<br />
“outros” em busca do outro “natural”: rapidamente estes<br />
“milhares de pessoas” não eram mais só portugueses – ou<br />
portugueses sós. Este povo desenraizado tinha assimilado<br />
outro povo na mesma condição: o índio “manso”, já destribalizado<br />
e seduzido à força pelo novo sistema de trocas culturais.<br />
Nessa operação de transmutação em “cultura” (o “índio<br />
manso”) daquele segmento de humanidade anteriormente<br />
representado como “natureza” (o “índio bravo”), a<br />
religião jogou o papel decisivo.<br />
Com efeito, a possibilidade de recriar, na nova terra, as<br />
condições de assentamento e convivência local que haviam<br />
permitido, na Lusitânia, a eflorescência de um determinado<br />
catolicismo a partir das sedimentações religiosas anteriores<br />
(pré-celtas, celtas, romanas) foi rapidamente descartada. Um<br />
cristianismo “inculturado”, conforme o ideal da pastoral católica<br />
contemporânea 10 só teria sido possível em conseqüência<br />
de uma evangelização topologicamente fixada no próprio “local”<br />
– um local, aliás, também ele nômade –, onde os indígenas<br />
estruturavam tradicionalmente o seu universo. Mas em<br />
três curtos anos os jesuítas foram levados a renunciar a esse<br />
ideal. Visto que os índios mostravam-se apegados a seus vícios:<br />
matavam, comiam carne humana, tinham várias mulheres.<br />
O único meio de convencê-los dos valores da civilização<br />
seria educar os seus filhos em colégios (já em 1550!) e<br />
reagrupar os adultos, confundidas as origens e as culturas,<br />
em aldeamentos cristãos. Nesse tipo transfigurado de fixação<br />
“aldeana”, os índios poderiam, pelo menos durante um<br />
tempo, tocar as suas flautas ou dançar as suas danças, mas<br />
todo esse vocabulário cultural seria compelido a falar uma<br />
língua que não era a sua. 11<br />
Para um período posterior e sobretudo para a região<br />
amazônica, Carlos de Araujo Moreira Neto 12 descreverá assim<br />
a “missão”: “A missão é o centro por excelência de destribalização<br />
e de homogeneização deculturativa daqueles ‘restos de<br />
nações menos bravias’, 13 concentrados nos aldeamentos catequéticos.<br />
O produto final é o índio privado de sua identidade<br />
étnica, o tapuio”. 14 Estratégia de destribalização, que se inicia<br />
pela erradicação, a supressão das perspectivas topográficas<br />
10 SUESS, 1994.<br />
11 AZEVEDO, 1966, pp. 140-164. Toda uma literatura estuda esse processo<br />
de desenraizamento cultural e religioso nos aldeamentos indígenas.<br />
Entre outros: HOORNAERT, 1974 e 1977, e, neste mesmo livro, a<br />
contribuição de AZZI, 1979; LACOMBE, 1973, MOREIRA NETO, 1988;<br />
NEVES, 1978; PAIVA, 1982, etc.<br />
12 MOREIRA NETO, 1988, p. 23.<br />
13 A citação é de Azevedo (1930): “As aldéias de indios mansos, que eram<br />
os centros de onde havia de irradiar a civilização, em todo o extenso Amazonas,<br />
eram para mais de 60. Alí se aglomeravam os restos das nações<br />
menos bravias, desaparecendo a olhos vistos, ao contato dos brancos, e<br />
sob a influência fatal da escravidão” (AZEVEDO, 1966, pp. 228-229, in:<br />
MOREIRA NETO, 1988, p. 23).<br />
14 MOREIRA NETO, 1988, p. 23.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 37
ancestrais móveis e amplas e sua substituição por uma nova<br />
convivência local, estável mas culturalmente promíscua. Baseada<br />
numa mudança de quadro geográfico, instaura-se a<br />
dialética entre a “mistura” e a “pureza” que, desde as primeiras<br />
gerações, desembocará na criação de um produto típico,<br />
fator decisivo na flexibilização e relativização das identidades<br />
que começam então a processar-se: o mameluco.<br />
Nas primeiras bandeiras, é esse mameluco que constitui<br />
o elemento demograficamente dominante, um desenraizado<br />
na própria operação de seu re-enraizar, que acompanha<br />
o pai lusitano perdido em direção a horizontes imaginários.<br />
E rapidamente vem juntar-se a eles um terceiro<br />
povo de desenraizados, ainda mais radicalmente cortado do<br />
quadro material e mítico de sua socialização: o negro. De<br />
novo Bastide: “O lugar onde se nasce não é um mero sistema<br />
de acidentes geográficos, montanhas, lagos ou rios, é um<br />
todo social-geográfico onde os mitos locais, a divisão das tribos<br />
no solo, os locais determinados de reunião das sociedades<br />
secretas etc., constituem um só e mesmo todo”. 15<br />
Gostaria de pensar no duplo processo que se instaura<br />
então. Um macroprocesso de procura e captura de mão-deobra,<br />
de instrumentalização racional e cruelmente levada a<br />
efeito por todos os meios, de genocídio quando convém, de<br />
etnocídio intencional sempre. Não se trata, pois, de negar ou<br />
minimizar esta dimensão impiedosa da história do Brasil;<br />
mas de constatar que, no avesso deste macroprocesso e nos<br />
seus interstícios, insinuou-se outro, quotidiano e feito de microrrelações,<br />
através do qual estas três cepas destocadas em<br />
algum nível entrelaçavam ramos ou até raízes, nem que seja<br />
simplesmente para juntar, naquelas intermináveis conversas<br />
noturnas nos acampamentos, os seus jeitos atávicos de conjurar<br />
os perigos, escapar aos desafios e proteger-se das ameaças<br />
constantes de uma natureza grandiosa e fascinante, mas<br />
difícil de domar. Acompanhavam as bandeiras altares portáteis,<br />
santos, capelães, erigiam-se oratórios nos acampamentos<br />
– e devia reproduzir-se a cena ilustrada por Vitor Meireles<br />
da Primeira Missa, em que um paramentado barroco celebrava<br />
diante de indígenas boquiabertos. Mas estavam também<br />
presentes os símbolos sagrados, os ritos – indígenas e,<br />
15 BASTIDE, 1971, p. 120.<br />
mais tarde, africanos – objetos e gestos furtivos de encantamento<br />
e reverência aos poderes telúricos, que por sua vez fascinavam<br />
os rudes portugueses – lembrando-lhes, aliás, muitos<br />
costumes atávicos do seu próprio universo de “bruxaria”.<br />
Assim a rede de proteção mágico-religiosa estendia-se densa,<br />
feita de todos os fios entrecruzados que a comunicação entre<br />
estes grupos, 16 perdidos juntos em meio a um cosmos ameaçador,<br />
podia tecer. Provavelmente, até nessa operação, índios e<br />
mamelucos podiam sub-repticiamente recuperar a primazia,<br />
“naturais da terra” que eram, e herdeiros dos encantos susceptíveis<br />
de domesticá-la.<br />
Começa-se atualmente a conhecer mais em profundidade<br />
os resultados desses intercâmbios, universos simbólicos<br />
emanados notadamente do grupo social que cristalizava<br />
como que por nascença a crescente porosidade das identidades,<br />
os mamelucos: as Santidades, 17 sem dúvida insurreições<br />
indígenas contra o cristianismo colonial, mas, rapidamente, e<br />
através de cruzamentos simbólicos e de adesões recíprocas a<br />
elementos dos respectivos universos religiosos, nova realidade<br />
mística, capaz de mobilizar os “negros da Guiné”, atraente<br />
também para alguns cristãos brancos – não necessariamente<br />
os mais socialmente desprovidos... –, e que a história oficial,<br />
passado o momento da repressão, tendeu a ignorar. Ainda não<br />
se mede o seu alcance, pois a documentação a seu respeito,<br />
oriunda das instâncias eclesiásticas, tende a privilegiar os casos<br />
em que ameaçavam instituir-se de modo permanente.<br />
Mas, como sempre em situações semelhantes, o “clima” geral<br />
deve ter ultrapassado de muito o quadro dessas institucionalizações,<br />
incipientes ou consumadas. É mais ainda nessas<br />
margens indefinidas que devemos perscrutar para ilustrar<br />
esse novo processo de construção identitária que vem substituir<br />
o processo aldeão tradicionalmente português: não mais o<br />
16 A “idolatria”, diz Gruzinski a propósito do México, “tecia uma rede<br />
densa e coerente, consciente ou não, implícita ou explícita de saberes<br />
nos quais se inscrevia e se desenvolvia a totalidade do quotidiano”; além<br />
dos sistemas intelectuais e estruturas simbólicas, um mundo de “práticas,<br />
de expressões materiais e afetivas de que ela é totalmente indissociável”.<br />
Para esses antigos mexicanos, tratava-se, segundo o autor, de resistência,<br />
“barreira ao processo de ocidentalização projetado pelo colonialismo”<br />
(GRUZINSKI, 1988, p. 195). No fenômeno das bandeiras e, mais geralmente,<br />
dos mamelucos, queremos ler também, e pelo menos num<br />
segundo momento, uma modalidade particular desta resistência, pela<br />
fagocitose dos universos simbólicos e a porosidade das identidades.<br />
17 VAINFAS, 1995.<br />
38 <strong>impulso</strong> nº 27
crescimento orgânico de uma identidade coesa no plano da<br />
consciência, cujas alteridades de raiz vão sendo inconscientemente<br />
recapituladas e sucessivamente subsumidas na eflorescência<br />
única do “mesmo” (o cristão), mas uma construção<br />
somatória, em processo nunca acabado, no decorrer do qual<br />
o “idêntico” aceita tomar emprestado parte do seu ser ao “outro”<br />
encontrado no espaço aberto de suas erranças. Porosidade<br />
de identidades desta vez em contato sincrônico. 18<br />
Outra vertente da mesma problemática seria dada pela<br />
referência ao espaço sagrado. Mais exatamente aos lugares de<br />
hierofanias – onde reside o sagrado e onde se dá o encontro<br />
com ele – que polarizam os espaços sociais, criam suas versões<br />
imaginárias, identificam e hierarquizam seus segmentos<br />
e os caminhos que os atravessam. Falando desses lugares, o<br />
historiador Antoine Dupront assim se expressa: “É necessária<br />
no indefinido do espaço físico, vivenciado como homogêneo,<br />
a existência de lugares de natureza diferente daquela do meio<br />
ambiente, heterogênea a esta, lugares caraterizados como uns<br />
tantos pontos de um alhures determinado, que orientam e fixam<br />
a procura de um estado ‘outro’”. 19<br />
Nessas condições, “a experiência peregrina [implica]<br />
uma potência sacral, que pode acumular-se quando se visitam<br />
vários lugares santos”. Experiência peregrina que fazia<br />
parte do habitus português, sobretudo daqueles portugueses<br />
do Norte, que serão os futuros brasileiros. Deles também pensamos<br />
ter mostrado, estudando as suas romarias, 20 que se<br />
poderia escrever:<br />
18 O uso do termo sincretismo pode eventualmente criar problemas. Por<br />
exemplo, VAINFAS (1995, p. 45): “Estaria, de qualquer sorte, de acordo<br />
com Carlos Fausto, para quem chamar tais movimentos ‘simplesmente<br />
de sincréticos’ (...) não nos leva... etc.”; e, em sentido aparentemente contrário<br />
(p. 68): “Inúmeros casos paraguaios ilustram à exaustão a ocorrência<br />
de sincretismos (...). Na parte luso-brasileira, o caso mais notável nesse<br />
domínio de amálgamas e mimetismos...”. Ou ainda, mais explicitamente:<br />
“Foi por defrontar-me com tamanha diversidade de olhares e sensibilidades<br />
que evitei a palavra sincretismo, refugiando-me nos conceitos de circularidade<br />
e hibridismo cultural” (p. 159). Mas tenho a impressão de que<br />
uma análise do “sincretismo” em termos estruturais (SANCHIS, 1994)<br />
poderia permitir solucionar tais ambigüidades.<br />
19 DUPRONT, 1987, pp. 412-413.<br />
20 SANCHIS, 1983.<br />
O lugar sagrado torna-se assim, para o mundo peregrino,<br />
lugar de fonte ou de eterno recomeçar. Para ele<br />
convergem os caminhos da sacralização e nele cristaliza<br />
a espera de voltas periódicas no imaginário coletivo.<br />
A atitude peregrina tende assim a se concentrar<br />
mentalmente, como expectativa de peregrinação efetiva<br />
ou como rememoração, sobre o locus que ela<br />
destaca dentro do espaço quotidiano. E isto inscreve<br />
no espaço arredor a consciência fisico-psíquica de<br />
um “oriente” de espaço sacral, imaginário espacial do<br />
caminho através do qual se atingirá a fonte. 21<br />
No Brasil, sem dúvida o espaço foi visto primeiro<br />
como um “contínuo” homogêneo – e, aliás, curiosamente<br />
vazio. Mas pode-se imaginar a saudade desse “oriente do espaço<br />
sacral” desencadeada nos portugueses recém-chegados<br />
pela ausência das referências epifânicas constituídas pelas<br />
suas romarias familiares. 22 Rapidamente começou a transferência<br />
dessa tradição, a fim de permitir que as populações<br />
advenientes pudessem reconhecer sua identidade no continente<br />
novo. Mais tarde, por exemplo em Minas, será notável<br />
este caráter transferencial de determinadas romarias, mas<br />
desde o início esse habitus interferiu com a mobilidade peregrina<br />
das populações tupi, tradição carregada de mitologia,<br />
que a chegada dos portugueses só fez recrudescer, mudar<br />
de sentido topográfico (em direção ao interior das terras) e,<br />
em parte, de significação mística, carregá-lo de ressentimento<br />
e resistência.<br />
As primeiras romarias “brasileiras” implantaram-se<br />
assim em meio luso-indígena, na esteira da memória de São<br />
Tomé, feito o herói Sumé. 23 Logo multiplicaram-se, acompanhando<br />
as modalidades de povoamento e criando através do<br />
sertão, das serras ou, em Minas, à beira dos caminhos de<br />
acesso às povoações mineradoras, eixos de circulação e comunicação<br />
em que os fluxos culturais (e religiosos) continuaram<br />
a cotejar-se, entrecruzar-se e, em muitos casos, articular-se<br />
sem confundir-se, num único empreendimento ritual.<br />
NOMADISMO E POROSIDADE<br />
DAS IDENTIDADES<br />
A ocupação dinâmica do território e a relação ao espaço<br />
que implica tinham tomado rapidamente duas formas<br />
21 DUPRONT, 1987, pp. 412-413.<br />
22 Sobre a importância das romarias portugueses desde a Idade Média,<br />
cf. MATTOSO, 1985, vol. 1.<br />
23 AZZI, 1979.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 39
distintas. 24 O enraizamento também viria na história do Brasil:<br />
bandeira e casa-grande opõem-se como duas modalidades<br />
de relacionar-se com um topos, que determinaram<br />
também na historiografia duas linhas interpretativas opostas<br />
da realidade nacional, <strong>25</strong> exemplarmente representadas por<br />
Cassiano Ricardo e Gilberto Freyre. O primeiro, 26 intérprete<br />
de um Brasil “conquistado pedestremente”, 27 para quem a<br />
bandeira, “fenômeno ‘espacial’ e ‘étnico’”, “geografia em<br />
função política”, é que acabou dando ao brasileiro a “alegria<br />
do espaço”, “este nosso apego à liberdade física de ir e vir”,<br />
mobilidade física que identificou-se, nesse começo, e apesar<br />
de todas as opressões políticas, culturais e religiosas, com essa<br />
“incrível mobilidade com que o bandeirante caminha no espaço<br />
que vai entre sua cultura de origem e a do selvagem,<br />
para ser índio à hora que bem entende e voltar a ser branco<br />
quando bem lhe apraz”. 28 O “bandeirante”... Que dizer então<br />
do mameluco, “fonte étnica de onde surgiu a marcha para o<br />
Oeste”, 29 fruto de casamentos e sobretudo de intercurso sexual<br />
entre homens portugueses e mulheres índias, num primeiro<br />
momento, mas também, numa segunda geração, destes<br />
filhos de índia e branco com “as moças brancas das melhores<br />
famílias piratininganas”? Mamelucos, como dirá mais<br />
tarde Vainfas, que “eram homens que viviam em dois mundos<br />
distintos, espelhando sua ambivalência em todos os domínios<br />
(...). Eram homens dilacerados pelo colonialismo, e<br />
sua identidade era fluída com a própria colonização”. 30 Da<br />
mobilidade geográfica para a fluência no espaço identitário,<br />
cultural e religioso... 31<br />
24 Sem contar o assentamento mineiro, diretamente ligado à profundidade<br />
topológica das “minas”, e que gerará uma identidade religiosa específica<br />
– até quase os dias de hoje – mais próxima daquela, enraizada, do<br />
catolicismo português original.<br />
<strong>25</strong> AZEVEDO, 1989.<br />
26 RICARDO (1940), 1970.<br />
27 Ibid., p. 66. “É algo inverossímil pra nós que os homens da bandeira<br />
tivessem atravessado o Brasil andando a pé...”.<br />
28 Ibid., p. 111.<br />
29 Ibid., p. 109.<br />
30 VAINFAS, 1995, p. 158.<br />
31 E político. Visto que não se trata simplesmente de “encontro cultural”,<br />
mas de “situação colonial”: “Homens que transitavam com desenvoltura<br />
entre o mundo indígena do sertão e o mundo colonial do litoral. (...)<br />
Homens que viviam ora como índios, ora como gendarmes do colonialismo”<br />
(VAINFAS, 1995, p. 155).<br />
O segundo, o intérprete da casa-grande, teórico da fixação<br />
espacial e até de certo enraizamento autocentrado, que<br />
implanta miniuniversos e permanentes dinastias.<br />
Mas é preciso matizar a simples oposição em vários<br />
pontos.<br />
Em primeiro lugar, é possível insistir sobre uma sucessão<br />
cronológica de momentos nessa relação fundamental<br />
ao espaço no Brasil. Veio primeiro o espaço da aventura expansionista<br />
criativa e daquele encontro ocasional/sistemático<br />
de “outra natureza” (“Terra e homem estavam em estado<br />
bruto”), 32 que é então transformada. É num segundo momento<br />
que o assentamento daria à casa-grande, pelo menos<br />
em algumas regiões específicas, o caráter gerador de um<br />
grupo social solidamente fixado a seu espaço, sua terra, sua<br />
casa, os círculos concêntricos que, a partir desta, tornam o<br />
cosmos significativo. (Um terceiro momento seria o da implantação<br />
urbana generalizada, mineira antes de outras, que<br />
veio transformar definitivamente a paisagem ecológica do<br />
Brasil).<br />
Em segundo lugar, e ao contrário, essas duas relações<br />
ao espaço – a do “território” e a da “propriedade” – coexistirão<br />
genética e dialeticamente no decorrer de toda a história<br />
do Brasil. Por um lado, as bandeiras e outros errantes criaram<br />
cidades (pense-se, em Minas, no exemplo de Divinópolis),<br />
tipo específico de fixação em que o encontro do “outro”<br />
(“dos outros”: no caso, bandeirantes paulistas, índios fugindo<br />
dos aldeamentos, negros quilombolas, aventureiros...) se tornará<br />
sistemático de mil maneiras diferentes. Será também<br />
caracteristicamente urbano o fenômeno da reinstitucionalização<br />
dos cultos afro 33 e do seu deslizamento progressivo de<br />
“culto étnico”, a “religião universal”, aberta à participação<br />
interétnica e intercultural. 34 Mas, por outro lado, nem por se<br />
fixar em terras de cultivo delimitadas o agricultor brasileiro<br />
deixará de ser nômade. Sergio Buarque de Holanda, citando<br />
documentos da segunda metade do século XVII, 35 escreve:<br />
“Dos lavradores de São Paulo dizia, em 1677, d. Luiz Antonio<br />
32 FREYRE, 1983, p. 24.<br />
33 BASTIDE, 1971.<br />
34 PRANDI, 1992, e SILVA, 1996.<br />
35 Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo<br />
XXIII. São Paulo, 1896, p. 4ss.<br />
40 <strong>impulso</strong> nº 27
de Souza, seu capitão general, que iam ‘seguindo o mato virgem,<br />
de sorte que os fregueses de Cutia que dista desta cidade<br />
sete léguas, são já hoje fregueses de Sorocaba que dista da<br />
dita Cutia vinte léguas’. E tudo porque, ao modo do gentio só<br />
sabiam ‘correr trás do mato virgem, mudando e estabelecendo<br />
o seu domicílio por onde o há’”. 36<br />
Em terceiro lugar, e finalmente, um fator estrutural<br />
atravessa a história do Brasil, que contribui para perpetuar e<br />
constantemente para fortalecer esse habitus nômade: a sucessão<br />
de ciclos econômicos, que desloca a ênfase do interesse<br />
e orienta em direção a meios, geográficos e sociais, constantemente<br />
“outros”.<br />
Saint Hilaire, viajando pelo Brasil em princípio do século<br />
passado, notará, com a acuidade de sua visão, a<br />
extrema mobilidade da população brasileira. A preocupação<br />
dominante das zonas novas já existia então;<br />
emigrava-se, às vezes, por nada, e com simples e vagas<br />
esperanças de outras perspectivas. Todo mundo<br />
imaginava sempre que havia um ponto qualquer em<br />
que se estaria melhor que no presente. Pensamento<br />
arraigado e universal que nada destruía, nem experiências<br />
e fracassos sucessivos. Isto que impressionava o<br />
viajante francês, habituado a um continente em que<br />
havia séculos o povoamento se estabilizara, é a feição<br />
natural de todo território semi-virgem da presença<br />
humana, onde a maior parte da área aínda está por<br />
ocupar e onde as formas de atividade mais convenientes<br />
para o Homem ainda não foram encontradas;<br />
onde, numa palavra, o individuo não se ajustou bem<br />
a seu meio, compreendendo-o e o dominando. Os<br />
deslocamentos correspondem aí a ensaios, tentativas,<br />
novas experiências, à procura incansável do melhor<br />
sistema de vida. No Brasil, este fato é particularmente<br />
sensível pelo caráter que tomara a colonização, aproveitamento<br />
aleatório, em cada um de seus momentos<br />
(...) de uma conjuntura passageiramente favorável.<br />
Daí a (...) instabilidade (da população), com seus reflexos<br />
no povoamento, determinando nele uma mobilidade<br />
superior ainda à normal dos países novos. 37<br />
36 BUARQUE DE HOLANDA, 1976, p. 40.<br />
37 PRADO Jr., 1969, pp. 62-63.<br />
Em conseqüência de tal processo formador, bem poderia<br />
ter-se plasmado com certa consistência uma estrutura<br />
psicossocial específica. 38 Buarque de Holanda, por exemplo,<br />
parece afirmá-lo: “A vida íntima do brasileiro não é bastante<br />
coesa, nem bastante disciplinada, para envolver e dominar<br />
toda a sua personalidade, integrando-a, como peça consciente,<br />
no conjunto social. Ele é livre, pois, para se abandonar<br />
a todo o repertório de idéias, gestos e formas que encontre em<br />
seu caminho, assimilando-os freqüentemente sem maiores<br />
dificuldades”. 39 “No fundo, o ritualismo 40 não nos é necessário.<br />
(...) Normalmente, a reação ao meio em que vivemos<br />
não é uma reação de defesa”. 41<br />
E Buarque de Holanda explicita os resultados desse<br />
traço psicossocial, que ele não julga diretamente ligado a formas<br />
“socioeconômicas”, senão como duas conseqüências<br />
paralelas, sem que uma seja a causa da outra: “Outro visitante,<br />
de meados do século passado, manifesta profundas<br />
dúvidas sobre a possibilidade de se implantarem, algum dia,<br />
no Brasil, formas mais rigorosas de culto. Conta-se que os<br />
próprios protestantes logo degeneram aqui, exclama. E<br />
acrescenta: ‘É que o clima não favorece a severidade das seitas<br />
nórdicas. O austero metodismo ou o puritanismo jamais<br />
florescerão nos trópicos’”. 42 O que equivale a falar, em termos<br />
confessionais, da identidade kantiana autônoma e racionalmente<br />
“definida”, a identidade da modernidade. É o que sublinha<br />
também a radicalidade do desafio posto à “tradição<br />
brasileira” pelos últimos desdobramentos da situação no<br />
campo religioso nacional. Mas abordar esse ponto nos levaria<br />
para outra seara.<br />
38 Foucault, a propósito da referência escolar histórico-geográfica ao<br />
espaço (especialmente espaço das nações, fronteiras), fala de uma referência<br />
“tendo com efeito a constituição de uma identidade. Pois minha<br />
hipótese é de que o indivíduo não é o dado sobre o qual se exerce e se<br />
abate o poder. O indivíduo, com suas características, sua identidade,<br />
fixado a si mesmo, é o produto de uma relação de poder que se exerce<br />
sobre corpos, multiplicidades, movimentos desejos, forças” (FOUCAULT,<br />
1979, pp. 161-162).<br />
39 HOLANDA, 1976, p. 112.<br />
40 O contexto orienta a interpretação dessa categoria para o sentido de<br />
formas rígidas de identidade religiosa, que se traduzem em universos<br />
simbólicos e culturais exclusivos.<br />
41 BUARQUE DE HOLANDA, 1976, p. 112.<br />
42 BUARQUE DE HOLANDA, 1976, p. 112, citando EWBANK (1856, p.<br />
239).<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 41
“Eu e o outro”, “Eu é o outro”, tal parecia (parece?),<br />
com efeito, ser uma das leis fundamentais, e polimorfa, no<br />
campo religioso brasileiro. Desde os antigos tupis, 43 para<br />
quem o seu ser mais profundo é o do outro, que permanentemente<br />
se procura alcançar, 44 até a população brasileira<br />
atual, da qual provavelmente mais da metade pertence a<br />
uma religião de “possessão”, fazendo a experiência de uma<br />
múltipla personalidade, 45 enquanto outros – ou os mesmos<br />
– não sabem mais dizer, como o expressava recentemente<br />
uma militante católica que descobria as riquezas do candomblé:<br />
“Qual das duas [religiões] é mais minha?”.<br />
De fato, a base morfológica (uma delas) desse fenômeno<br />
“persistente e de longa duração”, a de intensa transitividade<br />
espacial, acompanha a história do Brasil até hoje:<br />
Pelo censo de 1980, cerca de 40 millhões de pessoas<br />
estavam vivendo num município diferente daquele<br />
em que haviam nascido. Estes números elevadíssimos<br />
escondem, entretanto, uma parcela ponderável dos<br />
fluxos migratórios: eles deixam de registrar aquela<br />
migração de uma propriedade agrícola para outra, na<br />
mesma municipalidade, aquela freqüentíssima e primeira<br />
na experiência do migrante, da zona rural para<br />
a zona urbana dentro do mesmo município e não dão<br />
conta ainda do fenômeno corrente dos que estão na<br />
segunda, terceira, quinta, décima ou vigésima mudança.<br />
46<br />
O estudo do sistemático desenraizar que esse fenômeno<br />
continua a acarretar e das suas persistentes conseqüências<br />
em termos de “porosidade das identidades” – entre outras,<br />
religiosas – nos levaria a outro tema. Basta dizer que a problemática<br />
do “sincretismo” acompanha até nossos dias as da<br />
miscigenação (cf. as recentes pesquisas na UFMG sobre a<br />
complexa composição genética da parte da população brasileira<br />
dita “branca” 47 ) e da mestiçagem cultural. Trata-se,<br />
aliás, de “problemática” complexa, e não de tranqüila afirmação.<br />
43 CASTRO, 1986.<br />
44 Esse ponto particularmente sublinhado em COMBES, 1986.<br />
45 VELHO, 1982.<br />
46 BEOZZO, 1992, p. 5.<br />
47 PENA et al., 2000.<br />
ASSIM O BRASIL, OU O NOVO MUNDO?<br />
Mas, para voltar às “origens”, uma objeção ocorre<br />
imediatamente: “Brasil”, ou “Américas”? Nova Lusitânia ou,<br />
simplesmente, Novo Mundo?<br />
Uma observação fundamental decorre do nosso presente<br />
enfoque. Conquistadores do Sul, e pioneiros do Norte<br />
elaboraram de antemão uma relação diferente com o espaço.<br />
Escreve Jean Monod:<br />
Essa distinção permite marcar a diferença essencial<br />
entre a atitude dos ingleses na América do Norte e a<br />
dos espanhóis e dos portugueses na América do Sul.<br />
Os segundos foram colonos, depois de ter sido conquistadores.<br />
Não é impossível imaginar que os Conquistadores<br />
pudessem ter sido assimilados insidiosamente<br />
pelas civilizações cujo sistema político acabavam<br />
de desmantelar (...). Em todo o caso, a colonização,<br />
embora mortífera, situava-se desde o início<br />
aquém da eventualidade da destruição física e total<br />
das pessoas: a sociedade que lhes roubava as terras<br />
contava com sua força de trabalho para edificar-se. É<br />
a situação inversa que prevaleceu na América do Norte,<br />
onde os colonos entendiam administrar entre si<br />
uma terra esvaziada de seus primeiros ocupantes. A<br />
Espanha prometia um estatuto de ser humano ao selvagem<br />
disposto a voltar ao caminho da graça divina,<br />
os Norte-Americanos nunca pensaram cohabitar<br />
com os índios. 48<br />
Não entendida como a apologia de um dos modos de<br />
dominação colonial diante o outro, mas simplesmente como<br />
o apontar de diferenças, essa observação é significativa. E essas<br />
diferenças dizem respeito diretamente à representação<br />
utópica – programática, de fato – do espaço. Gusdorf, por<br />
exemplo, mostra que a Inglaterra pensava proibir a instalação<br />
de seus colonos além de uma linha geográfica, marcando<br />
o “Oeste”, para deixar esse território à disposição exclusiva<br />
dos índios. 49 Tentativa, por conseguinte, de “segregação”, ou<br />
“separação”. Os arranjos com os povos indígenas ganharam<br />
sempre – pelo menos até o último quartel do século XIX – a<br />
48 MONOD, 1972, p. 387.<br />
49 GUSDORF, 1978.<br />
42 <strong>impulso</strong> nº 27
forma de “tratados” entre nações, 50 que o esforço missionário<br />
não parece ter tomado, inicialmente, por alvo. Em contraste<br />
com o intenso entrelaçamento social – e religioso – implantado<br />
de chofre no espaço compartilhado do Brasil. Sem retomar<br />
os termos gerais da oposição articulada por Moog, 51 e<br />
mais ainda por Morse, 52 entre uma “descoberta” (“invasão”)<br />
à maneira protestante e à maneira católica, é certo que, nos<br />
séculos XVII e XVII, as comunidades puritanas emigradas na<br />
América do Norte se consideravam como destinadas a implantar<br />
o reino do evangelho “puro” no meio do deserto, encontrado<br />
tal qual ou criado pelo rechaço dos seus habitantes<br />
primitivos, enquanto no Sul tratava-se de um evangelho vocacionado<br />
a expandir-se através de um corpo assimilador<br />
“católico”.<br />
Isso, para o contraste entre os dois hemisférios. Mas é<br />
preciso acrescentar um outro contraste: enquanto os espanhóis<br />
encontraram Estados fortes, grupos sociais e étnicos<br />
implantados localmente “em pedra e cal”, os portugueses se<br />
depararam com pequenos grupos seminômades ou até em<br />
plenas migrações à procura do “Outro”, exatamente num espaço<br />
“vazio”, ou melhor, aberto ao infinito. Percebe-se o<br />
campo maior, inerente à tal situação de contato, franqueado<br />
à porosidade das culturas, das civilizações, das religiões.<br />
Qualquer que seja o valor reconhecido às afirmações<br />
de Gilberto Freyre sobre o substrato étnico dos portugueses –<br />
cuja diferença embasaria tais diversidades entre as duas colonizações<br />
ibéricas, e mesmo sem recusá-las de antemão<br />
como um dos fatores possíveis do processo que nos ocupa 53<br />
–, não resta dúvida de que somente se articuladas ao pano de<br />
fundo histórico das considerações, que precedem, essas afirmações<br />
abrem pistas plausíveis para a interpretação.<br />
50 KEITH, 1972, pp. 23-<strong>25</strong>.<br />
51 MOOG, 1964.<br />
52 MORSE, 1988.<br />
53 AZEVEDO (1989, p. 23ss.) mostra muito bem que, para Freyre, o português<br />
existe enquanto se cameloniza, ao contato do semita, do afreja,<br />
menos godo que o espanhol. “O menos gótico e o mais semita, o menos<br />
europeu e o mais africano: em todo caso o menos definitivamente<br />
uma coisa ou outra” (FREYRE, 1983, pp. 55-56; destaque meu). Haveria,<br />
pois, um substrato, que faria do “português” um ser pré-ordenado ao<br />
processo “sincrético”. Bem aquém das conseqüências ideológicas e políticas<br />
que se quiseram tirar de afirmações desse tipo, e também negandolhes<br />
o seu caráter generalizante e apodíctico, tais intuições de Gilberto<br />
Freyre merecem, parece-me, receber nova consideração (cf., recentemente,<br />
ARAUJO, 1994).<br />
Um último cotejo pode, enfim, ser significativo, ao<br />
qual nos introduz naturalmente o paradoxo implicado nestas<br />
notas. O cotejo com o nosso atual momento histórico. Tentamos<br />
aqui seguir a pista de algo como uma modalidade de<br />
construção de identidade – nômade, plural e fluida, nunca<br />
encerrada – inscrita na tradição sociocultural do Brasil, em<br />
continuidade e ruptura com a sua homóloga portuguesa.<br />
Esse cruzar de caminhos teria algo a ver com a nossa atualidade?<br />
É preciso imediatamente notar que aquilo aqui descrito<br />
como uma propensão ao nomadismo – que implica a<br />
necessidade (dramática) de construir-se a partir da articulação<br />
nunca fechada de traços identitários encontrados no<br />
“outro”, traços que, ressemantizando-se ao contato da identidade<br />
de que se é portador, por sua vez, contribuem a ressemantizar<br />
a matriz que os acolhe – tende a tornar-se atualmente<br />
clássica nas descrições da identidade (nacional?, regional?,<br />
étnica?, religiosa?) “pós-moderna”. Faz parte da<br />
pauta contemporânea dos problemas de civilização. Mais<br />
ainda: a famosa “bricolagem” em toda parte detectada, além<br />
de objeto de descoberta e análise, colora-se, com cada vez<br />
mais freqüência, de um caráter de programa e até de remédio<br />
possível para a ameaça, muito presente, de surgimentos<br />
de novos fundamentalismos e formas renovadas de identidades<br />
fechadas e de exclusão.<br />
Nessa conjuntura pós-moderna, poderia servir de<br />
inspiração, à revelia da tradição etnocidária que então se iniciava,<br />
o tipo de relação ao espaço e de construção flexível de<br />
identidades que observamos no processo de pré-modernidade<br />
desde o início vivido pelo Brasil?<br />
Uma resposta univocamente positiva seria simplista.<br />
Aliás, o movimento da história não a permitiria mais: a modernidade,<br />
a das identidades kantianamente definidas e dos<br />
espaços segregados, também está hoje em dia a transtornar<br />
profundamente as relações sociais no Brasil.<br />
E Portugal? Portugal ciclicamente continua se esvaindo,<br />
e/ou se expandindo. Por um lado, os portugueses imaginam<br />
levá-lo consigo para aonde vão. Por outro, trazem até<br />
ele, quando voltam, os sinais do seu nomadismo em meio ao<br />
“outro”. Mais ainda. Para ele também a história está a tornar<br />
caduca a parte ensimesmada do retrato que pintei no início<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 43
deste texto. Numa emissão literária recente da televisão francesa,<br />
o coordenador insistia com autoridade sobre o fato de<br />
que, “entre todas as nações da Europa, Portugal é hoje sem<br />
dúvida aquela em que a fermentação cultural é a mais brilhante<br />
e criativa”... Duas modernidades, pois, a brasileira e a<br />
portuguesa, provavelmente tão contrastadas quanto o foram<br />
as duas tradições sobre as quais e contra as quais elas vêm se<br />
firmar (uma, indo do enraizamento à universalidade, a outra,<br />
da “espantosa dispersão” à pronúncia mais clara de uma<br />
identidade), mas que, em se cruzando novamente, poderiam<br />
trazer, num equilíbrio dinâmico, sua contribuição ao projeto<br />
maior (e problema candente) do mundo contemporâneo: a<br />
superação dos conflitos em toda a parte oriundos da penosa<br />
– e necessária – reformulação das relações dos grupos humanos<br />
com sua(s) identidade(s), e destas identidades com o<br />
seu invólucro co-formador: o espaço. Um problema que estamos<br />
vendo hoje espalhar-se, de forma difusa ou dramaticamente<br />
escancarada, em numerosos conflitos regionais,<br />
mas que, mais localizado e em outra escala, já conheceu determinada<br />
versão na época das grandes descobertas. Se é<br />
ainda possível, por ocasião dos 500 anos, celebrar o acontecimento<br />
que encetou então a sua solução, não pode ser pelo<br />
enaltecer do processo sangrento da expansão de si à custa da<br />
eliminação do outro, mas talvez porque nas dobras – ou no<br />
âmago e ao arrepio – deste processo possa ler-se, mais tênue<br />
mas obstinado, outro tipo de experiência histórica: a de uma<br />
construção aberta e porosa de identidades capazes de, juntas,<br />
se haver com um espaço em constante remodelação. Experiência<br />
de resultados sem dúvida ambíguos. Mas que assim<br />
mesmo pode trazer ao debate contemporâneo sobre as identidades<br />
sociais uma imagem “diferente”, fruto do processo<br />
histórico que – bem ou mal, bem e mal – começou a ser vivido<br />
aqui há 500 anos.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ALMEIDA, M.V. de. Senhores de Si. Lisboa: Fim de Século, 1995.<br />
ALMEIDA, R. de. Jorge Dias na encruzilhada do folclore luso-brasileiro. In: INST. DE ALTA CULTURA (ed.). In memoriam<br />
Antonio Jorge Dias. Lisboa: IAC-Jicu, 1974.<br />
ARAUJO, R.B. Guerra e Paz. Casa grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre. Rio de Janeiro: 34, 1994.<br />
AZEVEDO, J.L. de (1930). Os Jesuítas no Grão Pará, suas Missões e a Colonização. 2.ª ed., Coimbra: Universidade de Coimbra,<br />
1966.<br />
AZEVEDO, V.M.R. de. Espaço e movimento nucleando visões do Brasil: Freire, Ricardo e Moog. Caxambu: ANPOCS, 1989.<br />
[Mimeo].<br />
AZEVEDO, T. de. Cultura e Situação Racial no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.<br />
AZZI, R. As romarias no Brasil. Revista de Cultura Vozes, 73 (4): 39-54, mai./79.<br />
BASTIDE, R. As Religiões Africanas no Brasil. São Paulo: Bibl. Pion. de C.S./USP, 1971.<br />
BEOZZO, J.O. Brasil: quinhentos anos de migrações. São Paulo: Paulinas, 1992.<br />
BRAUDEL, F. (1949) La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à L’époque de Philippe II. Paris: Armand Colin, 1966.<br />
BUARQUE DE HOLANDA, S. Raízes do Brasil. 9.ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.<br />
CASTRO, E.V. de. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Zahar/ANPOCS, 1986.<br />
COMBES, I. Être ou ne pas être: à propos d’Araweté: os deuses canibais, d’Eduardo Viveiros de Castro, in: Journal de la Société<br />
des Américanistes, 72: 211-220, 1986.<br />
DIAS, J. Estudos do Caráter Nacional Português. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1971.<br />
DUPRONT, A. De Sacré. Croisades et pélerinages. Images et langages. Paris: Gallimard, 1987.<br />
44 <strong>impulso</strong> nº 27
EWBANK, T. Life in Brazil or a journal of a visit to the land of the cocoa and the palm. New York, 1856, in: HOLANDA, S.B.<br />
de. Raízes do Brasil. 9.ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.<br />
FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.<br />
FREYRE, G. Casa-Grande e Senzala. 22.ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1983.<br />
GRUZINSKI, S. La Colonisation de L’Imaginaire – sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol (XVI e -XVII e<br />
siècle). Paris: Gallimard, 1988.<br />
GUSDORF, G. La Conscience Révolutionnaire. Les idéologues. Paris: Payot, 1978.<br />
HOORNAERT, E. Formação do Catolicismo Brasileiro. 1551-1800. Petrópolis: Vozes, 1974.<br />
________. História da Igreja no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1977.<br />
KEITH, S. Les indiens d’Amérique du Nord: un peuple en voie de disparition. In: JAULIN, R. Le Livre Blanc de l’Ethnocide en<br />
Amérique. Paris: Fayard, 1972.<br />
LACOMBE, A.J. A Igreja no Brasil Colonial. In: HOLANDA, S.B. de. História Geral da Civilização Brasileira, 1- A época colonial;<br />
2- Administração, economia, sociedade. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1973.<br />
MATTOSO, J. Identificação de um País. Ensaio sobre as origens de Portugal 1096-13<strong>25</strong>. Lisboa: Estampa, 1985.<br />
MONOD, J. Vive l’Ethnologie. In: JAULIN, R. Le Livre Blanc de L’ethnocide en Amérique. Paris: Fayard, 1972.<br />
MOOG, V. Bandeirantes e Pioneiros. Paralelo entre duas culturas. 7.ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964.<br />
MOREIRA NETO, C. de A. Índios da Amazônia. Petrópolis: Vozes, 1988.<br />
MORSE, R. O Espelho de Próspero. Cultura e idéias nas Américas. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.<br />
NEVES, L.F.B. O Combate dos Soldados de Cristo na Terra dos Papagaios. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1978.<br />
PAIVA, J.M. de. Colonização e Catequese. São Paulo: Cortez, 1982.<br />
PENA, S. et al. Retrato molecular do Brasil. Ciência Hoje, 27 (159): 17-26, 2000.<br />
PRADO Jr., C. Formação do Brasil Contemporâneo. Colônia (9.ª ed.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969.<br />
PRANDI, R. Os Candomblés de São Paulo. São Paulo: Edusp, 1992.<br />
RIBEIRO, D. Antropologia ou a Teoria do Bombardeio de Berlim. Revista Civilização Brasileira, 81-100, 1981.<br />
RICARDO, C. (1940). Marcha para o Oeste. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970.<br />
SANCHIS, P. Arraial, a Festa de um Povo. As romarias portuguesas. 2.ª ed., Lisboa: Publicações D. Quixote, 1983.<br />
________. Pra não dizer que não falei de sincretismo. Comunicações do ISER, 13 (45): 4-11, 1994.<br />
________. Portugal e Brasil, influências e metamorfoses. Convergência Lusíada, Revista do Real Gabinete Português de Leitura,<br />
Rio de Janeiro,14: 15-22, 1997a.<br />
________. Topos, raízes, identidade: um enfoque sobre o Brasil. Lisboa, Atalaia, 3: 83-100, 1997b.<br />
SILVA, V.G. da. Orixás na Metrópolis. São Paulo: Edusp, 1996.<br />
SOUZA, A.F. de. Notícias geográficas da capitania de Rio Negro, no grande Rio Amazonas. Revista do Instituto histórico e<br />
geográfico Brasileira, 10: 411-504, 1848.<br />
SUESS, P. Inculturação. Desafios de hoje. Petrópolis: Vozes, 1994.<br />
VAINFAS, R. A Heresia dos Índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.<br />
VELHO, G. Indivíduo e religião na cultura brasileira. Questões preliminares. Museu Nacional-UFRJ. Comunicação, (8): 6-19,<br />
1982.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 45
46 <strong>impulso</strong> nº 27
HÁ 500 ANOS,<br />
QUE MATEMÁTICA?<br />
500 YEARS AGO, WHICH MATHEMATICS?<br />
UBIRATAN D’AMBROSIO<br />
Bacharel e licenciado em<br />
Matemáticas pela USP. Professor<br />
emérito de Matemática da Unicamp<br />
e presidente da Sociedade Brasileira<br />
de História da Matemática<br />
ubi@usp.br<br />
RESUMO O desenvolvimento da matemática, particularmente na Europa durante o período que antecede a época<br />
das grandes navegações, e as influências revolucionárias que esse conhecimento proporcionou às iniciativas de extensão<br />
dos domínios portugueses são aqui apresentados, concluindo-se com a análise da aquisição do conhecimento<br />
entre dominadores e dominados.<br />
Palavras-chave matemática – Brasil – Portugal – conhecimento – descobrimento.<br />
ABSTRACT The development of mathematics, particularly in Europe during the period prior to the great age of navigation,<br />
and the revolutionary influences that this knowledge provided for the expansive initiatives of the Portuguese<br />
are presented here, concluding with an analysis of the acquisition of knowledge between dominator and dominated.<br />
Keywords mathematics – Brazil – Portugal – knowledge – discovery.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 47
Jamais usam pesos e medidas, nem têm números por onde contem<br />
mais que até cinco, e, se a conta houver de passar daí, a<br />
fazem pelos dedos das mãos e pés.<br />
FREI VICENTE DO SALVADOR, 1627<br />
Os navegantes<br />
comandantes das<br />
expedições tinham<br />
um bom nível,<br />
geralmente com<br />
formação<br />
universitária<br />
INTRODUÇÃO<br />
Nos séculos XV e XVI se desenvolveram em Portugal importantes estudos<br />
sobre navegação, culminando com as viagens de Cristóvão<br />
Colombo (1451-1506) pelo hemisfério norte – chega à América<br />
em 1492 –, de Vasco da Gama (ca. 1469-1524) pelo hemisfério<br />
sul – aporta na Índia em 1498 –, de Pedro Álvares Cabral (1467?-<br />
1520?) – alcança o Brasil em 1500 –, e de Fernão de Magalhães<br />
(ca. 1480-1521) – em 1520 encontra a passagem marítima para<br />
o Pacífico. Em 28 anos o planeta se globalizou.<br />
Os navegantes comandantes das expedições tinham um bom nível, geralmente com<br />
formação universitária. Lembremos que Martim Afonso de Souza, fundador, em 1532, de<br />
São Vicente, a primeira cidade brasileira, tinha importantes credenciais acadêmicas. Obras<br />
como as crônicas de viagens de Cristóvão Colombo e de Vasco da Gama são importantes<br />
fontes de informação sobre os conhecimentos náuticos da época.<br />
Os três documentos relatando o descobrimento do Brasil foram escritos por Pero<br />
Vaz de Caminha, pelo mestre João Faras e por um piloto anônimo. 1 Todos silenciam sobre<br />
aquilo encontrado nas novas terras que pudesse ser identificado como matemática. Nem<br />
mesmo falam sobre a organização das aldeias. Na verdade, deve-se atribuir isso ao não reconhecimento<br />
da especificidade de certas formas de conhecimento, as quais somente muito<br />
depois viriam a ser identificadas como matemática.<br />
O conhecimento numérico dos nativos era limitado, segundo relata Nicolas Barré,<br />
em 1556: “Sua linguagem é bastante copiosa em expressões, mas sem números, tanto que<br />
quando querem significar cinco, eles mostram os cinco dedos da mão”. 2 Porém uma outra<br />
referência sugere contagem de números maiores, associada ao tempo: “Arosca consentiu<br />
que seu jovem filho (...) viesse para a cristandade, porque prometiam ao pai e ao filho trazê-lo<br />
de volta dentro de 20 luas o mais tardar; pois assim significam eles os meses”, conforme<br />
o relato de Binot Paulmier de Gonneville, em 1504. 3<br />
Uma explicação para a ausência de um sistema de numeração reconhecido como<br />
tal é dada por frei Vicente do Salvador (1564?-1636?) na primeira história do Brasil, completada<br />
em 1627:<br />
1 Ver PEREIRA, 1999.<br />
2 RIBEIRO & MOREIRA NETO, 1992, p. 81.<br />
3 Ibid., p. 110.<br />
48 <strong>impulso</strong> nº 27
Pois hei tratado neste capítulo do contato matrimonial<br />
deste gentio, tratarei também dos mais contratos, e<br />
não serei por isso prolixo ao leitor, porque os livros que<br />
hão escrito os doutores de Contractibus sem os poderem<br />
de todo resolver, pelo muito que de novo inventa<br />
cada dia a cobiça humana, não tocam a este gentio;<br />
o qual só usa de uma simples comutação de uma coisa<br />
por outra, sem tratarem do excesso ou defeito do<br />
valor, e assim com um pintainho se hão por pagos de<br />
uma galinha.<br />
Nem jamais usam pesos e medidas, nem têm números<br />
por onde contem mais que até cinco, e, se a conta<br />
houver de passar daí, a fazem pelos dedos das mãos e<br />
pés. O que lhes nasce de sua pouca cobiça; posto que<br />
com isso está serem mui apetitosos de qualquer coisa<br />
que vêem, mas, tanto que a têm, tornam facilmente de<br />
graça ou por pouco mais que nada. 4<br />
4 Frei Vicente do Salvador: História do Brasil 1500-1627, revista por<br />
Capistrano de Abreu, Rodolfo Garcia e frei Venâncio Willeke. São Paulo:<br />
OFM, Edições Melhoramentos, 1965; pp. 89-90.<br />
5 Destaco o livro de Mariana Kawall Leal Ferreira: Madikauku. Os dez<br />
dedos das mãos. Matemática e povos indígenas no Brasil, Brasília: MEC/<br />
SEF, 1998. Ver também as dissertações de Samuel Lopez Bello (Educação<br />
matemática indígena – um estudo etnomatemático dos índios guaranikaiová<br />
do Mato Grosso do Sul. Curitiba: Universidade Federal do Paraná,<br />
1995) e de Chateaubriand Nunes Amancio (Os kanhgág da Bacia do<br />
Tibagi: um estudo etnomatemático em comunidades indígenas. Rio<br />
Claro: IGCEX/UNESP, 1999).<br />
Alguns estudos de etnomatemática procuram enveredar<br />
pela história das tradições e permitem fazer algumas suposições<br />
sobre a natureza do conhecimento indígena na época<br />
da conquista. 5 Por exemplo, resquícios de sistemas de numeração<br />
e a riqueza das figuras geométricas que intervêm<br />
na decoração são indicadores de uma organização de conhecimentos<br />
sobre quantificação, classificação, ordenação e<br />
outras categorias que caracterizam o conhecimento matemático.<br />
Do século XVI temos relatos bem ricos sobre as conquistas<br />
espanholas. As crônicas da conquista nos dão muita<br />
informação sobre a matemática nas civilizações asteca, maia<br />
e inca, bem como de outras culturas andinas. Particularmente<br />
interessante é o relato de S.J. Bernabe Cobo (1582?-<br />
1657), num capítulo intitulado “Del cómputo del tiempo; de<br />
los quipos o memoriales y modo de contar que tenían los índios<br />
peruanos”. 6 Curioso notar que Bernabe Cobo vê o sistema<br />
numérico do Peru associado à contagem do tempo, enquanto<br />
frei Vicente do Salvador tem uma percepção essencialmente<br />
mercantilista dos sistemas de numeração.<br />
O que podemos saber hoje em dia dessas culturas vem<br />
de estudos da etnomatemática de culturas sobreviventes. 7<br />
Obviamente, as pesquisas nos mostram a cultura atual, resultado<br />
de uma dinâmica cultural que praticamente eliminou<br />
o conhecimento tradicional, sobretudo no que se refere<br />
à matemática.<br />
O conhecimento matemático é o conjunto de técnicas,<br />
habilidades, maneiras [ticas] de explicar, de entender, de lidar<br />
[matema] com o ambiente cultural e natural [etno],<br />
desenvolvidas pelo homem em sua busca de sobrevivência e<br />
de transcendência. Daí falarmos em etno-matema-tica. 8<br />
Os conquistadores e colonizadores trouxeram a sua etnomatemática,<br />
gerada em torno do Mediterrâneo, a partir de<br />
tempos pré-históricos, para explicar, entender, lidar com fatos<br />
e fenômenos naturais dessa região. Essa etnomatemática mediterrânea<br />
é denominada simplesmente matemática. Foi depois<br />
desenvolvida por egípcios, babilônios, gregos, romanos,<br />
árabes e organizada na Idade Média e no Renascimento.<br />
Com essa matemática os europeus criaram um poderoso<br />
instrumento de investigação de fatos e fenômenos (ciência) e um<br />
instrumental para controle e expansão de fatos e de fenômenos<br />
(tecnologia). Inclusive, com maior intensidade na península<br />
ibérica, em especial em Portugal, de importantes inovações tecnológicas<br />
para navegação em mares desconhecidos.<br />
COMO LOGRARAM OS NAVEGANTES<br />
VIAJAR POR MARES DESCONHECIDOS?<br />
A grande proeza de viajar por todos os mares descobrindo<br />
novas terras, novos povos e novas possibilidades foi resultado<br />
de um projeto de grande envergadura que se originou<br />
nos primeiros tempos da monarquia portuguesa. 9 O<br />
6 BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES, 1964, p. 141.<br />
7 Talvez a referência mais abrangente seja CLOSS, 1986.<br />
8 D’AMBROSIO, 1990.<br />
9 A obra História dos Descobrimentos Portugueses (Porto: Vertente,<br />
1943), de Damião Peres, trata da história das navegações portuguesas,<br />
com muita documentação e atenção especial para os pontos controvertidos,<br />
como a intencionalidade ou o acaso no descobrimento do Brasil.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 49
mais importante cronista da época é Duarte Pacheco Pereira<br />
(ca. 1460-1533). Na sua obra monumental, o Esmeraldo de<br />
Situs Orbis, ele fala sobre o conhecimento nos descobrimentos.<br />
10 O autor faz um importante relato sobre o que se sabia<br />
e o que se aprendeu com o encontro de novos povos e novas<br />
culturas, notadamente referindo-se à África.<br />
Quanto conheciam os portugueses para poderem desenhar<br />
um projeto tão ambicioso e levá-lo a cabo. As navegações<br />
dependiam fundamentalmente de conhecimentos astronômicos,<br />
isto é, matemáticos. Assim, pois, algumas questões<br />
se colocam naturalmente:<br />
• que conhecimentos matemáticos possuíam os navegantes<br />
ibéricos?;<br />
• que conhecimentos matemáticos eram de domínio<br />
das outras nações da Europa?<br />
O panorama do conhecimento matemático na época<br />
era muito diferente do que entendemos, atualmente, por matemática.<br />
Na Idade Média e entrada no Renascimento podese<br />
distinguir quatro tipos de matemática sendo praticados<br />
nas nações européias:<br />
• matemática abstrata, teórica, ligada a fenômenos<br />
naturais e questões místicas e religiosas – Tomás de<br />
Aquino (ca. 12<strong>25</strong>-1274), Thomas Bradwardine<br />
(?1290-1349), Nicolau Copérnico (1473-1543);<br />
• matemática mercantil, contábil, comercial, diletante<br />
– Luca Pacioli (1445?-1514), Bastiano da Pisa,<br />
il Bevilacqua (1483?-1553), Nicoló Tartaglia<br />
(1500?-1557), Gerolamo Cardano (1501-1576);<br />
• matemática de arquitetos e artistas – Sebastiano<br />
Serlio (1475-1554), Albrecht Dürer (1471-1528);<br />
• e matemática das navegações, astronomia, geografia<br />
– Pedro Nunes (1502-1572).<br />
Cada um desses tipos tinha um estilo próprio, com<br />
objetivos e métodos muito específicos. Os nomes relacionados<br />
em colchetes são os mais representativos de cada um desses<br />
estilos. Suas biografias servem de apoio para a diferenciação<br />
que proponho entre os tipos de matemática praticados na<br />
época. As relações entre essas diferentes matemáticas eram<br />
raras até meados do século XVI.<br />
10 CARVALHO, 1991.<br />
Embora meu objetivo aqui não seja analisar essas diferentes<br />
matemáticas e suas relações, algumas características<br />
de cada uma delas poderão ser notadas no curso deste trabalho.<br />
O fato importante a ser destacado é que esses quatro<br />
tipos são ramificações de um pensar que remonta a espécies<br />
anteriores ao Homo sapiens e que respondem aos dois grandes<br />
pulsões que caracterizam as espécies homo, a sobrevivência<br />
e a transcendência.<br />
Na busca da sobrevivência, se desenvolveram meios<br />
de lidar com o ambiente mais imediato, que fornece o ar, a<br />
água, os alimentos, o outro, e tudo o que é necessário para a<br />
sobrevivência do indivíduo e da espécie. São as técnicas e os<br />
estilos de comportamento individual e coletivo.<br />
Na busca da transcendência, se desenvolveram a<br />
percepção de passado, presente e futuro, e meios para explicar<br />
fatos e fenômenos e o encadeamento de passado, o presente<br />
e o futuro. Esses meios são a memória, individual e coletiva,<br />
os mitos e as artes divinatórias, que permitem penetrar<br />
o futuro. Na memória e nos mitos estão a história e as tradições,<br />
que incluem as religiões e os sistemas de valores.<br />
Nas artes divinatórias estão sistemas de explicações<br />
como a astrologia, os oráculos, a lógica do I Ching, a<br />
numerologia e, em geral, as ciências e as matemáticas, através<br />
das quais procura-se antecipar o que pode acontecer.<br />
Analisando a geração, organização intelectual e social e<br />
difusão dessas categorias (técnicas, comportamento, história,<br />
tradições, religiões, sistemas de valores, sistemas de explicações)<br />
é que se pode entender o conhecimento. Em particular, o conhecimento<br />
matemático.<br />
Os quatro tipos de matemática que distingo na Baixa<br />
Idade Média e no Renascimento são o resultado da evolução,<br />
ao longo de muitos séculos, dessas categorias na região mediterrânea,<br />
evolução essa que se expandiu para a Europa central.<br />
Obviamente, tais categorias estão intimamente ligadas.<br />
Seguindo a proposta historiográfica dos Annales, não podemos<br />
desvincular, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura<br />
da religião e dos estudos meteorológicos e astronômicos<br />
que estão na base do desenvolvimento da matemática.<br />
Os quatro tipos distinguidos acima, mostrando estilos<br />
e cultores aparentemente desvinculados, são a resposta a um<br />
50 <strong>impulso</strong> nº 27
tipo de sociedade que se estabeleceu na época. Com a gradativa<br />
maior complexidade com que foi se transformando a sociedade,<br />
eventualmente os tipos foram se mesclando.<br />
Sob essa visão, não se pode tentar uma comparação<br />
entre os tipos de matemática praticada pelos conquistadores<br />
e a matemática praticada pelos povos conquistados. As categorias<br />
de análise (técnicas, comportamento, história, tradições,<br />
religiões, sistemas de valores, sistemas de explicações)<br />
são completamente distintas e, portanto, o conhecimento<br />
matemático resultante será de outra natureza. Qualquer tentativa<br />
de comparação será frustrante.<br />
Tanto Bernabe Cobo quanto frei Vicente do Salvador, ao<br />
mencionarem tempo e mercado, mostram grande sensibilidade<br />
no entender a natureza do conhecimento. Mas imediatamente,<br />
como não é de se estranhar, eles partem para reflexões<br />
de natureza comparativa. Ainda hoje em dia se nota essa distorção<br />
na maneira de analisar a matemática de culturas marginais,<br />
seja nas populações indígenas, seja nas marginalizadas<br />
rurais e urbanas.<br />
O Programa Etnomatemática procura entender o conhecimento<br />
matemático das culturas marginais através do<br />
exame completo do ciclo do conhecimento, isto é, sua geração,<br />
organização intelectual e social e difusão. Naturalmente,<br />
esse programa se aplica também ao conhecimento matemático<br />
das culturas dominantes, cuja história e epistemologia<br />
são deficientes.<br />
DA ANTIGUIDADE À EXPANSÃO DO ISLÃ<br />
Devemos começar examinando os tempos de Grécia e<br />
Roma. O conhecimento matemático desenvolvido pelos gregos<br />
era conhecido pelos povos mediterrâneos e foi por eles<br />
apreendido, porém com características diferentes. Ao assimilar<br />
o conhecimento matemático eminentemente prático dos<br />
egípcios e dos babilônicos, os gregos criaram uma matemática<br />
abstrata, teórica e dedutiva. São óbvias as características<br />
místicas e religiosas de tal matemática, que veio preencher<br />
um vazio não resolvido pela rica mitologia grega. Na verdade,<br />
ela caracterizou a civilização grega. Os ideais de beleza, o<br />
rigor e as dúvidas filosóficas, a organização social e política<br />
e mesmo as práticas médicas guardam íntima relação com a<br />
matemática. Os povos subordinados ao império de Alexandre,<br />
no século III a.C., estavam totalmente integrados nessa civilização.<br />
O Império Romano, que se expandia pelo leste europeu,<br />
possuía uma matemática sobretudo prática, sem as características<br />
daquela desenvolvida pelos gregos, nem mesmo<br />
pelos egípcios ou babilônicos. Os sistemas de contagem e as<br />
medidas satisfaziam as necessidades do dia-a-dia, da urbanização<br />
e da arquitetura monumental. Por mais sofisticada que<br />
fosse a organização da sociedade romana e mesmo esses sistemas<br />
que permitiam sua operacionalidade, eles jamais se integraram<br />
no importante sistema filosófico do mundo romano.<br />
Quando o Império conquistou os territórios dominados<br />
pelos gregos, incorporou o conhecimento matemático<br />
que interessava ao projeto romano, aproveitando unicamente<br />
os aspectos práticos dessa matemática. Isso fica evidente no<br />
livro de arquitetura de Vitruvius, a melhor síntese dos conhecimentos<br />
técnico-científicos dos romanos. 11 A península ibérica,<br />
que era parte do mundo romano, também integrou-se<br />
a essa ciência prática.<br />
Com o advento do cristianismo, a matemática grega<br />
foi simplesmente deixada de lado e jamais penetrou nos<br />
mosteiros. Algumas poucas traduções não tiveram repercussão.<br />
Aos poucos a própria língua grega caiu em desuso. Durante<br />
a chamada Alta Idade Média, nos primeiros séculos do<br />
cristianismo, continuou a ser desenvolvida uma matemática<br />
prática. A contagem se fazia com ábacos e dedos e os registros<br />
numéricos com o sistema de numeração romana. Essa<br />
era a matemática que se praticava na península ibérica<br />
quando, no século VII, ocorreu a invasão islâmica. Uma fonte<br />
importante que temos sobre essa época devemos a Santo Isidoro<br />
(ca. 560-636), de Sevilha, que escreveu uma síntese do<br />
conhecimento da época no livro Etimologias.<br />
Importante notar que, na região que poderíamos denominar<br />
periferia oriental do Império Romano, instalou-se<br />
em 395 o Império Bizantino, tendo como capital Constantinopla,<br />
com forte influência grega e com diferenças funda-<br />
11 Los Diez Libros de Archîtectura de M. Vitruvius Polión. Traducidos del<br />
Latin, y comentados por Don Joseph Ortíz y Sanz, Presbítero, En Madrid<br />
en la Imprenta Real, año de 1787 (edición facsímil, Barcelona: Editorial<br />
Alta Fulla, 1987). Um bom estudo sobre Vitruvius e a matemática romana<br />
está no livro de LINTZ, R.G.: História da Matemática, vol. 1. Blumenau:<br />
Editora da FURB, 1999.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 51
mentais do cristianismo de Roma. Essas diferenças culminaram<br />
com o grande cisma de 1054, que marcou a recusa dos<br />
cristãos bizantinos em aceitar a autoridade do bispo de Roma,<br />
chamado papa, sobre todos os cristãos. Surgiu, assim, a<br />
Igreja Ortodoxa.<br />
A presença cultural grega continuava forte no norte<br />
da África, onde a conversão ao cristianismo foi menos intensa<br />
e as tradições judaicas se mantiveram presentes. Os povos<br />
árabes que habitavam essa região, adotando tradições judaicas,<br />
ofereceram uma grande reação ao cristianismo e propiciaram<br />
a revelação alcoranista, pela qual Maomé fundou o<br />
islamismo em 622.<br />
Num rápido processo de conquista, o islamismo estendeu-se<br />
a toda a periferia do Império Romano e atingiu a<br />
península ibérica, pretendendo chegar a Roma. Em 732, foi<br />
detido, entre Poitiers e Tours, no centro-oeste da França, por<br />
Carlos Martelo, reconhecido como o salvador da cristandade<br />
latina. O islamismo instalou-se em praticamente toda a península.<br />
No oeste, Constantinopla, a capital bizantina, resistiu<br />
às invasões islâmicas. Somente em 1453 veio a ser conquistada<br />
pelos turcos.<br />
A forte tradição cultural dos povos árabes foi um importante<br />
elemento no sucesso das conquistas islâmicas e no<br />
desenvolvimento de uma civilização que apreendeu muito<br />
com a cultura grega. Mas, no momento da conquista, os muçulmanos<br />
não praticavam a matemática grega. O grande desenvolvimento<br />
científico veio pouco após.<br />
Em 813, Abu al-Abbas al-Mamum (786-833) tornou-se<br />
califa do Império Abássida, uma das divisões que resultaram<br />
do Império Islâmico após a morte de Maomé. Al-<br />
Mamum destacou-se por seu grande apoio à cultura científica<br />
e à monumental biblioteca Casa da Sabedoria, que seu<br />
pai Harun al-Rashid havia fundado em Bagdá. Ali estimulou<br />
o enorme desenvolvimento à matemática mística herdada<br />
dos gregos. É interessante notar que sob al-Mamun foi elaborado<br />
o Livro do Tesouro de Alexandre, prontuário de saberes<br />
mágicos, alquímicos e farmacológicos, com fórmulas<br />
de elixires e venenos. 12 Destaca-se, aí, a precisão numérica<br />
das dosagens. A fundamentação teórica recorre a propriedades<br />
de triângulos e hexágonos numa geometria mística, evidência<br />
da presença da astrologia nessa cultura, e era necessária<br />
uma astronomia que servisse de suporte a essa astrologia.<br />
Igualmente necessária, uma matemática prática, voltada<br />
à satisfação dos preceitos do Alcorão, particularmente para<br />
localizações geográficas em um vastíssimo império que tinha<br />
como capital espiritual Meca, em direção à qual todos os<br />
muçulmanos ainda se voltam nas horas rigorosas de oração.<br />
E também uma nova economia, que se desenvolve a partir de<br />
um outro modelo de propriedade e herança. Essas necessidades<br />
de uma matemática prática exigiam habilidades de<br />
cálculo, que não faziam parte da matemática dos gregos e<br />
dos romanos. Foi necessário, portanto, recorrer a conhecimentos<br />
matemáticos de outras culturas.<br />
A figura mais representativa desse esforço para se criar<br />
uma nova escola de matemática foi Abu Abdallah Muhammad<br />
ibn Musa al-Kwarizmi (ca. 780-ca. 850), contratado por<br />
al-Mamun. Originário de Kwarizmi, na região do Mar Cáspio,<br />
esse matemático era certamente possuía familiaridade com a<br />
matemática dos hindus. Além de importantes tabelas astronômicas,<br />
introduziu os algarismos hoje em dia denominados<br />
indo-arábicos e os algoritmos das operações com esses algarismos.<br />
Também as operações básicas para a resolução de<br />
equações: a redução de termos semelhantes (al-muqabola) e<br />
transposição do sinal de igual com mudança de sinal (al-jabr),<br />
e a fórmula de resolução das equações de segundo grau 13<br />
foram contribuições importantes desse matemático.<br />
Enquanto prosperava o Império Islâmico, a Europa<br />
experimentava um período de consolidação do regime feudal<br />
e de intensificação do comércio. A necessidade religiosa de<br />
acesso aos locais sagrados para o cristianismo, aliada à necessidade<br />
de novas rotas para abastecer um comércio emergente<br />
na próspera Europa medieval, deram origem a expedições<br />
de reconquista, que se denominaram cruzadas.<br />
AS CRUZADAS E A IMPORTÂNCIA DOS<br />
MONGES-CIENTISTAS<br />
A partir da primeira cruzada, em 1096, a Europa cristã<br />
teve acesso aos elementos básicos da cultura árabe, inclu-<br />
12 ALFONSO-GOLDFARB, 1999. 13 Veja D’AMBROSIO, 1994; pp. 40-47.<br />
52 <strong>impulso</strong> nº 27
sive interpretações da filosofia grega clássica. Iniciou-se, assim,<br />
uma revitalização das pesquisas nos mosteiros da Europa.<br />
Foi necessário criar um outro espaço intelectual, no qual<br />
temas aprendidos dos hereges muçulmanos poderiam ser<br />
discutidos. Surgem desse modo as universidades, as primeiras<br />
das quais são instaladas em Bolonha (ca. 1088) e Paris<br />
(ca. 1170).<br />
Conhecia-se, até aí, a aritmética como aparecia no livro<br />
de Euclides, parte do quadrivium, mas que se referia a<br />
propriedades dos números, algumas místicas. A geometria de<br />
Euclides despertava menor interesse.<br />
A síntese de conhecimentos, com estilos e objetivos<br />
distintos e representando várias tradições, confluiu sobretudo<br />
para os mosteiros. As preocupações tradicionais da filosofia,<br />
procurando explicar fenômenos tão presentes quanto o movimento,<br />
confundia-se com a teologia. O pensamento da<br />
Idade Média culmina com a obra maior que é a Summa<br />
Theologica, de São Tomás de Aquino. A síntese de conhecimentos,<br />
que começaram a ser reconhecidos como integrando<br />
um mesmo corpo de idéias, passou a ser conhecida por<br />
uma palavra ainda um tanto indefinida, matemática. Estavam,<br />
assim, sendo preparadas as bases para o surgimento<br />
de uma ciência que viria a ser posteriormente identificada<br />
como matemática e que somente no século XIX se estabeleceria<br />
como uma ciência autônoma.<br />
A maior influência para sua modernização veio de<br />
Aristóteles. As reflexões sobre movimento, o fenômeno natural<br />
que mais intrigava os filósofos da época, eram intensas.<br />
Estudava-se as relações entre espaço e tempo e a aceleração.<br />
Igualmente havia uma preocupação com ótica. O trabalho<br />
dos monges-cientistas, em especial na Inglaterra, entre os<br />
quais se destacam Roger Bacon (ca. 1214-1292?), Thomas<br />
Bradwardine (1290?-1349) e Guilherme de Ockham (1285-<br />
1349), foi fundamental como preparação para o surgimento<br />
da mecânica newtoniana.<br />
A influência das reflexões, equivocadas, de Aristóteles<br />
foi fundamental no desenvolvimento da matemática. Sua<br />
afirmação de que quanto mais pesado o corpo maior sua velocidade<br />
de queda passou por contestações. São importantíssimos<br />
os estudos de Thomas Bradwardine e de seus colegas<br />
no Merton College (William Heytesbury, Richard Swineshead,<br />
John Dumbleton et al.).<br />
A Lei de Bradwardine nos fala da relação entre força e<br />
resistência à velocidade na produção do movimento. Da escola<br />
de Merton surgem alguns conceitos fundamentais, como os de<br />
movimento uniforme, aceleração uniforme e o teorema da velocidade<br />
média. Dessa maneira preparava-se o terreno para a<br />
busca de explicações para o mais fundamental dos fenômenos<br />
reconhecidos na época, o movimento. 14 Incluídas nessas reflexões<br />
estavam as noções de espaço e tempo.<br />
Deve-se destacar os importantes estudos do português<br />
Álvaro Tomáz, afirmando que todos os corpos de qualquer<br />
dimensão e composição material caem com igual velocidade<br />
no vácuo. 15<br />
As pesquisas de Álvaro Tomáz seriam retomadas, mais<br />
de cem anos depois, por Galileo Galilei (1564-1642) no seu<br />
Discurso sobre Duas Novas Ciências (1638). Teria Galileo<br />
conhecimento dos resultados de Tomáz? Esse é mais um<br />
questionamento sobre a originalidade dos resultados enunciados<br />
por Galileo na sua importante obra.<br />
Igualmente importante foram as investigações sobre o<br />
sistema planetário. Nicolau Copérnico estudou teologia, matemática,<br />
medicina e astronomia no Vaticano e, por insistência<br />
do papa Clemente VII, escreveu De Revolutionibus orbium<br />
celestium, no qual propôs o sistema heliocêntrico.<br />
UMA MATEMÁTICA DE MERCADORES,<br />
ARTESÃOS E AMADORES<br />
O desenvolvimento de novos conhecimentos matemáticos,<br />
contudo, não ficou somente no ambiente das universidades<br />
e dos mosteiros. A numeração romana e as operações,<br />
que eram feitas com as mãos e com ábacos, se mostravam<br />
inadequadas para o comércio que se intensificava.<br />
A expansão do cristianismo pela Europa criou necessidades<br />
de espaço de culto mais amplos e também de iconografia<br />
e música apropriadas a esses espaços. A representação<br />
de Cristo e dos santos feita sob um mesmo plano tinha pouco<br />
impacto. As produzidas em vários planos, sugerindo o infinito,<br />
condiziam com a impressão causada pelas monumen-<br />
14 Segundo o destacado medievalista Edward Grant (Physical Science in<br />
the Middle Age. New York: John Wiley & Sons Inc., 1971), esta foi a mais<br />
importante contribuição medieval na história da física e do conhecimento<br />
científico em geral.<br />
15 De Álvaro Tomáz sabe-se que publicou em Paris, em 1509, a obra Liber<br />
de Triplice Motu. Sabe-se que lecionou em Portugal e em Paris.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 53
tais catedrais góticas. Surge, assim, uma nova teoria de forças,<br />
que possibilitou a arquitetura gótica, e também uma<br />
nova geometria, a perspectiva. Para preencher os enormes<br />
espaços possibilitados pela arquitetura gótica, o canto gregoriano<br />
desenvolveu novas formas que culminariam nos enormes<br />
órgãos e na polifonia. Houve um processo evidente de<br />
matematização dos artesãos e artistas.<br />
Essas novas formas de arte, que têm intrínseca a elas<br />
uma nova matemática, chegou tardiamente à península ibérica.<br />
As grandes catedrais criaram uma nova organização<br />
urbana, com o surgimento de um comércio intenso. As novas<br />
profissões urbanas, ligadas ao comércio, praticavam uma<br />
aritmética que tinha a ver com operações mercantis, bem<br />
como uma álgebra associada a problemas práticos de heranças<br />
e de comércio, distinta da aritmética que investigava propriedades<br />
dos números naturais. Essa nova aritmética beneficiou-se<br />
da matemática desenvolvida por al-Kwarizmi no<br />
século IX e difundida na Europa pelos “mestres do ábaco”.<br />
Com os algarismos indo-arábicos surgiu um importante instrumento<br />
mercantil. Leonardo Fibonacci (ca. 1180-ca.<br />
1240), de Pisa, publicou em 1202 o Liber Abaci, que se tornou<br />
o modelo de inúmeros livros de aritmética publicados na<br />
Idade Média. O interesse pelos novos métodos de calcular se<br />
intensificou nos séculos seguintes e houve intensa produção<br />
de livros destinados a ensinar a arte de calcular. Interessante<br />
lembrar a figura de Bastiano de Pisa, chamado para ensinar<br />
o ábaco, isto é, cálculo, em Modena, em 1517. Publicou o<br />
Tratato d’Arismeticha Praticha, possivelmente em 1540 e<br />
morreu em 1553, vivendo de esmolas.<br />
A prosperidade das cidades européias e uma grande<br />
atenção dada à cultura induziram mecenas e cidades a financiar<br />
pintores e escultores, e a fundar academias para estudo<br />
e tradução dos autores clássicos. Entre as academias<br />
destaco a de Marsilio Ficino (1433-1499), em Florença, freqüentada<br />
por Amérigo Vespucci, que depois, como agente<br />
dos banqueiros Medici na Espanha, teve importante atuação<br />
nas viagens de Cristóvão Colombo e no reconhecimento da<br />
costa brasileira, em 1501, a serviço do rei d. Manuel I. 16<br />
16 Ver D’AMBROSIO, 1996, pp. 15-20.<br />
Os mecenas também financiavam algumas formas de<br />
atividades intelectuais competitivas. Havia prêmios para criar<br />
conhecimentos novos, que avançassem o que havia sido recebido<br />
da Antiguidade. Em particular, torneios para resolução<br />
de problemas matemáticos. Sem outro interesse que os<br />
prêmios, foram se desenvolvendo métodos para resolver<br />
equações de terceiro e depois de quarto grau. A resolução de<br />
equações de terceiro grau foi, por um curto período, propulsor<br />
de uma grande inovação na matemática. Os métodos desenvolvidos<br />
por Scipione del Ferro (1465-1526), Nicolò Tartaglia<br />
(ca. 1499-1557) e os organizados pelo médico Gerolamo<br />
Cardano (1501-1576) na sua importante obra Ars<br />
Magna (1545) deram origem a uma nova ciência. Aí se encontram<br />
os métodos para a resolução de equações de terceiro<br />
grau e algumas de quarto grau, tratados como casos.<br />
Porém, fazia-se necessário enunciar fórmulas gerais<br />
para a resolução dessas equações, com coeficientes quaisquer.<br />
Coube a François Viète (1540-1603), com sua Ars<br />
analytique 1591, tal proeza, combinando a efetividade dos<br />
métodos de resolução com o rigor das construções da geometria<br />
clássica. Para isso recorreu a um novo simbolismo.<br />
Todas as grandezas são representadas por letras: as variáveis<br />
conhecidas (parâmetros), por consoantes e as incógnitas, por<br />
vogais. Viète baseia seu cálculo em duas operações, a logística<br />
numeralis, com números, e a logística speciosa, lidando<br />
com as letras. E divide o seu método em três etapas: a resolução<br />
das equações (zeteticque), a demonstração que os<br />
resultados encontrados são efetivamente soluções (porifticque),<br />
e a teoria das equações (exegeticque). 17<br />
Embora a resolução de equações algébricas, uma<br />
preocupação típica dos círculos europeus no século XVI, pouco<br />
tivesse a ver com a ciência que estava preocupando os cientistas<br />
das universidades, ela foi rapidamente assimilada<br />
pelo mundo acadêmico. E mostrou-se muito conveniente<br />
para o processo de matematização das ciências físicas, levado<br />
adiante a partir dos trabalhos de Francis Bacon (1561-1626)<br />
e de René Descartes (1596-1650).<br />
17 Um livro que mostra os vários desenvolvimentos da álgebra num estilo<br />
agradável e ao mesmo tempo rigoroso é GARBI, 1997.<br />
54 <strong>impulso</strong> nº 27
A MATEMÁTICA E AS TÉCNICAS<br />
Ao final da Idade Média, muitas áreas de conhecimento,<br />
de tradições e sobretudo de motivações distintas começaram<br />
a se relacionar. O desenvolvimento das técnicas<br />
torna-se impressionante. A Europa medieval foi capaz de<br />
apreender e organizar a utilização de importantes inventos<br />
desenvolvidos na China, na Índia e no mundo árabe. Os árabes<br />
herdaram e aprimoraram o conhecimento grego e a rápida<br />
expansão islâmica teve como resultado a apreensão da<br />
técnica avançada dos povos convertidos. Assim, através dos<br />
árabes, a Europa medieval recebeu importantes conhecimentos<br />
de medicina, particularmente ótica oftalmológica, de<br />
técnica química, de cosméticos e de culinária. Além de novas<br />
condições para apoiar o grande desenvolvimento do comércio<br />
e das artes, das navegações e das invenções, criando-se<br />
assim demanda para um conhecimento mais amplo.<br />
Na era das grandes navegações, no fim do século XV e<br />
início do século XVI, a matemática incluía um interesse em<br />
geometria, desenvolvida com vistas aos estudos astronômicos<br />
e às navegações. Particularmente o estudo de uma geometria<br />
da esfera, por John de Holywood ou Sacrobosco (ca 1200-ca<br />
1<strong>25</strong>6), foi importantíssimo nas navegações, tendo merecido<br />
duas traduções em Portugal, por d. João de Castro e por Pedro<br />
Nunes. 18<br />
Nos séculos XV e XVI se desenvolveram em Portugal estudos<br />
sobre navegação, que culminaram com as viagens de<br />
Cristóvão Colombo pelo hemisfério norte, em 1492, de Vasco<br />
da Gama, que chegou à Índia em 1498 pelo hemisfério sul, e<br />
de Fernão de Magalhães, que encontrou a passagem marítima<br />
para o Pacífico em 1520. O planeta, então, se globalizou. Observações<br />
do céu no hemisfério sul, a descoberta de outros povos<br />
e de outras civilizações, e as novas possibilidades econômicas<br />
oferecidas às nações da Europa tiveram conseqüências<br />
profundas no conhecimento.<br />
Os conhecimentos matemáticos na península ibérica<br />
eram muito diferentes, no conteúdo e nos objetivos. O estilo<br />
da matemática ibérica era outro.<br />
Lembremos que o islamismo absorveu muito da cultura<br />
grega e, aos poucos, os textos científicos gregos foram<br />
18 SACROBOSCO, 1991.<br />
sendo trabalhados pelos intelectuais islâmicos. As obras de<br />
Euclides e de outros matemáticos gregos foram sendo traduzidas.<br />
Particularmente importante foi a tradução da obra de<br />
Ptolomeu sobre o sistema planetário, denominada Al-Magesto<br />
(A Maior) pelos árabes, e os tratados de geografia.<br />
Entretanto, a ciência e a matemática árabes eram,<br />
como a dos romanos, eminentemente voltadas à prática. Essa<br />
característica estendeu-se aos califados ibéricos. No fim do<br />
século XIII, Portugal, ao decidir se tornar independente dos<br />
reinos da Espanha, viu-se forçado a procurar opções comerciais<br />
pelo Atlântico. Assim, definiu-se a vocação portuguesa<br />
pela navegação. O conhecimento científico e tecnológico disponível<br />
era legado pelos romanos, acrescentado, em pequena<br />
escala, pelos árabes. Distante e relativamente isolado, a aquisição<br />
dos avanços científicos e filosóficos dos árabes foi reduzida.<br />
Como vimos anteriormente, após as cruzadas, a partir<br />
de 1095, a cultura muçulmana mais avançada penetrou nos<br />
mosteiros europeus, com preocupações especiais sobre o movimento,<br />
o que marcou o início de reflexões científicas teóricas.<br />
Associou-se a isso a introdução do sistema de numeração<br />
indo-arábico, com a finalidade principal de satisfazer<br />
as necessidades do comércio que se intensificava.<br />
Mas os algarismos indo-arábicos não foram adotados<br />
em Portugal senão a partir de meados do século XV, e mesmo<br />
assim somente em alguns setores. Interessante notar que o<br />
Esmeraldo de Situ Orbis é uma das primeiras obras a utilizar<br />
os algarismos arábicos naquele país.<br />
Temos, portanto, duas vertentes de conhecimento científico<br />
e matemático na Europa do fim do século XV. Um conhecimento<br />
praticado na Europa, construindo as bases do<br />
que viria ser a ciência moderna, representado mormente por<br />
Bradwardine e a escola de Merton; e outro praticado em Portugal,<br />
repousando essencialmente sobre os trabalhos de Ptolomeu<br />
e o Tratado da Esfera, de Sacrobosco.<br />
PORTUGAL<br />
Por razões que se pode entender facilmente, Portugal,<br />
ao se firmar como um reino independente, não teve condições<br />
de intercâmbio com a Europa pelas rotas terrestres. A<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 55
usca de rotas marítimas foi fundamental na consolidação<br />
do reino.<br />
A figura mais importante dessa empresa foi o infante<br />
d. Henrique, chamado “o Navegador”, que planejou e em<br />
grande parte executou o mais importante projeto de expansão<br />
na história da humanidade. 19 Nessa época passou a ser<br />
conhecida toda a África, planejou-se a rota para as Índias,<br />
iniciou-se a conquista do Atlântico e logrou-se a circunavegação<br />
do globo terrestre.<br />
Embora o intercâmbio entre Portugal e a Europa fosse<br />
reduzido, o grande centro de pesquisa português que se<br />
formara atraía europeus de várias nações. Destaca-se o alemão<br />
Martin Behaim, de Nüremberg, possivelmente um discípulo<br />
de Regiomontanus, que em 1480 havia ido para Portugal.<br />
20 Os métodos da trigonometria foram assim introduzidos<br />
naquele reino, criando condições para a representação<br />
da Terra como um globo. 21 Em 1475 também o jovem genovês<br />
Cristóvão Colombo foi para Portugal, onde já estava seu<br />
irmão, o cartógrafo Bartolomeu Colombo.<br />
A base das ciências náuticas era a matemática. Sem<br />
dúvida, o mais importante matemático da época foi Pedro<br />
Nunes (1502-1572). 22 Ele foi uma das figuras mais interessantes<br />
do Renascimento português. Reconhecido e ao mesmo<br />
tempo contestado, Pedro Nunes pode ser considerado o<br />
grande navegador do século XVI, embora jamais tenha se<br />
aventurado pelos mares. Considerado o mais importante cartógrafo<br />
e matemático do grupo de intelectuais reunidos por<br />
d. Henrique, no que simbolicamente se chamou Escola de<br />
Sagres, ele deixou importante obra científica e também uma<br />
considerável obra poética e literária. Embora o infante tenha<br />
morrido em 1460, sua obra foi continuada pelo seu sobrinho-neto,<br />
o rei d. João II, que faleceu em 1495. Coube a d.<br />
19 Para um importante estudo da grande influência dessa vocação marítima<br />
no desenvolvimento das ciências, em particular da matemática, em<br />
Portugal, vejo o estudo de Francisco Gomes Teixeira em http://<br />
www.mat.uc.pt/~jaimecs/livrogt/1parte.html#Inicio da Cultura.<br />
20 Regiomontanus, ou Johannes Müller (1436-1476), é considerado o criador<br />
da trigonometria moderna.<br />
21 Ao retornar a Nüremberg, em 1492, Behaím apresentou à comunidade<br />
a Erdapfel, o primeiro globo terrestre conhecido. Obviamente,<br />
nesse globo não aparece o novo continente.<br />
22 Um importante estudo sobre Pedro Nunes foi feito por MARTYN,<br />
1996.<br />
Manuel, rei de 1495 a 1521, a ventura de estabelecer o império<br />
colonial, ficando por isso conhecido como o Venturoso.<br />
Seu sucessor, d. João III, que reinou de 1521 a 1557, agiu no<br />
apogeu e no início do declínio desse império.<br />
Pedro Nunes teve sua vida profissional praticamente<br />
ligada ao reinado desse monarca, seu grande protetor. Sendo<br />
filho de judeus, Pedro Nunes somente pôde escapar às repetidas<br />
investidas contra os cristãos novos, conduzidas pela<br />
Santa Inquisição, graças a essa proteção. De 1531 a 1535 foi<br />
chamado a Évora com a importante responsabilidade de ser<br />
tutor na corte de d. João III. Nessa época escreveu notas para<br />
um curso de álgebra a ser ministrado aos seus alunos, príncipes<br />
e fidalgos, entre os quais João de Castro e Martim Afonso<br />
de Sousa.<br />
Pedro Nunes nasceu em 1502, próximo a Lisboa. Em<br />
15<strong>25</strong> formou-se em medicina e foi nomeado cosmógrafo real<br />
em 1529, assumindo, no mesmo ano, a cátedra de Filosofia<br />
Moral da Universidade de Lisboa. Em 1531 foi para Évora<br />
como tutor dos príncipes. Em 1544 foi nomeado catedrático<br />
de Matemática da Universidade de Coimbra, onde lecionou<br />
até sua aposentadoria, em 1562. Em 1547 tornou-se Principal<br />
Cosmógrafo Real, cargo que manteve até sua morte, em<br />
1572.<br />
Durante sua permanência em Évora, talvez em virtude<br />
de suas responsabilidades como tutor da corte, Pedro Nunes<br />
dedicou-se a estudos humanísticos, tendo composto poemas<br />
em latim e grego, línguas que parecia dominar muito<br />
bem. Após a aposentadoria retomou sua atividade poética.<br />
Também se dedicou a reflexões religiosas e deixou notas sobre<br />
a ressureição, a anunciação, a multiplicação dos pães e<br />
outros temas do Novo Testamento.<br />
Não se conhece toda a importante e variada obra matemática<br />
de Pedro Nunes. Aqueles conhecidos foram publicados<br />
pela Academia de Ciências de Lisboa por ocasião do<br />
quinto centenário do seu nascimento. A edição foi rapidamente<br />
esgotada e uma edição crítica de sua obra completa<br />
ainda está por acontecer. Sabe-se de um Tratado de Geometria<br />
dos Triangulos Spheraes, de um Tratado sobre o<br />
Astrolabio, de um Tratado da Proporção ao Livro V de<br />
56 <strong>impulso</strong> nº 27
Euclides, e de uma tradução do De Architectura, de Vitruvius<br />
– livros possivelmente perdidos.<br />
A edição feita pela Academia de Ciências de Lisboa inclui<br />
uma tradução do Tratado da Sphera (1537) e De Crepusculis<br />
(1542), que talvez sejam a sua contribuição matemática<br />
mais original, De Erratis Orontii Finaei (1546),<br />
uma obra de contestação, e o Libro de Álgebra en Arithmetica<br />
y Geometria (1567).<br />
O livro foi impresso na Antuérpia e escrito em espanhol.<br />
Não é de se estranhar, pois, na segunda metade do século<br />
XVI, a Espanha era a grande potência da Europa e Portugal<br />
começa a entrar no que seriam dois séculos de decadência.<br />
Publicar em espanhol era prestigioso. Essa obra,<br />
como afirma Pedro Nunes no Prefácio, é uma elaboração das<br />
lições que ele havia ministrado quando tutor dos príncipes,<br />
em Évora, e em seguida como professor da Universidade de<br />
Coimbra.<br />
É intrigante o fato de não ter sido publicada como<br />
uma tradução, embora haja enorme coincidência do seu texto<br />
com o livro de al-Kwarizmi, e o nome de al-Kwarizmi<br />
aparecer sem nenhum destaque. Pedro Nunes diz que “o inventor<br />
desta arte foi um matemático mouro, cujo nome era<br />
Gebre e há, em algumas livrarias um pequeno tratado em<br />
arábico, que contém os capítulos de quem usamos”. Seria a<br />
álgebra um conhecimento corrente entre os portugueses?<br />
A obra também revela algo que talvez tenha tido influência<br />
no rápido declínio da ciência portuguesa a partir de meados<br />
do século XVI. Os portugueses insistiam em utilizar o chamado sistema<br />
luso-romano e não adotaram o indo-arábico.<br />
Mas o mais revelador deste livro de álgebra de Pedro<br />
Nunes é o seu Apêndice, no qual ele praticamente se desculpa<br />
perante o público ibérico por publicar uma obra que, ao sair,<br />
já era obsoleta, pois não incorporava os grandes avanços feitos<br />
no estudo das equações de terceiro grau por Tartaglia,<br />
Cardano e outros. Isso revela o isolamento dos cientistas portugueses<br />
do resto da Europa. Pedro Nunes faz algumas considerações<br />
críticas sobre os resultados dos algebristas italianos<br />
e promete um novo livro, incorporando todos os avanços recentes<br />
dessa ciência. Mas morreu pouco depois e o isolamento,<br />
que ele não havia conseguido quebrar, iria marcar a decadência<br />
científica de Portugal.<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
O grande interesse das populações indígenas tem sido,<br />
ao longo da história, a aquisição do conhecimento do dominador.<br />
O dominador se identifica no conquistador, no evangelizador,<br />
no colonizador, no mercador, no patrão, no agente<br />
do governo, no professor. A busca de instrumentos intelectuais<br />
que permitam dialogar e eventualmente enfrentar o dominador<br />
não se limita à aquisição do seu conhecimento, mas eventualmente<br />
se manifesta na apreensão do conhecimento do dominador<br />
no conhecimento do dominado, transformando-o.<br />
Contudo, o conhecimento do dominado, mesmo transformado,<br />
não adquire credibilidade, e continua marginal, criando a<br />
exclusão cultural.<br />
A recíproca também se dá, isto é, o conhecimento do<br />
dominador também é transformado pelo conhecimento do dominado.<br />
Isso se dá nos costumes, na linguagem, nas crenças e<br />
nas religiões, e em inúmeras outras manifestações de conhecimento.<br />
Alguns elementos do conhecimento do dominado se incorporam<br />
ao conhecimento do dominador, enriquecendo-o e<br />
sendo aceito. Como evidência dessa dinâmica temos a farmacopéia,<br />
a culinária, a linguagem, a música, a própria religião.<br />
Mas por que não temos exemplos na matemática? Não se propala<br />
que matemática é um empreendimento cultural? A matemática<br />
do dominado continua ignorada e não reconhecida,<br />
quando não reprimida. A matemática tem sido o elemento<br />
mais forte de marginalidade e de exclusão.<br />
A marginalidade e a exclusão não se aplicam somente<br />
a nações. O mesmo processo se dá na periferia dos grandes<br />
centros urbanos. Desprover o dominado de seu referencial<br />
cultural tem sido, ao longo da história, a estratégia mais eficiente<br />
de dominação. Por exemplo, o baixo rendimento das<br />
populações periféricas nos sistemas escolares, particularmente<br />
em matemática, deveria ser analisado sob esse enfoque.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 57
Referências Bibliográficas<br />
ABREU, C.de.; GARCIA, R. & WILLEKE, V. Frei Vicente do Salvador: história do Brasil 1500-1627. São Paulo: OFM, Melhoramentos,<br />
1965.<br />
AMANCIO, C.N. Os Kanhgág da Bacia do Tibagi: um estudo etnomatemático em comunidades indígenas. Rio Claro: IGCEx/<br />
Unesp, 1999.<br />
ALFONSO-GOLDFARB, A.M Livro do Tesouro de Alexandre. Trad. do original árabe: S. Jubran. São Paulo: Vozes, 1999.<br />
BELLO, S.L. Educação Matemática Indígena – um estudo etnomatemático dos índios guarani-kaiová do Mato Grosso do Sul.<br />
Curitiba: UFPR, 1995. [Dissertação de mestrado].<br />
BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES. Obras del P. Bernabe Cobo II. T. XCII, Madrid: Atlas, 1964.<br />
CARVALHO, J.B. de. Esmeraldo de Situ Orbis de Duarte Pacheco Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991.<br />
CLOSS, M. (ed.). Native Americans Mathematics. Austin: University of Texas Press, 1986.<br />
D’AMBROSIO, U. Etnomatemática. Arte ou técnica de explicar e conhecer. São Paulo: Ática, 1990.<br />
________. Al’Kwarizmi e sua importância na matemática. Temas e Debates, 7 (4): pp. 40-47, 1994.<br />
________. America ou Columba e a figura controvertida de Amerigo Vespucci. In: BONI, L.A. de. (org.). A Presença Italiana<br />
no Brasil. Porto Alegre/Torino: Edições Est/Fondazione Giovanni Agnelli, 1996, vol. 3.<br />
FERREIRA, M.K.L. Madikauku. Os dez dedos das mãos. Matemática e povos indígenas no Brasil. Brasília: MEC/SEF, 1998.<br />
GRANT, E. Physical Science in the Middle Ages. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1971.<br />
GARBI, G.G. O Romance da Equações Algébricas. São Paulo: Makron Books, 1997.<br />
LINTZ, R.G. História da Matemática. Blumenau: FURB, 1999, vol. 3.<br />
MARTYN, J.R.C. Pedro Nunes (1502-1578). His lost algebra and other discoveries. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 1996.<br />
PEREIRA, P.R. Os Três Únicos Testemunhos do Descobrimento do Brasil. Rio de Janeiro: Lacerda, 1999.<br />
PERES, D. História dos Descobrimentos Portugueses. Porto: Vertente, 1943.<br />
RIBEIRO, D. & MOREIRA NETO, C.A. A Fundação do Brasil: testemunhos, 1500-1700. Petrópolis: Vozes, 1992.<br />
SACROBOSCO, J. de. Tratado da Esfera. Trad.: Pedro Nunes; atual.: Carlos Ziller Camenietzk. São Paulo: Unesp, 1991.<br />
TEIXEIRA, F.G. .<br />
58 <strong>impulso</strong> nº 27
SERIA A LÍNGUA<br />
FALADA MAIS POBRE<br />
QUE A LÍNGUA<br />
ESCRITA?<br />
COULD SPOKEN LANGUAGE BE<br />
POORER THAN WRITTEN LANGUAGE?<br />
ATALIBA T. DE CASTILHO<br />
Professor titular de Filologia e Língua<br />
Portuguesa (USP) e presidente da<br />
Associação de Lingüística e Filologia<br />
da América Latina<br />
ataliba@uol.br<br />
RESUMO Após algumas observações sobre os 500 anos da língua portuguesa no Brasil, argumento que a língua falada<br />
é mais complexa do que a língua escrita, contrariamente ao que postula a gramática tradicional.<br />
Palavras-chave história do português brasileiro – língua falada e escrita – gramática – oração – ensino do português<br />
como língua materna.<br />
ABSTRACT After some reflections on the 500 years of the Portuguese language in Brazil, I argue that the spoken language<br />
is more complex than the written one, contrary to traditional grammatical assumptions.<br />
Keywords history of Brazilian Portuguese – spoken and written language – grammar – sentence – teaching Portuguese<br />
as mother tongue.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 59
Foi necessário<br />
esperar até o século<br />
xviii para que a<br />
língua portuguesa<br />
efetivamente se<br />
tornasse a língua<br />
majoritária do País<br />
APRESENTAÇÃO<br />
Nos últimos 500 anos temos falado e escrito a língua portuguesa no<br />
Brasil. Nos três primeiros séculos, apenas 30% dos habitantes falavam<br />
a língua de Portugal, e nem todos a escreviam. Os outros<br />
70% eram aloglotas, ameríndios e africanos. Entre 1 e 6 milhões<br />
de indígenas, não se sabe ao certo, falavam uma das 220 línguas<br />
brasileiras aqui encontradas. Além deles, cerca de 18 milhões de<br />
africanos escravizados e trazidos para cá desde o século XVI falavam<br />
uma das muitas línguas da cultura banto e da cultura sudanesa. 1<br />
Foi necessário esperar até o século XVIII para que a língua portuguesa efetivamente<br />
se tornasse a língua majoritária do País. Ainda hoje em dia restam 160 línguas indígenas,<br />
faladas por uns 220 mil indivíduos, e raras línguas crioulas de base africana, como é o caso<br />
do dialeto de Helvécia. 2<br />
Que língua é essa que falamos, e que escrevemos (tão pouco)? Continua a ser o português<br />
europeu? Ou já falamos o “brasileiro”?<br />
Bem, essa é uma discussão que começou no Romantismo, e somente neste século<br />
passou a merecer um tratamento mais científico. De fato, tem-se notado que desde o século<br />
XIX começaram a aparecer no português do Brasil alguns elementos fonéticos e gramaticais<br />
divergentes do uso europeu. Vejamos alguns poucos exemplos.<br />
Pronunciamos todas as vogais anteriores à vogal tônica, como em telefone, enquanto<br />
os portugueses as reduziram, dizendo tulfón. Às vezes deixamos cair as vogais iniciais,<br />
como em tá, por está, mantidas pelos portugueses em seu modo característico de<br />
atender ao telefone: está? está lá? Também alteramos bastante a gramática. Para ficar só<br />
num caso: no quadro dos pronomes pessoais, mantivemos eu e ele para a primeira e a terceira<br />
pessoas, mas estamos substituindo progressivamente tu por você e nós por a gente.<br />
Vós praticamente desapareceu. O problema é que você e a gente levam o verbo para a terceira<br />
pessoa, e com isso a morfologia verbal reduziu as seis terminações diferentes a apenas<br />
três: eu faço, você / ele / a gente faz, eles fazem, desaparecendo fazes, fazemos e fazeis.<br />
Se a morfologia verbal se simplifica, torna-se obrigatório manter o sujeito da oração,<br />
pois ficará difícil saber se em “saía à noite” o sujeito será eu, você, ele, a gente. Com isso,<br />
vai desaparecendo o sujeito elíptico, passamos a ter uma média de 80% de sujeitos preenchidos,<br />
e diminuímos sensivelmente sua posposição – outra novidade não documentável<br />
em Portugal.<br />
Significaria então que já nasceu a língua brasileira? Algumas dificuldades impedem<br />
uma resposta taxativa, pois muitos dos fenômenos diferenciadores são atestados no<br />
português medieval. Indo por aqui, o português do Brasil seria considerado uma conservação<br />
do português europeu, e a pergunta então não é se temos uma nova língua por aqui,<br />
1 RODRIGUES, 1986, e CASTILHO, 1998a.<br />
2 BAXTER & LUCCHESI, 1999.<br />
60 <strong>impulso</strong> nº 27
3 CASTILHO, 1998b, MATTOS & SILVA, 1999, e ALKIMIN, no prelo.<br />
e sim por que “eles” mudaram a língua por lá... Muito provavelmente,<br />
o português do Brasil está combinando conservadorismos<br />
e inovadorismos, seguindo, de todo modo, uma<br />
direção distinta daquela do português europeu. Em todo caso,<br />
trata-se de um quadro complexo que não pode ser caracterizado<br />
por simplificações do tipo “estamos acabando com a<br />
língua portuguesa”, “foi só mudarem a língua para os trópicos,<br />
e vejam que espantosa degeneração!”, “os portugueses,<br />
sim, é que sabem falar direito”. Não poderei aqui elaborar<br />
mais detalhadamente essas idéias sobre a pretensa decadência<br />
do português no Brasil. Se você não quer ficar repetindo<br />
bobagens desse tipo, que lemos todos os dias nos jornais,<br />
acompanhe as pesquisas que um grupo de lingüistas vem fazendo.<br />
3<br />
Uma coisa é certa: presentemente a língua falada “é<br />
de todos”, e apenas a língua escrita continua pertencendo à<br />
gente escolarizada. Infelizmente, nem tantos quanto os primeiros,<br />
pois como sabemos ainda hoje há milhões de brasileiros<br />
que não sabem escrever.<br />
Apesar da “vitória” numérica da língua falada, a língua<br />
escrita continua obviamente a ter sua importância. As<br />
condições de produção separam essas modalidades. Quando<br />
falamos estamos em presença do interlocutor, e por isso acertamos<br />
o rumo da conversa o tempo todo, o que afeta a seleção<br />
dos recursos da língua. Quando escrevemos, a ausência do<br />
leitor nos obriga a uma explicitude maior, afinal não podemos<br />
acompanhar por suas reações se estamos sendo claros<br />
ou não. Também isso afeta os tipos de recursos da língua que<br />
movimentamos. Simples, não? Pois é, então por que nossos<br />
manuais escolares se fundamentam exclusivamente numa<br />
modalidade, a escrita, deixando de lado a língua falada? Por<br />
que já chegamos à escola falando? Examinemos isso um<br />
pouco mais de perto.<br />
É bem sabido que a gramática tradicional apóia-se na<br />
língua escrita, privilegiando nesta modalidade a língua literária<br />
– não a língua escrita corrente, dos jornais, por exemplo.<br />
Uma observação freqüente nesses textos é que a língua<br />
escrita é mais complexa e mais formal do que a língua falada,<br />
vista a segunda como uma variante mais pobre e mais informal<br />
que a primeira. Ora, pesquisas sociolingüísticas sobre<br />
o português desenvolvidas no Brasil mostram o equívoco de<br />
afirmações tão esquemáticas, e apontam para a rica heterogeneidade<br />
das línguas naturais.<br />
A persistência de nossos livros escolares em afirmações<br />
em que ninguém mais acredita mostra que o ensino<br />
fundamental e o ensino médio do português ainda não se beneficiaram<br />
da enorme quantidade de pesquisas sobre a oralidade<br />
desenvolvidas no Brasil. Também não estão sendo<br />
consideradas as expressas recomendações a esse respeito,<br />
formuladas nos Parâmetros Curriculares Nacionais.<br />
Neste trabalho, quero chamar sua atenção para os<br />
prejuízos dessa fixação na língua escrita. Menciono os estudos<br />
sobre o português falado no Brasil, examino rapidamente<br />
a estrutura da oração nessa modalidade, e concluo com algumas<br />
reflexões sobre como incorporar a língua falada em<br />
nossas práticas escolares. Tudo isso sem excluir a língua escrita,<br />
é claro! O que estou propondo é um cardápio menos<br />
monótono.<br />
PESQUISAS BRASILEIRAS<br />
SOBRE O PORTUGUÊS FALADO<br />
1. Premeditando a coisa<br />
Um conjunto de fatores desencadeados nos anos 70 e<br />
80 favoreceram a eclosão do movimento científico de que resultou<br />
a preparação da Gramática do Português Culto Falado<br />
no Brasil, a ser publicada em 2001: a expansão dos<br />
cursos pós-graduados de Lingüística, o surgimento dos projetos<br />
coletivos de pesquisa e a insistência de vários lingüistas<br />
em que passássemos a dispor de gramáticas descritivas que<br />
refletissem o uso brasileiro da língua portuguesa.<br />
Em 1969 foi fundada a Associação Brasileira de<br />
Lingüística, e a partir de 1972 passaram a ser implantados<br />
os Programas de Pós-Graduação em Lingüística e Língua<br />
Portuguesa, hoje em número de 52. Este fato novo na vida<br />
universitária brasileira teve diversas conseqüências: o surgimento<br />
da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação<br />
em Letras e Lingüística, em 1984, a fundação de dezenas<br />
de revistas especializadas com publicação regular, a<br />
concessão de bolsas a jovens brasileiros, que partiram para o<br />
exterior em busca de doutorado em áreas ainda não existen-<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 61
tes no Brasil, a organização sistemática de seminários e congressos,<br />
e o estabelecimento de uma política de aquisição de<br />
bibliografia especializada.<br />
A instalação da Lingüística entre nós e a profissionalização<br />
dos lingüistas brasileiros teve por efeito a busca de<br />
uma temática de interesse para o desenvolvimento da cultura<br />
nacional. Os lingüistas sentiram o peso de suas responsabilidades<br />
sociais e políticas. Sem descurar de sua formação teórica,<br />
eles passaram a buscar assunto para suas pesquisas nas<br />
dezenas de línguas indígenas brasileiras que sobreviveram à<br />
colonização e na variabilidade do português brasileiro. Daí<br />
para a organização de projetos coletivos de investigação foi<br />
um passo, logo dado pelo Projeto de Estudo da Norma<br />
Lingüística Urbana Culta (UFBA, USP, Unicamp, UFPE, UFRJ,<br />
UFRS, a partir de 1970), pelo Projeto Censo Lingüístico do<br />
Rio de Janeiro, hoje Programa de Estudos de Usos Lingüísticos<br />
(UFRJ, desde 1972), e pelo Projeto de Aquisição da<br />
Linguagem (Unicamp, a partir de 1975). Já nos anos 90<br />
surgiram o Projeto Variação Lingüística do Sul do Brasil<br />
(UFPR, UFSC E UFRS, desde 1992), o Programa de História<br />
do Português (UFBA, desde 1991), o Projeto do Atlas Lingüístico<br />
Brasileiro (UFBA, UFJF, UEL, UFRJ, UFRS, desde 1997),<br />
entre tantos outros.<br />
Outro fato que assinalou este período foi a crescente<br />
preocupação para que dispuséssemos de bons dicionários e<br />
de boas gramáticas, mais conformes ao uso brasileiro do português.<br />
Duas novas gramáticas foram publicadas, assinalando<br />
a busca da mudança: em Portugal, a de Mira Mateus et<br />
al. 4 e, no Brasil, a de Cunha e Cintra. 5 Coincidência ou não,<br />
no mesmo no de 1985 são publicados no país quatro livros<br />
em que foi avaliada a gramática tradicional, adotada em<br />
nossas escolas. 6 Mesmo partindo de perspectivas diferentes,<br />
seus autores confluíam na defesa da preparação de uma<br />
“nova gramática” do português, mais atenta às alterações<br />
que se vinham notando na realidade lingüística do país. O<br />
surgimento entre nós dos estudos sobre a língua falada daria<br />
uma importante resposta aos planos desses autores.<br />
4 MIRA MATEUS et al., 1983.<br />
5 CUNHA & CINTRA, 1985.<br />
6 ILARI, 1985, PERINI, 1985, LUFT, 1985, e BECHARA, 1985.<br />
2. “Descobrindo” a língua falada<br />
A partir dos anos 60, grupos de pesquisadores afiliados<br />
a várias universidades brasileiras se engajaram na tarefa<br />
de documentar, descrever e refletir sobre a língua falada.<br />
Em toda a sua história, a Lingüística sempre esteve<br />
atravessada pela idéia de que a língua falada é a manifestação<br />
primordial da linguagem e seu objeto primeiro de estudos.<br />
Mas esses belos propósitos só puderam se transformar<br />
em ações efetivas depois de uma inovação tecnológica, a invenção<br />
do gravador portátil. Podia-se, finalmente, pôr em<br />
marcha um programa sistemático de investigação da oralidade.<br />
Pela primeira vez a América Latina antecipou-se à<br />
Europa e aos Estados Unidos num movimento científico. A<br />
língua falada forneceu a matéria-prima para essa virada.<br />
Em 1964, Juan M. Lope Blanch, lingüista espanhol<br />
radicado no México, obteve do Programa Interamericano de<br />
Lingüística e Ensino de Idiomas (Pilei) a aprovação de seu<br />
Proyecto de Estudio Coordinado de la Norma Lingüística<br />
Culta de las Principales Ciudades de Iberoamérica y<br />
de la Península Ibérica. 7 Seu projeto representava uma notável<br />
mudança de rumo dos estudos dialetológicos: deixavase<br />
de privilegiar o falar residual de pequenas comunidades<br />
rurais, “perdidas en los varicuetos de una sierra”, partindose<br />
para a linguagem padrão das grandes metrópoles que iam<br />
surgindo, as quais alteraram a proporção “população rural<br />
versus população urbana” na organização demográfica das<br />
nações latino-americanas. Lope Blanch mostrava, por<br />
exemplo, que em vários países da América Latina metade da<br />
população habitava suas capitais, o que poderia afetar o espanhol<br />
(ou o português) falados no país, dada a previsível<br />
força de irradiação da variedade da capital.<br />
Desde o começo, o Proyecto previa a inclusão da<br />
América portuguesa, além da Espanha e de Portugal. Convidado<br />
a opinar sobre o assunto, o prof. Nélson Rossi, da Universidade<br />
Federal da Bahia, e delegado brasileiro no Pilei,<br />
apresentou um texto ao Simpósio do México. 8 Ele pondera ali<br />
que, contrariamente à América espanhola, a execução do<br />
7 LOPE BLANCH, 1964/1967, 1986.<br />
8 ROSSI, 1968/1969.<br />
62 <strong>impulso</strong> nº 27
projeto no Brasil não poderia limitar-se à capital do País, e<br />
nem mesmo ao Rio de Janeiro: “arrisco a impressão de que<br />
a cidade do Rio de Janeiro, apesar de sua excepcional significação<br />
como aglomerado urbano e como centro de irradiação<br />
de padrões culturais, não daria por si só a imagem do<br />
português do Brasil”. 9 Ele desenvolve então suas idéias sobre<br />
o policentrismo cultural brasileiro, e argumenta que desenvolvendo-se<br />
o projeto em cinco capitais, sendo quatro fundadas<br />
no século XVI (Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São<br />
Paulo) e uma no século XVIII (Porto Alegre), estariam abarcados<br />
“doze milhões e meio de habitantes aproximadamente,<br />
o que equivale a um sétimo da população atual do país”. 10<br />
Desconhecendo esses arranjos, conhecendo porém o<br />
Proyecto de Lope Blanch, propus sua adaptação a parte do<br />
País, num texto intitulado “Descrição do Português Culto na<br />
Área Paulista”. 11 Informado por Nélson Rossi das decisões tomadas<br />
no Pilei, e por ele convidado a integrar o projeto mais<br />
amplo, aceitei suas ponderações e desisti do plano anterior.<br />
Finalmente, a 11 de janeiro de 1969, aproveitando a<br />
presença de vários professores brasileiros reunidos no III Instituto<br />
Interamericano de Lingüística, promovido pelo Pilei na<br />
Universidade de São Paulo, juntamente com o II Congresso<br />
Internacional da Alfal, o prof. Rossi convocou uma reunião<br />
de que participaram os futuros coordenadores das equipes do<br />
Projeto, que viria a ser conhecido entre nós como “Projeto<br />
NURC”: Albino de Bem Veiga (Porto Alegre), Isaac Nicolau<br />
Salum e Ataliba T. de Castilho (São Paulo), além do próprio<br />
Rossi, coordenador do Projeto em Salvador. Posteriormente,<br />
seriam indicados Celso Cunha (Rio de Janeiro) e José Brasileiro<br />
Vilanova (Recife). Reuni num livrinho editado pelo<br />
Conselho Municipal de Cultura de Marília os documentos então<br />
gerados. 12<br />
Para discutir a metodologia da pesquisa e seus rumos<br />
no País, foram realizadas 14 reuniões nacionais do Projeto: I,<br />
Porto Alegre, 1969; II, Capivari, 1970; III, Recife, 1971; IV, Rio<br />
de Janeiro, 1971; V, Salvador, 1972; VI, Porto Alegre, 1973; VII,<br />
São Paulo, 1974; VIII, Recife, 1974; IX, Rio de Janeiro, 1975; X,<br />
9 ROSSI, 1968/1969, p. 49.<br />
10 ROSSI, 1968/1969, p. 49.<br />
11 CASTILHO, 1968.<br />
12 Idem, 1970.<br />
Rio de Janeiro, 1977; XI, Salvador, 1981; XII, Rio de Janeiro,<br />
1984; XIII, Campinas, 1985; XIV, Porto Alegre, 1987.<br />
Designadas as equipes locais, cuja listagem aparece<br />
em Castilho, 13 teve início o trabalho de documentação da fala<br />
de 600 informantes de formação universitária, selecionados<br />
entre pessoas nascidas na cidade, filhas de pais igualmente<br />
nascidos na cidade, divididos por igual em homens e mulheres,<br />
distribuídos por três faixas etárias (<strong>25</strong>-35 anos, 36-55<br />
anos, e de 56 anos em diante).<br />
A fala dos informantes foi gravada em três situações<br />
distintas: diálogo com o documentador (DID), diálogo entre<br />
dois informantes (D2) e aulas e conferências (EF). A equipe<br />
nacional desistiu de realizar as gravações sigilosas previstas<br />
no projeto original. As entrevistas eram tematicamente orientadas,<br />
fundamentando-se em cerca de 20 centros de interesse,<br />
abrangidos por mais de 4 mil quesitos.<br />
As gravações foram realizadas entre 1970 e 1977, tendo-se<br />
apurado um corpus gigantesco, constante de 1.870 entrevistas<br />
com 2.356 informantes, totalizando 1.570 horas de<br />
gravações. Começou então a árdua tarefa de transcrever parte<br />
desse corpus, organizando-se o “corpus compartilhado”,<br />
um conjunto de 18 entrevistas por cidade, selecionadas de<br />
acordo com os parâmetros sociolingüísticos do projeto, e distribuídas<br />
a todas as cidades participantes. Amostras do corpus<br />
começaram a ser publicados a partir de 1986, em São<br />
Paulo, 14 Rio de Janeiro, 15 Salvador, 16 Recife 17 e Porto Alegre.<br />
18 As amostras das três últimas cidades ainda estão incompletas.<br />
Em 1988, representantes do Projeto do Português<br />
Fundamental (sediado no Centro de Lingüística da Universidade<br />
de Lisboa) e do Projeto NURC/Brasil firmaram um<br />
protocolo de intercâmbio de dados, de tal sorte que atualmente<br />
ambas as equipes dispõem de elementos para eventuais<br />
comparações entre as modalidades européia e americana<br />
do português falado culto.<br />
13 Idem, 1990, pp. 147-149.<br />
14 CASTILHO & PRETI, 1986 e 1987, e PRETI & URBANO, 1988.<br />
15 CALLOU, 1992, e CALLOU & LOPES, 1993 e 1994.<br />
16 MOTTA & ROLLEMBERG, 1994.<br />
17 SÁ et al., 1996.<br />
18 HILGERT, 1997.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 63
19 CUESTIONARIO, 1971 e 1973.<br />
20 CASTILHO, 1989, PRETI & URBANO, 1990, e PRETI, 1995, 1997 e 1998.<br />
21 MENON, 1994.<br />
22 MARQUES, 1996.<br />
23 CASTILHO, 1990b.<br />
24 Idem, 1984 e 1990a.<br />
De acordo com a metodologia do Projeto, a análise<br />
dos materiais assim recolhidos se faria a partir de um Guia-<br />
Questionário, que forneceria um roteiro básico para a pesquisa,<br />
visando a assegurar a comparabilidade dos resultados.<br />
A comissão brasileira adaptou a versão espanhola já publicada<br />
desse roteiro. 19 Os quesitos compreendiam três setores:<br />
Fonética e Fonologia, Morfo-sintaxe e Léxico. A partir de<br />
1978 as análises tiveram início, tendo seguido duas grandes<br />
direções: estudos gramaticais e estudos de pragmática da língua<br />
falada. Parte desses trabalhos foi publicada em coletâneas.<br />
20 Muitos textos foram publicados em revistas científicas<br />
e anais de congressos, outros são teses, como Menon. 21 O estudo<br />
do léxico de São Paulo foi empreendido por Enzo Del<br />
Carratore, permanecendo inédito. O do Rio de Janeiro foi<br />
concluído e publicado. 22 Para a história do Projeto NURC e a<br />
bibliografia gerada até 1990, ver Castilho. 23<br />
As análises gramaticais já em 1981 mostravam que<br />
haveria problemas para a continuação dos trabalhos, na forma<br />
como eles tinham sido concebidos no final dos anos 60<br />
pelo projeto congênere do espanhol da América, acolhido pelas<br />
equipes brasileiras: 1. não tinha havido uma discussão sobre<br />
a especificidade do oral, e os instrumentos de análise tomavam<br />
a língua escrita como ponto de partida; 2. o modelo<br />
teórico adotado, que combinava elementos da gramática tradicional<br />
com uma sorte de “estruturalismo mitigado”, não<br />
dava conta de uma série de fenômenos típicos da modalidade<br />
falada; 3. novas tendências da indagação lingüística, surgidas<br />
posteriormente à concepção do projeto, mostravam-se<br />
mais sensíveis à modalidade falada, particularmente as aproximações<br />
entre a sintaxe e o discurso. Para uma análise dessas<br />
e de outras questões, ver Castilho. 24<br />
Apesar desses acidentes de percurso, deve-se reconhecer<br />
que esse projeto se mostrou plenamente vitorioso em sua<br />
fase de coleta e organização dos dados. Graças a ele, a Lingüística<br />
brasileira se manteve atualizada quanto à organização<br />
de inventários da língua falada, fenômeno cuja extensão<br />
vem caracterizada por Blanche-Benveniste e Jeanjean. <strong>25</strong><br />
Fora do domínio do espanhol e do português, desenvolveram-se<br />
outros projetos sobre a língua falada. Limito-me<br />
a mencionar brevemente apenas os que se fundamentaram<br />
em registros magnetofônicos.<br />
Nos Estados Unidos, os primeiros de que tenho notícia<br />
são o estudo sobre o inglês falado em Nova York, de Labov, 26<br />
o método para o levantamento da fala de Detroit proposto por<br />
Shuy et al. 27 e o pioneiro estudo sobre a conversação, de Sacks<br />
et al. 28 Vinte anos depois, as sugestões contidas neste último<br />
motivaram um ambicioso programa, intitulado Conversation<br />
and Grammar: Ono & Thompson. 29 Esse projeto<br />
busca as relações entre as categorias pragmáticas da conversação<br />
e as categorias gramaticais da sintaxe, uma hipótese<br />
lançada entre nós por Dias de Moraes, 30 Marcuschi 31 e Castilho.<br />
32<br />
Na França, lembre-se a pesquisa sociolingüística do<br />
francês falado em Orleans, de Blanc-Biggs, 33 e o fecundo<br />
Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe, organizado na<br />
Universidade de Aix-en-Provence. 34 Esses trabalhos tiveram<br />
uma forte repercussão em Portugal. 35<br />
Na Itália, devem ser lembradas as pesquisas de Sornicolla<br />
36 e aquelas ligadas ao Lessico Italiano di Frequenza. 37<br />
3. Batalhando por uma gramática da<br />
língua portuguesa falada no Brasil<br />
As pesquisas brasileiras sobre a língua falada passaram<br />
por uma grande aceleração, depois que apresentei em<br />
1987 à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação<br />
em Letras e Lingüística, a convite da profa. Maria Helena<br />
Moura Neves, um projeto de preparação coletiva de uma<br />
<strong>25</strong> BLANCHE-BENVENISTE & JEANJEAN, 1987.<br />
26 LABOV, 1966.<br />
27 SHUY et al., 1966.<br />
28 SACKS et al., 1972.<br />
29 ONO & THOMPSON, 1993.<br />
30 DIAS DE MORAES, 1987.<br />
31 MARCUSCHI, 1988.<br />
32 CASTILHO, 1989.<br />
33 BLANC-BIGGS, 1971.<br />
34 BLANCHE-BENVENISTE et al., 1979, BLANCHE-BENVENISTE &<br />
JEANJEAN, 1987, e BLANCHE-BENVENISTE, 1990a.<br />
35 NASCIMENTO, 1987.<br />
36 SORNICOLLA, 1981.<br />
37 VOGHERA, 1992, e DE MAURO, 1994.<br />
64 <strong>impulso</strong> nº 27
gramática do português falado, com base nos materiais do<br />
Projeto NURC/Brasil. O Projeto de Gramática do Português<br />
Falado (PGPF) teve início em 1988, tendo esgotado sua agenda<br />
em 1998. Uma de suas motivações foi aproveitar os ricos<br />
materiais do Projeto NURC, que vinham sendo maiormente<br />
examinados por pesquisadores em Análise da Conversação,<br />
Análise do Discurso e Lingüística do Texto.<br />
O I Seminário do PGPF debateu o plano inicial, o de<br />
“preparar uma gramática referencial do português culto falado<br />
no Brasil, descrevendo seus níveis fonológico, morfológico,<br />
sintático e textual”. Reconheceu-se nesse primeiro encontro<br />
que seria impossível selecionar uma única articulação<br />
teórica que desse conta da totalidade dos temas que se espera<br />
ver debatidos numa gramática descritiva, numa gramática<br />
de referência como a que se planejava escrever. As primeiras<br />
discussões cristalizaram esse reconhecimento, tendo-se decidido<br />
dar livre curso à convivência dos contrários no interior<br />
do projeto. Como forma de organização, os 32 pesquisadores<br />
que atuaram no projeto, afiliados a 12 das maiores universidades<br />
brasileiras, distribuíram-se por grupos de trabalho<br />
(GTS), sob a coordenação de um deles, para a realização das<br />
tarefas previamente agendadas: 1. Fonética e Fonologia, coordenado<br />
inicialmente por João Antônio de Moraes, e posteriormente<br />
por Maria Bernadete M. Abaurre; 2. Morfologias<br />
Derivacional e Flexional, coordenado por Margarida Basílio<br />
e Ângela C. S. Rodrigues, respectivamente; 3. Sintaxe das<br />
Classes de Palavras, coordenado inicialmente por Rodolfo<br />
Ilari, e posteriormente por Maria Helena Moura Neves; 4.<br />
Sintaxe das Relações Gramaticais, coordenado inicialmente<br />
por Fernando Tarallo, e posteriormente por Mary Kato; 5. Organização<br />
Textual-Interativa, coordenado por Ingedore G.V.<br />
Koch.<br />
Cada GT traçou o perfil teórico que pautaria suas pesquisas.<br />
Os textos discutidos e preparados no interior de cada<br />
GT foram posteriormente submetidos à discussão pela totalidade<br />
dos pesquisadores, reunidos em seminários plenos. Foram<br />
realizados dez seminários plenos, terminados os quais os<br />
textos debatidos eram reformulados e publicados em uma<br />
série própria, editada pela Unicamp 38 A Fundação de Amparo<br />
à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) tem financiado<br />
as atividades, também apoiadas vez e outra pelo Conselho<br />
Nacional de Pesquisas.<br />
A partir de 1990, solicitou-se ao prof. Mílton do Nascimento<br />
que debatesse os problemas teóricos suscitados pelos<br />
trabalhos apresentados, na qualidade de assessor Acadêmico<br />
do PGPF. Isso ocorreu sistematicamente a partir do IV Seminário,<br />
resultando daí alguns textos, um dos quais apresentado<br />
ao Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa, em<br />
1993, em reunião convocada pelos drs. Maria Fernanda Bacelar<br />
do Nascimento e João Malaca Casteleiro. 39<br />
A ESTRUTURA DA<br />
ORAÇÃO NO PORTUGUÊS FALADO<br />
Se é verdade que o português falado é mais pobre do<br />
que o português escrito, segue-se, entre outras coisas, que as<br />
orações nessas duas modalidades serão complexas na língua<br />
escrita e simples na língua falada.<br />
Vamos verificar essa afirmação, começando pela língua<br />
escrita. Como construímos uma oração quando escrevemos?<br />
Para início de conversa, é reconhecido há muito tempo<br />
que uma oração é um verbo que seleciona os termos com<br />
os quais ele vai organizar essa oração, seja na língua escrita,<br />
seja na língua falada. Enquanto empreendimento sintático,<br />
conclui-se portanto que para construir uma oração partimos<br />
do léxico, escolhemos ali um verbo adequado ao que queremos<br />
expressar, selecionando a seguir os termos projetados<br />
por esse verbo. Quer dizer que os verbos se distinguem de outras<br />
classes porque têm a propriedade de “selecionar” seu<br />
termo-sujeito e o seu ou os seus termos-complementos. Sujeito<br />
e complementos mantêm com o verbo uma relação sintática<br />
forte, comprovável pela proporcionalidade que podemos<br />
estabelecer entre eles e os pronomes, essa classe primitiva<br />
de que derivam os nomes. Bom, a gramática tradicional<br />
ensina que o pronome é uma classe derivada, e o nome uma<br />
classe primitiva. Mas que pena, pois é exatamente o contrário!<br />
Mas deixa pra lá. Além desses termos, podem compare-<br />
38 CASTILHO, 1990b e 1993, ILARI, 1992, CASTILHO & BASÍLIO, 1996,<br />
KATO, 1996, KOCH, 1996, NEVES, 1999, e ABAURRE & RODRIGUES, no<br />
prelo.<br />
39 NASCIMENTO, 1993b.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 65
cer também os adjuntos, que por não serem pronominalizáveis<br />
não exibem essa relação sintática forte.<br />
Tudo isso se passa em nossa mente no momento em<br />
que vamos lançar ao papel um texto, forçosamente constituído<br />
de orações. Mas acontece que escrever é uma atividade<br />
solitária. Como já disse antes, o interlocutor não está presente,<br />
não interage conosco enquanto escrevemos, não interfere visivelmente<br />
nesse ofício. Tais condições de produção têm<br />
como resultado um conjunto de orações voltadas para a sintaxe.<br />
Qual é o resultado disso? Orações tipologicamente simples,<br />
dotadas de sujeito, verbo, complementos e adjuntos.<br />
Imagine que você está escrevendo um capítulo de sua<br />
autobiografia, e vai narrar como conseguiu seu primeiro<br />
emprego. No remanso do seu escritório, algumas orações que<br />
provavelmente escorreriam de sua pena seriam algo como:<br />
(1) O Diretor da Folha me chamou e me incumbiu de<br />
escrever sobre televisão.<br />
O que temos em (1)? O velho feijão com arroz de<br />
sempre: sujeito – verbo – complemento.<br />
Mas imagine agora que você está conversando com<br />
alguém, que de repente pergunta:<br />
(2) Como você começou a escrever sobre televisão na<br />
Folha?<br />
Uma resposta provável – dada aliás por uma senhora<br />
de 60 anos, numa entrevista recolhida pelo Projeto NURC – é<br />
a seguinte:<br />
(3) olha Francisca... eu... como você sabe... u:ma pessoa<br />
um Diretor lá da Folha certa feita me chamou e<br />
me incumbiu de escrever sobre televisão...<br />
Uma variante perfeitamente possível desse enunciado<br />
poderia ser como segue:<br />
(4) televisão... bom... olha Francisca... eu... assim... um<br />
Diretor lá da Folha me chamou... tá entendendo? e<br />
então... quer dizer... me incumbiu de escrever sobre televisão...<br />
tá? televisão...<br />
Em (3) e (4), nota-se que várias vezes o falante abandonou<br />
a estrutura propriamente sintática da oração, contida<br />
em (1), introduzindo em determinados espaços expressões<br />
discursivas de monitoramento da fala (olha Francisca /<br />
como você sabe / tá entendendo? / quer dizer / tá?). Foi<br />
igualmente introduzido o substantivo televisão, por meio do<br />
qual esse falante esclarece o assunto sobre o qual pretende falar,<br />
fornecendo a moldura da proposição. Em sua primeira<br />
menção, esse substantivo atua como tópico dessa oração, e<br />
em sua segunda menção, como seu antitópico.<br />
Observando mais de perto (3) e (4), nota-se que duas<br />
estruturas aí se cruzaram: uma estrutura orientada para a<br />
sintaxe, constituída por sujeito, verbo e complementos, na<br />
qual se concentra o núcleo proposicional, e uma estrutura<br />
orientada para o discurso, constituída por expressões de monitoramento<br />
da interlocução e do próprio texto que está sendo<br />
produzido. Observe, neste caso, o uso do recurso epilingüístico<br />
quer dizer.<br />
Por outras palavras, identificamos na oração escrita<br />
uma só estrutura, a estrutura sintática, que poderia ser assim<br />
representada:<br />
O –-> S V O.<br />
Já na língua falada essa estrutura de base vem permeada<br />
por diferentes elementos, que constituem a estrutura<br />
discursiva da oração. Para representar as duas estruturas, Tarallo-Kato<br />
et al. 40 assim representaram a oração na língua<br />
falada:<br />
O –-> [...Tópico (Sujeito... Verbo... Complemento 1...<br />
Complemento 2)... Antitópico].<br />
Nesta representação, os termos entre parênteses constituem<br />
a estrutura sintática. O tópico, o antitópico e as reticências,<br />
enfeixados pelos colchetes, constituem a estrutura<br />
discursiva. Através das reticências, os autores indicaram os<br />
espaços que podem ser preenchidos por expressões discursivas<br />
de variada ordem, algumas das quais aqui exemplificadas.<br />
À primeira vista, a oração na língua falada é uma verdadeira<br />
bagunça. Mas basta verificar que as expressões discursivas<br />
têm uma distribuição previsível, isto é, algumas só<br />
podem vir no começo da oração, enquanto outras aparecem<br />
apenas no fim, para concluir que as mesmas regularidades<br />
40 TARALLO-KATO et al., 1990.<br />
66 <strong>impulso</strong> nº 27
identificadas na estrutura sintática são encontradas igualmente<br />
na estrutura discursiva. Tanto isso é verdade, que você<br />
nunca diria:<br />
(4 a) * tá? tá entendendo? televisão... eu... assim... um<br />
Diretor lá da Folha me chamou... e então... quer dizer...<br />
me incumbiu de escrever sobre televisão... bom...<br />
olha Francisca...<br />
Em suma, enquanto na língua escrita predomina<br />
quase categoricamente uma estrutura – a sintática –, na língua<br />
falada precisamos operar com duas estruturas – a sintática<br />
e a discursiva –, dadas as respectivas condições de produção.<br />
Onde está, então, a pobreza da língua falada?<br />
Estas rápidas observações mostram que a língua falada<br />
é mais complexa do que a língua escrita. Na escrita, não precisamos<br />
monitorar a interação, podemos voltar atrás e corrigir<br />
o que não saiu bem, e com isso acabamos por produzir uma<br />
linguagem pasteurizada. Por fala, ao contrário, diferentes processos<br />
constitutivos se cruzam, exigindo um investimento muito<br />
maior, de que resulta uma linguagem mais complexa.<br />
Muito mais poderia ser dito a respeito das complexidades<br />
do oral. O PGPF produziu mais de duas centenas de ensaios,<br />
além de diversas dissertações e teses. Na falta de tempo<br />
e espaço, convido os interessados à leitura desses trabalhos, e<br />
à reflexão sobre eles. Sobretudo, peço que desde logo tirem da<br />
cabeça esta história da pobreza da língua falada. A riqueza da<br />
língua falada faz dela um grande assunto para a sala de aula.<br />
Por que, então, não se insere a consideração do oral em nossas<br />
práticas escolares?<br />
41 CASTILHO, 1998a.<br />
LÍNGUA FALADA E ENSINO<br />
Publiquei em 1998 um livrinho intitulado A Língua<br />
Falada no Ensino de Português. 41 Sustento ali que, antes<br />
de mais nada, está na hora de alterar as relações professor/<br />
aluno em sala de aula.<br />
Até aqui, temos considerado bom o professor que cumpre<br />
programa que ele não preparou, pois lhe foi imposto pela<br />
Secretaria da Educação, dá as provas e avalia os alunos segundo<br />
parâmetros que podem não coincidir com as expectativas<br />
destes. Por outras palavras, esse bom professor leva a seus<br />
alunos soluções a problemas que nem um deles formulou! Estranho,<br />
não? Depois disso tudo ainda ficamos espantados pelo<br />
fato dos alunos não aprenderem a gramática de jeito nenhum.<br />
Então, tome aulas de reforço, ou tome reprovação!<br />
Creio que uma razão muito singela está por trás desse<br />
malogro. Quero insistir neste ponto: são dadas aos alunos<br />
respostas a perguntas que eles não formularam. Não havendo<br />
curiosidade, não há ciência, não há aprendizado.<br />
Por outro lado, nesta época da mídia e da internet, a<br />
informação corre solta por aí. A escola, classicamente depositária<br />
da informação, ficou livre da tarefa de sua difusão. Pode,<br />
agora, dedicar-se a uma tarefa mais importante, a da reflexão.<br />
Vamos substituir as aulas expositivas pelas aulas-projetinhos-de-pesquisa.<br />
Deixemos de lado as “aulas-revelação”,<br />
instalando em seu lugar as “aulas-indagação”. Que a<br />
escola desista de sua vocação para Moisés, desça do monte<br />
Sinai, e vá falar com as crianças sobre coisas deste mundo.<br />
Em meu livro, indico como as modorrentas aulas de gramática<br />
podem transformar-se no lugar de descoberta, no lugar<br />
da busca de respostas a questões formuladas a partir da observação<br />
do velho e bom ato de conversar. Da conversação,<br />
partiremos para o estudo da organização textual. Do texto,<br />
chegaremos à estrutura da oração, que é muito mais o resultado<br />
de ações verbais de indivíduos localizados em situações<br />
concretas de fala, do que um objeto autônomo, dependurado<br />
diante de nosso nariz. Só mesmo a escolarização da<br />
reflexão gramatical produziu essa redução epistemológica,<br />
de que logo resultaram outras reduções, como, por exemplo,<br />
dizer que a língua falada é pobre, e a língua escrita, rica.<br />
CONCLUSÕES<br />
Neste trabalho, relatei os estudos sobre a língua falada<br />
desenvolvidos no Brasil, comentei uma particularidade da<br />
sintaxe do oral e defendi a incorporação da língua falada em<br />
nossas salas de aula. É evidente que não estou propondo a<br />
exclusão da língua escrita!<br />
Simplesmente, estou sugerindo que a escola imite a<br />
vida: primeiro aprendemos a falar, depois aprendemos a escrever.<br />
Que nas reflexões escolares sobre nossa língua, acompanhemos<br />
esse ritmo, deixando de lado uma tola supervalorização<br />
do escrito sobre o oral.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 67
Referências Bibliográficas<br />
ABAURRE, M.B.M. & RODRIGUES, Â.C.S. (orgs.). Gramática do Português Falado. Campinas: Unicamp, vol. 8. [No prelo].<br />
ALKMIN, T. (org.). Para a História do Português Brasileiro. São Paulo: Humanitas, vol. 3. [No prelo].<br />
ANDRADE, M.L.V. Digressão: uma estratégia na condução do jogo textual-interativo. São Paulo: USP, 1995. [Tese de doutorado].<br />
BARROS, D.L.P. de. Procedimentos de reformulação: a correção. In: PRETI, D. (org.). Análises de Textos Orais. São Paulo:<br />
FFLCH/USP. 1993.<br />
BAXTER, A.N. & LUCCHESI, D. Un paso más hacia la definición del pasado criollo del dialecto afro-brasileño de Helvécia<br />
(Bahia). In: ZIMMERMANN, K. Lenguas Criollas de Base Lexical Española y Portuguesa. Frankfurt am Main/Madrid:<br />
Vervuert/Ibero-americana, 1999.<br />
BAZZANELLA, C. Le Facce del Parlare. Un approccio pragmatico all’italiano parlato. Firenze: La Nuova Italia, 1994.<br />
BECHARA, E. Ensino de Gramática. Opressão? Liberdade? São Paulo: Ática, 1985.<br />
BESSA NETO, R.S. A Repetição Lexical em Textos Narrativos Orais e Escritos. Belo Horizonte: UFMG, 1991. [Dissertação de mestrado].<br />
BLANC, M. & BIGGS, P. L’enquête socio-linguistique sur le français parlé à Orléans. In: Le Français dans le Monde, Aix-en-<br />
Provence, (85): 16-<strong>25</strong>, 1971.<br />
BLANCHE-BENVENISTE, C. Le Français parlé: études grammaticales. Paris: CNRS, 1990a.<br />
_________. Répetitions lexicales. In: Le Français parlé: études grammaticales. Paris: CNRS, pp. 176-180, 1990b.<br />
_________. La dénomination dans le français parlé: une interprétation pour les répétitions et les hésitations. In: Recherches<br />
sur le Français Parlé, Aix-en-Provence, (6): 109-130, 1985.<br />
BLANCHE-BENVENISTE, C. & JEANJEAN, C. Le Français Parlé. Transcription & édition. Paris: INALF/Didier Érudition, 1987.<br />
BLANCHE-BENVENISTE, C. et al. Des grilles pour le français parlé. In: Recherches Sur le Français Parlé, Aix-en-Provence, (2):<br />
163-205, 1979.<br />
BRAGA, M.L. A Repetição na Língua Falada. 1990. [Inédito].<br />
CALLOU, D.I. (org.). A Linguagem Falada Culta na Cidade do Rio de Janeiro. Materiais para seu estudo. Rio de Janeiro: UFRJ/<br />
FJB, 1992, vol. 1, Elocuções formais.<br />
CALLOU, D.I & LOPES, C.R. (orgs.). A Linguagem Falada Culta na Cidade do Rio de Janeiro. Materiais para seu estudo.Rio de<br />
Janeiro: UFRJ/CAPES, 1993, vol. 2, Diálogo entre informante e documentador.<br />
_________. A Linguagem Falada Culta na Cidade do Rio de Janeiro. Materiais para seu estudo.Rio de Janeiro: UFRJ/CAPES,<br />
1994, vol. 3, Diálogos entre dois informantes.<br />
CALLOU, D.I. et al. Topicalização e deslocamento à esquerda: sintaxe e prosódia. In: CASTILHO, A.T. de (org.), 1993, pp.<br />
315-362.<br />
_________. Preenchimentos em fronteiras de constituintes: orações subordinadas. In: CASTILHO, A.T. de. & BASÍLIO, M.<br />
(orgs.), 1996, pp. 169-192.<br />
CASTILHO, A.T. de. El proyecto de estudio coordinado de la norma culta. Formalismo y semanticismo en la sintaxis verbal.<br />
In: SOLÁ, D.F. Language in the Americas. Proceedings of the Ninth PILEI Symposium. Ithaca: Cornell University,<br />
1984, pp. 161-165.<br />
_________. O português culto falado no Brasil. História do Projeto NURC/SP. In: PRETI, D. & URBANO, H. (orgs.). A Linguagem<br />
Falada Culta na Cidade de São Paulo. São Paulo: T.A. Queiroz/Fapesp, 1990, pp. 141-202.<br />
_________. Para o estudo das unidades discursivas do português falado. In: CASTILHO, A.T. de (org.), 1989, pp. 249-280.<br />
_________. Da Análise da conversação para a análise gramatical. In: Estudos Lingüísticos, São Paulo, (18): 14-20, 1989.<br />
68 <strong>impulso</strong> nº 27
_________. Conversação e gramática. Relatório submetido à Fapesp e ao DLCV/USP, 1995. [Manuscrito].<br />
_________. A gramaticalização. In: Estudos Lingüísticos e Literários, São Paulo, (19): <strong>25</strong>-64, 1997a.<br />
_________. Para uma sintaxe da repetição. Língua falada e gramaticalização. In: Língua e Literatura, São Paulo, (23): 293-<br />
330, 1997b.<br />
_________. Língua falada e gramaticalização: o caso de mas. In: Filologia e Lingüística Portuguesa, São Paulo, (1): 107-120,<br />
1997c.<br />
_________. A Língua Falada no Ensino de Português. São Paulo: Contexto, 1998.<br />
_________ (org.). Português Culto Falado no Brasil. Campinas: Unicamp, 1989.<br />
_________ (org.).[1990] Gramática do Português Falado. A ordem. 3.ª ed., Campinas: Unicamp/Fapesp, 1997, vol. 1.<br />
_________ (org.). Gramática do Português Falado. As Abordagens. Campinas: Unicamp/Fapesp, 1993, vol. 3.<br />
_________ (org.). Para a História do Português Brasileiro. Primeiras idéias. São Paulo: Humanitas / Fapesp, 1998, vol. 1.<br />
CASTILHO, A.T. de. & BASÍLIO, M. (orgs.). Gramática do Português Falado. Estudos descritivos. Campinas: Unicamp/Fapesp,<br />
1996, vol. 4.<br />
CASTILHO, A.T. & PRETI, D. (orgs.). A Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo. Materiais para seu estudo. São Paulo:<br />
TAQ/Fapesp, 1986, vol. 1, Elocuções formais.<br />
_________. A Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo. Materiais para seu estudo.São Paulo: TAQ/Fapesp, 1987, vol.<br />
2, Diálogos entre dois informantes.<br />
CASTRO, V.S. Um caso de repetição no português. In: Cadernos de Estudos Lingüísticos, Campinas, (27): 85-101, 1994.<br />
CUESTIONARIO. Cuestionario para el Estudio Coordinado de la Norma Lingüística Culta. Madrid: Pilei/Csic, 1973, vol. 1,<br />
Fonética y fonología.<br />
_________. Cuestionario para el Estudio Coordinado de la Norma Lingüística Culta. T. 1, Madrid: Pilei/Csic, 1972, vol. 2, Morfosintaxis.<br />
_________. Cuestionario para el Estudio Coordinado de la Norma Lingüística Culta. Madrid: Pilei/Csic, 1971, vol. 3, Léxico.<br />
CUNHA, C. & CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.<br />
DE MAURO, T. Come Parlano gli Italiani. Firenze: La Nuova Italia, 1994.<br />
DIAS DE MORAES, L.C. Nexos de Coordenação na Fala Urbana Culta de São Paulo. São Paulo: USP, 1987. [Tese de doutoramento].<br />
DILLINGER, M. et al. Padrões de complementação no português falado. In: KATO, M. (org.), 1996, pp. 275-326.<br />
FÁVERO, L.L. et al. Estratégias de construção do texto falado: a correção. In: KATO, M. (org.), 1996, pp. 355-366.<br />
FORD, C. & THOMPSON, S. Interactional units in conversation: syntactic, intonational, and pragmatic resources for the<br />
management of turns. In: OCHS, E. et al. Interaction and Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 1996,<br />
pp. 134-184.<br />
FRANCHI, C. Hipóteses para uma Teoria Funcional da Linguagem. Campinas: Unicamp, 1976. [Tese de doutoramento,<br />
mimeo].<br />
_________. Concepção de E-Gramática. Departamento de Lingüística/Unicamp: conferência, 1996. [Inédita].<br />
HILGERT, J.G. A Paráfrase: um procedimento de constituição do diálogo. São Paulo: USP, 1989. [Tese de doutoramento,<br />
mimeo].<br />
HILGERT, J.G. (org.). A Linguagem Falada Culta na Cidade de Porto Alegre. Passo Fundo/Porto Alegre: EDIUPF/UFRGS, 1997,<br />
vol. 1, Diálogos entre informante e documentador.<br />
ILARI, R. A Lingüística e o Ensino da Língua Portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 1985.<br />
ILARI, R. et al. Considerações sobre a posição dos advérbios. In: CASTILHO, A.T. (org.), 1990, pp. 63-142.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 69
_________. Os pronomes pessoais do português falado: roteiro para a análise. In: CASTILHO, A.T. de. & BASILIO, M. (orgs.),<br />
1996, pp. 79-168.<br />
ILARI, R. (org.). Gramática do Português Falado. Níveis de análise lingüística. Campinas: Unicamp, 1992, vol. 2.<br />
JUBRAN, C. et al. Organização tópica da conversação. In: ILARI, R. (org.), 1992, pp. 357-440.<br />
JUBRAN, C. Inserção: um fenômeno de descontinuidade na organização tópica. In: CASTILHO, A.T. de (org.), 1993, pp. 61-<br />
74.<br />
_________. Parênteses: propriedades identificadoras. In: CASTILHO, A.T. de. & BASÍLIO, M. (orgs.), 1996, pp. 411-422.<br />
_________. Para uma descrição textual-interativa das funções da parentização. In: KATO, M. (org.), 1996, pp. 339-354.<br />
KATO, M. (org.). Gramática do Português Falado. Convergências. Campinas: Unicamp/Fapesp, 1996, vol. 5.<br />
KATO, M. et al. Preenchedores sintáticos nas fronteiras de constituintes. In: CASTILHO, A.T. de (org.), 1993, pp. 235-272.<br />
_________. Padrões de predicação no português falado no Brasil. In: KATO, M. (org.), 1996, pp. 201-274.<br />
KATO, M. & NASCIMENTO, M. do. Preenchedores aspectuais e o fenômeno de flutuação dos quantificadores. In: CASTI-<br />
LHO, A.T. de. & BASÍLIO, M. (orgs.), 1996, pp. 245-272.<br />
_________. Adjuntos sintáticos e preenchedores discursivos: uma avaliação comparativa. In: KATO, M. (org.), 1996, pp.<br />
187-200.<br />
KOCH, I.G.V. Reflexões Sobre a Repetição, 1990. [Mimeo].<br />
_________. A Repetição Como um Mecanismo Estruturador do Texto Falado, 1992. [Mimeo].<br />
_________ (org.). Gramática do Português Falado. Campinas: Fapesp/Unicamp, 1996, vol. 6.<br />
KOCH, I.G.V. et al. Aspectos do processamento do fluxo de informação no discurso oral dialogado. In: CASTILHO, A.T. de<br />
(org.), 1990, pp. 143-184.<br />
KOCH, I.G.V. & SOUZA E SILVA, M.C.P. de. Atividades de composição do texto falado: a elocução formal. In: CASTILHO, A.T.<br />
de. & BASÍLIO, M. (orgs.), 1996, pp. 379-410.<br />
LABOV, W. The Social Stratification of English in New York City. Washington: Center for Applied Linguistics, 1996.<br />
LEITE, Y.F. et al. Tópicos e adjuntos. In: CASTILHO, A.T. de. & BASÍLIO, M. (orgs.), 1996, pp. 321-340.<br />
LOPE-BLANCH, J.M. Proyecto de estudio del habla culta de las principales ciudades de Hispanoamérica. In: El Simposio de<br />
Bloomington. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1967, pp. <strong>25</strong>5-266.<br />
_________. El Estudio del Español Hablado. Historia de un proyecto. México: UNAM, 1986.<br />
LUFT, C.P. Língua e Liberdade. Porto Alegre: L&PM, 1985.<br />
MARCUSCHI, L.A. Análise da Conversação. São Paulo: Ática, 1986.<br />
_________. Análise da conversação e análise gramatical. In: Boletim da ABRALIN, Campinas, 10: 11-34, 1991.<br />
_________. A Repetição na língua falada. Formas e funções. Recife: UFPE, 1992. [Tese para concurso de professor titular].<br />
_________. Fala e Escrita no Continuum Tipológico. Recife: UFPE, 1997.[Inédito]<br />
MARQUES, M.H.D. O Vocabulário da Fala Carioca. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 1996, vol. 1. Ordem de freqüência<br />
decrescente.<br />
_________. O Vocabulário da Fala Carioca. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 1996, vol. 2. Ordem alfabética, Parte I<br />
(A-H).<br />
_________. O Vocabulário da Fala Carioca. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 1996, vol. 2. Ordem alfabética, Parte II<br />
(I-Z).<br />
_________. O Vocabulário da Fala Carioca. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 1996, vol. 3. Substantivos. Ordem de<br />
freqüência decrescente<br />
70 <strong>impulso</strong> nº 27
_________. O Vocabulário da Fala Carioca.. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 1996, vol. 4. Verbos, adjetivos, unidades<br />
em –mente. Nomes próprios, marcas e siglas. Ordem de freqüência decrescente.<br />
_________. O Vocabulário da Fala Carioca. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 1996, vol. 5. Substantivos. Ordem alfabética<br />
_________. O Vocabulário da Fala Carioca. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 1996, vol. 6. Verbos, adjetivos, unidades<br />
em –mente. Nomes próprios, marcas e siglas. Ordem alfabética.<br />
_________. O Vocabulário da Fala Carioca. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 1996, vol. 7. Instrumentos Gramaticais.<br />
_________. O Vocabulário da Fala Carioca. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 1996, vol. 8. Introdução: histórico,<br />
dados quantitativos e avaliação geral dos resultados.<br />
MATTOS E SILVA, R.V. (org.). Para a História do Português Brasileiros. Primeiros estudos. São Paulo: Humanitas, 1999, vol. 2.<br />
MENON, O.P.S. Analyse Sociolinguistique de L'indétermination du Sujet dans le Portugais Parlé au Brèsil a Partir des Donnés du<br />
NURC/SP. Paris: Université de Paris VII, 1994. [Thèse de doctorat].<br />
MIRA MATEUS, M.H. et al. Gramática da Língua Portuguesa. 2.a ed., Lisboa: Caminho, 1989.<br />
MOINO, R. Preenchimento das fronteiras V...V. In: CASTILHO, A.T. de. & BASÍLIO, M. (orgs.), 1996, pp. 219-244.<br />
MORRIS, C.W. Foundations of the Theory of Signs. Chicago: The University of Chicago Press, 1938.<br />
MOTTA, J. & ROLLEMBERG, V. (orgs.) A Linguagem Falada Culta na Cidade de Salvador. Materiais para seu estudo. Salvador:<br />
Instituto de Letras/UFBA, 1994, vol. 1, Diálogos entre informante e documentador.<br />
NASCIMENTO, M.F.B. do. Contribuição para um Dicionário de Verbos do Português. Lisboa: Centro de Lingüística/Universidade<br />
de Lisboa, 1987.<br />
NASCIMENTO, M. do. Notas sobre as atividades do Grupo de Sintaxe II. In: CASTILHO, A.T. de (org.), 1993 (a), pp. 433-438.<br />
_________. Gramática do português falado: articulação teórica. Texto apresentado ao Centro de Lingüística/Universidade<br />
de Lisboa, 1993 (b).<br />
NEVES, M.H. de M. Estudo da estrutura argumental dos nomes. In: KATO, M. (org.), 1996, pp. 119-154.<br />
_________ (org.). Gramática do Português Falado. São Paulo/Campinas: Humanitas/Unicamp, 1999, vol. 7.<br />
NEVES, M.H. de M. & BRAGA, M.L. Padrões de repetição na articulação de orações, comunicação ao XI Congresso Internacional<br />
da ALFAL, 1996. [Mimeo].<br />
OLIVEIRA, M.R. de. Repetição em Diálogos. Análise funcional da conversação. Niterói: Univ. Fed. Fluminense, 1998.<br />
ONO, T. & THOMPSON, S. What can conversation tell us about Syntax? In: DAVIS, P.E. Descriptive and Theoretical Modes in<br />
the Alternative Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 1993.<br />
PERINI, M.A. A Função da repetição no reconhecimento de sentenças. In: Ensaios de Lingüística, Belo Horizonte, (3): 111-<br />
123, 1980.<br />
_________. Para uma Nova Gramática do Português. São Paulo: Ática, 1985.<br />
PRETI, D. (org.). Análise de Textos Orais. 2.ª ed., São Paulo: FFLCH/USP, 1995.<br />
_________. O Discurso Oral Culto. São Paulo: Humanitas Publicações FFLCH/USP, 1997.<br />
_________. Estudos de Língua Falada.. Variações e confrontos. São Paulo: Humanitas, 1998.<br />
PRETI, D. & URBANO, H. (orgs.). A Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo. Materiais para seu estudo. São Paulo:<br />
TAQ/Fapesp, 1988, vol. 3, Diálogos entre o informante e o documentador.<br />
_________. A Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo. São Paulo: TAQ/Fapesp, 1990, vol. 4, Estudos.<br />
RAMOS, J. Hipóteses para uma taxonomia das repetições no estilo falado. Belo Horizonte: UFMG, 1984. [Tese de mestrado,<br />
mimeo].<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 71
RISSO, M.S. ‘Agora... o que eu acho é o seguinte’: um aspecto da articulação do discurso no português culto falado. In:<br />
CASTILHO, A.T. de (org.), 1993, pp. 31-60.<br />
_________. O articulador discursivo ‘então’. In: CASTILHO, A.T. de. & BASÍLIO, M. (orgs.), 1996, pp. 423-452.<br />
ROCHA, M.F. Adjuntos sem cabeça no português do Brasil. In: CASTILHO, A.T. de & BASÍLIO, M. (orgs.), 1996, pp. 341-378.<br />
RODRIGUES, A.D. Línguas Brasileiras. Para o conhecimento das línguas indígenas. São Paulo: Loyola, 1986.<br />
ROSSI, N. El Proyecto de Estudio del Habla Culta y su ejecución en el dominio de la lengua portuguesa. In: El Simposio de<br />
México. México: UNAM, 1969, pp. 248-<strong>25</strong>4.<br />
SÁ, M.P.M. et al. A Linguagem Falada Culta na Cidade do Recife. Recife: UFPE, Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística,<br />
1996, vol. 1. Diálogos entre informante e documentador.<br />
SACKS, H. et al. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. In: Language, Baltimore, 50 (4):<br />
696-735,1974.<br />
SHUY, R. et al. Field Techniques in an Urban Language Study. Washington: Center for Applied Linguistics, 1968.<br />
SILVA, G.M. de. O. et al. Preenchimento discursivo em fronteiras sintáticas. In: CASTILHO, A.T. de. & BASÍLIO, M. (orgs.),<br />
1996, pp. 193-218.<br />
SORNICOLA, R. Sul Parlato. Bologna: II Mulino, 1981.<br />
_________. Quattro dimensioni nello studio del parlato. In: DE MAURO, T., 1994, pp. 111-130.<br />
SOUZA E SILVA, M.C.P. de. & KOCH, I.G.V. Estratégias de desaceleração do texto falado. In: KATO, M. (org.), 1996, pp. 327-<br />
338.<br />
TARALLO, F. Preenchimentos em fronteira de constituintes II: uma questão de variação interna, externa, ou um caso de<br />
variação individual? In: CASTILHO, A.T. de (org.), 1993, pp. 273-314.<br />
TARALLO, F. et al. Rupturas na ordem de adjacência canônica no Português Falado. In: CASTILHO, A.T. de (org.), 1990, pp.<br />
29-62.<br />
TARALLO, F. & KATO, M. Preenchimentos em fronteiras de constituintes. In: ILARI, R. (org.), 1992, pp. 315-356.<br />
VOGHERA, M. Sintassi e Intonazione nell’italiano Parlato. Bologna: II Mulino, 1992.<br />
72 <strong>impulso</strong> nº 27
TERRA BRASILIS:<br />
do paraíso de deus(es)<br />
e de gentes (in)crédulas<br />
ou do lugar d’onde<br />
“não existe pecado<br />
do lado debaixo<br />
do equador”<br />
THE LAND BRASILIS: the paradise of the god(s)<br />
and (in)credulous people or the place where<br />
“there is no sin below the equator”<br />
EDIVALDO JOSÉ BORTOLETO<br />
Professor de Filosofia da UNIMEP,<br />
do Colégio Piracicabano e do Curso<br />
de Vida Religiosa dos Frades<br />
Capuchinhos em Piraciccaba.<br />
Doutorando em Comunicação e<br />
Semiótica pela PUC-SP<br />
ejbortol@unimep.br<br />
RESUMO Este ensaio tem por objetivo pensar a religião no contexto dos 500 anos de Brasil. No entanto, o fenômeno<br />
do “descobrimento” do Brasil não pode ser pensado em separado do “descobrimento” do Novo Mundo, pois são momentos<br />
de um mesmo fenômeno: o “encobrimento” do outro enquanto outro. Conquista e evangelização são portadoras<br />
de lógicas eurocêntricas que, em última instância, dizimaram povos e culturas eminentemente complexas e<br />
semioticamente proliferantes. É no contexto global dessa discussão que se quer colocar em questão, então, a religião<br />
no Brasil, sempre conectada com outros fenômenos da cultura e da história.<br />
Palavras-chave descobrimento/encobrimento – eurocentrismo – religião – filosofia – semiótica – América Latina<br />
– Caribe.<br />
ABSTRACT The objective of this essay is to consider religion within the context of the 500 years of Brazil. However,<br />
the phenomenon of the “discovery” of Brazil cannot be considered separately from the “discovery” of the New World,<br />
since they are aspects of the same phenomenon: the “covering” of the other as other. The conquest and evangelization<br />
brought a Eurocentric logic that, in the end, greatly reduced the eminently complex and semiotically proliferate peoples<br />
and cultures. It is within the global context of this discussion that the question of religion in Brazil is placed,<br />
always connected to other phenomena of culture and history.<br />
Keywords discovery/covering – eurocentrism – religion – philosophy – semiotics – Latin America – Caribbean.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 73
Em nome do Deus de todos os nome – Javé<br />
Obatalá / Olorum / Oió<br />
NASCIMENTO/CASALDÁLIGA/TIERRA<br />
Sê plural como o universo!<br />
FERNANDO PESSOA<br />
Como memorial às 115 milhões de gentes crédulas que sofreram o primeiro<br />
holocausto da espécie humana.<br />
O sentido<br />
destes 500 anos:<br />
descoberta, invasão,<br />
evangelização,<br />
encobrimento do<br />
outro?<br />
EM TORNO DO DESCOBRIMENTO/ENCOBRIMENTO<br />
No ano de 1992 comemoraram-se os 500 anos de América. Inúmeros<br />
foram os encontros, debates e simpósios, na ordem do dia<br />
realizados, tendo por objetivo celebrar “festeiramente” ou refletir<br />
mais criticamente – não só na América e Caribe, como também<br />
na Europa, especialmente Espanha e Portugal – o sentido destes<br />
500 anos: descoberta, invasão, evangelização, encobrimento do<br />
outro? 1<br />
Oito anos depois, está-se a comemorar os 500 anos de Brasil. Inúmeros, também,<br />
estão sendo os eventos comemorativos da grande façanha histórica. Se bem me recordo,<br />
as comemorações dos 500 anos de América não marcaram tanto, como estão a marcar os<br />
500 anos de Brasil. No entanto, o processo de encobrimento do outro é o mesmo, pois não<br />
podemos nos pensar separadamente do continente. O continente americano foi a primeira<br />
“periferia” da Europa moderna e marcou o “processo originário da constituição da subjetividade<br />
moderna”. Como diz Enrique Dussel:<br />
Fomos a primeira “periferia” da Europa moderna; quer dizer, sofremos globalmente desde<br />
nossa origem um processo constitutivo de “modernização” (embora naquele tempo<br />
não se usasse esta palavra) que depois se aplicará à África e Ásia. Embora nosso continente<br />
já fosse conhecido – como prova o mapa múndi de Henricus Martellus em Roma em<br />
1489 –, só a Espanha, graças à habilidade política do rei Fernando de Aragão e à ousadia<br />
de Colombo, tentou formal e publicamente, com os correspondentes direitos outorgados (e<br />
1 A questão do “encobrimento” aparece tanto em Leopoldo Zea como em Enrique Dussel. Zea afirma: “(...)<br />
Pero hablamos más de encubrimiento que de descubrimiento, ya que tanto España como Europa encontraron<br />
en este nuestro Continente lo que querían encontrar; descobrieron lo que querían descubrir. Ahora toca<br />
a la inteligencia de esta región realizar su próprio descubrimiento, partiendo precisamente del encubrimiento<br />
que significó la hazaña del encuentro intercontinental, la conquista y colonización del nuevo continente.<br />
Hazaña que España inicia en el siglo XVI y es continuada por la Europa occidental en el siglo XVII,<br />
dándose origen a las dos Américas que vienen enfrentadas en lucha dialéctica para imponer hegemonías o<br />
para librarse de ellas” (1988, pp. 8-9). Já para Dussel, a América “foi a primeira região da Europa a ter a ‘experiência’<br />
originária de constituir o Outro como dominado e sob o controle do conquistador, do domínio do<br />
centro sobre a periferia. A Europa se constitui como ‘centro’ do mundo (em seu sentido planetário). É o<br />
nascimento da Modernidade e a origem de seu ‘Mito’!” (1993, p. 15).<br />
74 <strong>impulso</strong> nº 27
em franca competição com Portugal), lançar-se ao<br />
Atlântico para chegar à Índia. Este processo não é anedótico<br />
ou simplesmente histórico: é, além disso, o processo<br />
originário da constituição da subjetividade moderna.<br />
2<br />
O “descobrimento” da América e o do Brasil são momentos<br />
de um mesmo fenômeno, portanto. Assim, ao se falar<br />
de Brasil no momento em que se está a comemorar os 500 anos<br />
de “descobrimento”, faz-se necessário um pensamento mais<br />
alargado, pois as realidades no continente latino-americano e<br />
caribenho, mais do que díspares, são realidades complementares,<br />
mesmo quando falamos de uma América hispânica e de<br />
uma América lusa.<br />
Aliás, aqui reside um sério problema. É como se o<br />
Brasil, à maneira de Portugal, desse as costas para o resto do<br />
continente, da mesma forma como o faz Portugal com o<br />
continente europeu. Nós brasileiros não nos sentimos fazendo<br />
parte do continente latino-americano, grosso modo. O<br />
mesmo sucede com os portugueses em relação à Europa.<br />
Assim, pensar a questão do fenômeno religioso – bem<br />
como outros fenômenos – no Brasil, neste contexto de comemoração<br />
dos 500 anos, implica necessariamente pensá-lo<br />
conectado ao contexto da América Latina e do Caribe. Não<br />
podemos mais nos ver separados desse grande e complexo<br />
semiótico que já é o nosso continente. Aqui existem, então,<br />
questões e razões de ordem ontológica, epistemológica, metodológica,<br />
cultural, ética, estética, política e, por que não dizer,<br />
revolucionário-subversiva também.<br />
O continente, em sua complexidade cultural, foi encoberto<br />
quando para cá acorriam os primeiros europeus em<br />
suas naus e caravelas. Esta tese de Enrique Dussel será assumida<br />
por mim ao longo e ao largo deste breve ensaio, que<br />
tem por objetivo pensar o fenômeno religioso no Brasil. Outra<br />
tese, “desconhecida” por nós e pela tradição cultural européia<br />
moderna, é a de que estamos no “processo originário da<br />
constituição da subjetividade moderna”, também no dizer de<br />
Dussel.<br />
Estamos na antecâmara de um “novo horizonte”. No<br />
contínuo e descontínuo da modernidade, o terceiro milênio já<br />
2 DUSSEL, 1993, p. 16.<br />
desponta, embora não tenha mostrado a cabeça por cima do<br />
muro do horizonte e somente vêem-se-lhe as pontas dos seus<br />
dedos. Parece-me que vivemos pressionados pelo tempo, pois<br />
se os 500 anos de América e os 500 anos de Brasil nos remetem<br />
ao passado, por outro lado o advento do terceiro milênio nos<br />
arremete ao futuro.<br />
Passado e futuro, assim, nos colocam num presente<br />
crucial. Notadamente para nós da Latinoamérica e do Caribe.<br />
Num estado de tensão existencial, de insatisfação daquilo<br />
que fomos e pouco sabemos e daquilo que seremos – e sobre<br />
o que precariamente ou quase nada sabemos –, três atitudes<br />
são possíveis. A primeira, a de indiferença. A segunda, a de<br />
esquivar-se. Já a terceira – em se permanecendo na tensão<br />
existencial, na insatisfação, como momento de negatividade<br />
–, a de se suportar e manter-se no sentido da afirmação: dizer<br />
o ser, tanto em relação ao passado como em relação ao<br />
futuro. Porque, de acordo com José Ortega y Gasset, em seu<br />
prólogo das Lecciones sobre la Filosofía de la Historia<br />
Universal, de Hegel, “lo que vale más en el hombre es sua<br />
capacidad de insatisfacción. Si algo divino posee es, precisamente,<br />
sua divino descontento, espécie de amor sin amado y<br />
como dolor que sentimos en miembros que no tenemos”. 3 E<br />
no dizer também de Hegel: “O Espírito só conquista a sua<br />
verdade com a condição de encontrar-se a si mesmo na devastação<br />
absoluta”. 4<br />
Portanto, a terceira atitude parece ser a que deva ser<br />
escolhida e assumida. Primeiro porque a mais penosa, pois o<br />
assumir a negatividade na sua compreensão aqui acenada<br />
coloca-nos na radicalidade do nada e, depois, porque a mais<br />
libertadora, pois nos coloca na conquista da verdade, ou da<br />
meia-verdade. E em função também desta atitude ser inerente<br />
à exigência do filosofar, do poetar e do acreditar.<br />
Filósofos, poetas, teólogos e místicos, por terem vivido<br />
nesta ambiência radical do nada, “souberam dizer o ser”, o<br />
“absoluto”, o “sagrado”, o “tudo”. Não vão ser “o ser e o nada”<br />
que em última instância caracterizarão o pensamento de<br />
Heidegger? Não vão ser o “nada e tudo” que irão resumir o<br />
pensamento ascético de São João da Cruz? Não vão ser o “ser<br />
3 ORTEGA y GASSET, 1989, p. 15. Lições (HEGEL, 1989) foi publicado<br />
pelos discípulos de Hegel (1770-1831), após sua morte.<br />
4 REALE & ANTISERI, 1991, p. 105.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 75
e não-ser” os pontos-chave da metafísica da alteridade de<br />
Enrique Dussel?<br />
Como veremos mais adiante, a América Latina e o Caribe,<br />
em especial o Brasil, no contexto do continente, é algo de<br />
difícil apreensão. Somente o difícil é estimulante, diz José Lezama<br />
Lima em A Expressão Americana. 5 Sendo ela difícil, já<br />
é portadora de complexidade também. “A complexidade é<br />
uma palavra problema e não uma palavra solução”, afirma<br />
Morin. 6 Portanto, pensar o fenômeno religioso entre tantos<br />
outros – de per si, fenômenos interligados – no contexto dos<br />
500 anos é já algo eminentemente difícil e complexo.<br />
AMÉRICA LATINA E CARIBE:<br />
TEXTUALIDADES COMPLEXAS<br />
E CONTÍGUAS<br />
Mas, afinal, o que é a América Latina e o Caribe?<br />
César Fernándes Moreno começa a introdução do livro<br />
América Latina em sua Literatura com o seguinte trecho<br />
em epígrafe tirado das Lições de Hegel:<br />
Por conseguinte, América é o país do porvir. Em tempos<br />
futuros se evidenciará sua importância histórica,<br />
quem sabe na luta entre América do Norte e América<br />
do Sul... É um país de nostalgia para todos os que estão<br />
enfastiados do museu histórico da Velha Europa... Até<br />
agora o que aqui acontece não é mais do que eco do<br />
Velho Mundo e reflexo de uma vida alheia. Mas como<br />
país do porvir, América não nos interessa, pois o filósofo<br />
não faz profecias. 7<br />
Se o filósofo não faz profecias, como afirma Hegel,<br />
pois a América como “país do porvir” não lhe interessa, é<br />
verdade que hoje, um século e meio depois do dito de Hegel,<br />
a América é totalmente outra.<br />
O que para ele era porvir já é presente para a América;<br />
o continente que era para ele natureza, é história já. Ele<br />
falava de América do Norte e América do Sul: na do<br />
norte situa-se atualmente a nação mais forte do mundo;<br />
a do sul, sob o nome atualizado de América Latina,<br />
5 LIMA, 1988, p. 47.<br />
6 MORIN, s/d, p. 8.<br />
7 MORENO, 1972, p. 15. Cf. também: HEGEL, 1989, p. 177.<br />
representa uma das idéias mais dinâmicas do mundo<br />
atual. Uma série de fatores promoveu-a ao primeiro<br />
plano da expectativa pública: o primeiro, a explosão<br />
demográfica, se se aceitando essa etiqueta tecnológica<br />
aplicada ao fato de alguém nascer; seu crescimento<br />
continental é o maior do mundo: 2,9% anual. Atualmente,<br />
conta com mais de 270 milhões de habitantes,<br />
irregularmente distribuídos em 21 milhões de quilômetros<br />
quadrados. Esta explosão, que se produz no<br />
contexto econômico chamado subdesenvolvimento,<br />
ameaça transformar-se, por sua vez, em explosão política.<br />
Mas o que agora nos interessa especificamente é<br />
que a partir desta cadeia de explosões, ou explosão em<br />
cadeia, a América Latina vai antecipando uma outra: a<br />
cultural. 8<br />
Dado o objetivo deste trabalho, não tem lugar aqui<br />
discutir a América Latina – como o faz César Fernández Moreno<br />
– em seus múltiplos conceitos, como histórico, antropológico,<br />
político e geográfico (ordem geológica). Mas, sim,<br />
reter a idéia de explosão cultural.<br />
A despeito da explosão cultural que é a América Latina<br />
e o Caribe, o próprio conceito de América Latina não<br />
abarca sua complexidade nem sua dificuldade. O conceito é<br />
impreciso, portanto.<br />
A origem da idéia de latinoamérica segue um desenvolvimento<br />
processual nada simples.<br />
Primeiramente, encontramos o nome de Las Índias<br />
no século XVI, presente no imaginário de Colombo, “que desejava<br />
chegar à Ásia de Marco Polo”. Como também um outro<br />
nome para Las Índias no pensamento do historiador e<br />
franciscano do século XVI Gerónimo de Mendieta: El Nuevo<br />
Mundo. E, já na década de 1860, na França de Napoleão III,<br />
quando o economista político de fama Michel Chevalier<br />
(1806-1879) propunha a construção de um canal interoceânico<br />
no Panamá, em 1844, tem-se um outro nome que permanece<br />
até nossos dias: L’Amérique Latine. 9<br />
Dizer a América Latina, para além ou aquém do seu<br />
próprio conceito, é dizê-la não só a partir das questões da ordem<br />
do racial, do lingüístico, do religioso, mas sim enquanto<br />
8 Ibid., pp. 15-16.<br />
9 Cf. PHELAN, 1993, pp. 463-475.<br />
76 <strong>impulso</strong> nº 27
um complexo sim(b)iótico em (e de) te(n)são. Dizendo<br />
d’outra maneira, a América Latina é mestiça, como afirma<br />
José Martí em Nuestra América. 10 Na mestiçagem há<br />
sim(b)iose de raças e interpenetração mental-neuronal. Real<br />
ou metaforicamente, a Europa foi modificada pela América;<br />
a América foi modificada pela Europa.<br />
Portanto, falar em 500 anos de América, em 500 anos<br />
de Brasil – pois o fenômeno do encobrimento é o mesmo –<br />
é falar de algo extremamente grandioso. Por quê? Porque,<br />
como diz Ricardo Vélez Rodrigues, “no dudo en afirmar que<br />
se trata de um hecho de tamaña magnitud, por cuanto es a<br />
partir del descubrimiento del Nuevo Mundo que la humanidad<br />
pasó a tener conciência de su dimensión planetária”. 11<br />
Enrique Dussel, por sua vez, diz que “o descobrimento<br />
da América por espanhóis e portugueses significa uma revolução<br />
geopolítica sem precedentes na história mundial”. 12<br />
Assim, explosão cultural é, no dizer de César Fernándes<br />
Moreno, uma concepção sintética na cultura latinoamericana,<br />
formada por culturas autóctones, culturas européias<br />
descobridoras, cultura africana (através da escravidão)<br />
e, cultura dos imigrantes do século XIX.<br />
A América Latina e o Caribe, enquanto um complexo<br />
sim(b)iótico em (e de) te(n)são, são territórios de linguagens<br />
adquiridas, de linguagens devoradoras e de linguagens nativas.<br />
Portanto, não podemos ter uma leitura con-clusiva da<br />
América Latina e o Caribe, pois esta seria uma compreensão<br />
fechada. Segundo César Fernándes Moreno, “dentro de um<br />
tal complexo de tensões na América Latina, são quase infinitas<br />
as possibilidades de ações e reações e, correlativamente,<br />
a tentação intelectual de diluir seus problemas em outros<br />
próximos ou análogos”. 13 Devemos ter sim uma leitura pluralista<br />
e aberta, portanto.<br />
Uma leitura con-clusiva da América Latina e do Caribe<br />
é, em última instância, portadora de uma linguagem<br />
que se fecha com o poder, cuja pretensão é esgotar o real que<br />
ela é. Como, por exemplo, o Mercosul, que fica circunscrito<br />
10 MARTÍ, 1992, pp. 480-487.<br />
11 RODRIGUES, 1991, vol. 2, p. 80.<br />
12 DUSSEL, 1985, p. 166.<br />
13 MORENO, 1972, p. 18. 14 DUSSEL, 1985, p. 8.<br />
tão-somente às questões de ordem econômico-jurídica. Uma<br />
linguagem assim parece ser de uma prepotência imbecil,<br />
portanto. Fenômenos culturais, como o religioso, também<br />
comumente, grosso modo, são tratados dessa maneira, notadamente<br />
em ambientes acadêmicos, nos quais a assepsia<br />
do conhecimento se faz presente de maneira petulante.<br />
É sabido que o mundo ocidental é pensado hierarquicamente,<br />
e não anarquicamente, e, em que pese que já se tinha<br />
notícias da América bem antes de ser “descoberta”, ela<br />
nasce, portanto, já moderna. Como já sinalizado, esta é a tese<br />
central de Dussel em 1492 – O Encobrimento do Outro, em<br />
que dialoga com toda a tradição do pensamento filosófico do<br />
ocidente moderno e pós-moderno, como Edmund O’Gorman,<br />
Alberto Caturelli, Richard Rorty, Karl-Otto Apel e Jürgen<br />
Habermas.<br />
A tese de Dussel passa pelas diveras figuras (gestalt)<br />
de leituras da América Latina, como “invenção”, “descobrimento”,<br />
“conquista” e “colonização”, revelando os seus conteúdos<br />
teóricos, espaciais e diacrônicos distintos, mostrando<br />
como o Outro não foi descoberto como Outro, mas sim como<br />
o “si-mesmo” e, portanto, afirmando que o Outro foi negado<br />
como “encobrimento”. Essa tese de Dussel já teria anteriormente<br />
influenciado a obra de Tzvetan Todorov, A Conquista<br />
da América – a questão do outro.<br />
Outra tese de Dussel é a sinalização de “uma ‘teoria’<br />
ou ‘filosofia do diálogo’ – como parte de uma ‘filosofia da libertação’<br />
do oprimido, do incomunicado, do excluído, do<br />
Outro”. 14<br />
O pensamento de Enrique Dussel tem a América Latina<br />
e o Caribe como horizonte, o que significa uma ruptura<br />
com o pensamento eurocêntrico, que, segundo sua tese, inicia-se<br />
a partir de 1492, quando a Europa-centro traz para<br />
sua órbita econômica, política e cultural as outras três partes<br />
do planeta, ou seja, a América, a África e a Ásia. Isso pode ser<br />
melhor precisado na evolução do pensamento moderno em<br />
termos teológico, científico e filosófico na forma de tecer os<br />
dizeres sobre o Novo Mundo. É o que mais adiante veremos.<br />
Ao introduzir a questão central do outro e da escuta<br />
do outro, Dussel já está postulando a questão da ética – fi-<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 77
losofia primeira do seu discurso filosófico. Nem uma ética<br />
eurocêntrica nem helenocêntrica, pois para ele é necessário<br />
nos descentrar dos provincianismos ocidentalistas e universalistas.<br />
Assim, ao colocar a questão da escuta do outro Dussel<br />
está apresentando a questão da exterioridade frente à totalidade<br />
totalizada, ou seja, à totalização do sistema.<br />
Assim, é a experiência do cara a cara na exterioridade<br />
que permite destruir o fechamento, a totalização do sistema,<br />
superar os limites do sistema para ver o próximo, o outro enquanto<br />
semelhante e não mais idêntico, enquanto o mesmo.<br />
Estar cara a cara é se abrir ao infinito. Isso é o que Dussel irá<br />
chamar de experiência metafísica da alteridade.<br />
Mas a experiência metafísica da modernidade foi a da<br />
mesmidade, ou seja, o Novo Mundo foi tratado como o mesmo,<br />
como o idêntico. No bojo de lógicas fechadas e identitárias<br />
(como o eurocentrismo, o lingüicentrismo, o etnocentrismo,<br />
o logocentrismo, o monoculturalismo), deixou-se de<br />
compreender um Novo Mundo, portador de lógicas abertas,<br />
em expansão, e proliferantes em signos, formando um manancial<br />
de multiplicidade e contigüidade textuais. Ou seja, já<br />
éramos ricos, no “princípio”, em linguagens da oralidade,<br />
gestualidade, sonoridade, ritmicidade, visualidade, olfaticidade<br />
e gustatividade. Já éramos totalmente alfabetizados. 15<br />
Essa experiência metafísica moderna da mesmidade empreendeu<br />
o primeiro grande holocausto da história da espécie<br />
humana. O descobrimento como encobrimento do outro<br />
foi o primeiro grande holocausto, no qual um complexo semiótico<br />
cultural foi todo dizimado, começando pela destruição<br />
das hierofanias antigas, dos templos, dos sacerdotes, dos<br />
deuses, de símbolos, de ritos, de gestos, de textos, de todas as<br />
gentes crédulas.<br />
Esse discurso metafísico da mesmidade da totalidade<br />
totalizada do centro começou a receber como contra-texto<br />
um discurso metafísico da alteridade da periferia enquanto<br />
exterioridade, que se principia com Antonio de Montesinos<br />
(?-1545), a primeira voz profética na América. Essa voz<br />
profética vai ser seguida por Bartolomeu de Las Casas (1474-<br />
1566), por Josué de Acosta (1539-1600), Bernardino de<br />
Sahagún (?-1590), continuando no herói, santo, apóstolo e<br />
15 Cf. BORTOLETO, 1999, pp. 335-342.<br />
mártir José Julián Martí (1853-1895), Ernesto Che Guevara,<br />
Fidel Castro Ruz, Leopoldo Zea, Arturo Andres Roig, Gustavo<br />
Gutiérrez, Leonardo Boff, Hugo Assmann, Enrique Dussel,<br />
Pablo Guadarrama Gonzalez, Raúl Fornet-Betancourt, entre<br />
tantos outros.<br />
Com José Lezama Lima, Alejo Carpentier e Severo<br />
Sarduy, a nossa estética neobarroca, vai ser pensada como<br />
contra-texto da latinoamerica e o Caribe. Lezama Lima, autor<br />
de Paradiso, afirmará que, depois de apropriado e transformado,<br />
o barroco entre nós foi uma arte da contra-conquista:<br />
“Repetindo a frase de Weisbach, adaptando-a ao que<br />
é americano, podemos dizer que entre nós o barroco foi uma<br />
arte da contraconquista”. 16<br />
A apropriação que Lezama Lima faz do barroco americano<br />
é distinta da do barroco europeu, pois, além de ser original,<br />
sinaliza três aspectos fundamentais: nosso barroco se<br />
apresenta como uma tensão, é portador de um plutonismo e<br />
é também portador de um estilo plenário.<br />
Esse barroco vivo, pleno e dinâmico, associado às culturas<br />
periféricas, possibilitará a Lezama falar do Señor Barroco,<br />
que fará a arte da contra-conquista: “O primeiro americano<br />
que vai surgindo dominador de seus caudais é o nosso<br />
senhor barroco”. 17 Aqui, em nossa estética neobarroca, reside<br />
o conteúdo subversivo, revolucionário e político dos barrocos<br />
americano e caribenho.<br />
Toda essa literatura neobarroca que emerge nas décadas<br />
de 60 a 80, e que apresenta o barroco como um “novo<br />
cânone” da estética pós-moderna latino-americana e caribenha,<br />
está muito próximo da problemática tanto filosófica<br />
como teológica que também se apresenta neste período, ou<br />
seja, o de uma Filosofia da Libertação e uma Teologia da Libertação,<br />
discursos e contra-textos proféticos. Assim são as<br />
palavras preliminares de Enrique Dussel, em Filosofía de la<br />
Liberación: “Filosofía de la liberación, filosofía postmoderna,<br />
popular, feminista, de la juventud, de los oprimidos, de los<br />
condenados de la tierra, condenados del mundo y de la historia”.<br />
18 Tanto a literatura neobarroca, como a filosófica e a<br />
teológica, como formas elevadas e não estanques de pensa-<br />
16 LIMA, 1988, p. 80.<br />
17 Ibid., p. 80.<br />
18 DUSSEL, 1985, p. 9.<br />
78 <strong>impulso</strong> nº 27
mento profético da cultura latino-americana e da caribenha,<br />
estão a problematizar esse complexo real que é o continente<br />
latino-americano e Caribe em sua complexidade textual de<br />
multiplicidade e contigüidade. 19<br />
Vejamos como o discurso metafísco da mesmidade<br />
(da totalidade totalizada do centro) e o discurso metafísico da<br />
alteridade da periferia (enquanto exterioridade) se dialetizam.<br />
Ou, como os dizeres dos respectivos discursos do centro<br />
sobre a América (teológico, científico e filosófico) e como o<br />
Señor Barroco vão inaugurando seu contra-texto e seus dizeres<br />
como arte da contra-conquista.<br />
“Un gran debate se desenvuelve desde el descubrimiento<br />
de América hasta la Ilustración. Este debate sirve de prólogo,<br />
por decir así, al sistema de valores que Europa y Estados<br />
Unidos opondrán luego desde su altura imperial al pueblo de<br />
América Latina.” 20 Qual debate é este? É o debate iniciado na<br />
Europa, logo após o descobrimento, pelo dominicano espanhol<br />
Bartolomeu de Las Casas. Esse frade dominicano, de<br />
formação tomista e cristã, do movimento da segunda escolástica<br />
hispânica, denunciou os abusos e explorações do colonialismo<br />
espanhol. Denúncia esta que colocava em questão<br />
na metrópole espanhola a natureza e os objetivos últimos da<br />
conquista.<br />
Protestos advindos dos britânicos, holandeses e franceses<br />
não faltaram ao frade dominicano. O mais violento a<br />
Las Casas vem do próprio clero dividido a respeito de tal<br />
questão. Juan Ginés de Sepulveda (1490-1573), cronista de<br />
Carlos I e de Felipe II, denunciará Las Casas em defesa dos índios,<br />
afirmando em sua obra Demócrates o tratado sobre<br />
las causas de la guerra justa que a guerra da conquista<br />
das Índias e a guerra contra a população americana eram<br />
justificadas. 21<br />
Dessa maneira Sepulveda reformula a teoria da “escravidão<br />
natural”, contida na Política, de Aristóteles. Eis o<br />
que diz o estagirita: “Todos aquellos que difieren de los demás<br />
tanto como el cuerpo del alma o el animal del hombre<br />
(y tienen esta disposición todos aquellos cuyo rendimiento es<br />
19 Cf. BORTOLETO, 2000, p. 96.<br />
20 RAMOS, 1973, p. 79.<br />
21 Cf. Diccionário de Filosofía, con autores y temas latinoamericanos,<br />
1986, p. 91.<br />
el uso del cuerpo, y esto es lo mejor que pueden aportar) son<br />
esclavos por naturaleza”. 22<br />
Na mesma linha de reflexão de Juan Ginés de Sepulveda<br />
estará também o padre Oviedo, historiador das Índias e<br />
inimigo de Bartolomeu de las Casas. Oviedo afirma: “Los que<br />
sobresalen por su prudência y por su ingenio, pero no por sus<br />
fuerzas corporales, éstos son señores por naturaleza; al contrário,<br />
los tardos y torpes de entendimiento, pero corporalmente<br />
robustos para llevar a cabo las tareas necesarias, éstos<br />
son siervos por naturaleza”. 23<br />
Esse debate em torno e sobre a inferioridade da América<br />
e a justificação da exploração do novo continente e da<br />
guerra justa contra a sua população deslocar-se-á do âmbito<br />
do pensamento teológico para o âmbito do pensamento filosófico<br />
da Ilustração, amparado pelas ciências naturais no século<br />
XVIII.<br />
Vejamos, por exemplo, o que diz Buffon no âmbito das<br />
ciências naturais:<br />
El salvaje es dócil y pequeño por los órganos de la generación;<br />
no tiene pelo ni barba, y ningún ardor para<br />
com su hembra...quitadle el hambre y la sed, y habréis<br />
destruido al mismo tiempo el principio activo de todos<br />
sus movimientos; se quedará estúpidamente descansado<br />
en sus piernas o echado durante días enteros. 24<br />
Voltaire, por sua vez, fundamentado-se no pensamento<br />
de Hume, sobretudo em sua teoria climática, diz o seguinte:<br />
Hay alguna razón para pensar que todas naciones que<br />
vivem más allá de los círculos polares o entre los trópicos<br />
son inferiores al resto de la espécie” cuando afirma<br />
que “los puebros alejados de los trópicos han sido siempre<br />
invencibles, y que los pueblos más cercanos a los<br />
trópicos han estado sometidos a monarcas. <strong>25</strong><br />
Assim, desde Sepulveda e Oviedo, teólogos católicos do<br />
século XVI, até os filósofos e naturalistas céticos do século XVIII,<br />
22 RAMOS, 1973, p. 80.<br />
23 Ibid., p. 81.<br />
24 Ibid., p. 82.<br />
<strong>25</strong> Ibid., p. 83. Nessa mesma direção seguida por RAMOS (1973), vale<br />
também conferir e referenciar a obra de GERBI, 1996.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 79
passando por De Paw, Bacon, De Maistre, Monstequieu e Bodin,<br />
até culminar no grandioso e, ao mesmo tempo, cínico<br />
pensamento de Hegel, não só ocorreu o processo de “encobrimento<br />
do Outro”, para usar linguagem dusseliana, mas<br />
encobriu-se toda realidade de complexidade e contigüidade<br />
textual que é a América Latina – nome este bem impreciso,<br />
como já visto, que não dá conta de abarcar todo o complexo<br />
manancial lingüístico, em termos semióticos, ou seja, as linguagens:<br />
oral, gestual, rítmica, sonora, visual, olfato-degustativa.<br />
Nesse sentido, vejamos o que Hegel diz em suas Lecciones:<br />
América se há revelado siempre y sigue revelándose<br />
impotente en lo físico como en lo<br />
espiritual. Los indígenas, desde el desembarco de los<br />
europeos, han ido pereciendo al soplo de la actividad<br />
europea. En los animales mismos se advierte igual inferioridad<br />
que en los hombres. La fauna tiene leones, tigres,<br />
cocodrilos, etc.; pero estas fieras, aunque poseen<br />
parecido notable con las formas del viejo mundo, son,<br />
sin embargo, en todos los sentidos más pequeñas, más<br />
débiles, más impotentes. Aseguran que los animales<br />
comestibles no son en el Nuevo Mundo tan nutritivos<br />
como los del viejo. Hay en América grandes rabaños de<br />
vacunos; pero la carne de vaca europea es considerada<br />
allá como un bocado exquísito. 26<br />
Jürgen Habermas, positivamente e acertadamente,<br />
afirma em O Discurso Filosófico da Modernidade que “a<br />
descoberta do ‘Novo Mundo’ bem como o Renascimento e a<br />
Reforma – os três grandes acontecimentos à volta de 1500 –<br />
constituem a transição epocal entre a Idade Moderna e a Idade<br />
Média”. 27 Ele desenvolve uma Teoria da Ação Comunicativa.<br />
Nela há uma teoria da racionalidade, uma teoria da comunicação<br />
e uma teoria da modernidade. Na Teoria da Ação<br />
Comunicativa, Habermas mantém uma conexão entre a racionalidade,<br />
a modernidade e a sociedade. Com isso ele quer<br />
criticar o adeus à modernidade realizado pela pós-modernidade<br />
e seus autores – que, nesta sua obra, são aqueles que<br />
rompem com a promessa do Iluminismo –, chamados de<br />
26 HEGEL, 1989, pp. 170-171 (destaque meu).<br />
27 HABERMAS, 1990, pp. 16-17. 28 Ibid., p. 57.<br />
neoconservadores, como, por exemplo, Derrida, Foucoult,<br />
Deleuze e Bataille.<br />
Segundo Habermas, em o Discurso:<br />
Foi Hegel quem inaugurou o discurso da Modernidade.<br />
Foi Hegel que introduziu o tema da certificação autocrítica<br />
da modernidade; foi Hegel quem estabeleceu<br />
as regras, pelas quais se torna possível submeter o tema<br />
a variações – a dialética do iluminismo. Ao mesmo<br />
tempo que elevou a história contemporânea a um nível<br />
filosófico, Hegel pôs o eterno em contacto com o transitório,<br />
o intemporal com o actual e, deste modo, transformou<br />
radicalmente o carácter da filosofia. É certo<br />
que Hegel não queria de modo nenhum cortar com a<br />
tradição filosófica; é só a geração seguinte que toma<br />
consciência deste corte. 28<br />
Se foi Hegel quem inaugurou o discurso da modernidade,<br />
é verdade que o “Novo Mundo” do qual Habermas<br />
fala, um “dos grandes acontecimentos à volta de 1500”, ficou<br />
excluído deste discurso. Hegel exclui o “Novo Mundo” por<br />
causa de suas determinações naturais, porque este “Mundo<br />
Novo” está cindido em duas partes e mantém uma conexão<br />
externa, enquanto o “Velho Mundo”, embora dividido em<br />
três, suas porções, ao contrário de uma conexão externa,<br />
mantêm uma conexão interna, essencial e necessária exigência<br />
da totalidade. O Mar Mediterrâneo é a região natural da<br />
“comunicação trinitária”, ou seja, Europa, África e Ásia. Assim<br />
diz Hegel:<br />
Una vez que hemos terminado con el Nuevo Mundo y<br />
los sueños que puede suscitar, pasemos al Viejo Mundo.<br />
Este es, esencialmente, el teatro de lo que<br />
constituye el objeto de nuestra consideración,<br />
de la historia universal. (...) El Viejo Mundo<br />
consta de tres partes; ya el sentido que de la naturaleza<br />
tenían los antiguos, supo distinguirlas acertadamente.<br />
Esta división no es casual, sino que responde a una necesidad<br />
superior y es adecuada al concepto.(...) Las tres<br />
partes del mundo mantienen, pues, entre sí una relación<br />
esencial y constituyen una totalidad. Lo más característico<br />
es que se hallan situadas alrededor de un<br />
80 <strong>impulso</strong> nº 27
mar, que constituye su centro y que es una vía de comunicación.<br />
Tiene esto gran importancia. El mar Mediterráneo<br />
es elemento de unión de estas tres partes del<br />
mundo, y ello lo convierte en el centro de toda la historia<br />
universal. El Mediterráneo, com sus muchos golfos<br />
y bahías, no es un Océano, que empuja hacia lo indeterminado<br />
y con el cual el hombre solo mantiene<br />
una relación negativa. El Mediterráneo invita al hombre<br />
a utilizarlo. El Metiderráneo es el eje de la<br />
historia universal. Todos los grandes Estados<br />
de la historia antigua se encuentran en<br />
torno de este ombligo de la tierra. 29<br />
Se o “Novo Mundo” não faz parte da constituição natural<br />
e essencial do “ombligo de la tierra”, tanto Hegel como<br />
Habermas também estão a dizer, em última instância, que o<br />
“Novo Mundo” não faz parte constitutiva do “princípio dos<br />
tempos modernos: a subjetividade”. 30<br />
No Discurso, Habermas estabelece a conexão entre o<br />
princípio de subjetividade e a modernidade:<br />
Na modernidade, portanto, a vida religiosa o Estado e<br />
a sociedade, bem como a ciência, a moral e a arte<br />
transformaram-se em outras tantas encarnações do<br />
princípio da subjetividade. A sua estrutura é englobada<br />
como tal na filosofia, nomeadamente como subjectividade<br />
abstracta no Cogito ergo sum de Descartes, na<br />
forma da autoconsciência absoluta em Kant. Trata-se<br />
da estrutura da auto-relação do sujeito congnoscente<br />
que se debruça sobre si como sobre um objeto para se<br />
compreender como uma imagem reflectida num espelho,<br />
precisamente, ‘numa atitude especulativa’. Desta<br />
abordagem da filosofia da reflexão faz Kant a base das<br />
suas três “Críticas”. Faz da razão o supremo tribunal<br />
perante o qual tem de apresentar uma justificação tudo<br />
aquilo que de uma forma geral reclama qualquer validade.<br />
31<br />
29 HEGEL, 1989, pp. 177-178 (destaques meus).<br />
30 HABERMAS, 1990, p. 27.<br />
31 Ibid., p. 29.<br />
A tese dusseliana diverge frontalmente da perspectiva<br />
hegel-habermaseana. A “descoberta” da América, que já é<br />
essencialmente “conquista”, será de fundamental importância<br />
à fundação da modernidade em sua conexão com a subjetividade,<br />
para ficar excluída, como também deixando de<br />
fora dessa conexão Espanha e Portugal, como momentos<br />
constitutivos da subjetividade moderna. Em 1492 – O Encobrimento<br />
do Outro, magistralmente Dussel enfrenta tal<br />
questão e sinaliza sua posição de uma mundialidade<br />
transmoderna a partir da “razão do Outro”, perante o debate<br />
dos modernos (comunicativos) e dos pós-modernos<br />
(não comunicativos): “Para Habermas, como para Hegel, o<br />
descobrimento da América não é um determinante constitutivo<br />
da Modernidade. Desejamos demonstrar o contrário. A<br />
experiência não só do ‘descobrimento’, mas especialmente da<br />
‘conquista’ será essencial na constituição do ego” moderno,<br />
mas não só como subjetividade ‘centro’ e ‘fim’ da história”. 32<br />
Se o Novo Mundo nasceu “moderno” com a modernidade<br />
européia e se foi tecido no “processo originário da<br />
constituição da subjetividade moderna”, como demonstrado<br />
até o momento, pode-se dizer que toda a tradição ocidental<br />
teológico-filosófico-científica, enquanto um sistema de linguagens<br />
logocêntrico, lingüicêntrico e hierárquico, transplantou-se<br />
toda ao Novo Mundo como um sistema de valores<br />
significantes, como por exemplo idiomático-lingüístico, ético-religioso,<br />
político-econômico-jurídico. E nós, além de já<br />
sermos “alfabetizados” desde o “princípio”, também já tínhamos<br />
tudo isto aqui, como dito anteriormente.<br />
NOSSA PROTO-HISTÓRIA:<br />
COISAS DE ÍNDIOS, BRANCOS E NEGROS<br />
E o que aconteceu com a complexa linguagem religiosa<br />
já existente aqui no Novo Mundo?<br />
Vale dizer que o Novo Mundo pré-colombiano como<br />
um todo era já eminentemente religioso. É a nossa proto-história.<br />
33<br />
32 DUSSEL, 1993, p. 23.<br />
33 Cf. DUSSEL, 1985, t. II, p. 45: “Chamo a tudo isso de proto-história.<br />
Nossa história só começaria no dia em que o mais ocidental do ocidente,<br />
Colombo e a Espanha, e o mais oriental do oriente, que são os índios (os<br />
índios são asiáticos), confrontam-se no que fundamentalmente será o<br />
processo de conquista e evangelização, captada esta como um grande<br />
processo de aculturação. Em 1492 começa a história da América Latina,<br />
que não é nem o pai-Espanha nem a mãe-Índia, mas um filho que não é<br />
Ameríndia nem é Europa, mas algo diferente”.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 81
O mundo dos maia-astecas, dos incas, dos chibchas e<br />
os índios da América do Norte e os da América do Sul era<br />
constituído por um complexo lingüístico religioso, pensado<br />
como um sistema vivo e dinâmico relacionado com os ritmos<br />
dos astros, das águas, da vegetação, dos animais, da existência<br />
humana, formando, assim, um lar cósmico demoradamente<br />
e penosamente construído e criado. 34<br />
Desde tiempos inmemoriales, América Latina há sido<br />
una tierra de dioses y de ídolos. Pirámides al Sol y a la<br />
Luna, vestigios de templos y de cuevas sagradas nos recuerdan<br />
la riqueza simbólica de civilizaciones del eterno<br />
retorno, del tiempo sagrado cuyo calendario estaba<br />
movido por los dioses. Con las conquistas ibéricas,<br />
aquellas manifestaciones sagradas, fruto de grandes civilizaciones,<br />
han sido sustituidas por el dios de un cristianismo<br />
que encubrió a las hierofanías antiguas. Templos<br />
y catedrales cristianos se construyeron en el lugar<br />
mismo de los antiguos centros ceremoniales precolombinos.<br />
35<br />
34 Cf. DUSSEL, 1985, t. II, pp. 35-39.<br />
35 BASTIAN, 1997, p. 7. O astrônomo brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas<br />
Mourão, no prefácio ao livro Chuen: o novo calendário maia, de<br />
Franz Joseph Hochleitner (Juíz de Fora/Campinas: EDUFJF/Pontes, 1994),<br />
assim diz: “Estes documentos, habitualmente denominados Códigos de<br />
Dresden, Paris, e Madri, comprovam que o desenvolvimento dos Maias<br />
em assuntos aritméticos e astronômicos era equivalente ou mesmo<br />
superior ao de outras civilizações ocidentais contemporâneas. Um dos<br />
bons exemplos disto é o fato de terem conhecido o conceito do zero<br />
muito antes da sua utilização na Europa” (p. 8). E mais adiante: “A astronomia<br />
desenvolveu-se entre os maias por ser um dos elementos fundamentais<br />
para a prática dos rituais religiosos, na maioria das vezes<br />
realizados durante a noite. Para provar este costume, existe uma gravura<br />
no Código de Mendoza na qual aparece um sacerdote tocando algum<br />
instrumento musical enquanto outro observa as estrelas para determinar<br />
a hora do início das cerimônias” (p. 10). Por outro lado, sabe-se que nos<br />
dois eixos civilizatórios americanos, ou seja, os maia-astecas e os incas, a<br />
escrita, por exemplo, já conhecida, era tida como dádiva dos deuses.<br />
No que diz respeito ao Brasil, sem perder as conexões<br />
com a dimensão maior do continente americano, bem como<br />
com o processo de encobrimento do outro e do originário da<br />
constituição da subjetividade moderna, algo semelhante<br />
aconteceu, e vem ocorrendo mesmo hoje em dia, no que tange<br />
às nações indígenas ainda existentes e resistentes. O discurso<br />
metafísico da mesmidade da totalidade totalizada do<br />
centro reduziu o complexo mundo pluricultural e pluriétnico<br />
debaixo da expressão índio. Eduardo Hoornaert assim indica<br />
como um etnocentrismo e monoculturalismo foram se<br />
impondo sob o domínio dos portugueses:<br />
Outra sorpresa: los portugueses no lograron ciertamente<br />
evaluar, durante todo el período de su dominio<br />
sobre Brasil (1500-1822), la complejidad etnológica de<br />
este país. Nunca sospecharon que Brasil fuese uno de<br />
los países más complejos del mundo en términos de<br />
cultura humana, con casi mil cuatrocientos pueblos<br />
distintos pertenecientes a cuarenta familias lingüísticas,<br />
de las cuales apenas dos troncos lingüísticos – el tupi y<br />
el macro-jê – fueron de alguna forma estudiados. Sin<br />
embargo había otras familias lingüísticas como el aruak,<br />
el karib, el tukano, aparte de lenguas aisladas o desaparecidas<br />
como el kariri. El ‘mapa etnohistórico’ elaborado<br />
por Curt Nimuendajú en 1944, nos vino a mostrar<br />
esa complejidad, que no aparece en ningún texto<br />
portugués sino de forma muy velada. Los portugueses<br />
de manera simple lo cubrían todo bajo el camuflaje de<br />
la expresión ‘indio’: ‘En Brasil no hay nada: sólo<br />
indios’. Ese indio, en el modo de pensar de los colonizadores,<br />
era un ser genérico y estereotipado, un salvaje<br />
y un pagano o gentil. El necesitaba de civilización<br />
y evangelización. 36<br />
A complexidade etnológica, portanto, já semiótica, em<br />
momento algum foi considerada nem avaliada no contexto<br />
do processo de conquista e evangelização. Como bem diz Gilberto<br />
Freire, “com a intrusão européia desorganiza-se entre<br />
os indígenas da América a vida social e econômica; desfaz-se<br />
o equilíbrio nas relações do homem com o meio físico”. 37<br />
Como sinalizado anteriormente, com o processo do<br />
encobrimento todo um sistema lingüístico-semiótico-cultural-ocidental<br />
é introduzido nestas bandas de cá. E nós já tínhamos<br />
tudo isso também já de modo elevado, porém, completamente<br />
distinto do sistema vigoroso e articulado do europeu<br />
em forma de império, com uma moral e uma religião,<br />
bem como com uma noção de pecado e de culpa. E o pecado<br />
e a culpa nós não conhecíamos. Por aqui eles foram introduzidos<br />
pelos portugueses, menos ortodoxos que os espanhóis,<br />
e pelos ingleses puritanos.<br />
36 HOORNAERT, 1995, p. 294 (destaque meu).<br />
37 FREYRE, 1997, p. 89.<br />
82 <strong>impulso</strong> nº 27
De acordo com Gilberto Freyre, “o ambiente em que<br />
começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual”. E<br />
prossegue o autor:<br />
O europeu saltava em terra escorregando em índia<br />
nua; os próprios padres da Companhia precisavam<br />
descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne.<br />
Muitos clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar<br />
pela devassidão. As mulheres eram as primeiras a se<br />
entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregar-se<br />
nas pernas desses que supunham deuses. Davam-se<br />
ao europeu por um pente ou um caco de espelho.<br />
38<br />
Longe da mulher legítima, o português vai se dispor<br />
da mulher indígena, a não legítima, e ela, no dizer de Luis da<br />
Camara Cascudo, será nossa primeira cozinheira, ou seja, a<br />
cunhã. Não podemos nos esquecer que “todos os indígenas<br />
brasileiros conheciam o fogo, sabendo acendê-lo e utilizar<br />
para preparo de alimentos, aquecimento e defesa, guerreira e<br />
mágica”. 39<br />
O Português encontrou no Brasil mulher fácil, abundante,<br />
amorosa. Anchieta indignava-se em Piratininga,<br />
julho de 1554, ‘onde as mulheres andam nuas e<br />
não sabem se negar a ninguém, mas até elas mesmas<br />
cometem e importunam os homens, jogando-se com<br />
eles nas redes porque têm por honra dormir com os<br />
Cristãos. 40<br />
José de Anchieta em sua poética assim diz dos rapazes<br />
que corriam atrás das mulheres: “Aépe kunuminguasú /<br />
kuñã oimomosémbae, / tapuipéra potá ñe / ñaimbyára pupé<br />
katú / ojekotirúng baé?”. 41<br />
O processo de aculturação do índio se deu nos aldeamentos<br />
ou reduções na América lusa e em missões na América<br />
hispânica. Na verdade não passavam de verdadeiros<br />
campos de concentração de índios presos manu militari,<br />
como afirma Eduardo Hoornaert. 42 Esses aldeamentos ou<br />
38 Ibid., p. 93.<br />
39 CASCUDO, 1983, p. 95.<br />
40 Ibid., p. 172.<br />
41 ANCHIETA, 1954, “Na festa do natal”. Versão portuguesa: “E êsses rapazes<br />
/ que perseguem mulheres, / cobiçam escravas / e pelos matos / se<br />
emboscam?” (p. 764).<br />
reduções, bem como as missões, vão dar início àquilo que se<br />
pode chamar de origem das primeiras cidades no continente<br />
latino-americano, no sentido moderno do termo.<br />
(...) la reducción puede ser definida como un procesamiento<br />
de gente, un proceso de producción de ‘gente<br />
nueva’, sin memoria del pasado, o com memoria ‘negativa’,<br />
de rechazo del pasado. En lo fundamental, se<br />
trataba de ‘convertir’ al indio específico – ya hablamos<br />
aquí de los 1.400 pueblos que vivían en el actual territorio<br />
brasileño antes del 1500 – en un indio genérico<br />
denominado caboclo, tapuio, caipira, o simplemente<br />
cabra, com toda la carga de rachazo que recaía sobre<br />
esos nombres. 43<br />
Hegel enfatiza muito bem esse processo de produção<br />
de “gente nova” que, destituídos de moral, de espírito elevado,<br />
de civilização e, portanto, de história, precisam ser pedagogizados<br />
quanto às necessidades de se elevarem à atividade do<br />
ser homem, pois nossos índios seriam apenas natureza e viveriam<br />
num estado natural de selvagens e como inculturados.<br />
Assim Hegel ilustra esta realidade do índio:<br />
Los hemos visto en Europa, andar sin espíritu y casi sin<br />
capacidad de educación. La inferioridad de estos individuos<br />
se manifiesta en todo, incluso en la estatura.<br />
Solo las tribus meridionales de Patagonia son de fuerte<br />
naturaleza; pero se encuentran todavía sumidas en el<br />
estado natural del salvajismo y la incultura. Las corporaciones<br />
religiosas los han tratado como convenía, imponiéndoles<br />
su autoridad eclesiástica y dándoles trabajos<br />
calculados para incitar y satisfacer, a la vez, sus necesidades.<br />
Cuando los jesuitas y los sacerdotes católicos<br />
quisieron habituar a los indígenas a la cultura y moralidad<br />
europea (es bien sabido que lograron fundar un<br />
Estado en el Paraguay y claustros en Méjico y California),<br />
fueron a vivir entre ellos y les impusieron, como a<br />
menores de edad, las ocupaciones diarias, que ellos ejecutaban<br />
– por perezosos que fueran – por respeto a la<br />
autoridad de los padres. Construyeron almacenes y<br />
educaron a los indígenas en la constumbre de utilizarlos<br />
y cuidar previsoramente del provenir. Esta mane-<br />
42 Cf. HOORNAERT, 1995, p. 297.<br />
43 Ibid., p. 297.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 83
a de tratarlos es indudablemente la más<br />
hábil y propia para elevarlos; consiste en tomarlos<br />
como a ninõs. Recuerdo haber leído<br />
que, a media noche, un fraile tocaba una<br />
campana para recordar a los indígenas sus<br />
deberes conyugales. Estos preceptos han<br />
sido muy cuerdamente ajustados primeramente<br />
hacia el fin de suscitar en los indígenas<br />
necesidades, que son el incentivo para<br />
la actividad del hombre. 44<br />
Com o “processamento de gente nova”, toda uma<br />
complexa cultura vai sendo instaurada. Por exemplo, o tupi<br />
foi dando lugar à língua portuguesa; a religião original usava<br />
o nome Jurupari para identificar o deus indígena, que foi<br />
sendo substituído por Tupã (trono), significando, na expressão<br />
do jesuíta Nóbrega, um deus terrível de “meter medo nos<br />
índios”; as normas reguladoras das sociedades indígenas foram<br />
trocadas por comportamentos ocidentais e coloniais,<br />
através das mãos dos jesuítas. 45 Isso equivale a dizer que uma<br />
moral foi se impondo, fundamentalmente a moral cristã dos<br />
primeiros tempos da modernidade. Outro nome que o índio<br />
genérico recebeu, além de caboclo, tapuio, caipira e cabra,<br />
foi o de bugre, portador já de uma conotação moral-teólogica,<br />
portanto de homens que portavam já um pecado imundo.<br />
Gilberto Freyre assim diz:<br />
A denominação de bugres dada pelos portugueses aos<br />
indígenas do Brasil em geral e a uma tribo de São Paulo<br />
em particular talvez exprimisse o horror teológico de<br />
cristãos mal saídos da Idade Média ao pecado nefando,<br />
por eles associado sempre ao grande, ao máximo, de<br />
incredulidade ou heresia. Já para os hebreus o termo<br />
gentio implicava idéia de sodomita; para o cristão medieval<br />
o termo bugre ficou impregnado da mesma<br />
idéia pegajosa de pecado imundo. Quem fosse herege<br />
era logo havido por sodomita; como se uma danação<br />
arrastasse inevitavelmente à outra. 46<br />
A primeira religião de nosso continente, e de forma<br />
particular de nosso país, foi sendo substituída pela religião da<br />
tradição bíblica, mas, como diz Hoornaert, “para la formación<br />
del cristianismo en Brasil, más importante que las reducciones<br />
fue el mundo de los ingenios”. 47 Foi para o trabalho<br />
no engenho e para o plantio da cana-de-açúcar que o<br />
negro fez seu ingresso no mundo americano, especialmente<br />
na América Latina e no Caribe e de forma especial no Brasil,<br />
como mão-de-obra escrava. Isso porque o Brasil foi o maior<br />
produtor mundial de açúcar até o século XVII.<br />
Segundo Eduardo Galeano, em As Veias Abertas da<br />
América Latina,<br />
(...) as colônias espanholas proporcionaram, em primeiro<br />
lugar, metais. Muito cedo descobriram-se, nelas,<br />
os tesouros e os veios. O açúcar, relegado a um segundo<br />
plano, foi cultivado em São Domingos, depois em Veracruz,<br />
mais tarde na costa peruana e em Cuba. Entretanto,<br />
até meados do século XVII, o Brasil foi o maior<br />
produtor mundial de açúcar. Simultaneamente, a colônia<br />
portuguesa da América era o principal mercado<br />
de escravos: a mão-de-obra indígena, muito escassa,<br />
extinguia-se rapidamente nos trabalhos forçados, e o<br />
açúcar exigia grandes contingentes de mão-de-obra<br />
para limpar e preparar os terrenos, plantar, colher e<br />
transportar a cana e, por fim, moê-la e purgá-la. A sociedade<br />
colonial brasileira, subproduto do açúcar, floresceu<br />
na Bahia e Pernambuco, até que o descobrimento<br />
do ouro transferiu seu núcleo central para Minas<br />
Gerais. 48<br />
O mercado internacional estava a exigir que o Brasil<br />
construísse seu primeiro projeto econômico em torno da<br />
cana-de-açúcar. Para isso, então, um intenso tráfico de escravos<br />
negros entre regiões brasileiras, como São Luís, Olinda/Recife,<br />
Salvador e Rio de Janeiro, e a África Ocidental e<br />
Moçambique foi desenvolvido. 49 No entanto, “jamais saberemos<br />
o número exato e as origens certas dos africanos embarcados<br />
para o Brasil, desde a primeira metade do século<br />
XVI”. 50 Eduardo Hoornaert diz ser 3,6 milhões o número de<br />
44 HEGEL, 1989, pp. 171-172 (destaque meu).<br />
45 Cf. HOORNAERT, 1995, pp. 297-299.<br />
46 FREYRE, 1997, p. 119.<br />
47 HOORNAERT, 1995, p. 299.<br />
48 GALEANO, 1996, p. 73.<br />
49 Cf. HOORNAERT, 1995, p. 295.<br />
84 <strong>impulso</strong> nº 27
africanos oficialmente remetidos ao Brasil, sem considerar o<br />
contrabando, muito importante, em especial no século XIX. 51<br />
Elias Wolff, citando frei Hermínio Bezerra de Oliveria, afirma<br />
que, “de cada 100 mil negros arrancados das costas africanas,<br />
apenas 65 mil chegavam às costas brasileiras e destes<br />
cerca de 5 mil morriam de banzo nos primeiros meses” e, citando<br />
Júlio J. Chiavenato, que “100 milhões de africanos foram<br />
‘escravizados e mortos para atender ao sistema escravocrata<br />
das Américas (...). Não houve um genocídio maior na<br />
história da humanidade, nem em número nem em brutalidade,<br />
do que o cometido contra os escravos africanos’”. 52<br />
Os números neste caso contam muito. No século XVI,<br />
cerca de 15 milhões de índios foram mortos; no sistema escravocrata<br />
das Américas, algo em torno de 100 milhões de<br />
africanos foram escravizados e mortos; no século XX aproximadamente<br />
6 milhões de judeus foram exterminados sob o<br />
regime nazista. Com isso quero tão-somente ilustrar que, antes<br />
do extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Provincial,<br />
cerca de 115 milhões de pessoas, entre índios e africanos,<br />
foram vítimas do primeiro grande holocausto e o maior<br />
da história da espécie humana no planeta. Aldeamentos e<br />
engenhos foram na verdade os primeiros campos de concentração<br />
da história, e a América foi o cenário disto. O descobrimento,<br />
como encobrimento do outro, foi o primeiro grande<br />
holocausto da história humana. Nenhuma filosofia, nenhuma<br />
teologia, nenhuma teoria científica e cultural podem<br />
ficar insensíveis a isto. Nenhum centro de saber, nenhuma<br />
igreja, nenhum Estado podem ignorar tal realidade. Nenhuma<br />
pessoa pode não querer ver tal evento humano de pulsão<br />
destruidora.<br />
Estamos aqui diante daquilo que Dussel chama de a<br />
razão dominadora, vitimária e violenta, ou seja, o momento<br />
irracional do mito sacrificial da modernidade, que se fundamenta<br />
na “falácia eurocêntrica” e “desenvolvimentista”. Esse<br />
núcleo irracional da razão moderna tem de ser negado, e não<br />
o lado emancipador da razão que precisa subsumir. 53<br />
50 CASCUDO, 1983, vol. 1, p. 182.<br />
51 Cf. HOORNAERT, 1995, p. 295.<br />
52 WOLFF, 1999, p. 15.<br />
53 Cf. DUSSEL, 1993, p. 24.<br />
A África é nosso horizonte; é lá que temos de nos<br />
olhar e nos escutar, portanto. Mais que o mundo eurocêntrico,<br />
é a África o diapasão e a escala do nosso olhar e do nosso<br />
escutar. “No se puede entender a Brasil sin mirar hacia el<br />
horizonte africano, de donde nos vino vida e inspiración,<br />
aparte de una mano de obra tan importante que sin<br />
ella no se hace nada en este país. El jesuita del siglo XVII, Antônio<br />
Vieira, afirmaba: ‘El Brasil es el azúcar, y el azúcar es el<br />
negro’, y ‘el Brasil tiene su cuerpo en América y su alma en<br />
Africa’.” 54<br />
O que dá a garantia de saudabilidade do continente<br />
americano como um todo é o processo de amalgamação da<br />
presença negra. Pode-se dizer que tal presença está a nos<br />
“salvar”. Esta presença está já entranhada em todos os poros<br />
da complexa cultura americana em sua totalidade e, de forma<br />
toda particular, no Brasil e no Caribe: na sonoridade, na<br />
gustabilidade, na gestualidade, na oralidade, na ritmicidade,<br />
na cromalidade etc. Gilberto Freyre nos sinaliza isso:<br />
Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em<br />
que se deliciam nossos sentidos, na música, no<br />
andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, em<br />
tudo que é expressão sincera de vida, trazemos<br />
quase todos a marca da influência negra. Da escrava<br />
ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de<br />
mamar. Que nos deu de comer, ela própria amolengando<br />
na mão o bolão de comida. Da negra velha que<br />
nos contou as primeiras histórias de bicho e de mal-assombrado.<br />
Da mulata que nos tirou o primeiro bichode-pé<br />
de uma coceira tão boa. Da que nos iniciou<br />
no amor físico e nos transmitiu, ao ranger<br />
da cama-de-vento, a primeira sensação<br />
completa de homem. Do moleque que foi o nosso<br />
primeiro companheiro de brinquedo. 55<br />
Mas o negro não foi evangelizado nem cristianizado<br />
por processos de catequese, à maneira e semelhança dos índios<br />
nos aldeamentos. Muito pelo contrário. Eles foram já, no<br />
dizer de Eduardo Hoornaert, no mundo devocional do engenho,<br />
cristianizados por “imersão cultural”, isso porque não<br />
54 HOORNAERT, 1995, p. 295 (destaque meu).<br />
55 FREYRE, 1997, p. 283 (destaques meus).<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 85
havia uma sistemática catequese com catecismos e vocabulários<br />
próprios ao aprendizado da fé, mas tão-somente o universo<br />
devocional que se praticava no engenho, muito distinto<br />
da ortodoxia e burocracia católico românica européia. Daí<br />
nasceria um cristianismo devocional que subsumiria outras<br />
práticas religiosas vindas de fora, por exemplo o islamismo,<br />
bem como das tradições indígenas. Assim nos diz Gilberto<br />
Freyre:<br />
O catolicismo das casas-grandes aqui se enriqueceu de<br />
influências muçulmanas contra as quais tão impotente<br />
foi o padre-capelão quanto o padre-mestre contra as<br />
corrupções do português pelos dialetos indígenas e<br />
africanos. É ponto a que nos havemos de referir com<br />
mais vagar, esse da interpenetração de influências de<br />
cultura no desenvolvimento do catolicismo brasileiro e<br />
da língua nacional. A esta altura apenas queremos salientar<br />
a atuação cultural desenvolvida na formação<br />
brasileira pelo Islamismo, trazido ao Brasil pelos escravos<br />
malês. 56<br />
E, mais adiante, prossegue:<br />
Os negros maometanos no Brasil não perderam, uma<br />
vez distribuídos pelas senzalas das casas-grandes coloniais,<br />
o contato com a África. Não perderam-no aliás os<br />
negros fetichistas das áreas de cultura africana mais<br />
adiantada. Os Nagô, por exemplo, do reino de Ioruba,<br />
deram-se ao luxo de importar, tanto quanto os maometanos,<br />
objetos de culto religioso e de uso pessoal.<br />
Noz-de-cola, cauris, pano e sabão-da-costa, azeitede-dendê.<br />
57<br />
A presença dos negros africanos no Brasil está ligada<br />
a dois grandes grupos étnico-culturais, os bantos e os sudaneses.<br />
No eixo da tradição sudanesa em termos religiosos encontra-se<br />
a crença num Ser Supremo, isto é, em Olorum,<br />
que juntamente com Obatalá é responsável pela criação.<br />
Entre estes e os homens, encontram-se de 400 a 600 orixás,<br />
como Exu, Ogum, Oxossi, Ossaim, Xangô, Iansã, Oxum,<br />
Omulu-Obaluaê, Iemanhá e Oxalá. Já no eixo da tradição<br />
dos bantos, o Ser Supremo corresponde a Zambi. O orixás<br />
correspondem aos ancestrais, que são cultuados. Na macumba<br />
se cultua o Preto Velho.<br />
Vão ser nestas duas grandes matrizes que se originarão<br />
as religiões afro-brasileiras. Do eixo dos sudaneses temse:<br />
candomblé, xangô, batuque, casa ou tambor de mina; já<br />
do eixo dos bantos, tem-se: macumba, umbanda e quinbanda.<br />
Outros grupos são encontrados, como pajelança, catimbó<br />
e jurema. Em que pese que haja multiplicidade e a diferença<br />
seja grande entre as tradições religiosas afro-brasileiras, existem<br />
elementos comuns. Elias Wolff sinaliza os seguintes: idéias<br />
reencarnacionistas, o monoteísmo, o fenômeno da possessão<br />
e o rito de iniciação de um novo membro. 58<br />
Mas esses homens crédulos – à maneira da redução<br />
genérica de índios – foram vistos tão-somente na perspectiva<br />
do sistema escravocrata, ou seja, “sempre que consideramos<br />
a influência do negro sobre a vida íntima do brasileiro, é a<br />
ação do escravo, e não a do negro per si, que apreciamos”. 59<br />
A presença do negro, e conseqüentemente a presença<br />
da África Mãe, nos complexificou, semioticamente falando. E<br />
no entanto a visão dominante e ainda imperante do negro,<br />
bem como da África, passa pela dimensão da inferioridade<br />
cultural e da raça deletérea. O negro foi acusado de introduzir<br />
uma moral deletéria pela sua condição de escravo mesmo.<br />
O erotismo, a luxúria e a depravação comunicado ao<br />
brasileiro têm a ver com o defeito da raça africana. Foi ela a<br />
responsável por corromper a vida sexual da sociedade brasileira.<br />
Também foi responsável pela sifilização do Brasil. Não<br />
é o que acontece com a aids hoje em dia, quando se afirma<br />
ter sido ela originada no continente africano? Nas palavras de<br />
Freyre,<br />
Joaquim Nabuco salientou “a ação de doenças africanas<br />
sobre a constituição física do nosso povo”. Teria sido<br />
esta uma das terríveis influências do contágio do Brasil.<br />
Um ou outro viria já contaminado. A contaminação<br />
em massa verificou-se nas senzalas coloniais. A “raça<br />
inferior”, a que se atribui tudo que é handicap no brasileiro,<br />
adquiriu da “superior” o grande mal venéreo<br />
56 Ibid., 1997, p. 313.<br />
57 Ibid.<br />
58 Cf. WOLFF, 1999, pp. 16-17.<br />
59 FREYRE, 1997, p. 315.<br />
86 <strong>impulso</strong> nº 27
que desde os primeiros tempos de colonização nos degrada<br />
e diminui. 60<br />
Em Hegel, essa visão encontra sua justificativa filosófico-teológica<br />
à maneira da visão do indígena. O continente<br />
africano e o negro no pensamento hegeliano encontram a visão<br />
acabada e definitiva do pensar eurocêntrico. Ainda que<br />
considere a África, como continente, um momento da tríade,<br />
porque conectada à Europa e à Asia pelo Mar Mediterrâneo<br />
– ou seja, por fazer parte do “ombligo de la tierra” –, ela não<br />
deve ser esquecida nem abandonada tão-somente por fazer<br />
parte da soleira da história universal, do umbral da história,<br />
residindo aí, ainda segundo Hegel, o que de mais terrível pertence<br />
à natureza humana: o negro, não tendo nenhuma moral,<br />
e, sendo indomável, não pode desenvolver-se nem educar-se,<br />
e assim sempre tem sido. Hegel, assustadoramente,<br />
desse modo diz:<br />
De todos estos rasgos resulta que la característica del<br />
negro es ser indomable. Su situación no es susceptible<br />
de desarollo y educación; y tal como hoy los vemos han<br />
sido siempre. Dada la enorme energía de la arbitrariedad<br />
sensual, que domina entre<br />
ellos, lo moral no tiene ningún poder. El<br />
que quiera conocer manifestaciones terribles<br />
de la naturaleza humana, las hallará<br />
en África. Lo mismo nos dicen las noticias más antiguas<br />
que poseemos acerca de esta parte del mundo; la<br />
cual no tiene en realidad historia. Por eso abandonamos<br />
África, para no mencionarla ya más.<br />
No es una parte del mundo histórico; no presenta un<br />
movimiento ni una evolución, y lo que há acontecido<br />
en ella, en su parte septentrional, pertenece al mundo<br />
asiático y europeo. 61<br />
No entanto, para não cairmos em tentação, com o poeta<br />
que canta sua lira e sua mística, podemos invocar a esta<br />
altura a África Mãe para não nos esquecermos mais da<br />
complexidade cultural vinda das várias etnias indígenas e<br />
africanas, para não nos esquecermos mais do primeiro grande<br />
holocausto cometido contra essas gentes crédulas, para<br />
60 Ibid., p. 317.<br />
61 HEGEL, 1989, p. 194 (destaques meus).<br />
não nos esquecermos mais do quão somos devedores e tributários<br />
de valores que estão a manter este continente como<br />
um todo eminentemente saudável, para não nos esquecermos<br />
de não vos esquecer, oh! Mãe África, porque nos esqueceríamos<br />
a nós mesmos, diferentemente do Velho Mundo,<br />
sempre portador da razão dominadora, vitimária, violenta,<br />
da morte, deste mundo, conforme disse Napoleão citado pelo<br />
próprio Hegel, “Cette vieille Europe m’ennuie”. Portanto, oh!<br />
Mama “África / me devolve meu canto... / Meu sofrimento foi<br />
tanto / que até deixei de cantar! / Conta, minha mãe preta<br />
bonita, / como se faz essa luta... / Meu povo vai te escutar”. 62<br />
Eduardo Hoornaert afirma que “una historia del cristianismo<br />
en Brasil no puede evitar la confrontación con esas<br />
dos realidades básicas: el mundo indígena y el mundo africano”.<br />
63 Pode-se dizer que tal princípio é válido para a compreensão<br />
cultural mesma do Brasil. O cristianismo que aqui<br />
se desenvolve e a forma como ele se manifesta não podem ser<br />
pensados sem os elementos da expressão religiosa indígena e<br />
sem os elementos da expressão africana, embora seja verdade<br />
que bem poucos elementos indígenas tenham influenciado o<br />
cristianismo no Brasil. Diferentemente, por exemplo, do México,<br />
onde os elementos da expressão indígena formam o<br />
substrato de todo catolicismo cristão, resultando um sincretismo<br />
barroco dinâmico. No Brasil, ao contrário, este sincretismo<br />
barroco dinâmico vai se dar muito mais com os elementos<br />
da expressão africana. Daí nosso barroquismo latinoamericano<br />
e caribenho, muito mais de inspiração indígena<br />
no México e Peru e muito mais de inspiração africana no<br />
Brasil e no Caribe. Mas vale sempre ressaltar que a ortodoxia<br />
burocrática e romana sempre está a vigiar este sincretismo,<br />
que não é tolerado. Assim, vale dizer, com Hoornaert, que “la<br />
burocracia romana repercutió en Brasil en todos los campos<br />
de la vida eclesial, en la liturgia y en la teología, en la pastoral<br />
y en la espiritualidad”. 64 Somente o sul do Brasil escapou<br />
dessa influência e desse condicionamento no cristianismo<br />
dos elementos africanos, uma vez que sofreu a influência direta<br />
dos imigrantes europeus.<br />
62 TAIGUARA, entre 2/mar./94 e 17/abr./94.<br />
63 HOORNAERT, 1995, p. 296.<br />
64 HOORNAERT, 1995, p. 307.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 87
SINALIZAÇÕES PARA UMA SEMIÓTICA<br />
DAS RELIGIÕES<br />
No entanto, nestes últimos decênios a paisagem religiosa<br />
na América Latina e no Caribe, e de modo especial no<br />
Brasil, vem se modificando e se alterando rapidamente.<br />
Desde algunos años atrás, se presentan claros indicios<br />
de que por primera vez desde los tiempos de la Conquista,<br />
la Iglesia católica romana está perdiendo el control<br />
sobre el campo religioso y sobre los dioses. Sus desesperadas<br />
y redobladas cartas pastorales y encíclicas<br />
condenando duramente a las sectas reflejan esta impotencia<br />
para contrarrestar una corriente de autonomía<br />
religiosa que la sorprende cuando pensaba poder<br />
celebrar firmemente el quinto centenario de una evangelización<br />
totalizadora. El campo religioso se está fragmentando<br />
en decenas de sociedades religiosas rivales,<br />
combatiéndo-se las unas a las otras. Ya no es la antigua<br />
lucha entre dioses paganos y cristianos; es la lucha entre<br />
divinidades cristianizadas que hacen suya la expresión<br />
libertaria de un panteón en expansión sin límites.<br />
En cierto sentido, se puede afirmar que la iglesia católica<br />
ya no logra regular ni controlar la dinámica religiosa<br />
creativa de las poblaciones latinoamericanas. 65<br />
Atualmente o catolicismo romano não detém mais a<br />
hegemonia religiosa no País. A diversidade religiosa e novas<br />
denominações religiosas que vão surgindo a cada dia são extremamente<br />
grandes. A título de exemplo, sem entrar nas especificidades<br />
de cada seguimento religioso, pois não é o objetivo<br />
deste ensaio, valeria nomear tão-somente alguns nomes<br />
de distintas tradições religiosas no Brasil, a partir da obra<br />
Sinais dos Tempos – diversidade religiosa no Brasil: Sociedade<br />
Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade;<br />
as Igrejas Brasileiras; as Igrejas Orientais no Brasil; Assembléia<br />
de Deus; Congregação Cristã no Brasil; Igreja Pentecostal<br />
Deus É Amor; Testemunhas de Jeová; Mórmons;<br />
Umbanda; Candomblé; Jurema; Xangô; Espiritismo; Judaísmo;<br />
o Islã no Brasil; o Budismo Japonês no Brasil; Seichono-iê;<br />
Instituição Religiosa Perfeita Liberdade; Hare Krishna;<br />
Rajneesh; a Astrologia e sua prática na sociedade brasileira;<br />
65 BASTIAN, 1997, p. 10.<br />
Matéria Vida; Ananda Marga; Igreja da Unificação; a Doutrina<br />
do Santo Daime. 66<br />
Há um outro fenômeno de extremada importância<br />
que mais do que nunca merece a atenção: o aparecimento<br />
dos fundamentalismos neopentecostais. Estes fundamentalismos<br />
estão conectados no contexto do mercado e de suas lógicas<br />
de globalização e exclusão. Com linguagens, cantos,<br />
simbologias, gestos, danças, leituras bíblicas sem mediações<br />
analíticas e hermenêuticas teológicas, esses movimentos tomam<br />
as mais diversas geografias, como novos espaços do sagrado,<br />
como campo de futebol, emissora de televisão, com os<br />
megacultos e as megamissas, sempre com seus pop stars,<br />
como por exemplo padre Marcelo Rossi, para os carismáticos<br />
católicos, e o pastor Marcelo Crivella, para os carismáticos da<br />
Igreja Universal do Reino de Deus.<br />
Esse fenômeno merece ser estudado com seriedade e<br />
profundidade, pois está conectado, por um lado, à lógica do<br />
mercado e, por outro, às estruturas psicológicas da grande<br />
massa seguidora de tais movimentos. Se a fé e a religião podem<br />
libertar, também podem gerar doenças e distúrbios. E o<br />
nosso tempo está a gerar patologias religiosas entre tantas<br />
outras. Por outro lado, não podemos perder a sensibilidade<br />
quanto a religião ser, num contexto de miséria extrema, o jeito<br />
de muitas pessoas fazerem a caminhada necessária. “Na<br />
América Latina a religião – dizia um antropólogo – não é<br />
simples muletas. Ela é os pés e boa parte da caminhada dos<br />
pobres.” 67<br />
Pensar a religião no contexto dos 500 anos de Brasil,<br />
quando se está a celebrar o quinto centenário de evangelização<br />
e do “descobrimento”, não é algo tão simples. Pelo contrário.<br />
É demasiado complexo, pois não se pode esquecer<br />
também que evangelização e descobrimento têm a ver com<br />
conquista e encobrimento do outro, como já ficou demonstrado<br />
ao longo deste ensaio. Pode-se dizer que este tempo é<br />
fundamentalmente tempo de reflexão (reflectere = voltar<br />
atrás). É tempo de voltar atrás para se poder re-signi-ficar,<br />
semioticamente falando, o sentido e o valor de todos os pro-<br />
66 Cf. LANDIM, 1990.<br />
67 ASSMANN, 1981, p. 80.<br />
88 <strong>impulso</strong> nº 27
cessos pluriculturais e pluriétnicos que vivemos e estamos a<br />
viver, e que são infinitos.<br />
Segundo Oswald de Andrade, em A Marcha das Utopias,<br />
(...) nós brasileiros, campeões da miscigenação tanto<br />
da raça como da cultura, somos a Contra-Reforma,<br />
mesmo sem Deus ou culto. Somos a Utopia realizada,<br />
bem ou mal, em face do utilitarismo mercenário e mecânico<br />
do Norte. Somos a Caravela que ancorou no paraíso<br />
ou na desgraça da selva, somos a Bandeira estacada<br />
na fazenda. O que precisamos é nos identificar e<br />
consolidar nossos perdidos contornos psíquicos, morais<br />
e históricos. 68<br />
Consolidar e identificar nossos perdidos contornos<br />
psíquicos, morais e históricos, é trabalho de toda uma cultura.<br />
E do lugar da religião, como lugar complexo e rico de signos,<br />
nos dias de hoje pode-se fazer isso, no sentido de buscas<br />
re-signi-ficativas.<br />
68 ANDRADE, 1978, p. 153.<br />
Então, faz-se necessário inaugurarmos uma semiótica<br />
das religiões.<br />
Uma semiótica das religiões que possa ajudar na compreensão<br />
das múltiplas e infinitas correlações – misteriosas e<br />
sobre as quais muito pouco sabemos, ainda –, no âmbito das<br />
culturas e tradições religiosas, no tempo e no espaço; uma semiótica<br />
das religiões que possibilite uma visão e escuta mais<br />
alargadas das infinitas correlações e conexões das tradições<br />
religiosas entre si, bem como com outros campos de linguagem,<br />
como a filosofia, a teologia, a psicanálise, a ciência, a arte,<br />
a política, a ética, a técnica e as linguagens do mundo da<br />
vida cotidiana; uma semiótica das religiões que possa explicitar<br />
melhor o sentido e os mecanismos de libertação/opressão<br />
das estruturas e linguagens religiosas; uma semiótica das religiões<br />
que, sendo barroca, já seja nosso contra-texto, como<br />
jeito de captar nossa complexidade cultural em semiose proliferante<br />
e infinita; uma semiótica das religiões que já seja ciências<br />
da religião, portanto, sem culpa e sem pecado do lado<br />
debaixo do Equador.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ANCHIETA, J. de. Poesias. Manuscrito do século XVI, em português, castelhano, latim e tupi. Transcr., trad. e notas de M. de<br />
L. de Paula Martins. São Paulo, 1954.<br />
ASSMANN, H. A teologia da libertação faz caminho ao andar. In: Fé Cristã e Ideologia. Piracicaba: Editora <strong>Unimep</strong>, 1981.<br />
ANDRADE, O. de. Do Pau-Brasil à Antropofagia e às Utopias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.<br />
BASTIAN, J.P. La Mutación Religiosa de América Latina (Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica).<br />
México: Fondo de Cultura Económica, 1997.<br />
BORTOLETO, E.J. América Latina: complexidade lingüística en perspectiva semiótica. In: ACTAS-I do VI Simpósio Internacional<br />
de Comunicación Social, promovido pelo Centro de Lingüística Aplicada, Ministerio de Ciencia, Tecnologia<br />
y Medio Ambiente de Santiago de Cuba, Cuba, <strong>25</strong>-28/ene./99.<br />
________. América Latina: signo barroco. In: Santiago. Comunicaciones, Revista de La Univesidade de Oriente. Santiago<br />
de Cuba, (89): 96, ene.-abr./00. [Trabalho apresentado na X Coferencia Lingüístico-Literaria, 8-12/feb./00].<br />
CASCUDO, L. da C. História da Alimentação no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1983, vol. 1.<br />
Diccionário de Filosofía, con Autores y Temas Latinoamericanos. Bogotá: Editorial El Buho, 1986.<br />
DUSSEL, E.D. 1492 – O Encobrimento do Outro – a origem do mito da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1993.<br />
________. Caminhos de Libertação Latino-Americana. T. I, II, III e IV. São Paulo: Paulinas, 1985.<br />
________. Hipóteses para uma história da teologia na América Latina – 1492-1980. In: VV.AA. História da Teologia na América<br />
Latina. São Paulo: Paulinas, 1985.<br />
________. Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão. Petrópolis: Vozes, 2000.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 89
________. Filosofía de la Liberación. Argentina: La Aurora, 1985.<br />
FREYRE, G. Casa-Grande & Senzala. Rio de Janeiro: Record, 1997.<br />
GALEANO, E. As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.<br />
GERBI, A. O Novo Mundo: história de uma polêmica (1750-1900). São Paulo: Companhia da Letras, 1996.<br />
HABERMAS, J. O Discurso Filosófico da Modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990.<br />
HEGEL, G.W.F. Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal. Madrid: Alianza Editorial, 1989.<br />
HOCHLEITNER, F.J. Chuen: o novo calendário maia. Juíz de Fora/Campinas: EDUFJF/Pontes, 1994.<br />
HOORNAERT, E. La Iglesia en Brasil. In: DUSSEL, E.D. Resistencia y Esperanza: historia del pueblo cristiano en América Latina y<br />
el Caribe. San José: DEI, 1995.<br />
LANDIM, L. (org.). Sinais dos Tempos – diversidade religiosa no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos da Religião, 1990.<br />
LIMA, J.L. A Expressão Americana. São Paulo: Brasiliense, 1988.<br />
WOLFF, E. O Ecumenismo no Brasil: uma introdução ao pensamento ecumênico da CNBB. São Paulo: Paulinas, 1999.<br />
MARTÍ, J. Obras Escogidas. T. II. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1992.<br />
MORIN, E. Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa: Instituto Piaget, s/d.<br />
MORENO, C.F. América Latina em sua Literatura. São Paulo: Perspectiva, 1972.<br />
ORTEGA Y GASSET, J. La “Filosofía de la Historia” de Hegel y la Historiologia. In: HEGEL, G.W.F. Lecciones sobre la Filosofía de<br />
la Historia Universal. Madrid: Alianza Editorial, 1989.<br />
PHELAN, J.L. El origen de la idea de Latinoamerica. In: ZEA, L. (comp.). Fuentes de la Cultura Latinoamericana. México:<br />
Tierra Firme/Fondo de Cultura Economica, 1993, vol. 1.<br />
RAMOS, J.A. Historia de la Nación Latinoamericana. T. 1.º: A paso de vencedores. Argentina: A. Peña Lillo, 1973.<br />
REALE, G. & ANTISERI, D. História da Filosofia. São Paulo: Paulinas, 1991, vol. 3.<br />
RODRIGUES, R.V. Iberoamérica como totalidad. In: Anais do II Encontro Nacional de Professores e Pesquisadores da Filosofia<br />
Brasileira – Londrina, 12-14/set./91, vol. 2.<br />
TAIGUARA. África Mãe. Cd Brasil Afri, gravado entre 2/mar. e 17/abr./94.<br />
90 <strong>impulso</strong> nº 27
NO PEITO E NA RAÇA:<br />
a americanização do<br />
Brasil e a brasilianização<br />
da América<br />
THE AMERICANIZATION OF BRAZIL AND<br />
THE BRAZILIANIZATION OF AMERICA IN<br />
THE RACE QUESTION<br />
RESUMO Ao se comemorarem os 500 anos do descobrimento do Brasil, é importante reavaliar o que significa ser<br />
brasileiro, assim como aquilo que o brasileiro quer ser. Após longo período de rejeição a nossa herança africana, seguido<br />
do mito de que o País seria uma democracia racial, graças ao movimento de consciência negra o Brasil hoje<br />
reconhece a existência de racismo em nossa sociedade e a discriminação racial como um dos fatores que mantêm<br />
os afro-brasileiros em posições de inferioridade e pobreza. Nos Estados Unidos, por outro lado, especialistas dizem<br />
que a questão racial norte-americana se “brasilianizou”. O ensaio descreve características das práticas, êxitos e insucessos<br />
norte-americanos com o objetivo de oferecer uma visão daquilo que os brasileiros devem levar em conta ao<br />
reproduzir ou não modelos dos Estados Unidos, a fim de evitar-se uma situação pior do que a atual.<br />
Palavras-chave raça – racismo – discriminação – consciência negra – Brasil – Estados Unidos.<br />
J. A. LINDGREN ALVES<br />
Diplomata, cônsul geral do Brasil em<br />
S. Francisco (EUA), ex-diretor geral<br />
do Departamento de Direitos<br />
Humanos do Ministério das Relações<br />
Exteriores e ex-membro da<br />
Subcomissão das Nações<br />
Unidas para Prevenção da<br />
Discriminação e Proteção às Minorias<br />
lindgrenja@aol.com<br />
ABSTRACT On the 500th Anniversary of our discovery, it is important to re-evaluate what means “to be Brazilian” and<br />
what the Brazilians want to be. After a long period of denial of our mixed race, followed by the myth that the country<br />
was a racial democracy, thanks to the black counsciousness movement Brazil now acknowledges that racism does<br />
exist in our society and that racial discrimination is a factor that keeps Afro-Brazilians in a position of inferiority and<br />
poverty. In the United States, on the other hand, American experts say that the American racial question has been<br />
“Brazilianized”. By describing characteristics of U.S. practices, achievements and failures, this essay tries to provide a<br />
view of what Brazilians ought to bear in mind when deciding if they should reproduce or not American models, in<br />
order to avoid a situation far worse than the present one.<br />
Keywords race – racism – discrimination – black consciousness – Brazil – United States.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 91
Brasileiro na Terra<br />
de Santa Cruz<br />
era qualificativo<br />
vernáculo para o<br />
indivíduo dedicado<br />
ao mercadejo<br />
da madeira cor<br />
de brasa<br />
Embora como país o Brasil ainda não tenha sequer 200 anos, o<br />
qüingentésimo aniversário do descobrimento de nossas terras pelos navegadores<br />
portugueses é momento oportuno para se proceder a novas<br />
avaliações sobre o que efetivamente significa ser brasileiro. Afinal, antes<br />
e acima do brado de independência pelo príncipe reinol arrebatado<br />
que, depois de imperador nos trópicos, iria tornar-se rei de Portugal, ou<br />
uma proclamação de República a que assistiu “bestializada” 1 a grande<br />
maioria da população, foi a presença lusitana na margem sul-americana do Atlântico que<br />
propiciou a construção gradativa de nossa nacionalidade. Mas é igualmente importante<br />
procurar saber o que o brasileiro quer ser.<br />
Após um primeiro período, em que brasileiro na Terra de Santa Cruz era qualificativo<br />
vernáculo para o indivíduo dedicado ao mercadejo da madeira cor de brasa, nos três<br />
séculos em que o Brasil foi colônia o “brasileiro” gentílico se aplicava, por oposição ao “reinol”<br />
oriundo da metrópole, aos portugueses nascidos em nossa periferia descontígua da<br />
Ibéria. Os autóctones da América em todas as latitudes, dado o equívoco hemisférico de Colombo,<br />
eram – e ainda são – “índios”, designados ou não por cognome grupal, quando<br />
não chamados por epíteto desairoso como “bugre”. Escravos africanos não passavam de<br />
“pretos”, sendo qualificados também como “bugres” ou “boçais”, que se tornavam “ladinos”<br />
à medida que falassem português. Seus filhos nascidos na terra não eram “afro-brasileiros”,<br />
mas “crioulos”. “Negro” era o termo genérico para todo elemento “de cor”, que<br />
obtinha relativo embranquecimento taxionômico quando alforriado ou nascido forro. 2<br />
Embora sempre sujeita a variações regionais ou episódicas, tal classificação geral, feita pelos<br />
segmentos dominantes, não chegou a ser alterada pela elevação oitocentista da colônia<br />
a vice-reino. Nem o Rio de Janeiro fortuitamente transformado em sede monárquica do<br />
Império lusitano transformou ipso facto os “brasileiros” em reinóis.<br />
Para a construção de uma nacionalidade própria, malgrado a maioria negra de sua<br />
população, 3 o Brasil “branco” recém-independente, de origem portuguesa e cultura europeizada,<br />
paradoxalmente recorreu ao indígena, não-cidadão do novo Estado, como<br />
símbolo da brasilidade. Considerado indômito e já liberto da escravidão, o habitante natural<br />
de nossas terras “paradisíacas” deveria inspirar todos os brasileiros do Império na<br />
construção da pátria livre, pela qual se disporiam a morrer. Pastiches tropicais dos cavaleiros<br />
medievos romantizados na Europa, de armaduras metamorfoseadas em tangas pudibundas,<br />
tupis, tapuias e quejandos – que nem por isso deixaram de ser expulsos de seus<br />
territórios ancestrais, quando não fisicamente dizimados – ajustavam-se com seus cocares,<br />
no imaginário imperial, às sobrecasacas dominantes do regime escravagista. O negro<br />
1 No dizer de Aristides Lobo, retomado e amplamente explicitado por CARVALHO, 1987.<br />
2 Em contraste com o preconceito antinegro de portugueses brasileiros e reinóis, ilustrado por infinitos<br />
casos relatados, RODRIGUES (1982, p. 88) registra que, desde alvará de 1773, “eram os pretos libertos hábeis<br />
para todas as honras e cargos públicos”.<br />
3 Num total de 3,8 milhões de habitantes, 1,93 milhão eram negros, 526,5 mil, mulatos e 1,043 milhão, brancos,<br />
no período de 1817-1818, segundo cálculos do Visconde de Rio Branco citados por RODRIGUES (1982,<br />
pp. 80-81). E o número de africanos importados só fez aumentar até 1850.<br />
92 <strong>impulso</strong> nº 27
de pés descalços, que carregava nas costas a economia, não<br />
era propriamente brasileiro, nem, muito menos, cidadão. 4<br />
Com a Proclamação de 1889, ano e meio após a Abolição,<br />
e a extensão da cidadania nacional (limitada pela renda<br />
e excludente das mulheres) em 1891 a todos os grupos<br />
populacionais aculturados, o Brasil descobriu a “raça”. Descobriu<br />
e apavorou-se. Ao contrário do Império escravocrata,<br />
“caucasiano” trigueiro com poucas exceções entre os cidadãos<br />
ativos, a República reconhecia-se constitucionalmente<br />
policrômica, mas não gostava do que via. Para “civilizar-se”<br />
– e suplementar a mão-de-obra faltante desde o fim do tráfico<br />
negreiro – recorreu à imigração européia dirigida (apenas<br />
a contragosto abriu as portas à imigração japonesa). 5<br />
Isso porque, conforme então se entendia como verdade evidente,<br />
teorizada por ideólogos ilustres, cultura e civilização<br />
somente poderiam ser brancas. Assim o mostrara eternamente<br />
a Europa, e o confirmava no presente sua filha mais<br />
bem sucedida: a “América” – do Norte.<br />
Desde essa época os Estados Unidos começavam a<br />
destronar o velho continente como modelo de progresso, a<br />
ser copiado no projeto modernizante dos governantes nacionais.<br />
Foi, portanto, contemporâneo de nossa velha República,<br />
o início do processo endógeno e exógeno, hoje sabidamente<br />
inexorável, de americanização do Brasil – por mais<br />
que as reformas urbanas da belle époque brasileira copiassem<br />
a da Paris de Napoleão III. E tudo isso se processava,<br />
como sempre, “no peito e na raça”, à revelia dos milhões de<br />
“bestializados”.<br />
Somente com Gilberto Freyre o Brasil se reconheceu<br />
mulato. Mulata, cabocla, parda, cafusa, curiboca, mestiça<br />
mazombo, enfim, sua população sempre fora, desde que os<br />
primeiros portugueses vieram instalar-se, sem mulheres, nas<br />
4 Os pés obrigatoriamente descalços eram a marca visível da escravidão<br />
(ALENCASTRO, 1997b, p. 79). O negro ou mestiço livre tinha cidadania<br />
legal equiparada à do branco.<br />
5 Na verdade, o caráter predominantemente “africano” da população já<br />
preocupava o Império, que, para “embranquecê-la”, deu início à importação<br />
dirigida de mão-de-obra européia, aceitando um primeiro contingente<br />
de chineses na década de 1850. A República chegou a proibir por<br />
Decreto, em 1890, a entrada de asiáticos e africanos livres, contra a vontade<br />
dos fazendeiros necessitados de trabalhadores de qualquer origem.<br />
Foi a pressão dos proprietários rurais sobre o governo que levou a República<br />
a reverter o veto à imigração asiática em 1892, propiciando a chegada<br />
dos primeiros japoneses em 1908 (ALENCASTRO, 1997a, pp. 239-316).<br />
terras coloniais transatlânticas, desde que os primeiros escravos<br />
africanos foram trazidos à força para trabalhar na lavoura<br />
do açúcar. Não obstante a tentativa de caiação realizada<br />
até então pela política imigratória, a partir da década de 30,<br />
o Brasil oficial, precedido nos anos 20 pelo Brasil artístico do<br />
Movimento Modernista, passou aos poucos a declarar assumir-se<br />
filho natural e cultural das três “raças” formadoras –<br />
ou, conforme explicitava Freyre, resultado antropológico de<br />
acasalamentos híbridos, por vezes até sacramentados pela<br />
religião oficial, do varão português com a índia fêmea, dos<br />
senhores e sinhozinhos da casa-grande com as negras domésticas<br />
e da senzala. Isso sem falar da massa maior e mais<br />
popular de nossa gente, oriunda da mestiçagem entre afrobrasileiros<br />
forros e foragidos com brancos pobres e a população<br />
nativa, nesses casos sem nenhum nexo sociológico entre<br />
o sexo e a parceria de esteira, rede e capim.<br />
Muitos repudiaram e ainda repudiam Gilberto Freyre,<br />
pela alegada falta de rigor científico, porque seus excessos<br />
tendiam a valorizar exageradamente a colonização portuguesa,<br />
porque suas interpretações se prestavam para fundamentar<br />
o mito de nossa “democracia racial”. Não terão sido,<br />
porém, apenas aos cientistas sociais minuciosos, militantes<br />
antiimperialistas e ativistas da consciência negra que Freyre<br />
desagradou. Certamente muitos compatriotas racistas ou<br />
simplesmente alienados, que se consideravam possivelmente<br />
caucasóides puros, tampouco ficaram satisfeitos.<br />
Negativo para o movimento negro, positivo para uso<br />
externo, o fato é que o mito da democracia racial “pegou”, no<br />
Brasil e no exterior. Conhecido como país do samba, das mulatas<br />
e do futebol (futebol do negro Pelé e do mulato Garrincha,<br />
mais que do alourado Zico ou do “italiano” Toninho Cerezo),<br />
o Brasil é ainda apontado alhures, com freqüência,<br />
como terra de miscigenação, tolerância e igualdade racial.<br />
Até por Nelson Mandela.<br />
Sabe-se, no presente, e em geral se admite, que nossa<br />
democracia racial era meramente formal. Compreende-se,<br />
no Brasil atual, que esse mito prejudicou uma conscientização<br />
mais tempestiva dos fatores discriminatórios que mantêm<br />
em posição de inferioridade os cidadãos “de cor”. A<br />
crença numa ausência de preconceitos malévolos intrínseca<br />
a nosso povo, ainda que decorrente das condições de escra-<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 93
vidão de que fez uso a “lascívia” lusitana, ademais de encobrir<br />
o racismo existente, facilita a perpetuidade das condições<br />
sociais de pobreza e marginalização da maioria de nossos<br />
negros. Ao mesmo tempo em que faz arrefecer as cobranças de<br />
parte dos discriminados, desvanece eventuais sentimentos de<br />
culpa nas camadas dominantes. Por outro lado, é também inegável<br />
que em poucos outros lugares, se é que algum há em<br />
qualquer dos continentes, tanta gente aparentemente branca<br />
voluntária e prazerosamente se declara preta, mulata, cabocla<br />
ou “com um pé na África”. A ilusão de uma democracia racial<br />
faz, sem dúvida, confundir uma realidade complexa, na qual o<br />
preconceito se pratica, mas não se assume. É difícil, contudo,<br />
visualizar quem possa condenar a sério como nefasta a poesia<br />
de um Vinicius de Moraes no belíssimo Samba da Bênção ao<br />
afirmar-se com orgulho “o branco mais preto do Brasil”.<br />
A ASSERÇÃO DA CONSCIÊNCIA NEGRA<br />
Ultrapassada a fase histórica em que a esquerda rejeitava<br />
o corte racial nas reivindicações sociais como empecilho<br />
à conscientização classista, a afirmação do negro como<br />
negro na sociedade brasileira é fenômeno recente, de inquestionável<br />
valor. Além de importante para a recuperação da<br />
auto-estima daqueles que são vítimas de preconceitos discriminatórios,<br />
assim como para a cobrança legítima dos direitos<br />
que lhes são devidos no interior da sociedade nacional, tal<br />
afirmação é causa protegida no Direito Constitucional interno<br />
e pelo Direito Internacional. A Declaração Universal dos<br />
Direitos Humanos, de 1948, tem como premissa básica a<br />
idéia da não-discriminação, afirmando os direitos e liberdades<br />
fundamentais de todas as pessoas “sem distinção de<br />
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião<br />
política ou de qualquer outra natureza, origem nacional<br />
ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”<br />
(Art. 2.º). Regulamentada pelo Pacto Internacional de Direitos<br />
Civis e Políticos, que exige dos Estados-partes – entre os<br />
quais se inclui o Brasil – a adoção de leis e outras medidas<br />
destinadas a implementar os direitos por ele protegidos sem<br />
nenhum tipo de discriminação, as práticas do racismo são,<br />
além disso, objeto do primeiro grande tratado sobre direitos<br />
humanos adotado pelas Nações Unidas: a Convenção Internacional<br />
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação<br />
Racial, de 1965, assinada sem reservas pelo Brasil<br />
em 7 de março de 1966, ratificada em 27 de março de 1968<br />
e promulgada internamente pelo Decreto 65.810, de 8 de dezembro<br />
de 1969. 6<br />
Como ensina Joel Rufino dos Santos, a luta organizada<br />
do negro brasileiro contra o racismo teve seus primórdios<br />
às véspera da Revolução de 30, quando “semi-intelectuais e<br />
subproletários” criaram em São Paulo uma “imprensa negra”,<br />
dando origem à Frente Negra Brasileira. Concomitante<br />
à fase de elaboração da ideologia da democracia racial, a<br />
Frente foi extinta em 1937, quando o golpe pôs fim à incipiente<br />
abertura democrática instaurada pela Revolução. 7<br />
Longamente submergida na “síndrome do embranquecimento”<br />
e politicamente sufocada durante o regime militar,<br />
que cultivava o mito da inexistência de discriminações,<br />
a incipiente auto-afirmação do negro brasileiro, a partir dos<br />
anos 60, ainda assim disseminou-se. Vem desse período sobretudo<br />
a valorização da personagem histórica de Zumbi,<br />
amplamente utilizada pela oposição democrática como símbolo<br />
de luta pela liberdade, assim como o apoio praticamente<br />
unânime da sociedade nacional à política africana desenvolvida<br />
pelo Itamaraty nos anos 70 e 80. Somente, porém, com<br />
a redemocratização as reivindicações dos negros puderam<br />
tornar-se mais audíveis. Como resultado delas, a Constituição<br />
de 1988 foi bastante explícita: a par das disposições genéricas<br />
antidiscriminatórias, criminalizou o racismo, protegeu as<br />
manifestações das culturas indígenas e afro-brasileiras, determinou<br />
a proteção legal aos documentos e locais dos antigos<br />
quilombos e, nas disposições transitórias, assegurou o reconhecimento<br />
das terras ocupadas pelos quilombolas remanescentes.<br />
8 Na seqüência de várias iniciativas que levaram ao<br />
tombamento do sítio histórico da Serra da Barriga onde se situava<br />
a Angola Janga de Zumbi, também em 1988 foi constituída<br />
a Fundação Cultural Palmares, pelo Ministério da<br />
Cultura, com o objetivo de “promover a preservação dos valores<br />
culturais, sociais e econômicos, decorrentes da influência<br />
negra na formação da sociedade brasileira”. 9 Na historio-<br />
6 LINDGREN ALVES, 1997, p. 95.<br />
7 SANTOS, 1999, pp. 115-117.<br />
8 Artigo 5.º caput, VI e XLII; Art. 215, § 1.º e 2.º; Art. 216, § 5.º; e Art. 68 das<br />
Disposições Constitucionais Transitórias.<br />
9 Lei n.º 7.668, de 22/ago./1988, Art. 1.º.<br />
94 <strong>impulso</strong> nº 27
grafia, desde os anos 70 as pesquisas começaram a demonstrar<br />
claramente o papel ativo do negro em nossa história –<br />
como, por exemplo, sua participação decisiva em quase todas<br />
as rebeliões da colônia e do Império, assim como a chamada<br />
Revolta dos Ladinos, determinante para a abolição da escravatura<br />
–, revertendo a visão de submissão escrava e passividade<br />
antes predominante. Mais conseqüentemente ainda,<br />
começaram a formar-se na sociedade civil organizações<br />
não-governamentais negras e brancas progressistas para<br />
apoio a grupos específicos. Em 1995, num contexto de reconhecimento<br />
maior dos direitos humanos, o governo federal<br />
criou, com sede no Ministério da Justiça, o Grupo de Trabalho<br />
Interministerial para a Valorização da População Negra, que<br />
congrega representantes de diversos órgãos oficiais e do movimento<br />
negro, com o objetivo de estudar e propor medidas<br />
concretas para elevar as condições sociais desse vasto segmento<br />
populacional brasileiro. 10 Vem, na mesma linha, apoiando<br />
decisivamente as iniciativas da Fundação Cultural Palmares,<br />
entre as quais a construção, em Brasília, de um grande<br />
Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura<br />
Negra, com inauguração prevista por ocasião do V Centenário<br />
do Descobrimento do Brasil. Tal Centro, antiga reivindicação<br />
dos afro-brasileiros, acadêmicos e educadores, deverá<br />
funcionar como elemento de aglutinação e difusão dessa importante<br />
vertente da cultura brasileira. 11<br />
Assim como o movimento internacional pelos direitos<br />
humanos em geral foi fortemente influenciado, e em certos<br />
aspectos liderado, pelos Estados Unidos, também o movimento<br />
negro brasileiro foi naturalmente impulsionado pela<br />
luta vitoriosa dos negros norte-americanos pelos direitos civis.<br />
Conquanto os objetivos perseguidos fossem na origem<br />
bastante distintos – os afro-americanos postulando, nos anos<br />
50 e 60, o reconhecimento legal de direitos iguais civis e políticos;<br />
os afro-brasileiros reivindicando a observância, pelo<br />
Estado e pela sociedade, dos direitos iguais já reconhecidos<br />
na Lei –, a contaminação de posturas, também aí no sentido<br />
Norte-Sul, era esperável, tendo sido particularmente marcante<br />
nas décadas de 70 e 80.<br />
10 Decreto presidencial de 20/nov./1995.<br />
11 PEREIRA, 1998, p. 63.<br />
Hoje em dia, muito mais do que antes, o movimento<br />
negro brasileiro, em suas diversas ramificações, tem características<br />
próprias, inspiradas ou não em conquistas norteamericanas.<br />
O intercâmbio de experiências com os irmãos do<br />
Norte é freqüente, o respaldo mútuo, natural, e os objetivos,<br />
assemelhados. Tais objetivos têm agora, aparentemente, fundamentos<br />
tão comuns que se vem tornando corrente nos Estados<br />
Unidos a interpretação de que a questão racial norteamericana<br />
se abrasileirou. 12<br />
QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS<br />
A idéia da “brasilianização da América” subentende<br />
que a segregação racial ostensiva foi substituída nos Estados<br />
Unidos pela separação de raças pela classe social. Não mais<br />
permitida no sistema legal, a discriminação se dissimularia<br />
em diversas esferas, com o risco de eternizar-se. Para alguns<br />
indivíduos de todas as cores, ela estaria sendo estimulada<br />
pelo prolongamento indefinido da própria “ação afirmativa”<br />
– sistema de preferências legais nas matrículas do ensino público,<br />
inclusive universitário, e na contratação de pessoas e<br />
serviços pelo Estado, contemplado na Convenção Internacional<br />
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação<br />
Racial como remédio antidiscriminatório de caráter provisório<br />
(Art. 1.º, § 4.º), que se teria transformado, com o passar<br />
do tempo, em fator de perpetuação de preconceitos e discriminações<br />
veladas. 13<br />
Que a situação legal do negro norte-americano evoluiu<br />
para a da igualdade formal em todo o país não resta dúvida.<br />
Que suas principais reivindicações se assemelham às do<br />
negro brasileiro – em patamares tão distintos quanto os respectivos<br />
graus de desenvolvimento econômico e riqueza acu-<br />
12 A expressão Brazilianization of America tem sido usada com maior<br />
ou menor elaboração na Academia e na literatura especializada. A título<br />
exemplificativo, ver o livro de MARX, A.W, 1998, p. 273, e a introdução à<br />
pesquisa de BELLAH et al., 1996, p. 24. Sentido especial de alerta lhe é<br />
dado por LIND, 1996, pp. 14 e 215-216, que consta ter sido o primeiro a<br />
utilizá-la.<br />
13 Essa é a razão pela qual alguns de seus próprios beneficiários têm-se<br />
manifestado favoráveis à abolição do sistema. A Califórnia foi o primeiro<br />
Estado norte-americano a abolir a ação afirmativa, em referendo popular<br />
havido em 1998. Conquanto tal abolição não contasse – nem conta agora<br />
– com apoio das minorias em geral (o sistema de preferências se aplicava<br />
em favor de todas as “minorias”, inclusive as mulheres), algumas lideranças<br />
negras, asiáticas e “hispânicas” postaram-se do lado dos republicanos,<br />
que a postularam e terminaram ganhando.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 95
mulada dos Estados Unidos e do Brasil – é asserção bastante<br />
plausível. Para aceitar-se, porém, como verdade a brasilianização<br />
da questão racial norte-americana são necessárias<br />
muitas qualificações, tanto pelos aspectos positivos como pelos<br />
negativos.<br />
Os negros dos Estados Unidos, autodenominados<br />
afro-americanos, além de terem atualmente participação<br />
ponderável na vida política e econômica nacional, compõem<br />
a população negra de melhor nível médio de vida do planeta.<br />
Educada e substancialmente abastada, em virtude do sistema<br />
da “ação afirmativa” ora repudiado como anacrônico por<br />
alguns de seus beneficiários, a burguesia afro-americana<br />
não somente corresponde a parcela expressiva do mercado,<br />
como também influi significativamente na condução do país.<br />
Ocupa cargos importantes dos três ramos do Poder, nos<br />
três níveis da Federação, e funções de direção em empresas<br />
prósperas (quase sempre “étnicas”).<br />
Os problemas mais comuns, resultantes de preconceitos,<br />
para os contingentes negros norte-americanos são, até<br />
certo ponto, parecidos com aqueles encontrados no Brasil:<br />
para os agentes brancos ou negros da polícia, a cor do elemento<br />
visado é o primeiro critério de suspeição; clubes ricos<br />
geralmente rejeitam associados “de cor”; crianças negras<br />
têm mais dificuldades de aprendizado do que as brancas; a<br />
maioria da população abaixo da linha de pobreza é negra,<br />
“hispânica” ou de outras minorias; a vizinhança urbana interracial<br />
é rara (todos os grupos minoritários tendem a autoconcentrar-se<br />
em guetos).<br />
Há, todavia, um tipo de problema que a experiência<br />
histórica do Brasil praticamente desconhece: a cultura do<br />
ódio racial. Para procurar descrevê-la, a fim de que se apreenda<br />
a força de suas manifestações contemporâneas, vale a<br />
pena fazer um corte “cinematográfico” nesta exposição. O<br />
corte nos leva ao Texas, com zoom sobre a pequena cidade de<br />
Jasper.<br />
O “REFRÃO QUE NUNCA SE EXTINGUE”<br />
Quando, em 23 de fevereiro de 1999, o júri declarou<br />
culpado o primeiro dos três envolvidos no assassinato de James<br />
Byrd Jr., o mundo respirou aliviado. O réu, John William<br />
King, era o motorista da camioneta a que fora acorrentada,<br />
sete meses antes, a vítima previamente espancada, arrastada<br />
e esfacelada viva por três milhas de estrada, finalmente morta<br />
ao chocar-se com canaleta que lhe decepou braço e cabeça.<br />
Tudo por motivos literalmente epidérmicos. Arrogante ainda<br />
depois de preso (e também depois de condenado), o criminoso<br />
branco, de nome majestático e corpo tatuado de heráldica<br />
odiosa, assumira na cadeia postura soberana: fizera<br />
passar a seus dois cúmplices “arianos” bilhete encorajador,<br />
afirmando que haviam feito história e seriam lembrados com<br />
orgulho.<br />
Os três assassinos de James Byrd Jr. não entrarão para<br />
a história como heróis ou mártires, conforme os termos do<br />
bilhete. Não entrarão sequer como vilões muito especiais. Fazem<br />
parte da história dos Estados Unidos por motivo bem diferente:<br />
John William King foi o primeiro branco no Texas<br />
condenado à pena capital por homicídio de um negro. De<br />
seus dois cúmplices, julgados mais tarde também por jurados<br />
brancos, um foi igualmente condenado à morte e o outro,<br />
à prisão perpétua.<br />
Para um observador desavisado pode ter surpreendido<br />
o registro pela imprensa de que membros da Ku Klux Klan<br />
estiveram presentes às imediações do tribunal de Jasper durante<br />
o julgamento de King. Na mente de quem se encontra<br />
geograficamente distante, inclusive o público norte-americano<br />
das grandes cidades, os rituais de cruzes incendiadas,<br />
vestes brancas e capuzes daquela organização racista afiguram-se<br />
encenações hollywoodianas de um passado esmaecido.<br />
Resvalam na consciência como os relatos de antigas<br />
crueldades contra os escravos do Brasil. Mais surpreendente<br />
ainda parecerá o registro de que os membros da Ku Klux<br />
Klan de Jasper nas adjacências do local de julgamento incluíam-se<br />
entre manifestantes que condenavam o homicídio de<br />
um negro. 14<br />
Na realidade, linchamentos como meio de intimidação<br />
de afro-americanos contra o exercício de direitos humanos<br />
no Sul dos Estados Unidos – 4 mil indivíduos linchados<br />
entre o fim da Guerra de Secessão e a década de 30 15 – são<br />
14 Menos surpreendente terá sido a presença de membros armados dos<br />
“Novos Panteras Negras” para “defender os negros de qualquer eventual<br />
agressão branca”. Cf. FERRAZ, 1999, pp. 40-41.<br />
15 STAPLES, 1999.<br />
96 <strong>impulso</strong> nº 27
16 Ibid.<br />
17 Esse assunto será retomado e explicitado adiante.<br />
18 Todos os dados factuais deste trecho, quando não objeto de anotação<br />
específica, foram extraídos do livro de RIDGEWAY, 1995, e da ENCYCLO-<br />
PAEDIA BRITANNICA, 1991.<br />
coisa do passado. Episódios como esse relatado causam repulsa<br />
e indignação generalizadas, que comprovam a grande<br />
evolução da mentalidade sulina. Também muito evoluiu o<br />
sistema penal: em contraste com os apenas 49 indiciados e<br />
quatro encarcerados entre as “dezenas de milhares de linchadores”<br />
de 1870 a 1930, 16 as detenções e processos de pessoas<br />
de qualquer cor são agora céleres e eficientes. A abolição<br />
das famosas “leis Jim Crow” segregacionistas – por seqüência<br />
de decisões da Suprema Corte, iniciadas com a declaração<br />
da inconstitucionalidade da segregação nas escolas públicas<br />
em 1954 – foi o ponto de inflexão do amplo desenvolvimento<br />
societário conquistado pela mobilização nacional<br />
dos negros, de que foi figura dominante o reverendo Martin<br />
Luther King Jr.<br />
Apesar desses avanços incontestes, a Ku Klux Klan<br />
ainda existe. Não mais reputada uma organização terrorista,<br />
nem voltada, em princípio, para ações de intimidação pela<br />
força, ela é tolerada com base nas liberdades de expressão e<br />
reunião da Primeira Emenda à Constituição.<br />
Fundada no Tennessee, em 1866, como clube social<br />
de veteranos do ex-exército confederado, a Ku Klux Klan logo<br />
passou a ameaçar os ex-escravos e seus descendentes. Declarada<br />
inconstitucional em 1882 e praticamente dissolvida no<br />
fim do século XIX, ressurgiu na Georgia em 1915, com o mesmo<br />
nome (que teria sido extraído do grego kyklos, origem<br />
distante de “círculo”), como um movimento de regresso aos<br />
valores tradicionais do Sul agrário, baseados no protestantismo<br />
branco fundamentalista, segundo o qual apenas os brancos<br />
anglo-saxões são filhos de Deus. 17 Atingiu seu apogeu na<br />
década de 20 (chegou a ter 4 milhões de afiliados), perdeu<br />
influência nos anos 30 com a Grande Depressão e voltou a<br />
crescer em número de membros e em agressividade nos anos<br />
50 e 60 em oposição ao movimento pelos direitos civis. 18<br />
Desde 1920 os objetivos antiintegracionistas da Ku<br />
Klux Klan passaram a visar, além dos negros, os judeus, os<br />
católicos e os imigrantes em geral. À motivação racista acrescentou-se,<br />
na época, o anti-sindicalismo e um antibolshevismo<br />
exacerbado que cresceu ao longo da Guerra Fria. Para<br />
ela, toda a mobilização afro-americana em defesa de direitos<br />
universais não passava de agitação comunista.<br />
Os atos de brutalidade racista começaram a ser seriamente<br />
investigados e reprimidos nos anos 60, durante o governo<br />
do presidente Lyndon Johnson, a partir do assassinato<br />
no Alabama da ativista branca Viola Liuzzo. Data de 1988 o<br />
último grande caso judicial envolvendo altas personalidades<br />
da Ku Klux Klan sanguinária. Embora os réus tenham sido<br />
absolvidos, esse processo marcou o fim das atividades violentas<br />
da sociedade “secreta”, cujos membros desde então se dedicam<br />
aberta e diretamente à política.<br />
Não mais uma única organização semiclandestina,<br />
mas uma miríade de pequenos grupos, frouxamente interligados<br />
nas United Klans of America e pelos seus knights (cavaleiros),<br />
a Klan, como é chamada simplificadamente, mobiliza<br />
campanhas, apóia e financia candidatos, freqüenta as<br />
páginas de jornais com entrevistas de seus hierarcas esdrúxulos<br />
– “grandes dragões”, “grandes titãs” e “feiticeiros<br />
imperiais” –, que mantêm nas reuniões grupais a mesma indumentária<br />
de roupões brancos e os mesmos ritos de queima<br />
de cruzes. Membros dos agora diversos clãs concorrem a<br />
cargos públicos importantes. O mais conhecido nacionalmente<br />
em disputas eleitorais é o “cavaleiro” David Duke, que,<br />
em 1988, chegou a lançar-se candidato à Presidência dos Estados<br />
Unidos pelo Partido Popular, de extrema direita. Não<br />
ganhou, mas foi eleito, em 1989, pelo Partido Republicano,<br />
deputado estadual na Louisiana, com plataforma de oposição<br />
à “ação afirmativa”. Em 1999 ainda aparecia nos jornais<br />
como possível candidato a cargo eletivo federal.<br />
Conquanto tenha abdicado das táticas agressivas, a Klan<br />
continua a promover os valores dos fundamentalistas “brancos<br />
anglo-saxões protestantes” (os famosos WASPs), preferencialmente<br />
separatistas (propugnam a divisão dos Estados Unidos<br />
em dois ou três países, sendo, neste segundo caso, um bem<br />
maior para os brancos, um para os negros e outro para as outras<br />
“raças”), divulgando-os sem restrições. Faz proselitismo<br />
entre os jovens, atraindo para suas fileiras grupos skinheads<br />
dispersos e desorganizados. Articula-se, para a promoção de<br />
seus objetivos, com outros grupos e partidos “supremacistas”<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 97
19 RIDGEWAY, 1995, p. 52 (minha tradução).<br />
domésticos mais ou menos legais. Mantém conexões internacionais<br />
com neonazistas canadenses e europeus.<br />
Domesticada em sua virulência, com maior ou menor<br />
visibilidade de acordo com a época e as políticas dominantes,<br />
a Ku Klux Klan organizacionalmente modificada perdura,<br />
portanto, até hoje. Nas palavras de James Ridgeway: “Em<br />
muito da história americana, a Ku Klux Klan tem sido um refrão<br />
que nunca se extingue de todo, um canto de sereia da<br />
supremacia branca periodicamente renovável”. 19<br />
Se, por um lado, a Klan sempre foi amplamente conhecida,<br />
por outro, menos conhecidos eram, até o atentado<br />
de Oklahoma City de 1995 (que destruiu todo um prédio público,<br />
com mais de uma centena de vítimas), os demais grupos<br />
paramilitares nela inspirados, espalhados pelo país. Suas<br />
denominações variam desde as ostensivamente racistas –<br />
Aryan Nations, National Association for the Advancement of<br />
White People e White Aryan Resistance – até as esotéricas –<br />
Posse Comitatus e Invisible Empire. As que se tornaram mais<br />
famosas são as chamadas militias, particularizadas pelo<br />
nome do Estado em que atuam: “Milícias de Michigan”,<br />
“Milícias de Montana”, “Milícias da Califórnia” etc. Estas têm<br />
proliferado sobretudo desde 1993, quando, em Wako, no Texas,<br />
o cerco e a posterior ação da polícia contra membros de<br />
seita milenarista, autoconfinados numa fazenda, culminaram<br />
na morte de muitas pessoas, inclusive crianças. Não necessariamente<br />
racistas – algumas ostentam negros entre seus<br />
membros (como, aliás, alguns grupos da Ku Klux Klan já<br />
têm, paradoxalmente, afiliados hispânicos) –, nem necessariamente<br />
aliadas entre si, todas se identificam em pelo menos<br />
duas constantes: a ojeriza ao governo da União e a rejeição<br />
peremptória a qualquer esboço de regulamentação para a<br />
posse de armas. O governo é visto como violador da Constituição<br />
federal e cerceador das liberdades individuais, que impõe<br />
impostos descabidos, interfere em áreas fora de sua competência<br />
e entrega a soberania nacional à ONU e a outras organizações<br />
internacionais. A posse livre de armas de qualquer<br />
tipo, inclusive as de uso militar, é considerada um<br />
direito fundamental, sacramentado pela Segunda Emenda à<br />
Constituição, necessário à proteção do indivíduo e das respectivas<br />
comunidades contra o governo federal. Monitoradas<br />
pelo FBI, essas entidades se respaldam legalmente na mesma<br />
Primeira Emenda constitucional que legitima a existência da<br />
Ku Klux Klan. 20<br />
Quando o diretor Costa Gavras, no final dos anos 80,<br />
retratou, no filme Betrayed, a caçada “esportiva” noturna a<br />
um negro por fazendeiros brancos associados em organização<br />
clandestina sem uniforme da Klan, pintou adequadamente<br />
personagens paradoxais: amorosos, trabalhadores e<br />
dedicados à família, mas de um racismo desvairado. Inspiraram-no<br />
provavelmente as sociedades secretas antigovernamentais,<br />
bastante assemelhadas às milícias, mas exclusivamente<br />
anglo-saxãs e protestantes, como a Posse Comitatus.<br />
Tais associações, multiplicadas até recentemente e engrossadas<br />
por agricultores falidos do Meio Oeste e do Sul, encaravam,<br />
e ainda encaram, como autoridade legítima apenas o<br />
xerife comunal. Respaldam-se teologicamente no movimento<br />
denominado Identidade Cristã, originário da Grã-Bretanha<br />
no século XIX, impulsionado sobretudo pelo anti-semitismo.<br />
Segundo sua interpretação “histórica” da Bíblia, os<br />
anglo-saxões seriam os verdadeiros descendentes das tribos<br />
perdidas de Israel, enquanto todos os demais seriam “povos<br />
de lama”, oriundos de Satanás. Essa vertente do protestantismo<br />
branco fundamentalista, que sempre inspirou a Ku Klux<br />
Klan, assemelha-se àquela das Igrejas reformadas holande-<br />
20 Em palestra pública na sede do prestigioso Commonwealth Club of<br />
California, em São Francisco, em 4/dez./97, Jack H. Stuart, “oficial de informação”<br />
das Milícias da Califórnia, deu a seguinte descrição do movimento<br />
das milícias: “(...) Over recent years, as government grew and<br />
started pushing people around, resistance and rage began to grow.<br />
Then the abuse of federal police in Waco, Texas, and Ruby Ridge, Idaho,<br />
frightened the people. And triggered the formation of militias all over<br />
the nation. (...) The Militias of California are composed of men and<br />
women of all races, nationalities, and religions. (...) Typically he, or she,<br />
is a person who feels we are losing our Constitutional Republic. (...) We<br />
are losing our rights and freedoms step by step. We see laws and regulations<br />
multiplying exponentially. (...) We see our sovereign nation and<br />
our military being turned over to the United Nations through complex<br />
treaties with treasonous provisions that violate our Constitution. (...)<br />
The primary purpose of the Militias of California is to support and<br />
defend the Constitutions of the United States and the State of California<br />
by providing a credible threat to unconstitutional abuse of government<br />
power. (...) We are not a threat to national security. Quite the contrary,<br />
we present a formidable adjunct to State and National troops. We are<br />
the home guard! (...)”. Texto datilografado, distribuído no evento, uma<br />
mesa-redonda de que participaram, como debatedores, um almirante da<br />
reserva e um advogado ex-agente do FBI que infiltrara o movimento,<br />
ambos opositores das milícias.<br />
98 <strong>impulso</strong> nº 27
sas, que, com sofisticação maior, deu substrato teológico ao<br />
apartheid constitucional da África do Sul. 21<br />
Enquanto os grupos da Klan e outros que compõem<br />
as chamadas “Nações Arianas” (vinculadas ao nazi-fascismo<br />
alemão passado e contemporâneo) cresceram nos anos 80 e<br />
princípios da década de 90, o que tem aumentado atualmente<br />
é a violência racial das gangues skinhead. 22 Mark Poloc,<br />
porta-voz do Southern Poverty Law Center, atribui tal mudança<br />
a causas essencialmente demográficas: as associações<br />
organizadas e hierarquizadas atraem particularmente indivíduos<br />
de meia idade, que delas se dissociam quando a situação<br />
econômica melhora. Os skinheads são jovens, muitos<br />
dos quais adolescentes, com dificuldades para entrar no<br />
mercado de trabalho sem diploma universitário. 23 Às explicações<br />
econômicas acrescentam-se outras “pós-modernas”:<br />
o anseio de auto-identificação microcomunitária a todo custo<br />
e a facilidade de circulação da propaganda por meios eletrônicos.<br />
Muito do que foi dito aqui sobre as manifestações<br />
contemporâneas – não, obviamente, as históricas – do racismo<br />
branco contra os negros pode ser invertido, em escala<br />
e tempo menores, da reação dos afro-americanos contra os<br />
brancos. A própria interpretação bíblica da “identidade cristã”<br />
teve contrapartida negra entre os muçulmanos da “nação<br />
do Islã” – ou American Muslim Mission, a que pertenceu<br />
Malcolm X – sob a liderança de Elijah Muhammad. Este<br />
professava que os negros, além de dotados de superioridade<br />
moral e cultural, teriam sido destinados por Alá a assumir a<br />
liderança cultural e política da Terra. 24 Contra um fundamentalismo,<br />
outro fundamentalismo.<br />
21 CORNAVIN, 1979, pp. <strong>25</strong>-27 e 29-35.<br />
22 Segundo o Southern Poverty Law Center, entidade do Alabama que<br />
monitora em todo o país os grupos que promovem o ódio racial – hate<br />
groups –, as “sociedades secretas” ter-se-iam reduzido em <strong>25</strong>% de 1995<br />
para 1996, num total de 140, ao passo que as gangues skinheads teriam<br />
aumentado no mesmo período em 23%, chegando a 37 em 1996<br />
(BROOKE, 1997).<br />
23 Ibid.<br />
24 Embora a American Muslim Mission como movimento centralizado<br />
tenha sido dissolvida em 1985, um de seus ramos, sob a liderança de<br />
Louis Farrakhan e com o nome exclusivo de “nação do Islã”, mantém-se<br />
ativo até hoje e tem promovido forte arregimentação na década de 90, de<br />
que foi exemplo a “marcha de 1 milhão” sobre Wahington. <strong>25</strong> HERBERT, 1999.<br />
Em paródia real à caçada do filme de Costa Gavras, a<br />
jovem morena texana Amy Robinson foi seqüestrada em Fort<br />
Worth, em fevereiro de 1998, e assassinada por dois homens<br />
brancos que a utilizaram para a prática de tiro-ao-alvo. Desapontaram-se<br />
os assassinos ao sabê-la branca, já depois de<br />
morta, porque seu plano original teria sido de “sair para matar<br />
alguns negros”. Em outubro do mesmo ano, uma gangue<br />
negra de Buffalo, no Estado de Nova York, espancou até a<br />
morte um indivíduo branco – e homossexual – que andava<br />
em direção a seu carro. Segundo testemunhas, os jovens<br />
agressores saltavam, com gritos de entusiasmo, para caírem<br />
com os pés no rosto da vítima prostrada.<br />
Ao relatar esses dois e outros casos equivalentes, o jornalista<br />
Bob Herbert observa que, ao contrário do que a maioria<br />
dos norte-americanos gostaria de crer, a brutalidade do<br />
assassinato de James Byrd Jr., em Jasper – caso com o qual<br />
se inicia esta seção –, não seria uma aberração. <strong>25</strong> Tampouco<br />
parecem aberrações, à luz do ódio racial recíproco ainda cultivado<br />
por tantas entidades, os motins que destruíram parte<br />
de Los Angeles em abril de 1992, em conseqüência da absolvição,<br />
em primeiro julgamento, dos policiais que haviam espancado<br />
um ano antes, diante de câmera filmadora, o cidadão<br />
negro Rodney King.<br />
Com efeito, os chamados hate crimes, crimes motivados<br />
pelo ódio racial ou outros preconceitos agressivos,<br />
constituem a única modalidade de delito grave com incidência<br />
crescente nos Estados Unidos de hoje. Juntamente com os<br />
episódios de crimes violentos gratuitamente praticados por<br />
adolescentes em escolas, os hate crimes preocupam seriamente<br />
a administração Clinton, que tem proposto medidas<br />
para contê-los: exigências legais que dificultariam a venda<br />
de armas, exclusão de certos armamentos do comércio, controle<br />
da ficha policial de cada comprador etc. As medidas<br />
ainda se acham em estudos ou em tramitação no Congresso.<br />
A qualificação criminal de um delito como hate crime já é<br />
há tempos agravante penal.<br />
Dizer-se, nesse contexto, diante da herança de antagonismo<br />
belicoso, persistente nas franjas – às vezes no seio –<br />
da sociedade norte-americana, que a questão racial do país<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 99
se abrasileirou parece precipitado. Falta-nos, no Brasil contemporâneo,<br />
esse ingrediente “cultural”. Casos como o do índio<br />
pataxó morto em Brasília, em 1997, incendiado enquanto<br />
dormia por adolescentes “brancos”, existem, sem dúvida,<br />
mas não têm substrato ideológico consistente. O mesmo se<br />
pode dizer dos massacres de indígenas na Amazônia – que<br />
nem por isso, ressalte-se bem, deixam de ser massacres. Os<br />
esquadrões da morte e grupos de extermínio brasileiros são<br />
tenebrosos, mas não escolhem suas vítimas pela “raça”. O recente<br />
aparecimento de grupelhos racistas skinheads em<br />
grandes cidades do Brasil acusa, por sua vez, uma nova modalidade<br />
de euro-americanização nacional.<br />
O PRETO-E-BRANCO ESMAECIDO<br />
Um dos motivos de justa satisfação regularmente expressa<br />
por autoridades federais, estaduais e municipais norte-americanas<br />
nos últimos anos tem sido a constante diminuição<br />
do número de homicídios e outros crimes violentos,<br />
particularmente nas grandes cidades. Coincidente com a<br />
presente fase de expansão da economia nacional, essa retração<br />
da criminalidade comum tem, em princípio, tudo a ver<br />
com a melhoria das condições de vida da população.<br />
Em paralelo à forte redução do desemprego e demais<br />
resultados positivos recentes no campo social, outro fator que<br />
alegadamente tem contribuído para a redução dos crimes<br />
nos Estados Unidos é a chamada “tolerância zero” nas práticas<br />
policiais e judiciais adotadas. Nas esferas regidas por leis<br />
federais, como as da imigração e do narcotráfico, isso se traduz,<br />
por exemplo, em novas disposições pelas quais o imigrante<br />
que tenha sido incriminado três vezes por qualquer<br />
infração (como dirigir alcoolizado), ou que tenha sido envolvido<br />
uma única vez no tráfico de drogas, é repatriado inapelavelmente<br />
depois de cumprir pena. A expulsão se dá<br />
quaisquer que sejam a situação legal do estrangeiro e seus<br />
vínculos familiares no país. A “guerra contra as drogas”, com<br />
penas de prisão para as pessoas envolvidas em qualquer delito<br />
nele enquadrado, inclusive o varejo de maconha, é a<br />
principal responsável pelo enorme crescimento nacional da<br />
população carcerária, uma das maiores do mundo, situada<br />
na casa de 1,8 milhão, segundo dados divulgados do Departamento<br />
de Justiça. 26 Nas jurisdições estaduais, regras como<br />
a dos three strikes (“três golpes”) penalizam com períodos<br />
de <strong>25</strong> anos ou prisão perpétua qualquer tipo de infrator pegado<br />
pela terceira vez. Aumentam, por outro lado, a freqüência<br />
do sentenciamento à pena capital, inclusive de menores.<br />
Suprimida em 1972 por decisão da Suprema Corte,<br />
que a considerou inconstitucional porque aplicada de maneira<br />
arbitrária, a pena de morte foi reabilitada nos Estados<br />
Unidos em 1976 pela mesma – e máxima – instância. No<br />
julgamento do caso Gregg versus Georgia, entendeu a Suprema<br />
Corte que a morte como punição judicial não violaria<br />
a Constituição desde que administrada sem arbitrariedade ou<br />
discriminação. 27 Readmitida, assim, no ordenamento doméstico,<br />
a pena de morte é adotada em 38 dos 50 Estados, assim<br />
como pela justiça federal. Dessas 39 jurisdições, a federal<br />
e 15 das estaduais estabelecem a idade mínima de 18 anos<br />
para os infratores a que tal pena se aplica. O limite reduz-se<br />
a 17 anos em quatro Estados e a 16 em outros 20. De 1983 a<br />
1998, o número de adolescentes condenados à morte aumentou<br />
109%. 28<br />
Sem pretender retomar a discussão sobre a pena de<br />
morte ou os argumentos que levam as Nações Unidas e a OEA<br />
a desenvolverem insistente campanha para sua erradicação,<br />
nem proferir julgamento sobre a aplicação da pena capital a<br />
menores infratores, outros aspectos das práticas da “tolerância<br />
zero” devem ser aqui mencionados, porque atinentes ao<br />
tema. O primeiro, bastante óbvio, é de cunho econômico e<br />
muito argüido: os recursos financeiros destinados a cobrir os<br />
custos sempre crescentes da construção e manutenção de<br />
presídios, ainda que terceirizados, poderiam ser utilizados em<br />
programas sociais para o aprimoramento da situação dos<br />
desfavorecidos. E estes ainda são maciçamente localizados<br />
nas minorias raciais ou étnicas. O segundo fato, muito conhecido,<br />
é que o aumento vertiginoso do número de prisioneiros<br />
se tem concentrado sobretudo entre negros e hispânicos.<br />
Ao contrário de 1950, quando os brancos compunham<br />
26 “Prison population hits 1.8 million”, San Francisco Chronicle, 15/mar./<br />
99. Segundo a mesma fonte, a taxa de presidiários por 100 mil habitantes<br />
teria passado de 313 em 1985 para 668 em 1998. Enquanto isso, segundo<br />
o FBI, o número de crimes violentos por cada 100 mil habitantes ter-se-ia<br />
reduzido de 757 em 1992 para 610 em 1997. Neste início do ano 2000 já<br />
se fala em dois milhões de presos.<br />
27 NDYAIE, 1998, p. 41.<br />
28 LA VEGA & BROWN, 1998, p. 738.<br />
100 <strong>impulso</strong> nº 27
65% e os membros de grupos minoritários apenas 35% da<br />
população carcerária, atualmente a relação se teria invertido:<br />
os negros, representando somente 13% da população do país,<br />
corresponderiam a quase metade de todos os presidiários. 29<br />
Ainda que tais proporções estejam exageradas, padrão aproximado<br />
a elas se verifica, se forem acrescentadas as demais<br />
minorias, no número de sentenciados à pena de morte: de<br />
um total de 3.269 indivíduos que, em fins de 1997, aguardavam<br />
execução, 47,05% eram brancos; 40,99% negros; 6,94%<br />
hispânicos; 1,41% indígenas; 0,70% asiáticos. Dos 403 prisioneiros<br />
executados desde que a pena de morte foi readmitida,<br />
em 1976, até 1997, apenas seis eram brancos responsabilizados<br />
pela morte de negros. Tais dados, recolhidos pelo relator<br />
especial das Nações Unidas para Execuções Sumárias ou Arbitrárias<br />
em setembro/outubro de 1997, associados a outros<br />
elementos por ele compilados, levaram-no a afirmar em seu<br />
relatório à Comissão dos Direitos Humanos: “A raça, a origem<br />
étnica e a situação econômica parecem determinantes de<br />
quem receberá ou não uma sentença de morte”. 30<br />
Assim como a brutalidade do crime de Jasper em<br />
1998 redespertou a consciência norte-americana para o problema<br />
persistente do ódio racial, o fuzilamento, em Nova<br />
York, em 4 de fevereiro de 1999, de negro inocente e desarmado,<br />
em ação policial de busca a um estuprador, reacendeu<br />
no país o debate sobre os estereótipos discriminatórios da polícia.<br />
Alvo de 41 disparos, 19 dos quais o atingiram, feitos por<br />
quatro agentes brancos à espreita de sua casa no Bronx, o<br />
imigrante Amadou Diallo, que nada tinha a ver com o caso,<br />
tornou-se, depois de morto, símbolo da visão preconceituosa<br />
das forças de segurança, que tendem a encarar minorias raciais<br />
ou étnicas como celeiros preferenciais do crime. Protestos<br />
de cunho racial desencadeados pelo episódio têm sido tão<br />
intensos – mais de mil manifestantes detidos até o início de<br />
fevereiro de 2000 – que, para o julgamento dos policiais envolvidos<br />
por júri neutro, desapaixonado, a Justiça houve por<br />
29 Dados do National Center on Institutions and Alternatives, de Arlington,<br />
Virginia, publicados na matéria “Number of blacks in jail rising toward<br />
1 million – crime policy called substitute for public policy” pelo Boston<br />
Globe e pelo San Francisco Chronicle, 8/mar./99.<br />
30 NDYAIE, 1998, p. 62.<br />
bem promover o desaforamento do caso de Nova York para<br />
Albany, no interior do Estado. 31<br />
Denúncias de duplicidade nas atividades de controle<br />
criminal são constantes: carros dirigidos por negros seriam<br />
três vezes mais visados nas violações de trânsito; viajantes “de<br />
cor” ou “hispânicos” são mais revistados nos aeroportos do<br />
que os brancos; as prisões de afro-americanos relacionadas a<br />
drogas ocorrem em proporções elevadíssimas para os padrões<br />
demográficos (em Columbus, Ohio, os negros constituem<br />
somente 11% da população e correspondem a 90% dos<br />
presos).<br />
Para explicar essas e outras distorções por ele mencionadas<br />
a título ilustrativo, o professor David Cole, da Universidade<br />
de Georgetown, afirma que o desequilíbrio repressivo<br />
e judicial nos Estados Unidos é sistêmico, não-acidental. Vincular-se-ia<br />
a dois níveis não-escritos de direitos constitucionais<br />
existentes na prática: um para os brancos privilegiados<br />
das classes alta e média, outro para os pobres e as minorias<br />
em geral (sendo ambos os termos virtualmente sinônimos).<br />
Em teorização que nos faz recordar atitudes da classe média<br />
brasileira favoráveis ao extermínio de “bandidos”, manifestadas<br />
sobretudo por ocasião do incidente da Casa de Detenção<br />
de São Paulo (Carandiru) em 1992, Cole interpreta que<br />
a maioria endossa (sem o dizer) a duplicidade da polícia e da<br />
Justiça na aplicação das leis porque são as distorções que lhe<br />
permitem desfrutar tão bem da proteção constitucional às liberdades<br />
dela. 32 Contrariamente ao que se poderia imaginar<br />
à primeira vista, tal teorização não cabe no caso brasileiro,<br />
pelos motivos descritos mais abaixo.<br />
CONCLUSÃO PROVISÓRIA<br />
Se, após assinalar os enormes avanços alcançados pelos<br />
negros dos Estados Unidos, o presente texto salientou aspectos<br />
negativos da questão racial norte-americana, não é<br />
porque ela seja pior do que a do Brasil ou do resto do mundo.<br />
É por ela exercer influência incomparável à de qualquer outro<br />
modelo. E ter características específicas nem sempre co-<br />
31 Ao se escreverem estas linhas, o assunto tem sido objeto de matérias<br />
diárias nos principais jornais norte-americanos. O número de manifestantes<br />
detidos apareceu no San Francisco Chronicle, em 1.º/fev./99.<br />
32 COLE, 1999.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 101
nhecidas ou levadas adequadamente em conta. O brasileiro<br />
precisa saber o que vale a pena ou não reproduzir, com as<br />
adaptações necessárias à nossa realidade.<br />
Desconsiderando-se a questão do ódio racial, cultivado<br />
em bolsões delimitados, e mantidas as diferenças entre uma<br />
sociedade rica minuciosamente construída em torno de leis e<br />
outra relativamente pobre, menos institucionalizada, não há<br />
dúvida de que a questão racial norte-americana tende ao<br />
abrasileiramento, tanto por aspectos positivos – abolição da<br />
segregação legal – quanto pelos negativos – discriminações<br />
na aplicação do Direito Penal ou como resultado dele<br />
É verdade que, na miséria generalizada em que vive,<br />
o negro brasileiro incriminado em qualquer delito, defendido<br />
por advogado dativo sem interesse financeiro na causa, acaba<br />
sendo ainda mais discriminado do que seu irmão do Norte.<br />
Sofre, também, muito mais, como todos os prisioneiros<br />
não-privilegiados do Brasil, pelas condições lamentáveis de<br />
sobrevivência em nossos cárceres sujos, envelhecidos, exíguos,<br />
abarrotados. Os preconceitos discriminatórios da polícia<br />
em ambos os países são, porém, assemelhados. E o rigor<br />
positivista dos respectivos magistrados provoca efeitos parecidos.<br />
Felizmente o sistema judicial do Brasil não prevê a<br />
pena de morte, nem estipula “tolerância zero” ou a regra dos<br />
“três golpes” (embora tudo isso venha sendo discutido no<br />
País como possíveis meios de dissuasão à criminalidade<br />
acentuada).<br />
Quanto à duplicidade no tratamento de ricos e pobres,<br />
interpretada por David Cole com enfoque racial sistêmico no<br />
caso norte-americano, constitui, lamentavelmente, fenômeno<br />
universal, registrado em todas as sociedades, de origem<br />
anterior à emergência do sistema capitalista. Por isso é tão<br />
resolutamente condenada pelas religiões universalizantes,<br />
como o cristianismo e o islamismo, e juridicamente combatida<br />
pelo princípio da não-discriminação dos instrumentos<br />
de direitos humanos. Existe, sem dúvida, no Brasil, com conotação<br />
racial igualmente freqüente. Não tem, contudo, no<br />
caso brasileiro o caráter regulador, racional e frio visualizado<br />
por Cole, em virtude de nossa “cordialidade”, impulsiva e irracionalista,<br />
explicada por Sérgio Buarque de Holanda. A<br />
duplicidade brasileira na polícia e na Justiça não acarreta<br />
maior segurança para qualquer segmento de nossa população.<br />
Corresponde muito mais à “invasão da mentalidade da<br />
casa grande nas cidades”, que “conquistou todas as profissões,<br />
sem exclusão das mais humildes” 33 (como a dos PMs e<br />
policiais civis).<br />
Na esfera material, conforme já assinalado, a situação<br />
dos afro-americanos é, em média, incomparavelmente superior<br />
à dos afro-brasileiros, em razão do diferencial de prosperidade<br />
entre as duas economias e em virtude do sistema da<br />
“ação afirmativa” ainda adotado em quase todos os Estados<br />
Unidos (que a metáfora da brasilianização pretende combater).<br />
Não obstante essa superioridade, as conclusões da<br />
Newsweek em recente levantamento sobre a afluência dos<br />
afro-americanos caberiam perfeitamente na visão da consciência<br />
negra brasileira sobre a situação nacional:<br />
Com todo o progresso das últimas décadas, continuamos<br />
a falar da América negra como um lugar e um<br />
povo à parte. Apesar de nosso discurso em favor do<br />
conceito de igualdade, olhamos com equanimidade e,<br />
até, com orgulho, para o perfil estatístico dos americanos<br />
negros que, se fosse dos brancos, causaria horror<br />
e consternação. 34<br />
DE VOLTA AO BRASIL<br />
Como visto no início deste texto, para a superação do<br />
mito da democracia racial no Brasil foi necessária a asserção<br />
da consciência negra. Numa sociedade de contornos raciais<br />
tão fluidos, a “diferença” precisava realmente ser assumida<br />
como força mobilizadora. Houve, porém, quem chegasse a<br />
dizer, no País e no exterior, que a situação racial brasileira,<br />
com discriminações veladas, seria pior do que a dos Estados<br />
Unidos da fase segregacionista e da África do Sul no período<br />
do apartheid, como se a miscigenação fosse um erro a ser<br />
evitado. 35<br />
Depois de se declarar tanto tempo moreno, “marron”,<br />
“café-com-leite” ou “escuro”, o mulato brasileiro de qualquer<br />
tonalidade se sentiu na obrigação de afirmar-se resolutamente<br />
negro. Não porque não se enquadrasse nas “condições<br />
de branquidade” estabelecidas por d. João, quando prín-<br />
33 HOLANDA, 1995, p. 87.<br />
34 COSE et al., 1999, p. 40 (minha tradução).<br />
35 Cf., por exemplo, a arguta observação de VELOSO, 1997, p. 505.<br />
102 <strong>impulso</strong> nº 27
36 Artigo 6.º, § 4.º das Instruções para a Carta Régia de 20/jul./1809<br />
(RODRIGUES, 1982, p. 84).<br />
37 Intuída pelo Autor, ao longo dos anos, em contactos com ativistas<br />
negros de ambos os países, essa interpretação é corroborada por estudiosos<br />
do assunto, como ZALUAR, 1996, pp. 62-63 e MARX, 1998, p. 272. O<br />
segundo conta, inclusive, que certas correntes do movimento afro-americano<br />
têm agora chegado a propor a reinstauração de um sistema “Jim<br />
Crow” por elas definido, insistindo na “regra de uma gota de sangue”<br />
com o intuito de assegurar a unidade negra em face do abandono dos<br />
ideais igualitaristas pelo Congresso de maioria republicana MARX, 1998,<br />
p. 247.<br />
cipe regente, para as tropas e milícias da Capitania do Rio<br />
Grande do Sul: “todos os milicianos serão tirados da classe<br />
dos brancos, e serão reputados como tais aqueles cujos bisavós<br />
não tiverem sido pretos, e cujos pais tenham nascido livres”.<br />
36 As “quantificações hereditárias” de branquidade jamais<br />
existiram no Brasil independente e, se existissem, desqualificariam<br />
as elites nacionais. Fê-lo porque assim fazia o<br />
movimento da consciência negra norte-americano em reação<br />
aos critérios anglo-saxões, para os quais uma gota de<br />
sangue negro – ou asiático, nativo ou “hispânico” – era suficiente<br />
para excluir o indivíduo da plena cidadania. 37 Fê-lo<br />
também, é verdade, porque era chamado de “preto” ou “crioulo”<br />
pelo compatriota “branco” supostamente não-racista<br />
(embora tais rotulações não carregassem, em média, o mesmo<br />
nível de ofensa do nigger norte-americano). Fá-lo agora<br />
porque sabe que a solidariedade racial é importante para elevar<br />
as condições sociais da vasta parcela não-branca da população<br />
nacional. Grave será se o fizer tão-somente por ser<br />
“politicamente correto”, sem se dar conta de que os excessos<br />
do “politicamente correto” apenas se coadunam com sociedades<br />
fundamentalistas.<br />
Para o olhar fundamentalista de qualquer credo, o<br />
Brasil é difícil de entender. Tente-se explicar a um integrista<br />
religioso ou ateu a origem africana da grande festa de réveillon<br />
carioca e logo se observará sua perplexidade. Expliquese-lhe<br />
que seis dias depois de celebrarem o Natal, milhões de<br />
brasileiros de todas as cores e crenças vestem-se de branco e<br />
jogam flores ao mar em homenagem a Iemanjá, como prelúdio<br />
a gigantesco espetáculo semicívico de fogos de artifício<br />
(nosso “4 de Julho”) e veja-se até que ponto ele – “ariano” ou<br />
militante radical da negritude – controlará sua repugnância.<br />
Para o ativista negro norte-americano, quase tanto quanto<br />
para o orgulhoso WASP, religiões africanas politeístas são vistas<br />
quase sempre sob um viés de exotismo, sejam elas praticadas<br />
no Brasil, no Haiti, em Cuba ou na Louisiana. O islamismo<br />
negro, monoteísta, é aceitável como afirmação racial,<br />
pouco importando a origem branca e árabe de sua doutrina<br />
e disseminação. O sincretismo afro-cristão é “politicamente<br />
incorreto”. Pouco ou nada noticiou a imprensa norte-americana<br />
quando, em novembro de 1999, o terreiro de candomblé<br />
do Ilê Axé Opô Afonjá foi tombado pelo governo federal<br />
como monumento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,<br />
em gesto de resgate da cultura negra, acorde com a<br />
vontade majoritária dos afro-brasileiros refletida em nossa<br />
Constituição. Em contraste com esse silêncio, os desentendimentos<br />
entre bispos católicos da Bahia sobre o apoio ou rejeição<br />
a atos de reconhecimento às religiões africanas foram<br />
matéria destacada no New York Times, com pitadelas de<br />
sarcasmo. 38 Isso é fácil de compreender.<br />
Não se pretende negar aqui que o Brasil seja um país<br />
violento. A própria origem da primeira favela carioca – ícone<br />
da violência social e criminal brasileira – recorda um dos<br />
episódios mais sangrentos de nossa história republicana: a<br />
Guerra de Canudos (1896-1897). 39 Antes concentrada sobretudo<br />
nas favelas e seus equivalentes de todas as grandes cidades<br />
do País, a violência urbana no Brasil de 500 anos não<br />
mais se circunscreve a áreas determinadas (embora ela ainda<br />
ocorra sobretudo entre os pobres). Como “resposta” aos<br />
incidentes norte-americanos acima descritos poder-se-ia<br />
apontar um rosário de episódios de nossa história recente, a<br />
demonstrarem que o brasileiro “cordial” não é necessariamente<br />
bonzinho. Os casos do Parque São Lucas, Carandiru,<br />
Candelária, Vigário Geral, Corumbiara, Eldorado dos Carajás<br />
e outros, em que morreram muitos negros, evidenciam, ademais,<br />
que a brutalidade nacional não é exclusividade de<br />
“bandidos”. Poder-se-ia igualmente assinalar que, em contraste<br />
com os 6,1 homicídios por 100 mil habitantes dos Estados<br />
Unidos, o Brasil tem média de 24,1, três vezes maior do<br />
38 ROHTER, 2000, p. A3.<br />
39 Foram os ex-combatentes retornados do sertão baiano, acompanhados<br />
de suas esposas, que, não tendo alternativa de moradia no Rio de Janeiro,<br />
instalaram-se precariamente no morro da Providência, rebatizado “da<br />
Favela” como a colina onde haviam ficado estacionados diante do arraial –<br />
“favela” pelas favas que lá havia (WISSENBACH, 1998, pp. 96-97).<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 103
40 O Rio de Janeiro acusa 59,4 homicídios e São Paulo, 55,6 por 100 mil<br />
habitantes, enquanto Nova York registra apenas 18,40 (cifras e mapa<br />
publicados com matéria de DIMENSTEIN, 1999, tendo por fontes estudos<br />
das Nações Unidas, Interpol, Secretaria de Segurança Pública do<br />
Estado de São Paulo e Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio<br />
de Janeiro).<br />
41 Ao contrário do que ocorreu no Sul dos Estados Unidos, já no Império<br />
independente, desde que dispusessem da mesma renda mínima exigida<br />
de todos os homens maiores de <strong>25</strong> anos, os ex-escravos (e os analfabetos<br />
em geral) podiam legalmente ser eleitores e vereadores (ALENCASTRO,<br />
1997b, p. 21).<br />
42 Apud LOPEZ, 1999, p. 16. 43 Ibid., p. 17.<br />
que a média mundial de 8,5. 40 Não se deve esquecer, por outro<br />
lado, que o Brasil nunca teve uma Ku Klux Klan, não conta<br />
com “milícias supremacistas” e, embora tenha abolido a<br />
escravidão mais tarde, nunca teve um sistema “Jim Crow”,<br />
legalizado por um século nos Estados sulistas da “América”. 41<br />
Tampouco pretende este texto negar o racismo nacional<br />
e muito menos a situação de miséria em que vive a maior<br />
parte de nossa população “de cor” – negra, mulata, cabocla,<br />
índia e esbranquiçada. Profundamente sacrificada pelas<br />
condições materiais, é ela que compõe também a lista<br />
mais numerosa das vítimas da violência criminal e policial. A<br />
elevação de níveis desse vasto contingente, assim como o reconhecimento<br />
de sua contribuição passada e presente à formação<br />
nacional, é imprescindível não somente por uma<br />
questão de eqüidade, ou por motivos de segurança da sociedade<br />
como um todo. Ela o é para a consolidação de nossa<br />
brasilidade. Como diz Dulce Pereira, presidente da Fundação<br />
Cultural Palmares: “Ao perder a memória negra, o país perde<br />
sua própria memória, pois o negro brasileiro é antes de tudo<br />
brasileiro”. 42<br />
A afirmação do “negro” brasileiro como categoria social,<br />
assim como a do “índio”, não precisa ser, portanto, e não<br />
é, fundamentalista, contrária à miscigenação humana e cultural.<br />
Além de saber questionável a própria idéia de raça e<br />
que não existem raças puras, muito menos no Brasil, a prática<br />
nacional, conquanto não-endossada por “valores tradicionais”<br />
das elites dominantes, sempre foi de mestiçagem e<br />
sincretismo nas camadas populares. A contrapartida, muito<br />
mais necessária e urgente, ao não-fundamentalismo do negro,<br />
é óbvia e explicitada por Ana Maria Silva, do grupo<br />
Amma – Psique e Negritude: “Os não-negros que discriminam<br />
precisam rever sua dificuldade em lidar com a diferença,<br />
pois a desvalorização e negação do negro é também a negação<br />
do brasileiro”. 43<br />
O Brasil real e mestiço, que já não se oferece como<br />
modelo de virtude, não sabe, não consegue nem quer falar e<br />
agir sempre de maneira “politicamente correta”. Faz, sim,<br />
esforços, e precisa fazer mais, para que a linguagem, o ensino<br />
e os media não perpetuem estereótipos nocivos. A idéia do<br />
“politicamente correto” é boa, mas a obsessão em torno dela<br />
parece reverberação do segregacionismo anglo-saxão nas<br />
minorias discriminadas. No fundo do peito, com ou sem democracia<br />
racial, o homem do povo brasileiro, de qualquer<br />
cor ou tonalidade, continua a chamar de “nega” sua bemamada,<br />
detesta observar-se excessivamente “branquelo”, vibra<br />
com falsas louras de tez morena, dá graças ao Deus cristão<br />
por poder recorrer aos orixás nos terreiros de umbanda e,<br />
se estiver enamorado/a, casa “na raça” com compatriota de<br />
“outra cor”, por mais que esse matrimônio possa desagradar<br />
a parentes e ideólogos. Por convicção ou demagogia, quase<br />
todos os brasileiros continuarão a declarar-se, pelo menos<br />
parcialmente, descendentes de africanos ou de índios.<br />
A americanização cultural do Brasil evidentemente<br />
prossegue, como, aliás, vem ocorrendo no mundo inteiro,<br />
acelerada pela globalização da economia e das comunicações.<br />
Nos anos 50 e 60, na sua melhor vertente, ela propiciou<br />
a bossa nova, de início branca e lírica, encaminhando-se aos<br />
poucos para o morro, o Nordeste e a consciência social. Nos<br />
anos 70 e 80 a afro-americanização ajudou o mulato brasileiro<br />
a virar negro, e o negro indeciso a tornar-se rigidamente<br />
“étnico” (embora a expressão “afro-brasileiro” não se tenha<br />
tornado obrigatória). Hoje ela ensina o multiculturalismo,<br />
mas também induz os jovens negros das periferias metropolitanas<br />
aos bailes funk violentos e às disputas pelos tênis “Nike”<br />
ou “Reebok”.<br />
A metáfora da brasilianização da América na interpretação<br />
de Michael Lind é mais conseqüente do que na pena<br />
dos demais. Para Lind, a insistência obstinada no multiculturalismo<br />
não levaria à “balcanização” dos Estados Unidos,<br />
com todas as raças e minorias em guerra, como é geralmente<br />
advertido pelos opositores do ensino bilíngüe e da “ação afir-<br />
104 <strong>impulso</strong> nº 27
mativa”. Uma vez que a América, “como o Brasil”, dispõe de<br />
uma cultura nacional suficientemente unificadora para<br />
comportar um “sistema informal e impreciso de castas”, a<br />
brasilianização da América levaria, sim, à eternização do status<br />
quo, com uma classe branca crescentemente rica e autoprotegida,<br />
utilizando serviços privados de saúde, educação<br />
e segurança, enquanto as minorias raciais – negra, hispânica,<br />
nativa, asiática e de outros matizes –, incomparavelmente<br />
mais pobres, digladiar-se-iam entre elas pelos serviços públicos<br />
escassos. 44<br />
A interpretação catastrófica de Lind não deixa de servir<br />
de alerta às avessas também para os brasileiros. Se o Brasil<br />
não se brasilianizar num projeto nacional includente, com<br />
ações governamentais e não-governamentais adaptadas à<br />
nossa realidade, a rígida americanização econômica e cultural<br />
pode levar nossa gente, num patamar inferior, com desemprego<br />
maior e “etnias” indefinidas, àquilo que ele teme<br />
na América “brasilianizada”.<br />
No período atual, de unificação de mercados e fragmentação<br />
identitária, em que poucos crêem no progresso resultante<br />
de embates sociais, seria bom se o brasileiro do século<br />
XXI, em paralelo às asserções necessárias à realização dos<br />
direitos humanos, de responsabilidade do Estado, incorporasse<br />
mais profundamente outro aspecto da cultura norteamericana,<br />
pouco conhecido no Brasil americanizado: o arraigado<br />
sentido de “comunidade”. Ele não se traduz apenas<br />
no patriotismo que articula minorias díspares com a idéia<br />
poderosa da “América”. Traduz-se também em práticas, difundidas<br />
entre todos os cidadãos, de trabalho voluntário para<br />
a comunidade de identificação ou vizinhança, assim como<br />
no investimento filantrópico de fundações em atividades de<br />
apoio aos mais carentes.<br />
Negligenciadas ou estimuladas por sucessivos governos,<br />
as organizações não-governamentais brasileiras que vêm<br />
atuando em apoio às populações necessitadas, inclusive as que<br />
se orientam pela “raça” e pela cor, têm feito um trabalho extraordinário,<br />
ainda pouco percebido. Numa situação mundial<br />
em que, queiramos ou não, parece fortalecer-se a noção de<br />
“Estado mínimo”, esse trabalho de formiguinhas, que hoje<br />
tem no programa Comunidade Solidária e nas agências internacionais<br />
significativo respaldo, pode não resolver em definitivo<br />
o problema das disparidades, sejam elas raciais ou sociais.<br />
Melhora, não obstante, as condições do público atingido<br />
e contribui, com certeza, para o bem-estar geral.<br />
44 LIND, 1996, p. 216.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ALENCASTRO, L.F. de. Caras e modos dos migrantes e imigrantes (1.ª parte). História da Vida Privada no Brasil. São Paulo:<br />
Companhia das Letras, 1997a, vol. 2.<br />
________. Vida privada e ordem privada no Império. História da Vida Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras,<br />
1997b, vol. 2.<br />
BELLAH et al. Habits of the Heart. Berkeley: University of California Press, 1996.<br />
BROOKE, J. Spate of skinhead violence catches Denver by surprise, The New York Times, 21/nov./97.<br />
CARVALHO, J.M. de. Os Bestializados – o Rio de Janeiro e a república que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.<br />
CORNAVIN, M. L’Apartheid: pouvoir et falsification historique. Paris: Unesco, 1979.<br />
COLE, D. No Equal Justice – race and class in the American criminal justice system. Nova York: The New Press, 1999.<br />
COSE, E. et al. The good news about black America, Newsweek, 7/jun./99.<br />
DIMENSTEIN, G. Mapa mundi do crime iguala ricos e pobres, Folha de S.Paulo, 2/mai./99, cad. esp. Cidades.<br />
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, ed. de 1991.<br />
FERRAZ, E. Morte para o monstro, Isto É, (1.535), 3/mar./99.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 105
FREYRE, G. Casa-Grande & Senzala. 31.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1996.<br />
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Do Tráfico de Escravos aos Quilombos Contemporâneos (coletânea de leis). Ministério<br />
da Cultura: Rio de Janeiro, 1995.<br />
HERBERT, B. Staring at hatred, The New York Times, 28/fev./99.<br />
HOLANDA, S.B. de. Raízes do Brasil. 26.ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.<br />
Jury selection begins in trial of 4 N.Y. cops, San Francisco Chronicle, 1.º/fev./2000.<br />
LA VEGA, C. de. & BROWN, J. Can a United States treaty reservation provide a sanctuary for the juvenile death penalty.<br />
University of San Francisco Law Review, 32 (4), Summer, 1998.<br />
LIND, M. The Next American Nation. Nova York: Free Press Paperbacks, 1996.<br />
LINDGREN ALVES, J.A. A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: FTD, 1997.<br />
LOPEZ, I. A cor da pobreza. Problemas Brasileiros, 332, 1999.<br />
MARX, A.W. Making Race and Nation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.<br />
NDIAYE, B.W. Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. Documento das<br />
Nações Unidas E/CN.4/1998/68/Add.3.<br />
Number of slaves in jail rising towards 1 million. San Francisco Chronicle, 8/mar./99.<br />
PEREIRA, D.M. A face negra do Brasil multicultural. Textos do Brasil. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2 (6), 1998.<br />
RIDGEWAY, J. Blood in the Face. Nova York: Thunder’s Mouth Press, 1995.<br />
RODRIGUES, J.H. Brasil e África: outro horizonte. 3.ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.<br />
ROHTER, L. Catholics battle Brazilian faith in ‘Black Rome’, The New York Times, 10/jan./00.<br />
SANTOS, J.R. dos. A inserção do negro e seus dilemas. Parcerias Estratégicas, 6, 1999.<br />
STAPLES, B.J.T. And the ghosts of lynchings past, The New York Times, <strong>25</strong>/dez./99.<br />
VELOSO, C. Verdade Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.<br />
WISSENBACH, M.C.C. Da escravidão à liberdade: dimensões de uma privacidade possível. História da Vida Privada no Brasil.<br />
São Paulo: Companhia das Letras, 1998, vol. 3.<br />
ZALUAR, A. A globalização do crime e os limites da explicação global. In: VELHO, G. & ALOVITO, M. (orgs.) Cidadania e Violência.<br />
Rio de Janeiro: UFRJ e FGV, 1996.<br />
106 <strong>impulso</strong> nº 27
MULHERES: 500 anos<br />
de muitas perdas e<br />
alguns ganhos<br />
WOMEN: 500 years of many<br />
losses and some gains<br />
IOLANDA TOSHIE IDE<br />
Pedagoga, professora e coordenadora<br />
do Núcleo de Pesquisa e Ação<br />
“Educação e questões de gênero”<br />
Unesp/Campus de Marília<br />
Membro do Serviço à Mulher<br />
Marginalizada e do Conselho<br />
Municipal dos Direitos da<br />
Mulher de Lins<br />
iolanide@marilia.unesp.br<br />
RESUMO Trata da violência de gênero de que, no Brasil, foram alvo as mulheres, de modo especial as indígenas<br />
e negras, nos cinco séculos, a partir da conquista pelos portugueses. Enfoca sobretudo a que incide<br />
sobre a sexualidade, especificamente a exploração prostitucional de meninas e adolescentes empobrecidas.<br />
Palavras-chave: gênero – prostituição – história – abuso incestuoso – infância – adolescência.<br />
ABSTRACT This article deals with gender violence in Brazil which targeted primarily women, especially native and<br />
Black, in the five centuries since the Portuguese conquest. It focuses primarily on sexuality and more specifically on<br />
the exploitation of impoverished girls and adolescents in prostitution.<br />
Keywords gender – prostitution – history – incestuous abuse – childhood – adolescence<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 107
Ontem, como hoje,<br />
são as mulheres<br />
as mais atingidas<br />
pela sanha dos<br />
conquistadores<br />
Nos cinco séculos de conquista, a Ameríndia sofreu um processo de<br />
genocídio e etnocídio que atingiu a maioria dos povos indígenas de<br />
todo o nosso imenso continente. No Brasil não foi diferente, a despeito<br />
da mansidão, hospitalidade e boa índole dos que aqui viviam.<br />
Em carta endereçada ao rei de Portugal d. Manuel, o Venturoso, em<br />
1.º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha descreveu os da terra:<br />
“(...) esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente<br />
neles qualquer cunho, que lhes quiserem dar. E pois Nosso Senhor, que lhes deu<br />
bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem<br />
causa”. 1 O missivista relata a presença, na praia, de vários índios, às vezes em torno de 450, dos<br />
quais no máximo 10 mulheres. Informa que, embora tenha sido ordenado que dois dos degredados<br />
pernoitassem entre os índios, estes não permitiram, forçando-os a retornar ao navio.<br />
Não bastou que os que aqui viviam fossem de boa índole. O projeto colonizador só<br />
estabelece relações colonizador/colonizado que permitem qualquer violação. José Honório<br />
Rodrigues comenta sobre a nau Bretoa, que, em 1511, saiu do Brasil rumo a Lisboa, levando<br />
índios escravizados, conforme relata o Livro da Nau Bretoa: “É o primeiro espécime<br />
de um documento deste tipo nos Quinhentos. É uma viagem comercial e apesar da recomendação<br />
de não trazer gente da terra, levaram para Portugal trinta e tantos índios cativos,<br />
afora cinco mil toros de pau-brasil, animais e pássaros”. 2<br />
Segundo Varnhagen, as “Cartas de Doação” emanadas do reino de Portugal permitiam<br />
que os donatários escravizassem os índios e, até, os enviassem para vender em Portugal<br />
desde que não ultrapassassem trinta e nove. 3<br />
Com o objetivo de povoar a terra, a expedição de Martim Afonso de Souza aportou<br />
em terras brasileiras com aproximadamente quatrocentos homens e nem uma mulher.<br />
Fundou São Vicente em 1532. 4 Ontem, como hoje, são as mulheres as mais atingidas pela<br />
sanha dos conquistadores. Mulheres indígenas, algumas ainda crianças, foram usadas e<br />
abusadas.<br />
A violência com que os conquistadores devastavam as terras e tentavam escravizar<br />
os nativos, desencadeou uma repulsa que não justificava o oferecimento de mulheres indígenas<br />
aos portugueses em nome da hospitalidade, como se divulgara.<br />
O sacrifício da ortodoxia católica em favor do povoamento perdurou por séculos<br />
como prova a devoção a São Gonçalo do Amarante, casamenteiro mor, segundo informa<br />
Gilberto Freyre. Assim também as Ordenações Manuelinas e, mais tarde, as Filipinas revelam<br />
a larga tolerância em matéria sexual. 5 Houve jesuíta que, apavorado com os assaltos<br />
sexuais às índias, recomendou que se enviassem mulheres aos profissionais que trabalha-<br />
1 Carta de Caminha adaptada por Jaime Cortesão.<br />
2 In RODRIGUES, p. 9.<br />
3 Cf. VARNHAGEN, 1962, p. 151.<br />
4 LUÍS, 1980, p. 47.<br />
5 Cf. FREYRE, 1963, pp. 294-305.<br />
108 <strong>impulso</strong> nº 27
vam na construção do colégio jesuítico da Bahia para que<br />
“não andassem em mal estado”.<br />
Foi pela violência que os conquistadores se relacionaram<br />
com os indígenas. A Confederação dos Tamoios foi um<br />
dos mais amplos movimentos de resistência que atestam a<br />
reação empreendida pelos indígenas. Maiapoké e Ibirapiti<br />
contaram a Peri: “Eram valentes os tupiniquim. Não só eles,<br />
mas os tupinambá, Aimoré, Guaná, que reuniram os velhos<br />
na Confederação dos Tamoios. Os velhos têm experiência,<br />
têm tudo. Aimberê, Kunhambebe (...) Hararaí e outros bravos<br />
Terena participaram da Confederação dos Tamoios”. 6<br />
A miscigenação não ocorreu sempre com a aquiescência<br />
das mulheres indígenas; significou efetivamente o estupro<br />
indiscriminado: a prole mameluca é a prova mais evidente.<br />
Desde que fosse cristão, ou melhor dizendo, católico,<br />
seria bem-vindo para tomar posse da terra e povoá-la: “a sífilis,<br />
a bouba, a bexiga, a lepra entraram livremente trazidas<br />
por europeus e negros de várias procedências”. 7<br />
O intercurso sexual entre o conquistador europeu e a<br />
mulher índia não foi apenas perturbado pela sífilis e<br />
por doenças européias de fácil contágio venéreo: verificou-se<br />
– o que depois se tornaria extensivo às relações<br />
dos senhores com suas escravas negras – em circunstâncias<br />
desfavoráveis à mulher (...). O furor femeeiro<br />
do português se terá exercido sobre vítimas<br />
nem sempre confraternizantes no gôzo. 8<br />
Desde o século XVI enorme era a mortalidade infantil<br />
nas populações indígenas, especialmente devido à sífilis.<br />
Como se não bastasse, a sanha dos conquistadores abateu-se<br />
truculentamente sobre os nativos, sem perceber que infligiam<br />
a si mesmos sérias perdas de força de trabalho, tal a cegueira<br />
e a brutalidade. “Causa de muito despovoamento foram ainda<br />
as guerras de repressão ou de castigo levadas a efeito pelos<br />
portugueses contra os índios (...), mandando amarrá-los à<br />
boca de peças de artilharia que, disparando, ‘semeavam a<br />
grandes distâncias os membros dilacerados’”. 9<br />
6 ELIAS & HIPOLIO, 1999, p. 15.<br />
7 FREYRE, 1963, p. 93.<br />
8 Ibid., p. 112.<br />
9 Ibid., p. 212.<br />
Os povos indígenas não se restringiam ao território<br />
brasileiro. Ao contrário, habitavam extensas terras da América.<br />
Nas sociedades ameríndias, não ocorria a divisão sexual<br />
de papéis como em nossa sociedade de matriz ibérica. Era<br />
freqüente a domesticidade do homem ameríndio. Até mesmo<br />
a configuração física não era sexualmente tão demarcada à<br />
semelhança dos bosquímanos e, como descreve Margareth<br />
Mead, dos arapesh e dos mundugumor da Nova Guiné. Entre<br />
os botocudos, viajantes que visitaram o Brasil encontraram<br />
homens-mulheres e mulheres-homens. As indígenas do<br />
Brasil eram muito criativas e deixaram uma forte herança na<br />
população mameluca. Os banhos diários (os portugueses<br />
quase não se banhavam) e o asseio pessoal são heranças adquiridas<br />
pelos/as mamelucos/as via linha materna indígena.<br />
A relação conquistador/conquistado, colonizador/colonizado,<br />
vencedor/vencido foi responsável pela divisão sexual<br />
dos papéis. O que é pior, propiciou a miscigenação nãodemocrática,<br />
ou melhor, a exploração sexual das índias.<br />
Ainda hoje em dia não é incomum o assalto dos brancos<br />
às jovens indígenas. O Conselho Indigenista Missionário<br />
(CIMI) tem denunciado em seus relatórios.<br />
No intuito de evitar a reação indígena à invasão de<br />
suas terras, muitos expedientes foram utilizados em nome da<br />
chamada pacificação dos índios. Não se trata porém de<br />
acontecimentos de um passado remoto.<br />
Na região noroeste do Estado de São Paulo, em 20 de<br />
outubro de 1862, ofício endereçado ao brigadeiro José Joaquim<br />
Machado D’Oliveira trata da incursão de uma bandeira<br />
de 135 homens, no distrito de Bauru, onde viviam os índios.<br />
A exploração chegou até o Salto de Avanhandava. Três índias<br />
foram assassinadas e tomadas duas crianças.<br />
Em 20 de abril de 1876, ofício endereçado a Sebastião<br />
José Pereira trata da vantagem em se juntar ao aldeamento<br />
de São João Batista, em que havia 306 índios da tribo guarani,<br />
o aldeamento de Tijuco Preto:<br />
Há na margem esquerda do Tietê e na Serra dos Agudos<br />
Índios Selvagens que atacaram as fazendas do<br />
sertão de Botucatu. Seria conveniente a estrada entre<br />
Bauru e os campos do Avanhandava na extensão de<br />
17 léguas, aproximando-se da Serra dos Agudos, pois<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 109
seria o meio de afugentar os selvagens e de atrair a civilização<br />
para aproveitar tão férteis terras que aí existem.<br />
10<br />
Ainda no início do século XX, próximo a Salto Coutinho,<br />
a 40 quilômetros de Bilac, na região noroeste do Estado<br />
de São Paulo, o imigrante Sadame Ide ouviu relatos de massacres<br />
de índios ao longo da região da ferrovia. Índias eram<br />
usadas e abusadas antes de serem assassinadas. A resistência<br />
indígena foi em vão: os trilhos foram instalados e, quando removidos<br />
pelos índios, reinstalados. Para impedir que a locomotiva<br />
passasse, os índios amarravam vários cipós entrelaçados,<br />
de uma árvore a outra, atravessando a ferrovia. Assustavam-se<br />
com a força com que a locomotiva conseguia romper<br />
os cipós. 11 Tais episódios de uma história tão recente estão<br />
sendo condenados ao esquecimento, como se essas terras<br />
pertencessem desde toda eternidade aos atuais detentores de<br />
títulos de posse, vários deles fraudulentos. Marina Silva, senadora<br />
da República, ao ser indagada em 1999 sobre a situação<br />
das mulheres na Amazônia, informa que houve um segundo<br />
“descobrimento”: o da Amazônia. Como no início do<br />
“povoamento” do Brasil,<br />
(...) a fase inicial da colonização foi feita só por homens.<br />
(...) somente aos poucos foram se formando as<br />
primeiras famílias, com a captura de índias nas aldeias<br />
dizimadas. Elas eram escravizadas e obrigadas a<br />
acasalar-se com seringueiros. Também foram muitos<br />
os casos de compra de mulheres. Seringueiros que tinham<br />
saldo comercial com seus patrões podiam “encomendar”<br />
uma mulher, que seria trazida de Belém<br />
ou Manaus com outras mercadorias. É, talvez, a situação<br />
na história do Brasil em que a mulher foi colocada<br />
de maneira mais explícita na condição de objeto.<br />
12<br />
10 CAMPOS, 1999, p. 16.<br />
11 Depoimento oral de Sadame Ide.<br />
12 SILVA, 2000, p. 2.<br />
A devastação total de florestas no prazo de vinte anos<br />
expulsou as famílias de seu ventre. Vivendo em um único cômodo<br />
em área alagadiça, sem emprego, sem meio de sobrevivência,<br />
as mulheres se esforçam para manter a estabilidade<br />
familiar.<br />
A violência contra a mulher é altíssima nesse ambiente.<br />
A quantidade de estupros noticiados nos jornais assusta<br />
ainda mais por representar uma minoria diante<br />
dos casos noticiados. Os jornais têm páginas diárias e<br />
as emissoras de rádio têm programas exclusivos para<br />
a violência, onde são veiculados velhos preconceitos e<br />
estimulado um humor mórbido dirigido não apenas<br />
contra os “marginais” agressores mas também contra<br />
as vítimas. 13<br />
Nessa condição, assim como ocorreu nos séculos XVI a<br />
XIX, mulheres, crianças e adolescentes, ainda hoje, são as que<br />
sofrem os maiores impactos e, como sempre, no âmbito da<br />
sexualidade:<br />
Já foi amplamente noticiado o tráfico de menores<br />
para as áreas de garimpo. A prostituição de meninas é<br />
grande em toda região. Em Rio Branco, capital do<br />
Acre, em 30% dos partos feitos na maternidade pública,<br />
as mães têm menos de 16 anos de idade. Nos anos<br />
de eleição, milhares de jovens são esterilizadas por<br />
médicos candidatos ou cabos eleitorais, que recebem o<br />
voto em troca do “benefício”. 14<br />
Assim como no início da colonização não foi a agricultura<br />
a maior responsável pelo desmatamento e pelo avanço<br />
nas terras indígenas, assim também, na Amazônia, a devastação<br />
não tem servido para a agricultura: apenas expulsa<br />
seus primitivos moradores, às vezes em nome do desenvolvimento,<br />
mas quase sempre meramente para satisfazer a sanha<br />
de possuir latifúndios cada vez mais extensos.<br />
O decreto 1.775 de 1996 abriu brechas para contestações<br />
de áreas indígenas já aprovadas mas não demarcadas.<br />
Em reação, em maio de 1999, os indígenas entregaram ao<br />
presidente da República mais de 90 mil assinaturas pedindo<br />
as aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas.<br />
Na década de 70, uma índia da Aldeia de Parelheiros<br />
(SP) acometida de tuberculose foi internada no Hospital Cle-<br />
13 Ibid., p. 3.<br />
14 Ibid.<br />
110 <strong>impulso</strong> nº 27
15 Cf. CIMI, Informe 335, 5/nov./98.<br />
16 Cf. CIMI, Informe 352, 18/mar./99.<br />
17 SABATINI, 1998.<br />
mente Ferreira, próximo a Lins (SP). Sedada e violentada por<br />
um dos funcionários, engravidou. Foi rejeitada pela aldeia. A<br />
criança que nasceu é quase loira.<br />
Recentemente, invasores do Parque Indígena de Tumucumaque<br />
incendiaram a casa onde se encontrava uma<br />
índia com seu bebê de colo: foram queimados vivos. Logo a<br />
seguir, na madrugada de 2 de novembro, em um conflito<br />
com os invasores, foram feridos dois e mortos 11 garimpeiros.<br />
Desconhece-se ainda a etnia dos índios. 15<br />
Os únicos seis remanescentes dos povos juma foram<br />
ilegalmente transferidos para a terra indígena uru-eu-wauwau,<br />
ocasionando a morte de dois idosos. Sabe-se que há interesses<br />
nas terras dos juma, por onde se pretende fazer passar<br />
o gasoduto Urucu-Porto Velho. A falta de assistência da<br />
Funai tem provocado problemas vários, entre os quais o abuso<br />
sexual de uma das índias que se encontra grávida. 16<br />
Foi assim em toda América invadida pelos conquistadores<br />
europeus. Em seu livro Massacre, lançado em início de<br />
dezembro de 1998, Silvano Sabatini, amigo do padre João<br />
Calleri (morto na expedição de novembro de 1968), afirma<br />
que não se trata apenas da morte em uma ação pacificadora,<br />
mas de um capítulo violento de uma América Ameríndia invadida.<br />
17 No intuito de “civilizar e evangelizar” as crianças indígenas,<br />
os aldeamentos colaboraram com o etnocídio de vários<br />
povos indígenas. Meninas aldeadas eram enviadas para as<br />
grandes cidades para servirem como empregadas domésticas.<br />
Como era de se esperar, não se adaptavam. Eram então atiradas<br />
às ruas, onde se tornavam presas fáceis da prostituição.<br />
No movimento do pornoturismo internacional, turistas<br />
estrangeiros em busca de experiências exóticas solicitam<br />
meninas indígenas e/ou mestiças.<br />
Como se não bastasse, outros expedientes têm sido<br />
utilizados para exterminar os povos indígenas remanescentes<br />
através das mulheres. A imprensa registrou a denúncia de esterilização<br />
em massa das índias potiguara na década de 70.<br />
Recentemente, a esterilização de índias pataxó foi denunciada<br />
à ONU. Levantamento realizado pelo Conselho Indígena<br />
de Saúde e pelo CIMI registra a esterilização de 63 índias<br />
de seis comunidades pataxó hã-hã-hãe, que, nos últimos<br />
quatro anos, se submeteram a laqueaduras, a maioria<br />
em idade fértil.<br />
A Procuradoria da República na Bahia recebeu denúncia<br />
de lideranças Pataxó que envolve o deputado<br />
federal e médico Roland Lavigne (PFL-BA) na prática<br />
de esterilização em massa, de mulheres Pataxó<br />
Hã-hã-hãe na campanha eleitoral de 1994. Segundo<br />
notícia do Jornal “O Globo” desta semana, todas as<br />
mulheres em idade reprodutiva da aldeia Bahetá, no<br />
sul da Bahia, foram submetidas a procedimentos cirúrgicos<br />
de esterilização pelo método da laqueadura<br />
tubária, pondo o grupo indígena sob risco de extinção.<br />
De acordo com a Lei 2.889, de 1956, o ato praticado<br />
contra as índias se constitui em crime de genocídio. 18<br />
No dia 7 de outubro, a Comissão Interamericana de<br />
Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos<br />
(OEA) recebeu a referida denúncia apresentada pelo CIMI, a<br />
convite do Centro pela Justiça e o Direito Internacional.<br />
O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia<br />
se dispôs a ouvir os depoimentos das indígenas envolvidas.<br />
Ao depor no mesmo processo um dos missionários do<br />
CIMI, que acompanha as comunidades, foi informado<br />
pelo Conselho de Medicina que desde o fim do ano<br />
passado [1998] a entidade convidava as índias mas,<br />
estranhamente, estas não eram informadas pela Funai.<br />
O órgão indigenista alegou falta de recursos financeiros<br />
para a locomoção das mulheres. O Conselho<br />
de Medicina se prontificou a assumir os gastos e<br />
ainda assim as índias não foram notificadas. Diante<br />
do descaso, o CIMI tomou iniciativa de informar as lideranças<br />
indígenas, o que, finalmente conseguiu garantir<br />
os depoimentos. 19<br />
Logo após, as depoentes foram visitadas e ameaçadas<br />
por uma equipe de saúde. Algumas delas passaram a negar<br />
as denúncias.<br />
18 CIMI, 3/set./98.<br />
19 CIMI, 13/mai./99.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 111
Quinhentos anos atrás, viviam no Brasil aproximadamente<br />
cinco milhões de índios/as e eram faladas cerca de<br />
1.175 línguas. Hoje em dia sobrevivem quase 300 mil índios,<br />
assim mesmo ameaçados. Segundo Rodrigues, apenas 180<br />
línguas continuam sendo faladas. 20 O caso do Brasil é especialmente<br />
trágico. Na Guatemala, Peru, Bolívia, a população<br />
quase como um todo é bilíngüe: fala castelhano e uma língua<br />
indígena. Conforme informação de Eduardo Navarro, professor<br />
de Língua Tupi da Universidade de São Paulo, no Paraguai,<br />
95% da população falam guarani e castelhano, enquanto<br />
no Brasil somente algumas raras exceções dominam<br />
alguma das 180 línguas indígenas vivas.<br />
Até mesmo o Dia do Índio (19 de abril) foi transformado,<br />
pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em Dia<br />
das Forças Armadas. O decreto 1.775 de 1996, emanado pelo<br />
mesmo presidente, a despeito do que determina a Constituição<br />
de 1988, ao abrir brechas para contestações de terra indígenas<br />
aprovadas, mas ainda não demarcadas, põe em risco<br />
a sobrevivência de povos indígenas. É de conhecimento geral<br />
o generalizado suicídio de jovens kaiowa confinados em exíguos<br />
territórios.<br />
Desde a chegada da esquadra cabralina, a relação dos<br />
brancos com os índios foi conflituosa. Tentara-se capturar<br />
alguns indígenas para enviá-los a Portugal, logo na semana<br />
em que os portugueses aqui aportaram. Os donatários continuaram<br />
enviando índios escravizados para Lisboa, com a<br />
hipócrita restrição de não ultrapassarem trinta e nove.<br />
A relação das elites brasileiras com os povos indígenas<br />
segue a mesma matriz: dizimação ou integração subalterna.<br />
Em 1532, os portugueses aqui chegados com Martim Afonso<br />
de Souza com o intuito de povoar a terra não trouxeram em<br />
sua esquadra nenhuma mulher. Os assaltos sexuais às índias<br />
foram acontecimentos corriqueiros. O padre Manual Fonseca<br />
ainda as responsabiliza pela licenciosidade dos meninos coloniais.<br />
21 Para Freyre, “É absurdo responsabilizar-se o negro<br />
pelo que não foi obra sua nem do índio mas do sistema social<br />
e econômico em que funcionaram passiva e mecanicamente.<br />
Não há escravidão sem depravação sexual”. 22<br />
20 RODRIGUES, 1993, p. 26.<br />
21 FREYRE, 1958, 2.º, p. 440.<br />
22 Ibid.<br />
Para as índias e suas descendentes, notadamente as<br />
mestiças, a integração subalterna se fez com um agravante:<br />
a exploração da força de trabalho como domésticas, a mendicância,<br />
o estupro, a exploração da prostituição.<br />
MISCIGENAÇÃO NÃO-DEMOCRÁTICA<br />
A democracia racial, a harmonia entre as raças, foi<br />
muito propalada entre os “brasilianistas”. A declaração de que<br />
o Brasil é uma verdadeira democracia racial provocou ampla<br />
polêmica, de modo especial através do artigo “Negros no Brasil”.<br />
23 O Fundo das Nações Unidas para a Educação (Unesco)<br />
solicitou um estudo a respeito. A pesquisa empreendida por<br />
Roger Bastide e Florestan Fernandes revelou que no Brasil não<br />
reinava nenhuma democracia racial, muito ao contrário. 24<br />
Grupos de brasileiros/as negros/as recusam-se a festejar<br />
o 13 de maio, dia da “liberdade outorgada”, para concentrarem<br />
seus esforços na rememoração do 20 de novembro,<br />
dia da “liberdade a se conquistar”, seguindo o exemplo<br />
de Zumbi, líder do Quilombo de Palmares.<br />
A mestiça tem sido apresentada como objeto sexual<br />
ardente a ser consumido por turistas nacionais e internacionais<br />
e pelos homens das camadas privilegiadas do Brasil.<br />
Embora sendo exibida como objeto de exportação e cantada<br />
por poetas, continua discriminada socialmente, ocupando<br />
quase sempre os mais desprestigiados lugares sociais.<br />
Há uma literatura que nega à brasileira negra a identidade<br />
de ser humano e de mulher: qualifica-a apenas pela<br />
sensualidade, como símbolo e objeto sexual. Santos descrevea<br />
como “irresponsável, viva, vadia, sem qualquer recato e<br />
muito incontinenti”. <strong>25</strong> Para Azevedo a mulata tem “um odor<br />
sensual de trevos e plantas aromáticas”. 26 Almeida descreve<br />
Vidinha como “uma rapariga que tinha tanto de bonita como<br />
de movediça e leve”. 27 Amado, retrata uma Gabriela sem pudor<br />
nem responsabilidade 28 e Ana Mercedes como “construção<br />
de dengue e requebro”. 29<br />
23 COELHO, P. O Estado de S.Paulo, 16-17/abr./47.<br />
24 BASTIDE & FERNANDES, 1953.<br />
<strong>25</strong> SANTOS, 1975, p. 50.<br />
26 AZEVEDO, s/d, p. 71.<br />
27 ALMEIDA, 1967, p. 168.<br />
28 AMADO, 1958, p. 203.<br />
29 AMADO, s/d, p. 107.<br />
112 <strong>impulso</strong> nº 27
Essa mesma literatura omite os movimentos de resistência<br />
como os dos Quilombos: os negros não foram sempre<br />
submissos e sem capacidade reativa, como tanto se apregoa.<br />
Felipa Aranha chefiou o Quilombo de Alcobaça, no Estado do<br />
Pará, e Luiza Mahin (mãe do abolicionista Luís Gama) liderou<br />
várias insurreições no Estado da Bahia.<br />
O que os meios de comunicação geralmente nos revelam<br />
é apenas um lado da realidade: a mulata dengosa e sensual,<br />
“produto de exportação”. No entanto, cantada, exibida e<br />
cobiçada, continua excluída.<br />
O preconceito contra a população negra era tão agudo<br />
que o marquês do Lavradio, 8.º vice-rei, em portaria de 6<br />
de agosto de 1771, rebaixou um índio do posto de capitãomor<br />
por ter manchado seu sangue casando-se com uma negra,<br />
tornando-se assim indigno do cargo. 30 “Esse mesmo<br />
preconceito revelou-se também em Nina Rodrigues que considerou<br />
‘a mulata um tipo anormal de super excitada sexual<br />
e José Veríssimo que escreveu que a mestiça brasileira era ‘um<br />
dissolvente de nossa virilidade física e moral’”. 31<br />
Joaquim Nabuco ainda cita um manifesto escravocrata<br />
de fazendeiros no qual se afirma que “a parte mais produtiva<br />
da propriedade escrava é o ventre gerador”. 32<br />
Entre êsses escravos os senhores favoreciam a dissolução<br />
para “aumentarem o número de crias como<br />
quem promove o acréscimo de um rebanho”. Dentro<br />
de semelhante atmosfera moral, criada pelo interesse<br />
econômico dos senhores, como esperar que a escravidão<br />
– fosse o escravo mouro, negro, índio ou malaio<br />
– atuasse senão no sentido da dissolução, da libidinagem,<br />
da luxúria? O que se queria era que os ventres<br />
das mulheres gerassem. 33<br />
O mesmo sistema que engendrou a quebra da coesão<br />
familiar e a concepção indiscriminada pelos motivos citados<br />
por Joaquim Nabuco favoreceu a promiscuidade e alimentou<br />
o preconceito.<br />
30 Cf. FREYRE, 1963, p. 450.<br />
31 FREYRE, 1958, 2.º, p. 527.<br />
32 Ibid., p. 441.<br />
33 Ibid.<br />
Estas palavras do Dr. Bernardino Antônio Gomes, velho<br />
médico colonial, (...) “o exemplo familiar de escravos,<br />
que quase não conhecem outra lei que os estímulos<br />
da natureza”. Devia o Dr. Bernardino ter salientado<br />
que essa animalidade nos negros, essa falta de<br />
freio aos instintos, essa desbragada prostituição dentro<br />
de casa, animavam-na os senhores brancos. No interesse<br />
da procriação à grande, uns; para satisfazerem<br />
caprichos sensuais, outros. Não era o negro, portanto,<br />
o libertino; mas o escravo a serviço do interêsse econômico<br />
e da ociosidade voluptuosa dos senhores. Não<br />
era a “raça inferior” a fonte de corrupção, mas o abuso<br />
de uma raça por outra. 34<br />
A análise de Freyre sobre as relações de sexo e de raça<br />
contrapõe-se às que se fundam no clima e ou apenas nas relações<br />
individuais, enfatizando as causas no regime de economia<br />
patriarcal, mais especificamente no escravismo:<br />
Na realidade, nem o branco nem o negro agiram por<br />
si, muito menos como raça, ou sob a ação preponderante<br />
do clima, nas relações de sexo e de classe que se<br />
desenvolveram entre senhores e escravos no Brasil..<br />
Exprimiu-se nessas relações o espírito do sistema econômico<br />
que nos dividiu¸ como um deus poderoso,<br />
em senhores e escravos. Dêle se deriva tôda a exagerada<br />
tendência para o sadismo característica do brasileiro,<br />
nascido e criado em casa-grande, principalmente<br />
em engenho: e a que insistentemente temos<br />
aludido neste ensaio. 35<br />
Para Laura de Mello e Souza, professora de História<br />
Moderna da USP, a intolerância é o legado colonial:<br />
(...) poucos países têm uma elite tão predadora como<br />
a brasileira. Não adianta dizer que são os outros. A elite<br />
somos nós. O Brasil é um país que discrimina o tempo<br />
todo. Somos responsáveis pelos nossos atos. De fato, é<br />
um preço muito alto que se pagou pela escravidão: faz<br />
mais de cem anos que ela foi abolida e ainda não conseguimos<br />
resolver a questão da desigualdade. 36<br />
34 FREYRE, 1958, 2.º, p. 445.<br />
35 FREYRE, 1958, 2.º, p. 528.<br />
36 MELLO e SOUZA, 20/mar./00.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 113
Segundo o historiador Jacob Gorender, autor de O Escravismo<br />
Colonial, a unidade nacional foi o que manteve a<br />
escravidão. O regime de escravidão vigindo em todo o território<br />
nacional garantiu que os negros que por ventura lograssem<br />
fugir fossem logo capturados.<br />
O passado da negra e da mestiça é o da mulher-objeto,<br />
sempre vítima dos assaltos dos brancos: os senhores<br />
brancos sempre ociosos à espreita da mais “apetitosa negrinha”,<br />
e as senhoras brancas entediadas arquitetando, por ciúme,<br />
uma vingança contra as mulheres negras, com se fossem<br />
culpadas pela violência animalesca dos machos brancos,<br />
como descreve Freyre:<br />
Não são dois nem três, porém muitos os casos de crueldade<br />
dos senhores de engenho contra escravos inermes.<br />
Sinhás-moças que mandavam arrancar os olhos<br />
de mucamas bonitas e trazê-los à presença do marido,<br />
à hora da sobremesa, dentro da compoteira de<br />
doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas já<br />
de idade que por ciúme ou despeito mandavam vender<br />
mulatinhas de quinze anos a velhos libertinos. 37<br />
A exploração da prostituição de índias, negras e mestiças<br />
foi atividade recorrente no Brasil da escravidão. Gilberto<br />
Freyre descreve com pormenores a relação assimétrica e hierárquica<br />
em que se baseou o regime de economia patriarcal,<br />
de modo especial o escravista:<br />
O que houve no Brasil – cumpre mais uma vez acentuar<br />
com relação à negras e mulatas, ainda com maior<br />
ênfase do que com relação às índias e mamelucas<br />
– foi a degradação das raças atrasadas pelo domínio<br />
da adiantada. Esta desde o princípio reduziu os indígenas<br />
ao cativeiro e à prostituição. Entre brancos e<br />
mulheres de côr estabeleceram-se relações de vencedores<br />
com vencidos – sempre perigosas para a moralidade<br />
sexual. 38<br />
A indigência em que viviam as meninas negras era tal<br />
que, já tendo sido usadas sexualmente pelo senhor branco<br />
sem usufruir de nenhum provento, eram atiradas à sanha<br />
dos marinheiros que aportavam nas costas do Brasil:<br />
Às vêzes negrinhas de dez, doze anos já estavam na<br />
rua se oferecendo a marinheiros enormes, granganzás<br />
ruivos que desembarcavam dos veleiros ingleses e<br />
franceses, com uma fome doida de mulher. E toda<br />
essa superexcitação dos gigantes louros, bestiais, descarregava-se<br />
sobre mulequinhas; e além da superexcitação,<br />
a sífilis; as doenças do mundo – das quatro<br />
partes do mundo; as podridões internacionais do sangue.<br />
39<br />
Engano supor que a exploração sexual de adolescentes<br />
seja acontecimento da atualidade. Tudo era permitido ao<br />
senhor branco. A preferência por jovens às vezes até se baseava<br />
em afirmações pseudocientíficas as mais absurdas.<br />
O Dr. João Álvares de Azevedo Macedo Júnior registrou,<br />
em 1869, o estranho costume, vindo, ao que parece,<br />
dos tempos coloniais; e de que ainda se encontram<br />
traços nas áreas pernambucana e fluminense<br />
dos velhos engenhos de açúcar. Segundo o Dr. Macedo<br />
seriam os blenorrágicos que o “bárbaro prejuízo”<br />
considerava curados se conseguissem intercurso com<br />
mulher púbere: “a inoculação dêste vírus em uma<br />
mulher púbere é o meio seguro de o extinguir em<br />
si”. 40<br />
Como se não bastasse, o uso sexual das meninas negras<br />
e/ou mestiças era justificado com o objetivo de salvaguardar<br />
as mulheres brancas dos assaltos sexuais dos machos<br />
brancos por se acreditar que os <strong>impulso</strong>s sexuais deles<br />
eram irreprimíveis:<br />
Escravas de dez, doze, quinze anos (...) a quem seus<br />
senhores e suas senhoras obrigavam – diz-nos um<br />
escrito da época – “a vender seus favores, tirando dêsse<br />
cínico comércio os meios de subsistência. (...) o<br />
grosso da prostituição, formaram-no as negras, exploradas<br />
pelos brancos. Foram os corpos das negras –<br />
às vezes meninas de dez anos – que constituíram, na<br />
37 FREYRE, 1958, 2.º, p. 593.<br />
38 Ibid., p. 594.<br />
39 FREYRE, 1958, 2.º, p. 628.<br />
40 Ibid., pp. 441-442.<br />
114 <strong>impulso</strong> nº 27
arquitetura moral do patriarcado brasileiro, o bloco<br />
formidável que defendeu dos ataques e afoitezas dos<br />
Don Juans a virtude das senhoras brancas. 41<br />
Ainda hoje se fala o mesmo das prostitutas. A institucionalização<br />
desse expediente de “proteção” à integridade da<br />
mulher branca deixou a triste herança de, ainda hoje, explorar<br />
as meninas das camadas pobres. Não raro os patrões entregavam<br />
seus filhos adolescentes para se iniciarem na atividade<br />
sexual com as empregadas domésticas, a fim de evitarem<br />
contrair doenças sexualmente transmissíves com prostitutas<br />
e... também para evitar os assaltos sexuais às adolescentes<br />
brancas de seu convívio: “(...) a virtude da senhora branca<br />
apóia-se em grande parte na prostituição da escrava negra.<br />
(...) muita dessa castidade e dessa pureza manteve-se à custa<br />
da prostituição da escrava negra; à custa da tão caluniada<br />
mulata; à custa da promiscuidade e da lassidão estimulada<br />
nas senzalas pelos próprios senhores brancos”. 42<br />
Embora os jesuítas tenham, algumas vezes, se pronunciado<br />
contra os assaltos sexuais às índias, não se tem notícia<br />
de o mesmo ocorrer com relação às negras. Houve não<br />
só omissão, quanto conivência. “Introduzidas as mulheres<br />
africanas no Brasil dentro dessas condições irregulares de<br />
vida sexual, a seu favor não se levantou nunca, como a favor<br />
das mulheres índias, a voz poderosa dos padres da Companhia.”<br />
43<br />
Não era tanto de se estranhar, pois muitos padres viviam<br />
em livre intercurso sexual com as índias, negras e/ou<br />
mestiças, desde o século XVI. O padre Nóbrega escandalizarase<br />
com a freqüência com que se deparou com filhos de padres<br />
e frades. “Le Gentil La Barbinais acusa (...) de ignorância,<br />
atrevimento, e libertinagem de costumes” Carmelitas, beneditinos,<br />
franciscanos, marianos, barbinos italianos, congregados<br />
do Oratório – a todos acusa de safadezas”. 44<br />
Havia um provérbio que corria a solta a respeito da felicidade<br />
em se ser filho de padre: estudavam, viajavam, usufruíam<br />
de muitos privilégios. “Não é sem razão que a imaginação<br />
popular costuma atribuir aos filhos de padre sorte<br />
excepcional na vida. Aos filhos de padre, em particular, e aos<br />
ilegítimos, em geral. “Feliz que nem filho de padre”, é comum<br />
ouvir-se no Brasil”. 45<br />
O pior é que além do uso dos assaltos sexuais, havia<br />
senhores, e até senhoras, que usufruíam da exploração sexual<br />
das negras e/ou mestiças. “La Barbinais afirma que até senhoras<br />
se aproveitavam de tão nefando comércio. Enfeitavam<br />
as mulecas de correntes de ouro, pulseiras, anéis e rendas<br />
finas, participando depois dos proventos do dia”. 46<br />
No entanto, tem-se notícias de mulheres brancas sensíveis<br />
à condição das crianças negras. Muitas delas acolhiam<br />
na casa-grande as crianças mestiças filhas do senhor branco<br />
com a escrava. Outras acolhiam os órfãos: “Diz-nos Perdigão<br />
Malheiro que houve senhoras de tal modo interessadas no<br />
bem-estar dos escravos que levavam aos próprios seios mulequinhos,<br />
filhos de negras falecidas em conseqüência de<br />
parto, alimentando-os do seu leite de brancas finas”. 47<br />
Se, no passado, pensa-se que a virtude das mulheres<br />
brancas foi garantida à custa da violência sexual contra as<br />
mulheres negras, hoje em dia a libertação da mulher branca<br />
se tem concretizado à custa da exploração da mulher negra,<br />
sobretudo como empregada doméstica. Os brancos continuam<br />
impunemente explorando sexualmente as jovens negras,<br />
semeando filhos que condenam ao desamparo, do mesmo<br />
modo como a mancebia entre senhor e escrava não amenizava<br />
a condição nem da escrava nem dos filhos gerados.<br />
A cumplicidade das mulheres brancas chegava ao extremo<br />
de colaborarem no lenocínio. O viajante Daniel Kidder<br />
relata que as senhoras brancas cuidavam em “bem-vestir<br />
suas escravas” para que se prostituíssem e trouxessem lucros<br />
aos senhores. Em sua narrativa, não deixa de expressar seu<br />
preconceito: “Às vezes, o ouro e a pedraria adquiridos para<br />
refulgir nos salões são vistos cintilando pelas ruas, em curioso<br />
contraste com a pele negra das domésticas”. 48<br />
De acordo com várias lideranças de comunidades negras,<br />
grupos feministas brasileiros calaram-se diante do preconceito<br />
racial e não denunciaram a dupla discriminação<br />
41 Ibid., p. 628.<br />
42 FREYRE, 1958, 2.º, p. 629.<br />
43 Ibid., p. 596.<br />
44 Ibid., p. 620.<br />
45 Ibid., p. 6<strong>25</strong>.<br />
46 Ibid., p. 627.<br />
47 Ibid., p. 630.<br />
48 KIDDER, 1972, pp. 192-193.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 115
49 Cf. FREYRE, 1968, p. 116.<br />
contra a mulher negra. O que é pior: tantas mulheres ditas<br />
feministas fizeram coro às vozes exploradoras da mulata nas<br />
canções, na literatura, nos concursos de “miss café” ou “miss<br />
pérola negra”, nas escolas de samba (quase sempre dirigidas<br />
por brancos), nas “artes plásticas”...<br />
As mulheres negras quase nada esperam das mulheres<br />
brancas das camadas privilegiadas. Um passado de três<br />
séculos de escravidão e mais um século de indiferença, quando<br />
não de preconceito, ensinou-lhes essa dura e amarga lição.<br />
Com freqüência, a atual patroa branca não passa de sinhá-moça<br />
que teve sua “virtude” imaculadamente intacta à<br />
custa, pensam, das violências sexuais dos machos brancos<br />
contra as mulheres negras.<br />
O aspecto mais perverso é o da exploração das mulheres<br />
negras por alguns negros. Não é raro que aliciadores<br />
e proxenetas de meninas negras sejam negros: líderes de<br />
conjuntos musicais, taxistas, proprietários de bares, policiais...<br />
Trata-se da constatação da afirmação de Paulo Freire: o<br />
oprimido hospedando o opressor.<br />
As mulheres negras não foram todas analfabetas nem<br />
apenas passivas vítimas; entre os escravos malês da Bahia,<br />
várias eram alfabetizadas e participaram de várias insurreições.<br />
Atualmente os grupos de mulheres negras estão se impondo,<br />
a ponto de alguns deles se constituírem nos únicos<br />
grupos que monitoram os meios de comunicação social,<br />
conseguindo sair-se sempre vencedores em suas demandas.<br />
A discriminação perdura, mas um caminho já foi percorrido<br />
e espera-se que, com a solidariedade das mulheres não negras,<br />
o preconceito seja enfim superado.<br />
Também a condição das mulheres brancas era de<br />
submissão e violência. No regime patriarcal vigente no Brasil<br />
colonial, as jovens brancas eram submetidas a um paradigma<br />
de beleza que as condenava, através dos espartilhos e da<br />
alimentação excessivamente frugal, à palidez e à fragilidade.<br />
O médico barão Tôrres Homem, em 1882, detectou vários<br />
casos de tuberculose entre as mocinhas, devido à precária<br />
alimentação. 49 Uma vez casadas (aos quinze anos, se não tivessem<br />
noivo já era considerada solteirona), deveriam parir<br />
muitos filhos, de modo que ocorriam freqüentes óbitos precoces.<br />
O patriarca viúvo casava-se, não raro, com a irmã da<br />
esposa falecida, que, por sua vez, deveria gerar outros tantos<br />
filhos. Alguns chegavam a contrair matrimônio cinco vezes.<br />
[As jovens brancas] se casavam tôdas antes do tempo;<br />
algumas fìsicamente incapazes de ser mães em tôda<br />
plenitude. Casadas, sucediam-se nelas os partos. Um<br />
filho atrás do outro. Um doloroso e contínuo esforço<br />
de multiplicação. Filhos muitas vezes nascidos mortos<br />
(...). Mas todos deixando as mães uns mulambos de<br />
gente. (...) eram elas que, apesar de mais moças, iam<br />
morrendo; e eles casando com irmãs mais novas ou<br />
primas da primeira mulher. (...) Pois essa multiplicação<br />
de gente se fazia à custa do sacrifício das mulheres,<br />
verdadeiras mártires em que o esfôrço de gerar,<br />
consumindo primeiro a mocidade, logo consumia a<br />
vida. 50<br />
Não era de se estranhar, pois, que os índices de mortalidade<br />
materna fossem altos e a expectativa de vida das<br />
mulheres, mesmo brancas, fosse bem baixa. Para as mulheres,<br />
a vida, mesmo na casa-grande, não era das mais sadias.<br />
Confinadas no espaço doméstico, submetidas ao poder patriarcal,<br />
gerando uma prole abundante que não lhes permitia<br />
recuperar-se da gestação e do parto anterior, também as mulheres<br />
brancas, embora tivessem várias escravas a seu serviço,<br />
sucumbiam sob a tirania do patriarcado.<br />
Era natural que (...) as catacumbas nas igrejas vivessem<br />
escancaradas à espera de mocinhas que morressem<br />
tuberculosas, de mulheres casadas que definhassem<br />
de anemia ou de mães cujo ventre apodrecesse<br />
môço de tanto gerar, agredido pelo membro viril do<br />
marido patriarcal com uma freqüência que era uma<br />
das ostentações de poder do macho sobre a fêmea, do<br />
sexo forte sobre o fraco. 51<br />
No ambiente patriarcal reinava o padrão da dupla<br />
moralidade. Se, por um lado, o senhor branco agia assaltando<br />
as meninas negras, as mulheres encontravam-se constantemente<br />
ameaçadas pelos ciúmes de marido, irmão, pa-<br />
50 FREYRE, 1958, pp. 501-502.<br />
51 Ibid., 1968, p. 120.<br />
116 <strong>impulso</strong> nº 27
ente e... pelos padres enredeiros. As meninas viviam sob o<br />
jugo da tirania do pai. Através do casamento, logravam sair<br />
desta para cair na do marido.<br />
Colégios de religiosas e conventos muitas vezes funcionavam<br />
como estabelecimentos de correção para mocinhas<br />
alvo de suspeitas de namoro. Um viajante alemão registrou a<br />
freqüência com que brasileiros confinavam suas esposas em<br />
conventos a fim de viverem mais à vontade com uma amante.<br />
52<br />
A simples suspeita de intenção de namoro era motivo<br />
para os mais sanguinolentos desfechos:<br />
No Brasil o olho de Frade enredeiro não desapareceu<br />
das casas: foi um eclesiástico que avisou D. Verônica<br />
Dias Leite, matrona paulista do século XVII, que a filha<br />
estivera por algum tempo à janela. Crime horrendo de<br />
que resultou – conta a tradição – a mãe ter mandado<br />
matar a filha. Antonio de Oliveira Leitão, patriarca às<br />
direitas, (...) tendo visto tremular no fundo do quintal<br />
da casa um lenço que a filha tinha lavado para enxugar<br />
ao sol, maldou logo que era senha de algum Don<br />
Juan a lhe manchar a honra e não teve dúvida – sacou<br />
de uma faca de ponta e com ela atravessou o peito<br />
da moça. 53 O coronel Fernão Bezerra Barbalho (...)<br />
deixando-se levar por enredos de um escravo que fugira<br />
(...) não teve dúvidas em assassinar a mulher e as<br />
filhas. 54<br />
Freyre escreve que o médico Correia de Azevedo<br />
(...) parece ter surpreendido os motivos mais íntimos<br />
da excessiva ornamentação do chamado ‘belo sexo’<br />
ou ‘sexo frágil’ dentro de um sistema patriarcal, como<br />
o do Brasil, empenhado em fazer do homem senhoril<br />
o sexo dominante e de afastar a mulher de preocupações<br />
ou responsabilidades de direção ou de mando. 55<br />
Por outro lado é a seguinte a descrição de Freyre sobre<br />
o senhor de engenho: “No senhor branco o corpo quase que<br />
52 FREYRE, p. 126.<br />
53 Ibid., 1958, 2.º, p. 588.<br />
54 Ibid., p. 589.<br />
55 Ibid., 1968, p. 145.<br />
se tornou exclusivamente o membrum virile. Mão de mulher;<br />
pés de menino; só o sexo arrogantemente viril”. 56<br />
Houve porém mulheres que fugiram do paradigma<br />
patriarcal. Dona Brites Coelho governou a imensa capitania<br />
Nova Lusitânia. Várias mulheres se destacaram pela bravura<br />
e coragem no enfrentamento aos holandeses em Pernambuco.<br />
A grande maioria, contudo, permaneceu sob o jugo do<br />
mais truculento dos patriarcalismos que perdura há 500<br />
anos.<br />
ESCOLARIZAÇÃO<br />
Enquanto na França, entre 1647 e 1651, comerciantes<br />
francesas desencadearam movimentos reivindicatórios no<br />
Parlamento, com o intuito de retomar o direito ao acesso às<br />
escolas, e mulheres das elites iniciam movimentos literários,<br />
artísticos e espirituais, no Brasil as meninas provenientes das<br />
famílias abastadas tinham seus preceptores no domicílio,<br />
mas as meninas das camadas mais pobres não tinham acesso<br />
ao estudo. As órfãs pobres abandonadas, quando recolhidas<br />
aos conventos, se alfabetizavam com as religiosas. As demais<br />
crianças pobres permaneciam analfabetas. Somente a<br />
partir da terceira década do século XIX a legislação brasileira<br />
permitiu o acesso das meninas à escola pública, até então<br />
permitido apenas aos meninos.<br />
Houve autores, como Clarke (1874) e Kelog (1882),<br />
que alegavam que o trabalho intelectual prejudicava a saúde<br />
das mulheres, podendo comprometer a capacidade reprodutora.<br />
57 Não foram só as mulheres indígenas e negras a pagarem<br />
pela patriarcalismo. Só lentamente as várias formas<br />
de assimetria nas relações de gênero são denunciadas e ganham<br />
visibilidade.<br />
A legislação impedia que os negros fossem alfabetizados.<br />
A população branca do sexo feminino era impedida de<br />
freqüentar escola. No Brasil, enquanto o crescimento populacional<br />
(representado pela natalidade) sofreu forte queda, a<br />
não-alfabetização atinge, às vésperas do terceiro milênio, a<br />
taxa de 6,28% na faixa de 12 a 17 anos de idade, incidindo<br />
56 Ibid., 1958, 2.º, p. 599.<br />
57 MICHEL, 1982, p. 82.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 117
preferencialmente sobre a população negra, indígena e/ou<br />
mestiça. 58<br />
Ainda hoje, nos cursos de educação de jovens e adultos,<br />
ao ser indagada sobre os motivos da não escolarização, a<br />
maioria das mulheres declarara que lhe fora interditado o ingresso<br />
na escola sob a alegação de que “menina-mulher não<br />
precisa de escola”. Essa restrição não ocorreu apenas no Brasil.<br />
Não é de se estranhar, portanto, que dois terços dos nãoalfabetizados<br />
do mundo sejam constituídos por mulheres.<br />
Nas últimas décadas, as mulheres brasileiras têm se<br />
escolarizado em tal velocidade que, em 1997, quase igualaram<br />
às taxas de escolarização masculina. Os homens exibem<br />
a taxa de 84,1% de alfabetização e 82% de matrícula, enquanto<br />
as mulheres respectivamente 83,9% e 77%. 59 Esta<br />
conquista ocorre exatamente no momento em que a escolarização<br />
cada vez menos significa mobilidade social ascendente.<br />
São as taxas referentes à educação e à longevidade feminina<br />
que melhoram o Índice de Desenvolvimento por Gênero<br />
(IDG) no Brasil, classificando-o em 67.º entre 143 países<br />
comparados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento<br />
(PNUD). 60<br />
Nos programas de pós-graduação da Universidade de<br />
Campinas há mais mulheres que homens. Mas mesmo<br />
quando as mulheres conquistam maior escolarização, ainda<br />
assim, seus salários são, quase sempre, inferiores aos dos homens.<br />
MUNDO DO TRABALHO E RENDA<br />
No século XIX e início do XX, época em que a maioria<br />
das mulheres era confinada ao chamado espaço privado do<br />
lar, trabalhadoras que realizaram greves por melhores condições<br />
de trabalho foram agredidas e assassinadas. O início<br />
do século XX é marcado pelas manifestações em prol da volta<br />
dos que haviam sido enviados à guerra. Esses acontecimentos<br />
culminaram no consenso em torno do dia 8 de março como<br />
Dia Internacional da Mulher. 61<br />
58 IBGE/PNAD, 1998.<br />
59 Ibid., 1998.<br />
60 PNUD, 1999.<br />
61 IDE, 11/mar./00, p. 2. 62 Veja 1.535, de <strong>25</strong>/fev./98.<br />
No Brasil, somente após a greve de quase dois meses,<br />
que atingiu muitas categorias e quase paralisou São Paulo, é<br />
que se decretaram leis para regulamentar a jornada de trabalho<br />
de oito horas diárias, descanso semanal e proteção ao<br />
trabalho feminino. A reivindicação de igualdade de salário<br />
para o mesmo trabalho foi aos poucos conquistada na lei,<br />
mas nem sempre na prática. Até agosto de 1962, a legislação<br />
não permitia que uma mulher assinasse contrato de trabalho<br />
sem autorização do marido. Este, se não concordasse, tinha<br />
o direito de rescindir qualquer contrato de sua esposa.<br />
A exigência de creches nas empresas com mais de 30<br />
empregadas e nas vilas operárias com mais de 100 casas,<br />
prevista na CLT, quase não tem sido observada, o que impede<br />
os bebês de usufruírem do direito de serem devidamente<br />
amamentados por suas mães.<br />
Nas organizações patronais como a Confederação<br />
Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio e<br />
a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, assim<br />
como nas associações de classe como Conselho Federal de<br />
Medicina, Associação Brasileira de Imprensa e Ordem dos<br />
Advogados do Brasil, a mulher está ausente nas cúpulas. Nas<br />
centrais sindicais há algumas conquistas. Os percentuais de<br />
mulheres nas direções são: 11% na Força Sindical; 12,5% na<br />
Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas (Contag);<br />
26% no Comando Geral de Trabalhadores (CGT); e 30%<br />
na Central Única de Trabalhadores (CUT).<br />
Somos mais de 50% da população, responsáveis por<br />
2/3 das horas de trabalho mundial, mas detemos apenas 1%<br />
das propriedades e participamos apenas de 10% da renda. No<br />
entanto, o número de mulheres que participam das Ações de<br />
Cidadania corresponde a mais que o dobro do de homens.<br />
Em 1998, a revista Vej a 62 estampou em uma de<br />
suas capas a advertência: “Os homens que se cuidem, as<br />
mulheres estão avançando sobre os melhores cargos”. Como<br />
se nós, mulheres, não tivéssemos o direito de ocupar senão<br />
postos de trabalho sem prestígio. É exatamente nos trabalhos<br />
de nível superior que as mulheres exibem salários mais discriminatórios,<br />
isto é, as mulheres recebem em média 10,1 salários<br />
mínimos e os homens 17,3. O que significa que nos<br />
118 <strong>impulso</strong> nº 27
postos em se exige maior grau de escolarização, a discriminação<br />
de gênero é ainda maior.<br />
Na economia informal, em que as condições de trabalho<br />
são mais precárias, a maioria é composta por mulheres.<br />
Na chamada população economicamente ativa, recebem<br />
mais de 5 salários mínimos apenas 9,8% das trabalhadoras,<br />
e <strong>25</strong>,5% dos trabalhadores.<br />
Nos postos de trabalho da administração pública direta,<br />
cujos salários estão sendo cada vez mais corroídos, as<br />
mulheres são 56%. Já nos serviços industriais de utilidade<br />
pública, cujos salários são bem superiores, as mulheres correspondem<br />
a apenas 16,5%.<br />
São estarrecedores os dados sobre salários por gênero<br />
e por cor. As mulheres negras recebem, em média, um quarto<br />
do salário do homem branco.<br />
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD)<br />
revela que cerca de 20% das pessoas do sexo feminino ocupadas<br />
estão na agropecuária, atividade em que as mulheres<br />
e as meninas exercem múltiplos trabalhos, como o doméstico,<br />
o de auxiliar dos homens (pai, marido, irmão, tio, avô),<br />
além de cuidar da horta e da granja. Significa que a produção<br />
e preparação dos alimentos fica por conta das mulheres<br />
e meninas. No entanto, quando os alimentos são reduzidos,<br />
são elas as primeiras a serem condenadas à subnutrição e à<br />
fome. É importante lembrar que, nessas condições, geralmente<br />
nem as mulheres nem as meninas percebem nenhuma<br />
remuneração por essa tripla jornada de trabalho, que não<br />
inclui nem descanso semanal, muito menos, férias anuais.<br />
Mais de 35% das meninas ocupadas estão no emprego<br />
doméstico, cujo quadro não é dos mais auspiciosos: remuneração<br />
baixa, constantes flutuações, riscos de assaltos<br />
sexuais, pouco prestígio. No mundo do trabalho, em algumas<br />
empresas ainda perduram, embora ilegais, algumas discriminações.<br />
Entre outras: exigência de exames médicos para<br />
admissão em empregos (atestado de esterilidade, atestado de<br />
não-gravidez, exigência de exame Papanicolau); estado civil<br />
(casamento como empecilho); faixa etária (preferem-se as<br />
jovens); assédio sexual (dispensa direta e/ou indireta); e jornadas<br />
de trabalho superiores a oito horas diárias sob pena de<br />
dispensa.<br />
No Brasil, a grande assimetria nas relações de gênero<br />
continua na renda. Enquanto os homens têm uma renda<br />
anual per capita de 9,0<strong>25</strong> mil dólares, o salário médio anual<br />
das mulheres é 2,4 menor. Trata-se de um diferencial maior<br />
do que o da média mundial de 143 países calculada pelo<br />
PNUD, em que a renda dos homens é 1,8 vezes maior que a<br />
das mulheres (dados de 1997).<br />
Em harmonia com essa assimetria, o Brasil ocupa a<br />
70.ª posição entre 102 países, quando se trata de medir a distribuição<br />
do poder entre os gêneros. Nos cargos de direção há<br />
17,3% de mulheres e, no Parlamento, apenas 5,9%.<br />
No ritmo em que as mulheres alcançavam os postos<br />
políticos, levariam 400 anos para se igualarem aos homens.<br />
Por outro lado, no início da primeira epidemia de aids, a proporção<br />
era de 28 homens para uma mulher. Foram suficientes<br />
apenas 17 anos para se chegar quase a uma proporção<br />
igualitária de incidência de aids entre homens e mulheres. A<br />
campanha “Mulheres sem medo do poder” foi deflagrada<br />
após a IV Conferência Mundial da Mulher, ocorrida em Beijing,<br />
em 1995. As chamadas ações afirmativas foram conquistadas<br />
através da cota mínima de 20% de candidaturas<br />
para o pleito municipal de 1995, <strong>25</strong>% para as eleições estaduais<br />
e federais de 1998 e, finalmente, 30% para as eleições<br />
municipais do ano 2000. Na França, a partir do ano 2000, as<br />
cotas são de 50%.<br />
Na Dinamarca, as mulheres constituem 48% do Parlamento<br />
e mais de 50% do Executivo. O ano 2000 exibe algumas<br />
conquistas significativas: na Espanha, a Câmara dos<br />
Deputados e o Senado são chefiados por mulheres. No Japão,<br />
em 1999, na província de Osaka, seu governador foi acusado<br />
de assédio sexual, pagou multa e renunciou. No ano 2000,<br />
uma mulher, pela primeira vez na história do Japão, foi eleita<br />
para substituir o governador demissionário em Osaka.<br />
VIOLÊNCIA DE GÊNERO<br />
A violência de gênero tornou-se visível somente nas<br />
últimas décadas. Há um tipo de violência implícita, inerente<br />
às hieráquicas relações de gênero, que assegura aos homens<br />
quase todos os direitos e, às mulheres, uma cidadania de segunda<br />
categoria. Trata-se da violência institucionalizada<br />
configuradas por:<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 119
• menor acesso à escolarização;<br />
• dupla jornada de trabalho;<br />
• assimétrica distribuição de renda por gênero;<br />
• discriminação etária da mulher;<br />
• não acesso a certas carreiras e locais de lazer;<br />
• permanência dos altos índices de mortalidade materna;<br />
• menor acesso a financiamento;<br />
• dupla moral;<br />
• desrespeito com que as mulheres em desvantagem<br />
econômica são tratadas pelos meios de comunicação<br />
social;<br />
• não divisão do trabalho doméstico entre os gêneros.<br />
Assim como a institucionalizada, a violência explícita<br />
ganhou visibilidade apenas nas últimas décadas, após a I<br />
Conferência Mundial da Mulher (México, 1975). A violência<br />
doméstica contra as mulheres foi considerada violação dos<br />
direitos humanos somente em 1993, na Conferência sobre<br />
Direitos Humanos, ocorrida em Viena.<br />
No Brasil, os dados das Delegacias de Defesa da Mulher<br />
revelam que a violência contra a mulher ocorre em todas<br />
as camadas. Os números são elevados, mas as delegadas e<br />
pesquisadoras são unânimes em afirmar que os casos denunciados<br />
constituem apenas a “ponta do iceberg”.Estimativas<br />
do Banco Mundial fazem crer que um quinto das faltas<br />
ao trabalho feminino ocorre devido à violência doméstica.<br />
Nos Estados Unidos, 33% das internações emergenciais devem-se<br />
à violência doméstica, que custa, no Chile, 2% do<br />
Produto Interno Bruto (PIB). Há estudos que revelam que<br />
41% dos homens espancam suas parceiras.<br />
Bárbara Soares, do Instituto Superior de Estudos da<br />
Religião (ISER), informa que, em 1997, foram registradas no<br />
Rio de Janeiro 220 mil ocorrências de agressões domésticas.<br />
Lembrando que apenas 10% dos casos são notificados, deduz-se<br />
que eles chegam a 2,2 milhões (1,7 mil casos por dia).<br />
No Brasil, 66% dos homicídios de mulheres de autoria conhecida<br />
são intrafamiliares. Isso permite afirmar que a casa<br />
é o lugar mais agressivo para a mulher.<br />
No País, somente em 1998 ocorreu uma pesquisa sobre<br />
o assunto, assim mesmo fragmentária. O Movimento Nacional<br />
pelos Direitos Humanos chegou à conclusão de que,<br />
em 1995 e 1996, 66,3% dos acusados de homicídios contra<br />
mulheres eram seus parceiros.<br />
Ainda há no mundo 130 milhões de mulheres genitalmente<br />
mutiladas, em 32 países da África. As conseqüências<br />
são previsíveis: hemorragia, infecção, invalidez permanente,<br />
óbitos.<br />
Algumas crenças ajudam a permanência desse quadro.<br />
Pensa-se que a violência doméstica ocorra só nas camadas<br />
mais pobres e que ela atinja poucas pessoas. Os dados<br />
mostram que atinge muitas mulheres, incide em todas as camadas<br />
sociais, chegam a ferimentos graves e até a óbitos.<br />
Mesmo quando a vítima abandona o parceiro agressor, continua<br />
perseguida e agredida.<br />
Há quem afirme que as mulheres não reagem. A história<br />
revela que as reações foram punidas com rigor. A Inquisição<br />
atingiu mais homens que mulheres. Olympe de<br />
Gouges, militante da Revolução Francesa, escreveu a Declaração<br />
dos Direitos da Cidadã. Ao defender seu reconhecimento<br />
pelo Parlamento, foi condenada à guilhotina em 1793.<br />
Mulheres grevistas foram violentamente violentadas e assassinadas.<br />
As militantes pelo voto feminino (conquistado no<br />
Brasil somente em 1932) foram agredidas e ridicularizadas.<br />
Mesmo hoje as mulheres que ousam abandonar seus<br />
parceiros agressores têm 75% mais chances de ser assassinadas.<br />
Daí a urgência da instalação de casas-abrigo, que, provavelmente,<br />
evitariam outras agressões e óbitos. A ONU tem<br />
razão quando anuncia a falta de políticas públicas de prevenção<br />
e de acolhida a mulheres em situação de risco grave.<br />
As casas-abrigo no Brasil não chegam a uma dezena.<br />
É preciso que os agressores sejam punidos, mas urge<br />
a implantação de uma casa abrigo para as mulheres e seus<br />
filhos em situação de grave risco. No entanto, não basta: é<br />
importante promover a mudança de mentalidade através da<br />
reeducação de homens e mulheres, através de uma educação<br />
sob a perspectiva de gênero para meninos e meninas.<br />
Nos Estados Unidos, a general Claudia J. Kennedy denunciou,<br />
em 1996, ter sido vítima de assédio sexual pelo general<br />
John Maher. Em março de 2000, às vésperas de uma<br />
promoção, em virtude do assédio cometido em 1966, John<br />
Maher teve dois postos rebaixados e foi forçado a ir para a re-<br />
120 <strong>impulso</strong> nº 27
serva. Em 1999, dois outros generais foram punidos pelos<br />
mesmos motivos. 63<br />
Desde o Código Penal da República (1890), a ascensão<br />
da mulher brasileira levaria ainda um século. As Ordenações<br />
tratavam as questões relativas à honra em razão da<br />
importância do ofensor ou da ofendida: padres, militares,<br />
nobres eram tratados com a maior condescendência, inclusive<br />
na Inquisição.<br />
O Código Penal Brasileiro de 1830 revela a forte influência<br />
do Código Napoleônico de 1810, que fazia distinção entre<br />
a ofensa à dignidade ou ao decoro (injúria) e a atribuição<br />
a alguém de conduta legalmente considerada crime (a calúnia).<br />
Com a República, o Código Penal de 1890, no artigo<br />
27, § 4.º, dispensava a punição do homem que assassinara<br />
sua companheira por perturbação dos sentidos.<br />
Injúria, difamação e calúnia foram claramente separados<br />
e identificados pelo Código Penal de 1940. Embora a<br />
figura da “legítima defesa da honra” já tenha sido, pois, eliminada<br />
por esse Código, até recentemente foi prática recorrente.<br />
A grande conquista está consignada na Constituição<br />
de 1988: vida, privacidade e honra são consideradas invioláveis,<br />
subjetiva ou objetivamente. A concretização, porém, deixa<br />
a desejar. No Brasil, a impunidade tem garantido a permanência<br />
dos altos índices de violência de gênero. Ainda há<br />
um longo caminho a percorrer.<br />
63 MYERS, 2000.<br />
VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA CRIANÇAS<br />
E ADOLESCENTES<br />
As discussões em torno do projeto de Lei do Ventre Livre,<br />
em 1870, revelaram a postura das elites relativa às crianças<br />
das escravas. O senhor da escrava julgava-se dono do<br />
ventre dela e dos filhos nele gestados, que desde tenra idade<br />
eram usados nos serviços. Crianças, tanto negras quanto<br />
brancas, assistiam às torturas e execuções dos escravos desobedientes.<br />
Herança do escravismo, crianças e adolescentes das<br />
camadas em desvantagem econômica não foram considerados<br />
cidadãos/ãs, ao contrário, ficaram à mercê da violência.<br />
Com freqüência, crianças, não só negras, eram abandonadas<br />
nas ruas ou nas portas das igrejas. Quase sempre acabavam<br />
recolhidas por aliciadores de plantão, que tratavam de vendê-las<br />
a bom preço para os proxenetas.<br />
Foi instituído um costume de se colocar as crianças<br />
indesejadas numa porta giratória (conhecida como roda<br />
dos expostos) na entrada dos conventos femininos, de modo<br />
que o/a depositante não fosse identificado/a. As religiosas as<br />
recolhiam e tratavam de educá-las.<br />
A indiferença dos governantes pelas crianças pobres<br />
não ocorre apenas hoje em dia. Não havia nenhuma organização<br />
do poder público que se incumbisse de proteger as<br />
crianças. A mais silenciosa é a violência institucionalizada,<br />
configurada em especial pela insuficiência de políticas públicas<br />
de saúde, creches, escolas, lazer, assim como pela<br />
omissão diante da exploração da força de trabalho e, sobretudo,<br />
pelo abuso sexual.<br />
Apesar do antigo Código do Menor e, atualmente, do<br />
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), adultos têm utilizado<br />
a população infanto-juvenil para furtos, roubos, transporte<br />
de drogas ilícitas, exploração sexual.<br />
Várias são as iniciativas de pesquisa e atendimento aos<br />
meninos e adolescentes em situação de risco. Mas quase nada<br />
se tem feito para estudar e atender às necessidades específicas<br />
das meninas e das adolescentes.<br />
O descompasso nas relações de gênero tem gerado resultados<br />
igualmente assimétricos: as remunerações do trabalho,<br />
as enfermidades, o acesso à alimentação, a não divisão do<br />
trabalho doméstico, o acesso à profissionalização. A visibilidade<br />
numérica das meninas nas ruas é um fenômeno mais recente.<br />
No entanto, já em 1975, o abuso sexual foi identificado<br />
como um dos três principais motivos da fuga de seus lares, a<br />
maior parte dos casos envolvendo menores do sexo feminino.<br />
Enquanto a maioria dos meninos sai de casa motivada por<br />
maus-tratos vários e/ou para angariar dinheiro, as meninas o<br />
fazem sobretudo para fugir dos assaltos sexuais.<br />
O maior impacto parece incidir na esfera da sexualidade.<br />
Trata-se da violação da pessoa no mais profundo e íntimo<br />
de seu ser.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 121
Em 1977, Weber estudando um grupo de prostitutas<br />
de Minneapolis, concluiu que 3/4 delas haviam sido vítimas<br />
de abuso incestuoso. 64 Estudos realizados por Gordon, em<br />
Boston, abrangendo um período de 1889 a 1960, revelou que,<br />
entre os abusos de crianças, 74,5% são perpetrados pelos pais<br />
biológicos e 12,7% pelos pais sociais. Com relação a outras violências,<br />
83,5% são perpetrados pelos pais biológicos e 11,1%,<br />
pelos pais sociais. Em 5% duram meses, em 17%, várias vezes<br />
e apenas em 10% aconteceram uma única vez. 65<br />
Não é temerário afirmar, pois, que para as meninas o<br />
chamado lar é o lugar mais perigoso. O abuso incestuoso<br />
fragiliza as crianças, expondo-a à sanha das redes organizadas<br />
de exploração sexual infanto-juvenil. Trata-se de atividade<br />
muito lucrativa, que atrai os homens ávidos por dinheiro<br />
e que contam com a certeza da impunidade.<br />
A CPI da Violência Contra a Mulher (1992) 66 obteve<br />
205.219 questionários respondidos sobre os crimes do período<br />
de janeiro de 91 a agosto de 92. Entre os 3.693 estupros,<br />
metade ocorreu no espaço doméstico. A idade das pessoas vitimizadas<br />
merece reflexão: 32,7% delas tinham de sete a 10<br />
anos e 28,6%, de 11 a 13 anos de idade, ou seja 61,3% envolviam<br />
crianças de sete a 13 anos de idade. Não estão incluídos<br />
aí os crimes de atentado violento ao pudor nem rapto, que foram<br />
contabilizados na categoria outros num total de 51,1%<br />
dos crimes.<br />
As informações sobre a relação parental com o agressor<br />
nos boletins de ocorrência são insuficientes, quando não<br />
omissos. Na legislação nem sequer há uma tipificação do<br />
abuso incestuoso.<br />
Em São Paulo, Cohen e Matsuda 67 analisaram 238<br />
casos em que foram explicitadas as relações parentais com os<br />
agressores: pai biológico 41,6% e padrasto 20,6%. Já as informações<br />
das diversas Delegacias de Defesa da Mulher revelam<br />
a freqüência dos abusos sexuais contra crianças.<br />
É necessário atentar para que a violência extrafamiliar<br />
não permaneça impune com o argumento de que é preciso<br />
combater a violência doméstica. Após uma campanharelâmpago<br />
contra a exploração da prostituição infanto-juvenil,<br />
sem que se materialize em punições exemplares e políticas<br />
públicas de prevenção e atendimento a essa parcela da<br />
população, surge uma campanha contra a violência intrafamiliar.<br />
Tem-se a impressão de que se quer eximir as autoridades<br />
do cumprimento das legislações e dos acordos firmados<br />
em Viena (1993), Cairo (1994) e Beijing (1995), para<br />
lembrar apenas as mais recentes convenções assinadas pelo<br />
governo brasileiro.<br />
O abuso incestuoso, assim como o abuso polimorfo,<br />
quase sempre caracterizado pelo apelo à sedução, comprometem<br />
o processo de elaboração da identidade dessas crianças.<br />
Comportamentos erotizados, evasão escolar e tentativa de<br />
suicídio são ocorrências interligadas. As discriminações solidificam<br />
o sentimento de culpa pelo abuso.<br />
Os comportamentos erotizados têm sido usados como<br />
motivos para as discriminações. Essas crianças são evitadas,<br />
indesejadas, rechaçadas. Ninguém pode escolher seus próprios<br />
genitores, mas é possível superar essa violência. A impunidade<br />
tem garantido a permanência desse quadro. A exploração<br />
sexual dessas crianças ganha continuidade nas ruas,<br />
nos locais onde se refugiam, nas instituições para aonde<br />
são encaminhadas.<br />
No Relatório da CPI da Prostituição Infantil foram<br />
identificadas até meninos de 12 anos de idade contracenando<br />
com meninas de cinco anos em filmes pornográficos.<br />
(...) não raro, a prostituição de crianças e adolescentes<br />
está relacionada com a escravização e ao cárcere privado.<br />
(...) O aliciador as encaminha ao explorador, que<br />
mantém estabelecimentos (casa noturnas, hotéis) geralmente<br />
especializados em fornecimento de jovens de<br />
tenra idade. Nestes, a jovem é mantida de diversas maneiras:<br />
pura e simplesmente colocada em regime de<br />
cárcere, mantida como devedora do explorador que<br />
lhe fornece bebida, comida, roupas, medicamentos,<br />
preservativos (quando usam, o que é raro) e drogas. 68<br />
O lucro advindo desse tipo de exploração é vultoso. A<br />
própria CPI, com a quebra do sigilo bancário e fiscal de al-<br />
64 WEBER, 1979.<br />
65 GORDON, 1993.<br />
66 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1993.<br />
67 COHEN & MATSUDA. 1993. 68 CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1994, p. 24.<br />
122 <strong>impulso</strong> nº 27
guns dos acusados, apurou num só depósito 500 mil dólares.<br />
Mas a coesão androcêntrica tem garantido a impunidade:<br />
“as autoridades não se mostram adequadamente preocupadas<br />
com a análise, o controle e o combate à prostituição infanto-juvenil”.<br />
69<br />
Após a coleta de dados, houve, durante meses, acirradas<br />
discussões. A pressão e a cumplicidade de várias autoridades<br />
conseguiram que os nomes dos responsáveis não fossem<br />
citados no relatório final. “Os poderes constituídos, tanto<br />
em nível estadual quanto municipal, passando pelo Juizado<br />
da Infância e da Juventude, Polícia Militar, Polícia Civil, foram<br />
senão coniventes, omissos”. 70<br />
Autoridades, sobretudo policiais e judiciárias, têm sido<br />
omissas, quando não cúmplices e até agentes da exploração.<br />
A CPI nacional foi concluída em junho de 93. Ainda em março<br />
do ano seguinte, após denúncia de uma senhora, dois desembargadores,<br />
um juiz federal e um juiz da capital de São<br />
Paulo foram encontrados em flagrante uso sexual de quatro<br />
meninas num bordel de Rosana (oeste do Estado de São<br />
Paulo).<br />
Recentemente, em dezembro de 1999, Nirvana Vianna,<br />
juíza no município de Porto Calvo, Estado de Alagoas,<br />
durante as investigações sobre a exploração sexual de meninas<br />
e adolescentes, foi ameaçada de morte, sendo obrigada a<br />
requerer proteção policial. Estavam envolvidos juiz, promotor,<br />
ex-prefeito, fazendeiros e padre.<br />
No município de Caxias, Estado do Maranhão, quando<br />
mães de algumas adolescentes recorreram ao Conselho<br />
Tutelar, a promotora Lítia Cavalcanti, apesar da omissão dos<br />
policiais e autoridades, ofereceu as denúncias à Justiça. A<br />
promotora foi ameaçada de morte, assim como os demais<br />
membros do Conselho Tutelar, mas, por duas vezes, recusouse<br />
a aceitar a proteção da Secretaria da Segurança Pública,<br />
pois seria efetuada por quem estava envolvida na referida<br />
rede de exploração: a Polícia Militar.<br />
A Justiça decretou a prisão do advogado Hélio Coelho<br />
da Silva, ex-presidente da OAB local. No último dia 4 de novembro,<br />
o Tribunal de Justiça do Maranhão afastou os juízes<br />
Adinaldo Cavalcante, de Caxias, e José Raimundo Sampaio,<br />
de Bacabal. Foi afastado do cargo também o ex-comandante<br />
da Polícia Militar em Caxias, coronel Edmilson Saldanha. Finalmente,<br />
parece que a impunidade começa ser quebrada.<br />
Os direitos das mulheres são direitos humanos. 71<br />
A chamada prostituição infanto-juvenil não é causa,<br />
mas apenas efeito de uma sociedade que não garante nem<br />
sobrevivência às crianças, muito menos o exercício da cidadania.<br />
Para as meninas, as díspares relações de gênero têm<br />
garantido uma violência muito mais cruel: o abuso e a violência<br />
sexuais. O ECA, duramente conquistado, não se materializa<br />
por falta de vontade política, quando não por interdição<br />
de autoridades. A matança de Vigário Geral ganhou visibilidade<br />
nos MCS e repercussão internacional, também a pedofilia<br />
na Europa, através dos crimes da pacata Bélgica; mas<br />
o abuso sexual de crianças e adolescentes brasileiras parece<br />
não causar indignação, pelo contrário, provoca reações raivosas<br />
por parte de algumas (por que não dizer, várias) autoridades.<br />
Urge desmascarar alguns mitos que sustentam a conveniência<br />
androcêntrica. Os crimes sexuais contra crianças<br />
não são raros, os agressores não são pessoas pobres de aspectos<br />
sinistros, o <strong>impulso</strong> sexual masculino não é irreprimível.<br />
A Campanha Nacional contra a Exploração da Prostituição<br />
infanto-juvenil do governo federal foi pífia. Historicamente<br />
as campanhas têm sido expedientes para abafar o<br />
clamor popular, quando não para uso demagógico. Têm<br />
produzido impactos propagandísticos, servindo para a desmobilização<br />
dos grupos organizados.<br />
Urge que se implantem políticas públicas de prevenção<br />
e de acolhimento da população-alvo. “(...) embora quase<br />
todas as meninas revelassem que os policiais são os principais<br />
agressores, são a eles que recorrem para buscar proteção<br />
(Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança,<br />
1993)”. 72<br />
É importante que se multipliquem os grupos que se<br />
dedicam a desenvolver ações de solidariedade para com essa<br />
população. É imprescindível que se ofereçam condições para<br />
69 Ibid., 1994, p. 3.<br />
70 Ibid.<br />
71 CENTRO MARCOS PASSERINI, 1999.<br />
72 NUCEPE/UFCE, mar./93.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 123
que as pessoas e organizações que já vêm realizando essas<br />
ações possam intensificá-las e ampliá-las.<br />
A injustiça institucionalizada não será superada sem a<br />
democratização da riqueza e da renda. Mais: a violência de<br />
gênero não é resultado apenas de injustiça socioeconômica.<br />
As hierárquicas relações de gênero deverão ser desconstruídas.<br />
Conforme o acordado na IV Conferência Mundial da<br />
Mulher (China, 1995), os governos se comprometeram a<br />
contemplar a perspectiva de gênero em todas as políticas públicas.<br />
É preciso que se concretizem para que se construam<br />
igualitárias relações de gênero.<br />
Se educadores, articulados com outras organizações<br />
sociais, decidirem investir em uma educação pela cidadania<br />
sob a perspectiva de gênero, certamente desencadearão um<br />
poderoso processo contra a impunidade dos crimes contra as<br />
crianças e adolescentes, de modo especial os sexuais. Mais<br />
ainda: é possível contribuir para que crianças e jovens possam<br />
sobreviver, brincar, se alfabetizar, crescer, estudar, ser felizes.<br />
Recentemente a violência intrafamiliar e a exploração<br />
sexual infanto-juvenil têm se tornado presentes nos meios de<br />
comunicação social. A visibilidade da questão contribui para<br />
alertar e mudar mentalidades. No entanto, constantemente<br />
ocorrem desrespeitos às mulheres, que além de sofrerem<br />
agressões de seus parceiros ainda são ridicularizadas no rádio<br />
ou na televisão.<br />
O abuso incestuoso, assim como o abuso polimorfo,<br />
têm sido escamoteados. Quase sempre com características de<br />
apelo à sedução, as crianças sofrem comprometimento no<br />
processo de elaboração de sua identidade. Com freqüência<br />
perdem o apetite, sofrem perturbações do sono, não conseguem<br />
concentrar a atenção, comprometendo a aprendizagem.<br />
A evasão e o insucesso escolar são freqüentes. As tentativas<br />
de suicídio não são raras. As discriminações solidificam<br />
o sentimento de culpa pelo próprio abuso.<br />
Algumas passam a assumir comportamentos erotizados,<br />
que têm sido usados como motivos para as discriminações.<br />
Essas crianças são evitadas, indesejadas, rechaçadas. A<br />
impunidade tem garantido a permanência desse quadro. A<br />
exploração sexual dessas crianças tem continuidade nas ruas,<br />
nos locais onde se refugiam, nas instituições para aonde<br />
são encaminhadas.<br />
Os dados apresentados pela ONU revelam que metade<br />
das mulheres e crianças que vivem nas ruas fugiu da violência<br />
intrafamiliar, entre as quais as sexuais. Os aliciadores de<br />
plantão sabem que são crianças e adolescentes fragilizadas,<br />
portanto, presas fáceis. O lucro advindo desse tipo de exploração<br />
é vultoso. A coesão androcêntrica tem garantido a impunidade.<br />
EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DE<br />
GÊNERO<br />
Em 1870, no Brasil, uma questão de gênero, poucas<br />
vezes explicitada, toma lugar no palco das disputas políticas.<br />
Os debates sobre o projeto da Lei do Ventre Livre consolidam<br />
o primeiro posicionamento de gênero a respeito da propriedade<br />
privada.<br />
O ventre da escrava era considerado propriedade privada<br />
do senhor que a comprou, assim como os filhos nele<br />
gestados. Conforme essa premissa, a Lei do Ventre Livre atentava<br />
contra o sagrado direito à propriedade privada.<br />
Herdada do escravismo, essa tradição do pensamento<br />
do senhor branco impregnou a mentalidade brasileira de tal<br />
forma que, ainda hoje, o ventre da mulher, sobretudo se é pobre,<br />
é objeto de disputas. A concepção, a anticoncepção, o<br />
aborto, o parto, tudo é regulado pelas indústrias farmacêuticas,<br />
pelos Estados, pelas igrejas, pelas instituições médicas,<br />
por todos, menos pela própria mulher. Sobre a matriz da<br />
mentalidade patriarcal escravista construíram-se os papéis<br />
sexuais, os estereótipos de papéis sexuais.<br />
Meninos e meninas se socializam diferentemente desde<br />
muito cedo, de modo que se instaura uma meia democracia<br />
que alija 51% de sua população das instâncias de poder,<br />
permitindo-lhe apenas uma cidadania de segunda categoria.<br />
A preocupação pela configuração da mulher aos “papéis<br />
naturais” não está presente apenas nas leis escritas, mas<br />
perpassa o cotidiano dos homens, desde o camponês analfabeto<br />
até o universitário.<br />
O confinamento ao espaço doméstico foi um expediente<br />
de extrema eficácia para que o poder masculino não<br />
124 <strong>impulso</strong> nº 27
fosse contestado. A saída para o espaço público, mesmo que<br />
através de ações filantrópicas, foi suficiente para que a geração<br />
seguinte formasse grupos feministas.<br />
A partir de 1975, com a I Conferência Mundial da Mulher,<br />
os movimentos feministas, os grupos de mulheres e os<br />
núcleos de estudos sobre a mulher passam a ganhar visibilidade<br />
e os mecanismos de dominação sexual denunciados.<br />
É preciso desconstruir o aparato constituído por costumes,<br />
hábitos, acomodações e conveniências que garantem<br />
ao gênero masculino quase todos dos direitos e ao feminino<br />
a submissão e uma cidadania de segunda categoria.<br />
Milhões de mulheres são mutiladas (são 130 milhões),<br />
milhões de mulheres ainda hoje desempenham estafantes duplas<br />
jornadas, são alvo de violências variadas, não gozam de<br />
descanso semanal nem de férias anuais, são impedidas de se<br />
atualizarem como desejariam, têm suas iniciativas silenciadas<br />
quando não banalizadas, não têm voz nem vez.<br />
Os múltiplos desafios postos pela discriminação de<br />
gênero precisam ser enfrentados. Essas dívidas sociais precisam<br />
ser saldadas. As mulheres não estão esperando passivamente.<br />
Contra a inércia do Brasil que aprofunda a fratura social<br />
há movimentos de resistência e de construção de relações<br />
mais igualitárias. Nesses 500 anos, é na condição de principais<br />
credoras sociais que as mulheres se apresentam.<br />
A mobilização pelos direitos das mulheres objetiva relações<br />
de gênero mais eqüitativas; não é contra os homens. É<br />
uma luta com os homens por uma sociedade mais democrática,<br />
mais agradável para mulheres e homens.<br />
A capacidade de gerir exíguas rendas familiares, atesta<br />
a competência das mulheres em administrar a res pública<br />
através de uma intransigente busca da justiça, sem perder a<br />
sensibilidade, olhando o mundo com olhos de mulher, como<br />
o lema do Fórum de ONGS da IV Conferência Mundial da Mulher<br />
em 1995.<br />
Nesses 500 anos, assim como a impunidade continua<br />
garantindo a perpetuação da violência de gênero, as mulheres<br />
continuam alijadas do poder. Conseguiu-se apenas aprovar<br />
as cotas de 30% para o pleito eleitoral de 2000, o que não<br />
significa forçosamente que conquistará 30% dos cargos legislativos<br />
e executivos nos municípios. Atualmente as mulheres<br />
são 11% nas Câmaras e 6% nos executivos municipais.<br />
Entraremos no terceiro milênio com menos de 6% de mulheres<br />
na Câmara dos Deputados e apenas 7% no Senado. As<br />
ações afirmativas poderão elevar, neste fim de milênio, os<br />
percentuais femininos nas eleições locais em que as mulheres<br />
têm conquistado maior êxito eleitoral. Ainda temos um longo<br />
caminho a percorrer até o equilíbrio por gênero nas instâncias<br />
de poder.<br />
Gabriel García Marquez diz que o próximo milênio<br />
promete ser melhor porque carrega a esperança de ser administrado<br />
por mulheres.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ALMEIDA, M.A. de. Memórias de um Sargento de Milícia. São Paulo: Cultrix, 1967.<br />
AMADO, J. Gabriela, Cravo e Canela. Rio de Janeiro: Martins, 1958.<br />
________. Tenda dos Milagres. São Paulo: Martins, s/d.<br />
AZEVEDO, A. de. O Cortiço. São Paulo: Martins, s/d.<br />
BASTIDE, R. & FERNANDES, F. Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo. São Paulo: Anhembi/Unesco, 1953.<br />
CÂMARA DOS DEPUTADOS. CPI da Violência Contra a Mulher, 1993.<br />
________. CPI da Prostituição Infantil, 1994.<br />
CAMPOS, M.P. Kaigang: Pyry Nhenpe”ti: Kaigang, um sonhador. Mari/USP, 1999.<br />
CENTRO DE DEFESA MARCOS PASSERINI. Dossiê sobre a Exploração da Prostituição Infantil em Caxias. São Luís, 1999.<br />
CIMI, Informe 326, Brasília, 3/set./98.<br />
________. Informe 335, Brasília, 5/nov./98.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 1<strong>25</strong>
________. Informe 352, Brasília, 18/mar./99.<br />
________. Informe 360, Brasília, 13/mai./99.<br />
COHEN E MATSUDA. O Incesto, um Desejo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1993.<br />
ELIAS, C.M. & HIPOLIO’Ó. Nzopunè, Sonho meu: histórias terena. Penápolis: Mari/USP-Fapesp, 1999.<br />
FREYRE, G. Casa-Grande & Senzala. 12.ª ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1963.<br />
________. Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. 9.ª ed. Rio de<br />
Janeiro: José Olympio, 1958 (2 vol.).<br />
________. Sobrados & Mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano. 1.º t., 4.ª ed. Rio de<br />
Janeiro: José Olympio, 1968.<br />
GORDON, L. Heroes of their own lives: the politics and history of family violence. In: SMM, FAI, BICE. Conferência Regional<br />
Latinoamericana e Caribenha: violência, poder, escravidão sexual: mulheres e crianças são as principais vítimas.<br />
São Paulo: SMM, 1993.<br />
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 1998.<br />
IDE, I.T. Construindo uma data: o dia internacional da Mulher. Jornal da Manhã, Marília, 11/mar./00, p. 2.<br />
KIDDER, P.D. Reminiscências de Viagens e Permanências no Brasil. São Paulo: USP, 1972.<br />
LUÍS, W. Na Capitania de São Vicente. São Paulo: EdUSP, 1980.<br />
MELLO e SOUZA, L. Folha de S.Paulo, 20/mar./00, cad. 1.<br />
MYERS, S.T. General americana denuncia assédio. Folha de S.Paulo, 1.º/abr./00, cad.1, p. 26.<br />
MICHEL, A. O Feminismo, uma Abordagem Histórica. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.<br />
MONTEJO, P. Ciência Hoje, 16 (95): nov./93.<br />
NUCEPE/UFCE. Perfil da Menina Envolvida com a Prostituição em Fortaleza: relatório de pesquisa.Mar./93.<br />
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) 1999.<br />
RODRIGUES, A.D.´I. Línguas indígenas: 500 anos de descobertas e perdas. SBPC, Ciência Hoje, 16 (95): 21-26, nov./93.<br />
RODRIGUES, J.H. História da História do Brasil. I t.: Historiografia colonial. São Paulo: Companhia Nacional/MEC, 1979.<br />
SABATINI, S. Massacre. São Paulo: Loyola/CIMI, 1998.<br />
SANTOS, J.F.dos. João, Abade. São Paulo: Martins, 1975.<br />
SILVA, M. Mulheres na Amazônia: a intimidade exposta, 29/mar./00. [Artigo enviado à autora via correio eletrônico].<br />
VARNHAGEN, F.A. História Geral do Brasil. 7.ª ed., I-II, São Paulo: Melhoramento, 1962.<br />
WEBER, E. Incest: sexual abuse begins at home. In: BUTLER, S.A. Conspiração do Silêncio: o trauma do incesto. Rio de<br />
Janeiro: Zahar, 1979.<br />
126 <strong>impulso</strong> nº 27
BRASIL: cinco<br />
séculos de riqueza,<br />
desigualdade<br />
e pobreza<br />
BRAZIL: five centuries of wealth,<br />
income inequality and poverty<br />
RESUMO O presente texto apresenta uma revisão bibliográfica sobre a histórica situação de desigualdade e pobreza<br />
que caracteriza a evolução econômica brasileira. Confronta a riqueza de uma economia de médio desenvolvimento<br />
humano, classificada como uma das dez maiores economias do mundo pelo valor do PIB, com o elevado grau de<br />
desigualdade de rendimentos que compele milhões de pessoas à condição de pobreza. Busca-se subsidiar com tal levantamento<br />
reflexões sobre o desenvolvimento brasileiro, no marco dos 500 anos de descobrimento, que propiciem<br />
ações efetivas de acesso à educação e à informação, para o exercício da cidadania.<br />
Palavras-chave Brasil – desenvolvimento econômico – desigualdade – educação – pobreza – riqueza.<br />
ANGELA M. C. JORGE CORRÊA<br />
Professora da Faculdade de<br />
Ciência e Tecnologia da<br />
Informação e do Curso de Ciências<br />
Econômicas (UNIMEP)<br />
ajcorrea@unimep.br<br />
JOSÉ MARCELO DE CASTRO<br />
Estudante do Curso de<br />
Ciências Econômicas (UNIMEP)<br />
bece@imagenet.com.br<br />
ABSTRACT This paper presents a bibliographic review of the historic situation of income inequality and poverty within<br />
the evolution of Brazilian economics. It compares the statistics which rank Brazil as a medium human development<br />
economy with one of the ten largest economies of the world by its GDP, with the elevated degree of income inequality<br />
that brings millions of people to situations of poverty. These factors are complimented with some reflections<br />
about Brazilian development in regards to the five hundreds years of discovery. Effective actions for the access to education<br />
and information are proposed for the exercise of civil and political rights.<br />
Keywords Brazil – economic development – income inequality – education – poverty – wealth.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 127
Indicadores<br />
de qualidade de<br />
vida colocam<br />
o Brasil em situação<br />
desfavorável diante<br />
de muitos países,<br />
inclusive perante<br />
seus vizinhos latinos<br />
do sul<br />
INTRODUÇÃO<br />
OBrasil é um país marcado, no decorrer de seus 500 anos de história<br />
pós-descobrimento, por desigualdade de renda e elevados<br />
índices de pobreza. Entretanto, pelo valor do seu Produto Interno<br />
Bruto (PIB), o País vem sendo enquadrado entre as dez<br />
maiores economias do mundo, em anos recentes, classificando-se<br />
entre a sétima e a décima posição nessa ordenação, próximo<br />
a economias modernas e fortes como a da Espanha e o<br />
Canadá, e mesmo de economias muito grandes como a da China. Por esse agregado econômico,<br />
o Brasil pode ser considerado um país rico e de desenvolvimento humano elevado,<br />
segundo a classificação feita para o ano de 1995 pelo Programa das Nações Unidas para<br />
o Desenvolvimento (PNDU). 1<br />
Porém, o PIB por habitante indica uma situação não tão favorável, pois, considerando-se<br />
o número de pessoas da população brasileira, o PIB per capita é de cerca de 5.928<br />
dólares PPC 2 no referido ano, valor que coloca o País entre as nações de “renda média alta”.<br />
Nesse mesmo período o valor do PIB per capita para o Canadá é bem superior ao brasileiro,<br />
de 21.916 dólares PPC, sendo de 14.789 dólares para a Espanha, e de apenas 2.935 dólares<br />
na China. Em países latinos, como o Chile, a Argentina e o Uruguai, também o patamar<br />
é superior ao do Brasil, sendo o PIB por habitante respectivamente de 9.930, 8.498 e 6.854<br />
dólares PPC.<br />
Adiciona-se a essa situação o fato de que outros indicadores de qualidade de vida<br />
utilizados pelo PNUD, também para o ano de 1995 – como a esperança de vida ao nascer<br />
e a taxa de alfabetização de adultos –, colocam o Brasil em situação desfavorável diante de<br />
muitos países, inclusive perante seus vizinhos latinos do sul. Enquanto no Brasil a esperança<br />
de vida é de 66,6 anos e a taxa de alfabetização de adultos é de 83,3%, os valores desses<br />
indicadores para o Chile são respectivamente de 75,1 anos e 95,2%, para a Argentina,<br />
de 72,6 anos e 96,2% e para o Uruguai, de 72,7 anos e 97,3%. Resultados esses que mostram<br />
que o País não tem, ao longo de sua história, investido suficientemente na educação<br />
de sua população, apesar da importância desta para o desenvolvimento de qualquer nação.<br />
Observa-se, também segundo classificação do PNUD, que os países de desenvolvimento<br />
humano elevado têm, em média, 16.241 dólares PPC como PIB per capita em 1995,<br />
enquanto esse valor é de 3.390 dólares para os de médio desenvolvimento e de apenas 1.362<br />
dólares para aqueles classificados como de baixo desenvolvimento humano. Diante desse<br />
referencial, o PIB por habitante no Brasil não parece ser tão ruim, inclusive em comparação<br />
pontual com o conjunto dos demais valores do PIB per capita, entre os 174 países classificados<br />
pelo PNUD. Entretanto, como medida estatística de posição (média) não é um indicador,<br />
neste caso, com boa representatividade da posição central dos dados. Isso porque<br />
1 PNUD, 1998.<br />
2 PPC: PIB real per capita ajustado pela paridade do poder de compra (BANCO MUNDIAL, 1998).<br />
128 <strong>impulso</strong> nº 27
existe grande dispersão e elevada desigualdade na distribuição<br />
dos rendimentos pessoais, de tal forma que o valor numérico<br />
desse índice (por ser uma média) está influenciado<br />
por rendas muito elevadas recebidas por pequeno percentual<br />
da população.<br />
Desse modo, embora o País possua um PIB que o classifica<br />
como uma das grandes economias do mundo, o rendimento<br />
médio por pessoa é apenas razoável e fortemente<br />
afetado pela elevada desigualdade na distribuição da renda.<br />
Fato esse que é ratificado pelo nível de concentração de renda<br />
absurdamente elevado do País, pois o índice de Gini calculado<br />
para o Brasil pelo PNUD, com dados de 1996, é de 0,601,<br />
e o quociente entre a renda auferida pelos 20% mais ricos da<br />
população e os 20% mais pobres é de 32,1, sendo este o maior<br />
quociente apresentado entre os países analisados pelo Relatório<br />
do Desenvolvimento Humano-1999. 3<br />
Para melhor entendimento sobre esses indicadores,<br />
registra-se que o índice de Gini é uma medida que oscila de<br />
zero (perfeita igualdade) a 1 (extrema desigualdade) e, segundo<br />
a mesma fonte de análise (PNUD), é de 0,315 para o<br />
Canadá, de 0,3<strong>25</strong> para a Espanha e de 0,415 na China. Nesses<br />
países o quociente entre a renda recebida pelos 20% mais ricos<br />
da população e os 20% mais pobres é de apenas 5,24 vezes<br />
no Canadá, de 5,37 vezes na Espanha e de 8,64 vezes na<br />
China, valores bem inferiores ao observados no Brasil, evidenciando<br />
a perversa concentração de renda vigente nesta<br />
nação. Salienta-se que a gravidade dos valores assumidos<br />
por esses indicadores estatísticos supera os patamares numéricos,<br />
pois atesta que a opção do modelo de desenvolvimento<br />
centrado no princípio da acumulação, poupança e investimento,<br />
mesmo que com desigualdade, na fase inicial do processo<br />
de crescimento econômico, não comprovou ser possível<br />
efetuar a esperada eqüidade em momento posterior do processo<br />
temporal do desenvolvimento.<br />
Ainda segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano-1999,<br />
o Brasil passa a ser considerado um país de médio<br />
desenvolvimento humano, apesar de ter sido classificado,<br />
pelo relatório de 1998, como de elevado desenvolvimento humano.<br />
A metodologia de mensuração de desenvolvimento<br />
utilizada pelo PNUD é centrada no Índice de Desenvolvimento<br />
Humano (IDH), que procura exprimir, através de medidas estatísticas,<br />
o conceito de desenvolvimento que trata do desenvolvimento<br />
dos recursos humanos com ênfase no incremento<br />
do capital humano, destacando simultaneamente as pessoas<br />
como beneficiários do processo de desenvolvimento. O IDH é<br />
um índice sintético composto por dimensões fundamentais<br />
da condição humana, criado no início dos anos 90, e publicado<br />
anualmente desde então para o conjunto dos países integrantes<br />
do PNUD. As dimensões utilizadas na construção do<br />
IDH são a longevidade, a educação e a renda ou PIB per capita.<br />
O IDH combina essas três dimensões em uma única medida,<br />
baseada na média aritmética simples dos indicadores desses<br />
fatores, sendo uma alternativa à utilização do PIB per capita<br />
como indicador do grau de desenvolvimento dos países.<br />
Segundo um dos responsáveis pela metodologia do<br />
IDH, e prêmio Nobel de Economia de 1998, o indiano Amartya<br />
Sen, o IDH, por estar baseado em três componentes distintas<br />
– indicadores de longevidade, educação e rendimento<br />
per capita – não se centra exclusivamente na riqueza econômica<br />
e, dentro dos limites desses componentes, tem alargado<br />
substancialmente a atenção empírica que a avaliação<br />
dos processos de desenvolvimento recebe. Admite Sen que o<br />
IDH é um índice imperfeito, e que deve ser visto como um<br />
movimento introdutório para se obter o interesse das pessoas<br />
pelo rico conjunto de informações presente nos Relatórios de<br />
Desenvolvimento Humano, publicados pelo PNUD, sendo esta,<br />
na realidade, a grande contribuição do referido estudo, pois<br />
tais relatórios são ricos de informações sobre uma ampla variedade<br />
de aspectos sociais, econômicos e políticos que influenciam<br />
a natureza e a qualidade da vida humana. 4<br />
O IDH calculado para o Brasil vem melhorando substancialmente<br />
no decorrer do tempo. Em 1960 o País ocupava<br />
a 51.ª posição entre os 110 países que compunham o<br />
ranking do PNUD, estando na época no grupo de países de<br />
baixo desenvolvimento, com IDH de 0,394. Em 1995 o Brasil<br />
passou a ser qualificado como país de elevado desenvolvimento<br />
humano – com IDH de 0,809 –, ocupando a 62.ª posição<br />
no ranking dos 174 países que compõem atualmente<br />
3 PNUD, 1999. 4 Ibid., p. 23.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 129
o PNUD e, embora a melhora do IDH decorra do crescimento<br />
em todos os seus índices parciais (longevidade, educação e<br />
PIB per capita), a renda é a dimensão que tem dado maior<br />
sustentação para o valor do IDH nacional. 5 Mesmo com a alteração<br />
na mensuração da dimensão renda, a partir do Relatório<br />
do Desenvolvimento Humano-1999 – em que o índice<br />
de renda brasileiro cai de um patamar superior a 0,900<br />
para a faixa dos 0,700, e o IDH nacional (de 0,739) coloca o<br />
Brasil no grupo de países de médio desenvolvimento humano,<br />
em 79.º lugar no ranking do PNUD –, a dimensão renda<br />
continua a ser aquela que maior sustentação fornece para o<br />
valor do IDH do País.<br />
Registra-se, entretanto, que há controvérsias sobre a<br />
utilização de índices sintéticos como este, aplicados a conjuntos<br />
populacionais heterogêneos, para a mensuração de<br />
fenômenos sociais, sob a alegação de que, se há grande variabilidade<br />
nos valores de um dado atributo, o valor médio<br />
não representa a tendência central dos dados da forma mais<br />
coerente. Adicionalmente, observa-se que, sendo o IDH uma<br />
medida de tendência central, acoberta as condições de pobreza<br />
e desigualdade vigentes no Brasil, além de não considerar<br />
as acentuadas desigualdades regionais decorrentes do<br />
próprio modelo de desenvolvimento adotado pelo País.<br />
Não obstante o valor numérico favorável do PIB (total<br />
e mesmo per capita), e sendo o Brasil classificado pelo<br />
PNUD 6 como de médio desenvolvimento, encontra-se o País,<br />
ao completar 500 anos de descobrimento, diante de um grave<br />
quadro de injustiça social, associado ao preocupante perfil de<br />
sua distribuição da renda vigente, à qual estão relacionados<br />
os elevados níveis de pobreza de grande parte de sua população.<br />
Nesse contexto, e com o intuito de melhor ilustrar a<br />
séria questão da distribuição de renda, pobreza e disparidades<br />
regionais do País em anos mais recentes, este texto procura<br />
efetuar um breve resgate histórico do desenvolvimento<br />
do Brasil, discutindo tais aspectos a partir de pesquisas científicas<br />
e informações oficiais.<br />
BREVE RESGATE HISTÓRICO<br />
DO DESENVOLVIMENTO<br />
ECONÔMICO BRASILEIRO<br />
A desigualdade é um aspecto marcante da história<br />
econômica do Brasil, caracterizada, em um primeiro momento,<br />
pela dependência da produção de poucas mercadorias<br />
direcionadas exclusivamente para o mercado externo,<br />
prática esta que levava à concentração populacional e de riqueza<br />
em poucas regiões do País.<br />
O crescimento econômico concentrado foi a tônica do<br />
desenvolvimento econômico no Brasil. Em suas diferentes fases<br />
obedeceu um itinerário guiado pelos ciclos agroexportadores,<br />
que elevava cidades e regiões à condição de esteio da<br />
economia nacional, e assim pode ser sintetizado:<br />
A desigualdade espacial no crescimento e na distribuição<br />
de renda tem sido uma característica da economia<br />
brasileira desde os tempos coloniais e cada um<br />
dos ciclos de exportação de produtos primários do<br />
passado beneficiou uma ou outra região específica. O<br />
ciclo da cana-de-açúcar nos séculos XVI e XVII favoreceu<br />
o Nordeste; o de exportação de ouro dos séculos<br />
XVII e XVIII transportou o dinamismo da economia à<br />
área onde hoje se encontra o estado de Minas Gerais e<br />
às regiões que a abasteciam, no Sudeste brasileiro; a<br />
expansão da exportação de café do século XIX favoreceu<br />
primeiro o interior do Rio de Janeiro e, posteriormente,<br />
o estado de São Paulo. 7<br />
As disparidades na renda e no desenvolvimento territorial<br />
perduram no Brasil desde sua ocupação, pois o relativo<br />
atraso social e econômico originou-se de uma colonização<br />
destituída de objetivos que promovessem o desenvolvimento<br />
das terras ocupadas. Para os povos europeus, a princípio, ocupar<br />
a América significava assegurar o seu direito de posse.<br />
Tanto que, conforme Furtado, 8 a exploração agrícola extensiva<br />
na região Nordeste foi mera conseqüência da incapacidade de<br />
financiamento do Reino português, aliada a uma reduzida<br />
disponibilidade de indivíduos dispostos a aventurar-se nas novas<br />
terras até então desprovidas dos metais preciosos, que fi-<br />
5 CASTRO, 2000.<br />
6 PNUD, 1999.<br />
7 BAER, 1996, p. 284.<br />
8 FURTADO, 1991.<br />
130 <strong>impulso</strong> nº 27
zeram a Espanha tornar-se uma das nações mais ricas da Europa<br />
no século XVI, à custa das pilhagens realizadas no altiplano<br />
andino e na meseta mexicana. Reforça essa idéia a afirmação<br />
de Wood e Carvalho 9 de que, enquanto a Espanha<br />
consolidava a defesa de suas áreas produtoras de metais preciosos,<br />
Portugal precisou utilizar outros meios para consolidar<br />
e explorar os novos territórios americanos, pois não encontrou<br />
de imediato os almejados metais preciosos. Dessa forma, os<br />
primeiros colonizadores estabeleceram-se nas regiões costeiras,<br />
voltando-se a exploração do pau-brasil, então fonte valiosa<br />
de produtos para tintura, do qual deriva o nome do País.<br />
E essa exploração de madeiras de lei, no século XVI, apenas iniciou<br />
os muitos ciclos de exportação que vieram a caracterizar<br />
a história econômica do Brasil.<br />
Contudo, o cultivo da cana-de-açúcar foi implementado<br />
com sucesso nas terras brasileiras. A economia açucareira<br />
caracterizava-se pela quase que completa inexistência de<br />
fluxo de renda monetária, a força de trabalho (baseada no escravismo)<br />
dedicava-se ao trabalho nos engenhos e à produção<br />
de alimentos para a própria subsistência. Por outro lado,<br />
parte da renda da produção de açúcar revertia-se em investimentos<br />
que caracterizavam pagamentos ao exterior (aquisição<br />
de escravos, compra de equipamentos e instalações e bens<br />
de luxo), não proporcionando fluxo de renda interna, e sim<br />
concentração de renda nas mãos dos empresários.<br />
Nas primeiras décadas do século XVIII a descoberta de<br />
ouro, na região norte de Minas Gerais, constituiu a alternativa<br />
econômica do decadente Reino português, até então dependente<br />
exclusivamente do comércio do açúcar brasileiro. Ao<br />
mesmo tempo propiciou ao Brasil a expansão populacional e<br />
um incipiente fluxo de renda interno, através da integração<br />
comercial entre as demais regiões, como as criadoras de gado<br />
de corte, tração e muares para o transporte. Em decorrência,<br />
a dinamização da economia constituiu o primeiro passo para<br />
a desconcentração da renda no Brasil, através da intensificação<br />
do fluxo de renda. 10<br />
O período subseqüente da economia brasileira, ligada<br />
ao café, carrega consigo a modernização do Estado, política<br />
9 WOOD E CARVALHO, 1994.<br />
10 FURTADO, 1991.<br />
e economicamente. Traz novamente à tona a exportação<br />
agrícola como esteio da economia, porém com vistas à modernização<br />
e inserção do Brasil como nação na economia<br />
mundial. Ademais, a cultura do café exigiu a reestruturação<br />
produtiva, que veio firmar a relação assalariada de trabalho,<br />
dando consistência ao fluxo de renda interno no País, conforme<br />
discutido em Furtado. 11 Segundo Dean, citado em<br />
Wood & Carvalho, 12 apesar do sistema de plantation ter começado<br />
modestamente, com senhores de terra declarando<br />
orgulhosamente que dependiam do mundo externo apenas<br />
para compra de pólvora e sal, com a acumulação de capital<br />
a auto-suficiência abriu caminho para a economia de mercado<br />
e à circulação da moeda, de tal forma que os pré-requisitos<br />
para um sistema industrial logo apareceram. Com o<br />
aumento do valor da produção exportada e, dada a expansão<br />
das áreas de cultivo, com a utilização de mão–de-obra imigrante,<br />
estabeleciam-se bancos e outras instituições de crédito,<br />
além do sistema ferroviário, que, embora voltado para as<br />
necessidades de exportação, propiciou a infra-estrutura lucrativa<br />
para a indústria manufatureira doméstica.<br />
É nessa fase histórica da formação econômica do Brasil<br />
que a organização socioeconômica migratória, subordinada<br />
aos ciclos exportadores, teve seu fim no início de século xx.<br />
A região Sudeste firmou-se, então, como líder da economia<br />
brasileira, já que em meados desse século, com o início do<br />
processo de industrialização, era a região economicamente<br />
mais dinâmica do País, aumentando sua participação no PIB<br />
nacional e, concomitantemente, transformando-se no principal<br />
beneficiário do desenvolvimento econômico.<br />
A tendência da região Sudeste firmar-se como líder<br />
econômico, através da industrialização, pode ser melhor<br />
compreendida com a observação de Hicks, de que, “à medida<br />
que a indústria e o comércio concentram-se em um determinado<br />
centro, eles mesmos conferem a esse centro uma<br />
vantagem para desenvolvimento posterior”. 13 Isto é, novas<br />
indústrias tendem a se instalar na região que esteja já em<br />
processo de desenvolvimento, a princípio mais lucrativas e<br />
11 Ibid.<br />
12 DEAN, 1971, apud WOOD & CARVALHO, 1994, p. 66.<br />
13 HICKS, J.R. Essays in World Economics. Oxford: Clarendon Press,<br />
1959, p. 163. Apud BAER, 1996, p. 292.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 131
com maior disponibilidade de mão-de-obra especializada e<br />
variedade de bens e serviços, o que realmente se observou no<br />
Brasil.<br />
A concentração do desenvolvimento no Sul/Sudeste<br />
do Brasil agravou o empobrecimento das demais regiões<br />
brasileiras e os fluxos migratórios internos incharam as cidades,<br />
em particular as do Sudeste. 14<br />
A caracterização do desenvolvimento econômico do<br />
Brasil, como aqui apresentado, tem o propósito de possibilitar<br />
o questionamento da noção de desenvolvimento, atrelado ao<br />
crescimento econômico, vigente no Brasil ao longo de sua<br />
formação econômica, e a noção de desenvolvimento centrado<br />
nos indivíduos. Conforme o PNUD, o crescimento econômico<br />
é uma condição necessária para o desenvolvimento humano,<br />
da mesma forma o desenvolvimento humano é imprescindível<br />
para o crescimento econômico, porém<br />
(...) não é uma condição suficiente: a vinculação entre<br />
os dois não é automática. Além disso, os frutos do<br />
crescimento só poderão ser traduzidos em melhorias<br />
de vida se houver, simultaneamente, uma gestão cuidadosa<br />
das políticas públicas. O paradigma do desenvolvimento<br />
humano também coloca questões do tipo:<br />
crescimento de quê, para quem e por quem? 15<br />
Dessa forma, os governos têm um papel precípuo no<br />
direcionamento do desenvolvimento, não devendo, assim, relegar<br />
os fatores humanos à mera conseqüência de políticas de<br />
crescimento econômico, como o ocorrido no Brasil, cujo modelo<br />
de desenvolvimento seguido nas décadas de 50 e 60 era<br />
endossado pelos adeptos do paradigma da modernização.<br />
Estes utilizavam a argumentação de que: “A melhoria dos padrões<br />
de vida dos grupos de baixa renda resultaria do esperado<br />
efeito de ‘gotejamento’ do crescimento econômico sobre<br />
o emprego e salários e da transferência de pessoas empregadas<br />
em atividades marginais no interior do País, através da<br />
migração, para o emprego produtivo nas cidades”. 16<br />
14 Segundo CANO (1997, p. 1<strong>25</strong>), São Paulo foi a “meca” da migração<br />
interna, absorvendo 2,8 milhões de pessoas entre 1970 e 1980, sendo 50%<br />
delas compostas por nordestinos, 22% por mineiros e 18% por paranaenses,<br />
correspondendo a um montante de 53% dos emigrantes nacionais.<br />
15 PNUD/IPEA/FJP/IBGE, 1998, p. 36.<br />
16 WOOD & CARVALHO, 1994, p. 22. 17 FREITAS, 2000.<br />
Ratifica-se, pelo exposto, que os governos têm a função<br />
de propiciar aos indivíduos o acesso aos frutos do crescimento<br />
econômico. Portanto, as questões levantadas pelo<br />
paradigma do desenvolvimento humano (crescimento de<br />
que, para quem e por quem) deveriam nortear as políticas de<br />
desenvolvimento nacionais.<br />
O Brasil, entretanto, em decorrência da opção do modelo<br />
de desenvolvimento adotado, veio a constituir um dos<br />
exemplos do insucesso das políticas embasadas no paradigma<br />
da modernização. Corrobora essa afirmação a constatação<br />
de recente relatório da Comissão Econômica para a América<br />
Latina e Caribe (CEPAL), intitulado “Igualdade, Desenvolvimento<br />
e Cidadania”, de que a América Latina encerra 1999<br />
com mais pobres do que na década de 80, em decorrência da<br />
colaboração negativa fundamental de três países que lideraram<br />
a onda neoliberal na região: Argentina, México e Brasil.<br />
A contribuição negativa do Brasil é evidenciada por aspectos<br />
como o fato de que, de 1990 a 1999, e de forma mais acelerada<br />
nos cinco anos finais desse período, o número de empregos<br />
na indústria reduziu-se quase à metade (cerca de<br />
48%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica<br />
(IBGE), e, embora os índices de inflação tenham caído, o quase<br />
fim da inflação está beneficiando os mais abastados, e não<br />
os mais pobres, nem mesmo a população em geral. 17<br />
Nesse contexto apresentam-se, em seqüência, os reflexos<br />
do desenvolvimento econômico brasileiro focado exclusivamente<br />
no crescimento econômico, em detrimento dos fatores<br />
humanos do desenvolvimento, particularmente nas últimas<br />
três décadas do século xx.<br />
BRASIL: RENDA, DESIGUALDADE E<br />
POBREZA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS<br />
A renda representa um elemento essencial no estudo<br />
do aumento da desigualdade no Brasil, pois é a partir dela<br />
que são geradas as desigualdades de oportunidades individuais<br />
e entre os grupos sociais, agravando a situação de pobreza<br />
que caracteriza historicamente o País. Entretanto, a geração<br />
e a reprodução da desigualdade engendradas pela distribuição<br />
da renda brasileira passaram a ser investigadas<br />
132 <strong>impulso</strong> nº 27
com mais intensidade apenas a partir da década de 60, com<br />
a publicação dos censos demográficos de 1960 e 1970.<br />
Dessa forma, somente após o final dos anos 60 é que<br />
foram desenvolvidas pesquisas adequadamente fundamentadas<br />
sobre a questão da desigualdade de rendimentos pessoais<br />
e da pobreza no Brasil, como os trabalhos pioneiros de<br />
Fishlow, 18 Hoffmann e Duarte 19 e Langoni. 20 Os estudos desde<br />
então desenvolvidos mostram que a desigualdade de rendimentos<br />
pessoais apresenta trajetória crescente, aumentando<br />
tanto nos anos 60 e 70, que foram, em média, períodos de forte<br />
crescimento da renda, quanto nos anos 80, estes caracterizados<br />
por redução (ou mesmo estagnação) no ritmo do crescimento<br />
econômico do País, e mantêm-se em níveis elevados no<br />
novo cenário econômico neoliberal que caracteriza os anos 90.<br />
O estudo de Barros et al., 21 acerca da desigualdade de<br />
rendimentos, observa que os 20% mais ricos da População<br />
Economicamente Ativa (PEA) brasileira aumentaram sua<br />
fração na apropriação da renda de 54% para 62%, de 1960 a<br />
1970, enquanto a fração apropriada pelos 50% mais pobres<br />
declinou de 18% para 15% nesse mesmo período.<br />
Já na década de 70, segundo esse mesmo estudo, verifica-se<br />
um aumento na renda média de todos os décimos<br />
da distribuição, que se beneficiaram do crescimento econômico<br />
ocorrido no período. Entretanto, há de se destacar o<br />
crescimento acima da média, da renda dos 10% mais pobres<br />
(7,2%), e de se salientar que o maior aumento é observado no<br />
grupo dos 10% mais ricos, de cerca de 7,3%. Nesse período<br />
nota-se um pequeno aumento da desigualdade, pois os 20%<br />
mais ricos aumentaram sua apropriação da renda de 62%<br />
para 63%, e a fração dos 50% mais pobres reduziu-se de 15%<br />
para 14%. 22 Ratifica esse resultado de aumento de desigualdade<br />
nos anos 70 o valor do coeficiente de Gini, que – conforme<br />
estudo de Hoffmann & Kageyama, 23 considerando a<br />
18 FISHLOW, 1972.<br />
19 HOFFMANN & DUARTE, 1972.<br />
20 LANGONI, 1973.<br />
21 Esse estudo de BARROS et al. (1997) baseia-se na análise da distribuição<br />
da renda, dividindo-se a população brasileira economicamente ativa<br />
(PEA), com renda positiva em décimos, pelo critério de nível de renda<br />
média.<br />
22 O ano base para cada cálculo desses percentuais é respectivamente<br />
1980 e 1970.<br />
23 HOFFMANN & KAGEYAMA, 1986.<br />
população economicamente ativa com renda positiva – atinge<br />
o patamar de 0,592 no início da década de 80.<br />
Prosseguindo com as observações do estudo de Barros<br />
et al., 24 os anos 80 são caracterizados por uma taxa de crescimento<br />
negativa para a renda, em todos os décimos da distribuição.<br />
A fração de renda apropriada pelos 20% mais ricos<br />
aumentou em dois pontos percentuais (de 63% para 65%),<br />
enquanto os 50% mais pobres reduziram sua apropriação na<br />
renda em dois pontos percentuais (14%, em 1980, para 12%,<br />
em 1990), evidenciando dessa forma que os anos 80 consistiram<br />
uma década de declínio econômico acompanhado de<br />
crescimento no grau de desigualdade de rendimentos. Confirmando<br />
essa situação, o estudo feito por Hoffmann, baseando-se<br />
no rendimento familiar das pessoas economicamente<br />
ativas, indica que o índice de Gini em 1989 fecha a década<br />
atingindo seu valor máximo nos anos 80 (0,617). <strong>25</strong><br />
Estudos como os de Néri, Considera e Pinto 26 permitem<br />
constatar que a situação de desigualdade e pobreza no<br />
Brasil, nos anos 90, continua grave. Apesar de ter ocorrido redução<br />
nos índices de desigualdade nos primeiros anos dessa<br />
década, nos anos seguintes os valores dos indicadores já se<br />
elevam, para só decrescer em 1995/96, paralelamente ao início<br />
do processo de estabilização da economia, período em<br />
que também se reduz a pobreza. Entretanto, o estudo revela<br />
que em 1997 a pobreza volta a crescer e potencializa-se a<br />
tendência de reconcentração de renda, com o advento dos<br />
efeitos da crise asiática sobre o País.<br />
O aumento da desigualdade durante as últimas décadas,<br />
agravado pela histórica característica de disparidades de<br />
desenvolvimento entre as regiões brasileiras, acaba por revelar<br />
um ponto agudo das anomalias sociais: a pobreza. A proporção<br />
de pobres no Brasil é mais elevada no Norte (43%) e Nordeste<br />
(46%), sendo de 23% no Sudeste, de 24,5% no Centro-<br />
Oeste e de 20% no Sul. Entre a população rural, a proporção<br />
de pobres é de 39%, superior ao respectivo percentual da área<br />
urbana, que é de 29% nas regiões urbanas metropolitanas e de<br />
27% nas regiões urbanas não metropolitanas. Neste contexto,<br />
o Estado mais pobre do País é o Piauí, com quase 60% da população<br />
com renda per capita inferior à linha de pobreza, al-<br />
24 BARROS et al., 1997.<br />
<strong>25</strong> HOFFMANN, 1998, p. 8.<br />
26 NÉRI, CONSIDERA & PINTO, 1999.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 133
cançando a proporção de 72% na área rural dessa unidade da<br />
federação. 27<br />
Ratifica essa situação o estudo sobre pobreza desenvolvido<br />
por Romão, 28 indicando que a quantificação da pobreza,<br />
através da incidência de pobreza, 29 foi de 41,4% em<br />
1960, 39,3% em 1970 e 24,4% em 1980, 30 o que revela o decréscimo<br />
sistemático na incidência de pobreza no País, nessas<br />
décadas, e se explica pelo reflexo do crescimento econômico<br />
auferido nesse período. Porém, no final dos anos 80,<br />
com a desaceleração do crescimento econômico, o índice<br />
volta ao patamar de 1970.<br />
A década de 90 reservava esperanças de melhora das<br />
condições de vida para a população, em vista da iminente globalização<br />
dos mercados – cunhada nas políticas neoliberais –<br />
cujos principais lastros são a liberalização dos mercados e o livre<br />
trânsito de capitais. Pressupunha-se que os benefícios sociais<br />
e econômicos desfrutados pelos países industrializados acabariam<br />
sendo desfrutados também por todos os envolvidos na<br />
“onda globalizante”.<br />
Entretanto, os dados do relatório do Banco Mundial<br />
(Bird, 1998), relatados por Schwartz, 31 mostram que no período<br />
de maior adesão ao neoliberalismo aumentaram a pobreza<br />
e o protecionismo em escala internacional. A quantidade<br />
de pessoas vivendo com menos de US$ 1 por dia passou<br />
de 1,2 bilhão, em 1987, para 1,5 bilhão, em 1998, e, como<br />
proporção, a América Latina está entre as regiões em que a<br />
pobreza mais cresce. Dos 4,4 bilhões de habitantes que vivem<br />
em países mais pobres, cerca de 60% não possuem acesso a<br />
condições básicas de saneamento, <strong>25</strong>% estão privados de<br />
condições modernas de habitação e 20% continuam marginalizados<br />
de assistência médica.<br />
No Brasil, ao longo dos anos 90, observa-se a redução<br />
da desigualdade de rendimentos nos períodos de recessão e,<br />
de forma adversa, nos períodos de crescimento econômico, o<br />
agravamento da desigualdade, conforme exposto na tabela 1.<br />
27 PNUD, 1999.<br />
28 ROMÃO, 1991.<br />
29 Incidência de pobreza é adotada no texto como uma estimativa do<br />
percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza, ou seja, é a proporção<br />
de pobres.<br />
30 ROMÃO, 1991, p. 115.<br />
31 SCHWARTZ, 1999.<br />
Tabela 1. Evolução recente do crescimento e da desigualdade<br />
– Brasil: 1989/95 (em %).<br />
Anos<br />
Parcela da Parcela da<br />
Crescimento<br />
renda dos renda dos<br />
anual do PIB<br />
50% mais 20% mais<br />
per capita<br />
pobres ricos<br />
1989 -1,4 11,8 62,4<br />
1990 -5,9 12,3 62,7<br />
1991 -1,3 13,6 60,2<br />
1992 -2,3 12,9 61,3<br />
1993 -2,7 12,2 62,2<br />
1994 -4,3 10,4 65,7<br />
1995 -2,7 11,6 63,3<br />
Fonte: Pesquisa Mensal de Empregos – IBGE. Extraído de Neri<br />
& Considera (1996).<br />
Conforme Neri & Considera, 32 o ganho referente à<br />
renda per capita reflete a concentração de renda que, empiricamente,<br />
intensifica-se após 1994. Porém, ressaltam esses<br />
autores que essa década deve ser desdobrada em dois momentos<br />
distintos, o primeiro compreendendo o início do período<br />
até 1993 e, o segundo, a partir de 1994, com a implantação<br />
do Plano Real.<br />
No início dos anos 90 – ainda segundo esses autores<br />
–, como conseqüência do declínio da renda per capita, a<br />
pobreza aumenta, pois a parcela da renda auferida pelos 50%<br />
mais pobres da população reduz-se continuamente de 1991<br />
(13,6%) para 1994 (10,4%). Entretanto, em 1993 e 1994 a<br />
economia volta a crescer, com a renda per capita aumentando<br />
em média 3,5% ao ano. Concomitantemente, a desigualdade<br />
volta a crescer, com os 20% mais ricos aumentado<br />
sua participação na renda, passando esta de 62,2% a 65,7%,<br />
enquanto os 50% mais pobres diminuíram sua parcela de<br />
participação, de 12,2%, em 1993, para 10,4%, em 1994. 33<br />
A característica distributiva que teve o Plano Real em<br />
1994, a princípio, reduziu a proporção de pobres – conforme<br />
pode ser observado pelos valores apresentados na tabela 2. Tomando<br />
como base setembro de 1990, a proporção de pobres<br />
aumenta abruptamente de aproximadamente 30% para 38%<br />
32 Esse estudo, feito por NERI & CONSIDERA, 1996, tem como foco de<br />
análise a renda familiar per capita com base nas informações da Pesquisa<br />
Mensal de Empregos (PME).<br />
33 NERI & CONSIDERA, 1996, pp. 52-53.<br />
134 <strong>impulso</strong> nº 27
em julho de 1994, no conjunto das regiões metropolitanas do<br />
País, o que confirma o crescimento da proporção de pobres no<br />
início dos anos 90.<br />
Tabela 2. Indicadores de pobreza enquanto insuficiência de renda<br />
para o conjunto das seis regiões metropolitanas1<br />
do Brasil – 1990-1996.<br />
PERÍODO<br />
PROPORÇÃO NÚMERO DE<br />
DE POBRES POBRES (MIL)<br />
setembro/1990 29,95 10.982,80<br />
julho/1994 38,22 14.782,90<br />
julho/1995 28,24 11.062,00<br />
dezembro/1995 27,30 10.774,70<br />
janeiro/1996 28,75 11.327,20<br />
Fonte: IBGE (Rocha, 1996).<br />
1 Regiões metropolitanas em que é realizada a Pesquisa<br />
Mensal de Empregos (PME): Recife, Salvador, Belo Horizonte,<br />
São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.<br />
No período imediatamente posterior, fica clara a melhora<br />
associada aos ganhos de renda da população mais carente,<br />
atribuída à estabilização econômica, pois a proporção<br />
de pobres reduz-se de cerca de 38% para 28% (de julho a dezembro<br />
de 1995), patamar semelhante ao de setembro de<br />
1990. Porém, a tendência de queda no número de pobres é<br />
afetada pela sazonalidade 34 e, subseqüentemente, é revertida<br />
no início de 1996, aumentando 1,4 pontos percentuais em relação<br />
a dezembro de 1995.<br />
As características regionais da pobreza são igualmente<br />
analisadas por Romão, 35 através da incidência de pobreza,<br />
revelando que a pobreza também é concentrada, notadamente<br />
na região Nordeste. Segundo esse autor, políticas de<br />
crescimento econômico a altas taxas em curto prazo, mal dimensionadas,<br />
contribuíram para o alargamento do fosso entre<br />
pobres e ricos, como pode ser observado pela análise da<br />
apropriação de renda dos 40% mais pobres (40 - ) e pelos 10%<br />
mais ricos (10 + ), conforme a tabela 3, nas diferentes regiões<br />
do País, desde 1960.<br />
34 Conforme ROCHA (1996, p. 23), o retorno ao patamar de julho de<br />
1995 é justificado pela sazonalidade: o nível de empregos se eleva em virtude<br />
do pico de atividade do comércio e serviços devido às festas de fim<br />
de ano, além disso a renda é mais alta neste período em virtude do recebimento<br />
do 13.º salário.<br />
35 ROMÃO, 1991.<br />
A tabela 3 mostra a gradativa redução na participação<br />
na renda dos 40% mais pobres, no Brasil, quando esta passou<br />
de 15,8% para 10% entre 1960 e 1988, enquanto o percentual<br />
relativo aos 10% mais ricos cresceu de 34,6% para 46,3%.<br />
Esse movimento de redução da renda auferida pelos 40%<br />
mais pobres e aumento no percentual recebido pelos 10%<br />
mais ricos, de 1960 a 1988, também está presente em todas as<br />
regiões do País, no período, conforme pode-se perceber pelos<br />
dados da referida tabela.<br />
Romão conclui que não foram proporcionados, pelo<br />
modelo de desenvolvimento econômico adotado, mecanismos<br />
que promovessem a eqüidade regional de renda e do desenvolvimento<br />
no País, ou que ao menos possibilitassem a reversão<br />
do processo de concentração de renda e diminuição<br />
da incidência de pobreza. Ele enfatiza: “É necessário, pois,<br />
que se tenha convicção de que o atual modelo de desenvolvimento<br />
é inapropriado aos requisitos básicos da sociedade e<br />
extremamente excludente na sua essência, sendo inadmissível<br />
que perdure por mais tempo”. 36<br />
Por outro lado, o estudo de Azzoni 37 observa que, embora<br />
períodos de rápido crescimento econômico estejam geralmente<br />
associados a aumentos na desigualdade de renda<br />
per capita estaduais, dois períodos diferem desta tendência:<br />
1955-1960 e 1975-1980, relacionados a esforços governamentais<br />
para reduzir a desigualdade regional do Brasil. O<br />
primeiro período coincide com a implementação dos instrumentos<br />
de política regional aplicados no País, como por<br />
exemplo a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste<br />
(SUDENE), e o segundo com os projetos do II Plano Nacional<br />
de Desenvolvimento (II PND).<br />
Os créditos devem ser dados à observação de Romão,<br />
pois o sucesso efêmero das políticas ressaltadas por Azzoni<br />
resultaram num processo que pouco diferiu do quadro de<br />
concentração de renda e progressão da pobreza apresentados<br />
na década de 60. Conforme o Relatório Nacional Brasileiro<br />
(apresentado em Copenhague, 1995), a região Sudeste, em<br />
1985, contribuía com 59,4% do PIB nacional; o Sul com<br />
17,09%; o Nordeste com 13,83%; o Centro-Oeste com 5,33%<br />
36 Ibid., p. 118.<br />
37 AZZONI, 1997.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 135
38 CÚPULA MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 1995, p. 6.<br />
39 Considera-se indigente o indivíduo cuja renda não permite atender<br />
nem mesmo às necessidades básicas alimentares.<br />
40 IBGE, 1997, conforme editorial da Folha de S.Paulo, 19/nov./97, cad. 1,<br />
p. 2.<br />
41 ROCHA, 1997.<br />
e o Norte com 4,35%. Porém, em 1992, o quadro era o seguinte:<br />
Sudeste com 56,18% do PIB; Sul com 16,74%; Nordeste<br />
com 15,86%; Centro-Oeste com 5,69%; e Norte com<br />
5,53%. Com base nesses dados, o relatório conclui que o aumento<br />
da participação no PIB das regiões Nordeste e Norte –<br />
em detrimento do Sul e do Sudeste – não implicou a diminuição<br />
das disparidades sociais, sejam quais forem os indicadores<br />
utilizados. 38<br />
No citado relatório, o Nordeste possui cerca de 59% do<br />
total de pessoas que vivem em condição de indigência 39 no<br />
País, o que corresponde a aproximadamente 14,6 milhões de<br />
brasileiros, em 1989, enquanto o Sudeste detém 22,8% desse<br />
contingente, cerca de 5,6 milhões de pessoas, no mesmo período.<br />
Ressalta-se que esses dados tornam-se mais alarmantes<br />
quando se considera que a região Nordeste abriga cerca<br />
de 30% da população brasileira e o Sudeste, 40%.<br />
Além do exposto, outros estudos e índices estatísticos<br />
econômicos dos anos 90 evidenciam que, apesar do registro<br />
de alguma melhora numérica decorrente dos efeitos iniciais<br />
do Plano Real, a desigualdade e a pobreza são muito elevadas.<br />
O relatório “Indicadores sociais sobre crianças e adolescentes”<br />
40 afirma que no Brasil cerca de 40% dos menores de<br />
14 anos vivem em famílias com renda familiar per capita inferior<br />
a R$ 60 mensais, embora tenha havido, entre 1990 e<br />
1995, alguma melhora em indicadores como mortalidade<br />
infantil e taxa de escolarização até mesmo nos Estados mais<br />
pobres. Entretanto, observa-se que na região Sudeste a mortalidade<br />
infantil é três vezes maior do que na Europa Ocidental<br />
e em regiões mais pobres, como Alagoas, essa relação chega<br />
a ser cerca de 10 vezes superior.<br />
Finalmente, registra-se os estudos realizados por Rocha,<br />
41 que indicam que a proporção de pobres no Brasil, em<br />
1990, atingiu 34% da população (ou cerca de 41 milhões de<br />
pessoas), sendo mais elevada na área rural, onde 39% da população<br />
se qualificam como pobre, e é menor na área urbana,<br />
em que essa proporção é de 27%. Observa ainda essa autora<br />
que esse índice varia entre Estados e regiões do País, mas<br />
é de cerca de 17% em um Estado rico e desenvolvido como<br />
São Paulo. Também dados recentes obtidos por Neri e Considera<br />
42 ratificam essa tendência histórica, pois mostram que<br />
no início de 1996 a proporção de pobres em seis grandes regiões<br />
metropolitanas é de 27%.<br />
EDUCAÇÃO, DESIGUALDADE E POBREZA<br />
Embora a desigualdade associada à educação seja<br />
considerada como decorrência de outros fatores geradores de<br />
desigualdade, como a renda e o desenvolvimento econômico<br />
regional, a educação tem uma função relevante no aumento<br />
da desigualdade, na sua reprodução e perpetuação.<br />
Desde a década de 60, quando os dados estatísticos referentes<br />
à educação da população brasileira passaram a ser<br />
estudados com maior acuidade, revelou-se uma curva decrescente<br />
na eliminação do analfabetismo no País. 43 Conforme<br />
a análise dos dados apresentados na tabela 4, a taxa de<br />
analfabetismo declina 7,3% na década de 60; na década de<br />
70 diminui 6,6%; e nos anos 80 reduz-se 5%. Salienta-se, porém,<br />
que na década de 80 os analfabetos ainda formavam<br />
um contingente de 20,2 milhões de brasileiros, revelando o<br />
caráter heterogêneo da educação no Brasil, em termos regionais<br />
e de níveis de renda.<br />
Conforme o Relatório Nacional Brasileiro, 44 entre as<br />
regiões, o Sudeste apresenta taxa de analfabetismo das pessoas<br />
a partir de 10 anos de idade de 10,9%, enquanto na região<br />
Nordeste esta taxa chega a ser três vezes maior, atingindo<br />
35,9%. Quanto à renda, os diferenciais de níveis de renda<br />
são mais acentuados. Na faixa etária entre 10 e 14 anos com<br />
renda familiar per capita de mais de dois salários mínimos,<br />
as chances destas pessoas serem analfabetas é de 2,6%, enquanto<br />
tal probabilidade torna-se 14 vezes maior se a renda<br />
per capita for de até meio salário mínimo.<br />
42 NERI & CONSIDERA, 1997.<br />
43 Embora deva-se considerar que, concomitantemente, o crescimento<br />
populacional neste período também apresentou curva decrescente.<br />
44 CÚPULA MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 1995, p.<br />
10.<br />
136 <strong>impulso</strong> nº 27
Tabela 3. Brasil e regiões: apropriação de renda pelos 40% mais pobres e pelos 10% mais ricos da população.<br />
Brasil/ 1960 1970 1980 1983 1986 1987 1988<br />
regiões 40 – 10 + 40 – 10 + 40 – 10 + 40 – 10 + 40 – 10 + 40 – 10 + 40– 10 +<br />
Brasil 15,8 34,6 13,3 42,3 10,4 46,7 9,9 46,2 9,9 47,3 9,1 48,5 10,0 46,3<br />
CO 14,8 36,4 13,0 44,1 9,1 49,6 9,6 47,0 9,0 49,9 8,8 49,6 8,7 48,4<br />
NO 18,8 30,5 15,9 39,3 11,6 43,2 10,5 42,9 10,5 42,4 9,6 43,7 9,9 44,4<br />
NE 15,9 37,6 13,5 44,9 10,6 49,6 9,3 50,3 10,5 48,3 8,7 51,3 12,5 48,0<br />
SE 12,3 36,3 10,7 42,3 10,0 44,5 9,5 44,3 9,3 46,6 8,7 47,8 9,0 45,5<br />
SUL 17,0 32,1 13,2 40,7 10,7 45,6 10,4 44,3 10,1 45,0 9,5 46,0 10,1 44,2<br />
Fonte: Censos Demográficos de 1960, 1970 e 1980 e PNADs de 1983, 1986, 1987 e 1988.<br />
Conforme Romão (1991).<br />
Dessa forma, a educação constitui um importante indicador<br />
da desigualdade de rendimentos, não explicitamente<br />
como um caráter gerador, mas sim reprodutor e, por conseguinte,<br />
perpetuador da desigualdade.<br />
O desequilíbrio regional do sistema educacional brasileiro<br />
é caracterizado por Castro 45 como um fator reprodutor e que enfatiza<br />
as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões do<br />
País, a despeito da melhoria geral dos indicadores educacionais.<br />
Segundo Castro, embora nos últimos anos o País tenha<br />
centrado esforços em políticas de redução do analfabetismo,<br />
no ano de 1996 este contingente ainda atingia 15,8 milhões<br />
de pessoas, correspondendo em termos relativos a<br />
14,7% da população. Por outro lado, no período de 1970 a<br />
1996 revela-se a concentração regional do analfabetismo,<br />
conforme pode ser constatado pelos dados da tabela 4.<br />
Tabela 4. Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou<br />
mais – Brasil e regiões: 1970-1996.<br />
Brasil e Taxa de Analfabetismo (%)<br />
regiões 1970 1980 1991 1996<br />
Brasil 33,6 <strong>25</strong>,5 20,1 14,7<br />
Norte 36,0 29,3 24,6 12,4<br />
Nordeste 54,2 45,5 37,6 28,7<br />
Sudeste 23,6 16,8 12,3 8,7<br />
Sul 24,7 16,3 11,8 8,9<br />
Centro-<br />
Oeste<br />
Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 1970, 1980, 1991 e<br />
PNAD 1996 (Castro, 1999).<br />
45 CASTRO, 1999.<br />
Observa-se que, embora a taxa de analfabetismo tenha<br />
se reduzido em todas as regiões nesse período, houve um alargamento<br />
dos desníveis entre as regiões a partir da década de<br />
80. Castro atribui esse fato ao avanço do processo de universalização<br />
do ensino fundamental (processo que se apresenta<br />
mais lento em algumas regiões) e, mais recentemente, à massificação<br />
do ensino médio que, em conjunto, impulsionaram<br />
tal defasagem temporal das taxas de analfabetismo entre as<br />
regiões. 46 O Nordeste, em 1980, apresentava índice de analfabetismo<br />
de 45,5% da população, cerca de 2,7 vezes maior que<br />
o índice apresentado na região Sudeste (16,8%).<br />
Em 1996 o Sudeste apresenta índice de 8,7%; ao mesmo<br />
tempo, o Nordeste reduz também seu índice, declinando-o para<br />
28,7%; entretanto, a diferença ampliou-se para 3,3 vezes. Paralelamente,<br />
a região Centro-Oeste apresenta queda significativa no<br />
período 1980-96, de cerca de 54%; da mesma forma, a região<br />
Norte reduz a taxa de analfabetismo de 29,3% para 12,4%.<br />
Considerando aspectos da desigualdade educacional<br />
entre regiões e Estados brasileiros, apresenta-se estudo de<br />
Barros et al., 47 com base na população acima de 15 anos de<br />
idade das Unidades da Federação, sintetizado na figura 1.<br />
Como pode ser observado, à medida que a porcentagem da<br />
taxa de analfabetismo declina, a renda domiciliar per capita<br />
aumenta, ratificando a relação inversa, já ressaltada anteriormente,<br />
entre a taxa de analfabetismo e rendimentos.<br />
35,5 <strong>25</strong>,3 16,7 11,6 46 CASTRO, 1999.<br />
47 Esse estudo realizado por BARROS et al. (1999) analisa os dilemas<br />
entre as políticas de crescimento e de redução da desigualdade no combate<br />
a pobreza no Brasil. Com base na estrutura e na evolução recente da<br />
desigualdade brasileira, demonstra não só o elevado grau de desigualdade<br />
do País, mas também a necessidade do desenvolvimento de políticas<br />
ativas de distribuição de renda e de melhoria da qualidade dos<br />
serviços educacionais para o combate da pobreza no Brasil.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 137
Figura 1. Reflexos do nível de analfabetismo na renda domiciliar per capita da população com mais de 15 anos entre as Unidades<br />
da Federação – Brasil: 1995.<br />
40<br />
Taxa de analfabetismo (%)<br />
35<br />
30<br />
<strong>25</strong><br />
20<br />
15<br />
10<br />
MA<br />
PI<br />
AL<br />
PB<br />
PE RN<br />
CE<br />
BA<br />
SE<br />
PA GO MT MG<br />
ES<br />
AM MS<br />
PR<br />
SC RS RJ SP<br />
DF<br />
5<br />
0<br />
Fonte: PNAD (1995). Extraído de Barros et al. (1999).<br />
(*) Renda aferida em reais. Siglas dos Estados – MA: Maranhão, PI: Piauí, CE: Ceará, BA: Bahia, SE: Sergipe, PE: Pernambuco, PB: Paraíba,<br />
RN: Rio Grande do Norte, AL: Alagoas, PA: Pará, GO: Goiás, MT: Mato Grosso, AM: Amazonas, MS: Mato Grosso do Sul, MG: Minas<br />
Gerais, ES: Espírito Santo, PR: Paraná, SC: Santa Catarina, RS: Rio Grande do Sul, RJ: Rio de Janeiro, SP: São Paulo, DF: Distrito Federal.<br />
Nota-se a concentração de Estados da região Nordeste,<br />
na área da figura 1, em que se situam as maiores taxas de analfabetismo<br />
e menores rendas domiciliares per capita. Seguido<br />
de um grupo intermediário, composto pelos Estados de Goiás,<br />
Pará, Mato Grosso, Amazonas, Minas Gerais, Espírito Santo e<br />
Mato Grosso do Sul; apresentando taxa de analfabetismo entre<br />
15 e 10%, e renda inferior a 200 reais. Ficando por conta de São<br />
Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do<br />
Sul as maiores rendas e as menores taxas de analfabetismo,<br />
com destaque para o Distrito Federal, que supera todas as demais<br />
Unidades da Federação nos quesitos analisados.<br />
Como resgatado anteriormente, o desenvolvimento no<br />
Brasil sempre deu preferência a investimentos em capital físico<br />
em detrimento aos investimentos em capital humano. É<br />
inegável, entretanto, que o crescimento econômico brasileiro<br />
deve ser atribuído aos investimentos em capital físico de forma<br />
expressiva, quando comparado à contribuição do capital<br />
humano. Porém, observa-se que<br />
(...) a experiência internacional demonstra que raros<br />
foram os países que conseguiram crescer a taxas equivalentes<br />
as do Brasil nos últimos 50 anos, com investimentos<br />
similares em capital humano. De fato, o<br />
crescimento econômico, na grande maioria dos países,<br />
deu-se em grande parte graças a pesados investimentos<br />
em capital humano. 48<br />
48 BARROS et al., 1999, p. 12.<br />
50 100 150 200 <strong>25</strong>0 300 350 400<br />
Renda domiciliar per capita*<br />
Assim, os reduzidos investimentos em educação têmse<br />
revelado um dos “pontos de estrangulamento” do desenvolvimento<br />
humano no Brasil, tanto sob o aspecto de crescimento<br />
econômico quanto de redução da pobreza.<br />
A observação da tabela 5 revela o esforço maior da região<br />
Nordeste no investimento em educação, em relação ao PIB,<br />
quando se compara o percentual investido por esta em relação<br />
às demais regiões do País: seu investimento total é de 5,68%, superior<br />
a porcentagem total dirigida a educação em nível nacional<br />
(de 4,21%). Por outro lado, deve-se destacar que o PIB do<br />
Nordeste é bem inferior ao do Sudeste, cerca de 4,3 vezes, o que<br />
em valores absolutos significa um montante menor destinado<br />
à educação. Fato que, conforme Castro, 49 redunda em gasto insuficiente<br />
para compensar as desigualdades econômicas. Esse<br />
insucesso é atribuído ao desperdício de recursos e à baixa eficiência<br />
do sistema de ensino da região. Essa autora destaca<br />
ainda que os recursos direcionados a educação estão no limite,<br />
só podendo se expandir se houver aumento do PIB da região.<br />
Ou, de outra forma, como ultimamente vem ocorrendo, com<br />
recursos do governo federal através de programas de ação supletiva<br />
como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do<br />
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).<br />
50 Entretanto, é importante destacar o esforço da região<br />
para a melhora dos indicadores educacionais.<br />
49 CASTRO, 1999.<br />
50 Conforme a autora, este fundo – instituído pela Emenda Constitucional<br />
n.º 14/96, estabelece como critério redistributivo dos recursos vinculados ao<br />
138 <strong>impulso</strong> nº 27
Tabela 5. PIB, Gasto Público na Educação e Percentual de Gastos Públicos na Educação em relação ao PIB: Brasil e Regiões – 1995.<br />
brasil e<br />
regiões<br />
PIB (R$<br />
1.000,00)<br />
GASTOS EM EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO PIB (%)<br />
Governo<br />
Total<br />
Federal Estadual Municipal<br />
Brasil 646.191.515 1,05 2,01 1,15 4,21<br />
Norte 32.558.492 1,03 2,75 0,82 4,60<br />
Nordeste 85.277.368 1,46 2,57 1,66 5,68<br />
Sudeste 370.429.183 0,40 1,96 1,09 3,45<br />
Sul 107.595.700 0,78 1,62 1,24 3,64<br />
Centro-<br />
Oeste<br />
45.373.546 2,27 2,01 0,80 5,07<br />
Fonte: IPEA/DISOC. Extraído de Castro (1999).<br />
Destaca-se também a região Centro-Oeste, que tem<br />
seus valores distorcidos em virtude da injeção, restrita, de recursos<br />
federais na educação do Distrito Federal, o que justifica<br />
mais uma vez os baixos índices de analfabetismo apresentados<br />
na figura 1.<br />
Em adição a esses aspectos constata-se que, de acordo<br />
com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada<br />
(IPEA, 1996), os 20% mais ricos da população brasileira possuem,<br />
em média, pouco mais de oito anos de escolarização,<br />
enquanto os 20% mais pobres chegam apenas a cerca de dois<br />
anos de escolaridade. E ainda que, no Brasil, o número médio<br />
de anos de estudo da população é de apenas três anos e<br />
nove meses, só superior, em toda a América Latina e Caribe,<br />
ao Haiti. Na Argentina, país vizinho do Mercosul, o tempo<br />
médio de estudo é de oito anos e sete meses, mais que o dobro<br />
do verificado entre os brasileiros. Aspecto esse agravado pelas<br />
notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), divulgadas<br />
em dezembro de 1999: elas indicam que quanto maiores<br />
a renda e o grau de cultura da família, melhor o resultado do<br />
aluno, de tal forma que a diferença de notas é maior entre<br />
alunos ricos e pobres que entre os que estudaram em escola<br />
pública ou privada. Os resultados desse exame evidenciam a<br />
prevalência de um fosso entre a educação de ricos e pobres,<br />
no País, o que é ilustrado, por exemplo, pela nota média dos<br />
estudantes, classificados conforme renda familiar per capita:<br />
os alunos com renda familiar até um salário mínimo obtiveram<br />
média de 34,8 pontos, em uma escala de zero a cem,<br />
em conhecimentos gerais, enquanto aqueles que vivem em<br />
famílias com rendimento superior a cinqüenta salários mínimos<br />
alcançaram média de 63,6 pontos na mesma prova. 51<br />
Registra-se também, conforme Mercadante, 52 que<br />
embora a renda per capita brasileira seja uma das maiores<br />
da América Latina e Caribe, a taxa de analfabetismo do País,<br />
de 19%, é das mais elevadas nesta região, só sendo pior que<br />
a de países como El Salvador (27%), Honduras (27%), Guatemala<br />
(45%) e Haiti (45%). Finalizando esse resgate bibliográfico<br />
adiciona-se que, embora esteja ocorrendo alguma<br />
redução no nível de analfabetismo do País, cerca de 15% dos<br />
trabalhadores são analfabetos e somente cerca de <strong>25</strong>% dos<br />
que ingressam nas escolas conseguem terminar o segundo<br />
grau. 53 Pelo exposto infere-se, pois, que a educação é um importante<br />
fator determinante da desigualdade de rendimentos<br />
e que a baixa escolaridade de grande parte da população tem<br />
sua parcela de explicação na perpetuação da situação histórica<br />
da situação de pobreza de pessoas, famílias e regiões.<br />
Além de ressaltar que a escassez de recursos provenientes do<br />
subdesenvolvimento regional constitui uma barreira a oportunidade<br />
de acesso à educação, limitando o desenvolvimento<br />
econômico e humano das regiões do País através de sua evolução<br />
histórica.<br />
51 financiamento do ensino obrigatório, no âmbito de cada Unidade da<br />
Federação, o número de alunos matriculados nas escolas estaduais e municipais.<br />
51 BERNARDES & FALCÃO, 1999.<br />
52 MERCADANTE, 1997.<br />
53 Revista Exame, 17/jul./96.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 139
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Os dados e resultados apresentados neste texto ratificam,<br />
uma vez mais, a histórica desigualdade e a pobreza que<br />
caracterizam a evolução econômica brasileira. Se de um lado<br />
o País está entre as dez maiores economias do mundo, e classificado<br />
como país de médio desenvolvimento humano, por<br />
outro apresenta elevado grau de desigualdade de rendimentos,<br />
o que compele milhões de pessoas à condição de pobreza,<br />
limitando as oportunidades destes a uma vida longa e digna<br />
e o acesso ao conhecimento.<br />
Ao completar 500 anos de descobrimento é preciso refletir<br />
e repensar o desenvolvimento do Brasil, com o intuito de<br />
inserir o País no mundo de modo integrado e qualitativo, incorporando<br />
à sociedade os pobres, marginalizados e excluídos.<br />
Criando, para tanto, condições de acesso à educação e à<br />
informação, como forma efetiva de exercício de cidadania,<br />
considerando, entre outros aspectos:<br />
• os ensinamentos legados por Paulo Freire, de que a<br />
educação é valor fundamental, base para o desenvolvimento<br />
sustentável e humanizado de um país;<br />
• as palavras de Mercadante, quanto a sociedade do<br />
futuro ser uma sociedade do conhecimento e do<br />
saber e a exclusão de grande parte da população<br />
das escolas e da educação significar o alijamento<br />
de imensa massa de trabalhadores dos novos processos<br />
produtivos e sua condenação à “inempregabilidade”;<br />
• os resultados de novos – além dos antigos – estudos<br />
econômicos, que indicam estar errada a teoria<br />
que estabelecia que, se havia desigualdade, haveria<br />
acumulação, poupança e investimento, e depois<br />
tudo melhoraria. Há, comprovadamente, relações<br />
positivas entre crescimento e igualdade, de modo<br />
que não há mais como deixar marginalizado ou<br />
esquecido o tema da desigualdade (e de<br />
seus principais fatores condicionantes).<br />
Tal tema, ao contrário, deve ser colocado no centro<br />
dos debates sobre desenvolvimento e o País precisa<br />
passar a tratar a questão social de forma concreta<br />
e prioritária.<br />
Referências Bibliográficas<br />
AZZONI, C.R. Concentração regional e dispersão das rendas per capita estaduais: análises a partir de séries históricas estaduais<br />
de PIB, 1939-1995. Econômicos, 27 (3), 1997.<br />
BAER, W. A Economia Brasileira. Trad. Edite Sciulli. São Paulo: Nobel, 1996. Cap. 12, pp. 284-307.<br />
BARROS, R.P.; HENRIQUES, R. & MENDONÇA, R. Combate à pobreza no Brasil: dilemas entre políticas de crescimento e<br />
políticas de redução da desigualdade. Seminário desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 1999.<br />
BARROS, R.P.; MENDONÇA, R. & DUARTE, R.P.N. Bem-estar, Pobreza, Desigualdade de Renda: uma avaliação da evolução<br />
histórica e das disparidades regionais. Rio de Janeiro: IPEA, 1997, n.º 454.<br />
BERNARDES, B. & FALCÃO, D. Nota aponta fosso entre educação de rico e pobre, Folha de S.Paulo, 15/dez./99, cad.<br />
3, p. 7.<br />
CANO, W. Concentração e desconcentração econômica regional no Brasil. Economia e Sociedade, (8): 1-261, 1997.<br />
CASTRO, J.M. Desigualdade, pobreza e a evolução do índice de desenvolvimento humano (IDH) no Brasil, a partir da<br />
década de 60. [Monografia do curso de Ciências Econômicas – <strong>Unimep</strong>, 2000].<br />
CASTRO, M.H.G. As desigualdades regionais no sistema educacional brasileiro. Seminário desigualdade e pobreza no<br />
Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 1999.<br />
CORRÊA, A.M.C.J. Considerações sobre riqueza, desigualdade e pobreza no Brasil, Jornal de Piracicaba, 1998, cad. 1, p. 8.<br />
CÚPULA MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Copenhague, 1995. Relatório Nacional Brasileiro. Brasília, 1995.<br />
DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONDIÇÕES DE VIDA: INDICADORES BRASILEIROS. PNUD/IPEA/FJP/IBGE, Brasília, 1998.<br />
FISHLOW, A. Brazilian size distribution of income. The American Economic Review, 68 (2): 391-402, 1972.<br />
140 <strong>impulso</strong> nº 27
FREITAS, J. de. A inflação da pobreza, Folha de S.Paulo, 11/abr./00, cad. 1, p. 5.<br />
FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. 24.ª ed. São Paulo: Nacional, 1991.<br />
HOFFMANN, R. Desigualdade e pobreza no Brasil no período 1979-1996 e a influência da inflação e do salário mínimo.<br />
Piracicaba, 1998. [Relatório].<br />
HOFFMANN, R. & DUARTE, J.C. A distribuição da renda no Brasil. Revista de Administração de Empresas, Rio de Janeiro, 12<br />
(2): 46-66, 1972.<br />
HOFFMANN, R. & KAGEYAMA, A.A. Distribuição de renda no Brasil, entre famílias e entre pessoas, em 1970 e 1980. Estudos<br />
econômicos, 61 (1): <strong>25</strong>-51, 1986.<br />
LANGONI, C.G. Distribuição da Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1973.<br />
LEITE, M. Distribuição de renda: propostas pouco afetam a pobreza real. Suplemento Brasil/95 – Crise Social: miséria,<br />
como e quem vai pagar a dívida social? Folha de S.Paulo. São Paulo, 26/jan./94, cad. especial A-4.<br />
MERCADANTE, A. Ao mestre com carinho, Folha de S.Paulo, São Paulo, 4/mai./97, cad. 2, p. 6.<br />
NERI, M. & CONSIDERA, C. Crescimento, Desigualdade e Pobreza: o impacto da estabilização. Rio de Janeiro: IPEA, 1996, vol.<br />
1.<br />
NERI, M.; CONSIDERA, C. & PINTO, A. A evolução da pobreza e da desigualdade brasileira ao longo da década de 90. Economia<br />
Aplicada. São Paulo, 3 (3): 383-406, 1999.<br />
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório do Desenvolvimento Humano 1998. Lisboa:<br />
PNUD, 1998.<br />
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório do Desenvolvimento Humano 1999. Lisboa:<br />
PNUD, 1999.<br />
ROCHA, S. Pobreza e desigualdades regionais: caracterização recente e perspectivas. A economia brasileira em perspectiva<br />
– 1996. IPEA, Rio de Janeiro, 1997, cap. 24, pp. 565-582.<br />
ROCHA, S. Renda e pobreza: os impactos do Plano Real. Rio de Janeiro, Série IPEA, n.º 439, 1996.<br />
ROMÃO, M.C. Distribuição de renda, pobreza e desigualdade regionais no Brasil. In: CAMARGO, J.M. & GIAMBIAGI, F.<br />
(orgs.). Distribuição de Renda no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.<br />
SCHWARTZ, G. Abertura não reduz pobreza, diz Bird. Folha de S.Paulo, 16/set./99, cad. 2, p. 1.<br />
WOOD, C.H. & CARVALHO, J.A. A demografia da desigualdade. Rio de Janeiro, IPEA, 1994.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 141
142 <strong>impulso</strong> nº 27
BRASIL 500 ANOS:<br />
o sonho educativo<br />
de um Brasil solidário<br />
500 YEARS OF BRAZIL:<br />
the educational dream of a solidary Brazil<br />
RESUMO Inicialmente o artigo procura lembrar que a nova terra, que os navegadores acharam há 500 anos e que<br />
posteriormente foi chamada Brasil, de fato não correspondia a suas expectativas míticas e comerciais. Por isso foi<br />
praticamente desconsiderada por Portugal durante cerca de 40 anos. Esse fato é usado como gancho epistemológico<br />
para inter-relacionar desejo, sonho e coletivo para criá-lo. Em um segundo momento, o texto enfoca o papel do/a<br />
educador/a nas pré-condições do conhecimento. Não haverá um Brasil solidário sem um grande sonho na criação<br />
deste sonho. Ele/ela deve catalisar campos do sentido voltados à esperança e à solidariedade. A terceira parte contém<br />
10 tópicos específicos sobre o tipo de educação necessária para o “des-cobrimento” e a criação de um Brasil aprendente<br />
e solidário. Um marco teórico complexo apresenta implicações pedagógicas derivadas da inter-relação entre<br />
biociências, sistemas dinâmicos e adaptativos, novas tecnologias, globalização e tendências à exclusão para postular<br />
uma pedagogia voltada simultaneamente para a iniciativa pessoal e a sensibilidade social.<br />
Palavras-chave Brasil 500 anos – epistemologia – educação – campo do sentido – iniciativa – solidariedade.<br />
HUGO ASSMANN<br />
Sociólogo, filósofo e teólogo.<br />
Professor do Programa de<br />
Pós-Graduação em Educação<br />
(Mestrado e Doutorado) da<br />
Universidade Metodista de<br />
Piracicaba (UNIMEP)<br />
hugo.assmann@merconet.com.br<br />
ABSTRACT The first part of this article reminds us that the new land the navigators found 500 years ago, later called<br />
Brazil, did not, in fact, fit into their mythical and commercial expectations. Therefore, it was practically abandoned<br />
by Portugal for almost 40 years. This fact is used as a kind of epistemological link to interrelate wish, dream and preconditions<br />
of knowledge. There will be no solidary Brazil without a huge collective dream to create it. The second part<br />
focuses on the educator’s role in the creation of such a dream. He/she must be a catalyzer of semantic fields of hope<br />
and solidarity. The third part brings 10 specific items about the kind of education needed for the “dis-covering” and<br />
creation of a learning and solidary society in Brazil. A complex theoretical framework presents educational implications,<br />
interlinking life sciences, complex adaptive systems, new technologies, globalization and exclusion-trends in order<br />
to postulate a pedagogy for both personal initiative and social sensibility.<br />
Keywords Brazil 500 years – epistemology – education – semantic field – initiative – solidarity.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 143
Os achadores<br />
do Brasil não<br />
souberam localizá-lo<br />
no seu mapa de<br />
desejos. Chegaram,<br />
viram, pisaram<br />
o chão e não<br />
encontraram o<br />
que queriam<br />
OS DESCOBRIDORES GOSTARAM DO BRASIL?<br />
Introdução: um gancho epistemológico<br />
Oenleio dos nossos supostos “500 anos” está refrescando a nossa<br />
(des)memória nacional com lembretes e sonhos variados. A<br />
esta altura já colhemos divertidas releituras históricas e algumas<br />
incursões novas em nossa pluriidentidade de brasileiros<br />
fartamente mestiçados. Chavões antigos persistem e a publicidade<br />
vem criando uns quantos novos. Não me animo a um vôo<br />
panorâmico sobre todas essas paragens. Fico na minha praia<br />
de educador e, por pendor incorrigível, usarei como trampolim alguns poucos lembretes<br />
para saltar diretamente para o sonho de um Brasil ainda por inventar: um Brasilzão tão<br />
grande que, mesmo sem ter de recorrer à nossa conhecida mania de grandeza, nele caibam<br />
de fato todos os brasileiros (e quem mais vier para estas bandas).<br />
Este Brasil grande em seu vigor solidário ainda está por descobrir, aliás des-cobrir,<br />
porque nossa própria estreiteiza o encobre. Para construí-lo deverão convergir muitas<br />
competências e generosidades, mas o papel da educação será primordial. Por isso vou resumir<br />
algumas insinuações sobre a misteriosa relação entre aprender e desejar, entre<br />
mundo do desejo e conhecimento. Mas que tem isso a ver com os “500 anos”? Com nesga<br />
de humor – ou será toque humor negro? – pode-se armar facilmente um jogo de contrastes.<br />
O Brasil “achado” não foi logo amado. Foi adiado e postergado. O Brasil que queremos,<br />
jamais o descobriremos a não ser à medida que o desejarmos. Aí está, pois, um formidável<br />
gancho epistemológico (com perdão da palavra solene).<br />
É preciso recordar o lado chocante de um tópico básico dos “500 anos”: os achadores<br />
do Brasil não souberam localizá-lo no seu mapa de desejos. Chegaram, viram, pisaram<br />
o chão e não encontraram o que queriam: especiarias, ouro, prata. Por isso adiaram<br />
e postergaram o Brasil por décadas. Não quero especular sobre o que teria acontecido se<br />
o Brasil real “achado” tivesse coincidido com o mundo dos desejos dos descobridores. Acho<br />
importante, porém, que meditemos sobre o que acontecerá conosco se o Brasil que nós<br />
percebemos hoje em dia tiver, para nós, tão baixo teor de desejabilidade. É tarefa nossa descobrir<br />
um Brasil feito de sonhos tão palpáveis e ousados que nenhum novo “descobridor”,<br />
de dentro ou de fora, possa vir a repetir a insultante apreciação, de 500 anos atrás, de que<br />
por aqui não se achou “coisa de proveito”. A educação tem tudo a ver com isso, porque<br />
educar significa algo mais que repassar saberes. Significa construir experiências de conhecimento<br />
desejante, no qual os mundos se tornam viáveis porque são mundos desejáveis<br />
e desejados.<br />
Mal Fora “Achado”, o Brasil Logo Foi Adiado<br />
Mas vamos aos lembretes. No início, e por décadas, a decepção dos achadores do<br />
Brasil foi explícita, pelo que nos re-contam os historiadores. De resto, não faltam indícios<br />
de que, em Portugal, já se sabia que por estes lados havia chão firme para pisar, coisa pos-<br />
144 <strong>impulso</strong> nº 27
1 Cf. “O verdadeiro Cabral”, em IstoÉ de 26/nov./97. O pesquisador português<br />
José Manoel Garcia, especializado em história dos descobrimentos,<br />
do Centro de Estudos Históricos da Faculdade de Letras de Lisboa, teria<br />
afirmado: “Entre os principais historiadores portugueses, não há dúvidas<br />
de que Duarte Pacheco chegou ao Brasil antes de Cabral. (...) A viagem<br />
de Cabral continua a ser considerada o descobrimento oficial do Brasil<br />
apenas por uma questão de tradição e de comodidade”.<br />
2 BUENO, 1998a.<br />
sivelmente apurada por Duarte Pacheco em começos de<br />
1499 (e por outros antes?). 1 Mas não há maiores dúvidas de<br />
que Pedr’Alvares Cabral veio oficializar o achamento. Já o tamanho<br />
e a solenidade da sua frota de 13 naus tinham outra<br />
referência: sua expedição à India, a cuja prioridade se manteve<br />
fiel. 2 Em minhas não poucas andanças pela América<br />
Latina me deparei, por vários lados, com livros escolares (e<br />
enciclopédias) em língua espanhola que, em vez de Cabral,<br />
trazem os espanhóis Vicente Yañez Pinzón e Diego de Lepe<br />
como descobridores do Brasil. Atualmente até livros brasileiros<br />
admitem que eles de fato anteciparam a Cabral em alguns<br />
meses. (Mal comparando, dá-se algo parecido com a<br />
variação dos nomes de quem teria inventado o avião: nenhum<br />
manual escolar norte-americano registra a Santos<br />
Dumont como o “primeiro”, mas sim aos irmãos Wright).<br />
Na perspectiva daquilo que se pretende abordar neste<br />
texto, pouco importa a fragilidade ou imprecisão de nomes e<br />
datas. Trata-se de curiosidades históricas secundárias, aliás,<br />
ainda – e talvez para sempre – bastante confusas. Se ousamos<br />
mesclar e ponderar os aspectos confusos e contraditórios<br />
relacionados com o “achamento” do Brasil, chega-se à conclusão<br />
de que a data precisa de 1500 não tem realmente, para<br />
o início da história do Brasil, nenhum peso comparável com<br />
o peso maior do fato de o Brasil ter sido considerado como<br />
coisa que não interessa.<br />
O que importa frisar, como primeiro aspecto, é a obstinação<br />
de Cabral, Vespúcio etc. numa “barreira cognitiva”,<br />
isto é, havia neles uma pertinaz incapacidade de “conhecer”<br />
e descobrir a terra “achada”, já que ela não coincidia com o<br />
que buscavam. O Brasil “achado” por Cabral e, dois anos depois,<br />
por Vespúcio (que se apregoou pela Europa afora como<br />
descobridor do Brasil), não era aquilo que eles desejavam.<br />
Por isso viram-no como “sem proveito”. A “situação comunicativa”<br />
da terra achada não dependia apenas, nem primeiramente,<br />
das distâncias geográficas e das navegações penosas<br />
e demoradas. As expedições à India, dando a volta pelo<br />
sul da África, eram bem mais penosas. A relevância, ou não,<br />
do Brasil dependia sobretudo da sua possível “localização”<br />
no mapa dos mitos construídos como articulação coletiva de<br />
desejos. Foi neste plano que a nossa desejabilidade se revelou<br />
muito pequena.<br />
Américo Vespúcio – que, ao abordar demoradamente<br />
vários pontos do nosso litoral, estava sob contrato de Portugal<br />
e em nau portuguesa – não disfarçou o tom zombeteiro:<br />
“Nessa costa não vimos coisa de proveito, exceto uma infinidade<br />
de árvores de pau-brasil (...) e já tendo estado na viagem<br />
bem dez meses, e visto que nessa terra não encontramos<br />
coisa de metal algum, acordamos nos despedirmos dela”. 3<br />
Diante de semelhantes evidências, d. Manoel, rei de Portugal,<br />
não teve dúvidas: arrendou a terra achada a um grupo de<br />
cristãos-novos (judeus passados para “cristãos”), liderados<br />
por Fernando Noronha, para explorarem o pau-brasil e, porventura,<br />
acharem alguma outra “coisa de proveito”. 4<br />
Rolaram cerca de 40 anos, depois do achamento do<br />
Brasil, até que um Portugal já consumadamente falido e endividado<br />
se desse conta dos seus equívocos acerca do comércio<br />
de especiarias com a Índia e adjacências, e da falácia da<br />
sua obsessão pelo ouro e a prata, onde quer que fossem encontráveis.<br />
Na verdade, o Brasil só começa a ser “descoberto”<br />
pelos portugueses, quando outros – os franceses – já haviam<br />
farejado de perto a sua desejabilidade. E não nos deixemos<br />
induzir a engano: a famosa expedição de Martim Afonso demorou-se<br />
no litoral paulista, em 1531, por meros acidentes<br />
de percurso.<br />
Na verdade, é como se, depois de um hiato de 30 anos,<br />
a história do Brasil só se iniciasse com a chegada da<br />
‘missão colonizadora’ de Martim Afonso de Sousa, em<br />
1531. Mas também aí persistem os mitos historiográficos.<br />
Afinal, ao contrário do que a maior parte dos textos<br />
afirma, Martim Afonso não veio fundar cidades ou iniciar<br />
a colonização do Brasil. Sua principal missão era<br />
explorar o rio da Prata – considerado a porta de en-<br />
3 BUENO, 1998b.<br />
4 Ibid., p. 67.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 145
trada para as extraordinárias riquezas do Império Inca.<br />
5<br />
Visto isso, o que é que estamos celebrando? A memória<br />
do “des-cobrimento” não deveria servir para encobrir a<br />
desconsideração e o descaso inicial dos portugueses em relação<br />
ao Brasil, e isso durante várias décadas. O que aonteceu,<br />
além desse fato fundamental, foram incursões, mais ou<br />
menos aventureiras, mas não por isso menos brutais, de degredados,<br />
traficantes e náufragos. E mesmo entre eles houve<br />
vários que continuavam buscando outra coisa, organizando<br />
até mesmo longas incursões na direção da prata e do ouro<br />
dos incas do Peru. Quando a visão do paraíso não tem nexos<br />
fortes com aquilo que se defrontra, o encontro fica impedido.<br />
As profundas implicações históricas e filosóficas disso foram<br />
examinadas, com notável rigor, por Sérgio Buarque de Holanda,<br />
no texto clássico Visão do Paraíso. 6<br />
Desejo, Conhecimento, Des-cobrimento<br />
Para o visado neste texto podemos contentar-nos com<br />
alusões resumidas. O achamento do Brasil esteve acompanhado<br />
do mais descarado desconhecimento do Brasil. Houve<br />
“terra à vista”, depois terra pisada, porque desembarcaram,<br />
mas logo passamos ao rol de coisa irrelevante. Terra dos papagaios<br />
e do pau-brasil. Os descobridores não acharam na<br />
praia os mitos que nutriam seus desejos: as especiarias, o ouro,<br />
a prata. O Brasil foi “achado”, mas não (re)conhecido. Os<br />
mitos que governavam o desejo dos descobridores impediram<br />
que eles conhecessem a nova terra e a sua gente. Esse<br />
impedimento epistemológico teve sabidas conseqüências<br />
imediatas (Portugal não deu bola ao Brasil durante várias<br />
décadas), e continuou presente, sob variadas formas, ao longo<br />
de toda a nossa história até os dias de hoje.<br />
Portanto, o nosso gancho um tanto enviesado com os<br />
“500 anos” tem a ver com o conhecimento. Melhor dito, com<br />
a relação que sempre existe entre o desejo e o conhecimento.<br />
O “achamento” do Brasil deu-se dentro de um “campo do<br />
sentido” no qual não havia linguagens adequadas para aquilo<br />
que se achou. Esta foi, aliás, uma característica dos “campos<br />
semânticos” aos quais esteve supeditada praticamente<br />
5 Ibid., p. 9.<br />
6 BUARQUE DE HOLANDA, 1969.<br />
toda a conquista da América, especialmente a dos países latino-americanos.<br />
Bartolomeu de las Casas foi provavelmente<br />
quem melhor se deu conta desse hiato cognitivo, no qual todos<br />
os hiatos comunicativos e todas as formas de violência estiveram,<br />
de algum modo, enraizados. Mas, por outro lado,<br />
evitemos de cair em teorias monocausais. Os ingredientes do<br />
que sucedeu sempre foram complexos e múltiplos. O toque,<br />
que estamos dando, serve apenas para des-construir a suposta<br />
obviedade dos discursos históricos.<br />
O mais chocante e quase inacreditável talvez ainda<br />
seja aquela total incapacidade da Igreja Católica dos tempos<br />
coloniais de estourar por dentro a dimensão cognitiva da violência<br />
conquistadora. Pelo visto, os níveis oficiais da Igreja<br />
recalcaram inconscientemente qualquer pergunta sobre isso,<br />
ou nem sequer se davam conta desse nível profundo de desencontro.<br />
Intérpretes generosos do fenômeno das Reduções<br />
Jesuíticas suspeitam que alguns jesuítas estavam perto de<br />
percebê-lo.<br />
Só se conhece aquilo que tem nexo com o mundo do<br />
desejável. A lembrança da desconsideração e postergação,<br />
que marcou nossa história sempre de novo adiada, pode ajudar-nos<br />
a entender isso melhor. Para nós, enquanto animais<br />
simbolizadores e falantes, toda realidade é, antes de mais nada,<br />
realidade discursiva, feita de linguagens. Com variações<br />
circunstanciais, a porção maior de nossos mundos desejáveis<br />
é bordada por linguagens que borbulham desde o imaginário,<br />
e apenas uma parte menor delas obedece a costuras mais<br />
exatas do nosso intelecto. Isso se aplica também aos festejos,<br />
verbais e outros, referidos a datas factualmente bastante frágeis.<br />
No fundo, o que interessa é o ensejo de ponderarmos até<br />
que ponto a revisitação das realidades discursivamente construídas<br />
de outrora têm interfaces com os desafios que percebemos,<br />
ou não percebemos, atualmente.<br />
Para os seres humanos o real não se reduz nunca a<br />
coisas ou objetos. Para nós, o real – o real “mesmo”! (como<br />
enfatizamos dentro da idiossincrasia lingüística típica do<br />
nosso português) – é aquilo que pode ser afirmado enquanto<br />
percepção desejante, ou seja, como aquilo que vale a pena.<br />
Isso se mantém como base constitutiva do “nosso real”, mesmo<br />
que coincida apenas em parte com o imediatamente factível<br />
ou viável. Viabilizar implica também criar desejos. O<br />
146 <strong>impulso</strong> nº 27
mais real é sempre o mais intensamente desejável e desejado.<br />
As mais recentes teorias da aprendizagem frisam muito esse<br />
ponto.<br />
DES-COBRIR PARA GOSTAR<br />
(OU: CONTRA O ADIAMENTO DO BRASIL)<br />
Portanto, nossa questão de fundo tem de ser: como<br />
criar – através da educação e por muitos outros meios – um<br />
intenso desejo compartido que aponte para um Brasil solidário<br />
para todos? Sob muitos aspectos, ainda hoje em dia vivemos<br />
imitando o mau exemplo do primeiro suposto “descobrimento”:<br />
decepcionados por não acharem de cara o que<br />
buscavam, os portugueses nos desconsideraram e adiaram<br />
por muitas décadas. E atualmente ainda nós somos um país<br />
que está sendo adiado, já que nele se continua postergando a<br />
qualidade de vida, e até a simples sobrevivência, de multidões<br />
de brasileiros. Acho que a força de sonhar, que precisamos<br />
para não seguir nessa postergação, vai ter de passar fundamentalmente<br />
pela educação. Seremos um país desejado e valorizado,<br />
pelos “de fora” e por nós mesmos, se nos tornarmos<br />
um Brasil aprendente, para o qual o conhecer esteja imbuído<br />
de desejos intensos.<br />
Nós humanos nos caracterizamos como seres desejantes,<br />
já no plano biofísico, mas sobretudo enquanto serescom-linguagem.<br />
Isso significa que nossos desejos se constituem,<br />
comunicam, realizam ou frustram via símbolos e linguagens,<br />
numa unidade indissolúvel entre os aspectos biofísicos<br />
e os sociolingüísticos. Embora os possamos distinguir<br />
para efeito de análise, na prática esses aspectos são inseparáveis.<br />
O termo corporeidade busca abarcar conceitualmente<br />
esta multiplicidade de aspectos do nosso “estar imersos”<br />
no entre-jogo de necessidades e desejos mediado por<br />
linguagens. Sempre estamos jogados na água dos desejos e<br />
paixões, porque tudo o que nos sucede e tudo o que fazemos<br />
acontece nessa corporeidade. Não existem processos puramente<br />
mentais, sem a mediação dessa corporeidade. Nadamos,<br />
a todo momento, em processos comunicativos de toda<br />
índole – biofísicos, sociolingüísticos, multimidiáticos (imersos<br />
nas modernas tecnologias da comunicação).<br />
Existir-em-corporeidade implica, portanto, estar<br />
imersos em pactos simbólicos (para usar uma expressão de<br />
Lacan). Não existe comunicação “descorporeizada”, como<br />
movimento comunicativo puramente espiritual de mente a<br />
mente. Toda comunicação, mesmo a mais refinadamente reflexiva<br />
– por exemplo, quando se discutem conceitos, distinções,<br />
definições – está submetida a condições biofísicas e sociolingüísticas,<br />
ou seja, as condições – favoráveis ou adversas<br />
– de comunicabilidade.<br />
Podemos lançar duas hipóteses fascinantes sobre esse<br />
assunto. Uma se apóia naquilo que os intercomunicantes têm<br />
a ganhar (vitalmente, e enquanto fruição) com seu processo<br />
comunicativo. Trata-se da hipótese de que sempre está em<br />
jogo um possível plus ou ganho enquanto fruição ou gozo. A<br />
hipótese da fruição acrescida (vamos chamá-la, com Lacan,<br />
de “plus-gozo”) refere-se apenas a um aspecto do processo<br />
intercomunicativo dos seres desejantes. Fazendo eco ao conceito<br />
de mais-valia (plusvalia) de Marx, Lacan chega a afirmar<br />
que é a busca desse plus-gozo que, de certo modo, determina<br />
e comanda a estrutura dos significantes. Em outras<br />
palavras, segundo essa visão lacaniana, a própria materialidade<br />
das linguagens – isto é, sua gramática de sons, imagens,<br />
grafias – estaria embebida e conformada por uma dinâmica<br />
de plus-gozo.<br />
Esse é apenas um aspecto, porém fundamental. Convém<br />
pensá-lo juntamente com todos os demais elementos,<br />
arbitrários e até calculistas, das linguagens formalizadas. Por<br />
isso mesmo convém explicitar, de imediato, uma outra hipótese<br />
complementar, que Lacan explicita mediante seu conceito<br />
de “pactos simbólicos”. Ele supõe como óbvio algo que<br />
nem sempre temos presente: toda comunicação ocorre sob a<br />
égide de acordos, tácitos ou convencionais, acerca de como<br />
convém comunicar-se. A busca da mais-fruição está condicionada<br />
pela flexibilidade ou rigidez dos pactos simbólicos.<br />
Uma hipótese complementa a outra. Lacan nos recorda que,<br />
junto à busca do plus-gozo existe o mal-estar próprio de todo<br />
pacto simbólico.<br />
A análise do processo comunicativo – por exemplo da<br />
relação pedagógica – pode deter-se mais num ou mais noutro<br />
desses dois aspectos: o lado gostoso ou o lado regrado da<br />
comunicação. A sabedoria pedagógica consiste em saber<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 147
fundi-los. Mas quando prevalece um contexto de pessimismo<br />
pedagógico, por predominar no ambiente um clima pesado<br />
de ter de cumprir com desagradáveis imposições, a inchação<br />
arbitrária do pacto simbólico, com seu mal-estar próprio<br />
como Lacan ressalta, tende a impedir a mais-fruição, ou seja,<br />
o prazer de estar aprendendo.<br />
GOSTAR DO BRASIL<br />
ENQUANTO EDUCADOR/A<br />
Pano de Fundo: a luta contra a exclusão<br />
passa pela educação<br />
De alguns anos para cá, assistimos à intensificação de<br />
linguagens mais animadoras e motivadoras a respeito da<br />
educação e acerca da profissão de educador/a. Por décadas<br />
haviam prevalecido, no Brasil e na América Latina, as linguagens<br />
críticas e denunciatórias sobre o descalabro da educação<br />
e do vilipêndio do trabalho educativo. A carreira docente<br />
havia baixado a uma das menos apetecíveis no mercado<br />
de trabalho. Não poucos acusavam os poderes públicos de<br />
serem culpados de um sucateamento, aparentemente intencional,<br />
da educação pública. A expansão vertiginosa da educação<br />
privada era vista por muitos como uma espécie de<br />
queima dos credos constitucionais, tantas vezes reiterados, de<br />
que a educação é um direito de todos e um dever do Estado.<br />
Que foi que mudou para que surgisse essa efervescência<br />
de linguagens menos negativistas, quando tão pouco mudou<br />
no descaso das políticas educacionais públicas? Teria havido<br />
um desgaste das análises meramente críticas, um cansaço<br />
crescente e até um início de aberta rejeição no que se refere<br />
ao torrencial de eternas denúncias e reivindicações,<br />
carentes de alternativa plausível? Esse é um terreno de quase<br />
inevitáveis mal-entendidos – mas a quem interessam polêmicas<br />
estéreis?<br />
Creio que não é fantasioso afirmar que, no Brasil, a<br />
maioria do povo não se dá bem com o mal-estar que gera o<br />
negativismo centrado na “consciência infeliz”. A “consciência<br />
infeliz” não pega no Brasil. Em termos gerais, só a pequena<br />
burguesia intelectual se deixa contaminar pelo negativismo<br />
eternamente amargurado. Talvez por isso mesmo, e a<br />
partir desse pendor para o positivo, somos também presa fácil<br />
de visões ingênuas. No Brasil, até os miseráveis lutam não<br />
apenas para sobreviver, mas para sobreviver na alegria. Num<br />
plano profundo de nossa capacidade desejante, vida e alegria<br />
são para nós radicalmente inseparáveis.<br />
Essa é uma temática exigente que aqui apenas podemos<br />
bordejar, pois nela está em jogo um aspecto básico que<br />
atravessa toda a cultura ocidental: o da “consciência infeliz”.<br />
Suas raízes filosóficas e religiosas e suas múltiplas manifestações<br />
no chamado “pensamento progressista” exigiriam<br />
uma análise detida, que é não possível nesta brevidade. Valha<br />
uma citação: “Todas as culturas produzem algum mal-estar,<br />
mas a nossa é a única que está fundada no mal-estar. Se sentir<br />
inadequado, sofrer com a distância entre nós e os ideais<br />
culturais é indispensável para o funcionamento social. Sem<br />
esse mal-estar cotidiano, nosso mundo pararia”. 7<br />
Lutar por um Amplo “Campo do Sentido”:<br />
educar para um Brasil solidário<br />
Falar em campo do sentido ou campo semântico significa<br />
entender que nossas linguagens são algo parecido a<br />
casas ou lugares que se podem habitar. Queremos educar<br />
para um Brasil habitável, porque solidário. No panorama<br />
educacional, muitas das palavras que mais se usam não se<br />
prestam para morar nelas. Não criam espaços vitais. Não servem<br />
enquanto espaços do conhecimento. Enfim, não formam<br />
uma ecologia cognitiva (como diriam Edgar Morin e<br />
Pierre Lévy). Com palavras ruins para habitar só se pode criar<br />
ambientes ruins para ter experiências de aprendizagem.<br />
Para os jovens, parte maior da humanidade e deste<br />
nosso país, qualquer sobrevida desejável depende em muito<br />
do acesso à educação. Eles sabem que as novas tecnologias<br />
da informação e da comunicação, assim como a globalização,<br />
que é basicamente um projeto político de mundialização<br />
do mercado, vieram para ficar. Adivinham também que terão<br />
de conviver com os mecanismos cruelmente competitivos<br />
dessa configuração da economia de mercado e suas tendências<br />
excludentes. Não há à vista nenhuma alternativa completamente<br />
distinta. Ajudá-los a preparar-se para atuar num<br />
mundo com esse feitio, e manter viva, ao mesmo tempo e a<br />
todo transe, a sensibilidade solidária – eis o que deveria ser a<br />
meta maior da educação nos dias de hoje.<br />
7 CONTARDO CALLIGARIS. Folha de S.Paulo, 5/nov./00, p. 3/8.<br />
148 <strong>impulso</strong> nº 27
8 Cf. art. de L. Sfez in: MENEZES MARTINS & MACHADO DA SILVA, 2000;<br />
ver também MARQUES, 1999. 9 Cf. ASSMANN, 1998 e 1999.<br />
Creio que ninguém é ingênuo a ponto de acreditar<br />
que esse ideal maiúsculo se encarna de maneira espontânea<br />
e óbvia nas instituições educacionais existentes no Brasil. Por<br />
outra parte, poucos duvidam da primazia da educação em<br />
meio às nossas urgências sociais. As esperanças socialmente<br />
possíveis, enquanto politicamente negociáveis em consensos<br />
democráticos, requerem embasamentos sólidos e muita<br />
energia e motivação ética. Penso que, aos poucos, alcançamos<br />
a entender que, nessa direção, já não convém desgastarse<br />
em meras denúncias. Estas se revelam estéreis e contraproducentes<br />
quando não acompanhadas de uma visão estratégica<br />
acerca das melhorias plausivelmente implantáveis,<br />
suposta a articulação da requerida vontade política.<br />
A brevidade não me permitirá explicitar aqui todos os<br />
alertas críticos necessários em relação a muitos dos conceitos<br />
que estarei usando. Quando falamos de tecnologias da comunicação<br />
é bom não esquecer que nelas, e nos conceitos<br />
que tramitam, aparece inseparável o que Lucien Sfez denomina<br />
“tecnologias do espírito”. 8 Nesta nossa conversa nos<br />
ocuparemos de alguns elementos que talvez sirvam como ingredientes<br />
de um cauteloso e prudente otimismo pedagógico.<br />
No panorama da mundialização do mercado, com a<br />
marca do predomínio praticamente descontrolado do capital<br />
financeiro sobre o capital comprometido com o crescimento<br />
e a melhoria das condições de vida da população, a educação<br />
se transformou em recurso de sobrevivência. Não se vislumbram,<br />
nem no cenário mundial e menos ainda no brasileiro,<br />
potenciais políticos para reverter esse quadro assustador. Com<br />
isso, tornou-se aguda a consciência de que a luta contra a<br />
exclusão e por uma sociedade em que caibam todos passa<br />
fundamentalmente pela educação. Creio ser este o verdadeiro<br />
pano de fundo sobre o qual vale a pena articular a discussão<br />
sobre muitos novos desafios para a educação.<br />
Um Alerta Contra a Banalização das Linguagens<br />
Motivacionais<br />
Quanto ao conjunto de linguagens mais incentivadoras<br />
e otimistas que estão surgindo, penso que se trata de um<br />
fenômeno interessante quando comparado com o negativismo<br />
azedo de muita literatura acadêmica sobre a educação.<br />
Nesse sentido, creio que se seja um saudável contrapeso. O<br />
problema que estamos tocando evidentemente não se resolve<br />
pela magia de palavras alternativas. Está em jogo muito mais<br />
que a renovação da linguagem. A mudança deve ocorrer na<br />
maneira de criar as estruturas de sentido ou campos de significação,<br />
que precisam ter nexos e interfaces com o que os<br />
aprendentes percebem como algo que faz sentido para as<br />
suas vidas. Precisa haver esse elo entre os campos de significação<br />
daquilo que se ensina e os campos de sentido da vida<br />
dos envolvidos (docentes e alunos/as). Precisamos de linguagens<br />
pedagógicas que ajudem os aprendentes (professores/as<br />
e alunos/as) a se sentirem bem no meio dos mais árduos esforços<br />
de aprender.<br />
Não se trata, de forma alguma, de “baratear” as exigências<br />
de estudo ou de nivelar por baixo. Na educação, existem<br />
muitos níveis de campos do sentido. Cada disciplina ou<br />
matéria implica campos conceituais, ou seja, em construções<br />
do conhecimento. Mas esses campos particulares do sentido<br />
de cada assunto só se articulam com as experiências pessoais<br />
de cada aprendente quando eles são jogados num campo do<br />
sentido vitalmente envolvente e maior: o das próprias perguntas<br />
pessoais e existenciais de cada pessoa. Quando falta<br />
este campo semântico maior, ou quando nele faltam as referências<br />
com sabor a vida, então surge inevitavelmente aquela<br />
sensação de um grande vazio, mesmo em meio a um acúmulo<br />
aparentemente bem estruturado de saberes formais.<br />
Falar, por exemplo, de “reencantar a educação” –<br />
como o tenho feito em livros recentes 9 – não deve ser jamais<br />
um discurso irresponsável e superficial, que não saiba dar<br />
conta de si mesmo, de suas implicações, seus usos e abusos.<br />
Existe, sem dúvida, o risco de um marketing esvaziador e banalizante<br />
dessa linguagem sobre o encanto de educar. Como<br />
demonstram algumas de minhas publicações em anos recentes,<br />
engajei-me nessa vertente de linguagens afirmativas<br />
e antipessimistas, mas tento fazê-lo a partir de um diálogo<br />
exigente com as ciências da vida (biociências), os estudos sobre<br />
o cérebro/mente e os novos espaços do conhecimento<br />
propiciados pelas novas tecnologias da informação e da co-<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 149
municação. Como alguns vêm entendendo corretamente,<br />
minha abordagem visa um “sentido sobretudo político” (como<br />
adverte Pedro Demo 10 ). Mas dado o risco de “sonsas banalizações”,<br />
insisto neste alerta prévio.<br />
As palavras nos enfeitiçam facilmente. Os humanos<br />
somos seres simbolizadores. Existimos não apenas porque<br />
nos alimentamos, mas porque estamos imersos em significações.<br />
Sem isso não sobreviveríamos enquanto animais<br />
simbolizadores. Ora, assim como o alimento pode ser pouco<br />
e ruim, ou abundante e bom, também os fluxos comunicativos<br />
podem criar bem-estar ou mal-estar. Mas até nessa<br />
questão dos alimentos e fluxos do sentido pode infiltrar-se o<br />
auto-engano. Minha hipótese de base é que o ser humano<br />
vive e se comunica melhor quando consegue romper o complô<br />
lingüístico das linguagens patogênicas. Aprender também<br />
significa melhorar nosso sistema imunológico mediante<br />
linguagens saudáveis. Pensar é lutar contra o feitiço de racionalidades<br />
que aprisionam a nossa mente; pensar é curar<br />
nossos jeitos de falar sobre a vida e o mundo.<br />
Educar é, fundamentalmente, criar condições para<br />
acessos a experiências de aprendizagem. O fruto da educação<br />
não pode resumir-se a alguns saberes formalizados. Hoje em<br />
dia isso evidentemente não basta para a vida de ninguém, e<br />
a escola nem poderia transmitir todos os saberes requeridos<br />
ao longo da vida. Portanto, não basta a disponibilidade funcional<br />
e burocrática da educação (o mero acesso à escola).<br />
Para que surjam e se desenvolvam experiências de aprendizagem,<br />
os aprendentes devem ser atingidos por um envolvimento<br />
que não seja apenas algo que se lhes oferece como lição<br />
a aprender, matéria a ser incutida e absorvida. Requerse<br />
uma transação comunicativa de envolvimentos pessoais<br />
no processo de aprendizagem enquanto sinônimo de processos<br />
de vida possível e felicidade possível. Por isso, a escola<br />
deve preocupar-se com criar e recriar as condições para que<br />
docentes e aprendentes se sintam em estado de apaixonamento<br />
por aquilo que irá proporcionar-lhes vida, ou seja, a<br />
unidade – em sua própria vida e no convívio com os demais<br />
– entre processos vitais e processos de aprendizagem. Esta é,<br />
10 DEMO, 1999, p. 40.<br />
no meu entender, a lição maior que temos de aprender das<br />
biociências.<br />
Mas convém prevenir mal-entendidos e confusões. A<br />
linguagem sobre o desejo e a paixão, quando usada neste<br />
sentido amplo e aplicada à educação, precisa formar parte de<br />
um “campo semântico” (um campo do sentido) com o qual<br />
as pessoas possam também identificar-se em suas vidas concretas.<br />
Deve ser, por exemplo, uma linguagem não descolada<br />
da valorização efetiva da carreira profissional do/a professor/<br />
a no que se refere a melhorar as condições salariais, incentivar<br />
o aperfeiçoamento, reconhecer os esforços e prover os<br />
meios para uma continuidade profissional que possibilitem<br />
uma opção razoavelmente tranqüila no sentido de “é isto<br />
mesmo que eu gosto de fazer”.<br />
As linguagens sobre a motivação, o desejo e a paixão<br />
ficam artificiais e se pervertem, sem chances de constituir um<br />
campo semântico vivenciável, quando são usadas como uma<br />
espécie de chantagem moralista (os direitos dos alunos exigem<br />
que vivas “apaixonada/o” por tua nobre missão...) ou,<br />
pior ainda, como chantagem descaradamente mercadológica<br />
(“ou te apaixonas por teu trabalho ou outros tomarão teu lugar...”).<br />
Cobranças à consciência do dever exigem contextos<br />
propiciadores da satisfação em cumpri-lo. Isso vale especialmente<br />
quando nos referimos a milhares de profissionais com<br />
histórias de vida muito diferentes, como no caso do professorado.<br />
Normas excessivamente rígidas e interpelações agudas à<br />
consciência do dever só funcionam em grupos pequenos e<br />
bastante fechados.<br />
Parece que, entre os seres humanos – especialmente<br />
na era das sociedades complexas e prevalentemente urbanas<br />
– as convergências em comportamentos coletivos funcionam<br />
melhor com doses relativamente altas de satisfação (contentamento,<br />
entusiasmo e até certa euforia) e doses baixas de cobranças<br />
impositivas. As modernas teorias de administração e<br />
gerenciamento falam muito de ambientação e clima organizacional.<br />
O contágio motivacional passou a formar parte do<br />
conceito de liderança. “Dá prazer trabalhar com quem trabalha<br />
com prazer” (repete, com freqüência, Deming, um dos<br />
gurus no assunto). Mas, ao mesmo tempo, costuma-se deixar<br />
claro que as fascinações de indivíduos isolados em relação<br />
a suas tarefas específicas, embora importantes, não bas-<br />
150 <strong>impulso</strong> nº 27
tam para constituir “organizações aprendentes” (learning<br />
organizations). Para tanto requer-se a disseminação articulada<br />
de todo um clima no qual, junto à “reengenharia”<br />
técnica, se vá dando uma re-alocação dos potenciais de eficiência<br />
nos recursos humanos no plano das disposições psíquicas,<br />
das motivações e, no plano da renovação das linguagens<br />
cotidianas.<br />
Convém, por isso, enfatizar que a literatura de nível<br />
mais sério sobre “organizações aprendentes” não se pauta<br />
por propostas de indução de entusiasmos artificiais e sem<br />
base sustentável. As novas teorias gerenciais, embora abordem<br />
com muita insistência o tema da satisfação no trabalho,<br />
não desconhecem que as fascinações pelas tarefas, que exigem<br />
árduo esforço, não são o mais “normal”. A referência<br />
básica é que as novas formas de trabalho incluirão, doravante,<br />
aprendizagem permanente e flexibilidade adaptativa. Isso<br />
implica um investimento permanente de energias humanas.<br />
Para esse esforço se requerem condições ambientais favoráveis,<br />
porque para um problema de tal porte seria ingênuo<br />
apostar apenas nos aspectos facilmente manipuláveis da sensibilidade<br />
e da emocionalidade das pessoas.<br />
APONTAMENTOS PARA SONHAR UM<br />
BRASIL APRENDENTE<br />
Sociedade do Conhecimento/<br />
Sociedade Aprendente<br />
Conhecimento virou assunto obrigatório. Conhecimento<br />
passou a ser a nova matéria-prima principal (e a nova<br />
forma de “capital”?). Sabemos que o conceito de trabalho<br />
mudou muito. Presentemente trabalhar significa basicamente<br />
estar aplicando e/ou gerando conhecimentos. Portanto,<br />
a transformação do trabalho tem tudo a ver com o conhecimento.<br />
A expressão Sociedade do Conhecimento quer<br />
dar a entender que entramos na era das redes de interconexão<br />
entre ecologias cognitivas. Refere-se, pois, ao aspecto<br />
cognitivo e educacional da globalização, que, por sua vez, é<br />
fundamentalmente a mundialização do mercado. Portanto,<br />
um fenômeno econômico e político, e não meramente tecnológico.<br />
Esse é o enredo amplo, e não isento de ambigüidades,<br />
no qual devemos situar a relação entre novas tecnologias<br />
e mudanças profundas na educação.<br />
Do conceito de sociedade da informação passou-se,<br />
por vezes sem as convenientes cautelas teóricas, ao de knowledge<br />
society e learning society. Em francês prevalece, por<br />
ora, societé cognitive. Nas teorias gerenciais avança o discurso<br />
sobre learning organisations (organizações aprendentes<br />
11 ). A incrível abundância e variedade de linguagens<br />
acerca desse processo tecnológico e, ao mesmo tempo, ideológico-político<br />
é um fenômeno deveras impressionante.<br />
As Novas Tecnologias Transformam<br />
os Modos de Aprender<br />
As novas tecnologias interativas (computador, multimeios,<br />
internet etc.) já não são meros instrumentos como o<br />
lápis, o giz, a máquina de escrever. Seu caráter versátil e interativo<br />
as eleva a co-estruturadoras das formas do saber.<br />
Tornaram-se máquinas ativamente colaboradoras nos processos<br />
de aprendizagem. Com isso, a formatação predominante<br />
dos conhecimentos mudou bastante. Surgem, assim,<br />
novos espaços e novas formas do conhecimento. A paixão de<br />
aprender pode contar, agora, com novas formas de criatividade.<br />
O prazer de aprender acessos para o aprender. O prazer<br />
de navegar na versatilidade e interatividade.<br />
É fundamental que se entenda que as novas tecnologias<br />
da informação e da comunicação rompem, até certo<br />
ponto, com a submissão a espaços pré-configurados e instauram<br />
uma versatilidade que não existia na folha de papel,<br />
na lousa, no giz e no lápis. O jogo criativo tem agora muitas<br />
novas possibilidades. Isso é óbvio para quem elabora textos<br />
no computador com o uso de várias telas, múltiplos arquivos,<br />
recursos gráficos, pesquisa na internet etc. Não é exagerado<br />
dizer que os novos recursos tecnológicos têm um papel ativo<br />
e constitutivo da própria morfogênese do conhecimento no<br />
que se refere às suas formas de criação, expressão e comunicação.<br />
A extraordinária versatilidade dos multimeios os<br />
transforma em “agentes cooperativos” das formas de aprendizagem.<br />
Redes Telemáticas e Teia da Vida<br />
As tecnologias informáticas buscam replicar, simular<br />
e até produzir processos cognitivos artificiais (inteligência artificial,<br />
vida artificial, robótica). Com isso nos brindam, pela<br />
11 Cf. Peter Senge e outros.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 151
primeira vez na história evolutiva da nossa espécie, a chance<br />
de entender melhor a relação intrínseca entre processos vitais<br />
e processos de aprendizagem. Hoje em dia se tornou possível<br />
aprofundar reflexões – filosóficas, éticas, pedagógicas – sobre<br />
as características únicas da teia da vida “natural”, já que<br />
é possível confrontá-la e compará-la com os produtos mais<br />
avançados da tecnologia. Tanto as semelhanças quanto as diferenças<br />
nos possibilitam enxergar, de maneira nova, muitos<br />
aspectos do agir pedagógico.<br />
Paradoxalmente, as tecnologias informáticas e as ciências<br />
da vida, dois campos outrora academicamente distantes,<br />
convergem atualmente, na teoria e na prática, compartindo<br />
muitos de seus conceitos (emergência, auto-organização,<br />
sistemas aprendentes, evolução cognitiva, aprender etc.).<br />
A própria tecnologia nos impele a levar a sério, no plano da<br />
educação, a lição das biociências de que todos os seres vivos<br />
são “sistemas aprendentes”. Mantêm-se vivos e crescem em<br />
vitalidade à medida que continuam aprendendo. Existe uma<br />
unidade básica entre processos vitais e processos cognitivos.<br />
As ciências da vida e as ciências computacionais usam o termo<br />
cognição para todos os níveis de aprendizagem, desde a<br />
ameba até Einstein. Que tal inventar para isso o termo<br />
aprendência (como apprenance, em francês)?<br />
As novas tecnologias já começam a simular aquilo<br />
que as biociências tardaram em reconhecer: a constância<br />
básica de que a vida “se gosta” naturalmente. Só deixa de<br />
querer-se quando sofre bloqueios e é reprimida em sua dinâmica<br />
vital. Existe um nexo profundo entre dinâmica da<br />
vida e dinâmica do prazer. Por isso a prazerosidade é um aspecto<br />
vitalmente importante da aprendizagem. O objetivo da<br />
educação é criar experiências da paixão de aprender, ou seja,<br />
da paixão de viver. Nessa mesma linha, é preciso enfatizar<br />
que a dimensão estética do conhecimento é um tema pedagogicamente<br />
importante, porque nos leva a entender a<br />
aprendizagem como experiência da beleza.<br />
Enfrentar Conjuntamente<br />
os Vários Analfabetismos<br />
Os analfabetos de amanhã não serão os que não sabem<br />
ler; mas os que não tiverem aprendido a aprender.<br />
O pior analfabetismo é a falta de curiosidade de<br />
aprender. Encontram-se em situação análoga os que foram<br />
alfabetizados, mas perderam a curiosidade de ler e continuar<br />
aprendendo.<br />
A alfabetização “instrumental” deve estar a serviço da<br />
alfabetização vital, isto é, a experiência gostosa de poder<br />
aprender e estar aprendendo. Por isso a atividade escolar, em<br />
todos os seus aspectos e participantes, deveria visar, como<br />
fruto, experiências de aprendizagem.<br />
A alfabetização “instrumental” inclui hoje em dia a<br />
superação conjunta de vários analfabetismos:<br />
• da lecto-escritura (o sentido clássico do temo) –<br />
incluído, aí, o “funcional”;<br />
•analfabetismo em novas tecnologias (info-analfabetismo<br />
–> computer (i)literacy);<br />
•analfabetismo sociocultural (ignorar os mecanismos<br />
que funcionam na sociedade na qual se vive,<br />
p. ex., mercado);<br />
•analfabetismo emocional (–> corporeidade).<br />
[Evocar o tema da “inteligência emocional” e da<br />
“razão sensível”].<br />
Professor/a é alguém que a ajuda a olhar, e não só<br />
a abrir os olhos. “Mãeêê, me ajuda a olhar!”, gritou a criança<br />
ao correr pela primeira vez até a praia.<br />
Do Repasse de Informações e Saberes às<br />
Experiências do Aprender a Aprender<br />
Presentemente a educação não deve ser mais entendida<br />
como transmissão de conhecimentos e saberes prontos.<br />
A educação, aliás, nunca foi boa quando foi apenas instrução,<br />
transmissão de saberes. Educar significa criar experiências<br />
de aprendizagem, e não transmitir coisas já prontas, saberes<br />
já supostamente definidos. Ninguém aprende se não<br />
cria junto com aquele que ensina o conhecimento. Aprender<br />
significa construir experiências de aprendizagem. As mudanças<br />
mais profundas que eu vejo que estão acontecendo<br />
nos dias de hoje na educação têm a ver com este novo conceito<br />
de aprendizagem, que efetivamente muitas escolas ainda<br />
não têm. Muitas escolas continuam pensando que ensinar<br />
é transmitir saberes prontos. O fruto da escola deve ser aprender<br />
a aprender, aprender a acessar formas de aprender.<br />
Aprender a fazer experiências de aprendizagem. Aliás, atualmente<br />
é impensável que a escola dê conta de repassar<br />
152 <strong>impulso</strong> nº 27
(mesmo que já estivessem disponíveis) todos os conhecimentos<br />
que os/as alunos/as precisarão em suas vidas.<br />
Chegamos a um tempo pedagógico peculiar, no qual<br />
a educação deverá concentrar-se primordialmente na ambientação<br />
das experiências de aprendizagem. Educação passa<br />
a significar empenho carinhoso na criação de ecologias cognitivas<br />
– para empregar essa bela expressão cunhada, pelo<br />
que me consta, por Edgar Morin e profusamente empregada<br />
por Pierre Lévy. Ecologia é o conjunto das circunstâncias<br />
propícias a nichos vitais, em que seres vivos possam sobreviver<br />
e incrementar-se em mais e melhor vida. Os novos espaços<br />
do conhecimento não devem ser encarados, nem única<br />
nem primordialmente, como reconfigurações tecnológicas,<br />
mas como ecologias cognitivas que propiciem o salto do bom<br />
ensino – imprescindível – à efetiva experiência de aprendizagem,<br />
com processo personalizado de construção do conhecimento.<br />
Nós estamos em uma época na qual a escola já não<br />
consegue passar toda a “matéria” – os “ensinamentos” – que<br />
é necessária para a vida das pessoas. Seria um sonho impossível.<br />
O volume dos conhecimentos aumenta tanto e tão rapidamente<br />
que a escola se torna cada vez mais formadora de<br />
um colchão básico de aptidões (competências cognitivas e<br />
competências sociais, na linguagem do MEC). No mais, a escola<br />
deve iniciar processos de descoberta e propiciar ensaios<br />
do aprender formas de aceder ao conhecimento.<br />
A Relação entre Educação e<br />
Empregabilidade se Complicou Muito<br />
Em nossos dias a educação já não representa garantia<br />
para o acesso ao emprego, mas é uma condição indispensável<br />
tanto para o trabalho como para o lazer. Não há mais previsão<br />
de pleno emprego no sentido tradicional de trabalho. A<br />
nova empregabilidade está ligada à flexibilidade na capacidade<br />
de aprender. Só mesmo uma visão reacionária, conservadora<br />
e excludente aborda esse aspecto real do mundo atual<br />
sem fazer uma análise crítica da ideologia de abandonar<br />
tudo aos mecanismos do mercado, supondo que eles conduzam<br />
automaticamente ao bem comum. O papel das políticas<br />
públicas é fundamental no que se refere à educação, saúde e<br />
todos os direitos humanos básicos. Mas nas hodiernas sociedades<br />
amplas, complexas e urbanizadas o mercado veio para<br />
ficar.<br />
Educação como Forma Destacada<br />
de Compromisso Social<br />
Sobre o pano de fundo da sociedade aprendente com<br />
economia de mercado e formas mutantes de empregabilidade,<br />
não cabe dúvida que educar é lutar contra a exclusão.<br />
Nesse contexto, educar significa realmente salvar vidas. Por<br />
isso, ser educador/a é atualmente a mais importante tarefa<br />
social emancipatória. Mas, se o/a educador/a não se atualiza,<br />
o que se atrasa é a vida de seres humanos concretos. O agir<br />
pedagógico é, em nossos dias, o terreno mais desafiador do<br />
agir social e político, e isso num sentido bastante diferente, e<br />
provavelmente mais exigente do ponto de vista ético e humano,<br />
que o clássico reclamo do primado do político. Gravemos<br />
fundo em nossa consciência: hoje em dia educar significa<br />
salvar vidas; educar é engajamento social de avançada. Os<br />
educadores devem orgulhar-se disso.<br />
Educar para a Iniciativa e a Solidariedade<br />
Os “pais fundadores” ou clássicos da economia de<br />
mercado (Adam Smith, David Ricardo etc.) elaboraram uma<br />
visão do ser humano que não é fácil refutar. Ela é uma espécie<br />
de acordo faustiano com a coexistência do bem e do<br />
mal. O assunto é complexo, mas resumo a provocação básica.<br />
Os humanos seríamos, nessa visão, inevitavelmente feixes<br />
de paixões e interesses. Em sociedades amplas e complexas,<br />
a melhor saída seria, por isso, apostar num “pacote antropológico”<br />
resumível em: apostar no interesse-próprio, na iniciativa,<br />
na industriosidade (industry: empenho, esforço), na<br />
criatividade e no respeito mútuo (respeito aos contratos). O<br />
bem comum e, portanto, a solidariedade decorreriam de<br />
“mecanismos de mercado” engendrados espontaneamente<br />
pela adoção de semelhante visão da convivência social.<br />
Creio que todos sabemos que há nisso uma série de falácias,<br />
mas também há um fundo de verdade (ou seja, não<br />
somos naturalmente solidários e não costumamos renunciar<br />
a ser tomados em conta). Sabemos também que a suposta<br />
solidariedade congênita dos mecanismos de mercado é uma<br />
idolatria (sobre isso, aliás, publiquei um livro), porque diviniza<br />
uma suposta mão oculta providencial. Por outra parte,<br />
será que sabemos realmente como juntar, no conceito de ci-<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 153
dadania, a educação para a iniciativa e para a solidariedade?<br />
Dessa tarefa crucial não se escapa com festejos de palavras<br />
altissonantes ou arroubos revolucionários.<br />
“Nos han enseñado tantas cosas, pero no nos enseñaron<br />
lo que significa tomar la iniciativa” – confidenciava-me<br />
um casal cubano (que vive em Cuba). Os apelos à<br />
solidariedade têm – compreensivelmente – pouca ressonância<br />
quando as pessoas, a serem amparadas, não dão mostras<br />
de que aprenderam a tomar iniciativas. Pode parecer estranho,<br />
mas – com exceção de situações emergenciais em que<br />
todos devem ajudar (e elas são muitas na situação atual do<br />
Brasil) – a educação para saber tomar iniciativa faz parte das<br />
condições de possibilidade de uma educação para a solidariedade.<br />
Esta simplesmente não funciona, como constante<br />
social, na qual falta a criatividade e a disposição para tomar<br />
iniciativas.<br />
Resgatar a Alegria do Ser Educador/a<br />
a) Transformar a escola em organização aprendente.<br />
As novas teorias da gestão empresarial falam muito<br />
em clima de aprendizagem. Enxergam a empresa como “organização<br />
que está aprendendo”. Ora, isto deveria valer muito<br />
mais para a escola. A empresa produz bens ou serviços. A<br />
escola visa um “produto” diretamente humano: ela visa criar<br />
experiências de aprendizagem. Na escola tudo deveria estar<br />
voltado para esse objetivo.<br />
b) Transformar a sala de aula em ecologia cognitiva.<br />
Ecologia significa nicho vital. Ecologia cognitiva quer<br />
dizer nicho vital para as experiências cognitivas. A sala de<br />
aula deve ser um nicho vital para experiências de aprendizagem.<br />
Um espaço de construção do gosto de estar aprendendo.<br />
Aprender a aprender, e aprender vida e mundo. Em<br />
nossos dias, estudar significa aprender caminhos e acessos. O<br />
objetivo da escola é criar: experiências de aprendizagen; não<br />
mero acúmulo de saberes. Convém meditar sobre que tarefas<br />
a escola já não pode cumprir (nem precisa).<br />
c) Conceitos/lembretes. Uma boa teoria vale mais<br />
que muitos conceitos isolados. Tente integrar numa teoria<br />
pedagógica os seguintes conceitos:<br />
• unidade entre processos vitais e processos cognitivos;<br />
• a auto-organização do vivo;<br />
• aprender é um processo emergente que se auto-organiza;<br />
• novos conhecimentos como níveis emergentes;<br />
• organizações aprendentes como sistemas dinâmicos;<br />
• a escola como organização aprendente;<br />
• ecologia cognitiva; nichos vitais do conhecimento;<br />
• pensamento complexo que não fique preso a causalidades<br />
lineares.<br />
d) Perceber a relevância social do resgate da subjetividade.<br />
Quando levado a sério – e não banalizado como<br />
em muita literatura de “auto-ajuda” –, bem-vindo seja o retorno<br />
dos temas que servem para unir, de maneira nova e desafiadora,<br />
o resgate da subjetividade com o engajamento social<br />
irradiante:<br />
• auto-estima, auto-apreço, autoconfiança;<br />
• incentivo à capacidade de tomar iniciativas;<br />
• ensinar a inovar (pedagogia da criatividade);<br />
• despertar aspirações, motivações;<br />
• aumentar os níveis de expectativa.<br />
Contra a Exclusão: persistir num<br />
refletido otimismo pedagógico<br />
Educar é acreditar na perfectibilidade<br />
humana, na capacidade inata de aprender<br />
e no desejo de saber que anima os<br />
seres humanos; (...) acreditar que os<br />
seres humanos nos podemos melhorar<br />
uns aos outros através do conhecimento...<br />
FERNANDO SAVATER<br />
El Valor de Educar<br />
Para jogar tudo isso em horizontes motivadores retomo<br />
o texto da contracapa do meu livro Reencantar a Educação:<br />
rumo à sociedade aprendente: a evolução da humanidade<br />
chegou a uma fase na qual nenhum poder econômico<br />
ou político é capaz de controlar ou colonizar inteiramente<br />
a explosão dos espaços do conhecimento. A internet<br />
é apenas um exemplo sinalizador do que se pretende dizer<br />
com essa hipótese. É por isso que a dinamização dos espaços<br />
do conhecimento pela educação tornou-se uma tarefa social<br />
tão importante.<br />
154 <strong>impulso</strong> nº 27
Doravante só será possível sonhar com uma sociedade<br />
na qual caibam todos se também nossos modos de conhecer<br />
conduzirem a uma visão do mundo no qual caibam muitos<br />
mundos do conhecimento e do comportamento. A educação<br />
se confronta com essa apaixonante tarefa de formar seres<br />
humanos para os quais a criatividade, a ternura e a solidariedade<br />
sejam ao mesmo tempo desejo e necessidade.<br />
Reencantar a educação significa, também, vivenciar<br />
as implicações pedagógicas dos avanços científico-tecnológicos,<br />
o fato de que os processos cognitivos e os processos vitais<br />
são no fundo a mesma coisa. Trata-se de um encontro<br />
desde sempre marcado do viver com o aprender, enquanto<br />
processo de auto-organização, desde o plano biofísico até as<br />
esferas societais.<br />
O Presente que Devemos ao Brasil dos 500 Anos:<br />
descobrir sua vocação solidária<br />
Como vimos no início deste artigo, os que “acharam”<br />
o Brasil há 500 anos tardaram demais em valorizá-lo. Ele<br />
não correspondia a seus estreitos desejos. Por isso o postergaram.<br />
Para que nós, hoje, não continuemos a postergá-lo<br />
precisamos descobri-lo com a nau de um desejo grande, enfunada<br />
pelo vento forte de uma educação solidária. Só assim<br />
haverá “terra à vista!”, e des-cobriremos um Brasil intensamente<br />
desejável, um Brasil solidário onde caibam todos os<br />
brasileiros.<br />
Se o Brasil decepcionou seus “achadores”, por não lhes<br />
parecer de riqueza edênica, nós, sim, devemos vibrar por este<br />
país tão excepcionalmente neotênico. Não se trata de uma<br />
brincadeira com palavras um tanto pernósticas. Neotenia é<br />
noção científica de espesso conteúdo desafiador. De neotenia<br />
humana se fala há mais de meio século – e, ultimamente,<br />
com um leque de analogias cada vez mais rico – para aludir<br />
ao fato de que os membros da nossa espécie coagularam geneticamente<br />
uma série de características juvenis para poder<br />
ser extremamente flexíveis e aprendentes pela vida afora.<br />
Nascemos biologicamente prematuros, inacabados e<br />
carentes, e por isso totalmente dependentes do carinho acolhedor,<br />
mas também abertos a mundos por descobrir e a<br />
aprendizagens flexíveis. Entre os aspectos fantásticos desse<br />
milagre evolutivo chamado neotenia destacam-se a preservação<br />
de características biofísicas juvenis e inacabadas, o<br />
pendor lúdico, a persistente curiosidade e a predisposição ao<br />
desenvolvimento permanente de sensibilidades e capacidades<br />
comunicativas. Isso quando as ecologias sociais e cognitivas<br />
são propícias, e não prevalece o apartheid neuronal que bota<br />
tudo a perder.<br />
Talvez não seja mero alvoroço chauvinista falar de<br />
uma neotenia brasileira singular, condensada em nossas<br />
propensões para afirmar a vida e na dinâmica lúdica de nossa<br />
cultura. É na preservação de nossas características juvenis<br />
e flexíveis que pode enraizar-se o aprendizado de um desejo<br />
solidário que descubra um Brasil solidário.<br />
Referências bibliográficas<br />
ASSMANN, H. Metáforas Novas para Reencantar a Educação: epistemologia e didática. 2.ª ed., Piracicaba: <strong>Unimep</strong>, 1996,<br />
1998.<br />
________ (1988). Reencantar a Educação: rumo à sociedade aprendente. 3.ª ed., Petrópolis: Vozes, 1999.<br />
BUARQUE DE HOLANDA, S. Visão do Paraíso – os motivos edênicos no descobrimento e na colonização do Brasil. 2.ª ed., São<br />
Paulo: Companhia Nacional, 1969.<br />
BUENO, E. A Viagem do Descobrimento – a verdadeira história da expedição de Cabral. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998a.<br />
________. Náufragos, Traficantes e Degredados. As primeiras expedições ao Brasil (1500-1531). Rio de Janeiro: Objetiva,<br />
1998b.<br />
CONTARDO CALLIGARIS. Folha de S.Paulo, 5/nov./00, pp. 3-8.<br />
DEMO, P. Educação e Desenvolvimento. Campinas: Papirus, 1999.<br />
GARCIA, J.M. O verdadeiro Cabral, IstoÉ, 26/nov./97.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 155
MARQUES, M.O. A Escola no Computador. Ijuí: Unijuí, 1999.<br />
MENEZES MARTINS, F. & MACHADO DA SILVA, J. (orgs.). Para Navegar no Século XXI – tecnologias do imaginário e cibercultura.<br />
2.ª ed., Porto Alegre: EDIPUCRS/Sulins, 2000.<br />
156 <strong>impulso</strong> nº 27
LÍNGUAS INDÍGENAS<br />
DO BRASIL NO LIMIAR<br />
DO SÉCULO XXI<br />
NATIVE LANGUAGES OF BRAZIL AT THE<br />
THRESHOLD OF THE XXI CENTURY<br />
RESUMO O trabalho apresenta um breve panorama das línguas atualmente faladas no Brasil por povos indígenas<br />
que conseguiram sobreviver aos 500 anos de contato destrutivo com os não-índios. A relevância dessas línguas e de<br />
seu estudo é discutida, argumentando-se que, em contraste com a importância científica, usualmente enfatizada e<br />
utilizada para fundamentar a necessidade de pesquisas, a importância social via de regra é deixada em segundo plano.<br />
De fato, o próprio modo em que geralmente é feita a pesquisa lingüística reproduz a assimetria das relações interétnicas.<br />
Na conclusão é apresentada a proposta, que atende às expectativas de representantes indígenas de distintos<br />
grupos, de desenvolver um trabalho emancipatório que busca não só a investigação “sobre” as línguas, ou mesmo<br />
“para” os falantes, mas antes de tudo “com” os falantes, tendo em vista propiciar a co-participação e um maior grau<br />
de controle sobre as ações relacionadas à língua, incluindo ações educacionais.<br />
Palavras-chave línguas indígenas – diversidade – relevância científica – relevância social – pesquisa emancipatória.<br />
LUCY SEKI<br />
Doutora (PhD) em Filologia<br />
(Línguas Indígenas Americanas) e<br />
mestre em Filologia (Língua Russa<br />
e Literatura) pela Universidade<br />
Patrice Lumumba (Moscou).<br />
Professsora titular do Dep. de<br />
Lingüística da Unicamp<br />
lseki@obelix.unicamp.br<br />
ABSTRACT This paper presents a short panorama of the languages currently spoken in Brazil by the native peoples<br />
who were able to survive the 500 years of destructive contact with the non-indians. The relevance and study of these<br />
languages is discussed by arguing that in contrast to the scientific importance that is usually emphasized and used<br />
to justify the need for research, the social aspect is given only secondary importance. In fact, the way in which the linguistic<br />
research is generally done reproduces the asymmetry of inter-ethnic relations. The conclusion presents a proposal<br />
for the development of a liberating practice that attends to the expectations of native representatives of distinct<br />
groups. The proposal attempts not only to investigate “about” the languages or “for” the speakers, but rather “with”<br />
the speakers, thereby offering the possibility of co-participation and a larger degree of control over the actions related<br />
to the language, including educational actions.<br />
Keywords native languages – diversity – scientific relevance – social relevance – liberating research<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 157
No limiar do<br />
século XXI, ainda é<br />
bastante difundida<br />
a idéia de que o<br />
Brasil é um país<br />
monolíngüe e de<br />
cultura única<br />
INTRODUÇÃO<br />
Admite-se comumente que o povo brasileiro tem em suas raízes o<br />
branco, o negro e o índio, porém, no que respeita à real participação<br />
na história e cultura brasileira, a presença do índio é apagada ao máximo<br />
e, quando muito, o elemento indígena é visto como algo genérico.<br />
Uma recente manifestação do processo de exclusão sistemática<br />
do índio foi dada durante a celebração dos 500 anos. Um dos resultados<br />
do mencionado apagamento é o fato de que, no limiar do século<br />
XXI, ainda é bastante difundida a idéia de que o Brasil é um país monolíngüe e de cultura<br />
única. Entretanto, aos 500 anos de penoso contato, violências e discriminações, sobreviveram<br />
mais de duzentos povos indígenas, com suas crenças, costumes, organização social e<br />
visão de mundo próprios, falantes de cerca de 180 distintas línguas. É sobre essas línguas<br />
e a relevância social de seu estudo que o presente trabalho incide.<br />
LÍNGUAS INDÍGENAS E O ETNOCENTRISMO<br />
As línguas indígenas americanas, assim como as línguas nativas de outras regiões,<br />
com freqüência receberam os qualificativos de “primitivas” ou “exóticas”. Esse preconceito<br />
está relacionado ao fenômeno comum do etnocentrismo, segundo o qual os indivíduos<br />
tendem a encarar todas as demais culturas através do prisma de sua própria, considerando<br />
como anormal, estranho ou exótico tudo aquilo que dela diverge. 1 Como apresentado por<br />
Mattoso Câmara:<br />
Em relação à língua o etnocentrismo ainda é maior, porque a língua se integra no indivíduo<br />
e fica sendo o meio permanente do seu contacto com o mundo extralingüístico,<br />
com o universo cultural que o envolve, de tal sorte que se cria uma associação íntima entre<br />
o símbolo lingüístico e aquilo que ele representa. 2<br />
Essa colocação, válida para qualquer língua estrangeira, aplica-se mais intensamente<br />
às línguas indígenas, faladas que são por povos de culturas distintas da ocidental.<br />
Acresce que são línguas de tradição oral, o que parece implicar uma diferenciação maior,<br />
dada a importância da língua escrita nessa cultura.<br />
Entretanto, como qualquer outra das cerca de seis mil línguas naturais existentes,<br />
as línguas indígenas são organizadas segundo princípios gerais comuns e constituem manifestações<br />
da capacidade humana da linguagem. Cada uma constitui um sistema complexo,<br />
com um conjunto específico de sons, categorias e regras de estruturação, sendo perfeitamente<br />
adequada para cumprir as funções de comunicação, expressão e transmissão.<br />
Cada uma reflete em seu vocabulário “as distinções e equivalências que são de intenção na<br />
cultura da sociedade na qual ela opera”. 3 E se as línguas indígenas apresentam proprie-<br />
1 LARAIA, 1986, p. 75.<br />
2 CÂMARA Jr., 1965, p. 84.<br />
3 LYONS, 1979, p. 57.<br />
158 <strong>impulso</strong> nº 27
dades diferentes de línguas indo-européias, isto implica simplesmente<br />
que elas são distintas do ponto de vista tipológico.<br />
LÍNGUAS INDÍGENAS<br />
BRASILEIRAS E SEU ESTUDO 4<br />
A partir da chegada dos portugueses ao Brasil a existência<br />
de povos indígenas, bem como de suas línguas, tornou-se<br />
conhecida, mas não completamente. O primeiro contato<br />
ocorreu com povos tupi que ocupavam na época toda a<br />
costa brasileira e, com exceção do kariri, a língua falada por<br />
esses povos foi a única estudada nos primeiros trezentos anos<br />
de colonização. Os materiais lingüísticos existentes foram<br />
produzidos sobretudo por missionários jesuítas portugueses,<br />
entre os quais se destacam as figuras do padre José de Anchieta,<br />
que já em 1595 publicou uma gramática tupi, 5 e a do<br />
padre Luis Figueira, autor de uma gramática sobre a mesma<br />
língua. 6 Há também materiais produzidos por não missionários,<br />
destacando-se entre eles o francês Jean de Léry, 7 que deixou<br />
observações sobre aspectos do tupi (o ava-nheeng, lit.<br />
“língua de gente”: ava ‘gente’, nhe’eng ‘fala, língua’).<br />
As demais línguas, faladas por povos genericamente<br />
considerados como constituindo o grupo “tapúya” (tupi:<br />
‘bárbaro, inimigo’), eram denominadas de “travadas”, de difícil<br />
entendimento, em contraste com o tupi jesuítico, o “nheengatu”<br />
(tupi: nhe’eng ‘língua’ + katu ‘bom’) a “língua<br />
boa’. Este último desenvolveu-se como ‘língua geral’ da colônia<br />
e ainda hoje sobrevive na região do Rio Negro.<br />
Características principais dos materiais lingüísticos<br />
dessa época, já apontadas por Câmara Jr., são: 1. referem-se<br />
somente à língua tupi, uma generalização de variantes próximas,<br />
também chamada de brasílica, nos séculos XVI e XVII,<br />
4 Nota do editor: utiliza-se neste texto a grafia de nomes de povos indígenas<br />
e de suas línguas tendo por base o acordo com a convenção estabelecida<br />
em 1953 pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA). Embora<br />
nem sempre seguida pela mídia em geral, tal convenção é utilizada rigorosamente<br />
por antropólogos, lingüistas e indigenistas. Basicamente, os<br />
nomes de povos e línguas indígenas são invariáveis ("os kamaiurá" e não<br />
"os kamaiurás", por exemplo); utilizam-se letras como k, w, y, que,<br />
embora não usuais em português, seguem uma tradição de mais de<br />
duzentos anos de grafia de termos em línguas indígenas; e utilizam-se<br />
acentos gráficos também de maneira diferente da proposta pelas regras<br />
de acentuação do português.<br />
5 ANCHIETA, 1990.<br />
6 FIGUEIRA, 1687.<br />
7 LÉRY, 1980.<br />
e de tupinambá, a partir do século XVIII, e ainda de tupiguarani;<br />
2. focalizam a língua não pelo interesse nela, em si,<br />
enquanto objeto de estudo, mas com a finalidade prática de<br />
estabelecer um meio de comunicação com os falantes nativos<br />
e de promover sua catequese; 3. a língua é abordada com<br />
base no aparato conceptual então disponível – o de descrição<br />
das gramáticas clássicas, particularmente a latina. 8<br />
A ênfase dada ao estudo do tupi no Brasil colônia continuaria<br />
posteriormente através do desenvolvimento de uma<br />
“filologia tupi”: o estudo de materiais escritos em tupi, legados<br />
em especial por missionários, focalizando também a influência<br />
da língua no português, e o nheengatu, foi em grande<br />
parte responsável pela idéia, ainda hoje difundida, de que<br />
no Brasil havia o tupi, ou tupi-guarani, língua já extinta da<br />
qual se fala no passado, ficando a existência das demais línguas<br />
apagada.<br />
Informações sobre línguas não tupi começaram a<br />
surgir no século XIX, através do trabalho de missionários e de<br />
estudiosos que estiveram em contato direto com os falantes<br />
nativos, por força de pesquisas voltadas para suas áreas particulares<br />
de interesse. Incluem-se aqui viajantes europeus<br />
(geógrafos, naturalistas, etnólogos), como von den Steinen,<br />
Wied-Neuwied, Martius, Castelnau, Koch-Grümberg, Manizer;<br />
brasileiros como Couto de Magalhães, Capistrano de<br />
Abreu, Visconde de Taunay, e missionários como Val Floriana,<br />
A. Giaconi, Fidelis de Alviano. A. Kruse. Os trabalhos desse período<br />
tampouco tinham como objetivo central a abordagem<br />
da língua, em si, mas estavam subordinados aos interesses de<br />
catequese, no caso dos missionários, ou aos interesses específicos<br />
de cada pesquisador, nos demais casos. Os estudos<br />
consistem, via de regra, de listas lexicais, sendo raras as tentativas<br />
de descrição de aspectos gramaticais, e as transcrições<br />
eram, com poucas exceções, precárias, impressionísticas. Ao<br />
mesmo tempo, nesse período foi dada atenção a outras línguas,<br />
que não o tupi, e os materiais produzidos permitiram<br />
análises comparativas que serviram de base para o trabalho<br />
de classificação inicial de nossas línguas e, muitas vezes,<br />
constituem a única informação existente sobre línguas hoje<br />
8 Ver CÂMARA Jr., 1965, e RODRIGUES, 1998, para detalhes, e também<br />
AYROSA, 1954, para bibliografia.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 159
extintas. Com relação aos materiais sobre línguas indígenas<br />
brasileiras produzidos até a primeira metade do século XX,<br />
cumpre notar que alguns trabalhos, como o de Anchieta, sobre<br />
o tupi, o de Steinen, sobre o bakairi, e o de Capistrano, sobre<br />
o kaxinawá, são reconhecidos como mais elucidativos do<br />
que muitos produzidos por lingüistas contemporâneos.<br />
A preocupação quanto ao estudo científico das línguas<br />
indígenas brasileiras aparece nos anos 30, em colocações<br />
como as de José Oiticica, 9 nas quais se criticava a orientação<br />
existente e se preconizava a necessidade de proceder à<br />
documentação sistemática dessas línguas. Contudo, nessa<br />
época, embora a lingüística estivesse em fase de grande desenvolvimento<br />
no exterior, ainda inexistia no Brasil. O quadro<br />
institucional de nossas universidades só previa o ensino de<br />
línguas clássicas e línguas literárias modernas, dentro de<br />
uma orientação profissionalizante que não dava lugar à pesquisa.<br />
De fato, o processo de implementação da lingüística<br />
somente ocorreria a partir dos anos 60, e o desenvolvimento,<br />
dentro da disciplina, de um campo dedicado aos estudos de<br />
línguas indígenas foi retardado por vários fatores, 10 entre eles<br />
a vinda para o Brasil do Summer Institute of Linguistics (SIL),<br />
também conhecido como Instituto Lingüístico de Verão, sendo<br />
ainda referido como “Summer”, uma instituição missionária<br />
que faz uso do trabalho lingüístico como roupagem e<br />
meio de desenvolver seu trabalho de catequese.<br />
O ingresso do SIL no País ocorreu em fins dos anos 50,<br />
através de um convênio com o Museu Nacional, e recebeu<br />
apoio no meio antropológico, pois esperava-se que os lingüistas<br />
do Summer não só tomariam a si a tarefa de descrever<br />
as línguas indígenas, “salvando-as” para a posteridade,<br />
como também iriam contribuir para a formação de lingüistas<br />
brasileiros. De fato, esta última expectativa não se confirmou:<br />
os lingüistas brasileiros que trabalham com línguas indígenas<br />
receberam formação ou no exterior ou em instituições<br />
brasileiras, sob a orientação de brasileiros. Somente no<br />
início lingüistas do SIL prestaram alguma colaboração, conduzindo<br />
cursos nas instituições a que o Instituto esteve ligado<br />
– o Museu Nacional e a UnB, e tiveram uma participação em<br />
9 OITICICA, 1933.<br />
10 SEKI, 2000.<br />
outros tipos de atividades na vida acadêmica, 11 porém a tendência<br />
geral foi de afastamento em relação aos lingüistas<br />
brasileiros. No que respeita à documentação de nossas línguas,<br />
houve uma contribuição por parte do SIL. Contudo,<br />
embora significativo, o número de trabalhos produzidos até<br />
hoje fica aquém do esperado, considerando-se o período<br />
abrangido, as excelentes condições de pesquisa disponíveis e<br />
o tempo despendido pelos lingüistas do Summer junto às comunidades<br />
falantes das línguas. No que se refere à qualidade,<br />
embora a produção seja variável, de modo geral os resultados<br />
deixam a desejar. Conforme Yonne Leite, o problema incide<br />
sobretudo sobre<br />
(...) a falta de uma visão de conjunto da língua estudada:<br />
os trabalhos abordam aleatoriamente aspectos<br />
cuja relevância não fica patente de imediato. Assim,<br />
tem-se ora uma descrição sobre o verbo em Terêna,<br />
ora notas sobre os substantivos em Kayabi, uma fonêmica<br />
Xerente e uma descrição de aspectos do Xavânte.<br />
Inexiste o material que os estudiosos de línguas em<br />
geral e antropólogos tanto almejam: uma gramática<br />
com terminologia descritiva accessível e dicionários. 12<br />
A partir da década de 80 a lingüística indígena experimentou<br />
um grande desenvolvimento, com o crescimento<br />
do número de lingüistas brasileiros engajados no estudo de<br />
nossas línguas e na formação de especialistas, registrando-se<br />
um aumento quantitativo e qualitativo na produção resultante<br />
do trabalho desses lingüistas. Em grande parte, os especialistas<br />
estão também envolvidos em programas de formação<br />
de professores indígenas, incluindo, em muitos casos,<br />
o treinamento em lingüística. 13<br />
AS LÍNGUAS INDÍGENAS<br />
BRASILEIRAS E SUA DIVERSIDADE<br />
Atualmente 180 línguas indígenas são faladas no Brasil.<br />
De fato, não há absoluta certeza quanto ao número, o que<br />
se deve às dificuldades inerentes à definição técnica do que<br />
11 LEITE, 1981, p. 61.<br />
12 Ibid., p. 63.<br />
13 SEKI, 2000, contém um levantamento de instituições brasileiras nas<br />
quais se desenvolve o estudo de línguas indígenas e da produção de não<br />
missionários sobre essas línguas.<br />
160 <strong>impulso</strong> nº 27
14 RODRIGUES, 1993.<br />
15 ALMEIDA, 2000.<br />
seja propriamente uma língua (em relação a dialeto, formas<br />
antigas e modernas etc.), agravadas pela carência ainda<br />
existente de informações sobre as línguas e seus falantes.<br />
Estima-se que, no decorrer dos 500 anos de colonização,<br />
cerca de mil línguas se perderam 14 devido ao desaparecimento<br />
físico dos falantes, em decorrência de epidemias,<br />
extermínio direto, escravização, redução de territórios, destruição<br />
das condições de sobrevivência e aculturação forçada,<br />
entre outros fatores que sempre acompanharam as frentes de<br />
expansão desde o período colonial até nossos dias. Um exemplo<br />
atual é o caso de avanço sobre a área Terra do Sol, em<br />
Roraima, habitada pelos grupos indígenas makuxi, wapixana,<br />
ingarikó e taurepang. 15 A extensão da perda pode ser claramente<br />
visualizada através da localização atual de grupos e<br />
línguas indígenas: estão concentrados nas regiões Amazônica<br />
e Centro-Oeste, nos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia,<br />
Roraima, Acre, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do<br />
Sul, Goiás e Tocantins e, em menor proporção, em outros Estados,<br />
tendo desaparecido na prática totalidade da região<br />
Leste, de Norte a Sul do País, e mesmo em parte da Amazônia.<br />
Para ficar em um exemplo, mencionamos a família lingüística<br />
botocudo, uma das mais extensas do Brasil, cujos falantes<br />
ocupavam no passado toda a região compreendida<br />
entre o Rio Pardo, na Bahia, e o Rio Doce, em Minas Gerais<br />
e Espírito Santo, e que hoje está reduzida a um único grupo,<br />
o krenak-nakrehé.<br />
O número ainda existente de línguas indígenas brasileiras<br />
representa uma grande diversidade lingüística. Ainda<br />
que com base em materiais ainda em muito deficitários, foi<br />
possível estabelecer uma classificação genética dessas línguas,<br />
agrupando-as em famílias e troncos lingüísticos indicados<br />
no quadro 1 (apêndice).<br />
O tronco tupi, estabelecido bem claramente, é um dos<br />
grandes agrupamentos, ao lado do tronco macro-jê e das famílias<br />
aruák, karíb e páno. É constituído por sete famílias genéticas:<br />
tupi-guarani (com 33 línguas e dialetos no Brasil),<br />
mondé (com sete línguas), tuparí (com três línguas), juruna,<br />
mundurukú e ramarána (cada uma com duas línguas), incluindo<br />
ainda três línguas isoladas no nível de família: awetí,<br />
sateré-mawé e puruborá. A família tupi-guarani caracterizase<br />
por grande dispersão geográfica: suas línguas são faladas<br />
em diferentes regiões do Brasil e também em outros países da<br />
América do Sul (Bolívia, Peru, Venezuela, Guiana Francesa,<br />
Colômbia, Paraguai e Argentina). As demais famílias do tronco<br />
tupi estão todas localizadas em território brasileiro, ao sul<br />
do Rio Amazonas.<br />
No tronco macro-jê, definido com base em evidências<br />
menos claras, são incluídas cinco famílias genéticas: jê (com<br />
27 línguas e dialetos), bororo (com duas línguas), botocúdo<br />
(com uma língua), karajá e maxakalí (com três línguas cada),<br />
e ainda quatro línguas: guató, ofayé, rikbaktsá e yatê ou<br />
fulniô. As línguas (e dialetos) filiadas a esse tronco, exclusivamente<br />
brasileiro, são faladas em particular em regiões de<br />
campos e cerrados, desde o sul do Maranhão e do Pará, passando<br />
pelos Estados do Centro-Oeste até do Sul do País.<br />
A família karib é representada, no Brasil, por 20 línguas,<br />
distribuídas ao norte do Rio Amazonas, nos Estados do<br />
Amapá, Roraima Pará e Amazonas, e ao sul do Rio Amazonas,<br />
ao longo do Rio Xingu. Outras línguas dessa família são<br />
faladas nas Guianas e na Venezuela.<br />
Dezessete línguas representam a família aruák (ou<br />
arawák) no Brasil, sendo faladas nas regiões noroeste (Estados<br />
do Amapá, Roraima, Acre e Amazonas) e oeste (Mato<br />
Grosso e Mato Grosso do Sul). A família inclui outras línguas<br />
faladas fora de território brasileiro.<br />
A família pano abrange 13 línguas faladas no Brasil,<br />
nos Estados do Acre, Rondônia e Amazonas, ainda muito<br />
pouco estudadas, além de outras faladas no Peru e na Bolívia.<br />
Outras famílias lingüísticas são: o tucáno, com 11 línguas<br />
e vários dialetos; arawá, com sete línguas; makú, com<br />
seis línguas; katukína e yanomámi, cada uma com quatro<br />
línguas; txapakúra e nambikwára, com três línguas cada;<br />
mura, com duas línguas e guaikurú, com uma língua falada<br />
no Brasil.<br />
Há ainda 10 línguas indígenas classificadas como isoladas,<br />
isto é, como constituindo tipos lingüísticos únicos: tikúna,<br />
irantxé/münkü, trumái, máku, aikaná, arikapú, jabutí,<br />
kanoê e koaiá ou kwazá.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 161
Também do ponto de vista tipológico as línguas indígenas<br />
brasileiras são diversificadas, no que respeita tanto à<br />
organização dos sistemas de sons quanto à estrutura gramatical.<br />
Há línguas com sistemas vocálicos orais de três fonemas,<br />
como o kulína (arawá); de quatro fonemas, como o<br />
baré (aruak) e o kaxinawá (pano); de cinco, como o yawalapití<br />
(aruak), o tapirapé (tupi-guarani); e de seis, como o<br />
kamaiurá (tupi-guarani). Línguas do tronco macro-jê apresentam,<br />
em geral, sistemas de nove vogais orais, como o xerênte<br />
e o kaingáng, ou de dez vogais, como o kayapó e o apinayé,<br />
por exemplo. 16 Algumas línguas, como o juruna (família<br />
juruna), o mundurukú (família mundurukú), o gavião<br />
e outras da família mondé, todas do tronco tupi, ou o tikúna<br />
(isolada) apresentam tons contrastivos. O gavião está entre as<br />
línguas em que também a duração vocálica é contrastiva. Vejam-se<br />
os exemplos a seguir, do juruna 17 e do gavião; 18 o tom<br />
alto é indicado por acento agudo e o tom baixo não é marcado;<br />
vogais longas são representadas por seqüência de vogais<br />
iguais:<br />
(1) lahú ‘mutum cavalo’<br />
lahu ‘arraia’<br />
(2) aka ‘seu (próprio) corpo’<br />
aaka ‘matar-se’<br />
Os sistemas de sons são também diversificados no que<br />
concerne às consoantes. Assim, o kamaiurá (família tupiguarani),<br />
por exemplo, apresenta uma série de oclusivas surdas<br />
(labial p, dental t, velar k e oclusiva glotal /) em oposição<br />
a consoantes nasais nos três primeiros pontos de articulação<br />
(m, n, η), estando ausente a série de oclusivas vozeadas<br />
(b, d, g). Já o sistema do kadiwéu (família guaikurú)<br />
opõe consoantes surdas e vozeadas, abrangendo, além das<br />
labiais (p/b), dentais (t/d), palatais (tx/dj) e velares (k/g)<br />
também as uvulares (q/G). O krenák (família botocúdo)<br />
contrasta uma série de consoantes surdas, (p, t∫ , t k), uma<br />
série de nasais sonoras (m, n, ¯, ˜) e uma série de nasais<br />
surdas (m•, n•, ¯•, N•).<br />
16 FARGETTI, 1988.<br />
17 Idem, 1992.<br />
18 MOORE, 1982.<br />
Passando a diferentes modos de organização gramatical<br />
em relação ao português, várias línguas apresentam, no<br />
âmbito da primeira pessoa plural, uma distinção entre primeira<br />
pessoa inclusiva (‘nós, incluindo o interlocutor’) e primeira<br />
pessoa exclusiva (‘nós, excluindo o interlocutor’). A<br />
distinção é marcada tanto nos pronomes livres, quanto nos<br />
marcadores de pessoa junto ao verbo, como nos seguintes<br />
exemplos do kamaiurá: 19<br />
(3) a. (jene)ja-maraka<br />
(nós Incl.) 1.a incl-cantar<br />
‘(nós, incluindo você) cantamos’<br />
b. (ore) oro -maraka<br />
(nós Excl) 1.a excl-cantar<br />
‘(nós, excluindo você) cantamos’<br />
É comum nas línguas brasileiras a presença da categoria<br />
de posse nos nomes, a qual provê uma classificação dos<br />
itens lexicais em três subclasses semânticas, que se diferenciam<br />
pelo comportamento morfológico e sintático de seus<br />
membros: a dos inalienáveis (em geral termos para relações<br />
de parentesco e para partes de um todo), dos alienáveis (incluem<br />
nomes de utensílios domésticos, ferramentas e alguns<br />
tipos de armas) e dos não possuíveis (nomes de pessoas, animais,<br />
plantas, fenômenos da natureza). Os inalienáveis somente<br />
ocorrem com a indicação do possuidor, diferentemente<br />
dos alienáveis, que podem dispensar, e dos não possuíveis,<br />
que não admitem essa indicação. Esse é o modo em que se<br />
manifesta formalmente a distinção entre as três classes em<br />
algumas línguas, como o kamaiurá.<br />
(4) Kamaiurá: i-nami ‘orelha dele’ * nami<br />
kˆe ‘facão’ i- kˆe ‘facão dele’<br />
parana ‘rio’ *i-parana<br />
19 Neste trabalho todos os dados do kamaiurá são de SEKI, 1997a e<br />
1997b. As seguintes abreviaturas são usadas nas glossas dos exemplos:<br />
Admir: ‘admirativo’; Ass: ‘assertivo’; Atest: ‘atestado’; Aud: ‘auditivo’;<br />
Cauc: ‘caucional’; Cert: ‘certeza’; F: ‘foco’; Fem: ‘feminino’; Fut: ‘futuro’;<br />
Ger: ‘gerúndio’; Infer: ‘inferencial’; Interj: ‘interjeição’; Masc: ‘masculino’;<br />
MEst: ‘mudança de estado’; Part: ‘partícula’; Pot: ‘potencial’; Prev:<br />
‘previativo’; Prob: “probabilidade’; Rep: ‘reportivo’; Vis: ‘visual’; 1sg: ‘primeira<br />
pessoa do singular’; 1.a excl: ‘primeira. pessoa exclusiva’; 1.a incl:<br />
‘primeira pessoa inclusiva; * indica não aceitabilidade.<br />
162 <strong>impulso</strong> nº 27
Em outras, como o ikpéng, da família karíb, os nomes<br />
possuíveis são especialmente marcados com sufixos de posse,<br />
20 e há outras línguas, como o suyá, da família jê, em que<br />
a posse alienável é assinalada por prefixo. 21 Observe-se em<br />
(5) que no ikpéng empréstimos são marcados para a categoria:<br />
(5) Ikpéng: g-eng-ru ‘meu olho’<br />
1sg-olho-Gen<br />
g-amigu-n<br />
‘meu amigo’<br />
1sg-amigo-Gen<br />
(6) Suyá: i-nã ‘minha mãe’<br />
i-¯ç )-tEwE<br />
‘meu peixe’<br />
Muitas línguas indígenas marcam o ‘gênero’ diferentemente<br />
do português, com base não em distinções de sexo,<br />
mas em outros traços, como a forma dos objetos. 22 Os exemplos<br />
a seguir 23 contêm alguns dos classificadores da língua<br />
mundurukú (os números indicam os tons): -ba4: ‘braço;<br />
objeto longo, roliço e rígido’; -di 3 : ‘água; coisa líquidas’; -<br />
da 2 ‘semente’; -/a 2 : ‘cabeça; coisa arredondada’. Observe-se<br />
que empréstimos são incluídos em uma determinada classe,<br />
passando a receber o classificador correspondente:<br />
(7) a 2 ko 3 -ba 4 ‘banana (fruta)’<br />
ka 3 pe 2 -di 3 ‘café (líquido)’<br />
ka 3 pe 2 -da 2 ‘café (em grão)’<br />
ba 3 si 2 a 3 -/a 2 ‘bacia’<br />
Outras línguas assinalam a distinção de sexo do falante.<br />
Este é o caso do karajá (tronco macro-jê), em que os<br />
itens lexicais na fala das mulheres geralmente incluem segmentos<br />
(consoantes, sílabas) que estão ausentes na fala dos<br />
homens, como nos exemplos seguintes. 24 Incluem-se entre<br />
eles empréstimos oriundos do português (‘cavalo’, ‘café’), os<br />
quais sofrem adaptação fonológica e, em alguns casos, manifestam<br />
a mencionada distinção:<br />
20 PACHECO, 1997, p. 34.<br />
21 SANTOS, 1997.<br />
22 LYONS, 1979, cap. 7.<br />
23 GONÇALVES, 1987.<br />
24 BORGES, 1997.<br />
(8) Fala feminina Fala masculina<br />
kuE uE ‘capivara’<br />
anõna aõna ‘coisa’<br />
hawçkç hawç ‘canoa’<br />
kawaru awaru ‘cavalo’<br />
kabE abE ‘café’<br />
Já na língua kamaiurá (tupi-guarani) o sexo do falante<br />
é indicado por meio de partículas finais de sentença,<br />
próprias de cada sexo. Os dados a seguir contêm as partículas<br />
ka ‘falante masculino’ e kˆ ‘falante feminino’, ambas indicativas<br />
de que o falante se dirige a si mesmo:<br />
(9) a-juka rape ka<br />
1sg-matar Cauc Masc<br />
‘acho melhor matá-lo’<br />
(10) a-juka rape kˆ<br />
1sg-matar Cauc Fem<br />
‘acho melhor matá-lo’<br />
Em kamaiurá (e outras línguas indígenas) há recursos<br />
morfossintáticos usados para marcar a atitude do falante<br />
em relação ao conteúdo do que enuncia, permitindo-lhe reforçar<br />
ou modular suas asserções e comandos, indicar a fonte<br />
da informação, assumindo ou não a responsabilidade pelo<br />
seu conteúdo e também assinalar o modo de acesso ao conhecimento<br />
do que reporta. Considerem-se os seguintes<br />
exemplos com o verbo ir:<br />
(11) a. a -ha ko/ˆt<br />
1sg-ir MEst<br />
‘estou indo’ (forma de despedida)<br />
b. a-ha korin<br />
1sg-ir Fut<br />
‘eu irei’<br />
c. o/iran a-ha=n<br />
amanhã 1sg-ir=Pot<br />
‘amanhã irei [tenciono ir]’<br />
d. a -ha=ne ko pˆ<br />
1sg-ir=Ass Part Masc<br />
‘eu irei [afirmo que]’<br />
e. a -ha ete=n<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 163
1sg-ir Cert=Pot<br />
‘eu irei [com certeza]’<br />
f. a-ha nipe=n<br />
1sg-ir Prob=Pot<br />
‘eu irei [provavelmente]’<br />
Nos exemplos a seguir a partícula rak ‘atestado’ indica<br />
que o falante se apresenta sendo ele mesmo a fonte da<br />
informação, ao passo que a partícula je ‘reportivo’ assinala<br />
que está reportando informação proveniente de outrem:<br />
(12) a. amonawa tete rak o-ho ko/ˆt<br />
kalapalo somente Atest 3-ir MEst<br />
‘somente o kalapalo foi’<br />
b. amonawa tete je o-ho ko/ˆt<br />
kalapalo somente Rep 3-ir MEst<br />
‘diz que somente o kalapalo foi’<br />
No conjunto de dados em (14) exemplifica-se o uso<br />
de partículas que permitem ao falante indicar os diferentes<br />
modos de acesso ao conhecimento da informação que transmite.<br />
A partícula (i)nip(e), que também exprime probabilidade,<br />
possibilidade, aparece em (14)a. com valor inferencial,<br />
assinalando que o falante baseia sua asserção em índices<br />
sensoriais observáveis, no momento do enunciado, de eventos<br />
dos quais não teve experiência direta. As partículas po ‘auditivo’<br />
e (e)he ‘visual’ indicam respectivamente inferência a<br />
partir de percepção auditiva e visual. Já a partícula heme<br />
‘previativo’ aponta para uma evidência que esteve disponível<br />
anteriormente, mas que está ausente no momento da fala:<br />
(13) a. amana nipe rak o-kˆt<br />
chuva Infer Atest 3-chover<br />
‘deve ter chovido’ [inferido através de sinais de<br />
chuva]<br />
b. awa te po o-/ut<br />
gente Foco Aud 3-vir<br />
‘vem gente [inferido pelo ruído de passos]’<br />
c. ãããa je=rajˆra te=he=pa<br />
Interj. 1sg=filha F=Vis=Admir/Masc<br />
‘ah! é mesmo minha filha [ao olhar o rosto da<br />
menina]’<br />
d. moi)a rak i-u/u-me heme pa<br />
cobra Atest 3-morder-Ger Prev Admir/Masc<br />
‘foi cobra que o mordeu [eu vi; a cobra já fugiu]’<br />
As línguas indígenas brasileiras são também variadas no<br />
que respeita à ordem dos constituintes na sentença. Focalizando-se<br />
a sentença transitiva independente e seus constituintes básicos<br />
– o sujeito (S), o verbo (V) e o objeto direto (O), há línguas<br />
com os padrões SVO, comum em línguas européias, e SOV, característico<br />
também para outras línguas do mundo, como o Japonês<br />
e o Turco, por exemplo. Outras línguas apresentam as ordens<br />
OVS, OSV, VOS e VSO, consideradas raras e/ou não atestadas nas línguas<br />
do mundo. <strong>25</strong> Seguem alguns exemplos:<br />
SVO<br />
(14) SVO: yanumaka aitxapai teme (Waurá 26 )<br />
onça comendo anta<br />
‘a onça está comendo a anta’<br />
SOV<br />
SOV: wararuwijawa moi)a o-u/u (Kamaiurá)<br />
cachorro cobra 3p.-morder<br />
‘o cachorro mordeu a cobra’<br />
OSV<br />
OSV: ˆwa ata mapuruka (Apurinã 27 )<br />
ele nós arrancar<br />
‘nós o arrancamos’<br />
OVS<br />
OVS toto y-ahosˆ-ye kamara (Hixkariana 28 )<br />
homem 3-pegar-Tempo onça<br />
‘a onça pegou o homem’<br />
POR QUE ESTUDAR LÍNGUAS INDÍGENAS?<br />
A importância do estudo de línguas indígenas pode<br />
ser colocada sob dois aspectos fundamentais: o científico e o<br />
social. Do ponto de vista científico, a relevância das línguas<br />
indígenas e sua pesquisa fica evidente diante da consideração<br />
<strong>25</strong> GREENBERG, 1963.<br />
26 MORI, A.C., comunicação pessoal.<br />
27 FACUNDES, 2000.<br />
28 DERBYSHIRE, 1979.<br />
164 <strong>impulso</strong> nº 27
de que a lingüística busca compreender a natureza da linguagem<br />
humana, fenômeno que se caracteriza pela unidade<br />
na diversidade, manifestando-se em cada língua de forma<br />
particular e única. Assim, o estudo das diferentes manifestações<br />
é importante para o conhecimento da linguagem humana,<br />
podendo contribuir seja confirmando hipóteses teóricas<br />
formuladas com base em dados de línguas conhecidas,<br />
predominantemente indoeuropéias, seja estimulando a introdução<br />
de reajustes ou a busca de novas propostas teóricas<br />
que possam explicar fenômenos revelados pelo estudo e não<br />
considerados até então. Nesse sentido, a pesquisa de qualquer<br />
língua é relevante para o desenvolvimento da ciência. As línguas<br />
indígenas despertam interesse especial não por serem<br />
“exóticas”, mas por serem diversificadas e estarem entre as<br />
menos conhecidas da ciência, do que decorre a expectativa<br />
de que possam apresentar propriedades ainda não observadas<br />
em línguas de outras regiões. Isso vem se confirmando<br />
através de estudos já feitos sobre essas línguas.<br />
Nos últimos anos a importância da diversidade lingüística<br />
tem sido abordada no contexto da diversidade em<br />
geral, enfatizando-se a compreensão das línguas como parte<br />
intrínseca da cultura, da sociedade e visão de mundo dos falantes,<br />
bem como o fato de que a perda de línguas tem como<br />
conseqüência o desaparecimento dos sistemas de conhecimentos<br />
que elas refletem e expressam. Ao mesmo tempo, a<br />
compreensão de que o processo de perda de línguas é determinado<br />
por fatores de ordem política e social sobre os quais<br />
os lingüistas não têm controle tem servido de base para uma<br />
postura que focaliza a relevância científica do estudo das línguas<br />
indígenas e sua “preservação” enquanto objeto da lingüística.<br />
Uma conseqüência é a postulação de que um grande<br />
esforço deve ser feito tendo em vista documentar as línguas<br />
ameaçadas.<br />
Assim, para Ladefoged a tarefa primordial seria a de<br />
gravar “para a posteridade as estruturas fonéticas de algumas<br />
línguas que não estarão aqui por muito tempo”. 29 Segundo<br />
Robins e Uhlembeck, “a extinção das línguas afeta seriamente<br />
a base da Lingüística, da Lingüística Geral assim<br />
como dos estudos históricos, comparativos e tipológicos” e,<br />
29 LADEFOGED, 1992.<br />
portanto, os lingüistas, enquanto profissionais, não podem<br />
ficar à margem da questão relacionada ao futuro da ciência.<br />
30 Outros, como Krauss, 31 estabelecem um paralelo entre<br />
as perdas da diversidade lingüística e de espécies biológicas,<br />
do que decorre a necessidade de estudar as línguas indígenas<br />
enquanto espécies que devem ser preservadas tendo em vista<br />
assegurar a diversidade cultural e intelectual da humanidade.<br />
Considere-se ainda a nota incluída em um encarte do International<br />
Journal of American Linguistics (IJAL): “As<br />
línguas e culturas americanas são mortais. Com sua ajuda o<br />
IJAL pode ajudar a mantê-las vivas”. O pressuposto é que as<br />
línguas indígenas são fadadas ao desaparecimento e que a<br />
descrição de uma língua é capaz de “preservá-la”. De fato, a<br />
língua é um fenômeno histórico, em constante movimento, e<br />
uma descrição pode apenas fixar um determinado estágio de<br />
sua existência. Ao mesmo tempo, por válidas que sejam sob<br />
o ângulo científico, as mencionadas colocações são discutíveis,<br />
visto que não contemplam, ou quando muito deixam<br />
em segundo plano, a questão da relevância do estudo das línguas<br />
do ponto de vista dos interessados diretos que são os falantes.<br />
Entretanto, há muitos lingüistas que se preocupam<br />
não só com a ciência, mas também com o aspecto social da<br />
questão, e colocam a necessidade de estudar as línguas minoritárias<br />
tendo em vista contribuir para auxiliar as comunidades<br />
que assim o desejarem no sentido de preservar e/ou<br />
revitalizar suas línguas e sistemas de conhecimentos. Algumas<br />
medidas sugeridas são a produção de materiais resultantes<br />
da investigação lingüística (descrições de boa qualidade,<br />
dicionários, coletâneas etc.), a atuação contra fatores que<br />
levam ao abandono da língua, o desenvolvimento de atividades<br />
que propiciem a restauração da auto-estima e de uma<br />
atitude positiva em relação à língua e à cultura e que contribuam<br />
para o fortalecimento das mesmas bem como para<br />
despertar a consciência crítica, de modo a permitir um melhor<br />
entendimento e avaliação da sociedade envolvente. A<br />
esse respeito, um importante papel tem sido atribuído à ação<br />
educacional, envolvendo a elaboração de escrita e a alfabeti-<br />
30 ROBINS & UHLEMBECK, 1991, p. 13.<br />
31 KRAUSS, 1992, p. 4.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 165
zação em língua materna e que, se não é capaz, por si, de reverter<br />
o processo de desaparecimento de línguas, pode desempenhar<br />
um papel fundamental no apoio aos movimentos<br />
de revitalização lingüística e cultural.<br />
Tem-se em vista aqui não programas de educação bilingüe<br />
de “transição”, que introduzem o trabalho com a língua<br />
indígena apenas durante um curto período de tempo, como<br />
uma ponte para o ensino do português, mas programas de<br />
educação bilingüe diferenciada, voltados para a auto-afirmação<br />
da identidade através da (re)valorização das línguas e culturas<br />
indígenas e que, ao mesmo tempo, buscam propiciar o<br />
domínio efetivo do português enquanto instrumento proporcionador<br />
da troca de experiências com o mundo não indígena e<br />
da aquisição e manipulação dos conhecimentos desse mundo<br />
em benefício próprio.<br />
Ocorre que tradicionalmente tanto a pesquisa de línguas<br />
indígenas quanto o desenvolvimento de ações educacionais<br />
são realizados por representantes da sociedade dominante,<br />
que detêm o monopólio sobre as técnicas de investigação<br />
e aos quais cabe definir os aspectos a serem investigados,<br />
assim como a forma de apresentação dos resultados,<br />
sendo as decisões determinadas por fins acadêmicos ou religiosos,<br />
geralmente alheios aos interesses das comunidades.<br />
Em geral os falantes não têm participação ativa na pesquisa,<br />
cabendo-lhes apenas produzir enunciados em sua língua<br />
conforme elicitados pelo pesquisador. Ainda assim há casos<br />
em que o pesquisador se queixa de ter de investir doses de<br />
“bondosa paciência” ao tentar extrair “dados úteis das bocas<br />
de falantes nativos freqüentemente indiferentes”. 32 Uma vez<br />
finda a pesquisa, cessam as visitas necessárias à coleta de dados,<br />
e não raro o pesquisador desaparece. Os resultados de<br />
seu trabalho são apresentados em reuniões científicas e/ou<br />
publicados em forma hermética, o que torna seu uso difícil<br />
ou impossível a não-lingüistas. No caso de missionários, o<br />
conhecimento resultante da pesquisa é usado como instrumento<br />
para impor crenças religiosas, o que vem inevitavelmente<br />
acompanhado da desvalorização das crenças e destruição<br />
da cultura indígena.<br />
Desse modo, a pesquisa lingüística reproduz a assimetria<br />
das relações interétnicas, ou, de outro modo, constitui<br />
uma manifestação dessa assimetria. De fato, no decorrer do<br />
processo de contatos interétnicos os índios têm sido sistematicamente<br />
expropriados de seu passado histórico e de sua<br />
identidade cultural específica. Da mesma forma, no decorrer<br />
da pesquisa lingüística, embora esta se dê com falantes de<br />
línguas específicas, tem-se uma situação em que os falantes<br />
são apagados ao máximo, ficando no geral reduzidos a meros<br />
instrumentos necessários para fornecer dados e intuições<br />
sobre suas línguas, dados estes que é preciso documentar<br />
com urgência já que os falantes são considerados como não<br />
tendo possibilidades futuras. Também no que respeita às<br />
ações educacionais há o ponto de vista bastante generalizado<br />
(adotado por missionários do SIL e também por alguns lingüistas<br />
brasileiros) de que a introdução da escrita em língua<br />
indígena depende totalmente de um especialista externo que,<br />
tendo feito uma investigação exaustiva da língua, é capaz de<br />
elaborar o sistema de escrita, os materiais didáticos e seus<br />
conteúdos, tomar decisões sobre o currículo etc. Dessa maneira,<br />
todo o processo é imposto de fora, ficando os falantes<br />
uma vez mais excluídos.<br />
Obviamente, a participação ativa dos falantes no trabalho<br />
de investigação de suas línguas e na condução do processo<br />
educacional implica a necessidade de apropriação, por<br />
parte deles, do conhecimento especializado, tendo em vista<br />
desenvolver a reflexão sobre suas línguas, a conscientização<br />
sobre o seu funcionamento e sua importância enquanto meio<br />
de identificação, expressão e transmissão.<br />
CONCLUSÃO<br />
As considerações feitas levam a concluir quanto à necessidade<br />
de desenvolver um trabalho emancipatório (de<br />
empowerment), isto é, um trabalho que busca não só a investigação<br />
“sobre” as línguas, ou mesmo “para” os falantes, 33<br />
mas antes de tudo “com” os falantes, inclusive compartilhando<br />
com eles o conhecimento lingüístico.<br />
A proposta acima delineada e fundamentada vem sendo<br />
aplicada e amadurecida em nossa prática tanto de pesqui-<br />
32 EVERETT, 1992, p. 58. 33 CAMERON et al., 1993.<br />
166 <strong>impulso</strong> nº 27
sa, quanto de assessoria a projetos de formação de professores<br />
índios, particularmente em Rondônia, com os tuparí, e no<br />
Parque Indígena do Xingu, com distintos povos. Contudo, ela<br />
reflete não apenas uma concepção pessoal, mas atende às expectativas<br />
de representantes indígenas. Do mesmo modo que<br />
nos últimos anos as comunidades vêm crescentemente se mobilizando<br />
no que se refere a reivindicações quanto a programas<br />
de educação diferenciada e de formação de professores,<br />
embora de maneira ainda um tanto tímida, têm também reivindicado<br />
uma participação efetiva na condução dos processos<br />
educacionais, bem como de investigação de suas línguas e<br />
culturas.<br />
APÊNDICE<br />
Línguas Indígenas do Brasil (classificação) 34<br />
1. Agrupamentos maiores<br />
TRONCO FAMÍLIA LÍNGUA<br />
TUPI Tupi-guarani Akwáwa; Asuriní do Tocantins (asuriní do trocará, akwáwa) a ;<br />
Suruí do Tocantins (mudjetíre); Parakanã; Amanyé;<br />
Anambé; Apiaká; Araweté; Asuriní do Xingu (asuriní do coatiema,<br />
awaeté); Avá (canoeiro); Guajá; Guarani; Kaiwá<br />
(kayová); Mbiá (mbüá, mbyá, guarani); Nhandéva (txiripá,<br />
guarani); Kamayurá; Kayabí; Kokáma; L. geral amazônica<br />
(nheengatu, tupi moderno); Omágua (kambéba); Parintintín;<br />
Diahói; Júma; Parintintín kaguahív; Tenharín; Tapirapé;<br />
Tenetehára; Guajajára; Tembé; Uruewauwáu; Urubú<br />
(urubú-kaapór); Wayampí (oyampí); Xetá<br />
Arikém Karitiána<br />
Juruna Juruna (yurúna) [yudjá – LS] b ; Xipáya<br />
Mondé Aruá; Cinta-Larga; Gavião (ikõrõ, digüt); Mekém; Mondé<br />
(sanamakã, salamãi); Suruí (paiter); Zoró<br />
Mundurukú Kuruáya; Mundurukú<br />
Ramaráma Arara (urukú, karo);Itogapúk (ntogapíd)<br />
Tuparí Makuráp; Tuparí; Wayoró<br />
(Outras<br />
línguas)<br />
Awetí; Puruborá; Mawé (Sateré)<br />
a. Os nomes deslocados à direita referem-se a dialetos.<br />
b. Os termos incluídos entre chaves e seguidos de LS foram acrescentados pela autora.<br />
MACRO-JÊ Jê Akwén (akwë)<br />
Xakriabá (xikriabá); Xavante (a’ wë); Xerente (akwë); Apinayé;<br />
Kaingang (coroado); Kayapó; Gorotíre; Kararaó;<br />
Kokraimôro; Kubenkrangnotí; Kubenkrankêgn; Mekrangnotí;<br />
Tapayúna; Txukahamãe (mentuktíre); Xikrín (xikrï);<br />
Kren-akarore [Panará – LS]; Suyá; Timbíra; Canela apãniekrá;<br />
Canela Ramkókamekrá; Gavião do Pará (Parakáteye);<br />
Gavião do Maranhão (pukobyé); Krahô; Krëyé<br />
(krenyé); Krikatí (krinkatí); Xokléng (aweikoma)<br />
Bororo Boróro (boóro oriental, orarí); Umutína (Barbados)<br />
34 Fontes: RODRIGUES, 1986, e ERIKSON, 1994.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 167
2. Famílias menores<br />
Botocudo Krenak – Nakrehé<br />
Karajá Javaé; Karajá; Xambioá<br />
Maxakalí Maxakalí; Pataxó; Pataxó hãhãhãe<br />
(Outras<br />
línguas)<br />
Guató; Ofayé (ofayé-xavánte); Rikbaktsá (erikbaktsá, arikpaktsá);<br />
Yatê (fulniô, karnijó)<br />
Karíb Apalaí (aparaí); Atroarí; Galibí do Oiapoque; Hixkaryána;<br />
Ingarikó (kapong, akawáio); Kaxuyána; Makuxí; Mayongóng<br />
(makiritáre, yekuána); Taulipáng (taurepã, pemóng);<br />
Tiriyá (tirió); Waimirí; Waiwái; Warikyána; Wayána<br />
(urukuyána); Arára do Pará; Bakairí; Kalapálo; Kuikúro;<br />
Matipú; Nahukwá (nafukwá); Txikão [ikpeng – LS]<br />
Aruak<br />
Apurinã (ipurinã); Baníwa do içana; Baré; Kámpa; Mandawáka;<br />
Mehináku; Palikúr; Paresí (halití); Píro; Manitenéri;<br />
Maxinéri; Salumã (Enawenê-nawê); Tariána (Taliáseri);<br />
Yuruparí-tapúya Íyemi); Teréna (Teréno); Wapixána;<br />
Warekéna (Werekéna); Waurá; Yabaána; Yawalapití<br />
Arawá Banawá-jafí; Dení; Jarawára; Kanamantí; Kulína; Paumarí; Yamamadí<br />
(jamamadí)<br />
Guaikurú Kadiwéu<br />
Katukína Kanamarí; Katawixí (?); Katukína do Biá / Jutaí; Txunhuã-djapá<br />
Makú Bará (Makú-Bará); Guaríba (Waríwa-tapúya); Húpda; Kamã; Nadêb<br />
(Nadëb); Yahúp<br />
Mura Mura; Pirahã<br />
Nambikwára Nambikwára do Norte; Lakondé; Latundê; Mamaindê; Nagarotú;<br />
Tawandê (tagnáni); Nambikwára do Sul; Galera; Kabixí; Mundúka; Nambikwára<br />
do Campo; Sabanê<br />
Pano Amawáka; Karipúna; Katukína do Acre (wanináwa); Kaxararí; Kaxináwa<br />
(kaxinawá); Marúbo; Matís; Mayorúna; Nukuíni; Poyanáwa; Xanenáwa;<br />
Xawadáwa; Yamináwa; Yawanáwa<br />
Tucano Barasána (barasáno, bará); Desána (desáno, winá); Jurití (yurití-tapúya,<br />
wahyára); Karapanã (karapanã-tapúya, mehtã); Kubéwa (kubéu,<br />
kubewána, pamíwa); Pirá-tapúya (waíkana); Suriána (surirá); Tucano<br />
(tukána, dahseyé); (Arapáso, koneá); (Mirití, mirití-tapuya, neenoá);<br />
(Tariána); Tuyúka (dohká-poára); Wanána (wanáno, kótiria); Yebá-masã<br />
(yepá-mahsã, yepá-matsó)<br />
Txapakúra Pakaanóva (orowari); Torá; Urupá<br />
Yanomámi Nimám (yanám); Sanumá; Yanomám (Yainomá); Yanomámi<br />
3. Línguas isoladas<br />
Aikaná (aikanã, huarí, maská, tubarão,<br />
kasupá, mundé, corumbiára)<br />
Arikapú<br />
Awaké<br />
Irántxe (iranxé)<br />
Jabutí [djeoromitxí]*<br />
Kanoê (kapixaná)<br />
Koaiá (arara)<br />
Máku<br />
Mynky (münkü)<br />
Trumái<br />
Tukúna (tikúna)<br />
168 <strong>impulso</strong> nº 27
Referências Bibliográficas<br />
ALMEIDA, Dom L.M. Índios e Roraima, Folha de S.Paulo, cad. A2, 10/jun./00.<br />
ANCHIETA, Pe. J. de. Arte de Grammatica da Lingoa mais Usada na Costa do Brasil. Coimbra, 1595. Edição facsimilar, São<br />
Paulo: Loyola, 1990.<br />
AYROSA, P. Apontamentos para a Bibliografia da Língua Tupi-Guarani. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1954.<br />
BORGES, M.V. Falas feminina e masculina no karajá: diferenças silábicas. In: SILVA, F.L.L. et al. (orgs.). Anais do II Encontro do<br />
Círculo de Estudos Lingüísticos do Sul. Florianópolis: UFSC, 1997. CD-rom.<br />
CÂMARA Jr., J.M. Introdução às Línguas Indígenas Brasileiras. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1965.<br />
CAMERON, D. et al. Ethics, advocacy and empowerment: issues of method in researching language. Language & Communication,<br />
13 (2): 81-94, 1993.<br />
DERBYSHIRE, D.C. Hixkaryana. Lingua Descriptive Studies, 1. Amsterdam: North-Holland, 1979.<br />
ERIKSON, P. An annotated panoan bibliography. Amerindia, Paris, 19 (1), 1994.<br />
EVERETT, D.L. Formal Linguistics and Field Work. In: Cadernos de Estudos Lingüísticos Campinas: Unicamp, (22), 1992.<br />
FACUNDES, S. The Language of the Apurinã People of Brazil (Maipure/Arawak). Buffalo: University of New York, 2000. [Tese<br />
de doutorado].<br />
FARGETTI, C.M. Sistemas vocálicos em línguas indígenas brasileiras. Anais do II Seminário do CELLIP, Londrina: UEL, 1988.<br />
_________. Análise Fonológica da Língua Juruna. Campinas: Unicamp, 1992. [Dissertação de mestrado].<br />
FIGUEIRA, Pe. L. Arte de Grammatica da Lingua Brasilica. Lisboa: oficina de Miguel Deslandes,1687.<br />
GONÇALVES, C.H.R.C. Concordância em Munduruku. Campinas: Unicamp, 1987.<br />
GREENBERG, J.H. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. In: GREEN-<br />
BERG, J.H. Universals of Language. Cambridge: MIT Press, 1963.<br />
KRAUSS, M. The world’s languages in crisis. Language, 68: 4-10, 1992.<br />
LADEFOGED, P. Discussion Note. Another view of endangered languages. Language, 68: 809-811, 1992.<br />
LARAIA, R.B. Cultura. Um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.<br />
LEITE, Y.F. O Summer Institute of Linguistics: Estratégias e Ação no Brasil. In: Religião e Sociedade, São Paulo: Cortez, 7: 60-<br />
64, 1981.<br />
LÉRY, J. de. Viagem à Terra do Brasil. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Editora da USP, 1980.<br />
LYONS, J. Introdução à Lingüística Teórica. São Paulo: Nacional, 1979.<br />
OITICICA, J. Do método de estudos das línguas sul-americanas. Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 9: 41-81, 1933.<br />
MOORE, D.G. Surface Phonemes. Belém, 1982. [Manuscrito].<br />
PACHECO, F.B. Aspectos da gramática ikpeng (Karib). Campinas: Unicamp, 1997. [Dissertação de mestrado].<br />
ROBINS, R. & UHLENBECK, E.M. Endangered Languages. Oxford: Berg Publishers, 1991.<br />
RODRIGUES, A.D. Línguas Brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. São Paulo: Loyola, 1986.<br />
_________. Línguas indígenas: 500 anos de descobertas e perdas. Delta, São Paulo, 9 (1): 83-103, 1993.<br />
_________. O conceito de língua indígena no Brasil, I: os primeiros cem anos (1550-1650) na Costa Leste. In: Línguas e Instrumentos<br />
Lingüísticos, São Paulo: Pontes, (1), 1998.<br />
SANTOS, L.C. Descrição de aspectos morfossintáticos da língua suyá (kïnsêdjê) – família jê. Florianópolis: UFSC, 1997. [Tese<br />
de doutorado].<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 169
SEKI, L. Sobre as partículas da língua kamaiurá. In: CENSABELLLA, M. & BARROS, J.P.V. (orgs.). Actas de las III Jornadas de Lingüística<br />
Aborígen. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1997a.<br />
________. Gramática do Kamaiurá – língua tupi-guarani do Alto Xingu. Campinas: Unicamp, 1997b. [No prelo].<br />
________. A lingüística indígena no Brasil. In: Lingüística, revista da ALFAL. Campinas: Unicamp, 11: 2000.<br />
170 <strong>impulso</strong> nº 27
171 <strong>impulso</strong> nº 27
<strong>impulso</strong> nº 27 172
BRASIL<br />
500 ANOS DEPOIS<br />
BRAZIL 500 YEAR LATER<br />
A<br />
s comemorações dos cinco séculos de Brasil lusitano-europeu deram<br />
uma medida dos impasses vividos pelo País nesta virada de século e de<br />
milênio. O dilema fundamental do Brasil é posicionar-se num mundo<br />
que, movendo-se aceleradamente para o incremento do comércio internacional,<br />
continua reproduzindo a relação espoliativa com países<br />
que, como o Brasil, apresentam em abundância recursos naturais necessários<br />
à produção industrial contemporânea.<br />
Sem pretender definir um posicionamento para o País, próprios de programas político-partidários,<br />
alguns dos antigos mitos ainda presentes na relação da sociedade brasileira<br />
com a natureza, construídos ao longo de cinco séculos, precisam ser, no meu entender,<br />
superados ou abandonados. Neste artigo são enfocados dois deles, definidores da<br />
nossa relação com os ecossistemas naturais.<br />
A NATUREZA É ANTAGÔNICA À ECONOMIA<br />
A oposição entre as atividades humanas produtivas e a natureza tem origens tão remotas<br />
quanto a agricultura primitiva. A rigor, a agricultura contemporânea, mesmo em<br />
suas formas menos agressivas, representa um esforço sistemático de alteração do ecossistema<br />
natural, em que a diversidade biológica dá lugar às espécies úteis ao consumo humano.<br />
O extrativismo representa uma relação homem/natureza em que os limites naturais<br />
definem o alcance da ação humana: sua população, sua produção de bens e serviços, seu<br />
estilo de vida e seu comportamento cotidiano. Entretanto, quase desnecessário lembrar, a<br />
sociedade humana em escala planetária não teria alcançado o estágio atual – em termos<br />
populacionais, econômicos e globalização cultural – sem que a agricultura tivesse sucesso<br />
na luta contra a natureza.<br />
No Brasil, os vestígios das sociedades indígenas presentes nos 1500 indicam que<br />
parte destas sociedades praticavam a agricultura, ainda que com rotação das áreas e uso<br />
de técnicas de baixo impacto. Os europeus, já no primeiro encontro, como mostra a carta<br />
de Pero Vaz de Caminha, não desprezaram o potencial produtivo dessas novas terras. A<br />
ocupação do território e o crescimento da economia coincidiram com a progressiva destruição<br />
dos ecossistemas naturais aqui existentes, já com o ciclo do açúcar, cujo início situa-se<br />
no século XVII.<br />
Não é preciso entrar em detalhes sobre o grau de destruição dos principais ecossistemas<br />
que os cinco séculos de europeização e globalização promoveram no meio am-<br />
ROBERTO KISHINAMI<br />
Físico (USP), diretor geral do<br />
Greenpeace Brasil, especialista<br />
em planejamento energético<br />
kishi@br.greenpeace.org<br />
A agricultura<br />
contemporânea,<br />
representa um<br />
esforço sistemático<br />
de alteração do<br />
ecossistema<br />
natural, em que a<br />
diversidade<br />
biológica dá lugar às<br />
espécies úteis ao<br />
consumo humano<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 173
iente brasileiro: 97% da Mata Atlântica, 50% do Cerrado e<br />
15% da Amazônia foram já completamente destruídos.<br />
Se no caso da Mata Atlântica e do Cerrado a extinção<br />
da biodiversidade pôde ser justificada por razões econômicas,<br />
o mesmo não ocorre com a Amazônia. Resumidamente,<br />
nos dois primeiros ecossistemas a erradicação da cobertura<br />
vegetal original deu acesso a solos que, por sua história geológica,<br />
conferiram suporte a atividades agro-pecuárias consistentes,<br />
com métodos extensivos, radicalizados no período<br />
pós-revolução verde. Isso possibilitou os ciclos econômicos<br />
que, desde o período colonial, serviram à acumulação primária<br />
do capital nessas terras do Novo Mundo.<br />
No caso da Amazônia, excetuadas as manchas de cerrado<br />
e de terra roxa, a predominância é de solos que não dão<br />
suporte às mesmas atividades tradicionais nas demais regiões<br />
do País. Ao mesmo tempo, o fato da Floresta Amazônica<br />
constituir um dos poucos remanescentes de floresta tropical<br />
contínua no mundo – 35% das florestas tropicais em escala<br />
planetária – atribui a este ecossistema um custo de oportunidade<br />
insuperável quando consideradas as atividades agropecuárias<br />
tradicionais.<br />
As bordas da Floresta Amazônica constituem a área de<br />
expansão agrícola da última década. É nesta mancha, que se<br />
estende por mais de 5 mil quilômetros, que, ano a ano, ocorre<br />
o maior desmatamento em escala planetária: uma média de<br />
quase 17 mil quilômetros quadrados de floresta – com tudo<br />
que nela há de vida – a cada ano deixam de existir. O ritmo é<br />
assustador: uma área maior que três campos de futebol destruídos<br />
a cada minuto, dia e noite, sete dias por semana.<br />
Do ponto de vista biológico, essas áreas concentram a<br />
maior diversidade de espécies, por representarem áreas de<br />
transição entre diferentes maciços florestais. De um lado o<br />
Cerrado, cuja densidade de espécies por metro quadrado é<br />
das maiores já estudadas. De outro, a Floresta Amazônica,<br />
que se mostra cada vez mais complexa aos olhos da pesquisa,<br />
por conter pelo menos vinte diferentes tipos de floresta num<br />
único maciço e, ao mesmo tempo, diferentes ecossistemas a<br />
cada altura das árvores em direção à copa.<br />
Os limites da natureza<br />
Em todas as partes do planeta observam-se sinais de<br />
que os atuais modelos de produção, ocupação e uso do planeta<br />
estão próximos do esgotamento. Mesmo pertencendo a<br />
uma espécie terrestre, limitados a uma vida sedentária em<br />
grandes conglomerados urbanos, com quase nenhuma interação<br />
direta com o fundo dos oceanos e com um contato visual<br />
cada vez menor com o céu, o homem foi capaz de, ao<br />
longo dos sucessivos mega-ciclos econômicos (agricultura,<br />
expansão marítima, revoluções industriais), destruir e colocar<br />
em risco florestas, rios, mares, oceanos e atmosfera.<br />
A destruição das florestas no continente europeu –<br />
tanto no Norte como no Mediterrâneo – ocorreram antes das<br />
revoluções industriais, como atesta, por exemplo, um texto de<br />
Platão, lamentando a destruição das florestas na Élida.<br />
Ao contrário do que ocorria no passado, em que as<br />
crises ambientais tiveram alcance limitado a regiões dentro<br />
dos continentes, ou mesmo em ecossistemas isolados como<br />
as ilhas, as crises ambientais da atualidade tem alcance planetário.<br />
O aquecimento da atmosfera e dos oceanos, causado<br />
pela intensificação do efeito estufa e gerador de mudanças<br />
climáticas globais, a poluição dos oceanos por resíduos urbanos<br />
e industriais persistentes, bioacumulativos e extremamente<br />
perigosos, a contaminação dos solos e rios por toda<br />
sorte de resíduos gerados pela atividade humana, são algumas<br />
das crises ambientais que, ao lado da destruição dos últimos<br />
remanescentes de florestas tropicais e temperadas, colocam<br />
em risco a própria sobrevivência da nossa espécie.<br />
Nesse contexto, a preservação dos grandes remanescentes<br />
de floresta – como a Amazônica – tem interesse planetário.<br />
Para os países que já destruíram a sua cobertura vegetal<br />
original, situação da quase totalidade da Europa, a manutenção<br />
da Amazônia vale um preço alto, o qual estão dispostos<br />
a pagar, conforme mostram os vários acordos<br />
internacionais elaborados com a participação ativa da União<br />
Européia.<br />
As questões políticas geradas pelas crises ambientais<br />
globais e as tentativas expressas nos acordos ambientais internacionais<br />
– por exemplo, convenção da diversidade biológica,<br />
convenção sobre mudanças climáticas, convenções<br />
pela proteção dos oceanos – podem compor uma agenda de<br />
mudanças profundas nas relações internacionais. Conceitos<br />
tradicionais como soberania, autonomia, territorialidade<br />
e fronteiras nacionais – fundamentais na construção<br />
174 <strong>impulso</strong> nº 27
dos Estados nacionais modernos – deverão incorporar a noção<br />
de interdependência, conceito base da globalização mas<br />
não explicitado em estudos do fenômeno mais recente de expansão<br />
do comércio internacional e das comunicações eletrônicas.<br />
Por ora, os acordos internacionais de maior alcance –<br />
de proteção da diversidade biológica e de contenção das mudanças<br />
climáticas globais – esbarram em empecilhos práticos,<br />
como por exemplo: a definição do que promover para<br />
substituir as tecnologias produtoras dos danos ambientais e<br />
de onde investir os recursos que, todos concordam, têm de ser<br />
gerados e gastos etc.<br />
No caso da proteção das florestas – suporte da diversidade<br />
biológica terrestre –, entre os representantes governamentais<br />
nem sequer há clareza sobre o tipo de acordo internacional<br />
necessário, e ainda menos sobre que tipo de organismo<br />
internacional seria responsável pela sua gestão. Essa<br />
situação, ao contrário do que se pode imaginar, é extremamente<br />
favorável a países que, como o Brasil, são os lugares<br />
onde estão os últimos remanescentes de grande envergadura.<br />
Para essas populações, o fato de terem herdado um<br />
meio ambiente sem cobertura vegetal original em seus países<br />
faz com que os remanescentes de floresta em outras partes do<br />
mundo tenham um valor que vai muito além do simbólico.<br />
É a garantia de que a qualidade de vida que conseguiram à<br />
custa, não só mas também, da depredação do seu meio ambiente,<br />
tenha futuro. Nesse sentido, o valor das florestas originais<br />
independe do que exatamente nela exista de recursos<br />
genéticos ou de diversidade biológica por explorar.<br />
É um dos raros momentos em que países relativamente<br />
pobres, como o nosso, encontram chances de impor os<br />
seus interesses nacionais, tirando vantagens da necessidade<br />
que as populações de nações mais ricas têm da proteção das<br />
florestas fora dos seus territórios. Mas, para que isso seja possível,<br />
é preciso mudar algo na política interna do Brasil.<br />
Os Limites da Agricultura e da Pecuária<br />
No Brasil ainda é majoritária a idéia de que a melhor<br />
coisa a fazer com as florestas originais é derrubá-las para dar<br />
lugar às plantações ou à criação de animais, preferencialmente<br />
extensivas. Por esse motivo a representação política<br />
dos agricultores e pecuaristas – a bancada ruralista – pretende<br />
alterar o Código Florestal, cuja versão em vigor data de<br />
1965, para desobrigar proprietários rurais de protegerem<br />
beiradas de rios, topos de morro, encostas com inclinação<br />
maior que 45.º, além de diminuir os índices de reserva legal<br />
obrigatórios nos diferentes tipos de ecossistema.<br />
Essa mentalidade é herdada dos grandes ciclos econômicos<br />
do passado que, fora da região amazônica, promoveram<br />
o desflorestamento e a ocupação das regiões Sul, Sudeste<br />
e Centro- oeste. Assim, quando o governo – através de<br />
créditos, mas não de política setorial – procura aumentar a<br />
produção de grãos para acima do patamar de 80 milhões de<br />
toneladas atuais, a palavra de ordem das lideranças do meio<br />
rural é expandir a fronteira agrícola em direção à Amazônia.<br />
O engano desse movimento repousa em dois limites.<br />
De um lado, a falta de suporte físico do solo da região para<br />
que a expansão resulte em aumento de produção sustentável:<br />
a vocação da Amazônia não é agricultura ou pecuária. De<br />
outro, a impossibilidade de continuar a dispersar recursos<br />
por um vasto país, sem colocar em risco a produção agrícola<br />
já existente, por falta de investimento contínuo em infra-estrutura<br />
de produção agrícola.<br />
Ao mesmo tempo, os recursos genéticos perdidos a<br />
cada metro quadrado de floresta original destruída representam<br />
um capital que, com certeza, irá faltar ao País no futuro<br />
próximo. Adicionalmente, a percepção pública é de que a política<br />
governamental de proteção às florestas não passa de<br />
medida cosmética, por promover a substituição da floresta<br />
por plantações e pastos.<br />
Por todas essas razões, faz-se necessária uma nova<br />
política agrícola, em que a relação da sociedade com as florestas<br />
originais repousasse em novos paradigmas.<br />
Algumas Propostas para a Agricultura Brasileira<br />
A análise da agricultura brasileira é objeto de especialistas,<br />
cuja produção técnica e acadêmica é respeitada internacionalmente<br />
e, reconheça-se, merece um espaço próprio.<br />
Neste artigo, pretende-se levantar alguns dos aspectos a<br />
modificar na relação da agricultura com os ecossistemas naturais.<br />
Grosso modo, a agricultura brasileira produz 80 milhões<br />
de toneladas anuais de grãos, com uma produtividade<br />
média abaixo de duas toneladas por hectare, em condições<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 175
climáticas normais. Assim, a área comprometida com a produção<br />
de grãos é da ordem de 40 milhões de hectares a cada<br />
ano. Se adicionarmos os demais produtos agrícolas com produção<br />
constante (laranja, cana-de-açúcar, plantações exóticas<br />
em reflorestamentos etc.), as produções sazonais características<br />
de pequenas propriedades (hortifruti, cebola, alho<br />
etc.) bem como as criações de pequeno e grande porte<br />
(granjas, gado, porco, caprinos etc.), chegamos a números<br />
que não ultrapassam os 200 milhões de hectares. Mesmo<br />
considerando a necessidade de rotação e a impossibilidade de<br />
usar toda área disponível ao mesmo tempo, dados os tratos<br />
culturais diferenciados, temos cerca de 400 a 450 milhões de<br />
hectares em produção a cada ano.<br />
De outro lado, se procurarmos a terra sem cobertura<br />
vegetal original e apta para a agricultura ou pecuária nas regiões<br />
fora da Amazônia, encontramos cerca de oitocentos<br />
milhões de hectares disponíveis. Quase um terço da área total<br />
destas regiões do País e o dobro do que estaria, numa perspectiva<br />
otimista, em uso pela agricultura e pecuária.<br />
O que se pode dizer diante de tal quadro? Antes de<br />
mais nada, que existe muita terra subutilizada fora das áreas<br />
de floresta original.<br />
Se esse simples fato for reconhecido e adotado como<br />
premissa para a definição de uma política agrícola para o<br />
País, abre-se a possibilidade de compatibilizar os interesses<br />
nacionais de preservação das florestas e sua diversidade biológica<br />
com as necessidades agrícolas da sociedade brasileira.<br />
Sem entrar em detalhes, os principais componentes de<br />
uma política agrícola que contribuiria para a proteção das<br />
florestas incluiria, sem ordem de prioridade:<br />
• foco dos investimentos e incentivos nas regiões com<br />
áreas já desmatadas e com vocação agrícola e pecuária.<br />
Correspondentemente, desincentivo à expansão<br />
da fronteira agrícola pela conversão de florestas<br />
nativas;<br />
• investimento público para o aumento da produtividade<br />
nas áreas já desflorestadas e com vocação<br />
agrícola ou pecuária, através da educação fundamental<br />
e continuada, da introdução ou promoção<br />
de tecnologias adequadas a cada região, cultura e<br />
mercado, da pesquisa em melhoria de sementes e<br />
mudas e tratos culturais, da assistência técnica às<br />
propriedades rurais;<br />
• aumento do valor agregado da produção agrícola e<br />
pecuária, pela sua verticalização em escala local ou<br />
regional, com a inclusão das comunidades participantes<br />
no processo de produção;<br />
• investimento na integração das populações do<br />
meio rural à rede de comunicações globalizada e<br />
internacionalizada;<br />
• integração das propriedades dedicadas à agricultura<br />
e pecuária à malha local de serviços modernos,<br />
como por exemplo transporte, hospedagem,<br />
turismo, produção e distribuição local de energia,<br />
sistemas locais de comunicação integrada (TV, internet,<br />
rádio, telefonia móvel) etc.;<br />
• incentivo à recomposição da vegetação nativa em<br />
áreas de degradadas ou sem vocação agrícola e pecuária;<br />
• proteção abrangente dos recursos hídricos e da vegetação<br />
original em margens, várzeas, topos de<br />
morro, encostas etc., que compõem as áreas de<br />
proteção permanente;<br />
• incentivo ao estabelecimento de corredores biológicos,<br />
interligando propriedades particulares e áreas<br />
públicas de preservação ou conservação ambiental;<br />
• revisão do conceito de produtividade agrícola com<br />
a inclusão dos benefícios e serviços das áreas de cobertura<br />
original em sua metodologia de cálculo;<br />
• incentivo à agricultura familiar, com ênfase em<br />
agricultura orgânica.<br />
Uma política agrícola que contemplasse os aspectos<br />
acima mencionados traria contribuições não só ambientais,<br />
retirando a pressão da agricultura sobre os últimos remanescentes<br />
de florestas, mas também para a solução de muitos<br />
dos problemas sociais e fundiários presentes na área rural do<br />
Brasil.<br />
Meio Ambiente e Arcabouço Jurídico<br />
O primeiro movimento político em direção à globalização,<br />
no mundo contemporâneo, veio do movimento ambientalista.<br />
Embora a afirmação soe pretensiosa, é preciso re-<br />
176 <strong>impulso</strong> nº 27
cordar que a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento<br />
Sustentável em 1972, patrocinada pela ONU na cidade<br />
de Estocolmo na Suécia, foi a primeira vez em que se<br />
reconheceu, de um lado, a necessidade de acordos internacionais<br />
para a proteção de ecossistemas globais ameaçados<br />
pelas atividades humanas e, ao mesmo tempo, em que se reconheceu<br />
a urgência na inclusão dos países em desenvolvimento<br />
nesses mesmos acordos.<br />
Vinte anos depois, na Rio 92, uma segunda conferência<br />
consolidou os principais acordos internacionais que visam<br />
reverter duas das principais crises ambientais: a convenção<br />
quadro sobre mudanças climáticas e a convenção para<br />
proteção da diversidade biológica. Ambas as convenções,<br />
passados oito anos desde sua elaboração, esbarram ainda em<br />
objeções dos Estados Unidos para sua completa implementação.<br />
No caso das mudanças climáticas, a principal medida<br />
preconizada pelo acordo é a diminuição das emissões dos<br />
chamados gases – estufa resultantes da queima de combustíveis<br />
fósseis. Em miúdos: há que diminuir o consumo de derivados<br />
de petróleo para, inicialmente, estabilizar o clima<br />
planetário. Os Estados Unidos, que, sozinhos, respondem por<br />
um quarto do consumo mundial de derivados de petróleo –<br />
quase que metade dele no setor de transportes –, têm dificuldade<br />
em aceitar que seu estilo de vida, fortemente baseado<br />
no uso individual dos automóveis, precisa mudar.<br />
No caso da proteção da diversidade biológica, os Estados<br />
Unidos nem sequer são signatários do acordo. Fundamentalmente<br />
porque a indústria com interesse na diversidade<br />
biológica entende que essa convenção é um obstáculo ao<br />
livre acesso a recursos florestais e recursos genéticos em todo<br />
o mundo.<br />
À guisa de esclarecimento, as legislações nacionais<br />
sobre patentes – cuja história remonta aos primórdios da<br />
primeira revolução industrial – apresentam variações quanto<br />
à possibilidade de patenteamento de formas de vida e, por<br />
decorrência, de recursos genéticos. No Brasil, para se ter uma<br />
idéia, não se permite o patenteamento de formas de vida, mas<br />
sim dos métodos que, nos casos de formas modificadas em<br />
laboratório, levam à produção de espécies adaptadas para<br />
usos confinados ou mesmo em ambientes abertos. Nos Estados<br />
Unidos, em oposição, não há óbices ao patenteamento de<br />
formas de vida, existindo mesmo inúmeros casos de patenteamento<br />
de códigos genéticos.<br />
Apesar dessas dificuldades localizadas nessas duas<br />
convenções originadas na Rio 92, as convenções internacionais<br />
sobre meio ambiente são hoje um fato jurídico. Elas vão<br />
da proteção da camada de ozônio à proteção dos mares e<br />
oceanos contra a poluição provocada por atividades humanas,<br />
passando pela proteção de manguezais e zonas úmidas,<br />
pela proteção de espécies animais ou vegetais em perigo de<br />
extinção, pela proibição do comércio internacional de lixo tóxico<br />
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Além<br />
dessas, há outras ainda em preparação, todas elas envolvendo<br />
países, governos, indústrias, comunidades afetadas e,<br />
sempre, grupos de pressão da sociedade civil organizada,<br />
tanto dos países desenvolvidos como em desenvolvimento.<br />
O confronto mais recente entre as convenções internacionais<br />
sobre meio ambiente e os setores econômicos, cujos<br />
interesses têm sido afetados pelas restrições à poluição e à<br />
predação dos recursos naturais, manifesta-se nas reuniões da<br />
recém-criada Organização Mundial do Comércio. O confronto<br />
fundamental está na restrição ao comércio internacional<br />
advinda dos acordos de proteção ambiental. Por exemplo,<br />
os organismos geneticamente modificados introduzidos<br />
na agricultura pelos grandes produtores de agroquímicos<br />
têm gerado restrições por parte de países preocupados com a<br />
preservação de seus ecossistemas contra a poluição genética,<br />
que, uma vez ocorrida, seria irreversível. É o caso do Brasil,<br />
em que a legislação estabelece restrições ao lançamento de<br />
organismos geneticamente modificados no meio ambiente.<br />
No mesmo âmbito da OMC, articulou-se no fim de<br />
1999, na reunião em Seattle, uma tentativa do governo dos Estados<br />
Unidos e indústrias interessadas na derrubada do que<br />
entendem ser “barreiras não-alfandegárias ao acesso a recursos<br />
florestais”, representadas por acordos internacionais<br />
e, pasmem, legislações nacionais que protegem as florestas.<br />
Em ambos os casos, as reações contra legislações nacionais<br />
e internacionais de proteção do meio ambiente revelam<br />
o conflito entre a soberania dos países e o poder de corporações<br />
multinacionais, que, por sua escolha, apostam no<br />
acesso, manipulação e comercialização de recursos florestais<br />
e genéticos a sua maior fonte de renda nesta virada de século<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 177
e de milênio. Nesse contexto, os acordos internacionais, sempre<br />
estabelecidos com a participação ativa dos governos dos<br />
países afetados e que, pelo ritual jurídico consagrado, passam<br />
a vigorar após a ratificação pelos parlamentos dos países signatários,<br />
constituem o principal instrumento da construção<br />
de uma nova ordem jurídica nacional e internacional em que<br />
a interdependência e, conseqüentemente, a necessidade de<br />
cooperação promovam a redução das diferenças entre países<br />
ricos e pobres.<br />
Ao contrário do que os defensores do livre acesso a<br />
mercados e recursos defendem, as medidas de proteção ao<br />
meio ambiente são essenciais para a sustentabilidade não só<br />
da produção agrícola, mas, sobretudo, na integração das populações<br />
hoje marginalizadas por todos os continentes aos<br />
padrões de vida possíveis pelo desenvolvimento da ciência,<br />
técnica e engenho humanos.<br />
EXEMPLO DE POLÍTICA INTEGRADA DE<br />
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E<br />
DESENVOLVIMENTO HUMANO<br />
Para exemplificar o que pode ser uma mudança nos<br />
padrões de relação entre sociedade e ecossistemas naturais,<br />
expõe-se aqui uma proposta que integra reservas extrativistas<br />
à produção e comercialização de produtos de borracha.<br />
As reservas extrativistas são uma criação recente do<br />
movimento social que emergiu na década de 1980, com base<br />
em populações que, desde o século passado, haviam sido<br />
transferidas majoritariamente da região Nordeste do País<br />
para o interior da Amazônia, como base humana do que ficou<br />
conhecido como “ciclo da borracha”.<br />
Resumindo, o ciclo da borracha no Brasil terminou<br />
com a transferência da produção de látex para o Sudeste Asiático,<br />
através do primeiro caso de pirataria genética em larga<br />
escala, realizada por ingleses. Desde então a Malásia figura<br />
como grande produtor de borracha natural, tendo desenvolvido<br />
não apenas plantações mas também um competente<br />
sistema de pesquisa, seleção e produção de mudas da Hevea<br />
br., fornecendo os espécimes para todas as plantações em<br />
qualquer parte do mundo. As plantações existentes por<br />
exemplo em São Paulo ou Minas Gerais, sempre que feitas<br />
com mudas selecionadas e de origem conhecida, trazem o<br />
selo MRXXX, no qual os últimos caracteres referem-se à linhagem<br />
em reprodução, mas as letras iniciais significam “Malayan<br />
Rubber”.<br />
O fato é que a seleção de variedades adaptadas para<br />
cada tipo de ecossistema tem por base a contínua pesquisa<br />
sobre variedades criadas por um único laboratório gerador: a<br />
Floresta Amazônica. Embora as técnicas de manipulação genética,<br />
ou, mais precisamente, molecular, permitam hoje<br />
promover a produção de mutantes induzidos por diferentes<br />
meios, o melhor e mais eficiente laboratório de criação contínua<br />
de novas variedades permanece sendo a natureza. Assim,<br />
para manterem a eficiência de suas plantações e suprirem<br />
as que implantam-se em outras regiões, os malaios necessitam<br />
continuamente de novas cepas originárias da Floresta<br />
Amazônica. As plantações de Hevea br., como qualquer<br />
monocultura, necessitam do chamado melhoramento como<br />
garantia de produção a longo prazo, sem o que não passam<br />
de atividade efêmera.<br />
A questão aqui é que, embora essa floresta tenha este<br />
papel para a indústria da borracha, que representa bilhões de<br />
dólares em todo o mundo apenas no setor de pneumáticos,<br />
não gera um centavo de benefício para o País e para as comunidades<br />
extrativistas, que, ao longo do último século, têm<br />
sido responsáveis pela identificação e manutenção da variedade<br />
genética da Hevea br.<br />
A relação da indústria da borracha com as comunidades<br />
de seringueiros revela um dos piores casos de negligência<br />
tanto das indústrias como dos sucessivos governos<br />
brasileiros. Ao invés dos extrativistas terem sido inseridos no<br />
negócio global da borracha com o surgimento das plantações,<br />
foram colocados em competição com estas últimas.<br />
Nesse jogo, o resultado óbvio é a miséria do seringueiro extrativista,<br />
já que não há como competir, em termos de produção,<br />
com as plantações. Aliás, essa é a razão pela qual a espécie<br />
humana adotou a agricultura como meio fundamental<br />
de subsistência, dando origem ao que temos de civilização.<br />
Não fosse enorme a distância entre a produção por plantações<br />
e a por extrativismo, muito provavelmente continuaríamos<br />
coletores-caçadores e isolaríamos do convívio social os<br />
desviantes com idéias de “ganhar o nosso pão com o suor do<br />
nosso trabalho”.<br />
178 <strong>impulso</strong> nº 27
Apesar das adversidades, o fato é que os seringalistas<br />
continuam, tanto em comunidades extrativistas organizadas<br />
em reservas como nos contingentes das periferias dos núcleos<br />
e centros urbanos da Amazônia, mantendo os seus costumes<br />
e conhecimentos tradicionais. Ainda hoje os seringalistas<br />
mais jovens sabem como estabelecer suas estradas, como distinguir<br />
seringas de não-seringas e como processar o látex<br />
para venda às usinas de beneficiamento. Um conhecimento<br />
cujo requinte chega a ponto de identificar espécies que não<br />
Hevea, mas produtoras de seiva, que, sem análise laboratorial,<br />
não se distingue do látex, embora resulte em propriedades<br />
elastoméricas péssimas para a indústria e seus produtos.<br />
Esse conhecimento empírico, mantido quase que por<br />
teimosia, é uma das riquezas da diversidade amazônica, que,<br />
caso bem aproveitada, pode mudar a relação do País com os<br />
seus recursos naturais e sua economia.<br />
CONCLUSÃO<br />
Na primeira parte deste artigo fiz referência à convenção<br />
pela proteção da diversidade biológica da qual o Brasil<br />
é signatário. Pois bem, um dos mecanismos possíveis nessa<br />
convenção é o estabelecimento de protocolos específicos para<br />
proteção de espécies em perigo. Esse é certamente o caso da<br />
Hevea br., uma vez que na ausência de uso econômico a tendência<br />
atual é o puro e simples corte.<br />
Um protocolo de proteção da Hevea br. teria como<br />
efeito desejável a proteção da floresta, já que a primeira não<br />
tem como sobreviver à falta da segunda. Ao mesmo tempo, a<br />
Hevea br. permite uma solução de preservação em que, ao<br />
integrar comunidades locais e tradicionais ao processo, estabelece<br />
uma nova relação da floresta com a economia e, mais<br />
especificamente, com a economia agrícola.<br />
O objetivo econômico do protocolo deve ser a produção,<br />
para colocação no mercado das plantações, de variedades<br />
de Hevea br. adaptadas ao plantio homogêneo em diferentes<br />
ecossistemas. O meio para atingir tal objetivo é a articulação<br />
entre o conhecimento empírico das comunidades de<br />
seringueiros e a ciência e a técnica existente nos centros de<br />
pesquisa nacionais. Grosso modo, o seringueiro sabe como<br />
identificar os espécimes produtivos, resistentes e de melhor<br />
qualidade. Os cientistas e técnicos sabem o que e como selecionar<br />
variedades, como analisar e correlacionar propriedades<br />
da borracha com as propriedades do látex.<br />
A partir do momento em que concretize-se essa reunião<br />
entre comunidades (extrativista e técnico-científica)<br />
pode-se estabelecer prazos e condições para que as primeiras<br />
variedades sejam testadas em plantações e, a partir daí, ofertadas<br />
ao mercado de plantações. Nessa direção, ao invés de<br />
uma competição entre seringueiros e plantações, promove-se<br />
integração com ganhos óbvios para todas as partes envolvidas.<br />
Essa reunião é quase que toda ela uma questão nacional,<br />
bastando a vontade política do governo e a mobilização<br />
das partes interessadas para que se concretize. Entretanto, há<br />
razões de sobra para inscrevê-la no contexto dos tratados internacionais.<br />
A principal delas é comercial.<br />
Uma das respostas de setores industriais preocupados<br />
com a associação da imagem de seus produtos a danos ambientais<br />
promovidos por produtos similares é a certificação<br />
independente. Nessa direção inserem-se a certificação de alimentos<br />
orgânicos e a certificação de produtos madeireiros. É<br />
uma tendência que deverá alcançar mais imediatamente os<br />
produtos cuja origem esteja em ecossistemas sensíveis.<br />
No caso do protocolo em questão, o mecanismo básico<br />
que movimenta o processo repousa num compromisso a<br />
ser proposto para a indústria da borracha: consumo de látex<br />
de plantações cuja origem seja coberta pelo protocolo. Este,<br />
por sua vez, estabelece como plantações certificáveis aquelas<br />
formadas por variedades originárias das instituições parte da<br />
reunião comunidades extrativistas/comunidade científica.<br />
Nesse processo excluem-se as variedades existentes<br />
provenientes da Malásia? Não creio ser a melhor atitude.<br />
Mesmo uma relação de competição comercial é mais saudável<br />
que a tentativa de exclusão. Ao final, tanto a Malásia como<br />
o Brasil têm interesses comuns frente à indústria da borracha.<br />
Ao negociar com uma indústria que movimenta bilhões<br />
de dólares por ano, e com margem para aumento de preço<br />
no produto final pela ausência de alternativas, é preciso ter<br />
em mente que é mais fácil somar para dividir (os ganhos).<br />
Embora o exemplo esteja calcado na borracha, no látex<br />
e na Hevea br., há um modelo básico que, acredito, poderia<br />
governar as relações entre plantações de espécies originárias<br />
nos remanescentes de floresta e comunidades tradi-<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 179
cionais, através de quem nos chegam estas mesmas espécies<br />
e seus produtos. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à andiroba,<br />
copaíba, pupunha e tantos outros. Há, verdadeiramente,<br />
um mundo novo dentro dos remanescentes de floresta.<br />
É nosso papel preservá-lo e, sempre que possível, extrair<br />
os seus benefícios sem comprometê-lo.<br />
180 <strong>impulso</strong> nº 27
500 ANOS E O DISCURSO<br />
SOBRE O MAL FEMININO<br />
500 YEARS AND THE DISCOURSE ON FEMININE EVIL<br />
INTRODUÇÃO<br />
Acelebração dos 500 anos de discutível “descoberta” do Brasil, a celebração<br />
de um novo milênio e a celebração do jubileu cristão tornaram-se<br />
momentos simbólicos que nos convidam à reflexão sobre<br />
o passado e o presente. Este artigo não é propriamente direcionado<br />
às múltiplas celebrações, mas é ocasião para abrir espaços para um<br />
novo tipo de reflexão. Trata-se de uma reflexão que não pode estar<br />
ausente no momento em que revemos os nossos referenciais teóricos<br />
e nossa prática cotidiana em vista da criação de relações humanas mais justas e igualitárias.<br />
1 Hoje, as ciências humanas começam a ouvir as vozes silenciadas das mulheres e começam<br />
cada vez mais a questionar a velha universalização masculina de seus discursos.<br />
O presente texto sobre a diversidade de “males” e sofrimentos vividos pelas mulheres quer<br />
ser uma contribuição para esta tarefa urgente.<br />
Nessa linha de reflexão fazemos algumas perguntas: nos tempos de globalização<br />
dos mercados e de globalização da cultura existe alguma pertinência de se falar do mal vivido<br />
pelas mulheres? 2 Existiria alguma especificidade nesta experiência tão diversa e complexa?<br />
Existe algum sentido frisar de novo, embora de forma diferente, as denúncias dos<br />
últimos 30 anos do movimento feminista?<br />
O mal comum e próprio de uma parte da humanidade ou de toda a humanidade,<br />
se assumirmos uma postura inclusiva, tem direito a um discurso específico ou deveria dissolver-se<br />
nas considerações do mal em geral? No tempo das realidades virtuais, das experiências<br />
virtuais, cabe ainda falar das muitas dores que os computadores não podem expressar?<br />
Todas estas perguntas nos habitam e, mesmo que estejamos convencidas de não<br />
dar respostas totalmente satisfatórias, vale um ensaio de reflexão sobre elas.<br />
Mostrar a especificidade de um discurso sobre o mal significa em primeiro lugar<br />
dizer em grandes linhas o que significa isto que chamamos “mal”. A palavra mal significa<br />
tudo aquilo que é nocivo, prejudicial, injusto, desfavorável, degradante, pecaminoso<br />
em relação à vida humana ou às outras formas de vida. Entretanto essa explicitação genérica<br />
só tem consistência se for particularizada a partir dos diferentes seres humanos, a<br />
1 Este texto teve por base artigo publicado na Revista de Cultura Vozes, 1999.<br />
2 GEBARA, 1999. As idéias principais deste artigo são tiradas deste livro.<br />
IVONE GEBARA<br />
Doutora em Filosofia (PUC-SP)<br />
e em Ciências Religiosas<br />
(Universidade Católica de<br />
Louvaine). Escritora das áreas de<br />
Filosofia e Teologia na perspectiva;<br />
feminista e ecológica<br />
ivone@hotlink.com.br<br />
As ciências<br />
humanas começam a<br />
ouvir as vozes<br />
silenciadas das<br />
mulheres e começam<br />
cada vez mais a<br />
questionar a velha<br />
universalização<br />
masculina de seus<br />
discursos<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 181
partir das culturas e dos diferentes momentos da história. O<br />
nocivo ou o prejudicial ou o injusto são marcados pela temporalidade<br />
de nossa história, ou seja, eles têm história na história<br />
humana. Nesse sentido a evolução da história humana<br />
comporta também a evolução das percepções e das denúncias<br />
das coisas nefastas à convivência humana. Por exemplo,<br />
a luta contra a escravidão, contra o racismo, contra a exclusão<br />
das mulheres do direito ao voto são marcas dessa evolução<br />
da consciência humana em relação a alguns comportamentos<br />
nocivos à convivência humana. Nessa perspectiva,<br />
falar do mal específico vivido pelas mulheres significa tornar<br />
clara a diferença na vivência de situações injustas. E a diferença,<br />
nesse caso, passa a ser reveladora das desigualdades,<br />
passa a ser denúncia de uma forma a mais de injustiça social.<br />
O momento de celebração dos 500 anos do Brasil parece<br />
ser um tempo propício não só para as denúncias das injustiças<br />
do passado, mas para o anúncio das aspirações por<br />
justiça que diferentes grupos têm realizado. Nós mulheres estamos<br />
entre esses grupos que aspiram por uma nova ordem<br />
social mundial e uma nova ordem no relacionamento entre<br />
mulheres e homens. Nessa linha, este texto quer frisar o direito<br />
à diferença nos discursos sobre o mal humano, guardando<br />
entretanto a relação íntima e a interdependência entre os diferentes<br />
discursos. Essa é a perspectiva e o fio condutor deste<br />
artigo. Isso porque se a humanidade guarda seu aspecto de<br />
universalidade, esta mesma universalidade é afirmada e vivida<br />
em termos de particularidade não apenas segundo os tempos,<br />
os espaços e as culturas, mas sobretudo a partir das mesmas<br />
pessoas que o afirmam. O global, o mundial, o universal<br />
são experimentados na particularidade cotidiana de cada<br />
existência humana. Um discurso específico sobre a vivência<br />
feminina do mal se situa em tal perspectiva, isto é, na linha da<br />
particularidade em íntima relação com a globalidade.<br />
A IMPORTÂNCIA E OS<br />
LIMITES DA DIFERENÇA<br />
Hoje, mais do que em outros tempos, se fala da importância<br />
do respeito à diferença. A diferença é resgatada<br />
como algo fundamental para a própria afirmação da individualidade<br />
ou da originalidade de cada grupo.<br />
Nesse sentido, afirmar a diferença dos discursos nos<br />
conduz a uma tomada de consciência de que as dificuldades<br />
vividas pelos diversos grupos humanos não são as mesmas<br />
diante dos mesmos problemas. Essa diferença não é apenas<br />
marcada pela pertença a uma classe social, a um grupo étnico,<br />
a uma religião, mas também a um sexo biológico. A sexualidade<br />
culturalizada, isto é, o biológico cultural que somos,<br />
revela-se hoje em dia como um lugar específico de verificação<br />
de desigualdades concretas. É particularmente essa<br />
realidade das relações humanas que a mediação das análises<br />
de gênero tenta explicitar e que torno presente nesta breve reflexão.<br />
O discurso sobre a desigualdade humana, desigualdade<br />
produtora de exclusão e destruição, não cessa de crescer.<br />
Cada vez mais tomamos consciência de que certas “velhas<br />
injustiças” são reconhecidas como parte da história humana.<br />
Entretanto, existem outras, tão velhas quanto as primeiras,<br />
que se mostram hoje em dia à consciência humana<br />
como novidades. Sem dúvida esse processo tem a ver com o<br />
desenvolvimento da história humana marcada pelo conhecimento<br />
de nós mesmas e dos outros. É nesse sentido que podemos<br />
entender que foi preciso chegarmos aos tempos modernos<br />
para que uma velha forma de desigualdade, a que se<br />
refere às relações entre homens e mulheres, atingisse um “nível<br />
científico”. Isso significa que atualmente a desigualdade<br />
entre homens e mulheres torna-se objeto de estudo nas universidades<br />
e em diferentes centros de pesquisa científica. Torna-se<br />
igualmente uma questão política, econômica, social e<br />
religiosa de grande relevância. Basta observarmos a quantidade<br />
de publicações e de movimentos organizados em favor<br />
da reivindicação dos direitos das mulheres, da defesa das<br />
mulheres e da formação feminista, para nos convencermos<br />
de que algo novo acontece em nosso mundo e particularmente<br />
no Brasil. Todas essas conquistas são extremamente<br />
significativas para quem deseja avaliar os passos<br />
significativos desses 500 anos de história.<br />
Na evolução histórica de todos os grupos humanos é<br />
preciso lembrar que, ao mesmo tempo que um novo movimento<br />
irrompe no cenário social, este movimento já traz<br />
dentro de si as marcas de seus limites. O mesmo sucede com<br />
os movimentos feministas na sua pluralidade de expressões<br />
182 <strong>impulso</strong> nº 27
sociais. A novidade de um movimento não o isenta de contradições.<br />
Por isso, apesar de seus limites, os movimentos feministas<br />
na sua múltipla e variada expressão estão aí e representam<br />
uma força social significativa em diferentes partes<br />
do mundo.<br />
O surgimento desse novo campo de ação das mulheres<br />
e de reflexão sobre as relações entre homens e mulheres<br />
dá-se, entre outros motivos, ao trabalho pioneiro dos movimentos<br />
feministas em diversos países. Foram eles que começaram<br />
a introduzir o que poderíamos chamar de “ciência feminista”<br />
ou, em termos gerais, de crítica ao universalismo da<br />
ciência masculina considerada simplesmente como “ciência”.<br />
A ciência feminista fez aparecer intenções políticas, antropologias<br />
e ideologias que escondiam a desigualdade e a<br />
injustiça e afirmavam o discurso masculino como discurso<br />
normativo e quase “palavra universal”.<br />
Sabemos o quanto a maioria das culturas integrou essa<br />
desigualdade e se baseou na não-reciprocidade antropológica<br />
entre os seres humanos para manter estruturas hierárquicas<br />
excludentes daquelas e daqueles considerados mais fracos ou<br />
inferiores. Tal comportamento é igualmente existente nas religiões<br />
patriarcais. Elas mantiveram um discurso sobre a bondade,<br />
a caridade e a salvação universais a partir de referenciais<br />
fundamentalmente masculinos e de uma masculinidade<br />
elitista. Os caminhos de acesso à “salvação” ou a simples busca<br />
de alternativas foram igualmente marcados pelos mesmos<br />
referenciais. A cultura tradicional permitiu o desenvolvimento<br />
das diferentes formas de submissão, inclusive das<br />
mulheres criando mecanismos de culpabilidade, tanto<br />
social quanto religiosa.<br />
Hoje as mulheres e muitos outros grupos marginalizados<br />
recusam-se, mais do que ontem, às “totalidades” préestabelecidas<br />
ou determinadas de forma a priori. Trata-se de<br />
uma questão que toca o conjunto da vida social e, portanto,<br />
da produção do saber, do poder, do ter e do valer da humanidade.<br />
Em outros termos, quero enfatizar o fato da presença<br />
de visões hierárquicas e totalitárias na produção e apropriação<br />
do saber, na produção e apropriação do poder, na produção<br />
e apropriação do ter ou dos bens produzidos e na produção<br />
e apropriação do valer ou da consideração do maior<br />
ou menor valor que damos a este ou aquele comportamento<br />
ou a esta ou aquela pessoa. E essas visões hierárquicas e totalitárias<br />
não têm a ver somente com questões relativas às<br />
classes sociais, mas igualmente com a relação entre homens<br />
e mulheres. Estamos detectando um novo “lugar” do mal,<br />
um novo lugar de relações de opressão e dominação, um<br />
novo lugar “natural” de construção de relações injustas.<br />
A FENOMENOLOGIA DO MAL FEMININO<br />
No que se refere à especificidade da situação das mulheres<br />
em relação à questão do mal, uma aproximação marcada<br />
pelo método fenomenológico se impõe. O método fenomenológico<br />
se caracteriza pela abordagem dos fatos, situações,<br />
comportamentos, fenômenos, como aparecem. Tenta<br />
detectar os “males” vividos, as situações qualificadas como<br />
perniciosas, os diferentes sofrimentos afirmados como males<br />
a partir da experiência das mulheres e a partir do discurso<br />
delas sobre esses males. São elas que sentem no corpo, na pele,<br />
no cotidiano de suas relações essa “negatividade”, esse<br />
“mal-estar” na própria existência, essa diminuição de vida<br />
que elas chamam de “mal” ou sofrimento ou dor. A partir do<br />
discurso feminino sobre seus males, seu sofrimento se torna<br />
público. Sai de sua ocultação habitual e de seu silêncio. Sai<br />
de um caráter de indiferenciação para aparecer na sua<br />
especificidade cultural e social própria. Mostra assim sua<br />
densidade particular e sua relação com outros males. Ele<br />
passa a ter o direito de ser pensado como um discurso pertinente<br />
sobre uma experiência particular marcada pela própria<br />
situação de gênero. Deixa de ser assimilado de forma<br />
simplista aos males genéricos que tocam toda a humanidade<br />
como se esses males fossem os mesmos para todas as pessoas.<br />
O método fenomenológico nos ajuda a refletir sobre o<br />
mal não a partir de uma teoria explicativa ou de um mito sobre<br />
a origem do mal, nem mesmo a partir da afirmação da<br />
bondade de Deus e da maldade humana. A partir desse método<br />
começa-se a ouvir as narrações de vida, os gritos de sofrimento,<br />
os suspiros de dor, a monotonia da vida cotidiana<br />
com sua intensidade própria. A partir daí “o mal” plural torna-se<br />
males concretos, sofrimentos presentes em rostos concretos<br />
e diversos, muitos dos quais acentuados pela própria<br />
condição feminina numa sociedade na qual elas são o “segundo<br />
sexo”. Os diferentes males vêm não apenas da condi-<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 183
ção de classe ou da condição étnica, mas da condição marcada<br />
por uma biologia cultural hierarquizada ou por uma<br />
antropologia sexista. Há um entrecruzamento de percepções,<br />
de dados e de análises que nos fazem sair das generalizações,<br />
às quais nos habituamos. O método fenomenológico convida-nos<br />
a voltar de novo às experiências comuns antes de<br />
analisá-las, convida-nos a um despojamento teórico para,<br />
em primeiro lugar, concentrar nossa atenção na nudez dos<br />
acontecimentos cotidianos e das narrativas que são feitas a<br />
partir deles. Só depois podemos ousar analisá-los, compreendê-los<br />
melhor para tentar evitar que se apoderem negativamente<br />
de nós. No processo analítico do mal feminino, a<br />
mediação de gênero é um instrumental de grande importância,<br />
sobretudo porque nos abre as análises referentes à construção<br />
dos diferentes papéis sociais.<br />
A MEDIAÇÃO HERMENÊUTICA DE<br />
GÊNERO<br />
Quero lembrar que quando falamos de “gênero” estamos<br />
falando do masculino e do feminino na sua relação<br />
social e cultural, na criação e aprendizado de comportamentos<br />
e em sua reprodução. Dizer “homem” ou “mulher” é já<br />
introduzir uma maneira de existir no mundo, uma maneira<br />
própria a cada ser sexuado, fruto da complexa teia de relações<br />
na qual vivemos. Por isso, Pierre Bourdieu falava de<br />
“habitus” no trabalho de socialização contínua das relações<br />
humanas. É esse “hábito” que nos leva a captar o mundo a<br />
partir das divisões dominantes como se elas fossem simplesmente<br />
“naturais”. 3 Uma análise de gênero a partir de uma<br />
perspectiva feminista vai enfatizar a percepção da produção<br />
de desigualdade na relação homem/mulher e mostrar a primazia<br />
do masculino sobre o feminino em nossa sociedade.<br />
Primazia esta que aparece como uma espécie de ideologia<br />
justificadora do tipo de relação existente. Nesse particular é<br />
bom recordar o papel da teologia cristã na reprodução desse<br />
“habitus” de primazia masculina. Basta que nos lembremos<br />
das imagens históricas de Deus e de seus representantes para<br />
captarmos como as relações de gênero funcionam nas construções<br />
dos sentidos religiosos de nossa vida. As produções<br />
3 BOURDIEU, 1995.<br />
teológicas seguem as produções culturais mesmo quando<br />
expressam posturas de “contra-corrente”.<br />
A introdução da mediação de gênero nos abre para<br />
uma nova consideração epistemológica, consideração que<br />
toca o conjunto dos conhecimentos humanos. Em grandes<br />
linhas podemos dizer que:<br />
a) ela nos abre para uma crítica do universalismo das<br />
ciências humanas. Filosofias, psicologias, teologias<br />
referem-se ao humano, mas seu parâmetro para<br />
afirmar o humano é sempre um humano desde o<br />
masculino;<br />
b) convida-nos a superar os dualismos excludentes,<br />
ou seja, os dualismos que, ao se afirmarem, afirmam<br />
sempre o valor maior de um pólo e o valor<br />
menor de outro. É nesse sentido que podemos dizer<br />
que toda epistemologia é uma ética e que toda ética<br />
é igualmente uma epistemologia,<br />
c) leva-nos a valorizar as diferentes perspectivas presentes<br />
em nossa cultura, de forma que certo “relativismo”<br />
cultural passa a ter um caráter positivo.<br />
Esse “relativismo” se refere às diferentes análises de<br />
comportamento segundo os papéis que temos na<br />
sociedade e o lugar social que ocupamos.<br />
d) a partir de uma perspectiva feminista, ela nos ajuda<br />
a recuperar o cotidiano como elemento importante<br />
na historiografia feminina. O cotidiano aqui<br />
se refere não aos “grandes” feitos masculinos<br />
(guerras e conquistas), mas ao combate da sobrevivência,<br />
aos gestos gratuitos que permitem o desabrochar<br />
da vida, se referem igualmente aos<br />
processos educativos e de cuidado com a criação.<br />
e) por fim, a mediação de gênero nos ajuda a criticar<br />
as concepções comuns à sociedade patriarcal daquilo<br />
considerado “natural”, da “natureza”. Nessa<br />
linha, critica igualmente certas oposições, por vezes<br />
“mecânicas”, entre natureza e cultura, esta atribuída<br />
mais aos homens, aquela, às mulheres.<br />
A mediação hermenêutica de gênero se constitui, assim,<br />
num instrumental de análise de grande importância para<br />
a apreensão dos meandros e contradições do mal vivenciado<br />
184 <strong>impulso</strong> nº 27
pelas mulheres. Constitui-se, igualmente, num caminho<br />
analítico para entendermos a “diferença” para além das<br />
hierarquias que a cultura patriarcal nos impôs.<br />
ALGUNS ASPECTOS DA FENOMENOLOGIA<br />
DO MAL FEMININO<br />
Para se falar do mal vivido pelas mulheres ou para<br />
abrir possibilidades para que algumas mulheres expressem<br />
sua própria experiência, considerei alguns critérios. O primeiro<br />
refere-se ao lugar social das mulheres. Privilegiei, na<br />
medida do possível, a experiência das mulheres empobrecidas<br />
e daquelas cuja luta em favor da liberdade em sua múltipla<br />
expressão são significativas para muitas de nós. Em seguida,<br />
busquei organizar as falas em torno do ter, do poder,<br />
do saber e do valer como realidades constitutivas de nossa<br />
vida humana e em torno das quais as experiências de sofrimento<br />
e dor (de mal) se organizam igualmente. 4<br />
As Mulheres e o Mal de Não “Ter”<br />
Sabemos que em todas as sociedades humanas cabe à<br />
mulher a responsabilidade primeira de cuidar e alimentar a<br />
família. Quando se trata de mulheres pobres essa responsabilidade<br />
parece se acentuar. Conseqüentemente o mal de não<br />
ter posses, não ter condições materiais de vida atinge as mulheres<br />
de maneira particular. 5 A sociedade patriarcal na qual<br />
vivemos impõe às mulheres o trabalho doméstico como se<br />
“por natureza” esse trabalho lhes fosse atribuído. Da condição<br />
nutriente do corpo feminino, se pensarmos no aleitamento,<br />
a sociedade lhe atribui como uma “responsabilidade<br />
natural” de não só guardar a prole mas buscar meios para<br />
alimentá-la. E se ela não o faz, a culpabilidade pessoal e social<br />
se manifestam de forma impressionante. A culpabilização<br />
passa a ser um instrumento social de conservação dessa<br />
situação cultural. Os 500 anos de nossa história ilustram de<br />
maneira contundente essa afirmação.<br />
As Mulheres e o Mal de “Não Poder”<br />
Intimamente ligado ao mal de “não ter” está o mal de<br />
“não poder”. Trata-se da falta de poder mudar a situação em<br />
4 Em meu livro, introduzi aspectos de minha própria experiência do mal<br />
como fidelidade a metodologia feminista de não apenas permitir que<br />
“outras” falem de si, mas partilhar igualmente sua própria experiência.<br />
5 Entre outros estudos sobre o peso dos problemas de sobrevivência<br />
sobre os ombros femininos, cf. SOLIDARITÉ CANADA SAHEL, 1999.<br />
que se vive, sobretudo a situação dramática das pessoas que<br />
vivem em situações de pobreza ou de marginalidade. Há um<br />
mal de “não poder” ligado à luta pela sobrevivência, à necessidade<br />
de manter à vida, ao quotidiano doméstico. Beti,<br />
uma mulher da favela da Rocinha, Rio de Janeiro, expressa<br />
bem este “mal-estar” cotidiano: “As mulheres das favelas sofrem<br />
todas dos mesmos problemas. Elas lavam roupa. Quando<br />
têm água, não têm sabão. Quando têm sabão, não têm<br />
água. Elas saem para trabalhar. Elas têm muitos filhos para<br />
educar (...)”. 6 A narração quase monótona desse cotidiano<br />
da sobrevivência doméstica continua revelando os golpes, as<br />
cachaças, as brigas e incompreensões. Esse mal doméstico<br />
aprisiona as mulheres num processo repetitivo de luta pela<br />
sobrevivência e não lhes dá possibilidades de realizar seus sonhos<br />
de autonomia e dignidade. O sofrimento vivido no<br />
mundo doméstico é sem glória e sem recompensa. Permanece<br />
no anonimato social à semelhança do anonimato das<br />
lutas pela sobrevivência.<br />
O mal de “não poder” é vivido igualmente por Isabel<br />
Allende, 7 escritora chilena, diante do leito de morte de sua filha<br />
Paula. Isabel escreve para fugir da angústia e da morte<br />
que expressam bem sua impotência, seu “não poder” diante<br />
da morte eminente da filha. Escrevendo para a filha, ela retoma<br />
as outras mortes pelas quais ela e o povo chileno passaram.<br />
Ela as vive como mulher, na maioria das vezes experimentando<br />
na carne a falta de resposta às suas perguntas.<br />
Aqui não se trata da mesma situação vivida pelas mulheres<br />
pobres e socialmente marginalizadas, mas de perceber como<br />
o peso da responsabilidade feminina em relação ao cuidado<br />
com os enfermos e o sentimento de impotência diante de diferentes<br />
situações guarda sua marca própria.<br />
As Mulheres e a Carência de Valor<br />
Todo ser humano precisa não só ter valor a seus olhos,<br />
mas valer para os outros. Para muitas mulheres, como para<br />
diferentes grupos de marginalizados, o “valer” é um lugar de<br />
crucifixão, pelo simples fato de sentirem que elas não valem.<br />
Trata-se aqui do valor que fundamenta a estrutura constitutiva<br />
de todos os seres humanos. Quando esta relação valora-<br />
6 Cf. O’GORMAN FRANCE & MULHERES da ROCINHA e de SANTA<br />
MARIA, 1984, p. 13.<br />
7 ALLENDE, 1994.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 185
8 A questão da vitimização feminina e do mal “feito” pelas mulheres é trabalhada<br />
em meu livro. 9 PAZ, 1987.<br />
tiva falta ou quando é reduzida a mercadoria, um mal particular<br />
se produz. E quando essa diminuição valorativa ou<br />
objetivação é vivenciada por mulheres prostituídas ou domésticas<br />
a problemática se torna ainda mais grave.<br />
Na sociedade excludente em que vivemos o corpo feminino<br />
torna-se “mercadoria”. Obedece às regras do mercado<br />
e este, à lógica de uma antropologia marcada por uma<br />
valoração hierarquizada dos seres humanos. O corpo feminino<br />
torna-se objeto renovável de prazer, torna-se alvo nas<br />
guerras, alvo de vinganças, estupros e depredações. O corpo<br />
feminino é o corpo da propaganda, do mercado em vista<br />
de um lucro para o benefício de minorias.<br />
Toda a questão é saber qual a concepção de corpo feminino<br />
presente nesses comportamentos capazes de destruir<br />
a auto-estima das mulheres e fazer com que elas acreditem<br />
que seus corpos valem na medida em que servem de gozo ou<br />
força de trabalho aos outros corpos. A questão hoje é também<br />
denunciar os caminhos de reprodução desses diferentes males<br />
que tornam as mulheres vítimas de situações não escolhidas,<br />
devendo assumir responsabilidades pelas conseqüências<br />
sociais da violência social expressa na violência masculina.<br />
A problemática que levanto é extremamente complexa<br />
e apenas assinalo alguns pontos como convite a uma reflexão<br />
mais aprofundada. 8<br />
O Sofrimento das Mulheres em Busca do Saber<br />
ou o Mal de Não Saber<br />
Falar hoje do mal de não saber, quando a escolaridade<br />
feminina torna-se na América Latina maior que a masculina,<br />
parece pouco apropriado. Entretanto, isso não foi assim<br />
no passado e hoje, apesar da escolaridade crescente, a<br />
discriminação em relação ao saber feminino é significativa,<br />
sobretudo nas Igrejas. As fronteiras do saber religioso sempre<br />
foram fortemente delimitadas e protegidas contra a entrada<br />
das mulheres. A misogenia clerical tem uma história de produção<br />
de gravíssimas injustiças contra as mulheres.<br />
Quero nesse particular lembrar uma personagem<br />
paradigmática na América Latina e que precisa ser resgatada<br />
com mais força também pelas mulheres brasileiras.<br />
Trata-se da figura de soror Juana Inês de la Cruz, escritora<br />
e religiosa mexicana do século XVII. É de sua vida que me<br />
inspiro para refletir sobre a luta pelo saber de muitas mulheres.<br />
Trata-se de um saber que lhes foi negado a partir de uma<br />
divisão injusta das tarefas sociais. Hoje, embora nossas conquistas<br />
tenham sido muitas, tal negação continua se mostrando<br />
de diferentes maneiras.<br />
Maria de Asbaje, depois soror Juana Inês, entra na vida<br />
religiosa motivada sobretudo pelo desejo de saber, desejo que<br />
a alimentava e que ela alimentava desde a mais tenra idade. 9<br />
Entrar num convento naquele tempo era uma maneira de enfrentar<br />
o fato de ser “filha natural”, sem dote e sem condições<br />
sociais, mas com uma sede insaciável de saber.<br />
Juana Inês goza de uma situação privilegiada durante<br />
algum tempo, enquanto tem a proteção dos vice-reis da<br />
Espanha, encantados por sua inteligência brilhante. Mas intrigas<br />
e invejas não tardam a chegar. Ela deve renunciar ao<br />
cultivo de seu saber, ao ensino que ministrava, às peças de teatro<br />
juvenil que dirigia, aos poemas que compunha. As autoridades<br />
eclesiásticas responsáveis pela Inquisição na Nova<br />
Espanha, em conivência com as autoridades de seu convento<br />
(mulheres), lhe impõe essa humilhação e esse castigo que a<br />
levarão à morte. Despede-se da vida aos 46 anos, compelida<br />
a reconhecer publicamente o seu pecado: o de ter entrado no<br />
“santuário” de um saber vedado às mulheres, santuário reservado<br />
aos homens e controlado por seu poder.<br />
Juana Inês de la Cruz é expressão da resistência feminina,<br />
da teimosia de conhecer o que lhe é injustamente negado<br />
por um poder que acredita estar executando fielmente<br />
as ordens divinas. Por esta razão é considerada por muitas<br />
teólogas e feministas latino-americanas como a patrona<br />
e inspiradora de suas lutas.<br />
O Mal na Cor da Pele<br />
Nas Américas as mulheres de descendência africana<br />
sofrem de um mal particular. O mal que lhes advém da cor<br />
de sua pele. Esse mal, em parte partilhado com os homens da<br />
mesma cor, assume expressões diversificadas na vida das<br />
mulheres.<br />
186 <strong>impulso</strong> nº 27
Trata-se de uma dor, de um sofrimento de um mal<br />
imposto por uma cultura que estabelece uma hierarquia entre<br />
as pessoas a partir da cor de sua pele. Como se constitui<br />
essa irracionalidade provocadora de tantos males? Por que<br />
existem cores que associamos ao mal ou à maldade e outras<br />
ao bem e à bondade? E por que são as cores dos dominadores<br />
que se aproximam mais das cores que atribuímos à bondade?<br />
São perguntas sem resposta imediata, mas que nos servem<br />
para pensar mais um aspecto da imensa variedade de males<br />
que somos capazes de produzir.<br />
O sofrimento ligado à cor da pele nunca foi considerado<br />
um sofrimento teológico. Isso quer dizer, entre outras<br />
coisas, que as teologias européias nunca assumiram esse sofrimento<br />
como um sofrimento pertinente, como alguma coisa<br />
que merece uma reflexão ética apropriada. Os preconceitos<br />
raciais nunca apareceram como denúncia importante na<br />
maioria dos esforços proféticos cristãos nem como elemento<br />
fundamental na restauração de relações justas.<br />
Foi preciso esperar o século XX para ouvir as vozes que<br />
nos vêm das teologias africanas e das populações de origem<br />
africana das Américas no seu afã de liberdade, de respeito e<br />
reconhecimento. 10<br />
Os movimentos sociais afro-americanos, desde a década<br />
de 60, e os movimentos feministas, um pouco mais tarde,<br />
denunciam a imposição de categorias masculinas e brancas<br />
como critérios de verdade para todos os grupos humanos.<br />
Esses movimentos denunciam a “globalização” da cultura<br />
branca e masculina e toda a ideologia que visa “branquear”<br />
pessoas de origem africana para simplesmente assimilá-las<br />
aos valores brancos.<br />
Essas dores são dores de nosso povo e sobretudo das<br />
mulheres negras, que vivem, desde a cor de sua pele e desde<br />
sua condição feminina, experiências de discriminação<br />
e humilhação. Hoje, um momento novo parece estar<br />
surgindo em diferentes partes do mundo. Desde sua história<br />
passada e presente elas estão buscando caminhos de<br />
saída para terem acesso a iguais oportunidades de vida e de<br />
reconhecimento social.<br />
10 WILLIAMS, 1993.<br />
É dessa forma que, através do ter, do poder, do saber,<br />
do valer e da cor da pele, aparecem relações de desigualdade<br />
e de injustiça. Essas são marcadas não apenas pela exploração<br />
econômica, mas pelas relações sociais e familiares entre<br />
homens e mulheres na maioria das vezes legitimadas pelos<br />
sistemas culturais e religiosos.<br />
ONDE ENCONTRAR CAMINHOS<br />
DE SALVAÇÃO?<br />
Falar da experiência do mal vivida pelas mulheres nos<br />
convida a falar também das experiências de salvação. O<br />
mundo das experiências de sofrimento não é um mundo fechado<br />
em si mesmo. Em meio a experiências de sofrimento<br />
existem experiências de “salvação”, pequenas luzes que resgatam<br />
a humanidade, que ajudam a não esquecer os sonhos<br />
de amor e a esperança de melhores dias. Não existe nenhuma<br />
experiência de mal ou de sofrimento sem uma busca de<br />
saídas, sem a procura de soluções mesmo se apenas provisórias.<br />
Isso faz parte da condição humana, da realidade<br />
“misturada” que somos, dessa mescla de bem e mal que faz<br />
parte de nossa constituição fundamental. Na busca de “salvação”<br />
deparamos com uma antropologia diferente. Já não<br />
pensamos mais no ser humano como bom por natureza nem<br />
mau por natureza. Mas o afirmamos como ambivalente,<br />
como alguém necessariamente vivendo as duas realidades, e<br />
talvez mais do que duas. Por isso até poderíamos falar de um<br />
ser humano “plurivalente” e multidimensional.<br />
É na consciência da precariedade de nossos caminhos<br />
e de sua realidade processual a ser sempre renovada ou recomeçada<br />
que buscamos os sinais de salvação no cotidiano<br />
das mulheres. A salvação deve ser experimentada aqui, agora,<br />
hoje mesmo como um aperitivo sempre renovado de<br />
salvação. Isso não significa que as mudanças estruturais não<br />
devem estar presentes no horizonte das lutas cotidianas. Entretanto,<br />
é preciso resgatar a salvação cotidiana, a alegria cotidiana,<br />
as conquistas cotidianas. É preciso saber que algo diferente<br />
pode nos acontecer, algo que nos sustente na dor ou<br />
que nos faça esquecer momentaneamente o sofrimento intenso<br />
que devora nosso ser. A salvação, assim, não pode ser<br />
reduzida a uma bela utopia, a um futuro que dificilmente se<br />
alcança. Mas a salvação é em primeiro lugar vivida na sua<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 187
expressão mínima: um copo d’água, uma carta de amor, um<br />
telefonema esperado, um amigo que chega, uma boa notícia<br />
inesperada, a conquista provisória de um pedaço de terra, o<br />
sorriso de uma criança. Coisas pequenas, pequenas coisas da<br />
vida cotidiana, capazes de levantar as forças e fazer esperar<br />
de novo. Estas pequenas coisas não excluem as grandes<br />
conquistas de justiça vividas coletivamente pelos diferentes<br />
grupos humanos.<br />
A salvação não é apenas um acontecimento que virá<br />
depois dos momentos de sofrimento. Não é a paz depois de<br />
uma guerra assassina. A salvação é misturada com a cruz<br />
cotidiana e acontece no meio dela.<br />
O cotidiano, lugar ao mesmo tempo de cruz e ressurreição,<br />
testemunha a “mistura” que somos em tudo o que vivemos.<br />
Testemunha a fragilidade das ações de salvação. Não há<br />
salvação para sempre, nem perdição para sempre. A salvação<br />
pode residir em nós durante um tempo e ir-se embora, e é preciso<br />
recomeçar a buscá-la de novo, agora, nesse mesmo instante<br />
em que se foi, seguindo o movimento incessante da vida.<br />
A salvação que as mulheres encontram em sua vida<br />
tem a ver com a afirmação de sua integridade e autonomia.<br />
Tem a ver com as condições mínimas de sobrevivência<br />
digna para elas e suas famílias. Isso nos situa num caminho<br />
alternativo para além dos revanchismos ou do desejo de<br />
vingança em relação aos homens. Trata-se de um combate<br />
de reconhecimento em nós de nossa maneira própria de viver<br />
e de nos relacionarmos. Trata-se igualmente de fazer valer no<br />
plano público, político, social e cultural os valores “considerados”<br />
femininos pela sociedade patriarcal. Nesse sentido sabemos<br />
o quanto os gastos sociais em armamentos e obras faraônicas<br />
comem a maior parte dos orçamentos nacionais. A<br />
indústria da guerra e das inutilidades, indústria masculina, é<br />
a que recebe maior investimento. Entretanto, a educação e a<br />
saúde, o nutrir e o cuidar são os valores menos contemplados<br />
e assistidos. Os novos caminhos de salvação propostos pelos<br />
diferentes grupos de mulheres passam pela afirmação da<br />
simplicidade da vida, pela afirmação de políticas que permitam<br />
a todos os seres e à natureza uma convivência menos<br />
destruidora e portanto mais fraterna, mais sororal e mais<br />
terrenal.<br />
Neste fim de século somos convidadas(os) a exercer<br />
mais nossa imaginação e nossa criatividade, a introduzir novas<br />
análises, novas hermenêuticas para repensar o humano e<br />
seu desejo de felicidade através de caminhos menos excludentes<br />
e menos destrutivos. A análise do mal feminino, mal<br />
“regional” e “global”, a partir de outros referenciais se inscreve<br />
no sonho, sempre renovado das minorias que buscam<br />
novos caminhos de solidariedade, de ternura e reciprocidade.<br />
Celebrar os 500 anos de Brasil significa escrever nossa<br />
história também a partir das relações entre mulheres e homens.<br />
Significa resgatar o nosso passado resgatando a história daquelas<br />
que não entraram na história oficial, mas que hoje começam<br />
a dar passos significativos em vista da criação de novas<br />
relações humanas. “O novo céu, a nova terra e a nova humanidade”<br />
continuam a ser nosso horizonte de fé e de esperança.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ALLENDE, I. Paula. Barcelona: Plaza & Janes, 1994.<br />
Revista de Cultura Vozes, 93 (4), Petrópolis: Vozes, 1999.<br />
BOURDIEU, P. A dominação masculina. Revista de Educação e Realidade, São Paulo, jul./dez.-95.<br />
GEBARA, I. Le mal au féminin. Réflexions théologiques à partir du féminisme. In: L’Harmattan, Paris,1999.<br />
O’GORMAN FRANCE & MULHERES DA ROCINHA E DE SANTA MARIA. Morro Mulher. São Paulo: Paulinas/Fase, 1984.<br />
PAZ, O. Soeur Juana Inés de la Cruz ou Les Pièges de la Foi. Paris: Gallimard, 1987.<br />
SOLIDARITÉ CANADA SAHEL. Le Poids de L’eau: le fardeau des femmes. Montreal, mai./99.<br />
WILLIAMS, D.S. Sisters in Wilderness, the Challenge of Womanist God-Talk. New York: Orbis Books, 1993.<br />
188 <strong>impulso</strong> nº 27
JORNALISMO NO BRASIL:<br />
olhar e ação da academia<br />
JOURNALISM IN BRAZIL: the perspective<br />
and action of the academy<br />
Apesquisa sobre os fenômenos jornalísticos no Brasil remonta à segunda<br />
metade do século XIX. A preocupação inicial não está centrada<br />
nos processos noticiosos, porém nos seus meios de difusão,<br />
mais precisamente na tecnologia de impressão de livros, jornais e<br />
revista.<br />
Embora estabelecida tardiamente em território brasileiro (mais de<br />
três séculos nos separam da inovação gutenbergiana), a imprensa<br />
aqui se desenvolve a partir da chegada da Corte de d. João VI, em 1808. Na verdade, os seus<br />
primeiros momentos são tímidos, porque controlados pela censura real, destinando-se a<br />
reproduzir informações e documentos de governo.<br />
As publicações que experimentam o sabor da liberdade surgem justamente no vazio<br />
jurídico instaurado em Portugal, quando as tropas napoleônicas são expulsas e os revolucionários<br />
do Porto derrubam a censura prévia. Os precursores da nossa Independência não<br />
hesitam em aplicar aquilo que contemporaneamente chamaríamos a “estratégia das brechas”,<br />
ou seja, editam jornais sem pedir licença às autoridades. 1<br />
Mas é sem dúvida durante o Segundo Reinado que a imprensa vive seu melhor período<br />
de liberdade, garantido pela sabedoria de Pedro II. Em meio a esse ambiente de conciliação<br />
das elites nacionais, os Institutos Históricos começam a resgatar precocemente a<br />
trajetória do nosso jornalismo. E despertam polêmicas que conquistariam os corações e<br />
mentes dos nossos intelectuais, ao enaltecer o “pionierismo” dos holandeses na introdução<br />
da imprensa em terras brasileiras, contrastando com o “atraso” dos portugueses, que a<br />
proíbem e reprimem.<br />
Persistia a tese de que a primeira impressora a operar no Brasil fora trazida por<br />
Nassau, da qual dava testemunho o folheto Brasilche Gelt-Sack, datado de 1645 e publicado<br />
no Recife. Os historiadores pernambucanos deixaram de lado as especulações e foram<br />
buscar evidências empíricas.<br />
As pesquisas se concentraram em arquivos brasileiros e holandeses, produzindo resultados<br />
que negariam a hipótese dominante. A iniciativa de Nassau não fora consumada,<br />
por razões fortuitas, e os impressos supostamente recifenses haviam sido reproduzidos em<br />
1 MARQUES DE MELO, 1973.<br />
JOSÉ MARQUES DE MELO<br />
Titular da Cátedra Unesco de<br />
Comunicação para o<br />
Desenvolvimento Regional<br />
na Umesp. Professor titular de<br />
Jornalismo na USP e<br />
presidente da Lusocom (Federação<br />
Lusófona de Ciências da<br />
Comunicação)<br />
marques@metodista.br<br />
Embora estabelecida<br />
tardiamente em<br />
território brasileiro, a<br />
imprensa aqui se<br />
desenvolve a partir<br />
da chegada da<br />
Corte de d. João VI<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 189
gráficas européias. Dão conta desses fatos, ensaios escritos<br />
pelos historiadores José Higino Duarte (1883) e Alfredo de<br />
Carvalho (1899).<br />
Depois desses estudos pioneiros sobre a implantação<br />
da tipografia, os historiadores tomam gosto e ajudam a reconstituir<br />
uma história da nossa imprensa. São motivados, a<br />
seguir, por efemérides nacionais, começando pelo duplo centenário:<br />
a criação da Imprensa Régia e o lançamento do nosso<br />
primeiro jornal independente, o Correio Braziliense, de<br />
Hipólito José da Costa.<br />
Em 1908, Alfredo de Carvalho publica a monografia<br />
“Gênese e Progressos da Imprensa Periódica no Brasil”, suplementada<br />
por um alentado catálogo dos jornais e revistas,<br />
que circularam nos últimos cem anos. Trata-se de uma fonte<br />
de referência fundamental, que orientaria os passos de outros<br />
historiadores. Entre eles, Max Fleiuss, autor de um dos primeiros<br />
state of art da pesquisa histórica sobre jornalismo,<br />
cujo texto aparece em 1922, durante as comemorações do<br />
centenário do Independência. 2<br />
Rigorosamente, tais estudos ainda não enfocam o jornalismo<br />
como objeto definido. Eles tratam da imprensa e dos<br />
seus produtos, mencionando marginalmente os processos<br />
sociopolíticos que dão fisionomia peculiar à comunicação de<br />
atualidades.<br />
Quem estabelece essa fronteira é o jovem Barbosa<br />
Lima Sobrinho, quando, em 1923, publica um livro que nasce<br />
clássico – O problema da imprensa. 3 Valendo-se da experiência<br />
profissional como jornalista e da metodologia de<br />
análise aprendida no âmbito da ciência jurídica, sem deixar<br />
de recorrer também à ciência histórica, ele desenha um perfil<br />
do desenvolvimento do jornalismo na sociedade industrial e<br />
dos impasses enfrentados no Brasil.<br />
Seu “gancho” é o projeto de lei de imprensa do senador<br />
paulista Adolfo Gordo, tramitando no Congresso Nacional.<br />
Em torno desse “problema”, ele constrói uma análise<br />
multidisciplinar do fenômeno jornalístico na sociedade brasileira.<br />
Oferece parâmetros que se revelariam consistentes e<br />
lançaria as bases de uma nova disciplina acadêmica. O jornalismo<br />
deixava de ser simples “ofício”, reproduzindo-se<br />
pela legado transmitido no “batente” de geração a geração.<br />
Converte-se em “praxis”, ou melhor, em conhecimento socialmente<br />
utilitário, produto da observação sistemática e da reflexão<br />
crítica de produtores qualificados.<br />
No entanto, a imprensa e o jornalismo continuariam a<br />
despertar o interesse dos pesquisadores das humanidades<br />
(história e direito), assim como daqueles pioneiros das ciências<br />
sociais no Brasil. Gilberto Freyre, por exemplo, recorre à<br />
imprensa para elaborar um retrato da sociedade patriarcal<br />
brasileira, buscando nos anúncios de jornais elementos suscetíveis<br />
de interpretação sociológica e antropológica. Seu livro de<br />
estréia – Casa-Grande & Senzala (1933) – representa uma<br />
inovação metodológica, ao pesquisar em fontes heterodoxas.<br />
Ao mesmo tempo, abre picadas para os estudiosos do jornalismo,<br />
descortinando as metodologias comparativas. 4<br />
Todas essas contribuições pioneiras encontrariam<br />
ambiente fértil nas nascentes escolas de jornalismo, incorporadas<br />
à universidade brasileira no final dos anos 40. Tanto<br />
em São Paulo (Cásper Líbero) quanto no Rio de Janeiro<br />
(UFRJ) se formariam grupos de estudiosos responsáveis pelas<br />
primeiras obras que analisam sistematicamente fenômenos<br />
do jornalismo contemporâneo. Pertencem a essa geração<br />
Carlos Rizzini, Danton Jobim, Pompeu de Souza, Celso Kelly,<br />
Marcelo de Ipanema, Freitas Nobre etc.<br />
Fora do eixo Rio-São Paulo apareceria, uma década<br />
depois, corrente inovadora, cuja influência se ampliaria para<br />
todo o País. Trata-se da equipe aglutinada em torno de Luiz<br />
Beltrão, fundador do Instituto de Ciências da Informação da<br />
Universidade Católica de Pernambuco e da revista Comunicações<br />
& Problemas, primeiro periódico acadêmico nacional<br />
dedicado às ciências da comunicação.<br />
Do Recife, Beltrão transfere-se para a Universidade de<br />
Brasília, onde dirige a Faculdade de Comunicação idealizada<br />
por Pompeu de Souza, criando o primeiro núcleo regular de<br />
pesquisa em comunicação. As teses de doutorado e mestrado<br />
ali defendidas precocemente no final dos anos 60 constituem<br />
os primeiros produtos de uma pesquisa do jornalismo em<br />
processo de legitimação acadêmica. 5<br />
2 MARQUES DE MELO, 1984.<br />
3 BARBOSA LIMA SOBRINHO, 1988.<br />
4 MARQUES DE MELO, 1972.<br />
5 MARQUES DE MELO, 1974.<br />
190 <strong>impulso</strong> nº 27
Quase ao mesmo tempo, dois outros movimentos fortalecem<br />
a pesquisa do jornalismo, quer nas empresas, quer<br />
nas universidades.<br />
De um lado, o Jornal do Brasil cria uma publicação<br />
especializada – Cadernos de Jornalismo – dirigida por Alberto<br />
Dines, cuja importância reside na divulgação de pesquisas<br />
jornalísticas feitas nos Estados Unidos e na Europa, além<br />
de estimular a reflexão crítica dos jornalistas da própria empresa,<br />
que sistematizam suas experiências e as submetem ao<br />
crivo da comunidade profissional. O modelo JB de jornalismo<br />
se reproduz em todo o País, disseminado pela referida revista,<br />
lida e discutida nas redações dos jornais regionais e também<br />
pelos jovens que estudam jornalismo na universidade.<br />
De outro lado, a Universidade de São Paulo cria na<br />
sua Escola de Comunicações e Artes o primeiro Departamento<br />
de Jornalismo a ter uma equipe de docentes contratados<br />
em tempo integral. Dessa maneira, podem se dedicar regularmente<br />
aos estudos bibliográficos, à pesquisa empírica e à<br />
experimentação em laboratórios.<br />
Emerge então o primeiro grupo de doutores em jornalismo<br />
do País, formando equipes de pesquisa e pós-graduação<br />
que formariam a primeira geração de professores titulados<br />
na própria disciplina. Hoje eles se espalham por quase<br />
todas as universidades brasileiras e dão continuidade a estudos<br />
cujos paradigmas se originaram na USP. Durante os<br />
anos 70 e 80, os principais cursos de jornalismo do Brasil tomariam<br />
o padrão USP como fonte de referência pedagógica e<br />
científica. 6<br />
Só nos anos 90 surgem espaços alternativos que disputam<br />
a hegemonia uspiana. 7 Destacam-se a PUC-Famecos<br />
(Faculdade dos Meios de Comunicação Social), da Pontifícia<br />
Universidade do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a UFSC<br />
(Universidade Federal de Santa Catarina), em Florianópolis.<br />
A primeira caracteriza-se pela sintonia com as demandas do<br />
mercado de trabalho, mantendo permanente diálogo com as<br />
empresas midiáticas regionais. A segunda pretende ser um<br />
núcleo de vanguarda, mais afinado com as teses do sindicalismo<br />
jornalístico. Nos dois casos, tem havido empenho na<br />
6 Idem, 1991.<br />
7 Idem, 1995.<br />
formação e reciclagem do corpo docente, cujas conseqüências<br />
repercutirão em projetos de pesquisas que esses jovens<br />
doutores começam a desenvolver e a publicar.<br />
Na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais<br />
ressurge com força a escola que nasceu, em Belo Horizonte,<br />
nos anos 70, com um perfil inovador. Liderada por Lelio Fabiano<br />
dos Santos ela enfatizou inicialmente o jornalismo comunitário.<br />
Hoje, aproxima-se criticamente do jornalismo industrial,<br />
experimentando formas de expressão que valorizam<br />
os atores da sociedade civil, mas dialogam com as lideranças<br />
do empresariado e do governo. Sua mais ousada iniciativa<br />
tem sido a edição de páginas semanais produzidas em laboratórios<br />
didáticos para serem encartadas nos jornais diários<br />
da capital mineira.<br />
Perfil semelhante pode ser atribuído à Faculdade de<br />
Comunicação Social da Universidade Católica de Santos, São<br />
Paulo, que combina os procedimentos hegemônicos no mercado<br />
com as metodologias peculiares aos movimentos sociais<br />
protagonizados nas periferias urbanas. Sua experiência de<br />
jornais-murais criados pelos estudantes e veiculados semanalmente<br />
nos morros da cidade rompeu o isolamento da<br />
universidade em relação à comunidade, motivando as novas<br />
gerações de jornalistas a produzir informações não burocráticas,<br />
referenciadas pela cidadania em movimento.<br />
Trajetória singular perfilou a Faculdade de Comunicação<br />
da Universidade de Brasília. Seu curso de jornalismo<br />
fora esboçado por Pompeu de Souza e estruturado por Luiz<br />
Beltrão, nos idos de 60, mas definhara nas décadas seguintes,<br />
refletindo a crise institucional que se abatera sobre a universidade,<br />
durante o regime militar. A ênfase recente no jornalismo<br />
político, ancorada na colaboração de jornalistas competentes<br />
como Carlos Chagas, permitiu-lhe recuperar o tempo<br />
perdido. Da mesma forma, a atuação de novas lideranças<br />
como o diretor Murilo Cesar Ramos e de jovens doutores<br />
como Luiz Martins e Lavina Madeira vem dinamizando a<br />
pesquisa dos fenômenos jornalísticos na pós-graduação, de<br />
modo a propiciar estudos significativos.<br />
Igual ressurgimento operou-se na paulistana Faculdade<br />
Cásper Líbero. Vivendo das glórias do seu pioneirismo,<br />
essa escola trilhou o caminho da decadência, nas décadas de<br />
70 e 80, produto das turbulências políticas e das dificuldades<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 191
econômicas enfrentadas pela Fundação a que está vinculada,<br />
mas também do envelhecimento e mediocrização do seu<br />
corpo docente. Contudo, no último qüinqüênio, o corpo docente<br />
do curso de jornalismo se rejuvenesceu, incorporando<br />
profissionais do mercado, atuantes e entusiasmados, que<br />
agilizaram e reformularam os veículos laboratoriais. Além<br />
disso, os projetos experimentais dos alunos concluintes passaram<br />
a privilegiar objetos concretos, convertendo-se em<br />
exercícios ousados e inovadores de novos formatos jornalísticos.<br />
Dessa forma, a Cásper Líbero reconquistou prestígio local<br />
e liderança nacional.<br />
O caso da Universidade Estadual de Campinas é paradigmático.<br />
Cria-se ali um Laboratório de Estudos Avançados<br />
em Jornalismo, cuja meta é diagnosticar os fenômenos<br />
informativos, formando jornalistas pós-graduados. 8 Para<br />
tanto, criou um curso de especialização em Jornalismo Científico,<br />
subsidiado com recursos do Pronex-CNPq, ensejando<br />
também pesquisas sobre a difusão científica na mídia brasileira.<br />
Contudo, seu projeto mais arrojado tem sido o Observatório<br />
da Imprensa, um laboratório de crítica midiática, dirigido<br />
por Alberto Dines e veiculado pela internet, através do<br />
Universo On Line (UOL), com a finalidade de avaliar as tendências<br />
do nosso jornalismo. Ademais de exercitar criativamente<br />
o jornalismo investigativo, inovou no campo do jornalismo<br />
digital, mobilizando várias universidades para desenvolver<br />
projetos semelhantes.<br />
Por sua vez, a Universidade Metodista de São Paulo,<br />
em São Bernardo do Campo, ocupa um lugar de destaque<br />
nesse panorama. Sua marca distintiva tem sido a veiculação<br />
de um jornal editado semanalmente pelos estudantes e professores<br />
do curso de jornalismo para servir à comunidade local.<br />
Trata-se de um espaço de pesquisa e aprendizagem de<br />
linguagens, estratégias e formatos jornalísticos, preservado<br />
ininterruptamente ao longo de duas décadas. Paralelamente,<br />
mantém desde 1978, um programa de estudos de pós-graduação,<br />
inicialmente orientado para estudar os fenômenos<br />
do jornalismo não-hegemônico e da mídia alternativa. Conhecido<br />
nacionalmente como Grupo Comunicacional de São<br />
Bernardo, 9 essa equipe instituiu, a partir de 1994, uma linha<br />
8 MARQUES DE MELO, 1997b.<br />
9 Idem, 1999.<br />
de pesquisa sobre a estrutura da indústria da comunicação,<br />
privilegiando as empresas infomativas, os jornalistas e os pesquisadores<br />
do jornalismo. Sua ênfase está no resgate da memória<br />
institucional e nas histórias de vida dos seus protagonistas.<br />
10 Mas não se pode deixar de considerar as transformações<br />
experimentadas pela própria Universidade de São Paulo,<br />
cujo Departamento de Jornalismo continua a ser o principal<br />
foco dos estudos e reflexões brasileiras sobre a comunicação<br />
de atualidades, sobretudo a partir dos seus programas<br />
de mestrado e doutorado. Eles são responsáveis pela<br />
formação de um contingente significativo dos professores dos<br />
cursos de jornalismo que atuam em universidades de todo o<br />
País. 11 Professores-jornalistas, reconhecidos pela profissão e<br />
legitimados pela academia, como Cremilda Medina, Bernardo<br />
Kucinski, Laurindo Leal Filho, Manuel Carlos Chaparro,<br />
entre outros, dão continuidade ao trabalho iniciado pelos<br />
fundadores Flávio Galvão, Freitas Nobre, Juarez Bahia, Thomas<br />
Farkas, Gaudencio Torquato etc.<br />
Outros núcleos, em outras regiões brasileiras, despontam<br />
como produtores potenciais de novo conhecimento jornalístico<br />
ou como formadores de novas equipes profissionais,<br />
academicamente embasadas. O novo século se inicia contabilizando<br />
128 cursos de jornalismo em todo o território nacional.<br />
Trata-se de uma expansão vertiginosa, se considerarmos<br />
que na década de 50 do século XX havia apenas oito instituições<br />
brasileiras dedicadas ao ensino e à pesquisa jornalística.<br />
Essa pluralidade de linhas de pesquisa e de opções didático-pedagógicas<br />
converte a pesquisa brasileira sobre jornalismo<br />
em atividade promissora, completando a sua legitimação<br />
acadêmica e o seu reconhecimento pelas corporações<br />
empresarial e sindical. O lugar onde vem se dando essa convergência<br />
é a reunião anual da Intercom (Sociedade Brasileira<br />
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação) 12 – cujo<br />
GT de Jornalismo acolhe os mais importantes estudos e pesquisas<br />
em desenvolvimento nas universidades. 13 A ele junta<br />
agora o novo GT de Jornalismo criado no âmbito da Associa-<br />
10 Idem, 1997a.<br />
11 Idem,1998.<br />
12 Idem, 1994.<br />
13 BOTÃO, 1999.<br />
192 <strong>impulso</strong> nº 27
ção Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação<br />
(Compós).<br />
Ao completar 20 anos de existência, a Intercom pretendeu<br />
inventariar a produção científica em cada uma das<br />
disciplinas que integram o seu universo acadêmico. O debate<br />
que se deu em Santos, em 1997, representou a oportunidade<br />
para avaliar o grau de maturidade conquistado pela pesquisa<br />
dos fenômenos jornalísticos, seja em plano nacional, seja nos<br />
entornos europeu e americano. Os resultados desse diagnóstico,<br />
incorporados ao livro 20 anos de Ciências da Comunicação<br />
no Brasil: o papel da Intercom, organizado por<br />
Maria Immacolata Lopes, constituem um convite à reflexão<br />
sobre os avanços logrados pelos investigadores brasileiros do<br />
jornalismo e suas pautas de trabalho para o corrente decênio.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ANUÁRIO BRASILEIRO DA PESQUISA EM JORNALISMO, 1 e 2, São Paulo: ECA-USP, 1992/1993.<br />
BARBOSA LIMA SOBRINHO. O Problema da Imprensa. 2.a ed. São Paulo: Edusp, 1988.<br />
BOTÃO, P.R. A pesquisa em jornalismo no Brasil: a contribuição da Intercom. In: LOPES, M.I.V. Vinte anos de Ciências da<br />
Comunicação no Brasil. São Paulo: Intercom/Unisanta, 1999.<br />
DINES, A.; MARQUES DE MELO, J. & VOGT, C. A Imprensa em Questão. Campinas: Editora da Unicamp, 1997.<br />
GENRO, A. O Segredo da Pirâmide – para uma teoria marxista do jornalismo. Porto Alegre: Tchê, 1987.<br />
GOLDSTEIN, G.T. A pesquisa sobre jornalismo impresso. In: MARQUES DE MELO, J. (org.), Pesquisa em Comunicação no<br />
Brasil: tendências e perspectivas. São Paulo: Cortez/Intercom, 1983.<br />
GOMES, P.G. Referencial teórico: jornalismo, jornalismo popular, jornalismo católico. In: O Jornalismo Alternativo no Projeto<br />
Popular. São Paulo: Paulinas, 1990.<br />
LINS DA SILVA, C.E. O Adiantado da Hora – a influência americana sobre o jornalismo brasileiro. São Paulo: Summus, 1991.<br />
LOPES, D.F. et al. A Evolução do Jornalismo em São Paulo: São Paulo: Edicon/ECA-USP, 1996.<br />
MARQUES DE MELO, J. Comunicação e Modernidade – o ensino e a pesquisa nas escolas de comunicação. São Paulo:<br />
Loyola, 1991.<br />
________. Contribuições para uma Pedagogia da Comunicação. São Paulo: Paulinas, 1974.<br />
________. Ensino de Jornalismo na América Latina: singularidades do modelo brasileiro. Paper apresentado ao I Congresso<br />
Latino-americano de Periodismo. Panamá: Celap, 1997a.<br />
________. Estudos Avançados em Jornalismo. Estratégias da Unicamp, Rua – Revista do Nudecri. Campinas: Unicamp.<br />
Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, 1997b, n.o 3.<br />
________. Estudos de Jornalismo Comparado. São Paulo: Pioneira, 1972.<br />
________. Estudos de Mídia no Brasil: identidades & fronteiras. Comunicação & Sociedade. São Bernardo do Campo:<br />
Umesp, 30: 9-50, 1998.<br />
________. Fontes para o Estudo da Comunicação. São Paulo: Intercom, 1995.<br />
________. O Grupo Comunicacional de São Bernardo: idéias hegemônicas e perfil sociográfico. Revista Brasileira de Ciências<br />
da Comunicação, São Paulo: Intercom, 22 (1): 57-68, 1999.<br />
________. Sociologia da Imprensa Brasileira. Petrópolis: Vozes, 1973.<br />
________. Inventário da Pesquisa em Comunicação no Brasil: 1883-1983. São Paulo: Intercom, 1984.<br />
________. Transformações do Jornalismo Brasileiro: ética e técnica. São Paulo: Intercom, 1994.<br />
MARQUES DE MELO, J. & GALVÃO, W. (orgs.). Jornalismo no Brasil Contemporâneo. São Paulo: ECA-USP, 1984.<br />
MEDITSCH, E. O conhecimento do jornalismo. Florianópolis: UFSC, 1992.<br />
<strong>impulso</strong> nº 27 193
RUBIM, A.A.C. A pesquisa sobre imprensa proletária. In: MARQUES DE MELO, J. (org.). Pesquisa em Comunicação no Brasil:<br />
tendências e pespectivas. São Paulo: Cortez/Intercom, 1983.<br />
TRAVANCAS, I. Os habitantes das redações. In: O Mundo dos Jornalistas. São Paulo: Summus, 1992.<br />
194 <strong>impulso</strong> nº 27