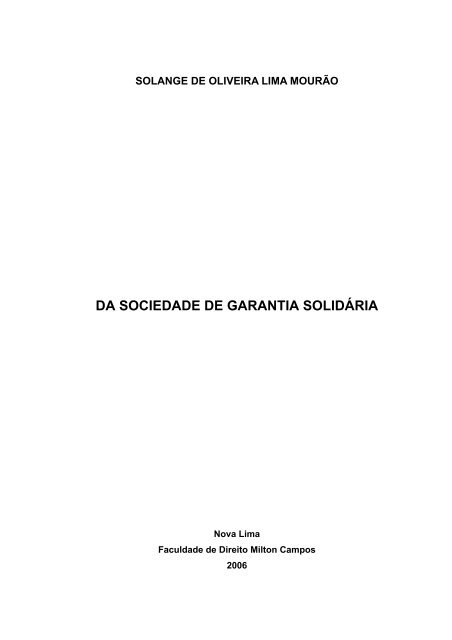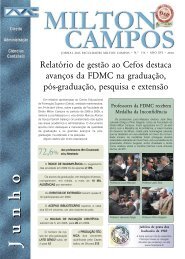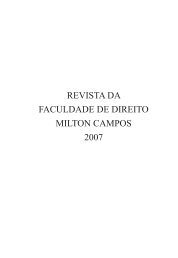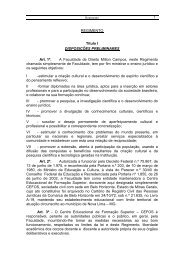DA SOCIEDADE DE GARANTIA SOLIDÃRIA - Milton Campos
DA SOCIEDADE DE GARANTIA SOLIDÃRIA - Milton Campos
DA SOCIEDADE DE GARANTIA SOLIDÃRIA - Milton Campos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1<br />
SOLANGE <strong>DE</strong> OLIVEIRA LIMA MOURÃO<br />
<strong>DA</strong> SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> SOLIDÁRIA<br />
Nova Lima<br />
Faculdade de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong><br />
2006
2<br />
SOLANGE <strong>DE</strong> OLIVEIRA LIMA MOURÃO<br />
<strong>DA</strong> SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> SOLIDÁRIA<br />
Dissertação apresentada ao Curso de<br />
Mestrado em Direito Empresarial da<br />
Faculdade de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>,<br />
como requisito parcial para a obtenção<br />
do título de Mestre em Direito.<br />
Área de concentração: Direito<br />
Empresarial<br />
Orientador: Professor Doutor Vinicius<br />
Jose Marques Gontijo<br />
Nova Lima<br />
Faculdade de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong><br />
2006
3<br />
FACUL<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> DIREITO MILTON CAMPOS<br />
CURSO <strong>DE</strong> PÓS-GRADUAÇÃO<br />
Dissertação intitulada <strong>DA</strong> SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> SOLIDÁRIA, de autoria de<br />
Solange de Oliveira Lima Mourão, analisada pela Banca Examinadora constituída<br />
pelos seguintes professores:<br />
_____________________________________________________________________<br />
Professor Doutor Vinicius Jose Marques Gontijo – Orientador<br />
_____________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
Nova Lima _____ de __________________ de 200
Ao meu pai e à minha mãe,<br />
Altamiro e Irene,<br />
por me ensinarem, desde pequena,<br />
o amor ao trabalho, à verdade e à justiça.<br />
4
5<br />
AGRA<strong>DE</strong>CIMENTOS<br />
Ao Prof. Dr. Vinicius Jose Marques Gontijo, por sua competência, dedicação,<br />
grandeza e simplicidade e, ainda, pelo privilégio de tê-lo como orientador.<br />
À Profa. Dra.Glória Maria de Pádua Moreira, pelo apoio e incentivo, além de suas<br />
valiosas orientações quanto à metodologia.<br />
Aos professores e colegas do Mestrado e a todos os que, direta ou indiretamente,<br />
contribuíram para a realização deste trabalho.<br />
Aos funcionários das Faculdades <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>, pela eficiência e prontidão.<br />
À minha família, pela paciência e incentivo, pelo apoio e amor incondicionais.<br />
A Deus, razão primeira de minha vida, por me cercar de tantas pessoas<br />
maravilhosas!
6<br />
Se a economia fosse uma genuína ciência social, os economistas<br />
teriam descoberto que o crédito é uma poderosa arma sócio-económica.<br />
Teriam reconhecido a necessidade de promover o crédito como um direito humano,<br />
e teriam desenvolvido um sistema que garantisse esse direito a todas as pessoas.<br />
Como cientistas sociais, os economistas teriam detectado<br />
a forma como o crédito confere à sociedade uma estrutura particular, ou,<br />
pelo menos, como o crédito podia ter evitado uma estrutura social indesejável.<br />
YUNUS, Muhammad. O banqueiro dos pobres, p. 313-314.
7<br />
RESUMO<br />
Neste trabalho analisa-se o instituto da Sociedade de Garantia Solidária (SGS),<br />
numa tentativa de conhecer melhor a respeito das causas que levaram à sua<br />
criação, dos objetivos de sua constituição, da sua estrutura jurídica e dos efeitos de<br />
sua implementação. Tal sociedade já existe em vários países e foi introduzida em<br />
nosso ordenamento jurídico com o objetivo de conceder garantia aos seus sócios<br />
participantes: microempresas e pequenas empresas. Surgiu da dificuldade, ou da<br />
impossibilidade, de microempresas e pequenas empresas oferecerem as garantias<br />
exigidas pelo sistema financeiro quando de suas necessidades de financiamento.<br />
Por meio deste trabalho procura-se entender os aspectos sociológico e filosófico que<br />
fundamentam sua criação; os aspectos históricos e econômicos que justificam seus<br />
objetivos e, principalmente, as normas legais que dão o suporte jurídico para sua<br />
implementação e alcance de seus objetivos. Analisar tal instituto sob esses vários<br />
aspectos permite melhor entendê-lo, eis que foi criado a partir da necessidade de um<br />
segmento social – micros e pequenas empresas – para atender às suas dificuldades<br />
econômicas, o que exigiu uma solução jurídica: a Sociedade de Garantia Solidária.<br />
Compõem o seu quadro social sócios participantes e sócios investidores, sendo<br />
estabelecidas, com cada categoria de sócios, relações diferentes mediante<br />
verdadeira engenharia jurídica e financeira: Aos sócios participantes –<br />
exclusivamente microempresas e pequenas empresas – são concedidas garantias<br />
para permitir seu acesso ao crédito, enquanto aos sócios investidores – quaisquer<br />
pessoas naturais ou jurídicas – são distribuídos os lucros. Para aqueles, sua<br />
finalidade é social, funcionando como uma cooperativa; para estes, o objetivo é<br />
lucrativo, atuando como uma verdadeira sociedade de capitais. E nessa sociedade<br />
híbrida os opostos se juntam e se solidarizam, atingindo cada categoria de sócios os<br />
seus objetivos e trazendo benefícios a toda a sociedade.
8<br />
ABSTRACT<br />
This work consits of Sociedade de Garantia Solidaria (SGS) institute analisys, in an<br />
attempt to get to know better its very foundations, its creation, the objective of its<br />
constitutions, its law based structure and the effects of its implementation. Such<br />
society already exists in other countries and it had been introduced in our Law<br />
System with the objective of guaranteeing our "active partners": micro or small<br />
businesses. It was originated from either the impossibility or difficulty, that such<br />
busnisses would offer the guarantees required by the financial system throughout its<br />
financial needs. Thus, through this work we try to understand both phylosophical and<br />
sociological aspects which its very creation is based upon; the historical and<br />
economical aspects that justify its objectives, and mainly, the legal matters which<br />
give support to its implemantation and help us reach its objective. Analysing such<br />
institute under these aspects gives us an overview, being this created from a<br />
necessity of a social segment to answer to its financial needs, which required a Law<br />
based solution: Sociedade de Garantia Solidaria. Its Board is composed of "The<br />
Participants Partners and Sponsors Partners" being stablished in each partnership<br />
segment different relations through a truly financial and law network. To the<br />
aprticipants partners –micro and small businesses –guarantee is granted so that they<br />
have free access to credit, and to the sponsors partners the profits are shared among<br />
them. To the former, this is a social aim, wprking as coorporation, to the latter, its<br />
objective is merely profitable, acting a sapitalist machine. And in this hibrid society,<br />
bothe sides get together as one, each and everyone in its own purpose so that only<br />
society wins.
9<br />
LISTA <strong>DE</strong> ABREVIATURAS<br />
CCB –<br />
CR –<br />
EPP –<br />
ME –<br />
PL –<br />
PLC –<br />
PLS –<br />
S.A. –<br />
SGM –<br />
SGS –<br />
SGR –<br />
Código Civil Brasileiro<br />
Constituição da República<br />
Empresa de pequeno porte<br />
Microempresa<br />
Projeto de Lei<br />
Projeto de Lei (originário da) Câmara<br />
Projeto de Lei (originário do) Senado<br />
Sociedade Anônima<br />
Sociedade de Garantia Mútua<br />
Sociedade de Garantia Solidária<br />
Sociedade de Garantia Recíproca
10<br />
SUMÁRIO<br />
1 INTRODUÇÃO.................................................................................................<br />
11<br />
2 <strong>DA</strong> INTERAÇÃO SOCIAL E <strong>DA</strong> AÇÃO DO DIREITO....................................<br />
2.1 Da sociedade................................................................................................<br />
2.2 Da formação dos grupos sociais...............................................................<br />
2.3 Das formas de interação social: competição, cooperação e conflito....<br />
2.4 Da solidariedade..........................................................................................<br />
2.5 Da anomia jurídica em relação às atividades econômicas......................<br />
2.6 Do solidarismo: responsabilidade dos grupos sociais pela<br />
hegemonia do processo histórico..............................................................<br />
15<br />
15<br />
16<br />
17<br />
19<br />
23<br />
25<br />
3 <strong>DA</strong> SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> MÚTUA – BREVES INCURSÕES NA<br />
EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL ..................................................................<br />
29<br />
4 <strong>DA</strong> SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> SOLIDÁRIA...............................................<br />
4.1 Do comando constitucional........................................................................<br />
4.2 Da introdução das Sociedades de Garantia Solidária (SGS) no Brasil..<br />
4.3 Da regulamentação das Sociedades de Garantia Solidária....................<br />
4.4 Da securitização..........................................................................................<br />
4.5 Importantes mecanismos retirados do projeto de lei da SGS................<br />
4.5.1 Outros objetos sociais.............................................................................<br />
4.5.2 Exclusão do tratamento tributário diferenciado....................................<br />
34<br />
35<br />
36<br />
38<br />
43<br />
46<br />
46<br />
48<br />
5 SGS: SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> COOPERATIVA OU ANÔNIMA?....................................<br />
5.1 Da forma de constituição e estrutura organizacional .............................<br />
5.2 Do objeto social...........................................................................................<br />
5.3 SGS: objetivo de lucro e/ou finalidade social?........................................<br />
5.4 Da constituição de fundo de reserva e do fundo de risco ......................<br />
5.5 Dos sócios da SGS: participantes e investidores....................................<br />
50<br />
52<br />
54<br />
56<br />
59<br />
61
11<br />
5.6 Da participação societária: transferibilidade versus<br />
intransferibilidade........................................................................................<br />
5.7 Dos elementos convergentes e divergentes: SGS versus sociedades<br />
cooperativas e anônimas ...........................................................................<br />
65<br />
66<br />
6 CONCLUSÃO...................................................................................................<br />
71<br />
REFERÊNCIAS..................................................................................................<br />
76<br />
ANEXOS.............................................................................................................<br />
Anexo A – PROJETO <strong>DE</strong> LEI N. 1.830, de 1996...............................................<br />
Anexo B – LEI N. 9.841, <strong>DE</strong> 5 <strong>DE</strong> OUTUBRO <strong>DE</strong> 1999...................................<br />
Anexo C – LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA AS SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong>S <strong>DE</strong><br />
<strong>GARANTIA</strong> MÚTUA EM PORTUGAL............................................<br />
79<br />
79<br />
86<br />
95
11<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
O tema “Sociedade de Garantia Solidária (SGS)” despertou nosso interesse<br />
por se apresentar como solução jurídica para um problema social e uma<br />
necessidade econômica das microempresas e das empresas de pequeno porte:<br />
possibilitar-lhes o acesso ao crédito mediante a concessão de garantias.<br />
Iniciando o estudo sobre as SGSs, percebeu-se a necessidade de, além de<br />
tratar das questões jurídicas, adentrar seus fundamentos sociológicos e filosóficos,<br />
procurando entender os aspectos econômicos envolvidos e buscando conhecer a<br />
própria história do instituto.<br />
Dessa forma, corre-se o risco de o trabalho tornar-se superficial. Como foi<br />
feita a opção de tratar do instituto como um todo, o estudo torna-se mais amplo por<br />
analisar os vários aspectos envolvidos e, obrigatoriamente, menos profundo.<br />
Para essa opção foram levados em conta o fato de não se encontrar no Brasil<br />
um livro jurídico sequer sobre o assunto: somente encontramos um artigo de Féres<br />
(2000) e um artigo de Hentz (2000) e Corrêa-Lima (2003, p. 32-35) cita essa<br />
sociedade, bem como questiona a sua viabilidade num livro em que trata da<br />
sociedade anônima, e não da sociedade de garantia solidária<br />
Assim, dada a importância do tema e o pouco conhecimento que se tem<br />
sobre ele, entendemos que talvez seja o momento de conhecer melhor o instituto e<br />
deixar para os próximos trabalhos uma análise pormenorizada de aspectos<br />
relevantes.<br />
O fato de tal sociedade não ter sido ainda implementada, apesar de já<br />
regulamentada desde 1999, chamou nossa atenção. Seria desconhecimento da lei?<br />
Teria sido falta de discussão e participação dos interessados quando da<br />
apresentação e tramitação do projeto de lei? Seria falta de incentivo por parte do<br />
governo, por exemplo, com a isenção de impostos?<br />
O trabalho surge como desafio, por se tratar de uma sociedade cujo<br />
regramento não se enquadra em nenhum tipo societário do nosso ordenamento<br />
jurídico, desenhada num formato de sociedade que visa atender às menores<br />
empresas do mercado, concedendo-lhes garantias para seus financiamentos. Além<br />
disso, é baseada no princípio da cooperação e da solidariedade. Todas essas
12<br />
características nos instigam mais ainda a perquirir sua estrutura jurídica e sua forma<br />
de operar.<br />
Diante dessas questões, iniciamos nosso trabalho analisando os princípios<br />
que regem a natureza humana e o que pode levar os homens a formar e organizar<br />
grupos sociais para as mais diversas finalidades.<br />
O instinto gregário compõe a natureza do homem. Mas, além desse instinto, o<br />
homem, até por força de sua própria inteligência, sente a necessidade de viver em<br />
grupos, pois o trabalho em conjunto facilita o alcance de seus objetivos.<br />
A fragilidade humana é logo sentida diante de tantos obstáculos para a<br />
própria sobrevivência. O princípio da interdependência é, assim, natural e inerente à<br />
natureza humana. Essa interdependência surge da fragilidade – uma necessidade –<br />
e da diversidade – uma riqueza – de cada ser humano. Assim, para suprir suas<br />
necessidades, o homem se junta aos outros e se completa neles: além de instinto<br />
social, é exercício da inteligência.<br />
Mas sabemos também que essa interação entre os homens pode se<br />
manifestar por meio da competição ou da cooperação, podendo delas surgir<br />
conflitos. E por meio da ação do direito que a competição será regulamentada, os<br />
conflitos dirimidos e a cooperação disciplinada.<br />
A SGS tem como fundamento a cooperação entre os sócios. É fundada no<br />
princípio da interdependência que leva ou deve levar à solidariedade, exigindo<br />
atitude cooperativa numa interação direta e positiva.<br />
Assim, as ações e as reações do homem são, num primeiro momento,<br />
produzidas por seu instinto gregário e pela necessidade de sobrevivência. Essas<br />
condições, aliadas ao princípio da interdependência e ao princípio da solidariedade,<br />
levaram o homem a criar grupos sociais: família, escola, associação esportiva,<br />
recreativa, cultural, religiosa, profissional, sociedade agrícola, mercantil, industrial,<br />
partido político...<br />
Em Ávila (1963, p. 167), percebe-se a importância de tais sociedades como<br />
grupos sociais intermediários na relação entre o homem e o Estado. Assegura-se,<br />
por meio de tais grupos, a efetiva defesa dos interesses comuns de seus membros e<br />
da manutenção do próprio Estado, como instituições que se sustentam.
13<br />
Daí a importância da Sociedade de Garantia Solidária como um grupo social<br />
intermediário entre os sócios – pessoas naturais e jurídicas – e o Estado, entre os<br />
sócios e o sistema bancário, entre os sócios e o mercado de capitais.<br />
No terceiro capítulo, numa abordagem mais histórica, econômica e estatística,<br />
sem nenhuma pretensão de tratar de direito comparado, trouxemos, de forma<br />
sucinta, experiências sobre a implementação de sociedades similares em países<br />
como a Alemanha, a França, Itália, Portugal, Espanha.<br />
Mesmo sem advogar nenhuma transplantação literal de leis, dadas as<br />
diferenças culturais, sociais, políticas e econômicas, é interessante verificar alguns<br />
dos resultados obtidos em outros países a partir da constituição de tais sociedades<br />
de garantia mútua.<br />
No quarto capítulo, debruçamo-nos sobre o instituto da SGS, analisando-a<br />
sob o aspecto histórico e jurídico, na tentativa de entender em que consiste, quais<br />
princípios nortearam sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro, qual a forma<br />
de constituição, a estrutura jurídica, o objetivo e a finalidade.<br />
E a SGS é mais um grupo social de microempresas e empresas de pequeno<br />
porte que, fragilizadas no seu desenvolvimento e ameaçadas de extinção por falta<br />
de acesso ao crédito, se juntam a investidores – pessoas naturais e/ou jurídicas –<br />
para encontrar uma solução eficaz para a sua necessidade de garantias.<br />
Assim, a SGS é uma sociedade sui generis em nosso ordenamento jurídico<br />
porque, apesar de ter a forma de uma sociedade anônima, tem finalidade e estrutura<br />
bem específicas, não encontradas em outras sociedades regulamentadas no Brasil.<br />
Tendo seu regramento jurídico elaborado a partir do modelo espanhol, tem<br />
por objeto a concessão de garantia a seus sócios participantes. Os sócios<br />
participantes abrem mão de 50% dos rendimentos destinados a essa categoria,<br />
entrando para a sociedade com a expectativa de resolver ou minimizar a dificuldade<br />
de acesso ao crédito mediante garantias que lhes serão concedidas. Já os sócios<br />
investidores tornam-se sócios com o objetivo exclusivo de auferir lucro<br />
Nesse capítulo são discutidos, ainda, dois importantes aspectos do Projeto de<br />
Lei n. 1.830/96 que não foram incluídos na regulamentação das SGSs: a nãoisenção<br />
de impostos, e a questão da possibilidade de esse tipo de sociedade ter<br />
outros objetos sociais além da concessão de garantia a seus sócios participantes,<br />
bem como as conseqüências dessas duas opções do legislador brasileiro.
14<br />
Desde as primeiras leituras sobre o assunto, culminando com o estudo<br />
detalhado da norma legal elaborado no quarto capítulo, começou a se desenhar a<br />
hipótese de que a SGS apresentasse, ao mesmo tempo, características de<br />
sociedade cooperativa e de sociedade de capitais.<br />
E, para comprovar tal hipótese, no quinto capítulo fizemos um cotejamento<br />
das características da SGS com as sociedades cooperativas e as sociedades<br />
anônimas. Por meio deste estudo, acreditamos ter conseguido comprovar que as<br />
relações da SGS com os sócios participantes guardam elementos comuns com as<br />
características das relações das cooperativas com seus sócios. No mesmo sentido,<br />
as relações da SGS com os sócios investidores é praticamente a mesma de uma<br />
sociedade de capitais com seus acionistas. Convém conferir!
15<br />
2 <strong>DA</strong> INTERAÇÃO SOCIAL E <strong>DA</strong> AÇÃO DO DIREITO<br />
Por meio do conhecimento empírico, já sabemos e também sentimos que o<br />
homem é essencialmente social e que somos, naturalmente, dependentes uns dos<br />
outros. E o conhecimento científico o ratifica:<br />
O homem é um ser gregário por natureza, é um ser eminentemente<br />
social, não só pelo instinto sociável, mas também por força de sua<br />
inteligência que lhe demonstra que é melhor viver em sociedade para<br />
atingir seus objetivos. (DINIZ, 2004, p. 5)<br />
Diante do fato de o homem ser “eminentemente social” (DINIZ, 2004, p. 5),<br />
tanto por sua natureza, quanto por reconhecer que viver em sociedade lhe<br />
proporciona melhor condição para atingir seus objetivos, entende-se, aqui, a<br />
necessidade de conceituar “sociedade”.<br />
2.1 Da sociedade<br />
Num conceito amplo e genérico, Ferreira (1986, p. 1602) a define como um<br />
“conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo e espaço, seguindo<br />
normas comuns, e que são unidas pelo sentimento de consciência de grupo; corpo<br />
social”. De fato, esse é um conceito bastante amplo, mas também bastante útil, uma<br />
vez que nele se ressaltar dois aspectos que interessam no momento: “conjunto de<br />
pessoas que vivem em certa faixa de tempo e espaço” e “ que são unidas pelo<br />
sentimento de consciência de grupo” (FERREIRA, 1986, p. 1.602).<br />
Para Caldas Aulete (1964, p. 3.779), sociedade é “reunião ou associação de<br />
pessoas que, em maior ou menor número, se associaram livremente para com seus<br />
esforços porem em prática certas obras ou obterem um fim comum. ”<br />
Segundo De Plácido e Silva (2000, p. 764) sociedade, “do latim societas<br />
(associação, reunião, comunidade de interesses), gramaticalmente e em sentido<br />
amplo, significa reunião, agrupamento, ou agremiação de pessoas, na intenção de
16<br />
realizar um fim, ou de cumprir um objetivo de interesse comum, para o qual todos<br />
devem cooperar, ou trabalhar”.<br />
Diante dos conceitos sobre sociedade colhidos em Ferreira, Caldas Aulete e<br />
De Plácido e Silva, percebem-se elementos comuns: conjunto, grupo, reunião ou<br />
associação de pessoas que, livremente, se juntaram com a intenção, a finalidade, o<br />
objetivo, ou interesse comum, pelo qual e para o qual todos devem cooperar e<br />
trabalhar.<br />
Por sua própria natureza, “é na sociedade que o homem encontra o ambiente<br />
propício ao seu pleno desenvolvimento” (NA<strong>DE</strong>R, 2004, p. 22) e é nesse ambiente<br />
que seus membros elegem objetivos e se solidarizam para atingi-los, eis que, “como<br />
ser racional e livre, o homem pensa e quer. A Comunidade é o lugar natural onde os<br />
homens pensam e querem juntos, projetam e decidem juntos em função do bemcomum”<br />
(ÁVILA, 1963, p. 11-12).<br />
Algumas vezes a sociedade é considerada em seu todo, mas, muitas vezes,<br />
em sentido mais estrito, é definida como “grupo de pessoas que se submetem a um<br />
regulamento a fim de exercer uma atividade comum ou defender interesses comuns;<br />
agremiação, centro, grêmio, associação” (FERREIRA, 1986, p. 1.602)<br />
2.2 Da formação dos grupos sociais<br />
O instinto gregário dos homens é assim confirmado não somente pela<br />
convivência em sociedade, de modo geral, mas também pela necessidade que têm<br />
de formar e participar de diversos grupos sociais, para, atendendo aos seus vários<br />
interesses, atingir o bem comum, como leciona Montoro (2005, p. 268-269):<br />
Para viver e para se desenvolver, os homens precisam de uma série<br />
de sociedades: família, escola, grupo profissional, empresa,<br />
associações, sociedade civil, etc. Em cada uma delas há, de certa<br />
forma, um bem comum, que é sempre o bem de uma comunidade de<br />
pessoas.
17<br />
Diniz (2004, p. 5-6) esclarece a respeito de alguns tipos de sociedades:<br />
[...] espontânea e até inconscientemente [o homem] é levado a<br />
formar grupos sociais: família, escola, associação esportiva,<br />
recreativa, cultural, religiosa, profissional, sociedade agrícola,<br />
mercantil, industrial, grêmio, partido político etc.<br />
Em Ávila (1963, p. 167), percebe-se a importância de tais sociedades como<br />
grupos sociais intermediários na relação entre o homem e o Estado. Assegura-se,<br />
por intermédio de tais grupos, a efetiva defesa dos interesses comuns de seus<br />
membros e da manutenção do próprio Estado, como instituições que se sustentam:<br />
Estes grupos, muitas vezes, são anteriores ao próprio Estado, e se<br />
aglutinaram por força do instinto social do homem. Constituem elas<br />
também comunidades naturais, que não perdem sua razão de ser<br />
nem seus direitos, com o aparecimento do Estado. Tais comunidades<br />
são, por exemplo, a família, as comunidades locais, profissionais, as<br />
comunidades de trabalho, os grupos religiosos.<br />
Assim, o homem “não existe apenas, mas coexiste, isto é, vive<br />
necessariamente em companhia de outros homens” (DINIZ, 2004, p. 5), eis que o<br />
homem é “essencialmente coexistência” (ACKER, apud DINIZ, 2004, p. 5) e “em<br />
estado convivencial e pela própria convivência é levado a interagir” (DINIZ, 2004, p.<br />
6).<br />
2.3 Das formas de interação social: competição, cooperação e conflito<br />
Nesse ambiente de convivência em sociedade ou em sociedades – grupos<br />
sociais – “os processos de mútua influência, de relações interindividuais e<br />
intergrupais, que se formam sob a força de variados interesses denominam-se<br />
interação social” (NA<strong>DE</strong>R, 2004, p. 22-23). Tal interação “se apresenta sob as<br />
formas de cooperação, competição e conflito e encontra no Direito a sua garantia, o<br />
instrumento de apoio que protege a dinâmica das ações. ” (NA<strong>DE</strong>R, 2004, p. 23)<br />
Analisando tais formatos – competição, cooperação e conflito – Nader (2004,<br />
p. 23) conceitua competição como uma forma de interação social, em que “há uma
18<br />
disputa, uma concorrência, em que as partes procuram obter o que almejam, uma<br />
visando a exclusão da outra”, ocorrendo, portanto, “uma interação indireta e, sob<br />
muitos aspectos, positiva”.<br />
Em relação à cooperação, Nader (2004, p. 23) ensina que, nessa forma de<br />
interação social, “[...] as pessoas estão movidas por um mesmo objetivo e valor e por<br />
isso conjugam o seu esforço”. Conclui, então, que, na cooperação, a interação se dá<br />
de maneira “direta e positiva”.<br />
O autor afirma, ainda, que quando a interação se manifesta sob a forma de<br />
conflito, este se caracteriza pelo “impasse, quando os interesses em jogo não logram<br />
uma solução pelo diálogo e as partes recorrem à luta, moral ou física, ou buscam a<br />
mediação da justiça”, esclarecendo, ainda que “no conflito a interação é direta e<br />
negativa (NA<strong>DE</strong>R 2004, p. 23).<br />
É o direito, então, que vai regulamentar e estabelecer as áreas em que esse<br />
conflito pode ser percebido e dirimido, o que reforça a intenção deste trabalho no<br />
sentido de estudar, na própria área jurídica, outras formas de solução de conflitos.<br />
Não deixa, no entanto, de se alimentar das fontes do direito, como disciplina que<br />
regula e busca soluções para esse tipo de relação na sociedade.<br />
E conclui que “o ordenamento jurídico torna possíveis os nexos de<br />
cooperação e disciplina a competição, estabelecendo as limitações necessárias ao<br />
equilíbrio e à justiça nas relações” (NA<strong>DE</strong>R, 2004, p. 25). Já em relação ao conflito,<br />
a ação do direito opera em duplo sentido: “De um lado, preventivamente, ao evitar<br />
desinteligências quanto aos direitos que cada parte julga ser portadora. [...] De outro<br />
lado, diante do conflito concreto, o Direito apresenta a solução (NA<strong>DE</strong>R, 2004, p.<br />
25).<br />
Pertinente, nesse contexto, o que diz Erhlich (apud MONTORO, 2005, p.<br />
627), para quem o Estado, os juristas e os tribunais se ocupam, normalmente, da<br />
decisão dos conflitos jurídicos, mas a função do direito é muito mais profunda e<br />
ampla, eis que “o direito não se reduz às regras de delimitação em casos de conflito<br />
e luta. Sua função especial é instruir a ordem pacífica na sociedade e servir de base<br />
à organização desta. A maior parte desse direito nunca é levada aos tribunais...”<br />
(EHRLICH apud MONTORO, 2005, p. 627).<br />
Assim, analisando as colocações de Nader e Ehrlich (apud MONTORO,<br />
2005), podemos inferir que haveria, sim, duas, e não três, formas de interação
19<br />
social: a competição e a cooperação. A primeira, indireta e, sob alguns aspectos,<br />
positiva; a segunda, direta e positiva. E o conflito talvez não devesse ser<br />
considerado uma forma de interação social, mas uma conseqüência do não-respeito<br />
às regras sociais, morais ou jurídicas, estabelecidas pela sociedade em sentido<br />
amplo ou pelos vários grupos sociais para a interação por competição ou por<br />
cooperação.<br />
Tanto a competição como a cooperação são importantes formas de interação<br />
que podem trazer benefícios para toda a sociedade, dependendo da área em que<br />
são utilizadas, como e com que finalidades. Para o enfoque dado a este trabalho,<br />
interessa-nos a interação social baseada na cooperação, o que nos conduz à<br />
solidariedade ou exige uma atitude solidária.<br />
2.4 Da solidariedade<br />
Para o funcionamento eficaz de uma sociedade, é essencial que as relações<br />
entre seus membros seja permeada pela solidariedade. Mas pergunta-se: O que é<br />
solidariedade? Um sentimento? Uma atitude? Uma regra moral? Um princípio<br />
jurídico?<br />
Segundo De Plácido e Silva (2000, p. 771), a palavra solidariedade vem de<br />
“solidário, radicado no solidus latino” e “gramaticalmente [...] traduz o sentido do que<br />
é total ou por inteiro ou pela totalidade. Assim, em realidade, revela-se a<br />
solidariedade numa comunidade de interesses, ou numa co-responsabilidade. ”<br />
Caldas Aulete (1964, p. 3.791) a define como “responsabilidade ou<br />
dependência mútua que se estabelece entre duas ou mais pessoas; estado de duas<br />
ou de muitas pessoas obrigadas umas pelas outras e cada uma por todas”.<br />
Ferreira (1986, p. 1.607) a considera um “laço ou vínculo recíproco de<br />
pessoas ou coisas independentes”, “Adesão ou apoio à causa, empresa, princípio,<br />
etc., de outrem”; “sentido moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses e às<br />
responsabilidades dum grupo social, duma nação, ou da própria humanidade”;<br />
“relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de
20<br />
maneira que cada elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o(s)<br />
outro(s): solidariedade de classe”.<br />
Para Durkeim (1999, p. 31), mestre da sociologia francesa,<br />
a solidariedade social [...] é um fenômeno totalmente moral, que, por<br />
si, não se presta à observação exata [...]. É necessário, portanto,<br />
substituir o fato interno [solidariedade] que nos escapa por um fato<br />
externo que o simbolize e estudar o primeiro através do segundo.<br />
Esse símbolo visível é o Direito.<br />
Duguit (apud REALE, 2002, p. 440 e 441), jurista e sociólogo francês,<br />
“encantou-se com a Solidariedade e com a obra do mestre da Sociologia francesa<br />
Émile Durkeim”, apesar de alguns pontos de divergência.<br />
Enquanto Duguit (apud CAMPOS, 1995, p. 35) coloca o fato social da<br />
solidariedade na base de sua doutrina, não tendo dúvida “de que a solidariedade é<br />
um fato elementar e visível, de constatação imediata”, para Durkeim (1999, p. 35),<br />
em quem Duguit se fundamenta, “o direito reproduz as formas principais de<br />
solidariedade”.<br />
Para <strong>Campos</strong> (1995, p. 37), a solidariedade “não é mais do que a coesão em<br />
torno de certos interesses essenciais e que se manifesta através do sentimento de<br />
socialidade”, traduzindo-se por uma técnica “como o direito ou outra estrutura<br />
política qualquer.” <strong>Campos</strong> assim, explica a solidariedade como “uma formação<br />
secundária” “no processo de adaptação à coexistência” e leciona que a coexistência<br />
é que seria um “fato simples e essencial, de existência visível e observação direta”<br />
(CAMPOS, 1995, p. 37).<br />
Durkeim (1999, p. 31), ao contrário de Duguit (apud REALE, 2002), que toma<br />
a solidariedade como “fato elementar e visível, de constatação imediata”, entende<br />
que é necessário estudar a solidariedade – fato interno – por intermédio do direito –<br />
fato externo e “seu símbolo visível” – que “reproduz as formas principais de<br />
solidariedade”.<br />
E pode-se concluir, a partir de Durkeim (1999, p. 34), que a solidariedade “é<br />
um fato social que só pode ser bem conhecido por intermédio de seus efeitos<br />
sociais”.<br />
Segundo Duguit (apud REALE, 2002, p. 441), quer se queira ou não, o<br />
homem é obrigado a aceitar o fato de que tem necessidade das outras pessoas,
21<br />
conformando-se à lei de interdependência e à complementaridade, próprias da<br />
natureza humana, para conseguir sobreviver e se desenvolver como ser humano.<br />
Apesar do radicalismo de Duguit (apud REALE, 2002, p. 441), que “encontra<br />
no fato da solidariedade a explicação de todos os fenômenos de convivência, sem<br />
exceção”, ele contribuiu para “convencer os juristas de França de que o Direito é<br />
uma força social e que o princípio da socialidade do Direito deve ser levado em<br />
conta tanto pelo legislador como pelo intérprete da lei” (DUGUIT apud REALE, 2002,<br />
p. 439-440).<br />
Durkeim (apud REALE, 2002, p. 441) “mostra com grande força a<br />
interdependência das atividades humanas e o valor da divisão do trabalho”. Nessa<br />
obra, Durkeim (1999, p. 39, 85) distingue duas espécies de solidariedade: uma<br />
solidariedade mecânica e uma solidariedade orgânica” sendo a primeira, “aquela<br />
que se estabelece quando duas ou mais pessoas, tendendo a um mesmo fim,<br />
praticam a mesma série de atos” (apud REALE, 2002, p. 441), e a segunda “quando<br />
[...] os indivíduos, para realizar determinados fins, para alcançar determinada meta,<br />
não praticam os mesmos atos, mas atos distintos e complementares” (apud REALE,<br />
2002, p. 441-442).<br />
No contexto de uma sociedade complexa e cada vez mais desenvolvida, a<br />
partir, principalmente, da revolução industrial, nosso interesse recai sobre a<br />
solidariedade orgânica. Para explicar tal espécie de solidariedade, Durkeim (apud<br />
LOCHE et al., 1999, p. 52) usa a metáfora do corpo, segundo a qual<br />
cada membro e cada órgão, embora desempenhem funções<br />
diferentes, estão mutuamente relacionados de forma que a soma das<br />
partes compõem um todo integrado e homogêneo. Exatamente por<br />
isso, Durkeim chamou essa solidariedade de orgânica.<br />
Loche (1999) está se referindo à forma como Durkeim (apud LOCHE et al.,<br />
1999, p. 52) aplica o conceito de solidariedade orgânica: “[...] Ela, sendo<br />
característica das sociedades modernas e industriais, ao mesmo tempo está<br />
relacionada com os grandes grupos sociais que atingem alto grau de diferenciação<br />
interna” e “[...] por essa razão, que as funções coletivas sejam partilhadas e cada<br />
indivíduo possa desempenhar atividades totalmente diferentes, mas perfeitamente<br />
indispensáveis para a coletividade.”
22<br />
É ainda baseando-se nas idéias de Durkeim (apud LOCHE et al., 1999, p. 52)<br />
que se pode caracterizar o conceito de solidariedade na sociedade industrial: “Na<br />
solidariedade característica de uma sociedade industrial, os indivíduos desenvolvem<br />
funções especializadas, diferentes entre si, mas, ao mesmo tempo,<br />
interdependentes.” Não se perde a individualidade dos sujeitos, que são partes de<br />
um todo maior – a sociedade:<br />
Nela, embora cada indivíduo tenha um papel importante, a sociedade<br />
não é uma somatória dessas individualidades; a sociedade é algo sui<br />
generis, específico que, se procurada nas partes que a compõem,<br />
não será encontrada. Em futuras obras, Durkeim tiraria total partido<br />
lógico dessa conclusão, ao afirmar que o todo é mais do que a soma<br />
das partes. (DURKEIM apud LOCHE et al., 1999, p. 52).<br />
Nesse sentido, a solidariedade exige um agir individualmente, numa ação<br />
coordenada, visando atingir um fim coletivo esperado e predeterminado, cujo<br />
resultado traz, ao mesmo tempo, benefícios a cada um de seus membros e à<br />
sociedade, resultado este em que, como disse Durkeim (apud LOCHE, 1999, p. 52)<br />
“o todo é mais do que a soma das partes”.<br />
Assim, mediante a análise dos conceitos de sociedade e de solidariedade,<br />
pode-se perceber que a existência de uma sociedade pressupõe a coexistência de<br />
pessoas, o que, por sua vez, exige vínculo e comprometimento entre seus membros.<br />
Esse vínculo é manifestado por meio da solidariedade para atingir objetivos comuns,<br />
em atitude de co-responsabilidade, pois que, por sua própria natureza, essas<br />
pessoas dependem umas das outras.<br />
Quando tratamos de solidariedade, é fundamental distinguir que ela pode ser<br />
estabelecida tanto para o bem quanto para o mal, uma vez que o que determina o<br />
critério ético ou antiético é a intenção das pessoas que se solidarizam em torno de<br />
objetivos comuns. Nesse sentido, Reale (2002, p. 453) afirma que<br />
Solidariedade é um fato, mas, como todo fato, pode assumir<br />
qualificação ética negativa ou positiva, pois os homens se<br />
solidarizam tanto para o bem como para o mal. O critério ético e<br />
jurídico surge não da solidariedade, mas da atitude espiritual em face<br />
dela.
23<br />
Duguit (apud REALE, 2002, p. 441-443), afirmando que a lei de<br />
interdependência é obrigatória, induz à conclusão de que tal lei seria uma lei natural,<br />
portanto imutável e invariável, e que, não obedecer a seus princípios resultaria em<br />
uma reação ou desordem social, pois, para ele, “o fenômeno da solidariedade tem<br />
como elemento complementar um estado de vigilância da sociedade, zelando pela<br />
própria sobrevivência”.<br />
Durkeim (1999, p. V e VI) trata do papel que os agrupamentos profissionais<br />
estão destinados a desempenhar na organização social dos povos contemporâneos”<br />
[...] e tenta “dirimir os motivos que ainda impedem muitos espíritos de compreender<br />
corretamente sua urgência e seu alcance”. Isto é, a urgência e o alcance do papel<br />
que tais agrupamentos sociais desempenham atualmente na sociedade.<br />
2.5 Da anomia jurídica em relação às atividades econômicas<br />
Durkeim (1999, p. VI e VII) insiste “sobre o estado de anomia jurídica e moral<br />
em que se encontra atualmente a vida econômica”, concluindo que “é a esse estado<br />
de anomia que devem ser atribuídos, [...], os conflitos incessantemente renascentes<br />
e as desordens de todo tipo de que o mundo econômico nos dá o triste espetáculo”.<br />
Tais idéias foram lançadas por Durkeim há quase um século. Apesar de, após<br />
tais colocações, muitas das relações econômicas terem sido regulamentadas pelos,<br />
então, novos direitos, como o do trabalho, o da concorrência, o do consumidor,<br />
provavelmente se possa afirmar que tal regulação jurídica sobre as atividades<br />
econômicas ainda não seria suficiente em alguns aspectos e em algumas áreas<br />
continuariam atuais.<br />
O autor atribui ao desenvolvimento das funções econômicas nos últimos dois<br />
séculos um fator de crescente gravidade nesse estado de anomia, eis que<br />
“enquanto, outrora, [referindo-se às funções econômicas] desempenhavam apenas<br />
um papel secundário, hoje estão em primeiro plano.” E conclui: “Uma forma de<br />
atividade [referindo-se às atividades econômicas] que tomou tal lugar na vida social,<br />
não pode, evidentemente, permanecer tão desregulamentada, sem que disso resulte<br />
as mais profundas perturbações” (DURKEIM 1999, p. VIII).
24<br />
Mas, enquanto Duguit (apud REALE, 2002, p. 441) entende a causa da<br />
reação ou da desordem social como uma conseqüência da não-conformação do<br />
homem à lei da interdependência, Durkeim (1999, p. VIII) detecta como causa dessa<br />
desordem, principalmente, a anomia jurídica e moral em relação às atividades<br />
econômicas.<br />
Para Duguit (apud REALE, 2002, p. 443), “esta reação social contra o violador<br />
do princípio fundamental da solidariedade pode manifestar-se de três maneiras<br />
distintas: em leis morais, em leis econômicas e em leis jurídicas”. (Grifos do autor)<br />
Para que se possa perceber a relação entre a interação social dos indivíduos<br />
no grupo e a conseqüente necessidade de elaboração de tais normas, Machado<br />
Neto (1974, p. 119) apresenta a teoria do controle social de Duguit:<br />
Sua [de Duguit] teoria do controle social, fundado na solidariedade,<br />
distingue três tipos fundamentais de normas sociais decorrentes da<br />
interação dos indivíduos no grupo: normas econômicas, normas<br />
morais e normas jurídicas, em ordem de importância e coercitividade<br />
crescentes.<br />
E como exigência e pressuposto para que se tornem jurídicas, Duguit (apud<br />
MACHADO NETO, 1974, p. 119) explica que as normas econômicas e morais<br />
precisariam ser fundadas na solidariedade e na justiça:<br />
Para que as normas econômicas e as normas morais se tornem<br />
jurídicas, necessário se faz que elas passem a ter ressonância nos<br />
sentimentos fundamentais de solidariedade e justiça.<br />
Quando o sentimento unânime, ou quase tal, do grupo considera que<br />
a solidariedade social estaria gravemente comprometida se o<br />
respeito a uma de tais normas não fosse garantido pelo emprego da<br />
força social, então temos o momento oportuno do surgimento da<br />
norma jurídica do seio das normas morais e econômicas.
25<br />
2.6 Do solidarismo: responsabilidade dos grupos sociais pela hegemonia do<br />
processo histórico<br />
Segundo Durkeim (1999, p. IX), “para que a anomia tenha fim, é necessário,<br />
portanto, que exista ou que se forme um grupo em que se possa constituir o sistema<br />
de regras atualmente inexistente”, mas, observa que<br />
Nem a sociedade política em seu conjunto, nem o Estado, podem,<br />
evidentemente, incumbir-se dessa função; a vida econômica, por ser<br />
muito especial e por se especializar cada dia mais, escapa à sua<br />
competência e à sua ação (DURKEIM, 1999, p. X).<br />
Mas, se para Durkeim (1999) nem a sociedade política nem o Estado<br />
poderiam incumbir-se da tarefa de regular as atividades econômicas, então quem<br />
teria tal legitimidade para elaborar e propor tal regulamentação?<br />
Ávila (1963, p. 11), em seu Manifesto Solidarista de 1963, baseado no<br />
princípio da solidariedade, proclama que por meio do solidarismo defere-se “às<br />
comunidades reais, em todos os níveis em que se realizam, a hegemonia do<br />
processo histórico”, eis que “Esta não pode caber nem ao Capital nem ao Estado...”.<br />
Para Ávila (1963, p. 20), “o Solidarismo é um sistema que leva a democracia<br />
às suas últimas conseqüências”.<br />
Na visão durkeimiana, para se construir tal sistema de regras para as<br />
atividades econômicas, por exclusão da sociedade política e do Estado, ambos por<br />
incompetência, caberia à sociedade organizada em grupos, associações, pois é<br />
nesses grupamentos que se dá, por excelência, a interação social, especialmente<br />
aquela fundamentada na cooperação.<br />
Segundo Diniz (2004, p. 5),<br />
Se observarmos, atentamente, a sociedade, verificaremos que os<br />
grupos sociais são fontes inexauríveis de normas, [por conseguinte,]<br />
o estado não é o criador único de normas jurídicas, [...] mas ele é<br />
uma organização territorial capaz de exercer o seu poder sobre as<br />
associações e pessoas, regulando-as, dando, assim, uma expressão<br />
integrada às atividades sociais.
26<br />
Essa é uma questão muito discutida: o crescimento do direito “não estatal”:<br />
Principalmente nas áreas da economia, do trabalho, das profissões,<br />
é possível observar-se o alastramento de combinações de negócios,<br />
acordos reguladores, estatutos empresariais, etc., que preenchem<br />
uma necessidade de regulamentação, com a qual o legislador não se<br />
preocupa, a não ser excepcionalmente ao surgirem inconveniências<br />
(LUHMANN, 1985, p. 57).<br />
À semelhança de Durkeim (1999), também Ávila (1963, p. 11) expressa seu<br />
entendimento de que às comunidades reais, aos grupos sociais, caberia assumir a<br />
hegemonia do processo histórico, excluindo desse papel o capital e o Estado: “O<br />
solidarismo pretende deferir às comunidades reais, em todos os níveis em que se<br />
realizam, a hegemonia do processo histórico. Esta não pode caber nem ao Capital<br />
nem ao Estado [...]”.<br />
Ávila (1963, p. 167), ao defender a força renovadora do solidarismo, mostra<br />
também a importância dos grupos sociais no desenvolvimento da sociedade:<br />
Um dos segredos da força renovadora do Solidarismo reside em<br />
reivindicar entre a pessoa e o Estado, a existência de grupos<br />
intermediários, dotados de um ser próprio, e como tais, sujeitos a<br />
direitos e deveres.<br />
A comunidade é a grande descoberta e a grande força do<br />
Solidarismo. Este é portador da certeza inabalável de que, à medida<br />
em que as comunidades-reais assumirem em suas mãos os seus<br />
próprios destinos, através de seus representantes legitimamente e<br />
honestamente escolhidos, haverá de realizar-se numa democracia<br />
total, política, econômica e social (ÁVILA, 1963, p. 12)<br />
Interessante observar a sensibilidade de Ávila (1963, p. 13) que, um ano<br />
antes da revolução militar de 1964, lançou o “Manifesto Solidarista”, percebendo a<br />
oportunidade histórica para se aderir ao solidarismo como sistema ideal que levaria<br />
à verdadeira democracia: “O trabalho é árduo, mas sua chance histórica é poderosa,<br />
é irresistível, porque o Solidarismo é o ideal a que confusa e inconscientemente<br />
aspiram todos aquêles que anseiam por um Brasil realmente democrático [...]”<br />
E podemos completar, nesta mesma direção, com Montoro (2005, p. 679),<br />
que, anos mais tarde, fala da função transformadora do Direito no âmbito da<br />
sociedade:
27<br />
Essa função transformadora do direito ganha importância maior nos<br />
períodos de crise e nos momentos em que o desenvolvimento<br />
econômico e social do país torna-se imperativo histórico. Cabe então<br />
ao direito a missão de dirigir e ordenar o processo de<br />
desenvolvimento. No plano econômico, dirigindo, estimulando e<br />
disciplinando investimentos em áreas prioritárias, através de normas<br />
jurídicas adequadas, que disponham sobre a intervenção do Estado,<br />
disciplina de capitais, estímulos fiscais, defesa da tecnologia nacional<br />
e outras.<br />
Assim, o princípio da socialidade do direito e a regulação das normas<br />
econômicas e morais, que podem se tornar jurídicas se fundadas nos princípios de<br />
solidariedade e justiça, como defendido por Duguit (apud MACHADO NETO, 1974,<br />
p. 119), as formas de interação social – competição, cooperação e conflito –<br />
demonstradas por Nader (2004) e a anomia jurídica em relação às funções<br />
econômicas constatada por Durkeim (1999) conduzem à reflexão de Montoro (2005,<br />
p. 679) sobre a função do direito como instrumento eficaz de realização de uma<br />
“democracia total, política, econômica e social” no ideal de Ávila:<br />
O direito tem uma função transformadora do meio social que não<br />
pode ser esquecida. É tão grande sua capacidade de conservar as<br />
instituições como a de tornar-se o principal agente da mudança<br />
social. Não se pode esquecer que o legislador ao elaborar a lei, o<br />
administrador ao executá-la e complementá-la, o juiz ao aplicá-la a<br />
casos de dúvida, o advogado e o assessor jurídico, ao orientarem<br />
empreendimentos, contratos, acordos e outros atos jurídicos, estão,<br />
todos, contribuindo para a modificação da realidade social<br />
Assim, Della Giustina (2004, p. 180) também mostra a importância do direito<br />
como um instrumento dinâmico para transformar o meio social, por intermédio,<br />
principalmente, da força e da hegemonia dos grupos sociais:<br />
Este novo direito deverá constituir a forma como os valores sociais,<br />
os fundamentos da nova sociedade e seus instrumentos<br />
operacionais, ou seja, a ética essencial e sua evolução, são<br />
transformados em norma jurídica, em leis e instituições,<br />
caracterizando a nova organização da sociedade e seu<br />
funcionamento.
28<br />
Com tais fundamentos, verifica-se que outras formas associativas fundadas<br />
na cooperação e solidariedade podem e devem, por intermédio do direito, ser<br />
institucionalizadas. Um exemplo desse tipo de organização é a chamada Sociedade<br />
de Garantia Mútua, já constituída em alguns países da Europa, e a sua similar, a<br />
Sociedade de Garantia Solidária, ainda por ser aperfeiçoada e implementada no<br />
Brasil.
29<br />
3 <strong>DA</strong> SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> MÚTUA – BREVES INCURSÕES NA<br />
EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL<br />
Primeiramente deve-se observar que essas breves incursões na experiência<br />
de outros países em relação às Sociedades de Garantia Mútua não têm como<br />
objetivo realizar um estudo de direito comparado.<br />
Ocorre que, em 1999, no Brasil, foi regulamentada a Sociedade de Garantia<br />
Solidária. Mas tal instituto não é resultado da criatividade brasileira, pois já existiam<br />
similares internacionais, como as Sociedades de Garantia Recíproca na Espanha, as<br />
Sociedades de Garantia Mútua em Portugal. (Cf. Anexo C)<br />
Assim, ao ser introduzida no Brasil, tal sociedade já trazia uma história de<br />
experiências bem-sucedidas em outros países, que serão, neste capítulo, pontuadas<br />
para que, por esses efeitos, se perceba seu potencial e a importância que poderá vir<br />
a ter também em nosso país.<br />
Em vários países europeus, a forma encontrada pelos micros e pequenos<br />
empresários para contornar o obstáculo da dificuldade de acesso ao crédito pelas<br />
suas empresas foi a associação em sistemas mutualistas:<br />
A melhoria das condições financeiras das empresas, que dificilmente<br />
seriam conseguidas a título individual, pode acontecer com a<br />
intervenção de uma Sociedade de Garantia Mútua, que actua como<br />
‘holding’ dos interesses das empresas participantes junto do sistema<br />
financeiro. (NORGARANTE, [s.d].)<br />
Tais sociedades surgiram na Alemanha no período do pós-guerra, como<br />
bancos mutualistas, tendo a função de prestar garantias financeiras para lastrear<br />
empréstimos contraídos por empresas acionistas junto aos bancos comerciais.<br />
(LISGARANTE, [s.d.])<br />
O sistema alemão já se encontra bastante testado, possuindo “actualmente<br />
24 Sociedades de Garantia Mútua, onde se encontram associadas mais de 25.430<br />
entidades, e às quais já prestaram cerca de 2 [dois] mil milhões de euros (400<br />
milhões de contos) de garantias”. (NORGARANTE, [s.d.])<br />
Com a própria evolução do sistema alemão, houve ampliação das funções<br />
dessas entidades. Hoje, essas sociedades de garantia mútua não atuam apenas
30<br />
como avalistas em empréstimos das empresas acionistas aos bancos. Exercem<br />
também a função de verdadeiros consultores à procura de soluções integradas para<br />
toda a problemática do financiamento de cada empresa associada.<br />
Na França, o mutualismo também tem prestado importante apoio na<br />
prestação de garantias para financiamentos contraídos por empresas de menor<br />
porte, possibilitando, assim, o acesso ao crédito: “A experiência francesa tem mais<br />
de 75 anos. Este país tem 277 Sociedades de Garantia Mútua, que englobam cerca<br />
630.000 associados e que já beneficiaram de cerca de 14. 600 milhões de euros (2.<br />
925 milhões de contos) de garantias.” (LISGARANTE, [s.d.])<br />
Assim, se não houvesse como prestador de garantia, uma sociedade de<br />
garantia mútua, o crédito, em muitos casos, ou não seria aprovado pelo sistema<br />
bancário ou seria concedido em condições mais onerosas. Tal dificuldade ou<br />
impossibilidade de acesso ao crédito ocorre “por desconhecimento das empresas e<br />
das pessoas [por parte do financiador], ou pela sua reduzida dimensão e<br />
incapacidade para prestar as garantias necessárias” (LISGARANTE, [s.d.]). Mas o<br />
problema tem encontrado solução, em vários países, por intermédio dessas<br />
sociedades de garantia mútua.<br />
Na Espanha, foi a partir de 1970 que o seu Sistema de Garantias Recíprocas<br />
começou a ser formatado. Regulamentado em 1977, teve a constituição de sua<br />
primeira Sociedade de Garantia Recíproca (SGR) em 1979, conforme estudo<br />
realizado por Puga (2002). O seu principal objetivo era melhorar as condições de<br />
financiamento, além de permitir e facilitar o acesso ao crédito por parte empresas de<br />
menor porte daquele país.<br />
“Nos anos seguintes, com o apoio do governo espanhol, mediante aportes de<br />
capital, iniciou-se um forte processo de criação dessas sociedades” (PUGA, 2002, ),<br />
sendo até hoje característica do sistema espanhol o aporte de recursos públicos.<br />
Segundo Puga (2002), na Espanha, tais sociedades de garantia recíproca<br />
contam com suporte dos governos regionais, do governo federal e da União<br />
Européia. Os governos regionais apóiam tais sociedades com aporte de recursos por<br />
meio de um Fundo de Provisões Técnicas; o governo federal, por meio da<br />
Companhia Espanhola de Refinanciamento S. A. (Cersa), que refinancia os riscos<br />
assumidos pelas SGRs, as quais por sua vez, mantêm convênio de colaboração
31<br />
com o Fundo Europeu de Investimentos, da União Européia, “que pode assumir até<br />
35% do risco de operações com empresas com até 100 empregados” (PUGA, 2002).<br />
Também na Espanha, além de conceder garantias a seus sócios, as<br />
chamadas SGRs atuam como consultoras das empresas aderentes, prestando-lhes<br />
serviços de aconselhamento e fazendo o estudo da forma mais adequada para o<br />
seu financiamento.<br />
Assim, apesar de mais recente que os sistemas da Alemanha e da França, o<br />
espanhol já “incorpora actualmente 20 SGRs, com 39.530 entidades associadas. As<br />
SGMs espanholas [denominadas Sociedades de Garantia Recíproca] já prestaram<br />
garantias de 645 milhões de euros (129 milhões de contos)” (NORGARANTE, [s.d]).<br />
Interessante verificar que<br />
as SGRs são instituições financeiras sem fins lucrativos, cujo capital<br />
é integralizado majoritariamente pelas próprias MPMEs (sócios<br />
participantes), tendo como sócios minoritários as câmaras de<br />
comércio e indústria, governos locais, federações de empresas,<br />
instituições financeiras e empresas (sócios protetores). (PUGA,<br />
2002)<br />
Essas sociedades de garantia são sempre formadas por duas categorias de<br />
sócios. Na Espanha, sócios participantes e sócios protetores. Em Portugal,<br />
acionistas beneficiários e acionistas promotores (cf. Anexo C). Também no Brasil –<br />
assunto que será tratado no quarto capítulo – as sociedades de garantia solidária<br />
deverão ser constituídas por sócios participantes e sócios investidores.<br />
Ainda segundo o mesmo autor, serão cobradas comissões pelo aval<br />
concedido e por outros serviços, como assessoria e consultoria, pagas pelas<br />
empresas às SGRs, existindo um sistema de punição para as sociedades que<br />
tiverem problemas recorrentes de inadimplência.<br />
O princípio fundamental desse sistema é sempre uma forte cooperação e<br />
solidariedade entre as empresas, além do compartilhamento dos riscos, como se<br />
confirma pelas considerações de Puga (2002) sobre o modelo italiano e do espanhol<br />
de garantia de crédito às médias, pequenas e microempresas:<br />
O modelo das cooperativas de crédito italianas e o sistema espanhol<br />
de garantias solidárias exigem uma forte cooperação entre as<br />
empresas. Os dois minimizam os problemas de exigência de<br />
garantias das MPMES para a obtenção de empréstimos, através de
32<br />
uma ampla rede de instituições que compartilham entre si os riscos<br />
das operações de crédito dos bancos.<br />
A principal diferença entre o sistema espanhol e o italiano é que, no<br />
primeiro, existe um maior envolvimento do setor público no processo.<br />
Enquanto o capital dos consórcios italianos de garantia de crédito é<br />
integralizado pelas próprias empresas.<br />
Já em Portugal, assim como no Brasil e na maioria dos países europeus, as<br />
micros e pequenas empresas também representam um percentual significativo do<br />
setor produtivo, sendo um dos principais responsáveis pela criação de riqueza e de<br />
emprego (cf. LISGARANE, [s.d])<br />
Em Portugal, como também no Brasil,<br />
uma grande parte das micro e pequenas empresas portuguesas<br />
apresenta estruturas financeiras caracterizadas por uma excessiva<br />
dependência de financiamento de curto prazo, além de grandes<br />
dificuldades na obtenção de qualquer financiamento bancário<br />
(NORGARANTE, [s.d]).<br />
Percebe-se que a questão do acesso ao crédito, mesmo em países do<br />
chamado Primeiro Mundo, constitui para as menores empresas um problema crítico,<br />
tornando-se fundamental o aparecimento de soluções que permitam<br />
uma correcta adequação das fontes e prazos de financiamento aos<br />
investimentos realizados e às características do ciclo de exploração<br />
de cada uma delas (NORGARANTE, [s.d]).<br />
Em Portugal, o sistema mutualista data de 1994, atuando a partir da<br />
associação de empresários em sociedades, que poderá prestar-lhes as garantias<br />
necessárias às menores empresas a custos interessantes (cf. LISGARANTE, [s.d])<br />
Também em Portugal, as Sociedades de Garantia Mútua podem, além das<br />
garantias, “prestar às empresas um apoio de ‘consultoria’ na escolha de soluções de<br />
financiamento e mesmo de análise de situações de investimento” (Cf.<br />
NORGARANTE, [s.d]).<br />
Segundo Puga (2002), “no que tange à adaptação dessas experiências para a<br />
realidade brasileira, o sistema espanhol parece ser uma alternativa mais viável, pelo<br />
menos no curto prazo.” E o mesmo autor ainda reforça essa convicção, concluindo<br />
que
33<br />
a transposição do sistema espanhol poderia ser impulsionada com o<br />
estímulo à criação das sociedades de garantia solidária, autorizadas<br />
desde de 5 de outubro de 1999, pela Lei 9. 841, que instituiu o<br />
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 1 (PUGA,<br />
2002).<br />
Apesar de terem sido citadas apenas algumas experiências pontuais em<br />
outros países sobre os sistemas de garantia de crédito para as empresas de menor<br />
porte, percebe-se que o setor apresenta como elemento comum a necessidade de<br />
acesso a crédito e a falta de condições de oferecer garantias.<br />
E essas micros, pequenas e, alguns países também as médias empresas,<br />
têm encontrado a solução para seus problemas de acesso ao crédito por intermédio<br />
das sociedades de garantia mútua que, sofrendo variações de país para país, têm<br />
guardado, no essencial, características similares, apresentando-se tal modelo como<br />
uma tendência para o setor das empresas de menor porte.<br />
1 Legislação brasileira que será analisada no quarto capítulo.
34<br />
4 <strong>DA</strong> SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> SOLIDÁRIA<br />
Os grupos sociais se formam para atender aos interesses comuns de seus<br />
membros. Através dos séculos, as chamadas sociedades comerciais, as<br />
associações, fundações, partidos políticos foram sendo regulamentadas pelo direito.<br />
“A sociedade comercial, em sua forma mais rudimentar, é tão antiga quanto a<br />
civilização. No momento em que duas pessoas somaram seus esforços para obter<br />
resultado econômico comum, a sociedade começava a despontar” (BORBA, 2003, p.<br />
1).<br />
Sabe-se que no Brasil é obrigatória, para as empresas, a adoção de<br />
um dos modelos estabelecidos pela lei para dar legalidade ao<br />
exercício da atividade. Segue-se a exigência de registro e atos<br />
burocráticos não desconhecidos de toda sociedade brasileira, pelos<br />
ônus que acarretam ao consumidor ou usuário de serviços. Também<br />
se sabe que os modelos são antigos (somente a sociedade limitada<br />
nasceu neste século, em 1919; todas as demais se originaram nos<br />
séculos XVIII e XIX) (HENTZ, 2000, p. 1)<br />
E Hentz (2000, p. 1) chama atenção para um novo instituto dizendo que “está<br />
passando despercebida a introdução no direito societário nacional da sociedade de<br />
garantia solidária. O que é e para o quê serve?”<br />
Apesar de já se terem passado sete anos de sua introdução no nosso<br />
ordenamento jurídico, é sua importância e o desconhecimento sobre esse instituto<br />
jurídico no Brasil que nos instigam a estudá-lo. Assim, especialmente neste capítulo,<br />
será estudada a disciplina legal que rege a SGS.<br />
A regulamentação dada pelo direito ao instituto da “Sociedade de Garantia<br />
Solidária” se reveste de características bem específicas, porém não menos<br />
interessantes e importantes, sobre as quais podem ser levantadas questões como:<br />
Corresponde a algum tipo societário já regulamentado pelo ordenamento jurídico<br />
brasileiro? Seria um novo tipo societário? Quais suas peculiaridades? Qual seu<br />
objeto? E sua finalidade?<br />
Apesar de ter sido autorizada no Brasil, em 1999, por intermédio da Lei n.<br />
9.841/99, a Sociedade de Garantia Solidária, pessoa jurídica de direito privado, a ser<br />
constituída sob a forma de sociedade anônima, para a concessão de garantia a seus
35<br />
sócios participantes, ainda resiste à implementação. E novas questões podem ser<br />
levantadas: Sob quais princípios foi criada? A partir de quais fundamentos foi<br />
introduzida no nosso ordenamento? Com que objetivo?<br />
4.1 Do comando constitucional<br />
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra sob o<br />
título “Princípios Fundamentais” (BRASIL, 2006, p. 17-20) aqueles relativos à<br />
organização da sociedade brasileira que, segundo Silva (1998, p. 98), são os<br />
“princípios da livre organização social, princípio da convivência justa e princípio da<br />
solidariedade”.<br />
Tal a importância desses princípios no contexto sociopolítico nacional que já<br />
no seu art. 1º, IV, da nossa Carta Magna, o constituinte brasileiro incluiu como um<br />
dos fundamentos da República Federativa do Brasil “os valores sociais do trabalho e<br />
da livre iniciativa”.<br />
O art. 3º da Carta Magna define os objetivos fundamentais da República<br />
Federativa do Brasil, relacionando em primeiro lugar a construção de “uma<br />
sociedade livre, justa e solidária”.<br />
Conexos a tais fundamentos, colocam-se os princípios da Ordem Econômica<br />
e Financeira, onde se encontram definidos os princípios gerais da atividade<br />
econômica, inseridos nos arts. 170 e seguintes da Constituição da República,<br />
inclusive “o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte”.<br />
Observe-se que ao Estado incumbe também assegurar “o livre exercício de<br />
qualquer atividade econômica” (art. 170, IX, parágrafo único, da CR/88), mas, como<br />
agente normativo e regulador da atividade econômica, além de garantir direitos e<br />
exercer as funções de planejamento e fiscalização, deverá promover o incentivo de<br />
tais atividades, conforme se depreende do art. 174 da CR.<br />
Uma forma de o Estado, efetivamente, assegurar a todos o livre exercício de<br />
qualquer atividade econômica é facilitar as condições de acesso ao crédito, por<br />
exemplo, mediante criação ou do incentivo à constituição de mecanismos de<br />
garantia de crédito, como o demonstra Kandir (1996, p. 1).
36<br />
A dificuldade de obter financiamento bancário responde em grande<br />
medida pelo alto índice de mortalidade de micro e pequenas<br />
empresas e pela imensurável quantidade de projetos de pequenos<br />
negócios que morrem no nascedouro. Perdem-se, assim, renda e<br />
empregos.<br />
Outra maneira de o Estado valorizar o trabalho humano e a livre iniciativa,<br />
assegurando a todos uma existência digna deve-se dar através de apoio e estímulo<br />
ao “cooperativismo e outras formas de associativismo”. (BRASIL, 2006, p. 202),<br />
conforme determina o § 2° do art. 174 da CR.<br />
Constitui ainda dever do Estado, em todos os seus níveis, dispensar às<br />
microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado,<br />
nos termos do art. 179 da CR, “visando a incentivá-las pela simplificação de suas<br />
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela<br />
eliminação ou redução destas por meio de lei”.<br />
Dessa forma, o incentivo ao cooperativismo e ao associativismo, a criação de<br />
mecanismos que facilitem o acesso ao crédito, principalmente mediante a<br />
constituição de um sistema de garantias para micros e pequenas empresas seria<br />
uma forma de concretizar os “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (art. 1º,<br />
IV, da CR) e, efetivamente, “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º, I<br />
da CR).<br />
4.2 Da introdução das Sociedades de Garantia Solidária (SGS) no Brasil<br />
Em 1996, o então deputado federal Antônio Kandir apresentou Projeto de Lei<br />
visando à regulamentação das SGSs. À época, na justificativa (cf. anexo A) que<br />
acompanhava o projeto de lei, Kandir explicitou que a criação de tais sociedades<br />
viria “ampliar radicalmente as possibilidades de obtenção de crédito por parte de<br />
micro e pequenas empresas” (KANDIR, 1996, p. 48 et seq.), atendendo à sua<br />
necessidade de acesso ao crédito, evitando, assim, uma das principais causas de<br />
mortalidade dessas empresas, além da perda de renda e de empregos.<br />
Segundo Kandir (1996, p. 5), apesar de as microempresas (ME) e as<br />
empresas de pequeno porte (EPP) exercerem “o importante papel de permitir a
37<br />
organização das atividades produtivas de maneira versátil e flexível em todos os<br />
setores da economia, [...] mediante o uso mais intensivo de mão-de-obra e a<br />
utilização relativamente menor de capital”, tais empresas não têm acesso facilitado<br />
ao crédito, principalmente, pela dificuldade de oferecerem garantias.<br />
Assim, para Kandir (1996, p. 5), a criação e a regulamentação das<br />
Sociedades de Garantia Solidária visariam à formação solidária de garantias, “com a<br />
finalidade de conceder garantia aos seus sócios participantes [ME e EPP], para a<br />
obtenção do crédito, que seria de difícil acesso, caso a empresa [ME ou EPP]<br />
tentasse individualmente, em virtude da falta de garantias a oferecer”.<br />
Com essas justificativas, o então deputado Antônio Kandir apresentou o<br />
Projeto de Lei n. 1.830/96 (vide anexo A), que visava criar e regulamentar uma<br />
sociedade que seria denominada “Sociedade de Garantia Solidária”, conhecida pela<br />
sigla “SGS” (PL 1.830/96, art. 2º, § 2º). Tal sociedade teria a “finalidade de facilitar o<br />
financiamento das microempresas (ME) e das empresas de pequeno porte (EPP)”<br />
(PL 1.830/96, art. 1º,), através da concessão de garantias aos seus sócios<br />
participantes mediante a celebração de contratos (PL 1830/96, art. 2º).<br />
Segundo Hentz (2000), a SGS não nasceu no Brasil, como se pode verificar<br />
em alguns de seus formatos citados no terceiro capítulo. Já foi regulamentada e<br />
implementada em vários países, sendo largamente utilizada. Tais experiências têm<br />
proporcionado excelentes resultados para as empresas de pequeno porte desses<br />
países, pois visam à facilitação de acesso ao crédito para as micros e pequenas<br />
empresas, mediante a concessão de garantias, proporcionando-lhes um<br />
desenvolvimento e melhoria de suas condições financeiras.<br />
Segundo Hentz (2000, p. 1-2),<br />
não é uma novidade no mundo. A Espanha autoriza a constituição de<br />
‘sociedades de garantia recíproca’ desde 1978. E mais<br />
recentemente, em 1993, regulamentou em detalhes esse mecanismo<br />
de facilitação de acesso ao crédito e melhora das condições<br />
financeiras das pequenas e médias empresas. No Brasil, a<br />
‘sociedade de garantia solidária’ (a pequena mudança no nome não<br />
retira a evidência de ser cópia do modelo estrangeiro) está<br />
autorizada desde 5/10/1999, pela Lei nº 9. 841. Trata-se da lei que<br />
instituiu, mais uma vez, o Estatuto da Microempresa e da Empresa<br />
de Pequeno Porte. As alterações do estatuto são mínimas em<br />
relação ao regime anterior, de 1994, a não ser mesmo pela<br />
disciplina, nos artigos 25 a 31, da sociedade de garantia solidária.
38<br />
Hentz (2000) citou como exemplo a Espanha, mas tal espécie de sociedade já<br />
existe também em vários outros países, como na Itália, Japão, Estados Unidos<br />
(BN<strong>DE</strong>S, 2004), o que vem demonstrar tratar-se de uma experiência testada. Apesar<br />
de variações na sua constituição e estrutura, respeitadas as diferenças culturais e<br />
legais, sua finalidade é prestar garantias a micros e pequenas empresas para<br />
possibilitar-lhes ou facilitar-lhes acesso ao crédito.<br />
4.3 Da regulamentação das Sociedades de Garantia Solidária<br />
Desde 1996, tramitavam, simultaneamente, dois projetos de lei: um iniciado<br />
na Câmara, o PL 1830/96 (KANDIR, 1996 – Anexo A), que instituiria as Sociedades<br />
de Garantia Solidária. O outro projeto de lei originário do Senado (PLS 32/96) que,<br />
quando sancionado, transformou-se na Lei n. 9.841/99 – Estatuto da Microempresa<br />
e da Empresa de Pequeno Porte. (BRASIL, 2006)<br />
Ocorreu que, na fase final de tramitação do PLS 32/96, a criação das SGSs<br />
foi a ele incorporada por meio de substitutivo elaborado a partir do Projeto de Lei n.<br />
1.830/96 apresentado por Kandir. Por essa razão, a regulamentação das<br />
Sociedades de Garantia Solidária encontra-se na Lei n. 9.841/99, art. 25 a 31, eis<br />
que o PLS 32/96, ao ser aprovado e sancionado, transformou-se nessa lei que<br />
institui o “Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte” (BRASIL,<br />
2006).<br />
A Lei n. 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno<br />
Porte) surgiu para dar efetividade ao comando constitucional, regulamentando o<br />
tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às micros e pequenas<br />
empresas, previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal.<br />
Assim, a Lei n. 9.841/99 introduziu em nosso ordenamento jurídico a figura da<br />
Sociedade de Garantia Solidária, regulamentando-a como prevista no seu capítulo<br />
VIII, cujo art. 25 determina que tal sociedade deve ser constituída sob a forma de<br />
sociedade anônima, tendo por objeto a concessão de garantia a seus sócios<br />
participantes.
39<br />
Tal lei dispõe que a SGS será constituída de sócios participantes e sócios<br />
investidores e, assim, por determinação legal do seu art. 25, parágrafo único, “os<br />
sócios participantes serão, exclusivamente, microempresas e empresas de pequeno<br />
porte com, no mínimo, 10 (dez) participantes e participação máxima individual de 10<br />
(dez) por cento do capital social”.<br />
Já o art. 25, parágrafo único, II, dispõe que “os sócios investidores serão<br />
pessoas físicas ou jurídicas que efetuarão aporte de capital na sociedade, com o<br />
objetivo exclusivo de auferir rendimentos, não podendo sua participação, em<br />
conjunto, exceder a quarenta e nove por cento do capital social”.<br />
Ao tratar da limitação do número de sócios participantes para a constituição<br />
de uma Sociedade de Garantia Solidária, Féres (2000, p. 7) indaga qual deveria ser<br />
o número mínimo de sócios necessário para a constituição dessa sociedade.<br />
Ora, a lei determina que uma SGS seja constituída por sócios participantes<br />
cujo número mínimo será de 10, com participação societária individual de no máximo<br />
10% (dez por cento) do capital social e sócios investidores.<br />
A lei não dispõe sobre a quantidade mínima de sócios investidores, tampouco<br />
sobre o percentual máximo de sua participação individual, somente estabelecendo o<br />
limite máximo da participação dos sócios da categoria investidores no seu conjunto,<br />
ou seja 49% do capital social.<br />
À pergunta formulada – Qual o número mínimo de sócios necessário para a<br />
constituição dessa sociedade? – segundo Féres (2000, p. 7-8), duas respostas<br />
apresentam-se plausíveis – a primeira, 10 sócios participantes, mínimo legal de<br />
sócios dessa categoria, cada um com 10% do capital social, máximo legal permitido<br />
para cada sócio dessa categoria:<br />
A primeira delas, e mais acertada, é no sentido de que devem<br />
concorrer, no mínimo, dez sócios, número representativo do mínimo<br />
legal de sócios participantes (MEs e/ou EPPs). Isso, em se<br />
entendendo dispositiva a norma do referido ditame legal. A própria<br />
lei, ao estabelecer que cada qual dos dez sócios participantes<br />
(mínimo legal dessa categoria) concorrerá com, no máximo, 10% do<br />
capital social, enseja a possibilidade de criação de uma sociedade<br />
com dez sócios e capital distribuído igualmente entre eles.<br />
Dispensada, destarte, na sociedade, a integração de sócio investidor.<br />
A segunda resposta, 12 sócios, sendo 10 sócios participantes (mínimo legal<br />
exigido) e 2 sócios investidores, assim justificado:
40<br />
Lado outro, se se imprimisse imperatividade ao conteúdo do art. 25,<br />
parágrafo único, deveria haver o número mínimo de 12 (doze) sócios.<br />
Chegar-se-ia a esse resultado pela adição de dois sócios<br />
investidores ao imperativo mínimo de 10 (dez) sócios participantes.<br />
Os dois investidores justificar-se-iam por ser o menor número inteiro<br />
extraível do plural da expressão ‘e sócios investidores’ (FÉRES,<br />
2000, p. 8).<br />
Quanto ao fato de ora ser considerada como norma dispositiva, ora como<br />
norma imperativa, as duas interpretações são permitidas, apesar de,<br />
hermeneuticamente, Féres (2000, p. 8) entender mais correta a primeira, salientando<br />
que a razão de ser dessa sociedade é, primordialmente:<br />
[...] envidar um patrimônio idôneo a fazer frente às necessidades de<br />
garantia, que tanto embaraçam o exercício das atividades das MEs e<br />
das EPPs. Essa finalidade pode, perfeitamente, ser atingida por<br />
intermédio de sociedade de garantia solidária composta por dez<br />
pessoas enquadradas como MEs e/ou EPPs.<br />
Entretanto, mesmo sendo possível a constituição de uma SGS com a<br />
participação de 10 sócios participantes, cada um com 10% de participação no capital<br />
social, observa-se que, salvo melhor juízo, todos serão micro e/ou pequenas<br />
empresas, que demandarão por garantias a serem prestadas pela SGS. Nessas<br />
circunstâncias, apesar de possível juridicamente, a sua capacidade de efetivar o seu<br />
objeto social restará reduzida e a sua finalidade comprometida.<br />
Quanto ao novo instituto introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, para<br />
ser utilizado como mecanismo de garantias para concessão de crédito às micros e<br />
pequenas empresas, Hentz (2000, p. 2) assim analisou o seu mérito:<br />
O mérito do novo sistema é a formação de parcerias nos negócios,<br />
ao contrário dos mecanismos tradicionais de concessão de crédito,<br />
em que os bancos não têm como meta financiar empreendimentos,<br />
mas obter remuneração para o capital dos seus acionistas e<br />
emprestadores.<br />
Quanto à estrutura, como nas sociedades anônimas, o art. 26, IV, da Lei n.<br />
9.841, determina que o órgão máximo das SGSs será a Assembléia Geral, que<br />
elegerá o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, e este último indicará a<br />
Diretoria Executiva, cujas atribuições deverão ser estabelecidas no estatuto social.
41<br />
Entretanto, o art. 26, caput, da Lei n. 9.841, diferentemente do que ocorre<br />
numa sociedade anônima, determina que o estatuto social da SGS “deve<br />
estabelecer, [além da] finalidade social, condições e critérios para admissão de<br />
novos sócios participantes e para sua saída e exclusão”.<br />
Como exemplo, podemos levantar a hipótese em que a SGS fosse obrigada a<br />
honrar uma garantia prestada e não fosse ressarcida pelo sócio participante<br />
beneficiário: a SGS deverá excluir esse sócio inadimplente da sociedade, tendo,<br />
nesse caso, como previsto no art. 26, II, da Lei n. 9.841, o “privilégio sobre as ações<br />
detidas pelo sócio excluído por inadimplência”.<br />
Exige-se também a constituição de reserva legal (art. 27, III, da Lei n. 9.841),<br />
alocando-se 5% dos resultados líquidos até o limite de 20% do capital social.<br />
Após a alocação dos 5% para a reserva legal, até o limite de 20% do capital<br />
social (art. 27, III, da Lei n. 9.841) aos sócios participantes, como os beneficiários de<br />
concessão de garantia por parte das SGSs, somente serão distribuídos 50% do<br />
resultado líquido a que proporcionalmente lhes caiba (art. 27, III, da Lei n. 9.841). Os<br />
outros 50% serão destinados ao fundo de risco (art. 27, III, da Lei n. 9.841).<br />
De forma diferente, a distribuição do resultado líquido aos sócios investidores,<br />
por não haver nenhuma limitação legal, deverá ser feita na proporção de sua<br />
participação no capital social, lembrando que o seu objetivo na sociedade é auferir<br />
rendimentos (art. 25, II, da Lei n. 9.841), e para os sócios participantes o objetivo é a<br />
obtenção de garantias por parte da SGS (art. 25 da Lei n. 9.841).<br />
Como essa sociedade que tem por principal objeto social a concessão de<br />
garantia a seus sócios participantes, a SGS deverá instituir um fundo de risco, que<br />
fará parte de seu patrimônio. Tal fundo de risco será integrado por 50% da parte<br />
correspondente aos sócios participantes, por aporte dos sócios investidores e de<br />
outras receitas aprovadas pela Assembléia-Geral da sociedade (art. 27, III, 2ª parte<br />
da Lei n. 9.841).<br />
Além desse fundo de risco, deverá ser constituída uma reserva legal,<br />
aprovisionando-se 5% dos resultados líquidos decorrentes das atividades da<br />
Sociedade de Garantia Solidária, até completar 20% do capital social (art. 27, III, da<br />
Lei n. 9.841).<br />
Ainda visando à preservação das próprias sociedades de garantia solidária,<br />
deverão ser atendidas as seguintes condições: “proibição de concessão de crédito a
42<br />
seus sócios ou a terceiros” (art. 27, II, da Lei n. 9.841) e “proibição de concessão a<br />
um mesmo sócio participante de garantia superior a dez por cento do capital social<br />
ou do total garantido pela sociedade, o que for maior” (art. 27, I, da Lei n. 9.841).<br />
Assim, essas limitações foram determinadas para preservar a capacidade de a SGS<br />
conceder garantia a seus sócios participantes, cumprindo o seu objeto social.<br />
Dessa forma, para não fugir à finalidade da Sociedade de Garantia Solidária,<br />
ao definir como seu objeto somente a concessão de garantias a seus sócios<br />
participantes, proíbe expressamente a concessão de crédito seja a sócios ou a<br />
terceiros.<br />
Para realizar o objeto das SGSs – a concessão de garantia ao sócio<br />
participante –, necessário que se formalize tal negócio jurídico mediante um contrato<br />
de garantia solidária entre o sócio beneficiário e a SGS. Tal contrato, além de regular<br />
a concessão da garantia, mediante recebimento de taxa de remuneração pelo<br />
serviço prestado, deve fixar as cláusulas necessárias ao cumprimento das<br />
obrigações pelo sócio beneficiário perante a SGS (art. 28, caput, da Lei n. 9.841).<br />
Dentre tais disposições contratuais, conforme Feres (2000, p. 9), deve<br />
também estar prevista a possibilidade de o sócio participante – ME ou EPP – vir a<br />
ser desenquadrado de sua condição de micro ou de pequena empresa, ao exceder o<br />
limite de faturamento. Nessa hipótese, duas situações devem ser previstas e estar<br />
acordadas: ou sócio participante se retira da SGS, ou se torna um sócio investidor.<br />
Acredita-se que a segunda hipótese – o sócio participante tornar-se um sócio<br />
investidor – seja uma solução melhor para esse provável problema, eis que<br />
preserva, para aquele que era participante, a condição de sócio, agora na categoria<br />
de investidor. Convém lembrar, ainda, que há para aquele sócio – ME ou EPP – que<br />
foi desenquadrado de tal condição a possibilidade de voltar a se reenquadrar como<br />
micro ou pequena empresa, o que lhe permitiria novamente voltar a ser um sócio<br />
participante.<br />
Em caso de desenquadramento de sócio participante como ME ou EPP, “no<br />
referente ao contrato de garantia solidária firmado entre a sociedade e o sócio<br />
participante que ulteriormente vier a ser excluído, ele não será afetado, pois é ato<br />
jurídico perfeito, subsistindo sua plena eficácia” (FÉRES, p. 9).<br />
Para preservar a possibilidade de os sócios participantes tomarem créditos<br />
para seus empreendimentos mediante o oferecimento de garantias concedidas pela
43<br />
SGS, “para a concessão da garantia, a Sociedade de Garantia Solidária poderá<br />
exigir a contra-garantia por parte do sócio participante beneficiário” (art. 28,<br />
parágrafo único da Lei n. 9.841), sendo que as ações representativas do capital<br />
social dos sócios participantes não poderão ser oferecidas como garantia de<br />
qualquer espécie (art. 26, III, da Lei n. 9.841), protegendo-se, dessa forma, a sua<br />
participação acionária.<br />
Ao sócio participante beneficiário incumbe remunerar a Sociedade de<br />
Garantia Solidária pelo serviço prestado, isto é, pela concessão da garantia (art. 28,<br />
caput, da Lei n. 9.841) podendo ser-lhe exigida uma contragarantia (art. 28,<br />
parágrafo único da Lei n. 9.841).<br />
Tal concessão de garantia será regulada, nos termos do art. 28 da Lei n.<br />
9.841), por um contrato de garantia solidária, no qual serão fixadas as cláusulas<br />
necessárias ao cumprimento das obrigações do sócio beneficiário perante a<br />
sociedade.<br />
Entretanto, se o fim almejado pelas SGSs é, principalmente, prestar garantia<br />
aos seus sócios, que não têm exatamente essas garantias a oferecer ao sistema<br />
bancário, e sendo-lhes vedado dar como garantia as ações representativas do<br />
capital social, então como poderiam tais sócios oferecer às SGSs uma<br />
contragarantia? Tal exigência transformaria a tentativa de solução do problema em<br />
um círculo vicioso?<br />
4.4 Da securitização<br />
A Lei n. 9.841/99 traz a solução para essa questão nos seus arts. 29 e 30: a<br />
securitização dos recebíveis das microempresas e das empresas de pequeno porte,<br />
eis que “as microempresas e as empresas de pequeno porte podem oferecer as<br />
suas contas e valores a receber como lastro para a emissão de valores mobiliários a<br />
serem colocados junto aos investidores no mercado de capitais” (art. 29), e “a SGS<br />
pode conceder garantia sobre o montante dos recebíveis de seus sócios<br />
participantes, objeto de securitização” (art. 30).
44<br />
Para melhor interpretar tais disposições legais e os efeitos de sua aplicação,<br />
Borba (2003, p. 569) ensina:<br />
Securitização provém do vocábulo anglo-saxão securitization, que, por<br />
sua vez, deriva de securities, palavra que significa títulos-valores em<br />
geral. Por securitização, portanto, entende-se a conversão de créditos<br />
contratuais ou dos chamados ‘recebíveis’ em geral em títulos de<br />
crédito ou em valores mobiliários.<br />
No mesmo sentido, Kandir (1996, p. 5 – cf. Anexo A) explica sobre<br />
securitização na justificativa apresentada juntamente com o projeto de lei para<br />
criação das SGSs,<br />
com o objetivo de agilizar o ingresso de recursos em seu fluxo de<br />
caixa, as microempresas e as empresas de pequeno porte podem<br />
oferecer as suas contas e valores a receber como lastro para a<br />
emissão de títulos e valores mobiliários a serem colocados junto aos<br />
investidores no mercado de capitais.<br />
Assim, esses recebíveis, além de servirem de lastro para a emissão de títulos<br />
e valores mobiliários a serem colocados à disposição dos investidores, segundo<br />
Kandir (1996) também podem servir como contragarantia às SGSs, pelas garantias<br />
prestadas aos sócios participantes, exclusivamente micros e pequenas empresas.<br />
Segundo Borba (2003, p. 570), poderão ser objeto de securitização “créditos<br />
com garantia hipotecária ou pignoratícia, [...] créditos decorrentes de contrato de<br />
locação, de cartões de crédito ou de simples empréstimos, ou ainda contas a cobrar<br />
em geral (os recebíveis),” “de forma a transformá-los em lastro para a emissão de<br />
títulos-valores” que serão negociados no mercado de capitais.<br />
No caso das SGSs, esses créditos de contas e valores a receber convertidos<br />
em títulos-valores – títulos de crédito ou valores mobiliários – por intermédio da<br />
securitização, além de poderem servir de contragarantia para as garantias prestadas<br />
pela SGS, possibilitariam outras fontes de financiamento para tais sócios<br />
participantes – micros e pequenas empresas –, diminuindo sua dependência do<br />
sistema bancário.<br />
Ocorre que, conforme Borba (2003, p. 572), “a securitização, no direito<br />
brasileiro, [ainda] opera de maneira incipiente e limitada”.
45<br />
No Brasil, face à ausência de mecanismos legais específicos, [...] a<br />
securitização tem operado basicamente através do mecanismo de<br />
emissão de debêntures. Os créditos a serem securitizados, uma vez<br />
classificados e estruturados, são transferidos a uma sociedade de<br />
propósito específico [...], que, com base no lastro assim constituído,<br />
emite debêntures para colocação no mercado. (BORBA, 2003, p.<br />
571)<br />
Assim, por meio desses mecanismos – o da prestação de garantia e o da<br />
securitização – segundo Kandir (1996, p. 1),<br />
as Sociedades de Garantia Solidária desempenharão duas<br />
funções básicas:<br />
1) facilitar a formação de garantias para ampliar o acesso de<br />
micro e pequenas empresas ao crédito bancário;<br />
2) abrir-lhes as portas do mercado de capitais, por meio de<br />
operações de securitização de suas contas e valores a receber.<br />
Entretanto, mesmo para os sócios participantes que não precisem de<br />
garantias ou para aqueles de quem não forem exigidas contragarantias, as SGSs<br />
podem “também prestar o serviço de colocação de recebíveis perante a empresa de<br />
securitização especializada na emissão dos títulos e valores mobiliários<br />
transacionáveis no mercado de capitais” (art. 30, 2ª parte, da Lei n. 9.841/99).<br />
Consta da justificativa que acompanhou o projeto de lei que, além de “ampliar<br />
as possibilidades de oferta de garantias por parte de micro e pequenas empresas<br />
interessadas no crédito bancário”, a SGS também ampliaria “as fontes possíveis de<br />
captação de recursos, por meio da securitização de recebíveis [contas e valores a<br />
receber]” Kandir (1996), dessas empresas (ME e EPP), permitindo-lhes “o acesso<br />
[...] aos recursos do mercado de capitais, reduzindo-se dessa forma a sua<br />
dependência do crédito bancário” (KANDIR, 1996, p. 6 – cf. Anexo A).<br />
No mesmo sentido, Hentz (2000, p. 2) assim se manifesta: “ [...] Não vai dar<br />
ainda para viver sem banco. Mas a dependência em relação ao mercado financeiro<br />
dos gigantes, dessa os micro e pequenos empresários podem ficar livres.”<br />
Assim constituída, a SGS terá como receita os rendimentos gerados pelos<br />
investimentos feitos com a participação acionária dos sócios participantes e dos<br />
sócios investidores, o recebimento de taxa de remuneração pelas garantias<br />
prestadas aos sócios participantes, podendo também auferir remuneração ao<br />
“prestar o serviço de colocação de recebíveis junto à empresa de securitização
46<br />
especializada na emissão dos títulos e valores mobiliários transacionáveis no<br />
mercado de capitais” (art. 30, caput, da Lei n. 9.841/99).<br />
4.5 Importantes mecanismos retirados do projeto de lei da SGS<br />
Infelizmente, com o substitutivo e a sua incorporação ao PLS 32/96, que,<br />
posteriormente, se transformou na Lei n. 9.841/99, o projeto original – PL n. 1.830/96<br />
– do Deputado Antônio Kandir sofreu distorções que, salvo melhor juízo, retiraramlhe<br />
mecanismos importantes de incentivo à criação das SGSs, como:<br />
• redução dos objetos dessa espécie de sociedade, o que ampliaria o seu<br />
campo de atuação, mas também reforçaria a sua capacidade de ação para<br />
efetivação de seu objeto principal, questão desenvolvida no item 4.5.1;<br />
• tratamento tributário diferenciado para as próprias SGSs e também para<br />
aqueles que aplicassem o seu capital na SGS, como tratado no item 4.5.2.<br />
4.5.1 Outros objetos sociais<br />
Cotejando a regulamentação dada às SGSs (art. 25 a 31 da Lei n. 9.841/99) e<br />
o projeto de lei apresentado (PL n. 1.830/96), não foram mantidas na lei as várias<br />
possibilidades de objeto social relacionados no projeto. Na lei, o objeto de tal<br />
sociedade é exclusivamente a concessão de garantia a seus sócios participantes:<br />
Art. 25. É autorizada a constituição de Sociedade de Garantia<br />
Solidária, constituída sob a forma de sociedade anônima, para a<br />
concessão de garantia a seus sócios participantes, mediante a<br />
celebração de contrato.<br />
Tratando-se de direito privado, poder-se-ia entender que outros objetos não<br />
relacionados na lei seriam permitidos. Mas, a sua enumeração traria maior<br />
entendimento sobre o novo e importante instituto que, então, era regulamentado.
47<br />
Compare-se o art. 25 da Lei n. 9.841/99, já transcrito, com o art. 2º e seu § 1º do PL<br />
n. 1.830/96:<br />
Art. 2º. O principal objeto da Sociedade de Garantia Solidária é a<br />
concessão de garantia a seus sócios participantes mediante a<br />
celebração de contratos regulados por esta Lei.<br />
§ 1º. A Sociedade de Garantia Solidária pode realizar assessorias<br />
técnica, econômica, financeira e legal aos sócios, diretamente ou<br />
através de terceiros contratados para esse fim.<br />
O caput do art. 2º do PL n. 1.830/96 determinava como principal objeto social<br />
da SGS a “concessão de garantia a seus sócios participantes mediante a celebração<br />
de contratos...” Entretanto, visando a uma abrangência maior da área de atuação<br />
das SGSs, o projeto relacionava, além da concessão de garantia aos sócios<br />
participantes, outros objetos sociais, como realizar assessorias técnica, econômica,<br />
financeira e legal aos sócios, diretamente ou através de terceiros contratados para<br />
esse fim (Cf. PL n. 1.830/96, art. 2º, § 1º).<br />
Observe-se que, mesmo não constando como objeto das SGSs, tais<br />
mecanismos de apoio já eram preocupação do legislador, eis que na mesma Lei n.<br />
9.841/99 determinou-se:<br />
Art. 15. As instituições financeiras oficiais que operam com crédito<br />
para o setor privado manterão linhas de crédito específicas para as<br />
microempresas e para as empresas de pequeno porte, devendo o<br />
montante disponível e suas condições de acesso ser expressas, nos<br />
respectivos documentos de planejamento, e amplamente divulgados.<br />
Art. 16. As instituições de que trata o art. 15, nas suas operações<br />
com as microempresas e com as empresas de pequeno porte,<br />
atuarão, em articulação com as entidades de apoio e representação<br />
daquelas empresas, no sentido de propiciar mecanismos de<br />
treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica<br />
articulados com as operações de financiamento.<br />
Art. 22. O Poder Executivo diligenciará para que se garantam às<br />
entidades de apoio e de representação das microempresas e<br />
empresas de pequeno porte condições para capacitarem essas<br />
empresas para que atuem de forma competitiva no mercado interno<br />
e externo, inclusive mediante o associativismo de interesse<br />
econômico.<br />
Assim, além da prestação de garantia a seus sócios – seu objeto principal –, a<br />
atuação da SGS poderia abranger outros objetos sociais, como essas assessorias
48<br />
técnica, econômica, financeira e legal aos sócios, uma vez que lhe é permitido “[...]<br />
prestar o serviço de colocação de recebíveis junto a empresa de securitização<br />
especializada na emissão dos títulos a valores mobiliários transacionáveis no<br />
mercado de capitais” (Lei n. 9.841/99, art. 30, 2ª parte), independentemente de<br />
haver demanda por garantia ou necessidade de se prestar contragarantia.<br />
Segundo Hentz (2000, p. 2),<br />
a nova figura [referindo-se à Sociedade de Garantia Solidária] vai<br />
depender muito do apoio das entidades vinculadas às<br />
microempresas e às empresas de pequeno porte, em especial o<br />
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –<br />
SEBRAE. Aliás, a Lei n. 9.841/99 diz que o Poder Executivo firmará<br />
convênio com o Sebrae para o registro, acompanhamento e<br />
fiscalização das sociedades de garantia solidária.<br />
4.5.2 Exclusão do tratamento tributário diferenciado<br />
Provavelmente, a mais importante proposta do projeto que não restou incluída<br />
na lei tenha sido o tratamento tributário diferenciado. Ao contrário da Lei n. 9.841/99,<br />
o PL n. 1.830/96, cujo texto serviu de base para o substitutivo que introduziu a<br />
regulamentação das SGSs na Lei n. 9.841/99, previa tratamento tributário especial<br />
para as SGSs: um importante instrumento de incentivo à criação de tais sociedades<br />
e uma forma de dar efetividade ao tratamento jurídico diferenciado determinado pelo<br />
art. 179 da CR, eis que apesar de não ser microempresa nem empresa de pequeno<br />
porte, o objeto social das SGSs beneficia diretamente essas empresas.<br />
Pelo PL n. 1.830/96, as SGSs seriam sociedades cujo principal objeto deveria<br />
ser a concessão de garantias a seus sócios participantes, exclusivamente<br />
microempresas e empresas de pequeno porte. Com o tratamento tributário<br />
diferenciado, encontra-se, diretamente, uma fórmula de incentivar a constituição de<br />
sociedades de garantia solidária, proporcionando condições para sua manutenção e,<br />
indiretamente, uma maneira de “ampliar radicalmente as possibilidades de obtenção<br />
de crédito por parte de micro e pequenas empresas”, por meio do mecanismo de<br />
concessão de garantias a tais empresas. Pelo art. 14 do projeto de lei,
49<br />
Art. 14. a Sociedade de Garantia Solidária fica [ficaria] isenta dos<br />
seguintes tributos:<br />
I – imposto de renda e proventos de qualquer natureza.<br />
II – imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas<br />
a títulos e valores mobiliários.<br />
III – imposto sobre serviços de qualquer natureza.<br />
Além da previsão de isenção de tais tributos para as próprias SGSs, o<br />
tratamento tributário seria ainda mais abrangente, já que permitia a dedutibilidade do<br />
aporte de capital efetivado pelos sócios no imposto de renda: para as pessoas<br />
jurídicas, dedução para fins de cálculo de lucro tributável; para as pessoas naturais,<br />
para o cálculo do imposto de renda, como se verifica na transcrição do art. 15 do PL<br />
n. 1.830/96:<br />
Art. 15. Os aportes de capital de sócios participantes e investidores<br />
serão dedutíveis para os fins de cálculo do lucro tributável, no caso<br />
de pessoa jurídica, e para o cálculo do imposto devido, no caso de<br />
pessoa física.<br />
Assim, além da isenção para as SGSs do imposto de renda e proventos de<br />
qualquer natureza, do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou<br />
relativas a títulos e valores mobiliários e do imposto sobre serviços de qualquer<br />
natureza, constantes do art. 14 do PL 1830/96), também não foi aprovada a<br />
dedutibilidade no imposto de renda dos investimentos realizados pelos sócios,<br />
pessoas naturais ou jurídicas, à conta das Sociedades de Garantia Solidária.<br />
Tal dedução seria um importante incentivo para a adesão dos sócios e a<br />
criação de tais sociedades, o que não ocorreu. Deixou o Estado, dessa forma, de<br />
dar a sua contribuição e incentivo à implementação de tal instituto.
50<br />
5 SGS: SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> COOPERATIVA OU ANÔNIMA?<br />
No segundo capítulo deste trabalho, tratamos de sociedade de modo geral,<br />
sob o ponto de vista da filosofia e da sociologia, especialmente da filosofia e da<br />
sociologia jurídicas.<br />
No terceiro capítulo, verificamos algumas experiências referentes à<br />
implementação de sociedades de garantia mútua em outros países e quais<br />
resultados foram alcançados.<br />
No quarto capítulo, debruçamo-nos sobre o instituto da Sociedade de<br />
Garantia Solidária, analisando-a sob o aspecto histórico e jurídico, na tentativa de<br />
entender em que consiste, quais princípios nortearam sua introdução no<br />
ordenamento jurídico brasileiro, qual a forma de constituição, a estrutura jurídica, o<br />
objeto, a finalidade.<br />
Neste quinto capítulo, após estudar as características da SGS, propomos-nos<br />
a verificar se as relações da SGS com os sócios participantes guarda elementos<br />
comuns com as características das relações das cooperativas com seus sócios e,<br />
também, se as relações da SGS com os sócios investidores apresenta<br />
características similares às das sociedades anônimas com seus acionistas.<br />
Para realizar tal incursão no direito societário, limitar-nos-emos a identificar<br />
em outras espécies de pessoa jurídica, atualmente previstas na legislação brasileira,<br />
as características das Sociedades de Garantia Solidária, a partir da análise de<br />
alguns de seus elementos estudados no quarto capítulo e de outros incluídos nesta<br />
quinta parte.<br />
A Lei n. 10.406, de 2002, instituiu o Código Civil brasileiro que, em seu art. 44,<br />
enumera as pessoas jurídicas de direito privado: fundações, associações,<br />
sociedades, organizações religiosas e partidos políticos.<br />
As organizações religiosas e partidos políticos em nada interessam neste<br />
estudo. Também as fundações não apresentam ponto de contato com este trabalho,<br />
pois, segundo Borges (2003, p. 5) não representam “um fenômeno associativo”, não<br />
dispondo de um quadro de sócios, sendo instituídas a partir de um patrimônio e<br />
destinando-se a “atividades religiosas, morais, culturais ou de assistência”.
51<br />
Em relação às associações, conforme o art. 53 do Código Civil dispõe:<br />
“Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins<br />
não econômicos”.<br />
A partir desse conceito, percebe-se que as associações se diferenciam das<br />
SGSs no essencial: faltam-lhes os elementos para caracterizá-las como empresas<br />
que representam o objeto das sociedades, como definidos no art. 969 do Código<br />
Civil: “Empresa é o exercício profissional de atividade econômica organizada para a<br />
produção ou a circulação de bens e serviços” porque, ao contrário das associações,<br />
as SGSs têm fins econômicos. Desse modo, a análise das características das<br />
associações não se mostra pertinente ao tema em estudo.<br />
Assim, se já descartamos para este trabalho o estudo das organizações<br />
religiosas, os partidos políticos, as associações e as fundações, nossas observações<br />
ficarão concentradas nas sociedades.<br />
A partir da vigência do o Código Civil (Lei n. 10.406/02), em janeiro de 2003,<br />
houve a unificação do direito privado. A primeira parte do Código Comercial foi<br />
incorporada ao Código Civil. O Direito de Empresa é tratado no Livro II do Código<br />
Civil vigente.<br />
A nova legislação sobre as sociedades as divide em sociedades<br />
personificadas e não personificadas. Nesta última classificação, incluem-se a<br />
sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, as chamadas<br />
sociedades não personificadas. Estas, por não serem regularmente registradas,<br />
deixam de oferecer contribuição a este trabalho, porque não é possível imaginar<br />
uma SGS na informalidade.<br />
Quanto às sociedades personificadas, o atual Código Civil regulamenta os<br />
seguintes tipos societários: sociedade simples, sociedade em nome coletivo,<br />
sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações e também as<br />
sociedades limitadas que eram reguladas pelo Decreto-Lei n. 3.708/19, então<br />
revogado. Quanto às sociedades anônimas e às sociedades cooperativas, o<br />
legislador as relaciona entre as sociedades no Código Civil, ressalvando, porém, as<br />
leis especiais n. 6.404/76 e n. 5.764/71, que disciplinam, respectivamente, as<br />
sociedades anônimas e as cooperativas.<br />
A Sociedade de Garantia Solidária, objeto de nosso estudo, por determinação<br />
legal, deve ser constituída sob a forma de uma sociedade anônima. Todavia, ao
52<br />
analisar a regulamentação da SGS, poder-se-ia questionar se, realmente, tal<br />
sociedade, além da forma, seria essencialmente uma sociedade anônima ou se<br />
apresentaria características de uma cooperativa. Ou, ainda, se teria elementos<br />
característicos de ambas as sociedades, sendo, nesse caso, uma sociedade híbrida.<br />
Diante dessa questão, levanta-se a hipótese de que possa haver elementos<br />
comuns ou semelhantes entre as disposições legais que regulamentam as<br />
sociedades cooperativas e as sociedades anônimas e aquelas que regem as<br />
relações da SGS, respectivamente, com seus sócios participantes e sócios<br />
investidores.<br />
Dessa forma, apresenta-se oportuna e necessária a análise e a comparação<br />
de algumas das características das sociedades anônimas e das disposições que<br />
regem as relações dos sócios investidores com a SGS. De outro lado, torna-se,<br />
também, imprescindível, o cotejamento das características das sociedades<br />
cooperativas com os dispositivos legais que regulam as relações dos sócios<br />
participantes com a SGS. Por meio desse trabalho, surgirá a possibilidade de<br />
comprovar ou afastar tal hipótese.<br />
5.1 Da forma de constituição e estrutura organizacional<br />
Por determinação da Lei n. 9.841/99, a SGS será constituída sob a forma de<br />
sociedade anônima que, por sua vez é regulamentada pela Lei n. 6.404/76. Essa lei,<br />
em seu art. 1°, dispõe que “a companhia ou sociedade anônima terá o capital<br />
dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao<br />
preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas” e em seu art. 2° determina<br />
como “[...] objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo”. Assim,<br />
a sociedade anônima oferece as seguintes características básicas: a)<br />
é sociedade de capitais; b) é sempre empresária; c) o seu capital é<br />
dividido em ações transferíveis pelos processos aplicáveis aos títulos<br />
de crédito; d) a responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço<br />
de emissão das ações subscritas. (BORBA, 2003, p. 141)
53<br />
Conforme Corrêa-Lima (2003, p. 17) “a sociedade anônima pode ter objeto<br />
civil ou mercantil, [observando-se que], em qualquer das hipóteses, é mercantil e se<br />
rege pelas leis e usos do comércio (art. 2º, § 1º)”. E, quanto à estrutura, o mesmo<br />
jurista ainda adverte da exigência legal quanto à sua estrutura organizacional<br />
formada pelas assembléias gerais, conselho de administração, diretoria e conselho<br />
fiscal:<br />
Nada impede – e é até mesmo conveniente – que as sociedades<br />
civis [hoje, sociedades não-empresárias], sem se revestirem da<br />
forma de sociedade anônima, adotem a estrutura organizacional<br />
desta, com assembléias gerais, conselho de administração, diretoria,<br />
conselho fiscal, etc. (CORRÊA-LIMA, 2003, p. 17)<br />
Realmente, é de todo conveniente tal estrutura. À SGS, além da exigência de<br />
se revestir da forma de sociedade anônima, o legislador determinou, no art. 26, IV,<br />
que sua estrutura organizacional compreendesse “a Assembléia-Geral, órgão<br />
máximo da sociedade, que elegerá o Conselho Fiscal e o Conselho de<br />
Administração, que, por sua vez, indicará a Diretoria Executiva”.<br />
Mas também nas cooperativas, entre os órgãos sociais, a Assembléia Geral<br />
dos associados constitui o órgão supremo da sociedade por determinação do art. 38<br />
da Lei n. 5.764. Como órgãos de administração das sociedades cooperativas, a<br />
mesma norma legal exige uma Diretoria ou Conselho de Administração e também o<br />
Conselho Fiscal.<br />
Bulgarelli (1999, p. 253) relaciona como aspectos semelhantes entre<br />
sociedades cooperativas e anônimas o regime de administração, o sistema de<br />
publicidade e a forma de constituição e funcionamento, além de alguns aspectos de<br />
sua extinção:<br />
As semelhanças referem-se ao regime de administração, visto que a<br />
estrutura é formada de instrumentos aptos a conter um grande<br />
número de associados, com o regime estatutário sendo capaz de<br />
fazê-la manter-se independentemente da entrada e saída daqueles;<br />
o sistema de publicidade e a forma de constituição, funcionamento e<br />
alguns aspectos de sua extinção, discrepando, apenas, no tocante<br />
ao capital social, em razão do regime de sociedade de pessoas<br />
inerente às cooperativas.
54<br />
Mas, apesar de a SGS apresentar aspectos comuns às sociedades anônimas<br />
e às sociedades cooperativas, observa-se, porém, que, enquanto algumas das<br />
características da SGS são análogas às das sociedades anônimas, outras<br />
apresentam-se claramente contrastantes, assemelhando-se às das sociedades<br />
cooperativas, pelo que convém analisá-las.<br />
Meinen (2003, p. 186) salienta que a identificação do que seja uma sociedade<br />
cooperativa encontra o melhor balizamento justamente no diploma regulador próprio<br />
do tipo societário – Lei n. 5.764/71 – o qual, em seu art. 3º, prevê:<br />
Art. 3°. Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que<br />
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para o<br />
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem<br />
objetivo de lucro.<br />
Já o art. 4º da Lei n. 5.764/71 dispõe que “as cooperativas são sociedades de<br />
pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil [hoje, nãoempresárias],<br />
não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos<br />
associados [...]”.<br />
Enquanto se exige para a constituição da SGS a forma de sociedade<br />
anônima, quanto à estrutura organizacional, as SGSs devem, obrigatoriamente,<br />
constituir Assembléia Geral, Conselho Fiscal, Conselho Administrativo e Diretoria<br />
Executiva, órgãos sociais e administrativos também exigidos tanto para as<br />
sociedades anônimas quanto para as sociedades cooperativas.<br />
5.2 Do objeto social<br />
Segundo Borba (2003, p. 46) “o objeto social é um dos elementos mais<br />
sensíveis da sociedade empresária, uma vez que, definindo a atividade a que se<br />
propõe a empresa, demarca-lhe o âmbito em que exercerá o comércio”.<br />
Corrêa-Lima (2006, p. 5) afirma que “a empresa continua mero objeto.<br />
Significa atividade organizada, exercida profissionalmente para a produção ou a<br />
circulação de bens ou de serviços”.
55<br />
Mas, “independentemente de seu objeto, considera-se empresária a<br />
sociedade por ações; e não empresária a cooperativa (art. 982, parágrafo único)”.<br />
(CORRÊA-LIMA, 2006, p. 11).<br />
A Lei n. 6.404, de 1976, a denominada “Lei das Sociedades Anônimas”, trata<br />
do objeto social já em seu art. 2°, dispondo que “pode ser objeto da companhia<br />
qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons<br />
costumes”, e determina, em seu § 2° que “o estatuto social definirá o objeto de modo<br />
preciso e completo”.<br />
Assim, reveste-se de grande importância ao se constituir uma sociedade a<br />
definição do seu objeto social. Tal definição tanto limita a atividade quanto<br />
estabelece seu foco e “os próprios sócios ou acionistas, ao decidirem ingressar na<br />
sociedade, fazem-no, normalmente, tomando como referência básica o objeto social,<br />
pois neste se qualifica o tipo de empreendimento de que querem participar”<br />
(BORBA, 2003, p. 46).<br />
Na sociedade anônima, “deverá o objeto social corresponder a um fim<br />
lucrativo, uma vez que não se admite sociedade anônima beneficente ou caritativa.<br />
Nessas hipóteses, ter-se-ia uma associação [...]” (BORBA, 2003, p. 164) que não<br />
poderia se revestir da forma da sociedade anônima.<br />
Importante salientar, ainda, que “a anônima é uma sociedade de fins<br />
econômicos, destinando-se a produzir lucros para distribuição a seus acionistas”<br />
(BORBA, 2003, p. 164), devendo-se entender, assim, que não basta a atividade<br />
lucrativa, mas também que o lucro se destine, fundamentalmente, a remunerar o<br />
quadro social que, no caso da anônima, corresponde aos seus acionistas.<br />
Já o objeto da sociedade cooperativa, segundo Franke (apud SIQUEIRA,<br />
2004, p. 47), é “o ramo da atividade [em] que estão os cooperados inseridos, e que<br />
será utilizado para viabilizar os fins da sociedade”. Quanto ao objetivo da<br />
cooperativa, Martins (2003, p. 46) explica: “Bem melhor avaliando o cooperativismo,<br />
considera o objetivo da [sociedade] cooperativa a cooperação entre pessoas para<br />
determinado fim comum, visando a melhoria das condições de vida dos seus<br />
participantes”.<br />
Dessa forma, em relação às cooperativas, Siqueira (2004, p. 47) identifica o<br />
seu objeto com o ramo da atividade em que os cooperados estejam inseridos, o que,<br />
por sua vez, será o meio para se atingir os fins da sociedade. E se tal sociedade, a
56<br />
cooperativa, não tem fins lucrativos, sua finalidade será social, eis que visa à<br />
melhoria das condições de vida dos seus associados, hoje denominados pela<br />
legislação civil como sócios (art. 1094 e seguintes, CCB).<br />
A partir desse entendimento, percebe-se que o mesmo ocorre com a SGS. O<br />
seu objeto seria a prestação de garantia a seus sócios participantes. Por meio desse<br />
objeto – a prestação de garantia –, alcançaria a sua finalidade social, resultado<br />
esperado pelos sócios participantes, bem como atingiria sua finalidade lucrativa, que<br />
atenderia ao objetivo de lucro esperado pelos sócios investidores.<br />
5.3 SGS: objetivo de lucro e/ou finalidade social?<br />
Questão interessante foi levantada por Corrêa-Lima (2003) sobre a SGS que<br />
tem por objeto a concessão de garantia a seus sócios participantes, mediante a<br />
celebração de contratos. Diante de tal determinação legal, Corrêa-Lima (2003, p. 35)<br />
observa que “dentre os “contratos”, referidos no artigo 25, da Lei n. 9.841/99, inserese,<br />
naturalmente, o contrato de fiança”. Sobre isso, o respeitado doutrinador levanta<br />
a seguinte questão:<br />
É certo que o contrato de fiança tanto pode ser gratuito como<br />
oneroso. Contudo, à luz do esquema tradicional do Direito<br />
empresarial, não é fácil conceber que uma empresa possa,<br />
simultaneamente: a) ter por objeto ‘a concessão de garantia a seus<br />
sócios participantes, mediante a celebração de contratos’ e b) ter<br />
finalidade lucrativa e, principalmente, produzir lucros [...].<br />
Tal colocação de Corrêa-Lima merece detida análise, assim como a seguinte<br />
questão que lhe é pertinente: O art. 26 da Lei n. 9.841/99 exige que no estatuto<br />
social da sociedade de garantia solidária seja definida a sua “finalidade social”. A<br />
esse respeito, Corrêa-Lima (2003, p. 35) confirma que tal disposição legal sobre a<br />
SGS “não se refere à finalidade lucrativa. Refere-se a ‘finalidade social’”.<br />
Cotejando o inciso II do parágrafo único do art. 25 e o inciso I do art. 26 da Lei<br />
n. 9.841/99, a questão se torna ainda mais complexa, eis que no art. 25 o legislador<br />
usou a palavra objetivo (exclusivo de auferir lucro) e no art. 26 a expressão
57<br />
finalidade social em relação à sociedade de garantia solidária, como se pode<br />
constatar:<br />
Art. 25. [...]<br />
Parágrafo único – A sociedade de garantia solidária será constituída<br />
de sócios participantes e sócios investidores:<br />
I – [...];<br />
II – os sócios investidores serão pessoas físicas ou jurídicas, que<br />
efetuarão aporte de capital na sociedade, com o objetivo exclusivo de<br />
auferir rendimentos, não podendo sua participação, em conjunto,<br />
exceder a 49% (quarenta e nove por cento) do capital social.<br />
Art. 26. O estatuto social da sociedade de garantia solidária deve<br />
estabelecer:<br />
I – Finalidade social, condições e critérios para admissão de novos<br />
sócios participantes e para sua saída e exclusão.<br />
Dessa forma, questiona-se a essência da SGS. A sua finalidade seria<br />
lucrativa ou social? O seu “objetivo exclusivo de auferir rendimentos”, do art. 25,<br />
parágrafo único, II, seria compatível com “finalidade social”, disposta no art. 26, I?<br />
Ou comportaria o objetivo de lucro e a finalidade social?<br />
Diante de tais questões, necessário se faz analisar o conceito de objetivo e<br />
finalidade:<br />
Objetivo quer dizer “Mat. No método interativo, o valor final para o qual<br />
convergem progressivamente os resultados das sucessivas interações” (FERREIRA,<br />
1986, p. 1.208).<br />
Finalidade significa “fim a que se destina uma coisa; objetivo, alvo;<br />
destinação” (FERREIRA, 1986, p. 781).<br />
Como as definições se mostram semelhantes, questiona-se: Teria tal<br />
sociedade uma finalidade social para atender os sócios participantes que precisam<br />
de garantias e outra lucrativa, que visaria dar retorno aos sócios investidores que<br />
aplicaram valores para auferir rendimentos?<br />
Mas como compatibilizar objetivo de lucro com finalidade social numa mesma<br />
sociedade? Ou a SGS aglutinaria características tanto das sociedades cooperativas<br />
quanto das sociedades de capital, como a sociedade anônima?<br />
Num trabalho comparativo, Meinen (2003, p. 187) afirma que as cooperativas<br />
“têm como objetivo essencial a prestação de serviços aos cooperativados, [enquanto<br />
as sociedades empresárias] visam lucro”.
58<br />
No mesmo sentido, Reis (2004, p. 385) ratifica:<br />
Sabemos que a sociedade cooperativa não se confunde com as<br />
sociedades empresárias. Estas têm finalidade de lucro, o que não<br />
ocorre com aquela, que é mera prestadora de serviços a seus<br />
associados, não obstante possa exercer atividades econômicas.<br />
As relações entre cooperados e cooperativa guardam diferenças essenciais<br />
daquelas estabelecidas entre sócios de sociedades empresariais, como as<br />
sociedades anônimas. Da mesma forma, por analogia, tentaríamos entender as<br />
relações dos sócios participantes e do sócios investidores com a SGS, eis que nas<br />
cooperativas<br />
o usuário é o próprio dono/cooperativado, estabelecendo [entre ele e<br />
a cooperativa] uma relação interna/não mercantil, [ao passo que, na<br />
sociedade empresária], o usuário é estranho ao dono,<br />
[estabelecendo-se entre eles uma] relação comercial/de consumo<br />
[entre o usuário e aquela sociedade] (MEINEN, 2003, p. 186-188).<br />
Em Reis (2004, p. 385), o mesmo entendimento: “[...] as cooperativas são<br />
organizadas para atender aos associados, fornecendo-lhes bens e serviços,<br />
enquanto que as empresas capitalistas, nesse espectro a sociedade por ações, para<br />
operarem no mercado e distribuir entre os sócios o lucro proveniente dessas<br />
atividades”.<br />
Nas sociedades cooperativas, “os excedentes são retornados na proporção<br />
das operações dos cooperativados (aos próprios usuários), [enquanto] o lucro é<br />
devolvido na proporção das ações detidas pelos acionistas (os usuários a nada têm<br />
direito)” (MEINEN, 2003, p. 186-188), o que vem demonstrar, mais uma vez, a<br />
finalidade social de uma e o objetivo lucrativo de outra.<br />
Assim, “a distribuição dos resultados nas cooperativas será proporcional às<br />
operações realizadas por cada sócio [...] e, com relação às sociedades anônimas, a<br />
distribuição dos lucros é calculada levando-se em consideração a proporção da<br />
participação de cada acionista no capital social”. (REIS, 2004, p. 386)<br />
Mas Reis (2004, p. 385) alerta:<br />
O investimento realizado pelos associados, nas sociedades<br />
cooperativas, têm diminuta, ou quase irrelevante importância,
59<br />
comparando-se com a expectativa dos benefícios que terão em<br />
serviços por ela prestados. Já na sociedade por ações ocorre o<br />
inverso, os acionistas, por assumirem o papel de investidor, se<br />
voltam em torno da expectativa de retribuição financeira como<br />
remuneração do capital aplicado.<br />
Conclui-se, dessa forma, que o cooperado espera benefícios sociais,<br />
enquanto o acionista, o lucro. A razão disso é que se associaram com finalidade e<br />
objetivo diferentes. Assim, suas expectativas se amoldam à finalidade social porque<br />
se associaram, ou ao objetivo lucrativo no qual investiram seu capital.<br />
Nesse sentido, as disposições legais da SGS apontam para diferentes<br />
categorias de sócios, com previsão de tratamento jurídico diferenciado para cada<br />
uma dessas categorias. Quanto aos sócios, os investidores se associam com o<br />
objetivo de auferir rendimentos, e os participantes, com a finalidade de ter acesso a<br />
benefícios por meio dos serviços que lhe serão prestados pela própria Sociedade de<br />
Garantia Solidária.<br />
5.4 Da constituição de fundo de reserva e do fundo de risco<br />
O art. 27, III, da Lei n. 9.841, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de<br />
Pequeno Porte, determina quanto à SGS, a constituição de um Fundo de Reserva,<br />
mediante a alocação de 5% dos resultados líquidos até o limite de 20% do capital<br />
social.<br />
Trata-se de determinação legal idêntica à prevista na lei das sociedades<br />
anônimas, em seu art. 193. Senão vejamos:<br />
Art. 193. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão<br />
aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da<br />
reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital<br />
social.<br />
Além do fundo de reserva, o art. 27, III, 2ª parte, da Lei n. 9.841/99, que<br />
regulamenta as SGSs, determina seja constituído o Fundo de Risco com 50% dos<br />
resultados líquidos da parte correspondente aos sócios participantes e também por
60<br />
aporte dos sócios investidores e de outras receitas aprovadas pela Assembléia Geral<br />
da sociedade.<br />
Da mesma forma que o fundo de reserva, o fundo de risco encontra<br />
permissivo legal no art. 194, I e II, da Lei n. 6.404/76, que regula as Sociedades<br />
Anônimas, dispondo sobre a possibilidade de se criar reservas estatutárias:<br />
Art. 194. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:<br />
I – indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;<br />
II – fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros<br />
líquidos que<br />
serão destinados à sua constituição.<br />
[...].<br />
Entretanto, a obrigatoriedade legal de constituição de fundos não é exclusiva<br />
das sociedades anônimas. Observa-se, também, na Lei n. 5.764, que define a<br />
Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades<br />
cooperativas e dá outras providências, que há determinação para a constituição de<br />
fundos, o de Reserva, o de Assistência Técnica, Educacional e Social, além de<br />
outros, desde que com fins determinados:<br />
Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:<br />
I – Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao<br />
desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por<br />
cento), pelo menos, das sobras líquidas do exercício;<br />
[...].<br />
§ 1° Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar<br />
outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins<br />
específicos fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.<br />
No caso das SGSs, dado o risco inerente ao seu próprio objeto – concessão<br />
de garantia a seus sócios participantes –, há obrigatoriedade de constituição de<br />
reserva para o fundo de risco, como também ocorre em relação às cooperativas, e,<br />
neste caso, não se trata somente de uma possibilidade, como disposto no art. 194<br />
da lei das sociedades anônimas.<br />
Assim, em mais um aspecto, no caso a determinação de constituição dos<br />
fundos de risco e o de reserva, as SGSs se assemelham tanto às sociedades<br />
anônimas quanto às sociedades cooperativas.
61<br />
5.5 Dos sócios da SGS: participantes e investidores<br />
O art. 25, parágrafo único da Lei n. 9.841, dispõe que a SGS será constituída<br />
de sócios participantes e sócios investidores, mas dá tratamento jurídico<br />
diferenciado a estes e àqueles, como se verifica nos arts. 25 e 26 da mesma norma<br />
legal, restando determinado que:<br />
Art. 25 [...]:<br />
I – Os sócios participantes, serão, exclusivamente, microempresas e<br />
empresas de pequeno porte...<br />
Art. 26 [...]:<br />
I – O estatuto social da sociedade de garantia solidária deve<br />
estabelecer [...] condições e critérios para admissão de novos sócios<br />
participantes e para sua saída e exclusão.<br />
Dessa forma, há determinação legal no sentido de estabelecer condições e<br />
critérios para a admissão e exclusão somente de sócios participantes, não havendo<br />
qualquer restrição em relação aos sócios investidores. Os sócios investidores –<br />
pessoas naturais ou jurídicas – somente efetuarão aporte de capital na sociedade<br />
com o objetivo exclusivo de auferir rendimentos, não demandarão por nenhum<br />
serviço da SGS, tampouco trarão nenhum risco para a sociedade.<br />
Assim, a lei não faz nenhuma restrição ao ingresso dos sócios investidores na<br />
SGS, como ocorre, por exemplo, com os acionistas das sociedades anônimas.<br />
Ao contrário, a admissão dos sócios participantes – exclusivamente micro e<br />
pequenas empresas – deve preencher os requisitos estabelecidos no estatuto social.<br />
Tais exigências se tornam necessárias, eis que os sócios participantes serão os<br />
beneficiários de garantias prestadas pela SGS, trazendo sempre algum risco para tal<br />
sociedade, podendo ocorrer até situações em que tal sócio deva ser dela excluído.<br />
De outra forma, “os sócios investidores serão pessoas físicas [naturais] e<br />
jurídicas, que efetuarão aporte de capital na sociedade, com o objetivo exclusivo de<br />
auferir rendimento...” (Lei n. 9.841, art. 25, II), não havendo nenhum critério especial<br />
para sua admissão ou exclusão. Nem poderia haver, pois que, em relação a tais<br />
sócios, não importa a qualificação, e, sim, o capital que investem na sociedade.
62<br />
Confrontando as exigências para admissão de sócios participantes e o nãoestabelecimento<br />
de condições para a entrada de sócios investidores na SGS,<br />
verifica-se que “ela se sujeita, [...], a restrições subjetivas, ora qualitativas, ora<br />
quantitativas”. (FÉRES, 2000, p. 7)<br />
Por exemplo, Féres (2000, p. 7) analisa as conseqüências das restrições<br />
legais impostas em relação à distribuição das ações entre os sócios da SGS:<br />
A distribuição das ações, na Sociedade de Garantia, sofre restrições<br />
censitárias. Os sócios investidores, em conjunto, não poderão ser<br />
titulares de ações que representem mais de 49% do capital social e,<br />
em conseqüência, os sócios participantes terão sempre a maioria<br />
acionária, não podendo, individualmente, deter mais de 10% do<br />
capital social.<br />
Observe-se que, em relação aos sócios investidores, o total de suas ações<br />
não poderá ultrapassar 49% do capital social, mas não há limitação máxima quanto<br />
ao percentual dos sócios participantes em conjunto, e, sim, a sua participação<br />
mínima exigida de 51% do capital social.<br />
A admissão de sócios participantes sofre restrições quantitativas<br />
individualmente consideradas, como quando a participação de cada um desses<br />
sócios fica limitada a 10% do capital social, ou quando se exige o mínimo de 10<br />
sócios dessa categoria para que uma SGS seja constituída.<br />
Pesquisando outros tipos de sociedades que limitariam quantitativamente a<br />
participação individual de cada sócio, foi possível verificar no art. 1.094, III, do<br />
Código Civil brasileiro, Lei n. 10.406/02, nas disposições referentes às cooperativas:<br />
“São características da sociedade cooperativa: [...] limitação do valor da soma de<br />
quotas do capital social que cada sócio poderá tomar”, da mesma forma como já<br />
determinado no art. 4º, III, da Lei n. 5.764.<br />
Dessa forma, apesar de não haver na lei civil ou na lei especial determinação<br />
do valor ou percentual de participação de cada sócio na cooperativa, tal limitação<br />
será definida em estatuto. Assim seja na lei – no caso das SGS – ou em previsão<br />
estatutária – caso das cooperativas –, essa limitação da participação societária é<br />
elemento comum entre os sócios das cooperativas e os sócios participantes das<br />
SGS. E, em mais um aspecto, verifica-se novo elemento comum entre SGS e as<br />
sociedades cooperativas.
63<br />
De outro lado, verifica-se restrição qualitativa quando se exige que os sócios<br />
participantes sejam, exclusivamente, microempresas e ou empresas de pequeno<br />
porte. Tal determinação, embora adequada às características e fins da SGS,<br />
diferencia-se das exigências legais para constituição das sociedades de capital. Por<br />
exemplo, as sociedades anônimas, que não escolhem sócios ou acionistas por<br />
categoria nem limitam a sua participação naquelas sociedades, exatamente por não<br />
serem sociedades de pessoas, e sim sociedades de capital. Nesse sentido,<br />
importante a conclusão de Féres (2000, p. 7) sobre a índole capitalista mitigada da<br />
SGS, o que poderia caracterizar a SGS como uma sociedade somente em parte<br />
capitalista e não totalmente capitalista: “Não se pode deixar de observar que, ao<br />
exigir aquelas qualidades de determinada categoria de sócios, a Sociedade de<br />
Garantia Solidária, embora se revista da forma de S/A, tem sua índole capitalista<br />
mitigada”.<br />
Claro está que essa índole capitalista mitigada, na expressão de Féres (2000)<br />
refere-se às relações da SGS com os sócios participantes.<br />
Os sócios investidores, ao contrário, poderão ser quaisquer pessoas naturais<br />
ou jurídicas, desde que façam aporte de capital com o objetivo de auferir lucro,<br />
estabelecendo-se entre eles e a sociedade uma relação de ordem societária. Sobre<br />
as características da relação dos sócios investidores com a SGS, são oportunas as<br />
considerações de Bulgarelli (2000, p. 23-24) ao tratar das diferenças das relações<br />
entre as empresas capitalistas e as sociedades cooperativas e seus respectivos<br />
sócios:<br />
Necessário é destacar que as empresas capitalistas mantém<br />
relações com seus sócios ou acionistas, apenas de ordem<br />
‘societária’, vale dizer, imanente e proveniente do seu contrato ou<br />
estatuto, relações essas em que não entra necessariamente, a<br />
prática de atividades ‘operacionais’, mas, apenas as referentes às<br />
obrigações societárias.<br />
De outra forma, os sócios participantes deverão preencher os requisitos de<br />
estarem enquadrados como microempresas ou pequenas empresas, além de<br />
atenderem a outras condições e critérios para a sua admissão e sua saída ou<br />
exclusão estabelecidos no estatuto. São eles, porém, os destinatários do objeto da
64<br />
sociedade, e serão os próprios clientes da SGS aqueles que demandarão por<br />
garantia.<br />
Diante disso, quanto às relações da SGS com os sócios participantes, que<br />
além de sócios são clientes da SGS, outras características se apresentam, à<br />
semelhança das relações dos associados com as sociedades cooperativas:<br />
Por força da característica das cooperativas, de empresa de<br />
serviços, criada para atender às necessidades de seus associados,<br />
resulta que estes são ao mesmo tempo, [...], associados e clientes.<br />
Destinam-se as cooperativas, portanto, em função da sua natureza<br />
intrínseca a operar com seus associados e os atos por elas<br />
praticados dirigem-se não ao mercado, mas, prevalecentemente aos<br />
seus associados (BULGARELLI, 2000, p. 24).<br />
Assim, por analogia, percebe-se que as relações que os sócios participantes<br />
mantêm com a SGS não são de ordem societária, mas verdadeiros atos de<br />
cooperação, ou seja, atos próprios de cooperados com sua cooperativa.<br />
Bulgarelli (2000, p. 24), cotejando as sociedades cooperativas com as<br />
empresas de capital, apresenta a distinção que parece se amoldar à diferenciação<br />
entre o tipo de relação da SGS com seus sócios participantes a aquela que deve ser<br />
mantida entre a SGS e seus sócios investidores: “As cooperativas são organizadas<br />
para atender aos associados, fornecendo-lhes bens e serviços; as empresas<br />
capitalistas para operarem no mercado e distribuir entre os sócios a renda<br />
proveniente dessas atividades.”<br />
Assim, confrontando o tratamento jurídico diferenciado determinado pela Lei<br />
n. 9.841, quanto às relações da SGS com os sócios participantes e com os sócios<br />
investidores, começa a se tornar facilmente perceptível o seguinte:<br />
• as relações dos sócios participantes com a SGS apresentam vários<br />
aspectos análogos às relações dos cooperados com as sociedades cooperativas e<br />
• as relações dos sócios investidores com a SGS se baseiam na relação das<br />
sociedades anônimas com seus acionistas.
65<br />
5.6 Da participação societária: transferibilidade versus intransferibilidade<br />
Interessante notar outra exigência comum quanto às obrigações dos sócios<br />
em relação à sociedade cooperativa e aquelas dos sócios participantes para com a<br />
Sociedade de Garantia Solidária: a intransferibilidade da participação societária.<br />
Embora não expressa, tal restrição vige em relação à SGS, como também<br />
pode ser verificado no art. 1094, IV, do Código Civil brasileiro, que dispõe sobre a<br />
sociedade cooperativa, determinando a “intransferibilidade das quotas do capital a<br />
terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança”. Também o art. 4º, IV, da<br />
Lei n. 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime<br />
jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, determina a “IV –<br />
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade [...]”.<br />
Ora, tanto a Lei n. 10.406/02 – Código Civil – quanto a Lei especial n.<br />
5.764/71 determinam que as quotas do sócios das cooperativas não podem ser<br />
transferidas, alienadas ou cedidas a terceiros, estranhos à sociedade, bem como<br />
estabelecem restrições quanto à sua transferência a outros sócios daquela mesma<br />
sociedade.<br />
Neste último caso, a cessão de cotas poderia ser parcial ou total. Se for<br />
parcial ou total, deverá atender, ainda, a outros dispositivos legais – verificação se a<br />
soma das quotas originárias e das quotas adquiridas não ultrapassa o limite máximo<br />
de participação societária individual permitida pelo estatuto e, se, total, atendida à<br />
exigência anterior, o sócio cedente ficaria excluído da sociedade cooperativa.<br />
Também nas SGSs, em relação aos sócios participantes, vige a cláusula da<br />
intransferibilidade da sua participação societária, apesar de esta não se encontrar<br />
expressa no texto legal. É mister observar: para se tornar um sócio participante de<br />
uma SGS, a pessoa jurídica deve estar enquadrada como microempresa (ME) ou<br />
como empresa de pequeno porte (EPP), além de preencher outras condições e<br />
critérios estipulados no estatuto.<br />
Assim, a admissão dos sócios participantes depende de aprovação da SGS, a<br />
partir do preenchimento de requisitos preestabelecidos, não podendo suas ações<br />
serem negociadas, transferidas ou cedidas, ao contrário do que é permitido em<br />
relação às ações dos sócios investidores.
66<br />
Quanto à possibilidade de cessão parcial ou total das ações de um sócio<br />
participante a outro da mesma categoria, entendemos, salvo melhor juízo, de acordo<br />
com o princípio do direito privado segundo o qual o que não é proibido é permitido,<br />
que seria possível, desde que respeitada a condição de o sócio cessionário não<br />
ultrapassar o limite máximo de 10% de participação no capital da SGS, podendo<br />
ocorrer a situação de o sócio cedente ficar sem participação societária e ser excluído<br />
da SGS, se a cessão for total.<br />
Dessa forma, o legislador, expressamente ou não, tratou da mesma maneira<br />
a questão da intransferibilidade das quotas na sociedade cooperativa e das ações<br />
dos sócios participantes nas SGSs, ao contrário da possibilidade de as ações dos<br />
sócios investidores da SGS serem livremente negociadas, como ocorre com as<br />
ações dos acionistas das sociedades anônimas, por exemplo.<br />
5.7 Dos elementos convergentes e divergentes: SGS versus sociedades<br />
cooperativas e anônimas<br />
Assim, cotejando a disciplina legal das sociedades cooperativas e a das<br />
sociedades anônimas, pode-se encontrar elementos convergentes e divergentes em<br />
relação às SGSs.<br />
A partir das características elencadas no art. 4º da Lei n. 5.764/71, Meinen<br />
(2003, p. 186-188) compara as sociedades cooperativas com as sociedades<br />
mercantis. Desse cotejamento, podem-se estabelecer as distinções entre estas e<br />
aquelas.
67<br />
AS COOPERATIVAS<br />
são sociedades de pessoas, de natureza civil<br />
[agora, não-empresárias]<br />
têm como objetivo essencial a prestação de<br />
serviços aos cooperativados<br />
o usuário é o próprio dono/cooperativado,<br />
estabelecendo uma relação interna/não mercantil<br />
reúnem número ilimitado de cooperativados<br />
o controle é democrático, cabendo um voto para<br />
cada cooperativado<br />
o quorum de instalação e de deliberação nas<br />
assembléias leva em conta o número de<br />
associados<br />
as quotas-partes são intransferíveis a nãoassociados<br />
os excedentes são retornados na proporção das<br />
operações dos cooperativados (aos próprios<br />
usuários)<br />
AS EMPRESAS MERCANTIS<br />
são sociedades de capital, de natureza<br />
mercantil [agora, empresárias]<br />
visam ao lucro<br />
o usuário é estranho ao dono – relação<br />
comercial/de consumo<br />
restringem o número de acionistas<br />
a força do voto é ditada pelo número de ações<br />
o quorum é baseado no capital<br />
a transferência de ações é livre<br />
o lucro é devolvido na proporção das ações<br />
detidas pelos acionistas (os usuários a nada<br />
têm direito)<br />
Neste trabalho de identificar os aspectos convergentes e divergentes das<br />
SGSs com as sociedades anônimas e as sociedades cooperativas, será utilizado<br />
esse trabalho comparativo elaborado por Meinen (2003, p. 186-188).<br />
Analisando suas conclusões, podemos, por analogia, e na tentativa de<br />
comprovar a hipótese levantada, cotejar as relações da SGS com os seus sócios<br />
participantes, comparando-as às relações das cooperativas com seus sócios:
68<br />
AS COOPERATIVAS<br />
são sociedades de pessoas, de natureza civil<br />
[agora, não-empresárias]<br />
têm como objetivo essencial a prestação de<br />
serviços aos cooperativados<br />
o usuário é o próprio dono/cooperativado,<br />
estabelecendo uma relação interna/não<br />
mercantil<br />
reúnem número ilimitado de cooperativados<br />
o controle é democrático, cabendo um voto<br />
para cada cooperativado<br />
o quorum de instalação e de deliberação nas<br />
assembléias leva em conta o número de<br />
associados<br />
as quotas-partes são intransferíveis a nãoassociados<br />
os excedentes são retornados na proporção<br />
das operações dos cooperativados (aos<br />
próprios usuários). (MEINEN, 2003, p. 186-188)<br />
AS SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> SOLIDÁRIA<br />
EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS PARTICIPANTES<br />
apresentam características de sociedades de<br />
pessoas, de natureza não empresária<br />
têm como finalidade social a prestação de<br />
garantia aos seus sócios participantes (ME e<br />
EPP)<br />
os usuários da SGS são os próprios sócios<br />
participantes<br />
não restringem o número de sócios, somente<br />
estabelecem a quantidade mínima<br />
a participação societária é intransferível a nãoassociados,<br />
que devem preencher requisitos<br />
específicos para serem aceitos como sócios<br />
somente 50% do resultado líquido será<br />
retornado aos sócios participantes, após a<br />
alocação de recursos para os fundos de<br />
reserva e de risco<br />
Ainda por analogia ao trabalho de Meinen (2003), podemos comparar as<br />
principais características das relações da SGS com os seus sócios investidores com<br />
aquelas relações estabelecidas entre as sociedades de capital e seus acionistas, na<br />
tentativa de comprovar a hipótese levantada:
69<br />
AS EMPRESAS MERCANTIS<br />
são sociedades de capital, de natureza<br />
mercantil [agora, empresárias]<br />
visam lucro<br />
o usuário é estranho ao dono – relação<br />
comercial/de consumo<br />
restringem o número de acionistas<br />
a força do voto é ditada pelo número de ações<br />
o quorum é baseado no capital<br />
a transferência de ações é livre<br />
o lucro é devolvido na proporção das ações<br />
detidas pelos acionistas (os usuários a nada<br />
têm direito). (MEINEN, 2003, p. 186-188)<br />
AS SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> SOLIDÁRIA<br />
EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS INVESTIDORES<br />
regem-se pelas normas das sociedades de<br />
capital, de natureza mercantil [agora,<br />
empresárias]<br />
têm objetivo exclusivo de auferir lucro<br />
a relação é de ordem societária, de acionista<br />
para sociedade de capital. Não é permitido aos<br />
acionistas demandar por serviços da SGS,<br />
portanto não podem ser clientes<br />
restringem os sócios investidores, no conjunto,<br />
eis que não podem ultrapassar 49% do capital<br />
social<br />
a transferência de ações é livre<br />
o lucro é devolvido na proporção das ações<br />
detidas pelos acionistas<br />
Constata-se que a SGS foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro para<br />
atender à necessidade de micros e pequenos empresários, possibilitando ou<br />
facilitando o seu acesso a crédito, pelo mecanismo de conceder-lhes garantia.<br />
Ocorre que o legislador brasileiro já vem percebendo o entrave ao<br />
desenvolvimento de micros e pequenas empresas causado pela dificuldade de<br />
acesso ao crédito e, tentando encontrar instrumentos jurídicos que possam resolver<br />
tal problema.<br />
A Lei n. 8.864/94, em seu art. 23, já previa a criação de um fundo garantidor<br />
de crédito, com recursos do governo. Tal fundo nem chegou a ser regulamentado,<br />
segundo Kandir (1996), por falta de recursos.<br />
Em 1999, a Lei n. 9.841 revogou a Lei n. 8.864/94, ao mesmo tempo em que<br />
introduziu as SGSs como uma nova solução para garantir o acesso ao crédito, mas<br />
não foi implementada.<br />
Hoje, novamente, a situação se repete sem que tenha sido resolvida:<br />
encontra-se na Câmara o PLC123/04, que regulamentará o novo Estatuto Nacional<br />
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte que, por sua vez, se aprovado,<br />
revogará o atual Estatuto – Lei n. 9.841/99 – eis que, com certeza, terá a sanção<br />
presidencial, dado o empenho deste governo para sua aprovação.
70<br />
Para tentar resolver, no Brasil, a questão do acesso ao crédito, o Projeto de<br />
Lei Complementar n. 123/04 prevê, em seu art. 56, a criação do Sistema Nacional de<br />
Garantias, com prazo de regulamentação previsto para um ano.<br />
Observa-se que a primeira tentativa de solução desse problema foi a<br />
constituição de um fundo previsto na Lei n. 8.864/94 em que os recursos seriam<br />
públicos. A segunda tentativa de solução – SGS – está regulamentada pela Lei n.<br />
9.841/99, mas não foi implementada. Nesse caso, os recursos seriam privados.<br />
Atualmente, as circunstâncias políticas, o empenho do Sebrae e das<br />
entidades representativas dos empresários indicam que, em breve, deverá ser<br />
aprovado o novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno<br />
Porte, bem como serão iniciadas as discussões sobre a regulamentação do Sistema<br />
Nacional de Garantias que, talvez, tenha recursos públicos e privados. Espera-se,<br />
assim, que esse problema seja resolvido, o que trará benefícios não somente à<br />
micro e à pequena empresa, mas, direta ou indiretamente, a vários outros setores da<br />
economia e a toda a sociedade.
71<br />
6 CONCLUSÃO<br />
Estudando o tema Sociedade de Garantia Solidária, pode-se perceber o seu<br />
potencial de abrangência social, econômica e política. Se tais sociedades fossem<br />
implementadas, provocariam uma verdadeira revolução no País.<br />
A Sociedade de Garantia Solidária é um instituto vocacionado para as<br />
empresas de menor porte. Hoje, no Brasil, a micro e a pequena empresa<br />
representam um percentual significativo entre as sociedades constituídas,<br />
respondendo por geração de empregos e dando importante contribuição para o<br />
produto interno bruto (PIB), mas, ao mesmo tempo, o percentual de tais empresas<br />
que encerram as suas atividades nos primeiros anos de atividade é muito elevado. A<br />
principal causa reside na dificuldade de acesso a crédito, gerada pela incapacidade<br />
de essas empresas de menor porte prestarem as garantias exigidas pelo sistema<br />
financeiro. É uma enorme perda de renda e empregos, de riqueza e impostos, além<br />
dos benefícios sociais que proporcionariam.<br />
O Estado tem-se mostrado incapaz de resolver os problemas das micros e<br />
pequenas empresas. No máximo, o Estado intervém para limitar a atividade<br />
econômica, mas, raramente, age com eficácia quando se trata de encontrar soluções<br />
para seus problemas societários e econômicos, por exemplo, enfrentar o desafio de<br />
incentivar tais empresas.<br />
A meu ver, uma das soluções possíveis seria o Estado criar incentivos para<br />
que tais empresas se associassem, formando grupos de apoio com assessorias<br />
empresariais e consultorias especializadas, além, é claro, da utilização de<br />
mecanismos de concessão de garantias, como o previsto na Lei n. 9.841/99 para as<br />
Sociedades de Garantia Solidária.<br />
Nos últimos tempos, têm-se multiplicado pelo país as cooperativas de crédito<br />
e até algumas associações na tentativa de encontrar solução para a dificuldade de<br />
acesso ao crédito por parte das empresas de menor porte.<br />
Ora, salvo melhor juízo, dessa forma, pode haver aumento de oferta de<br />
crédito e não um maior acesso ao crédito, pois o que falta hoje no mercado para as<br />
pequenas e médias empresas não é oferta de dinheiro, e, sim, a capacidade de os<br />
menores oferecerem garantias para o crédito a ser tomado.
72<br />
Na impossibilidade de prestar tais garantias, o que acaba ocorrendo? Ou se<br />
elevam os juros cobrados – normalmente já tão altos – para tentar compensar o<br />
risco, ou se exigem mais e mais informações, aumentando o custo do serviço, ou<br />
não se concede o crédito por falta de garantias.<br />
Urge que se formem grupos de empresas, sob o arcabouço jurídico das<br />
SGSs: serão o elo entre as menores empresas e o sistema financeiro, entre aquelas<br />
e as consultorias e assessorias empresariais e jurídicas.<br />
Além de possibilitar o acesso das menores empresas ao crédito, concedendolhes<br />
as garantias exigidas pelo sistema bancário, as SGSs abrirão, para tais<br />
empresas, também o mercado de capitais, mediante a securitização dos recebíveis<br />
de seus sócios, alcançando crédito abundante, com custos menores e prazos<br />
maiores, reduzindo também sua dependência do sistema bancário.<br />
A SGS é um instrumento jurídico já testado em vários países e a experiência<br />
de concessão de garantias de crédito por meio delas tem-se mostrado eficaz.<br />
Podemos, entretanto nos perguntar: Mas, se a SGS é tão promissora para as<br />
empresas, por que, após sete anos da sua regulamentação não se tem notícia, no<br />
Brasil, de sequer uma SGS?<br />
A meu ver, uma das formas de incentivar a criação das SGSs seria isentandoa<br />
de impostos. O Projeto de Lei n. 1.830/96, apresentado à Câmara por Kandir,<br />
previa tal isenção (cf. Anexo A), mas nesse aspecto foi modificado. Ora, os impostos<br />
que os governos deixassem de receber, com certeza, seriam compensados, direta e<br />
indiretamente, por outros impostos gerados pela maior atividade produtiva e maior<br />
consumo.<br />
Pelo projeto, seriam beneficiados pela isenção de impostos a SGS e também<br />
os sócios, que poderiam deduzir do imposto de renda o valor investido na SGS<br />
referente à sua participação no capital social dessa sociedade de garantia.<br />
Acredito que essa seria uma forma mínima de o Estado dar incentivo à SGS.<br />
A seqüência histórica dos dispositivos legais sobre o assunto mostra que o<br />
Estado nunca deu uma contribuição real para a solução desse problema. A Lei n.<br />
8.864/94 já dispunha sobre a constituição de um fundo com recursos do Estado para<br />
a concessão de garantia às empresas de menor porte. Principalmente, por falta de<br />
recursos, essa matéria nunca foi sequer regulamentada.
73<br />
Por intermédio da Lei n. 9.841/99, a Sociedade de Garantia Solidária foi<br />
introduzida no nosso ordenamento jurídico. Desta vez, ao contrário do disposto na<br />
lei anterior (Lei n. 8.894/94), os recursos seriam privados e oriundos da participação<br />
societária dos sócios investidores e dos sócios participantes. Mas não foi<br />
implementada. E por que não?<br />
Ora, enquanto em outros países tais fundos são constituídos também com<br />
recursos públicos, no Brasil, além de não terem tal participação, não houve ainda a<br />
possibilidade de incentivo fiscal.<br />
Essa é uma questão de política pública, mas que traz conseqüências para as<br />
relações entre particulares, no caso para as microempresas e empresas de pequeno<br />
porte, o que, por sua vez, repercute para o Estado e para o desenvolvimento<br />
econômico e social dos outros setores.<br />
Outro aspecto a considerar é a possibilidade de a SGS ter outros objetos<br />
além da concessão de garantia. Aproveitando a experiência em outros países, a<br />
SGS poderia e deveria também prestar consultoria e assessoria as microempresas e<br />
às pequenas empresas como seus sócios participantes.<br />
Qual a importância disso? Além de a SGS poder contar com mais uma fonte<br />
de renda, teria conhecimento dos projetos de suas empresas associadas, faria<br />
melhor avaliação dos riscos do empreendimento na concessão das garantias, seria a<br />
intermediária dessas menores empresas no mercado, pesquisando e negociando<br />
melhores condições de financiamento. E também, no caso da securitização de<br />
recebíveis, já prevista em lei, assumiria o papel de agente intermediário entre os<br />
sócios – as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) – e o<br />
mercado de capitais, criando a alternativa de acesso a uma enorme quantidade de<br />
recursos em melhores condições do que as ofertadas pelo mercado financeiro. E<br />
observe-se que os próprios recebíveis a serem securitizados seriam ou poderiam ser<br />
a contragarantia exigida pela SGS para a concessão da garantia às microempresas<br />
e as pequenas empresas, seus sócios participantes.<br />
Apesar de estarmos entrando na seara econômica, é preciso, mesmo que não<br />
profundamente, que aquele que analisa as possibilidades jurídicas perceba as<br />
causas e as conseqüências éticas, sociais e econômicas dos dispositivos legais.<br />
Ocorre que, durante a realização deste trabalho, estamos acompanhando o<br />
tramitar no Congresso do PLC-123/04, que regulamentará o novo Estatuto Nacional
74<br />
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que prevê a revogação da Lei n.<br />
9.841/99, que trata da SGS.<br />
Diante disso, neste momento, apesar de parecer inócuo este estudo, surge<br />
uma oportunidade histórica: a discussão e criação do Sistema Nacional de<br />
Garantias, previsto para regulamentação em até um ano após a aprovação desse<br />
projeto, chamado pela mídia de Projeto da Lei Geral da Micro e da Pequena<br />
Empresa, que já passou pelo Senado e voltou à Câmara para a aprovação.<br />
Ao ser revogada a Lei n. 9.841/99, o formato da SGS não será, certamente,<br />
relegado ao esquecimento, eis que é o modelo que tem sido utilizado em vários<br />
países, confirmado por uma tendência crescente e pelos resultados positivos. Assim,<br />
concedendo garantias às menores empresas do mercado, permite-lhes o acesso ao<br />
crédito, promovendo, além do seu desenvolvimento, sua permanência no mercado.<br />
Assim, o Sistema Nacional de Garantias, incluído no Projeto da Lei<br />
Complementar n. 123/04, que visa instituir o novo Estatuto Nacional da<br />
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, previsto para ser regulamentado em<br />
um ano, deverá aperfeiçoar o instituto da Sociedade de Garantia Solidária, talvez<br />
agora constituído por um fundo composto por recurso públicos e privados, e<br />
permitindo o incentivo fiscal mediante a isenção de impostos.<br />
Analisar a SGS, verificando e confirmando sua natureza híbrida em relação às<br />
duas categorias de sócios, é importante. Reconhecer que em relação aos sócios<br />
participantes apresenta aspectos próprios das sociedades cooperativas e que, ao<br />
mesmo tempo, em relação aos sócios investidores precisa ser uma verdadeira<br />
sociedade de capitais é fundamental para seu inteiro conhecimento.<br />
Conhecer melhor sua estrutura, o tratamento diferenciado que dispensa aos<br />
sócios de cada categoria e as peculiares relações institucionais entre eles e a<br />
sociedade, permitirá maior familiaridade com a própria razão de ser do instituto e<br />
mais confiança no atingimento de seus objetivos, tanto os lucrativos como os sociais.<br />
Para que o sistema seja aperfeiçoado, necessário que o vigente seja bem<br />
conhecido. Somente a partir da análise da SGS como hoje regulamentada seremos<br />
capazes de discutir e construir o nosso Sistema Nacional de Garantias. Para isso, os<br />
aspectos da atual Sociedade de Garantia Solidária devem ser estudados e a<br />
experiência internacional, considerada. Além disso, dever-se-á promover o
75<br />
envolvimento de todos os atores políticos: governos, entidades de classe, empresas<br />
– desde as microempresas até as empresas de grande porte – e toda a sociedade.<br />
E o momento é agora, pois estaremos em contagem regressiva após a<br />
aprovação do Projeto de Lei n. 123/04 e a sanção da lei que instituirá o novo<br />
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O próximo<br />
passo será a regulamentação do Sistema Nacional de Garantias.<br />
E, ainda, para ratificar a importância desse sistema de garantias como<br />
alternativa de acesso ao crédito, vale recordar as palavras do economista escolhido<br />
como Prêmio Nobel da Paz de 2006, Yunus (2002, p. 313):<br />
É muito surpreendente que a economia nunca tenha compreendido o<br />
poder social do crédito.[...] Como o crédito cria poder econômico e,<br />
por isso, poder social, a instituição responsável por decidir quem<br />
deve ou não ter crédito, quando, quanto e em que termos, tornou-se<br />
extremamente importante numa perspectiva social. Esta instituição<br />
pode realmente criar ou destruir um indivíduo, um grupo de<br />
indivíduos, ou mesmo todo um segmento da sociedade, favorecendoo<br />
ou rejeitando-o. Foi exactamente isso que fez.
76<br />
REFERÊNCIAS<br />
ÄVILA, Fernando Bastos de. Neocapitalismo, socialismo, solidarismo. Rio de<br />
Janeiro: Agir, 1963, 176 p.<br />
BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 8. ed. rev. aum. e atual. Rio de<br />
Janeiro: Renovar, 2003, 603 p.<br />
BRASIL, Estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte: Lei 9.841/99.<br />
Disponível em: www.presidencia.gov.br. Acesso em: 15 ago. 2006.<br />
BRASIL, Lei n. 10.406/02. Disponível em: www.presidencia.gov.br. Acesso em: 10<br />
set. 2006.<br />
BRASIL, Lei n. 5.764/71. Disponível em: www.presidência.gov.br. Acesso em: 22 jul.<br />
2006.<br />
BRASIL, Lei n. 6.404/76. Disponível em: www.presidência.gov.br. Acesso em: 15<br />
ago. 2006.<br />
BRASIL, PL n. 1.830/96. Disponível em:<br />
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_detalhe.asp?id=40912. Acesso em: 17<br />
ago. 2006.<br />
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Organizador: Alexandre de<br />
Moraes. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 433 p.<br />
BULGARELLI, Waldírio. As sociedades comerciais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1999<br />
BULGARELLI, Waldírio. As sociedades cooperativas e a sua disciplina jurídica. 2.ed.<br />
e atual. Rio de Janeiro: Renovar. 2000. 398 p.<br />
CAL<strong>DA</strong>S AULETE. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. 2. ed. rev. e<br />
atual.por Hamilcar de Garcia e Antenor Nascentes. Rio de Janeiro: Delta, 1964. 5 v.<br />
CAMPOS, Carlos. Sociologia e filosofia do direito. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey:<br />
1995, 373 p.<br />
CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. Sociedade anônima. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey,<br />
2003, 566 p.<br />
<strong>DE</strong>LLA GIUSTINA, Osvaldo. Participação e solidariedade. Tubarão: Unisul, 2004.
77<br />
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 21.<br />
ed.rev. aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 1.<br />
DURKEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. Tradução de Eduardo Brandão. 2.<br />
ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, 483 p.<br />
EHRLICH E apud MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. São<br />
Paulo, 2005, p. 702.<br />
FÉRES, Marcelo Andrade. Ensaios sobre o novo estatuto da microempresa e da<br />
empresa de pequeno porte (Lei n. 9.841, de 5 de outubro de 1999). Revista de<br />
Julgados, Belo Horizonte, v. 79, p. 51-70, abr./jun. 2000.<br />
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2.<br />
ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, 1602p.<br />
FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para<br />
normalização de publicações técnico-científicas. 7. ed. Belo Horizonte: Editora<br />
UFMG, 2004.<br />
GOFFREDO, Telles Jr. apud DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro:<br />
teoria geral do direito civil. 21. ed.rev. aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004, v.1.<br />
HENTZ, Luiz Antonio Soares. Sociedade de garantia solidária: a saída para os<br />
pequenos. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 43, jul. 2000. Disponível em:<br />
. Acesso em: 24 jun. 2006.<br />
KANDIR, Antônio. Garantia solidária. Disponível em:<br />
http://www.kandir.com.br/artigos/fsp96_11.htm Acesso em: 5 jul. 2006.<br />
KANDIR, Antônio. Disponível<br />
em:http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_detalhe.asp?id=40912. Acesso em:<br />
17 ago. 2006.<br />
KANDIR, Antônio. Projeto de Lei n. 1.830, de 1996. Diário Oficial da União, 21 maio<br />
1996, – Diário da Câmara dos Deputados.<br />
LISGARANTE. http://www.lisgarante.pt/uegm.pdf. [s.d.] Acesso em: 6 ago. 2006.<br />
LOCHE, Adriana et al. Sociologia jurídica: estudos de sociologia, direito e sociedade.<br />
Porto Alegre: Síntese, 1999.<br />
LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de<br />
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985.
78<br />
MACHADO NETO, Antônio Luís. Sociologia jurídica. 3. ed. São Paulo: Saraiva,<br />
1974.<br />
MARTINS, Sérgio Pinto. Cooperativas de trabalho. São Paulo: Atlas. 2003.<br />
MEINEN, Ênio. Assembléias gerais: quorum e delegados. In: KRUEGER, Guilherme<br />
(Coord.). Cooperativismo e o novo código civil. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003.<br />
MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 26. ed. rev. e atual. São<br />
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.<br />
NA<strong>DE</strong>R, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 24. ed.rev. e atual. Rio de Janeiro:<br />
Forense: 2004.<br />
NORGARANTE. http://www.norgarante.pt/uegm.pdf. [s.d.] Acesso em: 6 ago. 2006.<br />
PUGA, Fernando Pimentel. Alternativas de apoio às MPMES localizadas em arranjos<br />
produtivos locais. Rio de Janeiro: BN<strong>DE</strong>S, ago. 2002. (Texto para Discussão 96).<br />
Disponível em: http://www.e-bndes.com/conhecimento/td/Td-99.pdf. Acesso em: 7<br />
ago. 2006.<br />
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, fls. 441 e ss..<br />
REIS, Nilson Júnior. Sociedades cooperativas: linhas gerais e aspectos societários.<br />
In: RODRIGUES, Frederico Viana (Coord.). Direito de empresa no novo código civil.<br />
Rio de Janeiro: Forense, 2004, 581 p.<br />
SILVA, De Plácido E. Vocabulário jurídico. 17. ed. rev. e atual. por Nagib Slaidi Filho<br />
e Geraldo Magela Alves. Rio de Janeiro: Forense, 2000.<br />
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15. ed. rev., atual.<br />
São Paulo: Malheiros, 1998, 863 p.<br />
SIQUEIRA, Paulo César Andrade. Direito cooperativo brasileiro (comentários à lei<br />
5.764/71). São Paulo: Dialética, 2004, 207 p.<br />
YUNUS, Muhammad. O banqueiro dos pobres. Algés, Portugal: Difel, 2002.
79<br />
ANEXOS<br />
Anexo A<br />
PROJETO <strong>DE</strong> LEI N. 1.830, de 1996 2<br />
Dispõe sobre a constituição e funcionamento<br />
de Sociedade de Garantia Solidária e a<br />
securitização de contas e valores a receber<br />
das microempresas e empresas de pequeno<br />
porte.<br />
(ÀS COMISSÕES <strong>DE</strong> ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; FINANÇAS E<br />
TRIBUTAÇÃO E <strong>DE</strong> CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E <strong>DE</strong> RE<strong>DA</strong>ÇÃO (ART. 54) – ART. 24,II)<br />
O Congresso Nacional decreta:<br />
CAPÍTULO I<br />
SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> SOLIDÁRIA<br />
Característica<br />
Art. 1º. Nos termos do art. 179 da Constituição federal, fica autorizada a constituição da<br />
Sociedade de Garantia Solidária (SGS) com a finalidade de facilitar o financiamento das<br />
microempresas (ME) e das empresas de pequeno porte (EPP).<br />
Parágrafo único A Sociedade de Garantia Solidária será regida pelas disposições desta Lei<br />
e supletivamente pelas normas legais que regem as Sociedades Anônimas.<br />
Objeto social<br />
Parágrafo 2º O principal objeto da Sociedade de Garantia Solidária é a concessão de<br />
garantia a seus sócios participantes mediante a celebração de contratos regulados por esta<br />
Lei.<br />
§ 1º A Sociedade de Garantia Solidária pode realizar assessorias técnica, econômica,<br />
financeira e legal aos sócios, diretamente ou através de terceiros contratados para esse fim.<br />
§ 2º A Sociedade será designada pela denominação “Sociedade de Garantia Solidária”, ou<br />
pela sigla “SGS”.<br />
2 Publicado no Diário Oficial da União, 21 maio 1996. Disponível em:<br />
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_detalhe.asp?id=40912. Acesso em: 17 ago. 2006.<br />
Publicado no Diário da Câmara dos Deputados em 21 maio 1996.
80<br />
Natureza dos sócios<br />
Art. 3º A Sociedade de Garantia Solidária será constituída de sócios participantes e sócios<br />
investidores.<br />
I – os sócios participantes serão exclusivamente as microempresas e as empresas de<br />
pequeno porte.<br />
II – os sócios investidores serão pessoas físicas ou jurídicas, que efetuarão aporte de capital<br />
na Sociedade com o objetivo exclusivo de auferir rendimento.<br />
Forma da Sociedade e Composição do Capital Social<br />
Art. 4º. A Sociedade de Garantia Solidária será constituída na forma de sociedade anônima,<br />
devendo-se submeter a registro na Comissão de Valores Mobiliários em caso de subscrição<br />
pública de ações e valores mobiliários.<br />
Parágrafo único O estatuto social deve estabelecer, além da finalidade da Sociedade e de<br />
seus requisitos relevantes, as condições e critérios para a admissão de novos sócios<br />
participantes e investidores, bem como as condições para a saída e exclusão dos sócios.<br />
Art. 5º A constituição da Sociedade de Garantia Solidária exigirá o mínimo de 10 (dez)<br />
sócios participantes, devendo esse quorum elevar-se para o mínimo de 50 (cinqüenta) no<br />
prazo de 05 (cinco) anos.<br />
Parágrafo único Caso não seja atingido o quorum mínimo em 5 anos, a SGS perderá as<br />
vantagens estabelecidas nos arts. 14 e 15.<br />
Art. 6º O capital social da SGS será representado por ações ordinárias nominativas de igual<br />
valor e direitos.<br />
§ 1º A participação do sócio participante, individualmente, não pode ultrapassar 10% (dez<br />
por cento) do capital social.<br />
§ 2º A participação do sócio investidor não pode exceder 49% (quarenta e nove por cento)<br />
do capital social no conjunto e 20% (vinte por cento), individualmente.<br />
Limite de Operações a Fundo de Risco<br />
Art. 7º A Sociedade de Garantia Solidária não poderá conceder a um mesmo sócio<br />
participante garantia superior a 10% (dez por cento) do capital social ou do total garantido<br />
pela SGS, o que for maior.<br />
Art. 8º A Sociedade de Garantia Solidária não poderá conceder crédito a seus sócios e nem<br />
a terceiros.<br />
Art. 9º A Sociedade de Garantia Solidária deverá instituir um fundo de risco, que fará parte<br />
de seu patrimônio, fundo esse integrado por<br />
I – aporte de parte dos resultados da sociedade;<br />
II – aporte dos sócios investidores;<br />
III – rendimentos financeiros;
81<br />
IV – valor das ações não reembolsadas dos sócios excluídos;<br />
V – outras receitas aprovadas pela Assembléia Geral.<br />
Administração e Distribuição dos Resultados<br />
Art. 10. O órgão máximo da Sociedade de Garantia Solidária será a Assembléia Geral, que<br />
elegerá o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, e este último indicará a Diretoria<br />
Executiva, cujas atribuições devem ser estabelecidas no estatuto social.<br />
Art. 11. Os resultados líquidos decorrentes das atividades da Sociedade de Garantia<br />
Solidária devem ser distribuídos da seguinte forma:<br />
I – 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até completar-se 20% do capital sócia.<br />
II – distribuição aos sócios investidores, na proporção da sua participação no capital.<br />
III – da parte correspondente aos sócios participantes, 50 % (cinqüenta por cento) serão<br />
destinados ao fundo de risco e o restante a eles distribuídos.<br />
Contrato de Garantia, Taxa de Remuneração e Contragarantia<br />
Art. 12. O contrato de garantia solidária tem por finalidade regular a concessão da garantia<br />
pela SGS ao sócio participante, mediante recebimento da taxa de remuneração pelo serviço<br />
prestado, devendo se fixar as cláusulas necessárias ao cumprimento das obrigações do<br />
sócio beneficiário perante a SGS.<br />
Art. 13. Para a concessão da garantia, a Sociedade de Garantia Solidária poderá exigir a<br />
contragarantia por parte do sócio participante beneficiário<br />
§ 1º Caso a SGS seja obrigada a honrar a garantia e não seja ressarcida pelo sócio<br />
participante beneficiário, a Sociedade de Garantia Solidária poderá determinar a exclusão<br />
desse sócio inadimplente da Sociedade.<br />
§ 2º Em caso de exclusão prevista no parágrafo anterior, a SGS terá o privilégio sobre as<br />
ações detidas pelo sócio inadimplente no capital social<br />
§ 3º As ações dos sócios participantes não podem ser oferecidas como garantia de qualquer<br />
espécie.<br />
Tratamento Tributário<br />
Art. 14. A Sociedade de Garantia Solidária fica isenta dos seguintes tributos:<br />
I – imposto de renda e proventos de qualquer natureza.<br />
II – imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores<br />
mobiliários.<br />
III – imposto sobre serviços de qualquer natureza.
82<br />
Art. 15. Os aportes de capital de sócios participantes e investidores serão dedutíveis para<br />
os fins de cálculo do lucro tributável, no caso de pessoa jurídica, e para o cálculo do imposto<br />
devido, no caso de pessoa física.<br />
Registro e Fiscalização<br />
Art. 16. A função do registro, acompanhamento e fiscalização das Sociedades de garantia<br />
Solidária, sem prejuízo da competência das autoridades governamentais pertinentes, poderá<br />
ser exercida pelas entidades representativas de micro e pequenas empresas, mediante<br />
convênio a ser firmado com o Governo Federal.<br />
Art. 17. O relacionamento das SGS com as instituições do sistema financeiro e, em<br />
particular do mercado de capitais, deve ser objeto de fiscalização pelo Banco Central e pela<br />
Comissão de Valores Mobiliários, em suas respectivas áreas de atuação.<br />
Dissolução, Liquidação ou Extinção<br />
Art. 18. A Sociedade de Garantia Solidária poderá ser dissolvida, liquidada ou extinta em<br />
caso de<br />
I – impossibilidade de absorção das perdas que correspondam à totalidade do fundo de<br />
risco e da reserva legal e 40% (quarenta por cento) do capital social.<br />
II – por solicitação de autoridade governamental, caso a SGS não cumpra as normas<br />
estabelecidas nesta Lei e infrinja aquelas vigentes em áreas correlatas.<br />
CAPÍTULO II<br />
SECURITIZAÇÃO DOS RECEBÍVEIS <strong>DA</strong>S MICROEMPRESAS E <strong>DA</strong>S EMPRESAS <strong>DE</strong><br />
PEQUENO PORTE<br />
Art. 19. Com o objetivo de agilizar o ingresso de recursos em seu fluxo de caixa, as<br />
microempresas e as empresas de pequeno porte podem oferecer as suas contas e valores a<br />
receber como lastro para a emissão de títulos e valores mobiliários a serem colocados junto<br />
aos investidores no mercado de capitais.<br />
Art. 20. A Sociedade de Garantia Solidária pode conceder garantia sobre o montante dos<br />
recebíveis de seus sócios participantes, objeto de securitização.<br />
Art. 21. O agente fiduciário especializado, emissor dos títulos e valores mobiliários<br />
lastreados nos recebíveis das micro e pequenas empresas, não tem direito de regresso<br />
contra essas empresas, titulares dos valores e contas a receber objeto de securitização.<br />
Art. 22. A Sociedade de Garantia Solidária pode prestar o serviço de colocação dos<br />
recebíveis junto ao agente fiduciário especializado na emissão dos títulos e valores<br />
mobiliários transacionáveis no mercado de capitais.<br />
Art. 23. A operação de securitização deve ser submetida ao crivo do Banco Central ou da<br />
Comissão de Valores Mobiliários, sempre que envolver as suas respectivas áreas de<br />
atuação.<br />
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
83<br />
JUSTIFICATIVA<br />
Este projeto tem por objetivo ampliar radicalmente as possibilidades de obtenção de crédito<br />
por parte de micro e pequenas empresas. Sua importância é quase auto-evidente. As novas<br />
formas de organização da produção e as novas tecnologias, responsáveis por crescimento<br />
expressivo da produtividade, provocam, em contrapartida, a redução do número de postos<br />
de trabalho disponíveis. Esta é a causa estrutural de ser o desemprego duradouro de<br />
amplos contingentes de pessoas o grande problema social deste final de século. No Brasil, o<br />
problema assume feições e intensidade distintas das que tem nos países mais<br />
desenvolvidos. Mas o problema está aí e tende a acentuar-se, conforme a economia avance<br />
em seu processo de reestruturação. Para enfrentá-lo trata-se de estimular alternativas de<br />
geração de renda e ocupação.<br />
As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) exercem o importante<br />
papel de permitir a organização das atividades produtivas de maneira versátil e flexível em<br />
todos os setores da economia, desde os mais tradicionais e artesanais até aqueles mais<br />
dinâmicos e de tecnologia de ponta, mediante o uso mais intensivo de mão-de-obra e a<br />
utilização relativamente menor de capital.<br />
No Brasil, não obstante as dificuldades enfrentadas, as ME e as EPP t6em contribuído<br />
substancialmente para o desenvolvimento social e econômico de parcela significativa da<br />
população nacional. Elas respondem por 65% da força de trabalho, e representam o enorme<br />
contingente de aproximadamente 4 milhões de empresas, correspondentes a cerca de 98%<br />
do total daquelas registradas no País.<br />
Apesar desta representatividade, as ME e as EPP sofrem diversos constrangimentos e<br />
dificuldades, sendo a maior delas a falta de fontes adequadas de financiamento,<br />
principalmente em decorrência da impossibilidade de oferecimento de garantias para a<br />
obtenção do crédito bancário. Nesse sentido, o presente Projeto de lei procura atenuar a<br />
situação atualmente vigente através da introdução de 2 mecanismos.<br />
• concessão de aval pelas Sociedades de Garantia Solidária (SGS) para as<br />
microempresas de pequeno porte com o fim de viabilizar o acesso ao crédito;<br />
• operações de securitização dos recebíveis das ME e das EPP com o objetivo de permitir<br />
o acesso dessas empresas aos recursos do mercado de capitais, reduzindo-se dessa forma<br />
a sua dependência do crédito bancário.<br />
A Sociedade de Garantia Solidária (capítulo I) visa congregar solidariamente as<br />
microempresas e empresas de pequeno porte, com a finalidade de conceder garantia aos<br />
seus sócios participantes, para a obtenção do crédito, que seria de difícil acesso, caso a<br />
empresa tentasse individualmente, em virtude da falta de garantias a oferecer.<br />
Sabe-se que a dificuldade de oferecer garantias aceitáveis é um dos maiores obstáculos a<br />
que micro e pequenas empresas consigam tomar empréstimos junto ao sistema financeiro.<br />
Esse problema é um dos responsáveis pela mortalidade elevada e precoce dessas<br />
empresas, bem como por tornar inviáveis, em seu nascedouro, projetos de investimento<br />
que, em outras condições de crédito, poderiam prosperar. Perdem-se assim renda e<br />
empregos em quantidade imensurável.<br />
A possibilidade de constituírem-se Sociedades de Garantia Solidária oferece uma solução<br />
para o problema. A razão é simples, individualmente as micro e pequenas empresas<br />
esbarram em enormes dificuldades para oferecer garantias, visto que, em geral, são pouco<br />
capitalizadas, já em conjunto, não só terão melhores condições para oferecer garantias e
84<br />
transpor essa barreira de acesso ao crédito bancário, como também os benefícios a todos<br />
os participantes, em termos do montante de garantias à disposição, serão maiores que os<br />
ônus que terão de assumir para constituição das Sociedades. E tão maiores quanto mais<br />
numerosos forem os sócios participantes.<br />
Os beneficiários das garantias (arts. 2º e 3º) seriam apenas os sócios participantes,<br />
caracterizados como micro ou pequenas empresas, nos termos da lei 8 864, de 28/03/94, e<br />
cuja conceituação está sendo objeto de aperfeiçoamento conforme os projetos do senado<br />
no. 31/96 e no. 32/96.<br />
Para assegurar maior transparência e organicidade (art. 4º.) da entidade, optou-se pela<br />
adoção da forma de sociedade anônima (S.A.). Dessa maneira, viabiliza-se a participação<br />
dos sócios investidores, permitindo-se maior alavancagem da SGS. Estabelecem-se, ainda,<br />
diversos requisitos para a consecução dos objetivos da Sociedade.<br />
• Pulverização e crescimento: quorum mínimo de 10 sócios participantes na constituição e<br />
de 50 sócios participantes em 5 anos (art. 5º).<br />
• Desconcentração do capital participação individual máxima de 10% pelo participante e<br />
de 20% pelo sócio investidor (art. 5º).<br />
• Transparência e decisão compartilhada: Assembléia Geral como órgão máximo, que<br />
elegerá o Conselho Fiscal e o conselho de Administração (art. 10).<br />
• Limites operacionais: concessão de garantia de no máximo 10% do total garantido pela<br />
SGS ou de seu capital social, o que for maior, para cada sócio participante (art. 7º.).<br />
• Equilíbrio na distribuição dos resultados entre constituição de reserva legal, destinação<br />
ao fundo de risco para o aumento das operações e distribuição aos sócios (art.11)<br />
O art. 179 da Constituição Federal determina o tratamento diferenciado às micro e pequenas<br />
empresas nos aspectos administrativo, tributário, previdenciário e creditício. Nesse sentido,<br />
para que se fortaleça o aporte na SGS de recursos dos sócios participantes e dos sócios<br />
investidores, torna-se importante a concessão de algum benefício tributário, como definido<br />
nos arts. 14 e 15. a alternativa da SGS, certamente, é mais adequada do que a constituição<br />
do fundo de garantia ou fiança, que está previsto no art. 23, da Lei 8864/94, o qual nunca foi<br />
regulamentado por falta de recursos por parte do Poder Executivo. Também é mais<br />
vantajosa do que as propostas de aporte de recursos fiscais ou parafiscais, como do FAT,<br />
para a concessão de créditos subsidiados às micro e pequenas empresas.<br />
Com o objetivo de aumentar a parceria entre o Estado e as entidades de caráter privado,<br />
permite-se o exercício da função de registro e fiscalização das SGS pelas entidades<br />
representativas das micro e pequenas empresas, sem prejuízo da competência das<br />
autoridades governamentais pertinentes. Com isso, evita-se a criação de mais um órgão<br />
público para a fiscalização e controle desse segmento amplo de empresas, evitando-se,<br />
assim, o aumento do dispêndio público (art. 16).<br />
A securitização dos recebíveis das micro e pequenas empresas (Capítulo II) objetiva<br />
canalizar os recursos abundantes, estáveis e de longo prazo dos investidores do mercado<br />
de capitais, como os fundos de pensão, seguradoras e fundos de investimento para financiar<br />
as atividades das ME e da EPP. Esse mecanismo pode ser viabilizado mediante o<br />
oferecimento das contas e valores a receber das ME e das EPP como lastro para a emissão<br />
de títulos e valores mobiliários, pelo agente fiduciário especializado, para a colocação junto<br />
aos investidores institucionais.
85<br />
Enfim, o projeto não se limita a ampliar as possibilidades de oferta de garantias por parte de<br />
micro e pequenas empresas interessadas no crédito bancário. Ele vai um passo além. Ele<br />
amplia as fontes possíveis de captação de recursos, por meio da securitizaçào de recebíveis<br />
de micro e pequenas empresas. Nessa engenharia financeira, reserva-se às Sociedades de<br />
Garantia Solidária o papel fundamental de articular, de um lado, micro e pequenas<br />
empresas com contas a receber e interessadas em agilizar o ingresso de recursos em seu<br />
fluxo de caixa e, de outro, investidores institucionais interessados na aquisição de títulos<br />
com lastro confiável.<br />
Esse esquema pode ser substancialmente facilitado pela atuação da Sociedade de Garantia<br />
Solidária, como intermediário entre as ME e as EPP e o agente fiduciário, ou como<br />
garantidor de créditos dessas empresas oferecidos para fins de securitizaçào.<br />
Assim, o projeto estabelece que, na hipótese de não pagamento das contas a receber, a<br />
Sociedade de Garantia Solidária da qual participam as empresas emissoras seria<br />
responsável por honrar os títulos emitidos com lastro naquelas contas. Seria dessa maneira<br />
franqueado a um número crescente de micro e pequenas empresas uma fonte de obtenção<br />
de crédito que tem importância crescente. Quanto mais bem-sucedida ess engenharia<br />
financeira, maior o desenvolvimento do mercado de títulos dessa natureza e menor a<br />
dependência que micros e pequenas empresas teriam do crédito bancário, quer para fins de<br />
investimento, quer para fins de capital de giro.<br />
O mecanismo de securitização dos recebíveis das ME e das EPP tem um grande potencial<br />
de crescimento, como comprova as várias experiências internacionais. Nos EUA, em 1993,<br />
os ativos securitizados atingiram USS 1,8 trilhão, representando 30% do seu produto<br />
nacional. Esse instrumento vem apresentando crescimento recente significativo entre as<br />
empresas de pequeno porte nos EUA, alcançando-se cifra em torno de USS 6,3 bilhões por<br />
ano. Na América latina, diversas experiências têm sido iniciadas. Na Colômbia, foi criado um<br />
fundo de garantia às pequenas empresas financiado por empréstimos privados da Suíça e<br />
da Colômbia. Na Argentina, em março de 1995, foi regulamentada por lei a constituição de<br />
sociedades de garantia recíproca, com o objetivo de conceder garantias às micro e<br />
pequenas empresas para obtenção do crédito bancário, bem como para facilitar a operação<br />
de securitização.<br />
Trata-se, em suma de um projeto que, a um só tempo, facilita o acesso de micro e pequenas<br />
empresas ao crédito bancário e diminui a dependência que dele têm hoje essas empresas,<br />
na medida que lhes abre a porta do mercado de capitais, propiciando as condições efetivas<br />
para a expansão da renda e do emprego na economia brasileira neste final de século.<br />
Sala das Sessões, em 25 de abril de 1966.<br />
Deputado Antônio Kandir
86<br />
Anexo B<br />
LEI N o 9.841, <strong>DE</strong> 5 <strong>DE</strong> OUTUBRO <strong>DE</strong> 1999 3<br />
Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa<br />
de Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento<br />
jurídico diferenciado, simplificado e favorecido<br />
previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição<br />
Federal.<br />
O PRESI<strong>DE</strong>NTE <strong>DA</strong> REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu<br />
sanciono a seguinte Lei:<br />
CAPÍTULO I<br />
DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO<br />
Art. 1 o Nos termos dos arts. 170 e 179 da Constituição Federal, é assegurado às<br />
microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado e<br />
simplificado nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de<br />
desenvolvimento empresarial, em conformidade com o que dispõe esta Lei e a Lei n o 9.317,<br />
de 5 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.<br />
Parágrafo único. O tratamento jurídico simplificado e favorecido, estabelecido nesta Lei, visa<br />
facilitar a constituição e o funcionamento da microempresa e da empresa de pequeno porte,<br />
de modo a assegurar o fortalecimento de sua participação no processo de desenvolvimento<br />
econômico e social.<br />
CAPÍTULO II<br />
<strong>DA</strong> <strong>DE</strong>FINIÇÃO <strong>DE</strong> MICROEMPRESA E <strong>DE</strong> EMPRESA <strong>DE</strong> PEQUENO PORTE<br />
Art. 2 o Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3 o , considera-se:<br />
I – microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta<br />
anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais); (Vide<br />
Decreto nº 5.028, de 31.3.2004)<br />
II – empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, não<br />
enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 244.000,00<br />
(duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e<br />
duzentos mil reais). (Vide Decreto nº 5.028, de 31.3.2004)<br />
§ 1 o No primeiro ano de atividade, os limites da receita bruta de que tratam os incisos I e II<br />
serão proporcionais ao número de meses em que a pessoa jurídica ou firma mercantil<br />
individual tiver exercido atividade, desconsideradas as frações de mês.<br />
3 Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 17 jul. 2004.
87<br />
§ 2 o O enquadramento de firma mercantil individual ou de pessoa jurídica em microempresa<br />
ou empresa de pequeno porte, bem como o seu desenquadramento, não implicarão<br />
alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente<br />
firmados.<br />
§ 3 o O Poder Executivo atualizará os valores constantes dos incisos I e II com base na<br />
variação acumulada pelo IGP-DI, ou por índice oficial que venha a substituí-lo.<br />
Art. 3 o Não se inclui no regime desta Lei a pessoa jurídica em que haja participação:<br />
I – de pessoa física domiciliada no exterior ou de outra pessoa jurídica;<br />
II – de pessoa física que seja titular de firma mercantil individual ou sócia de outra empresa<br />
que receba tratamento jurídico diferenciado na forma desta Lei, salvo se a participação não<br />
for superior a dez por cento do capital social de outra empresa desde que a receita bruta<br />
global anual ultrapasse os limites de que tratam os incisos I e II do art. 2 o .<br />
Parágrafo único. O disposto no inciso II deste artigo não se aplica à participação de<br />
microempresas ou de empresas de pequeno porte em centrais de compras, bolsas de<br />
subcontratação, consórcios de exportação e outras formas de associação assemelhadas,<br />
inclusive as de que trata o art. 18 desta Lei.<br />
CAPÍTULO III<br />
DO ENQUADRAMENTO<br />
Art. 4 o A pessoa jurídica ou firma mercantil individual que, antes da promulgação desta Lei,<br />
preenchia os seus requisitos de enquadramento como microempresa ou empresa de<br />
pequeno porte, excetuadas as já enquadradas no regime jurídico anterior, comunicará esta<br />
situação, conforme o caso, à Junta Comercial ou ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas,<br />
para fim de registro, mediante simples comunicação, da qual constarão:<br />
I – a situação de microempresa ou de empresa de pequeno porte;<br />
II – o nome e demais dados de identificação da empresa;<br />
III – a indicação do registro de firma mercantil individual ou do arquivamento dos atos<br />
constitutivos da sociedade;<br />
IV – a declaração do titular ou de todos os sócios de que o valor da receita bruta anual da<br />
empresa não excedeu, no ano anterior, o limite fixado no inciso I ou II do art. 2º, conforme o<br />
caso, e de que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão<br />
relacionadas no art. 3 o .<br />
Art. 5 o Tratando-se de empresa em constituição, deverá o titular ou sócios, conforme o caso,<br />
declarar a situação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, que a receita bruta<br />
anual não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I ou II do art. 2º,<br />
conforme o caso, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão<br />
relacionadas no art. 3º desta Lei.<br />
Art. 6 o O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de firmas mercantis<br />
individuais e de sociedades que se enquadrarem como microempresa ou empresa de<br />
pequeno porte, bem como o arquivamento de suas alterações, é dispensado das seguintes<br />
exigências:
88<br />
I – certidão de inexistência de condenação criminal, exigida pelo inciso II do art. 37 da Lei n o<br />
8.934, de 18 de novembro de 1994, que será substituída por declaração do titular ou<br />
administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer atividade<br />
mercantil ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal;<br />
II – prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou<br />
contribuição de qualquer natureza, salvo no caso de extinção de firma mercantil individual<br />
ou de sociedade.<br />
Parágrafo único. Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o<br />
disposto no § 2 o do art. 1 o da Lei n o 8.906, de 4 de julho de 1994.<br />
Art. 7 o Feita a comunicação, e independentemente de alteração do ato constitutivo, a<br />
microempresa adotará, em seguida ao seu nome, a expressão "microempresa" ou,<br />
abreviadamente, "ME", e a empresa de pequeno porte, a expressão "empresa de pequeno<br />
porte" ou "EPP".<br />
Parágrafo único. É privativo de microempresa e de empresa de pequeno porte o uso das<br />
expressões de que trata este artigo.<br />
CAPÍTULO IV<br />
DO <strong>DE</strong>SENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO<br />
Art. 8 o O desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte dar-se-á<br />
quando excedidos ou não alcançados os respectivos limites de receita bruta anual fixados<br />
no art. 2 o .<br />
§ 1 o Desenquadrada a microempresa, passa automaticamente à condição de empresa de<br />
pequeno porte, e esta passa à condição de empresa excluída do regime desta Lei ou<br />
retorna à condição de microempresa.<br />
§ 2 o A perda da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, em<br />
decorrência do excesso de receita bruta, somente ocorrerá se o fato se verificar durante dois<br />
anos consecutivos ou três anos alternados, em um período de cinco anos.<br />
Art. 9 o A empresa de pequeno porte reenquadrada como empresa, a microempresa<br />
reenquadrada na condição de empresa de pequeno porte e a empresa de pequeno porte<br />
reenquadrada como microempresa comunicarão este fato ao órgão de registro, no prazo de<br />
trinta dias, a contar da data da ocorrência.<br />
Parágrafo único. Os requerimentos e comunicações previstos neste Capítulo e no Capítulo<br />
III poderão ser feitos por via postal, com aviso de recebimento.<br />
CAPÍTULO V<br />
DO REGIME PREVI<strong>DE</strong>NCIÁRIO E TRABALHISTA<br />
Art. 10. O Poder Executivo estabelecerá procedimentos simplificados, além dos previstos<br />
neste Capítulo, para o cumprimento da legislação previdenciária e trabalhista por parte das<br />
microempresas e das empresas de pequeno porte, bem como para eliminar exigências<br />
burocráticas e obrigações acessórias que sejam incompatíveis com o tratamento<br />
simplificado e favorecido previsto nesta Lei.
89<br />
Art. 11. A microempresa e a empresa de pequeno porte são dispensadas do cumprimento<br />
das obrigações acessórias a que se referem os arts. 74; 135, § 2 o ; 360; 429 e 628, § 1 o , da<br />
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.<br />
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não dispensa a microempresa e a<br />
empresa de pequeno porte dos seguintes procedimentos:<br />
I – anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;<br />
II – apresentação da Relação Anual de Informações Sociais – Rais e do Cadastro Geral de<br />
Empregados e Desempregados – Caged;<br />
III – arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações<br />
trabalhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem essas obrigações;<br />
IV – apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e<br />
Informações à Previdência Social – Gfip.<br />
Art. 12. Sem prejuízo de sua ação específica, as fiscalizações trabalhista e previdenciária<br />
prestarão, prioritariamente, orientação à microempresa e à empresa de pequeno porte.<br />
Parágrafo único. No que se refere à fiscalização trabalhista, será observado o critério da<br />
dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada infração por<br />
falta de registro de empregado, ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social –<br />
CTPS, ou ainda na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à<br />
fiscalização.<br />
Art. 13. Na homologação de rescisão de contrato de trabalho, o extrato de conta vinculada<br />
ao trabalhador relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS poderá ser<br />
substituído pela Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e<br />
Informações à Previdência Social – Gfip pré-impressa no mês anterior, desde que sua<br />
quitação venha a ocorrer em data anterior ao dia dez do mês subseqüente a sua emissão.<br />
CAPÍTULO VI<br />
DO APOIO CREDITÍCIO<br />
Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá mecanismos fiscais e financeiros de estímulo às<br />
instituições financeiras privadas no sentido de que mantenham linhas de crédito específicas<br />
para as microempresas e para as empresas de pequeno porte.<br />
Art. 15. As instituições financeiras oficiais que operam com crédito para o setor privado<br />
manterão linhas de crédito específicas para as microempresas e para as empresas de<br />
pequeno porte, devendo o montante disponível e suas condições de acesso ser expressas,<br />
nos respectivos documentos de planejamento, e amplamente divulgados.<br />
Parágrafo único. As instituições de que trata este artigo farão publicar, semestralmente,<br />
relatório detalhado dos recursos planejados e aqueles efetivamente utilizados na linha de<br />
crédito mencionada neste artigo, analisando as justificativas do desempenho alcançado.<br />
Art. 16. As instituições de que trata o art. 15, nas suas operações com as microempresas e<br />
com as empresas de pequeno porte, atuarão, em articulação com as entidades de apoio e<br />
representação daquelas empresas, no sentido de propiciar mecanismos de treinamento,<br />
desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica articulados com as operações de<br />
financiamento.
90<br />
Art. 17. Para fins de apoio creditício à exportação, serão utilizados os parâmetros de<br />
enquadramento de empresas, segundo o porte, aprovados pelo Mercado Comum do Sul –<br />
Mercosul para as microempresas e para as empresas de pequeno porte.<br />
Art. 18. (VETADO)<br />
CAPÍTULO VII<br />
DO <strong>DE</strong>SENVOLVIMENTO EMPRESARIAL<br />
Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá mecanismos de incentivos fiscais e financeiros, de<br />
forma simplificada e descentralizada, às microempresas e às empresas de pequeno porte,<br />
levando em consideração a sua capacidade de geração e manutenção de ocupação e<br />
emprego, potencial de competitividade e de capacitação tecnológica, que lhes garantirão o<br />
crescimento e o desenvolvimento.<br />
Art. 20. Dos recursos federais aplicados em pesquisa, desenvolvimento e capacitação<br />
tecnológica na área empresarial, no mínimo vinte por cento serão destinados,<br />
prioritariamente, para o segmento da microempresa e da empresa de pequeno porte.<br />
Parágrafo único. As organizações federais atuantes em pesquisa, desenvolvimento e<br />
capacitação tecnológica deverão destacar suas aplicações voltadas ao apoio às<br />
microempresas e às empresas de pequeno porte.<br />
Art. 21. As microempresas e as empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e<br />
favorecido no que diz respeito ao acesso a serviços de metrologia e certificação de<br />
conformidade prestados por entidades tecnológicas públicas.<br />
Parágrafo único. As entidades de apoio e de representação das microempresas e das<br />
empresas de pequeno porte criarão condições que facilitem o acesso aos serviços de que<br />
trata o art. 20.<br />
Art. 22. O Poder Executivo diligenciará para que se garantam às entidades de apoio e de<br />
representação das microempresas e das empresas de pequeno porte condições para<br />
capacitarem essas empresas para que atuem de forma competitiva no mercado interno e<br />
externo, inclusive mediante o associativismo de interesse econômico.<br />
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e<br />
favorecido quando atuarem no mercado internacional, seja importando ou exportando<br />
produtos e serviços, para o que o Poder Executivo estabelecerá mecanismos de facilitação,<br />
desburocratização e capacitação.<br />
Parágrafo único. Os órgãos e entidades da Administração Federal Direta e Indireta,<br />
intervenientes nas atividades de controle da exportação e da importação, deverão adotar<br />
procedimentos que facilitem as operações que envolvam as microempresas e as empresas<br />
de pequeno porte, otimizando prazos e reduzindo custos.<br />
Art. 24. A política de compras governamentais dará prioridade à microempresa e à empresa<br />
de pequeno porte, individualmente ou de forma associada, com processo especial e<br />
simplificado nos termos da regulamentação desta Lei.
91<br />
CAPÍTULO VIII<br />
<strong>DA</strong> SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> SOLIDÁRIA<br />
Art. 25. É autorizada a constituição de Sociedade de Garantia Solidária, constituída sob a<br />
forma de sociedade anônima, para a concessão de garantia a seus sócios participantes,<br />
mediante a celebração de contratos.<br />
Parágrafo único. A sociedade de garantia solidária será constituída de sócios participantes e<br />
sócios investidores:<br />
I – os sócios participantes serão, exclusivamente, microempresas e empresas de pequeno<br />
porte com, no mínimo, dez participantes e participação máxima individual de dez por cento<br />
do capital social;<br />
II – os sócios investidores serão pessoas físicas ou jurídicas, que efetuarão aporte de capital<br />
na sociedade, com o objetivo exclusivo de auferir rendimentos, não podendo sua<br />
participação, em conjunto, exceder a quarenta e nove por cento do capital social.<br />
Art. 26. O estatuto social da sociedade de garantia solidária deve estabelecer:<br />
I – finalidade social, condições e critérios para admissão de novos sócios participantes e<br />
para sua saída e exclusão;<br />
II – privilégio sobre as ações detidas pelo sócio excluído por inadimplência;<br />
III – proibição de que as ações dos sócios participantes sejam oferecidas como garantia de<br />
qualquer espécie; e<br />
IV – estrutura, compreendendo a Assembléia-Geral, órgão máximo da sociedade, que<br />
elegerá o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, que, por sua vez, indicará a<br />
Diretoria Executiva.<br />
Art. 27. A sociedade de garantia solidária é sujeita ainda às seguintes condições:<br />
I – proibição de concessão a um mesmo sócio participante de garantia superior a dez por<br />
cento do capital social ou do total garantido pela sociedade, o que for maior;<br />
II – proibição de concessão de crédito a seus sócios ou a terceiros; e<br />
III – dos resultados líquidos, alocação de cinco por cento, para reserva legal, até o limite de<br />
vinte por cento do capital social; e de cinqüenta por cento da parte correspondente aos<br />
sócios participantes para o fundo de risco, que será constituído também por aporte dos<br />
sócios investidores e de outras receitas aprovadas pela Assembléia-Geral da sociedade.<br />
Art. 28. O contrato de garantia solidária tem por finalidade regular a concessão da garantia<br />
pela sociedade ao sócio participante, mediante o recebimento da taxa de remuneração pelo<br />
serviço prestado, devendo fixar as cláusulas necessárias ao cumprimento das obrigações do<br />
sócio beneficiário perante a sociedade.<br />
Parágrafo único. Para a concessão da garantia, a sociedade de garantia solidária poderá<br />
exigir a contragarantia por parte do sócio participante beneficiário.
92<br />
Art. 29. As microempresas e as empresas de pequeno porte podem oferecer as suas contas<br />
e valores a receber como lastro para a emissão de valores mobiliários a serem colocados<br />
junto aos investidores no mercado de capitais.<br />
Art. 30. A sociedade de garantia solidária pode conceder garantia sobre o montante de<br />
recebíveis de seus sócios participantes, objeto de securitização, podendo também prestar o<br />
serviço de colocação de recebíveis junto a empresa de securitização especializada na<br />
emissão dos títulos e valores mobiliários transacionáveis no mercado de capitais.<br />
Parágrafo único. O agente fiduciário de que trata o caput não tem direito de regresso contra<br />
as empresas titulares dos valores e contas a receber, objeto de securitização.<br />
Art. 31. A função de registro, acompanhamento e fiscalização das sociedades de garantia<br />
solidária, sem prejuízo das autoridades governamentais competentes, poderá ser exercida<br />
pelas entidades vinculadas às microempresas e às empresas de pequeno porte, em<br />
especial o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, mediante<br />
convênio a ser firmado com o Executivo.<br />
CAPÍTULO IX<br />
<strong>DA</strong>S PENALI<strong>DA</strong><strong>DE</strong>S<br />
Art. 32. A pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, sem observância dos requisitos<br />
desta Lei, pleitear seu enquadramento ou se mantiver enquadrada como microempresa ou<br />
empresa de pequeno porte estará sujeita às seguintes conseqüências e penalidades:<br />
I – cancelamento de ofício de seu registro como microempresa ou como empresa de<br />
pequeno porte;<br />
II – aplicação automática, em favor da instituição financeira, de multa de vinte por cento<br />
sobre o valor monetariamente corrigido dos empréstimos obtidos com base nesta Lei,<br />
independentemente do cancelamento do incentivo de que tenha sido beneficiada.<br />
Art. 33. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios desta Lei caracteriza o<br />
crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo de enquadramento em outras<br />
figuras penais.<br />
CAPÍTULO X<br />
DISPOSIÇÕES FINAIS<br />
Art. 34. Os órgãos fiscalizadores de registro de produtos procederão a análise para inscrição<br />
e licenciamento a que estiverem sujeitas as microempresas e as empresas de pequeno<br />
porte, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de entrega da documentação ao<br />
órgão.<br />
Art. 35. As firmas mercantis individuais e as sociedades mercantis e civis enquadráveis<br />
como microempresa ou empresa de pequeno porte que, durante cinco anos, não tenham<br />
exercido atividade econômica de qualquer espécie, poderão requerer e obter a baixa no<br />
registro competente, independentemente de prova de quitação de tributos e contribuições<br />
para com a Fazenda Nacional, bem como para com o Instituto Nacional do Seguro Social –<br />
INSS e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
93<br />
Art. 36. A inscrição e alterações da microempresa e da empresa de pequeno porte em<br />
órgãos da Administração Federal ocorrerá independentemente da situação fiscal do titular,<br />
sócios, administradores ou de empresas de que estes participem.<br />
Art. 37. As microempresas e as empresas de pequeno porte são isentas de pagamento de<br />
preços, taxas e emolumentos remuneratórios de registro das declarações referidas nos arts.<br />
4 o , 5 o e 9 o desta Lei.<br />
Art. 38. Aplica-se às microempresas o disposto no § 1 o do art. 8 o da Lei n o 9.099, de 26 de<br />
setembro de 1995, passando essas empresas, assim como as pessoas físicas capazes, a<br />
serem admitidas a proporem ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de<br />
direito de pessoas jurídicas.<br />
Art. 39. O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno<br />
porte, é sujeito às seguintes normas:<br />
I – os emolumentos devidos ao tabelião de protesto não excederão um por cento do valor do<br />
título, observado o limite máximo de R$ 20,00 (vinte reais), incluídos neste limite as<br />
despesas de apresentação, protesto, intimação, certidão e quaisquer outras relativas à<br />
execução dos serviços;<br />
II – para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de emissão de<br />
estabelecimento bancário, mas, feito o pagamento por meio de cheque, de emissão de<br />
estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto será<br />
condicionada à efetiva liquidação do cheque;<br />
III – o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será feito<br />
independentemente de declaração de anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade<br />
de apresentação do original protestado;<br />
IV – para os fins do disposto no caput e nos incisos I, II e III, caberá ao devedor provar sua<br />
qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte perante o tabelionato de<br />
protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro<br />
Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso.<br />
Art. 40. Os arts. 29 e 31 da Lei n o 9.492, de 10 de setembro de 1997, passam a vigorar com<br />
a seguinte redação:<br />
"Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou<br />
àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de<br />
relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de<br />
informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo<br />
parcialmente." (NR)<br />
"§ 1 o O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou<br />
se forneçam informações de protestos cancelados." (NR)<br />
"§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados das entidades referidas no caput somente serão<br />
prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas<br />
regularmente protestados cujos registros não foram cancelados." (NR)<br />
"§ 3º Revogado."
94<br />
"Art. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos, não cancelados, a quaisquer<br />
interessados, desde que requeridas por escrito." (NR)<br />
Art. 41. Ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior compete<br />
acompanhar e avaliar a implantação efetiva das normas desta Lei, visando seu cumprimento<br />
e aperfeiçoamento.<br />
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo é<br />
autorizado a criar o Fórum Permanente da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,<br />
com participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor.<br />
Art. 42. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a contar da<br />
data de sua publicação.<br />
Art. 43. Revogam-se as Leis n o 7.256, de 27 de novembro de 1984, e n o 8.864, de 28 de<br />
março de 1994.<br />
Brasília, 5 de outubro de 1999; 178 o da Independência e 111 o da República.<br />
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO<br />
Pedro Malan<br />
Francisco Dornelles<br />
Alcides Lopes Tápias
95<br />
Anexo C<br />
LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA AS SOCIE<strong>DA</strong><strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> <strong>GARANTIA</strong> MÚTUA EM<br />
PORTUGAL<br />
Preâmbulo do Decreto-Lei nº 211/98 de Portugal<br />
As pequenas e médias empresas e as microempresas assumem um papel relevante na<br />
estrutura económico-empresarial portuguesa e na dinamização da economia. Entre outros<br />
aspectos preponderantes, contribuem para a atenuação dos ciclos económicos e para a<br />
criação e estabilização de emprego e de riqueza.<br />
Tem-se presente o conjunto de factores que, de forma geral, enquadram o processo de<br />
acesso, por aquelas empresas, aos financiamentos necessários e adequados à<br />
prossecução das suas actividades. Estas empresas, pela sua dimensão, encontram factores<br />
muitos específicos no acesso ao crédito, nomeadamente no que se refere às condições de<br />
preço e de prazo dos financiamento obtidos. Tais factores influenciam as suas relações com<br />
empresas de maior dimensão, no plano nacional e no contexto internacional, mas sobretudo<br />
com empresas de semelhante dimensão no âmbito da União Europeia. Influenciam,<br />
igualmente, a sua capacidade de expansão e competitividade.<br />
Tendo presente toda esta envolvente específica, visa-se criar um mecanismo adequado<br />
para que a dimensão da empresa possa ser menos relevante como factor a considerar na<br />
obtenção dos respectivos financiamentos, procurando-se, deste modo, melhorar a<br />
competitividade das empresas mencionadas, especialmente no que se refere às relações<br />
com mercados externos, obtendo-se, reflexamente, um factor de acréscimo de<br />
competitividade da economia nacional.<br />
Para tal, enquadra-se a actividade de caucionamento mútuo, criando, como veículo<br />
privilegiado de exercício da actividade, as sociedades de garantia mútua. Consagra-se um<br />
sistema largamente, e desde há muito, difundido por outros países da União Europeia.<br />
Pretende-se, fundamentalmente, que as sociedades de garantia mútua possam<br />
desempenhar papel relevante nas condições de obtenção de financiamentos pelas<br />
pequenas e médias empresas e pelas microempresas, tanto junto do sistema financeiro, em<br />
geral, como junto do mercado de capitais, em particular. Para tanto as sociedades de<br />
garantia mútua poderão conceder garantias às empresas suas accionistas e estudar<br />
soluções de acesso conjunto ao mercado de capitais, potenciando-se melhorias nas<br />
condições de obtenção de financiamentos, se confrontadas com soluções autónomas.<br />
Teve-se presente a experiência levada a cabo em Portugal, pela S.P.G.M. – Sociedade de<br />
Investimento, S.A., e a adesão das empresas ao sistema. Pretende-se agora que o<br />
desenvolvimento do sistema de garantia mútuo fique essencialmente a cargo da iniciativa<br />
privada, através das empresas, empresários e das associações representativas de umas e<br />
outros.<br />
Foram ouvidos o Banco de Portugal e o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas<br />
e ao Investimento.
96<br />
Assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º e do n.º 5 do artigo 112.º da<br />
Constituição, o Governo decreta o seguinte:<br />
Preâmbulo do Decreto-Lei nº 19/2001<br />
A criação das sociedades de garantia mútua, pelo Decreto-Lei n.º 211/98, de 16 de Julho,<br />
insere-se na estratégia de dinamização da economia portuguesa. Com efeito, estas<br />
instituições foram delineadas tendo em vista o apoio, nomeadamente através da concessão<br />
de garantias, no acesso a recursos financeiros necessários à prossecução de actividades<br />
das pequenas e médias empresas e das microempresas, já que a dimensão das referidas<br />
empresas condiciona, particularmente no que se refere a condições de preço e de prazos,<br />
os respectivos financiamentos.<br />
No entanto, para que as sociedades de garantia mútua possam prosseguir com eficiência os<br />
fins para os quais foram criadas é imperioso assegurar-lhes condições de competitividade,<br />
quer no que toca à captação dos recursos necessários ao exercício da respectiva actividade<br />
quer no que respeita a outros factores relevantes, como seja, por exemplo, a ponderação,<br />
para efeitos prudenciais, dos riscos sobre elas incorridos pelas suas contrapartes. A<br />
qualificação das sociedades de garantia mútua como instituições de crédito, operada pelo<br />
presente diploma, é condição necessária para realização de tais objectivos.<br />
Foram ouvidos o Banco de Portugal, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e<br />
ao Investimento e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Assim, nos termos da<br />
alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, para valer como lei<br />
geral da República, o seguinte:<br />
Artigo 1.º<br />
Noção<br />
CAPÍTULO I<br />
Disposições Gerais<br />
As sociedades de garantia mútua são instituições de crédito que têm por objecto uma<br />
actividade bancária restrita à realização de operações financeiras e à prestação de serviços<br />
conexos previstos neste diploma em benefício de pequenas e médias empresas e de<br />
microempresas, regendo-se pelo disposto no presente diploma e pelas disposições<br />
aplicáveis do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.<br />
Artigo 2.º<br />
Objecto<br />
1 – As sociedades de garantia mútua podem realizar as operações e prestar os serviços<br />
seguintes:<br />
a) Concessão de garantias destinadas a assegurar o cumprimento de obrigações contraídas<br />
por accionistas beneficiários, designadamente garantias acessórias de contratos de mútuo;<br />
b) Promoção, em favor dos accionistas beneficiários, da obtenção de recursos financeiros<br />
junto de instituições de crédito ou de outras instituições financeiras, nacionais ou<br />
estrangeiras;<br />
c) Participação na colocação, em mercado primário ou em mercado secundário, de acções,<br />
obrigações ou de quaisquer outros valores mobiliários, bem como de títulos de crédito
97<br />
emitidos nos termos do Decreto-Lei n.º 181/92, de 22 de Agosto, desde que a entidade<br />
emitente seja accionista beneficiário ou se encontrem previstos no n.º 2, e prestação de<br />
serviços correlativos;<br />
d) Prestação de serviços de consultoria de empresas, aos accionistas beneficiários, em<br />
áreas associadas à gestão financeira, designadamente em matéria de estrutura do capital,<br />
de estratégia empresarial e de questões conexas, bem como no domínio da fusão, cisão e<br />
compra ou venda de empresas.<br />
2 – Para além dos valores mobiliários emitidos pelos accionistas beneficiários, as<br />
sociedades de garantia mútua podem participar na colocação de valores mobiliários que,<br />
nos termos das respectivas condições de emissão, confiram direito à subscrição, sejam<br />
convertíveis ou permutáveis por acções representativas do capital social de accionistas<br />
beneficiários.<br />
3 – As sociedades de garantia mútua não podem tomar firme, total ou parcialmente,<br />
colocações de valores mobiliários em que participem, só podendo adquirir para carteira<br />
própria os valores mobiliários referidos no n.º 5 do artigo 229.º do Código dos Valores<br />
Mobiliários e, de acordo com as regras que venham a ser estabelecidas pelo Banco de<br />
Portugal, outros que este autorize.<br />
4 – As sociedades de garantia mútua só podem realizar operações e prestar serviços em<br />
benefício de accionistas beneficiários, para o desenvolvimento das respectivas actividades<br />
económicas.<br />
Artigo 3.º<br />
Accionistas beneficiários e accionistas promotores<br />
1 – As sociedades de garantia mútua têm accionistas beneficiários e, desde que os<br />
respectivos estatutos o prevejam, podem ter accionistas promotores.<br />
2 – Só podem ser accionistas beneficiários pequenas e médias empresas, microempresas<br />
ou entidades representativas de qualquer das categorias de empresas referidas.<br />
3 – Os estatutos das sociedades de garantia mútua devem definir com clareza quem pode<br />
adquirir a qualidade de accionista beneficiário.<br />
4 – As sociedades de garantia mútua não podem realizar operações nem prestar serviços<br />
em benefício de accionistas promotores.<br />
5 – Os accionistas promotores não podem deter, individual ou conjuntamente, directa ou<br />
indirectamente, uma participação superior a 50% do capital social ou dos direitos de voto da<br />
sociedade de garantia mútua, excepto nos três primeiros anos contados da data de<br />
constituição da sociedade, período durante o qual aquela percentagem será de 75%.<br />
Artigo 4.º<br />
Firma<br />
A firma destas sociedades deve incluir a expressão «sociedade de garantia mútua» ou a<br />
abreviatura SGM, as quais, ou outras que com elas se confundam, não poderão ser usadas<br />
por outras entidades que não as previstas no presente diploma.
98<br />
Artigo 5.º<br />
Representação do capital<br />
1 – As acções representativas do capital social das sociedades de garantia mútua são<br />
obrigatoriamente nominativas.<br />
2 – As contas de registo ou de depósito nas quais se encontrem registadas ou depositadas<br />
acções de sociedades de garantia mútua devem, para além das menções e factos exigidos<br />
nos termos gerais, revelar a qualidade de accionista beneficiário ou de accionista promotor.<br />
Artigo 6.º<br />
Realização do capital<br />
O capital social das sociedades de garantia mútua só pode ser realizado através de<br />
entradas em dinheiro, sem prejuízo da possibilidade de serem efectuados aumentos do<br />
capital social na modalidade de incorporação de reservas, nos termos gerais.<br />
Artigo 7.º<br />
Autorização e revogação da autorização<br />
1 – As sociedades de garantia mútua não podem ser constituídas por um número de<br />
accionistas beneficiários inferior a 20.<br />
2 – Para além dos fundamentos previstos nos termos gerais, a autorização das sociedades<br />
de garantia mútua pode também ser revogada se:<br />
Por um período superior a 18 meses, o número de accionistas beneficiários for inferior a 20;<br />
A assembleia geral não aprovar as condições gerais de concessão das garantias, no prazo<br />
de 180 dias contado da data de constituição da sociedade.<br />
Artigo 8.º<br />
Recursos financeiros<br />
CAPÍTULO II<br />
Actividade das sociedades de garantia mutual<br />
As sociedades de garantia mútua só podem financiar a sua actividade com fundos próprios<br />
e através dos seguintes recursos:<br />
Financiamentos concedidos por outras instituições de crédito ou por instituições financeiras,<br />
nacionais ou estrangeiras;<br />
Suprimentos e outras formas de financiamento concedido pelos accionistas, nos termos<br />
legalmente admissíveis;<br />
Emissão de obrigações de qualquer espécie, nas condições previstas na lei e sem<br />
obediência aos limites fixados no Código das Sociedades Comerciais.
99<br />
Artigo 9.º<br />
Reservas<br />
1 – Um montante não inferior a 10% dos resultados antes de impostos apurados em cada<br />
exercício pelas sociedades de garantia mútua é destinado à constituição de um fundo<br />
técnico de provisão até ao limite de 10% do saldo da carteira de garantias concedidas.<br />
2 – O fundo técnico de provisão previsto no número anterior destina-se à cobertura de<br />
prejuízos decorrentes da sinistralidade da carteira de garantias.<br />
3 – Uma fracção não inferior a 10% dos lucros líquidos apurados em cada exercício pelas<br />
sociedades de garantia mútua deve ser destinada à formação de uma reserva legal, até ao<br />
limite do capital social.<br />
4 – O Banco de Portugal poderá elevar qualquer das duas percentagens referidas no n.º 1.<br />
Artigo 10.º<br />
Prestação de garantias<br />
1 – As sociedades de garantia mútua não podem conceder garantias a favor dos accionistas<br />
beneficiários enquanto não se encontrar integralmente realizada a participação cuja<br />
titularidade seja exigida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º, como condição da sua obtenção.<br />
2 – Entre o momento de concessão da garantia e o da respectiva extinção, as acções que<br />
integrem a participação cuja titularidade seja exigida como condição de obtenção daquela<br />
garantia não poderão ser objecto de transmissão, excepto nos casos previstos no n.º 4, e<br />
serão dadas em penhor em benefício da sociedade de garantia mútua como contragarantia<br />
da garantia prestada por aquela sociedade.<br />
3 – Quer a intransmissibilidade quer a constituição de penhor ficam, nos termos gerais,<br />
sujeitos a averbamento nas contas de registo ou de depósito em que as acções da<br />
sociedade de garantia mútua objecto daquela limitação e daquele ónus se encontrem<br />
registadas ou depositadas.<br />
4 – No caso previsto no n.º 2, as acções podem ser objecto de transmissão, nos termos que<br />
os estatutos da sociedade de garantia mútua venham a estabelecer, se se verificar alguma<br />
das seguintes situações:<br />
Cisão ou fusão do accionista beneficiário;<br />
Cessão da posição contratual no negócio do qual resultem as obrigações garantidas;<br />
Falecimento do accionista beneficiário.<br />
Artigo 11.º<br />
Regime aplicável às garantias concedidas<br />
1 – Para efeitos do cômputo do ratio de solvabilidade, as garantias prestadas pelas<br />
sociedades de garantia mútua são ponderadas nos mesmos termos que as garantias<br />
prestadas por instituições de crédito da zona A. (revogado pelo Decreto-Lei n.º 19/2001, de<br />
30 de Janeiro).
100<br />
2 – A condição de sócio, inicial ou superveniente, da entidade credora da obrigação<br />
garantida não afectará o regime jurídico da garantia concedida, a qual se rege pelo disposto<br />
no presente diploma, pelas normas legais e regulamentares que, nos termos gerais, lhe<br />
sejam aplicáveis e pelas condições gerais de concessão das garantias fixadas nos termos<br />
do n.º 3 do artigo 13.º<br />
Artigo 12.º<br />
Não cumprimento de obrigações garantidas<br />
1 – Em caso de não cumprimento, por algum dos accionistas beneficiários, de obrigação<br />
que se encontre garantida pela sociedade de garantia mútua, pode esta, nos termos gerais,<br />
executar o penhor constituído, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º, sobre as acções do<br />
accionista beneficiário.<br />
2 – Independentemente de convenção nesse sentido entre a sociedade de garantia mútua e<br />
o accionista beneficiário faltoso, podem as acções objecto do penhor ser adjudicadas àquela<br />
sociedade ou ser vendidas extrajudicialmente.<br />
3 – Nos casos previstos no número anterior, o valor das acções para efeitos de adjudicação<br />
será o valor nominal, não podendo ser inferior a este o preço de venda.<br />
Artigo 13.º<br />
Contrato de sociedade<br />
1 – Do contrato de sociedade das sociedades de garantia mútua deve constar, sem prejuízo<br />
de outros elementos exigidos nos termos gerais:<br />
Se for caso disso, a possibilidade de existência de accionistas promotores;<br />
As entidades que podem subscrever ou, a outro título, adquirir acções na qualidade de<br />
accionista beneficiário;<br />
As transmissões de acções que, nos termos do artigo 14.º, fiquem sujeitas ao consentimento<br />
da sociedade, bem como os casos em que a constituição de penhor e de usufruto sobre<br />
acções fique sujeita ao consentimento da sociedade;<br />
Especificar os fundamentos com que, de acordo com o n.º 5 do artigo 14.º, o órgão de<br />
administração da sociedade de garantia mútua pode recusar o consentimento para a<br />
transmissão de acções e para a constituição de penhor ou de usufruto;<br />
As condições em que, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 10.º, as acções objecto de<br />
penhor podem ser transmitidas.<br />
2 – Para além das matérias referidas no n.º 1 do artigo 34.º do Regime Geral das<br />
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, ficam igualmente sujeitas a autorização do<br />
Banco de Portugal as alterações dos estatutos de sociedades de garantia mútua que<br />
versem sobre alguma das matérias elencadas nas alíneas b) e d) do n.º 1.<br />
3 – As assembleias gerais das sociedades de garantia mútua devem aprovar as condições<br />
gerais de concessão das garantias, designadamente o montante mínimo da participação de<br />
que o accionista beneficiário deve ser titular para que possam ser concedidas garantias a<br />
seu favor.
101<br />
4 – As deliberações referidas no número anterior devem ser comunicadas ao Banco de<br />
Portugal.<br />
Artigo 14.º<br />
Transmissão de acções<br />
1 – São livres as transmissões de acções entre accionistas beneficiários, entre accionistas<br />
promotores e de accionistas promotores para accionistas beneficiários.<br />
2 – A transmissão de acções de accionistas beneficiários ou de accionistas promotores para<br />
novos accionistas beneficiários ficará obrigatoriamente sujeita ao consentimento da<br />
sociedade de garantia mútua.<br />
3 – Não podem ser transmitidas acções de accionistas beneficiários para accionistas<br />
promotores ou para novos accionistas promotores.<br />
4 – A competência para conceder ou recusar o consentimento para a transmissão de acções<br />
cabe obrigatoriamente ao órgão de administração da sociedade de garantia mútua.<br />
5 – O consentimento para a transmissão de acções só poderá ser recusado com<br />
fundamento na não verificação, em relação à entidade para a qual se pretendem transmitir<br />
as acções, de algum dos requisitos dos quais os estatutos da sociedade de garantia mútua<br />
faça depender a possibilidade de subscrever ou, a outro título, adquirir acções na qualidade<br />
de accionista beneficiário.<br />
6 – Caso seja recusado o consentimento para a transmissão de acções, a sociedade de<br />
garantia mútua fica obrigada a, no prazo de 90 dias contado da data da recusa do<br />
consentimento, adquirir ou fazer adquirir por terceiro as acções.<br />
7 – Na situação prevista no número anterior, as acções serão adquiridas pelo valor nominal.<br />
8 – Aplica-se à constituição de penhor ou usufruto sobre acções representativas do capital<br />
social de sociedades de garantia mútua, com as devidas adaptações, o disposto nos<br />
números anteriores.<br />
Artigo 15.º<br />
Aquisição e alienação de acções próprias<br />
1 – Para além do caso previsto no n.º 6 do artigo 14.º, a sociedade de garantia mútua ficará<br />
ainda obrigada a adquirir aos accionistas beneficiários, sempre que estes lho solicitem, as<br />
acções de que estes sejam titulares e que, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º, não sejam<br />
intransmissíveis, aplicando-se o disposto no n.º 7 do artigo 14.º<br />
2 – A aquisição de acções próprias pelas sociedades de garantia mútua só se torna eficaz<br />
no termo do exercício social, ficando dependente da verificação das seguintes condições:<br />
Terem decorrido, pelo menos, três anos desde a data de aquisição das acções;<br />
A aquisição não implicar o incumprimento, ou o agravamento do incumprimento, de<br />
nenhumas relações ou limites prudenciais fixados na lei ou pelo Banco de Portugal.
102<br />
3 – Para efeito da aquisição de acções próprias acrescerá aos bens distribuíveis referidos<br />
no n.º 4 do artigo 317.º do Código das Sociedades Comerciais o montante do fundo técnico<br />
de provisão.<br />
4 – Não dispondo a sociedade de fundos que permitam satisfazer, ou satisfazer<br />
integralmente, um pedido de aquisição de acções próprias, este ficará pendente e, até à sua<br />
integral satisfação, a sociedade não poderá distribuir dividendos.<br />
5 – As acções próprias de que a sociedade de garantia mútua seja titular destinam-se a ser<br />
alienadas a accionistas beneficiários ou a accionistas promotores, ou a terceiros que<br />
pretendam adquirir qualquer daquelas qualidades e, no primeiro caso, preencham requisitos<br />
para tanto.<br />
6 – A venda será deliberada pelo órgão de administração e o preço será igual ao valor<br />
nominal das acções.<br />
Artigo 16.º<br />
Fusão e cisão<br />
1 – O Banco de Portugal só concederá autorização para a fusão ou cisão de sociedades de<br />
garantia mútua se da operação resultar, pelo menos, uma sociedade do mesmo tipo.<br />
2 – As sociedades de garantia mútua não podem proceder a alterações dos respectivos<br />
objectos sociais que impliquem uma mudança do tipo de instituição.<br />
Artigo 17.º<br />
Fundo de Contragarantia Mútuo<br />
CAPÍTULO III<br />
Contragarantia das sociedades de garantia mútua<br />
As sociedades de garantia mútua, com a finalidade de oferecer uma cobertura e garantia<br />
suficientes para os riscos contraídos nas suas operações e assegurar a solvência do<br />
sistema, devem proceder à contragarantia das suas operações, através do Fundo de<br />
Contragarantia Mútuo, pelo saldo vivo, em cada momento, das garantias prestadas e pelo<br />
limite máximo de contragarantia admitido por aquele fundo.<br />
Artigo 18.º<br />
Entidade gestora do Fundo de Contragarantia Mútuo<br />
1 – Compete à entidade gestora do Fundo de Contragarantia Mútuo promover e incentivar a<br />
criação de sociedades de garantia mútua, designadamente através da tomada de<br />
participações iniciais no capital destas, na qualidade de accionista promotor.<br />
2 – A entidade gestora do Fundo de Contragarantia Mútuo tem o direito de designar um<br />
representante seu no conselho de administração das sociedades de garantia mútua em que<br />
detenha uma participação correspondente a, pelo menos, 10% do capital social.
103<br />
CAPÍTULO IV<br />
Disposições transitórias<br />
Artigo 19.º<br />
Início de funcionamento do sistema de caucionamento mútuo<br />
São isentos de taxas e emolumentos, devidos a quaisquer entidades, designadamente ao<br />
Registo Nacional de Pessoas Colectivas, conservatórias do registo comercial e cartórios<br />
notariais, todos os actos que sejam necessários praticar em virtude de quaisquer cisões da<br />
SPGM – Sociedade de Investimento, S.A.<br />
Artigo 20.º<br />
Entrada em vigor<br />
O presente decreto-lei entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.<br />
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de Junho de 1998 – António Manuel de<br />
Oliveira Guterres – António Luciano Pacheco de Sousa Franco 0 José Eduardo Vera Cruz<br />
Jardim – Joaquim Augusto Nunes de Pina Moura.<br />
Promulgado em 3 de Julho de 1998. Publique-se.<br />
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. Referendado em 9 de Julho de 1998.<br />
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.