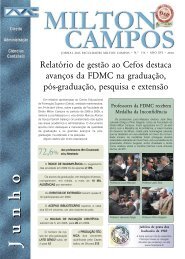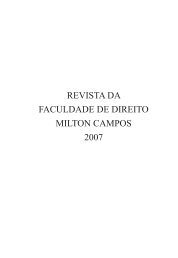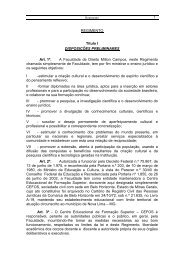A visão tipológica da empresa e suas ... - Milton Campos
A visão tipológica da empresa e suas ... - Milton Campos
A visão tipológica da empresa e suas ... - Milton Campos
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
17<br />
FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS<br />
A VISÃO TIPOLÓGICA DA EMPRESA E SUAS REPERCUSSÕES NO<br />
DIREITO FALIMENTAR<br />
NOVA LIMA<br />
2008
FABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA<br />
A VISÃO TIPOLÓGICA DA EMPRESA E SUAS REPERCUSSÕES NO<br />
DIREITO FALIMENTAR<br />
Dissertação apresenta<strong>da</strong> ao curso de pósgraduação<br />
strictu sensu <strong>da</strong> Facul<strong>da</strong>de de Direito<br />
<strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong> como requisito parcial para<br />
obtenção do título de Mestre em Direito<br />
Empresarial.<br />
Área de concentração: Direito Empresarial<br />
Orientador: Vinícius José Marques Gontijo<br />
NOVA LIMA<br />
2008
O48s<br />
OLIVEIRA, Fabrício de Souza<br />
A visão tipológica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> e <strong>suas</strong> repercussões no direito falimentar/<br />
Fabrício – Nova Lima: Facul<strong>da</strong>de de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong> / FDMC, 2008<br />
100 f. enc.<br />
Orientador: Prof. Dr. Vinicius José Marques Gontijo<br />
Dissertação (Mestrado) – Dissertação para obtenção do título de Mestre, área<br />
de concentração Direito <strong>empresa</strong>rial junto a Facul<strong>da</strong>de de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong><br />
Bibliografia: f. 96 - 100<br />
1.Teoria <strong>da</strong> Firma . 2.Teoria Institucionalista . 3.Perspectiva Tipológica <strong>da</strong><br />
Empresa . 4.Direito Falimentar. I. Gontijo, Vinicius José Marques II. Facul<strong>da</strong>de de<br />
Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong> III. Título<br />
CDU 347.736<br />
Ficha catalográfica elabora<strong>da</strong> por Emilce Maria Diniz – CRB – 6 / 1206
Facul<strong>da</strong>de de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong> – Mestrado em Direito Empresarial<br />
Dissertação intitula<strong>da</strong>” A visão tipológica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong><br />
e <strong>suas</strong> repercussões no direito falimentar, de autoria<br />
do Mestrando Fabrício de Souza Oliveira<br />
” , para exame <strong>da</strong> banca constituí<strong>da</strong> pelos seguintes<br />
professores:<br />
Prof. Dr. Vinicius José Marques Gontijo<br />
Orientador<br />
Prof. Dr.<br />
Prof. Dr.<br />
Nova Lima, novembro de 2008<br />
Alame<strong>da</strong> <strong>da</strong> Serra, 61 – Bairro Vila <strong>da</strong> Serra – Nova Lima – Cep 34000-000 – Minas Gerais – Brasil. Tel/fax (31) 3289-1900
Dedico o presente<br />
ao<br />
João e à Mariana.<br />
4
5<br />
AGRADECIMENTOS<br />
ao Prof. Vinícius Gontijo, pelo exemplo profissional e pelos incentivos sempre<br />
fun<strong>da</strong>mentais nos dilemas <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>;<br />
aos meus pais, por estarem sempre presentes;<br />
à minha irmã, por tudo e pela revisão <strong>da</strong>s traduções;<br />
ao Marcos, pelo apoio durante o curso;<br />
ao Renato, pela aju<strong>da</strong> final nas pesquisas de jurisprudência;<br />
à Profa. Kelly, pelas proveitosas conversas sobre Teoria do Direito Privado;<br />
ao Prof. Alexandre Cateb, por ter me apresentado à Teoria Econômica do<br />
Direito;<br />
aos demais professores, porque, certamente, há o contributo de ca<strong>da</strong> um<br />
nesse trabalho;<br />
aos demais amigos, inclusive pelas divergências, porque incentivaram.
6<br />
A liber<strong>da</strong>de é descrita de forma completa com o<br />
auxílio de enunciados que mencionem três coisas: a<br />
pessoa que não é livre; o obstáculo a que ela é<br />
submeti<strong>da</strong>; e aquilo a que este obstáculo impede ou<br />
embaraça. Isso sugere que se conceba uma<br />
liber<strong>da</strong>de específica de uma pessoa como uma<br />
relação triádica, a liber<strong>da</strong>de de uma pessoa como a<br />
soma de <strong>suas</strong> liber<strong>da</strong>des específicas e a liber<strong>da</strong>de<br />
de uma socie<strong>da</strong>de como a soma <strong>da</strong>s liber<strong>da</strong>des <strong>da</strong>s<br />
pessoas que nela vivem (Roberty Alexy).
7<br />
RESUMO<br />
O trabalho propõe o estudo <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> sob uma perspectiva tipológica,<br />
construí<strong>da</strong> a partir de um raciocínio orientado a valores. Nesta perspectiva, são<br />
investigados os conteúdos econômico e social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, utilizando-se como<br />
pressuposto teórico a Teoria <strong>da</strong> Firma e a Teoria Institucionalista. A partir deste<br />
ponto, o tipo <strong>empresa</strong> é contextualizado em alguns espaços apontados como<br />
relevantes para a verificação proposta: a jurisprudência civil e trabalhista. O<br />
escopo, neste ponto, é verificar alterações de significado atribuído à expressão<br />
<strong>empresa</strong> que possa externalizar mutações axiológicas a ela referi<strong>da</strong>s. A<br />
<strong>empresa</strong>, então, é apresenta<strong>da</strong> funcionalmente dentro do sistema, revelando a<br />
crise <strong>da</strong> teoria atomista e a necessi<strong>da</strong>de de se repensar o Direito Empresarial:<br />
o centro deixa de ser ocupado pelo empresário; a <strong>empresa</strong> passa a orientar<br />
finalisticamente a hermenêutica do direito <strong>empresa</strong>rial. Justificado o<br />
pensamento teleológico, são realizados alguns apontamentos sobre o direito<br />
falimentar de maneira a contrastar a metodologia do sistema falimentar atual<br />
com o sistema anterior. Em todo o trabalho, procura-se utilizar o valor atribuído<br />
a <strong>empresa</strong> como justificativa de sua tutela pelo Direito e sua influência na<br />
interpretação do Direito Empresarial moderno.<br />
Palavras –chave: Teoria <strong>da</strong> Firma. Teoria Institucionalista. Perspectiva<br />
Tipológica <strong>da</strong> Empresa. Direito Falimentar.
8<br />
ABSTRACT<br />
This paper proposes a study of the firm under a typological perspective, built<br />
from thoughts based on values. Under this view, the economic and social<br />
functions of the firm are analyzed using as theoretical basis the Theory of the<br />
Firm and the Institutionalism Theory. From this point, the firm, comprehended in<br />
a typological way, is contextualized in some areas which are identified as<br />
relevant for the proposed research: the civil and labor jurisprudence. The scope,<br />
in this point, is to verify changes in the meaning of the word firm that can<br />
express axiological variations. The firm then is functionally presented in the<br />
system revealing the French approach of Commercial Law and the necessity of<br />
re-think the Commercial Law: the focus is not the entrepreneur anymore, the<br />
company starts to guide the interpretation of the commercial law. After some<br />
explanations involving the teleological reasoning the paper presents some<br />
statements regarding the Bankruptcy Law, contrasting the methodology of<br />
current bankruptcy system to the former system. The whole paper intends to<br />
use the value of the firm as a reason for its protection by the law system and its<br />
influence on the interpretation of the modern Commercial Law.<br />
Keywords: Theory of the Firm. Institutionalism Theory. Thypological<br />
Perspectize of the Firm. Bankruptcy Law.
9<br />
SUMÁRIO<br />
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................... 10<br />
2 A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO DE VALOR À EMPRESA............ 17<br />
2.1 A preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>: uma necessi<strong>da</strong>de econômica.......................... 21<br />
2.2 Função econômica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>............................................................. ... 22<br />
2.2.1 A teoria <strong>da</strong> firma....................................................................................... 25<br />
2.2.2 A teoria dos contratos incompletos........................................................... 26<br />
2.2.3 O direito <strong>empresa</strong>rial industrial................................................................ 32<br />
2.3 A função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>...................................................................... 35<br />
2.3.1 Uma função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> segundo a teoria econômica do direito 39<br />
2.3.2 A função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> sob uma ótica institucionalista..................... 41<br />
2.4 O raciocínio jurídico funcional a exemplo do direito de <strong>empresa</strong>............ 43<br />
2.4.1 A teleologia do direito comercial dos atos de comércio........................... 49<br />
2.4.2 A teleologia do direito comercial <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>........................................... 53<br />
3 A EMPRESA VIÁVEL: A INFLUÊNCIA DO RACIOCÍNIO 54<br />
TIPOLÓGICO DE EMPRESA NA JURISPRUDÊNCIA<br />
BRASILEIRA..........................................................................................<br />
3.1 O comportamento <strong>da</strong> jurisprudência civil frente à <strong>empresa</strong> viável........... 54<br />
3.1.1 A decisão sobre a alienação <strong>da</strong>s quotas sociais......................................... 54<br />
3.1.2 A decisão sobre o direito de exclusão do sócio. 55<br />
3.1.3 A decisão sobre a unipessoali<strong>da</strong>de eventual em direito societário............ 57<br />
3.1.4 O direito de exclusão do sócio e a justa causa......................................... 59<br />
3.2 O comportamento <strong>da</strong> jurisprudência trabalhista frente à <strong>empresa</strong> viável 61<br />
4 A EMPRESA EM CRISE...................................................................... 68<br />
4.1 A crise do inadimplemento....................................................................... 69<br />
4.2 A concor<strong>da</strong>ta: um favor legal a serviço do devedor.................................. 71<br />
4.3 A falência recuperatória............................................................................ 76<br />
4.3.1 O comportamento jurisprudencial frente à <strong>empresa</strong> em crise................... 77<br />
4.3.2 A decisão quanto a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> na recuperação judicial........ 79<br />
4.3.3 A concessão <strong>da</strong> recuperação judicial, nos casos de rejeição do plano de 82<br />
recuperação................................................................................................<br />
4.3.4 A sucessão trabalhista na recuperação judicial, nos casos de alienação 84<br />
do estabelecimento <strong>empresa</strong>rial................................................................<br />
5 CONCLUSÃO......................................................................................... 93<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................. 96
10<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
O presente trabalho possui como objeto a análise <strong>da</strong> dogmática jurídica<br />
e do posicionamento dos julgados, com o fim de verificar a ocorrência de<br />
variações do conteúdo valorativo <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, entendi<strong>da</strong> tipologicamente,<br />
visando à interpretação teleológica do direito <strong>empresa</strong>rial e, em especial, <strong>da</strong><br />
recuperação judicial.<br />
O objeto se justifica porque o princípio <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong><br />
ganha espaço na jurisprudência prática, observando na argumentação alguma<br />
referencia à função social. Assim, o que se pretende demonstrar é que numa<br />
interpretação sistemática e teleológica, o conteúdo valorativo <strong>da</strong> <strong>empresa</strong><br />
ganha importância ao possibilitar a sua compreensão contextualiza<strong>da</strong> e,<br />
portanto, a funcionalização do direito <strong>empresa</strong>rial.<br />
O regime falimentar é<br />
abor<strong>da</strong>do de forma a contrastar a metodologia <strong>da</strong> falência liqui<strong>da</strong>tória com a<br />
falência recuperatória, estrutura<strong>da</strong> a partir <strong>da</strong> compreensão <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> e de<br />
<strong>suas</strong> funções.<br />
Nesta perspectiva de análise, a lei de falências atual reconhece o valor<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, edificado como princípio definidor, na hermenêutica 1 atual, de sua<br />
preservação – o jogo de princípios 2 estabelecido dentro do sistema falimentar<br />
(parcelar: a própria <strong>empresa</strong> em si considera<strong>da</strong> é um tipo e, portanto, um<br />
sistema móvel) demonstra que, se pode haver variação valorativa no<br />
significado <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> viável, na <strong>empresa</strong> em crise, não há mutação de valor<br />
atribuído à <strong>empresa</strong> a depender do nível <strong>da</strong> crise enfrenta<strong>da</strong> pelo empresário<br />
que a explora.<br />
O trabalho será desenvolvido por meio do estudo <strong>da</strong> dogmática jurídica,<br />
abor<strong>da</strong>ndo a <strong>empresa</strong> sob uma concepção tipológica – a abertura do instituto<br />
1 O direito legislado reconhece o princípio <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> enquanto vetor<br />
interpretativo, tanto no regime de recuperação, quanto no regime falimentar: art. 47. A<br />
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação <strong>da</strong> crise econômico-financeira do<br />
devedor, a fim de permitir a manutenção <strong>da</strong> fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e<br />
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, sua função<br />
social e o estímulo à ativi<strong>da</strong>de econômica. (...) art. 75. A falência, ao promover o afastamento<br />
do devedor de <strong>suas</strong> ativi<strong>da</strong>des, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens,<br />
ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>.<br />
2 Canaris, citado por Larenz observa que os princípios recebem o seu peculiar conteúdo de<br />
sentido apenas no seu jogo concertado de complementação e restrição recíprocas. (LARENZ,<br />
Karl. Metodologia <strong>da</strong> ciência do direito. 3 ed. Lisboa: Fun<strong>da</strong>ção Calouste Gulbenkian, 1997. p.<br />
677).
11<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong> a um raciocínio coordenado ao tipo, um processo orientado a<br />
valores, segundo a proposta de Karl Larenz - como fun<strong>da</strong>mento metodológico<br />
necessário à investigação do conteúdo jurídico <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, em sede de uma<br />
Teoria 3 Geral do Direito Empresarial. Segundo esse autor, a coordenação ao<br />
tipo é, assim, ao invés <strong>da</strong> subsunção a um conceito, um processo de<br />
pensamento orientado a valores (LARENZ 1997).<br />
Ressalta que o trabalho foi pensado a partir <strong>da</strong>s idéias coloca<strong>da</strong>s pelo<br />
prof. Vinícius Gontijo 4 , quando <strong>da</strong> publicação do atual Código Civil, na época,<br />
se antecipando às discussões conceituais que tomariam lugar na doutrina<br />
comercial sobre a <strong>empresa</strong>.<br />
O estudo, a que se propõe, parte de uma análise, breve, <strong>da</strong> Teoria <strong>da</strong><br />
Firma, formula<strong>da</strong> por Ronald Coase, na déca<strong>da</strong> de 30, do século passado, que<br />
influencia os estudos de micro-economia, desde então, e que, por intermédio<br />
<strong>da</strong> chama<strong>da</strong> escola do direito e <strong>da</strong> economia, trouxe para a Ciência do Direito,<br />
um conteúdo teórico diferenciado para o estudo <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, em relação à<br />
tradicional doutrina de Alberto Asquini, estruturando as firmas,<br />
economicamente, em organismos que atuam em mercados, diminuindo riscos<br />
e custos nas transações realiza<strong>da</strong>s, por meio <strong>da</strong> internalização e a<br />
estabilização de parte <strong>da</strong> cadeia de produção.<br />
Apresenta<strong>da</strong>s as balizas econômicas que circun<strong>da</strong>m o fenômeno<br />
<strong>empresa</strong>, segundo o enfoque teórico assinalado, será apresentado um escorço<br />
<strong>da</strong> Teoria Jurídica <strong>da</strong> Empresa. Neste ponto, há reconheci<strong>da</strong>mente, forte<br />
influência dos estudos <strong>da</strong> profa. Rachel Sztajn realizados em sua “Teoria<br />
Jurídica <strong>da</strong> Empresa”. Essa perspectiva se justifica pela necessi<strong>da</strong>de de se<br />
3 Adota-se neste trabalho a idéia de teoria proposta por Larenz; segundo o qual as teorias<br />
jurídicas não devem de modo algum explicar, mas tornar claras conexões jurídicas,<br />
especialmente proposições jurídicas ou conteúdos de regulação mais extensos num sistema –<br />
ou sistema parcelar – lógica e valorativamente isento de contradição (LARENZ, Karl.<br />
Metodologia <strong>da</strong> ciência do direito. 3 ed. Lisboa: Fun<strong>da</strong>ção Calouste Gulbenkian, 1997. p. 642)<br />
4 A compreensão <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, enquanto tipo normativo, foi exposta em artigo de autoria do<br />
prof. Vinícius José Marques Gontijo. A metodologia adota<strong>da</strong> na elaboração do presente<br />
trabalho recomen<strong>da</strong> a abor<strong>da</strong>gem do tema em tópico futuro – a abor<strong>da</strong>gem será retoma<strong>da</strong> -,<br />
entretanto, pela pertinência do texto, segue breve transcrição, a título introdutório: (...) diante de<br />
tudo quanto foi exposto neste trabalho, temos que o art. 966 do Código Civil está a merecer<br />
uma leitura não conceitual (hermética e imutável), e sim tipológica. O dispositivo legal<br />
apresenta elementos (ou atributos) do tipo empresário (que pode, no caso concreto, conter<br />
variações), assim como sofrer a relação dos fatos a que se aplica a norma, como naturalmente<br />
acontece em um tipo.(GONTIJO, Vinícius José Marques. O empresário no código civil<br />
brasileiro. Revista de Julgados do Tribunal de Alça<strong>da</strong> de Minas Gerais. Belo Horizonte, n.° 94,<br />
p. 19-36., jan/mar. 2004).
12<br />
verificar em que medi<strong>da</strong> os valores econômicos e sociais <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> –<br />
enquanto organismo econômico – passam a ser absorvidos pela Ciência<br />
Jurídica, lembrando que, de acordo com Robert Alexy 5 :<br />
(...) é perfeitamente possível, na argumentação jurídica, partir de um<br />
modelo de valores em vez de partir de um modelo de princípios. Mas<br />
o modelo de princípios tem a vantagem de que nele o caráter<br />
deontológico do direito se expressa claramente.<br />
A colocação dessa perspectiva se deve ao fato de se pretender conduzir<br />
a interpretação teleológica a partir do princípio <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>,<br />
princípio este impregnado de conteúdo deôntico e axiológico. Seguindo o<br />
traçado deste marco, a <strong>empresa</strong>, enquanto objeto de regulamentação do<br />
Direito Empresarial, passa a ser utiliza<strong>da</strong> como vetor metodológico para<br />
verificar a isenção de contradições sistêmicas, lógicas e valorativas 6 .<br />
Neste intuito, parte-se <strong>da</strong> análise <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, enquanto fenômeno<br />
social, verificando sua função econômica e social para, a partir deste estudo<br />
preliminar se identificar sua base conceitual e valorativa. A <strong>empresa</strong>, enquanto<br />
instituto jurídico, será, então, contextualiza<strong>da</strong> nos sistemas parcelares: nas<br />
relações societárias, nas relações trabalhistas e nos regimes falimentar e de<br />
recuperação judicial.<br />
O que se quer verificar, nesta fase, são as eventuais mutações<br />
valorativas que o instituto pode sofrer, visando a uma maior acui<strong>da</strong>de em seu<br />
estudo tipológico 7 para, a partir de então – <strong>da</strong>s constatações a que se chegar<br />
5 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fun<strong>da</strong>mentais. Tradução de Virgílio Afonso <strong>da</strong> Silva. São<br />
Paulo: Malheiros. 2008. p. 153.<br />
6 O estudo do direito, enquanto sistema, garante não só a clareza, mas também a segurança<br />
jurídica; porque, nos quadros de um tal sistema, se ele fosse completo, poder-se-ia <strong>da</strong>r a to<strong>da</strong><br />
questão jurídica uma resposta, por via de uma operação lógica de pensamento. Garante a<br />
ausência de contradição lógica de pensamento. É o chamado sistema externo. A ausência de<br />
contradições valorativas pode ser garanti<strong>da</strong> por meio do sistema interno, que parte <strong>da</strong> idéia de<br />
um sistema formado por princípios, que têm por missão tornar visível e pôr em evidência a<br />
uni<strong>da</strong>de valorativa interna do ordenamento jurídico. (LARENZ: 1997. p. 623).<br />
7 O pensamento tipológico, apresentado por LEENAN, citado por LARENZ, cui<strong>da</strong> sempre <strong>da</strong><br />
relação com o ponto de vista valorativo rector ao descrever os grupos de casos, pois todos os<br />
traços distintivos que se nos apresentam estão orientados a este valor como meio constitutivo<br />
<strong>da</strong> uni<strong>da</strong>de do todo e só assim tem significado. Por isso, a coordenação ao tipo exige, no caso<br />
singular, ter em conta este ponto, pois só ele decide em última instancia se os traços distintivos<br />
ou as notas características aqui presentes justificam ou não, pelo seu grau de intensi<strong>da</strong>de e a<br />
sua articulação, a coordenação. A coordenação ao tipo é, assim, ao invés <strong>da</strong> subsunção a um<br />
conceito, um processo de pensamento orientado a valores. (LARENZ, Karl: 2007. p. 309).
13<br />
em ca<strong>da</strong> etapa <strong>da</strong> pesquisa –, se proceder à hermenêutica do sistema<br />
falimentar.<br />
A preocupação metodológica se justifica no próprio pressuposto teórico<br />
que se adota, a teorização <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> coloca em evidência a função de vetor<br />
interpretativo do instituto, capaz de explicar a criação de instrumentos<br />
legislados, buscando a sua preservação – a busca <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>, enquanto organização econômica reconheci<strong>da</strong> e tutela<strong>da</strong> pelo<br />
Direito, que já direcionava a sua aplicação, e que, após a vigência <strong>da</strong> lei n.°<br />
11.101/05 8 , ganha espaço no tecido legislativo, estabelecendo marco divisório<br />
entre a falência-liqui<strong>da</strong>ção e a falência-preservação 9 .<br />
Assim, o que se pretende é aferir se o significado <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> – numa<br />
perspectiva wittgensteinriana – que justifica o esforço em sua preservação -<br />
sofre mutações conceituais e ou valorativas capazes de justificar um<br />
tratamento diferenciado pelo direito legislado no regime falimentar e no regime<br />
de recuperação judicial. Esta alteração nos significados <strong>da</strong> terminologia<br />
emprega<strong>da</strong> – e, como reflexo <strong>da</strong> alteração valorativa atribuído a determinado<br />
sistema móvel -, é o que Wittgenstein chama de jogo de linguagem, já que,<br />
segundo o autor citado, é impossível a existência de uma linguagem<br />
estritamente priva<strong>da</strong>, pois todo significado apóia-se numa base social. A<br />
significação deixa de ser, portanto, "representação" e passa a ser entendi<strong>da</strong><br />
funcionalmente, com referência ao contexto em que as palavras são de fato<br />
utiliza<strong>da</strong>s. Mas, se to<strong>da</strong> regra supõe um fun<strong>da</strong>mento axiológico, a aplicação <strong>da</strong><br />
regra exige em ca<strong>da</strong> momento uma decisão de que esta é a aplicação correta:<br />
8 BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação judicial, a<br />
extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista<br />
dos Tribunais, 2005.<br />
9 A idéia de falência-liqui<strong>da</strong>ção apresenta<strong>da</strong> pelo prof. Frederico Viana pressupõe o instituto <strong>da</strong><br />
falência como sendo edificado a partir de dois pilares básicos: a necessi<strong>da</strong>de de conferir aos<br />
credores o recebimento ou a possibili<strong>da</strong>de (potenciali<strong>da</strong>de) do recebimento paritário de seus<br />
créditos e, de outro, punir o devedor pela quebra culposa ou fraudulenta, enquanto que a<br />
falência-preservação, ain<strong>da</strong>, fazendo referencia ao autor, é edifica<strong>da</strong> sobre os seguintes<br />
pressupostos: a <strong>empresa</strong> viável, em crise, sempre que possível, deve ser preserva<strong>da</strong>; e é<br />
necessário separar a sorte <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> <strong>da</strong> de seus dirigentes, punindo as faltas destes e<br />
assegurando a salvaguar<strong>da</strong> <strong>da</strong>quela (RODRIGUES, Frederico Viana. Reflexões sobre a<br />
viabili<strong>da</strong>de econômica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> no novo regime concursal brasileiro. Revista de Direito<br />
Mercantil. São Paulo, n.° 138, p. 103-122, abril-junho. 2005) .
14<br />
a regra precisa ser compreendi<strong>da</strong>, e compreender uma regra significa saber<br />
usá-la corretamente. 10<br />
Este jogo de linguagem wittingenstariano justifica a abor<strong>da</strong>gem e a<br />
escolha do referencial teórico deste texto – a teoria <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, identificando a<br />
<strong>empresa</strong> como vetor interpretativo do sistema jurídico <strong>empresa</strong>rial -, analisando<br />
o direito enquanto linguagem viva e, portanto, contextualizando o uso <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> no texto normativo e verificando <strong>suas</strong> significações, por acreditar que<br />
o problema lingüístico pode fazer emergir a priori eventuais variações<br />
valorativas sofri<strong>da</strong>s pela <strong>empresa</strong>, a depender do sistema normativo (contexto<br />
social 11 ) em que é inseri<strong>da</strong>.<br />
O fragmento do texto <strong>da</strong> obra de Bourdier, transcrito a seguir, ilustra a<br />
questão a que se propõe: a <strong>empresa</strong>, entendi<strong>da</strong> tipologicamente, é estrutura<strong>da</strong><br />
dentro de uma linguagem aberta e não fecha<strong>da</strong> e formal, assim a interpretação<br />
sistêmica a que se propõe deve estar disposta a considerar eventuais<br />
variações de significado e, em decorrência, variações de valor: 12<br />
(...) se há acordo para notar que, como to<strong>da</strong> a linguagem douta, a<br />
linguagem jurídica consiste num uso particular <strong>da</strong> linguagem vulgar,<br />
os analistas têm muita dificul<strong>da</strong>de em descobrir o ver<strong>da</strong>deiro<br />
princípio desta mistura de dependência e de independência. É<br />
possível contentar-se em invocar o efeito de contexto ou de rede, no<br />
sentido de que subtrai as palavras e as locuções vulgares a seu<br />
sentido corrente. Austin admirava-se de que nunca se tenha<br />
cegamente perguntado por que razão nós nomeamos coisas<br />
diferentes com o mesmo nome; e porque razão, poderíamos nós,<br />
acrescentar, não há grande inconveniente em fazê-lo. Se a<br />
linguagem jurídica pode consentir a si mesma o emprego de uma<br />
palavra para nomear coisas diferentes <strong>da</strong>quilo por si designado no<br />
uso vulgar, é que os dois usos estão associados a posturas<br />
lingüísticas que são tão radicalmente exclusivas umas <strong>da</strong>s outras<br />
como a consciência perspectiva e a consciência imaginária segundo<br />
a fenomenologia, de tal modo que a colisão homonímica (ou o mal<br />
entendido) resultante do encontro no mesmo espaço dos dois<br />
significados é perfeitamente improvável.<br />
10<br />
MONCLAR, Valverde. A experiência <strong>da</strong> comunicação – linguagem e comunicação.<br />
Disponível em: Acesso em 15 de agosto de 2008.<br />
11 (...) A to<strong>da</strong> a norma jurídica pertence, como pano de fundo indispensável para a sua<br />
compreensão, a reali<strong>da</strong>de social em resposta à qual foi concebi<strong>da</strong> a reali<strong>da</strong>de jurídica aquando<br />
do seu surgimento e a reali<strong>da</strong>de social actual face à qual deve operar (sic) (LARENZ: 1997. p.<br />
263).<br />
12 BOURDIER, Pierre. O Poder Simbólico; Tradução Fernando Tomaz. 9 ed. Rio de Janeiro.<br />
2006.
15<br />
Desta forma, o que se quer é demonstrar que o princípio <strong>da</strong> preservação<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, edificado com base na teoria <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> – na função econômica<br />
e social do instituto <strong>empresa</strong> – pode sofrer variações deriva<strong>da</strong>s do contexto<br />
(sistema parcelar) em que é inserido, mas, no entanto, no que diz respeito ao<br />
sistema falimentar, construído com um ferramental que possibilita a<br />
interferência do Estado no mercado 13 , revela o mesmo conteúdo valorativo que<br />
justifica o esforço – representado, inclusive, por custos sociais - em sua<br />
preservação.<br />
O que pode variar e o que efetivamente sofre essas variações é o nível<br />
<strong>da</strong> crise por que passa o empresário que explora a ativi<strong>da</strong>de de <strong>empresa</strong>, mas<br />
não a <strong>empresa</strong> em si considera<strong>da</strong>. A <strong>empresa</strong> viável deve ser preserva<strong>da</strong> a<br />
realocação <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de ou <strong>da</strong> posse dos bens de produção é instrumental<br />
desse desiderato de preservação. A <strong>empresa</strong> viável, assim e em si<br />
considera<strong>da</strong>, não sofre mutações valorativas porque o empresário que a<br />
explora merece o crédito <strong>da</strong> recuperação ou, porque, ao contrário, não merece<br />
esse crédito e deve ser falido.<br />
A recuperação judicial, como será apresenta<strong>da</strong>, não é favor legal<br />
dispensado ao empresário que preenche determina<strong>da</strong> condição, mas<br />
instrumento de preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> que representa interesses sociais e<br />
econômicos (= as externali<strong>da</strong>des positivas) que ultrapassam o interesse<br />
egoístico <strong>da</strong>quele que a exerce temporariamente, valor reconhecido pelo<br />
Direito não somente no referente às situações de crise do empresário, mas que<br />
13 O mercado a que se refere o texto é aquele formado a partir <strong>da</strong>s relações estabeleci<strong>da</strong>s<br />
entre os atores envolvidos e interessados na recuperação judicial do empresário ou em sua<br />
falência e que, na sistemática do direito atual, é representado pelo órgão Assembléia de<br />
Credores. A idéia de mercado que perpassa esse contexto é aquela apresenta<strong>da</strong> pela profa.<br />
Rachel Sztajn, segundo a qual (...) atualmente, fruto do avanço tecnológico, associado á<br />
rapidez no transporte, o local físico em que se processam as trocas se torna menos importante,<br />
razão pela qual se prefere destacar a repetição <strong>da</strong>s relações que se apresentam<br />
uniformemente, que se reproduzem em massa. Embora, a concepção de mercado como<br />
espaço geográfico não desapareça de todo, uma tal noção do instituto presa à dimensão<br />
espacial merece críticas porque não considera as regras que são ínsitas aos mercados e se<br />
atém à multiplici<strong>da</strong>de de agentes, fornecedores e adquirentes, presentes em local determinado<br />
no qual os preços dos bens se formam de modo transparente, também deixa de lado a<br />
regulari<strong>da</strong>de e a licitude/ilicitude <strong>da</strong>s operações neles engrena<strong>da</strong>s pelos agentes. Essa<br />
primeira noção de mercado não, necessariamente, preza o espaço físico em que é exercido,<br />
como no passado o fora – as feiras e os mercados medievais – é acresci<strong>da</strong> pela idéia de um<br />
conteúdo normativo próprio e variável segundo as relações que se estabelecem, como a autora<br />
lustra a seguir: (...) mercados são resultados de forma especial de intervenção do Estado no<br />
domínio econômico pelo que as inter-relações promovi<strong>da</strong>s pelos e em mercados incluem uma<br />
certa coerção, assim como a escolha voluntária. (SZTAJN, Rachel. Teoria Jurídica <strong>da</strong><br />
Empresa. ativi<strong>da</strong>de empresária e mercados. São Paulo: Atlas, 2004. p. 37 e 39).
16<br />
se revela, também, nas interações ordinárias do empresário, nas questões<br />
societárias, inclusive no regime dissolutório, e nas relações do trabalho.
17<br />
2 A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO DE VALOR À EMPRESA<br />
O objetivo colocado para este capítulo se justifica na medi<strong>da</strong> em que<br />
este trabalho parte do pressuposto de que a interpretação sistemática não deve<br />
negligenciar o conceito de sistema interno, como sistema aberto, no sentido de<br />
que são possíveis tanto mutações na espécie de jogo concertado dos<br />
princípios, do seu alcance e limitação recíproca, como também a descoberta de<br />
novos princípios; seja em virtude de alterações <strong>da</strong> legislação, seja em virtude<br />
de novos conhecimentos <strong>da</strong> ciência do Direito ou modificações na<br />
jurisprudência dos tribunais (LARENZ: 1997, p. 693).<br />
A idéia aludi<strong>da</strong> aqui pode muito bem ser ilustra<strong>da</strong> com o exemplo <strong>da</strong>do<br />
por Karl Larenz: o conceito de direito <strong>da</strong> personali<strong>da</strong>de não foi obtido na<br />
Jurisprudência recente prescindido <strong>da</strong>s distinções de diferentes direitos <strong>da</strong><br />
personali<strong>da</strong>de e tendo fixado o que é comum a todos, mas através <strong>da</strong><br />
elaboração do específico conteúdo de sentido de tal direito e <strong>da</strong> sua função ao<br />
serviço de valores humanos. Neste espaço, os conceitos jurídicos são<br />
coordenados a princípios (a interpretação é teleológica) e, portanto, as dúvi<strong>da</strong>s<br />
são supri<strong>da</strong>s por meio de um retorno ao conteúdo axiomático 14 do sistema em<br />
questão. Por meio dessas inferências, é que o raciocínio tipológico justifica o<br />
conceito jurídico determinado pela função.<br />
2.1 A preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>: uma necessi<strong>da</strong>de econômica<br />
Assim, com a compreensão <strong>da</strong> função econômica e social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong><br />
espera-se chegar a um conteúdo valorativo inicial, que, reconhecido pela<br />
ciência do Direito, passa a <strong>da</strong>r subsídios para a interpretação do sistema<br />
14 Interessante observar que o valor se torna resultado, não de um único critério, mas de um<br />
sincrético, devido aos aspectos co-relativos a ele concorrentes (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do<br />
direito civil. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 30).
18<br />
falimentar: o próprio tipo <strong>empresa</strong> passa a ser apreendido pelo seu conteúdo<br />
valorativo, sendo o conteúdo jurídico <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, assim como no caso<br />
ilustrado pelo direito <strong>da</strong> personali<strong>da</strong>de, definido pelas diferenciações de seus<br />
diversos conteúdos – variáveis ou não, segundo o espaço social em que é<br />
contextualizado. Esse estudo preambular assume a idéia - divulga<strong>da</strong> com certa<br />
amplitude pela doutrina e reproduzi<strong>da</strong> aqui pelas palavras de Avelãs Nunes 15 -<br />
de que:<br />
(...) a <strong>empresa</strong> representa um valor objectivo de organização, um<br />
todo resultante do esforço organizador do empresário e do trabalho<br />
do pessoal que, em esse conjunto representa um valor especial do<br />
ponto de vista econômico.<br />
Ain<strong>da</strong>, tomando-se por empréstimo os estudos do autor português,<br />
entende-se que o interesse do Estado em se preservar a <strong>empresa</strong> decorre de<br />
que sua existência revela um valor e, como que por conseqüência, uma<br />
importância na vi<strong>da</strong> social que justifica a idéia de que a sua extinção não pode<br />
ficar ao bel prazer <strong>da</strong> vontade de quem a explora 16 ; ou, mesmo, pode-se<br />
afirmar que essa mesma necessi<strong>da</strong>de de conservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> justifica a<br />
construção de um rigoroso regime de eliminação dos comerciantes incapazes<br />
de fazer face aos seus compromissos (...).<br />
15 NUNES, A. J. Avelãs. O direito de exclusão de sócios nas socie<strong>da</strong>des comerciais. São<br />
Paulo; Cultural Paulista. 2001. p. 30.<br />
16 Contrapõem-se, tradicionalmente, duas definições de direito subjetivo. Direito subjetivo como<br />
poder <strong>da</strong> vontade e direito subjetivo como interesse protegido. A disputa entre os defensores<br />
<strong>da</strong>s duas teorias subtende diversas avaliações e diversas ideologias; nela se espelha a<br />
diversi<strong>da</strong>de entre as concepções liberalistas e as primeiras tentativas de entender o direito de<br />
um ponto de vista teleológico. A definição corrente sal<strong>da</strong> os dois aspectos: o direito subjetivo é,<br />
afirma-se usualmente, o poder reconhecido pelo ordenamento a um sujeito para a realização<br />
de um interesse próprio do sujeito.<br />
O vício metodológico está na crença de que um interesse tutelado pelo ordenamento seja<br />
finalizado a si mesmo. Numa reali<strong>da</strong>de na qual à atribuição de direitos se acompanham<br />
deveres e obrigações, as situações favoráveis não podem ser considera<strong>da</strong>s isola<strong>da</strong>mente. O<br />
perfil mais significativo é constituído pela obrigação, ou dever do sujeito titular de um direito de<br />
exercê-lo de modo a não provocar <strong>da</strong>nos excepcionais a outro sujeito, em harmonia com o<br />
princípio de soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong>de política, econômica e social. Isso incide de tal modo sobre o direito<br />
subjetivo que, em vez de resultar como expressão de um poder arbitrário, acaba por<br />
funcionalizá-lo e por socializá-lo. (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradução de<br />
Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. p. 120-121.)
19<br />
Neste ponto, é interessante observar que o valor <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, mesmo<br />
que colocado em contraposição aos fun<strong>da</strong>mentos de uma teoria econômica<br />
neo-liberal, não revela em si alguma contradição – o que se pretende aqui<br />
clarificar é a idéia de que a limitação ao voluntarismo não redun<strong>da</strong> em negativa<br />
<strong>da</strong> idéia <strong>da</strong> atuação dos agentes econômicos em mercado (a <strong>empresa</strong> seria<br />
uma possibili<strong>da</strong>de), mas, pelo contrário, a própria necessi<strong>da</strong>de de que a<br />
regulação é instrumento legal para ordenar mercados, manifesta<strong>da</strong> por via<br />
reguladora <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des econômicas (SZTAJN: 2004, p. 51), em confronto<br />
com a proposta <strong>da</strong> “mão invisível” de A<strong>da</strong>m Smith, reforça o limite e, em<br />
decorrência, a necessi<strong>da</strong>de de se rever a concepção dos direitos subjetivos 17 .<br />
Ain<strong>da</strong>, nesse desiderato – o de destacar a preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>,<br />
enquanto política do Estado contemporâneo, ou melhor dizendo, apontando a<br />
situação em que a crise <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> justifica a intervenção do Estado no<br />
17 (...) Decisivo para a posição do indivíduo é aquilo que é protegido definitivamente. Mas aquilo<br />
que é definitivamente protegido é tudo, menos ilimitado. É o resultado de sopesamentos contra<br />
princípios colidentes, que existem em grande quanti<strong>da</strong>de. É possível defender o conceito de<br />
direito geral de liber<strong>da</strong>de e, ao mesmo tempo, conferir quase sempre um maior peso aos<br />
princípios ligados ao interesse coletivo. (...) Parece ser totalmente equivocado incluir no<br />
conceito de liber<strong>da</strong>de apenas aquilo que, no final, é incluído nesse estado global, ou seja,<br />
aquilo que nele é protegido. Isso ignoraria o fato de que a criação e a manutenção de um<br />
estado global de liber<strong>da</strong>des implicam também o sacrifício de liber<strong>da</strong>des. A fun<strong>da</strong>mentação<br />
desse estado global de liber<strong>da</strong>des pressupõe a fun<strong>da</strong>mentação dos sacrifícios de liber<strong>da</strong>des a<br />
ele associados. (...) É trivial assinalar que um estado global de liber<strong>da</strong>de, que na<strong>da</strong> mais é que<br />
o estado correto e justo <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de, não se resume à simples maximização <strong>da</strong> liber<strong>da</strong>de<br />
negativa, no sentido de uma ausência de deveres e proibições. Sem a liber<strong>da</strong>de contra<br />
intervenções <strong>da</strong> parte de sujeitos de direito de mesma hierarquia (liber<strong>da</strong>de negativa na relação<br />
entre iguais), sem as competências jurídicas (liber<strong>da</strong>de negativa democrática), sem um certo<br />
grau de inexistência de situações de privação econômica (liber<strong>da</strong>de negativa social) e também<br />
sem as ações de participação na comuni<strong>da</strong>de política, basea<strong>da</strong>s ao mesmo tempo nas próprias<br />
convicções e na responsabili<strong>da</strong>de (liber<strong>da</strong>de positiva democrática), não é possível haver um<br />
estado global de liber<strong>da</strong>de. A isso se soma o fato de que não são apenas os direitos subjetivos,<br />
as competências e as ações individuais que são condições para a sua existência, mas também<br />
inúmeras características <strong>da</strong> organização estatal e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de, que vão desde a separação<br />
dos poderes até a estrutura plural <strong>da</strong> mídia. Mas, tão certo quanto o fato de que a liber<strong>da</strong>de<br />
negativa não compõe sozinha o estado global de liber<strong>da</strong>de é o fato de que sem ela um estado<br />
global nunca poderia ostentar o predicado “de liber<strong>da</strong>de”. (...) Mas essa constatação não<br />
representa mais que um primeiro passo na direção do reconhecimento do significado <strong>da</strong><br />
liber<strong>da</strong>de negativa para o estado de liber<strong>da</strong>de. O estado de liber<strong>da</strong>de não pressupõe apenas<br />
que exista alguma liber<strong>da</strong>de negativa; ele pressupõe muito mais que isso: que somente se<br />
intervenha na liber<strong>da</strong>de do indivíduo, no estado em que ele se encontra e nas posições<br />
jurídicas que ele tem se houver razões que justifique a intervenção (ALEXY: 2008, p. 377, 379<br />
e 380). Esta noção de liber<strong>da</strong>de não se choca com a idéia de quem defende que a liber<strong>da</strong>de é<br />
importante ao instigar os agentes econômicos a se relacionar, a investir e a inovar. Liber<strong>da</strong>de<br />
de pensamento, de associação, de trocar informação constitui premissa <strong>da</strong>s ações humanas<br />
(SZTAJN: 2004, p. 68).
20<br />
mercado, é pertinente o modelo japonês, citado por Calixto Salomão Filho, em<br />
seu Direito Concorrencial 18 .<br />
Neste modelo, (SALOMAO FILHO: 2002, p. 193) a intervenção estatal<br />
visa em primeiro lugar a impedir a saí<strong>da</strong> <strong>da</strong>s <strong>empresa</strong>s do mercado. Caso isso<br />
não seja possível, no entanto, põe em prática soluções ain<strong>da</strong> mais severas<br />
(intervencionistas) que têm como objetivo proporcionar um soft landing às<br />
<strong>empresa</strong>s em crise, isto é, a saí<strong>da</strong> do mercado sem conseqüências sociais<br />
graves, tais como o desemprego maciço. Por isso, que se diz que essa<br />
intervenção encontra fun<strong>da</strong>mento em preocupações de natureza social. Por<br />
outro lado, uma política coerente de soft landing na<strong>da</strong> tem de incompatível com<br />
o sistema concorrencial. O objetivo é evitar a saí<strong>da</strong> <strong>da</strong> capaci<strong>da</strong>de produtiva do<br />
mercado, preservando a <strong>empresa</strong> até que seja possível obter uma<br />
reestruturação natural do setor, através <strong>da</strong> fusão ou aquisição <strong>da</strong>s <strong>empresa</strong>s<br />
em crise mais séria pelos seus competidores mais eficientes.<br />
Outro modelo de intervenção no mercado, justificado na necessi<strong>da</strong>de de<br />
se preservar a <strong>empresa</strong> em crise, pode ser encontrado em normativa <strong>da</strong> então<br />
Comuni<strong>da</strong>de Econômica Européia, segundo a qual em casos de crises graves<br />
pode ser permitido a conclusão de acordos, sobretudo aqueles que têm por fim<br />
a redução e ou a especialização na capaci<strong>da</strong>de de produção. A justificativa<br />
para a intervenção do Estado não está propriamente, como esclarecido por<br />
Calixto Salomão, no interesse dos consumidores, mas sim nos benefícios a<br />
longo prazo para o mercado.<br />
Como se percebe, nos dois modelos citados, extraídos do direito<br />
alienígena, a dogmática jurídica pauta-se no instituto <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> – aqui<br />
trabalhado como tipo, e não somente como conceito abstrato – para legitimar a<br />
intervenção do Estado no mercado. Os exemplos mencionados são<br />
interessantes porque, em que pese o fato de ambos revelarem um interesse de<br />
se preservar a <strong>empresa</strong> diante <strong>da</strong> crise <strong>empresa</strong>rial, não, propriamente,<br />
retratam a alternativa preconiza<strong>da</strong> pelo direito brasileiro: a falência como<br />
18 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. 2.ed. São Paulo: Malheiros. 2002. p.<br />
193/194.
21<br />
modelo jurídico de se concretizar uma pauta política – a preservação <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> 19 .<br />
Os mecanismos <strong>da</strong> dogmática jurídica pensados e organizados para a<br />
efetivação do princípio <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> serão trabalhados de forma<br />
minudente em capítulo posterior. Aqui interessou ilustrar essa preocupação<br />
presente na socie<strong>da</strong>de contemporânea e formas instrumentaliza<strong>da</strong>s para a sua<br />
efetivação.<br />
2.2 Função econômica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>:<br />
Neste ponto, interessa investigar e, se é que possível, identificar com a<br />
possível carga de precisão a função econômica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. O que se<br />
pretende responder ao final do capítulo é o porquê, ou melhor, dizendo, se<br />
intenta justificar o interesse e o esforço do Estado atual em se preservar a<br />
<strong>empresa</strong>.<br />
A partir desse momento, a <strong>empresa</strong> será apresenta<strong>da</strong> como um<br />
instrumento econômico, que interessa ser tutelado pelo Direito, sendo a idéia<br />
que a justifica, aponta<strong>da</strong> como reflexão inicial, sintetiza<strong>da</strong> <strong>da</strong> seguinte forma:<br />
Administrar riscos de forma que a ativi<strong>da</strong>de econômica sirva ao<br />
propósito de garantir satisfação social requer outra forma de<br />
organizar a produção, outra estrutura que facilite as relações de<br />
produção de bens e serviços para os mercados. Essa estrutura é a<br />
<strong>empresa</strong> ou “firma” segundo Coase (SZTAJN: 2004, p. 66).<br />
Essa síntese, em certa medi<strong>da</strong>, contrapõe a <strong>empresa</strong> em relação ao<br />
mercado: a idéia preconiza<strong>da</strong> é a de que a <strong>empresa</strong> se coloca como forma<br />
19 A decisão de se preservar a <strong>empresa</strong>, enquanto núcleo produtivo, revela em si uma decisão<br />
política que guar<strong>da</strong> forte relação com a pauta de valores preconiza<strong>da</strong> pela chama<strong>da</strong><br />
“constituição econômica.”
22<br />
alternativa viável de produção em mercado e para o mercado, ou de outra<br />
forma, a princípio aos agentes econômicos caberiam duas escolhas – ou<br />
organizar a produção <strong>empresa</strong>rialmente; ou produzir diretamente em mercado.<br />
Como se percebe a partir <strong>da</strong> leitura do texto reproduzido em recuo, as<br />
idéias centrais giram em torno de um eixo duplo: a <strong>empresa</strong> e o mercado,<br />
trabalhando o direito <strong>empresa</strong>rial nesse contexto.<br />
2.2.1 A Teoria <strong>da</strong> firma<br />
A teoria econômica que empresta suporte às idéias debati<strong>da</strong>s neste<br />
momento é aquela construí<strong>da</strong> com base na “Teoria <strong>da</strong> Firma”. Assim,<br />
procurando identificar <strong>suas</strong> bases teóricas, edifica<strong>da</strong>s na déca<strong>da</strong> de 1930, do<br />
século passado, serão apontados e, às vezes transcritos, trechos fun<strong>da</strong>mentais<br />
<strong>da</strong> obra The Nature of the Firm, publicado em 1937, na Inglaterra 20 , lembrando<br />
que tal teoria foi pensa<strong>da</strong> em um contexto de liberalismo econômico.<br />
O autor inicia sua reflexão a partir <strong>da</strong> seguinte exposição <strong>da</strong> dinâmica do<br />
mercado: the normal economic system works itself (...) Over the whole range of<br />
human activity and human need, supply is adjusted to demand, and production<br />
to consumption, by a process that is automatic, elastic and responsive. 21 A<br />
partir desta constatação, o autor desenvolve a sua Teoria <strong>da</strong> Firma, sugerindo<br />
a “Firma” – organização - como uma alternativa para a substituição do modelo<br />
baseado no mecanismo de preços, distinguindo a alocação de recursos dentro<br />
<strong>da</strong> “Firma” <strong>da</strong> alocação de recursos no sistema de mercado.<br />
20 O momento <strong>da</strong> publicação do artigo pode ser representado pelas palavras do próprio autor:<br />
O atraso na publicação deste artigo se deve ao fato de eu estar relutante em publicar minhas<br />
idéias e também porque estava engajado em pesquisa e no ensino. Fui professor <strong>da</strong> Escola de<br />
Economia e Comércio de Dundee de 1932 a 1934 e na Universi<strong>da</strong>de de Liverpool de 1934 a<br />
1935, e desde 1935 na London School of Economics (...) Texto extraído <strong>da</strong> obra. PINHEIRO,<br />
Armando Castellar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: Elsevier.<br />
2005. p. 103.<br />
21 O sistema econômico normalmente funciona por si só (...) Considerando as ativi<strong>da</strong>des<br />
humanas e necessi<strong>da</strong>des humanas, oferta é ajusta<strong>da</strong> à deman<strong>da</strong>, produção ao consumo, por<br />
um processo que é automático, elástico e responsivo (COASE, R. H. The Nature of the Firm.<br />
Economica. v. 4, n. 16, p. 386-405. 1937. (on line). Disponível em:<br />
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x. Acesso em: 3 agosto 2008, tradução<br />
nossa).
23<br />
Seguindo, o autor exemplifica o funcionamento do mecanismo de<br />
alocação de recursos, segundo o sistema de preços, no mercado. Assim,<br />
quando o preço do bem A se torna mais elevado em X do que em Y, A deslocase<br />
de Y para X até que a diferença de preços de X e Y desapareça. Logo, a<br />
alocação eficiente, segundo a perspectiva, seria a do bem na posição que<br />
melhor o avalia, até que se atinja o equilíbrio. A partir do exemplo trabalhado<br />
para o sistema econômico (mercado), o autor contrapõe outra situação: aquela<br />
representa<strong>da</strong> por um trabalhador dentro de uma “firma”. Nesta circunstancia,<br />
este trabalhador desloca-se do departamento Y para o departamento X não por<br />
conta de uma dinâmica de preços (ou a diferença de preços entre a primeira<br />
situação e a segun<strong>da</strong>), mas porque ele assim foi ordenado.<br />
Neste ponto, o autor propõe o seguinte questionamento: se a alocação<br />
de recursos obedece a um sistema de preços, então o que justificaria a<br />
existência de organização que, de certa maneira, provoca uma interferência na<br />
dinâmica natural de alocação de recursos – na época, o pensamento<br />
dominante.<br />
Outside the firm, price movements direct production, which is<br />
coordinated through a series of exchange transactions on the market. Whitin a<br />
firm, these markets transactions are eliminated and in place of the complicated<br />
market structure with exchange transactions is substituted the entrepreneurcoordinator<br />
22 , who directs production. Ou seja, até aqui o que se pode inferir é<br />
que dentro <strong>da</strong>s organizações (“firmas”) a alocação de recursos seria atribuí<strong>da</strong> a<br />
um comando de autori<strong>da</strong>de; e não, propriamente, a um sistema baseado nos<br />
preços.<br />
22 A terminologia entrepreneurco-ordinator é esclareci<strong>da</strong> pelo autor como sendo por ele<br />
utiliza<strong>da</strong> quando se refere àquele que controla o mecanismo de alocação de recursos, em nota<br />
de fim de texto. (COASE, R. H. The Nature of the Firm. Economica. v. 4, n. 16, p. 386-405.<br />
1937. (on line). Disponível em: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x. Acesso<br />
em: 3 agosto 2008, tradução nossa).In the rest of this paper I shall use the term entrepreneur to<br />
refer to the person or persons who, in a competitive system, take the place of the price<br />
mechanism in the direction of resources.<br />
Fora <strong>da</strong> firma movimentos de preços dirigem a produção, que é coordena<strong>da</strong> através de uma<br />
série de trocas transacionais existentes no mercado. Dentro <strong>da</strong> firma essas transações do<br />
mercado são elimina<strong>da</strong>s e a complica<strong>da</strong> estrutura de mercado com trocas transacionais é<br />
substituí<strong>da</strong> pelo entrepreneurco-ordinator, que dirige a produção. (COASE, R. H. The Nature of<br />
the Firm. Economica. v. 4, n. 16, p. 386-405. 1937. (on line). Disponível em:<br />
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x. Acesso em: 3 agosto 2008, tradução<br />
nossa).
24<br />
Aqui se encontra, então, a proposta do artigo, The Nature of The Firm: a<br />
explicação, na perspectiva <strong>da</strong> prática, como funciona o processo de decisão<br />
entre as alternativas (mercado versus “firma”) no mecanismo de alocação de<br />
recursos.<br />
À esta pergunta, o autor responde com a afirmação seguinte: the main<br />
reason why it is profitable to establish a firm would seem to be that there is a<br />
cost of using the price mechanism. 23 Desta forma, o autor justifica a existência<br />
de uma organização – “firma” – pela existência dos custos de transação,<br />
sentidos, por exemplo, no processo de pesquisa para a formação de preços.<br />
Estes custos podem até ser reduzidos, por meio <strong>da</strong> contratação de<br />
especialistas, entretanto, certamente não serão eliminados. Ain<strong>da</strong>, devem ser<br />
destacados os custos envolvidos na procura e na negociação de um parceiro,<br />
v. g. na procura de um fornecedor de matéria-prima.<br />
A idéia do autor gira em torno <strong>da</strong> diminuição do número (quantitativo) de<br />
contratos realizados para organizar a produção de um determinado bem,<br />
impactando numa redução dos denominados custos de transação 24 . Ou seja,<br />
23 A principal razão de ser lucrativo o estabelecimento de uma firma parece ser devido ao fato<br />
de existir um custo do uso do mecanismo baseado em preços. (COASE, R. H. The Nature of<br />
the Firm. Economica. v. 4, n. 16, p. 386-405. 1937. (on line). Disponível em:<br />
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x. Acesso em: 3 agosto 2008, tradução<br />
nossa).<br />
24 A teoria dos custos de transação, de acordo com Oliver Williamson, entende que: “a<br />
transaction may thus be said to occur when a good or service is transferred across a<br />
technological separable interface.” Essa transação pode gerar custos, que são referidos como<br />
custos de transação. Os custos de transação podem ser divididos em três categorias principais:<br />
custos de informação, relacionados com o processo de procura de informação sobre um<br />
parceiro em potencial, custos de barganha, estes relacionados ao processo de negociação e<br />
estabelecimento de contratos, onde to<strong>da</strong>s as possíveis situações de futuras transações são<br />
considera<strong>da</strong>s e os custos de “enforcement”, que incluem custos envolvidos no cumprimento e<br />
controle de desempenho, resolução de conflitos e renegociação de contratos. Segundo<br />
Williamson, os custos de transação são influenciados por dois fatores humanos e três fatores<br />
não humanos: limitação cognitiva – a questão que aqui se coloca é a <strong>da</strong> inviabili<strong>da</strong>de ou<br />
mesmo <strong>da</strong> impossibili<strong>da</strong>de advin<strong>da</strong>s <strong>da</strong> execução de determinados contratos no momento de<br />
sua celebração; ativos específicos – que é considerado por muitos o fator de maior influencia<br />
nos custos transacionais. Assim o ativo de alta especifici<strong>da</strong>de tende a aumentar os custos de<br />
transação favorecendo a decisão de internalização <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des produtivas <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>.<br />
Incertezas – advin<strong>da</strong> <strong>da</strong> própria impossibili<strong>da</strong>de de se prever as eventuali<strong>da</strong>des do futuro. A<br />
incerteza pode decorrer do ambiente institucional ou do comportamento dos contratantes;<br />
freqüência – a relação de troca pode acontecer episódica ou recorrentemente, influenciando,<br />
assim, os custos de transação. (OLIVEIRA, Fabíola de Souza. Global Sourcing of Apple Juice<br />
Concentrate – A Strategic Analysis. 2008. p. 52-53); oportunismo, definido como uma maneira<br />
mais forte de buscar o interesse próprio, que pode passar por práticas desonestas, incluindo<br />
mentir, trapacear e roubar. Em especial, o oportunismo pode levar as pessoas a esconder ou<br />
distorcer informações, para enganar os outros em benefício próprio. Um agente econômico<br />
oportunista só respeita as regras do jogo se lhe convier (PINHEIRO e SADDI: 2004, p. 65).
25<br />
uma vez internaliza<strong>da</strong> parcela <strong>da</strong> cadeia de produção – por meio <strong>da</strong><br />
organização <strong>da</strong> produção em “firma” - o efeito esperado é a estabilização de<br />
relações, por meio, inclusive, de contratos de longa duração, reduzindo<br />
sensivelmente a necessi<strong>da</strong>de de busca, de pesquisa, de tratativas e <strong>da</strong><br />
elaboração de vários contratos de menor duração, estes últimos sendo<br />
realizados sob o mecanismo de mercado (= sistema de preços). Nestes termos,<br />
Coase justifica a existência <strong>da</strong>s “firmas” naquelas situações em que o uso de<br />
contratos de curto prazo – um modelo de produção dependente diretamente do<br />
mercado (= sistema de preços) - seria insatisfatório.<br />
2.2.2 A Teoria dos contratos incompletos<br />
A idéia de contratos utiliza<strong>da</strong> pelo autor, Ronald Coase, é aquela que se<br />
amol<strong>da</strong> à estrutura dos contratos incompletos 25 , definidos por Steven Shavell 26<br />
nos seguintes termos:<br />
A contract will be said to be completely specified (or simply complete)<br />
if the list of conditions on which the actions are based is explicitly<br />
exhaustive, that is if the contract provides literally for each and every<br />
Interessante, neste aspecto, a observação de Eros Grau, segundo o qual: (...) as <strong>empresa</strong>s<br />
adotam procedimentos licitatórios privados com o escopo de diminuir seus custos de transação<br />
e selecionar parceiros <strong>da</strong> forma mais eficiente possível. Considere-se, v. g. as despesas<br />
decorrentes (i) <strong>da</strong> busca do melhor prestador de um determinado serviço técnico (aquele que<br />
oferecerá o preço, o serviço mais adequado, os prazos mais convenientes); (ii) <strong>da</strong> negociação<br />
do contrato; (iii ) do esforço para neutralizar o oportunismo contratual <strong>da</strong> contra parte. (GRAU,<br />
Eros Roberto Grau; FORGIONI, Paula. O Estado, A Empresa e o Contrato. São Paulo:<br />
Malheiros. 2005. p. 48.<br />
25 (...) contratos são sempre incompletos, imperfeitos, passiveis de alteração pelos eventos e<br />
pelas intempéries <strong>da</strong> natureza. Também podem ser alterados na sua execução, simplesmente<br />
pela mu<strong>da</strong>nça <strong>da</strong> vontade dos agentes contratantes, ou em face de estes desconhecerem<br />
algum <strong>da</strong>do no momento de sua celebração, ou porque algum fato novo impediu a adesão<br />
deles ao que fora previamente combinado. Em todos os casos tal comportamento leva ao<br />
questionamento do contrato. É impossível pressupor todos os acontecimentos ou eventos que<br />
poderão ter lugar entre os seres humanos, em especial no futuro. Essas lacunas serão<br />
preenchi<strong>da</strong>s ex post, uma vez iniciado o cumprimento (ou não) do contrato. Somente é possível<br />
alocar o risco com a eficiência mediante a criação de incentivos ou sanções no desenho do<br />
contrato se as partes forem bem sucedi<strong>da</strong>s em fazer com que, na execução, tais cláusulas<br />
sejam vali<strong>da</strong><strong>da</strong>s. (PINHEIRO e SADDI: 2005, p. 117).<br />
26 SHAVELL, Steven. A Foun<strong>da</strong>tion of economics analyses of law. Harvard University Press.<br />
2004. p. 292.
26<br />
possible condition in some relevant universe of conditions. A contract<br />
will be said to be incomplete if it is not completely specified, which is<br />
to say, if the contract does not list explicitly all the possible conditions<br />
27<br />
in the universe of considerations.<br />
Sobre a teoria dos contratos incompletos, o prof. Alexandre Cateb 28 , em<br />
artigo publicado em co-autoria com José Alberto Gallo, esclarece que:<br />
(...)Isto porque grande parte <strong>da</strong> doutrina sobre a incompletude<br />
contratual, assim como ocorre nos contratos relacionais, fun<strong>da</strong>mentase<br />
na premissa comum de que as pessoas no mercado agem<br />
racionalmente, maximizando vantagens individuais, o que poderia ser<br />
compensado pelo aprofun<strong>da</strong>mento <strong>da</strong>s relações de confiança,<br />
soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong>de e cooperação. Cooperação aqui pode ser defini<strong>da</strong> como<br />
a associação com outrem para benefício mútuo ou para a divisão<br />
mútua de ônus, o que é característica inerente aos contratos<br />
relacionais. Essa característica pode ser inseri<strong>da</strong> no contexto dos<br />
contratos incompletos, desde que se considere a diminuição dos<br />
custos de transação quando <strong>da</strong> execução do objeto contratual,<br />
deriva<strong>da</strong> do esforço comum <strong>da</strong>s partes cooperantes.<br />
O prof. Eduardo Goulart Pimenta 29 entende que é possível apontar as<br />
principais razões responsáveis pelo caráter incompleto dos contratos,<br />
relacionando as seguintes: a racionali<strong>da</strong>de limita<strong>da</strong>; os custos de transações; e<br />
a assimetria de informações.<br />
27 Um contrato é considerado completamente específico (ou simplesmente completo) quando a<br />
lista de condições em que as ações são basea<strong>da</strong>s é explicitamente exaustiva, isto é, quando o<br />
contrato funciona literalmente para to<strong>da</strong> e qualquer possível condição em um universo<br />
relevante de condições. Um contrato é considerado incompleto quando não é completamente<br />
específico, isto é, quando o contrato não lista explicitamente to<strong>da</strong>s as possíveis condições em<br />
um universo de considerações. (SHAVELL, Steven, A Foun<strong>da</strong>tion of economics analyses of<br />
law. Harvard University Press. 2004. p. 292.tradução nossa)<br />
28 CATEB, Alexandre Bueno; GALLO, José Alberto Albeny. Breves consideracoes sobre a<br />
teoria dos contratos incompletos. Berkeley Program in Law & Economics.Disponível em:<br />
27<br />
2.2.3 O Direito <strong>empresa</strong>rial instrumental<br />
Coase destaca que: it is obviously of more importance in the case of services –<br />
labor – than it is in the case of the buying of commodities 30 . In the case of<br />
commodities, the main items can be stated in advance and the details which will<br />
be decided later will be of minor significance. 31<br />
As idéias coloca<strong>da</strong>s nos parágrafos anteriores são significativas e eluci<strong>da</strong>tivas<br />
no que diz respeito à compreensão do ganho econômico proporcionado pela<br />
organização <strong>empresa</strong>rial em contraste com uma produção efetiva<strong>da</strong><br />
diretamente no mercado (como pressuposto do sistema de preços). A partir<br />
desta compreensão, fica perceptível o pressuposto econômico em que se apóia<br />
a teoria econômica do direito, no que se relaciona à estrutura <strong>empresa</strong>rial e,<br />
mesmo, à identificação do eventual ganho de eficiência proporcionado por este<br />
específico ambiente institucional.<br />
No entanto, se é certo que a proposta feita no início do presente capítulo<br />
é a de identificar o conteúdo econômico <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, também é certo que, este<br />
conteúdo, a que se propõe este estudo, está co-relacionado a um conteúdo<br />
valorativo e funcionalizado, se afastando <strong>da</strong>qui em diante <strong>da</strong> idéia construí<strong>da</strong><br />
pela profa. Rachel Sztajn, em sua Teoria Jurídica <strong>da</strong> Empresa, na medi<strong>da</strong> em<br />
que a idéia construí<strong>da</strong> pela autora, ao longo de seu trabalho, que assume como<br />
pressuposto, citando Natalino Irti: de que é preciso abandonar a visão<br />
funcionalista ou teoria funcionalista <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, já que o direito de <strong>empresa</strong>,<br />
30 Sob a perspectiva <strong>da</strong>s partes e dos bens envolvidos na contratação, é importante a<br />
classificação proposta por Nelson (citado por Rachel Sztajn), segundo a qual podem-se<br />
distinguir três tipos de produtos: a) bens de procura – to<strong>da</strong> a informação relevante pode ser<br />
obti<strong>da</strong> por mera inspeção realiza<strong>da</strong> antes <strong>da</strong> contratação. Commodities, v. g. A obtenção de<br />
informação não é custosa; b) bens de experiência – as informações a respeito do produto<br />
somente podem ser obti<strong>da</strong>s após a efetiva troca ou consumo do produto. A obtenção de<br />
informação é custosa; c) bens de crença – aqueles em que, eventualmente, algumas<br />
informações relevantes à transação não são obti<strong>da</strong>s nem após o consumo do produto. A<br />
obtenção de informação é problema não apenas custoso, mas apenas insolúvel. Zylbersztajn,<br />
Décio; Sztajn, Rachel. Direito e Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 124.<br />
31 É obviamente de maior importância no caso de serviços – força de trabalho – que no caso de<br />
commodities. No caso de commodities, os itens principais podem ser citados com antecedência<br />
e os detalhes que podem ser decididos mais tarde terão menor importância. (COASE, R. H.<br />
The Nature of the Firm. Economica. v. 4, n. 16, p. 386-405. 1937. (on line). Disponível em:<br />
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x. Acesso em: 3 agosto 2008, tradução<br />
nossa).
28<br />
segundo o entendimento, aparece como disciplina <strong>da</strong> viabili<strong>da</strong>de e não como<br />
disciplina <strong>da</strong> destinação <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de segundo interesses do Estado, porque<br />
não se controlam os fins perseguidos pelas <strong>empresa</strong>s ou os atos econômicos<br />
singulares; seguindo seu pensamento, o direito de <strong>empresa</strong> dispõe sobre regra,<br />
formas e mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong>des de exercício <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de econômica; é, portanto, direito<br />
dos instrumentos e não dos fins (SZTAJN: 2004, p. 32).<br />
Assim, o que se pretende, no presente trabalho, é justificar o papel<br />
econômico <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, inclusive como alternativa para a produção e, a partir<br />
deste papel, justificar o interesse do Estado em sua preservação. Não se<br />
pretende, aqui, negar uma função econômica ou mesmo social à <strong>empresa</strong>, mas<br />
pelo contrário, se pretende, inclusive, informar o conteúdo dessas funções,<br />
para, a partir <strong>da</strong>í, ponderar os esforços em sua preservação. Até porque, a<br />
função econômica e social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> é reconheci<strong>da</strong> pelo direito positivo em<br />
alguns pontos de seus enunciados – é o caso dos artigos 47 32 e 75 33 , ambos<br />
<strong>da</strong> Lei n.° 11.101/95, normas infra-constitucionais que encontram seu<br />
fun<strong>da</strong>mento nos princípios <strong>da</strong> ordem econômica previstos nos art. 170 e<br />
seguintes <strong>da</strong> Constituição <strong>da</strong> República 34 .<br />
Neste ponto, se se tem em mente a proposta de um estudo <strong>da</strong><br />
dogmática jurídica tal qual apresenta<strong>da</strong> por Robert Alexy, a dimensão empírica,<br />
assume que o estudo do Direito não se esgota no estudo <strong>da</strong>s leis, pois inclui,<br />
também, o prognóstico <strong>da</strong> práxis jurisprudencial, ou seja, não só do direito<br />
legislado, mas também do direito jurisprudencial (ALEXY: 2008, p. 34).<br />
Em função do que, é justificável uma análise do comportamento do<br />
judiciário brasileiro que, por meio de <strong>suas</strong> decisões, vem reconhecendo a<br />
função econômica e social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, com reflexos inclusive em institutos<br />
onde, ao longo de muitos anos, se identificou o império do voluntarismo, como<br />
32 Art. 47 – A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação <strong>da</strong> situação de crise<br />
econômico financeira do devedor a fim de permitir a manutenção <strong>da</strong> fonte produtora, do<br />
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, sua função social e o estímulo à ativi<strong>da</strong>de econômica. (BRASIL: Lei ordinária<br />
n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação j udicial, a extrajudicial e a falência do<br />
empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.).<br />
33 Art. 75 – A falência, ao promover o afastamento do devedor de <strong>suas</strong> ativi<strong>da</strong>des, visa a<br />
preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os<br />
intangíveis <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. (BRASIL: Lei ordinária n.°1 1.101. 9 fevereiro 2005. Regula a<br />
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São<br />
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.).<br />
34 BRASIL. Constituição (1988). 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
29<br />
é o caso <strong>da</strong>s dissoluções <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des empresárias. Este argumento pode<br />
bem ser ilustrado por meio <strong>da</strong> transcrição do julgado do Superior Tribunal de<br />
Justiça 35 , transcrita à frente:<br />
(...) Não é plausível a dissolução parcial de socie<strong>da</strong>de anônima de<br />
capital fechado sem antes aferir ca<strong>da</strong> uma e to<strong>da</strong>s as razões que<br />
militam em prol <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> e <strong>da</strong> cessação de sua<br />
função social, tendo em vista que os interesses sociais hão que<br />
prevalecer sobre os de natureza pessoal de alguns dos acionistas.(...)<br />
Portanto, esclarecendo o apontamento realizado no início deste texto: há<br />
influência <strong>da</strong>s idéias construí<strong>da</strong>s pela profa. Rachel Sztajn quando se traduz<br />
para a ciência do Direito o ganho econômico possibilitado pela <strong>empresa</strong>, tal<br />
qual pensa<strong>da</strong> e estrutura<strong>da</strong> segundo a Teoria <strong>da</strong> Firma, de Coase. No entanto,<br />
a partir deste ponto e, em especial, com relação às idéias que justificam a<br />
própria tutela <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> pelo Direito e a própria idéia de liber<strong>da</strong>de, há<br />
diferenças sensíveis neste trabalho em relação às idéias defendias pela<br />
professora.<br />
Nesse escopo, a idéia de mercado livre, como instituição típica <strong>da</strong>s<br />
economias capitalistas, ou <strong>da</strong>s economias de mercado (SZTAJN: 2004, p. 32),<br />
não deve prescindir de outra idéia: a que justifica que, para uma ordem<br />
econômica que pretende se auto controlar, o poder econômico deve ser<br />
fiscalizado e, quando excessivo, reprimido. Caso contrário, haveria mera<br />
substituição <strong>da</strong> excessiva ingerência do Estado, que se pretende limitar (mas<br />
de maneira alguma eliminar) através <strong>da</strong> garantia de correta atuação <strong>da</strong>s regras<br />
de mercado, por uma “dominação de mercado” pelo poder privado, o que é<br />
evidentemente a pior solução, já que quanto a este não é sequer possível fazer<br />
35 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 247002. Relatora: Ministra Nancy<br />
Andrighi. 4 dez 2001. Disponível em:<br />
Acesso em: 24 outubro 2008.
30<br />
a presunção de persecução do interesse público que se faz com relação ao<br />
mercado (SALOMAO FILHO: 2002, p. 50) 36 .<br />
Logo, o que se quer colocar é que, se de um lado a <strong>empresa</strong> é<br />
funcionaliza<strong>da</strong>, de outro, a idéia de liber<strong>da</strong>de de mercado é aquela a que<br />
melhor se ajusta a liber<strong>da</strong>de pondera<strong>da</strong> proposta por Robert Alexy 37 , segundo<br />
o qual:<br />
(...) o direito geral de liber<strong>da</strong>de insere no estado global de liber<strong>da</strong>de<br />
tanto algo de liber<strong>da</strong>de do estado de natureza, tanto algo de garantia<br />
do status quo. Isso não guar<strong>da</strong> relação alguma com o indivíduo<br />
isolado. Por meio <strong>da</strong> lei do sopesamento, o direito de liber<strong>da</strong>de é<br />
inserido de tal forma no estado global de liber<strong>da</strong>de que, de um lado, a<br />
relação e a vinculação <strong>da</strong> pessoa à comuni<strong>da</strong>de são, sem maiores<br />
problemas, leva<strong>da</strong>s em consideração e, de outro, são assegurados os<br />
conteúdos de liber<strong>da</strong>de necessários para a independência <strong>da</strong> pessoa<br />
mesmo sob as condições <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> moderna (...).<br />
Assim, o que se pode afirmar é que a idéia de funcionalização <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> – a partir <strong>da</strong> identificação de seu conteúdo valorativo – <strong>da</strong> mesma<br />
forma, a própria leitura que se fez acerca do mercado, na Teoria <strong>da</strong> Firma,<br />
merece algum reparo, se e quando a instituição é contextualiza<strong>da</strong> nos dias<br />
atuais.<br />
A crise econômica atual 38 se presta a ilustrar bem o que já é difundido<br />
nas teorias econômicas atuais: a idéia de que o sistema de preços nem sempre<br />
36 (...) os critérios microeconômicos para analisar as restrições à concorrência, quaisquer que<br />
sejam (inclusive os neoclássicos), oferecem, ao máximo, tendências, prováveis de<br />
comportamento do mercado e <strong>da</strong> influencia sobre seus participantes de uma determina<strong>da</strong><br />
restrição (...) Daí a necessi<strong>da</strong>de de elaboração constante de regras <strong>da</strong> razão, típicas do<br />
raciocínio concorrencial, que flexibilizam os critérios valorativos jurídicos com base nas<br />
exigências econômicas, usando metodologia bastante semelhante às correntes menos<br />
positivistas (SALOMAO FILHO: 2002. p. 35).<br />
37 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fun<strong>da</strong>mentais. Tradução de Virgílio Afonso <strong>da</strong> Silva. São<br />
Paulo: Malheiros. 2008. p. 380.<br />
38 A crise financeira que começou há mais de um ano nos Estados Unidos como uma crise no<br />
pagamento de hipotecas se alastrou pela economia e contaminou o sistema mundial. Banco<br />
atrás de banco por lá apresentou per<strong>da</strong>s bilionárias, outros chegaram a quebrar. Na Europa<br />
também há vítimas. E no Brasil Por aqui, a crise não afeta ninguém diretamente --os bancos<br />
dizem não possuir papéis ligados às hipotecas--, mas atinge vários setores por causa <strong>da</strong> forte<br />
contração de crédito. As quebras e os problemas enfrentados por bancos até então<br />
considerados importantes e sólidos geraram o que se chama de "crise de confiança". Num<br />
mundo de incertezas, o dinheiro pára de circular --quem possui recursos sobrando não
31<br />
é o mecanismo eficaz de atuação do mercado. No exemplo que se cui<strong>da</strong> agora,<br />
isto se deve aos problemas de artificiali<strong>da</strong>de dos preços, ou seja, as<br />
informações (= preço) transmiti<strong>da</strong>s são assimétricas, ocasionando um aumento<br />
artificial dos preços (= “as bolhas”).<br />
Outro aspecto interessante é que o momento atual coloca uma <strong>da</strong>s<br />
principais forças neo-liberais, os EUA, na condição de intervir no mercado,<br />
colocando recursos públicos na iniciativa priva<strong>da</strong>. O que se pretende<br />
evidenciar, por meio desse argumento, é que afirmar, hoje, a idéia de um<br />
mercado liberal, não reconhecendo, por outro lado, uma função econômica e<br />
social identifica<strong>da</strong> à organização <strong>empresa</strong>rial se apresenta contra-fático, na<br />
medi<strong>da</strong> em que a justificativa para a transferência de patrimônio público para a<br />
iniciativa priva<strong>da</strong> por meio dos chamados “pacotes de aju<strong>da</strong>” 39 parece estar<br />
justamente no efeito <strong>da</strong>s “externali<strong>da</strong>des negativas” gera<strong>da</strong>s a partir do efeito<br />
“quebradeira”, ou seja, é o reconhecimento de que o próprio exercício de<br />
ativi<strong>da</strong>des <strong>empresa</strong>riais afeta, positiva ou negativamente, segundo o espaço, o<br />
tempo e a forma, a socie<strong>da</strong>de, de maneira mais ampla. Caso contrário, seria<br />
admitir a incoerência do sistema capitalista: a concentração dos resultados<br />
positivos e a distribuição <strong>da</strong>s per<strong>da</strong>s.<br />
empresta, quem precisa de dinheiro para cobrir falta de caixa não encontra quem forneça. Isso<br />
fez cair e encarecer o crédito disponível. E numa economia globaliza<strong>da</strong>, a falta de dinheiro em<br />
outro continente afeta <strong>empresa</strong>s no mundo todo. Com a circulação de dinheiro congela<strong>da</strong> e o<br />
consumo comprometido, o resultado esperado é a contração <strong>da</strong>s economias, uma vez que<br />
<strong>empresa</strong>s, pessoas físicas e governos passam a encontrar dificul<strong>da</strong>de em financiarem seus<br />
projetos. Justamente para injetar liquidez (dinheiro nos mercados) os Bancos Centrais fazem<br />
leilões de moe<strong>da</strong> e criam linhas especiais de bilhões de dólares. (CERNIN, Stephen. Enten<strong>da</strong><br />
como a crise dos EUA afeta o Brasil. Folha de São Paulo. São Paulo. 30 set 2008).<br />
(http://tools.folha.com.br/printsite=emcima<strong>da</strong>hora&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.b<br />
r%2Ffolha%2Fdinheiro%2Fult91u450701.shtml)<br />
39 Para alívio, ain<strong>da</strong> que momentâneo, dos mercados mundiais, o Senado dos Estados Unidos<br />
aprovou na noite desta quarta-feira o pacote de aju<strong>da</strong> ao setor financeiro, de US$ 700 bilhões,<br />
proposto pelo Departamento do Tesouro e defendido intensamente pelo presidente americano,<br />
George W. Bush. Submetido a reformas depois de ter sido rejeitado pela Câmara dos<br />
Representantes (deputados), o novo texto finalmente obteve apoio para ser aprovado.<br />
No Senado, o texto recebeu 74 votos a favor e 25 contra. Agora, o projeto, com as reformas<br />
incluí<strong>da</strong>s no Senado após as negociações entre republicanos e democratas, deve seguir para a<br />
Câmara, cuja votação está prevista para esta sexta-feira (3). A principal mu<strong>da</strong>nça no plano<br />
pelo Senado foi a inclusão de mais US$ 150 bilhões em isenção de impostos para os<br />
americanos. Além disso, há a ampliação <strong>da</strong>s garantias do governo a depósitos bancários dos<br />
ci<strong>da</strong>dãos, dos atuais US$ 100 mil para US$ 250 mil. (CERNIN, Stephen. Senado dos EUA<br />
aprova pacote de aju<strong>da</strong> bilionária a setor financeiro. Folha de São Paulo. São Paulo. 01 out<br />
2008. http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u450968.shtml).
32<br />
2.3 A função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong><br />
Como adverte Anderson Schreiber 40 , ao discorrer sobre a importância e<br />
o avolumado dos estudos realizados pela doutrina acerca <strong>da</strong> função social, a<br />
que ponto essa nova tendência tem interferido no tratamento jurisprudencial do<br />
direito Que papel tem sido atribuído pelos tribunais brasileiros ao princípio <strong>da</strong><br />
função social<br />
O destaque colocado acima bem ilustra a importância de se in<strong>da</strong>gar o<br />
sentido e a aplicação dos institutos pela jurisprudência, em especial, quando se<br />
pressupõe uma construção aberta, receptiva a valores que são concretizados<br />
quando <strong>da</strong> aplicação do direito – é a construção do direito a partir <strong>da</strong> sua<br />
aplicação. Seguindo a orientação traça<strong>da</strong>, percebe-se na jurisprudência atual<br />
uma atenção à função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> – essa atenção é referi<strong>da</strong> com<br />
terminologias varia<strong>da</strong>s – como ilustra o seguinte fragmento <strong>da</strong> decisão<br />
proferi<strong>da</strong> no conflito de competência n. 79170 41 , de 19 de setembro de 2008:<br />
(...) Esse dispositivo, entretanto, deve ser interpretado em termos<br />
sistemáticos com os demais preceitos <strong>da</strong> Lei. Assim é que seu artigo<br />
47 estabelece, inequivocamente, o objetivo de preservar a<br />
supremacia do interesse público sobre o interesse privado (...) Como<br />
se vê, o princípio <strong>da</strong> continui<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> ajusta-se ao interesse<br />
coletivo por importar, dentre outros benefícios, em geração de<br />
empregos, pagamento de impostos e no desenvolvimento <strong>da</strong>s<br />
comuni<strong>da</strong>des.<br />
Nesse caso, o reconhecimento à função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> se encontra<br />
transvertido por detrás do denominado “princípio <strong>da</strong> continui<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>”,<br />
40 SCHREIBER, Anderson. Função Social <strong>da</strong> Proprie<strong>da</strong>de na Prática Jurisprudencial. Revista<br />
Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro, n. 6, p. 159-182, abr./jun. 2001.<br />
41 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 79170. Relator: Ministro<br />
Castro Meira. 19 set 2008. Disponível em: <<br />
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsplivre=continui<strong>da</strong>de+e+<strong>empresa</strong>+e+recuperac<br />
ao&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=1>Acesso em: 24 outubro 2008.
33<br />
que, no caso, é aplicado juntamente com o objetivo de preservar a supremacia<br />
do interesse público sobre o interesse privado. Sem muito esforço, a partir<br />
dessa inflexão o Superior Tribunal de Justiça – STJ parece identificar um valor<br />
à <strong>empresa</strong> que transcende a esfera de interesses de quem a explora<br />
(empresário).<br />
Em outra oportuni<strong>da</strong>de, o STJ, ao decidir sobre a necessi<strong>da</strong>de <strong>da</strong><br />
intimação pessoal do devedor em pedido de falência e, em especial,<br />
analisando a questão do valor atribuído à <strong>empresa</strong>, destacou: (...) evitando,<br />
portanto, as conseqüências deletérias advin<strong>da</strong>s <strong>da</strong> sua extinção, que<br />
prejudicam não só a <strong>empresa</strong>, como também to<strong>da</strong> a coletivi<strong>da</strong>de:<br />
trabalhadores, fornecedores, consumidores e o próprio Estado. 42<br />
Também, nesse aresto fica a impressão do Tribunal, a de que a<br />
<strong>empresa</strong> revela um interesse que não se circunscreve tão somente àqueles<br />
que a exploram economicamente. Esses apontamentos, tomados pelos<br />
exemplos colocados acima se repetem com certa freqüência na jurisprudência<br />
brasileira que, ao que parece não tem se preocupado em precisar o conteúdo<br />
<strong>da</strong> função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Aliás, tradicionalmente, esta preocupação é mais<br />
afeta à doutrina, talvez por seu maior apelo teórico.<br />
A par <strong>da</strong> situação, resta a in<strong>da</strong>gação acerca desse conteúdo, até por<br />
uma necessi<strong>da</strong>de de se controlar a aplicação do direito, razão pela qual se fará<br />
alguns apontamentos doutrinários acerca <strong>da</strong> discussão.<br />
O prof. Orlando Gomes 43 , em artigo singular, faz breve digressão<br />
histórica acerca do instituto <strong>da</strong> função social – no caso, em sua origem,<br />
portanto, referi<strong>da</strong> ao direito de proprie<strong>da</strong>de, assinalando as principais<br />
construções teóricas.<br />
O instituto, em seu nascimento, estava intimamente ligado ao conceito<br />
de abuso de direito. Todo o direito teria caráter funcional, isto é, seria conferido<br />
pela ordem jurídica em vista de determinados fins. Concluindo que, nessa fase,<br />
quando o seu exercício, do direito, se desviasse de sua finali<strong>da</strong>de, seria<br />
42 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 79170. Relator: Ministro<br />
Castro Meira. 19 set 2008. Disponível em: <<br />
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.aspregistro=200000772925&dt_publicacao=23/08/20<br />
07>Acesso em: 24 outubro 2008.<br />
43 GOMES, Orlando. Significado <strong>da</strong> evolução contemporânea do direito de proprie<strong>da</strong>de. Revista<br />
dos Tribunais. N. 205. nov p. 3-15. 1952.
34<br />
abusivo. E, desde que assim deixassem de corresponder a sua função, esse<br />
exercício seria intolerável (GOMES: 1952).<br />
Nesse momento, a função social foi pensa<strong>da</strong> para resolver problemas<br />
ligados ao abuso de direito – mais precisamente liga<strong>da</strong> ao conceito de direito<br />
subjetivo <strong>da</strong> época. A função social, nas palavras de Orlando Gomes, foi<br />
pensa<strong>da</strong>, então como uma fórmula elástica apta à solucionar essas questões.<br />
Em um segundo momento, após sérias críticas doutrinárias feitas por<br />
autores como Gaston Morin e Augusto Comte (GOMES: 1952), a idéia de<br />
proprie<strong>da</strong>de função é retoma<strong>da</strong> por Duguit, que, repelindo a concepção<br />
subjetivista de outrora, identifica na função social a legitimação encontra<strong>da</strong> pela<br />
ordem jurídica ao assegurar aos indivíduos o poder de usar e desfrutar uma<br />
coisa para que o exercessem em benefício de todos.<br />
Entretanto, em que pese a grande profusão <strong>da</strong>s idéias de Duguit,<br />
também não lhe faltaram críticas:<br />
Por esta face, o conceito de Duguit não é satisfatório. Dizer que a<br />
extensão e o conteúdo do domínio se transformam porque o seu<br />
titular deve exercê-lo para servir a outros, no interesse <strong>da</strong><br />
coletivi<strong>da</strong>de, não explica a modificação que está sofrendo, pois na<strong>da</strong><br />
se eluci<strong>da</strong> quanto às <strong>suas</strong> causas determinantes. Ademais, a<br />
concepção não impede que se conce<strong>da</strong>m aos proprietários direitos ou<br />
poderes bem mais amplos, sob o fun<strong>da</strong>mento de que para o<br />
cumprimento <strong>da</strong> função social que lhes incumbe eles são necessários<br />
e, por outro lado, que se considere incompatível a detenção <strong>da</strong><br />
riqueza ou, ao menos, de certa espécie de riqueza, com a sua função<br />
(GOMES: 1952).<br />
Mais a frente, citando Morin, o professor conclui que: não estamos<br />
assistindo a uma socialização <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de, mas ao nascimento de novos<br />
direitos individuais reconhecidos à pessoa humana (...) (GOMES: 1952). Assim,<br />
haveria um sentido de restrição imposta à proprie<strong>da</strong>de pelo reconhecimento de<br />
direitos extra patrimoniais.
35<br />
2.3.1 Uma função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> segundo a teoria econômica do direito<br />
Interessa a análise acima para se compreender a discussão que toma,<br />
hoje, a atenção <strong>da</strong> doutrina acerca <strong>da</strong> função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. São vários os<br />
textos publicados, são, também, varia<strong>da</strong>s as abor<strong>da</strong>gens, mas aqui interessa a<br />
exposição de dois pensamentos que se contrapõe quanto à função social<br />
aplica<strong>da</strong> ao instituto <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Em breve síntese, a discussão parece girar<br />
em torno do seguinte dilema: o direito como sendo uma liber<strong>da</strong>de e a<br />
possibili<strong>da</strong>de de se condicionar o exercício desse direito a uma função que visa<br />
às necessi<strong>da</strong>des de terceiros.<br />
Alguns pontos já foram assumidos nesse trabalho – a <strong>empresa</strong>,<br />
enquanto organização econômica que revela seu valor (aqui entendido como<br />
utili<strong>da</strong>de) no contexto do mercado, lembrando-se que:<br />
No mercado situam-se os agentes que oferecem e os agentes que<br />
deman<strong>da</strong>m os bens produzidos e de que necessitam, situam-se os<br />
que entram com o seu trabalho para que haja produção e circulação<br />
de bens. E, dentre todos estes agentes, dois se apresentam com<br />
particular importância: o Estado e o consumidor; o primeiro como<br />
agente e regulador <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de econômica (art. 174 CF), o segundo<br />
como destinatário e como finali<strong>da</strong>de e razão de ser <strong>da</strong> regulação <strong>da</strong><br />
concorrência. 44<br />
Nesta perspectiva de análise, ao direito é reserva<strong>da</strong> a função de ditar o<br />
dever-ser para as ativi<strong>da</strong>des econômicas, já que impõe normas jurídicas de<br />
comportamento para os agentes econômicos que atuam nessa órbita,<br />
motivados pelo imperioso interesse de estancar <strong>suas</strong> múltiplas<br />
necessi<strong>da</strong>des/carências individuais e coletivas diante <strong>da</strong> rari<strong>da</strong>de dos<br />
recursos. 45<br />
Neste ponto, abre-se breve aparte – o tema será melhor trabalhado no<br />
item seguinte, no entanto, pela pertinência, assume-se o ensinamento de<br />
Oppo, segundo o qual o direito comercial, na atuali<strong>da</strong>de, não é o direito<br />
44 FONSECA, João Bosco Leopoldino <strong>da</strong>. 2001. p. 2.<br />
45 CLARK, Giovani. Política Econômica e Estado. Revista de Direito Mercantil. São Paulo. N.<br />
141, p. 41-47, jan./mar. 2006.
36<br />
comercial <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des ou de contratos mercantis, mas o direito dos<br />
mercados, é dessa forma, como direito dos mercados, que se há de analisar as<br />
normas e princípios <strong>da</strong> lei civil. 46<br />
Assim, numa perspectiva mais alinha<strong>da</strong> à escola do direito e <strong>da</strong><br />
economia, pode-se entender que não há direito que não seja social e não há<br />
instituto jurídico que não esteja permeado por uma função social objetiva 47 . Por<br />
exemplo, a função social <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de prevista no art. 170, III, <strong>da</strong><br />
Constituição Federal 48 não é uma restrição à proprie<strong>da</strong>de, e sim ao seu uso<br />
indevido. Pode-se afirmar que qualquer terra improdutiva afronte o conceito de<br />
função social <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de, já que a terra existe para ser explora<strong>da</strong>.<br />
Ou de outra forma, pode-se entender que o art. 170, <strong>da</strong> Constituição<br />
Federal de 1988 49 contempla a livre iniciativa, ou seja, a liber<strong>da</strong>de para entrar,<br />
permanecer ou sair do mercado; e reconhece o direito à apropriação de bens<br />
pelos particulares – proprie<strong>da</strong>de priva<strong>da</strong>. Analisando, a constituição econômica,<br />
conclui a profa. Rachel Sztajn: Mas limita esses direitos, que, portanto, não são<br />
absolutos (...). 50 Mais à frente a própria autora remete à questão <strong>da</strong> função<br />
social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, dizendo que:<br />
(...) sobre a função social <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de e defesa do meio ambiente,<br />
pode-se entender esses princípios constitucionais como forma de<br />
incentivos para o uso racional e uso dos bens, evitando<br />
externali<strong>da</strong>des negativas como <strong>da</strong>nos derivados <strong>da</strong> emissão de<br />
poluentes. 51<br />
Nesta linha de estudo, pode-se perceber que alguns conceitos são reveladores.<br />
Os autores citados trabalham numa ótica que enxerga no direito em si um<br />
custo e que o associa a uma idéia de eficiência. Assim, se ao direito cabe a<br />
46 SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação: a <strong>empresa</strong> no código civil<br />
brasileiro. Revista de Direito Mercantil. São Paulo. N. 143. p. 11-20, jul./set. 2006.<br />
47 PINHEIRO, Armando Castellar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro:<br />
Elsevier. 2005. p. 97.<br />
48 BRASIL. Constituição (1988). 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.<br />
49 BRASIL. Constituição (1988). 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.<br />
50 SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação: a <strong>empresa</strong> no código civil<br />
brasileiro. Revista de Direito Mercantil. São Paulo. N. 143. p. 11-20, jul./set. 2006.<br />
51 SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação: a <strong>empresa</strong> no código civil<br />
brasileiro. Revista de Direito Mercantil. São Paulo. N. 143. p. 11-20, jul./set. 2006.
37<br />
normatização do mercado e, deve ser assim, já que atualmente se assume que<br />
o mercado não é espontâneo, mas, ao contrário, uma criação do homem e do<br />
próprio direito, a esse mesmo direito cabe soluções de eficiência 52 . Sendo que,<br />
por eficiência, segundo essa orientação teórica, se entende a utili<strong>da</strong>de, <strong>da</strong>í a<br />
preocupação coloca<strong>da</strong> em se conjugar a função social à idéia de uso; de uso<br />
devido; ou de utili<strong>da</strong>de. Lembrando-se, ain<strong>da</strong>, que ao conceito de eficiência<br />
perpassa um outro – o de justiça. A esse respeito, Posner, citado por Alexandre<br />
Castellar, escreveu (CASTELLAR e SADDI: 2005, p. 116):<br />
Um segundo significado para “justiça”, e o mais comum, eu<br />
argumentaria, é simplesmente eficiência. Quando descrevemos como<br />
injusta uma condenação sem provas, uma toma<strong>da</strong> de proprie<strong>da</strong>de<br />
sem justa compensação, ou quando se falha em responsabilizar um<br />
motorista descui<strong>da</strong>do em responder à vítima pelos <strong>da</strong>nos causados<br />
por sua negligencia, podemos interpretar, simplesmente, que a<br />
conduta ou prática em questão desperdiçou recursos.<br />
Portanto, pode-se muito bem entender que o valor econômico – ou a<br />
função econômica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, nesse caso entendi<strong>da</strong> como ganho de utili<strong>da</strong>de<br />
para o mercado – pode muito bem ser transporta<strong>da</strong> para <strong>da</strong>r conteúdo à função<br />
social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Explica-se, como colocado no tópico anterior, segundo a<br />
teoria <strong>da</strong> Firma, produzir em mercados pode ser, em determinados casos,<br />
custoso, razão pela qual, a <strong>empresa</strong> – estrutura organiza<strong>da</strong> e hierarquiza<strong>da</strong> –<br />
se mostra como alternativa viável e mais barata de se produzir. Assim, como a<br />
52 Eficiência: em termos estritamente econômicos, eficiência se refere à relação entre os<br />
benefícios e os custos agregados a uma situação. Um conceito mais elaborado é a chama<strong>da</strong><br />
eficiência de Pareto, ou ótimo de Pareto, relacionado ao economista italiano Vilfredo Pareto.<br />
Um ótimo de Pareto é aquela situação em que não há mu<strong>da</strong>nça que melhore a situação de um<br />
agente sem piorar a situação de pelo menos um outro agente. Uma <strong>da</strong><strong>da</strong> situação não é<br />
eficiente, neste sentido, se houver algo que possa ser feito para beneficiar alguém, sem gerar<br />
prejuízos para ninguém. Há um segundo princípio de eficiência que, na mesma linha, avalia a<br />
eficiência de uma situação considerando se há outras que gerem benefícios líquidos mais<br />
elevados. Conhecido como princípio de Kaldor-Hicks, ele contrasta com o de Pareto, porém,<br />
por levar em conta a soma dos efeitos líquidos em todos os agentes, e não em ca<strong>da</strong> um deles<br />
individualmente. Em especial, se uma situação gera um excedente total maior do que outra –<br />
isto é, o ganho dos vencedores excede o prejuízo dos perdedores, ela é vista como mais<br />
eficiente que a outra. Isso é diferente <strong>da</strong> eficiência de Pareto, que prevê a necessi<strong>da</strong>de de<br />
ganho agregado, mas sem que a situação individual de ca<strong>da</strong> agente piore (CASTELLAR e<br />
SADDI: 2005, p. 120-121).
38<br />
ótica <strong>da</strong> teoria neoclássica, que fun<strong>da</strong>menta teoricamente o neoliberalismo,<br />
está atrela<strong>da</strong> ao mercado; e ao mercado de consumo, no caso, o ganho de<br />
utili<strong>da</strong>de capaz de gerar um ganho de bem estar social (= externali<strong>da</strong>de<br />
positiva) implica exatamente na idéia de uso devido; de utili<strong>da</strong>de; de eficiência<br />
na alocação de recursos; que bem podem servir de conteúdo à função social<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong>.<br />
Portanto, a questão coloca<strong>da</strong> inicialmente se repete: o direito como<br />
sendo uma liber<strong>da</strong>de, de alguma forma se contrapõe a possibili<strong>da</strong>de de se<br />
condicionar o exercício desse direito a uma função que visa às necessi<strong>da</strong>des<br />
de terceiros<br />
A resposta ao questionamento pode ser estrutura<strong>da</strong> a partir do próprio<br />
conceito de liber<strong>da</strong>de jurídica trabalhado por Robert Alexy:<br />
A liber<strong>da</strong>de é descrita de forma completa com o auxílio de<br />
enunciados que mencionem três coisas: a pessoa que não é livre; o<br />
obstáculo a que ela é submeti<strong>da</strong>; e aquilo a que este obstáculo<br />
impede ou embaraça. Isso sugere que se conceba uma liber<strong>da</strong>de<br />
específica de uma pessoa como uma relação triádica, a liber<strong>da</strong>de de<br />
uma pessoa como a soma de <strong>suas</strong> liber<strong>da</strong>des específicas e a<br />
liber<strong>da</strong>de de uma socie<strong>da</strong>de como a soma <strong>da</strong>s liber<strong>da</strong>des <strong>da</strong>s<br />
pessoas que nela vivem (ALEXY: 2008, p. 220).<br />
Esse conceito inicial deve ser acrescido <strong>da</strong> construção seguinte:<br />
(...) no caso do conceito positivo de liber<strong>da</strong>de, há uma relação<br />
especial entre o obstáculo à liber<strong>da</strong>de e o obstáculo <strong>da</strong> liber<strong>da</strong>de, que<br />
é a ação necessária ou razoável, em resumo a ação correta. Quando<br />
o obstáculo desaparece, não resta outra possibili<strong>da</strong>de, a não ser a de<br />
realizar a ação correta; então, ela passa ser necessária. Essa relação<br />
pode ser estendi<strong>da</strong> ao titular <strong>da</strong> liber<strong>da</strong>de. Se o titular <strong>da</strong> liber<strong>da</strong>de se<br />
liberta dos obstáculos à liber<strong>da</strong>de e, nesse sentido é uma pessoa livre<br />
ou razoável, então, ele necessariamente realiza a ação correta. Em<br />
conjunto com a constatação adicional de que uma pessoa libera<strong>da</strong><br />
dos obstáculos à liber<strong>da</strong>de é uma pessoa autônoma, a qual decide<br />
sobre si mesma, temos como resultado que uma pessoa autônoma<br />
faz exatamente uma coisa: o correto (ALEXY: 2008, p. 221).
39<br />
Em conseqüência, pode-se muito bem concluir que os conceitos de<br />
liber<strong>da</strong>de e de função social não se contrapõem numa contradição. Mas se<br />
complementam: os agentes econômicos são livres para exercerem e se<br />
manterem exercendo a <strong>empresa</strong>, entretanto, devem observar sua função<br />
social; seu uso devido; em observando, fazem o correto e, como tal, não<br />
encontram barreiras à sua liber<strong>da</strong>de de iniciativa – ao menos barreiras<br />
jurídicas.<br />
No direito societário, o raciocínio está implicado nos artigos 116, 117 e<br />
154 <strong>da</strong> lei n° 6.404/76 53 , no que se refere ao comportamento do controlador e<br />
do administrador no sentido de que devem observar a orientação <strong>da</strong> função<br />
social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> em <strong>suas</strong> ativi<strong>da</strong>des. A par disso, entende-se não ser<br />
justificável o questionamento comum na literatura, tal como: havendo conflito<br />
entre o objetivo societário de lucro e o dever legal de a companhia exercer sua<br />
função social, qual a solução jurídica Esse questionamento, ao que parece,<br />
pressupõe uma contradição valorativa entre o intuído lucrativo e a função<br />
social, o que não se tem como justificável, na medi<strong>da</strong> em que exposto.<br />
2.3.2 A função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> sob uma ótica institucionalista<br />
Seguindo uma outra orientação teórica, mas, também se atendo a um<br />
exame <strong>da</strong> função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> sob uma perspectiva do mercado, merece<br />
destaque a doutrina de Calixto Salomão Filho (SALOMÃO FILHO: 2003) que<br />
parte seu raciocínio, acerca <strong>da</strong> função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, do pressuposto de<br />
que a função social passa de uma função estática de limitação <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de<br />
para um instrumento de controle <strong>da</strong>s relações sociais – no caso <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>,<br />
<strong>da</strong>s relações de dependência e hierarquia por ela gera<strong>da</strong>s. A partir do exame<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, enquanto situação jurídica patrimonial e dinâmica – o autor,<br />
também enxerga na <strong>empresa</strong> uma estrutura organizacional inseri<strong>da</strong> em<br />
mercados -, a função social passa a ser compreendi<strong>da</strong>, também, nas relações<br />
inter-pessoais, seguindo, de resto, a própria marcha do capitalismo, de<br />
53<br />
BRASIL: Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404compila<strong>da</strong>.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.
40<br />
progressiva e crescente divisão, do trabalho e, portanto, de progressiva<br />
importância econômica <strong>da</strong>s relações entre indivíduos e entre grupos sociais.<br />
Em vista dessa análise – a <strong>empresa</strong> e o mercado, enquanto instituições<br />
– o autor verifica a influência do comportamento individual sobre os interesses<br />
dos grupos sociais, elevando os reflexos desse comportamento à condição de<br />
ser verifica<strong>da</strong> a função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Admite, em reali<strong>da</strong>de, uma<br />
transformação havi<strong>da</strong> em relação à forma de exploração econômica – dos bens<br />
de raiz aos bens de produção – contexto em que a <strong>empresa</strong>, enquanto um<br />
complexo de relações, se mostra viável. O fun<strong>da</strong>mento, também aqui, guar<strong>da</strong><br />
relação com os preceitos do artigo 170, <strong>da</strong> Constituição Federal de 1988 54 . No<br />
entanto, infra-constitucionalmente, estaria mais próximo <strong>da</strong> função social do<br />
contrato, prevista no art. 421, do Código Civil 55 .<br />
Apresenta<strong>da</strong>s as bases do raciocínio do autor, parte-se para a<br />
compreensão do conteúdo por ele proposto para a função social:<br />
(...) à definição precisa de seu conteúdo e forma correspondem<br />
obrigações (função social) dos titulares que devem ter seu conteúdo<br />
precisamente definido em lei, na <strong>empresa</strong> e no contrato à grande<br />
liber<strong>da</strong>de organizadora e estruturadora <strong>da</strong>s relações jurídicas por elas<br />
envolvi<strong>da</strong>s corresponde uma obrigação muito mais abrangente em<br />
relação à socie<strong>da</strong>de, que envolve a responsabili<strong>da</strong>de por todos os<br />
efeitos sociais dessas relações livremente organiza<strong>da</strong>s. 56<br />
Completa seu raciocínio, informando que se a função social tem seu conteúdo<br />
esperado na responsabili<strong>da</strong>de do agente econômico empresário frente às<br />
instituições, ou seja, a <strong>empresa</strong> possui seu valor a merecer a tutela do direito,<br />
desde que reconheça as instituições. Seu marco teórico, no caso, é a teoria<br />
<strong>da</strong>s instituições 57 de Carl Schimit – teoria construí<strong>da</strong> pelo movimento<br />
54 BRASIL. Constituição (1988). 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.<br />
55 BRASIL. Código Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.<br />
56 SALOMAO FILHO, Calixto. Função Social do Contrato: primeiras anotações. Revista de<br />
Direito Mercantil. N. 132. out./dez, p. 7-24, 2003.<br />
57 Das discussões sobre a Constituição de Weimar, Klaus Stern fez emergir uma clara distinção<br />
entre a garantia institucional, sempre referente à instituições de direito público, em que se<br />
protegem institutos de direito privado, assim entendidos a proprie<strong>da</strong>de, a família, o direito<br />
sucessório e etc. Na esfera material <strong>da</strong> constituição, movido <strong>da</strong> preocupação schimitiana com
41<br />
constitucional alemão, no início do século passado, em reação ao liberalismo<br />
econômico – se afastando, portanto, <strong>da</strong> primeira corrente teórica exposta.<br />
Essa construção teórica – o destaque <strong>da</strong>do aos interesses coletivos sobre os<br />
individuais - permite ao autor concluir, sobre a função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, o<br />
seguinte: (...) o princípio <strong>da</strong> função social do contrato permite a tutela difusa<br />
pelo judiciário <strong>da</strong>s garantias institucionais. Liberta a tutela de interesses supraindividuais<br />
<strong>da</strong> tutela administrativa ou <strong>da</strong> casuística prevista em lei. To<strong>da</strong> as<br />
vezes em que forem lesados interesses institucionais haverá lesão á função<br />
social do contrato (SALOMAO FILHO: 2003).<br />
2.4 O raciocínio jurídico funcional a exemplo do direito de <strong>empresa</strong> 58<br />
O enfrentamento do problema colocado na introdução deste trabalho é<br />
realizado segundo um marco teórico: o raciocínio tipológico orientado a valores<br />
de Karl Larenz.<br />
Assumi<strong>da</strong> essa construção teórica como pressuposto a que se pretende a<br />
fun<strong>da</strong>mentação e, reforçando, a integri<strong>da</strong>de do trabalho, a <strong>empresa</strong> passa a ser<br />
entendi<strong>da</strong> tipologicamente e funcionaliza<strong>da</strong>, inseri<strong>da</strong> dentro de um sistema<br />
aberto. Esta concepção se justifica na opção que se faz sobre a hermenêutica<br />
jurídica (interpretação sistemático-teleológica) utiliza<strong>da</strong> como instrumento à<br />
resolução do problema colocado: a questão <strong>da</strong> sucessão trabalhista do<br />
arrematante de filiais do devedor empresário em recuperação judicial.<br />
Neste ponto, então, é interessante colocar o aspecto funcional ligado a um<br />
determinado sistema. No caso especificamente aqui tratado, no sistema<br />
determinados perigos e determina<strong>da</strong>s experiências históricas malfa<strong>da</strong><strong>da</strong>s, o constitucionalismo<br />
<strong>da</strong> época, separou, de uma parte, os direitos fun<strong>da</strong>mentais, que abrangem e visam proteger<br />
como tais os chamados direitos clássicos <strong>da</strong> liber<strong>da</strong>de individual, os direitos <strong>da</strong> igual<strong>da</strong>de e os<br />
diretos <strong>da</strong> participação política e, doutra parte, as garantias constitucionais <strong>da</strong>s instituições ou<br />
garantias institucionais, que conferem à certas instituições, estruturas de organização e figuras<br />
jurídicas fun<strong>da</strong>mentais, uma idêntica proteção de grau superior no patamar normativo <strong>da</strong><br />
constituição. (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. Ed. 17. São Paulo:<br />
Malheiros. 2005. p. 544.)<br />
58 Este tópico, assim como seu subtítulo, foram inspirados em artigo de autoria de Lorenz<br />
Fastrich, in FASTRICH, Lorenz. Raciocínio jurídico funcional a exemplo do direito societário.<br />
Revista de Direito Mercantil. Tradução de Nilson Lautenschleger. São Paulo, 122, p. 52-85, abr.<br />
2005.
42<br />
<strong>empresa</strong>rial e no subsistema falimentar. O aspecto funcional é expressão de<br />
uma compreensão teleológica <strong>da</strong>s respectivas regras jurídicas. Trata-se, no<br />
que se refere ao aspecto teleológico, de se perguntar sobre a tarefa de uma<br />
regulamentação em especial, sendo, portanto, um questionamento, ain<strong>da</strong>,<br />
muito geral.<br />
A funcionali<strong>da</strong>de, nesse contexto, vem reconhecer que o sentido de uma<br />
regulamentação encontra-se muitas vezes não – ou não somente – na<br />
proteção direta do indivíduo, do credor, do sócio, ou de outras pessoas em<br />
especial, mas também no funcionamento de um sistema ou subsistema como o<br />
falimentar, e que se deve considerar a manutenção <strong>da</strong> funcionali<strong>da</strong>de deste<br />
sistema ou subsistema quando <strong>da</strong> aplicação do Direito ou de sua construção<br />
jurisprudencial, assumindo que se não é permitido que o sistema seja<br />
destruído, então, devem ser conheci<strong>da</strong>s as condições funcionais próprias do<br />
sistema em questão (FASTRICH: 2005, p. 54).<br />
A utili<strong>da</strong>de desse raciocínio funcional é bem explica<strong>da</strong> pelas palavras do<br />
autor reproduzi<strong>da</strong>s em sua integri<strong>da</strong>de – em recuo de texto:<br />
(...) talvez soe pretensioso, mas não é. O direito privado tem, como<br />
sabemos hoje, nomea<strong>da</strong>mente, uma dupla função: a <strong>da</strong> garantia de<br />
autonomia no interesse dos sujeitos privados, participantes e a<br />
criação de estabili<strong>da</strong>de de um ordenamento de direito privado justo. O<br />
ordenamento de direito privado disponibiliza os parâmetros legais<br />
segundo os quais os sujeitos de direito privado podem regular <strong>suas</strong><br />
relações jurídicas <strong>da</strong> forma mais independente possível. Como as<br />
regulam cabe, em princípio, á sua autonomia. Desta maneira, o<br />
ordenamento de direito privado, constitui-se, em certa medi<strong>da</strong>, por si<br />
mesmo. Isto é importante, pois o estado não deve conduzir as<br />
transações priva<strong>da</strong>s, nem poderia fazê-lo de forma completa.<br />
Entretanto, deve garantir que os parâmetros legais que disponibiliza<br />
possibilitem a autonomia e não propiciem conseqüências que não são<br />
compatíveis com o pensamento de justiça que também é imposto ao<br />
ordenamento de direito privado.<br />
Partindo <strong>da</strong> concepção acima coloca<strong>da</strong>, quando se pensa o Direito<br />
Empresarial, enquanto sistema ou subsistema, seus institutos devem ser<br />
funcionalizados, sendo necessário, inclusive, se repensar a <strong>empresa</strong> nesse<br />
contexto.
43<br />
Essa preocupação é senti<strong>da</strong> nos trabalhos <strong>da</strong> profa. Rachel Sztajn,<br />
quando enfatiza que: até recentemente, os operadores do direito,<br />
particularmente os de formação romano-germânica, parece, limitavam-se a<br />
receber e reproduzir a doutrina de Asquini (SZTAJN: 2004, p. 8). Entretanto,<br />
como já abor<strong>da</strong>do anteriormente, se a autora entende a necessi<strong>da</strong>de de se<br />
repensar a <strong>empresa</strong>, e nesse aspecto, sua abor<strong>da</strong>gem assemelha-se à<br />
argumentação aqui desenvolvi<strong>da</strong>, em outro ponto, há claro distanciamento, já<br />
que para a professora é preciso abandonar a visão funcionalista <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>.<br />
Prosseguindo, se se admite a idéia de funcionalizar determinado<br />
sistema, deve-se admitir, também, que esta idéia implica numa identificação do<br />
respectivo sistema (subsistema) de maneira a possibilitar, inclusive, os fins<br />
mediatos e imediatos <strong>da</strong> regulamentação especifica<strong>da</strong>. Para, a partir <strong>da</strong>í, se<br />
procurar instrumentos que visam à manutenção <strong>da</strong> integri<strong>da</strong>de desse sistema,<br />
em tratamento.<br />
2.4.1 A Teleologia do direito comercial dos atos de comércio<br />
Exemplificativamente, se o instituto <strong>da</strong> falência é contextualizado em<br />
passado relativamente recente, a doutrina de Trajano de Miran<strong>da</strong> Valverde 59 ,<br />
<strong>da</strong> época, bem serve a seu conceito e a indicação de seus fins:<br />
O instituto <strong>da</strong> falência é o complexo de regras jurídicas, técnicas ou<br />
construtivas, que definem e regulam uma situação especial, de ordem<br />
econômica, a falência. Juridicamente, a falência se caracteriza por<br />
atos ou fatos que denotam, comumente, um desequilíbrio no<br />
patrimônio do devedor. Essas regras técnicas ou construtivas são<br />
uma criação <strong>da</strong> lei positiva e tem na norma geral de que o patrimônio<br />
do devedor é a garantia comum dos credores e o seu fun<strong>da</strong>mento.<br />
Elas procuram assegurar a execução <strong>da</strong> norma geral, fixando os<br />
princípios reguladores do novo estado jurídico e preestabelecendo os<br />
meios pelos quais se tornará realizável a garantia dos direitos dos<br />
credores. (...)<br />
59 VALVERDE, Trajano de Miran<strong>da</strong>. Comentários à Lei de Falências. V. 1. ed. 3. São Paulo:<br />
Forense. 1962. p. 13-13.
44<br />
Pela transcrição, pode-se identificar com certa facili<strong>da</strong>de que a falência,<br />
então, era compreendi<strong>da</strong> como um instituto que se justificava na proteção do<br />
interesse dos credores que contratavam com o falido. Isto fica claro, tanto<br />
quando analisa<strong>da</strong>s as chama<strong>da</strong>s regras de fundo: aquelas que, na esfera do<br />
interesse privado, enunciam quase sempre regras derrogatórias do direito<br />
comum, como as limitações ou transformações <strong>da</strong>s obrigações; tanto quanto as<br />
chama<strong>da</strong>s regras de forma: que organizam o processo de execução coletiva,<br />
estabelecendo os meios para se resolver a situação transitória.<br />
Essa doutrina encontra sua base na teoria do trust fund ou proprie<strong>da</strong>de<br />
fiduciária. De acordo com esta doutrina, o ativo patrimônio de uma pessoa<br />
jurídica é considerado proprie<strong>da</strong>de fiduciária em favor dos credores, para o<br />
caso <strong>da</strong> primeira ter dificul<strong>da</strong>des em sal<strong>da</strong>r <strong>suas</strong> dívi<strong>da</strong>s 60 .<br />
A teleologia do sistema falimentar, conforme colocado acima, pede um<br />
prognóstico não somente do direito positivo, como pretendem alguns, mas,<br />
também, <strong>da</strong> consideração à própria forma de estruturação do sistema<br />
<strong>empresa</strong>rial na Ciência do Direito: qual o contexto histórico dos interesses<br />
(valores) reconhecidos pelo direito que refletiam a própria razão <strong>da</strong> teoria do<br />
direito falimentar Em que medi<strong>da</strong>, a concepção de falência repercutia os<br />
valores e a forma de concepção do direito comercial, à época<br />
Logo, e em coerência com o conteúdo desenvolvido até esse momento,<br />
interessa, agora, contrastar a doutrina de Miran<strong>da</strong> Valverde, em recorte acima,<br />
referi<strong>da</strong> a um sistema falimentar liqui<strong>da</strong>tório, com o sistema falimentar brasileiro<br />
atual, que se justifica pela manutenção e estabilização de organizações<br />
econômico-<strong>empresa</strong>riais. Neste último caso, a falência e a recuperação são<br />
instrumentos indicados em razão <strong>da</strong> gravi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> crise constata<strong>da</strong>. Esse último<br />
pode ser qualificado como um sistema falimentar recuperatório.<br />
Em reali<strong>da</strong>de, ao se optar por uma interpretação teleológica e sistemática, o<br />
que se pretende é demonstrar que a mu<strong>da</strong>nça no texto legislado – a<br />
comparação pode ser feita entre os enunciados do decreto n. 7.661/45 61 e a lei<br />
60 ALVES, Alexandre Ferreira Assumpção. In: ALVES, Alexandre Ferreira Assumpção; GAMA,<br />
Guilherme Calmon Nogueira (Org.). Temas de direito civil-<strong>empresa</strong>rial. Rio de janeiro: Renovar,<br />
2008, p. 1-56.<br />
61<br />
BRASIL: Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945. Disponível em: <<br />
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.
45<br />
n.° 11.101/05 62 – reflete uma mu<strong>da</strong>nça anterior e mais abrangente, que remete<br />
à própria concepção do Direito Empresarial.<br />
O regime falimentar anterior – liqui<strong>da</strong>tório – era melhor ajustado à<br />
concepção atomística do Direito Empresarial, formatado segundo as bases <strong>da</strong><br />
teoria objetiva dos atos de comércio 63 . Os atos de comércio revelavam o<br />
contexto <strong>da</strong> época: a ruptura com uma construção histórica do direito<br />
comercial, como um direito profissional dos comerciantes; ou mesmo, a idéia<br />
de Direito por detrás dos atos reputados de comércio: a de que a ciência do<br />
Direito 64 não é uma ciência dos factos, como a sociologia, mas uma ciência <strong>da</strong>s<br />
normas; o seu objeto não é o que é ou o que acontece, mas sim um complexo<br />
de normas (LARENZ: 1997, p. 93).<br />
Em síntese, os atos de comércio 65 parecem ter sido estruturados sob<br />
uma ótica positivista 66 – o império do dever ser – sem, necessariamente,<br />
62 BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação judicial, a<br />
extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista<br />
dos Tribunais, 2005.<br />
63 A Teoria dos Atos de Comércio foi uma resposta aos ideários <strong>da</strong> revolução francesa, vez que<br />
ao Direito Comercial não era mais permitido (segundo os paradigmas que fun<strong>da</strong>mentaram a<br />
revolução) regulamentar os interesses e as relações jurídicas de uma classe especial: a dos<br />
comerciantes matriculados em determina<strong>da</strong> corporação de ofício. Do ponto de vista jurídicopolítico,<br />
tendo-se em conta as teorias liberais de A<strong>da</strong>m Smith, estes fatos representaram<br />
conjuntamente, o resultado natural de uma nova visão no sentido de que a proteção <strong>da</strong><br />
iniciativa priva<strong>da</strong> tornou-se um princípio de ordem pública. Dessa maneira o progresso <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de estaria fun<strong>da</strong>do naturalmente na liber<strong>da</strong>de individual, sob cuja égide as pessoas –<br />
atendendo de forma egoísta os seus interesses, dentro de um mercado de livre concorrência –<br />
produziriam bens mais baratos e com melhor quali<strong>da</strong>de (VERÇOSA: 2004 p. 45).<br />
64 Só se garante o seu caráter científico quando se restringe rigorosamente à sua função e o<br />
seu método se conserva puro de to<strong>da</strong> a mescla de elementos estranhos á sua essência, isto é,<br />
não só de todo e qualquer apoio numa ciência de factos (como a sociologia e a psicologia),<br />
como de todo e qualquer influxo de proposições de fé, sejam de natureza ética ou de natureza<br />
religiosa. Como conhecimento puro, não tem de prosseguir imediatamente nenhum fim prático,<br />
mas antes de excluir <strong>da</strong> sua consideração tudo o que não se ligue especificamente com o seu<br />
objecto como complexo de normas. Só assim logra afastar a censura de estar ao serviço de<br />
quaisquer interesses, paixões ou preconceitos políticos, econômicos ou ideológicos, isto é, só<br />
assim pode ser ciência. À Ciência do Direito que satisfaz a existência <strong>da</strong> pureza do método,<br />
chama Kelsen Teoria Pura do Direito (LARENZ: 1997, p. 93).<br />
65 Atos, que por uma opção política, foram reputados atos mercantis ou atos de comércio, que<br />
em seu bojo sintetizavam as ativi<strong>da</strong>des de indústria e de comércio. Ativi<strong>da</strong>des estas,<br />
tipicamente de uma socie<strong>da</strong>de urbana em ascensão e distantes <strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de presente no<br />
campo (vez que estas últimas eram associa<strong>da</strong>s ao regime feu<strong>da</strong>l, em especial no que se refere<br />
ao estágio de evolução <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de imobiliária) (MARTINS: 2002. p. 45).<br />
66 Do ponto de vista <strong>da</strong> Ciência do Direito, a teoria dos atos de comércio sofreu influencia <strong>da</strong><br />
escola positivista. De outro lado, o seu contexto social pode muito bem ser ilustrado pelo<br />
“capitalismo pesado” que, segundo os estudos de Zygmunt Bauman, o fordismo era a<br />
autoconsciência <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de moderna em sua fase ”pesa<strong>da</strong>”, “volumosa”, ou “imóvel” e<br />
“enraiza<strong>da</strong>”, “sóli<strong>da</strong>”. Nesse estágio de sua história conjunta, capital, administração e trabalho<br />
estavam, para o bem e para o mal, condenados a ficar juntos por muito tempo, talvez para<br />
sempre – amarrados pela combinação de fábricas enormes, maquinaria pesa<strong>da</strong> e força de<br />
trabalho maciça. O capitalismo pesado era obcecado por volume e tamanho e, por isso,
46<br />
guar<strong>da</strong>r qualquer relação com seu conteúdo social ou econômico, cabendo à<br />
doutrina um esforço quase que inglório na tentativa de se chegar à essência de<br />
seu conteúdo, como bem ilustra a definição de Rubens Requião 67 .<br />
(...) Por atos de comércio se há de entender, malgrado a dificul<strong>da</strong>de<br />
de conceituação, os negócios jurídicos referentes diretamente ao<br />
exercício normal do comércio ou <strong>da</strong> indústria, consistentes na<br />
operação típica de compra e ven<strong>da</strong>, ou ain<strong>da</strong> naqueles atos que<br />
imprimem feição característica ao comércio(...).<br />
Essa dificul<strong>da</strong>de de se chegar a um conceito ontológico de atos de<br />
comércio ain<strong>da</strong> pode ser senti<strong>da</strong> nas palavras de Fran Martins 68 :<br />
(...) para parte <strong>da</strong> doutrina o que distingue os atos de comércio dos<br />
demais atos é a circulação, isto é, o fato de o ato de comércio servir<br />
para que circulem as mercadorias, sendo o comerciante o<br />
intermediário entre o produtor e o consumidor que pratica esse ato.<br />
Outros consideram característico do ato comercial o intuito de lucro,<br />
ou seja, o intento especulativo. Entretanto, a objeção que se faz à<br />
estes argumentos é que são inúmeros os atos de circulação ou<br />
especulativos que não têm caráter comercial. Por fim, há aqueles que<br />
consideram comerciais os atos praticados profissionalmente. Mas a<br />
profissionali<strong>da</strong>de não é privilégio <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de comercial, já que a<br />
profissionali<strong>da</strong>de, mesmo com o intuito de lucro, poderia ser feita por<br />
pessoas não comerciantes.<br />
Os textos doutrinários que criticavam a teoria dos atos de comércio<br />
prestam de substrato a essa crítica atual, como bem representa Joaquim<br />
Garrigues, citado por Maria Celeste de Moraes Guimarães Costa 69 :<br />
também por fronteiras, fazendo-as firmes e impenetráveis. Em seu estágio pesado, o capital<br />
estava tão fixado ao solo quanto os trabalhadores que empregavam. Hoje o capital viaja leve –<br />
apenas com a bagagem de mão, que inclui na<strong>da</strong> mais que pasta, telefone celular e computador<br />
portátil (BAUMAN, Zygmunt. Moderni<strong>da</strong>de Líqui<strong>da</strong>. Tradução Plínio Dentzien. Rio de Janeiro:<br />
Jorge Zahar. 2001. p. 69/70).<br />
67 REQUIAO, Rubens. Manual <strong>da</strong>s Socie<strong>da</strong>de Comerciais. São Paulo: Saraiva. 1978. p.5-6.<br />
68 MARTINS, Fran. apud GONTIJO, Vinícius José Marques. O empresário segundo o novo<br />
Código Civil. Revista de Julgados. Tribunal de Alça<strong>da</strong> do Estado de Minas Gerais, Belo<br />
Horizonte, 1980. v. 11, trimestral. P. 19
47<br />
(...) essa crise de conceito do direito mercantil nasce já na época<br />
codificadora, que se inicia no século XIX como um panorama<br />
legislativo ver<strong>da</strong>deiramente confuso e contraditório. Dessa penosa<br />
situação é em grande parte culpado o primeiro Código de Comércio<br />
publicado no mundo. O código francês de 1807, no qual se quebra a<br />
linha <strong>da</strong> clara trajetória histórica do direito mercantil como direito<br />
profissional dos comerciantes. A partir desse momento, a doutrina<br />
mercantilista caiu em um estado de vacilação, de insegurança e de<br />
incerteza, do qual inutilmente ain<strong>da</strong> estar por sair. A reali<strong>da</strong>de é que<br />
hoje não se sabe onde começa e onde termina o direito mercantil,<br />
quais são seus limites frente ao direito civil e se existe alguma razão<br />
econômica, antes que acadêmica, que justifica esses limites.<br />
Essa orientação teórica é refleti<strong>da</strong> na doutrina, <strong>da</strong> época, como ilustram<br />
as seguintes definições do Direito Comercial: Em Ripert, citado por Fran<br />
Martins 70 , a parte do direito privado que regula as operações jurídicas feitas<br />
pelos comerciantes, seja entre si, seja entre os seus clientes (...) estas<br />
operações se ligam ao exercício do comércio e por isso são chama<strong>da</strong>s atos de<br />
comércio. Em Waldemar Ferreira, o conjunto sistemático de normas jurídicas<br />
disciplinadoras do comerciante e seus auxiliares e do ato de comércio e <strong>da</strong>s<br />
relações dele oriun<strong>da</strong>s. Em Carvalho de Mendonça, o direito comercial é a<br />
disciplina jurídica reguladora dos atos de comércio e, ao mesmo tempo, dos<br />
direitos e <strong>da</strong>s obrigações <strong>da</strong>s pessoas que os exercem profissionalmente e dos<br />
seus auxiliares.<br />
Essas definições e contextualizações 71 sobre a teoria dos atos de<br />
comércio foram reputa<strong>da</strong>s necessárias à seguinte reflexão: de um lado, parece<br />
haver um consenso na doutrina – a dificul<strong>da</strong>de em se chegar a um conceito<br />
69 COSTA, Maria Celeste Moraes Guimarães. O Direito Concursal Contemporâneo: a busca <strong>da</strong><br />
recuperação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. 2000. p .8-9.<br />
70 MARTINS; Fran. Curso de Direito Comercial. Ed. 28. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 15.<br />
71 É ain<strong>da</strong> importante relembrar que o Código Comercial napoleônico que positivou a teoria dos<br />
atos de comércio é fruto de um momento histórico em que para o direito, a revolução francesa<br />
trouxe grande descrédito, uma vez que os juízes eram membros <strong>da</strong>s classes sociais ti<strong>da</strong>s como<br />
detentoras do poder, nutrindo um clima de grande desconfiança <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de com o judiciário,<br />
propiciando as bases <strong>da</strong> escola <strong>da</strong> Exegese, pela qual era estritamente proibido ao magistrado<br />
interpretar a lei, devendo manter-se estritamente na aplicação <strong>da</strong> lei, considerando-se qualquer<br />
posicionamento hermenêutico como usurpação <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de legislativa. (LEWIS, Sandra<br />
Barbon. A íntima relação entre direito e economia. Revista de Direito Mercantil. São Paulo, n.°<br />
138, p. 249, abr. 2005).
48<br />
científico e satisfatório de ato de comércio; de outro, parece que o centro<br />
gravitacional <strong>da</strong> doutrina comercialista <strong>da</strong> época girou em torno <strong>da</strong> figura do<br />
comerciante e <strong>da</strong>s relações jurídicas manti<strong>da</strong>s com terceiros, comerciantes ou<br />
não.<br />
É interessante observar que o campo de regulamentação do direito<br />
comercial estava delimitado ao ato de comércio. Acontece que ato é um<br />
acontecimento instantâneo, que apesar de produzir efeitos que se projetam no<br />
tempo, não possuem uma carga de significado capaz de traduzir a ativi<strong>da</strong>de<br />
econômica mercantil. Ato jurídico é uma declaração de vontade individual,<br />
tendo em vista produzir um efeito jurídico 72 . Talvez, por essas razões, a<br />
dogmática tenha dedicado mais espaço ao tratamento do comerciante, figura<br />
que parece ocupar o lugar central <strong>da</strong>s discussões, até por traduzir melhor a<br />
estabili<strong>da</strong>de temporal necessária ao comércio.<br />
Do ponto de vista econômico e social, parece que a característica<br />
aponta<strong>da</strong> se deve ao pensamento <strong>da</strong> época, pautado nos ideais de liber<strong>da</strong>de e<br />
igual<strong>da</strong>de (formal), o que no campo econômico significava liberalismo de<br />
mercado em detrimento do poder estatal. Liber<strong>da</strong>des e igual<strong>da</strong>de formal que<br />
possibilitavam o crescimento e a dominação de uma classe. O fun<strong>da</strong>mento<br />
filosófico era <strong>da</strong>do pelo iluminismo e pelo positivismo que a tudo pretendiam a<br />
razão (LEWIS: 2005).<br />
Esse, o contexto em que se edificou, na época, um direito <strong>empresa</strong>rial<br />
centrado no comerciante, ao que o raciocínio jurídico material muito bem<br />
serviu: a preocupação central era a proteção do indivíduo – o comerciante – e a<br />
perspectiva era o comportamento desse comerciante. Daí a repercussão no<br />
regime falimentar, em vigor no Brasil até a revogação do decreto 7.661/45 73<br />
pela lei n.° 11.101/05 74 , <strong>da</strong> falência liqui<strong>da</strong>ção: a preocupação central era a<br />
execução coletiva, abrangendo todos os bens do devedor, que já constituíam a<br />
garantia eventual dos credores (...) e no campo onde se agita o interesse<br />
público, dominam as regras especiais que qualificam os atos e omissões<br />
72 Windscheid, citado por Clóvis Bevilaqua in BEVILAQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil.<br />
Campinas: Red Livros, 2001. p.290.<br />
73<br />
BRASIL: Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945. Disponível em: <<br />
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.<br />
74 BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação judicial, a<br />
extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista<br />
dos Tribunais, 2005.
49<br />
delituosas, em matéria de falência, e marcam as penas respectivas<br />
(VALVERDE: 1962, p.15).<br />
2.4.2 A teleologia do direito comercial <strong>da</strong> <strong>empresa</strong><br />
A teoria dos atos de comércio liga<strong>da</strong> a um contexto do denominado<br />
capitalismo pesado já não mais se adequa à reali<strong>da</strong>de econômica e social que<br />
se apresenta. Tal situação se explica economicamente pela ruptura <strong>da</strong> corrente<br />
invisível do Fordismo que prendia os trabalhadores a seus lugares e impedia a<br />
sua mobili<strong>da</strong>de. O rompimento dessa corrente foi também o divisor de águas<br />
decisivo na experiência de vi<strong>da</strong> e se associa à decadência e extinção<br />
acelera<strong>da</strong>s do modelo Fordista. Quem começa sua carreira na Microsoft não<br />
sabe onde ela vai terminar. Começar na Ford ou na Renault implicava ao<br />
contrário a quase certeza de que a carreira seguiria seu curso no mesmo lugar.<br />
O capital, agora, pode saltar em quase qualquer ponto do caminho e não<br />
precisa demorar-se em nenhum lugar além do tempo em que durar sua<br />
satisfação. 75<br />
Este é o contexto social e econômico em que se desenvolve a Teoria <strong>da</strong><br />
Empresa: a fluidez do capital e, como conseqüência, a passagem de uma<br />
teoria basea<strong>da</strong> em atos concretos e rígidos para uma teoria jurídica basea<strong>da</strong><br />
na especial organização de uma ativi<strong>da</strong>de.<br />
Os limites físicos <strong>da</strong>s organizações vêm sendo desgastados pela<br />
capaci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> nova tecnologia <strong>da</strong> informação de transcender países<br />
e fusos horários, porém, esse mesmo processo está afetando<br />
também o trabalho <strong>da</strong>s organizações e o modo de coordená-lo.<br />
Muitas organizações não funcionam mais como uni<strong>da</strong>des<br />
independentes, como antigamente e é ca<strong>da</strong> vez maior o número de<br />
organizações a descobrirem que <strong>suas</strong> operações funcionam melhor<br />
quando estão liga<strong>da</strong>s a uma rede de relações complexas com outras<br />
organizações. 76<br />
75 BAUMAN, Zygmunt.. Moderni<strong>da</strong>de Líqui<strong>da</strong>. Tradução Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge<br />
Zahar. 2001. p. 70.<br />
76 GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4 ed. São Paulo: Artmed. 1997. p. 299.
50<br />
Analisado o contexto, organização parece ser o elemento central,<br />
essencial, necessário e suficiente para determinar a existência <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>,<br />
porque gera o aparato produtivo estável, estruturado por pessoas, bens e<br />
recursos, coordena os meios para atingir o resultado visado. Tanto a<br />
organização de pessoas, centra<strong>da</strong> nas relações de trabalho subordinado, cuja<br />
disciplina é a dos contratos de trabalho, quanto a organização dos meios<br />
patrimoniais (recursos e bens) para o exercício de uma ativi<strong>da</strong>de estão<br />
presentes no desenho <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Por isso é, atualmente, fácil abandonar a<br />
antiga discriminação entre alto e hetero-organização na configuração <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>, empregando-se critérios mais aceitáveis como a fungibili<strong>da</strong>de dos<br />
fatores <strong>da</strong> produção. 77<br />
A <strong>empresa</strong>, enquanto ativi<strong>da</strong>de econômica, orienta<strong>da</strong> para a produção e<br />
circulação de bens ou serviços para o mercado, coloca<strong>da</strong> como o critério<br />
delimitador do campo de regulamentação do atual Direito de Empresa, que<br />
traduz uma concepção econômica – a teoria <strong>da</strong> firma seria uma delas – para o<br />
direito, por meio de um raciocínio tipológico e funcionalizado que permite um<br />
repensar do próprio direito <strong>empresa</strong>rial, mantendo seu foco de atenção no<br />
instituto <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> – e não no empresário: a questão é posta entre o ato e a<br />
ativi<strong>da</strong>de – a última, inclusive semanticamente, traduz melhor a idéia de<br />
estabili<strong>da</strong>de (no sentido mesmo de repetição) do que propriamente o ato.<br />
Sobre a acepção jurídica do termo ativi<strong>da</strong>de, são eluci<strong>da</strong>tivas as idéias<br />
coloca<strong>da</strong>s pela profa. Rachel Sztajn:<br />
(...) A ativi<strong>da</strong>de é vista como série de atos dirigidos para uma mesma<br />
finali<strong>da</strong>de, que mantêm vínculo entre si. Falta ao Direito, instituto,<br />
além do contrato, em que a patrimoniali<strong>da</strong>de seja ínsita. E como se<br />
estu<strong>da</strong> o fenômeno econômico, é preciso envere<strong>da</strong>r por matéria<br />
contratual. Faz-se isso com mercados, quando se toma o conjunto de<br />
negócios realizados, contratos, define-se o escopo e a tutela que será<br />
outorga<strong>da</strong> a ca<strong>da</strong> tipo e, a partir <strong>da</strong>í, trata-se <strong>da</strong> disciplina <strong>da</strong>s<br />
relações individuais. A disciplina <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de depende de entendê-la,<br />
recepcioná-la, como “fattispecie”, como suporte fático indicativo do<br />
objeto e <strong>da</strong> vontade do exercente. Normas disciplinadoras de<br />
77 SZTAJN, Rachel. Teoria Jurídica <strong>da</strong> Empresa: Ativi<strong>da</strong>de Empresária e Mercados. São Paulo:<br />
Atlas. 2004. p. 129.
51<br />
ativi<strong>da</strong>des têm como pressuposto sua relevância. Os conceitos de<br />
<strong>empresa</strong> e de ativi<strong>da</strong>de econômica são, por vezes, encarados como<br />
sinônimos (...) (SZTAJN: 2004. p. 92).<br />
Novamente, retornamos às idéias trabalha<strong>da</strong>s no início desse item – o<br />
raciocínio funcionalizado aplicado à <strong>empresa</strong>. Assim, parte-se <strong>da</strong> contraposição<br />
de um conceito geral abstrato, formado para fins de subsunção (...) a um<br />
conceito determinado pela função que incorpora no seu conteúdo o princípio<br />
jurídico subjacente e que (...) tanto o princípio como o conceito determinado<br />
pela função remetem para algo que está para além deles: o princípio para as<br />
concretizações em que o seu sentido se desenvolve; o conceito determinado<br />
pela função remete de novo para o princípio (LARENZ: 1997, p. 692).<br />
Assim, repetimos o questionamento inicial: qual o sentido de uma<br />
regulamentação Qual o sentido, hoje, do direito <strong>empresa</strong>rial Assumindo-se a<br />
<strong>empresa</strong> enquanto organismo jurídico que centraliza o sistema produtivo,<br />
reconhecendo-se valores a ela inerentes, inclusive, efeitos que extrapolam<br />
mesmo a esfera de interesses de quem a explora. Parece que a conclusão é a<br />
de que o seu sentido vai além <strong>da</strong> tutela direta e exclusiva <strong>da</strong>s pessoas<br />
diretamente relaciona<strong>da</strong>s à ativi<strong>da</strong>de, mas, entende-se que a regulamentação<br />
visa e possui seu sentido no próprio funcionamento do sistema.<br />
Nessa orientação, se à exploração <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de <strong>empresa</strong>rial é coloca<strong>da</strong><br />
to<strong>da</strong> uma gama de instrumentos: os tipos societários, os consórcios, o<br />
estabelecimento, contratos, v. g., de outro lado, também se encarrega a<br />
dogmática de prever mecanismos em casos de falhas – aí surgem os<br />
mecanismos recuperatórios, nos quais se incluem a falência e a recuperação –<br />
note-se que o sistema deve estar preparado tanto para as falhas individuais,<br />
quanto para <strong>suas</strong> próprias falhas. É aqui que as idéias de falência liqui<strong>da</strong>ção se<br />
contrapõe às idéias de falência recuperação.<br />
A preocupação na construção do direito no que se refere à<br />
funcionalização do instituto <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> e seus reflexos, inclusive, na aplicação<br />
<strong>da</strong>s normas falimentares vem sendo senti<strong>da</strong> na jurisprudência, conforme ilustra
52<br />
o recorte, em recuo abaixo, <strong>da</strong> decisão 78 proferi<strong>da</strong> pelo Superior Tribunal de<br />
Justiça. Interessante observar que essa decisão é precedente à edição <strong>da</strong><br />
recente súmula 361 79 , de 22 de setembro de 2008.<br />
De fato, as formali<strong>da</strong>des para os pedidos de falência exigem uma<br />
interpretação que considere os princípios <strong>da</strong> preservação e <strong>da</strong> função<br />
social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, visando garantir a continui<strong>da</strong>de <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de<br />
<strong>empresa</strong>rial com uma melhor equalização dos interesses de credores<br />
e <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> devedora; evitando, portanto, as conseqüências<br />
deletérias advin<strong>da</strong>s <strong>da</strong> sua extinção, que prejudicam não só a<br />
<strong>empresa</strong>, como também to<strong>da</strong> a coletivi<strong>da</strong>de: trabalhadores,<br />
fornecedores, consumidores e o próprio Estado. Diante disso, as<br />
hipóteses de cabimento de pedidos de falência devem exigir<br />
requisitos mais rígidos, sob pena de se transformarem em meios de<br />
cobrança, ou seja, de satisfação apenas dos interesses do credor, em<br />
prejuízo do interesse coletivo.<br />
78 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 248.143. Relatora: Ministra Nancy<br />
Andrighi. 23 out 2007. Disponível em: https:<br />
Acesso em: 24 outubro 2008.<br />
79 “A notificação do protesto, para requerimento de falência <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> devedora, exige<br />
a identificação <strong>da</strong> pessoa que a recebeu.”<br />
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 361. Segun<strong>da</strong> Seção. 22 de setembro<br />
2008. Disponível em:<br />
Acesso em: 27 outubro 2008.
53<br />
3 A EMPRESA VIÁVEL: A INFLUÊNCIA DO RACIOCÍNIO TIPOLÓGICO DE<br />
EMPRESA NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA:<br />
O raciocínio tipológico de Karl Larenz é a teoria que fun<strong>da</strong>menta e que,<br />
pode bem se dizer, serve de controle metodológico que controla a<br />
argumentação desenvolvi<strong>da</strong> em to<strong>da</strong> a extensão do trabalho – como já dito em<br />
espaço anterior, é a linha de argumentação que confere coerência e<br />
integri<strong>da</strong>de ao texto.<br />
No capítulo anterior, mais apropriado a uma teoria geral do direito<br />
<strong>empresa</strong>rial, o que se procurou foi delimitar o objeto de estudo do direito<br />
<strong>empresa</strong>rial, a <strong>empresa</strong>, sendo esta compreendi<strong>da</strong> como um tipo, aberto a<br />
variações axiológicas, que empresta sentido hermenêutico à disciplina. A<br />
intenção, então, foi contrastar este entendimento com uma teoria geral do<br />
direito <strong>empresa</strong>rial, recorrente em certa medi<strong>da</strong>, na literatura atual, que mitiga a<br />
importância <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, ao entendê-la como um dos institutos estu<strong>da</strong>dos pelo<br />
direito <strong>empresa</strong>rial, ain<strong>da</strong> focado no empresário, exalando forte influência <strong>da</strong><br />
teoria dos atos de comércio.<br />
Agora, se propõe a verificar o tratamento <strong>da</strong> jurisprudência <strong>da</strong>do à<br />
<strong>empresa</strong> para, numa justa medi<strong>da</strong>, identificar a carga valorativa a ela conferi<strong>da</strong><br />
pelo direito, este entendido como sendo construído a partir de sua aplicação,<br />
constatando, inclusive, a relevância <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> para o direito brasileiro, antes<br />
mesmo <strong>da</strong> positivação <strong>da</strong> teoria <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Ou de outra forma, sob quais<br />
aspectos a <strong>empresa</strong> já influenciava a jurisprudência em atenção à sua função<br />
econômica e social, sinalizando, em conseqüência, um raciocínio<br />
funcionalizado a partir do conteúdo <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> no direito <strong>empresa</strong>rial.<br />
É importante, ain<strong>da</strong>, dizer que os casos a serem trabalhados aqui se<br />
referem ao que se convenciona, nesse espaço, como <strong>empresa</strong> viável – aquela<br />
que não apresenta um estado de crise 80 .<br />
80 No direito brasileiro, o conceito de crise não foi positivado – não há aqui uma crítica – como o<br />
fez, por exemplo, o art. 81, do Tratado <strong>da</strong> Comuni<strong>da</strong>de Econômica Européia, que entende a<br />
situação de crise como a que over a prolonged period of time all the undertakings concerned<br />
have been experiencing a significant reduction in their rates of capacity utilization, a drop in<br />
output accompanied by substantial operating losses and where the information available does
54<br />
3.1 O Comportamento <strong>da</strong> Jurisprudência Civil frente à Empresa Viável<br />
3.1.1 A decisão sobre a alienação <strong>da</strong>s quotas sociais<br />
01/02/2005:<br />
Ilustrativamente, o STJ proferiu a seguinte decisão 81 - REsp 510387, de<br />
Justamente em homenagem a existência de uma relação que<br />
ultrapassa o fim <strong>empresa</strong>rial, a re<strong>da</strong>ção do artigo 334 do C.Comercial<br />
condicionou a alienação de quotas a terceiros, à anuência prévia dos<br />
demais quotistas. Tal imposição, porém, não importa na necessária<br />
prolongação de uma relação societária em detrimento <strong>da</strong> vontade<br />
antecipa<strong>da</strong>mente manifesta<strong>da</strong> de um dos sócios no sentido de alienar<br />
<strong>suas</strong> quotas. De há muito se cristalizou, em interpretação integrativa<br />
<strong>da</strong>s disposições relativas à dissolução <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des <strong>empresa</strong>riais<br />
por quotas de responsabili<strong>da</strong>de limita<strong>da</strong>, que uma tentativa de<br />
alienação de quotas aborta<strong>da</strong> pela falta de anuência dos demais<br />
sócios faculta, ao sócio alienante, a via <strong>da</strong> dissolução parcial <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de. Respal<strong>da</strong> a tese, a crescente relevância que se dá ao<br />
princípio <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> (...)<br />
Nessa decisão foi discuti<strong>da</strong> a regra prevista, então, no Código<br />
Comercial, em seu art. 334, que declara, expressamente, que a alienação de<br />
quotas a terceiros, em socie<strong>da</strong>de por quotas de responsabili<strong>da</strong>de limita<strong>da</strong>,<br />
somente ocorrerá com a anuência dos demais sócios. Na oportuni<strong>da</strong>de, o<br />
Tribunal reconheceu a razão <strong>da</strong> regra impeditiva <strong>da</strong> alienação <strong>da</strong>s quotas<br />
sociais, no caso de uma socie<strong>da</strong>de de pessoas. Ao sócio descontente, então,<br />
restaria o pedido de dissolução total <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de. No entanto, o Tribunal<br />
optou por temperar essa regra, autorizando a saí<strong>da</strong> do sócio, por meio de um<br />
juízo de valor atribuído ao chamado princípio <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. A<br />
not indicate that any last improvement can be expect in this situation in the medium term<br />
(SALOMAO FILHO: 2002, p. 193).<br />
81 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 510387. Relatora: Ministra Nancy<br />
Andrighi. 1 fev 2005. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp> Acesso<br />
em: 24 outubro 2008.
55<br />
regra do caso então, pode ser entendi<strong>da</strong> como: em socie<strong>da</strong>des de pessoas, a<br />
alienação <strong>da</strong>s quotas fica condiciona<strong>da</strong> a autorização dos demais sócios, no<br />
entanto, o sócio retirante que não conseguir tal autorização, estará legitimado a<br />
pedir a dissolução parcial <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de.<br />
Como se pode observar pelo caso relatado, o princípio preservação <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> estabeleceu um estado de coisas, um comando a ser promovido sem<br />
descrever diretamente qual o comportamento devido 82 . A partir disso, a regra<br />
foi interpreta<strong>da</strong> e construí<strong>da</strong> a partir de um dispositivo inicial para determinar o<br />
comportamento pretendido: a dissolução parcial e a continui<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>.<br />
Como se observa, a decisão ponderou entre as razões que justificam a<br />
obediência incondicional à regra (aquela prevista no art. 334, do C.<br />
Comercial 83 ), como razões liga<strong>da</strong>s à segurança jurídica e á previsibili<strong>da</strong>de do<br />
Direito, e as razões que justificam seu abandono em favor <strong>da</strong> investigação dos<br />
fun<strong>da</strong>mentos mais ou menos distantes (a preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>) (ÁVILA:<br />
2003, p. 48).<br />
3.1.2 A decisão sobre o direito de exclusão do sócio<br />
Em outra oportuni<strong>da</strong>de, o STJ entendeu que a preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong><br />
fun<strong>da</strong>menta a possibili<strong>da</strong>de de exclusão do sócio majoritário pela minoria do<br />
capital social 84 .<br />
82 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: <strong>da</strong> definição à aplicação dos princípios. Ed. 2. São<br />
Paulo: Malheiros. 2003. p. 40.<br />
83<br />
BRASIL: Lei n. 556, de 25 de junho de 1850. Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM556.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.<br />
84 A decisão foi assim fun<strong>da</strong>menta<strong>da</strong>: (...) Com efeito, o entendimento de que a maioria do<br />
capital social pode, em situações excepcionais, excluir um sócio desajustado dos demais,<br />
repousa muito mais, senão totalmente, no princípio <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, reclamado<br />
pelo interesse coletivo, na medi<strong>da</strong> que em sua continui<strong>da</strong>de importa na geração de empregos,<br />
no pagamento de impostos, na promoção do desenvolvimento <strong>da</strong>s comuni<strong>da</strong>des, em que se<br />
integra, e em outros benefícios gerados. Neste contexto, e na linha <strong>da</strong> doutrina e <strong>da</strong><br />
jurisprudência mais modernas, deve-se ter como regra que, para se ter pela preservação <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>, é bastante que um dos seus sócios queira <strong>da</strong>r-lhe continui<strong>da</strong>de, evidentemente que<br />
garanti<strong>da</strong> ao sócio retirante a percepção de seus haveres, na forma pactua<strong>da</strong> no contrato<br />
social, e, no caso, tal como fixado na sentença, sobretudo quando se verifica, como nos autos,<br />
a existência de cláusula contratual no sentido de que, em caso de falecimento de um sócio, a<br />
socie<strong>da</strong>de continuará normalmente com seus herdeiros.
56<br />
(...) se um dos sócios de uma socie<strong>da</strong>de por quotas de<br />
responsabili<strong>da</strong>de limita<strong>da</strong> pretende <strong>da</strong>r-lhe continui<strong>da</strong>de, como na<br />
hipótese, mesmo contra a vontade <strong>da</strong> maioria, que busca a sua<br />
dissolução total, deve-se prestigiar o principio <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>, acolhendo-se o pedido de sua desconstituição apenas<br />
parcial, formulado por aquele, pois a sua continui<strong>da</strong>de ajusta-se ao<br />
interesse coletivo, por importar em geração de empregos, em<br />
pagamento de impostos, em promoção do desenvolvimento <strong>da</strong>s<br />
comuni<strong>da</strong>des em que se integra, e em outros benefícios gerais. 85<br />
O caso colocado é interessante porque destaca os seguintes pontos:<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
(v)<br />
não foi aplicado ao caso concreto a “regra” <strong>da</strong> maioria prevista,<br />
então, no artigo 331 86 , do Código Comercial que ve<strong>da</strong>va à maioria<br />
apenas entrar em operações estranhas ao contrato social, sem o<br />
consentimento unânime dos sócios; 87<br />
Isso significa que a aplicação do direito revelou que o direito<br />
subjetivo <strong>da</strong> maioria, havido como absoluto, foi superado por um<br />
juízo de valor reconhecido à <strong>empresa</strong> - raciocínio tipológico <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>;<br />
pelas razões do acórdão, fica expresso o reconhecimento de um<br />
valor social à <strong>empresa</strong>, não sendo seu conteúdo, no entanto,<br />
precisado;<br />
a regra <strong>da</strong> maioria foi compreendi<strong>da</strong> como princípio, pelas próprias<br />
bases <strong>da</strong> argumentação;<br />
a norma do caso não foi propriamente fruto <strong>da</strong> colisão entre os<br />
princípios - <strong>da</strong>s decisões majoritárias e <strong>da</strong> proteção às minorias, mas<br />
<strong>da</strong> colisão entre aquele princípio e o princípio <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>;<br />
85 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 61278. Relatora: Ministra Laurita<br />
Vaz. 4 dez 2006. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp> Acesso em:<br />
24 outubro 2008.<br />
86<br />
BRASIL: Lei n. 556, de 25 de junho de 1850. Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM556.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.<br />
87 BULGARELLI, Waldirio. Socie<strong>da</strong>des Comerciais. Ed. 10. São Paulo: Atlas. 2001. p.154.
57<br />
(vi)<br />
a <strong>empresa</strong>, compreendi<strong>da</strong> como tipo, funcionalizou a interpretação<br />
sistemática, que teve na finali<strong>da</strong>de do sistema sua razão (teleologia<br />
<strong>da</strong> interpretação);<br />
Apenas esclarecendo, o dispositivo previsto no art. 331, do C.<br />
Comercial 88 foi utilizado na decisão do caso como princípio, lembrando que,<br />
segundo Humberto Ávila: (...) Enfim, o qualificativo de princípio ou de regra<br />
depende o uso argumentativo, e não <strong>da</strong> estrutura hipotética (ÁVILA: 2003. p.<br />
34).<br />
3.1.3 A decisão sobre a unipessoali<strong>da</strong>de eventual em direito societário<br />
O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraodinário n. 104.596-5,<br />
publicado no Diário <strong>da</strong> Justiça em 21 de junho de 1985, analisando um pedido<br />
de dissolução parcial de uma socie<strong>da</strong>de por quotas de responsabili<strong>da</strong>de,<br />
constituí<strong>da</strong> por apenas dois sócios, deferiu a dissolução, com a retira<strong>da</strong> de um<br />
dos sócios. A decisão, dessa forma, acabou por autorizar a unipessoali<strong>da</strong>de <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de, ain<strong>da</strong> que durante um período de tempo. A fun<strong>da</strong>mentação <strong>da</strong><br />
decisão é transcrita em recuo:<br />
(...) A moderna doutrina e a jurisprudência mais atualiza<strong>da</strong> leva,<br />
sobretudo á preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, que é de interesse não só <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de, e dos sócios, mais de muitas outras pessoas para os<br />
quais gera empregos e negócios. Assegura-se, assim, ao sócio<br />
remanescente recompor a socie<strong>da</strong>de com a admissão de outro – em<br />
fazer prosseguir a <strong>empresa</strong> – ain<strong>da</strong> que com firma individual,<br />
assegurando o recebimento cabal, pelo retirante, dos haveres que<br />
lhes são devidos. (...)<br />
88<br />
BRASIL: Lei n. 556, de 25 de junho de 1850. Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM556.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.
58<br />
Na decisão fica, também, o significado <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> em aberto, sendo<br />
colocado que à <strong>empresa</strong> são implicados interesses que extrapolam os<br />
<strong>da</strong>queles que direta (a socie<strong>da</strong>de) ou indiretamente (os sócios) a exploram.<br />
A construção realiza<strong>da</strong> repete, aqui, um comportamento que é recorrente na<br />
jurisprudência: atribui uma função à <strong>empresa</strong> – no sentido de servir como razão<br />
finalística – e, ao mesmo tempo, a qualifica com o adjetivo social – no sentido<br />
de se referir a interesses <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de, ilustrativamente, referi<strong>da</strong> pelas<br />
expressões muitas outras pessoas.<br />
Novamente, a jurisprudência empresta conteúdo axiológico ao termo<br />
<strong>empresa</strong> – evidenciado na argumentação pela referência às expressões é de<br />
interesse, significando aquilo que é bom para alguém. Portanto, assim como<br />
nas outras oportuni<strong>da</strong>des, a jurisprudência vem confirmando a compreensão<br />
tipológica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> e, também, a atribuição a ela de uma certa função<br />
social. O termo “certa” é empregado porque, ao que se apresenta, a<br />
jurisprudência não se deteve ao exame do conteúdo dessa função social. A<br />
repercussão desse tratamento dispensado a <strong>empresa</strong> e do significado a ela<br />
atribuído diante do caso concreto (variação segundo o espaço social) implicou<br />
na não aplicação <strong>da</strong> regra prevista no inciso I, d, do art. 206, <strong>da</strong> lei n.°<br />
6.404/76 89 , que determina a dissolução <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des em caso de<br />
unipessoali<strong>da</strong>de. 90<br />
Ora, poder-se-ia entender de outra forma: uma vez configura<strong>da</strong> a<br />
hipótese de incidência <strong>da</strong> norma (a unipessoali<strong>da</strong>de), deveria ser aplica<strong>da</strong> a<br />
sua conseqüência jurídica (a dissolução). Entretanto, ao que se percebe, a<br />
regra que impõe a dissolução foi afasta<strong>da</strong>, em razão do caráter finalístico <strong>da</strong><br />
preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, que passa a ser reconheci<strong>da</strong> como norma<br />
principiológica. A regra prevista no art. 206, I, d, não foi questiona<strong>da</strong> em seu<br />
plano de vali<strong>da</strong>de – se está fora ou dentro do direito.<br />
Outro ponto a ser destacado na decisão é a referência á preservação <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> utiliza<strong>da</strong> como norma, lembrando-se que a decisão foi proferi<strong>da</strong> em<br />
89 BRASIL: Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em:<br />
Acesso em: 25 outubro 2008.<br />
90 Atualmente, a questão está regulamenta<strong>da</strong> no art. 1.033, IV, do C. Civil: Dissolve-se a<br />
socie<strong>da</strong>de quando ocorrer ( ...) a falta de plurali<strong>da</strong>de de sócios, não reconstituí<strong>da</strong> no prazo de<br />
cento e oitenta dias;
59<br />
1985 e a positivação de tal princípio somente ocorreu em 2005 91 , com a lei n.<br />
11.101/05. Era o caso de norma sem dispositivo legal.<br />
3.1.4 O direito de exclusão do sócio e a justa causa<br />
Em outro caso, agora analisando o direito de exclusão do sócio de<br />
socie<strong>da</strong>de por quotas de responsabili<strong>da</strong>de limita<strong>da</strong>, por justa causa, o Supremo<br />
Tribunal Federal decidiu <strong>da</strong> seguinte forma:<br />
(...) por outro lado, não padece dúvi<strong>da</strong> de que é possível a exclusão<br />
de sócio independentemente de cláusula contratual, por deliberação<br />
majoritária dos quotistas, desde que haja justa causa para o ato. É de<br />
se ponderar, no entanto, que a exclusão, como medi<strong>da</strong> grave,<br />
fun<strong>da</strong><strong>da</strong> em justa causa, pode ficar sujeita ao controle jurisdicional em<br />
termos de valoração jurídica, resguar<strong>da</strong>ndo-se, inclusive o direito de<br />
defesa do excluído. 92<br />
A esse argumento, soma-se outro: (...) independente de previsão<br />
contratual ou decisão judicial, deliberar a exclusão de sócio que, agitando a<br />
desavença (...) perturba a vi<strong>da</strong> de <strong>empresa</strong>, impedindo-a de atingir seu fim<br />
social. 93<br />
Inicialmente, cumpre destacar que o termo valoração colocado no fun<strong>da</strong>mento<br />
<strong>da</strong> primeira transcrição é referente à valoração do comportamento tipificado<br />
91 BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a<br />
falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.<br />
92 Fragmentos extraídos <strong>da</strong> decisão proferi<strong>da</strong> pelo STF in RTJ – 128/902, cita<strong>da</strong> no Resp.<br />
50.543/SP (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 50543. Relator: Ministro<br />
Nilson Naves. 16 set 1996. Disponível em: <<br />
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jspprocesso=50543&&b=ACOR&p=true&t=&l=1<br />
0&i=2> Acesso em: 24 outubro 2008.)<br />
93 Trecho citado no RE n. 115.222-2 do STF.( BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso<br />
Extraordinário n. 115222-2. Relator: Ministro Djaci Falcão. 13 dez 1988. Disponível em: <<br />
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp> Acesso em: 27 outubro<br />
2008.)
60<br />
como justa causa para a exclusão do sócio e não <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> propriamente. O<br />
juízo de valor atribuído à <strong>empresa</strong> é indicado na segun<strong>da</strong> transcrição, quando<br />
foi contrastado o direito do sócio de permanecer na socie<strong>da</strong>de com o direito <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de, representa<strong>da</strong> pelos majoritários de excluí-lo.<br />
A decisão interessa, principalmente, porque, na época em que proferi<strong>da</strong><br />
ain<strong>da</strong> não havia no tecido normativo norma que expressamente autorizasse a<br />
despedi<strong>da</strong> do sócio nessas condições. A doutrina procurava amparo, então, em<br />
algumas teorias – Teoria do poder corporativo; Teoria <strong>da</strong> disciplina taxativa<br />
legal; Teoria contratualista.<br />
Entretanto, apesar <strong>da</strong>s discussões teóricas trava<strong>da</strong>s, como noticia a<br />
doutrina, a decisão revela a compreensão do instituto <strong>da</strong> exclusão, como<br />
defende a doutrina de Avelãs Nunes 94 , no direito português, pela manifestação<br />
de um dos princípios fun<strong>da</strong>mentais do moderno direito comercial: a proteção <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>, a garantia <strong>da</strong> sua continui<strong>da</strong>de, a defesa dela contra tudo o que<br />
possa destruir o seu valor de organização. Na medi<strong>da</strong> em que o autor, citando<br />
MOSSA, conclui que a facul<strong>da</strong>de de exclusão de sócios representa uma<br />
superação <strong>da</strong> idéia de inspiração romanística, liga<strong>da</strong> a uma concepção<br />
personalista <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des, que considerava a saí<strong>da</strong> do sócio incompatível<br />
com sobrevivência <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de. Prossegue o autor enfatizando o direito de<br />
exclusão do sócio compreendido através <strong>da</strong> consideração <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> como<br />
centro de produção econômica cuja continui<strong>da</strong>de importa proteger, no interesse<br />
<strong>da</strong> economia geral e no interesse do restante dos sócios.<br />
Se a doutrina cita<strong>da</strong> deixa transparecer o conteúdo <strong>da</strong> função social <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>, como sendo econômica e no interesse <strong>da</strong> econômica em geral o que<br />
o leva a uma idéia de utili<strong>da</strong>de, a decisão cita<strong>da</strong> não permite qualquer inflexão<br />
sobre o seu conteúdo proposta para a função <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, utilizado por ela<br />
como conteúdo axiológico na construção <strong>da</strong> norma do caso: autorizativa <strong>da</strong><br />
exclusão do sócio perturbador.<br />
Em to<strong>da</strong>s as discussões analisa<strong>da</strong>s até o momento, a jurisprudência<br />
utiliza <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> para orientar a ponderação dos interesses individuais dos<br />
sócios e interesses meta-individuais, às vezes relacionados a empregados, ao<br />
94 NUNES, Avelãs. O direito de exclusão de sócios nas socie<strong>da</strong>de comerciais. São Paulo:<br />
Cultural Paulista. 2001. p .45-47.
61<br />
Estado arreca<strong>da</strong>dor, à economia em geral, a terceiros que não a socie<strong>da</strong>de em<br />
si considera<strong>da</strong> ou a seus sócios.<br />
Como se percebe, a jurisprudência não se ateve a uma opção teórica<br />
sobre o conteúdo <strong>da</strong> função social – o que não causa surpresa, as discussões<br />
teóricas parecem estar mais reserva<strong>da</strong>s ao interesse <strong>da</strong> doutrina. Entretanto,<br />
em todos os casos examinados a função social é compreendi<strong>da</strong> e aplica<strong>da</strong> em<br />
sua acepção mais técnica: a garantia <strong>da</strong> funcionali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> organização e sua<br />
a<strong>da</strong>ptação a outras circunstâncias é algo diferente <strong>da</strong> questão sobre a proteção<br />
do indivíduo no contexto de uma organização que, em si, funciona:<br />
relembrando, o raciocínio jurídico funcional pensa a partir <strong>da</strong> função do<br />
sistema, o raciocínio jurídico material a partir <strong>da</strong> proteção a comportamentos<br />
individuais (FASTRICH: 2001).<br />
É nesse sentido que, por certas vezes, a função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> pode<br />
ser aproxima<strong>da</strong> do interesse público, levando a algumas falhas de<br />
compreensão naqueles que a entendem, ou a temem por outro lado, como um<br />
conceito de socialização <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, o que não é o caso.<br />
O comportamento <strong>da</strong> jurisprudência trabalhista frente à <strong>empresa</strong> viável<br />
O Tribunal Superior do Trabalho, em decisão 95 que reconheceu a<br />
responsabili<strong>da</strong>de subsidiária de socie<strong>da</strong>de tomadora de serviços, a expressão<br />
<strong>empresa</strong> é associa<strong>da</strong> a uma idéia de risco <strong>empresa</strong>rial e a função social <strong>da</strong><br />
proprie<strong>da</strong>de, nos seguintes termos.<br />
(...) em primeiro lugar, ressalte-se a importância e os efeitos <strong>da</strong> noção<br />
de risco <strong>empresa</strong>rial no Direito do Trabalho e o caráter objetivo <strong>da</strong><br />
noção de risco, típico do ordenamento jurídico laboral, em<br />
contraponto a seu caráter meramente subjetivo preponderante no<br />
Direito Comum, que vem sendo, inclusive, mitigado pela novel<br />
legislação cível, como se depreende, v. g., <strong>da</strong> leitura do parágrafo<br />
95 TST. AIRR - 8581/2002-016-09-00 (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de<br />
Instrumento em Recurso de Revista 8581/2002-016-09-00. Relator: Ministro Mauricio Godinho<br />
Delgado. 10 out 2008. Disponível em: < http://www.tst.gov.br/> Acesso em: 27 outubro 2008.)
62<br />
único do art. 927 do CC. Em segundo lugar, houve a assimilação<br />
justrabalhista do conceito de abuso de direito, hoje incorporado por<br />
inúmeros preceitos do Direito Civil, Direito Econômico, Direito<br />
Processual e até mesmo Direito Constitucional, exegese do art. 8º <strong>da</strong><br />
CLT. Em terceiro lugar, é de se notar as repercussões do critério de<br />
hierarquia normativa imperante no universo do Direito, em especial no<br />
Direito do Trabalho. A não-responsabilização, em situações de<br />
empreita<strong>da</strong>, ficaria adstrita, portanto, àquelas situações já<br />
especifica<strong>da</strong>s acima, que estão fora do roteiro econômico do mercado<br />
<strong>empresa</strong>rial, o qual se baseia, indelevelmente, levando-se em conta o<br />
exercício <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de e sua indispensável função social, como<br />
preconiza o art. 5º, XXIII, <strong>da</strong> CF.<br />
A decisão permite extrair algumas considerações sobre o<br />
comportamento <strong>da</strong> jurisprudência trabalhista no que se refere a compreensão<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, dos valores à ela associados e <strong>da</strong> forma como é utiliza<strong>da</strong> como<br />
fun<strong>da</strong>mento na argumentação trabalhista.<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
a <strong>empresa</strong> é revela<strong>da</strong> na decisão através <strong>da</strong>s idéias de risco<br />
<strong>empresa</strong>rial; e de roteiro econômico do mercado <strong>empresa</strong>rial;<br />
a seguir, há uma clara intenção de funcionalizar a <strong>empresa</strong>, por meio<br />
de sua correlação à função social <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de;<br />
Essa correlação é construí<strong>da</strong>, como se percebe, em relação aos<br />
bens de produção, deixando transparecer uma aproximação do<br />
significado <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> com o do estabelecimento <strong>empresa</strong>rial (jogo<br />
de linguagem);<br />
A idéia de risco <strong>empresa</strong>rial associa<strong>da</strong> a outros conceitos como o de<br />
responsabili<strong>da</strong>de objetiva e de abuso do direito deixa a entender que<br />
a <strong>empresa</strong> é valora<strong>da</strong> como uma estrutura que atende a fins<br />
egoísticos de quem a explora. Por conta disso, num juízo de<br />
ponderação, o princípio <strong>da</strong> proteção ao trabalhador tem peso maior<br />
do que a preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, nesse espaço, associa<strong>da</strong> ao<br />
empresário.
63<br />
Em outra decisão 96 , proferi<strong>da</strong>, também, pelo Superior Tribunal do<br />
Trabalho, analisando o direito de resilição do contrato de trabalho firmado com<br />
portadores de necessi<strong>da</strong>des especiais, em que pese não haver expressa<br />
referência à <strong>empresa</strong>, algumas construções são interessantes.<br />
Por outro lado, o direito potestativo do empregador de denúncia vazia<br />
do contrato de trabalho não é absoluto, sendo certo que, enquanto<br />
garantia fun<strong>da</strong>mental de caráter eminentemente institucional, sua<br />
própria existência depende <strong>da</strong> conformação que lhe é atribuí<strong>da</strong> pela<br />
legislação infraconstitucional no momento em que delimita seu<br />
escopo, limites e alcance, delineando, dessa forma, seu próprio<br />
conteúdo. Mostra-se legítima, pois, sob a ótica <strong>da</strong> hermenêutica dos<br />
direitos fun<strong>da</strong>mentais, a fixação de limites ao seu exercício<br />
destinados a realizar o princípio <strong>da</strong> função social <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de,<br />
princípio insculpido no art. 170, III, <strong>da</strong> Lei Maior. É o que ocorre tanto<br />
com a norma inscrita no caput do art. 93 <strong>da</strong> Lei 8.213/91 quanto com<br />
aquela entalha<strong>da</strong> no respectivo § 1º, ambas impondo restrições ao<br />
exercício <strong>da</strong> dispensa imotiva<strong>da</strong> pelo empregador, preservando, no<br />
entanto, o seu núcleo essencial, uma vez que de modo algum se<br />
pode afirmar que o empregador é despido, por tais preceitos, <strong>da</strong><br />
facul<strong>da</strong>de de unilateralmente resilir o contrato de trabalho, ante o<br />
condicionamento do seu exercício à satisfação de requisitos legais<br />
concretizadores de comandos constitucionais. Dessarte, pari passu<br />
com a criação de reserva de mercado para trabalhadores portadores<br />
de deficiência ou beneficiários reabilitados <strong>da</strong> Previdência Social,<br />
entendeu por bem, o legislador, em também restringir a subjetivi<strong>da</strong>de<br />
inerente ao livre exercício do direito potestativo do empregador de<br />
resilir unilateralmente o contrato de trabalho (...)<br />
(i) o exercício do direito potestativo do empregador é explicado pela teoria<br />
institucional, sendo, depois, associado á função social <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de<br />
econômica;<br />
(ii) ao contrário <strong>da</strong> decisão anterior, nessa a função é contextualiza<strong>da</strong> na idéia<br />
de mercado; de proprie<strong>da</strong>de dinâmica; o que, de certa forma, revela uma<br />
compreensão <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> mais próxima de uma ativi<strong>da</strong>de econômica (variação<br />
de significados);<br />
(iii) a referência à teoria <strong>da</strong> instituição revela uma preocupação com a proteção<br />
<strong>da</strong>s instituições, se distanciando dos valores <strong>da</strong> teoria liberal. A garantia<br />
96 Recurso de Revista n. 14/2005-025-04-40. DJU 10/10/08. (BRASIL. Tribunal Superior do<br />
Trabalho. Recurso de Revista 14/2005-025-04-40. Relatora: Ministra Rosa Maria Weber<br />
Candiota <strong>da</strong> Rosa. 10 out 2008. Disponível em: < http://www.tst.gov.br/> Acesso em: 27<br />
outubro 2008.)
64<br />
institucional, porém, é maior ou menor nas Constituições de ca<strong>da</strong> país<br />
consoante o valor atribuído ou concedido pelo Estado a uma determina<strong>da</strong><br />
instituição, podendo assim variar no tempo o grau, a extensão e a profundi<strong>da</strong>de<br />
<strong>da</strong> segurança proporciona<strong>da</strong> (BONAVIDES: 2005, p. 541);<br />
(iv) o valor <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> parece está referido, inclusive, ao interesse do direito<br />
trabalhista – a realização <strong>da</strong> função social.<br />
Na decisão proferi<strong>da</strong> no Recurso de Revista n. RR - 1741/2003-028-01-<br />
00 97 , de 10 de outubro de 2008, o Tribunal Superior faz associação direta entre<br />
os termos <strong>empresa</strong> e função social. A suma do acórdão segue, em recuo,<br />
abaixo:<br />
A relação entre <strong>empresa</strong> patrocinadora e instituição fecha<strong>da</strong> de<br />
previdência complementar não está alheia à função social <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>. Hipótese em que a soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong>de se atrela à própria causa<br />
de pedir, consistente no descumprimento, pela patrocinadora, do<br />
regulamento do Plano de Benefícios.<br />
A decisão foi proferi<strong>da</strong> em ação ajuiza<strong>da</strong> contra a PETROBRAS e a<br />
PETROS, tendo como pedido a complementação de aposentadoria relaciona<strong>da</strong><br />
à parcela que foi denomina<strong>da</strong> Participação nos Lucros/2003, cuja natureza<br />
salarial foi declara<strong>da</strong> pelo Tribunal Regional recorrido. Essa a base fática <strong>da</strong><br />
decisão, em que foi realiza<strong>da</strong> a argumentação transcrita.<br />
Neste caso, o termo <strong>empresa</strong> ganha significado referente ao sujeito que<br />
explora a ativi<strong>da</strong>de – no caso uma socie<strong>da</strong>de. Ao que parece, a função social,<br />
liga<strong>da</strong> ao significado de <strong>empresa</strong> extraído do contexto, remete não<br />
propriamente á idéia de funcionalização <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, mas a uma outra idéia: a<br />
de que àquele que empreende – o empresário – caberiam certas funções, que<br />
deveriam ser exerci<strong>da</strong>s ao lado do negócio social.<br />
97 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista 1741/2003-028-01-00. Relatora:<br />
Ministra Maria de Assis Calsing. 10 out 2008. Disponível em: < http://www.tst.gov.br/> Acesso<br />
em: 27 outubro 2008.
65<br />
A questão acaba sendo coloca<strong>da</strong> numa perspectiva individualista, do<br />
empresário, e não em direção à <strong>empresa</strong>, enquanto núcleo produtivo inserido<br />
num contexto de mercado, de capitalismo leve e fluido, como colocado no<br />
capítulo anterior.<br />
Em outro julgado – Recurso de Revista n. 721076, de 10 de outubro de<br />
2008 98 – o TST examina a função social, agora, textualmente associa<strong>da</strong> à<br />
socie<strong>da</strong>de, como se percebe do texto a seguir transcrito:<br />
A questão <strong>da</strong> personali<strong>da</strong>de jurídica não é tão intocável como na<br />
doutrina tradicional, que se preocupa com o aspecto jurídico-formal. A<br />
ficção é concedi<strong>da</strong> pelo Estado para que socie<strong>da</strong>de cumpra <strong>suas</strong><br />
finali<strong>da</strong>des, nota<strong>da</strong>mente a função social (parágrafo único do art. 116<br />
<strong>da</strong> Lei 6.404/66).<br />
Nesse caso, permanece o foco: o empresário. Entretanto, não é utilizado<br />
o termo <strong>empresa</strong>; ao empresário é que é associa<strong>da</strong> a idéia de função social. A<br />
função social, nesse contexto, vem associa<strong>da</strong> à desconsideração <strong>da</strong><br />
personali<strong>da</strong>de jurídica, podendo-se inferir que, segundo o entendimento <strong>da</strong><br />
decisão, a função social estaria associa<strong>da</strong> ao abuso do direito.<br />
Esse entendimento é de interesse porque remete ao início <strong>da</strong> construção<br />
<strong>da</strong> teoria <strong>da</strong> função social <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de, associa<strong>da</strong>, na época, à idéia de<br />
abuso de direito subjetivo. Nesse último caso, em que pese a ausência de<br />
referencia à <strong>empresa</strong>, a decisão, ao contrário <strong>da</strong>s demais, passa a sugerir um<br />
conteúdo <strong>da</strong> função social <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de.<br />
Como pode ser percebido, as decisões foram trabalha<strong>da</strong>s em dois<br />
blocos: o primeiro relacionando decisões em matéria de direito <strong>empresa</strong>rial; e o<br />
segundo em matéria trabalhista. A opção se justifica por possibilitar uma<br />
análise comparativa entre a jurisprudência trabalhista e a comum e, também,<br />
por possibilitar análises globais.<br />
98 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista 721076. Relatora: Ministra Rosa<br />
Maria Weber Candiota Da Rosa. 10 out 2008. Disponível em: < http://www.tst.gov.br/> Acesso<br />
em: 27 outubro 2008.
66<br />
O primeiro <strong>da</strong>do que se extrai desse conteúdo, é a de que a<br />
jurisprudência já reconhecia a <strong>empresa</strong> antes mesmo de sua positivação no<br />
direito brasileiro. O conteúdo de significado atribuído à <strong>empresa</strong> não parece<br />
variar nas decisões proferi<strong>da</strong>s antes <strong>da</strong> vigência do C. Civil de 2002 99 em<br />
relação àquelas proferi<strong>da</strong>s após esse marco legal.<br />
Até porque, o reconhecimento <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> possibilitou a construção de<br />
precedentes que, em função <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> e do valor a ela atribuído,<br />
reconheceram, antes mesmo do direito legislado, a possibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> exclusão<br />
do sócio por justa causa; a preservação <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de unipessoal, por um<br />
período de tempo, no caso <strong>da</strong>s limita<strong>da</strong>s; a possibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> exclusão do sócio<br />
majoritário pelo minoritário; a dissolução parcial nos casos de dissolução total<br />
pedi<strong>da</strong> por um sócio, entre outros casos.<br />
É uma tendência que se apresenta na jurisprudência que evidencia de<br />
certa forma a dificul<strong>da</strong>de do direito legislado reconhecer a <strong>empresa</strong> – essa<br />
dificul<strong>da</strong>de pode ser melhor senti<strong>da</strong> quando analisado o C. Civil brasileiro de<br />
2002 100 que, assume a influencia <strong>da</strong> Teoria <strong>da</strong> Empresa: o centro de interesses<br />
do legislador parece ter girado em torno do empresário. Tanto é assim, que o<br />
texto legal, na parte dedica<strong>da</strong> ao direito de <strong>empresa</strong>, inicia com a definição de<br />
empresário, passando às <strong>suas</strong> obrigações, às socie<strong>da</strong>des, estabelecimento<br />
<strong>empresa</strong>rial, nome <strong>empresa</strong>rial e outros institutos referidos ao empresário. Há<br />
forte influência <strong>da</strong> teoria dos atos de comércio que focava sua atenção no<br />
comerciante.<br />
Talvez, por isso – e não é de se estranhar – a jurisprudência trabalhista,<br />
em contraste com a civil, privilegia o aspecto subjetivo <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, guar<strong>da</strong>ndo<br />
forte influência com a teoria objetiva. A <strong>empresa</strong> é relaciona<strong>da</strong> ao empresário,<br />
à sua esfera de interesses. Talvez, por essa razão, o princípio <strong>da</strong> preservação<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong> não é tão notado na argumentação dessa jurisprudência.<br />
Neste caso, diante do que se evidencia, há níti<strong>da</strong> variação proporcional<br />
<strong>da</strong> carga de significação <strong>da</strong> expressão <strong>empresa</strong> com o conteúdo valorativo à<br />
ela estabelecido: é a idéia <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> atendendo egoisticamente ao<br />
empresário. Nesse contexto, a idéia de funcionalização parece estar sempre<br />
atrela<strong>da</strong> à proprie<strong>da</strong>de estática e, não à <strong>empresa</strong> propriamente, revelando uma<br />
99 BRASIL. Código Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.<br />
100 BRASIL. Código Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
67<br />
construção que ganhou notorie<strong>da</strong>de com os estudos feitos pelo prof. Fábio<br />
Comparato na déca<strong>da</strong> de 1980, do século passado: a função social dos bens<br />
de consumo e a função social dos bens de produção.<br />
Assim, em conclusão parcial do capítulo e procurando justificá-lo dentro<br />
do programa estabelecido nesse trabalho, entende-se que assumindo a<br />
compreensão tipológica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, assume-se, <strong>da</strong> mesma forma, o mister de<br />
se procurar identificar a carga valorativa a ela atribuí<strong>da</strong> pela dogmática jurídica,<br />
procurando estabelecer um significado de razão em sua funcionalização no<br />
sistema jurídico. Isto, porque não há como se trabalhar a idéia de valor, que<br />
pressupõe a aplicação apenas por meio de juízo especulativo, prescindindo de<br />
uma análise do material empírico que, no caso, é realiza<strong>da</strong> por meio <strong>da</strong><br />
verificação <strong>da</strong>s decisões.
68<br />
4 A EMPRESA EM CRISE<br />
Em sua origem, o instituto <strong>da</strong> falência esteve intimamente ligado ao<br />
crédito, mais precisamente à proteção do crédito. Isto, porque o crédito,<br />
enquanto instituição necessária ao desenvolvimento do comércio, é colocado<br />
como marco do desenvolvimento mercantil, ao lado <strong>da</strong> troca e <strong>da</strong> moe<strong>da</strong>. Pelo<br />
que, ante a essa importância, sua proteção passa a ser evidencia<strong>da</strong> pelo<br />
interesse coletivo.<br />
O <strong>da</strong>do histórico relativo à importância do crédito é bem apontado pela<br />
doutrina de Miran<strong>da</strong> Valverde (VALVERDE: 1962. p. 6), segundo o qual:<br />
(...) Aparece – o crédito -, assim, no mundo dos negócios como um<br />
valor por si, facilitando por isso ao seu portador novas operações, a<br />
procura de capitais disponíveis, indispensáveis ao movimento regular<br />
do seu comércio. Mas não dura o crédito indefini<strong>da</strong>mente. Extinguese<br />
no vencimento do prazo, a que está subordinado, pelo pagamento<br />
em dinheiro, ou por qualquer outro meio que, conforme o caso, opere<br />
a extinção <strong>da</strong> obrigação. Não deixa de existir o crédito que não é<br />
liqui<strong>da</strong>do no vencimento. Perde, contudo, o valor de instrumento<br />
capaz de movimentar capitais. Sai do giro mercantil e passa para o<br />
rol <strong>da</strong>quelas obrigações, que particularmente interessam às pessoas<br />
nelas comprometi<strong>da</strong>s.<br />
Pelo que se evidencia o interesse em tutelar o crédito, já que o<br />
inadimplemento provoca uma reação em dois planos: em relação às partes<br />
diretamente envolvi<strong>da</strong>s no negócio; e em relação ao mercado – esta última<br />
reação implica no abalo de crédito e traz, no íntimo, a idéia de que o mercado<br />
precisa de instituições fortes, capazes de <strong>da</strong>r a segurança necessária às<br />
transações (= relações de troca), sob pena de se desestimular as interações<br />
negociais (= a crise <strong>da</strong> desconfiança).<br />
Essa crise que pode ser decorrente de causa individual e pontual relativa<br />
a determinado empresário, ou pode ser conseqüência de algum fenômeno<br />
mais generalizado, pode acabar por levar o empresário à situação de<br />
insolvência econômica. Nesta situação, de insolvência econômica, tensão,
69<br />
normalmente existente entre os interesses do credor e do devedor em um<br />
determinado vínculo obrigacional, acaba por ser potencializa<strong>da</strong> pelo conflito de<br />
interesses entre ele e os credores e estes, ca<strong>da</strong> qual procurando tirar <strong>da</strong><br />
situação o melhor proveito (VALVERDE: 1962, p. 6).<br />
Nesse contexto, de crise gera<strong>da</strong> pela insolvência, se justifica, de início, a<br />
falência como meio de tutelar juridicamente os diversos interesses em posições<br />
antagônicas na disputa pelo patrimônio do devedor. Assim, a falência pode ser<br />
entendi<strong>da</strong> como um estado de desequilíbrio entre os valores realizáveis e as<br />
prestações exigi<strong>da</strong>s 101 , razão pela qual esse estado é econômico, somente<br />
passando a ser jurídico em um segundo momento, quando ao tutelar o crédito,<br />
em certas situações específicas, o Estado prevê um processo particular,<br />
destinado a liqui<strong>da</strong>r os bens do devedor em favor de seus credores<br />
(LACERDA: 1999).<br />
4.1 A crise do inadimplemento<br />
Ain<strong>da</strong>, segundo Sampaio Lacer<strong>da</strong>, o inadimplemento se diferencia <strong>da</strong><br />
insolvência porque o primeiro decorre de um erro, malquerença ou negligencia<br />
e constitui um fato jurídico próprio <strong>da</strong> pessoa; já o segundo é um fato<br />
econômico próprio do patrimônio. Diante do que, se o inadimplemento é um<br />
ato, a insolvência é um estado: o inadimplente pode ter e não <strong>da</strong>r; o insolvente<br />
não dá porque não tem (LACERDA: 1999).<br />
Ou como entendido por Fábio Comparato 102 , segundo o qual o inadimplemento<br />
era o simples descumprimento de obrigação, no seu vencimento, sem que se<br />
in<strong>da</strong>gue sobre as razões disso; a insolvência seria o inadimplemento<br />
qualificado pela falta de razão em direito; e a insolvabili<strong>da</strong>de seria a inaptidão<br />
econômica para adimplir.<br />
Diferenciação entre o inadimplemento – ato – e a insolvência – estado –<br />
é relevante porque justifica a distinção feita na forma de tutela do crédito: o<br />
101 LACERDA, José Candido de Sampaio. Manual de Direito Falimentar. ed. 14. ver. e atual.<br />
Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1999. p. 28.<br />
102 COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos Jurídicos <strong>da</strong> Macro-Empresa. Editora Revista dos<br />
Tribunais. 1970.
70<br />
inadimplemento é tutelado pelas execuções individuais; enquanto que a<br />
insolvência é tutela<strong>da</strong> pela execução coletiva, como ilustra o prof. Vinícius<br />
Gontijo 103 :<br />
(...) na execução singular, o credor atua de forma isola<strong>da</strong>, buscando a<br />
satisfação de seu crédito mediante a expropriação judicial de tantos<br />
bens e direitos do devedor quantos bastem ao pagamento do que lhe<br />
é devido. Naturalmente, esse mecanismo beneficia o credor que se<br />
diligencia com agili<strong>da</strong>de na busca <strong>da</strong> satisfação de seu crédito, e,<br />
dessa forma, se o devedor possui um patrimônio deficitário, ou seja,<br />
com um passivo exigível superior ao ativo, fatalmente ocorreria que<br />
determinado grupo de credores sairia “privilegiado” em detrimento de<br />
outros, que por vezes na<strong>da</strong> receberiam, ain<strong>da</strong> que se tratasse de<br />
créditos tecnicamente privilegiados.”<br />
A par dessa especial tutela do crédito, a doutrina, conforme noticia<br />
Rubens Requião 104 , diverge quanto ao escopo <strong>da</strong> falência: uma entende que o<br />
direito falimentar procura assegurar perfeita igual<strong>da</strong>de entre os credores <strong>da</strong><br />
mesma classe, já que o patrimônio do devedor é garantia geral dos credores;<br />
outra, nega que a par condicio creditorum seja o real objetivo <strong>da</strong> falência,<br />
entendendo que o real objetivo <strong>da</strong> falência é a eliminação <strong>da</strong>s <strong>empresa</strong>s<br />
econômica e financeiramente arruina<strong>da</strong>s, em virtude <strong>da</strong>s perturbações e<br />
perigos que podem causar aos mercados, com reflexos em outros organismos.<br />
Conclui, ademais, o professor, acerca <strong>da</strong> divergência doutrinária aponta<strong>da</strong>, que<br />
ambos – o tratamento paritário entre os credores e o saneamento do mercado<br />
– são interesses convergentes e que traduzem bem o escopo <strong>da</strong> falência,<br />
enquanto instituto jurídico.<br />
À guisa de conclusão do exposto até aqui, pode-se dizer que,<br />
historicamente, a falência foi estrutura<strong>da</strong> pela dogmática jurídica para<br />
instrumentalizar a execução do patrimônio do devedor, com a finali<strong>da</strong>de de<br />
extrair-lhe o valor para a satisfação dos credores 105 .<br />
103 GONTIJO, Vinícius José Marques. Falência do empregador na execução de crédito<br />
trabalhista. Revista LTr, v. 71. p. 1488-1499.<br />
104 RUBENS, Requião. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva. 1998. p. 25-26.<br />
105 PACHECO, José <strong>da</strong> Silva. Processo de falência e concor<strong>da</strong>ta: comentários à lei de<br />
falências: doutrina, prática e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense. 2004. p. 16.
71<br />
Assim, é que a falência pode ser compreendi<strong>da</strong>, ao menos sob o seu<br />
aspecto formal, como uma variante do processo de execução. Sendo mais<br />
específico de execução força<strong>da</strong> e coletiva, por meio do qual o Estado passa a<br />
atingir todo o patrimônio do falido 106 , empresário, que dele fica desapossado, já<br />
que, em última análise, o patrimônio do devedor é a garantia dos credores.<br />
4.2 A concor<strong>da</strong>ta: um favor legal a serviço do devedor<br />
Se com a declaração <strong>da</strong> falência, o falido perde a administração dos<br />
seus bens, tendo restringidos os seus direitos de proprietário, inclusive quanto<br />
à livre disposição dos bens e perdendo a posse direta sobre eles, ele, falido,<br />
ain<strong>da</strong> permanece como proprietário, razão pela qual o instituto <strong>da</strong> concor<strong>da</strong>ta<br />
se justificava em <strong>suas</strong> duas mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong>des: a preventiva 107 – que visava o<br />
afastamento dos efeitos <strong>da</strong> falência, antes mesmo de sua ocorrência - e a<br />
suspensiva 108 - que facultava ao falido, após a sua falência - a retoma<strong>da</strong> <strong>da</strong><br />
posse dos bens seus arreca<strong>da</strong>dos pela massa fali<strong>da</strong>.<br />
No contexto do decreto lei n. 7.661/45 109 , se a falência poderia ser<br />
pensa<strong>da</strong> como pena socialmente relevante – como nos eluci<strong>da</strong> a profa. Rachel<br />
106 Art. 39 A falência compreende todos os bens do devedor, inclusive direitos e ações tanto os<br />
existentes na época <strong>da</strong> sua declaração, como os que forem adquiridos no curso do processo.<br />
Na lei atual, ver arts. 108 e seguintes sobre a arreca<strong>da</strong>ção dos bens do falido, como efeito <strong>da</strong><br />
sentença declaratória <strong>da</strong> falência. (BRASIL: Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.<br />
Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm> Acesso em: 25<br />
outubro 2008.).<br />
107 Art. 156. O devedor pode evitar a declaração <strong>da</strong> falência, requerendo ao juiz que seria<br />
competente para decretá-la, lhe seja concedi<strong>da</strong> concor<strong>da</strong>ta preventiva.<br />
§ 1° O devedor, no seu pedido, deve oferecer aos cr edores quirografários, por saldo de seus<br />
créditos, o pagamento mínimo de: I - 50%, se fôr à vista; II - 60%, 75%, 90% ou 100%, se a<br />
prazo, respectivamente, de 6 (seis), 12 (doze), 18 (dezoito), ou 24 (vinte e quatro) meses,<br />
devendo ser pagos, pelo menos, 2/5 (dois quintos) no primeiro ano, nas duas últimas<br />
hipóteses. (BRASIL: Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945. Disponível em: <<br />
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.).<br />
108 Art. 177. O falido pode obter, observa<strong>da</strong>s as disposições dos artigos 111 a 113, a<br />
suspensão <strong>da</strong> falência, requerendo ao juiz lhe seja concedi<strong>da</strong> concor<strong>da</strong>ta suspensiva.<br />
Parágrafo único. O devedor, no seu pedido, deve oferecer aos credores quirografários, por<br />
saldo de seus créditos, o pagamento mínimo de: I - 35%, se fôr a vista; II - 50%, se fôr a prazo,<br />
o qual não poderá exceder de dois anos, devendo ser pagos pelo menos dois quintos no<br />
primeiro ano. (BRASIL: Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945. Disponível em: <<br />
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.).<br />
109 (BRASIL: Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945. Disponível em: <<br />
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.).
72<br />
Sztajn 110 – porque, ao atingir a reputação do comerciante, culminando com seu<br />
afastamento do meio, impedindo-o de exercer o comércio, serviria para<br />
incentivar a diligência, prudência, no contrair obrigações, a concor<strong>da</strong>ta poderia<br />
ser entendi<strong>da</strong> como um favor legal, em que se concedia prazo para que o<br />
devedor solvesse, integral ou parcialmente, as obrigações quirografárias (...).<br />
Diante dessa construção – a falência teleologicamente sendo explica<strong>da</strong><br />
como instituto que visa a tutela do crédito, sob <strong>suas</strong> perspectivas -, a<br />
concor<strong>da</strong>ta, historicamente, surge atrela<strong>da</strong> á idéia de remissão de dívi<strong>da</strong>s e<br />
moratória de pagamentos, passando mesmo, em um segundo momento, a<br />
estar liga<strong>da</strong> à outro instituto: o salvo conduto. Ain<strong>da</strong>, numa análise evolutiva do<br />
instituto <strong>da</strong> concor<strong>da</strong>ta, percebe-se que, mais modernamente, ao instituto<br />
foram atribuí<strong>da</strong>s as naturezas contratual – os voluntaristas – ou processual,<br />
sendo este último posicionamento o que predominou em doutrina (PACHECO:<br />
2004, p. 588).<br />
Sampaio de Lacer<strong>da</strong> 111 , comentando o instituto <strong>da</strong> concor<strong>da</strong>ta prevista<br />
no Dec-Lei n. 7.661/45, em especial, no que diz respeito à sua finali<strong>da</strong>de,<br />
sempre atrela<strong>da</strong> ao interesse do devedor e ou dos seus credores, explica que:<br />
Segundo o sistema atual de nossa lei, podemos definir a concor<strong>da</strong>ta<br />
como sendo o ato processual pelo qual o devedor propõe em Juízo<br />
melhor forma de pagamento a seus credores (...) o instituto <strong>da</strong><br />
concor<strong>da</strong>ta traz vantagens para o devedor porque evita a sua ruína,<br />
permitindo possa ele permanecer e voltar a <strong>suas</strong> ativi<strong>da</strong>des como<br />
homem de negócio. Por outro lado, também, os credores<br />
aproveitavam-se, pois melhores e maiores percentagens obterão que<br />
na falência, sendo preferível, quase sempre, restabelecer o devedor,<br />
possibilitando que ele mesmo dirija os seus negócios.<br />
Nesse plano, analisando a doutrina passa<strong>da</strong>, pode-se inferir que, se no<br />
que se refere à finali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> concor<strong>da</strong>ta, <strong>suas</strong> notas essenciais revelavam um<br />
interesse fun<strong>da</strong>mental: a proteção ao crédito; já em relação ao centro de<br />
110 SZTAJN, Rachel. Notas sobre as assembléias de credores na lei de recuperação de<br />
<strong>empresa</strong>s. Revista de Direito Mercantil. n. 138. p. 53-70. abr./jun. 2005.<br />
111 LACERDA, José Candido de Sampaio. Manual de Direito Falimentar. 14.ed. ver. e atual. Rio<br />
de Janeiro: Freitas Bastos. 1999. p. 246.
73<br />
decisão sobre a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> recuperação do empresário falido e a forma<br />
como ele deveria se recuperar, revelam a tendência de regulamentação do<br />
mercado pelo Estado.<br />
Interessante destacar aqui o que se entende, neste trabalho, sobre o<br />
sentido <strong>da</strong> expressão regulamentação 112 . Aqui, se adota aquele sentido ligado<br />
a uma hipertrofia normativa que conduz a um excesso na participação do<br />
Estado nas decisões toma<strong>da</strong>s no mercado. O seu contrário – a desregulação -,<br />
portanto, não seria muito bem uma ausência de intervenção do Estado na<br />
economia, mas uma presença para corrigir distorções pontuais nas ativi<strong>da</strong>des<br />
mercadológicas. Este assunto, no que pertine ao direito falimentar, será tratado<br />
mais à frente.<br />
Quanto aos critérios formais, aos quais o cumprimento conduziria,<br />
necessariamente, ao deferimento <strong>da</strong> concor<strong>da</strong>ta, são aqueles previstos no art.<br />
140 113 , do Decreto-Lei n. 7.661/45.<br />
Em virtude dessas considerações iniciais, o que se procura demonstrar é que<br />
notas <strong>da</strong> doutrina <strong>da</strong> época <strong>da</strong>vam o tom do direito falimentar e de seus<br />
institutos - a falência; e a concor<strong>da</strong>ta, nas mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong>des preventiva ou<br />
suspensiva: o dilema entre a proteção dos interesses do devedor empresário e<br />
dos seus credores, diante de um estado de crise <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>.<br />
Neste mesmo caminho, percorria a jurisprudência prática que,<br />
empiricamente, nesse trabalho, serve a comprovar a compreensão do direito<br />
falimentar, contextualizado, na época, já que, assumi<strong>da</strong>mente, se entende que<br />
o direito positivo é aquele produzido a partir <strong>da</strong> interpretação <strong>da</strong> coletânea de<br />
enunciados, de textos normativos. Aliás, é este o raciocínio que se encontra<br />
por detrás <strong>da</strong> tipologia <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> – o seu conteúdo somente é acessível por<br />
meio <strong>da</strong> norma decorrente <strong>da</strong> aplicação.<br />
112 Sobre o assunto, é interessante a crítica feita por Eros Grau, em apêndice in GRAU, Eros<br />
Roberto. Direito posto e Direito pressuposto. 3 ed. São Paulo: Malheiros. 2000. p.98.<br />
113<br />
Art. 140. Não pode impetrar concor<strong>da</strong>ta: I - o devedor que deixou de arquivar, registrar,<br />
ou inscrever no registro do comércio os documentos e livros indispensáveis ao exercício legal<br />
do comércio; II - o devedor que deixou de requerer a falência no prazo do art. 8°; III - o devedor<br />
condenado por crime falimentar, furto, roubo, apropriação indébita, estelionato e outras<br />
fraudes, concorrência desleal, falsi<strong>da</strong>de, peculato, contrabando, crime contra o privilégio de<br />
invenção ou marcas de indústria e comércio e crime contra a economia popular; IV - o devedor<br />
que há menos de cinco anos houver impetrado igual favor ou não tiver cumprido concor<strong>da</strong>ta há<br />
mais tempo requeri<strong>da</strong>. (BRASIL: Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945. Disponível em:<br />
< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm> Acesso em: 25 outubro 2008.).
74<br />
Assim, a carga de significado que acompanha o termo concor<strong>da</strong>ta,<br />
informado pela chama<strong>da</strong> jurisprudência prática, pode muito bem ser<br />
apreendi<strong>da</strong> pelas expressões recorrentes à época e sempre coloca<strong>da</strong>s como<br />
seu predicado (referido à concor<strong>da</strong>ta), como ilustra a decisão proferi<strong>da</strong> pelo<br />
Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, ao decidir manter a convolação de<br />
uma concor<strong>da</strong>ta em falência, argumentou que: (...) sendo a concor<strong>da</strong>ta<br />
preventiva um favor legal, descabe abran<strong>da</strong>rem-se ain<strong>da</strong> mais as condições<br />
previstas no art. 175 <strong>da</strong> Lei específica 114 (...), ou em outro caso em que, em<br />
sede de agravo de instrumento, entendeu ser cabível a desistência <strong>da</strong><br />
concor<strong>da</strong>ta, unilateralmente, pelo devedor, fun<strong>da</strong>mentando assim: (...) a<br />
concor<strong>da</strong>ta preventiva é um favor que se põe à disposição do empresário no<br />
sentido de permitir-lhe equacionar seus débitos sem o prejuízo mortal de ver<br />
sua falência decreta<strong>da</strong> 115 (...). Esse mesmo comportamento, é percebido na<br />
jurisprudência do STJ. 116<br />
Como se percebe, a jurisprudência parece ter acompanhado o sentido<br />
<strong>da</strong>do pela doutrina à falência e, em decorrência disso à concor<strong>da</strong>ta, que não<br />
possui sua finali<strong>da</strong>de na preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, mas foi orienta<strong>da</strong> no sentido<br />
de servir aos interesses do devedor – o comerciante, figura central do direito<br />
comercial em sua fase objetiva, como já desenvolvido no capítulo I.<br />
Desse modo, pode-se dizer que o sistema anterior – a falência<br />
liqui<strong>da</strong>ção –, centrado na proteção ao crédito, estruturou a concor<strong>da</strong>ta como<br />
114 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agravo de Instrumento 1.0000.00.151562-<br />
6/000(1). Relator: Dês. Orlando Carvalho. 22 out 1999. Disponível em:<br />
Acesso em: 27 outubro 2008.<br />
115 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agravo de Instrumento 1.0407.03.000998-<br />
6/001 (1). Relator: Des. Cláudio Costa. 17 mar 2006. Disponível<br />
http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsptipoTribunal=1&comrCodigo=0407&ano=3&txt<br />
_processo=998&complemento=001&sequencial=&pg=0&resultPagina=10&palavrasConsulta=><br />
Acesso em: 27 outubro 2008.<br />
116 Neste sentido: REsp 201465, de 06.10.08; e REsp 82452, de 29.08.05,( BRASIL. Superior<br />
Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 201465. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. 06<br />
outubro 2008. Disponível em:<br />
Acesso em: 24 outubro 2008.) (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso<br />
Especial n. 82452. Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior. 29 agosto 2005. Disponível em: <<br />
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsptipo_visualizacao=RESUMO&processo=8245<br />
2&b=ACOR> Acesso em: 24 outubro 2008.)
75<br />
um instrumento capaz de amenizar os rigores de uma falência, permitindo o<br />
restabelecimento do falido ou a precaução <strong>da</strong> falência. Seguindo esta<br />
orientação finalística, também, pode-se afirmar que a estrutura <strong>da</strong> concor<strong>da</strong>ta<br />
atendia ao seu fim: se fun<strong>da</strong>mentava no direito de ação do devedor, que<br />
deveria atender a certos requisitos formais – estes, tipificados em lei; a decisão<br />
sobre o seu deferimento caberia ao Estado – o mercado não participava <strong>da</strong><br />
analise <strong>da</strong> viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, esta se presumia acaso os requisitos legais<br />
fossem preenchidos.<br />
Em decorrência do que se compreende o uso recorrente <strong>da</strong> expressão<br />
“favor legal” referi<strong>da</strong> à concor<strong>da</strong>ta em diversos momentos pela jurisprudência:<br />
era um instrumento posto à disposição do falido que poderia dele lançar mão<br />
segundo seu juízo de conveniência; era como se percebe, estruturado como<br />
um direito subjetivo <strong>da</strong>quele devedor que atendesse aos requisitos legais.<br />
Em virtude do quê, Jorge Lobo 117 , ao se referir à concor<strong>da</strong>ta, entendeu<br />
que apesar de seus nobres objetivos na prática, às mais <strong>da</strong>s vezes,<br />
infelizmente, apenas serve como instrumento a serviço do empresário mal<br />
intencionado (...). Mais à frente, o autor prossegue sua crítica – os argumentos<br />
são colocados em relação à concor<strong>da</strong>ta preventiva – conforme trecho a seguir<br />
transcrito em recuo:<br />
(...) ignora, por completo, a moderna teoria <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> como<br />
organismo propulsor <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de econômica; não distingue a figura<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong> do empresário; embora vise prevenir a falência, acaba<br />
privilegiando a relação devedor-credores em detrimento <strong>da</strong><br />
continuação <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de; tem caráter eminentemente processual e<br />
não econômico; permite aos administradores permanecerem á frente<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, mesmo que tenham agido em fraude a credores, tenham<br />
demonstrado total incapaci<strong>da</strong>de para o exercício <strong>da</strong>s funções ou<br />
tenham praticado crimes falimentares; sua concessão baseia-se<br />
exclusivamente em requisitos formais; atribui ao comissário a<br />
designação do perito; limita os seus efeitos ao credores comuns, sem<br />
garantia; privilegia os crédito fiscais, deixando-os á margem <strong>da</strong><br />
concor<strong>da</strong>ta (...)<br />
117 LOBO, Jorge. Da recuperação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> no direito comparado. Rio de Janeiro: Lúmen<br />
Juris. 1993. p. 44.
76<br />
4.3 A falência recuperatória<br />
Em reali<strong>da</strong>de, o que se pretende colocar é que a falência ou a<br />
concor<strong>da</strong>ta do devedor empresário deve ser pensa<strong>da</strong> não sobre a duali<strong>da</strong>de de<br />
interesses do devedor e de seus credores. Ao se reconhecer a <strong>empresa</strong>,<br />
funcionalizando-a, é mister a construção de instrumentos jurídicos capazes de<br />
efetivamente preservá-la, ecoando interesses que perpassam o do empresário<br />
e de seus credores. Isto, porque não se pode ocultar o fato incontestável que a<br />
quebra <strong>da</strong>s <strong>empresa</strong>s põe em jogo não somente os credores, mas, uma série<br />
de interesses que gravitam em torno <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, como os trabalhadores, os<br />
clientes, os fornecedores, os Estados, através dos tributos e <strong>da</strong> produção<br />
econômica e muitas vezes a própria comuni<strong>da</strong>de onde se situa a <strong>empresa</strong>. Daí<br />
por que o Direito Falimentar, enquanto permanecer referido à regulação do<br />
conflito entre devedores e credores será insuficiente para resolver os<br />
problemas com dimensão aparentemente distinta. 118<br />
Em texto <strong>da</strong>tado de 2001, o autor, citado acima, menciona os efeitos<br />
sentidos pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras ao reconhecerem a<br />
<strong>empresa</strong>, principalmente, após terem integrado o Direito Empresarial à<br />
moderna Teoria do Direito, acolhendo as <strong>suas</strong> lições e deixando de lado o<br />
empirismo que o caracterizou durante séculos (BULGARELLI: 2001).<br />
É aqui que se deve remeter àquela idéia trabalha<strong>da</strong> no capítulo I: Assim,<br />
repetimos o questionamento inicial: a que persegue o sentido do direito<br />
<strong>empresa</strong>rial Ao se reconhecer o valor <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, externado por meio de<br />
<strong>suas</strong> funções econômicas e sociais, percebe-se que os efeitos de sua<br />
exploração vão além <strong>da</strong> esfera de interesses <strong>da</strong>queles que a exploram ou<br />
<strong>da</strong>queles que são credores destes últimos, mas produzem efeitos que são<br />
interessantes para a socie<strong>da</strong>de, o Estado se inclui neste conceito.<br />
É neste contexto que se justifica a sua tutela. Quando há referencia à<br />
tutela <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, ela ocorre não somente em relação àquela viável, mas,<br />
também e <strong>da</strong> mesma forma à <strong>empresa</strong> em crise. Logo, a dogmática jurídica<br />
118 BULGARELLI, Waldirio. O novo direito <strong>empresa</strong>rial. Rio de Janeiro: Renovar. 2001. p. 158.
77<br />
deve estar apta e instrumentaliza<strong>da</strong> com mecanismos em casos de falhas – as<br />
crises, justificando a teleologia do sistema falimentar que deve estar apto a <strong>da</strong>r<br />
essas respostas – é a falência recuperação.<br />
4.4.1 O comportamento jurisprudencial frente à <strong>empresa</strong> em crise<br />
Nesse ponto, é interessante constatar o seguinte: se a jurisprudência<br />
civil já reconhecia, em alguns casos, como os pontuados no capítulo anterior,<br />
certa função social à <strong>empresa</strong> viável, percebeu-se, <strong>da</strong> mesma forma, que no<br />
que implica a <strong>empresa</strong> em crise, a jurisprudência não caminhou nesse sentido,<br />
ao menos as decisões fun<strong>da</strong>menta<strong>da</strong>s no Decreto-Lei 7.661/45 119 . Para aferir<br />
esse entendimento, basta observar a vanguar<strong>da</strong> <strong>da</strong>s decisões judiciais em<br />
matéria de direito societário que, inclusive, influenciaram o legislador.<br />
Talvez, a razão desse descompasso se deva a tendência do judiciário<br />
pelo positivismo jurídico ou mesmo à tradição <strong>da</strong> dogmática jurídica que<br />
sempre reconheceu na falência uma teoria volta<strong>da</strong> à proteção do crédito, não<br />
enxergando ali a necessi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> tutela <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, dissocia<strong>da</strong> <strong>da</strong>queles que a<br />
explora.<br />
Não se pode olvi<strong>da</strong>r, é pertinente ressaltar, que a recepção <strong>da</strong> Teoria <strong>da</strong><br />
Empresa pelo direito positivo acaba por trazer à tona uma gama de conflitos e<br />
problemas que a teoria dos atos de comércio aquietava ao restringir sua<br />
perspectiva à do empresário – do comerciante. No entanto, também, é ver<strong>da</strong>de<br />
que, empiricamente, pode-se afirmar que, mesmo antes <strong>da</strong> adoção <strong>da</strong> teoria<br />
italiana pelo direito positivo brasileiro, a jurisprudência já reconhecia a <strong>empresa</strong><br />
e buscava sua tutela.<br />
É diante desta reali<strong>da</strong>de – a deman<strong>da</strong> social – que se processa e é<br />
edita<strong>da</strong> a atual lei de falências - Lei n. 11.101/05 120 – que traz em sua essência<br />
a proposta de, reconhecendo a carga valorativa <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, disponibilizar<br />
119 (BRASIL: Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945. Disponível em:<br />
Acesso em: 25 outubro 2008.).<br />
120 (BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação judicial, a<br />
extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista<br />
dos Tribunais, 2005.).
78<br />
instrumentos jurídicos que, atendendo ao problema econômico, possibilitem<br />
maior efetivi<strong>da</strong>de na recuperação <strong>da</strong>s <strong>empresa</strong>s em crise. É o marco legislado<br />
<strong>da</strong> falência recuperação.<br />
Exatamente, após a entra<strong>da</strong> em vigor <strong>da</strong> atual lei de falências, percebese<br />
uma sensível diferença nos argumentos produzidos pela jurisprudência<br />
acerca de problemas pertinentes à <strong>empresa</strong> em crise, como serve ao caso a<br />
decisão proferi<strong>da</strong> pelo juízo <strong>da</strong> primeira vara cível, <strong>da</strong> comarca de Ponta<br />
Grossa – Paraná 121 :<br />
(...) A <strong>empresa</strong>, na ordem constitucional vigente, tem – ou deve ter –<br />
uma função social, não podendo se prestar apenas à satisfação dos<br />
interesses do empresário. Acima destes, estão postulados básicos <strong>da</strong><br />
socie<strong>da</strong>de pretendi<strong>da</strong> pelo constituinte, onde a <strong>empresa</strong> se encaixa<br />
como veículo para a livre iniciativa e livre concorrência, para a<br />
produção de riquezas (mercê <strong>da</strong> tributação dos resultados positivos<br />
obtidos) e para, sobretudo, a dignificação do ser humano, através <strong>da</strong><br />
geração de empregos que permitam às pessoas valorizar-se pelo<br />
trabalho e pela ren<strong>da</strong> por meio dele obti<strong>da</strong> (...)<br />
Percebe-se, nos argumentos produzidos na decisão, uma certa<br />
supremacia do interesse na preservação <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de <strong>empresa</strong>rial, justifica<strong>da</strong><br />
pela função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, ain<strong>da</strong> que dos argumentos não se extraia<br />
propriamente o conteúdo desta função social. Pode-se, entretanto, observar<br />
que os valores ligados à livre iniciativa e à livre concorrência acompanham uma<br />
idéia de proteção ao mercado, enquanto que à finali<strong>da</strong>de de dignificação do ser<br />
humano acompanha o interesse na geração de empregos. Parece repetir-se<br />
aqui a verificação constata<strong>da</strong> na jurisprudência trabalhista: os valores atinentes<br />
à digni<strong>da</strong>de humana atrelados ao interesse na manutenção dos postos de<br />
trabalho e, em certa medi<strong>da</strong>, contrapostos aos valores inerentes ao mercado.<br />
121 FRANCO, Vera Helena de Mello. Liqui<strong>da</strong>ção, encerramento e extinção <strong>da</strong>s obrigações do<br />
falido. Revista de Direito Mercantil. São Paulo, n.° 140, p. 110-125, out./dez. 2005.
79<br />
Em outro julgado 122 , agora o Tribunal de Justiça de São Paulo, apreciando a<br />
possibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> concessão de recuperação judicial a empresário já declarado<br />
falido, argumentou o seguinte:<br />
(...) pois é seu objetivo criar o ambiente e a oportuni<strong>da</strong>de para a<br />
recuperação <strong>da</strong>s <strong>empresa</strong>s e portanto, seria sumamente injusto que<br />
as atuais <strong>empresa</strong>s em concor<strong>da</strong>ta, cujo instituto sabi<strong>da</strong>mente não<br />
responde mais aos anseios <strong>da</strong> moderni<strong>da</strong>de, não tivessem também a<br />
possibili<strong>da</strong>de de socorrerem-se de uma legislação mais adequa<strong>da</strong> à<br />
época atual (...).<br />
No voto proferido, o relator ain<strong>da</strong> argumenta que na aplicação <strong>da</strong> lei, o<br />
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e à exigências do bem comum.<br />
O argumento sintetiza o comportamento jurisprudencial atual: utilizar a<br />
<strong>empresa</strong> – sua preservação – como orientação a interpretação teleológica do<br />
direito <strong>empresa</strong>rial. É a idéia de funcionalizar a <strong>empresa</strong> que se parece<br />
evidenciar.<br />
4.4.2 A decisão quanto a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> na recuperação judicial<br />
Nesse momento, interessa a questão <strong>da</strong> crise <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>: a atual lei de<br />
falências deslocou o centro de decisão acerca <strong>da</strong> viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> – a<br />
decisão antes coloca<strong>da</strong> nas mãos do juiz, pautando-se por indicadores formais<br />
e enumerados no texto legislativo, passa para o mercado, possibilitando a<br />
análise àqueles afetados pela crise <strong>empresa</strong>rial.<br />
Em reali<strong>da</strong>de, o que se pensa é que a mensuração <strong>da</strong> crise fica à cargo<br />
<strong>da</strong>queles que têm ou deveriam ter, em melhor quali<strong>da</strong>de, as informações<br />
relevantes para a toma<strong>da</strong> <strong>da</strong> decisão. Esse mercado seria formado pelos<br />
credores do empresário em recuperação e as decisões seriam toma<strong>da</strong>s em<br />
122 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento 403.920-4/1-00. Relator:<br />
Des. Romeu Ricupero. 19 mai 2006. Disponível em:<br />
Acesso em: 27 outubro 2008.
80<br />
assembléias, estruturas aptas às deliberações toma<strong>da</strong>s pelo princípio <strong>da</strong><br />
maioria – as decisões passam a vincular, também, os dissidentes.<br />
Assim, ao se partir <strong>da</strong> idéia de que mercados facilitam as trocas<br />
mercantis, ordenando as trocas econômicas e tornando eficiente a circulação<br />
de bens na economia, pode-se inferir que, em se tratando de recuperação de<br />
<strong>empresa</strong>s a técnica de decisão mercadológica faz pressupor a finali<strong>da</strong>de ou a<br />
busca de eficiência alocativa. Ou seja, pode-se pretender que no sistema <strong>da</strong><br />
falência-recuperação a análise <strong>da</strong> viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> gira em torno de<br />
duas situações: ou o nível <strong>da</strong> crise justifica a continui<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>; ou, em<br />
lado oposto, o nível <strong>da</strong> crise justifica a falência do empresário e a realocação<br />
dos recursos.<br />
Cabe assinalar aqui alguma divergência existente no plano teórico sobre<br />
a finali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> decisão que considera a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Mais<br />
precisamente: se o interesse na preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> se fun<strong>da</strong> em valores<br />
relacionados à sua função social, haveria alguma incoerência entre a decisão<br />
econômica pauta<strong>da</strong> na eficiência alocativa dos recursos <strong>empresa</strong>riais e os<br />
valores relativos à função social Parece que a questão posta remete ao<br />
conteúdo dessa função social, como enfrentado no capítulo I.<br />
Primeiro ponto a ser colocado é que a eficiência do sistema é conceito<br />
que está ligado à capaci<strong>da</strong>de de atingimento dos fins perseguidos<br />
estruturalmente e atrelado a uma situação de maximização de riquezas. Assim,<br />
o que se persegue na recuperação de <strong>empresa</strong>s é maximizar os ganhos – ou<br />
minimizar as per<strong>da</strong>s – coletivas por meio de uma reorganização <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. É<br />
por essa razão que a reorganização <strong>empresa</strong>rial – instrumentaliza<strong>da</strong> no plano<br />
de recuperação – é edifica<strong>da</strong> por meio de processo dialético, em que<br />
participam os interessados na ativi<strong>da</strong>de <strong>empresa</strong>rial. Ilustrativamente, pode-se<br />
dizer sobre o plano de recuperação apresentado pelos credores em<br />
substituição àquele proposto, inicialmente, pelo devedor.<br />
A decisão eficiente sobre a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> passa então por<br />
considerações acerca <strong>da</strong> intensi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> crise, <strong>suas</strong> causas, assim como as<br />
possibili<strong>da</strong>des e instrumentos de superação, sempre pauta<strong>da</strong>s pela idéia de<br />
que esses esforços devem repercutir em um ganho superior a seu custo.
81<br />
A questão <strong>da</strong> análise eficiente coloca<strong>da</strong> é bem ilustra<strong>da</strong> por Frederico<br />
Viana 123 quando menciona que a racionali<strong>da</strong>de dos credores parte <strong>da</strong><br />
ponderação <strong>da</strong> moe<strong>da</strong> de liqui<strong>da</strong>ção no presente L1 e no futuro L2. Quando há<br />
perspectivas de que a moe<strong>da</strong> de liqui<strong>da</strong>ção futura seja superior do que seria no<br />
presente (L1 < L2), os credores maximizarão seus ganhos por meio <strong>da</strong><br />
continui<strong>da</strong>de do negócio. Neste caso, a decisão racional deles será pela<br />
recuperação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Se, ao contrário, a moe<strong>da</strong> de liqui<strong>da</strong>ção presente for<br />
superior à perspectiva de ganhos futuros (L1 >L2), os credores preferirão a<br />
falência do devedor.<br />
Como se percebe, o sistema falimentar estrutura a toma<strong>da</strong> de decisões<br />
pelos credores, em assembléia 124 : a preocupação, neste ponto, parece ser<br />
concernente a um ganho de eficiência porque carreia para as mãos de quem,<br />
como dito linhas acima, detém, a princípio, a informação de melhor<br />
quali<strong>da</strong>de. 125<br />
Outro ponto, é referente ao juízo de equi<strong>da</strong>de, que, delimitado ao<br />
propósito do presente trabalho, pode ser identificado com o tratamento<br />
igualitário para todos os agentes no que se refere à capaci<strong>da</strong>de de absorção<br />
<strong>da</strong>s per<strong>da</strong>s genéricas (SADDI e CASTELAR: 2004).<br />
A preocupação com o juízo de equi<strong>da</strong>de, na toma<strong>da</strong> de decisões sobre a<br />
viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, em recuperação judicial, foi instrumentaliza<strong>da</strong> por meio<br />
123 In RODRIGUES, Frederico Viana. Reflexões sobre a viabili<strong>da</strong>de econômica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> no<br />
novo regime concursal brasileiro. Revista de Direito Mercantil. n. 138. p. 102-122. abr./jun.<br />
2005.<br />
124 Art. 35 A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: I – na<br />
recuperação judicial: a) a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial<br />
apresentado pelo devedor. (...). (BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a<br />
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São<br />
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.).<br />
125 Acerca do papel <strong>da</strong>s assembléias nas toma<strong>da</strong>s de decisões a respeito <strong>da</strong> recuperação<br />
judicial, é interessante a análise <strong>da</strong> profa. Rachel Sztajn. A importância <strong>da</strong> disciplina <strong>da</strong>s<br />
assembléias-gerais reside no fato de que deliberações colegia<strong>da</strong>s toma<strong>da</strong>s de acordo com as<br />
normas previstas vinculam todos os membros do grupo, inclusive os ausentes e dissidentes,<br />
porque o princípio informador <strong>da</strong>s assembléias-gerais, o <strong>da</strong> maioria – que excepciona o <strong>da</strong><br />
unanimi<strong>da</strong>de, tendo como limites objetivos direitos individuais, atende melhor que a<br />
unanimi<strong>da</strong>de ao equacionamento de situações em que interesses diversos estão em jogo.<br />
Mesmo a abstenção – ou seja, nenhuma declaração em qualquer dos sentidos propostos à<br />
consideração dos membros do grupo -, indicativa de que poderia, talvez, haver outra alternativa<br />
ou falta de convencimento do declarante em face dos argumentos apresentados pelos<br />
defensores de uma <strong>da</strong>s outras posições, serve como fun<strong>da</strong>mento para que não sejam toma<strong>da</strong>s<br />
decisões aprova<strong>da</strong>s por certo número (de pessoas ou de interesses) (SZTAJN: 2005).
82<br />
<strong>da</strong> divisão em classes de credores nas assembléias-gerais 126 . Assume-se aqui<br />
que os interesses dos credores não são homogêneos.<br />
Percebe-se, neste aspecto, traço intervencionista do Estado no mercado<br />
– referido àquele relativo à recuperação judicial -, estipulando uma metodologia<br />
para a formação <strong>da</strong> vontade majoritária segundo interesses preordenados. A<br />
metodologia descrita conta com critérios diferenciados, per capita e censitário,<br />
segundo a natureza do crédito representado. Razão pela qual, pode-se agora<br />
afirmar que é eficiente a decisão sobre a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> recuperação <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> toma<strong>da</strong> segundo uma metodologia institucionalmente estabeleci<strong>da</strong> e<br />
que guar<strong>da</strong> preocupação com juízos de equi<strong>da</strong>de entre os diversos interesses<br />
tutelados.<br />
4.4.3 A concessão <strong>da</strong> recuperação judicial nos casos de rejeição do plano de<br />
recuperação<br />
Outro aspecto a ser considerado no que pertine a decisão sobre a<br />
viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> diz respeito à possibili<strong>da</strong>de do juiz autorizar a<br />
recuperação de <strong>empresa</strong> cujo plano foi rejeitado pela assembléia de<br />
credores 127 . Resta aqui verificar se a análise de viabili<strong>da</strong>de pelo mercado foi<br />
126 (...) nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, to<strong>da</strong>s as classes de credores,<br />
como os titulares de créditos derivados <strong>da</strong> legislação de trabalho ou decorrentes de acidentes<br />
de trabalho, os titulares de crédito com garantia real, ou que gozem de privilégio especial, e os<br />
titulares de créditos quirografários ou que gozem de privilégio geral, deverão aprovar a<br />
proposta. Assim sendo, em ca<strong>da</strong> uma <strong>da</strong>s classes, a proposta deverá ser aprova<strong>da</strong> por<br />
credores que representem mais <strong>da</strong> metade do valor total dos créditos, presentes à assembléia<br />
e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. Na classe dos titulares de<br />
créditos derivados <strong>da</strong> legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho, a<br />
proposta deverá ser aprova<strong>da</strong> pela maioria simples dos credores presentes,<br />
independentemente do valor de seu crédito. Finalmente, devemos expor que o credor não terá<br />
direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quorum de deliberação se o<br />
plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de<br />
seu crédito (In OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à nova lei de falências. São Paulo:<br />
IOB. 2005. p. 220-221).<br />
127 Art. 58 (...) §1.° O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não<br />
obteve a aprovação na forma do art. 45 desta lei, desde que, na mesma assembléia, tenha<br />
obtido de forma cumulativa: I o voto favorável de credores que representem mais <strong>da</strong> metade do<br />
valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes; II a<br />
aprovação de duas <strong>da</strong>s classes de credores nos termos do artigo 45 desta lei ou, caso haja<br />
somente <strong>suas</strong> classes com credores votantes, aprovação de pelo menos uma delas; III na<br />
classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de um terço dos credores, computados
83<br />
afasta<strong>da</strong> de maneira a indicar um retrocesso ao passado, em que o Estado<br />
indicava e decidia quais <strong>empresa</strong>s deveriam ser recupera<strong>da</strong>s. Ou melhor, até<br />
que ponto um sistema de decisão que se baliza numa estrutura colegia<strong>da</strong>, em<br />
que os aspectos <strong>da</strong> crise e os mecanismos propostos para a sua superação<br />
são amplamente debatidos no mercado pode acomo<strong>da</strong>r a possibili<strong>da</strong>de em que<br />
o Estado, aparentemente, desconsidere o processo estabelecido e <strong>suas</strong><br />
decisões para aprovar o plano rejeitado.<br />
A questão posta pode ser resolvi<strong>da</strong> por meio <strong>da</strong> seguinte reflexão: como<br />
mencionado acima, a decisão acerca <strong>da</strong> viabili<strong>da</strong>de é toma<strong>da</strong> pelo mercado.<br />
Da mesma forma, assume-se neste trabalho que mercado não é um objeto do<br />
mundo <strong>da</strong> natureza (GRAU: 2000. p. 91). Ao contrário, o mercado é fruto <strong>da</strong><br />
geniali<strong>da</strong>de humana, sendo institucionalizado e determinado pelo Estado,<br />
razão pela qual a composição de conflitos no quadro <strong>da</strong>s relações de<br />
intercâmbio reclama um grau mínimo de regulamentação estatal (GRAU: 2000.<br />
p. 91).<br />
A idéia apresenta<strong>da</strong> no parágrafo anterior pode ser explica<strong>da</strong> por meio<br />
do raciocínio desenvolvido por Sunstein, citado por Rachel Sztajn 128 :<br />
(...) marcados são resultado de forma especial de intervenção do<br />
Estado no domínio econômico pelo que as inter-relações promovi<strong>da</strong>s<br />
pelos e em mercados incluem uma certa coerção, assim como a<br />
escolha voluntária. Normas que dispõe sobre o direito de proprie<strong>da</strong>de<br />
explicam o processo de transferência de bens, de forma que os que<br />
desejarem coisas pertencentes a outrem não se apropriem deles<br />
mediante ações que, para o direito, são ilegais ou irregulares. A<br />
interação voluntária que ocorreria, mesmo na ausência de mercados,<br />
quando se faz desta estrutura, propicia maior segurança para as<br />
pessoas que nele participam e tornam mais eficazes os resultados<br />
buscados.<br />
na forma dos parágrafos primeiro e segundo do art. 45 desta lei. (...). (BRASIL: Lei ordinária<br />
n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação j udicial, a extrajudicial e a falência do<br />
empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.).<br />
128 SZTAJN; Rachel. Teoria Jurídica <strong>da</strong> Empresa. São Paulo: Atlas. 2004. p. 91.
84<br />
Assim, o que se percebe é que um sistema baseado em decisões<br />
mercadológicas não se contrapõe à possibili<strong>da</strong>de de intervenções pelo Estado,<br />
mas, ao contrário, se garante por meio dessas intervenções, como ilustrado.<br />
Assim, o atual sistema falimentar, ao se estruturar a partir de decisões<br />
eficientes toma<strong>da</strong>s pelo mercado, pressupõe, também, um sistema especial de<br />
intervenção do Estado neste mercado. A possibili<strong>da</strong>de coloca<strong>da</strong> ao Juiz para<br />
aprovar plano de recuperação rejeitado pela assembléia de credores é exemplo<br />
de medi<strong>da</strong> intervencionista própria deste sistema.<br />
Justificam a medi<strong>da</strong> prevista as imperfeições que podem ocorrer nesse<br />
tipo de situação, admitindo-se que os interesses representados não são<br />
convergentes na decisão sobre a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Situações diversas<br />
justificam interesses diversos, o que pode levar a distorções ou mesmo a<br />
atitudes oportunistas de quem detém maior poder nas decisões assembleares.<br />
4.4.4 A sucessão trabalhista na recuperação judicial, nos casos de alienação<br />
do estabelecimento <strong>empresa</strong>rial<br />
A partir deste ponto, volta-se à questão: a tipologia <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>,<br />
permitindo um exame valorativo e a identificação de seu conteúdo econômico e<br />
social como justificativa para o esforço em sua preservação, ou seja, o que se<br />
persegue em todo o trabalho é o conteúdo específico de sentido à <strong>empresa</strong> e a<br />
sua função a serviço dos valores humanos (LARENZ: 1997. p. 687) 129 .<br />
A <strong>empresa</strong> ganha aqui um conteúdo normativo que passa a ser<br />
determinado segundo sua função em ca<strong>da</strong> sistema de regulação. Logo, se a<br />
função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> pode ser entendi<strong>da</strong> como o ganho de utili<strong>da</strong>de; a<br />
eficiência na alocação de recursos, segundo um entendimento mais próximo <strong>da</strong><br />
teoria econômica do direito; ou como um instrumento de controle <strong>da</strong>s relações<br />
sociais, de maneira a legitimar a tutela de interesses relevantes, segundo uma<br />
teoria institucionalista; um conteúdo proposto para essa função social não a<br />
129 Lembra-se que os conceitos determinados pela função servem, além disso, para garantir<br />
adentro de um complexo de regulação determinado a aplicação eqüitativa <strong>da</strong>quelas normas<br />
jurídicas em cujo conteúdo estão implícitas como elemento <strong>da</strong> previsão ou como conseqüência<br />
jurídica.
85<br />
quer identificar com uma idéia de assistencialismo. Razão pela qual, aqui há<br />
divergência com o posicionamento <strong>da</strong> profa. Rachel Sztajn 130 quando entende<br />
que manter em operação ativi<strong>da</strong>des ineficientes, a título de função social, de<br />
assistencialismo inconseqüente, pode beneficiar alguns, mas desestimular<br />
muitos.<br />
Como ficou demonstrado por meio <strong>da</strong>s decisões coteja<strong>da</strong>s neste<br />
capítulo e no capítulo anterior, a jurisprudência não tem trabalhado no sentido<br />
de precisar um conteúdo de significado e de valor para a função social <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>, o que, pode ser atribuído como causa <strong>da</strong>s variações valorativas<br />
identifica<strong>da</strong>s e <strong>da</strong>s contradições nos argumentos que utilizam <strong>da</strong> função social<br />
como fun<strong>da</strong>mento. Cabendo, portanto, à doutrina indicar este conteúdo de<br />
significado.<br />
Quando analisa<strong>da</strong> a decisão sobre a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> foi<br />
identificado uma preocupação do sistema em incentivar a construção de<br />
comportamentos de cooperação ente os diversos atores do processo de<br />
recuperação judicial <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. Esta preocupação se justifica porque neste<br />
instante há tendência à competição entre os interessados na recuperação:<br />
ca<strong>da</strong> qual racionalizando a decisão sobre a crise <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> e sua viabili<strong>da</strong>de<br />
segundo interesses pessoais que não necessariamente refletem o interesse<br />
coletivo justificador do esforço em se preservar a <strong>empresa</strong> ou, ao contrário, em<br />
se realocar seus recursos produtivos. O método de formação <strong>da</strong> vontade<br />
majoritária previsto no art. 45, <strong>da</strong> Lei de Falências ilustra o caso.<br />
Já quando se trata <strong>da</strong>s formas de realização do ativo, há maior<br />
tendência a comportamentos cooperados: os interessados pretendem a maior<br />
valorização possível do patrimônio do devedor como forma de maximizar <strong>suas</strong><br />
possibili<strong>da</strong>des de ganhos (ou minimização de <strong>suas</strong> per<strong>da</strong>s).<br />
A decisão 131 , na falência, é toma<strong>da</strong> por uma maioria qualifica<strong>da</strong>, mas<br />
observando metodologia diferencia<strong>da</strong> em relação àquela prevista para a<br />
toma<strong>da</strong> de decisão sobre a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> e do plano de recuperação.<br />
130 In SZTAJN, Rachel. Notas sobre as assembléias de credores na lei de recuperação de<br />
<strong>empresa</strong>s. Revista de Direito Mercantil. n. 138. p. 53-70. abr./jun. 2005.<br />
131 Art. 46 A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no art.<br />
145 desta Lei, dependerá de voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos<br />
presentes à assembléia. (BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005 . Regula a<br />
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São<br />
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.).
86<br />
Aqui, os credores se reúnem e decidem em um único extrato, não havendo a<br />
divisão em classes – não houve uma preocupação metodológica no sentido de<br />
se dividir os credores em grupos de interesses semelhantes, porque nessa<br />
situação se considera, ou melhor, se presume que os interesses são<br />
semelhantes.<br />
A diferença entre uma metodologia e outra não é propriamente porque a<br />
primeira decisão é toma<strong>da</strong> no processo de recuperação judicial, enquanto que<br />
a segun<strong>da</strong> é toma<strong>da</strong> no processo falimentar. Como já apontado anteriormente,<br />
a diferença econômica entre a falência e a recuperação judicial se apóia num<br />
juízo de valor sobre a viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, refletindo a intensi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> crise<br />
econômica enfrenta<strong>da</strong>.<br />
Se a <strong>empresa</strong> é viável é assim porque o mercado entendeu. Os esforços<br />
passam a ser realizados no sentido de reorganizá-la <strong>da</strong> forma mais eficiente<br />
para que a previsão se materialize: a moe<strong>da</strong> de liqui<strong>da</strong>ção no futuro seja<br />
superior à moe<strong>da</strong> de liqui<strong>da</strong>ção no presente.<br />
É a partir dessa finali<strong>da</strong>de, então, que passam a ser pensa<strong>da</strong>s e<br />
estrutura<strong>da</strong>s as formas possíveis de reorganização <strong>empresa</strong>rial. Entretanto, se<br />
economicamente, a eficiência nos instrumentos de recuperação é o fim<br />
perseguido, ao Direito cabem considerações de outros valores, restringindo<br />
algumas medi<strong>da</strong>s por meio de balizas previamente impostas ao plano. É o caso<br />
do art. 54 <strong>da</strong> Lei de Falências 132 . Aqui prevalece a igual<strong>da</strong>de sobre a liber<strong>da</strong>de.<br />
A preocupação evidencia não propriamente o interesse do trabalhador<br />
individualmente considerado, mas de uma classe reconheci<strong>da</strong>, como eluci<strong>da</strong> o<br />
prof. Vinícius Gontijo 133 :<br />
132 Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para<br />
pagamento dos créditos derivados <strong>da</strong> legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de<br />
trabalho vencidos até a <strong>da</strong>ta do pedido de recuperação judicial. Parágrafo único. O plano não<br />
poderá, ain<strong>da</strong>, prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5<br />
(cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial<br />
vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. (BRASIL: Lei<br />
ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a rec uperação judicial, a extrajudicial e a falência<br />
do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.).<br />
133 GONTIJO, Vinícius José Marques. Falência do empregador na execução de crédito<br />
trabalhista. Revista LTr, v. 71. p. 1488-1499..
87<br />
(...) ora, se o direito do trabalho tem por conteúdo a relação de<br />
emprego e, em especial, a proteção ao empregado, pensamos que a<br />
sua hermenêutica deve buscar a implementação <strong>da</strong> tutela à classe<br />
dos empregados e, naturalmente, não de um empregado em<br />
detrimento do outro.<br />
Então, a baliza ao plano em relação ao crédito trabalhista revela uma<br />
garantia maior <strong>da</strong><strong>da</strong> ao trabalhador durante a execução do plano em si<br />
considerado: há restrição na dilação do pagamento dos créditos trabalhistas e,<br />
em especial, para aqueles de natureza estritamente salarial. Ou seja, na<br />
reorganização <strong>empresa</strong>rial, por meio <strong>da</strong> recuperação judicial, há uma<br />
repactuação <strong>da</strong> distribuição dos riscos <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong>de: os credores, ao<br />
entenderem que a moe<strong>da</strong> de liqui<strong>da</strong>ção futura é superior à moe<strong>da</strong> de<br />
liqui<strong>da</strong>ção presente, decidem redimensionar e redistribuir os riscos assumidos.<br />
No entanto, nesse esforço, devem respeitar alguns critérios que revelam uma<br />
preocupação axiológica – a justiça – como o limite inserido no art. 54 <strong>da</strong> Lei de<br />
Falências 134 . Sendo este limite considerado ver<strong>da</strong>deira garantia 135 aos<br />
trabalhadores <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> em recuperação judicial.<br />
É nessa perspectiva que aflora a preocupação concernente à alienação<br />
do ativo do empresário em recuperação judicial ou em falência. Os<br />
mecanismos pensados e estruturados para a realização do ativo devem ser<br />
compreendidos segundo a teleologia do sistema falimentar: a preservação <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> por meio <strong>da</strong> sua reorganização – a reorganização pode ser atingi<strong>da</strong><br />
por meio <strong>da</strong> manutenção <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> nas mãos do empresário que a explora,<br />
ou por meio <strong>da</strong> realocação dos recursos nas mãos de outros empresários, a<br />
depender <strong>da</strong> intensi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> crise enfrenta<strong>da</strong> ou mesmo de outras<br />
considerações como a reputação do empresário.<br />
Uma <strong>da</strong>s possibili<strong>da</strong>des de realização do ativo do empresário em<br />
recuperação ou em falência é a alienação do estabelecimento <strong>empresa</strong>rial, ou<br />
na expressão legal: <strong>empresa</strong> ou filial. Essa possibili<strong>da</strong>de revela algumas<br />
vantagens que devem ser considera<strong>da</strong>s:<br />
134 (BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005 . Regula a recuperação judicial, a<br />
extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista<br />
dos Tribunais, 2005.).<br />
135 O termo garantia aqui é utilizado em seu sentido largo e não como um reforço específico,<br />
legal ou convencional, ao adimplemento <strong>da</strong> obrigação.
88<br />
Na falência, a alienação revela preocupação de duas ordens: a<br />
maximização de ganhos (ou minimização <strong>da</strong>s per<strong>da</strong>s) em relação aos<br />
credores; e em relação à socie<strong>da</strong>de, possibilita a preservação <strong>da</strong> estrutura<br />
organizacional exterioriza<strong>da</strong> pela <strong>empresa</strong>, justifica<strong>da</strong> pelas considerações<br />
realiza<strong>da</strong>s segundo o seu conteúdo valorativo.<br />
Segundo Castellar e Saddi, citado Jean Carlos Fernandes 136 , a falência deve<br />
produzir um resultado eficiente ex post, fazendo referência a que o total dos<br />
ativos <strong>da</strong> massa fali<strong>da</strong> devem ser maximizados. Por essa razão, ain<strong>da</strong> segundo<br />
o autor, qualquer decisão de ven<strong>da</strong> ou reestruturação deve obedecer à simples<br />
regra de que o procedimento será mais eficiente se o resultado aos credores<br />
for maior.<br />
Na recuperação judicial, percebe-se, também, um ganho em termos de<br />
eficiência tanto para os credores do devedor, quanto para a socie<strong>da</strong>de. Com<br />
relação ao primeiro, se já foi toma<strong>da</strong> a decisão pela viabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, o<br />
que se espera é que tal ocorra. A alienação do estabelecimento <strong>empresa</strong>rial,<br />
assim, pode revelar forma mais eficiente para maximizar os resultados<br />
auferidos com o produto <strong>da</strong> alienação: o aviamento é considerado no preço<br />
estabelecido.<br />
Em relação ao interesse social, percebe-se aqui também uma<br />
possibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> manutenção <strong>da</strong> estrutura organizacional, revelando um custo<br />
social menor, a princípio, do que aquele presente no caso de um<br />
desmembramento <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> com a realocação dos bens de produção em<br />
outras organizações.<br />
Diz-se a princípio, porque a depender do caso, pode ser mais viável uma<br />
reestruturação completa <strong>da</strong> organização <strong>empresa</strong>rial porque as condições<br />
econômicas não recomen<strong>da</strong>m a preservação <strong>da</strong> estrutura primitiva: o<br />
desaviamento exemplifica essa situação.<br />
Como reforço ao fim perseguido pelo sistema, a Lei de Falências prevê<br />
mecanismo legal que excepciona a regra <strong>da</strong> sucessão do adquirente nas<br />
obrigações do alienante.<br />
136<br />
FERNANDES, Jean Carlos. Reflexões sobre a nova lei falimentar: os efeitos <strong>da</strong><br />
homologação do plano de recuperação extrajudicial. Revista de Direito Mercantil Industrial,<br />
Econômico e Financeiro, v. 141, p. 169-184, 2006.
89<br />
Entretanto, uma análise apriorística do texto legal, pode levar a<br />
conclusão de ter o sistema previsto regra diferencia<strong>da</strong> para o caso de<br />
alienação do estabelecimento <strong>empresa</strong>rial, a depender <strong>da</strong> situação – se<br />
falência ou se recuperação judicial.<br />
Isto, porque o texto do inciso II, do art. 141 137 , <strong>da</strong> Lei de Falências faz<br />
expressa ressalva às obrigações deriva<strong>da</strong>s <strong>da</strong> legislação do trabalho, nos<br />
casos de alienação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> ou de filial, enquanto que o art. 60, do mesmo<br />
estatuto legal, não prevê expressamente a ressalva <strong>da</strong>s obrigações dessas<br />
naturezas. Fazendo-se entender, a princípio que, em se tratando de<br />
recuperação judicial, e analisando o plano de vali<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s normas, não haveria<br />
norma de exceção ao caso específico, razão por que seria váli<strong>da</strong>, ao caso, a<br />
norma geral de sucessão trabalhista prevista nos arts. 10 138 e 448 139 <strong>da</strong> CLT.<br />
Assim, o ponto que se pretende aqui analisar é se a norma prevista no<br />
inciso II, do art. 141 140 , <strong>da</strong> Lei de Falências que afasta a sucessão trabalhista<br />
no caso de falência do empresário pode ser estendi<strong>da</strong> para os casos de<br />
estabelecimento alienado em função do plano de recuperação judicial.<br />
Em um primeiro momento, percebe-se que, por meio de um processo de<br />
abstração, foi construído um princípio em torno <strong>da</strong> preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong><br />
que acaba por orientar a interpretação de alguns mecanismos em direito<br />
<strong>empresa</strong>rial e, em especial, em direito falimentar. O fun<strong>da</strong>mento axiológico de<br />
dito princípio se encontra informado na jurisprudência, normalmente, atrelado a<br />
uma função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>.<br />
Também, ficou evidencia<strong>da</strong> que valorativamente a <strong>empresa</strong> não sofre<br />
alterações em função de estar em recuperação judicial ou em falência:<br />
137 (BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação judicial, a<br />
extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista<br />
dos Tribunais, 2005.).<br />
138 Art. 10 (CLT) Qualquer alteração na estrutura jurídica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> não afetará os direitos<br />
adquiridos por seus empregados. (BRASIL: decreto-Lei n. 5452, de 01 de maio de 1943.<br />
Disponível em: Acesso em: 25<br />
outubro 2008.)<br />
139 Art. 448 (CLT) A mu<strong>da</strong>nça na proprie<strong>da</strong>de ou na estrutura jurídica <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> não afetará<br />
os contratos de trabalhos dos respectivos empregados. (BRASIL: decreto-Lei n. 5452, de 01 de<br />
maio de 1943. Disponível em: <br />
Acesso em: 25 outubro 2008.)<br />
140 BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação judicial, a<br />
extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista<br />
dos Tribunais, 2005.
90<br />
alterações podem ser percebi<strong>da</strong>s na intensi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> crise enfrenta<strong>da</strong> ou mesmo<br />
<strong>da</strong> reputação do empresário que explora a <strong>empresa</strong>.<br />
Dessa forma, o que se propõe agora é verificar se há algum motivo para<br />
se tratar de forma diferencia<strong>da</strong> a sucessão trabalhista <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> em falência<br />
em relação à <strong>empresa</strong> em recuperação judicial. Tal esforço é necessário para<br />
se verificar se há lacuna na lei – a referencia aqui é feita ao texto do art. 60 <strong>da</strong><br />
Lei de Falências -, ou se não é caso de lacuna, para a partir <strong>da</strong>í procurar um<br />
fun<strong>da</strong>mento legal inicial para a formação <strong>da</strong> norma jurídica.<br />
Do ponto de vista econômico, a questão gira em torno <strong>da</strong> maximização<br />
de resultados auferidos – como já colocado. A tensão é então a seguinte: o<br />
risco frente a alienação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, sem a possibili<strong>da</strong>de de se atingir o<br />
patrimônio <strong>da</strong>quele que a adquire, frente aos possíveis ganhos com a dita<br />
alienação comparativamente feita em relação a alienação de bens em<br />
separado.<br />
Percebe-se que, economicamente, as situações de risco e de ganho são<br />
semelhantes tanto na falência quanto na recuperação judicial. Na falência, os<br />
credores se subrrogam no produto <strong>da</strong> alienação do estabelecimento, enquanto<br />
que na recuperação judicial os credores podem ser beneficiados com a<br />
alienação, se esta é reputa<strong>da</strong> como medi<strong>da</strong> eficiente para a reorganização <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>. Tal análise é feita pelo mercado quando <strong>da</strong> provação do plano de<br />
recuperação judicial.<br />
De outro lado, os riscos são também próximos: o valor auferido com a<br />
alienação do estabelecimento pode ser comprometido, principalmente, com a<br />
presença dos custos de transação próprios de uma falência ou recuperação<br />
judicial (o desvalor patrimonial; a deterioração; são exemplos).<br />
Já com relação á distribuição destes riscos, percebe-se a presença de<br />
mecanismos legais tanto na falência quanto na recuperação judicial. Na<br />
falência, o credor trabalhista sofre riscos menores em comparação com os<br />
demais credores, principalmente, em razão <strong>da</strong> preferência do seu crédito. É a<br />
preferência por meio do privilégio ao crédito trabalhista. 141 Já na recuperação<br />
141 Sobre a questão <strong>da</strong> preferência, é interessante a análise proposta pelo prof. Vinícius<br />
Gontijo: Em ver<strong>da</strong>de, o privilégio representa a ordem de vocação do crédito na partilha dos<br />
ativos do devedor, externando-se basicamente, no caso de mais de um credor promover a<br />
execução, sobre a mesma coisa; ou, mais comumente quando vários credores executam de<br />
maneira colegia<strong>da</strong> a garantia comum: o patrimônio do devedor (GONTIJO: 2008).
91<br />
judicial, o credor trabalhista possui seu risco minimizado pela própria restrição<br />
que sofre a liber<strong>da</strong>de do mercado nesse aspecto especial. É o que se percebe<br />
do já mencionado art. 54, <strong>da</strong> Lei de Falências 142 .<br />
Com referência ao aspecto de equi<strong>da</strong>de, percebe-se que tanto na<br />
recuperação judicial, quanto na falência há incidência de normas<br />
protecionistas, estrutura<strong>da</strong>s segundo um contexto específico: o <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> em<br />
crise. Se numa situação ordinária, <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> viável, a preservação dos<br />
interesses do trabalhador – hiposuficiente, normalmente é contrasta<strong>da</strong> com a<br />
do empresário – a jurisprudência deixa isto em evidencia, como colocado no<br />
capítulo II, numa situação de <strong>empresa</strong> em crise, são contrastados interesses de<br />
credores, dentre os quais os trabalhadores, do empresário, e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de.<br />
No primeiro caso, a situação do trabalhador é pensa<strong>da</strong> individualmente –<br />
parece que pela análise do comportamento jurisprudencial que, em que pese<br />
referências recorrentes à função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, a <strong>empresa</strong> também é<br />
analisa<strong>da</strong> do ponto de vista do individualismo, do empresário -, já no segundo<br />
caso, a preservação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> coloca em evidência seu aspecto funcional, o<br />
de corrigir as falhas existentes. A <strong>empresa</strong> é contextualiza<strong>da</strong> de forma a<br />
evidenciar valores que perpassam o interesse direto <strong>da</strong>queles envolvidos em<br />
sua exploração. É o raciocínio tipológico <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> que proporciona esta<br />
abertura de significados, de acordo com o espaço em apreço quando <strong>da</strong><br />
decisão.<br />
Entretanto, como visto, se a existência ou não de crise pode repercutir<br />
no significado <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> – valorativo – a intensi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> crise não provoca<br />
variações de sentido capazes de justificar o tratamento diferenciado <strong>da</strong><br />
sucessão trabalhista na recuperação judicial e na falência.<br />
Diante do que, está coloca<strong>da</strong> a questão <strong>da</strong> semelhança relevante levanta<strong>da</strong> por<br />
Bobbio ao investigar os casos em que se torna possível o recurso <strong>da</strong> analogia.<br />
Logo, se onde há o mesmo motivo, há também a mesma disposição de<br />
direito 143 , abre-se o espaço para a integração normativa, possibilita<strong>da</strong> por meio<br />
de um raciocínio teleológico. No caso é o escopo <strong>da</strong> norma que afasta a<br />
142 BRASIL: Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação judicial, a<br />
extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária. São Paulo: Editora Revista<br />
dos Tribunais, 2005.<br />
143 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. ed. 10. Brasília: UNB. 1982. p.154.
92<br />
sucessão trabalhista na falência e na recuperação judicial é que é enfoca<strong>da</strong>,<br />
diante do sistema jurídico.<br />
Portanto, a integração por meio <strong>da</strong> analogia é proposta tomando como<br />
pressuposto que a analogia não é a inferência do particular (a alienação do<br />
estabelecimento na falência) para o particular (a alienação do estabelecimento<br />
na recuperação judicial), mas <strong>da</strong> in<strong>da</strong>gação <strong>da</strong>quilo que é comum a ambas as<br />
hipóteses legais, e que é reconhecido como decisivo para a valoração<br />
(LARENZ: 1997, p. 545). Ou, de outra forma, o que é decisivo para um<br />
tratamento excepcional <strong>da</strong> sucessão trabalhista na falência em comparação<br />
com a recuperação judicial.<br />
Novamente, a resposta pode ser encontra<strong>da</strong> a partir de um raciocínio<br />
orientado a valores – tipológico – <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. A analogia aqui se justifica<br />
porque valorativamente a <strong>empresa</strong> não sofre alterações se em estado de<br />
falência ou de recuperação. No entanto, a <strong>empresa</strong> sofre alterações valorativas<br />
de um estado de normali<strong>da</strong>de para um estado de crise. Essa a razão pela qual<br />
a norma de exceção – a ausência de sucessão trabalhista – se justifica no<br />
regime falimentar, tanto na falência como na recuperação judicial. É a questão<br />
<strong>da</strong> ratio legis <strong>da</strong>s disposições legais que se procura aferir.
93<br />
5 CONCLUSÃO<br />
No Direito brasileiro, percebe-se que a <strong>empresa</strong>, enquanto instituto<br />
jurídico, está presente nas discussões <strong>da</strong> dogmática jurídica mesmo em<br />
período anterior ao Código Civil de 2002 144 , que, assumi<strong>da</strong>mente, sofre<br />
influências <strong>da</strong> Teoria <strong>da</strong> Empresa.<br />
A partir <strong>da</strong> codificação de 2002, normalmente entendi<strong>da</strong> como marco<br />
legal do chamado moderno Direito Empresarial, os estudos jurídicos <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> ganham importância nos espaços acadêmicos, principalmente, pela<br />
necessi<strong>da</strong>de de se buscar a identi<strong>da</strong>de do Direito Empresarial nesse seu atual<br />
estágio. A expressão identi<strong>da</strong>de é utiliza<strong>da</strong> porque seu sentido é mais largo,<br />
possibilitando a compreensão de que a busca atual extrapola os limites de uma<br />
investigação centra<strong>da</strong> no conteúdo, ou melhor, na delimitação do Direito<br />
Empresarial.<br />
No entanto, percebe-se BRASIL. Código Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva,<br />
2007.<br />
nas produções doutrinárias, ain<strong>da</strong>, um forte traço <strong>da</strong> teoria atomista que<br />
influenciava os estudos do Direito Empresarial em sua segun<strong>da</strong> fase evolutiva.<br />
Esta tendência se deve, em certa medi<strong>da</strong>, ao desenho normativo <strong>da</strong><br />
codificação de 2002: o texto normativo apresenta o empresário como centro do<br />
núcleo produtivo. É a partir deste centro, o empresário, é que são dispostas as<br />
normas deste sistema jurídico: a capaci<strong>da</strong>de para o exercício <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, as<br />
restrições e impedimentos, o regime obrigacional, o estabelecimento<br />
<strong>empresa</strong>rial e sua proteção, o direito societário e o direito falimentar, são<br />
exemplos.<br />
No entanto, entende-se que a crise <strong>da</strong> teoria dos atos de comércio faz<br />
emergir a necessi<strong>da</strong>de não, propriamente, de uma mu<strong>da</strong>nça conceitual – a<br />
substituição do comerciante, como sendo aquele que realiza atos de comércio<br />
pelo empresário, como sendo aquele que exerce a ativi<strong>da</strong>de de <strong>empresa</strong>. A<br />
idéia que justifica este trabalho é a de que a crise <strong>da</strong> teoria dos atos de<br />
144 BRASIL. Código Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
94<br />
comércio revela a crise do Direito Empresarial, pensado e estruturado,<br />
empiricamente, de maneira a atender os reclamos de uma classe especial.<br />
Entende-se que o atual Direito Empresarial se estrutura por meio de um<br />
encontro com a Teoria do Direito, de maneira a repensar seus institutos e, mais<br />
do que isto, evidencia a necessi<strong>da</strong>de de se repensar a forma de ser<br />
compreendido.<br />
Esta necessi<strong>da</strong>de acaba por justificar o marco teórico adotado – o<br />
raciocínio tipológico de Karl Larenz. A <strong>empresa</strong>, no moderno Direito<br />
Empresarial, não é revela<strong>da</strong> a partir de um novo conceito, mas quando é<br />
funcionaliza<strong>da</strong> dentro do sistema jurídico de maneira a orientar a interpretação<br />
teleológica <strong>da</strong>s normas jurídicas.<br />
Ante a esta necessi<strong>da</strong>de, se torna necessário aferir o conteúdo <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong>. Sendo que este conteúdo não pode ser encontrado por meio de uma<br />
reflexão conceitual apenas – a relevância não está propriamente em se abstrair<br />
<strong>da</strong>s instituições jurídicas uma fórmula hermeticamente fecha<strong>da</strong> para a<br />
<strong>empresa</strong>, encontra<strong>da</strong> pela investigação de seus elementos: a ativi<strong>da</strong>de; a<br />
organização; a economici<strong>da</strong>de; a produção e a circulação; e o mercado.<br />
Mas, também, emerge o espaço para se pensar a <strong>empresa</strong> em termos<br />
valorativos. É nesta linha que se justifica a busca por seu conteúdo de<br />
significado, esperando que a sua utilização acabe por revelar a sua função,<br />
numa ótica que entende o Direito como sendo aquele construído a partir de sua<br />
aplicação.<br />
No entanto, se a função <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> é identifica<strong>da</strong> pela forma como<br />
aparece nos argumentos jurídicos, o estudo sobre o seu conteúdo é realizado<br />
por meio de uma abor<strong>da</strong>gem teórica. Neste propósito, são apresenta<strong>da</strong>s as<br />
teorias <strong>da</strong> Firma e a Institucionalista. A primeira justificando a função social <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> a partir do ganho de utili<strong>da</strong>de, em determinados casos, por ela<br />
proporcionado. Efeito que acaba por gerar um ganho social, numa perspectiva<br />
mercadológica, marca<strong>da</strong> pelo mercado de consumo. A segun<strong>da</strong>, justificando<br />
sua função social por meio <strong>da</strong> interação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> com as demais<br />
instituições, sendo tutela<strong>da</strong> no preciso espaço em que observa os institutos<br />
jurídicos – o mercado concorrencial seria um exemplo.
95<br />
Coloca<strong>da</strong> a função social <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>, o Direito Empresarial assume um papel<br />
funcional, instrumental e a <strong>empresa</strong> passa a revelar interesses que extrapolam<br />
os <strong>da</strong>quele que a explora. O Direito a tutela não mais porque decorre do<br />
exercício de um direito subjetivo absoluto, mas porque a socie<strong>da</strong>de,<br />
vivenciando o atual estágio do capitalismo, não a prescinde.<br />
Entretanto, se a sua função é encontra<strong>da</strong> por meio <strong>da</strong> sua aplicação, fica<br />
justifica<strong>da</strong> a necessi<strong>da</strong>de do achamento de seu significado informado pela<br />
jurisprudência. Neste espaço foram analisa<strong>da</strong>s decisões que revelam a função<br />
<strong>da</strong> <strong>empresa</strong> como vetor para decisões que acabam por alterar a própria forma<br />
de se compreender institutos do direito <strong>empresa</strong>rial: a dissolução por vontade<br />
do sócio que deu lugar a dissolução parcial, serve a demonstrar este<br />
movimento. A jurisprudência trabalhista foi verifica<strong>da</strong> como um contraponto<br />
ante a tendência atual. Neste último caso, os argumentos jurídicos ain<strong>da</strong><br />
revelam forte marca <strong>da</strong> compressão do Direito Empresarial sob a visão<br />
atomística.<br />
Por meio do raciocínio desenvolvido – a <strong>empresa</strong> aberta a<br />
considerações valorativas - o sistema falimentar atual (identificado como<br />
recuperatório pela doutrina) passa a ser compreendido segundo uma<br />
metodologia do moderno Direito Empresarial: a que coloca a <strong>empresa</strong> no<br />
centro <strong>da</strong>s relações <strong>empresa</strong>riais, justificando o esforço social em sua<br />
preservação. A crise <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> passa a ser trata<strong>da</strong> visando à preservação<br />
do ganho social. A eficiência alocativa dos recursos e os custos transacionais<br />
envolvidos na recuperação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> passam a ser contrastados com os<br />
envolvidos na falência. A dogmática jurídica passa a instrumentalizar este<br />
objetivo, balizando o escopo de eficiência com o juízo de equi<strong>da</strong>de.<br />
O significado <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> colhido nos argumentos jurídicos são<br />
utilizados de forma a demonstrar uma estabili<strong>da</strong>de entre a <strong>empresa</strong> em<br />
recuperação e a <strong>empresa</strong> na falência: o grau <strong>da</strong> crise enfrenta<strong>da</strong> e a reputação<br />
do empresário é que parece sofrer alterações.<br />
Por fim, o que se procura demonstrar é a necessi<strong>da</strong>de de se compreender o<br />
Direito Empresarial moderno sob uma metodologia diferencia<strong>da</strong>: é funcional em<br />
razão <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> e não do empresário.
96<br />
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fun<strong>da</strong>mentais. Tradução de Virgílio Afonso<br />
<strong>da</strong> Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.<br />
ALVES, Alexandre Ferreira Assumpção; GAMA, Guilherme Calmon Nogueira<br />
(Org.). Temas de direito civil-<strong>empresa</strong>rial. Rio de janeiro: Renovar, 2008<br />
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: <strong>da</strong> definição à aplicação dos<br />
princípios. 2 ed.. São Paulo: Malheiros. 2003.<br />
BAUMAN, Zygmunt.. Moderni<strong>da</strong>de Líqui<strong>da</strong>. Tradução Plínio Dentzien. Rio de<br />
Janeiro: Jorge Zahar. 2001.<br />
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10 ed. Brasília: UNB.<br />
1982.<br />
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 17 ed.. São Paulo:<br />
Malheiros. 2005.<br />
BOURDIER, Pierre. O Poder Simbólico; Tradução Fernando Tomaz. 9 ed. Rio<br />
de Janeiro. 2006.<br />
BRASIL. Código Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.<br />
BRASIL. Constituição (1988). 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.<br />
BRASIL. Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945. Disponível em: <<br />
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del7661.htm> Acesso em: 25<br />
outubro 2008.<br />
BRASIL. Lei n. 556, de 25 de junho de 1850. Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM556.htm> Acesso em: 25<br />
outubro 2008.<br />
BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: <<br />
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404compila<strong>da</strong>.htm> Acesso em: 25<br />
outubro 2008.<br />
BRASIL. Lei ordinária n.°11.101. 9 fevereiro 2005. Regula a recuperação<br />
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de empresária.<br />
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.
97<br />
BULGARELLI, Waldirio. O novo direito <strong>empresa</strong>rial. Rio de Janeiro: Renovar.<br />
2001.<br />
BULGARELLI, Waldirio. Socie<strong>da</strong>des Comerciais. 10 ed.. São Paulo: Atlas.<br />
2001.<br />
CATEB, Alexandre Bueno; GALLO, José Alberto Albeny. Breves consideracoes<br />
sobre a teoria dos contratos incompletos. Berkeley Program in Law &<br />
Economics. Disponível em:<br />
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgiarticle=1052&context=bple<br />
Acesso em 15 junho 2008.<br />
CERNIN, Stephen. Senado dos EUA aprova pacote de aju<strong>da</strong> bilionária a setor<br />
financeiro. Folha de São Paulo. São Paulo. 01 out 2008. disponível em:<br />
<br />
CLARK, Giovani. Política Econômica e Estado. Revista de Direito Mercantil.<br />
São Paulo. N. 141, p. 41-47, jan./mar. 2006.<br />
COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos Jurídicos <strong>da</strong> Macro-Empresa. Editora<br />
Revista dos Tribunais. 1970.<br />
COSTA, Maria Celeste Moraes Guimarães. O Direito Concursal<br />
Contemporâneo: a busca <strong>da</strong> recuperação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong>. 2000. p .8-9.<br />
FASTRICH, Lorenz. Raciocínio jurídico funcional a exemplo do direito<br />
societário. Revista de Direito Mercantil. Tradução de Nilson Lautenschleger.<br />
São Paulo, 122, p. 52-85, abr. 2005.<br />
FERNANDES, Jean Carlos. Reflexões sobre a nova lei falimentar: os efeitos <strong>da</strong><br />
homologação do plano de recuperação extrajudicial. Revista de Direito<br />
Mercantil, v. 141, p. 169-184, 2006.<br />
FONSECA, João Bosco Leopoldino <strong>da</strong>. 2001.<br />
FRANCO, Vera Helena de Mello. Liqui<strong>da</strong>ção, encerramento e extinção <strong>da</strong>s<br />
obrigações do falido. Revista de Direito Mercantil. São Paulo, n.° 140, p. 110-<br />
125, out./dez. 2005.<br />
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4 ed. São Paulo: Artmed. 1997.<br />
GOMES, Orlando. Significado <strong>da</strong> evolução contemporânea do direito de<br />
proprie<strong>da</strong>de. Revista dos Tribunais. n.. 205. nov p. 3-15. 1952.
98<br />
GONTIJO, Vinícius José Marques. Falência do empregador na ação de<br />
execução de crédito trabalhista. Revista de Direito Mercantil.<br />
GONTIJO, Vinícius José Marques. O empresário no código civil brasileiro.<br />
Revista de Julgados do Tribunal de Alça<strong>da</strong> de Minas Gerais. Belo Horizonte,<br />
n.° 94, p. 19-36., jan/mar. 2004.<br />
GRAU, Eros Roberto Grau; FORGIONI, Paula. O Estado, A Empresa e o<br />
Contrato. São Paulo: Malheiros. 2005. p. 48.<br />
GRAU, Eros Roberto. Direito posto e Direito pressuposto. ed. 3. São Paulo:<br />
Malheiros. 2000.<br />
LACERDA, José Candido de Sampaio. Manual de Direito Falimentar. ed. 14.<br />
ver. e atual. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1999.<br />
LARENZ, Karl. Metodologia <strong>da</strong> ciência do direito. ed. 3. Lisboa: Fun<strong>da</strong>ção<br />
Calouste Gulbenkian, 1997.<br />
LEWIS, Sandra Barbon. A íntima relação entre direito e economia. Revista de<br />
Direito Mercantil. São Paulo, n.° 138, p. 249, abr. 2005).<br />
LOBO, Jorge. Da recuperação <strong>da</strong> <strong>empresa</strong> no direito comparado. Rio de<br />
Janeiro: Lúmen Juris. 1993.<br />
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense,<br />
2002.<br />
MONCLAR, Valverde. A experiência <strong>da</strong> comunicação – linguagem e<br />
comunicação. Disponível em: Acesso em 15 de<br />
agosto de 2008.<br />
NUNES, A. J. Avelãs. O direito de exclusão de sócios nas socie<strong>da</strong>des<br />
comerciais. São Paulo; Cultural Paulista. 2001.<br />
OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Comentários à nova lei de falências. São Paulo:<br />
IOB. 2005.<br />
PACHECO, José <strong>da</strong> Silva. Processo de falência e concor<strong>da</strong>ta: comentários à<br />
lei de falências: doutrina, prática e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense.<br />
2004.
99<br />
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradução de Maria Cristina de<br />
Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 30<br />
PIMENTA, Eduardo Goulart. Direito Societário e contratos relacionais: a<br />
eficiência econômica e o papel do Código Civil no preenchimento <strong>da</strong>s lacunas<br />
contratuais <strong>da</strong>s Socie<strong>da</strong>des Limita<strong>da</strong>s. Berkeley Program in Law & Economics.<br />
Disponível em: .<br />
Acesso em 15 junho 2008.<br />
PINHEIRO, Armando Castellar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados.<br />
Rio de Janeiro: Elsevier. 2005.<br />
REQUIAO, Rubens. Manual <strong>da</strong>s Socie<strong>da</strong>de Comerciais. São Paulo: Saraiva.<br />
1978.<br />
RODRIGUES, Frederico Viana. Reflexões sobre a viabili<strong>da</strong>de econômica <strong>da</strong><br />
<strong>empresa</strong> no novo regime concursal brasileiro. Revista de Direito Mercantil. São<br />
Paulo, n.° 138, p. 103-122, abril-junho. 2005.<br />
RUBENS, Requião. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva. 1998<br />
SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. 2 ed. São Paulo: Malheiros.<br />
2002.<br />
SALOMAO FILHO, Calixto. Função social do contrato: primeiras anotações.<br />
Revista de Direito Mercantil. N. 132. out./dez, p. 7-24, 2003.<br />
SCHREIBER, Anderson. Função social <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de na prática<br />
jurisprudencial. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro, n. 6, p. 159-<br />
182, abr./jun. 2001.<br />
SHAVELL, Steven. A Foun<strong>da</strong>tion of economics analyses of law. Harvard<br />
University Press. 2004.<br />
SZTAJN, Rachel. Codificação, decodificação, recodificação: a <strong>empresa</strong> no<br />
código civil brasileiro. Revista de Direito Mercantil. São Paulo. n. 143. p. 11-20,<br />
jul./set. 2006.<br />
SZTAJN, Rachel. Notas sobre as assembléias de credores na lei de<br />
recuperação de <strong>empresa</strong>s. Revista de Direito Mercantil. n. 138. p. 53-70.<br />
abr./jun. 2005.<br />
SZTAJN, Rachel. Teoria Jurídica <strong>da</strong> Empresa. ativi<strong>da</strong>de empresária e<br />
mercados. São Paulo: Atlas, 2004.
100<br />
VALVERDE, Trajano de Miran<strong>da</strong>. Comentários à Lei de Falências. V. 1. ed. 3.<br />
São Paulo: Forense. 1962.<br />
BEVILAQUA, Clovis. Teoria Geral do Direito Civil. Campinas: Red Livros, 2001.<br />
ZYLBERSZTAJN, Décio; Sztajn, Rachel. Direito e Economia. Rio de Janeiro:<br />
Elsevier, 2005.