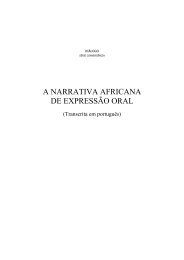Literaturas africanas de expressão portuguesa - Centro Virtual ...
Literaturas africanas de expressão portuguesa - Centro Virtual ...
Literaturas africanas de expressão portuguesa - Centro Virtual ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Biblioteca BreveSÉRIE LITERATURALITERATURAS AFRICANASDE EXPRESSÃO PORTUGUESAI
COMISSÃO CONSULTIVAJACINTO DO PRADO COELHOProf. da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> LisboaJOÃO DE FREITAS BRANCOHistoriador e crítico musicalJOSÉ-AUGUSTO FRANÇAProf. da Universida<strong>de</strong> Nova <strong>de</strong> LisboaDIRECTOR DA PUBLICAÇÃOÁLVARO SALEMA
MANUEL FERREIRA<strong>Literaturas</strong> Africanas<strong>de</strong> ExpressãoPortuguesaIINTRODUÇÃO GERALCABO VERDES. TOMÉ E PRÍNCIPEGUINÉ-BISSAUM.E.I.C.SECRETARIA DE ESTADO DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
ÍNDICEINTRODUÇÃO GERAL Pág.1. Descobertas e expansão ........................................................... 72. Literatura colonial...................................................................... 93. Século XIX ― Sentimento nacional.....................................14Angola .......................................................................................14Cabo Ver<strong>de</strong>...............................................................................19Moçambique.............................................................................26Guiné-Bissau ............................................................................27S. Tomé e Príncipe..................................................................28Perspectiva Geral.....................................................................32CABO VERDE1. Lírica ..........................................................................................342. Narrativa....................................................................................603. Drama........................................................................................694. Bilinguismo cabo-verdiano ....................................................69Raízes (nota final).....................................................................73S. TOMÉ E PRÍNCIPE1. Lírica ..........................................................................................762. Narrativa....................................................................................823. A expressão em crioulo ..........................................................82GUINÉ-BISSAU1. Lírica ..........................................................................................852. A expressão em crioulo ..........................................................91Notas ................................................................................................92Bibliografia......................................................................................114Índice <strong>de</strong> autores, obras e temas........................................................126
INTRODUÇÃO GERAL
DESCOBERTAS E EXPANSÃOA literatura africana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong> nasce <strong>de</strong>uma situação histórica originada no século XV, época emque os portugueses iniciaram a rota da África, polarizada<strong>de</strong>pois pela Ásia, Oceania, Américas. A historiografia e aliteratura <strong>portuguesa</strong>s, sob a óptica expansionista,testemunham o «esforço lusíada» da época renascentista.Cronistas, poetas, historiadores, escritores <strong>de</strong> viagem,homens <strong>de</strong> ciência, pensadores, missionários, viajantes,exploradores, enobreceram a cultura <strong>portuguesa</strong> e, emmuitos aspectos, colocaram-na ao nível da ciência e dasgran<strong>de</strong>s literaturas europeias.Gomes Eanes <strong>de</strong> Zurara, João <strong>de</strong> Barros, Diogo doCouto, Camões, Fernão Men<strong>de</strong>s Pinto, Damião <strong>de</strong>Góis, Garcia <strong>de</strong> Orta, Duarte Pacheco Pereira, sãoalguns dos nomes cujo discurso é alimentado do «saber<strong>de</strong> experiência feito» alcançado a partir do século XV,em <strong>de</strong>clínio já no século XVII e esgotado no século XVII.A obra <strong>de</strong> um Gil Vicente ou, embora escassamente, a<strong>de</strong> poetas do Cancioneiro, ao lado das «coisas <strong>de</strong> folgar»,foram marcadas pela Expansão ao longo dos «bárbarosreinos». Estamos, assim, a referir uma literatura feita porportugueses, fruto da aventura no Além-Mar, no7
período renascentista. Hernâni Cida<strong>de</strong> e outrosglorificam-na no espírito da dilatação da «Fé e oImpério» (A literatura <strong>portuguesa</strong> e a expansão ultramarina,1963 e 1964, 2 vols). Chamemos-lhe a literatura dasDescobertas e Expansão.É evi<strong>de</strong>nte que esta literatura, nascida <strong>de</strong> umaexperiência planetária, numa época em que o mundocristão reconhecia o direito à dominação, à <strong>de</strong>predação eaté à barbárie (a cruz numa mão, e a espada noutra)nada tem a ver com a literatura africana <strong>de</strong> expressão<strong>portuguesa</strong>. Este registo <strong>de</strong>stina-se apenas ou,sobretudo, a retermos factos longinquamenterelacionados com o quadro cultural e político que,séculos <strong>de</strong>pois, havia <strong>de</strong> surgir, e é a razão primeira<strong>de</strong>stas páginas.Quando e como surgiu a literatura africana <strong>de</strong>expressão <strong>portuguesa</strong>? E como se <strong>de</strong>senvolveu?Os portugueses chegaram à Foz do Zaire em 1482 e,em 1575 1 , fundaram a primeira povoação <strong>portuguesa</strong>,São Paulo <strong>de</strong> Assunção <strong>de</strong> Loanda, hoje capital <strong>de</strong>Angola. Dos primeiros contactos com o Reino doCongo dá-nos testemunho a correspondência trocadaentre os reis do Congo e os reis <strong>de</strong> Portugal, além <strong>de</strong>documentos, como os relatórios dos padres jesuítas <strong>de</strong>Angola. Mas o aparecimento <strong>de</strong> uma activida<strong>de</strong> culturalregular na África associa-se intimamente à criação e<strong>de</strong>senvolvimento do ensino oficial e ao alargamento doensino particular ou oficializado 2 , à liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong>expressão e à instalação do prelo, que se registam apartir dos anos quarenta do século XIX 3 .8
LITERATURA COLONIALCom efeito, quatro anos apenas após a instalação doprelo em Angola ocorre a publicação do livroEspontaneida<strong>de</strong>s da minha alma (1849), do angolano,mestiço ao que parece, José da Silva Maia Ferreira, oprimeiro livro impresso na África lusófona 4 . O primeirolivro impresso mas não a mais antiga obra literária <strong>de</strong>autor africano. Por pesquisas que recentemente levámosa cabo é anterior àquele, pelo menos, o poemeto dacabo-verdiana Antónia Gertru<strong>de</strong>s Pusich, Elegia àmemória das infelizes victimas assassinadas por Francisco <strong>de</strong>Mattos Lobo, na noute <strong>de</strong> 25 <strong>de</strong> Junho <strong>de</strong> 1844, publicado emLisboa no mesmo ano. Entretanto não será <strong>de</strong>slocadocitarmos o Tratado breve dos reinos (ou rios) da Guiné, escritoem 1594, da autoria do cabo-verdiano André Alvares <strong>de</strong>Almada; e <strong>de</strong> origem cabo-verdiana se supõe ser AndréDornelas, autor do século XVI, que assina uma <strong>de</strong>scriçãoda Guiné 5 . E até nós chegou, também, pela pena dohistoriador António Oliveira Cadornega, o eco <strong>de</strong> umpoeta satírico, o capitão angolano António DiasMacedo, que «tinha sua veya <strong>de</strong> Poeta».9
Se a Deos chamão por tu,e a el Rey chamão por vós,como chamaremos nós,a três que não fazem hum,que o povo indiscreto, e núfalto <strong>de</strong> experiência, fezem lugar <strong>de</strong> hum trêsque com toda a Corteziatú, nem vós, nem Senhoriamerecem suas mercês 6Tal, porém, não nos autoriza a remontarmos asorigens da poesia angolana a tão recuados tempos,como já, com alguma intemperança, se quis insinuar.Repondo, por isso, a questão com certa objectivida<strong>de</strong>po<strong>de</strong> afirmar-se que a literatura africana chama a si mais<strong>de</strong> um século <strong>de</strong> existência. Este longo período <strong>de</strong> mais<strong>de</strong> um século <strong>de</strong> activida<strong>de</strong> literária está, porém, contidoem duas gran<strong>de</strong>s linhas: a literatura colonial e a literaturaafricana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>. A primeira, a literaturacolonial, <strong>de</strong>fine-se essencialmente pelo facto <strong>de</strong> o centrodo universo narrativo ou poético se vincular ao homemeuropeu e não ao homem africano. No contexto daliteratura colonial, por décadas exaltada, o homem negroaparece como que por aci<strong>de</strong>nte, por vezes vistopaternalisticamente e, quando tal acontece, é já umavanço, porque a norma é a sua animalização oucoisificação. O branco é elevado à categoria <strong>de</strong> heróimítico, o <strong>de</strong>sbravador das terras inóspitas, o portador <strong>de</strong>uma cultura superior. Exemplo: «o único país que po<strong>de</strong>explorar seriamente a África, é Portugal» (prefácio <strong>de</strong>Manuel Pinheiro Chagas a Os sertões d’África, 1880, <strong>de</strong>Alfredo <strong>de</strong> Sarmento, on<strong>de</strong> aliás se po<strong>de</strong> ler sobre onegro: «É um homem na forma, mas os instintos são <strong>de</strong>10
peito português vai estremecendo o marulhar heróicodos Lusíadas» (p. 21), e outros (muitos) como AntónioGonçalves Vi<strong>de</strong>ira, João Teixeira das Neves, irmão <strong>de</strong>Teixeira <strong>de</strong> Pascoaes, Brito Camacho, Contos selvagens(1934). Prolonga-se este tipo <strong>de</strong> literatura até aos nossosdias, com tendência, no entanto, para reflectir os efeitos<strong>de</strong> uma perspectiva humana ajustada à evolução dascondições históricas e políticas, porventura o caso <strong>de</strong>Maria da Graça Freire (A primeira viagem, 1952) e, noutroaspecto, na actualização <strong>de</strong> uma linha que vem <strong>de</strong>Hipólito Raposo, citaríamos António Pires, (SangueCuanhama, 1949). Essa incapacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> penetrar nomundo africano terminou por se instalar na consciência<strong>de</strong> um ou outro (poucos) mais atentos, maisapetrechados do ponto <strong>de</strong> vista teórico, como é o caso<strong>de</strong> José Osório <strong>de</strong> Oliveira, que se interroga a si próprio:«Conseguirei escutar nesta viagem, a voz da raça negra?»(Roteiro <strong>de</strong> África, 1936, p. 55).O tempo histórico, o tempo cultural, para quem,i<strong>de</strong>ologicamente, era incapaz <strong>de</strong> se furtar à insidiosainstauração do fascismo em Portugal e à inscrição legaldo assimilacionismo (aí vinha já o célebre Acto Colonial,<strong>de</strong> 1930), não permitia ou não ajudava a uma tarefa <strong>de</strong>tal monta, que rejeita meros propósitos e exige umareformulação da mentalida<strong>de</strong> do europeu.Hoje, não há lugar para dúvidas: muitas <strong>de</strong>ssas obrasestão con<strong>de</strong>nadas ao esquecimento, salvando-se aquelasque, apesar <strong>de</strong> prejudicadas pelas contigências <strong>de</strong> umaépoca e <strong>de</strong> uma mentalida<strong>de</strong> coloniais, evi<strong>de</strong>nciamcontudo um certo esforço humanístico e uma realqualida<strong>de</strong> estética. Mas, no conjunto, a história vai ser<strong>de</strong> uma severida<strong>de</strong> implacável e arrumará a quasetotalida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sta literatura no discurso da acção12
colonizadora ou no nacionalismo imperial, saudosista e<strong>de</strong>slumbrado 7 .13
SÉCULO XIX ― SENTIMENTO NACIONAL1. ANGOLAÉ interessante notar, porém, que já na segundameta<strong>de</strong> do século XIX, paralelamente a uma literaturacolonial, surgem textos <strong>de</strong> alguns escritores que nãopo<strong>de</strong>rão ser genericamente catalogados <strong>de</strong> autores <strong>de</strong>literatura colonial. Se, por um lado, na representação douniverso africano lhes falece uma perspectiva real ecoerente, por outro enjeitam a exaltação do homembranco, embora possam, como é natural no contexto daépoca, não assumir uma atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> oposição, típicadaquilo que viria a ser a autêntica literatura africana <strong>de</strong>expressão <strong>portuguesa</strong>. Mas irrealista seria exigir isso <strong>de</strong>homens que viveram num período em que ainstitucionalização do regime colonial dificultava umaconsciência anti-colonialista ou outra atitu<strong>de</strong> que nãofosse a <strong>de</strong> aceitá-la como consequência fatal da história.Manifestar nessa época recuada um sentimento africanoou uma sensibilida<strong>de</strong> voltada já para os dados do mundoafricano constitui hoje, a nossos olhos, um acto <strong>de</strong>novida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> pioneirismo. Eles são, com efeito, e neste14
quadro, os antecessores <strong>de</strong> uma negritu<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> umaafricanida<strong>de</strong>.O mais remoto <strong>de</strong>sses escritores, em Angola, é Joséda Silva Maia Ferreira, africano <strong>de</strong> nascimento e <strong>de</strong> cor,que em páginas anteriores já referimos. O seu livro <strong>de</strong>poemas Espontaneida<strong>de</strong>s da minha alma (1849) marca assimo início da literatura angolana <strong>de</strong> língua <strong>portuguesa</strong>.Tessitura poética frágil, é certo, mas que cumpremesmo assim mencioná-lo, até porque <strong>de</strong>, um modogeral, a poesia angolana <strong>de</strong>sse século acusa toda ela umcerto rudimentarismo. A tónica <strong>de</strong>ste discurso é olirismo vasado sobretudo no amor, mas também nafraternida<strong>de</strong>, na gratidão, na recordação familiar, naamiza<strong>de</strong>, no enlevo rústico ou paisagístico. E nestecampo semântico variado e não muito complexo nemprofundo, palpita ainda, e isto é importante, a ternuraromântica <strong>de</strong> um sentimento pátrio:Foi ali que por voz suave e santaOuvi e cri em Deos! É minha pátria!, 8subscreve José da Silva Maia Ferreira no poema «Aminha terra», datado do Rio <strong>de</strong> Janeiro (1849).Cerca <strong>de</strong> quinze anos <strong>de</strong>pois outros poetas dão sinal<strong>de</strong> si em Luanda. Porém esta participação, comexcepção para Cor<strong>de</strong>iro da Matta, <strong>de</strong>ve-se a portuguesesradicados. É o caso <strong>de</strong> Eduardo Neves (c. 1865 ― séc.XX), apenas com obra dispersa. Ou o <strong>de</strong> J. CândidoFurtado (séc. XIX ― 1905), também poeta, que viveupor largos anos em Angola. Parte da sua poesia(também dispersa) po<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar-se, tal como a <strong>de</strong>outros, indiciadora <strong>de</strong> representação do tópico da cor:15
Qu’importa a côr, se as graças, se a canduraSe as fórmas divinaes do corpo teuSe escon<strong>de</strong>m, se adivinhão, se apercebemSob esse tão subtil, ligeiro véu? 9Ou, então, Ernesto Marecos (1836-1879), que viveuem Luanda <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1850, um dos fundadores da revista AAurora, adiante citada, terminando por falecer emMoçambique. Autor <strong>de</strong> Juca, a Matumbolla (1865), o seudiscurso é uma narração poética trabalhada sobre uma«lenda africana», que o autor situa na região da Lunda.O tema central é o crime que por amor se pratica e seredime também na morte heróica: «E buscou perdão namorte/Qual cumpria ao moço forte,/Ao leoninocaçador»); e o «milagre do amor» vai assumir-se emressurreição «juncto ao triste cemitério/Que a bella Jucaescon<strong>de</strong>u» 10 .No domínio da narrativa impõe-se o nome <strong>de</strong> AlfredoTroni (1845-1904), em Luanda <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1873, on<strong>de</strong>faleceu. Jornalista combativo e prestigiado assina oromancinho Nga Mutúri, publicado em folhetins nosjornais lisboetas Diário da Manhã e Jornal do Comércio e dasColónias, em 1882, e agora reeditado (1973). Centrada naárea mestiça da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Luanda da segunda meta<strong>de</strong> doséculo XIX, os dons revelados em Nga Mutúri não são <strong>de</strong>somenos, antes pelo contrário. Des<strong>de</strong> o momento emque, sendo ainda criança, o tio é obrigado a vendê-la porforça do quituxi (instituição jurídica africana), passandopela fase em que se transforma na mulher do brancoque a comprou, <strong>de</strong>pois pela viuvez (Nga Mutúri =Senhora Viúva), até ao momento em que o narrador dáo corte final da história, longo é o percurso dapersonagem principal. Através <strong>de</strong> vários sucessos epequenas histórias encaixadas, o leque social <strong>de</strong> Luanda16
vai-se abrindo a nossos olhos: relações familiares,justiça, hábitos sociais, religiosos, culinária, tradições<strong>africanas</strong> <strong>de</strong> algum modo reelaboradas, conceitos <strong>de</strong>vida, conceitos morais, etc. Alfredo Troni, revelando umconhecimento concreto da socieda<strong>de</strong> luan<strong>de</strong>nse, numalinguagem <strong>de</strong>purada, cingida ao real, faz gala <strong>de</strong> umasegurança organizativa invulgar e cuidada utilização <strong>de</strong>um estilo que vai à ironia repousada, a uma certa malíciasubtil buscar o tom geral da narração, mas com talciência que, salvo uma ou outra rara excepção, se<strong>de</strong>fen<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma eventual distanciação que fatalmenteempobreceria o texto. No toque <strong>de</strong> relevo da crítica <strong>de</strong>costumes sobressai a alienação trazida pela assimilaçãocultural e a transparência da coisificação do homemnegro na estrutura instável colonizado/colonizador. Emresumo, texto <strong>de</strong> prazer e texto <strong>de</strong> conhecimento.Já terá <strong>de</strong> se atribuir menos importância ao Romanceíntimo (1892), 2.ª ed. da série Scenas d’África, <strong>de</strong> PedroFélix Machado, ao que parece nascido em Angola (c.1860 ― séc. XX). Começamos por nos convencer <strong>de</strong> quea narrativa, cuja acção se reparte por Angola e Lisboa,só a muito custo se liberta do âmbito <strong>de</strong> uma literaturacolonial, mau grado a manipulação <strong>de</strong> personagens daburguesia <strong>de</strong> duvidosa honorabilida<strong>de</strong>. Incluí-la aqui éum tanto pela meia dúzia <strong>de</strong> páginas que alu<strong>de</strong>m a «umimportante embarque <strong>de</strong> negros que interessava muitosdos principaes negociantes d’aquella praça» (p. 28) e tal«embarque projectado era <strong>de</strong> oito centas cabeças... <strong>de</strong>alcatrão ― diziam os entendidos ― as quaes n’essaépocha, <strong>de</strong>viam ren<strong>de</strong>r, livres para os carregadores, unsseis centos contos.» (p. 30). Como quer que seja, paraum juizo <strong>de</strong>finitivo, seria necessário conhecermos a sériecompleta 11 .17
O contributo <strong>de</strong> autores <strong>de</strong> origem africana, os «filhosdo país», encontra em Joaquim Dias Cor<strong>de</strong>iro da Matta[Jaquim Ria Matta (1857 ― 1894) uma fonte preciosa.Estimulado pelo missionário suiço Héli Chatelain,antropólogo ao serviço do governo americano, mais <strong>de</strong>uma vez <strong>de</strong>sembarcado em Luanda, a quem se <strong>de</strong>ve nãosó uma estimulante influência junto dos intelectuaisangolanos, como também um trabalho importante nodomínio da pesquisa linguística e etnográfica, <strong>de</strong> que se<strong>de</strong>staca Folk ― Tales of Angola (1897), em edição<strong>portuguesa</strong> com o título Contos populares <strong>de</strong> Angola, 1964.J. Cor<strong>de</strong>iro da Matta, figura <strong>de</strong>stacada da chamadageração <strong>de</strong> 1880 e um dos valores <strong>de</strong> maior evidência doséculo XIX, incitava os seus compatriotas a <strong>de</strong>dicarem«algumas horas <strong>de</strong> lazer para a fundação da nossaliteratura» [o sublinhado é <strong>de</strong> quem assina este trabalho](in Philosophia popular em proverbios angolenses, Lisboa,1891). Filólogo, etnólogo, jornalista e poeta, parte da suaobra (alguns manuscritos, como os 114 contos angolanos)per<strong>de</strong>u-se 12 . O seu livro <strong>de</strong> versos Delirios, 1857 ― 1887(Luanda, 1887), que se consi<strong>de</strong>ra também <strong>de</strong>saparecido,mas <strong>de</strong> que se conhecem algumas das suas poesias,avança na contribuição do tópico da cor, como nocapítulo seguinte nos é dado comentar.Outros mais se afirmam por essa época, como JorgeEduardo Rosa e Lourenço do Carmo Ferreira, mas amaioria militando no jornalismo, em gran<strong>de</strong> partepolítico e interveniente, não raro <strong>de</strong>nunciador <strong>de</strong>prepotências e abusos da administração colonial ou <strong>de</strong><strong>de</strong>smandos e repressões <strong>de</strong> sectores políticos eeconómicos. O Echo <strong>de</strong> Angola, por exemplo, (houveoutros), fundado em 1881 era dirigido apenas pormestiços e negros (os «filhos do país»). Inclusive18
assinala-se a existência, por regra efémera, <strong>de</strong> jornais erevistas como A Aurora (Luanda, 1856), O Sertão (1886),Ensaios Literários (Luanda, 1901), ao que parece todas<strong>de</strong>saparecidas, e Luz e Crença (Luanda, 1902 ― 1903),para além <strong>de</strong> outras não propriamente literárias ― comoé o caso d’O Comércio <strong>de</strong> Luanda (1867) ― mas quemantinham secções, pelo menos, literárias. E refira-seainda a existência <strong>de</strong> associações literárias e culturais,havendo conhecimento concreto da AssociaçãoLiteraria, Angolana 13 . É <strong>de</strong> igual modo um jornalismodaquele teor o que, em certa medida, existiu noarquipélago do Cabo Ver<strong>de</strong> e em Moçambique 14 .2. CABO VERDEDe qualquer modo, será <strong>de</strong> admitir ter sido menosresistente e organizada a vida cultural em Moçambiquedo que em Angola e Cabo Ver<strong>de</strong> 15 . É certo que <strong>de</strong> umamaneira geral os intelectuais cabo-verdianos <strong>de</strong> origemeuropeia terminaram por emigrar para Portugal, namaioria dos casos por motivos familiares, e foi emLisboa que muitos se fizeram escritores, naturalmente<strong>de</strong>senraizados dos problemas da Terra-Mãe, alguns <strong>de</strong>lesacabando por alcançar lugar <strong>de</strong> prestígio nos meiosliterários lisboetas, <strong>de</strong>ixando obras <strong>de</strong> mérito, comoAntónia Gertru<strong>de</strong>s Pusich (1805 ― 1883) e Henrique <strong>de</strong>Vasconcelos (1875 ― 1924), autor <strong>de</strong> uma vasta obra 16 .No entanto, criado e accionado pelo cónego AntónioManuel Teixeira, o Almanach Luso ― Africano (2 vols.,1894 e 1899) regista colaboração <strong>de</strong> natureza literária.Porventura período ainda mal estudado, afirmações<strong>de</strong>finitivas po<strong>de</strong>m induzir-nos em erro. No entanto,19
cada vez mais se nos enraiza esta convição: não houveem Cabo Ver<strong>de</strong> uma verda<strong>de</strong>ira literatura colonial pormuito insólita que possa parecer esta afirmação. Operíodo colonial não implica forçosamente a existência<strong>de</strong> uma literatura colonial nos termos em que para trás a<strong>de</strong>signámos. A colonização, a partir da segunda meta<strong>de</strong>do século XIX, havia já adquirido no Arquipélago umafeição própria. Pelo visto, a posse da terra e postos daAdministração, a pouco e pouco transitavam para asmãos <strong>de</strong> uma burguesia cabo-verdiana, mestiça, brancaou negra. Isto, que não condiciona a exploração, po<strong>de</strong>condicionar as relações da exploração e alterar assim anatureza da oposição: em vez <strong>de</strong>colonizado/colonizador, flectiria, em gran<strong>de</strong> parte, paraexplorado/explorador, tal como suce<strong>de</strong> nas socieda<strong>de</strong>s<strong>de</strong> tipo capitalista, salvaguardando, claro, e sempre, osaspectos <strong>de</strong> uma situação especificamente colonial,notadamente nas relações entre o po<strong>de</strong>r político e aspopulações.Um exemplo elucidativo do que acabamos <strong>de</strong> afirmar,entre outros, é a narrativa <strong>de</strong> José Evaristo <strong>de</strong> Almeida,por nós há alguns anos referenciado, O escravo, cujaacção <strong>de</strong>corre na primeira meta<strong>de</strong> do século XIX e sesitua na ilha <strong>de</strong> Santiago com incidências, através <strong>de</strong>flashbacks, na ilha <strong>de</strong> Santo Antão, e referências a Lisboae a Bissau 17 .Marcado, como é óbvio, pelas características daliteratura do período romântico, nos segmentos daintriga ganham realce a exacerbação dos sentimentos <strong>de</strong>amor ou <strong>de</strong> fraternida<strong>de</strong>, o amor platónico, a tramadramática das relações familiares no jogo do imprevisto,chegando a esboçar-se o incesto e, <strong>de</strong> sequência emsequência, na acumulação dos acontecimentos, a20
tragédia <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ia-se, alarga-se, intensifica-se. Umadas virtu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ste texto está em que a quase totalida<strong>de</strong>das personagens manipuladas são <strong>africanas</strong> (negros,mestiços, mulatos). E o espaço é o da escravidão,abrindo-se-nos à compreensão <strong>de</strong> um mundo longínquono tempo, permitindo uma perspectiva diacrónica <strong>de</strong>largo alcance. Assim, e em termos <strong>de</strong> escrita, ficamos asaber, ao vivo, que senhores <strong>de</strong> escravos havia que eramafricanos: pelo menos, mulatos.Romance libertador, procurando redimir ahumilhação escrava e compreen<strong>de</strong>r e valorizar o homemafricano em geral; organização romanesca equilibrada, alinguagem d’O escravo suporta o confronto com autoresmais do que minimamente dotados, com ressalva paraos diálogos, <strong>de</strong>masiadamente retóricos, <strong>de</strong>sajustados àcapacida<strong>de</strong> expressiva dos protagonistas ― mas esse étambém um senão que se po<strong>de</strong> endossar a muitosescritores <strong>de</strong> valimento da época romântica (e nãoapenas).Ora este texto <strong>de</strong> José Evaristo d’Almeida, naverda<strong>de</strong>, vem ao encontro daquilo que nos andava, atéhá pouco, no domínio da suspeição: o não ter havidoem Cabo Ver<strong>de</strong> uma literatura colonial.O escravo é um exemplo acabado ao qual po<strong>de</strong>mosjuntar, também por localização recente, outros textos, eestes agora <strong>de</strong> autores cabo-verdianos. António <strong>de</strong>Arteaga: «Amores <strong>de</strong> uma creoula», 1911 18 e «Vinteanos <strong>de</strong>pois», 1911 19 ; Guilherme A. da Cunha Dantas(século XIX ― 1888): «Bosquejos d’um passeio aointerior da ilha <strong>de</strong> S. Thiago», 1912 20 , «Contos singelos― Nhô José Pedro ou Scenas da ilha Brava», 1913 21 , e«Memória <strong>de</strong> um rapaz pobre», romance, 1913 22 ;Eugénio Tavares (1867 ― 1936): «Vida creoula na21
América», 1912 - 1913 23 , «A virgem e o menino mortos<strong>de</strong> fome», 1913 24 , «Dramas da pesca da baleia», 1913 25 .E com este registo, que ora se faz, ao que julgamos pelaprimeira vez, se começa a preencher a gran<strong>de</strong> lacuna quevinha envolvendo o quadro histórico da literatura caboverdianano século XIX e começos do século XX.De um modo geral, estes autores proce<strong>de</strong>m às suasabordagens colocando-se <strong>de</strong>ntro do universo caboverdianoe o seu registo é dominado pelo concurso <strong>de</strong>algumas das contradições do sistema social, don<strong>de</strong> umamensagem criticamente positiva e esclarecedora.Cedo em Cabo Ver<strong>de</strong> se teria criado e <strong>de</strong>senvolvido oensino primário particular, e <strong>de</strong>pois o secundário. Hánotícia (assinalamo-lo em nota), da criação <strong>de</strong>bibliotecas, como a da Praia, <strong>de</strong> associações culturais,entre outras.O padre António Vieira, numa das suas <strong>de</strong>rrotas parao Brasil, <strong>de</strong> passagem pela que é hoje cida<strong>de</strong> da Praia,capital <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, dá-nos uma ajuda paravisionarmos um tanto melhor esse grau <strong>de</strong><strong>de</strong>senvolvimento e saber, havido já no recuado séculoXVII: «São todos pretos, mas sómente neste acci<strong>de</strong>nte sedistinguem dos europeus. Tem gran<strong>de</strong> juizo ehabilida<strong>de</strong>, e toda a politica que cabe em gente sem fé esem muitas riquezas, que vem a ser o que ensina anatureza». Adiantava ainda que havia ali «clerigos econegos tão negros como azeviche; mas tão compostos,tão auctorizados, tão doutos, tão gran<strong>de</strong>s musicos, tãodiscretos e bem morigerados, que po<strong>de</strong>m fazer invejasaos que lá vemos nas nossas cathedraes» 26 .Por outro lado, ali se vai reestruturando uma culturacal<strong>de</strong>ada nos valores africanos e europeus, ten<strong>de</strong>ndopara uma univalência cultural e construindo uma22
harmonia racial que contrasta, por exemplo, com o casoantilhano ― e isto para referirmos um fenómeno <strong>de</strong>aculturação também <strong>de</strong> natureza insular. O sentimentoda cor da pele tão diluído é que a literatura caboverdiananão chega a <strong>de</strong>nunciar a cor das personagens.E, se tal acontece, a distinção vem envolvida <strong>de</strong> umacarga afectiva 27 .Tudo quanto vem <strong>de</strong> dizer-se pressupõe não só aexistência <strong>de</strong> condições propícias ao aparecimento <strong>de</strong>produtores <strong>de</strong> textos como também à formação <strong>de</strong> umaliteratura <strong>de</strong> características especiais no seio do próprioséculo XIX. A maioria sem livro publicado, é certo. Aosnomes já referidos ajuntamos mais os <strong>de</strong> poetas comoLuiz Theodoro <strong>de</strong> Freitas e Costa, (1908 ― Séc. XX),José Maria <strong>de</strong> Sousa Monteiro Junior (1846 ― 1909) eCustódio José Duarte, (1841 ― 1893), este últimopossivelmente sem livro publicado. E a estes há queagrupar figuras esquecidas por jornais, revistas ealmanaques, como Manuel Alves <strong>de</strong> Figueiredo <strong>de</strong>Barros, (1895 ― séc. XX), António Corsino Lopes daSilva (1893 ― séc. XX), João Mariano, (1891 ― séc. XX),já citado, Gertru<strong>de</strong>s Ferreira Lima (séc. XIX ― séc. XX),todos poetas. Como poetas são Joaquim Maria AugustoBarreto (1850 ― séc. XIX), Luis Medina Vasconcelos(séc. XIX ― séc. XX), Rodrigo Aleixo ou, com obrapublicada, João José Nunes, (1885 ― c. 1965/6), MárioDuarte Pinto, (1887 ― 1958) 28 . A partir da década <strong>de</strong>vinte o nome que se impõe à consi<strong>de</strong>ração pública é o<strong>de</strong> José Lopes (1872 ― 1962), <strong>de</strong> par com o <strong>de</strong> EugénioTavares (1867 ― 1930) (este, essencialmente <strong>de</strong>expressão dialectal) e o do poeta bilingue PedroCardoso (c. 1890 ― 1942), também autor do estudo23
Folclore caboverdiano (1933; finalmente, Januário Leite(1865 ― 1930).Foi todo este percurso <strong>de</strong> quase um século quefuncionou como fermento da original explosão trazidapela Clarida<strong>de</strong>, como um «longo processus subterrâneo<strong>de</strong> consciencialização cultural» (Jaime <strong>de</strong> Figueiredo inIntrodução à antologia Poetas mo<strong>de</strong>rnos cabo-verdianos,1961, p. XVI).Mas, pergunta-se: José Lopes ou Pedro Cardoso (esteenquanto poeta <strong>de</strong> língua <strong>portuguesa</strong>) ou Januário Leitetrouxeram ou não uma contribuição válida para amo<strong>de</strong>rna poesia? Consi<strong>de</strong>ra-se a autêntica literaturacabo-verdiana aquela que exprime a cabo-verdianida<strong>de</strong>, ouseja o conjunto <strong>de</strong> textos cujo enunciado reflecte o realcabo-verdiano. Com frequência, e alguma veemência, apartir <strong>de</strong> década <strong>de</strong> trinta, a questão ficou <strong>de</strong>vidamenteclarificada e <strong>de</strong>marcada, embora nem sempre isenta <strong>de</strong>excessos, como quase sempre acontece em momentos<strong>de</strong> ruptura (e a parte <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> que nisso noscabe não a queremos enjeitar) 29 .Mas importa averiguar por que razão estes escritores,com especial relevo para José Lopes, sofreram o ataquee <strong>de</strong>pois a marginalização das gerações que lhessuce<strong>de</strong>ram. Os intelectuais e escritores, a partir daClarida<strong>de</strong>, como adiante teremos ocasião <strong>de</strong> verificar,projectaram o seu esforço criador nos gran<strong>de</strong>ssegmentos que representavam ou simbolizavam a parteviva da sua pátria, ou seja, aquela que não adoptava oscritérios e os padrões que serviam o colonialismo; eassim, aberta ou implicitamente, con<strong>de</strong>navam tudoquanto vivesse fora <strong>de</strong>ste projecto nacional.Simplesmente, acontece que o arquipélago <strong>de</strong> CaboVer<strong>de</strong> é hoje uma República in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte. A sua24
ealida<strong>de</strong> política é, por essência, outra bem diferente. Asua realida<strong>de</strong> histórica, outra é. Com isto se conjugatambém uma nova realida<strong>de</strong> cultural. A este período,logicamente correspon<strong>de</strong>rá uma nova literatura ou umanova fase da sua literatura. Subjacente ou emergente atudo isto está uma consciência nacional. Está aformação <strong>de</strong> um profundo sentimento nacional que há<strong>de</strong>alimentar-se nas raízes da longa história do processosocial e político <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, não a partir da data emque a luta foi <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ada pelo P. A. I. G. C., não apartir da data das teses <strong>de</strong> Amilcar Cabral (embora porvia <strong>de</strong> tudo isto mesmo), mas a partir da remota origemcabo-verdiana.E esta começa quando os portugueses fizeram<strong>de</strong>sembarcar nas ilhas os primeiros colonos e osprimeiros escravos. Este será o caminho para a busca <strong>de</strong>uma totalida<strong>de</strong> histórica, política, social, económica ecultural. Concomitantemente, o mesmo suce<strong>de</strong>rá para asua literatura. Com isto queremos dizer que estamosconvencidos (só aos cabo-verdianos competirá fazer oque julgarem por bem) que os futuros historiadores daliteratura, os futuros estudiosos do processo culturalcabo-verdiano terminarão por consi<strong>de</strong>rar a globalida<strong>de</strong>da activida<strong>de</strong> literária levada a cabo ao longo dasdécadas ou <strong>de</strong> séculos pelo homem cabo-verdiano. E,<strong>de</strong>ste modo, todos aqueles que foram consi<strong>de</strong>radosantecessores, ou precursores, terão o seu lugar própriona história da literatura cabo-verdiana. Se este critériovier a ser consi<strong>de</strong>rado correcto, naturalmente ele se há<strong>de</strong>aplicar a Angola, Moçambique, S. Tomé e Príncipe eGuiné-Bissau. As futuras histórias da literatura e dacultura dos novos países africanos terminarão porrecuperar aqueles autores naquilo que na sua obra25
houver <strong>de</strong> significação nacional. Não foi outra coisa oque aconteceu no Brasil e difícil se nos afigura que possaser <strong>de</strong> outro modo nos casos vertentes. É evi<strong>de</strong>nte que,ao referirmos o Brasil, estamos a consi<strong>de</strong>rar sobretudo operíodo colonial encerrado com a in<strong>de</strong>pendência doBrasil em 1822. Isto não invalida que, para além daseventuais ou possíveis subdivisões, não venha aconsi<strong>de</strong>rar-se a literatura cabo-verdiana em duas gran<strong>de</strong>sfases: antes e <strong>de</strong>pois da Clarida<strong>de</strong>.3. MOÇAMBIQUEEm Moçambique, com um índice menor <strong>de</strong> europeusdo que em Angola, com uma fixação <strong>de</strong> populaçãobranca mais instável, não <strong>de</strong>veriam ter sido criadas ascondições culturais suficientes para o <strong>de</strong>senvolvimento<strong>de</strong> uma activida<strong>de</strong> literária cujo eco chegasse até aosnossos dias 30 . Nem se dá pela presença do notávelpoeta português Tomás António Gonzaga (1744 ―1810), <strong>de</strong>gredado do Brasil para a ilha <strong>de</strong> Moçambiquecerca <strong>de</strong> 1792, on<strong>de</strong> faleceria. Não obstante, a imprensada época faz-se eco <strong>de</strong> críticas ao po<strong>de</strong>r e àadministração; e a literatura, através <strong>de</strong> poemaspublicados <strong>de</strong> quando em quando, ensaia os primeirospassos da sua existência. Destacam-se os semanários OAfricano (1877), O vigilante (1882?), Clamor Africano (1892?) que não usavam <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar <strong>de</strong>núncias e ataques àcorrupção e ao <strong>de</strong>sumano tratamento dado àspopulações <strong>africanas</strong>, embora por vezes revelando umaperspectiva contraditória na análise global dosproblemas («Contributo para a história da Imprensa emMoçambique». Vi<strong>de</strong> Bibliografia). Jornalistas26
prestigiados a partir da primeira década do século XXsão os irmãos, mestiços, José e João Abasini quefundam O Africano (1908-1920) e vão continuar a suaacção política e pedagógica em O Brado Africano (1918).A estes dois nomes se junta o do seu compatriotaEstácio Dias. Todavia, não há, até agora, conhecimento<strong>de</strong> haver sido publicado em Moçambique qualquerromance ou livro <strong>de</strong> poemas, antes do Livro da dor, 1925(contos) <strong>de</strong> João Albasini, o que não significa, <strong>de</strong>maneira nenhuma, a hipótese, ainda que remota, daexistência <strong>de</strong> qualquer obra que não tenha sido ainda<strong>de</strong>tectada.Como quer que seja, para a formulação <strong>de</strong> umacorrecta i<strong>de</strong>ia dos valores que povoam a última parte doséculo XIX e a primeira do século XX, em relação aqualquer <strong>de</strong>stes países, é necessário ter em conta acolaboração dada aos almanaques, com especial atençãoao Almanach <strong>de</strong> Lembranças (1851 ― 1932), publicado emLisboa, mas para on<strong>de</strong> convergiam muitos poetasafricanos da língua <strong>portuguesa</strong>.4. GUINÉ - BISSAUConforme adiante procuraremos <strong>de</strong>senvolver, nãoforam criadas na Guiné-Bissau condições sócio-culturaispropícias à revelação <strong>de</strong> valores literários. Basta termospresente que o primeiro jornal <strong>de</strong>ssa ex-colónia, o Pró-Guiné, foi fundado em 1924. Há, no entanto, que<strong>de</strong>stacar uma figura <strong>de</strong> relevo, a solicitar as atenções dainvestigação, o cónego Marcelino Marques <strong>de</strong> Barros(1843 ― 1929) que no campo da etnografia (Literaturados Negros, 1900) <strong>de</strong>senvolveu gran<strong>de</strong> aplicação,27
sintonizando-se em qualida<strong>de</strong> com os especialistasportugueses coevos que, frize-se, eram <strong>de</strong> nível europeu.Para além da obra citada <strong>de</strong>ixou colaboração dispersa,inclusivamente no Almanach Luso-Africano para 1899(Cabo Ver<strong>de</strong>), na Revista Lusitana, A Tribuna, Boletim daSocieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Geografia <strong>de</strong> Lisboa, Anais das MissõesUltramarinas; Voz da Pátria, na qual publicou canções econtos, dois dos quais republicados por J. Leite <strong>de</strong>Vasconcelos em Contos populares e lendas, vol. 1, 1964.Finalmente parece ter <strong>de</strong>ixado um manuscrito: «Contose cantares africanos», por certo da Guiné-Bissau.5. S. TOMÉ E PRÍNCIPEA evolução social <strong>de</strong> São Tomé e Príncipe teria sidoparalela, em muitos aspectos, à <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> 31 . Mas,em meados do século XIX, implantando-se o sistema <strong>de</strong>monocultura, a burguesia negra e mestiça vai serviolentamente substituída pelos monopóliosportugueses, o processo social do Arquipélago alteradoe travada a miscigenação étnica e cultural. Mesmo assim,não po<strong>de</strong>m <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rados os efeitos docontacto <strong>de</strong> culturas. A sua poesia, <strong>de</strong> um modo geral,exprime exactamente isso; mas, na essência, égenuinamente africana.A primeira obra literária <strong>de</strong> que se tem conhecimentorelacionada com S. Tomé e Príncipe é o mo<strong>de</strong>stolivrinho <strong>de</strong> poemas Equatoriaes (1896) do portuguêsAntónio Almada Negreiros (1868 ― 1939), que ali viveumuitos anos e terminou por falecer em França. A últimaé a <strong>de</strong> um mo<strong>de</strong>rno poeta português, crítico, e professoruniversitário em Cardiff, Alexandre Pinheiro Torres,28
cujo título, A Terra <strong>de</strong> meu pai (1972), nos fornece umapista: memorialismo bebido na ilha, por artes superiores<strong>de</strong> criação literária metamorfoseada na ilha «que todoséramos neste país solitário». Sem uma revista literária,sem uma activida<strong>de</strong> cultural própria, sem uma imprensasignificativa, apesar do seu primeiro periódico, OEquador, ter sido fundado em 1869, com umaescolarida<strong>de</strong> mais do que carencial os reduzidos quadrosliterários do Arquipélago naturalmente só em Portugalencontraram o ambiente propício à revelação das suaspotencialida<strong>de</strong>s criadoras. O primeiro caso acontecelogo nos fins do século XIX com Caetano da CostaAlegre (1864 ― 1890), (Versos, 1916) cuja obra foi<strong>de</strong>ixada inédita <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o século passado. Cabe aqui,todavia, uma referência particular ao teatro a quepo<strong>de</strong>remos chamar «popular», pelas características erelevância que assume no arquipélago <strong>de</strong> S. Tomé ePríncipe. Trata-se, em especial, <strong>de</strong> duas peças: O tchiloliou A tragédia do Marquês <strong>de</strong> Mântua e <strong>de</strong> Carloto Magno e doAuto <strong>de</strong> Floripes, mas com preferência para a primeira. Asegunda oriunda da tradição popular <strong>portuguesa</strong>; e Otchiloli supõe-se ser o auto do dramaturgo português doséculo XVI, <strong>de</strong> origem ma<strong>de</strong>irense, Baltasar Dias, levado,tudo leva a crer, pelos colonos me<strong>de</strong>irenses na época daocupação e povoamento. Reapropriados pela população<strong>de</strong> S. Tomé (e do Príncipe) estão profundamenteinstitucionalizados no Arquipélago, principalmente Otchiloli mercê da actuação <strong>de</strong> vários grupos teatraispopulares que, continuadamente, se dão à suarepresentação, enriquecida por uma readaptação dotexto e encenação, cenografia e ilustração musicalnotáveis.29
Parece ter sido um homem infeliz, em Lisboa, o autor<strong>de</strong> Versos, Costa Alegre:Tu tens horror <strong>de</strong> mim, bem sei, Aurora,Tu és dia, eu sou a noite espessa 32«Aurora» aqui é um ente humano e não um fenómenocósmico. A ambiguida<strong>de</strong> resolve-se na leitura completado poema. Caetano da Costa Alegre utiliza este signopolissémico com a intenção, ao cabo, <strong>de</strong> ele traduzir acor branca:És a luz, eu a sombra pavorosa,Eu sou a tua antítese frisante 33A poesia <strong>de</strong> Caetano da Costa Alegre, na quasetotalida<strong>de</strong>, funciona espartilhada num mecanismoantitético. Exprime a situação <strong>de</strong>sencantada do homemnegro numa cida<strong>de</strong> europeia, neste caso Lisboa. Versos é,porventura, a mais acabada confissão que se conhece,quiçá mesmo nas outras literaturas <strong>africanas</strong> <strong>de</strong>expressão europeia, do negro alienado. Costa Alegre,não se dando conta (impossível, diríamos, no século XIXe no tempo cultural e político da área lusófona) dascontradições que o bloqueavam, faz-se cativo da suacondição <strong>de</strong> humilhado:A minha côr é negra,Indica luto e pena;És luz, que nos alegra,A tua côr morena.É negra a minha raça,A tua raça é branca,... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Todo eu sou um <strong>de</strong>feito 3430
Como tenta Costa Alegre <strong>de</strong>sbloquear-se <strong>de</strong>stasituação? Porque «negra» é a sua «raça», «todo» ele é um«<strong>de</strong>feito». Como po<strong>de</strong> ele reencontrar o seu equilíbriopsíquico? Alienado, in-consciencializado, batido no<strong>de</strong>serto social em que se movimenta, então cura libertarseatravés <strong>de</strong> uma compensação. Revoltando-se?Clamando contra a injustiça que o atinge? Não.Contrapondo atributos morais. «Ah! pálida mulher, se tués bela, [...] Ama o belo também nesta aparência!» 35 .Amiú<strong>de</strong> as relacionações antinómicas vai buscá-las aoCosmo:«Só explendor por fóra,Só trevas é no centro!Ó Sol, és meu inverso:Negro por fóra, eu tenho amor cá <strong>de</strong>ntro» 36Com efeito, a sua poesia é a <strong>de</strong> um homeminfelicitado. Amiú<strong>de</strong> recorrendo à comparação e àantítese, as figuras mais pertinentes são as quesignificam ou simbolizam as cores «negro» e «branco».Da erosão da sua alma transita para a obsessão infeliz,lutando por restabelecer a sua dignida<strong>de</strong> no refúgio doapelo à evidência moralizante, por norma em poemaslírico-sentimentais ou <strong>de</strong> amor. Versos fica como oprimeiro e único texto on<strong>de</strong> o problema da cor da peleactua como motivo ― e <strong>de</strong> uma forma obsessivamentedramática. Consi<strong>de</strong>ramo-lo o caso mais evi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>negrismo da literatura africana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>.Alguns autores angolanos coevos <strong>de</strong> Costa Alegre<strong>de</strong>ram também uma contribuição para este fenómeno,mas percorrendo um espaço menos significativo.31
Perspectiva GeralTemos <strong>de</strong>ste jeito, e em resumo, o seguinte: cedo seesboça uma linha africana, irrompendo <strong>de</strong> umsentimento regional e em certos casos <strong>de</strong> um sentimentoracial fundo, mas postulado ainda em formas incipientesque, tenazmente, abre um sulco profundo por entre aliteratura colonial. De sentimento regional se transitapara sentimento nacional, que vai dar lugar, entretanto, auma literatura alimentada já por uma verda<strong>de</strong>iraconsciência nacional e daí uma literatura africana,caracterizada pelos pressupostos <strong>de</strong> intervenção.Ora, os fundamentos irrecusáveis <strong>de</strong> uma literaturaafricana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong> vão <strong>de</strong>finir-se, comprecisão, <strong>de</strong>ste modo: a) ― em Cabo Ver<strong>de</strong> a partir dorevista Clarida<strong>de</strong> (1936 ― 1960); b) ― em S. Tomé ePríncipe com o livro <strong>de</strong> poemas Ilha <strong>de</strong> nome Santo(1943), <strong>de</strong> Francisco José Tenreiro; c) ― em Angola coma revista Mensagem (1951―1952); d) ― em Moçambiquecom a revista Msaho (1952); e) ― na Guiné-Bissau com aantologia Mantenhas para quem luta! 1977.32
CABO VERDE33
1. LÍRICAInteressa, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> já, reter bem este facto: a partir doinício da década <strong>de</strong> trinta, e mercê <strong>de</strong> circunstâncias <strong>de</strong>natureza política, social, histórica e literária, algo ocorreunas ilhas cabo-verdianas, a que não é alheia a influênciada literatura brasileira. «Ora aconteceu que por aquelasalturas, nos caíram nas mãos, fraternalmente juntas, emsistema <strong>de</strong> empréstimo, alguns livros que consi<strong>de</strong>ramosessenciais pro domo nostra». É Baltasar Lopes quem istoafirma, citando autores como José Lins do Rego, JorgeAmado, Amando Fontes, Marques Rebelo. E diz que«em poesia foi um ‘alumbramento’ a Evocação do Recife,<strong>de</strong> Manuel Ban<strong>de</strong>ira». Revelação foi ainda «ummagnífico livro ― a Casa gran<strong>de</strong> e senzala, <strong>de</strong> GilbertoFreyre, ao lado dos volumes, <strong>de</strong>nsos <strong>de</strong> investigação einterpretação, do malogrado Artur Ramos» (in CaboVer<strong>de</strong> visto por Gilberto Freyre, 1956). Ou po<strong>de</strong> até admitirse,também, a influência da Presença no que nela sepropunha <strong>de</strong> libertação da linguagem. Uma tomada <strong>de</strong>consciência regional muito nítida se instala nos34
escritores <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, que <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>m romper com osarquétipos europeus e orientar a sua activida<strong>de</strong> criadorapara as motivações <strong>de</strong> raiz cabo-verdiana. Não é aindauma posição anti-colonial. Não é ainda, nem nada quese pareça, algo que tenha a ver com a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong>in<strong>de</strong>pendência política ou nacional. Porventura oproblema não se poria também nestes termos, assimprecisos, logo <strong>de</strong> início, ao menos generalizadamente,aos escritores do movimento parisiense da negritu<strong>de</strong>. Masera, em Cabo Ver<strong>de</strong>, em dados <strong>de</strong> literatura, umaviragem <strong>de</strong> cento e oitenta graus: as costas voltadas aosmo<strong>de</strong>los temáticos europeus e os olhos, pela primeiravez, vigilantes e <strong>de</strong>slumbrados no chão crioulo. De talfacto po<strong>de</strong>m ser pontuações inequívocas não só a citadarevista Clarida<strong>de</strong>, como a que se lhe seguiu, em 1944,Certeza, esta sob a directa influência no neo-realismoportuguês, o Suplemento Cultural (1958) 37 e ainda osuplemento «Sèló»; ou inclusive, o boletim Cabo Ver<strong>de</strong>(1949 ― 1965), órgão oficial, mas no que ele possui <strong>de</strong>mais autêntico e digno, e no campo da literaturabastante é, dado que nele colaboraram quase todos osescritores cabo-verdianos.Aliás, em 1935, um ano antes da publicação <strong>de</strong>Clarida<strong>de</strong>, Jorge Barbosa, um dos responsáveis poraquela revista, abre a estrada larga do realismo caboverdiano:― Ai o drama da chuva,ai o <strong>de</strong>salento,o tormentoda estiagem!― Ai a voragemda fome35
levando vidas!(... a tristeza das sementeiras perdidas...)Ai o drama da chuva! 38Os sinais da mudança são vários. O abandono dostemas obrigatoriamente europeus, como vinhaacontecendo até aí, a renúncia das estruturas poéticastradicionais (rima, métrica e outras) e a penetração<strong>de</strong>finitiva no contexto humano do Arquipélago: «odrama», «<strong>de</strong>salento», «tormento», «fome», «tristeza». Nosseus dois primeiros livros: Arquipélago (1935) e Ambiente(1941) e ainda em Ca<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> um ilhéu (1956), JorgeBarbosa proce<strong>de</strong> a uma radiografia do drama social dohomem cabo-verdiano: a seca, a fome, a emigração, oisolamento, a insularida<strong>de</strong>, e o mar como estrada míticada «aventura da pesca da baleia/nessas viagens para aAmérica/<strong>de</strong> on<strong>de</strong> às vezes os navios não voltam mais».39 Assim:O teu <strong>de</strong>stino...O teu <strong>de</strong>stinoSei lá!Viver sempre vergado sobre a terra,a nossa terrapobreingrataquerida!... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Ou outro fim qualquerhumil<strong>de</strong>anónimo...36
Ó cabo-verdianoanónimo― meu irmão! 40Via <strong>de</strong> regra, cada verso uma palavra, ou cada versoum sintagma, uma cadência ritmada, sincopadamente,para que a dor e o sofrimento se grave e avive <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>nós. E mais: o processo, porventura invulgar para aépoca, da imanência <strong>de</strong> um «tu» logo associado a um«nós» no envolvimento da comunhão intensa <strong>de</strong> umdiscurso dramático. De resto, Jorge Barbosa é a vozplural que amiú<strong>de</strong> recorre a expressões como esta: «vozda nossa gente», a transformar o seu discurso na vozcolectiva. A enumeração repetitiva, no caso presenteadjectivada, mas noutros substantivada, aliada àevocação ou ao apelo afectivo, num recurso continuadoà função expressiva, confere à poesia <strong>de</strong> Jorge Barbosacaracterísticas dramáticas novas, trazidas pelaintimida<strong>de</strong>, a <strong>de</strong>núncia, a epopeia do homem islenovivendo no drama <strong>de</strong> «querer partir e ter que ficar!».Enfim, no dizer <strong>de</strong> Jorge <strong>de</strong> Sena, um «poeta que, nosseus gran<strong>de</strong>s momentos, é uma das melhores vozes dapoesia contemporânea» 41 . E se ele foi o primeiro aromper a tradição <strong>de</strong> uma poesia que vinha marcando oespaço cabo-verdiano, foi também ainda o primeiropoeta das áreas <strong>africanas</strong> da língua <strong>portuguesa</strong> a lançaros fundamentos <strong>de</strong> uma nova poesia tecida numasituação colonial. A poesia <strong>de</strong> Jorge Barbosa vaidominar o panorama poético cabo-verdiano por váriasdécadas, <strong>de</strong> uma ou <strong>de</strong> outra maneira e com talintensida<strong>de</strong> que só recentemente alguns poetasmo<strong>de</strong>rnos libertaram <strong>de</strong> vez a poesia cabo-verdiana dopeso estrutural barbosiano, como adiante se verá.37
Jorge Barbosa teve uma ajuda, pelo menos. Nadanasce do nada. Essa ajuda, tudo leva a crer, veio dospoetas brasileiros, como assinalámos. Mas o<strong>de</strong>senca<strong>de</strong>amento catártico <strong>de</strong>u-se com a presença <strong>de</strong>António Pedro (1909-1965), um cabo-verdiano <strong>de</strong>nascimento que, em 1928, aos vinte anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>,visitou Cabo-Ver<strong>de</strong> e ali publicou o livro <strong>de</strong> poemasDiário (1929). Era então um jovem poeta virado para omo<strong>de</strong>rnismo português. Sensibilizado para um certovanguardismo, a sua poesia «cabo-verdiana» é umabanão nas estruturas tradicionais poéticas doArquipélago. Por exemplo, sobre a Morna:: Reminiscência dum fadoque, dançadonum maxixe,tem a tristeza postiça,dum cansaço.: Um semicivilizadolassobalançoembaladosobre o ventre dum fetiche 42 .Era a primeira vez que alguém glosava, em novalinguagem, o tema da morna (e outros). Manuel Ban<strong>de</strong>ira,Jorge <strong>de</strong> Lima, Ribeiro Couto, <strong>de</strong> um lado; AntónioPedro, <strong>de</strong> outro, os dados estavam lançados. Nítida asemelhança da estrutura externa das estrofes <strong>de</strong> JorgeBarbosa e António Pedro. Coteje-se o excerto <strong>de</strong>António Pedro com este <strong>de</strong> Jorge Barbosa sobre opoema «A Morna»:38
Canto que evocacoisas distantesque só existemalémdo pensamento,e <strong>de</strong>ixam vagos instantes<strong>de</strong> nostalgia,num impreciso tormento<strong>de</strong>ntrodas nossa almas...Morna<strong>de</strong>sassossego,vozda nossa gentereflexo subconscienteem nós... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43Mas se os pontos <strong>de</strong> contacto no espaço externo dospoemas <strong>de</strong> António Pedro e Jorge Barbosa sãoevi<strong>de</strong>ntes, já o mesmo não se dá na estrutura profundada poesia <strong>de</strong> um e <strong>de</strong> outro. Em António Pedro é umpretexto, a voz distanciada («tristeza postiça, dumcansaço»); em Jorge Barbosa, um percurso interiorizado,para uma enunciação colectiva: «<strong>de</strong>ntro/das nossasalmas...» o «<strong>de</strong>sassossego», a «voz/da nossa gente». Os<strong>de</strong>mais poetas da primeira fase da Clarida<strong>de</strong> (1935-1937)são Manuel Lopes, Osvaldo Alcântara [i. e BaltasarLopes] e Pedro Corsino Azevedo. Destes, será ManuelLopes o vizinho mais próximo <strong>de</strong> Jorge. Não que se fale<strong>de</strong> influências. O sinal <strong>de</strong> Manuel Lopes vemsimultaneamente com o <strong>de</strong> Jorge Barbosa. Mas um dospontos em que a poesia <strong>de</strong> Manuel Lopes se afasta da <strong>de</strong>39
J. Barbosa será no tom filosofante, no por vezessolilóquio interrogativo:Que importa o caminhoda garrafa que atirei ao mar?Que importa o gesto que a colheu?Que importa a mão que a tocou― se foi a criançaou o ladrãoou filósofoquem libertou a sua mensageme a leu para si ou para os outros? 44O verso é mais longo, a linguagem mais discursiva, ainterpretação do mundo real cabo-verdiano maisindividualizado. O «tu» em Manuel Lopes ten<strong>de</strong> a serpersonalizado: «Mochinho,/teu <strong>de</strong>stino é seresespantalho <strong>de</strong> corvos,/tocar lata e mandar funda/<strong>de</strong><strong>de</strong>samparinho a <strong>de</strong>samparinho/na mèrada <strong>de</strong> milho aar<strong>de</strong>r» 45 ; e o diálogo, mais do que admirativo éinterrogativo ainda quando a sua proposta poética sesitua ao nível da indagação colectiva:Que disse a Esfingeaos homens mestiços <strong>de</strong> cara chupada?Esta encruzilhada<strong>de</strong> caminhos e <strong>de</strong> raçason<strong>de</strong> vai ter?Por que virgens paragens se prolonga?... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Que significa para eles o amanhecer? 46Em Pedro Corsino Azevedo, sem livro publicado, e<strong>de</strong> escassa produção poética, pelo menos a conhecida40
até agora (refere-se um original perdido: «Era <strong>de</strong> ouro»)é legítimo falarmos em dois mundos. Um, diríamosexistencial, equacionando os sonhos e os <strong>de</strong>senganos,superando o sentido trágico da vida («Sou o atletavencido/Renascido») 47 . Outro, o da radicação <strong>de</strong>motivações populares, como no poema muito difundido«Terra-Longe»: «Terra-longe! terra-longe!... ― Oh mãeque me embalaste!/Oh meu querer bipartido!» 48 ; ou em«Galinha branca»:Galinha brancaO espectro da morteA sorteDe todos.Olha p’ra mim!Assim:CanivetinhoCanivetãoVáTéFrançaA única esperança... 49Com este poema ele ganha o direito a ser consi<strong>de</strong>radoo primeiro poeta da mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> cabo-verdiana, umavez que nos parece ter sido escrito por volta <strong>de</strong> 1930 50 .Osvaldo Alcântara (i. e Baltasar Lopes) é <strong>de</strong> todos ospoetas <strong>de</strong> Clarida<strong>de</strong> aquele que vem produzindo umapoesia mais intelectualizada. Mas nem por isso OsvaldoAlcântara <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser um poeta par e passo preocupadoe i<strong>de</strong>ntificado com o seu mundo colectivo, como em«Recordai do <strong>de</strong>sterro no dia <strong>de</strong> S. Silvestre <strong>de</strong> 1957»:41
«O inefável inva<strong>de</strong> docemente a minha tristeza./Sei quea tua espada há-<strong>de</strong> fulgurar nas batalhas necessárias/eNicolau nunca mais voltará a ser moeda/das riquezas <strong>de</strong>Caim» 51 . E nos seus recursos imagéticos, no seudiscurso não raro metafórico ou metonímico, OsvaldoAlcântara marca a sua linguagem <strong>de</strong> uma exigênciaestética nem sempre alcançada por outros. Poesiahabitada por uma consciência dialéctica, numpermanente apelo às forças da reprodução mutativa.Recobre um espaço entretecido do cósmico, do social,da tradição popular, das forças criadoras da vida e daacção, <strong>de</strong> tal modo interiorizado e fundido no impulsopoético, mas redimido pela racionalização: «Quem me<strong>de</strong>ra ser estereoscópio para disciplinar as minhassensações». Um dos seus últimos poemas, publicado em1973, sagra-se pelo registo da esperança ao ritmo <strong>de</strong>uma pulsação radiosa, e nele, e com ele, OsvaldoAlcântara firma-se no chão real do espaço e do tempocabo-verdianos:On<strong>de</strong> há o Tântalo <strong>de</strong> todas as recusase tudo gerou nadae o tempo <strong>de</strong>sembocou no presentee no chão podre <strong>de</strong> húmus malditoso presente só tem para ti uma colheita clan<strong>de</strong>stinaesperança esperança esperança 52 .À Clarida<strong>de</strong> suce<strong>de</strong> a geração <strong>de</strong> a Certeza (1944). Nemsempre o conceito <strong>de</strong> geração correspon<strong>de</strong> a uma<strong>de</strong>marcação estética ou i<strong>de</strong>ológica. Mas neste casocorrespon<strong>de</strong>. O grupo <strong>de</strong> Certeza todo ele perfilha oponto <strong>de</strong> vista neo-realista. São, portanto, marxistas.Quando os componentes do grupo tomaramconhecimento <strong>de</strong> Clarida<strong>de</strong>, e logo a seguir da proposta42
dos neo-realistas portugueses, abandonaram os possíveisliames com um passado e assumem, na ilha, o dramacolectivo que feria gran<strong>de</strong> parte da humanida<strong>de</strong>: aSegunda Gran<strong>de</strong> Guerra Mundial. E é já no entendimentodo que ela significa que Guilherme Rocheteau diz: «Aolonge/na distância da manhã por vir,/a in<strong>de</strong>cisão dascamuflagens/e do rumor da guerra,/há agoniasesbatidas no negro-fumo/da pólvora/dos homens quese batem./Aquem, é a luta na rectaguarda!» 53 . Mas estavisão dialéctica exprime-a também Tomaz Martins, aliásautor <strong>de</strong> uns escassos três poemas, tal como aquele seucompanheiro <strong>de</strong> jornada: «Eu quero verte/compreen<strong>de</strong>ndoo fogo do camarada irmão/nestaluta incerta que é a sua certeza; 54 . Nuno Miranda (Cais<strong>de</strong>ver partir, 1960; Cancioneiro da ilha, 1964) foi nessa alturauma esperança. Então ele, na ufania <strong>de</strong> si próprio,revelava-se com o pseudónio <strong>de</strong> Manuel Alvarez:«Numa noite qualquer [...] tombaram um por um, osfalsos <strong>de</strong>uses!...» 55 ― para, entretanto, vinte anos <strong>de</strong>pois,se carpir no mundo confuso em que se <strong>de</strong>ixoumergulhar, e com a consciência da crise que o <strong>de</strong>struía:«a nave» «tomba <strong>de</strong> leve no arquejo/das cousas caladasda noute» 56 .Arnaldo França, um dos mais dotados poetas daCerteza, teima em continuar ignorado escrevendo pouco(julgamos) e publicando nada, <strong>de</strong>pois do seu breve e útilensaio Notas sobre poesia e ficção cabo-verdianas (Sep. CaboVer<strong>de</strong> (nova fase), n.º 157. Praia, Cabo Ver<strong>de</strong> 1962). Maso rastro por ele <strong>de</strong>ixado é o <strong>de</strong> um lírico com aconsciência do peso real das palavras, e ciente doscaminhos difíceis da aprendizagem poética. Há «murosaltamente inacessíveis» no trânsito para «a conquista dapoesia»:43
Era um castelo erguido na montanhada paisagem <strong>de</strong>serta submarinatinha muros altamente inacessíveisao salto imaginário do meu pensamentos 57Poeta lírico mas que preenche a sua mensagem <strong>de</strong>conotações i<strong>de</strong>ológicas precisas, evi<strong>de</strong>ntes até em títulos<strong>de</strong> poemas como «Paz» (é preciso lembrar o contexto:1960) e exigir a paz era (é) combater a opressão, eraefectuar o registo do «testamento para o dia claro». Oseu discurso semeado <strong>de</strong> «sonhos», «encantamentos»,«vigília», «silêncio», «distância», «pétalas dispersas», ou a«alma que se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> em luz» ganha um relevo a umtempo tranquilo («Meus sonhos quem os fez nascertranquilos/serenos?») e inquieto, que lhe sobe da «voz<strong>de</strong>sperta». Há nele uma sabedoria que pré-anuncia umfuturo na «esperança nova» porque a felicida<strong>de</strong> «só nacomum seara se renova».Mas no horizonte lívido do diaRecuam quando passa a nuvem friaOs pássaros metálicos da noite.E na amplidão da luz que resplan<strong>de</strong>ceÉ <strong>de</strong> ti que surgiu a mão que teceA esperança nova à humana sortes 58 .Colocaríamos agora o nome <strong>de</strong> António Nunes(Devaneios, 1938; Poemas <strong>de</strong> longe, 1945) que, em 1944,mandava <strong>de</strong> Lisboa, para o n.º 2 <strong>de</strong> Certeza o «Poema <strong>de</strong>amanhã». Poema <strong>de</strong> intencionalida<strong>de</strong> unívoca, com eleAntónio Nunes se impunha como o primeiro poetaneo-realista cabo-verdiano a estabelecer a oposição44
colonizado/colonizador. Com efeito, nesse poema o«tu» é «Mamãe», a terra cabo-verdiana, mas subjacenteestá um «ele», o outro que dispõe dos homens, ocolonizador:― Mamãe!sonho que, um dia,estas leiras <strong>de</strong> terra que se esten<strong>de</strong>m,quer seja Mato Engenho, Dàcabalaio ou Santana,filhas do nosso esforço, frutos do nosso suor,serão nossas.E, então,O barulho das máquinas cortando,águas correndo por levadas enormes,plantas a apontar,trapiches pilando,cheiro <strong>de</strong> melaço estonteando, quente,revigorando os sonhos e remoçando as ânsiasnovas seivas brotaram da terra dura e seca!... 59Aqui, António Nunes aparta-se <strong>de</strong> Jorge Barbosa, e <strong>de</strong>várias maneiras: na estrutura externa e no ponto <strong>de</strong>vista. Mais tar<strong>de</strong>, em «Ritmo <strong>de</strong> pilão», dava-nos acomplementarida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sta proposta e mais se distanciava<strong>de</strong> Jorge Barbosa que, em vincado acento dorido, falavado «nosso drama» e até «da nossa revolta». Mas querevolta? ― «da nossa silenciosa revolta melancólica». EAntónio Nunes? Este, em 1958, abria a sua áreatemática, em «Ritmo <strong>de</strong> pilão»: «Bate, pilão, bate/que oteu som é o mesmo/<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o tempo antigo/dos naviosnegreiros...» 60 . Ao sonho <strong>de</strong> que as terras «serão nossas»se junta agora o incitamento a uma luta continuada. Osentido da sua mensagem encerra a visão dialéctica damudança e a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> acção.45
A década <strong>de</strong> cinquenta abre com Linha do horizonte(1951) <strong>de</strong> Aguinaldo Fonseca, quando já se encontravaem Portugal e havia publicado alguns poemas soltos.Poesia marcada, em muitos lances, pela angústia da«secura calada na garganta», e daí o avanço para a<strong>de</strong>núncia do drama cabo-verdiano, entendido não só nopresente como que ainda diacronicamente, enquantograva, com insistência, o seu «grito», um gritoimperfeito, «porque não sai/do poço <strong>de</strong>sta angústiaamordaçada». A novida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Aguinaldo Fonseca estáem ter sido ele o primeiro a utilizar a «África» comosubstância poética cabo-verdiana, facto inédito se<strong>de</strong>rmos à expressão <strong>de</strong> Pedro Cardoso ― «África minha,das Esfinges berço/Já foste gran<strong>de</strong>, po<strong>de</strong>rosa e livre» 61― uma conotação sentimental e não necessariamentepolítica. No texto <strong>de</strong> A. Fonseca há, pelo menos, duasalusões a África. Uma <strong>de</strong>las, em «Magia negra»:Das estrelas e dos grilos,Arrasta-se o vão lamentoDa África dos meus Avós,Do coração <strong>de</strong>sta noite,Ferido, sangrando aindaEntre suores e chicotes 62 .Do «(...) vão lamento/Da África <strong>de</strong> meus avós»instalado no «coração ferido» que ainda sangra «entresuores e chicotes» se proce<strong>de</strong> a um enunciado <strong>de</strong>sofrimento inculpado a uma situação colonial.É um tanto nesta linha que vai prosseguir, com todasas variantes possíveis, a produção poética daqueles que,tal corno A. Fonseca se associaram ao Suplemento Cultural(1958): Gabriel Mariano, Ovídio Martins, TerêncioAnahory, Yolanda Morazzo. Todos, ou quase todos,46
em como os elementos do grupo da Certeza,terminaram por colaborar na Clarida<strong>de</strong>.O projecto da geração da Clarida<strong>de</strong> <strong>de</strong>scola-se pelatransgressão, pelo <strong>de</strong>slocamento da visão europeia parauma visão cabo-verdiana. Daí o rompimento com osmo<strong>de</strong>los temáticos europeus e uma radical consciênciaregional. O i<strong>de</strong>ário <strong>de</strong> Certeza enriquece a tomada <strong>de</strong>posição <strong>de</strong> Clarida<strong>de</strong> pela introdução <strong>de</strong> uma visãodialéctica dada pelo marxismo. Este grupo do SuplementoCultural, mercê da participação <strong>de</strong> alguns dos seusmembros, enceta a substituição do conceito regionalpelo conceito nacional. É assim que uma novaperspectiva em relação à situação colonial surge jápróxima da década <strong>de</strong> sessenta, e nesta se vai prolongare aprofundar.Acentue-se: menos nuns que noutros; ou antes:evi<strong>de</strong>nte nuns e não em todos. Mas, no que à maioria écomum será o travo amargo da dominação. Vejamos emGabriel Mariano (12 poemas <strong>de</strong> circunstância, 1965).Não, Amigos, já vos disse não!Mais uma vez minha resposta éNão!Não insistam mais!Que me importa o doceque só a mim me dais?Nada me separa dos meus companheiros!... 63Onésimo Silveira (Hora gran<strong>de</strong>, 1962), um dos queprimeiro ensaiaram o «convívio linguístico»: «Cabávapor ― caba carvom... /Restam praias vazias e botesagonizantes» [...] «Cabá vapor ― cabá carvom.../Noscampos dantescos <strong>de</strong> S. Vicente» 64 no propósito daeficaz expressão <strong>de</strong> uma sofrida realida<strong>de</strong> cabo-verdiana,47
<strong>de</strong>marca-se também dos poetas da Clarida<strong>de</strong> pelocarácter <strong>de</strong> intervenção poética, ao jeito vocativoimperativo.Atrás dos ferros da prisãoÉ preciso levantar os braços algemadosContra a prepotência! 65Ou na forma interrogativa, mas aindasubjacentemente a recusa:Para quê chorarSe as suas mãos são limpasA sua culpa inocenteE a nu<strong>de</strong>z das suas vozesBan<strong>de</strong>iras <strong>de</strong>sfraldadas? 66E o mais <strong>de</strong>terminado dos poetas cabo-verdianos,aquele que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cedo, envolveu o seu verbo <strong>de</strong> signosdirectamente combatidos, Ovídio Martins (Caminhada,1962; Gritarei berrarei matarei/Não vou para Pasárgada(1973), partidário, consciente e obstinado, <strong>de</strong> umapoesia <strong>de</strong> confrontação, empenha-se na contestação dochamado evasionismo («Não vou para Pasárgada») eironiza:MordaçasA um Poeta?Não me façam rir!...Experimentem primeiroDeixar <strong>de</strong> respirarOu rimar... mordaçasCom Liberda<strong>de</strong> 67 .48
dando-se numa entrega cerrada, ao «tempo caboverdiano»,tempo «<strong>de</strong> se entupir/<strong>de</strong> raiva/<strong>de</strong> explodirem raiva».Ainda quando da sua linguagem se verte um lirismoamorável (e isto aplica-se à quase totalida<strong>de</strong> dos poetasnão só cabo-verdianos como angolanos oumoçambicanos) o poema se organiza numaintencionalida<strong>de</strong> <strong>de</strong>smistificadora. Bem iríamossublinhando: aqui, o signo poemático é o «gritoquotidiano» <strong>de</strong> quem se assume, ao nível da escrita,como militante:No meu grito quotidianocantoa madrugadaa mim mesmorenovadona terra renovadapela nossa luta 68Diríamos então que à poesia <strong>de</strong>clamatória, veemente,<strong>de</strong> Ovídio Martins ou <strong>de</strong> um Onésimo Silveira,respon<strong>de</strong> Gabriel Mariano com um exercício <strong>de</strong>linguagem repousada, mas com um amplo efeitosugestivo, às vezes no lanço da insinuação:Depois ninguém me acuse<strong>de</strong> ter sido misterioso...Apenas guar<strong>de</strong>i comigoa calma ver<strong>de</strong> da terrae a certa repetiçãodas madrugadas sem sono... 6949
Mesmo quando o seu discurso penetra no espaço<strong>de</strong>clamativo, aí ainda o retórico se disciplina. Como no«Capitão Ambrósio», longo poema épico, em que, portransferência dissimuladora, o «Ambrósio», heróipopular em tempo <strong>de</strong> fome, personifica o libertador quehá-<strong>de</strong> ser festejado: «em mãos seguras erguidas/Emtrilhos ver<strong>de</strong>luzindo/Luzindo a negra ban<strong>de</strong>ira/Claraban<strong>de</strong>ira na frente/Na frente segue o Ambrósio!/Meupai: manda o povo cantar/Manda o povo cantar namadrugada limpa./Manda o povo cantar com tamborese búzios/Quando Ambrósio chegar.» 70 .A presença feminina na mo<strong>de</strong>rna poesia caboverdianaé preenchida por Yolanda Morazzo queaparece integrada no grupo do Suplemento Cultural. A sualírica <strong>de</strong> então ten<strong>de</strong> a enraizar-se numa poéticacaracterizadamente cabo-verdiana. Mas a uma estadiaem Lisboa suce<strong>de</strong>-se uma longa permanência, diríamosmesmo uma radicação em Angola. E o seu discursoten<strong>de</strong> a diversificar-se em jeito <strong>de</strong> «velas soltas» (título<strong>de</strong> um livro inédito), «velas brancas» soltas no «vento agalope» numa ansiosa <strong>de</strong>terminação que alias já estavainscrita em poemas seus dos anos cinquenta: «Amanhãserá uma nova Aurora» 71 . Mas é agora em Cântico <strong>de</strong> ferro(1976), que reúne alguns dos seus versos que vão <strong>de</strong>s<strong>de</strong>1956 a 1975, on<strong>de</strong> o espaço angolano é a semântica porexcelência: «Um dia se escreverá nas tuas veias/umahistória <strong>de</strong> sangue triste triste/história <strong>de</strong> ódio dosalgozes/cadastro rasgando o útero fértil/do café doalgodão e do sisal/tentáculos <strong>de</strong> manhas e <strong>de</strong>garras/unhas envenenadas unhas ver<strong>de</strong>s» 72 .Ficou-se pelo caminho, parece, um <strong>de</strong>stes poetas,Terêncio Anahory (Caminho longe, 1962), na épocadramática do trânsito glorioso do seu povo, ele que em50
1962 se havia associado ao junta-mom: « no meio dabaía um galo canta a sua canção <strong>de</strong> aurora» 73 .O discurso da revolta prolonga-se e generaliza-se como grupo dos poetas do suplemento «Sèló» (1962), doNotícias <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, nascidos entre 1937 a 1941:Arménio Vieira, Jorge Miranda Alfama, Mário Fonseca,Osvaldo Osório, Rolando Vera-Cruz Martins, todosainda sem livro publicado, com excepção para OswaldoOsório, como adiante se regista. O universo da poesia<strong>de</strong>stes poetas continua a ser o espaço cabo-verdiano.Mas à medida que o tempo avança a tendência é para ainterpretação dialéctica da situação social marcada pelocolonialismo e a transparência <strong>de</strong> uma sistemáticarecusa.Fala-se <strong>de</strong> «Ilhas renascidas/nuvens libertas.../Talvezum continente/À medida dos nossos <strong>de</strong>sejos» (ArménioVieira) 74 . Fala-se <strong>de</strong> «Quando a vida nascer...» e então«Rasgarei as gra<strong>de</strong>s/Rasgarei os açaimes/Enterrarei ador,/Gritarei bem alto/A minha se<strong>de</strong> <strong>de</strong> viver...» (MárioFonseca in Cabo Ver<strong>de</strong>, n.º 126, 1960). Parte <strong>de</strong>ste grupo,durante anos silencioso (ou silenciado), ressurge maistar<strong>de</strong> com poemas construídos no recato enganoso epublicados na revista Vértice (Coimbra).O caso <strong>de</strong> Arménio Vieira que aí inicia, em cruelironia, o ciclo da «animalização»:Pensamos:lá fora...Isto é que fazem <strong>de</strong> nósquando nos inquirem:― estais vivos?E em nósas galinhas respon<strong>de</strong>m:51
― dormimos.ISTO É QUE FAZEM DE NÓS!(in Vértice, n.º 334-345, 1971, p. 845)Estamos em 1971, em África o <strong>de</strong>rra<strong>de</strong>iro impérioapodrece. Os homens no reino da clan<strong>de</strong>stinida<strong>de</strong>, avida cresce e está prestes a romper na «manhã inflor», aosopro <strong>de</strong> uma «coragem renovada <strong>de</strong> todos nós», na«veemente ressurreição!» (Osvaldo Osório). Os poetassentem o halo próximo da «aurora <strong>de</strong> vitórias» e um<strong>de</strong>les, Rolando Vera-Cruz, po<strong>de</strong> num «gesto» colectivo,afirmar: «Ah! Que reflorir <strong>de</strong> sorrisos ocultos notempo!/Um outro gesto/cálido como vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong>criança,/um outro querer/veemente <strong>de</strong> ressurreição!».Ou Jorge Miranda Alfama: «... Eu me semeei naargila/com sangue e tempo para florir». («Sèló», n.º1,1962). 75É na verda<strong>de</strong>, o tempo da «ressurreição!» E com aressurreição, que é a da liberda<strong>de</strong>, a da libertação, seorganiza um novo espaço: o <strong>de</strong> uma nova escrita, o <strong>de</strong>uma nova língua, várias gramáticas. Os primeirosindícios vêm <strong>de</strong> Clarida<strong>de</strong>, avolumam-se na poética dasgerações seguintes, com Gabriel Mariano, OvídioMartins, Onésimo Silveira ― mas ainda aqui a presença<strong>de</strong> Jorge Barbosa, a influência do grupo da Clarida<strong>de</strong> ésoberana. O primeiro sinal <strong>de</strong>ssa libertação <strong>de</strong>finitivavem com Timóteo Tio Tiofe (heterónimo <strong>de</strong> JoãoManuel Varela, a ajuntar ao <strong>de</strong> João Vário) 76 comfragmentos <strong>de</strong> poemas que faria publicar no jornalLetras e Artes (1963 e 1964) e Nôs Vida (Roterdão, 1972)<strong>de</strong>pois incorporados em O primeiro livro <strong>de</strong> Notcha (1975)no qual Timóteo recorta o <strong>de</strong>stino histórico doarquipélago: «O nosso <strong>de</strong>stino, o <strong>de</strong>stino político do52
arquipélago é inconcebível fora do contexto africano»(palavras da sua introdução). Longo poema, <strong>de</strong> oitenta enove páginas, seccionado em três «partes», as partes em«discursos», recorrendo à intertextualida<strong>de</strong>, àconvivência linguística, aos dados da história, dabotânica, da economia, da geografia, evocando os vultosda literatura cabo-verdiana, os heróis populares, osheróis nacionais africanos, afrontando a enumeraçãoestatística, inserindo <strong>de</strong>zenas e <strong>de</strong>zenas <strong>de</strong> palavras doespaço cabo-verdiano até então ignoradas pela poéticacabo-verdiana, cal<strong>de</strong>ando gran<strong>de</strong>zas e misérias, mitos,revoltas, fomes, esperanças, ao modo <strong>de</strong> evocação enarração bíblica. Timóteo Tio Tiofe abala as estruturaspoéticas tradicionais do Arquipélago, e organiza umdiscurso sereno, veemente, ao ritmo caudaloso, e assimreconstroe a gesta cabo-verdiana, a narrativa poética daepopeia histórica do ser cabo-verdiano, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as origensaté aos nossos dias:Mas que não venham mais fomes sobre nós,sobre nossas casas, nossos estábulos e apriscossobre nossas escolas e asilos.Que não venham corvos, gafanhotos,lestados, nor<strong>de</strong>ste, harmatão ou tempesta<strong>de</strong>s, marés bravas,[chuvas que danifiquem estes cereais, estas oleaginosas,[estas árvores <strong>de</strong> fruta.Que não venha fogo sobre nossos leitos <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira,nossos colchões <strong>de</strong> palha, nossos lençóis <strong>de</strong> linho,sobre nossos campos <strong>de</strong> cultivo e nossas alfaias agrícolas.Nem varíola ou cólera ou epi<strong>de</strong>mias <strong>de</strong> outro teorsobre nossos pais, nossas mulheres, nossas crianças.E estes canavais, estas aves <strong>de</strong> criação, estes porcos <strong>de</strong> ceva,oh que tenhamos o gozo <strong>de</strong>les ou a alegria da sua[multiplicação 77 .53
Corsino Fortes, após a estreia no Boletim dos Alunos doLiceu Gil Eanes (1959), a seguir participa na Clarida<strong>de</strong>, eno Cabo Ver<strong>de</strong>, mas ainda aqui a estrutura da sua poesiaé símile da dos «claridosos». O salto qualitativo (esignificativo) vem com Pão & fonema (1975) queobjectiva a ruptura total com a tradição jorgebarbosiana.São próximas no tempo, embora <strong>de</strong>características diferentes, as experiências <strong>de</strong> um e <strong>de</strong>outro: <strong>de</strong> Corsino e Timóteo. «Encontro» natural notempo histórico e cultural? Influências <strong>de</strong> um no outro,ou recíprocas, já que ambos, parece, teriam vivido, emcomum, anseios novos? Do ponto <strong>de</strong> vista da poesiacabo-verdiana isso não será importante. Importante éfazer o registo <strong>de</strong>stas duas perspectivas inéditas e, aocabo, marcadas por características poéticas próprias, atéporque no domínio da «gramática» tão afastados estãoum do outro. A um certo discursivismo, a um certobarroquismo se contrapõe uma contenção visivelmentetrabalhada <strong>de</strong> Corsino. Neste, numa elaboração, verso averso, cingida ao tropo, também à convivêncialinguística, estrutura da linguagem ao nível mítico,metabolizada no recurso metonímico estrofe a estrofe―, a sua proposta é a <strong>de</strong> uma gran<strong>de</strong> parábola: a terra dosofrimento engravidou e a sua dor agora é a dor daparturiente: a vida nova vai surgir. Ritmo repousado, nafeição <strong>de</strong> lenga-lenga popular intelectualizada, aespessura <strong>de</strong> poema ganha um brilho inusitado:Ouve-me! primogénito da ilhaOntemfui lenha e lastro para navioHojesol semente para sementeira54
Devolvo às ondasA evocação <strong>de</strong> ser viagemE fico pão à porta das padariasOn<strong>de</strong>o bolor da terraé sangue e trigoE o milho que amamosÉ nosso irmão uterinoOn<strong>de</strong>os corvos sangram do altobibliotecas <strong>de</strong> tantas sílabasOn<strong>de</strong>o osso é cada vez mais espigaa espiga cada vez mais ossoAquiErgo a minha aliançaDe pão & fonemaEnquantoo vento bebeE o vento bebe meu sangue a barlavento 78Outro companheiro <strong>de</strong> jornada é Oswaldo Osório(Cabover<strong>de</strong>amadamente construção meu amor, 1975). «(...)Porque <strong>de</strong>smontámos os mitos e no regresso à purezaoriginal/possuídos nos achamos <strong>de</strong> amor e construção»,são dois versos do poema «Batuque» 79 . E neles secontém um projecto que se a<strong>de</strong>qua à fala <strong>de</strong> OswaldoOsório. Desmontados são por ele os mitos dalinguagem esgotada, possuído (ou achado) está o poetano amor da construção <strong>de</strong> uma linguagem <strong>de</strong>scartada,através <strong>de</strong> rupturas morfológicas, neologismos,justaposições, <strong>de</strong> que o próprio título po<strong>de</strong> dar uma55
i<strong>de</strong>ia: Cabover<strong>de</strong>amadamente construção meu amor. Por amorse constroe uma vida nova e essa vida nova só po<strong>de</strong>ráser expressa poeticamente através <strong>de</strong> uma escrita nova:cantalutando cabover<strong>de</strong>amamoscabover<strong>de</strong>amadamente construímos a nossa terracantalutando cabover<strong>de</strong>ano os nossos sonhos <strong>de</strong>scem às mãosa esse acto cabover<strong>de</strong>amorcantaluta cantaluta cantalutacabover<strong>de</strong>amadamente 80Poetas <strong>de</strong> recursos estilísticos diferentes, mas todosapostados num corte <strong>de</strong>finitivo (se é possível), cônscios<strong>de</strong> que a primeira condição para a poesia exercer a suafunção social, terá que começar por sê-lo. Proce<strong>de</strong>m auma <strong>de</strong>struição da língua para reconstruir outras, e cadaum com a sua gramática própria, integrando-se assimnum processo <strong>de</strong> re-actualização, <strong>de</strong> pesquisa einvenção, <strong>de</strong>sbloqueando a poesia <strong>de</strong> Cabo-Ver<strong>de</strong> <strong>de</strong>um certo percurso repetitivo. Deixa <strong>de</strong> ser íntima,exclamativa, interrogativa, torna-se irónica, mordaz,epopeia. À saga quotidiana suce<strong>de</strong> a saga histórica. Aeste respeito, o do enriquecimento estilístico, não sepo<strong>de</strong> dizer que os mais jovens poetas, como ArmandoLima Júnior, Tacalhe ou mesmo Dante Mariano, todossem livro publicado, ou Sukre D’Sal (Horizonte aberto,1976); Amdjers, 1977 ou Kwame Kondé (Kordá Kaoberdi,1974) tivessem trazido qualquer novida<strong>de</strong>. A poesia<strong>de</strong>ste grupo, <strong>de</strong> um modo geral, surge sob o signo da«véspera <strong>de</strong> amanhã», na inscrição <strong>de</strong> Dante Mariano <strong>de</strong>quem tarda o livro prometido: «A notícia que trará opovo inteiro/para as ruas em avalanche/Esta, sim/HÁMUITO QUE CHEGOU» 81 . Ou nas palavras <strong>de</strong>56
Kwame Kondé, por largos anos exilado: «De mãosvazias te <strong>de</strong>ixei, terra amada./O coração <strong>de</strong> dorsangrando») 82 para quem a Revolução «se alastra, viva,majestosa» e «rebel<strong>de</strong> como o <strong>de</strong>sejo», «dominando ogesto, o olhar e a vida» 83 .O ponto <strong>de</strong> encontro é na «África! Áfricain<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte» na «terra rica que herdámos», «mãe dofuturo/irradiando felicida<strong>de</strong>» 84 (Sukre D’Sal). O espaçocabo-verdiano <strong>de</strong> Tacalhe, o «Lar» por ele concebido étambém, e só, na luta armada: «É aqui meu amor/É aquique fica/O lar do nosso sonho/Na boca vermelha <strong>de</strong>staespingarda....» 85 . O tempo nos dirá do futuro <strong>de</strong> cadaum <strong>de</strong>les. Tacalhe, no entanto, persistentemente vemcolaborando na página «Cultura» da Voz di Povo,diversificando a sua poesia com a consciência <strong>de</strong> que «aspalavras «são loucas na busca do sentido!» 86 .Seja como for, <strong>de</strong> Arménio Vieira, Mário Fonseca,impublicados em livro, <strong>de</strong>les se aguarda (e há notíciaconcreta) uma palavra, já que, justamente com OswaldoOsório, Corsino Fortes e Timóteo Tio Tiofe, são dosque possuem o fôlego necessário para dar à actualpoesia cabo-verdiana uma soli<strong>de</strong>z indiscutível. E algunsdos mais novos que neles atentem. E agora ― e isto nãosignifica nenhum juízo <strong>de</strong> valor, é uma arrumação,sempre tão difícil, diríamos uma «leitura histórica» comooutras que admitimos ― chamamos a atenção para umcerto grupo <strong>de</strong> poetas: os poetas da diáspora caboverdiana.Suponhamos António Men<strong>de</strong>s Cardoso, Jorge Pedro,Virgílio Pires, sem livro publicado, e <strong>de</strong> escassíssimaprodução poética, dando mesmo a impressão <strong>de</strong> a teremabandonado. Luís Romano, (Clima, 1963), revelando-seno Brasil e aí tornado autor bilingue, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ndo nos57
últimos anos, com persistência, uma literatura <strong>de</strong> línguanacional (o dialecto) há nele um olhar enternecidolançado sobre o homem crioulo, um gesto <strong>de</strong>solidarieda<strong>de</strong> com o homem negro e um apelo ao«Irmão branco»: «Branco:/escuta-me ummomento/ainda é tempo/porque te falo <strong>de</strong> irmão parairmão/No mistério daquilo que nos formou/―consi<strong>de</strong>ra-me ―/Só isso nos basta/Só isso/e esten<strong>de</strong>metua mão.» 87 Teobaldo Virgínio (Poemas cabo-verdianas,1960; Viagem para além da fronteira, 1973), estreando-seem Cabo Ver<strong>de</strong>, mas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> há muito vivendo emAngola, repensa-se num lirismo algo cristão e numimpulso alado na solidarieda<strong>de</strong> cabo-verdiana, numavisão universalista. «Sejam ferramentas solitárias/cadaboca fale seu grito/reprimido/cada braço corte/seucaminho livre» ecada olhar reflictaseu caminho claroUm fulgor <strong>de</strong> esperançaem cada humil<strong>de</strong> 88Daniel Filipe, consagrado autor repartido entre duaspoéticas: inicialmente a cabo-verdiana e <strong>de</strong>pois a<strong>portuguesa</strong>, o seu nome retém-se aqui como um acto <strong>de</strong>justiça. Cabo-verdiano <strong>de</strong> origem, <strong>de</strong> nascimento eetnicamente, apesar da sua radicação em Portugal <strong>de</strong>s<strong>de</strong>criança, três livros, pelo menos, são <strong>de</strong> motivação caboverdiana:Missiva (1946), Marinheiro em terra (1949) e Ailha e a solidão (1957). Se quisermos encontrar-lhe umponto <strong>de</strong> encontro, <strong>de</strong>vemos buscá-lo ao grupo <strong>de</strong>Clarida<strong>de</strong>: a insularida<strong>de</strong> da terra pequena metida nas58
gra<strong>de</strong>s das suas contradições, avara ao futuro doshomens e úbere aos sonhos e anseios:Ah, esta ânsia <strong>de</strong> partir, <strong>de</strong> serUm barco mais na imensidão do mar...De ir sempre além, sem saberA rota certa para regressar... 89Com excepção <strong>de</strong> Virgílio Pires e Jorge Pedro, todosos outros se revelaram poetas fora da sua terra ou entãoausentes <strong>de</strong>la foi que se confirmaram como tal. Em1961, organizada e prefaciada com inteligência porJaime <strong>de</strong> Figueiredo, é publicada em Cabo Ver<strong>de</strong> aantologia Mo<strong>de</strong>rnos poetas cabo-verdianos e, com ela, nessetempo, se dá o panorama essencial da mo<strong>de</strong>rna poesia<strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>. Por motivos metodológicos (ou outros)ficaram <strong>de</strong> fora apenas António Pedro e Daniel Filipe,ambos, e <strong>de</strong> longe, profundamente radicados emPortugal e o seu nome ligado à literatura <strong>portuguesa</strong>. Noentanto, afigura-se-nos ― e atrás quisemos justificá-lo ―que Daniel Filipe exige a sua recuperação cabo-verdiana.Estes dois poetas terminaram, <strong>de</strong>pois, por ser incluídos,bem como outros, juntamente com os seleccionadospor Jaime <strong>de</strong> Figueiredo, no primeiro volume <strong>de</strong> Noreino <strong>de</strong> Caliban ― antologia panorâmica da poesiaafricana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong> (1975), que o autor<strong>de</strong>stas linhas organizou, anotou e prefaciou.A rematar citamos o nome <strong>de</strong> Amílcar Cabral,fundador do P. A. I. G. C. e um dos i<strong>de</strong>ólogos maisprestigiosos da revolução africana. Dos poemas que <strong>de</strong>leagora conhecemos, dois aspectos da sua personalida<strong>de</strong>se po<strong>de</strong>m enunciar: o <strong>de</strong> uma comunhão telúrica e,simultaneamente, o <strong>de</strong> uma a<strong>de</strong>são colectiva ao <strong>de</strong>stinotrágico do seu povo ― mas o afago da esperança59
germinando, como no poema «Regresso...»: «VenhaComigo, Mamãe Velha, venha,/recobre a força echegue-se só ao portão./A chuva amiga já faloumantenha/e bate <strong>de</strong>ntro do meu coração» 90 ; ou comoem «Ilha»: «Rochas escarpadas tapando os horizontes,/mar aos quatro cantos pren<strong>de</strong>ndo as nossas ânsias!» (inIlha, ano VII Ponta Delgada, 22-6-1946; republicadonoutros, inclusive Seara Nova, <strong>de</strong>zembro 1974); A outraatitu<strong>de</strong>, o outro ponto <strong>de</strong> vista, é o da representaçãoduma consciência dialéctica da vida, como em «Segue oteu rumo Irmão:» «Que amanhã na planícieconquistada/da terra redimida/libertada/os Homensirmanados colherão/o saboroso Pão» 91 . Ou em «Quemé que não se lembra»: «Meu grito <strong>de</strong> revolta ecoou pelosvales mais longínquos da Terra/atravessou os mares eos/oceanos» 92 . Tudo leva a crer que não haverá razãopara se optar pela existência <strong>de</strong> duas fases,correspon<strong>de</strong>ndo a escrita dos poemas a um mesmoperíodo e, assim, uns e outros se completam dando aglobalida<strong>de</strong> poética <strong>de</strong> Amílcar Cabral 93 .2. NARRATIVAEmbora o primeiro texto ficcional da mo<strong>de</strong>rnaliteratura cabo-verdiana se <strong>de</strong>va a Manuel Lopes («Umgalo que cantou na baía» in Clarida<strong>de</strong>, n.º 2, excerto doconto mais tar<strong>de</strong> inserido no livro, sensivelmente com omesmo título (1959), é com o romance Chiquinho (1947)<strong>de</strong> Baltazar Lopes que se abre a série da ficção caboverdiana.Narrativa a todos os títulos importante comoexpressão do mundo insular e ainda pela reinvenção daescrita que se organiza, em parte, a partir da60
incorporação na linguagem <strong>de</strong> signos, expressões ouformas sintácticas dialectais. Longe, é certo, da rupturaabissal que o brasileiro Guimarães Rosa ou o angolanoLuandino Vieira mais tar<strong>de</strong> levariam às últimasconsequências. É legítimo, no entanto, consi<strong>de</strong>rá-lopioneiro na busca <strong>de</strong> processos para a construção <strong>de</strong>novas línguas no espaço africano <strong>de</strong> expressão<strong>portuguesa</strong>; e, para melhor se po<strong>de</strong>r avaliar <strong>de</strong>ste mérito,há que ter em conta que a sua experiência data <strong>de</strong> 1938,altura em que aquele romance foi acabado. Isto se po<strong>de</strong>aplicar enquanto contista disperso por revistas,incluindo Clarida<strong>de</strong>. E se é legítimo adiantar-se que aruptura iniciada por este narrador é ponto corrente emquase toda a narrativa cabo-verdiana, não menoslegítimo é dizer que nenhum outro autor logrou ir tãolonge nem tão conseguida pesquisa foi obtida emqualquer outro como em Baltazar Lopes. Alguns,mesmo, preferiram a utilização do portuguêsfundamental, com o recurso normal a signos dialectais,embora os diálogos das personagens <strong>de</strong> extracção socialpopular (são a maioria) se construam <strong>de</strong> harmonia coma sua fala e, neste caso, as interferências do dialectocrioulo sejam notáveis e constantes. Não nosesqueçamos <strong>de</strong> que se trata <strong>de</strong> um espaço bilingue e queo dialecto crioulo po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rado uma línguanovi-latina (a língua cabo-verdiana) <strong>de</strong> léxico na suaquase totalida<strong>de</strong> (noventa e sete por cento) oriundo dalíngua <strong>portuguesa</strong>, e naturalmente a reapropriação (comtudo quanto a palavra implica: reelaboração fonética,morfológica, sintáctica e semântica) continuada <strong>de</strong>palavras (sintagmas) <strong>portuguesa</strong>s por parte do dialectocrioulo que são <strong>de</strong>pois <strong>de</strong>volvidas, já modificadas, àescrita em português. Eis assim um português cabo-61
verdianizado on<strong>de</strong>, inclusive, por vezes, o eixosintagmático é alterado. Quer a narrativa quer a lírica seenriquecem pelos mais variados processos <strong>de</strong>reconstrução linguística: convivência, hibridismo,neologismos e daí a novida<strong>de</strong>, a invençãopermanentemente revelada do insupeitado lastro <strong>de</strong> umalinguagem <strong>de</strong> recursos inesgotáveis.Com obra ficcional publicada, além dos autoresassinalados, são António Aurélio Gonçalves, Teixeira <strong>de</strong>Sousa, Teobaldo Virgínio, Luís Romano, GabrielMariano, Ovídio Martins, Onésimo Silveira, NunoMiranda, João Rodrigues (Montes Ver<strong>de</strong>-Cabo, 1974),Artur Carvalho (Um natal em S. Miguel, 1975), OrlandaAmarilis. Isto sem a exclusão <strong>de</strong> outros nomes, comoVirgílio Pires, estreado em 1958 (n.º 8 <strong>de</strong> Clarida<strong>de</strong>) etido como revelação incontestável; Maria MargaridaMascarenhas, que participou em «Sèló» e com largacolaboração no Cabo-Ver<strong>de</strong> e Presença crioula (Lisboa),evi<strong>de</strong>nciando qualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mérito real; Pedro Duarte,Francisco Lopes, Manuel Serra, Leitão Graça, Ay<strong>de</strong>iaAvelino Pires, mas estes últimos quase episodicamente,através do Cabo Ver<strong>de</strong>, sem terem dado a medida exactado seu talento; e também a recente amostra <strong>de</strong> OswaldoOsório (vi<strong>de</strong> excertos <strong>de</strong> romance in Voz di Povo, 1976),<strong>de</strong>masiado exígua para que possamos formular um juízoconsciente.Já há largos anos, Óscar Lopes, a propósito daAntologia <strong>de</strong> ficção cabo-verdiana contemporânea (1960) 94 e <strong>de</strong>outras obras da ficção cabo-verdiana, pronunciava-senestes termos: «Eu agra<strong>de</strong>ço à literatura <strong>de</strong> autoria outemática cabo-verdianas umas horas <strong>de</strong> leituravivamente interessada: o prazer <strong>de</strong> tantas pequenas ou62
gran<strong>de</strong>s obras (refiro-me a dimensões gráficas)surpreen<strong>de</strong>ntemente bem consumadas» 95 .Com efeito, os narradores cabo-verdianos a partir <strong>de</strong>Clarida<strong>de</strong> souberam centrar-se no mundo específicoinsular e proce<strong>de</strong>ram a uma <strong>de</strong>núncia muito viva dasocieda<strong>de</strong> a que pertenciam. Nesta primeira fase eranatural que estivessem todos eles sensíveis aosdramáticos problemas do Arquipélago: a seca, a fome, aemigração. (Po<strong>de</strong> mesmo dizer-se que a fome, é agran<strong>de</strong> personagem da narrativa cabo-verdiana). São elasalgumas das gran<strong>de</strong>s linhas temáticas da ficção caboverdiana.Mas na certeza <strong>de</strong> que a partir <strong>de</strong>ssasmotivações se <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>aria e, por vezes, <strong>de</strong> modoseguramente logrado, o tratamento <strong>de</strong> muitos dados easpectos da vida social, económica, cultural. Níveis <strong>de</strong>vida, níveis <strong>de</strong> língua, níveis <strong>de</strong> cultura, personagensvárias, populares ou não, <strong>de</strong> miséria ou gran<strong>de</strong>za, ali sefixaram, mercê da capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> análise social epsicológica, capacida<strong>de</strong> criadora, diríamos invulgar. Se auma literatura do terceiro mundo buscarmos aexpressão da sua própria mundividência, a expressão doseu universo específico, a resposta cabo-verdiana épositiva.Baltazar Lopes abriu o caminho e como que muitasdas propostas dos escritores que vieram <strong>de</strong>pois por eletinham já sido postuladas. Mas os segmentos sociaisforam-se alargando, <strong>de</strong>senvolvendo, enriquecendo. Aomundo da fome, da tragédia, <strong>de</strong> germinação daconsciência política e da miséria social ― à emigração,por exemplo, e ao mundo mítico que a envolve, comincidência na ilha <strong>de</strong> São Nicolau da parte <strong>de</strong> BaltazarLopes ― suce<strong>de</strong> o mundo epopaico <strong>de</strong> Manuel Lopes(Chuva brava, 1956; os contos O galo que cantou na baía,63
1959; Os flagelados do vento leste, 1960) na ilha <strong>de</strong> SantoAntão, atravessado também pela fome, mas colocando ogran<strong>de</strong> dilema <strong>de</strong> ter necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> partir, querendoficar, terminando por ficar, o que contraria a tese daradicalização do evasionismo atribuído a Clarida<strong>de</strong> 96 .Preten<strong>de</strong>u-se, infundadamente, acusar <strong>de</strong>«paisagística» (e <strong>de</strong> muitas outras coisas más) a ficçãocabo-verdiana subscrita pelos «claridosos», não sabemosse, em gran<strong>de</strong> parte, com o pensamento em ManuelLopes. Acusação estranha e injusta, chegando a dar aimpressão <strong>de</strong> que Onésimo Silveira, autor <strong>de</strong>Consciencialização na literatura cabo-verdiana (1963), on<strong>de</strong> ofenómeno foi <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ado, teria falado daquilo quenão conhecia ou conhecia mal, pelo menos naquelaaltura. Os romances <strong>de</strong> Manuel Lopes constituem umainserção vigorosa no real cabo-verdiano, profundamente<strong>de</strong>sagregado em tempo <strong>de</strong> fome provocada pelaestiagem. Po<strong>de</strong>mos lamentar que aos seus romancesfaleça uma perspectiva aberta ao futuro. O drama caboverdianosurge, por assim dizer, como uma fatalida<strong>de</strong> epor isso limitado na visão estática do autor-narrador.Mas, <strong>de</strong> um ou <strong>de</strong> outro modo, é inegável a suasignificação literária e a importância capital quepreenche na ficção cabo-verdiana.Luís Romano (Famintos, 1962) vem situar a acçãotambém na ilha <strong>de</strong> Santo Antão, juntando ao mundo<strong>de</strong>struído pela fome o mundo da repressãoadministrativa e laboral. Pensamos, no entanto, que umcerto verbalismo, na fala das personagens funcionacomo interferências longas do narrador que prejudica oequilíbrio da estrutura romanesca. Documento generosoe libelo acusatório, virtu<strong>de</strong> é, certeza, o largo recurso doléxico dialectal, inesgotável em Luís Romano. Onésimo64
Silveira da sua permanência em S. Tomé trouxe aexperiência do homem cabo-verdiano em tempo <strong>de</strong>fome emigrado para as roças daquele Arquipélago, <strong>de</strong>que e testemunho o conto longo Toda a gente fala: simsenhor (1960).Teobaldo Virgínio, irmão <strong>de</strong> Luís Romano, situando o<strong>de</strong>senvolvimento das suas narrativas no espaço social damesma ilha <strong>de</strong> Santo Antão, primeiro em Distância(1963) e Beira do Cais (1963), inclui naquele umaexpressão telúrica, sensual, em que os elementos líricose romantizados se fun<strong>de</strong>m na coexistência <strong>de</strong> um humorirreverente, ao mesmo tempo que uma a<strong>de</strong>rência aodrama real do homem cabo-verdiano se <strong>de</strong>senvolve nodom da invenção <strong>de</strong> uma linguagem <strong>de</strong> carácter poético,muito viva. Em Vida crioula (1967), escrito em Luanda,transita para uma visão <strong>de</strong> apelo teórico e sentimental àsraízes da crioulida<strong>de</strong> e para a a<strong>de</strong>são universal, um tantocomo aconteceu com a sua última poesia. OvídioMartins (Tchuchinha, 1962) proce<strong>de</strong> à abordagem daamorabilida<strong>de</strong> e do sentimento profundo doenvolvimento lírico e social da terra, abandonando,<strong>de</strong>pois, pelos vistos, a narrativa.Gabriel Mariano (O rapaz doente, 1963) acaba, porém,<strong>de</strong> reunir em volume (Vida e morte <strong>de</strong> João Cabafume,1977) a quase totalida<strong>de</strong> dos seus contos dispersos porvárias publicações, com relevo para o Cabo Ver<strong>de</strong>. Agorasujeitos a cuidada revisão, dão-nos a medida inteira <strong>de</strong>um contador <strong>de</strong> histórias grudado ao real significativodo homem cabo-verdiano. Narrador, personagens,ambientes se i<strong>de</strong>ntificam através <strong>de</strong> uma linguagemcabo-verdianizada, sabiamente estruturada para aexpressão da epopeia quotidiana feita <strong>de</strong> sofrimentos,anseios, frustrações, <strong>de</strong>sencontros e gran<strong>de</strong>zas, e on<strong>de</strong>65
também o drama da subalimentação crónica tem a suafala expressiva. Avança por vezes na exploração <strong>de</strong>comportamentos sociais diversificados, incluindo apequena burguesia cabo-verdiana residindo em Lisboa.O picaresco se introduz neste espaço textual não comointenção gratuita, mas relevando <strong>de</strong> um camposemântico autêntico. Além do mais, o drama daemigração para S. Tomé, a tradução oral colada àintimida<strong>de</strong> social cabo-verdiana, figuras moduladas nacorajosa dignida<strong>de</strong> <strong>de</strong> afrontar os abusos e asprepotências. Com este Vida e morte <strong>de</strong> João Cabafume (umtítulo e raiz) <strong>de</strong> Gabriel Mariano a narrativa caboverdianacontinua a revelar-se na sua inegáveloriginalida<strong>de</strong>.Em Nuno Miranda (Gente da ilha, 1961; Caminho longe,romance, s/d [1975]), <strong>de</strong> há muito radicado em Lisboa,a escrita verte uma certa nostalgia da terra <strong>de</strong> origem edo passado. Mas ele é um exemplo acabado <strong>de</strong> comoum autor, à partida dotado, não alcança ultrapassar ojogo <strong>de</strong> contradições que ele em si próprio criou eassumiu. Isto se aplica sobretudo em relação a algunscontos e se insinua em muitas páginas do romance quereflectem a angústia do <strong>de</strong>sencontro numa i<strong>de</strong>ntificaçãodo narrador com o autor. No romance, <strong>de</strong> estrutura umtanto ou quanto <strong>de</strong>sequilibrada, há momentos <strong>de</strong> realinteresse que são aqueles em que o narrador se concilianuma linguagem a<strong>de</strong>quada. Mas certos diálogos por<strong>de</strong>mais artificiosos, sobretudo quando se pontuafilosoficamente, empobrecem o texto caracterizado porum estilo pretensioso e visivelmente untuoso que tornaa leitura penosa. É nossa convicção que o autor po<strong>de</strong>, sequiser, no futuro, vencer as <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong>s através <strong>de</strong> umasevera auto-crítica (<strong>de</strong> autor e <strong>de</strong> narrador). Ao cabo, «o66
que é preciso é coragem!» como diz o narrador nofechamento do romance.Teixeira <strong>de</strong> Sousa, nos anos quarenta ligado aos neorealistasportugueses e, <strong>de</strong>ste modo, um dos pioneirosda ficção cabo-verdiana, só recentemente reuniu os seuscontos em Contra mar e vento (1972). Histórias centradasno quadro da ilha do Fogo, lá on<strong>de</strong> se tornaramresistentes conflitos e tensões <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong> umaestrutura social sedimentada sob o signo do latifúndio.A infância, certos aspectos da confrontação social <strong>de</strong>classes, a <strong>de</strong>sesperada luta pela sobrevivência, oheroísmo quotidiano, a honra<strong>de</strong>z, ressonâncias da labutaaventurosa do cabo-verdiano pela América, são algunsdos segmentos incisivos que estruturaram esta obra.Pícaras, dramáticas, poéticas, ou impregnadas <strong>de</strong> umcerto humor ou <strong>de</strong> uma certa ironia, ou ainda às vezes<strong>de</strong> uma fina melancolia, mas sempre profundamentesignificativas, num estilo caracterizado pela limpi<strong>de</strong>z,incisivo, com este discurso, Teixeira <strong>de</strong> Sousa dá-nosum dos enunciados mais equilibrados e autênticos danarrativa cabo-verdiana, revelando um fôlego <strong>de</strong>narrador excepcional.Em meio <strong>de</strong>ste panorama, encontramos o nome <strong>de</strong>António Aurélio Gonçalves. Uma espécie <strong>de</strong> outsi<strong>de</strong>r. Deum tempo anterior aos homens <strong>de</strong> Clarida<strong>de</strong>, uma largapermanência em Lisboa, on<strong>de</strong> conviveu com algunsintelectuais africanos (Castro Soromenho, Viana <strong>de</strong>Almeida) e portugueses (Castelo Branco Chaves eÁlvaro Salema que tem <strong>de</strong>dicado, através do seu longoexercício da crítica, entusiastas e excelentes palavras àliteratura cabo-verdiana) regressa à ilha <strong>de</strong> S. Vicente e aípartilha da aventura do grupo <strong>de</strong> Clarida<strong>de</strong> na qual seestrearia como novelista. Alguns dos seus textos, que faz67
e refaz, e sempre arrancados das suas mãos à força,aparecem no Cabo Ver<strong>de</strong> e, entretanto, espaçadamente,são-lhe editadas quatro noveletas (a <strong>de</strong>signação é sua):Pródiga (1956); O enterro <strong>de</strong> nha Candinha Sena (1957); Noite<strong>de</strong> vento (1970);Virgens loucas (1971). O tempo histórico éo dos nossos dias; o espaço, exclusivamente o da ilha <strong>de</strong>S. Vicente. Dotado <strong>de</strong> uma capacida<strong>de</strong> notável para aanálise subjectiva e elaboração dos diálogos, organiza oseu espaço literário numa relação muito íntima entre oaprofundamento psicológico e o meio social em que aspersonagens estão concretamente inseridas. Com umconhecimento firme e atento do micro-universo dacida<strong>de</strong> do Min<strong>de</strong>lo, revela um raro dom <strong>de</strong> manipulação<strong>de</strong> ingredientes, aparentemente ínfimos, para umasignificação larga <strong>de</strong>sse real, não raro num trajectomítico. No gosto da exploração <strong>de</strong> parábolas bíblicas(filho pródigo: Pródiga; virgens impru<strong>de</strong>ntes: Virgensloucas) «sóbrio e sucinto, o texto toca o lírico, odramático e o trágico, apresentando uma galeria <strong>de</strong> tiposcaboverdianos que nos chegaram cheios <strong>de</strong> vida e <strong>de</strong>verda<strong>de</strong>», nas palavras <strong>de</strong> Maria Lúcia Lepecki 97 . Textosabertos que surpreen<strong>de</strong>m e fazem o leitor participar econtinuar o <strong>de</strong>senvolvimento do seu processo inventivo.A última revelação vem com o livro <strong>de</strong> contos Caes-do-Sodré té Salamansa (1974) <strong>de</strong> Orlanda Amarilis, que esteveligada ao grupo <strong>de</strong> Certeza. Orlanda Amarilis sagra-secomo a primeira narradora cabo-verdiana com livropublicado. Histórias tecidas <strong>de</strong> uma experiência caboverdianae ecuménica, o espaço literário repartido entrea ilha <strong>de</strong> S. Vicente e a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa, é assim umpouco também sobre a diáspora cabo-verdiana. De umlado, um certo «<strong>de</strong>sencanto» (título <strong>de</strong> um dos contos),ou a mal contida amargura, ou a nostalgia no exílio em68
também através do seu dialecto ou da língua crioula que,no plano das relações quotidianas, possui uma totalimplantação que falece à língua <strong>portuguesa</strong>.E se foi longo o tempo necessário para o escritorcabo-verdiano alcançar uma consciência regionalenquanto autor <strong>de</strong> língua <strong>portuguesa</strong>, cedo porém ele arevelou intuitivamente enquanto autor dialectal, factoque o distingue dos outros povos dos novos paísesafricanos. Vem <strong>de</strong> tempos recuados e <strong>de</strong>senvolve-se noséculo XIX, paralelamente às criações em língua<strong>portuguesa</strong>, a produção popular em dialecto crioulo,sobretudo veiculada através da morna (mais <strong>de</strong> doisséculos <strong>de</strong> existência?) ― a gran<strong>de</strong> expressão artística dohomem crioulo ― das canções populares, das finançons(canções <strong>de</strong> batuque), do curcutiçans (canções <strong>de</strong> <strong>de</strong>safio― ilha do Fogo), <strong>de</strong> que se po<strong>de</strong>m encontrar algunsexemplos na revista Clarida<strong>de</strong>. Há, assim, um importantesubstracto dialectal popular que estimularia a produçãoliterária, hoje também enriquecida com a recenteexploração da cola<strong>de</strong>ira. Um dos pioneiros, o cónegoAntónio Manuel Teixeira, do Seminário-Liceu da ilha <strong>de</strong>S. Nicolau, responsável pelo Almanach Luso-Africano, (2volumes: 1894 e 1899) neste fez publicar algumastentativas literárias dialectais. Em 1910 José BernardoAlfama publica Canções crioulas. Saliente-se, no entanto,um Eugénio Tavares (Mornas ― cantigas crioulas, 1932),um Pedro Cardoso (poeta bilingue), Folcolore cabo-ver<strong>de</strong>ano(1933), <strong>de</strong> facto dos primeiros a elegerem o crioulo àdignida<strong>de</strong> <strong>de</strong> língua literária. Mais perto do nossotempo, apontam-se Sérgio Frusoni (1901-1975), umcaso interessante <strong>de</strong> aculturação, já que é filho <strong>de</strong>italianos; Mário Macedo Barbosa, Jorge Pedro, OvídioMartins (Caminhada, 1962: parte em dialecto crioulo),70
Luís Romano (Lzimparim-Negrume, 1973), GabrielMariano, Kaoberdiano Dambará (Noti, s/d, [1968?]),Artur Vieira, Sukre D’sal, Tacalhe, Oswaldo Osório,Corsino Fortes, Arménio Vieira, etc.Instrumento essencialmente afeiçoado à recriação <strong>de</strong>manifestações <strong>de</strong> índole lírica, o caso <strong>de</strong> Beleza, um dosmais populares troveiros do Arquipélago, nestes últimosanos é notório o esforço para a sua utilização cada vezmais ampla. No fundo, a produção literária em crioulo,do ponto <strong>de</strong> vista i<strong>de</strong>ológico, <strong>de</strong>screve sensivelmenteuma curva evolutiva próxima da língua <strong>portuguesa</strong>; auma fase lírica e, por vezes, <strong>de</strong> conotação social suce<strong>de</strong>uma fase marcadamente i<strong>de</strong>ológica: protesto eintervenção política. «Ca tem nada na es bida/Másgran<strong>de</strong> que amor» 99 diz Eugénio Tavares. Ou PedroCardoso na apropriação <strong>de</strong> raiz popular, comintencionalida<strong>de</strong> social: «Coitado quem dixâ sê terra,/Sêldixâ nél sê coraçam» 100 . Sérgio Frusoni, uma vozapaixonada do quotidiano ínfimo, a<strong>de</strong>nsado porrecursos <strong>de</strong> subtil ironia: «Êxe spancadura que bo titauvi,/ca ê roncadura <strong>de</strong> pómba, nem vôo <strong>de</strong> pardal.» (inClarida<strong>de</strong>, n.º 9, 1960, p. 77). Com Ovídio Martins ocorte i<strong>de</strong>ológico é <strong>de</strong> vez: «Hora tita tchgá/nhas gente»,que Kaoberdiano Dambará persegue em Noti, num<strong>de</strong>liberado apelo à revolução, e vamos encontrar aindaem Kwame Kondá (Kordá Kaobardi, 1974). Veiculandoquase exclusivamente a poesia, cabe a Luís Romano, umdos que <strong>de</strong> modo apaixonado reclamam a integralcidadania do dialecto, ensaiar com pertinácia a primeiraexperiência <strong>de</strong> tomo: Lzimparim-Negrume (1973), jácitado, que reúne não só poesias como vários contos emcrioulo <strong>de</strong> Santo Antão, acompanhados da traduçãolivre em português.71
Acrescentaríamos ainda que, apesar <strong>de</strong> tudo quantodissemos sobre o que aproxima ou afasta Clarida<strong>de</strong> eCerteza, enquanto a primeira logo no seu primeironúmero abre a primeira página com uma canção <strong>de</strong>Beleza, numa evi<strong>de</strong>nte preocupação <strong>de</strong> consagrar odialecto crioulo, e em números posteriores essapreocupação ganha volume, Certeza <strong>de</strong>sconhece odialecto crioulo. Travado e combatido pelas entida<strong>de</strong>scoloniais, nem por isso esta raiz vivaz feneceu.Acreditamos estar-lhe reservado, no futuro, papel <strong>de</strong>relevo na representação <strong>de</strong> muitos aspectos do homemcabo-verdiano. E mais: estamos, <strong>de</strong> consciência,convictos <strong>de</strong> que a longa e radiosa caminhada dodialecto crioulo, com ou sem escolarida<strong>de</strong>, irá provocaruma correcção, nos domínios da sociolinguística e dapsicolinguística que parecem admitir ou predizer o<strong>de</strong>saparecimento <strong>de</strong> uma língua quando ela, não sendoensinada, tem <strong>de</strong> suportar a concorrência falada <strong>de</strong> outraou outras que o são 101 . Se o dialecto crioulo é, como sesabe, a língua-mãe do cabo-verdiano e a língua<strong>portuguesa</strong>, em muitos casos, a língua aprendidasupletivamente, seria <strong>de</strong> admitir que, ao nível dacompetência, o escritor cabo-verdiano se sentisse maisseguro na expressão literária dialectal. Porém, isso sóacontece, em termos gerais, e com algumas excepções(Eugénio Tavares e Sérgio Frusoni po<strong>de</strong>m ser doisexemplos), no plano da poesia popular. Tal paradoxo(aparente? ou provisório?) provém não só da carência <strong>de</strong>organização estrutural teórica da língua cabo-verdiana,como também <strong>de</strong> uma prolongada e fecunda tradiçãoliterária escrita sem a qual uma língua não alcança amaleabilida<strong>de</strong> e a ductilida<strong>de</strong> que a autêntica criaçãoliterária exige 102 .72
RAÍZES (nota final)Por fim, uma palavra para a revista Raízes, 1977 *. Eporque se trata <strong>de</strong> um acontecimento na vida cultural doCabo Ver<strong>de</strong> libertado se transcreve a nota <strong>de</strong> abertura:«De um encontro <strong>de</strong> intelectuais cabo-verdianos,irmanados pelo i<strong>de</strong>al da libertação, da in<strong>de</strong>pendência edo progresso da sua Pátria, e vivificados pela seivahaurida <strong>de</strong> raízes comuns aprofundadas no seu chão,nasceu a i<strong>de</strong>ia da publicação que hoje se apresenta,limitada pelo condicionalismo do meio mas aberta peloespírito generoso dos seus colaboradores, vindos dastendências mais díspares mas unidos pelo i<strong>de</strong>al comumque da revista é signo: ― uma condição cabo-verdiana,africana e <strong>de</strong> cidadania do Mundo; uma autenticida<strong>de</strong>nascida da liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa condição; uma in<strong>de</strong>pendênciaassente nas comuns RAÍZES».A novida<strong>de</strong> está em que o i<strong>de</strong>ário <strong>de</strong> Raízes se cumprena isotopia <strong>de</strong> uma longa jornada já nossa conhecida:Clarida<strong>de</strong>, Certeza, Suplemento Cultural, «Sèló». Os caboverdianosque neste número se inscrevem, comexcepção para Tacalhe e Jorge Carlos da Fonseca, foramcolaboradores <strong>de</strong> uma ou <strong>de</strong> outra daquelas publicações.Neste espaço breve diremos, em jeito <strong>de</strong> síntese que,tudo quanto enunciámos, <strong>de</strong> um modo geral seconfirma em relação aos autores agora presentes emRaízes (e <strong>de</strong> novo chamamos a atenção para ArménioVieira e Mário Fonseca). Que a Revolução, obviamente,é enunciado <strong>de</strong> muitos textos. Que Ovídio Martins,atento à mudança da «situação <strong>de</strong> discurso», transfere aprática poética, que se centrava no contexto violentadoe repressivo, para a reconstrução nacional («Devagar areconstrução nacional avança. Ilha a ilha. Dor a dor.73
Amor a amor») na opção <strong>de</strong> uma prática pedagógica(Guillén do após a revolução cubana é o nome que nosocorre). Que Osvaldo Alcântara nos parece ter agora aseu lado um companheiro <strong>de</strong> jornada (estética): JorgeCarlos da Fonseca, pelo menos um certo OsvaldoAlcântara e um certo J. Carlos da Fonseca. Que umnovo poeta se anuncia: Pedro Duarte, e um novonarrador se vai confirmando: Osvaldo Osório. Que odrama continua à espera <strong>de</strong> dramaturgos. Que dos vintee três poemas publicados, apenas um é em crioulo. QueRaízes, sendo um acto <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> e inteligência é,também, uma <strong>de</strong>cisão revolucionária.* Chega-nos às mãos em cima da revisão das provas <strong>de</strong>stetrabalho. Editada na cida<strong>de</strong> da Praia, ilha <strong>de</strong> Santiago, dirigidapor Arnaldo França, tem como colaboradores: ensaio ―Mário <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> e Arnaldo França, Jaime <strong>de</strong> Figueiredo;ficção ― António Aurélio Gonçalves, Baltasar Lopes,Oswaldo Alcântara, Ovídio Martins, Corsino Fortes, MárioFonseca, Tacalhe, Arménio Vieira, Jorge Carlos da Fonseca,Pedro Duarte e Jorge Miranda Alfama. Ilustração <strong>de</strong> ManuelFigueira e Osvaldo Azevedo. Capa <strong>de</strong> Pedro Gregório.74
S. TOMÉ E PRÍNCIPE75
1. LÍRICAEm capítulo anterior assinalámos que Caetano daCosta Alegre, poeta oitocentista são-tomense, fora oprimeiro, em todo o espaço africano <strong>de</strong> língua<strong>portuguesa</strong>, a dar ao tópico da cor um tratamentopoético, embora numa visão marcadamente alienatória,constituindo-se como produtor <strong>de</strong> uma expressão <strong>de</strong>negrismo.Curiosamente é também são-tomense o poeta queprimeiro, em língua <strong>portuguesa</strong>, chamou a si a expressãoda negritu<strong>de</strong>. Trata-se <strong>de</strong> Francisco José Tenreiro (1921-1966), que irá assumir uma posição inversa à <strong>de</strong> CostaAlegre. Desalienado, liberto dos mitos da inferiorida<strong>de</strong>social, i<strong>de</strong>ntifica-se com a dor do homem negro e repõenono quadro que lhe cabe da sabedoria universal:Mãos, mãos negras que em vós estou sentido!Mãos pretas e sábias que nem inventaram a escrita nem a[rosa-dos-ventosmas que da terra, da árvore, da água e da música das nuvensbeberam as palavras dos corás, dos quissanges e das timbila76
[que é o mesmodizer palavras telegrafadas e recebidas <strong>de</strong> coração em[coração 103 .A sua voz é a voz real do homem africano, uma vozque vem das origens e ressoa no tempo: «cantando: nósnão nascemos num dia sem sol!», e aí vamos com essaraça humilhada percorrendo a «estrada da escravatura»,mas entretanto iluminada por «um rio» que «vemcorrendo e cantando/<strong>de</strong>s<strong>de</strong> St. Louis e Mississipi.»(Obra poética <strong>de</strong> Francisco José Tenreiro, 1967, p. 100).Poeta bivalente («Nasci do negro e do branco/e quemolhar para mim/é como que se olhasse/para umtabuleiro <strong>de</strong> xadrez») 104 na sua vocação para exprimir omulato, que ele era, e o negro, que ele era, fundindo-seassim no poeta africano que ele foi, guinda-se àcategoria <strong>de</strong> poeta da negritu<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>,e tão lucidamente que o surto da literatura angolana emoçambicana, que se impôs a partir <strong>de</strong> cinquenta, emuito lhe <strong>de</strong>ve, o não teria ultrapassado na pertinência ena genuinida<strong>de</strong> dos temas.Interessante notar que a estrutura externa da poesia <strong>de</strong>F. J. Tenreiro adquire características diferentes,consoante a substância manipulada: poemas longos <strong>de</strong>longos versos para a negritu<strong>de</strong>, poemas curtos <strong>de</strong> curtosversos enquanto poeta mestiço:Ou então:Dona Jóia donadona <strong>de</strong> lindo nome;tem um piano alemão<strong>de</strong>safinando <strong>de</strong> calor 105 .77
De coração em África com o grito seiva bruta dos poemas[<strong>de</strong> Guillén<strong>de</strong> coração em África com a impetuosida<strong>de</strong> viril <strong>de</strong> I too[am American... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...<strong>de</strong> coração em África contigo amigo Joaquim 106 quando[em versos incendiárioscantaste a África distante do Congo da minha sauda<strong>de</strong> do[Congo <strong>de</strong> coração em África 107Há uma distância solar, como se vê, entre ahumilhação da Costa Alegre e a glorificação dos valoresculturais africanos por parte <strong>de</strong> Francisco Tenreiro queobviamente correspon<strong>de</strong> à amplitu<strong>de</strong>consciencializadora que vai do século XIX ao século XX.O discurso <strong>de</strong> Alda do Espírito Santo <strong>de</strong>screve-seentre o relato quotidiano da ilha, impregnado <strong>de</strong> alusõessimbólicas <strong>de</strong> esperança, ou do registo <strong>de</strong> anseios <strong>de</strong>transparência política: «uma história bela para oshomens <strong>de</strong> todas as terras/ciciando em coro, cançõesmelodiosas/numa toada universal» 108 até ao clamor darevolta <strong>de</strong> um povo oprimido como em «On<strong>de</strong> estão oshomens caçados neste vento <strong>de</strong> loucura»:― Que fizeste do meu povo?...― Que respon<strong>de</strong>is?...― On<strong>de</strong> está o meu povo?...E eu respondo no silênciodas vozes erguidasclamando justiça...Um a um, todos em fila...Para vós, carrascos,o perdão não tem nome 109 .78
O mesmo clamor da revolta percorre o discurso <strong>de</strong>Maria Manuela Margarido:A noite sangrano mato,ferida por uma lança<strong>de</strong> cólera 110 .A cólera. A revolta. Duas constantes que, associadasao movimento dialéctico da vida que tudo <strong>de</strong>strói ereconstrói, trazem a esperança: «Na beira do mar, naságuas,/estão acesas a esperança/o movimento/arevolta/do homem social, do homem integral», e é aindao verbo <strong>de</strong> Maria Manuela Margarido. Daí a certezainscrita no <strong>de</strong>vir histórico:No céu perpassa a angústia austerada revoltacom suas garras suas ânsias suas certezas 111 .Em meio da <strong>de</strong>núncia (do «cheiro da morte»), daacusação («eu te pergunto, Europa, eu te pergunto:AGORA?») 112 perpassa a certeza. Ou a esperança. Nãomera esperança i<strong>de</strong>alista. A esperança concretizada nadialéctica do real. Tomaz Me<strong>de</strong>iros:Amanhã,Quando as chuvas caírem,As folhas gritarem d’esperançaNos braços das árvores,... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...IreiDesafiar os mais trágicos <strong>de</strong>stinos,à campa <strong>de</strong> Nhana, ressuscitar o meu amor.Irei 113 .79
Poesia vinculada à sedimentação <strong>de</strong> uma consciênciaanticolonialista, mais do que a fala <strong>de</strong> cada poeta ela seconsubstancia na voz colectiva do homem são-tomense.Mas não só poesia <strong>de</strong> signos, <strong>de</strong> símbolos, <strong>de</strong> imagísticaprotestatária, aliás <strong>de</strong> <strong>de</strong>scodificação facilitada. Não sópoesia <strong>de</strong> anunciação e assunção. Não só. Poesia tocadapelo afago lírico das coisas da «Ilha Ver<strong>de</strong>, rubra <strong>de</strong>sangue». As «palmeiras e cacoeiros», «o aroma dosmamoeiros», o «cajueiro»; as «modinhas da terra», os«murmúrios doces dos silêncios», «as canoas balouçandono mar», o «sòcòpé», os <strong>de</strong>uses e os mitos, «orações dosocás», os «cazumbis».Por <strong>de</strong>rra<strong>de</strong>iro, Marcelo Veiga. Numa or<strong>de</strong>mcronológica Marcelo Veiga (1892-1976) <strong>de</strong>veria ter sidoconsi<strong>de</strong>rado logo após Costa Alegre. Marcelo Veiga,pequeno proprietário da ilha do Príncipe, estudou noliceu em Lisboa, aqui viveu por períodos intermitentes,foi amigo <strong>de</strong> Almada-Negreiros, Mário Eloy, MárioDomingues, José Monteiro <strong>de</strong> Castro, Hernâni Cida<strong>de</strong>.Passou <strong>de</strong>spercebido até ao momento em que AlfredoMargarido o incluiu na antologia por ele organizada epublicada, da Casa dos Estudantes do Império, Poetas <strong>de</strong>S. Tomé e Príncipe (1963). Ultimamente obtivemos algunspoemas seus, inéditos, datados a partir <strong>de</strong> 1920, cedidospelo poeta, pouco antes <strong>de</strong> falecer na sua ilha. Ele dá,assim, antes <strong>de</strong> F. J. Tenreiro, o sinal do «regresso dohomem negro», o sinal da negritu<strong>de</strong> não só em S. Tomée Príncipe como em toda a área africana da língua<strong>portuguesa</strong>: «África não é terra <strong>de</strong> ninguém,/Dequalquer que sabe <strong>de</strong> on<strong>de</strong> vem, [...] A África énossa!/É nossa! é nossa!» 114 .Eis, nítida e insofismável, a consciência da revolta:80
Filhos! a pé! a pé! que é já manhã!Esta África em que quem quer dá co’o pé,Esta negra África escarumba, olé!Não a q’remos mais sob jugo <strong>de</strong> alguém,Ela é nossa mãe! 115Irónico, mordaz, a língua <strong>de</strong>stravada e rebel<strong>de</strong>,associada ao veneno lúcido da <strong>de</strong>safronta:Ou«Sou preto ― o que ninguém escuta;O que não tem socorro;O ― olá, tu rapaz!O ― ó meu merda! Ó cachorro!O ― ó seu filho da puta!E outros mimos mais... 116O preto é bola,É pim-pam-pum!Vem um:― Zás! na cachola...― Outro ― um chut ― bum! 117A terminar, diríamos que a poesia <strong>de</strong> S. Tomé ePríncipe constitui uma expressão africana mais uniformedo que a <strong>de</strong> Moçambique ou mesmo <strong>de</strong> Angola, aindaconsi<strong>de</strong>rando a franja <strong>de</strong> mestiçagem que a percorre.Construída apenas por negros ou mestiços, estepunhado <strong>de</strong> poetas baliza a área temática no centro douniverso da(s) sua(s) ilha(s) e organiza um signo cujapolissemia é <strong>de</strong> uma África violentada, inchada <strong>de</strong>cólera, a esperança feita revolta.81
2. NARRATIVAMo<strong>de</strong>stíssima, quantitativa e qualitativamente, é anarrativa <strong>de</strong> S. Tomé e Príncipe. As esporádicasexperiências <strong>de</strong> Viana <strong>de</strong> Almeida (Maiá Pòçon, contos,1937) e <strong>de</strong> Mário Domingues. (O menino entre gigantes,1960) não chegam a ser uma contribuição relevante. Oprimeiro, nesse tempo, prejudicado ainda por um ponto<strong>de</strong> vista subsidiário <strong>de</strong> uma época colonial; o segundo(também natural <strong>de</strong> S. Tomé e Príncipe, mas tornadoescritor português pela obra e pela radicação) talvez pelacarência da dramatização da personagem principal, omulato Zezinho, nado e criado em Lisboa. De acasoteria sido o conto «Os sapatos da irmã», sem qualquerrelação com S. Tomé, que Francisco José Tenreiro, em1962, publicou na colectânea Mo<strong>de</strong>rnos Autores Portugueses(Lisboa). Aci<strong>de</strong>ntais ainda, mas já com uma visãoajustada a um real africano, foram também asexperiências <strong>de</strong> Alves Preto, limitada, cremos, a doiscontos: «Um homem igual a tantos» e «Aconteceu nomorro» 118 . E ainda o caso <strong>de</strong> Sum Marky (i. e. JoséFerreira Marques), branco nascido em S. Tomé, autor <strong>de</strong>vários romances, <strong>de</strong> importância discutível, alguns noentanto parcialmente com interesse, valendo citar Vilaflogá, 1963, como testemunho acusatório da exploraçãocolonialista.3. A EXPRESSÃO EM CRIOULONão obstante ser bilingue, visto que a populaçãoutiliza, além da língua <strong>portuguesa</strong>, o crioulo <strong>de</strong> S. Tomé,82
a criação literária é reduzida em dialecto, domínio que atradição oral vem monopolizando com substancialinteresse. Praticamente conheciam-se as composiçõespoéticas <strong>de</strong> Francisco Stockler e uma experiência <strong>de</strong>Tomaz Me<strong>de</strong>iros. No entanto, após a in<strong>de</strong>pendêncianacional, parece haver sintomas <strong>de</strong> uma revitalização nouso literário do crioulo, ao nível popular, pelo menos apartir <strong>de</strong> agrupamentos musicais. Exemplo são os casosdos ca<strong>de</strong>rninhos <strong>de</strong> Sangazuza e o ca<strong>de</strong>rno doAgrupamento da Ilha, 1976, compostos <strong>de</strong> músicasrevolucionárias e, <strong>de</strong> um modo geral, vertidos emrumbas, sambas, marchas, valsas, boleros e sòcòpés.83
GUINÉ-BISSAU84
1. LÍRICAEstamos perante o capítulo menos expressivo doespaço literário africano <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>.Praticamente até antes da in<strong>de</strong>pendência nacional nãofoi possível ultrapassar a fase da literatura colonial. Eesta mesmo <strong>de</strong> reduzida extensão. Um homem que aliviveu por largos anos, Artur Augusto, escritor dotado,<strong>de</strong> origem cabo-verdiana, colaborador do primeironúmero <strong>de</strong> Clarida<strong>de</strong>, em Portugal e com larga vivênciana Guiné-Bissau, ficou-se, ao que sabemos, por escassoscontos publicados n’O Mundo Português (1935 a 1936). Aobra romanesca <strong>de</strong> Fausto Duarte (1903-1955): Auá,1934; O negro um alma, 1935; Rumo ao <strong>de</strong>gredo, 1939; Arevolta, 1945; Foram estes os vencidos, 1945, cabo-verdianopor dilatados anos radicado na Guiné-Bissau, mereceuma palavra especial. Mas é difícil, não obstante o seuempenhamento humanístico e <strong>de</strong> certa objectivida<strong>de</strong>social, libertá-lo do peso colonial e cre<strong>de</strong>nciá-lo comoverda<strong>de</strong>iro escritor guineense. Deixou um romanceinédito sobre cabo-verdianos. Testemunhará ele umanova face da romanesca <strong>de</strong> Fausto Duarte? (BenjaminPinto-Bull <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>u ultimamente na Sorbonne tese <strong>de</strong>85
doutoramento, que <strong>de</strong>sconhecemos, sobre FaustoDuarte).Com efeito, da Guiné-Bissau, durante a dominação<strong>portuguesa</strong>, não veio um poeta ou um romancista <strong>de</strong>mérito. Ali foram edificadas durante esse período ascondições suficientes ao entrave do <strong>de</strong>senvolvimentocriativo.Com um índice altíssimo <strong>de</strong> analfabetismo, até hácerca <strong>de</strong> duas décadas sem ensino secundário, e só nosúltimos anos abrangendo o sétimo ano dos liceus, o seuprimeiro jornal (Pró-Guiné) surgido apenas em 1924, assuas infra-estruturas não possibilitaram o aparecimento<strong>de</strong> gerações letradas <strong>de</strong> on<strong>de</strong> po<strong>de</strong>riam ter saídovocações capazes <strong>de</strong> se responsabilizarem pelo surto <strong>de</strong>uma literatura guineense <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong> numpaís <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> meio milhão <strong>de</strong> habitantes.Nas duas últimas décadas do domínio colonial apenasuma activida<strong>de</strong> cultural oficial se fez sentir, orientada,porém, para os sectores da investigação histórica eetnográfica (Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, 1946-1973), e sempre marcada, é evi<strong>de</strong>nte, pelo espíritooficial. Em nada ou pouco alteram este quadroempobrecido.O livro <strong>de</strong> Carlos Semedo (Poemas, 1963) também nãomodifica os dados <strong>de</strong>sta análise, até porque se trata <strong>de</strong>obra <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>sta qualida<strong>de</strong> estética. Amilcar Cabral, ofundador da nacionalida<strong>de</strong>, autor <strong>de</strong> alguns poemas mas<strong>de</strong> substância cabo-verdiana, optámos por incluí-lo naparte <strong>de</strong>dicada a Cabo Ver<strong>de</strong> 119 .Ainda em plena guerra colonial tinha surgido, no ano<strong>de</strong> 1973, em português, o folheto <strong>de</strong> poesia Poilão,iniciativa do Grupo Desportivo e Cultural do BancoNacional Ultramarino. Alguns dos poetas incluídos são86
guineenses. As suas vozes, necessariamenteresguardadas, ou <strong>de</strong>sviadas, ficam insignificativas.Embora durante a guerra colonial, nas áreas libertadaspelo P. A. I. G. C., se tivesse procedido a uma profundaalfabetização, compreen<strong>de</strong>-se que a sua juventu<strong>de</strong>,essencialmente empenhada na luta da libertaçãonacional, ou então retraída que vivia na capital (Poilão,em certa medida, po<strong>de</strong> ser um exemplo), só agoraencontre os meios necessários para se revelar no planoda criação e construir a autêntica literatura do seu país.O primeiro sinal é dado em Janeiro <strong>de</strong> 1977, comMantenhas para quem luta! ― a nova poesia da Guiné-Bissau. Livrinho <strong>de</strong> cento e três páginas, que reúnecatorze jovens poetas, on<strong>de</strong> o mais novo tem <strong>de</strong>zanoveanos e o mais velho trinta. Acompanha-o um breveprefácio on<strong>de</strong> se diz: «Hoje, somos jovens trabalhadoresno campo da poesia: esta não se <strong>de</strong>fine para nós, emtermos puramente estéticos. A forma, <strong>de</strong>stinando-se agarantir a eficácia da obra, a fazê-la atingir os objectivosvisados, impõe-se como elemento manifestamenteimportante, mas o que lhe <strong>de</strong>termina a qualida<strong>de</strong> é afunção, pelo valor social que possa representar». Aseguir uma questão que tem a ver com o espaçolinguístico da Guiné-Bissau, povoado pelas línguas-mãe,pelo crioulo e ainda pela língua oficial, o português: «Seé verda<strong>de</strong> que esta poesia se escreve actualmente emcrioulo e em português, cabe-nos a tarefa da sua fixaçãonas línguas nacionais, enquanto <strong>de</strong>positárias dosverda<strong>de</strong>iros valores africanos».Agnelo Augusto Regalla <strong>de</strong>senvolve um tema comuma outros poetas africanos, como, por exemplo, CostaAndra<strong>de</strong> e Henrique Guerra: o tema do assimilado. «Fuilevado/A conhecer a nona Sinfonia/Beethoven e87
Mozart/Na música/Dante, Petrarca e Bocácio/Naliteratura,/Fui levado a conhecer/A sua cultura...» para<strong>de</strong>pois colocar a interrogação:Mas ti, Mãe África?Que conheço eu <strong>de</strong> ti?Que conheço eu <strong>de</strong> ti?A não ser o que me impingiram?E a fome e a misériaComo complementos... 120António Cabral (Morés Djassy), o tema <strong>de</strong> constânciarevolucionária:Somos crianças do tempo da RevoluçãoFrutos das sementes <strong>de</strong> séculos <strong>de</strong> angústiasSomos crianças da lutaRestos da soma do napalmRestos da soma do napalm e fósforo 121Hél<strong>de</strong>r Proença, o da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> poeta-povo:Poema que será a arma dos oprimidos!Poema que confun<strong>de</strong> com os anseios do povoO MEU POEMA SERÁ A VOZ DO POVO 122E <strong>de</strong>ste modo se <strong>de</strong>finem algumas das linhasessenciais que nesta jovem poesia guineense se contêm.Por um lado, os poetas reencontram-se como cidadãosverda<strong>de</strong>iramente africanos, por outro a Revolução estáem marcha e a poesia (a arte), «arma dos oprimidos!»,«voz do povo» vai assumir-se como parte integrante daRevolução.88
Daí a <strong>de</strong>núncia, a <strong>de</strong>terminada acusação: «Para on<strong>de</strong>vão/Estes troncos <strong>de</strong> carvão/estendidos emcaixotes/Como se fossem cargas <strong>de</strong> porão» (AntónioSérgio Maria Davyes = Tony Davyes) 123. «Pelocolonialista/Fui chamado Terrorista.../Como DignoDefensor da minha existência» mas «Pela história/ocolonialista é o terrorista/Eis a crua verda<strong>de</strong> e realida<strong>de</strong>»(Jorge Ampla Cumelerbo = Jorge António da Costa) 124 .«Não sei quando começaste a bater-me/Em queida<strong>de</strong>/Em que eternida<strong>de</strong>/Em que revoluçãoastral/Talvez no ventre da minha mãe» (Kôte =Norberto Tavares <strong>de</strong> Carvalho) 125 . Ou em TomásPaquete: «A fome torcia-se, como as velas/dosbarcos,/On<strong>de</strong> os pais, por um punhado <strong>de</strong>peixe,/Deixavam viúvas/As jovens mãessolteiras.../On<strong>de</strong> os irmãos, por uma sorte <strong>de</strong>ilusão,/<strong>de</strong>ixavam orfãos/os sobrinhos...» 126 .Acusação que tem como alvo imediato ocolonialismo, a longa era da escravidão, feita «<strong>de</strong> dor elágrimas», como diz António Lopes Jr.: «Prisões!Sacrifícios!/O peso da fome.../Da subalimentação/Opeso da História/História <strong>de</strong> dor e lágrimas/Impostapela violência repressiva». 127Ao contrário do que acontece, não só com a poesia <strong>de</strong>Cabo Ver<strong>de</strong>, <strong>de</strong> S. Tomé e Príncipe como também coma <strong>de</strong> Angola e Moçambique, esta poesia da Guiné-Bissautoda ela nasce em pleno período da luta armada ouentão já no período pós-libertação nacional. É natural,portanto, que alguns <strong>de</strong>stes poetas se reencontrem naexaltação da «ÁFRICA MÁRTIR», dos chefesrevolucionários e, sobretudo, <strong>de</strong> Amilcar Cabral. E daítambém um profundo sentido gregário, uma realconsciência colectiva, como em José Pedro Sequeira:89
Encontramo-nos em toda a parte,Em toda a parte irmãos:Nos arrozais e no <strong>de</strong>ndémNas savanas e nas hortasNa tabanca e nos pântanos 128Ou ainda um largo sentido ecuménico, universal, navoz <strong>de</strong> Nagib Said: «Quando o som do tam-tam/Levaro grito d’África/Ao cume mais alto das consciências/Eos processos mentais superiores seconjugarem/Traduzidos no código puro dafraternida<strong>de</strong>» entãoO eco da revolução propagar-se-áAtravés das mil montanhas do Mundo 129Ou em Carlos Almada: «Porque o sol que hojear<strong>de</strong>/Brilha p’ra todos nós/E p’ra toda a África» 130 .Numa luta <strong>de</strong> libertação fatalmente há os que hesitamou se <strong>de</strong>stróem, mas a história o registará. Será issomesmo que o verbo repousado, mas liricamenteimpressivo <strong>de</strong> José Carlos significa: «E vi na tabancaqueimada <strong>de</strong>vastada/As mesmas botas calcar o sangue,o corpo a morte inocente/De crianças da tua cor, do teucredo perdido/E soube que na terra em pranto pela tuaafronta/Tu terias uma morte <strong>de</strong>senraizada» 131 .«[...] Contribuição militante a todo um processo <strong>de</strong><strong>de</strong>senvolvimento cultural que <strong>de</strong>corre no nosso País»,como se afirma no Prefácio, ela não podia <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> sertambém a expressão da libertação, da esperança, <strong>de</strong> umacolagem ao futuro, e aqui vem a propósito citar doisnomes, Armando Salvaterra: «Qu’importa que eu nãovenha/A saborear os frutos da própria árvore?/Que é90
isso/Ao pé da inabalável certeza <strong>de</strong>sse dia admirável?!...132E Justino Nunes Monteiro (Justen):Libertar a África, Libertar o HomemLibertar o tam-tam e o KoráLibertar o canto das crianças e o grito sufocado da[esperança.Uma esperança vermelho-sangueTemperada na luta e na morteAbrindo um caminho novo 133Em resumo, «arma <strong>de</strong> combate, ferramenta <strong>de</strong>construção, ela [a poesia] forja-se no quotidiano árduomas exaltante da Nação emergente, contribuiçãomo<strong>de</strong>sta no património da Humanida<strong>de</strong>, por umaRevolução Cultural», são ainda palavras do citadoPrefácio.2. A EXPRESSÃO EM CRIOULOEntre as várias etnias circula o dialecto crioulo(semelhante ao <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>: criado na Guiné oulevado para lá?) 133 e parece cada vez mais, a esse nível,ten<strong>de</strong>r a funcionar como língua <strong>de</strong> contacto,sobrepondo-se às línguas <strong>de</strong> várias etnias, até porqueprogressivamente aumenta o seu número <strong>de</strong> utentes. Sórecentemente as tentativas poéticas em dialecto crioulocomeçam a ganhar o espaço textual. Não só nascanções, nos cantos revolucionários, gravados em disco,como também na lírica que <strong>de</strong>sponta. Curiosamente, noentanto, em Mantenhas para quem luta! há apenas duaspoesias em crioulo, e subscreve-as José Carlos.91
NOTAS92
DESCOBERTAS E EXPANSÃO1 A or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> chegada dos portugueses ao continenteafricano foi esta: Cabo Ver<strong>de</strong>, 1460; S. Tomé e Príncipe, 1470;Foz do Zaire, 1482; Moçambique, 1498.2 As primeiras iniciativas do Governo da metrópolerelacionadas com a ensino datam <strong>de</strong> 1740. Outras seseguiram, mas ineficazes. Só a partir dos meados do séculoXIX o Governo Central proce<strong>de</strong> a uma série <strong>de</strong> medidasten<strong>de</strong>ntes ao <strong>de</strong>senvolvimento do ensino em Cabo Ver<strong>de</strong>(Vi<strong>de</strong> José Conrado Carlos <strong>de</strong> Chelmichi, Corografia caboverdianaou Descripção Geografico-Historica da Provincia das Ilhas <strong>de</strong>Cabo-Ver<strong>de</strong> e Guiné, 1841).Compulsando os Boletins Oficiais <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, damosconta <strong>de</strong> várias providências ou diligências levadas a cabo nosfins do segundo quartel do século XIX sobre a instruçãopública no Ultramar como, por exemplo, e além <strong>de</strong> outras:― Em 1845 se proce<strong>de</strong> à organização da instruçãoprimária nas províncias ultramarinas, abrangendo as«escolas principaes»; «materiaes <strong>de</strong> ensino»;«provimento, vencimentos, jubilação e aposentaçãodos professores»; «creação dos conselhos inspectores<strong>de</strong> instrução primária»; «sua composição e <strong>de</strong>veres»(Dec. <strong>de</strong> 14 agosto e P. R. 2 setembro 1845, o quepressupõe a existência <strong>de</strong> um ensino público em faseadiantada, pelo menos em Cabo Ver<strong>de</strong>. Tanto assimque:― Em 1860 é «creado e estabelecido na cida<strong>de</strong> da Praiaum liceu, com a <strong>de</strong>nominação <strong>de</strong> Lyceu Nacional <strong>de</strong>Província <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>» (P. circular n.º 313-A <strong>de</strong> 15<strong>de</strong>zembro 1860. B. n.º 83). A título <strong>de</strong> exemplo, entreoutras importantes medidas, e por curiosida<strong>de</strong>, seregista o seguinte:93
― Em 1875 efectuou-se a remessa <strong>de</strong> exemplares daCartilha Nacional <strong>de</strong> Caldas Aulete para seremdistribuídos pelas escolas <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, pedindo-seinformação aos responsáveis pelo ensino sobre osefeitos produzidos (P. R. n.º 32, 19 março 1878. B. n.º16).― Em 1866 é «creado o Seminário eclesiástico da diocese<strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>» (Dec. 3 setembro 1866. B. n.º 44) cujaabertura ocorreu no ano <strong>de</strong> 1867 (Off. 18 janeiro 1967.B. n.º 9).― Na segunda meta<strong>de</strong> do século XIX existiu umabiblioteca e um museu nacional, cremos que na cida<strong>de</strong>da Praia (P. n.º 15, 14 janeiro 1871. B. n.º 10).― Anteriormente a 1871 havia sido extinta a Socieda<strong>de</strong>Gabinete <strong>de</strong> Leitura cuja biblioteca transitou para aBiblioteca da cida<strong>de</strong> da Praia (P. n.º 157, 10 maio1871).― Inclusivamente «a biblioteca foi mandada abrir aopúblico em todos os dias não santificados e feriados»das seis às oito horas da tar<strong>de</strong>» (P. n.º 45, 9 fevereiro1893. B. 6).― No entanto, «por alvará <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong> Janeiro <strong>de</strong> 1740 foipara S. Thiago um mestre <strong>de</strong> gramática, com 50$00 reisannuaes», segundo Christiano José <strong>de</strong> Sernna Barcellosin Subsídios para a história <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> e Guiné. Parte II.Lisboa, Aca<strong>de</strong>mia Real das Ciências <strong>de</strong> Lisboa, 1900, p.281.3 O prelo foi instalado nas ex-colónias <strong>portuguesa</strong>s nasseguintes datas: Cabo Ver<strong>de</strong>, 1842; Angola, 1845;Moçambique, 1854; S. Tomé e Príncipe, 1857; Guiné-Bissau,1879.94
LITERATURA COLONIAL4 Só recentemente se teve conhecimento da existência <strong>de</strong>staobra. Deve-se à <strong>de</strong>scoberta, cerca <strong>de</strong> 1966, <strong>de</strong> um exemplar naNew York Public Library, pelo lusófilo americano Prof.Gerald Moser. Um segundo exemplar encontra-se agora naposse da Biblioteca da Companhia <strong>de</strong> Diamantes <strong>de</strong> Angola(Lisboa).Janheinz Jahn noticia que o dramaturgo português AfonsoÁlvares, mestiço, contemporâneo <strong>de</strong> Gil Vicente, nascido eeducado no palácio <strong>de</strong> D. Afonso <strong>de</strong> Portugal, bispo <strong>de</strong>Évora, é «o primeiro escritor africano <strong>de</strong> uma línguaeuropeia», embora os seus autos não tenham relação com aÁfrica (in Manuel <strong>de</strong> littérature neoafricaine, Paris, EditionsResma, 1969, pp. 7-8.)5 A. Teixeira da Mota, Dois escritores quinhentistas <strong>de</strong> CaboVer<strong>de</strong> ― André Álvares <strong>de</strong> Almada e André Dornelas. Lisboa,Junta <strong>de</strong> Investigações do Ultramar, 1971, p. 39.6 António <strong>de</strong> Oliveira Cadornega dá-nos notícia do factonestes termos: «(...) succe<strong>de</strong>u ir hum dia o Capitão AntónioDias <strong>de</strong> Macedo neste tempo Sargento mór da guerra comhuma sua petição sobre certo requerimento, e dizer-lhe oSecretário do Governo Sebastião Rodrigues que emendassesua Mercê a petição, porque estando em Governo se lhe <strong>de</strong>viadar Senhoria; o Capitão tinha sua veya <strong>de</strong> Poeta, entrando aliperto em huma Caza pedio tinta e papel e escreveo o seguinte(segue-se a poesia que transcrevêramos) ― in História geral dasguerras angolanas «primeiro tomo, escrito, Anno <strong>de</strong> 1968».Lisboa (edição fac-similada da edição <strong>de</strong> 1940), 1972, p. 515.7 Constituída por um volumoso número <strong>de</strong> obras, aliteratura colonial, se estudada em separado, obrigaria asubdivisões. Alguns autores ou certas obras <strong>de</strong> alguns autorespediriam um tratamento especial. Seriam as que a uma95
perspectiva europeizada juntam uma visão humanística, masem que o travo paternalístico que as percorre impediria a suainclusão na literatura africana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>.É evi<strong>de</strong>nte que as obras <strong>de</strong> Alexandre Cabral (Terra quente,1953 e os contos <strong>de</strong> Histórias do Zaire, 1956), produto da suaexperiência no Congo; ou os «Três pequenos contos»incluídos em Despedida breve, (1958) <strong>de</strong> José Augusto França;ou ainda o seu excelente romance Natureza morta (1949) <strong>de</strong>motivação angolana, por todas as razões, embora diferentespara cada um dos autores citados, estão para lá <strong>de</strong>stescomentários.SÉCULO XIX ― SENTIMENTO NACIONAL1. ANGOLA8 José da Silva Maia Ferreira, Espontaneida<strong>de</strong>s da minha alma,1849, p. 17.9 J. Cândido Furtado, «No álbum <strong>de</strong> uma africana» inAlmanach <strong>de</strong> Lembranças, 1864, p. 116; também in M. Ferreira,No reino <strong>de</strong> Caliban, 2.º vol., 1976, pp. 24-25.10 Ernesto Marecos, Juca, a Matumbolla. Lisboa, 1865, pp. 40,41, 42.11 Pedro Félix Machado, autor <strong>de</strong> uma obra repartida pelaficção e pela poesia (Sorrisos e <strong>de</strong>salentos, colecção <strong>de</strong> sonetos;Uma teima, monólogo) e os romances da série Scenas d’África―?― Romance íntimo, 3.ª edição com uma carta <strong>de</strong> F. A. Pinto[isto é Francisco António Pinto]. Lisboa, Ferin, 1892; 2volumes <strong>de</strong> 24+213 pp. & 146+1 pp. s/rosto. Cada vol.como uma parte in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte. Parte I ― O Dr. Duprat; ParteII ― O Filho adulterino. O autor na 2.ª edição <strong>de</strong> O filhoadulterino informa ainda que estava no prelo o 2.º vol. da II96
Parte ― Antonias ou o caso do bairro Estephania e anunciava umaIII Parte em preparação. Na Biblioteca Nacional, segundo asnossas buscas, apenas se encontra O filho adulterino, 2.ª edição.Carlos Ervendosa (in Itinerário da literatura angolana, 1972, pp.34-35) afirma que Cenas d’África, numa 2.ª edição foipublicado em folhetins na Gazeta <strong>de</strong> Portugal.12 Joaquim Dias Cor<strong>de</strong>iro da Matta (Jaquim Ria Matta)publicou ainda as seguintes obras: Ensaios <strong>de</strong> dicionário kimbundo– português; O luan<strong>de</strong>nse da alta e da baixa esfera ― estudo crítico eanalítico; Cartilha racional para se apren<strong>de</strong>r o kimbundo escrito segundoa Cartilha Maternal do Dr. João <strong>de</strong> Deus; Cronologia <strong>de</strong> Angola[manuscrito].13 Teófilo José da Costa, «Augusto Silvério Ferreira ― Perfilbiográfico e alguns aspectos da sua vida». In Jornal <strong>de</strong> Angola,n.º 111. Luanda, 1961. Trata-se <strong>de</strong> um artigo <strong>de</strong> uma série queo autor publicou no citado Jornal <strong>de</strong> Angola, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o n.º 108,31.8.1961 ao n.º 119, agosto 1962, com bastante interessepara o conhecimento da activida<strong>de</strong> jornalística e cultural doséculo XIX em Angola.14 Os primeiros periódicos não oficiais, excluindo, portanto,os Boletins Oficiais, foram: Angola, A Civilização da ÁfricaPortuguesa, 1866; Moçambique, O Progresso, 1868; S. Tomé ePríncipe, O Equador, 1869; Cabo Ver<strong>de</strong>, O In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, 1877;Guiné-Bissau, Pró-Guiné, 1924.Os primeiros Boletins Oficiais foram publicados nasseguintes datas: Cabo Ver<strong>de</strong>, 1843; Angola, 1845;Moçambique, 1854; S. Tomé e Príncipe, 1857; Guiné-Bissau,1880 (De 1843 a 1879 a Guiné-Bissau e Cabo Ver<strong>de</strong>constituíam um todo administrativamente e por isso oBoletim Oficial era comum).Vem ainda a propósito dizer que os Boletins Oficiais, paraalém da matéria governativa, mantinham secções <strong>de</strong> anúncios,avisos, <strong>de</strong>núncia <strong>de</strong> credores, etc., e ainda colaboraçãoliterária.97
2. CABO VERDE15 Segundo Gabriel Mariano, <strong>de</strong> 1853 a 1892 fundaram-sena cida<strong>de</strong> da Praia (Cabo Ver<strong>de</strong>) treze associações recreativase culturais como, por exemplo, a Dramática AssociaçãoIgualda<strong>de</strong>, Socieda<strong>de</strong> Gabinete <strong>de</strong> Leitura, AssociaçãoLiterária Grémio Cabo-Verdiano (Entrevista ao Diário Popular(suplemento literário), 23 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 1963.16 Henrique <strong>de</strong> Vasconcelos, cabo-verdiano <strong>de</strong> nascimento,cremos que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cedo radicado em Portugal, enquanto vivo<strong>de</strong>sfrutou <strong>de</strong> prestígio literário em Portugal. É autor, pelomenos, das seguintes obras: Flores cinzentas (p), Coimbra, 1893;Os esotéricos (p), Lisboa, 1894; A harpa do Vanadio (p), Coimbra,1895; Amor perfeito (p), Lisboa, 1895; A mentira vital (c),Coimbra, 1897; Contos novos (c), Lisboa, 1903; Flirts (p),Lisboa, 1905; Circe (p), Coimbra, 1908; O sangue das rosas (p),Lisboa, 1912.De temática europeia, qual das histórias da literatura o irárecuperar? A <strong>portuguesa</strong> ou a cabo-verdiana?17 Não existe nenhum exemplar na Biblioteca Nacional <strong>de</strong>Lisboa do romance O escravo (1856) <strong>de</strong> José Evaristod’Almeida. O único exemplar conhecido encontra-se na possedos <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes do autor, resi<strong>de</strong>ntes em Cabo Ver<strong>de</strong>. Foipor informação <strong>de</strong> um <strong>de</strong>les, Amiro Faria, que o registámosem A aventura crioula, 2.ª edição, 1973. Possuímos umafotocópia. No entanto, foi republicado in A Voz <strong>de</strong> CaboVer<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o n.º 244, 22 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 1916 ao nº 294, <strong>de</strong> maio<strong>de</strong> 1917,18 António <strong>de</strong> Arteaga, «Amores <strong>de</strong> uma creoula» in A Voz<strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, ano I, n.º 1, março <strong>de</strong> 1951até ao n.º 17, 10 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 1911.98
19 I<strong>de</strong>m, «Vinte anos <strong>de</strong>pois», i<strong>de</strong>m n.º 19, 25 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro<strong>de</strong> 1911.20 Guilherme A. Cunha Dantas, «Bosquejos d’um passeioao interior da ilha <strong>de</strong> S. Thiago», i<strong>de</strong>m, n.º 22, 15 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong>1912 ao n.º 63, 28 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 1912.21 I<strong>de</strong>m, «Contos singelos. Nhô José Pedro ou scenas dailha Brava», i<strong>de</strong>m, n.º 78, 10 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 1913 ao n.º 96,16 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 1913.22 I<strong>de</strong>m, «Memória <strong>de</strong> um rapaz pobre», i<strong>de</strong>m, n.º 106, 25<strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1913.23 Eugénio Tavares, «Vida creoula na América», i<strong>de</strong>m, n.º68, 12 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1912, e n.º 70, 10 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong>1913. O autor, Eugénio Tavares, faleceu em 1888. Logo, apublicação <strong>de</strong>sta novela é póstuma. E das duas uma: ou seaproveitou um inédito <strong>de</strong>positado nas mãos <strong>de</strong> familiares ouamigos ou então terá <strong>de</strong> se admitir a utilização <strong>de</strong> umexemplar <strong>de</strong> cuja existência não se sabe o para<strong>de</strong>iro. Omesmo se aplica às suas novelas registadas.24 I<strong>de</strong>m, «A virgem e o menino mortos <strong>de</strong> fome», i<strong>de</strong>m, n.º73, 6 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 1913 ao n.º 77, 3 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 1913.25 I<strong>de</strong>m, «Drama da pesca da baleia», i<strong>de</strong>m, n.º 101, 21 <strong>de</strong>julho <strong>de</strong> 1913 ao n.º 104, 11 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1913.26 «Carta do Padre António Vieira escripta <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>ao padre confessor <strong>de</strong> sua alteza indo arribado aquelleEstado» [Datada <strong>de</strong> 25 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1652] in Cabo Ver<strong>de</strong>.Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, ano II, n.º 23, pp. 11-12.27 Vi<strong>de</strong> Baltasar Lopes ― Cabo Ver<strong>de</strong> visto por Gilberto Freyre.Sep. boletim Cabo Ver<strong>de</strong>, n.º 84-86. Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1956;Gabriel Mariano ― «Do funco ao sobrado ou o mundo que o99
mulato criou» in Colóquios cabo-verdianos, Lisboa, Junta <strong>de</strong>Investigações do Ultramar, 1959; Manuel Ferreira ― Aaventura crioula, 2.ª ed. Lisboa, Plátano Editora, 1973; AntónioCarreira ― Cabo Ver<strong>de</strong> ― formação e extinção <strong>de</strong> umasocieda<strong>de</strong> escravocrata ― 1460-1878. Porto, 1972.28 A este respeito José Lopes fornece elementos <strong>de</strong>interesse em «Os esquecidos» in Cabo Ver<strong>de</strong>, ano III, n.º 35,Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, agosto <strong>de</strong> 1952, pp. 29-32; «Ainda osnossos poetas», i<strong>de</strong>m n.º 36, pp. 9-10; e sobretudo em «Vidacolonial» in Vida Contemporânea, ano II, n.º 15. Lisboa, Julho<strong>de</strong> 1935, pp. 196-204; i<strong>de</strong>m, n.º 18, outubro <strong>de</strong> 1935, pp. 725-731, e n.º 20, <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1935, pp. 876-882. Vi<strong>de</strong> tambémNuno Catarino Cardoso: Poetisas <strong>portuguesa</strong>s. Lisboa, 1917;Sonetistas portugueses e luso-brasileiros. Lisboa, 1918; Cancioneiro dasauda<strong>de</strong> e da morte. Lisboa, 1920.29 José Lopes, apesar <strong>de</strong> uma ou outra alusão aos seus«Irmãos hespertanos!» ou aos seus «bons irmãos <strong>de</strong> Dakar»(entenda-se cabo-verdianos lá resi<strong>de</strong>ntes) ou ao seu«Lameirão», «a nossa antiga horta?...», <strong>de</strong> São Nicolau; ou <strong>de</strong>chorar a sua <strong>de</strong>solação quando, por lapso <strong>de</strong> um ano, se viuobrigado a emigrar para Angola: «Longe <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, emterra estranha/[...] chorarei minha mágoa confi<strong>de</strong>nte,/[...]No <strong>de</strong>solado exílio <strong>de</strong>ste mato...», apesar <strong>de</strong> tudo isso, omomento em que o poeta partilha do <strong>de</strong>stino do seu própriopovo é na poesia «A catástrofe da Praia», escrita em 1949,quando um grupo numeroso <strong>de</strong> esfomeados, que recebiaassistência na capital, ficou soterrado num barracão que<strong>de</strong>sabou por força <strong>de</strong> um temporal: «Não bastavam as fomes?A Miséria/Prolongada, <strong>de</strong> tantos anos,/tantos,/Sem uma luzna escuridão ciméria?/Tantas angústias tanta Dor e prantos?»Mas nem esta longa poesia <strong>de</strong> quarenta e quatro quadrasenformadas <strong>de</strong> referências mitológicas e conceitos míticoreligiosospo<strong>de</strong> autorizar-nos a incluir o nome <strong>de</strong> José Lopesno capítulo da mo<strong>de</strong>rna poesia cabo-verdiana.100
Por sua vez, a poesia <strong>de</strong> Januário Leite (1865-1930) é a vivaconotação do drama individual <strong>de</strong> um <strong>de</strong>sadaptadomorbidamente incompreendido e infeliz: «As minhas horassombrias,/São horas do meu prazer;/Quem nunca tevealegrias,/Afeiçoa-se ao sofrer...»Pedro Cardoso (c. 1890-1942), autor <strong>de</strong> «Crioula» («Criouladivina/e moça e menina!/(...) É lírio, ébano e coral!»); <strong>de</strong>«Morna» («Flor <strong>de</strong> duas raças tristes/Vindas da Selva e doMar,/Que a nós se acharam um dia/Na mesma praia aoluar»); <strong>de</strong> «Cabo Ver<strong>de</strong>», («Cabo Ver<strong>de</strong>, que ironia bruta enegra perdida/Toda aberta em ígneo algar/por sobre a ver<strong>de</strong>campinha/Das ondas ver<strong>de</strong>s do mar!»); e <strong>de</strong> outros poemas,tendo como ponto <strong>de</strong> partida o vulcão do Fogo, sua ilhanatal: «Vesúvio cabo-verdiano!», «Padrão imenso sobre o marerguido», «simbolizando» «o futuro talvez <strong>de</strong> um gran<strong>de</strong>povo!», assim poesia <strong>de</strong> ambiência regional, com relevo para a«VI» do livro Hespéri<strong>de</strong>s, sobre as estiagens, citando inclusive a«fome crónica e dura»; apesar <strong>de</strong> toda esta preocupaçãohumana, que lhe dá o natural direito <strong>de</strong> ter alcançado maiorgrau <strong>de</strong> autenticida<strong>de</strong> regional do que o próprio José Lopes ―mesmo assim, por muito respeitável que tenha sido aactivida<strong>de</strong> poética <strong>de</strong>stes autores, eles ficarão comoantecessores, e não como precursores. Eles serão o primeirotermo <strong>de</strong> uma relação. Eles antece<strong>de</strong>m, mas não anunciam,não predizem. Justificam, mas dificilmente <strong>de</strong>ixam adivinharou perceber a natureza do termo consequente.3. MOÇAMBIQUE30 Aqui nos cumpre esclarecer, se para tanto houvernecessida<strong>de</strong>. Quando ao longo das nossas intervenções nosreferimos a uma maior ou menor presença europeia ou a ummaior ou menor índice <strong>de</strong> mestiçagem como fundamento <strong>de</strong>uma maior ou menor activida<strong>de</strong> cultural ou literária, éevi<strong>de</strong>nte que não preten<strong>de</strong>mos emprestar a estas afirmações101
um carácter racial, mas sim cultural e político. Os alicerces <strong>de</strong>uma literatura neo-africana do período colonial construíramsea partir <strong>de</strong> uma burguesia europeia, europeizada ouafricana. O povo, o homem africano, esse continuandoanalfabeto, longe das influências culturais <strong>de</strong> raiz europeia,manteve-se alheio ao processo literário. Os jornalistas, ospoetas, os ficcionistas teriam forçosamente <strong>de</strong> ser recrutadosnos estratos sociais <strong>de</strong> on<strong>de</strong> emergiam, normalmente, aquelesque teriam acesso à escola, à instrução, à cultura.4. S. TOMÉ E PRÍNCIPE31 Francisco José Tenreiro, Cabo Ver<strong>de</strong> e S. Tomé e Príncipe:Esquema <strong>de</strong> uma evolução conjunta. Sep. do Cabo Ver<strong>de</strong>, ano III, n.º76. Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1956, pp. 12-17.32 Caetano da Costa Alegre, Versos, 1916, p. 26.33 I<strong>de</strong>m, p. 26.34 I<strong>de</strong>m, p. 47.35 I<strong>de</strong>m, p. 61.36 I<strong>de</strong>m, p. 100.CABO VERDE1. LÍRICA37 Suplemento Cultural do boletim Cabo Ver<strong>de</strong>, ano ??, n.º ?,Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1958.102
38 Jorge Barbosa, Arquipélago, 1935, p. 24.39 I<strong>de</strong>m, Ambiente, 1941, p. 17.40 I<strong>de</strong>m, p. 20.41 Jorge <strong>de</strong> Sena, Líricas <strong>portuguesa</strong>s, 3.ª série, 1958, p. 123.42 António Pedro, Diário, 1929, p. 20.43 Jorge Barbosa, Arquipélago, 1935, p. 30.44 Manuel Lopes, Crioulo e outros poemas, 1964, p. 31.45 I<strong>de</strong>m, i<strong>de</strong>m, p. 83.46 I<strong>de</strong>m, p. 59.47 Pedro Corsino Azevedo, «Renascença» in Clarida<strong>de</strong>, n.º 5,1947, p. 16; também in M. Ferreira, No reino <strong>de</strong> Caliban, 1.ºvol., 1975, p. 121.48 I<strong>de</strong>m, «Terra-Longe» in Clarida<strong>de</strong>, n.º 4, 1947, p. 12.49 I<strong>de</strong>m, «Galinha branca» in M. Ferreira, No reino <strong>de</strong> Caliban,1.º vol., Lisboa, 1975, pp. 124-125.50 Deve-se a Pedro da Silveira a publicação <strong>de</strong>ste poema,acompanhado <strong>de</strong> uma nota, em Mensagem, Lisboa, Casa dosEstudantes do Império, ano XVI, n.º 1, julho <strong>de</strong> 1964, pp. 10-11-12.Fala-se <strong>de</strong> um original perdido <strong>de</strong> Pedro Corsino <strong>de</strong>Azevedo, «Era <strong>de</strong> Ouro».51 Baltasar Lopes, «Recordai do <strong>de</strong>sterrado no dia <strong>de</strong> S.Silvestre <strong>de</strong> 1957» in Clarida<strong>de</strong>, n.º 8, 1958, p. 39.103
52 I<strong>de</strong>m, «Menino <strong>de</strong> outro gongon» COLÓQUIO/Letras,n.º 14, 1973, p. 58.53 Guilherme Rocheteau, «Panorama» in Certeza, n.º 1, 1944.54 Tomaz Martins, «Poema para tu <strong>de</strong>corares» in Clarida<strong>de</strong>,n.º 4, 1947, p. 37.55 Nuno Miranda, «Revelação» in Certeza, n.º 1, 1944.56 I<strong>de</strong>m, Cancioneiro da ilha, 1964, p. 42.57 Arnaldo França, «A conquista da poesia» in Clarida<strong>de</strong>, n.º5, 1947, p. 33.58 I<strong>de</strong>m, «Paz-3» in Clarida<strong>de</strong>, n.º 8, 1958, pp. 27-28.59 António Nunes, Poemas <strong>de</strong> longe, 1945, p. 32.60 I<strong>de</strong>m, «Ritmo <strong>de</strong> pilão» in Cabo Ver<strong>de</strong>, Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>,n.º 108, 1958, p. 15.61 Pedro Cardoso, Jardim das Hespéri<strong>de</strong>s, 1926, p. 11.62 Aguinaldo Fonseca, Linha do horizonte, 1951, p. 61.63 Gabriel Mariano, «Nada nos separa» in Cabo Ver<strong>de</strong>, n.º109 p. 19.64 Onésimo Silveira, «Saga» in Clarida<strong>de</strong>, n.º 8, 1958, p. 70.65 I<strong>de</strong>m, Hora gran<strong>de</strong>, 1962, p. 41.66 I<strong>de</strong>m, p. 26.67 Ovídio Martins, Caminhada, 1962, p. 12.104
68 I<strong>de</strong>m, Gritarei berrarei matarei/Não vou para Pasárgada, s/d,1973, p. 76.69 Gabriel Mariano, «Cantiga da minha ilha» in Mário Pinto<strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>, Antologia da poesia africana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>,1968, p. 6.70 I<strong>de</strong>m, «Capitão Ambrósio», 1975, p. 13.71 Yolanda Morazzo, Cântico <strong>de</strong> ferro, 1977, p. 6372 I<strong>de</strong>m, i<strong>de</strong>m, p. 11.73 Terêncio Anahory, Caminho longe, 1962, p. 19.74 Arménio Vieira, «Poema» in Mákua 1, 1962, p. 22.75 Rolando Vera-Cruz, «Poema sem tempo» in Vértice, n.º s334-335, 1971, p. 849.76 João Vário é autor <strong>de</strong> quatro livros, o primeiro dos quaisHoras sem carne, 1958, retirado da sua bibliografia pelo próprio.Os outros são: Exemplo geral, 1966; Exemplo relativo, 1968;Exemplo dúbio, 1975. João Vário participou também nainiciativa coimbrã Êxodo (1961).77 Timóteo Tio Tiofe, O primeiro livro <strong>de</strong> Notcha, 1975, pp.88-89.78 Corsino Fortes, Pão & fonema, 1974, p. 60.79 Osvaldo Osório, Cabover<strong>de</strong>amadamente construção meu amor,1975, p. 43.80 I<strong>de</strong>m, i<strong>de</strong>m, 1975, p. 46.105
81 Dante Mariano, «Comunicado n.º 1» in M. Ferreira, Noreino <strong>de</strong> Caliban, 1.º vol., 1975, p. 252.82 Kwame Kondé, Kordá kaoberdi, 1974, p. 59.83 I<strong>de</strong>m, i<strong>de</strong>m, p. 83.84 Sukre D’Sal, Horizonte aberto, 1976, p. 29.85 Tacalhe «Lar», in M. Ferreira, No reino <strong>de</strong> Caliban, 1.º vol.,1975, p. 258.86 I<strong>de</strong>m, «Poema para <strong>de</strong>pois» in «Cultura» <strong>de</strong> Voz di Povo,Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, 29-II-1977, p. 8.87 Luís Romano, Clima, 1963, p. 236.88 Teobaldo, Virgínio, Viagem para além da fronteira, 1973, P.39.89 Daniel Filipe, Missiva, 1946, p. 43.90 Amílcar Cabral, «Ilha«, in Cabo Ver<strong>de</strong>, ano I, n.º 2, 1949,p. 11.91 I<strong>de</strong>m, «Segue o teu rumo irmão» in Vozes, n.º 1, 1974, p.19.92 I<strong>de</strong>m, «Quem é que não se lembra», i<strong>de</strong>m, p. 19.93 Amílcar Cabral na sua juventu<strong>de</strong>, pelo menos, mesmoantes <strong>de</strong> assumir as responsabilida<strong>de</strong>s políticas que veio aassumir, andou pelas li<strong>de</strong>s literárias. Escreveu um ou outroensaio («Apontamentos sobre a poesia cabo-verdiana» ― inCabo Ver<strong>de</strong> ano n.º 28, 1952) e publicou escassos poemas.Ouvimo-lo, inclusive, ler um conto em 1943 ou 1944, em S.Vicente <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, apresentado ao grupo da Aca<strong>de</strong>mia106
Cultivar, <strong>de</strong> on<strong>de</strong> saiu o projecto da Certeza. Acentue-se que,até há bem pouco tempo, sabíamos da existência <strong>de</strong> uns trêspoemas: «Ilha», publicado no jornal Ilha, ano VII, PontaDelgada ― Açores, 22-VI-1946; «Regresso», no Cabo Ver<strong>de</strong>,ano I, n.º 2, Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1949; e posteriormente «Parati, mãe Iva», publicado no seu livro <strong>de</strong> curso, republicado,<strong>de</strong>pois do seu assassinato, no jornal Expresso (Lisboa). Após ain<strong>de</strong>pendência da Guiné-Bissau e Cabo Ver<strong>de</strong>, Luís Romanojunta sete poemas ao seu artigo «Amílcar Cabral.Apontamentos sobre a poesia cabo-verdiana», (in Vozes, n.º 1,Brasil, 1976, pp. 15-21). Mais recentemente Mário Pinto <strong>de</strong>Andra<strong>de</strong> reúne três poemas ao artigo «Amílcar Cabral e areafricanização dos espíritos», publicado em Nô Pintcha,Bissau, 12-IX-76, aquando das comemorações do XXaniversário do P. A. I. G. C. Entretanto Mário <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> eArnaldo França transcrevem um novo poema (sem título) noensaio «A cultura na problemática da libertação nacional e do<strong>de</strong>senvolvimento, à luz do pensamento <strong>de</strong> Amílcar Cabral» inRaízes, ano I, n.º 1. Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1977, p. 4. Alguns<strong>de</strong>stes poemas repetem-se nas publicações que referimos e,assim, do nosso conhecimento, são ao todo <strong>de</strong>z poemas. Ostrês poemas publicados por M. Andra<strong>de</strong> vêm acompanhadosda indicação da fonte: «Mensagem. Boletim da Casa dosEstudantes do Império, ano II, maio a <strong>de</strong>zembro, n.º 11»,<strong>de</strong>sconhecendo-se o ano e se é a fonte apenas do últimopoema se dos três.2. NARRATIVA94 Antologia da ficção cabo-verdiana contemporânea, selecção enotas <strong>de</strong> Baltasar Lopes, introdução <strong>de</strong> Manuel Ferreira ecomentário <strong>de</strong> António Aurélio Gonçalves. Praia, CaboVer<strong>de</strong>, 1960.107
95 Óscar Lopes, Ler e <strong>de</strong>pois. Porto, Editorial Inova, 1969.Recolha <strong>de</strong> críticas publicadas no suplemento «Cultura e Arte»<strong>de</strong> O Comércio do Porto.96 Um dos tópicos da literatura cabo-verdiana é a «partida».Teria cabido a Eugénio Tavares glosar pela primeira vez odrama da emigração no poema «Hora di bai»: hora da partida,hora da <strong>de</strong>spedida, «hora di dor». Partida que é umaconsequência da seca, da fome: emigração. Paralelamente, háuma outra atitu<strong>de</strong> que se insinua e <strong>de</strong>pois se <strong>de</strong>fine: o <strong>de</strong>sejo<strong>de</strong> partir pela necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ver outras terras, outras gentes.Necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> compensar, em meios <strong>de</strong> acentuado<strong>de</strong>senvolvimento social e intelectual, a vida estreita das ilhas.Estado <strong>de</strong> espírito este <strong>de</strong> natureza cultural e sentimental. Eàs vezes mais «literário» do que real. A isto se chamou, <strong>de</strong>pois,evasionismo. Querendo-se significar a fuga, o abandono, a<strong>de</strong>sresponsabilização. O nosso esquema seria este:emigração: origem económica ―motivação realTerralongismo ―evasionismo: origem intelectual ―motivação real ou nãoOnésimo da Silveira, no ensaio citado, <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ou umataque directo à literatura cabo-verdiana subscrita peloshomens da Clarida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> alguns outros que vieram <strong>de</strong>pois,acusando-a <strong>de</strong> vários males e um <strong>de</strong>les seria o <strong>de</strong>«evasionismo». Isto levar-nos-ia longe. Mas <strong>de</strong>sejaríamos aqui<strong>de</strong>ixar consignado o seguinte: a) ― Nos anos 30-40, <strong>de</strong> ummodo geral, os escritores sentiam a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> alargar osseus horizontes e isso não pressupunha <strong>de</strong> modo nenhum um<strong>de</strong>senraizamento; b) ― No discurso da «evasão» não estavaexplícito o abandono e sim implícito o regresso; c) ― Sevirtu<strong>de</strong> possui a literatura cabo-verdiana <strong>de</strong>ssa época éexactamente a do elevado grau <strong>de</strong> responsabilização que osautores <strong>de</strong>monstraram no empenhamento <strong>de</strong> se inserirem no108
centro do universo crioulo, rompendo, <strong>de</strong> vez, com umpassado <strong>de</strong> alienação literária.97 Maria Lúcia Lepecki ― crítica a Virgens loucas inCOLÓQUIO/Letras, n.º 11. Lisboa, janeiro <strong>de</strong> 1975, p. 77.3. DRAMA98 Jaime <strong>de</strong> Figueiredo, Terra <strong>de</strong> sôda<strong>de</strong> ― argumento parabailado folclórico em quatro quadros, in Atlântico, nova série,n.º 3. Lisboa, 1946, pp. 24-42.4. BILINGUISMO CABO-VERDIANO99 Eugénio Tavares, Mornas ― cantigas crioulas, 1932, p. 27.100 Pedro Cardoso, Folclore caboverdiano, 1933, p. 71.101 Os principais trabalhos <strong>de</strong> autores cabo-verdianos sobreo dialecto crioulo são: Baltasar Lopes: «Uma experiênciaromânica nos trópicos», I e II in Clarida<strong>de</strong>, n.º 4, 1947, pp. 15-22, e n.º 5, 1947, pp. 1-10; O dialecto crioulo <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>, 1957;Maria Dulce <strong>de</strong> Oliveira Almada; Cabo Ver<strong>de</strong> ― Contribuiçãopara o estudo do dialecto falado no seu Arquipélago, 1961.102 Após a in<strong>de</strong>pendência, nos dois actuais jornais caboverdianos:Voz di Povo (Santiago) e Nossa Terra (Fogo), paraalém <strong>de</strong> inúmeros versos em dialecto, vêm sendo publicadosvários textos em prosa, <strong>de</strong>ixando-nos a impressão <strong>de</strong>subscritos, uns e outros, na generalida<strong>de</strong>, por quem pelaprimeira vez experimenta a mão. De qualquer modo, o factosurpreen<strong>de</strong> e exige ser acompanhado com atenção.Surpreen<strong>de</strong>, mas relativamente, claro. Deverá ter-se em conta109
a circunstância <strong>de</strong> anteriormente à in<strong>de</strong>pendência, o mensárioRepique do Sino (ilha da Brava) ter sido durante muito temporepositório <strong>de</strong> textos dialectais, sobretudo em verso.S. TOMÉ E PRÍNCIPE1. LÍRICA103 Francisco José Tenreiro, Obra poética <strong>de</strong> Francisco JoséTenreiro, 1967, p. 90.104 I<strong>de</strong>m, i<strong>de</strong>m, p. 48.105 I<strong>de</strong>m, i<strong>de</strong>m, p. 120.106 Trata-se <strong>de</strong> Joaquim Namorado. Autor do poema«África», publicado n’O Diabo, n.º 309, 24 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1940,a primeira expressão literária duma visão dialéctica <strong>de</strong> África,enquanto continente explorado, por parte <strong>de</strong> um poetaportuguês que nunca viveu no continente africano.107 Francisco José Tenreiro, Obra poética <strong>de</strong> Francisco JoséTenreiro, 1967, p. 11.108 Alda do Espírito Santo, «Em torno da minha baía» in A.Margarido, Poetas <strong>de</strong> S. Tomé e Príncipe, 1963, p. 64. Tem comoreferência o massacre <strong>de</strong> Batepá ocorrido em S. Tomé, emfevereiro <strong>de</strong> 1953, sendo governador o tenente-coronelGorgulho.109 I<strong>de</strong>m, «On<strong>de</strong> estão os homens caçados neste vento <strong>de</strong>loucura», i<strong>de</strong>m, pp. 65-66.110 Maria Manuela Margarido, «Roça» in A. Margarido,Poetas <strong>de</strong> S. Tomé e Príncipe, 1963, p. 81.110
111 I<strong>de</strong>m, «Paisagem», i<strong>de</strong>m, p. 81.112 Tomaz Me<strong>de</strong>iros, «Meu canto Europa» in A. Margarido,Poetas <strong>de</strong> S. Tomé e Príncipe, 1963, p. 76.113 I<strong>de</strong>m, «Caminhos» in «Cultura» (II), n.º s 9-10. Luanda,<strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1959.114 Marcelo Veiga, «África é nossa» in M. Ferreira No reino <strong>de</strong>Caliban, 2.º vol., 1976, pp. 466-467.115 I<strong>de</strong>m, i<strong>de</strong>m, p. 466.116 I<strong>de</strong>m, «Regresso do homem negro» in A. Margarido,Poetas <strong>de</strong> S. Tomé e Príncipe, 1964, p. 87.117 I<strong>de</strong>m, «A João Santa Rosa», i<strong>de</strong>m, p. 89.2. NARRATIVA118 Alves Preto, «Um homem igual a tantos» in Mensagem.Lisboa, Casa dos Estudantes <strong>de</strong> Lisboa, ano II, n.º 2, fevereiro<strong>de</strong> 1959, pp. 21-23. «Aconteceu no morro», i<strong>de</strong>m, ano II, n.º s5-6, 1960, pp. 2-6.GUINÉ-BISSAU1. LÍRICA119 Amílcar Cabral nasceu na Guiné-Bissau, filho <strong>de</strong> paiscabo-verdianos. Viveu em Cabo Ver<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> criança e ali111
concluiu o curso dos liceus. Isto explica a natureza da suapoesia.120 Agnelo Augusto Regalla, «Poema <strong>de</strong> um assimilado» inConselho Nacional <strong>de</strong> Cultura (Guiné-Bissau), Mantenhas paraquem luta!, 1977, p. 15.121 António Cabral, «Somos crianças», i<strong>de</strong>m, p. 22.122 Hél<strong>de</strong>r Proença, «Escreverei mais um poema», i<strong>de</strong>m, p.51.123 Tony Davyes, «Desespero», i<strong>de</strong>m, p. 26.124 Jorge Ampla Cumelerbo, «O julgar pertence à história»,i<strong>de</strong>m, p. 55.125 Kôte, «Sôba Quinty», i<strong>de</strong>m, p. 86.126 Tomás Paquete, «Ao acaso... no mar ...», i<strong>de</strong>m, p. 93.127 António Simões Lopes Jr. «Abusivamente», i<strong>de</strong>m, pp.29-30.128 José Pedro Sequeira, «A vida real dos homens nossosirmãos, i<strong>de</strong>m, p. 67.129 Nagib Said «A agonia dos impérios», i<strong>de</strong>m, p. 80.130 Carlos Almada, «Geba», i<strong>de</strong>m, p. 46.131 José Carlos, «Morte <strong>de</strong>senraizada», i<strong>de</strong>m, p. 61.132 Armando Salvaterra, «Depois <strong>de</strong> mim», i<strong>de</strong>m, p. 39.133 Justen, «Poema», i<strong>de</strong>m, p. 73.112
2. A EXPRESSÃO EM CRIOULO134 Foi sempre consi<strong>de</strong>rável a comunida<strong>de</strong> cabo-verdiana naGuiné-Bissau. Tenhamos presente que esta ex-colónia<strong>portuguesa</strong> esteve administrativamente vinculada a CaboVer<strong>de</strong> até 1879.113
BIBLIOGRAFIA PASSIVA(selectiva)Nota:Dada a impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> irmos além <strong>de</strong> umabibliografia selectiva, aceitamos correr o risco <strong>de</strong>qualquer omissão discutível ou involuntária.Aconselhamos, porém, aos que estivereminteressados, a consulta dos prefácios às antologiascitadas no vol. I ou II com <strong>de</strong>staque para os <strong>de</strong> AlfredoMargarido, Mário Pinto <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>, Jaime <strong>de</strong>Figueiredo, António Aurélio Gonçalves, Mário António,Pires Laranjeira, Serafim Ferreira e Manuel Ferreira. Útilpo<strong>de</strong>rá ser também a leitura <strong>de</strong> prefácios a algumas dasobras mencionadas, como as <strong>de</strong> Agostinho Neto, CostaAndra<strong>de</strong>, Manuel Rui, Bobella-Mota.Por certo que a Bibliografia africana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong><strong>de</strong> Gerald Moser e <strong>de</strong> Manuel Ferreira, no prelo, seráum guia indispensável.114
GERALBURNESS, DonaldFire: Six Writers from Angola, Mozambique, and CapeVer<strong>de</strong>. Prof. Manuel Ferreira. Washington, ThreeContinents Press, 1977.CABRAL, Amilcar«O papel da cultura na luta pela in<strong>de</strong>pendência»[Texto apresentado à UNESCO, em Paris, na reunião<strong>de</strong> 3-7 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1972].Também in Obras escolhidas <strong>de</strong> Amílcar Cabral, vol. 1 (Aarma da teoria/unida<strong>de</strong> e luta I), textos coor<strong>de</strong>nados porMário <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>. Lisboa, Seara Nova, 1976, p. 234-247.CÉSAR, AmândioParágrafos <strong>de</strong> literatura ultramarina. Lisboa, 1967. 346 p.Novos parágrafos <strong>de</strong> literatura ultramarina. Lisboa, 1971.511 p.HAMILTON, Russel G.Voices from an Empire. A History of Afro-PortugueseLiterature. University of Minnesota Press, 1975. 450 p.115
HERDECK, Donald E.African Authors: a campanion to black African writing,vol. 1, 1300-1973. Washington, Black Orpheus Press,1973. XII+605 p. [Inclui a biografia <strong>de</strong> 58 escritoresafricanos <strong>de</strong> língua <strong>portuguesa</strong>].MARGARIDO, Alfredo«Inci<strong>de</strong>nces socio-économiques sur la poésie noired’expression portugaise». In Diogène, n.º 37. Paris,janeiro-março, 1962, pp. 53-80.«Panorama». In C. Barreto, Estrada larga, vol. 3. Porto[1962], pp. 482-491. [Sobre a poesia <strong>de</strong> «S. Tomé,Angola e Moçambique» integrada no tema geral «Apoesia post-Orpheu»].Negritu<strong>de</strong> e humanismo. Lisboa, Casa dos Estudantes doImpério, 1964. 44 p.MOISÉS, MassaudLiteratura <strong>portuguesa</strong> mo<strong>de</strong>rna. Guia biográfico, crítico ebibliográfico. Ed. Cultrix. S. Paulo, Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> S.Paulo, 1973. 202 p. [Contém a bibliografia <strong>de</strong> váriosautores africanos e o cap. «Literatura do Ultramar», p.102-105].MOSER, GeraldEssays in Portuguese-African Literature. Col. ThePennsylvania State University Studies, 26. UniversityPark (Pensilvania). Universida<strong>de</strong> do Estado daPensilvânia, 1969. (8) + 88 p. [Contém um ensaiosobre Castro Soromenho].116
A tentative Portuguese-African bibliography: Portugueseliterature in Africa and African literature in the Portugueselanguage. University Park (Pennsylvania). ThePennsylvania State University Libraries, 1970. XI, 148p.+suplemento <strong>de</strong> 2 p. 11 folha <strong>de</strong> err. L.«How African is the African literature written inportuguese?». In «Black African», Review of NationalLiterature, vol. 2, n.º 2. Jamaica (Long Island), EstadosUnidos), outono 1971, pp. 148-166.NEVES, João Alves dasVários artigos e críticas literárias in suplementoliterário do Estado <strong>de</strong> S. Paulo (Brasil) e na revistaAnhembi, cerca <strong>de</strong> 1960 a 1968.PINTO BULL, Benjamim«Regards sur la poésie africaine d’expressionportugaise». In L’Afrique, n.º 2. Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong>Dakar, 1972, p. 79-117.PRETO-RODAS, Richard A.Negritu<strong>de</strong> as a theme in the poetry of the Portuguese-SpeakingWorld. Col. Humanities Monographs, 3?. Gainnsville,University of Florida Press, 1970. 85 p.RIÁUSOVA, Helena A.«O papel das tradições estrangeiras na formação dasliteraturas <strong>africanas</strong> <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>». InProblemas actuais do estudo das literaturas d’África.Moscovo, 1969, p. 106-15.117
Formação das literaturas <strong>africanas</strong> <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>.Moscovo, Aca<strong>de</strong>mia das Ciências da U. R. S. S.Instituto <strong>de</strong> Literatura Mundial Gorki, 1970. 20 p.«Acerca da literatura negra». In Mensagem, ano XV,Estrada larga, n.º 3. Porto, Porto Editora [1962].As literaturas da África <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>. Moscovo,Ed. «Nauka», 1972. 263 p. [Aca<strong>de</strong>mia das Ciências daU. R. S. S. Instituto <strong>de</strong> Literatura Mundial Gorki.Bibliografia].TENREIRO, Francisco«Acerca da literatura negra». In Mensagem, ano XV, n.º1, Lisboa, Casa dos Estudantes do Império, 1963, p.9-16, 32-33, e <strong>de</strong>pois in Costa Barreto, Estrada larga,vol. 3. Porto Editora [1962] .«Processo poesia». In Mensagem, ano XV, n.º 1. Lisboa,Casa dos Estudantes do Império, Abril 1963, p. 4-10.TORRES, Alexandre PinheiroO neo-realismo literário português. Lisboa, MoraesEditores, 1976. 226 p.CABO VERDEALMADA, Maria Dulce <strong>de</strong> OliveiraCabo Ver<strong>de</strong>. Contribuição para o estudo do dialectofalado no seu arquipélago. Lisboa, Junta <strong>de</strong>Investigações do Ultramar, 1961. 166 p. Il.118
ARAÚJO, NormanA study of Cape Ver<strong>de</strong>an literature. Boston, BostonCollege, 1966. 225 p.BARCELLOS, Christiano José <strong>de</strong> ScenaSubsídios para a história <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> e Guiné. Lisboa,tip. da Aca<strong>de</strong>mia Real das Ciências <strong>de</strong> Lisboa, 1899 a1912.CABRAL, Amilcar«Apontamentos sobre a poesia cabo-verdiana». InCabo Ver<strong>de</strong>, ano III, n.º 28. Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, janeiro1952, p. 5-8.CARDOSO, PedroFolclore cabover<strong>de</strong>ano. Porto, Edições Maranus, 1933.120 p.CARREIRA, AntónioCabo Ver<strong>de</strong>. Formação e extinção <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong>escravocrata (1460-1878). Lisboa, <strong>Centro</strong> <strong>de</strong> Estudosda Guiné Portuguesa, 1972. 580 p. Extensabibliografia. Il.DUARTE, Manuel«Cabo-verdianida<strong>de</strong> e africanida<strong>de</strong>». in Vértice, XII, n.º134. Coimbra, 1954, p. 639-644. [O primeiro ensaiosobre este tema].FERREIRA, Manuel«As ilhas crioulas na sua poesia mo<strong>de</strong>rna». In C.Barreto, Estrada larga, vol. 3. Porto, Porto Editora,[1962], pp. 448-454.119
A aventura crioula. 2.ª ed. Lisboa, Plátano Editora,1973. XXIX + 442 p. [Extensa bibliografia].«Jorge Barbosa». In J. J. Cochofel, Gran<strong>de</strong> dicionário daliteratura <strong>portuguesa</strong> e <strong>de</strong> teoria literária [em curso <strong>de</strong>publicação <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1971], p. 601-604.«O círculo do mar e o terra-longismo em Chiquinho <strong>de</strong>Baltasar Lopes». In COLÓQUIO/Letras, n.º 5. Lisboa,janeiro 1972, pp. 66-70.FRANÇA, ArnaldoNotas sobre poesia e ficção cabo-verdianas. Praia, CaboVer<strong>de</strong>, 1962. 23 p. Sep. Cabo Ver<strong>de</strong> (nova fase), n.º 1-157, outubro 1962.GÉRARD, Albert S.«The literature of Cape Ver<strong>de</strong>». In African Arts/Artsd’Afrique, vol. 1, n.º 2. Los Angeles, inverno 1968, p.66-70.GONÇALVES, António Aurélio«Alguns poemas <strong>de</strong> Osvaldo Alcântara». In CaboVer<strong>de</strong>, n.º 80, maio 1956, pp. 9-13. [Trata-se <strong>de</strong>Baltasar Lopes].«Bases para uma cultura <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>». In Diário daviagem presi<strong>de</strong>ncial às províncias da Guiné e Cabo Ver<strong>de</strong>.Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1956, pp. 159-177.120
LINA, MesquitelaPão & fonema ou a odisseia <strong>de</strong> um povo. (Estudo analítico<strong>de</strong> um poema <strong>de</strong> Corsino Fortes). Luanda, Comité <strong>de</strong>Acção do PAIGC ― ANGOLA. Casa Amílcar Cabral,1974. 52 p.LOPES, BaltasarO dialecto crioulo <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>. Lisboa, ImprensaNacional <strong>de</strong> Lisboa, 1957. 391 p.Cabo Ver<strong>de</strong> visto por Gilberto Freyre. Apontamentos lidosao microfone <strong>de</strong> Rádio Barlavento. Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>,Imprensa Nacional, 1956. 52 p. Sep. do Cabo Ver<strong>de</strong>,n.º 84 a 86.«Uma experiência românica nos trópicos, I, II. InClarida<strong>de</strong> (S. Vicente, Cabo Ver<strong>de</strong>), n.º 4, 1947, pp. 15-22, e n.º 5, 1947, pp. 1-10.LOPES, Manuel«Reflexões sobre a literatura cabo-verdiana ou aliteratura nos meios pequenos». In Colóquios caboverdianos,Lisboa, Junta <strong>de</strong> Investigações do Ultramar,1959, p. 1-22.LOPES, Óscar«Ficção cabo-verdiana». In Modo <strong>de</strong> ler. Porto, EditorialInova, 1969, p. 135-147.MARIANO, Gabriel«Negritu<strong>de</strong> e cabo-verdianida<strong>de</strong>». In Cabo Ver<strong>de</strong>, anoIX, n.º 104. Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1958, p. 7-8.121
«Em torno do crioulo». In Cabo Ver<strong>de</strong>, ano IX, n.º 107.Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1958, p. 7-8.«A mestiçagem: seu papel na formação da socieda<strong>de</strong>cabo-verdiana». In Cabo Ver<strong>de</strong>, n.º 109. Praia, CaboVer<strong>de</strong>, 1958.«Do funco ao sobrado ou o ‘mundo que o mulatocriou». In Colóquios cabo-verdianos. Lisboa, Junta <strong>de</strong>Investigações do Ultramar, 1959, p. 23-49.«Inquietação e serenida<strong>de</strong>. Aspectos da insularida<strong>de</strong>na poesia cabo-verdiana». In Estudos ultramarinos, n.º 3.Lisboa, 1959, p. 55-79.«Convergência lírica <strong>portuguesa</strong> num poeta caboverdianona língua crioula, do séc. XIX». In II Congressodas comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cultura <strong>portuguesa</strong>, vol. 2.Moçambique, 1967, p. 497-510. [Sobre EugénioTavares].Uma introdução à poesia <strong>de</strong> Jorge Barbosa. Praia, CaboVer<strong>de</strong>, 1964. 70 p.MONTEIRO, Félix«Ban<strong>de</strong>iras da ilha do Fogo. O senhor e o escravodivertem-se». In Clarida<strong>de</strong>, n.º 8. S. Vicente, CaboVer<strong>de</strong>, 1958, pp. 9-22.«Cantigas <strong>de</strong> Ana Procópio». In Clarida<strong>de</strong>, n.º 9. S.Vicente, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1960, pp. 15-23.122
NUNES, Maria Luisa (NUNES, Mary Louise)The phonologie of Cape Ver<strong>de</strong>an dialects of portuguese. Sep.do Boletim <strong>de</strong> Filologia, tomo XX. Lisboa, <strong>Centro</strong> <strong>de</strong>Estudos Filológicos, 1963. 56 p.OLIVEIRA, José Osório <strong>de</strong>Poesia <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>. Lisboa, Agência-Geral doUltramar, 1944. 50 p. não num.RIÁUSOVA, Helena A.«As literaturas das Ilhas <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> e São Tomé».In vários autores, <strong>Literaturas</strong> contemporâneas da ÁfricaOriental e Meridional, cap. VI, pp. 224-258. Moscovo,Idotelstvo «Nauk», 1974.ROMANO, Luís«Literatura cabo-verdiana». In Oci<strong>de</strong>nte, vol. 70, n.º335. Lisboa, março 1966, p. 105-116.Cabo Ver<strong>de</strong> ― Renascença <strong>de</strong> uma civilização no AtlânticoMédio. Sep. Oci<strong>de</strong>nte. Lisboa, 1975. 212 p.SILVEIRA, OnésimoConsciencialização na literatura cabo-verdiana. Lisboa, Casados Estudantes do Império, 1963. 32 p.SILVEIRA, Pedro da«Relance da literatura cabo-verdiana», I, II, III. In«Cultura e Arte» d’O Comércio do Porto. Porto, 24<strong>de</strong>zembro 1953, 27 abril 1954 e 13 julho 1954.SOUSA, Teixeira <strong>de</strong>«A estrutura social da ilha do Fogo em 1940». InClarida<strong>de</strong>, n.º 5. S. Vicente, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1974, pp. 42-44.123
«Sobrados, lojas e funcos». In Clarida<strong>de</strong>, n.º 8. S.Vicente, Cabo Ver<strong>de</strong>, 1958, pp. 2-8.TENREIRO, Francisco JoséCabo Ver<strong>de</strong> e S. Tomé e Príncipe. Esquema <strong>de</strong> umaevolução conjunta. In Cabo Ver<strong>de</strong>, ano VII, n.º 76.Praia, Cabo Ver<strong>de</strong>, janeiro 1956, p. 12-17.VALKHOFF, Marius F.Textos crioulos cabo-verdianos por Sérgio Frusoni. Lisboa,Silvas, C. T. G. scarl, 1975, Sep. Miscelânea Luso-Africana, Junta <strong>de</strong> Investigações do Ultramar, pp. 165-203. [Contém algumas poesias e um conto em crioulocom tradução em português <strong>de</strong> M. Valkhoff, queprefaciou a obra].S. TOMÉ E PRÍNCIPEMARGARIDO, Maria Manuel«De Costa Alegre a Francisco José Tenreiro». InEstudos Ultramarinos, n.º 3. Lisboa, Instituto Superiordos Estudos Ultramarinos, 1959, p. 93-107.RIÁUSOVA, Helena A.«As literaturas das Ilhas <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> e São Tomé».(Vi<strong>de</strong> «Cabo Ver<strong>de</strong>»).SANTO, Alda do Espírito«Algumas notas sobre o falar dos nativos da ilha <strong>de</strong> S.Tomé». In Conferência Internacional dos AfricanosOci<strong>de</strong>ntais. S. Tomé, 1956.124
REIS, FernandoPovô flogá: «O povo brinca». Folclore <strong>de</strong> São Tomé ePríncipe. Edição da Câmara Municipal <strong>de</strong> São Tomé ePríncipe. Lisboa, Tip. Bertrand (Irmão), Lda., 1969.241 p. [Além do mais contém as peças O «Tchiloli» ou atragédia do Marquês <strong>de</strong> Mântua e do imperador CarlotoMagno e o Auto <strong>de</strong> Floripes].RIBAS, Tomaz«O tchiloli ou as tragédias <strong>de</strong> São Tomé e Príncipe».In Espiral, vol. 1, n.º 6-7. Lisboa, 1965, p. 70-77.GUINÉ - BISSAUBARROS, Marcelino Marques <strong>de</strong>«O Guineense». In Revista Lusitana, vol. II, pp. 166 e268; vol. V, pp. 174 e 271; vol. VI, p. 300; vol. X, pp.306-310.PINTO BULL, BenjamimLe créole <strong>de</strong> la Guiné-Bissau. Structures grammaticales,philosophie et sagesse à travers ses surnoms, sesproverbes et ses expressions. Université <strong>de</strong> Dakar,Centre <strong>de</strong> Hautes Étu<strong>de</strong>s Afro-Ibero-Americaines.Faculté <strong>de</strong>s Lettres & Sciences Humaines, 1975. 55p.+1 folha err.TENDEIRO, João«Aspectos marginais da literatura da GuinéPortuguesa». In Estudos Ultramarinos, n.º 3. Lisboa,Instituto Superior dos Estudos Ultramarinos, 1959,93-107.125
ÍNDICE DE AUTORES, OBRAS E TEMAS126
AA tentative Portuguese-African bibliography: Portuguese literature inAfrica and African literature in the Portuguese language: 117A terra <strong>de</strong> meu pai: 29A Tribuna: 28«A vida real dos homens nossos irmãos»: 112«A virgem e o menino mortos <strong>de</strong> fome»: 22, 29A Voz <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>: 98A culturação cabo-verdiana: 22«A agonia dos impérios»: 112A Aurora: 16, 19Acto Colonial: 12A aventura crioula: 98, 100, 120A Civilização da África Portuguesa: 97«A conquista da poesia»: 43, 104«A cultura na problemática da libertação nacional e do<strong>de</strong>senvolvimento, à luz do pensamento <strong>de</strong> Amílcar Cabral»:107«A estrutura social da ilha do Fogo»: 123A harpa <strong>de</strong> Vanadio: 98«A João Santa Rosa»: 111A ilha e a solidão: 58A literatura africana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>: 7, 8, 10A literatura <strong>portuguesa</strong> e a expansão ultramarina: 8A mentira vital: 98«A mestiçagem: Seu papel na formação da socieda<strong>de</strong> caboverdiana»:122A partida: 108A primeira viagem: 12A revolta: 85A study of Cape Ver<strong>de</strong>an literature: 119«Abusivamente»: 112Aca<strong>de</strong>mia Cultivar: 106«Àcerca da literatura negra»: 118«Aconteceu no morro»: 82, 111127
África: 7, 8, 9, 46, 52, 81, 95, 110«África é nossa»: 111African Arts/Arts d’Afrique: 120African Authors: 116Africanida<strong>de</strong>: 15«Agrupamento da ilha»: 83«Ainda os nossos poetas»: 100Albasini, João: 27Alcântara, Osvaldo: 39, 41, 42, 74, 120Alegre, Caetano da Costa: 29, 30, 31, 76, 78, 80, 102Aleixo, Rodrigo: 23Alfama, Jorge Miranda: 51, 52, 74Alfama, José Bernardo: 70«Algumas notas sobre o falar dos nativos da ilha <strong>de</strong> S. Tomé»:124Almada, Carlos: 90, 112Almada, Maria Dulce <strong>de</strong> Oliveira: 109, 118Almada-Negreiros: 80Almanach <strong>de</strong> Lembranças: 27Almanach Luso Africano: 19, 28, 70Amarilis, Orlanda: 62, 68Almas negras: 11Almeida, José Evaristo d’: 20, 21, 98Almeida, Viana <strong>de</strong>: 67, 82Álvares, Afonso: 95Alvarez, Manuel, Vi<strong>de</strong> Nuno <strong>de</strong> Miranda Amado, Jorge: 43«Amilcar Cabral e a reafricanização dos espíritos»: 107«Amilcar Cabral. Apontamentos sobre a poesia caboverdiana»:107Ambiente: 36, 103América: 7, 67Amor perfeito: 98«Amores <strong>de</strong> urna creoula»: 21, 98Ana a Kalunga: 11Anahory, Terêncio: 46, 50, 105Anais das Missões Ultramarinas: 28Andra<strong>de</strong>, Costa: 87, 114128
Andra<strong>de</strong>, Mário: 74, 107, 114Andra<strong>de</strong>, Mário Pinto <strong>de</strong> (Vi<strong>de</strong> Mário <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>)Alcântara, Oswaldo. Vi<strong>de</strong> Baltasar LopesAngola: 8, 9, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 32, 50, 58, 81, 89, 94, 96,97, 100António, M.: 114Antologia da ficção cabo-verdiana contemporânea: 62, 107Antologia da poesia africana <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>: 105«Antonias ou o caso do bairro Estephania»: 97Araújo, Norman: 119«Ao caso... no mar...»: 112Aparecimento <strong>de</strong> uma activida<strong>de</strong> cultural regular em Angola:8«Apontamentos sobre a poesia cabo-verdiana»: 106, 107, 119Arquipélago: 36, 103Arteaga, António <strong>de</strong>: 21, 98«As ilhas crioulas na sua poesia mo<strong>de</strong>rna»: 119As literaturas da África <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>: 118«As literaturas das ilhas <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> e São Tomé»: 123, 124«Aspectos marginais da literatura da Guiné Portuguesa»: 125Ásia: 7Associação Literária Angolana: 19Associação Literária Grémio Cabo-verdiano: 98Atlântico: 69, 109Auá: 85Augusto, Artur: 85«Augusto Silvério Ferreira – Perfil biográfico e algunsaspectos da sua vida»: 97Aulete, Caldas: 94Auto <strong>de</strong> Floripes: 29Azevedo, Osvaldo: 74Azevedo, Pedro Corsino: 39, 40, 103B129
Ban<strong>de</strong>ira, Manuel: 38Barbosa, Jorge: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 52, 103Barbosa, Mário Macedo: 70Barcelos, Christiano José <strong>de</strong> Senna: 94, 119Barros, João <strong>de</strong>: 7Barros, Manuel Alves <strong>de</strong> Figueiredo: 23Barros, Marcelino Marques <strong>de</strong>: 27, 125Barreto, Joaquim Augusto Maria: 23Beira Caes: 65Bibliografia passiva (selectiva): 114Biblioteca da cida<strong>de</strong> da Praia (C. Ver<strong>de</strong>): 94Biblioteca da Companhia <strong>de</strong> Diamantes <strong>de</strong> Angola (Lisboa):95Biblioteca Nacional <strong>de</strong> Lisboa: 97, 98Bilinguismo cabo-verdiano: 69, 109Bobella Mota: 114Boletim Cultural da Guiné Portuguesa: 86Boletim da Socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Geografia <strong>de</strong> Lisboa: 28Boletim <strong>de</strong> Filologia: 123Boletim dos Alunos do Liceu Gil Eanes: 54Boletins Oficiais: Cabo Ver<strong>de</strong>: 93, 97; Angola: 97;Moçambique: 97; S. Tomé e Príncipe: 97; Guiné-Bissau: 97«Bosquejo d’um passeio ao interior da ilha <strong>de</strong> S. Thiago»: 21,99Brasil: 22, 26, 57Bruhl, Levy: 11CCabo Ver<strong>de</strong>: 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 35, 43, 58, 59, 69,73, 86, 89, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107,111, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124Cabover<strong>de</strong>amadamente construção meu amor: 55, 56, 105Cabo Ver<strong>de</strong>. Contribuição para o estudo do dialecto crioulo:117, 118130
Cabo Ver<strong>de</strong>. Contribuição para o estudo do dialecto falado noseu arquipélago: 109, 118«Cabo Ver<strong>de</strong> e S. Tomé e Príncipe»: 121, 122Cabo Ver<strong>de</strong> e S. Tomé e Príncipe. Esquema <strong>de</strong> uma evolução conjunta:102Cabo Ver<strong>de</strong> ― formação e extensão <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> escravocrata ―1640-1878: 100, 119Cabo Ver<strong>de</strong> ― Renascença <strong>de</strong> uma civilização no Atlântico Médio: 123Cabo Ver<strong>de</strong> visto por Gilberto Freyre: 34, 99, 121Cabo-verdianida<strong>de</strong>: 24«Cabo-verdianida<strong>de</strong> e africanida<strong>de</strong>»: 119Cabral, Alexandre: 96Cabral, Amilcar: 25, 59, 60, 86, 89, 106, 111, 115, 119Cabral, António: 88, 112Ca<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> um ilhéu: 36Cadornega, António <strong>de</strong> Oliveira: 9, 95Caes <strong>de</strong> ver partir: 43Caes-do-Sodré té Salamansa: 68Camacho, Brito: 12Caminhada: 48, 70, 104Caminho longe: 50, 66, 105«Caminhos»: 111Camões: 7Cancioneiro: 7Cancioneiro da ilha: 43, 104Cancioneiro da sauda<strong>de</strong> e da morte: 100Canções crioulas: 70Cântico <strong>de</strong> ferro: 50, 105«Cantiga da minha ilha»: 105«Capitão Ambrósio»: 50, 105Cardoso, António Men<strong>de</strong>s: 57Cardoso, Nuno Catarino: 100Cardoso, Pedro: 23, 24, 46, 70, 71, 101, 104, 109, 119Carlos, José: 90, 91, 112Carreira, António: 100, 119131
«Carta do padre António Vieira escrita <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> aopadre confessor <strong>de</strong> sua alteza indo arribado aquelleEstado»: 99Casimiro, Augusto: 11Cartilha Nacional: 94Cartilha racional para se apren<strong>de</strong>r o kimbundo escrito segundo aCartilha Maternal do Dr. João <strong>de</strong> Deus: 97Carvalho, Norberto Tavares. Vi<strong>de</strong> KôteCastro, José Monteiro: 80Casa-gran<strong>de</strong> e senzala: 34Casa dos Estudantes do Império: 80, 103114 contos angolanos: 18Certeza: 35, 42, 43, 44, 47, 68, 72, 73, 104, 107César, Amândio: 115Chagas, Manuel Pinheiro: 10Chatelain, Héli: 18Chaves, Castelo Branco: 67Chelmichi, José Conrado Carlos <strong>de</strong>: 93Chiquinho: 60Chuva brava: 63Cida<strong>de</strong>, Hernâni: 8, 80Circe: 98Clamor Africano: 26Clarida<strong>de</strong>: 24, 26, 32, 35, 39, 41, 42, 47, 48, 52, 54, 58, 60, 61,62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 85, 103, 104, 108, 109, 121,122, 123, 124Clima: 57, 106Cochofel, João José: 120Coisificação do homem negro: 17Cola<strong>de</strong>ira: 70COLÓQUIO/Letras: 104, 109, 120Colóquios cabo-verdianos: 100, 121, 122«Comunicado»: 106Conferência Internacional dos Africanos Oci<strong>de</strong>ntais: 124Congo: 96Conselho Nacional <strong>de</strong> Cultura da Guiné-Bissau: 112Consciência regional (Cabo Ver<strong>de</strong>): 34132
Consciencialização na literatura cabo-verdiana: 64, 123«Contos e cantares africanos» 28Contos novos: 98Contos populares e lendas: 28Contos populares <strong>de</strong> Angola: 18Contos selvagens: 12«Contos singelos. Nhô José Pedro ou Scenas da ilha Brava»:21, 99Contra mar e vento: 67«Contributo para a história da Imprensa em Moçambique»: 26«Convergência lírica <strong>portuguesa</strong> num poeta cabo-verdiano nalíngua crioula, do séc. XIX»: 122Corografia cabo-verdiana ou Descripção Geográfica-Histórica daProvíncia das ilhas <strong>de</strong> Cabo-Ver<strong>de</strong> e Guiné: 93Costa, Jorge António da. Vi<strong>de</strong> Jorge Ampla CumelerboCosta, Luiz Theodoro <strong>de</strong> Freitas e: 23Costa, Teófilo José da: 97Couto, Diogo do: 7Couto, Ribeiro: 38Crioulo e outros poemas: 103«Cronologia <strong>de</strong> Angola» [manuscrito]: 97Cultura (II): 111«Cultura e Arte» do Comércio do Porto: 108, 123«Cultura» <strong>de</strong> Voz di Povo: 106Cumelerbo, Jorge Ampla: 89, 112Curcutiçans: 70DD. Afonso <strong>de</strong> Portugal: 95Dambará, Kaoberdiano: 71Dantas, Guilherme A. da Cunha: 21, 99Davyes, Tony. Vi<strong>de</strong> António Sérgio Maria«De Costa Alegre a Francisco José Tenreiro»: 124Delírios: 18133
«Depois <strong>de</strong> mim»: 112Desalentos: 96Descobertas e expansão: 7, 8, 93Despedida breve: 96«Desespero»: 112Diário da Manhã: 16, 38, 103Diário Popular: 98Dias, Estácio: 27Diogène: 116Discurso da acção colonizadora: 12, 13Distância: 65«Do fundo ao sobrado ou o mundo que o mulato criou: 99,100Dois escritores quinhentistas <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> ― André Álvares <strong>de</strong>Almada e André Dornelas: 95Domingues, Mário: 80, 82Dornelas, André: 912 poemas <strong>de</strong> circunstância: 47«Drama»: 69, 109«Dramas da pesca da baleia»: 22, 99Dramática Associação Igualda<strong>de</strong>: 98Duarte, Fausto: 85, 86Duarte, Pedro: 62, 74Duarte, Custódio José: 23Duarte, Manuel: 119EElegia à memória das infelizes victimas assassinadas por Francisco <strong>de</strong>Mattos Lobo, na noute <strong>de</strong> 25 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 1844: 9Eloy, Mário: 80«Em torno da minha baía»: 110Emigração: 108Ensaios literários: 19Ensino oficial: 8134
Ensino particular: 8Equathoriais: 28«Era <strong>de</strong> ouro»: 41, 103«Escreverei mais um poema»: 112Espiral: 125Espontaneida<strong>de</strong>s da minha alma: 9, 15, 96Estrada larga: 116, 118, 119Essays Portuguese-African Literature: 116Estudos Ultramarinos: 122, 124, 125Evocação do Recife: 34Ensaio <strong>de</strong> dicionário kimbundo-português: 97Ensino: 93Ervedosa, Carlos: 97Expressão em crioulo: 82, 91, 113Exemplo dúbio: 105Exemplo geral: 105Exemplo relativo: 105Expresso: 107Evasionismo: 64, 108FFamintos: 64Ferreira, José da Silva Maia: 9, 15, 96Ferreira, Lourenço do Carmo: 18Ferreira, Serafim: 114«Ficção cabo-verdiana»: 121Figueira, Manuel: 74, 96, 100, 103, 106, 107, 111, 114, 115,119Figueiredo, Jaime <strong>de</strong>: 24, 59, 69, 74, 109, 114Filipe, Daniel: 58, 59, 106Finançons: 70Flirts: 98Flores cinzentas: 98Fogo (ilha): 67135
Folclore cabo-ver<strong>de</strong>ano: 24, 109, 119Folk-Tales of Angola: 18Fonseca, Aguinaldo: 46, 104Fonseca, Jorge Carlos da: 73, 74Fonseca, Mário: 51, 57, 73, 74Fontes, Amândio: 34Foram estes os vencidos: 85Formação das literaturas <strong>africanas</strong> <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>:117, 118Fortes, Corsino: 54, 57, 71, 74, 105, 121Foz do Zaire: 8, 93França, Arnaldo: 43, 74, 104, 107, 120França, José-Augusto: 96Freire, Maria da Graça: 12Freyre, Gilberto: 34Frusoni, Sérgio: 70, 71, 72Furtado, J. Cândido: 15, 96G«Galinha branca»: 41, 103Galvão, Henrique: 11Gazeta <strong>de</strong> Portugal: 97«Geba»: 112Gente da ilha: 66Gérard, Albert S.: 120Góis, Damião <strong>de</strong>: 7Gobineau: 11Gonçalves, António Aurélio: 62, 67, 74, 107, 114, 120Gonzaga, Tomás António: 26Gorgulho (governador): 110Graça, Leitão: 62Gran<strong>de</strong> dicionário da literatura <strong>portuguesa</strong> e <strong>de</strong> teoria literária: 120Gregório, Pedro: 74Gritarei berrarei matarei/Não Vou para Pasárgada: 48, 105136
Grupo Desportivo e Cultural do Banco NacionalUltramarino: 86Guerra, Henrique: 87Guillén, Nicolás: 74, 78Guiné: 9Guiné-Bissau: 25, 27, 28, 32, 85, 86, 87, 89, 94, 97, 107, 111,112, 113, 125HHamilton, Russel G.: 115Her<strong>de</strong>ck, Donald E.: 116Hespéri<strong>de</strong>s: 101Histórias do Zaire: 96História geral das guerras angolanas: 95Hora di bai (partida): 108Hora gran<strong>de</strong>: 47, 104Horas sem carne: 105Horizonte aberto: 56, 106«How African is the African literature written in portuguese»:117IIlha: 60, 106, 107Ilha <strong>de</strong> Santiago: 20, 74Ilha do Príncipe: 80«Inci<strong>de</strong>nces socio-économiques sur la poésie noired’expression portugaise»: 116Influência brasileira: 34«Inquietação e serenida<strong>de</strong>. Aspectos da insularida<strong>de</strong> na poesiacabo-verdiana»: 122«Irmão branco»: 58Itinerário da literatura angolana: 97137
JJahn, Janheinz: 95Matta, Jaquim Ria. Vi<strong>de</strong> Joaquim Dias Cor<strong>de</strong>iro da Mata.Jardim das Hespéri<strong>de</strong>s: 104«Jorge Barbosa»: 120Jornal <strong>de</strong> Angola: 97Jornal do Comércio e das Colónias: 16Jornalismo: 18, 19 (ver para trás)Joaquim. Vi<strong>de</strong> Joaquim NamoradoJuca, a Matumbolla: 16, 96Justen. Vi<strong>de</strong> Justino Nunes MonteiroKKondé, Kwams: 56, 57, 106Kordá, Kaoberdi: 56, 71, 106Kôte: 89, 112L«Lar»: 57, 106Laranjeira, Pires: 114Le créole <strong>de</strong> la Guiné-Bissau: 125Leite, Januário: 24, 101Lemos, João <strong>de</strong>: 11Lepecki, Maria Lúcia: 68, 109Ler e <strong>de</strong>pois: 108«Letras e Artes»: 52Liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressão: 8Lima, Gertru<strong>de</strong>s Ferreira: 23Lima Júnior, Armando: 56138
Lima, Jorge <strong>de</strong>: 38Linha do horizonte: 46, 104Língua cabo-verdiana: 61, 72Lírica: 34, 76, 85, 102, 110, 111Líricas <strong>portuguesa</strong>s: 103Lisboa: 9, 17, 18, 19, 20, 27, 30, 44, 50, 62, 66, 67, 68, 80,82Literatura angolana: 15, 77«Literatura cabo-verdiana»: 123Literatura colonial: 9, 10, 14, 17, 20, 21, 32, 85, 95Literatura contemporânea da África Oriental e Meridional: 123Literatura dos negros: 27Literatura moçambicana: 77Literatura <strong>portuguesa</strong> mo<strong>de</strong>rna: 116Livro da dor: 27Lopes, Baltasar: 34, 39, 41, 60, 61, 63, 74, 99, 103, 107, 109,120, 121Lopes, Francisco: 62Lopes, José: 23, 24, 100, 101Lopes Jr., António: 89, 112Lopes, Manuel: 39, 40, 60, 63, 64, 103, 121Lopes, Óscar: 63, 108, 121Luanda: 15, 16, 18, 19, 65Lusíadas: 12Luz e Crença: 19Lyceu Nacional da Província <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>: 93Lzimparim-Negrume: 71MMacedo, António Dias: 9, 95Maiá Póçon: 82Machado, Pedro Félix: 17, 96«Magia negra»: 46Mákuà: 105«Mamãe» 45139
Manuel <strong>de</strong> littérature néofricaine: 95Mantenhas para quem luta!: 32, 87, 91, 112Marecos, Ernesto: 16, 96Mariano, João: 23Marky, Sum: 82Margarido, Maria Manuela: 79, 110, 124Margarido, Alfredo: 80, 110, 111, 114, 116Maria, António Sérgio: 89Mariano, Dante: 56, 106Mariano, Gabriel: 46, 47, 49, 52, 62, 65, 66, 71, 98, 99, 104,105, 121Marinheiro em terra: 58Marques, José Ferreira. Vi<strong>de</strong> Sum MarkyMartins, Ovídio: 46, 48, 49, 52, 62, 65, 70, 71, 73, 74, 104Martins, Rolando Vera-Cruz: 51, 52, 105Martins, Tomaz: 43, 104Mascarenhas, Maria Margarida: 62Massacre <strong>de</strong> Batepá (S. Tomé): 110Matta, J. Dias Cor<strong>de</strong>iro da: 15, 18, 97Me<strong>de</strong>iros, Tomaz: 79, 83, 111«Memórias <strong>de</strong> um rapaz pobre»: 21, 99Mensagem (Angola): 32Mensagem (Casa dos Estudantes do Império): 103, 107, 111«Mentalida<strong>de</strong> pré-logica»: 11Mestre <strong>de</strong> gramática (S. Tiago ― C. Ver<strong>de</strong>): 94«Meu canto Europa»: 111Miranda, Nuno: 43, 62, 66, 104Missiva: 58, 106Moçambique: 16, 19, 25, 26, 27, 32, 81, 89, 93, 94, 97, 101,122Mo<strong>de</strong>rnos autores portugueses: 82Mo<strong>de</strong>rnos poetas cabo-verdianos: 59Modo <strong>de</strong> ler: 121Moisés, Massaud: 116Monteiro, Justino Nunes: 91Monteiro Júnior, José Maria <strong>de</strong> Sousa: 23Morazzo, Yolanda: 46, 50, 105140
Morna: 38, 70Mornas ― Cantigas crioulas: 70, 109«Morte <strong>de</strong>senraizada»: 112Moser, Gerald: 95, 114, 116Mota, A. Teixeira da: 95Msaho: 32Museu Nacional da cida<strong>de</strong> da Praia (C. Ver<strong>de</strong>): 94NNacionalismo imperial: 13«Nada nos separa»: 104Namorado, Joaquim: 110Narrativa: 60, 82, 107, 111Natureza morta: 96Nga Mutúri: 16Negreiros, António Almada: 28Negrismo: 31Negritu<strong>de</strong>: 15, 35, 76, 77, 80Negritu<strong>de</strong> as a theme in tbe poetry of the Portuguese ― Speaking World:117«Negritu<strong>de</strong> e cabo-verdianida<strong>de</strong>»: 121Negritu<strong>de</strong> e humanismo: 116Neo-realismo: 35Neto, Agostinho: 114Neves, Eduardo: 15Neves, João Teixeira das: 12New York Public Library: 95No reino <strong>de</strong> Caliban: 59, 96, 103, 106, 111Nô Pintcha: 107Noite <strong>de</strong> vento: 68Nôs Vida: 52Nossa terra: 109Notas sobre poesia e ficção cabo-verdianas: 43, 120Notícias <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>: 51141
Nova largada: 11Noti: 71Nunes, António: 44, 45, 104Nunes, João José: 23Nunes, Maria Luísa: 123Nunes, Mary Louise. Vi<strong>de</strong> Maria Luísa NunesOO Brado Africano: 27O Africano: 26, 27O Comércio <strong>de</strong> Luanda: 19«O círculo do mar e o terra-longismo em Chiquinho <strong>de</strong> BaltasarLopes»: 120O Diabo: 110O dialecto crioulo <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>: 109, 121O Dr. Duprat: 96O Echo <strong>de</strong> Angola: 18O Equador: 29, 97O enterro <strong>de</strong> nha Candinha Sena: 68O escravo: 20, 21, 98O filho adulterino: 96, 97O galo que cantou na baía: 63O Guineense: 125O In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte: 97«O julgar pertence à história»: 112O luan<strong>de</strong>nse da alta e da baixa esfera ― estudo crítico e analítico: 97O menino entre gigantes: 82O Mundo Português: 85O negro sem alma: 85«O papel da cultura na luta pela in<strong>de</strong>pendência»: 115«O papel das tradições estrangeiras na formação dasliteraturas <strong>africanas</strong> <strong>de</strong> expressão <strong>portuguesa</strong>»: 117O primeiro livro <strong>de</strong> Notcha: 52, 105O Progresso: 97142
O rapaz doente: 65O sangue das rosas: 98O sertão: 19O tchiloli ou A tragédia do Marquês <strong>de</strong> Mântua e <strong>de</strong> Carloto Magno:29«O tchiloli ou as tragédias <strong>de</strong> São Tomé e Príncipe»: 125O vélo d’oiro: 11O vigilante: 26Obra poética <strong>de</strong> Francisco José Tenreiro: 77, 110Oceania: 7Oci<strong>de</strong>nte: 123Oliveira, José Osório <strong>de</strong>: 12, 123«On<strong>de</strong> estão os homens caçados neste vento <strong>de</strong> loucura»: 78,110Origem da poesia angolana: 9Orta, Garcia <strong>de</strong>: 7Os esotéricos: 98Os flagelados do vento leste: 64Osório, Oswaldo: 51, 52, 55, 57, 62, 71, 74, 105Os sertões d’Africa: 10PP.A.I.G.C.: 25, 59, 87, 107Padres Jesuítas <strong>de</strong> Angola: 8«Paisagem»: 111Paquete, Tomás: 89, 112«Panorama»: 104, 116Pão & fonema: 54, 105«Para ti, Mãe Iva»: 107«Paz»: 44«Paz – 3»: 104Pascoaes, Teixeira <strong>de</strong>: 12Pedro, António: 38, 39, 59, 103Pedro, Jorge: 57, 59, 70143
Pereira, Duarte Pacheco: 7Philosophia popular em provérbios angolenses: 18Pinto, Fernão Men<strong>de</strong>s: 7Pinto, Francisco António: 96Pinto, Mário Duarte: 23Pinto Bull, Benjamim: 85, 117, 125Pires, António: 12Pires, Ay<strong>de</strong>ia Avelino: 62Pires, Virgílio: 57, 59, 62«Poema»: 105«Poema»: 112«Poema <strong>de</strong> amanhã»: 44«Poema <strong>de</strong> um assimilado»: 112«Poema para <strong>de</strong>pois»: 106Poemas: 86Poemas <strong>de</strong> longe: 44, 104Poemas cabo-verdianos: 58«Poema para tu <strong>de</strong>corares»: 104«Poema sem tempo»: 105Poesia <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>: 123Poetas <strong>de</strong> S. Tomé e Príncipe: 80, 110, 111Poetas mo<strong>de</strong>rnos cabo-verdianos: 24Poilão: 86, 87Poetisas portugueses: 100Prelo (nas ex-colónias): 8, 9, 94, 96, 114Presença: 34Presença crioula: 62Preto, Alves: 82, 111Preto-Rodas, Richard A.: 117Primeiro escritor africano <strong>de</strong> língua europeia: 95Primeiros periódicos não oficiais: 97Poetas <strong>de</strong> S. Tomé e Príncipe: 80, 110, 111Povô flogá: 125«Processo poesia»: 118Pródigo: 68Pró-Guiné: 27, 86, 97Proença, Hel<strong>de</strong>r: 88, 112144
Pusich, Antónia Gertru<strong>de</strong>s: 9, 19Q«Quem é que não se lembra»: 60, 106«Quituxi»: 16RRaízes: 73, 74, 107Ramos, Artur: 34Raposo, Hipó1ito: 11, 12«Recordai do <strong>de</strong>sterro no dia <strong>de</strong> S. Silvestre <strong>de</strong> 1957»: 41Rebelo, Marques: 34Reino do Congo: 8Reis, Fernando: 125«Reflexões sobre a literatura cabo-verdiana ou a literatura nosmeios pequenos»: 121Regalla, Agnelo Augusto: 87, 112«Regards sur la poesie africaine d’expression portugaise»: 117Rego, José Lins do: 34«Regresso»: 107«Regresso do homem negro»: 111«Relance da literatura cabo-verdiana»: 123«Renascença»: 103Repique do sino: 110«Revelação»: 104Revista Lusitana: 28, 125Revolução: 57, 73, 88Riáusova, Helena A.: 117, 123, 124Ribas, Tomaz: 125«Ritmo <strong>de</strong> pilão»: 45, 104Rocheteau, Guilherme: 43, 104«Roça»: 110145
Rodrigues, João: 62Rodrigues, Sebastião: 95Romance íntimo: 17, 96Romano, Luís: 57, 62, 64, 65, 71, 106, 107, 123Rosa, Guimarães: 61Rosa, Jorge Eduardo: 18Roteiro <strong>de</strong> África: 12Rui, Manuel: 114Rumo ao <strong>de</strong>gredo: 85SS. Tomé: 66, 82S. Tomé e Príncipe: 25, 28, 29, 32, 80, 81, 82, 89, 93, 94, 97,102, 110, 111, 124S. Vicente (Cabo Ver<strong>de</strong>): 67, 68, 106«Saga»: 104Said, Nagib: 90, 112Salvaterra, Armando: 90, 112Salema, Álvaro: 67Sangazuza: 83Sangue cuanhama: 12S. Paulo <strong>de</strong> Assunção <strong>de</strong> Luanda: 117Sarmento, Alfredo <strong>de</strong>: 10Santo, Alda do Espírito: 78, 110, 124Santo Antão (C. Ver<strong>de</strong>): 20, 64, 65, 71Scenas d’África: 17, 96Seara Nova: 60«Segue o teu rumo irmão»: 60, 106II Congresso das comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cultura <strong>portuguesa</strong>: 122Semedo, Carlos: 86Sequeira, José Pedro: 89, 112«Sèló»: 35, 51, 52, 62, 73Seminário ― Liceu da ilha <strong>de</strong> S. Nicolau: 70Seminário eclesiástico da diocese <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong>: 94146
Sena, Jorge <strong>de</strong>: 37, 103Sentimento <strong>de</strong> cor na literatura cabo-verdiana: 23Sentimento nacional: 14, 25, 32, 96Serra, Manuel: 62Silva, António Corsino Lopes da: 23Silveira, Onésimo: 47, 49, 52, 62, 64, 65, 104, 108, 123Silveira, Pedro da: 103, 123«Sobrados, lojas e funcos» 124Socieda<strong>de</strong> Gabinete <strong>de</strong> Leitura (Praia, C. Ver<strong>de</strong>): 94, 98«Soba Quinty»: 112Socopé: 83«Somos crianças»: 112Sonetistas portugueses e luso-brasileiros: 100Sorbonne: 85Soromenho, Castro: 67Sorrisos: 96Sousa, Teixeira <strong>de</strong>: 62, 67, 123Stockler, Francisco: 83Subsídios para a história <strong>de</strong> Cabo Ver<strong>de</strong> e Guiné: 94Suplemento Cultural: 35, 46, 47, 50, 73, 102Sukre D’Sal: 56, 57, 71, 106TTacalhe: 56, 57, 71, 73, 74, 106Tavares, Eugénio: 21, 23, 70, 71, 72, 99, 108, 109, 122Tchuchinha: 65Teixeira, António Manuel: 19, 70Ten<strong>de</strong>iro, João: 125Tenreiro, Francisco José: 32, 76, 77, 78, 80, 82, 102, 110, 118,124Terra <strong>de</strong> sôda<strong>de</strong> ― argumento para bailado folclórico: 69, 109Terra quente: 96«Terralongismo»: 108The phonologie of Cape Ver<strong>de</strong>an dialects of portuguese: 123147
«The literature of Cape Ver<strong>de</strong>»: 120Tiofe, Timóteo Tio: 52, 53, 57, 105Toda a gente fala: sim senhor: 65Torres, Alexandre Pinheiro: 28, 118Tratado breve dos reinos (ou rios) da Guiné: 9Troni, Alfredo: 16, 17U«Uma experiência romântica nos trópicos»: 109, 121«Um homem igual a tantos»: 82, 111Uma introdução à poesia <strong>de</strong> Jorg Barbosa: 122Uma teima: 96UNESCO: 115VVarela, João Manuel. Vi<strong>de</strong> Timóteo Tio TiofeVário, João: Vi<strong>de</strong> Timóteo Tio TiofeVasconcelos, Henrique <strong>de</strong>: 19, 98Vasconcelos, J. Leite: 28Vasconcelos, Medina: 23Veiga, Marcelo: 80, 111Vera-Cruz, Rolando. Vi<strong>de</strong> Rolando Vera-Cruz MartinsVersos: 29, 30, 31, 102Vértice: 51, 52, 105, 119Viagem para além da fronteira: 58, 106Vicente, Gil: 7, 95«Vida Colonial»: 100Vida Contemporânea: 100Vida crioula: 65Vida e morte <strong>de</strong> João Cabafume: 65, 66Vi<strong>de</strong>ira, António Gonçalves: 12«Vida creoula na América»: 21, 99148
Vieira, António: 22, 99Vieira, Arménio: 51, 57, 71, 73, 74, 105Vieira, José Luandino: 61Vila flogá: 82«Vinte anos <strong>de</strong>pois»: 21, 99Virgens loucas: 68, 109Virgínio, Teobaldo: 58, 62, 65, 106Voices from an Empire. A History of Afro-Portuguese Literature: 115Voz da Pátria: 28Voz di Povo: 57, 62, 106, 109Vozes: 106, 107ZZurara, Gomes Eanes <strong>de</strong>: 7149