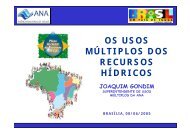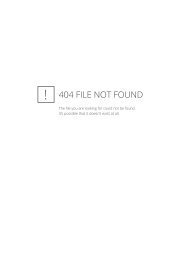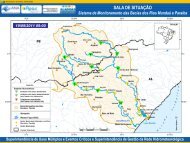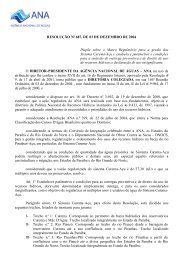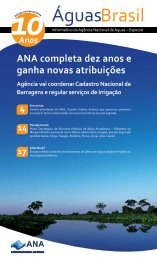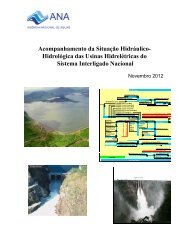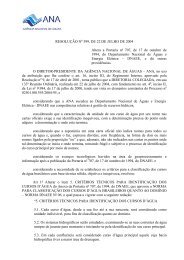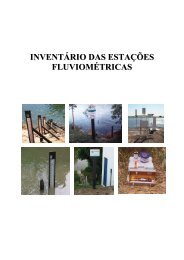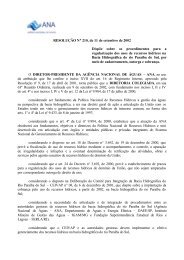Anexo - Ana
Anexo - Ana
Anexo - Ana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nota Técnica SUM nº 09/2004<br />
Processo n°: 02501.002612/2003-72.<br />
Ao Senhor Joaquim Gondim Filho<br />
Superintendente de Usos Múltiplos<br />
Em 10 de março de 2004<br />
Assunto: SÉRIES DE VAZÕES DE USOS CONSUNTIVOS DE APROVEITAMENTOS<br />
LOCALIZADOS NA BACIA DO RIO TIETÊ.<br />
I. INTRODUÇÃO<br />
1. As ações antrópicas que ocorrem em uma bacia hidrográfica podem afetar o<br />
regime fluvial de seus cursos d’água. Entre essas ações, podemos citar como mais relevantes<br />
para o regime fluvial: a implantação e operação de reservatórios, as transposições de vazões e as<br />
retiradas para diversos fins.<br />
2. Em particular, as retiradas de água para usos diversos têm, em sua grande<br />
maioria, caráter consuntivo e, por não se dispor de cadastros amplos e atualizados de usuários de<br />
recursos hídricos, ficam incorporadas às séries de vazões observadas, sem distinção de sua<br />
origem e caracterização de sua evolução. Este fato pode trazer conseqüências indesejáveis como:<br />
• subestimativa da disponibilidade dos recursos hídricos;<br />
• não ser levado em conta no planejamento e regulação de uso de recursos<br />
hídricos (como a avaliação do pedido de declaração de reserva de<br />
disponibilidade hídrica para fins de aproveitamento de novos potenciais<br />
hidráulicos); e<br />
• no caso do setor elétrico, tanto o planejamento da expansão quanto o da<br />
operação ficarem privados de considerar, de forma explícita, a evolução dos<br />
usos consuntivos e seus reflexos sobre a produção energética dos<br />
aproveitamentos existentes e/ou programados.<br />
3. O projeto “ESTIMATIVA DAS VAZÕES PARA ATIVIDADES DE USO<br />
CONSUNTIVO DA ÁGUA NAS PRINCIPAIS BACIAS DO SISTEMA INTERLIGADO<br />
NACIONAL – SIN”, contratado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (contrato<br />
DPP nº 068/2003), foi desenvolvido sob a coordenação técnica da ANA e com o<br />
acompanhamento técnico sistemático de uma comissão formada com representantes do ONS, da<br />
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e do Ministério de Minas e Energia – MME,<br />
tendo como objetivo estimar as vazões de retirada, retorno e consumo, para cinco classes de uso,<br />
nas 93 sub-bacias de contribuição incremental, distribuídas nas bacias do rio Paraná a montante<br />
da usina de Itaipu, do rio Iguaçu a montante da usina de Salto Caxias, do rio São Francisco a<br />
montante da usina de Xingó e do rio Tocantins a montante da usina de Tucuruí, indicadas na<br />
figura 1.<br />
1
UHE ITAIPU<br />
UHE TUCURUÍ<br />
UHE SALTO CAXIAS<br />
UHE XINGÓ<br />
Figura 1. Bacias hidrográficas que compõem a área de abrangência do projeto.<br />
4. Definem-se para fins desta Nota Técnica, os seguintes conceitos:<br />
• vazão de retirada – vazão captada nos municípios e agregadas para as bacias<br />
de contribuição de cada aproveitamento hidroelétrico (incluindo, também,<br />
as captações nos próprios reservatórios), para atividades de uso consuntivo<br />
da água;<br />
• vazão de retorno – vazão lançada nos municípios e agregadas para as bacias<br />
de contribuição de cada aproveitamento hidroelétrico, decorrentes de<br />
despejo de parcela remanescente da vazão de retirada para atividades de uso<br />
consuntivo da água (parcela não consumida da vazão de retirada); e<br />
• vazão de consumo – diferença entre a vazão de retirada e de retorno, nas<br />
bacias de contribuição de cada aproveitamento hidroelétrico, para atividades<br />
de uso consuntivo da água (parcela consumida da vazão de retirada).<br />
2
5. As atividades de uso consuntivo identificadas no projeto foram as seguintes:<br />
• irrigação;<br />
• abastecimento urbano;<br />
• abastecimento rural;<br />
• criação animal; e<br />
• abastecimento industrial.<br />
6. Esta Nota Técnica refere-se à metodologia e aos resultados obtidos pelo projeto<br />
para os locais de barramento das usinas na bacia do rio Tietê, listadas na Tabela 1, para as quais<br />
foram estimadas as vazões de retirada, de retorno e de consumo, de forma discriminada para<br />
cada uso consuntivo, considerando sua evolução temporal, passada e futura, ao longo do período<br />
1931-2010 (período histórico de 1931 a 2001, acrescido dos valores de um cenário de projeção<br />
de evolução de 2002 a 2010).<br />
Tabela 1. Relação das usinas do rio Tietê consideradas no projeto<br />
Aproveitamento Rio Área de<br />
drenagem<br />
(km 2 )<br />
Situação Agente de Geração<br />
Ponte Nova Tietê - (1) EMAE<br />
Billings Pinheiros - (1) EMAE<br />
Guarapiranga Guarapiranga - (1) EMAE<br />
Edgard de Souza Tietê - (1) EMAE<br />
Barra Bonita Tietê 32.330 (1) AES TIETÊ<br />
Álvaro Souza Lima<br />
(Bariri)<br />
Tietê 35.430 (1) AES TIETÊ<br />
Ibitinga Tietê 43.500 (1) AES TIETÊ<br />
Mário L. Leão<br />
(Promissão)<br />
Tietê 57.610 (1) AES TIETÊ<br />
Nova Avanhandava Tietê 62.300 (1) AES TIETÊ<br />
Três Irmãos Tietê 71.510 (1) CESP<br />
(1) - Usina em operação<br />
7. Maiores detalhes sobre o projeto poderão ser obtidos no “Relatório Final –<br />
Metodologia e Resultados Consolidados” do Consórcio Fahma/Dreer.<br />
II. METODOLOGIA<br />
II.1. Período histórico de 1931 a 2001<br />
3
II.1.1. Irrigação<br />
1. A estimativa das séries de vazões (retirada, retorno e consumo) para a agricultura<br />
irrigada foi baseada na avaliação da demanda real de água pelos cultivos, que é função do<br />
balanço hídrico nas áreas irrigadas, dos aspectos inerentes às espécies cultivadas e das condições<br />
de manejo aplicadas. A metodologia adotada consistiu, essencialmente, de quatro etapas:<br />
• cálculo das áreas irrigadas;<br />
• cálculo da evapotranspiração;<br />
• cálculo da precipitação efetiva; e<br />
• cálculo das vazões para irrigação.<br />
Cálculo das áreas irrigadas<br />
2. No cálculo das áreas colhidas foram utilizados, como fonte principal de<br />
informação, os Censos Agropecuários do IBGE dos anos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980,<br />
1985 e 1995/96. Para o período anterior a 1940, foi realizada uma extrapolação linear regressiva<br />
com base na tendência de 1940 a 1950. Com relação à área total irrigada por município, os<br />
Censos fornecem tal informação a partir de 1960, período que coincide com o início da expansão<br />
da prática da irrigação no Brasil. Para o período anterior a 1960, foi realizada extrapolação linear<br />
regressiva com base na tendência de 1960 a 1970.<br />
3. Como os dados constantes nos Censos referem-se apenas à área total irrigada e à<br />
área ocupada com cada cultura no município, e à área irrigada por cultura no estado, ou seja,<br />
uma vez que não existe nos Censos informação específica de área irrigada por cultura no nível de<br />
desagregação municipal, foi necessário estimá-la. Isso foi feito admitindo-se que, em cada<br />
município, a proporção entre a área irrigada e área colhida de uma determinada cultura é a<br />
mesma verificada no estado ao qual pertence o município. Admite-se, portanto, que, na média, os<br />
municípios têm a mesma relação “área irrigada / área colhida”, para cada cultura, que os estados<br />
a que pertencem.<br />
4. Desta forma, foi obtida uma área irrigada anual por cultura para cada município,<br />
nos anos dos Censos, enquanto que para a estimativa desse parâmetro nos anos entre os Censos,<br />
foram realizadas interpolações lineares. Nos casos onde municípios surgiam entre um censo e<br />
outro, adotou-se um processo de interpolação, onde os parâmetros de interesse de cada um deles<br />
foram interpolados entre zero, no censo imediatamente anterior à sua criação, e os valores do<br />
censo em eles apareceram pela primeira vez. Procedimento inverso, porém análogo, foi<br />
empregado no caso de municípios que se fundiam a outros no período entre censos. Excetuandose<br />
a bacia do São Francisco, para a extrapolação da área irrigada de 1995/96 (último censo<br />
disponível) a 2001, adotou-se a mesma tendência observada no período anterior (1985 a 1996).<br />
5. A fim de converter os valores anuais de área irrigada por cultura de cada<br />
município em valores mensais, foi utilizado o calendário de colheita do Censo Agropecuário<br />
1995/1996. O calendário de colheita representa a divisão mensal da área total colhida<br />
anualmente no Estado para cada cultura. A sua aplicação no nível municipal exigiu a conversão<br />
dos valores apresentados em percentuais do total colhido. Com isso foi possível estabelecer, para<br />
cada município, um calendário de colheitas, multiplicando-se a área colhida no município com<br />
uma determinada cultura pelos valores percentuais do calendário estadual.<br />
6. Partindo dos calendários de colheita convertidos para os municípios, considerouse<br />
que a colheita dos campos cultivados sob irrigação acontecia nos meses onde ocorriam as<br />
4
menores áreas colhidas, posto que as maiores áreas são plantadas nos meses da estação chuvosa,<br />
minimizando significativamente a irrigação. Assim, partindo-se da menor área colhida com uma<br />
determinada cultura, seguiu-se mês-a-mês por ordem crescente da área irrigada (mantendo-se os<br />
percentuais mensais calculados), foram estabelecidos, para cada município, tanto o calendário da<br />
irrigação dessa cultura quanto a distribuição da área irrigada ao longo do ano.<br />
Cálculo da evapotranspiração<br />
7. No projeto foi adotado o método de Penman–Monteith-FAO (DOORENBOS E<br />
PRUITT, 1977) para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo). Este método vem<br />
sendo adotado pela Food and Agriculture Organization – FAO - desde 1990.<br />
8. No cálculo da evapotranspiração de referência, foram utilizados os parâmetros de<br />
umidade relativa do ar, temperatura média do ar, número de horas de insolação e velocidade do<br />
vento.<br />
9. A umidade relativa do ar, a temperatura média do ar e o número de horas de<br />
insolação foram obtidos das Normais Climatológicas, do Instituto Nacional de Meteorologia –<br />
INMET, dos períodos 1931 – 1960 e 1961 – 1990. Como a irrigação passou a ser relevante a<br />
partir da década de 60, as Normais do período 1961 – 1990 foram as adotadas nas estações em<br />
que estavam disponíveis. As do período 1931 – 1960, foram utilizadas nas estações em que não<br />
se dispunha de Normais calculadas para 1961 – 1990. Além dos dados das Normais, e tendo<br />
como objetivo adensar a malha de estações, foram selecionadas algumas estações dentre aquelas<br />
cujos dados estão disponíveis na ANA (com dados do período 1961 – 1978) e calculou-se a<br />
média de longo período dos parâmetros necessários.<br />
10. Também foram selecionadas estações no entorno das bacias, porém externas à<br />
elas (nas áreas denominadas “áreas tampão”), com o objetivo de proporcionar uma melhor<br />
espacialização.<br />
11. Testes de análise temporal realizados pelo Consórcio (consistência entre os<br />
períodos 31-60 e 61-90 das “Normais” e 61-78 dos dados da ANA) respaldaram a adoção desta<br />
configuração de postos.<br />
12. Para a velocidade do vento foram utilizados valores médios calculados pelo<br />
próprio Consórcio a partir de dados obtidos junto ao INMET, uma vez que não são publicados<br />
valores referentes a este parâmetro nas Normais Climatológicas.<br />
13. Os valores da evapotranspiração de referência, estimados a partir das variáveis<br />
meteorológicas referentes a cada uma das estações (informação pontual), foram espacializados<br />
utilizando-se o método de extrapolação pelo inverso do quadrado da distância em relação à sede<br />
municipal, de modo a se obter os valores de evapotranspiração de referência para cada<br />
município.<br />
14. O comportamento da evapotranspiração real da cultura acompanha o crescimento<br />
vegetativo dessa cultura, do plantio até a colheita, como também depende da quantidade de água<br />
fornecida. Assim, os valores estimados de evapotranspiração de referência para cada município<br />
foram convertidos em evapotranspiração potencial da cultura ( ET pc ), e desta para a<br />
evapotranspiração real da cultura (ETrc), através das seguintes equações:<br />
ET = ET ∗ K<br />
(1)<br />
pc<br />
rc<br />
o<br />
pc<br />
c<br />
ET = ET ∗ K<br />
(2)<br />
s<br />
5
Em que:<br />
ET pc = evapotranspiração potencial da cultura (mm);<br />
ET o = evapotranspiração de referência (mm);<br />
ET rc = evapotranspiração real da cultura (mm);<br />
Kc = coeficiente de cultivo da cultura no município para o mês (adimensional);<br />
Ks = coeficiente de umidade da cultura no município para o mês (adimensional).<br />
15. Como já foi descrito anteriormente, a partir do calendário de colheitas estadual<br />
foram definidos também o calendário das culturas na base municipal e a distribuição da área<br />
irrigada mensalmente, por cultura, por município (Ai). A partir destes dados foi possível associar<br />
a cada município uma “cultura média”, que é uma cultura fictícia representada pela média<br />
ponderada (em relação às áreas individuais das culturas) do parâmetro Kc (gerando Kcm). Os<br />
coeficientes de cultivo referentes a cada cultura adotados no projeto são os apresentados por<br />
ALLEN et al. no Boletim FAO -Irrigation and Drainage n o 56 (1998).<br />
16. A utilização da evapotranspiração real da cultura, em lugar da evapotranspiração<br />
potencial, no presente trabalho, justifica-se porque a evapotranspiração potencial tende a<br />
superestimar a demanda de água para irrigação, uma vez que se estaria considerando que a<br />
umidade do solo permanece constante e próxima à capacidade de campo (ou seja, Ks = 1), o que<br />
não corresponde à realidade. No estudo do Projeto São Francisco (ANA / GEF / PNUMA / OEA,<br />
2002), que abrangeu 55 projetos de irrigação, em 82% das avaliações realizadas em propriedades<br />
que utilizam irrigação localizada esta foi deficitária e em 58% dos casos foi feita após o<br />
momento adequado. Para os sistemas de irrigação por aspersão, 77% das avaliações indicaram<br />
irrigações com déficit e 68% das irrigações foram feitas após o momento adequado. Assim<br />
sendo, a consideração da evapotranspiração como sendo igual a potencial promoveria uma<br />
grande superestimativa da vazão de retirada para a irrigação em relação àquela que realmente<br />
ocorre.<br />
17. Os valores de coeficiente de umidade do solo foram obtidos dos resultados do<br />
trabalho “Estimativa da eficiência do uso da água pela irrigação na Bacia do São Francisco”,<br />
apresentados pelo Projeto São Francisco (ANA / GEF / PNUMA / OEA, 2002). São eles:<br />
• Irrigação por aspersão: K s = 0,81; e<br />
• Irrigação localizada: K s = 0,88.<br />
18. Para cada cultura considerada, foi associado um método de irrigação mais<br />
freqüente, vinculando-se valores de Ks a cada cultura. Assim, da mesma maneira como efetuado<br />
para Kc, calculou-se um valor de Ks médio para o município, baseado na proporção entre as áreas<br />
irrigadas de cada cultura (gerando Ksm).<br />
19. Os valores de Kcm e Ksm determinados foram aplicados nas equações 1 e 2,<br />
resultando no valor de evapotranspiração real da cultura média para cada município.<br />
Cálculo da precipitação efetiva<br />
20. A precipitação efetiva foi obtida com base na metodologia estabelecida pelo U.S.<br />
Department of Agriculture - Soil Conservation Service (USDA-SCS), descrita por<br />
DOORENBOS & PRUITT (1977) no Boletim FAO - Irrigation and Drainage n o 24. Ela<br />
6
incorpora alterações no comportamento da infiltração em função da quantidade de água<br />
armazenada no solo no momento da irrigação.<br />
21. Por esta metodologia, a precipitação efetiva é obtida em função da precipitação<br />
total e da evapotranspiração potencial da cultura. Assim, para cada município e para cada mês de<br />
cada um dos anos do histórico, foram calculados os valores da precipitação efetiva em função da<br />
respectiva evapotranspiração potencial da cultura média (calculada pela equação 1) e da<br />
precipitação total, sendo esta última obtida a partir da espacialização dos dados pontuais de totais<br />
mensais de precipitação, obtidos das estações pluviométricas do banco de dados da ANA. Dessa<br />
forma, contando-se com um número variável de estações mês a mês, cobriu-se o período de 1931<br />
a 2001. O método de extrapolação pelo inverso do quadrado da distância, já citado no item<br />
referente a evapotranspiração, foi aplicado para a espacialização dos dados de precipitação,<br />
permitindo a obtenção dos mesmos para cada município.<br />
22. Na estimativa da precipitação efetiva, adotou-se 75 mm como valor de<br />
armazenamento médio (∆S) para todos os tipos de solo. Cabe destacar que a adoção de um valor<br />
médio para ∆S não representou erro significativo. Variações da ordem de 30% para mais ou para<br />
menos no valor de ∆S – o que abrange a maioria dos solos sob irrigação – implicam em<br />
correções na precipitação efetiva que não ultrapassam os 7%.<br />
Cálculo das vazões para irrigação<br />
23. A estimativa da vazão de retirada pela irrigação foi realizada, para cada um dos<br />
municípios pertencentes à bacia de drenagem, pela equação de balanço hídrico:<br />
( )<br />
( ETom<br />
⋅ Kcmm<br />
⋅ Ksmm<br />
)<br />
Ati<br />
⎡ − Pef ⎤ m<br />
Qi = m ⎢<br />
⎥ . 10<br />
(3)<br />
⎣ Eamm<br />
⎦<br />
Em que:<br />
Qi = Vazão de retirada necessária para irrigação de todas as culturas no<br />
município, em m 3 .mês -1 ;<br />
Ati m = área total irrigada, considerando todos os tipos de cultura, no município e<br />
no mês (m), em ha;<br />
ETom = evapotranspiração de referência no município para o mês (m), em<br />
mm.mês -1 ;<br />
Kcmm = coeficiente de cultivo da cultura média no município para o mês (m),<br />
adimensional;<br />
Ksmm = coeficiente de umidade da cultura média no município para o mês (m),<br />
adimensional;<br />
Pefm = precipitação efetiva no município para o mês (m), mm.mês -1 ; e<br />
Eamm = eficiência de aplicação da cultura média no município para o mês (m),<br />
adimensional.<br />
7
24. A eficiência de aplicação adotada no projeto foi obtida dos resultados do Projeto<br />
São Francisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2002) e os valores adotados foram os seguintes:<br />
• Irrigação por aspersão: Ea = 0,71; e<br />
• Irrigação localizada: Ea = 0,79.<br />
25. Como já foi expresso, para cada cultura considerada foi associado um método de<br />
irrigação mais freqüente, vinculando-se, dessa forma, os valores de Kc, Ks e Ea. Os valores da<br />
área irrigada, da evapotranspiração de referência da cultura e da precipitação efetiva de cada<br />
município, para cada mês, foram obtidos conforme descrito nos itens anteriores.<br />
26. A partir dos dados de área irrigada por cultura (Ai) foi possível associar a cada<br />
município uma “cultura média”, que é uma cultura fictícia, representada pela média ponderada<br />
(em relação às áreas individuais das culturas) dos parâmetros Kc, Ks e Ea, que ocupa a área<br />
irrigada total (Ati) do município, resultando em uma vazão de irrigação mensal igual ao<br />
somatório das vazões mensais demandadas individualmente por cada cultura.<br />
27. Uma vez estabelecida a cultura média de cada município, em cada um dos anos<br />
correspondentes aos Censos agropecuários, é feita uma interpolação linear de cada um dos<br />
quatro parâmetros que a definem (Kcm, Ksm, Eam e Ati), mês a mês, entre os Censos. Assim,<br />
obtiveram-se, em cada mês dos anos inter-censos, os parâmetros necessários para o cálculo das<br />
vazões de retirada.<br />
28. As vazões de retorno foram obtidas em função do método de irrigação, utilizandose<br />
a seguinte equação:<br />
( P P )<br />
Qr = Qi ⋅ +<br />
(4)<br />
Em que:<br />
p<br />
esc<br />
Qr = vazão de retorno da irrigação de todas as culturas no município, L d -1 ;<br />
Pp = perdas de água por percolação, adimensional; e<br />
Pesc = perdas por escoamento, adimensional.<br />
Adicionalmente,<br />
( P ) = − P − Ea<br />
Pp esc<br />
ev<br />
Onde:<br />
+ 1 (5)<br />
Pev = perdas de água por evaporação e arraste, adimensional; e<br />
Ea = eficiência de aplicação da cultura média no município.<br />
29. As perdas de água por evaporação e por arraste são consideradas iguais a 10,9%<br />
para irrigação por aspersão (fonte: ANA / GEF / PNUMA / OEA, 2002). No caso da irrigação<br />
localizada, as perdas por evaporação e arraste foram consideradas nulas.<br />
30. A vazão de consumo para irrigação foi obtida pela diferença entre a vazão de<br />
retirada e a vazão de retorno.<br />
31. Após a estimativa da vazão de retirada, de retorno e de consumo para cada um<br />
dos municípios, realizou-se o processo de agregação desses valores para cada bacia considerada.<br />
8
Utilizou-se, para isso, o critério de proporcionalidade da área dos municípios localizados na<br />
bacia.<br />
II.1.2. Abastecimento urbano<br />
1. Para a estimativa da vazão de retirada para o abastecimento urbano foram<br />
considerados os dados demográficos municipais dos Censos do IBGE (período 1940-2000):<br />
população total, população urbana e população atendida pelo sistema público de abastecimento<br />
de água.<br />
2. Em seguida, procedeu-se à estimativa do consumo per capita de cada Estado,<br />
cruzando-se as informações contidas na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB/IBGE,<br />
2000) referentes ao volume distribuído em cada município, com as provenientes dos Censos<br />
demográficos do IBGE, relativas ao número de domicílios atendidos pelo sistema público de<br />
abastecimento de água e ao número de habitantes por domicílio. Na estimativa do consumo per<br />
capita de cada Estado para o ano de 2000, foram desconsiderados, por apresentarem valores<br />
incomuns (que poderiam influenciar negativamente a média), os municípios fora da faixa: 70<br />
L.hab -1 .d -1 < q < 450 L.hab -1 .d -1 .<br />
3. Obteve-se, para cada estado (na área de interesse para o estudo), quatro faixas de<br />
retirada per capita, conforme apresentado na Tabela 2. Os municípios foram enquadrados, para<br />
obtenção dos valores de vazão, em função de sua população à época de cada censo. Isso permitiu<br />
que fosse contemplado o fato de que, em geral, os maiores consumos per capita estão associados<br />
aos municípios de maior população. A tabela 2 foi aplicada a todo o período do estudo (de 1931<br />
a 2001).<br />
4. A estimativa da vazão de retirada para abastecimento urbano em cada município<br />
foi feita pela equação:<br />
Qurb = Popurb . CP(Fxn)Estado (6)<br />
Onde:<br />
Qurb = vazão de retirada para abastecimento urbano, L.d -1 ;<br />
Popurb = população urbana atendida, hab; e<br />
CP(Fxn)Estado = retirada per capita da faixa “n” na qual se enquadra o município,<br />
L.hab -1 .d -1 (tabela 2).<br />
9
Tabela 2. Coeficientes de retirada urbana per capita calculados, em litros/(habitante.dia),<br />
conforme o Estado considerado e a faixa de população do município<br />
Estado Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4<br />
Número de habitantes < 10.000 10.000 a 100.000100.000 a 500.000 > 500.000<br />
Pará 196 225 259 303<br />
Tocantins 180 207 239 279<br />
Maranhão 157 181 209 244<br />
Pernambuco 180 207 239 280<br />
Alagoas 227 269 303 354<br />
Sergipe 68 - - -<br />
Bahia 151 176 201 237<br />
Minas Gerais 186 217 248 291<br />
São Paulo 225 263 301 353<br />
Paraná 170 196 226 264<br />
Santa Catarina 203 233 269 315<br />
Mato Grosso do Sul 220 253 291 341<br />
Mato Grosso 267 307 354 414<br />
Goiás 163 193 217 253<br />
Distrito Federal - - - 257<br />
5. A partir das vazões retiradas para abastecimento urbano de cada um dos<br />
municípios considerados, foi calculada a vazão total de retirada para abastecimento urbano<br />
referente à bacia contribuinte a cada uma das sub-bacias, pelo somatório das vazões de todos os<br />
municípios cujas sedes encontram-se na área de drenagem da respectiva usina hidrelétrica.<br />
6. No caso da região do Alto Tietê (à montante da usina de Edgard Souza,<br />
inclusive), dada a peculiaridade do sistema de abastecimento de região metropolitana de São<br />
Paulo, optou-se por utilizar os dados de produção das estações de tratamento de água para<br />
abastecimento público e das vazões transpostas fornecidos pela SABESP e pela EMAE,<br />
obedecendo ao arranjo do sistema montado, considerando as transposições de vazão que o<br />
compõem (sistemas do Alto Tietê, Claro, Guarapiranga-Billings, Grande, Cotia e Cantareira), no<br />
lugar dos valores obtidos pelo Consórcio Fahma/Dreer para o abastecimento urbano. Maiores<br />
detalhes sobre as características do sistema e da metodologia utilizada no Alto Tietê para<br />
calcular as vazões de retirada para o abastecimento urbano do Alto Tietê podem ser encontrados<br />
no relatório da revisão das séries de vazões do rio Tietê (“Serviços de Consultoria para Projeto<br />
de Consistência e Reconstituição de Séries de Vazões Naturais – Bacia do rio Tietê – Relatório<br />
Final”, Dezembro de 2003 – Contrato ONS / DPP n o 059/2003, Consórcio Enerconsult –<br />
Hidrosistem – Internave).<br />
7. A vazão de retorno considerada foi 80% da vazão de retirada (NBR 9649 -<br />
ABNT) para todas as bacias, exceto a do Alto Tietê. Para esta bacia, foi utilizada uma taxa de<br />
retorno de 85% da vazão de retirada, valor este que vem sendo utilizado pela SABESP.<br />
10
8. A vazão de consumo para abastecimento urbano foi obtida pela diferença entre a<br />
vazão de retirada e esta vazão de retorno.<br />
II.1.3. Abastecimento rural<br />
1. Para o abastecimento rural considerou-se, além da população rural (do Censo do<br />
IBGE), também a urbana não atendida pelo sistema público de abastecimento. No cálculo das<br />
vazões utilizou-se, no caso das populações rural e urbana não atendidas, os coeficientes de<br />
retirada rural per capita. Considerou-se, portanto, que as duas parcelas tendem a se abastecer de<br />
água de forma semelhante (difusa, não-estruturada). No caso da população rural atendida por<br />
rede geral, utilizaram-se os mesmos per capita da população urbana.<br />
2. Por outro lado, a análise dos dados do IBGE revelou um número crescente de<br />
domicílios rurais abastecidos por rede geral, daí a metodologia utilizada considerar duas<br />
situações distintas na estimativa das vazões de retirada:<br />
• No caso em que a população atendida por rede geral no município é inferior à<br />
população urbana, a retirada e o retorno para o abastecimento do restante da<br />
população urbana têm efetivamente perfil rural;<br />
• No caso em que a população atendida por rede geral no município é superior à<br />
população urbana, partiu-se do princípio de que toda a população atendida,<br />
seja ela urbana ou rural, é abastecida com retirada per capita que mais se<br />
aproxima do perfil urbano. Entretanto, em ambos os casos o retorno foi<br />
considerado como de perfil rural.<br />
3. Os valores de retirada rural per capita adotados foram aqueles propostos pela<br />
ANA (2003) no documento “Base de Referência para o Plano Nacional de Recursos Hídricos”<br />
(Tabela 3).<br />
Tabela 3. Retirada rural per capita, conforme a Unidade da Federação<br />
Estados<br />
Consumo per capita<br />
L / (habitante / dia)<br />
AL, GO, PI 70<br />
AC, BA, CE, DF, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE,<br />
PR, RN, RO, SE, SC, TO<br />
100<br />
AM, AP, MG, RJ, RS, RR, SP 125<br />
Fonte: ANA (2003).<br />
4. A estimativa das vazões retiradas para abastecimento rural foi efetuada, para cada<br />
município pertencente à bacia de drenagem, pelo produto entre a respectiva população (rural e<br />
urbana não-atendida por rede) e o seu per capita. A vazão total de retirada para abastecimento<br />
rural foi obtida pelo somatório das vazões correspondentes a todos os municípios pertencentes à<br />
respectiva bacia, considerando-se o percentual da área de município contido na área da bacia.<br />
5. Em geral, inexistem sistemas de esgotamento para a condução das vazões de<br />
retorno no caso do abastecimento rural. O retorno, nessas condições, deve ser difuso e,<br />
conseqüentemente, inferior ao do abastecimento urbano, mas certamente não desprezível. Pela<br />
11
consulta à literatura, não foi possível identificar um valor de referência, o que motivou a adoção<br />
do valor 0,5 como taxa de retorno.<br />
6. A vazão de consumo foi considerada como a diferença entre as vazões de retirada<br />
e de retorno.<br />
II.1.4. Criação animal<br />
1. A estimativa da série de vazões destinadas à criação dos rebanhos foi feita a partir<br />
do número de cabeças, disponível nos Censos Agropecuários do IBGE (os mesmos utilizados no<br />
item II.1.1). Para os anos entre os Censos, realizou-se a interpolação linear. Para o período<br />
anterior a 1940 e posterior a 1996, realizaram-se extrapolações. O rebanho de cada município no<br />
mês desejado foi multiplicado pelos respectivos coeficientes per capita de consumo de água de<br />
cada espécie animal (Tabela 4).<br />
Tabela 4. Coeficientes per capita para espécies animais.<br />
Espécie Animal Consumo (litros / dia)<br />
Bovino 50<br />
Suíno 12,5<br />
Bubalino 50<br />
Eqüino 50<br />
Asinino 50<br />
Muar 50<br />
Ovino 10<br />
Caprino 10<br />
Aves* 0,36<br />
Fonte: Adaptado de TELLES, 2002. *SRH/BA, 2003.<br />
2. A estimativa da vazão retirada para criação animal por município foi feita pela<br />
equação:<br />
Qanim = ∑(Rebe. qe) (7)<br />
Em que:<br />
Qanim = vazão de retirada para abastecimento animal por município, L dia -1 ;<br />
Rebe = rebanho do município para cada espécie animal (e), obtida por<br />
interpolação entre os Censos do IBGE;<br />
qe = vazão per capita por espécie animal (e), L animal -1 dia -1 (tabela 4).<br />
12
3. A estimativa das vazões de retirada para criação animal (associada ao rebanho<br />
correspondente a cada espécie animal) foi realizada utilizando o critério de proporcionalidade da<br />
área de cada município localizado na bacia de drenagem do respectivo aproveitamento<br />
hidroelétrico, sendo a vazão total retirada obtida pelo somatório das vazões correspondentes a<br />
todos municípios pertencentes à bacia.<br />
4. A vazão de retorno para a criação animal foi estimada em 20% da vazão de<br />
retirada.<br />
5. A vazão consumida foi considerada como sendo a diferença entre as vazões de<br />
retirada e de retorno.<br />
II.1.5. Abastecimento industrial<br />
1. A metodologia adotada para estimativa das séries de vazões relacionadas ao<br />
abastecimento industrial foi desenvolvida com base no valor monetário da produção ao longo do<br />
período de estudo (1931-2001), obtido dos Censos industriais (1940, 1950, 1970, 1980, 1985) e<br />
nas Pesquisas Industriais Anuais (1990, 1995 e 2001), na quantidade produzida por tipo de<br />
indústria, no ano de 2001, e na relação entre essa quantidade e o volume de água necessário à<br />
produção de cada unidade – função do processo industrial adotado.<br />
2. Estimar vazões para os diversos tipos de atividade industrial implica em conhecer<br />
valores de referência do consumo de água em cada um deles. Para esse fim, foram utilizados<br />
valores apresentados no “Manual de Procedimentos para Outorga de Uso da Água na Indústria e<br />
Mineração – Bacia do Paraíba do Sul”, elaborado pela Superintendência de Outorga e Cobrança<br />
da Agência Nacional de Águas, em 2002.<br />
3. Os Censos industriais (1940-1985) e as pesquisas industriais (1990-2001) do<br />
IBGE apresentam informação, por município, do valor da produção industrial segundo a<br />
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.<br />
4. Foi realizado um agrupamento das categorias de indústria do manual elaborado<br />
pela ANA para compatibilizá-las com as classes de indústrias definidas pelo CNAE, e adotadas<br />
pelo IBGE. Desta forma, foi elaborada a Tabela 5, baseada na Pesquisa Industrial Anual 2001,<br />
que relaciona valor da produção e a quantidade produzida para as classes do CNAE, e os valores<br />
de consumo de água do manual da ANA. Os códigos constantes da tabela são adaptados do<br />
CNAE, mas diferem dele por possuir apenas 3 dígitos, ao contrário do 8 dígitos usados no<br />
CNAE. Para a aplicação desta tabela aos outros Censos do IBGE, os valores da produção<br />
industrial são convertidos para dólar americano, em valor nominal da época.<br />
5. A estimativa da vazão retirada para abastecimento industrial por município é dada<br />
pelo somatório das vazões demandadas por cada classe de indústria pela equação:<br />
Qind<br />
∑<br />
(Pp<br />
. V p )<br />
= (8)<br />
31.<br />
536.<br />
000<br />
Em que:<br />
Qind = vazão de retirada para abastecimento industrial no município, m 3 s -1 ;<br />
Pp = valor da produção anual do produto Y (p), no município, em US$ ;<br />
Vp = volume retirado anualmente para a produção de uma unidade do produto Y<br />
(p), L US$ -1 , (Tabela 5); e<br />
31.536.000 = fator para correção de unidades.<br />
13
Tabela 5. Parâmetros utilizados na estimativa das vazões de captação e retorno da<br />
indústria.<br />
Código Atividade<br />
Parâmetros (m3/US$)<br />
Retirada (Vp) Retorno (Vrp)<br />
100 Extrativa Mineral 0,13233 0,10586<br />
150 Produtos Alimentares 0,02708 0,02166<br />
159 Bebidas 0,00998 0,00870<br />
160 Fumo 0,00564 0,00451<br />
170 Têxtil 0,03064 0,02451<br />
180 Vestuários, Calçados e Art. de Tecidos<br />
Couros e Peles, Artefatos para<br />
0,03052 0,02442<br />
190 Viagens 0,01474 0,01179<br />
201 Madeira 0,05039 0,04031<br />
210 Papel e Papelão 0,08545 0,06836<br />
220 Editorial e Gráfica 0,00001 0,00001<br />
240 Química 0,02304 0,01843<br />
245 Produtos Farmacêuticos e Veterinários 0,00560 0,00448<br />
247 Perfumaria, Sabões e Velas 0,00753 0,00602<br />
251 Borracha 0,00134 0,00107<br />
252 Produtos de Matérias Plásticas 0,00023 0,00018<br />
260 Transformação de não metálicos 0,00492 0,00394<br />
270 Metalúrgica 0,01013 0,00811<br />
290 Mecânica 0,01132 0,00905<br />
310 Material Elétrico de Comunicações 0,00001 0,00001<br />
340 Material de Transporte 0,00551 0,00440<br />
360 Mobiliário 0,12274 0,09838<br />
900 Genérica 0,02713 0,02176<br />
6. A vazão de retorno do abastecimento industrial, para cada município, foi estimada<br />
pela equação:<br />
Qr.<br />
ind<br />
∑<br />
(Pp<br />
. Vrp<br />
)<br />
= (9)<br />
31.<br />
536.<br />
000<br />
Em que:<br />
Qr.ind = vazão de retorno do abastecimento industrial no município, m 3 s -1 ;<br />
VPp = valor da produção anual do produto Y (p), no município, em US$ ;<br />
Vrp = volume retornável anualmente da produção de uma unidade do produto Y<br />
(p), L US$ -1 , (Tabela 5); e<br />
31.536.00 = fator para correção de unidades.<br />
14
II.2. Cenário de evolução para o período de 2002 a 2010<br />
II.2.1. Premissas para a estimativa dos cenários<br />
1. A elaboração de cenários foi necessária no âmbito do projeto para definir<br />
tendências de variação nas vazões destinadas aos usos consuntivos. Foram analisados três<br />
cenários, a saber: Cenário A (Tendencial), Cenário B (Normativo) e Cenário C (Otimista).<br />
2. O Cenário A assume que a situação atual não deve experimentar grandes<br />
mudanças no futuro, supondo que as variáveis determinantes do cenário continuem seguindo a<br />
mesma tendência.<br />
3. As “taxas tendenciais” para evolução dos usos consuntivos foram calculadas<br />
considerando a variação que ocorreu nos últimos cinco anos, de 1997 a 2001.<br />
4. Em particular, no caso da irrigação, que depende da precipitação, altamente<br />
variável de um ano a outro, utilizaram-se as mesmas taxas tendenciais de evolução da área<br />
irrigada no período 1997 a 2001 para projetar a área irrigada no período 2002 a 2010, e a partir<br />
daí obter, conforme a metodologia descrita, as vazões de retirada, retorno e consumo relativas a<br />
esse uso. Destaca-se que os dados de precipitação para os três cenários foram mantidos<br />
constantes e iguais ao total anual publicado nas Normais Climatológicas – INMET.<br />
5. Os pressupostos fundamentais para o Cenário B dizem respeito ao crescimento do<br />
PIB, como indicador de atividade econômica, e aos efeitos positivos que adviriam dos programas<br />
inseridos no Plano Plurianual de Ação – PPA – 2004/2007 do Poder Executivo Federal.<br />
6. Observa-se certa correspondência entre o crescimento do PIB industrial e a taxa<br />
de consumo de água pelo setor. Os anos de maior elevação do PIB setorial correspondem aos de<br />
maior incremento do consumo de água. Nos anos em que o PIB decresce, haja vista a capacidade<br />
instalada nos anos anteriores, a taxa de aumento do consumo cai, mas não de forma<br />
correspondente à queda do PIB setorial.<br />
7. O terceiro cenário estudado (Cenário C) foi concebido de forma otimista, pois<br />
incorpora a expectativa de superação das metas propostas para o cenário B.<br />
II.2.2. Taxas adotadas para os cenários<br />
1. Conforme visto no item II.1.1 (“Cálculo das áreas irrigadas”), a extrapolação da<br />
área irrigada do período 1996/2001 na bacia do rio Tietê é dada pela tendência entre os dois<br />
últimos censos (1985-1996).<br />
2. Para o Cenário A (Tendencial) a taxa utilizada foi, para todas as bacias, a média<br />
dos últimos cinco anos da série.<br />
3. Em função das características diferenciadas para os dois trechos da bacia do rio<br />
Tietê, a montante e a jusante do aproveitamento de Barra Bonita, as taxas finais para cada um<br />
dos cenários são apresentadas nas Tabelas 6 e 7.<br />
III. RESULTADOS<br />
1. No anexo são apresentadas as séries históricas de vazões de consumo das usinas<br />
de Ponte Nova, Billings, Guarapiranga, Edgard de Souza, Barra Bonita, Álvaro Souza Lima<br />
(Bariri), Ibitinga, Mário L. Leão (Promissão), Nova Avanhandava e Três Irmãos, para o período<br />
de 1931 a 2001 e, também, os resultados para o Cenário A (Tendencial) para o período 2002 a<br />
2010.<br />
15
Tabela 6. Taxas anuais de incremento das vazões para os usos consuntivos e da área<br />
irrigada na bacia do rio Tietê, à montante de Barra Bonita, nos Cenários A, B e C<br />
URBANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Cenário A 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%<br />
Cenário B 1,60% 1,60% 1,60% 1,70% 1,85% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%<br />
Cenário C 1,60% 1,60% 1,80% 2,00% 2,20% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%<br />
RURAL<br />
Cenário A 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%<br />
Cenário B 3,00% 3,00% 3,00% 3,10% 3,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%<br />
Cenário C 3,00% 3,00% 3,10% 3,20% 3,40% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%<br />
ANIMAL<br />
Cenário A 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%<br />
Cenário B 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,92% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%<br />
Cenário C 0,90% 0,90% 0,90% 0,95% 0,95% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%<br />
INDUSTRIAL<br />
Cenário A 1,17% 0,00% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17%<br />
Cenário B 1,17% 0,00% 1,25% 1,50% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%<br />
Cenário C 1,17% 0,00% 1,50% 2,25% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%<br />
IRRIGAÇÃO<br />
Cenário A 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%<br />
Cenário B 3,00% 3,00% 3,00% 3,10% 3,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%<br />
Cenário C 3,00% 3,00% 3,10% 3,20% 3,30% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%<br />
Tabela 7. Taxas anuais de incremento das vazões para os usos consuntivos e da área<br />
irrigada na bacia do rio Tietê, à jusante de Barra Bonita, nos Cenários A, B e C<br />
URBANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Cenário A 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%<br />
Cenário B 2,00% 2,00% 2,00% 2,20% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%<br />
Cenário C 2,00% 2,00% 2,20% 2,50% 2,80% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%<br />
RURAL<br />
Cenário A -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00%<br />
Cenário B -4,00% -4,00% -3,80% -3,50% -3,20% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00%<br />
Cenário C -4,00% -4,00% -3,50% -3,00% -2,50% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00%<br />
ANIMAL<br />
Cenário A -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15%<br />
Cenário B -0,15% -0,15% -0,15% -0,10% -0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />
Cenário C -0,15% -0,15% -0,10% -0,05% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%<br />
INDUSTRIAL<br />
Cenário A 1,10% 0,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%<br />
Cenário B 1,10% 0,00% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%<br />
Cenário C 1,10% 0,00% 1,50% 2,00% 2,50% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%<br />
IRRIGAÇÃO<br />
Cenário A 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%<br />
Cenário B 3,30% 3,30% 3,30% 3,40% 3,45% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%<br />
Cenário C 3,30% 3,30% 3,30% 3,60% 3,90% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%<br />
IV. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES<br />
1. A presente Nota Técnica conclui pela adequabilidade da metodologia estabelecida<br />
e satisfatoriedade dos resultados provenientes de sua aplicação, frente às limitações quanto à<br />
disponibilidade de dados básicos enfrentada ao longo do desenvolvimento do projeto de<br />
estimativa das vazões de uso consuntivo na bacia do rio Tietê. Ressalta-se, contudo, que no caso<br />
particular do abastecimento urbano para o Alto Tietê, optou-se por considerar os valores<br />
constantes do “Projeto de Revisão de Vazões Naturais na Bacia do Tietê”, que foram informados<br />
pela SABESP e EMAE, conforme descrito no item II.1.2 desta Nota Técnica.<br />
2. Com relação à extrapolação para o período 2002-2010, recomenda-se que o<br />
Cenário A (Tendencial) seja o adotado, tendo em vista que o mesmo abrange um período<br />
16
elativamente curto a partir da data atual e que, de fato, existem fortes limitações de recursos<br />
financeiros no Orçamento da União para o ano de 2004, o que impede a implementação de todos<br />
os investimentos considerados no Cenário B (Normativo).<br />
3. Os resultados obtidos com esse projeto permitem que os usos consuntivos que<br />
ocorreram no passado sejam incorporados na revisão das séries de vazões naturais, além de<br />
fornecer cenários futuros de usos da água.<br />
4. Cabe ressaltar que os dados e resultados do projeto são importantes para o<br />
planejamento dos recursos hídricos, e em particular, para o planejamento da operação e expansão<br />
da geração no Sistema Interligado Nacional – SIN.<br />
5. Recomendamos que os dados e resultados do projeto sejam incorporados no<br />
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, possibilitando a sua utilização no<br />
planejamento e implementação dos instrumentos de gestão e do sistema de gerenciamento de<br />
recursos hídricos para a bacia do rio Tietê.<br />
6. Reconhecendo que o presente projeto é ainda o primeiro passo no sentido de<br />
incorporar os usos múltiplos nas séries de vazões naturais, destaca-se a importância do mesmo<br />
na definição de linhas de pesquisa a serem desenvolvidas visando a supressão das deficiências<br />
encontradas e o contínuo aperfeiçoamento metodológico.<br />
V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS PELO CONSÓRCIO E<br />
RELACIONADAS NESTA NOTA TÉCNICA<br />
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – Superintendência de Planejamento de Recursos<br />
Hídricos. Memorial descritivo do cálculo da demanda humana de água no documento<br />
“Base de Referência para o Plano Nacional de Recursos Hídricos”, Brasília, 2003.<br />
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - Superintendência de Outorga e Cobrança, Manual de<br />
Procedimentos para Outorga de Uso da Água na Indústria e Mineração – Bacia do Paraíba<br />
do Sul, Brasília, 2002.<br />
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS / GEF / PNUMA / OEA, Projeto São Francisco –<br />
Estimativa da eficiência do uso da água pela irrigação na Bacia do São Francisco, Brasília,<br />
2002.<br />
ALLEN, G.A., PEREIRA, L.S., RAES, D., SMITH, M., Crop Evapotranspiration: Guidelines<br />
for predicting crop water requirements), FAO Irrigation and Drainage Paper - n o 56, Roma,<br />
1998.<br />
CODEVASF. Evolução das Áreas Irrigadas (Quadro 29). Disponível em: <<br />
http://www.codevasf.gov.br/vale/hist_vantagens.htm >. Acesso em 13 de fevereiro de 2004<br />
DOORENBOS, J. e PRUITT, W., Guidelines for predicting crop water requirements, FAO<br />
Irrigation and Drainage Paper - n o 24, Roma, 1977.<br />
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Pesquisa Nacional de<br />
Saneamento Básico, 2000. SEDU / PR, 2002. CD-ROM.<br />
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,<br />
Normais Climatológicas (1931-1960), Rio de Janeiro, 1979.<br />
17
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,<br />
Normais Climatológicas (1961-1990), Brasília, 1992.<br />
TELLES, D. A. Água na Agricultura e Pecuária. In. Águas Doces no Brasil: Capital<br />
Ecológico, Uso e Conservação. 2.ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. p. 305-336.<br />
A tenciosamente,<br />
ALAN VAZ LOPES<br />
Engenheiro Civil<br />
10.480-D CREA/DF<br />
JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY<br />
Geólogo<br />
5.061.536.034-D CREA/SP<br />
MARCOS AIRTON DE SOUSA FREITAS<br />
Engenheiro Civil<br />
1.168-D CREA/PI<br />
RAFAEL CARNEIRO DI BELLO<br />
Engenheiro Civil<br />
166.895/D CREA/RJ<br />
De acordo, de de 2004<br />
Dr. Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho<br />
Superintendente de Usos Múltiplos<br />
BOLIVAR ANTUNES MATOS<br />
Engenheiro Civil<br />
9.606/D CREA/CE<br />
MÁRCIO TAVARES NÓBREGA<br />
Engenheiro Civil<br />
11.472/D CREA/CE<br />
MARTHA REGINA VON BORSTEL SUGAI<br />
Engenheira Civil<br />
6.308/D CREA/PR<br />
18
<strong>Anexo</strong><br />
Tabelas com as Séries de Vazões Médias Mensais de Usos Consuntivos<br />
das Usinas na Bacia do Rio Tietê<br />
(OBSERVAÇÃO: AS TABELAS DESTE ANEXO JÁ ESTÃO INCORPORADAS NA RESOLUÇÃO)<br />
19