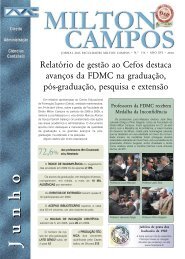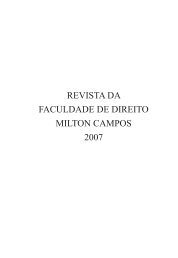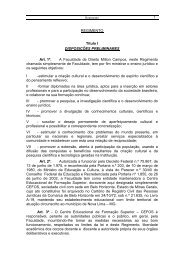dissertação antonio edson deroma junior - Milton Campos
dissertação antonio edson deroma junior - Milton Campos
dissertação antonio edson deroma junior - Milton Campos
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ANTÔNIO EDSON DEROMA JÚNIOR<br />
ADAPTAÇÃO DAS DISTORÇÕES DO AVAL<br />
À NOVA LEGISLAÇÃO<br />
NOVA LIMA - MG<br />
FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS<br />
2006
ANTÔNIO EDSON DEROMA JÚNIOR<br />
ADAPTAÇÃO DAS DISTORÇÕES DO AVAL<br />
À NOVA LEGISLAÇÃO<br />
Dissertação apresentada ao curso de Pós-<br />
Graduação Mestrado Stricto Sensu com área<br />
de concentração em Direito Empresarial da<br />
Faculdade de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>, como<br />
requisito obrigatório à obtenção do título de<br />
Mestre em Direito Empresarial.<br />
Orientador: Profº Dr. Wille Duarte Costa.<br />
NOVA LIMA - MG<br />
2006
D437 a<br />
Deroma Júnior, Antônio Edson<br />
Adaptação das distorções do aval à nova legislação/Deroma Júnior,<br />
Antônio Edson – Nova Lima: Faculdade de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>/FDMC,<br />
2006.<br />
96f., enc.<br />
Orientador: Prof. Wille Duarte Costa<br />
Dissertação (Mestrado) – Dissertação para obtenção do título de Mestre,<br />
área de concentração Direito Empresarial junto a Faculdade de Direito<br />
<strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>.<br />
Bibliografia: f. 93 – 96.<br />
1. Aval – legislação 2. Aval - distorções 3. Aval - adaptações I. Costa,<br />
Wille Duarte II. Faculdade de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong> III. Título.<br />
CDU 347.768
TERMO DE APROVAÇÃO<br />
A <strong>dissertação</strong> Adaptação das distorções do aval à nova legislação,<br />
elaborada pelo aluno ANTÔNIO EDSON DEROMA JÚNIOR, foi julgada adequada<br />
por todos os membros da Banca Examinadora, para a obtenção do título de Mestre<br />
em Direito Empresarial e ________________, em sua forma final, pela Faculdade<br />
de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>.<br />
Nova Lima, _____ de ____________de 2006.<br />
___________________________________________________<br />
Prof. Dr. Wille Duarte Costa<br />
Apresentada à Banca integrada pelos seguintes professores:<br />
__________________________________________________<br />
Prof(a). Dr(a).<br />
__________________________________________________<br />
Prof(a). Dr(a).<br />
__________________________________________________<br />
Prof(a). Dr(a).
“À minha mãe Carmem Deroma e meu pai Edson Deroma,<br />
que forneceram uma base sólida para as minhas<br />
conquistas.”<br />
“À minha querida esposa Nádia, pelo apoio incondicional e<br />
pelo incentivo constante em todas as etapas.”<br />
“Aos meus filhos, Neto, Henrique e Bernardo, alegria de<br />
nossas vidas.”
AGRADECIMENTOS<br />
Agradeço a Deus, por me conceder o privilégio da vida, e possibilitar a<br />
transformação dos meus sonhos em projetos, e estes em realizações.<br />
Ao meu orientador, Professor Wille Duarte Costa, profissional competente e<br />
dedicado, que acreditou em meu trabalho e me acolheu de forma carinhosa,<br />
tornando o desafio do mestrado mais agradável.<br />
A todos os professores da Faculdade <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>, pelo incentivo,<br />
profissionalismo e dedicação na coordenação local do mestrado.<br />
À Faculdade <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>, instituição que transformou meu trabalho num<br />
campo fértil para um aprendizado constante, numa perspectiva de cooperação<br />
enquanto prática vivenciada.<br />
Aos colegas de mestrado, que me acolheram, ajudaram e ensinaram, sempre,<br />
com muito carinho.<br />
trabalho.<br />
Aos amigos professores, pela valiosa contribuição à consecução deste<br />
A todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste<br />
trabalho, transmitindo-me apoio e amizade.
RESUMO<br />
DEROMA JÚNIOR, Antônio Edson. Adaptação das distorções do aval à nova<br />
legislação. Nova Lima, 2006, 96 pp. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial)<br />
– Faculdade de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>.<br />
O foco deste estudo foi a análise das formas de distorções do aval face à<br />
nova legislação. Este objetivo evidencia o tipo de pesquisa realizada, que se<br />
caracteriza como sendo bibliográfica. O estudo inicia-se descrevendo os aspectos<br />
gerais dos títulos de créditos, sua origem histórica, conceitos, características e<br />
classificação. Também é contemplada a fiança, com ênfase nas principais<br />
abordagens e discussões sobre o tema. Em seguida, faz-se uma incursão sobre o<br />
aval, objeto deste estudo, o que foi importante para a pesquisa teórica. Em relação<br />
ao aval, constatou-se, com base em toda a referência conceitual, que é um instituto<br />
cambiário, caracterizado pela autonomia, liquidez, certeza e exigibilidade que adere<br />
ao título de crédito para garantir a obrigação cambiária por ele constituída. Ao se<br />
considerar as percepções dos autores pesquisados, conclui-se que o aval se<br />
estende, em última análise, como garantia de efetivação e realização do crédito, e<br />
que, a par do título de crédito, ele se revela como tutela de crédito, e se constrói no<br />
crédito como elemento que credita valor ao título. Por fim, pode-se concluir que o<br />
aval, em toda a dimensão das responsabilidades cambiais, é imprescindível para o<br />
equilíbrio das transações empresariais, não sendo visto como anacrônico, obsoleto<br />
ou ultrapassado.<br />
Palavras-chave: Distorções; Aval; Legislação.
ABSTRACT<br />
DEROMA JÚNIOR, Antônio Edson. Adaptation of the guarantee distortions to<br />
the new legislation. Nova Lima, 2006, 96 pages. Dissertation (Master Degree in<br />
Business Law) - Faculdade de Direito <strong>Milton</strong> <strong>Campos</strong>.<br />
This study is focused on analyzing the different kinds of guarantee distortions<br />
in face of the new legislation. This objective justifies the type of research performed,<br />
which is characterized as being bibliographic. The study starts by describing the<br />
general aspects of the securities, their historical bases, concepts, characteristics and<br />
classification. Surety is also contemplated, with an emphasis on the main approaches<br />
and debates on it. Following, it makes an incursion in the guarantee, its subject<br />
matter, which was important for the theoretical research. In relation to the guarantee,<br />
it was found, based on the conceptual background as a whole, that it is an exchange<br />
instrument characterized by the autonomy, liquidity, certainty and enforceability that it<br />
attaches to the security so as to guarantee the exchange obligation it constitutes. By<br />
considering the views of the researched writers, it was concluded that the guarantee<br />
ultimately extends itself as an assurance of effectiveness and realization of the credit,<br />
and that, apart from the security, it shows itself as a credit custody, and is inserted in<br />
credit as an element that provides value to the security. Last but not least, it was<br />
concluded that the guarantee, in the full range of exchange-related responsibilities, is<br />
essential for a balance in the business transactions, thus not being regarded as<br />
useless, obsolete or outdated.<br />
Key words: Distortions; Guarantee; Legislation.
SUMÁRIO<br />
1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11<br />
2. ASPECTOS TEÓRICOS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ........................................ 17<br />
2.1. Origem e evolução dos títulos de crédito............................................................. 17<br />
2.1.1. Período italiano................................................................................................. 19<br />
2.1.2. Período francês ................................................................................................ 20<br />
2.1.3. Período alemão ................................................................................................ 22<br />
2.1.4. Período moderno .............................................................................................. 23<br />
2.2. Conceituações de crédito .................................................................................... 27<br />
2.3. Importância e conceitos de título de crédito......................................................... 30<br />
2.4. Requisitos essenciais aos títulos de créditos....................................................... 34<br />
2.4.1. Cartularidade .................................................................................................... 35<br />
2.4.2. Literalidade ....................................................................................................... 36<br />
2.4.3. Autonomia......................................................................................................... 39<br />
3. PRESSUPOSTOS SOBRE FIANÇA...................................................................... 41<br />
3.1.1. Aspectos gerais e essências ............................................................................ 41<br />
4. AVAL ...................................................................................................................... 47<br />
4.1. Evolução histórica do aval ................................................................................... 47<br />
4.2. Conceito de aval .................................................................................................. 50<br />
4.3. Aval versus fiança................................................................................................ 52<br />
4.4. Formas de aval .................................................................................................... 57<br />
4.4.1. De obrigação nula............................................................................................. 57<br />
4.4.2. Parcial............................................................................................................... 57<br />
4.4.3. Simples e plural ................................................................................................ 58<br />
4.4.4. Incondicional..................................................................................................... 59<br />
4.4.5. Posterior ao vencimento ................................................................................... 59<br />
4.4.6. Simultâneos e sucessivos................................................................................. 60<br />
4.5. Abordagens sobre aval ....................................................................................... 62<br />
4.5.1. Aval antecipado ................................................................................................ 62
4.5.2. Aval em título em branco, incompleto ou futuro............................................... 63<br />
4.5.3. Cancelamento e extinção do aval..................................................................... 64<br />
4.5.4. Prescrição e protesto cambial........................................................................... 66<br />
4.5.5. O aval no cheque e na duplicata ...................................................................... 69<br />
4.5.6. O aval na falência............................................................................................. 72<br />
4.5.7. Aval e alienação fiduciária em garantia ........................................................... 74<br />
4.6. O avalista............................................................................................................. 76<br />
4.6.1. Quem pode ser avalista.................................................................................... 76<br />
4.6.2. Responsabilidade do avalista ........................................................................... 81<br />
4.6.3. Direitos do avalista............................................................................................ 83<br />
4.7. Aval e o Código Civil vigente ............................................................................... 85<br />
5. CONCLUSÃO......................................................................................................... 89<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 93
1. INTRODUÇÃO<br />
Desde os primórdios da evolução do comércio, o homem faz uso do aval. Se<br />
isso não fosse feito, a evolução econômica das civilizações estaria prejudicada ou<br />
mesmo inviabilizada. Diante das necessidades evolutivas das relações humanas<br />
nesse sentido, o Direito buscou desenvolver e instituir o aval.<br />
Para Rubens Requião, “o aval, que é uma instituição de Direito Cambial, tem<br />
como finalidade garantir o pagamento da letra de câmbio e da nota promissória, bem<br />
como de outros títulos (cheques e duplicatas) assimilados, em parte, aos cambiais.” 1<br />
Na prática dos negócios, o aval refere-se a qualquer classe de garantia<br />
pessoal. Outras vezes, utiliza-se como “sinônimo de fiança, pelo que seria o contrato<br />
pelo qual o avalista se obriga a pagar ou cumprir por um terceiro (avalizado), no<br />
caso de este não o fazer.” É reconhecido, muitas vezes, aproximado da fiança pela<br />
doutrina, em virtude da tradução portuguesa equivocada que fala em "pessoa<br />
afiançada", no art. 32 da Lei Uniforme de Genebra 2 (LUG), como lembrado por<br />
Rubens Requião. 3 No entanto, o aval tem características próprias. Dentre elas, o<br />
autor coloca que o prestador do aval pode ser acionado para pagar antes do<br />
avalizado, o que não ocorre na fiança, em que se estabelece, em princípio, o<br />
benefício de ordem. Além disso, no aval, o avalista não pode alegar, perante<br />
terceiros de boa fé, exceções pessoais que teria contra o avalizado. O contrário,<br />
porém, opera-se na fiança, em que é dado ao fiador alegar defesas pessoais contra<br />
o credor. É importante dizer que a fiança é uma obrigação essencialmente<br />
acessória, que não subsiste sem a obrigação principal, sendo que o aval é uma<br />
obrigação autônoma, cuja validade não é afetada por nenhuma outra obrigação<br />
cambiária, nem mesmo por aquela à qual é equiparada.<br />
Assim sendo, o aval, por se tratar de ato formal e autônomo, adquire<br />
independência com relação à obrigação principal. Trata-se de declaração unilateral<br />
cuja finalidade é garantir um título de crédito. É obrigação autônoma e literal, como<br />
toda cambial, e segue os princípios dos títulos de crédito.<br />
1 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23 ed., v. 2. São Paulo: Saraiva, 2003, p.421-422.<br />
2 A LUG foi introduzida no Direito Brasileiro pelo Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966, que<br />
promulgou as convenções para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas<br />
promissórias.<br />
3 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 377.<br />
11
Neste prisma, o CC vigente veio regular "papéis outros" diversos dos títulos<br />
de crédito hoje existentes, e que continuarão a existir com a sua entrada em vigor.<br />
Assim, “alguns doutrinadores tratam como uma impropriedade do CC vigente ao<br />
intitular o seu Título VIII como dos títulos de crédito.” 4<br />
Com o CC vigente o título de crédito passa a integrar, formalmente, matéria<br />
de Direito Comercial. As divergências trazidas pelo novo ordenamento cível vêm<br />
causando muita polêmica entre “comercialistas”, críticas pelos doutrinadores e<br />
muitos equívocos de entendimento, sobretudo acerca da força impositiva do CC<br />
vigente.<br />
Desta forma, tanto as pessoas físicas como as jurídicas se obrigam nos títulos<br />
de crédito através das declarações cambiais. Enfatiza-se que entre essas<br />
declarações está o aval, garantia cambiária que coloca no mesmo nível obrigacional<br />
o seu dador e aquele que foi garantido, isto é, o avalista se obriga da mesma<br />
maneira que seu avalizado, estando a posição daquele definida no art. 32 da LUG.<br />
Conquanto já definida a posição do avalista, grande divergência doutrinária e<br />
jurisprudencial também subsiste no tocante ao aval.<br />
É nesse contexto que está inserido este estudo. Em matéria de aval, o<br />
mandamento do CC vigente de 2002 vem gerando maior polêmica no meio jurídico.<br />
É fundamental que as pessoas em geral, e os comerciantes em especial, estejam<br />
atentos para algumas alterações que foram introduzidas pelo CC vigente, que entrou<br />
em vigor em 11 de janeiro. Afinal, algumas mudanças foram substanciais e podem<br />
produzir efeitos nefastos sobre negócios que não as considerem. É o caso do aval.<br />
No geral, o CC vigente manteve a disciplina anterior: pode-se garantir por aval<br />
o pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma<br />
determinada, vedando expressamente o aval parcial; assim, ou o avalista garante a<br />
totalidade do crédito, ou nada garante. O aval parcial, anotado na cártula,<br />
desobedece à lei, sendo considerado nulo (ART. 166, VII, CC VIGENTE). O aval<br />
poderá ser dado na parte da frente ou na parte de traz do título, acompanhado de<br />
texto que o caracterize (avalizo, em aval, avalizo fulano de tal, dentre outros).<br />
Enfatiza-se, porém, que esse texto, é desnecessário quando o avalista<br />
simplesmente assina o título na parte da frente, o que, por si só, caracteriza o aval.<br />
O aval pode ser dado a qualquer momento, mesmo muito após a emissão do título.<br />
4 ALBERNAZ, Lister Freitas. Títulos de crédito eletrônicos. Disponível<br />
em:. Acesso em: 31 ago. de 2006, p.1.<br />
12
O avalista é garantidor daquele que indica no título; se não há indicação da pessoa<br />
garantida, pressupõe-se que o aval foi passado a favor do devedor final. Logo após<br />
assinar como avalista – e antes de devolver o título - é possível desistir, cancelando<br />
o aval; após a entrega, não mais. Se o avalista pagar o título, poderá voltar-se contra<br />
o avalizado e dele cobrar o que desembolsou. Estas são todas regras que já<br />
vigoram em nosso direto.<br />
vigente:<br />
A distinção – que por se só se justifica - está anotada no art. 1647, III, do CC<br />
“Se o avalista for casado em regime distinto da separação absoluta de<br />
bens, a prestação do aval exige autorização do outro cônjuge. Portanto, o<br />
aval agora demandará assinatura do avalista e, se ele é casado pelos<br />
regimes de comunhão universal de bens ou comunhão parcial de bens, a<br />
assinatura do cônjuge autorizando o ato de garantia. Na ausência de tal<br />
autorização, poderá o cônjuge, o marido ou a esposa, demandar a<br />
invalidação do aval, como expressamente prevê o art. 1.642, IV, do mesmo<br />
CC. É preciso estar atento para o fato de tratar-se de anulabilidade, ou<br />
seja, de negócio que, na forma do art. 172, pode ser confirmado pelas<br />
partes, salvo direito de terceiro; ademais, diz o art. 177, a anulabilidade não<br />
tem efeito antes de coisa julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício;<br />
só os interessados (no caso o cônjuge que não autorizou o aval) a podem<br />
alegar, e aproveita exclusivamente aos que alegarem, salvo os casos de<br />
solidariedade ou indivisibilidade. A regra é repetida, especificamente, para<br />
o tema aqui examinado, pelo art. 1.650 da mesma lei, segundo o qual a<br />
decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem<br />
consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo<br />
cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.”<br />
A confirmação do aval a posteriori poderá se dar de forma expressa, hipótese<br />
na qual se faz necessário que o ato de confirmação contenha a substância do<br />
negócio celebrado e vontade expressa de mantê-lo, como exigido no art. 173. Para o<br />
aval, essa ratificação expressa pode fazer-se pela assinatura da cártula, certo que,<br />
na forma do art. 176, quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização<br />
de terceiro, será válido se este a der posteriormente; a autorização a posteriori pode<br />
dar-se pela mesma forma que a que se daria a priori ou simultaneamente, vale dizer,<br />
pela assinatura conjunta na cártula. Poderá, igualmente, fazer-se por instrumento<br />
avulso, hipótese na qual deverá ser descrito minuciosamente o título, permitindo<br />
identificação inequívoca da obrigação, bem como afirmada expressamente a<br />
autorização dada a posteriori para o aval. Esse instrumento deverá ser público ou,<br />
se privado, deverá apresentar-se autenticado, como exigido pelo art. 1.649,<br />
parágrafo único, do CC.<br />
13
Por fim, uma tranqüilidade para os portadores de títulos que foram avalizados<br />
antes de 11 de janeiro de 2003: o aval, nesses casos, é considerado ato jurídico<br />
perfeito, celebrado adequadamente sob o regime da lei anterior, portanto válido. A<br />
preservação dos seus efeitos jurídicos é garantida pela própria Constituição da<br />
República de 05/10/88, em seu art. 5º, XXXV.<br />
Poder-se-ia questionar também a respeito da validade e/ou eficácia legal de<br />
uma autorização aposta em título de crédito para o fim específico de satisfazer a<br />
exigência do art. 1.647, III, do NCC de 2002. 5 Mesmo que eventualmente se<br />
discorde do conteúdo da exigência legal, é forçoso admitir que não há, por outro<br />
lado, óbice algum a desautorizar a aposição da autorização conjugal no título.<br />
Rachel Sztajn e Haroldo Verçosa 6 colocam que se por um lado a LUG não<br />
previu, expressamente, a necessidade de autorização conjugal para prestação de<br />
aval, por outro, também não a coibiu. Não há, de fato, na legislação cambiária<br />
(ainda) em vigor, um só dispositivo que desautorize textualmente a outorga conjugal,<br />
razão pela qual, aliás, a questão sempre se reportou ao direito comum. Como o CC<br />
de 1916 era também omisso quanto à questão, não se exigia a outorga para a<br />
concessão do aval, mas apenas para fiança. Entretanto, o diploma de 2002<br />
disciplina o assunto de modo explícito, estendendo a exigência legal também à<br />
garantia cambiária, emergindo, assim, a inconteste validade da autorização em<br />
exame.<br />
Tais divergências contribuem para alguns conflitos jurídicos, os quais, por si<br />
só, constituem justificativas importantes para este trabalho. Nesse sentido, o ilustre<br />
Wille Duarte Costa 7 argumenta que:<br />
“o aval, garantia típica cambiária, sofrerá agora a limitação da outorga<br />
marital ou uxória, sendo o avalista casado, exceto se o regime do<br />
casamento for o da separação absoluta (art. 1.647, III, do novo Código). Na<br />
espécie, a nova disposição vai sobressair, já que a Lei Uniforme e demais<br />
normas especiais não trataram do assunto, isto é: não deram ao aval tal<br />
caráter, de obrigação vinculada à autorização do outro cônjuge, como<br />
ocorria e ocorre com a fiança.”<br />
Dada a importância do aval, este é um caminho interessante para estudar e<br />
entender as adaptações das distorções do aval à nova legislação.<br />
5 SZTAJN, Rachel; VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A disciplina do aval no novo código civil.<br />
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 128. São Paulo: Malheiros, 2002.<br />
6 SZTAJN e VERÇOSA. Op. Cit. 2002.<br />
7 COSTA, Wille Duarte. Títulos de crédito. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.28-29.<br />
14
Portanto, a realização deste estudo justifica-se pelo interesse específico do<br />
pesquisador por algumas formas de distorções do aval face à nova legislação, que<br />
surgiu a partir da experiência profissional vivenciada sobre títulos de crédito, fiança e<br />
aval.<br />
Entende-se que uma das possíveis contribuições a serem apontadas por este<br />
trabalho situa-se na reflexão crítica que o estudo busca empreender sobre o aval,<br />
nas adaptações à nova legislação que se explicitam na instituição do Direito<br />
Cambial.<br />
Adicionalmente, espera-se que este trabalho possa trazer contribuições ao<br />
atual ensino acadêmico de Direito, em seus processos de aperfeiçoamento, pelo fato<br />
de ter sido evidenciada a carência de trabalhos e discussão sistemática sobre o<br />
tópico aval, em todos os seus aspectos relevantes e controversos. Nesse sentido,<br />
deseja-se que as questões aqui tratadas possam suprir lacunas bibliográficas<br />
existentes, assim como estimular debates e um fluxo sempre contínuo de produção<br />
intelectual na área.<br />
O trabalho torna-se relevante, ainda, na medida em que descreve algumas<br />
dinâmicas, formas de aplicação e interpretação do aval, o qual se apresenta<br />
adaptado à praxe comercial e aos costumes do Brasil. A análise do aval, com base<br />
de pesquisa predominantemente doutrinária e jurisprudencial, permitiu compreender,<br />
de forma prática e direta, a atual estrutura cambial brasileira.<br />
Com base no exposto, um dos aspectos metodológicos norteadores deste<br />
trabalho é a pesquisa teórica. Para Jorge Vala, 8 a pesquisa teórica:<br />
“prioriza a construção de esquemas conceituais específicos e utiliza-se dos<br />
vários processos discursivos e argumentativos para o convencionamento<br />
sobre a validade dos esquemas propostos. As fontes utilizadas por esta<br />
pesquisa são as fontes de papel que são todas aquelas que não são<br />
personificadas [...] que se utilizam de dados secundários extraídos de livros<br />
de toda espécie, documentos históricos e de arquivos, artigos de revistas,<br />
jornais, jurisprudências, legislações, dentre outras inúmeras fontes destes<br />
tipos.”<br />
A coleta de dados se deu por meio de pesquisa bibliográfica, compreendendo<br />
a utilização de publicações, como livros, periódicos, dissertações, sites, o que<br />
permitiu uma melhor compreensão da base teórica do trabalho desenvolvido.<br />
8 VALA, Jorge. A análise de conteúdo. In: PINTO, José Madureira; SILVA, Augusto Santos (Org.).<br />
Metodologia das ciências sociais. 8 ed. Porto: Afrontamento, 1986, p.112.<br />
15
A análise dos dados efetivou-se pela análise de conteúdo. Krippendorf (apud<br />
MARIA TERESA DIAS e MIRACY GUSTIN2002, p.110-111) 9 aduz que a análise de<br />
conteúdo é:<br />
“uma técnica de investigação que permite fazer interferências, válidas e<br />
replicáveis, dos dados para o contexto. São tipos específicos de análise de<br />
conteúdo: as histórias de vida, a análise de discurso, a análise das<br />
mensagens da mídia, o exame de documentos, legislações e<br />
jurisprudências, entre outros.”<br />
Segundo Maria Teresa Dias e Miracy Gustin 10 , a análise de conteúdo é<br />
relevante para a compreensão de legislações e suas conexões contextuais, bem<br />
como das jurisprudências.<br />
Assim, dividir-se-á esta <strong>dissertação</strong> em cinco capítulos. O primeiro capítulo<br />
apresenta a introdução do estudo. Inicia-se com a apresentação do tema de<br />
pesquisa. Na seqüência, evidencia-se o problema, os objetivos, bem como a<br />
justificativa do estudo, a metodologia da pesquisa e a organização do trabalho.<br />
O segundo capítulo analisa os aspectos gerais dos títulos de créditos,<br />
abordando sua origem histórica, conceitos, características e classificação.<br />
No terceiro capítulo considera-se a fiança, com ênfase nas suas principais<br />
abordagens e discussões.<br />
O quarto capítulo refere-se ao aval, objeto deste estudo, o que foi importante<br />
para a pesquisa teórica.<br />
Para finalizar, o quinto capítulo compreende as conclusões deste estudo,<br />
apontando as limitações da pesquisa e algumas recomendações para futuros<br />
estudos sobre o tema investigado.<br />
9 DIAS, Maria Tereza Fonseca; GUSTIN, Miracy Barbosa Souza. (RE) Pensando a pesquisa jurídica.<br />
Belo Horizonte, Del Rey, 2002, p.110-111.<br />
10 Idem, 2002.<br />
16
2. ASPECTOS TEÓRICOS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO<br />
Este capítulo analisa os aspectos gerais dos títulos de crédito, abordando sua<br />
origem histórica, importância e conceituações. Dando continuidade, procede-se à<br />
revisão dos requisitos essenciais aos títulos de crédito com ênfase na Cartularidade,<br />
Literalidade e Autonomia, conforme a literatura atual se reporta ao tema.<br />
2.1. Origem e evolução dos títulos de crédito<br />
Os títulos de crédito remontam à Idade Média, no momento em que houve<br />
uma grande expansão do comércio. Desenvolveram-se a partir de um papel, que na<br />
verdade era um documento, que representava um instrumento de câmbio. Nos<br />
dizeres de Wille Duarte Costa, 11 a letra de câmbio é “o mais antigo título de crédito.<br />
Foi o primeiro deles, seguido da nota promissória”. Para o autor, a letra de câmbio é:<br />
“uma ordem de pagamento escrita, dada por alguém a terceira pessoa, para<br />
que esta pague, a quem estiver indicado naquela ordem como beneficiário, a<br />
importância em dinheiro então fixada. É o saque que representa a ordem [...]<br />
foi objeto de criação dos judeus expulsos das França.”<br />
A nota promissória, não obstante ser um título menos complexo que a letra de<br />
câmbio, não foi o primeiro a ter sua estrutura desenvolvida. Nesse sentido, acentua<br />
João Eunápio Borges, 12<br />
“a letra de câmbio e a nota promissória, são nascidas ambas do contrato de<br />
câmbio. Enquanto a letra de câmbio se firmou e desenvolveu rapidamente, a<br />
nota promissória permaneceu estacionária, devido a ser considerada como<br />
instrumento do câmbio seco, que era proscrito, pela facilidade que<br />
disfarçava o mútuo usuário severamente condenado pelas leis canônicas.”<br />
Assim, o nascimento do título de crédito surgiu das necessidades<br />
momentâneas de caráter mercantil, ao invés de ser um procedimento visando<br />
especialmente à evolução de um problema jurídico. Começam a surgir naquela<br />
época, de maneira mais completa e freqüente, documentos que representaram<br />
direitos de crédito, que poderiam ser utilizados apenas pelos que figuram nos<br />
documentos como:<br />
11 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.3.<br />
12 BORGES, João Eunápio. Títulos de créditos. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p.47.<br />
17
“seus titulares (credores) e que, posteriormente, passaram a ser<br />
transferidos por esses titulares a outras pessoas que, de posse dos<br />
documentos, podiam exercer, como proprietários, os direitos mencionados<br />
nos papéis. A chamada cláusula à ordem, que nada mais é que a<br />
faculdade que tem o titular de um direito de crédito (credor) de transferir<br />
esse direito a outra pessoa, juntamente com o documento que o incorpora,<br />
marcou, realmente, o início de uma fase importantíssima para a economia<br />
dos povos, que é a de circulação do crédito.” 13<br />
O título de crédito constituiu-se no “instrumento mais perfeito e eficaz em<br />
função da necessidade de se obter uma circulação mais rápida que a permitida pela<br />
moeda manual, visando uma imediata mobilização da riqueza. Além disso, passou a<br />
resolver “a circulação de direitos de crédito, que não era possível de acordo com as<br />
normas do direito comum porque somente disciplinava a circulação de bens”. 14<br />
Waldirio Bulgarelli 15 aduz que “os títulos de crédito representam o principal<br />
instrumento de circulação da riqueza, devendo ser dotados de certos requisitos que<br />
os caracterizam frente aos demais documentos.”<br />
A história dos títulos de crédito é dividida, didaticamente, em três períodos. O<br />
primeiro, chamado período italiano, vai da Idade Média até 1673, quando a letra de<br />
câmbio constituía meio de troca, de escambo, de moeda. O segundo, chamado<br />
período francês, das ordenanças de Comércio, foi de 1673 a 1848, quando o título<br />
representava apenas meio de pagamento de um contrato, do qual não se<br />
desvinculava. O terceiro período foi o alemão, que teve início em 1848 indo até o<br />
momento atual, no qual se cria, finalmente, um título de crédito literal e abstrato,<br />
independentemente de um contrato. Sobre o surgimento e a evolução da cambial,<br />
Túllio Ascarelli 16 afirma que:<br />
“Por certo, na evolução histórica dos títulos de crédito, a importância<br />
atribuída à circulação cresceu na medida do progresso econômico e, por<br />
isso, nas suas origens estava em plano inferior à das demais funções do<br />
título. A cambial surgiu para tomar possível o transporte do dinheiro – hoje<br />
possibilita a mobilização do crédito.”<br />
13 MIRANDA, Maria Bernadete. Os títulos de crédito como documentos representativos de obrigações<br />
pecuniárias. Disponível em: http://www.direitobrasil.adv.br/artigos/artigo6.pdf#search=%22>. Acesso<br />
em: 31 ago. de 2006 (a), p. 2.<br />
14 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. Títulos de crédito. 2 ed. revista e atualizada, de acordo com o<br />
novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.39.<br />
15 BULGARELLI, Waldirio. Títulos de crédito. São Paulo: Atlas, 15. Ed., 1999, p. 53.<br />
16 ASCARELLI, Túllio. Teoria geral dos títulos de crédito. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 30.<br />
18
A seguir serão descritos os períodos da origem e evolução dos títulos de<br />
crédito, baseando-se nos fatos históricos ocorridos nos períodos italiano, francês e<br />
alemão, conforme abordagens de Túllio Ascarelli, João Eunápio Borges, Wille Duarte<br />
Costa, Fran Martins e José Maria Whitaker.<br />
2.1.1. Período italiano<br />
O período italiano se caracteriza pelo surgimento e uso dos títulos como<br />
instrumentos de transporte e troca, ou seja, o câmbio entre comprador e vendedor<br />
de moedas em locais diversos, designado como o cambium trajectium. 17<br />
Naquela época, florescia o comércio nas cidades italianas, sobretudo<br />
naquelas localizadas na orla marítima, onde aconteciam as férias da Idade Média,<br />
promovidas por comerciantes de alguns lugares, que almejavam realizar transações<br />
e obter lucro. 18<br />
Entretanto, as cidades italianas da época não eram interligadas por estradas<br />
seguras. Na verdade, existiam caminhos rudimentares por onde circulavam<br />
mercadorias e valores. Desta maneira, os comerciantes se tornavam alvos fáceis de<br />
assaltantes oportunistas cada vez mais especializados nesse tipo de crime.<br />
Ressalta-se que o transporte de moedas era feito no lombo de mulas, sujeito até<br />
mesmo ao ataque de animais selvagens.<br />
Outro aspecto que se sobressai neste contexto é o fato de que as diversas<br />
cidades sedes de feiras e mercados possuíam estrutura de pequenos Estados,<br />
cunhando as suas próprias moedas, o que obrigava os comerciantes a realizar o<br />
conhecido “câmbio manual” nas feiras, após as quais os comerciantes temiam<br />
retomar as estradas perigosas transportando consideráveis valores em moeda. No<br />
princípio, começaram a realizar a cautio – um instrumento público, que representava<br />
o depósito da moeda do comerciante em mãos de um banqueiro ou seu<br />
representante. Desta forma, através da cautio o banqueiro prometia efetuar, em<br />
outro local, o pagamento ao depositante das moedas. 19<br />
A cautio, que era chamado também de instrumento seco, possibilitava ao<br />
banqueiro aumentar significativamente seus lucros às custas da necessidade dos<br />
17 ASCARELLI, Túllio. Op. Cit. 1969.<br />
18 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003.<br />
19 ASCARELLI, Túllio. Op. Cit. 1969.<br />
19
comerciantes, caracterizando-se numa verdadeira agiotagem (Cambia sicco no sunt<br />
cambia, sed mutuum usurarium).<br />
Ainda no século XIII, o mencionado instrumento de troca vinha acompanhado<br />
de uma carta particular do banqueiro a seu representante ou correspondente no<br />
local de pagamento (ordem de pagamento precursora da letra de câmbio), em que<br />
constava uma ordem para pagar ao portador da carta a soma nela determinada, em<br />
moeda local. 20<br />
Segundo José Eunápio Borges, 21 a cautio teria sido a promessa de<br />
pagamento que deu origem à nota promissória:<br />
“A cautio teria sido a origem da nota promissória (a cambiale própria do<br />
direito italiano) e a lettera de pagamento di pagamento di cambio (também<br />
denominada tracta), constitui a primitiva letra de câmbio (a cambiale tracta),<br />
cuja denominação littera cambili foi expressamente consagrada em 1.368<br />
no Estatuto dos comerciantes de Paiva.”<br />
Com o passar do tempo, na medida em que as relações comerciais se<br />
intensificavam e aprimoravam, a carta que acompanhava a cautio, sempre com a<br />
finalidade de troca e remessa de moeda, começou a ser utilizada<br />
independentemente, sendo entregue diretamente ao depositante. Em seguida,<br />
surge a lettera di cambio, tomando o papel principal da cautio, ficando esta relegada<br />
ao segundo plano e entrando em desuso.<br />
Essa fase de concepção dos títulos, da lettera di cambio, fica marcada pelo<br />
uso dos mesmos apenas para remessa e troca de moedas, não havendo, portanto,<br />
uma verdadeira operação de crédito.<br />
O período italiano foi da Idade Média até o final do século XVII quando, em<br />
1673, a Ordenança de Comércio francesa, seguida pelo Código de Comércio de<br />
1808, ampliou o conceito de letra de câmbio.<br />
2.1.2. Período francês<br />
O período francês teve marco inicial em 1673, com o advento da Ordenança<br />
de Comércio Terrestre, que acolheu a letra de câmbio, passando esta a significar<br />
20 ASCARELLI, Túllio. Op. Cit. 1969.<br />
21 BORGES, João Eunápio. Do aval. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1975, p.38.<br />
20
não mais somente um instrumento de câmbio e remessa de moeda, mas sim um<br />
instrumento de pagamento, o que foi ratificado pelo Código francês de 1808 22 .<br />
Ela já não era mais necessariamente o depósito em mãos do banqueiro que<br />
originava a letra, mas qualquer valor que o sacado, pessoa que deveria acatar a<br />
ordem de pagamento do título, deveria ou viesse a dever ao sacador, pessoa que<br />
dava a ordem de pagamento, originário de qualquer transação onerosa entre<br />
ambos. 23<br />
Naquela época houve alguma evolução, com a criação da cláusula à ordem<br />
do endosso e do aceite. Entretanto, o título circulava sem autonomia, ou seja, sem<br />
se desvincular da causa debendi ou do negócio originário.<br />
A letra necessitava de um contrato inicial, uma vez que deveria haver uma<br />
provisão do sacador em mãos do sacado para reconhecimento do débito, aceite,<br />
declarando que cumpria com a obrigação contratual existente naquele título.<br />
A cláusula à ordem constava na letra a fim de possibilitar a sua circulação e,<br />
por conseqüência, geraria o endosso, que se consolidaria pela assinatura do atual<br />
portador do título. Todavia, a letra de câmbio não passava de documentação<br />
comprobatória de um contrato oneroso, e sua circulação resultava de simples<br />
delegação ou mandato, ou seja, o endosso nada mais era do que a formalização<br />
dessa delegação de poderes, através da qual se desligaria do negócio ou contrato<br />
originário do título. 24<br />
Fran Martins 25 elucida que caracterizou-se, assim, esse segundo período<br />
evolutivo da letra de câmbio,<br />
“por se transformar ela em um instrumento de pagamento, pelas facilidades<br />
criadas para sua circulação, com adoção da cláusula à ordem e do endosso,<br />
e pela vinculação do sacado à obrigação, com aceite.”<br />
A partir desse período, o título já circulava com maior facilidade em virtude da<br />
criação da cláusula à ordem, do endosso e do aceite, e representaria apenas um<br />
instrumento de pagamento, embora ainda dependente de uma contraprestação<br />
originária.<br />
22<br />
COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003.<br />
23<br />
ASCARELLI, Túllio. Op. Cit. 1969.<br />
24<br />
Idem, 1969.<br />
25<br />
MARTINS, Fran. Títulos de crédito: letra de câmbio e nota promissória. 5 ed. Rio de Janeiro:<br />
Forense, 1975, p.40.<br />
21
2.1.3. Período alemão<br />
O período alemão, com início a partir do século XIX, se caracteriza pela<br />
evolução final da letra de câmbio como título de crédito. Nessa época, os juristas se<br />
preocuparam em desenvolver a letra de câmbio de forma a torná-la um título<br />
autônomo, abstrato e independente, desvinculado de qualquer contrato inicial<br />
obrigatório, que não se prestasse tão somente ao pagamento ou troca e remessa de<br />
moeda. Consolidava-se, então, o título de crédito, que até hoje permeia o<br />
ordenamento e a praxe comercial. 26<br />
Em Leipzi, na data de 24/11/1848, foi aprovada pelos Estados que<br />
compunham a Alemanha a “Lei Geral Alemã” sobre letras de câmbio (Die Allgemeine<br />
Detsche Wechselordung), que viria a influenciar diversos outros países de todo o<br />
mundo. 27 “Essa lei sofreu algumas modificações, mas, com pequenas modificações,<br />
o Império alemão tornou-a obrigatória pela Lei de 22 de abril de 1871”. 28<br />
Conforme coloca o ilustre Wille Duarte Costa, 29 a partir desta época,<br />
“o título passou a ter valor por si próprio e, para sua validade, não dependia<br />
de anterior depósito de dinheiro aos banqueiros ou a quem quer que seja,<br />
nem precisava indicar provisão ou aquisição de mercadorias. Bastava<br />
assinar o título que o desejo de obrigar-se se manifestava. O papel<br />
assinado, por si só, era suficiente para obrigar seu signatário.”<br />
Com as inovações do período alemão, a letra de câmbio não necessitava<br />
mais de provisão; tornava-se abstrata logo após sua assinatura, sem necessidade<br />
de uma causa a ela vinculada. Somente a vontade e a assinatura do sacador do<br />
título criariam um título existente por si só, ainda que sem a concordância ou aceite<br />
do sacado. Karl Einert, na Alemanha, chegou a chamar a letra de câmbio de “papel<br />
de moeda do comerciante”, diante das peculiaridades que revestiam tais títulos. 30<br />
Também foi objeto das inovações alemãs a literalidade da letra de câmbio,<br />
isto é, esta somente valeria conforme o que nela estivesse escrito. Tornar-se-ia um<br />
título completo – não dependente de nenhum outro papel ou contrato anterior.<br />
26<br />
ASCARELLI, Tulio. Op. Cit. 1969.<br />
27<br />
Idem, 1969.<br />
28<br />
COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.13.<br />
29 Idem, 2003, p.12.<br />
30 Idem, 2003, p.12.<br />
22
Com propriedade, José Maria Whitaker menciona que “no primeiro período, a<br />
letra de câmbio operava a circulação de dinheiro; no segundo, a circulação de<br />
valores; e no terceiro, passou a constituir por si mesma um valor.” 31<br />
A letra de câmbio passaria, portanto, a ter um formato próprio e regulado por<br />
lei, com requisitos de segurança e identificação. Concretizava-se, assim, o<br />
nascimento de um título formal.<br />
Dessa forma, se fez do período alemão. Nasceu, de forma definitiva, até hoje<br />
corrente, a letra de câmbio abstrata (a obrigação nasce do próprio título circulante),<br />
literal (vale pelo que nela está escrito), completa e formal (deve atender certos<br />
requisitos impostos por lei).<br />
Portanto, como acentua Wille Duarte Costa, 32 “foram os estudos alemães que<br />
deram um novo caráter à letra de câmbio, transformando-a num verdadeiro título de<br />
crédito, completamente diferente de outro título.” Assim, esses estudos acabaram<br />
por influenciar outros países, que passaram a adotar em suas legislações os<br />
mesmos princípios.<br />
2.1.4. Período moderno<br />
Um dos primeiros cientistas a considerar essa interação no ramo do Direito foi<br />
Norbert Wiener, considerado como "o Pai da Cibernética”. Junto de outros cientistas,<br />
afirmou na década de 40 que "o conjunto de problemas centrados no controle e na<br />
comunicação, tanto nas pessoas quanto na máquina, apresentavam uma unidade<br />
essencial.” 33<br />
Dentre suas reflexões sobre a possibilidade de aplicação da cibernética ao<br />
Direito, coloca os problemas da lei como problemas de controle sistemático e<br />
reiterável de certas situações críticas, conceituando-a como:<br />
“o controle ético aplicado à comunicação e à linguagem enquanto forma de<br />
comunicação, especialmente quando tal aspecto normativo esteja sob o<br />
31 WHITAKER, José Maria. Letra de câmbio: criação, circulação, realização. 7 ed. revisada e<br />
atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p.16.<br />
32 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.13.<br />
33 SZKLARWOSKY, Leon Fredja. A informática e o mundo moderno. Disponível:<br />
mando de alguma autoridade suficientemente poderosa para dar às suas<br />
decisões o caráter de sanção social efetiva.” 34<br />
Na visão de Flamarion Tavares Leite, 35 a cibernética do Direito parte do<br />
princípio de que:<br />
“o Direito é um sistema, e, portanto, pode ser analisado através da<br />
cibernética como ciência ou teoria do sistema de regulação e controle. O<br />
Direito tem inputs (entradas) e outputs (saídas), tem o sistema de feedback,<br />
retroalimentações, sendo um sistema cibernético. De outro lado, tem-se na<br />
cibernética a base de todo o progresso tecnológico das comunicações e da<br />
informação, e conseqüentemente isso passa pelo direito. O direito não<br />
pode ficar indiferente às transformações sociais.”<br />
É neste contexto que estão inseridos os títulos, agregando novos mecanismos<br />
jurídicos conseqüentes à influência que a cibernética vem ocasionando nas práticas<br />
do comércio e dos negócios jurídicos em geral.<br />
No chamado período moderno, tendo em vista a multiplicação das atividades<br />
comerciais, “o título surgiu como um mecanismo perfeito e eficaz da mobilização da<br />
riqueza e da circulação do crédito, influenciando todos os negócios jurídicos,<br />
principalmente os de natureza econômica.” 36<br />
“[...] O registro da concessão e circulação do crédito em meio magnético<br />
tornou obsoletos os preceitos do direito cambiário, intrinsecamente ligados à<br />
condição de documento dos títulos de crédito. Cartularidade, literalidade,<br />
distinção entre atos em branco e em preto representam aspectos da<br />
disciplina cambial desprovidos de sentido, no ambiente informatizado.” 37<br />
Depreende-se, portanto, que a nova disciplina geral dos títulos de crédito é<br />
acrescida de mudanças, dentre elas a cibernética. Para o ilustre Wille Duarte Costa,<br />
“na utilização da cibernética os títulos de crédito deverão sofrer grande influência da<br />
tecnologia, que vai modificar hábitos, costumes e até princípios sobre os títulos de<br />
crédito.” 38<br />
O CC vigente de 2002, na parte que trata das normas gerais sobre os títulos<br />
de crédito, reconhece, ainda que de forma superficial, a existência de títulos virtuais,<br />
em seu art. 889, § 3º, conforme descrito no art. 889: “Deve o título de crédito conter<br />
34<br />
WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto<br />
(Coord.), Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Edipro, 2000, p. 35.<br />
35<br />
LEITE, Flamarion T. L. Os nervos do poder: uma visão cibernética do direito. São Paulo: Max<br />
Limonad, 2001, p.32.<br />
36<br />
ALBERNAZ, Lister Freitas. Op. Cit. 2006, p.1.<br />
37<br />
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, v. 1. 4 ed. São Paulo: Saraiva. 2000, p.378-379.<br />
38 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.15.<br />
24
a data de emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do<br />
emitente.”<br />
Tais posicionamentos vão de encontro ao pensamento de Fábio Ulhoa<br />
Coelho, 39 o qual menciona que não se pode mais negar executividade aos títulos de<br />
crédito eletrônicos. Isto se dá pelo esclarecimento do NCC, desde que preenchidos<br />
os requisitos do art. 889, caput.<br />
A norma do art. 889, §3º, do NCC, vem acrescentar o entendimento de parte<br />
da doutrina, sobre a qual os ilustres Luis Emygdio 40 e Fábio Ulhoa Coelho 41<br />
acentuam que a duplicata virtual é título executivo, desde que observados os<br />
requisitos essenciais e mínimos previstos no caput do art. 889, diferentemente do<br />
boleto bancário, por faltar um dos requisitos essenciais.<br />
Assim sendo, o reconhecimento dos títulos eletrônicos, norma contida no §3º<br />
do art. 889, permite que o título possa ser emitido a partir dos caracteres criados em<br />
computador ou equipamento equivalente e que constem da escrituração do emitente,<br />
observados os requisitos mínimos previstos no mencionado artigo.<br />
Isto se deu pela necessidade de diminuir ou eliminar o trânsito de papéis, o<br />
que, aliado à lei, propiciou o surgimento de uma forma de circulação do crédito<br />
totalmente diferenciada, em que é possível a existência de um título de crédito<br />
eletrônico, emitido através dos caracteres criados em computador.<br />
Miguel Pereira Neto 42 elucida que no Brasil os títulos de crédito já vêm<br />
recebendo tratamento eletrônico, citando o caso das duplicatas encaminhadas a<br />
protesto por indicação dos bancos aos cartórios do teor dos títulos, por meio<br />
eletrônico ou Internet, sem a apresentação material dos títulos.<br />
Cabe destacar que, no momento atual, pouco a pouco vai desaparecendo a<br />
duplicata materializada em papel, em cártula, substituída pelo título eletrônico, cuja<br />
executividade vem sendo, no entanto, contestada por parte da doutrina, mas com<br />
legalidade na sua emissão por meios eletrônicos no Direito, dependendo a sua<br />
eventual nulidade de aplicação em cada caso concreto, não podendo ser<br />
questionada a sua definição.<br />
39 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, v. 3, 8 ed. São Paulo: Saraiva. 2005.<br />
40 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. Op. Cit. 2002.<br />
41 COELHO, Fábio Ulhoa.Op. Cit. 2005.<br />
42 PEREIRA NETO, Miguel. Os documentos eletrônicos utilizados como meio de prova para a<br />
constituição de título executivo extrajudicial e judicial. In: PEREIRA NETO, Miguel. Internet: o direito<br />
na era virtual. Rio de Janeiro: Forense: 2000, p.23-24.<br />
25
Neste prisma, verifica-se que a emissão dos títulos eletrônicos ou escriturais é<br />
feita via sistema, com mais rapidez e segurança. A empresa fatura, porém não emite<br />
papéis. “O borderô é eletrônico, em que os dados do faturamento são importados<br />
através de uma conexão com os computadores do banco, usando-se um software de<br />
comunicação computador a computador.” 43<br />
Verifica-se, portanto, a existência de mudanças no comportamento das<br />
relações credítícias entre fornecedores e consumidores, bancos e clientes, enfim,<br />
entre todos que, de uma forma ou outra, são abrangidos pela utilização de títulos<br />
cambiários.<br />
Trata-se de uma importante inovação que poderá ajudar a resolver os<br />
problemas jurídicos relativos ao título virtual, decorrente da evolução tecnológica,<br />
que é escriturado e reduz a importância do dogma da cartularidade. Assim, o título<br />
virtual está reconhecido no art. 889, § 3º, se posicionando nas “Disposições Gerais”<br />
sobre títulos de crédito. Entende-se, desta forma, “que não se pode mais negar<br />
executividade aos títulos eletrônicos, especificamente à duplicata escritural<br />
elaborada de forma eletrônica (duplicata virtual).” 44<br />
A duplicata escritural eletrônica (ou virtual), com efeito, é um título formal,<br />
obedecendo aos requisitos exigidos pelo art. 2º, §1º, da Lei 5.474 de 1968 (Lei das<br />
Duplicatas). 45<br />
Reconhecida no mercado como título de crédito, a duplicata virtual se<br />
constitui em obrigação líquida e certa, desde que os caracteres criados em<br />
computador, ou equipamento equivalente, constem da escrituração do emitente e o<br />
título observe os requisitos mínimos previstos no art. 889. 46<br />
Por fim, pode-se concluir que a duplicata eletrônica (virtual), como qualquer<br />
outro título eletrônico, recebe previsão legal. Enfatiza-se que nada muda no<br />
processamento da duplicata ou de nota promissória nas transações cotidianas.<br />
43 MIRANDA, Maria Bernadete. O título de crédito eletrônico no novo código civil. Disponível em:<br />
. Acesso em: 31 ago. de 2006 (b). p.1.<br />
44 MIRANDA, Maria Bernadete. Op. Cit. 2006 (b), p.2.<br />
45 Idem, 2006 (b).<br />
46 Idem, 2006 (b).<br />
26
2.2. Conceituações de crédito<br />
Antes de abordar, especificamente, os títulos de crédito, torna-se necessário<br />
e interessante discorrer sobre o crédito em si, enquanto fenômeno econômico.<br />
De acordo com Maria Bernadete Miranda, 47 “a utilização do crédito somente<br />
se tornou universal após a revolução Industrial, especialmente no século XX, quando<br />
a tecnologia de produção, distribuição e consumo adquiriu grande complexidade.”<br />
O crédito retrata a confiança e a fé do credor, num ato realizado face à<br />
terceiro. Daí a origem etimológica da palavra creditum – credere (confiar, emprestar<br />
dinheiro). Para Fran Martins, “representa a confiança que uma pessoa inspira na<br />
48 49<br />
outra de cumprir, no futuro, obrigação atualmente assumida.”<br />
Proclama Wille Duarte Costa que o crédito corresponde tanto à confiança<br />
quanto ao tempo.<br />
“O credor acredita (confia) no devedor e lhe dá tempo para liquidar a<br />
obrigação decorrente. Não ocorrendo a confiança do credor no devedor,<br />
não haverá crédito. Sem crédito não há título de crédito. Se, ao contrário,<br />
ocorrer a confiança do credor, este deve conceder tempo que materializa a<br />
relação creditícia. Havendo só a confiança, sem permissão de tempo para<br />
liquidação do débito, não há também crédito e menos ainda título de<br />
crédito. Mas pode ocorrer que a confiança venha da garantia oferecida:<br />
garantia pessoal ou fidejussória (aval) ou garantia real (penhor, hipoteca,<br />
entre outros).” 50<br />
Corroborando, Luis Emygdio 51 acentua que “a confiança é necessária, pois o<br />
crédito se assegura numa promessa de pagamento, e o tempo também, pois o<br />
sentido do crédito é, justamente, o pagamento futuro combinado, pois se fosse à<br />
vista, perderia a idéia de utilização para devolução posterior.”<br />
Nos dizeres de Rubens Requião, 52 “o crédito não configura um agente de<br />
produção, pois consiste apenas em transferir a riqueza de “A” para “B”. Ora,<br />
transferir evidentemente não é criar, nem produzir. O crédito não é mais do que a<br />
permissão para usar o capital alheio.”<br />
47<br />
MIRANDA, Maria Bernadete. Op. Cit. 2006 (a), p.1.<br />
48<br />
MARTINS, Fran. Op. Cit. 1995, p.3.<br />
49<br />
RIOS, Victor Eduardo. Títulos de crédito e contratos mercantis, v.22, 2 ed. São Paulo: Saraiva,<br />
2005, p.3.<br />
50<br />
DUARTE, Wille Costa. Op. Cit. 2003, p.70.<br />
51<br />
ROSA Júnior, Luis Emygdio. Op. Cit. 2002, p.3.<br />
52<br />
REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2000, p.320.<br />
27
Gide, economista francês (apud RUBENS REQUIÃO) 53 , menciona que a<br />
“venda a prazo e o empréstimo constituem duas formas essenciais do crédito. São<br />
caracteres essenciais do crédito, primeiramente, o consumo da coisa vendida ou<br />
emprestada e, segundo, a espera da coisa nova destinada a substituí-la.”<br />
Depreende-se, desta forma, que o crédito é um artifício humano que veio<br />
facilitar o comércio e o fluxo de capital, levando ao desenvolvimento das economias<br />
e dos povos. Somente o crédito permite que uma pessoa usufrua o dinheiro ou a<br />
coisa anteriormente ao respectivo pagamento, que ocorrerá futuramente, quando já<br />
presentes os resultados de um trabalho. Dessa forma, o crédito, com dilação<br />
temporal e boa-fé por natureza, se apresenta como preponderante às relações<br />
comerciais e econômicas.<br />
Em comércio e finanças, o crédito é “o termo utilizado para designar as<br />
transações que implicam em uma transferência de dinheiro a ser devolvido, depois<br />
de um certo tempo. Aquele que transfere o dinheiro torna-se o credor e aquele que o<br />
recebe, o devedor.” 54<br />
comerciais:<br />
Na concepção de Waldo Fazzio Júnior, 55 as modernas organizações<br />
“jamais poderiam desenvolver com suficiente amplitude seus negócios e<br />
atuar eficazmente no mercado, sem utilização do crédito, instrumento por<br />
excelência da mobilização de capitais. Sem dúvida, o crédito transforma o<br />
capital inerte em capital circulante, ensejando-lhe maior utilidade, fazendo-o<br />
mais produtivo.”<br />
Waldirio Bulgarelli (apud FAZZIO JÚNIOR) 56 acrescenta, com propriedade,<br />
que não se deve, contudo, chegar ao extremo de crer:<br />
“[...] como já ocorreu no passado, que o crédito cria capital, pois sua função<br />
é de fomentar a criação de riquezas, injetando recursos antecipadamente<br />
nas atividades econômicas. O crédito, economicamente, consiste em trocar<br />
bens presentes por bens futuros, e obviamente, não leva à criação de<br />
capitais.”<br />
Todavia, o crédito somente não bastaria para fomentar a economia com<br />
civilidade e praticidade. No Direito Romano, por exemplo, a circulação de capitais<br />
53 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003, p.357.<br />
54 Enciclopédia® Microsoft®. Crédito. Encarta 2001. © 1993-2000. Microsoft Corporation, p.1.<br />
55 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p.369.<br />
56 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003, p.369.<br />
28
ocorria através do crédito. Contudo, naquela época, a obrigação se caracterizava<br />
pelo elo pessoal criado entre o credor e devedor. A obrigação aderia ao corpo do<br />
devedor, assibus haeret, segundo forte expressão de uso dos glosadores.<br />
Assim, a partir da Idade Média, viriam os títulos de crédito a possibilitar o uso<br />
e circulação dos créditos e, por conseguinte, aderir, definitiva e amplamente, ao<br />
ordenamento jurídico mundial. O ilustre Rubens Requião 57 lembra que:<br />
“sem dúvida, devido à criação dos títulos de crédito, os capitais, pela rápida<br />
circulação, tornam-se mais úteis e, portanto, mais produtivos, permitindo<br />
que deles melhor se disponha, a serviço da produção de riqueza,<br />
compreendendo-se, assim, a enorme importância que adquiriram os títulos<br />
de crédito na economia atual, tornando seu estudo um dos pontos altos do<br />
moderno Direito Comercial.”<br />
Os créditos podem ser classificados sob os seguintes aspectos:<br />
a) comerciais - concedidos por fabricantes a outros fabricantes, para<br />
financiamento da produção e distribuição de produtos;<br />
b) de investimento - concedidos às empresas para a aquisição de<br />
equipamentos, e que também podem ser financiados pela emissão de<br />
notas promissórias, bônus, e outros instrumentos financeiros que<br />
representam o crédito que a empresa recebe;<br />
c) bancários - concedidos por um banco, e entre os quais estão incluídos os<br />
empréstimos;<br />
d) pessoais ou de consumo - permitem aos indivíduos a aquisição de bens e<br />
o pagamento a prazo;<br />
e) hipotecários - destinados à compra de bens imóveis;<br />
f) públicos - concedidos aos governos que adquirem uma dívida pública;<br />
g) internacionais - concedidos por um país a outro país, ou por uma<br />
instituição internacional, como os praticados pelo Banco Internacional para<br />
a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo Monetário<br />
Internacional (FMI). 58<br />
57 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003, p.358.<br />
58 Enciclopédia® Microsoft®. Crédito. ©1993-2000. Microsoft Corporation. Encarta 2001, p.1.<br />
29
Já a classificação dos créditos segundo Carvalho de Mendonça (apud<br />
WILLER DUARTE COSTA) baseou-se na definição e obra de Cesare Vivante:<br />
“1) Títulos de crédito propriamente ditos - nos quais se atesta uma operação<br />
de crédito, figurando entre eles os títulos da dívida pública, as letras de<br />
câmbio, as warranties, as debêntures, entre outros.<br />
2)Títulos de créditos impropriamente ditos – nos quais, ainda que não<br />
representem uma operação de crédito, se encontra, a par da sua literalidade<br />
e autonomia, id quod quacunque causa debetur.” 59<br />
Neste contexto, a principal função do crédito consiste em transferir a<br />
poupança de alguns agentes econômicos a outros que não possuem o capital<br />
necessário para os projetos econômicos planejados. Essa transferência de dinheiro<br />
é temporária e custa um preço denominado ágio (juros). São inevitáveis nos grandes<br />
investimentos e na criação de empresas de grande porte, necessárias à melhoria do<br />
nível de vida e ao desenvolvimento econômico.<br />
O nível de atividade econômica, ou etapa do ciclo econômico em que se<br />
encontra um país em determinado momento, pode ser deduzido a partir do sistema<br />
creditício: quando aumenta o volume de crédito, a etapa é de expansão econômica<br />
e, quando diminui, significa um período de recessão econômica. 60<br />
2.3. Importância e conceitos de título de crédito<br />
O título de crédito é um instrumento para a atividade negocial. A compreensão<br />
sobre esta parte é de fundamental importância à assessoria empresarial.<br />
Conforme Túllio Ascarelli, 61 as pessoas encontram-se em uma economia<br />
creditória e nela os títulos de crédito constituem a construção mais importante do<br />
Direito Comercial moderno.<br />
A importância do crédito para o desenvolvimento da economia tem sido<br />
destacada unanimemente, tanto por economistas como pelos juristas, que vêem nele<br />
o responsável pelo crescimento da economia das nações, em geral, e das empresas<br />
e suas operações, em particular.<br />
que:<br />
O ilustre Luiz Emygdio 62 coloca que o título de crédito nasceu para circular e<br />
59<br />
COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.74.<br />
60<br />
Enciclopédia® Microsoft®. Crédito. ©1993-2000. Microsoft Corporation. Encarta 2001, p.1.<br />
61<br />
ASCARELLI, Túllio. Op. Cit. 1969.<br />
62<br />
ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2002, p.49.<br />
30
“essa função de negociabilidade revela a sua importância nas áreas<br />
econômicas, civil, comercial, particular e pública porque, embora disciplinado<br />
pelo direito comercial, constitui-se, na realidade, em instituto geral de direito,<br />
em instrumento de técnica jurídica, a que recorrem, para fins de<br />
financiamento, o comerciante e o lavrador, o industrial e o construtor de<br />
prédios, o particular, o Estado, entre outros.”<br />
Rubens Requião 63 elucida que permite, o título de crédito, a possibilidade de<br />
se obter, em sua troca, outro capital em substituição àquele que se tinha emprestado<br />
anteriormente. Pode-se dizer que devido à criação dos títulos de crédito, os capitais,<br />
pela rápida circulação, tornam-se mais úteis e, portanto, mais produtivos, permitindo<br />
que deles melhor se disponha a serviço da produção de riqueza. Compreende-se,<br />
desta forma, a importância que adquiriram os títulos de crédito na economia, o que<br />
torna seu estudo um dos pontos relevantes do moderno Direito Comercial.<br />
Assim, os títulos de crédito, incontestavelmente, exercem fundamental<br />
importância na economia, contribuindo para o seu desenvolvimento. Para Lister de<br />
Freitas Albernaz, a criação dos títulos de crédito “trouxe novos contornos às práticas<br />
comerciais, na medida em que valorizou a figura do crédito, dando-lhe posição de<br />
destaque no fomento das atividades desenvolvidas pelos comerciantes e os<br />
modernos empresários.” 64<br />
Depreende-se, portanto, que os negócios que se realizam por meio de tais<br />
títulos adquirem notável velocidade, o que se deve à possibilidade de essencial<br />
rapidez em sua circulação. Portanto, àqueles que com esses títulos transacionam,<br />
deve ser assegurada, além da velocidade, a segurança, que são importantes à<br />
realização dos negócios. 65<br />
Maria Bernadete Miranda acentua que “com o aparecimento dos títulos de<br />
crédito e a possibilidade de circulação fácil dos direitos neles incorporados, o mundo,<br />
na verdade, ganhou um dos mais decisivos instrumentos para o desenvolvimento e o<br />
progresso.” 66<br />
O título de crédito, também denominado título de valor, é um documento de:<br />
“direito, de conteúdo patrimonial, que pode ser exercido pelo possuidor do<br />
documento. O direito se incorpora ao documento, de forma que a cessão<br />
deste implica na transmissão do direito, facilitando desse modo a sua<br />
63 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 1977.<br />
64 ALBERNAZ, Lister Freitas. Op. Cit. 2006, p.1.<br />
65 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003.<br />
66 MIRANDA, Maria Bernadete. Op. Cit. 2006(a), p.1.<br />
31
circulação. São títulos de crédito as ações de uma sociedade anônima, a<br />
letra de câmbio e os cheques ao portador. Podem ser títulos ao portador<br />
anônimos, quer dizer, os que permitem que qualquer possuidor do título<br />
(que deve ser apresentado) possa exigir o direito a ele incorporado, embora<br />
não seja titular do mesmo; ou títulos nominais são os que designam uma<br />
determinada pessoa a quem deve ser paga a ordem de quem o<br />
subscreve.” 67<br />
Os títulos de crédito, definidos em lei como títulos executivos extrajudiciais<br />
(Código do Processo Civil – CPC, art. 585, inciso I), possibilitam a execução<br />
imediata do valor devido.<br />
Fábio Ulhoa Coelho 68 definiu os títulos de crédito como:<br />
“documentos representativos de obrigações pecuniárias. Não se confundem<br />
com a própria obrigação, mas se distinguem dela na exata medida em que<br />
representam. Como documento, ele reporta um fato, ele diz que alguma<br />
coisa existe [...]; o título prova a existência de uma relação jurídica,<br />
especificamente de uma relação de crédito; ele constitui a prova de que<br />
certa pessoa é credora de outra, ou de que duas ou mais pessoas são<br />
credoras de outras.”<br />
Para Navarrini (apud NEWTON LUCCA), o título de crédito “é como um<br />
documento que certifica uma operação de crédito, cuja posse é necessária para<br />
exercer o direito que dele deriva e para conferi-lo a outras pessoas.” 69<br />
Já Alberto Asquini 70 define título de crédito “como um documento de um<br />
direito literal destinado à circulação, idôneo a conferir de modo autônomo a<br />
titularidade de tal direito ao proprietário do documento, e necessário e suficiente para<br />
legitimar o possuidor ao exercício do mesmo direito.”<br />
Fran Martins 71 elucida que para ser título de crédito é necessário que a<br />
declaração obrigacional esteja exteriorizada em um documento escrito, corpóreo, em<br />
geral uma coisa móvel (cartularidade).<br />
“Tal documento é necessário ao exercício dos direitos nele mencionados. A<br />
literalidade, por sua vez, reside no fato de que só vale o que se encontra<br />
escrito no título. A autonomia do título de crédito determina que cada pessoa<br />
que a ele se vincula assume obrigação autônoma relativa ao título. É em<br />
razão da autonomia do título de crédito que o possuidor de boa-fé não tem o<br />
seu direito restringido em decorrência de negócio subjacente entre os<br />
primitivos possuidores e o devedor.”<br />
67 Enciclopédia® Microsoft®. Título de crédito. Encarta 2001. © 1993-2000. Microsoft Corporation, p.1.<br />
68 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, 6 ed. revisada e atualizada, de acordo com o<br />
novo código civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). São Paulo: Saraiva, 2002, p.369-370.<br />
69 LUCCA, Newton. Aspectos da teoria geral dos títulos de crédito. São Paulo: Pioneira, 1979. p. 18.<br />
70 ASQUINI, Alberto. Titolo di Credito. (Trad. Livre). Pádua: Giuffrè, 1966. p. 49.<br />
71 MARTINS, Fran. Op. Cit. 1995, p. 52.<br />
32
Conforme Waldirio Bulgarelli, “os títulos de crédito representam o principal<br />
instrumento de circulação da riqueza, devendo ser dotados de certos requisitos que<br />
os caracterizam frente aos demais documentos.” 72 Esse documento, de acordo com<br />
Fran Martins, “é necessário para o exercício dos direitos nele mencionados.” 73<br />
Em que pese ao mérito de outras definições, a clássica definição de Cesare<br />
Vivante 74 é que o título de crédito é “o documento necessário para o exercício do<br />
direito literal e autônomo nele mencionado.”<br />
Essa definição foi adotada pelo ordenamento jurídico, através do NCC de<br />
2002, em seu art. 887, que consta: “O titulo de crédito, documento necessário ao<br />
exercício literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os<br />
requisitos da lei.”<br />
Analisando este conceito, pode-se inferir que o título de crédito é um<br />
documento, e isso significa que, para se ter um título de crédito, será indispensável a<br />
existência de um documento escrito, que poderá ser um papel, uma coisa corpórea,<br />
material, em que se possa vir inscrita a manifestação da vontade do declarante.<br />
Acrescenta Fran Martins 75 que dentre as inúmeras definições que foram<br />
dadas aos títulos de crédito, coube a Cesare Vivante formular aquela que, sem<br />
dúvida, é a mais completa, pois encerra, em poucas palavras, algumas das<br />
principais características desses instrumentos.<br />
No Brasil, José Maria Whitaker 76 se destacou ao abordar o conceito sob o<br />
enfoque econômico. Segundo o autor, “todo documento capaz de realizar<br />
imediatamente o valor que representa é um título de crédito.” É importante destacar<br />
que esse aspecto não abordado por Vivante, o da fungibilidade do título, consiste na:<br />
“mobilização imediata de seu valor, permitindo-se ao portador receber a<br />
importância contida no documento, antes da data do vencimento, por meio<br />
de uma operação denominada desconto bancário. Pelo desconto, o<br />
banqueiro paga ao portador o valor do título diminuído do juro devido em<br />
razão do prazo que medeia as datas do pagamento e a data do vencimento<br />
do mesmo: afinal, o título nasce com o objetivo de circular e não o de restar<br />
nas mãos das partes primitivas. Ele realiza uma função nitidamente<br />
econômica. Trata-se, pois, de um verdadeiro elemento propiciador de<br />
circulação rápida e segura de riqueza e, em conseqüência, dinamizador da<br />
72<br />
BULGARELLI, Waldirio. Op. Cit. 1999, p. 53.<br />
73<br />
MARTINS, Fran. Op. Cit. 1977, p.5.<br />
74<br />
VIVANTE, Cesare. Trattato di Diritto Commerciale, v.3, 5. ed. (Trad. Livre). Milano: F. Vallardi,<br />
1945, p.154.<br />
75<br />
MARTINS, Fran, Op. Cit. 1977.<br />
76<br />
WHITAKER, José Maria. Letra de câmbio. 6. ed. Rio de Janeiro: RT, 1985, p. 18.<br />
33
economia. É estimável, portanto, a contribuição do título de crédito para a<br />
formação e o desenvolvimento das modernas economias de mercado.” 77<br />
Na concepção de José Luiz da Silva Machado, 78 a vida econômica seria de<br />
todo inadmissível sem a existência dos títulos de crédito, eis que faltariam meios<br />
jurídicos para a adequada formalização das relações comerciais, as quais, por essa<br />
razão, teriam necessariamente de assumir outro aspecto.<br />
É importante enfatizar que, “diferentemente dos outros institutos jurídicos, no<br />
título de crédito o Direito materializa-se ou incorpora-se no documento e não na<br />
pessoa possuidora do papel. Perdido o papel denominado “título de crédito, o direito<br />
normalmente segue-lhe o destino.” 79<br />
Pode-se inferir, então, que o título de crédito é como um documento formal<br />
que representa valor, dando a seu possuidor o direito de exigir de outrem o<br />
cumprimento da obrigação nele contida.<br />
2.4. Requisitos essenciais aos títulos de créditos<br />
Os títulos de crédito são instrumentos caracterizados de forma a cumprirem<br />
sua função de circular valores com segurança e facilidade. Como coloca Túllio<br />
Ascarelli,<br />
“[...] a circulação dos créditos, vale dizer – o máximo de rapidez e de<br />
simplicidade no transmiti-los a vários adquirentes sucessivos, com o mínimo<br />
de insegurança para cada adquirente que deve ser posto, não só em<br />
condições de conhecer pronta a eficazmente aquilo que adquire, mas,<br />
também a salvo das exceções cuja existência não lhe fosse dado notar,<br />
facilmente, no ato de aquisição.” 80<br />
A circulação dos títulos de crédito só foi possível devido a princípios que os<br />
incorporam e norteiam. Não seria possível a circulação das cambiais sem a<br />
existência de uma estrutura bem definida e uniforme de regras e princípios basilares,<br />
que se constituem em características indeléveis dos títulos cambiais.<br />
77 LOPES, André Cortes Vieira. Inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé nos títulos<br />
cambiais. Disponível em: . Acesso em: 02 set. de<br />
2006, p.1.<br />
78 MACHADO, José Luiz Silva. Os títulos de crédito e seus caracteres singulares, v.1. Salvador:<br />
Forense, 1961, p.55-61.<br />
79 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.70.<br />
80 ASCARELLI, Túllio. Op. Cit. 1969, p.19.<br />
34
Entre as características fundamentais dos títulos de crédito, esboçadas por<br />
Cesare Vivante, três merecem maior destaque por serem caracteres preponderantes<br />
da circulação de créditos: Cartularidade, Literalidade e Autonomia.<br />
2.4.1. Cartularidade<br />
A característica da cartularidade significa a necessidade de um documento,<br />
isto é, o documento é necessário para a realização, para o exercício dos direitos<br />
cambiais.<br />
Verifica-se, desta forma, que a cartularidade consiste na materialização do<br />
direito no documento, ou seja, não pode o direito ser exercido sem a apresentação<br />
do documento. Assim, pode-se dizer que o direito se incorpora ao documento,<br />
expressão usada até mesmo por Cesare Vivante. A expressão cartularidade ou<br />
direito cartular (de chartula) é empregada para significar tanto a incorporação do<br />
direito ao documento, como direito decorrente do título em relação ao negócio<br />
subjacente, de relação extracartular. Portanto, “cártula significa o direito (abstrato)<br />
que se apresenta sob a forma de título. É a exteriorização do título por meio de um<br />
documento. A exibição desse documento é necessária para o exercício do direito de<br />
crédito nele mencionado.” 81<br />
Nesta mesma linha de pensamento, Fábio Ulhoa Coelho 82 coloca que<br />
“somente quem exibe a cártula pode pretender a satisfação de uma pretensão<br />
relativamente ao direito documentado pelo título.”<br />
“Para que o credor de um título exerça os direitos por ele representados é<br />
indispensável que se encontre na posse do documento (também conhecido<br />
como cártula). Sem o preenchimento dessa condição, mesmo que a<br />
pessoa seja efetivamente a credora, não poderá exercer o seu direito de<br />
crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial.” 83<br />
Assim, a cartularidade é a necessidade da apresentação do título para o<br />
exercício do direito nele mencionado: "o credor deve possuí-lo, deve apresentá-lo ao<br />
devedor e deve restituí-lo a este quando receber o respectivo valor.” 84<br />
81<br />
MIRANDA, Maria Bernadete. Op. Cit. 2006 (a), p.4.<br />
82<br />
COELHO, Fábio Ulhoa. Op. Cit. 2002, p.372.<br />
83<br />
Idem, 2003, p.229.<br />
84<br />
PEREIRA, Pedro Barbosa. Curso de direito comercial, v.2, 2.ed. São Paulo: RT, 1968, p.136.<br />
35
O direito, portanto, "não se encontra incorporado ao título”, como prepondera<br />
João Eunápio Borges 85 , mas permanece em uma relação de conexidade àquele:<br />
“[...] essa situação reveste-se de nitidez quando há a hipótese de perda do<br />
título: o direito à sua recuperação está fora da cambial e funda-se no vínculo<br />
jurídico existente entre credor e devedor; somente extingue-se ela no<br />
instante em que o direito cartular for exercido, quando, então, ocorrerá a<br />
confusão dos dois direitos (o direito cartular e o direito à recuperação).<br />
Enquanto não for exercido o direito cartular, o direito à recuperação continua<br />
fora do título.”<br />
A definição legal presente na Lei nº 10.406 de 2002, art. 887, afirma que: “o<br />
título de crédito, documento necessário ao exercício literal e autônomo nele contido,<br />
somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.”<br />
O legislador, ao colocar a palavra documento na norma cogente, diz,<br />
necessariamente, que o título de crédito deve ser um documento físico e palpável,<br />
um material, ainda que não seja exatamente papel, mas que constitua fisicamente o<br />
documento. Por isso, o título de crédito resulta num título de apresentação, ou seja,<br />
seu portador ou detentor deve apresentá-lo ao devedor ou a quem deva pagar.<br />
Não seria possível, por exemplo, que um título de crédito tivesse seu direito<br />
provado oralmente, ainda que houvesse gravação em fita magnética que pudesse<br />
ser repetida a qualquer hora. Mesmo que cem testemunhas possam afirmar o direito,<br />
o título de crédito só se constitui por documento escrito e palpável, que pode ser um<br />
papel, um pergaminho, devendo, de qualquer modo, ser um instrumento onde se<br />
possa ver a manifestação de vontade.<br />
Contudo, não é necessário que todas as declarações constantes do título<br />
sejam escritas de próprio punho pelo declarante do direito. Torna-se, assim,<br />
necessário apenas a assinatura da pessoa reconhecendo o crédito escrito no<br />
documento.<br />
2.4.2. Literalidade<br />
A literalidade é a medida do direito que está contido no título. A literalidade<br />
entende-se no sentido de que, “para a determinação da existência, conteúdo,<br />
extensão e modalidades do direito, é decisivo exclusivamente o teor do título; sendo<br />
85 BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1976, p.12-13.<br />
36
assim, o título de crédito obedece rigorosamente ao que nele está contido.” 86 É o<br />
princípio característico dos títulos de crédito; como os demais, também faz parte da<br />
definição legal de título de crédito, conforme descrito no art. 887 do NCC, quando se<br />
impõe que o título é documento necessário ao exercício literal e autônomo nele<br />
contido.<br />
Cesare Vivante explicitou a literalidade, ao referir que o direito mencionado no<br />
título é literal, porquanto ele existe segundo o teor do documento. Pode-se inferir<br />
que a melhor acolhida pela doutrina foi a lição de Messineo (apud NEWTON<br />
LUCCA): "O direito decorrente do título é literal no sentido de que, quanto ao<br />
conteúdo, à extensão e às modalidades desse direito, é decisivo exclusivamente o<br />
teor do título.” 87<br />
A literalidade, para Marco Aurélio Ventura Peixoto, “significa que somente se<br />
considera aquilo que estiver escrito no título de crédito.” 88 Ao ser título representado<br />
por um documento escrito, é de se esperar que a declaração constante do<br />
documento descreva e especifique o direito de crédito nele incorporado. E, mais que<br />
declarar e especificar o que nele está escrito, limita o direito. Nos dizeres de Fran<br />
Martins, “literalidade é, assim, o que está escrito no título, limitando os direitos nele<br />
incorporados.” 89<br />
Em um título, o importante é o que está escrito nele, significando que o que<br />
nele consta tem valor, ao passo que o que não consta, por escrito, não vale nem se<br />
pode alegar.<br />
O princípio da literalidade é de suma importância para a circulação e<br />
existência dos títulos de crédito, uma vez que a delimitação das obrigações neles<br />
constantes oferece extrema segurança ao emitente e demais obrigados pelo<br />
documento. Menciona o jurista Theophilo de Azevedo Santos 90 que a “literalidade<br />
visa proteger terceiros, que confiam no teor do título, e a evitar discussões que<br />
prejudicariam a rápida circulação do mesmo.”<br />
Túllio Ascarelli coloca, com propriedade, sobre a importância da literalidade<br />
dos títulos de crédito, ensinando que:<br />
86 MIRANDA, Maria Bernadete. Op. Cit. 2006 (a), p.5.<br />
87 LUCCA, Newton. Op. Cit. 1979, p. 79.<br />
88 PEIXOTO, Marco A. V. Documentos eletrônicos: a desmaterialização dos títulos de crédito.<br />
Disponível em:< http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2361>. Acesso em: 02 set. de 2006, p.2.<br />
89 MARTINS, Fran. Op. Cit. 1995, p.10.<br />
90 SANTOS, Theophilo Azevedo. Manual dos títulos de crédito. Rio de Janeiro: Companhia Editora<br />
Americana CEA, 1971, p.4.<br />
37
“a explicação da literalidade, em que a doutrina eleva a característico<br />
essencial do título de crédito, está na autonomia da declaração<br />
mencionada no mesmo título (declaração cartular) e na função constitutiva<br />
que, a respeito da declaração cartular e de qualquer das suas<br />
modalidades, exerce a redação do título; essa declaração está, pois,<br />
submetida exclusivamente à disciplina que decorre das cláusulas do<br />
próprio título. Se a nossa explicação não fosse exata, se o documento<br />
tivesse apenas uma eficácia probatória da declaração documentada, o<br />
portador do título – ao contrário do que antes lembramos – poderia gozar<br />
de direitos diversos dos decorrentes do título, mesmo sem recorrer a<br />
qualquer convenção extracartular.” 91<br />
Depreende-se, portanto, que a literalidade pode ser encarada sob duplo<br />
enfoque: tanto pode atuar favoravelmente ao credor do título de crédito, facultando a<br />
este exigir todos os direitos nele mencionados, quanto, de idêntica maneira, em favor<br />
do devedor, já que o credor está impossibilitado de pedir mais do que o estabelecido<br />
no documento. 92<br />
Os ensinamentos do ilustre Paulo da Silva Pinto 93 são relevantes para o<br />
assunto em pauta:<br />
“Forte argumento no sentido de se reconhecer a literalidade no sistema<br />
anglo-americano é a existência da parol evidence rule, prevista em common<br />
law. De acordo com esta regra, não se admite prova testemunhal para<br />
contrariar ou modificar o teor de um documento em que se contenham os<br />
termos de um contrato. Há uma preferência absoluta em favor da prova<br />
documental. Diante dessa, desaparece a possibilidade de recurso à prova<br />
testemunhal, sempre passível de vícios e incertezas. Como a cambial basta<br />
a si mesma, não se admite qualquer prova testemunhal para contrariar os<br />
seus termos.”<br />
Para Túllio Ascarelli, 94 o conceito de literalidade não foi aprofundado na<br />
doutrina brasileira. Segundo o autor, não existe um único autor que tenha se<br />
preocupado com o assunto. Ele explica a literalidade: “na autonomia da declaração<br />
mencionada no título e na função constitutiva em que exerce a sua redação-<br />
declaração cartular”, esta que se verifica submetida “exclusivamente à disciplina<br />
decorrente das cláusulas constantes no próprio título.” É esse o passo mais<br />
importante para a compreensão dos títulos de crédito e, conseqüentemente, para o<br />
entendimento de seu alcance.<br />
91 ASCARELLI, Túllio. Op. Cit. 1969, p. 40.<br />
92 LOPES, André Cortes Vieira. Op. Cit. 2006, p.3.<br />
93 PINTO, Paulo José Silva. Direito cambiário: garantia cambiária e direito comparado. Rio de Janeiro:<br />
Forense, 1948. p.57.<br />
94 ASCARELLI, Túllio. Op. Cit. 1969, p.56.<br />
38
2.4.3. Autonomia<br />
Como último requisito essencial, tem-se a autonomia, que se manifesta<br />
também no conceito de Cesare Vivante e na lei, promovendo a circulação segura e<br />
autônoma dos títulos.<br />
André Cortes Vieira Lopes coloca que a expressão autonomia, para quase<br />
toda a doutrina, indica que “o direito do titular é um direito independente no sentido<br />
de que cada pessoa, ao adquirir a cártula, recebe um direito próprio, diferente do<br />
direito que tinha ou podia ter quem lhe transferiu o mencionado título.” 95<br />
O ilustre Pontes de Miranda 96 elucida a autonomia afirmando que:<br />
“[...] a necessidade de assegurar a circulação cambiária levou à concepção<br />
da autonomia das obrigações cambiárias. Certamente, o título cambiário é<br />
unidade, e por vezes o designamos pela expressão ato unitário; mas,<br />
coexistente com a aparência do todo, há a aparência dos outros singulares,<br />
cujo despregamento resulta do fato mesmo das assinaturas, que são<br />
diversas e lançadas em diversos tempos. Seria sem história e, portanto,<br />
sem traços do tráfico, título em que, a despeito da multiplicidade das mãos<br />
por que andou, recebesse declarações bilaterais de vontade, sem lhes<br />
assegurar autonomia. O andar deu-lhe o ser soltura que se reflete, como<br />
vimos, na solidariedade cambiária.”<br />
A autonomia implica que as obrigações cambiais são independentes, isto é,<br />
os terceiros de boa-fé não podem ser prejudicados, havendo uma inoponibilidade<br />
das exceções ao terceiro de boa-fé. 97<br />
Pela autonomia, “seu adquirente passa a ser o titular do direito autônomo,<br />
independentemente da relação anterior entre os possuidores”. 98 A autonomia,<br />
conforme aduz o ilustre Wille Costa Duarte, 99 se manifesta sobre dois aspectos,<br />
quais sejam:<br />
“1) Autonomia do direito - significa que o direito do legítimo possuidor do<br />
título é autônomo ou independente em relação aos possíveis direitos dos<br />
anteriores possuidores do título, aos quais se vincula. O possuidor exerce<br />
um direito próprio e não derivado do direito de quem quer que seja;<br />
2) Autonomia das obrigações cambiais - corresponde ao fato das diversas<br />
obrigações existentes no título serem independentes, não se vinculando<br />
uma à outra, de tal forma que uma obrigação nula não afeta as demais<br />
obrigações válidas no título.”<br />
95 LOPES, André Cortes Vieira. Op. Cit. 2006, p.11.<br />
96 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. 2.ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1961, p.119.<br />
97 PEIXOTO, Marco Aurélio Ventura. Op. Cit. 2006, p.4.<br />
98 MIRANDA, Maria Bernadete. Op. Cit. 2006 (b), p.3.<br />
99 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.71.<br />
39
Também são autônomas as diversas obrigações cambiais existentes no título,<br />
não se veiculando uma à outra. Assim, dispõe o art. 7º da LUG que:<br />
“se a letra contém assinaturas de pessoas incapazes de se obrigarem por<br />
letras e assinaturas falsas, assinaturas de pessoas fictícias ou assinaturas<br />
que por qualquer outra razão não poderiam obrigar as pessoas que<br />
assinarem a letra, ou em nome das quais ela foi assinada, as obrigações<br />
dos outros signatários nem por isso deixam de ser válidas.”<br />
De acordo com o princípio da autonomia, as obrigações assumidas pelos<br />
diversos responsáveis por um título são autônomas entre si, e não intervêm,<br />
portanto, umas nas outras. O portador de um título não tem relação ou<br />
responsabilidade perante as demais relações condensadas no mesmo instrumento,<br />
somente respondendo pela sua própria relação, ou seja, pelo vínculo mantido com<br />
quem lhe tenha transmitido o direito ao crédito. Em relação aos demais coobrigados,<br />
o portador é considerado um terceiro de boa-fé, alheio aos problemas negociais<br />
anteriores e não atingido por eles.<br />
Enfatiza-se que este princípio não impõe autonomia somente face à causa<br />
original, ensejadora da criação do título – causa debendi – como se percebe em<br />
algumas explanações sobre o tema, mas, sim, entre todas as relações<br />
eventualmente existentes ao longo da circulação da cambial.<br />
Verifica-se que existem diversas teorias a respeito da autonomia, mas a que<br />
parece predominar é a de que “a relação existente entre o sujeito portador do título e<br />
o documento é de natureza real.” Assim sendo, quanto “ao direito que surge da<br />
cártula, tratando-se de um direito constitutivo, cada um dos proprietários da cambial<br />
o adquire de forma originária, em uma relação real e não derivada de um acordo”. 100<br />
Após esta exposição sobre os aspectos gerais dos títulos de crédito,<br />
apresentam-se, no próximo capítulo, alguns pressupostos sobre fiança.<br />
100 LOPES, André Cortes Vieira. Op. Cit. 2006, p.10.<br />
40
3. PRESSUPOSTOS SOBRE FIANÇA<br />
3.1.1. Aspectos gerais e essências<br />
A “origem da fiança é antiga”. 101 "No direito romano, a palavra cautio (de<br />
cavere, guardar) designava todas as garantias que um devedor podia dar ao credor.<br />
Todas elas (sponsio, fidejussio, fidepromissio, mandatum, pecuniae, credentiae)<br />
vieram a fundir-se no moderno instituto da fiança.” 102<br />
Manoel de Queiroz Pereira elucida que a fiança é regulada pelo CC e que “se<br />
encarta no gênero dos contratos de caução ou de garantia, os quais podem ser reais<br />
ou fidejussórios.” 103 Ela tem a finalidade de outorgar ao credor uma garantia<br />
adicional àquela consubstanciada no patrimônio do devedor.<br />
A fiança caracteriza-se, ainda, “como obrigação unilateral, uma vez que o<br />
fiador assume obrigações em relação ao credor, o qual, no entanto, não se obriga<br />
em relação àquele.” 104<br />
O objetivo do contrato de fiança é aumentar as chances de adimplemento de<br />
uma obrigação, o que é feito através da inclusão de uma garantia, de natureza<br />
pessoal, dada por um terceiro em relação ao credor, caso o devedor não pague a<br />
dívida originalmente assumida. Desta forma, haverá maior probabilidade do<br />
recebimento do quantum devido.<br />
propõe a:<br />
Segundo James Corrêa Caldas 105 , a fiança ocorre quando terceira pessoa se<br />
“pagar a dívida do devedor, se este não o fizer. É contrato acessório,<br />
unilateral, solene e, em regra, gratuito. É acessório porque garante a<br />
obrigação principal. É unilateral porque só gera obrigação para o fiador, com<br />
relação ao credor. É solene porque depende de forma escrita, imposta pela<br />
lei, e sua validade fica condicionada a outorga uxória. É gratuito porque o<br />
fiador, em geral, nada recebe; inspira-se apenas no propósito de ajudar o<br />
afiançado.”<br />
101<br />
ZAINAGH, Maria Cristina. A fiança locatária e novo código civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,<br />
2003, p. 38-42.<br />
102<br />
GONÇALVES, Cunha apud SANTOS, J. M. Carvalho. Código civil brasileiro interpretado: direito<br />
das obrigações. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1988. p. 433.<br />
103<br />
CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Exoneração da fiança. Disponível em: . Acesso em: 13 set. de 2006., p.1.<br />
104<br />
Idem, 2006, p.1.<br />
105<br />
CALDAS, James Corrêa. Fiança e benefício da ordem. Disponível em: . Acesso em: 13 set. de 2006, p.1.<br />
41
O art. 1.481 do atual CC (Lei 3.071/16) assim define a fiança: “Dá-se o<br />
contrato de fiança, quando uma pessoa se obriga por outra, para com o seu credor,<br />
a satisfazer a obrigação, caso o devedor não a cumpra.”<br />
Da mesma forma, o NCC (Lei 10.406 de 10/01/20032), que entrou em vigor<br />
em 11/01/2003, traz a seguinte definição: “Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma<br />
pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso<br />
esse não a cumpra.”<br />
Para Holmes Anderson 106 , a fiança pode ser definida como “um contrato pelo<br />
qual um devedor acessório junta-se a um devedor principal a fim de garantir o<br />
adimplemento da obrigação por este assumida. Portanto, o fiador é um devedor<br />
acessório, que se obriga a cumprir uma obrigação, caso o devedor principal não o<br />
faça”.<br />
O ilustre Clóvis Beviláqua 107 aduz que a fiança é um contrato bilateral<br />
imperfeito. O autor argumenta que se o fiador pagar o débito afiançado, subrogar-se-<br />
à nos direitos do credor principal, sendo-lhe assegurado o direito de propor ação<br />
contra o devedor para ser reembolsado dos valores que pagou por conta do débito<br />
daquele. Enfatiza, ainda, que é contrato gratuito, uma vez que, em regra, institui<br />
obrigações apenas para o fiador, o qual, por seu turno, normalmente, não aufere<br />
nenhum benefício.<br />
No que concerne à fiança, os doutrinadores parecem concordar que ela é, de<br />
regra, um negócio jurídico gratuito, podendo, no entanto, ser oneroso, já que é<br />
possível estipular contraprestação à garantia firmada.<br />
Em decorrência de sua onerosidade (ex vi, do art. 1.090 do NCC), o contrato<br />
de fiança deverá ser interpretado estritamente quanto à pessoa afiançada, quanto à<br />
sua duração e quanto ao seu objeto. Mesmo que o contrato de fiança fosse oneroso,<br />
pelo exposto no art. 1.4833 do CC, também não se admitiria a interpretação<br />
extensiva.<br />
Segundo Lauro Laertes de Oliveira, 108 “[...] a fiança não passa de pessoa a<br />
pessoa [...], afiançado “B”, num contrato de locação, se houver cessão da locação<br />
para “C” (com anuência do locador), extinguir-se-á a fiança.”<br />
106<br />
ANDERSON, Holmes. Fiança. Disponível em: . Acesso em: 14<br />
set. de 2006, p.1.<br />
107<br />
BEVILÁQUIA, Clóvis. Código civil comentado. São Paulo: Editora Paulo de Azevedo, 1957.<br />
108<br />
OLIVEIRA, Lauro Laertes. Da fiança. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p.23.<br />
42
Lecionando a respeito da fiança, Caio Mário da Silva Pereira 109 enumerou<br />
seus caracteres jurídicos.<br />
“[...] Gratuito, em regra, referentemente ao devedor; nem sempre, porém,<br />
pois há casos em que o afiançado remunera o fiador pela fiança prestada;<br />
anúncios são encontrados nos jornais, contento propostas de fiança, nos<br />
termos mencionados.”<br />
Corroborando, Maria Helena Diniz menciona que:<br />
“A fiança convencional apresenta as seguintes características: [...]<br />
Gratuidade, que incidirá sobre o crédito concedido ao devedor, pois, em<br />
regra, o fiador não receberá uma remuneração, mas apenas procurará<br />
ajudar o afiançado, pessoa em quem confia e que, espera, cumprirá a<br />
obrigação assumida. [...] Todavia, a gratuidade é natureza da fiança e não<br />
de sua essência; logo, nada obsta que o fiador reclame certa remuneração,<br />
o que é muito comum na fiança bancária, em que os bancos assinam<br />
termos de responsabilidade em favor de seus clientes, em troca de uma<br />
porcentagem sobre o montante garantido. O mesmo ocorre com<br />
determinadas firmas especializadas em prestar fiança, mediante<br />
porcentagem. Nestes casos, está claro que a fiança estará onerosa.”<br />
A fiança será, portanto, em geral, gratuita, visto que trará vantagens apenas<br />
para o devedor, que terá ao seu dispor o crédito concedido pelo fiador e não estará<br />
obrigado a qualquer contraprestação. No entanto, é possível que eles despertem<br />
para o fato de o afiançado ficar obrigado a algo, a título de contraprestação ao<br />
crédito a ele concedido pelo fiador. Não é outra a opinião de Washington de Barros<br />
Monteiro 110 , o qual menciona que:<br />
“[...] gratuito, em regra, referentemente ao devedor; nem sempre, porém,<br />
pois há casos em que o afiançado remunera o fiador pela fiança prestada;<br />
anúncios são encontrados nos jornais, contendo propostas de fiança, nos<br />
termos mencionados.”<br />
Depreende-se, desta forma, que a gratuidade é da natureza da fiança, mas<br />
não da sua essência; porquanto, caso se estipule contraprestação, a fiança passa a<br />
109<br />
PEREIRA, Caio Mário Silva. Instituições de direito civil: fontes de obrigações, v.3. Rio de Janeiro:<br />
Forense, 1963, p.457.<br />
110<br />
MONTEIRO, Washington Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 6 ed, 2ª parte. São<br />
Paulo: Saraiva, 1969, p. 378.<br />
43
ser onerosa, mas não deixa de ser fiança. Isto que dizer que o elemento gratuidade<br />
não é essencial para que se configure a fiança, embora em regra esteja presente.<br />
A fiança é uma espécie contratual que tem como objeto garantir um negócio<br />
jurídico principal. É, pois, contrato acessório, tendo como pressuposto de existência<br />
o contrato principal por ela garantido.<br />
Como elemento de garantia, a fiança vem aumentar as possibilidades para o<br />
credor receber a dívida. Se o devedor não pagar a dívida e seu patrimônio for<br />
insuficiente para assegurar uma possível execução, pode o credor voltar-se contra o<br />
fiador, reclamando o pagamento e executando seus bens para obter o pagamento.<br />
As garantias podem ser de dois tipos: real ou pessoal, sendo que a fiança é<br />
espécie desta segunda. Assim, explica Cáio Mário da Silva Pereira: 111<br />
“No gênero caução compreende-se todo negócio jurídico como objetivo de<br />
oferecer ao credor uma segurança de pagamento, além daquela genérica<br />
situada no patrimônio do devedor (v.67, supra v.3). [...] Mas pode realizarse,<br />
também, mediante a segurança de pagamento oferecida por um terceiro<br />
estranho à relação obrigatória, o qual se compromete a solver pro debitare,<br />
e desta sorte nasce a garantia pessoal ou fidejussória [...]Como garantia<br />
pessoal (fideiusso, cautionnement, fideiussione), ora resulta do acordo<br />
livremente (fiança convencional), ora emana da lei (fiança legal), ora provém<br />
de imposição do juiz (fiança judicial).”<br />
Washington de Barros Monteiro 112 coloca fiança como, “efetivamente,<br />
obrigação acessória, e por isso não pode ser mais extensa e mais gravosa que a<br />
principal, quer no seu objeto, quer nos seus acidentes de modo e de tempo [...].”<br />
Corroborando, Orlando Gomes 113 coloca que a fiança “pode ter duração<br />
limitada ou ilimitada, mas se for dada em limitação de tempo, o fiador pode exonerar-<br />
se da obrigação a todo o tempo.” (Art. 835 do CC de 2002).<br />
Outro aspecto importante quanto à fiança é a imprescindibilidade da outorga<br />
uxória. Mas a nulidade da fiança, nesta situação, poderá ser desconsiderada,<br />
segundo parte da jurisprudência, caso haja a dissolução da sociedade conjugal.<br />
Firmada a fiança, seus efeitos começam a ocorrer imediatamente e<br />
diretamente entre fiador e credor. Em um segundo plano, entre fiador e devedor. O<br />
credor tem o direito de exigir do fiador o pagamento da dívida inadimplida pelo<br />
111 PEREIRA. Op. Cit. 1963, p. 341.<br />
112 MONTEIRO. Op. Cit. 1969, p. 378.<br />
113 GOMES, Orlando apud JÚNIOR THEODORO, Humberto. A fiança e a prorrogação do contrato de<br />
locação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.67-83.<br />
44
devedor afiançado, mas tem o fiador o direito de requerer o benefício de ordem.<br />
Consoante a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira, 114<br />
“[...] demandado, tem o fiador o benefício de ordem, em virtude do qual lhe<br />
cabe exigir, até a contestação da lide, que seja primeiramente executado o<br />
devedor, e, para que se efetive, deverá ele nomear bens a este<br />
pertencentes, sitos no mesmo município, livres e desembargados,<br />
suficientes para suportar a solução de débito.” (CÓDIGO CÍVIL, ARTIGO Nº<br />
1.491).<br />
Quanto aos efeitos da fiança na relação entre fiador e devedor, após paga a<br />
dívida em sua totalidade pelo seu garantidor, este sub-roga-se nos direitos do<br />
credor. Assim, o fiador poderá agir regressivamente contra o seu afiançado para que<br />
este faça o ressarcimento do que foi pago, além de possíveis prejuízos sofridos por<br />
ele.<br />
“Mas, [...] para que lhe compita a sub-rogação, deverá pagar integralmente<br />
a dívida, pois que, sendo garantidor do afiançado, não pode concorrer com<br />
o credor, não totalmente satisfeito, na execução dos bens do devedor.” 115<br />
Falecendo o fiador, suas obrigações transmitem-se para seus herdeiros,<br />
respeitando-se, entretanto, as forças da herança, que não podem ser ultrapassadas.<br />
Segundo Caio Mário 116 , extingui-se a fiança nos seguintes casos:<br />
a) fato do fiador – este tem o direito de ser exonerado quando lhe convier,<br />
desde que a fiança tenha sido dada sem limitação de tempo, uma vez que<br />
prazo indeterminado não pressupõe perpetuidade. Para isto, deverá<br />
requerer ao credor a sua exoneração. Se este não o fizer, deverá pedir em<br />
juízo a sua liberação, que será feita, portanto, a partir de sentença judicial;<br />
b) fato do credor – se este conceder moratória ao devedor, dilatando o prazo<br />
para o cumprimento da obrigação sem a anuência do fiador, ocorrerá a<br />
extinção da fiança, uma vez que isto poderá agravar a situação do<br />
devedor, que poderá não ter mais bens para garantir o pagamento,<br />
impedindo o direito de regresso do fiador. Se também o credor renunciar<br />
às outras garantias que tem, impossibilitando que o fiador sub-rogue-se<br />
em todos os seus direitos, também cessará a fiança;<br />
114 PEREIRA. Op. Cit. 1963, p.378.<br />
115 Idem, 1963, p.343.<br />
116 Idem, 1963.<br />
45
c) extinção da obrigação garantida – se esta for paga ou se ocorrer, quanto à<br />
dívida principal, novação, compensação, confusão ou remissão, a fiança,<br />
como contrato acessório, também será extinta.<br />
A partir deste ponto, faz-se necessário abordar o aval, no sentido de tornar<br />
mais objetivo o entendimento deste estudo.<br />
46
4. AVAL<br />
4.1. Evolução histórica do aval<br />
De acordo com alguns doutrinadores, a etimologia do termo aval surgiu de<br />
três correntes doutrinárias. A primeira deriva do termo francês faire valois ou de a<br />
valoir, do equivalente latino a valere. Neste caso, o aval é o ato que faz valer, que<br />
atribui valor ao crédito cambiário por ele garantido. Esta etimologia tem suporte na<br />
antiga doutrina francesa, e é seguida por alguns juristas modernos. A segunda<br />
corrente encontra a fonte do aval na palavra hawâda, do Direito Árabe, como sendo<br />
uma obrigação de garantia, semelhante à figura do aval. A terceira e última corrente<br />
repousa no Direito italiano, avallo, correspondente ao francês aval, a explicação do<br />
termo aval. 117<br />
Evidencia-se, portanto, que a evolução histórica do aval tem pouca<br />
importância para o Direito Comercial, haja vista que está o Direito Comercial sujeito,<br />
por natureza, a constante transformação e rápida evolução, fazendo com que a sua<br />
aplicação prática não dependa de um escorço histórico mais pormenorizado.<br />
A história do aval confunde-se com a própria história da letra de câmbio,<br />
desde o limiar do século XIII, quando da regulamentação do instituto pela<br />
Ordounance du Commerce de 1673.<br />
Porém, é importante destacar que na prática comercial e bancária dos últimos<br />
períodos históricos, o aval constitui-se num instituto cambiário cada vez mais<br />
utilizado, em oposição ao aceite, podendo-se dar destaque ao fato de que o instituto<br />
da intervenção vem perdendo a sua aplicabilidade.<br />
Pode-se dizer que o aval, na prática cambiária germânica, é quase<br />
desconhecido. Na França, desde os primórdios de 1673, devia ser obrigatoriamente<br />
inscrito sobre o próprio título, sob pena de ser desconstituído e considerado como<br />
fiança ordinária. Já a lei inglesa de 1.882 simplesmente omitia-se em disciplinar o<br />
aval, equiparando o sacador ou aceitante. Este, ao assinar uma letra de câmbio,<br />
assumia, para com o portador, as mesmas obrigações de endossador, e sua<br />
assinatura poderia ser aposta tanto no verso quanto no anverso do título.<br />
117 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003.<br />
47
No que diz respeito ao ordenamento jurídico pátrio, cabe ressaltar que o<br />
Código Comercial Brasileiro de 1850 não disciplinou o aval, generalizando sua<br />
expressão: “garantem a letra de câmbio o sacador, os endossadores, os aceitantes e<br />
os abonadores”, o que poderia gerar ambigüidade para efeito de exegese e<br />
hermenêutica, dada a complexidade dos negócios jurídicos contemporâneos.<br />
Para outros doutrinadores, como Luiz Emygdio, 118 a origem etimológica do<br />
aval passou por quatro correntes:<br />
“1) Savary, Toubeau, Bornier, entre outros - prevista nos ditames da antiga<br />
doutrina francesa), propalada na expressão latina a valore, ou outra<br />
assemelhada em francês, faire valoir ou valoir, traduzindo o ato que atribui<br />
valor ao título de crédito, corrente esta muito criticada por não se encontrar<br />
no desdobramento dos fatos na evolução histórica da instituição, por<br />
traduzir uma forma verbal com ausência semântica (dificuldade de<br />
significante e significado no campo técnico lingüístico).<br />
2) Grasshoff, Huvelin e Gueisenberger - determina a origem da instituição<br />
no termo árabe hawala, significando obrigação de garantia, informando que<br />
o direito europeu se origina da prática cambiária árabe do século VIII,<br />
corrente esta não aceita pelos doutrinadores italianos que se dizem<br />
precursores do direito cambiário nos últimos séculos da Idade Média.<br />
3) Littre, Thöl e demais doutrinadores alemães - designa o termo aval dos<br />
termos italiano avallo e francês à val proveniente de a valle, por ter<br />
significado firmare a vallo, ou seja, assinar abaixo de outra firma,<br />
considerando que a assinatura do avalista é normalmente oposta abaixo da<br />
assinatura da pessoa avalizada, no corpo do título de crédito, entendimento<br />
este que aponta defeitos porque a lei não obriga o avalista a opor sua<br />
assinatura abaixo da firma da pessoa avalizada, sendo que o aval<br />
designando o avalizado (aval em preto), como por exemplo, aval em favor<br />
do emitente, pode ser lançado em qualquer lugar da cambial, anverso ou<br />
verso (LUG, art. 31, al. 2.ª). Outrora, nos países que adotaram a reserva do<br />
art. 4º do Anexo II da LUG, como a França, o aval podia ser dado em<br />
documento separado do título.<br />
4) Jules Valery, Arrigo Solmi e outros - identifica-se a origem nos termos<br />
latinos vallatus, vallare, de estrutura técnica inovadora, aperfeiçoando para<br />
os termos advallore, avallare, e, em epílogo, avallo, no sentido de enfatizar<br />
obrigações. A expressão está registrada nos clássicos latinos, sendo<br />
empregada na linguagem mercantil italiana, na qual o pactum vallatum, a<br />
carta vallata, eram convenção ou carta confirmadas com especial e<br />
extraordinária garantia.”<br />
No século XIII, a origem do aval, na instituição do Direito Cambial, já era<br />
enunciada. O banqueiro assumia, como avalista, obrigação de pagamento do título,<br />
em separado, mediante uma outra littera cambi por ele emitida. Assim procede a<br />
assertiva de que o aval foi empregado desde que a letra de câmbio passou a ser<br />
utilizada no comércio. 119<br />
118 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op.Cit. 2003, p.275-276.<br />
119 GALIZZI, Gustavo Oliva. O aval e a outorga conjugal instituída pelo Código Civil de 2002.<br />
Disponível em: . Acesso em: 22 set. de 2006.<br />
48
Entretanto, no direito brasileiro, o Código Comercial de 1850 não se reportou<br />
expressamente ao aval, mas os arts. 380 a 442 regulamentavam a letra de câmbio e<br />
as atribuições atinentes aos abonadores. O abono consistia em uma fiança<br />
comercial solidária, parecida ao aval do sistema francês de 1.807, que caracterizou o<br />
Código Comercial Brasileiro. O Decreto nº 2044 de 31 de dezembro de 1908<br />
disciplinava o aval, em matéria de letra de câmbio e nota promissória, nos arts. 14 e<br />
15, tendo este último sido derrogado pela LUG (ART. 31, ALS. 3ª e 4ª). O art. 14 do<br />
Decreto nº 2044 de 1908, acatando o aval antecipado, permanece em vigor por não<br />
ter sido disciplinado pela LUG. O governo brasileiro não adotou a reserva do art. 4º<br />
do Anexo II, e, por isso, o aval só pode ser lançado no título de crédito ou em folha<br />
anexa 120 (alongue), sendo inconcebível, portanto, a sua formalização em documento<br />
separado do título (LUG, ART. 31, I, E LC, ART. 30). 121<br />
A Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985, dispõe sobre o aval em matéria de<br />
cheque nos arts. 29 a 31. Já a Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968, ao disciplinar a<br />
duplicata, diz respeito ao aval somente em seu art. 12, que dispõe sobre a<br />
identificação do avalista e os efeitos do aval dado após o vencimento do título. A Lei<br />
Civil de 2002 disciplina o aval na instituição do direito cambiário, nos arts. 897 a<br />
900. 122 Já o art. 898 preceitua que: “O aval deve ser dado no verso ou anverso do<br />
próprio título”. 123<br />
Túllio Ascarelli elucida que a simples assinatura na parte da frente do titulo é<br />
considerada aval, desde que não se trate das assinaturas do sacado e do sacador.<br />
O aval também pode ser escrito no verso do titulo, ou em folha anexa. 124<br />
Por fim, o aval, mais que uma garantia fidejussória, consolida um reforço das<br />
garantias já existentes no título de crédito, porque quando alguém se obriga como<br />
avalista, o título já contém, no mínimo, a obrigação do emitente na nota promissória<br />
e no cheque, a do sacador na letra de câmbio, e se o título circular, existirá também<br />
a obrigação do endossante. Decorre disso que a função do aval é reforçar as<br />
garantias do pagamento do título de crédito em seu vencimento (LUG, ART. 30, AL.<br />
1ª, LC, ART. 29 E LD, ART. 12), tornando fácil a sua circulação, sendo um dos mais<br />
120<br />
Folha anexa dá-se quando, não cabendo mais assinatura no título, utiliza-se uma folha de papel<br />
que a ele vai colada para receber novas assinaturas (Wille Costa Duarte, 2003, p.1999).<br />
121<br />
BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975.<br />
122<br />
Idem, 1975.<br />
123<br />
ASCARELLI, Túllio. Panorama do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1947.<br />
124 Idem, 1947.<br />
49
importantes e utilizados na instituição do direito cambiário, prioritariamente nas<br />
operações bancárias. 125<br />
Assim sendo, constata-se que a importância do aval resulta da sua função de<br />
reforço das garantias já existentes no título, sendo fácil a sua circulação pela maior<br />
segurança que confere ao portador no que tange ao seu pagamento. Pode-se inferir,<br />
portanto, que raramente encontrar-se-á título de crédito sem aval, constatando-se<br />
um grande número de decisões judiciais sobre o aval.<br />
4.2. Conceitos de aval<br />
O aval consiste na obrigação assumida cambialmente por uma pessoa,<br />
garantindo o pagamento do título e obrigando-se nas mesmas condições do<br />
avalizado. É uma garantia do pagamento de título de crédito, de natureza pessoal,<br />
dada por terceiro.<br />
“O aval não se confunde com o endosso nem com a fiança. Não se<br />
confunde com o endosso porque neste o endossante é parte do título,<br />
proprietário que transfere sua propriedade a outrem. Por outro lado, não se<br />
confunde com a fiança porque esta é obrigação subsidiária; o fiador<br />
responde apenas quando o afiançado não o faz, mas pelo aval o avalista<br />
torna-se co-devedor, em obrigação solidária, e o pagamento da obrigação<br />
pode ser imputado diretamente a ele, sem que o seja, anteriormente,<br />
contra o avalizado.” 126<br />
Na linguagem usual, Aurélio Buarque de Holanda 127 define aval como uma<br />
garantia pessoal, plena e solidária, que se dá de qualquer obrigado ou coobrigado<br />
em título cambial, ou figurativamente, é o apoio moral ou intelectual. O aval em preto<br />
seria aquele nome da pessoa em favor da qual é dado; o aval em branco é o que<br />
não traz o nome da pessoa à qual é dado, consistindo apenas na assinatura do<br />
avalista. O aval pode ser sucessivo, cumulativo ou simultâneo, e pode ainda ser total<br />
ou parcial.<br />
Segundo João Eunápio Borges, 128 em obra destinada especificamente ao<br />
aval, este constitui “instituição de direito cambial e tem por finalidade garantir o<br />
125<br />
REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003.<br />
126<br />
SOBRINHO CORRÉIA, Adelgício Barros. Dos efeitos da outorga uxória no aval e na fiança após o<br />
CC de 2002. Disponível em: . Acesso em: 22 set de 2006, p.1.<br />
127<br />
FERREIRA, Aurélio Buarque Holanda. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:<br />
Nova Fronteira, 1988.<br />
128<br />
BORGES, João Eunápio. Op. Cit, 1975, p.15.<br />
50
pagamento da letra de câmbio e da nota promissória, assim como de outros títulos<br />
(cheques e duplicatas) em parte assimilados aos cambiais.”<br />
Fran Martins 129 coloca que o aval é como a:<br />
“obrigação cambiária assumida por alguém no intuito de garantir o<br />
pagamento da letra de câmbio nas mesmas condições de um outro<br />
obrigado. É uma garantia especial, que reforça o pagamento da letra,<br />
podendo ser prestada por um estranho ou mesmo por quem já se haja<br />
anteriormente obrigado no título.”<br />
Complementando, Fábio Ulhoa Coelho 130 diz que aval é ato cambiário pelo<br />
qual uma pessoa (avalista) se compromete a pagar título de crédito, nas mesmas<br />
condições do devedor deste título (avalizado). Segundo Antônio Carlos Zarif 131 , “aval<br />
é a obrigação que uma pessoa assume por outra, a fim de garantir o pagamento de<br />
um titulo de crédito; aquele que concede o aval se denomina avalista, e a pessoa em<br />
favor de quem é concedido se chama avalizado.”<br />
Para o Professor Wille Costa Duarte, 132 aval “é a declaração cambial e<br />
sucessiva, pela qual o signatário responde pelo pagamento do título de crédito. É<br />
uma garantia típica cambiária que não existe fora do título de crédito. É escrito no<br />
próprio título ou numa folha anexa.”<br />
Corroborando com este pensamento, Rubens Requião coloca que “o aval é a<br />
garantia de pagamento de letra de câmbio, dada por um terceiro ou mesmo por um<br />
de seus signatários [...] uma garantia pessoal do pagamento da letra de câmbio que<br />
acresce, como o aceite, mais um devedor ao título.” 133<br />
Aquele que presta o aval é chamado avalista ou dador do aval, e o<br />
beneficiário do mesmo se denomina avalizado. O aval é uma garantia especial ao<br />
pagamento do título, que pode ser dada por pessoa estranha à relação cambial ou<br />
mesmo por quem já faça parte desta.<br />
O avalista assume solidariamente as obrigações do avalizado e, para se<br />
obrigar, necessita ser capaz, como todos que se obriguem cambialmente. Todavia, a<br />
nulidade do aval dado por incapaz não prejudica o título, devido à autonomia das<br />
129 MARTINS, Fran. Op. Cit. 1997, p.153.<br />
130 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 4 ed. São Paulo: 2000.<br />
131 ZARIF, Antônio Carlos. Diferenças entre aval e fiança. Disponível em:<br />
http://www.advocaciaconsultoria.com.br>. Acesso em: 22 set de 2006.<br />
132 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.199.<br />
133 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003, p.420.<br />
51
obrigações, conforme art. 7 º da LUG. Esta mesma lei trata do aval em seus arts. 30,<br />
31 e 32, e o CC vigente, em seu art. 897 e seguintes. 134<br />
Quando o título é pago pelo avalista, este fica sub-rogado nos direitos<br />
incorporados à cártula, podendo cobrar o valor pago do avalizado e daqueles que<br />
este poderia cobrar e de seus outros garantes.<br />
4.3. Aval versus fiança<br />
Existem conceitos meramente naturalísticos, isto é, que emergem de<br />
fenômenos concretamente existentes, que são etnologias usadas comumente, e<br />
existem conceitos eminentemente jurídicos, significados dados pelo Direito a<br />
palavras ou expressões que divergem do seu sentido usual, mas que têm fins<br />
específicos.<br />
Neste estudo, descreveu-se que o aval é garantia própria dos títulos<br />
cambiários, que não se mistura com as demais garantias do direito comum, dentre<br />
as quais a fiança. Desta maneira, algumas pessoas consideram o aval como fiança<br />
nos títulos de crédito, nivelando os dois institutos que, na realidade, são distintos.<br />
Bonelli 135 diz que é na doutrina italiana que mais radicalmente se separa o ser<br />
ou não ser o aval uma fiança:<br />
“O elemento característico da fiança não é garantia, a assunção de<br />
responsabilidade por uma obrigação originariamente contraída por outrem, a<br />
acessão a uma relação jurídica não criada pelo fiador; isso é próprio de<br />
vários institutos. Na cambial, a obrigação dos endossadores, e até a do<br />
sacador, quanto o título for aceito, é simples obrigação de garantia, embora<br />
suas firmas não tenham a garantia como fim direto e imediato.”<br />
Avais e fianças, como coloca Dylson Dória, 136 são expressões freqüentemente<br />
usadas de forma imprópria e confusa, principalmente em contratos e títulos.<br />
Entretanto, esta confusão não se restringe ao senso comum; existem aqueles que<br />
entendem que o aval é uma espécie de fiança, e para eles todas as regras da fiança<br />
deveriam ser aplicadas ao aval, mas a maioria os compreende como institutos<br />
completamente autônomos.<br />
134 MARTINS, Fran. Op. Cit. 1997.<br />
135 BONELLI apud BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.30-31.<br />
136 DÓRIA, Dylson. Curso de direito comercial. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 1998.<br />
52
É muito comum confundir a diferença entre aval e fiança, ambos garantia de<br />
obrigação alheia. No entanto, constituem institutos distintos: enquanto o primeiro é<br />
típico do Direito Cambial, ou seja, próprio dos títulos de crédito, o segundo é garantia<br />
contratual acessória a uma obrigação principal. Assim, o aval se diferencia da fiança,<br />
sobretudo, pelas suas características cambiais, tais como autonomia e abstração,<br />
sendo um instituto de garantia totalmente independente da relação obrigacional do<br />
avalizado e do negócio fundamental do próprio título de crédito. Ao contrário do aval,<br />
a fiança será afetada a qualquer tempo pela relação obrigacional a que visa garantir.<br />
Para Fran Martins, “muitas pessoas consideram o aval como fiança nos títulos<br />
de crédito, igualando os dois institutos que, apesar de terem pontos de contato, na<br />
realidade são diversos.” 137<br />
“A equiparação do aval à fiança é questão meramente acadêmica,<br />
principalmente por parte daqueles que gostam de pesquisar a natureza<br />
jurídica de tudo que encontram pela frente. Mas é perda total de tempo<br />
pesquisar se o aval, como garantia cambiária, tem ou não natureza de<br />
fiança. Isto não tem a menor utilidade e nem qualquer interesse prático. Em<br />
verdade, aval é aval e fiança é fiança. Ambos correspondem à garantia<br />
pessoal e fidejussória, mas não se confundem. São garantias diferentes,<br />
ainda que com o novo Código Civil o aval válido de pessoa casada<br />
necessite da autorização prévia do outro cônjuge.” 138<br />
De acordo com Marcelo Colombelli Mezzomo, 139 duas são as formas de<br />
garantia fidejussória, materializadas no aval e na fiança. Embora ambas<br />
representem garantias pessoais, ocorrem certas diferenças oriundas da natureza<br />
diversa que possuem.<br />
“O aval é de natureza comercial, ao contrário da fiança, que é de direito<br />
civil. Como sabido, o direito comercial se pauta pela celeridade própria das<br />
relações mercantis, defluindo deste fato outras diferenças entre ambos. Por<br />
isso, o aval não carece da outorga uxória do cônjuge, requisito cuja<br />
ausência pode redundar em nulidade ou anulabilidade da fiança. 140 Da<br />
mesma forma, o aval, ao contrário da fiança, não comporta o beneficum<br />
excussionis, ou benefício de preferência sobre os bens do devedor<br />
principal.”<br />
137 FRAN, Martins. Op. Cit. 1997, p.156.<br />
138 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.201-202.<br />
139 MEZZOMO, Marcelo Colombelli. Aval e a meação do cônjuge. Disponível em: http.://. Acesso em: 23 set. de 2006, p.1.<br />
140 A conseqüência da ausência de outorga uxória ou autorização marital, se nulidade ou<br />
anulabilidade, ainda não foi totalmente pacificada.<br />
53
A discussão sobre as diferenças entre aval e fiança está presente no art.<br />
1.647 do CC de 2002:<br />
“Art. 167. Ressalvado o disposto no art. 1648 (caso do suprimento da<br />
outorga pelo juiz), nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro,<br />
exceto no regime da separação absoluta: I – alienar ou gravar de ônus rela<br />
os bens imóveis; II – pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou<br />
direitos; III – prestar fiança ou aval; IV – fazer doação, não sendo<br />
remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura<br />
meação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos<br />
filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.”<br />
Corroborando com esse pensamento, Rubens Requião 141 coloca que sustenta<br />
no Direito brasileiro que:<br />
“[...] não sendo aval espécie de fiança, ao contrário do que acontecia com<br />
esta, não se exigia a outorga da mulher para a sua validade. Com o advento<br />
da Lei nº 4.121, de 1962, modificou-se a solução correntia, pois pelos títulos<br />
de qualquer natureza, firmados por um só dos cônjuges, ainda que casados<br />
pelo regime de comunhão universal, somente responderão os bens<br />
particulares do signatário e os comuns até o limite de sua meação (art. 3º).<br />
Tanto o marido, como a mulher casada, obrigando apenas os seus bens até<br />
a meação que possuírem na sociedade conjugal, poderão dar o aval<br />
comprometendo apenas a sua meação. Para que o patrimônio do casal<br />
garanta as obrigações assumidas pelo marido ou pela mulher, em título de<br />
crédito, como de resto de qualquer dívida, como se procedia anteriormente,<br />
deve obter a autorização do outro cônjuge ou fazê-lo assinar conjuntamente<br />
o aval dado.”<br />
Como se evidencia, existe ressalva no ordenamento quanto à necessidade de<br />
outorga uxória para que qualquer dos cônjuges preste fiança ou aval, salvo no caso<br />
do regime da separação absoluta de bens.<br />
Conforme o ilustre Luiz Emygdio, 142 o aval não se confunde com instituto de<br />
fiança, pelas seguintes razões:<br />
“A fiança é instituto regulado pelo direito comum (CCB, arts. 1481 a 1504,<br />
CCom., arts. 256 a 263, e CCB de 2002, arts. 818 a 839), podendo ter<br />
natureza civil ou comercial e garantir qualquer obrigação, enquanto o aval é<br />
instituto próprio do direito cambiário, sendo sempre comercial, e só pode<br />
ser lançado em título de crédito. Mas nada obsta que o pagamento da nota<br />
promissória seja garantido por fiança, como ocorre, por exemplo, com<br />
operações de empréstimo de valor bastante elevado realizadas por<br />
instituições financeiras em favor de pessoas jurídicas, que, além do aval<br />
dado no título, exigem também a apresentação de fiança prestada por<br />
outro banco. O aval só pode garantir o pagamento do título de crédito, não<br />
141 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003, p.423.<br />
142 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2003, p.281.<br />
54
podendo, assim, ter por objeto obrigação de natureza não cambiária. A<br />
fiança pode ser formalizada no próprio instrumento que consubstancia a<br />
obrigação garantida, ou em documento em separado, mas o aval só pode<br />
ser lançado no título de crédito, em razão do princípio da literalidade (LUG,<br />
art. 31, al. 1ª, LC, art. 30), não tendo o governo brasileiro adotado a reserva<br />
do art. 4º do Anexo II da LUG, que lhe permitiria, por lei, admitir o aval por<br />
documento em separado.”<br />
Evidencia-se, também, que aval e fiança carregam consigo certa semelhança<br />
e diversas formas de interpretação entre os ordenamentos mundiais. A doutrina<br />
francesa, conforme esclarece Rubens Requião,<br />
“conceitua muitas vezes o aval como fiança, dependente da obrigação<br />
principal. Na doutrina italiana, alguns autores (Vidari) o consideram uma<br />
fiança sui generis, enquanto outros (Bolaffio e Bonelli) nele vêem uma<br />
garantia puramente objetiva e substancialmente independente. Vivante<br />
sustenta que o aval é uma garantia peculiar às formas cambiárias, tendo<br />
sua lição uma profunda ressonância na doutrina brasileira.” 143<br />
A própria LUG, ou melhor, a infeliz e errônea tradução portuguesa adotada<br />
pelo Brasil, através do Decreto nº 57.663 de 1966, diz no seu art. 32 que “o dador<br />
de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada.” 144 Esta<br />
equivocada tradução da LUG leva à falsa informação de que aval e fiança seriam<br />
garantias de obrigação alheias idênticas. O texto original do convencionado<br />
genebrino, em versão francesa, dispõe: Le donneur d’aval est tenu la mêne manière<br />
que celui dont il s’est porté garant. Assim, é possível visualizar o erro de tradução da<br />
palavra garant, a qual seria melhor traduzida para a versão legal brasileira como<br />
“garantida” e não “afiançada”.<br />
A própria LUG acaba com qualquer dúvida acerca da natureza da fiança e do<br />
aval, ao afirmar que a obrigação do avalista mantém-se, mesmo no caso de a<br />
obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de<br />
forma. Na fiança, esta prática seria impossível, dado que essa, como obrigação<br />
acessória, segue a obrigação principal e dela não se desvincula.<br />
143 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003, p.421.<br />
144 FRAN, Martins. Op. Cit., 1995, p. 209. A tradução oficial da Lei Uniforme faz confusão entre aval e<br />
fiança, ao declarar, no art. 32, 1 ª alínea, que “o dador do aval é responsável da mesma maneira que a<br />
pessoa por ele afiançada. A tradução é incorreta, pois, em vez de afiançada, devia dizer garantida. O<br />
texto francês é claro: Le donneur d’aval est de la mêne manière que dont celui il s’est porté garant.<br />
55
Por serem as obrigações de um título de crédito autônomas, o avalista não<br />
pode opor-se ao pagamento do mesmo, valendo-se de exceções pessoais que teria<br />
o avalizado em face do credor.<br />
4.4. Formas de aval<br />
A simples assinatura do avalista no dorso ou anverso do título constitui o aval,<br />
salvo se a assinatura for do emitente da nota promissória. A LUG, em seu art. 31,<br />
preconiza:<br />
“O aval é escrito na própria letra ou numa folha anexa. Exprime-se pelas<br />
palavras bom para aval ou por qualquer fórmula equivalente: é assinado<br />
pelo dador do aval. O aval considera-se como resultante da simples<br />
assinatura do dador aposta na face anterior da letra, salvo se trata das<br />
assinaturas do sacado ou do sacador. O aval deve indicar a pessoa por<br />
quem se dá. Na falta de indicação, entender-se-á ser pelo sacador.” 145<br />
De acordo com Rubens Requião, no Direito germânico, “o aval, sendo ato<br />
autônomo e independente da obrigação principal, é concessível em documento<br />
estranho ao título, prática de resto admitida pela Lei Uniforme, consoante o art. IV do<br />
Anexo II da Convenção de Genebra.” 146<br />
Diferentemente do Direito alemão, no Direito brasileiro o aval somente pode<br />
ser dado no próprio título ou numa folha anexa. A posição do Brasil surge da reversa<br />
ao art. 4º, do Anexo II da Convenção de Genebra. 147<br />
Nos títulos de crédito, não há assinatura inútil. Como exemplo, o caso do<br />
lançamento de uma simples assinatura no anverso da nota promissória, que não<br />
seja do próprio emitente, a qual, certamente, configurará o aval. Assim, uma simples<br />
assinatura sem indicação do avalizado, quando lançada no anverso do título, será<br />
considerada como aval ao emitente. Se o aval for dado no verso do título, deve-se<br />
usar a expressão bom para aval, por aval, ou outra equivalente.<br />
145 Lei nº 57.663 de 24 de janeiro de 1966. Promulga as Conversões para adoção de uma lei uniforme<br />
em matéria de letras de câmbio e notas promissórias. Diário Oficial da União. Brasília, jan.2006.<br />
146 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003, p. 422.<br />
147 Decreto nº 57.663 de 24 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme de Genebra), Anexo II, artigo 4 º : Por<br />
derrogação da alínea primeira do artigo 31 da Lei Uniforme, qualquer das Altas Partes Contratantes<br />
tem a faculdade de admitir a possibilidade de ser dado um aval no seu território por ato separado em<br />
que se indique o lugar onde foi feito.<br />
56
4.4.1. De obrigação nula<br />
Por exemplo, “C” avaliza “B” que, por sua vez, manteve relação obrigacional<br />
com “A”. Caso seja viciada a relação de “B” e “A” e, portanto, eivada de nulidade, o<br />
aval dado por “C” também será nulo? Em virtude da autonomia das relações, o aval<br />
persistirá válido, não sendo atingindo pela ineficácia do ato obrigacional do<br />
avalizado.<br />
Sobre a responsabilidade do avalista dispõe o art. 32, alínea 2, da Lei<br />
Uniforme: “a sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele<br />
garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de forma.”<br />
O aval dado a uma relação não é afetado pelos vícios desta, a não ser que se<br />
trate de vício de forma. O aval a uma pessoa incapaz, por exemplo, não é atingido<br />
pela nulidade.<br />
O CC vigente também segue esse princípio, em seu art. 899, 2 º , que dispõe:<br />
“subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a<br />
quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.”<br />
4.4.2. Parcial<br />
Segundo o ilustre Professor Wille Duarte Costa, o aval parcial foi “uma<br />
inovação das Leis Uniformes, tanto a referente às letras de câmbio e notas<br />
promissórias, como a dos cheques”. O autor coloca que sua “introdução na LUG<br />
deu-se por insistência e iniciativa do Ministério Plenipotenciário de Portugal, José<br />
Caeiro da Mata.” 148<br />
O aval parcial, também conhecido como aval limitado, é permitido pela Lei<br />
Uniforme, em seu art. 31, para o qual o “pagamento da letra pode ser, no todo ou em<br />
parte, garantido por aval”. Assim sendo, pelo aval limitado ou parcial, responde o<br />
avalista por pagamento inferior ao valor do título, limitando-se ao que declarou<br />
obrigar-se. 149<br />
Não obstante, salienta-se a divergência do entendimento defendido por José<br />
Carvalho de Mendonça, 150 aceitando o aval daquele que se obriga só até certa<br />
148 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.31 e 205.<br />
149 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2003.<br />
150 CARVALHO DE MENDONÇA apud BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p. 159.<br />
57
quantia pelo pagamento do título. Procura o mesmo autor razão para a sua posição<br />
em uma flexibilização ou extensão literal da lei, o que não se pode admitir, sob a<br />
lógica da nossa lei cambial, em seu art. 15, buscando substituir a expressão “é<br />
equiparado por é equiparado em parte”, posição isolada, repita-se, estribada na<br />
liberdade de convenção entre as partes, no interesse do comércio e circulação do<br />
título.<br />
Já o CC vigente, através do parágrafo único do seu art. 897, 151 veta o aval<br />
parcial, mas prevalece a legislação especial sobre títulos de crédito, sendo<br />
permitido, por conseguinte, o aval parcial.<br />
No momento atual, o aval parcial, anotado na cártula, desobedece à lei,<br />
sendo considerado nulo (art. 166, VII, CC vigente). O aval poderá ser dado na parte<br />
da frente ou na parte de traz do título, acompanhado de texto que o caracterize<br />
(“avalizo”, “em aval”, “avalizo fulano de tal”, dentre outros). Esse texto, porém, é<br />
desnecessário quando o avalista simplesmente assina o título na parte da frente, o<br />
que, por si só, caracteriza o aval. O aval pode ser dado a qualquer momento, mesmo<br />
muito após a emissão do título. O avalista é garantidor do pagamento do título. Logo<br />
após assinar como avalista e antes de devolver o título é possível desistir,<br />
cancelando o aval; após a entrega, não mais. Se o avalista pagar o título, poderá<br />
voltar-se contra o avalizado e dele cobrar o que desembolsou. Estas são todas as<br />
regras que já vigoram no Direto.<br />
4.4.3. Simples e plural<br />
O ilustre jurista Luiz Emygdio aduz que o aval pode ser simples, quando dado<br />
por uma pessoa, ou plural, quando dado por duas ou mais pessoas, podendo<br />
ocorrer em três casos:<br />
“1) Dois ou mais avais dados em favor de obrigados cambiários distintos,<br />
por exemplo: “C” é avalista do emitente “A” e “D” é avalista do endossante<br />
“B”.<br />
2) Dois ou mais avalistas de uma mesma obrigação cambiária (avais<br />
simultâneos e co-avais).<br />
3) Aval de aval (avais sucessivos). A primeira hipótese (avalizados distintos)<br />
não apresenta qualquer dúvida porque todos os avalistas serão devedores<br />
solidários de natureza cambiária sucessiva, e o portador pode acionar<br />
cambiariamente os avalistas e avalizados, em conjunto ou isoladamente,<br />
151 Novo CC – Lei nº 10.406, de 10/01/2002, art. 897, parágrafo único: É vetado o aval parcial.<br />
58
4.4.4. Incondicional<br />
sem estar sujeito a ordem a que se obrigaram (LUG, art. 47, als. 1ª e 2ª, LC,<br />
art. 51 e § 1º). Se um dos avalistas pagar a quantia cambiária, adquire os<br />
direitos decorrentes do título em relação ao avalizado e aos que o garantem<br />
(LUG, art. 32, al. 2ª, LC, art. 31 e Lei Civil, art. 899, § 1º), por se tratar de<br />
solidariedade cambiária de natureza sucessiva. As demais hipóteses de<br />
avais simultâneos e sucessivos serão tratadas em separado.” 152<br />
Conforme o ilustre Luiz Emygdio, a LUG “não informa que o aval deva ser<br />
puro e simples, como faz em relação ao endosso”. Pode-se concluir que por<br />
exclusão o aval poderá ser condicional, haja vista “nenhuma declaração cambiária<br />
poder ser subordinada a um evento futuro e incerto, não podendo contrariar o<br />
principio da literalidade e dificultar a circulação do título de crédito”. 153 Enfatiza-se<br />
que o aval condicional:<br />
“[...] deixaria o portador do título na incerteza da ocorrência e no evento<br />
futuro e incerto, sem saber se o avalista teria ou não obrigação cambiária. É<br />
importante considerar como não escrita a cláusula de evento futuro e<br />
incerto, por beneficiar o devedor.” (Decreto n.º 2.044/1908, art. 44, IV<br />
vigente em razão do silêncio da LUG). 154<br />
O art. 890 da Lei Civil também considera como não escrita a cláusula que,<br />
além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações do título de<br />
crédito.<br />
4.4.5. Posterior ao vencimento<br />
Alguns autores já insistiram em afirmar que o aval posterior ao vencimento<br />
produz os mesmos efeitos de uma fiança, pois seria lançado no título após sua vida<br />
cambial. João Eunápio Borges assevera:<br />
“Porque tal forma (de aval) lançada depois do vencimento, ou será aval ou<br />
não será coisa nenhuma, para quem, com os olhos no nosso direito cambial,<br />
sabe distinguir aval de fiança, abstendo-se, como deve, de ver naquele uma<br />
espécie de fiança qualificada pelo rigor cambial. Pontes de Miranda, a meu<br />
ver com a razão, sustenta a possibilidade do aval posterior ao vencimento,<br />
com os mesmos efeitos cambiais do que é prestado durante a fase<br />
circulatória do título. Não tem razão Carvalho de Mendonça quando diz que<br />
o aval visa garantir o pagamento, no vencimento da letra. Depois do<br />
152 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2003, p.293.<br />
153 Idem, 2003, p.291.<br />
154 Idem, 2003, p.291.<br />
59
vencimento, pergunta o mestre, que garantiria ele? Garantiria o pagamento,<br />
pois a função do aval é garanti-lo durante toda a vida da obrigação que<br />
contraiu, a qual, como veremos, pode sobreviver à que houver avalizado;<br />
enquanto existir uma obrigação cambiária, é suscetível de ser avalizada.” 155<br />
Sobre o assunto, é saliente a legislação específica. Contudo, melhor<br />
entendimento é o que busca, na intenção do avalista, a solução para a questão.<br />
Afinal, quem lança um aval quer avalizar e, obviamente, não quer dar fiança.<br />
Ademais, quem avaliza garante o título e não uma obrigação.<br />
Leia-se a Lei de Duplicatas (Lei nº 5.474 de 18 de julho de 1968), a qual<br />
dispõe, em seu art. 12, parágrafo único: “O aval dado posteriormente ao vencimento<br />
do título produzirá os mesmos efeitos que o prestado anteriormente àquela<br />
ocorrência.” 156<br />
Assim, entende-se que pode o aval ser dado após o vencimento do título,<br />
obrigando o avalista ao pagamento da obrigação, o que foi expressamente ratificado<br />
pelo art. 900, do novel ordenamento civil, que dispõe: “O aval posterior ao<br />
vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado.”<br />
Cumpre esclarecer que, diante do silêncio da legislação específica sobre o<br />
tema, ainda que o entendimento das pessoas não coadunasse com o CC vigente,<br />
seu art. 900 valeria e se imporia, por não contradizer legislação especial. Assim, o<br />
aval posterior ao vencimento já é reconhecido por lei válida e aplicável, não mais<br />
comportando dúvidas quanto aos seus efeitos.<br />
4.4.6. Simultâneos e sucessivos<br />
Conforme já analisado, qualquer um daqueles que assumem obrigações na<br />
nota promissória – emitente ou endossante – pode ter sua obrigação garantida por<br />
aval. Assim, um mesmo título pode conter diversos avais, constantes em suas<br />
muitas e autônomas relações. É admitido o comparecimento de duas ou mais<br />
pessoas, no mesmo título, avalizando o mesmo obrigado. Estes co-avalistas podem<br />
ser dadores de avais simultâneos ou sucessivos.<br />
“Os avais simultâneos ou co-avais ocorrem quando o aval é dado em<br />
conjunto, por duas ou mais pessoas, em relação à mesma obrigação<br />
155 BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.157-158.<br />
156 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.207.<br />
60
cambiária, como devedores do mesmo grau. São reputados de mesmo<br />
grau quando co-signatários de uma mesma obrigação, como dois ou mais<br />
emitentes, sacadores, endossantes e avalistas. Obrigados em graus<br />
diversos são os que contraem obrigações autônomas, como emitente,<br />
sacador, aceitante e avalista. A solidariedade entre obrigados do mesmo<br />
grau não tem natureza cambiária, mas simultânea, do direito comum,<br />
enquanto que a solidariedade em grau diverso tem natureza cambiária.” 157<br />
Conforme lúcido esclarecimento de Wille Duarte Costa,<br />
“co-avalistas são aqueles que assinam como avalistas o mesmo título de<br />
crédito. São considerados simultâneos os avais dados ao mesmo avalizado.<br />
Seus avalistas são considerados co-avalistas ou avalistas do mesmo grau.<br />
São sucessivos os avais em que um avalista se equipara expressamente a<br />
outro avalista (aval de aval) no mesmo título.” 158<br />
Muito já se discutiu acerca dos efeitos dos avais em branco e superpostos.<br />
Seriam estes simultâneos (todos os avalistas são garantes diretos do avalizado) ou<br />
sucessivos (garantes sucessivos uns dos outros)? A polêmica sobre o tema já não<br />
repercute, pois o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula 189, assim<br />
pacificou a questão: “avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e<br />
não sucessivos”.<br />
Convém rememorar que o avalista que paga o título fica sub-rogado nos<br />
direitos cambiais contra seu avalizado e contra os obrigados para com este. Em<br />
virtude da solidariedade cambial, pode o avalista cobrar tudo que pagou. A respeito,<br />
dispõe o art. 47 da Lei Uniforme:<br />
“Os sacadores, aceitantes, endossantes ou avalistas de uma letra são todos<br />
solidariamente responsáveis para com o portador. O portador tem o direito<br />
de acionar todas estas pessoas individualmente (ou coletivamente), sem<br />
estar adstrito a observar a ordem por que elas se obrigam. O mesmo direito<br />
possui qualquer dos signatários de uma letra quando a tenha pago. A ação<br />
intentada contra um dos coobrigados não impede acionar os outros, mesmo<br />
os posteriores àquele que foi acionado em primeiro lugar.” 159<br />
Os avalistas do mesmo grau equiparam-se a um mesmo avalizado. Nesse<br />
caso, o avalista que paga o débito pode cobrar dos demais a quota parte respectiva.<br />
Por exemplo, uma nota promissória no valor de R$ 3.000,00 que seja emitida por<br />
“A”, em benefício de “B”, com aval de “X”, “Y” e “Z”. Se “Y” pagar os R$ 3.000,00 a<br />
157 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2003, p.292.<br />
158 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.207.<br />
159 Lei n. 57.663 de 24 de janeiro de 1966. Promulga as conversões para adoção de uma lei uniforme<br />
em matéria de letras de câmbio e notas promissórias. Diário Oficial da União. Brasília, jan.2006.<br />
61
“B” poderá cobrar R$3.000,00 de “A”, mas apenas R$1.000,00 de cada um dos<br />
avalistas “X” e “Z”. Este benefício de divisão é uma exceção da solidariedade<br />
cambial, assemelhando-se, nesse particular, à solidariedade comum.<br />
4.5. Abordagens sobre aval<br />
4.5.1. Aval antecipado<br />
O aval antecipado consiste em firmar o aval antes do aceite ou do endosso.<br />
No sistema cambiário, pode ser “dado mesmo antes da obrigação a que o avalista<br />
pretende equiparar-se. São obrigações autônomas, entre as quais não existe<br />
nenhuma relação de acessoriedade [...].” 160<br />
Como coloca o ilustre Wille Duarte Costa 161 , “o aval deve ocorrer depois que o<br />
avalizado se obriga no título de crédito, mas pode surgir antes da obrigação do<br />
avalizado a quem o avalista procura.”<br />
Os doutrinadores mais importantes em Direito Cambiário concordam, pois que<br />
desde o surgimento do título de crédito é possível antecipar-se o aval. Dentre os<br />
autores, pode-se citar, apenas a título de ilustração, a visão de Lacerda 162 , que não<br />
difere do pensamento de Carvalho de Mendonça, 163 Whitaker, 164 Magarinos, 165<br />
Vivante, 166 entre outros que prelecionam pela licitude do aval antecipado, cuja<br />
existência futura não fica dependendo da validade do aval. Outrossim, cabe destacar<br />
que este tipo de aval trata-se de uma obrigação condicional, qual seja, a efetiva<br />
obrigação que se visou garantir, ainda que haja divergências doutrinárias quanto à<br />
validade e eficácia deste aval depender da existência da obrigação futura que foi<br />
objeto do aval.<br />
Neste sentido, pode-se dizer ser o aval uma garantia do pagamento do título.<br />
Assim, com base no art. 14 da Lei Cambiária, sustenta-se que nenhum laço há de<br />
acessoriedade entre as duas declarações, tratando-se de obrigações autônomas e<br />
independentes entre si, à luz do art. 43 da referida lei. Sustenta-se, ainda, que uma<br />
160<br />
BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.131.<br />
161<br />
COSTA, Wille Duarte. Op.Cit. 2003, p.204<br />
162<br />
LACERDA apud BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.131.<br />
163<br />
CARVALHO DE MENDONÇA apud BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p. 131.<br />
164<br />
WHITAKER, José Maria. Op. Cit. 1963.<br />
165<br />
TORRES, Magarinos. Nota Promissória. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1935.<br />
166 VIVANTE, Cesare. Op. Cit. 1945.<br />
62
vez firmado o aval, o avalista adquire o status de obrigado também, sendo, pois,<br />
ambos co-responsáveis.<br />
4.5.2. Aval em título em branco, incompleto ou futuro<br />
Questão remota e pouco discutida, o aval em título em branco, incompleto ou<br />
futuro não se consolidou na prática dos negócios jurídicos cambiários, isso porque o<br />
aval só garante obrigação cambiária. Assim, se o documento não é título de crédito<br />
por não conter todos os requisitos formais essenciais previstos em lei, não há aval.<br />
Pelo Direito antigo, como coloca o ilustre João Eunápio Borges 167 , os títulos<br />
em branco “reputam-se dados, no Direito Italiano, em favor de uma mesma pessoa:<br />
são, pois, conjuntos ou simultâneos, e nunca sucessivos, e não tem o avalista que<br />
paga, ação de regresso contra os demais avalistas”.<br />
em branco,<br />
“O aval em título em branco é aquele que não identifica o avalizado;<br />
enquanto não integrado com todos os requisitos impostos pela lei, é apenas<br />
um título in feri, em potência, não é ainda um título de crédito. [...]; pela LUG<br />
(art. 10º), os títulos de crédito em branco sempre foram reconhecidos pela<br />
doutrina e pela jurisprudência.” 168<br />
Entretanto, como bem lembra Luiz Emygdio 169 sobre o aval for dado no título<br />
“o aval somente produzirá seus efeitos e irá se convolar em garantia caso<br />
seu preenchimento e a formalização no título siga passo a passo a<br />
legislação cambiária que rege e determina validade da letra de câmbio, nota<br />
promissória e cheque, matéria discutida pela LUG, nos arts. 1º, 2º, 75 e 76,<br />
e Lei Cambial (LC), art. 1º e 2º.”<br />
No que concerne ao título incompleto, observa-se que o CC vigente positivou<br />
a mencionada súmula no caput do seu art. 891: “O título de crédito, incompleto ao<br />
tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes<br />
realizados.”<br />
Luiz Emygdio acentua que o título incompleto configura-se como inexiste<br />
acordo para preenchimento do título pelo seu beneficiário, mas por descuido de seu<br />
criador, dele não constam todos os requisitos legais, formais e extrínsecos.<br />
167<br />
BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.116.<br />
168<br />
Idem, 1975, p.88.<br />
169<br />
ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2003, p.325.<br />
63
“Tratando-se de cambial incompleta, contudo profícua a entendimento da<br />
Súmula 387 do STF, segundo o qual a cambial emitida ou aceita com<br />
emissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes<br />
da cobrança ou do protesto. Disso resulta que o aval dado em título<br />
incompleto é válido e eficaz, desde que preenchido corretamente, orientado<br />
pela boa-fé do portador, e que não haja em nenhuma hipótese a<br />
constatação de vício de forma.” 170<br />
No que diz respeito ao título futuro, este não é admitido pelo ordenamento<br />
jurídico brasileiro, o que vale dizer que o aval dado ou formalizado em qualquer<br />
documento em separado do título não é válido e eficaz, posição esta defendida com<br />
apoio do art. 4º do Anexo II da LUG, dispositivo não adotado pelo governo brasileiro.<br />
O aval diferido só seria possível em documento apartado do título, tal como<br />
disciplina o direito argentino; no entanto, a ele equiparam-se as regras aplicáveis ao<br />
título em branco e incompleto, sem se introduzir maiores inovações ou revoluções de<br />
entendimento doutrinário, primando-se pela observância dos requisitos formais,<br />
essenciais, legais e extrínsecos. 171<br />
4.5.3. Cancelamento e extinção do aval<br />
O cancelamento do aval se dá pelo pagamento, ou seja, no silêncio da LUG<br />
prevalece a norma contida no art. 24 do Decreto nº 2.044 de 1908: “o pagamento<br />
feito pelo aceitante ou pelos respectivos avalistas desonera da responsabilidade<br />
cambial todos os coobrigados.” 172<br />
Complementando, Saraiva 173 coloca que: “o coobrigado não pode intervir<br />
como avalista por lhe não ser facultado agravar sua responsabilidade além dos<br />
limites fixados por lei.”<br />
Já para Carvalho de Mendonça, 174 o avalista deve ser “uma pessoa estranha<br />
à letra de câmbio, porque o coobrigado, dando o aval, nada adiantaria, pois já<br />
responde para com todos aqueles relativamente aos quais o aval de novo o<br />
obrigaria.”<br />
É clara esta regra porque o aceitante da letra e o emitente da nota<br />
promissória e do cheque são devedores principais, e por isso, efetuando o<br />
170<br />
ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2003, p.325-326.<br />
171<br />
Idem, 2003, p.325.<br />
172<br />
BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.52.<br />
173<br />
SARAIVA apud BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.44.<br />
174<br />
MENDONÇA, Carvalho apud BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.44.<br />
64
pagamento, extingui-se a vida cambiária do título por ocorrer a quitação do débito,<br />
ficando desonerados todos os coobrigados. Se o pagamento se der pelo avalista do<br />
aceitante ou do emitente, ficarão desobrigados os coobrigados posteriores, mas o<br />
avalista adquire os direitos do título em relação ao avalizado e aos coobrigados que<br />
o garantem. O pagamento por sacador, endossantes ou respectivos avalistas,<br />
devedores de regresso, implica em pagamento recuperatório e não extintivo, ficando<br />
desonerados da responsabilidade cambial somente os coobrigados posteriores<br />
(DECRETO N.º 2.044 DE 1908, ART. 24, AL. 2ª). Em conseqüência, o parágrafo<br />
único do art. 24 do mencionado diploma legal permite que: “o endossador, ou<br />
avalista, que pagar ao endossatário ou ao avalista posterior, possa riscar o próprio<br />
endosso ou aval e os dos endossadores ou avalistas posteriores.” 175<br />
A Lei Uniforme não contém, de forma expressa, regra idêntica à norma do art.<br />
24 do Decreto nº 2.044 de 1908, quanto ao direito de cancelamento da assinatura<br />
por parte do avalista do endossante que efetua o pagamento da obrigação cambial.<br />
Compreende-se que tal entendimento encontra suporte na norma da alínea 2ª do art.<br />
50 da LUG, ao prescrever que qualquer dos endossantes que tenha pago uma letra<br />
pode riscar o seu endosso e os dos endossantes subseqüentes. Da mesma maneira<br />
que o avalista, o endossante que efetua o pagamento pode anular a sua assinatura,<br />
bem como as dos endossantes avalistas posteriores. Conclui-se, portanto, que se o<br />
endossante que pagar a soma cambiária não cancelar a assinatura de seu avalista,<br />
este corre o risco de ser cobrado em caso de extravio ou perda do título pago,<br />
contudo que não contenha quitação, ou, em havendo, não identifique a pessoa do<br />
devedor que efetuou o pagamento. 176<br />
O cancelamento do aval por causa distinta do pagamento do título deve ser<br />
examinado em razão do silêncio da LUG, à luz do Decreto nº 2.044 de 1908, que<br />
considera não escrito, para os efeitos cambiais, o endosso ou aval cancelado. 177<br />
Conforme coloca o ilustre Luiz Emygdio, 178<br />
“o cancelamento do aval pode se dar pelas razões de: pagamento (extinção<br />
das obrigações), anulação (causas referidas no art. 147 da LC e art. 171),<br />
decadência (por falta de protesto), prescrição cambiária (LUG, art. 70, LC,<br />
175 MENDONÇA, Carvalho apud BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.51.<br />
176 BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975.<br />
177 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op.Cit. 2003.<br />
178 Idem, 2003, p.328.<br />
65
4.5.4. Prescrição e protesto cambial<br />
art. 59, LD art. 18), e cancelamento da assinatura do avalista (art. 44, § 1.º,<br />
do Decreto n.º 2044 de 1908).” 179<br />
Primeiramente, é importante dizer que o direito cambial não ministra normas<br />
especiais para a interrupção da prescrição, a qual se opera por qualquer dos meios<br />
admitidos pelo direito comum.<br />
A prescrição do aval na lei cambial nº 2.044 é regulada pelos arts. 52 e 53.<br />
Desses dispositivos legais tem-se que nenhum prazo prescricional começará a<br />
correr a não ser a partir do dia em que a ação pode ser proposta.<br />
Pelo princípio basilar de que o acessório segue o principal, a prescrição da<br />
obrigação principal é decisiva para a vida da letra de câmbio. Uma vez consumada,<br />
extingue-se conseqüentemente a ação relativa à obrigação subsidiária, perdendo a<br />
letra definitivamente o seu valor. Quanto à prescrição do avalista ou contra o<br />
avalista, esta começa a correr no dia em que a ação puder ser proposta.<br />
Declina-se, desta forma, o termo de prescrição como sendo de três anos, a<br />
partir desse dia, contra o avalista do aceitante, do emitente ou do sacador, e de doze<br />
meses contra o avalista dos endossadores. Para o fenômeno jurídico da sub-<br />
rogação na prescrição do aval, aplica-se a mesma regra quanto ao crédito sub-<br />
rogado, começando a correr a partir do dia da sub-rogação. Sendo esta prescrição<br />
ordinária, aplicável à dívida de que houver sub-rogação, começará a correr na data<br />
do pagamento do qual resultou a sub-rogação.<br />
Quanto aos prazos prescricionais, segundo a Lei Uniforme são bem menores,<br />
fixados em seu art. 70, quais sejam: três anos a contar da data do vencimento de<br />
“todas as ações resultantes da letra de câmbio contra o aceitante”; em um ano as<br />
ações do portador contra o sacador e os endossadores, contado o prazo da data do<br />
protesto levado em tempo útil, ou do dia do vencimento, se houver cláusula de sub-<br />
rogação que dispensa o protesto. Prescrevem em seis meses as ações dos<br />
endossadores, uns contra os outros e contra o sacador, contados a partir do dia em<br />
que o endossador pagou ou foi acionado para pagar.<br />
179 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), A. I. 26.630, 5ª CG, rel. Des. Ebert Vianna<br />
Chamoun, RDTJRJ 37/36.<br />
66
Neste prisma, o protesto cambial é o ato notarial pelo qual o portador de título<br />
cambial (duplicata, nota promissória, letra de câmbio, contratos de prestação de<br />
serviços, cheques e outros) prova a falta de pagamento, a devolução ou o aceite do<br />
mesmo por parte do devedor. Tem como finalidade primeira a constituição de uma<br />
prova - prova de apresentação do título, nos rigores do formalismo e solenidade<br />
inerentes aos títulos de crédito, à pessoa que deve pagá-lo, o que, resumidamente,<br />
constitui o devedor em mora.<br />
Poder-se-ia dizer, usando as palavras de Gustavo Bonelli, 180 que a finalidade<br />
primordial do protesto é a constituição através de um ato público e solene por meio<br />
do qual se documenta a apresentação da cambial, para o aceite ou pagamento ao<br />
sacado, com o escopo de se habilitar o portador a voltar-se contra os obrigados<br />
regressivos, sendo o protesto, em suma, o ato oficial pelo qual se prova a não<br />
realização da promessa contida na letra.<br />
De acordo com o ilustre Fran Martins: "se bem que, entre os efeitos do<br />
protesto, figure o asseguramento do direito regressivo contra os coobrigados no<br />
título, a sua finalidade maior é comprovar a falta ou recusa do aceite ou do<br />
pagamento, sendo, assim, um meio de prova.” 181<br />
Cláudio Barroso Ribeiro 182 menciona que na legislação dos títulos de crédito o<br />
protesto cambial apresenta-se sob duas modalidades principais:<br />
“o protesto em razão da falta ou recusa do aceite e o protesto baseado no<br />
não pagamento do título. Além destes, existem protestos em casos<br />
especiais, como o protesto tirado para efeitos de requerimento de falência<br />
ou o protesto por falta de devolução da letra de câmbio entregue para aceite<br />
do sacado.”<br />
Tomando como referência a legislação cambial, o protesto pode ser<br />
classificado de duas formas:<br />
“[...] de acordo com os efeitos que produz em relação ao direito do portador<br />
(ou apresentante do título): o protesto indispensável (ou essencial) e o<br />
facultativo. Esta classificação decorre da necessidade ou não do registro<br />
para o exercício do direito de ação para exigência do pagamento da<br />
180<br />
BONELLI, Gustavo. Commentario ao Códice di Commercio. Milão: Ed. Rio, 1938, p.471.<br />
181<br />
MARTINS, Fran. Op. Cit. 1997, p.270.<br />
182<br />
RIBEIRO, Cláudio Barroso. Protesto de créditos públicos inscritos ou não em dívida ativa.<br />
Disponível em: < http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2691>. Acesso em: 27 set. 2006, p.1.<br />
67
obrigação inserida no título contra os que nele lançaram sua assinatura,<br />
seja como emitentes, seja como aceitantes, avalistas ou endossantes.” 183<br />
O protesto, via de regra, não se faz a ninguém. Ele é feito contra a falta de<br />
pagamento ou de aceite e tem por fim documentar, de modo inequívoco e solene,<br />
que deixou de ser cumprida, no dia e no lugar determinados, a ordem contida na<br />
letra, ordem que é ao mesmo tempo uma promessa feita ao portador da letra por<br />
aquele que, pelo saque, a criou. João Eunapio Borges 184 reforça e insiste que o<br />
protesto não é feito contra quem quer que seja, e que a exclusão do protesto de<br />
qualquer dos coobrigados é, por um lado, impossível e, por outro, supérflua e inútil.<br />
Consubstanciado na LC, em seu art. 29, II, assevera impossível, porque o<br />
instrumento do protesto, para perfeita individualização do título, conterá<br />
obrigatoriamente:<br />
“a transcrição literal, constando, pois, do instrumento, os nomes de todos<br />
os coobrigados, sacador, avalistas, endossadores, entre outros. Supérflua<br />
e inútil, se a intenção do portador é simplesmente a de dispensar a<br />
intimação pessoal, ou por meio de editais, de qualquer dos coobrigados,<br />
pois que tal intimação, por determinação legal, será feita apenas ao sacado<br />
ou aceitante, na letra de câmbio, ao emitente, na nota promissória.”<br />
O protesto cambial, para que o portador do título possa agir cambialmente<br />
contra o avalista do aceitante, segundo João Eunápio Borges, é dispensável:<br />
“contra qualquer de seus avalistas, inclusive contra aqueles que, no próprio<br />
título, se declarem avalista de avalista do aceitante, uma vez que, para<br />
efeitos cambiários, a declaração é considerada não escrita, sendo todos<br />
co-avalistas do aceitante.” 185<br />
Como bem coloca o ilustre Fran Martins,<br />
183<br />
RIBEIRO, Cláudio Barroso. Op. Cit. 2006, p.2.<br />
184<br />
BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.188.<br />
185<br />
Idem, 1975, p.184.<br />
186<br />
MARTINS, Fran. Op. Cit. 1997, p.163.<br />
“o ato de protesto praticado contra o aceitante não se reflete sobre o<br />
avalista. Sendo o título protestado contra um aceitante, não se pode, se o<br />
avalista for comerciante, requerer a falência deste baseada naquele<br />
protesto, uma vez que não foi o título contra ele protestado.” 186<br />
68
“O temor da falência é o princípio da sabedoria comercial.” 187 Entretanto,<br />
pode-se afirmar que o protesto é ainda mais temido do que a falência.<br />
Conforme se depreende do art. 32 da LC, contra os avalistas do sacador e<br />
dos endossadores, o portador só poderá agir se e depois de tirado o protesto, em<br />
tempo útil e na forma regular, no lugar do aceite ou do pagamento, dado o<br />
formalismo e o rigor técnico da lei. 188<br />
É importante destacar que no desenvolver deste trabalho, o avalista é<br />
equiparado ao avalizado, não apenas em relação às obrigações, mas igualmente em<br />
relação aos direitos. O que pode fazer o aceitante, igualmente pode o seu avalista.<br />
Quem pode o mais, pode o menos.<br />
Assim, pode-se inferir que o protesto cambial é simples meio oficial para a<br />
prova de que o portador do título, letra de câmbio, cheque, duplicata, dentre outros,<br />
procurou, no dia e lugar próprios, obter o cumprimento da ordem do sacador ou<br />
emitente, apresentando o título ao sacado, a quem a ordem foi dirigida. Com isso,<br />
não é qualquer protesto por falta de pagamento que poderá abalar legitimamente o<br />
crédito de alguém.<br />
Conclui-se, portanto, que o instituto do protesto cambial não tem, em relação<br />
ao aval, peculiaridades especiais que mereçam maiores comentários.<br />
4.5.5. O aval no cheque e na duplicata<br />
Cheque pode ser definido como ordem de pagamento à vista para a retirada<br />
de fundos que o emitente tenha disponíveis. O pagamento do cheque pode ser<br />
garantido por aval prestado por qualquer pessoa capaz, seja terceiro ou signatário<br />
do cheque, exceto pelo sacado (art. 29, Lei do Cheque).<br />
Para o Professor Wille Duarte Costa, ӎ uma promessa indireta de pagamento<br />
feita pelo emitente, cujo conteúdo, tal como na letra de câmbio, corresponde a uma<br />
ordem de pagamento [...].” 189 Na sua estrutura de ordem de pagamento, revestido da<br />
formalidade e do rigor que caracterizam os títulos de crédito, é uma espécie de letra<br />
de câmbio de funções mais restritas. Assim sendo, é o cheque uma ordem de<br />
pagamento da qual resulta imediatamente a obrigação do emitente ou sacador que,<br />
187<br />
MENDONÇA, Carvalho apud BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.187.<br />
188<br />
Idem, 1975.<br />
189<br />
COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.323.<br />
69
ao firmá-lo, como acontece na letra, faz, ao mesmo tempo, uma promessa indireta<br />
de pagamento.<br />
Embora seja o cheque simples instrumento para retirada de fundos, sendo<br />
sempre ordem de pagamento à vista, não se destinando normalmente a circular<br />
como outros títulos de crédito, não deixa de se incluir entre estes, uma vez que o<br />
recebimento de um cheque, em lugar do dinheiro, de cuja retirada ele é o<br />
instrumento, implica sempre em crédito feito ao emitente.<br />
Segundo a Lei nº 2.591 de 1912, bem como a LC e a LUG, o cheque adquire<br />
as mesmas peculiaridades dos demais títulos de crédito, tanto no que tange à ação<br />
regressiva quanto aos seus efeitos para a figura do aval. Nenhuma dúvida paira,<br />
então, de que podem ser avalizados tanto o emitente como os endossadores do<br />
cheque, não havendo, quer na lei do cheque, quer na LC, nenhum dispositivo, nem<br />
princípio, que se oponha à validade e eficácia do aval ao sacado, o aval é possível,<br />
válido, e eficaz. Quanto à sua utilidade, é evidente: é útil ao portador que, não<br />
confiando no sacado, confia no avalista; ao sacado, que consegue prazo para o<br />
pagamento; e ao emitente e demais coobrigados, que se exoneram com a marcação<br />
do aval. 190<br />
Se aplicam aos avalistas, no cheque, as mesmas normas da LC. A ação<br />
contra o avalista é a mesma e pode ser proposta nos mesmos prazos e sob as<br />
mesmas condições requeridas para a ação contra o avalizado, tema este já<br />
comentado no bojo deste trabalho. A ação contra o emitente é, em rigor de técnica<br />
cambial, uma ação de regresso. A ação contra o emitente ou sacador do cheque, do<br />
mesmo modo que a ação contra o sacador de uma letra de câmbio é, pois,<br />
cambialmente, uma ação de regresso. Ao emitente e aos seus avalistas a ação<br />
poderá ser proposta em qualquer tempo, enquanto não prescrita independentemente<br />
do protesto. 191<br />
Uma vez que se aplicam ao cheque os mesmos dispositivos dos demais<br />
títulos de crédito, a assinatura aposta por qualquer pessoa, no verso ou no anverso<br />
do título, pode obrigá-la como avalista, do mesmo modo que poderá ter a<br />
significação de um endosso a assinatura do beneficiário no verso do cheque. Tal<br />
assinatura poderá configurar, conforme as circunstâncias, um aval ou endosso em<br />
190 BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975.<br />
191 REQUIÃO, Rubens. Op. Cit. 2003.<br />
70
anco. Vale lembrar que cheque ao portador não é suscetível de endosso, só<br />
podendo receber endosso o cheque nominativo com a cláusula à ordem. 192<br />
"Cheque. Aval. Assinatura aposta no verso do cheque ao portador,<br />
sem pertencer ao próprio sacador, constitui aval em favor do<br />
emitente, mesmo que desacompanhada de quaisquer expressões<br />
atinentes aquele fim. Desnecessidade de protesto para a execução<br />
contra o avalista do emitente-sacador, especialmente quando<br />
demonstradas a apresentação tempestiva ao sacado, de<br />
compensação, e a inexistência de fundos.” 193<br />
“Embargos à execução. Cheque. A assinatura lançada no dorso do<br />
cheque, por terceiro, se constitui em aval. Conseqüentemente, é ele<br />
parte passiva legítima na execução. Embargos Improcedentes.<br />
Sentença Mantida. Apelo Improvido.” 194<br />
Fran Martins lembra que quando o aval for dado por um signatário do cheque<br />
(emitente ou endossantes), não haverá reforço de garantia de pagamento do título,<br />
pois os signatários já estavam obrigados anteriormente, caso o sacado não<br />
efetuasse o pagamento. 195<br />
No que tange à duplicata, é um título de crédito tipicamente brasileiro, com<br />
origem no art. 219 do Código Comercial Brasileiro de 1850. 196 Ela desempenha o<br />
papel de uma letra de câmbio provisionada e causal, sendo um título de crédito<br />
cujas obrigações poder sem avalizadas. O pagamento de uma duplicada pode ser<br />
avalizado, sendo o avalista equiparado àquele de cujo nome indicar; na falta de<br />
indicação, aquele abaixo de cuja firma lançar a sua; fora desses casos, ao<br />
comprador, conforme expressa determinação do art. 19 da Lei nº 187 de 1936.<br />
Estabelece, ainda, o art. 22, § 3º, que “os signatários da duplicata ou triplicata<br />
obrigam-se solidariamente pelo aceite e pelo pagamento”, acrescentando o art. 23<br />
que se aplicarão à duplicata, no que for possível, os dispositivos da Lei nº 2.044 de<br />
1908. Tem-se, com isso, que aplica-se ao aval das duplicatas tudo o que foi dito em<br />
relação ao aval dos títulos cambiais. 197<br />
192<br />
BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975.<br />
193<br />
TARGS, APC nº 186014932, 3ª Câm. Cív. Rel. Elvio Schuch Pinto, j. 14/05/86. In: PROCERGS -<br />
VIA/RS).<br />
194<br />
TARGS, APC nº 189045750, 5ª Câm. Cív., Rel. Ramon Georg Von Berg j. 27/06/89. In:<br />
PROCERGS -VIA/RS).<br />
195<br />
MARTINS, Fran. Op. Cit. 1997.<br />
196<br />
COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003.<br />
197<br />
BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.200.<br />
71
Salienta, por oportuno, que o aval em branco, na duplicata, que não seja<br />
contíguo a qualquer outra assinatura, será sempre considerado como aval ao<br />
comprador, tenha ou não este reconhecido a exatidão da duplicata, reconhecimento<br />
que, nesse título, equivale ao aceite.<br />
Conclui-se, com isso, que o aval em branco, não contíguo à firma do emitente<br />
ou de qualquer endossador, é sempre pelo comprador, quer este aceite ou deixe de<br />
aceitar, negando-se ao reconhecimento da duplicata. Tal avalista, como qualquer<br />
outro signatário, obriga-se pelo aceite e pelo pagamento do título.<br />
Quanto ao aval posterior ao vencimento, a Lei 5.474 dispõe expressamente,<br />
no parágrafo único do art. 12, que: “O aval dado posteriormente ao vencimento do<br />
título produzirá os mesmos efeitos que o prestado anteriormente àquela ocorrência”.<br />
Depreende-se, assim, que quem assinar como avalista, depois de vencida e mesmo<br />
depois de protestada a duplicata, obriga-se do mesmo modo que se houvesse feito<br />
antes do vencimento. Outro não pode ser o entendimento e os efeitos deste aval. 198<br />
4.5.6. O aval na falência<br />
A condição é suspensiva a que está subordinada a obrigação do avalista do<br />
sacador ou dos endossadores, apesar do art. 32 da LC dispor que à falta do<br />
protesto, o portador perde o direito contra eles. É suspensiva, pois, e não resolutiva,<br />
a obrigação de tais avalistas.<br />
No diz respeito aos direitos do avalista e demais coobrigados solventes<br />
perante o obrigado, tais coobrigados podem apresentar-se na falência por tudo<br />
quanto houverem pago e também pelo que mais tarde devam pagar, se o credor não<br />
pedir a sua inclusão na falência, observados, em qualquer caso, os preceitos letais<br />
que regem as obrigações solidárias. 199<br />
Ainda quanto à condição ser suspensiva, observa-se que, segundo a<br />
legislação pertinente já invocada, independentemente de qualquer condição, os<br />
coobrigados solventes “podem apresentar-se na falência por tudo quanto houverem<br />
pago”, peça ou não o credor a sua inclusão na falência, bem como podem, ainda,<br />
198 BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975.<br />
199 Idem, 1975.<br />
72
tais coobrigados, apresentarem-se também pelo que mais tarde devam pagar, se o<br />
credor não pedir a sua inclusão na falência. 200 Portanto, conclui-se, que:<br />
a) a inclusão do credor na falência só constitui impedimento absoluto à<br />
habilitação dos coobrigados solventes em relação àquilo que mais tarde<br />
devam pagar;<br />
b) em relação ao que pagou parcialmente, nem sempre a inclusão do credor<br />
comum é obstáculo à habilitação do coobrigado solvente.<br />
Se o credor da obrigação solidária, conforme o art. 27 da LC, concorre pela<br />
totalidade de seu crédito às massas de todos os coobrigados falidos, é porque<br />
somente assim terá ele a possibilidade de ser integralmente pago. É o pleno<br />
funcionamento e a integral eficácia da solidariedade que a lei procura resguardar.<br />
O art. 29 da antiga Lei de Falências estabelece que o coobrigado somente<br />
poderá concorrer à falência quando o credor não concorrer ou quando não tiver mais<br />
o direito de concorrer pela totalidade da dívida. 201<br />
Algumas conclusões de ordem prática se fazem prementes, quais sejam:<br />
a) se o avalista nada pagou, não poderá habilitar-se na falência do emitente<br />
como credor condicional pelo valor do título, se o portador não pedir a sua<br />
inclusão na falência;<br />
b) se o avalista pagou integralmente o título, quer antes quer depois da<br />
decretação da falência, irá ele habilitar-se na falência, pela totalidade da<br />
dívida que pagou;<br />
c) se o avalista pagou parcialmente a dívida, depois da decretação da<br />
falência do emitente, quando o credor pedir a sua inclusão na falência pela<br />
totalidade do crédito, como lho faculta o art. 27 da Lei de Falências, o<br />
avalista não poderá habilitar-se;<br />
d) se o avalista pagou parcialmente a dívida antes de decretada a falência do<br />
emitente, o portador só poderá pedir sua inclusão pelo saldo de seu<br />
crédito. Pelo que houver pago, poderá habilitar-se o avalista, haja ou não o<br />
portador pedido sua inclusão. Os créditos somados, do portador e do<br />
avalista, perfazem a soma cambial, isto é, o débito do emitente e falido.<br />
200 BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975<br />
201 Idem, 1975.<br />
73
As conclusões acima apontadas coadunam rigorosamente com a lei, bem<br />
como aos estritos caracteres legais pertinentes, tanto para os direitos quanto para os<br />
interesses, quer da massa falida, do portador do título ou do avalista.<br />
4.5.7. Aval e alienação fiduciária em garantia<br />
A legislação pertinente da alienação fiduciária em garantia teve início, no<br />
Direito brasileiro, com o “art. 66 da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, alterada pelo<br />
Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, que também estabeleceu normas<br />
processuais sobre a matéria.” 202<br />
Conforme o ilustre Orlando Gomes, 203 a alienação fiduciária em garantia é "o<br />
negócio jurídico pelo qual o devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite<br />
ao credor a propriedade de um bem, retendo-lhe a posse direta, sob a condição<br />
resolutiva de saldá-la.”<br />
Pode-se dizer que se trata a alienação fiduciária de um contrato de garantia<br />
em que o devedor aliena um bem a fim de assegurar o pagamento de uma dívida<br />
até que adimplido seja este débito, quando retorna o bem ao patrimônio do<br />
fiduciante.<br />
A alienação fiduciária configura, em sua forma, um negócio jurídico bilateral<br />
em que uma das partes (fiduciante) aliena a propriedade de um bem ao financiador<br />
(fiduciário), até que se extinga a relação contratual pelo adimplemento ou pela<br />
inexecução de qualquer das obrigações contratuais. Desta forma, através desse<br />
contrato, transfere-se ao credor ou fiduciário o domínio resolúvel da coisa alienada e<br />
a posse indireta do bem dado em garantia independente de efetiva tradição da<br />
coisa, tornando-se o alienante ou devedor em mero possuidor direto e, por força da<br />
lei, depositário do bem alienado. 204<br />
No que concerne à instituição financeira, Luiz Emygdio 205 coloca que, ao<br />
conceder o financiamento, além de tornar-se titular da propriedade resolúvel do bem,<br />
é também detentora de nota promissória emitida a favor pelo financiado e avalizada<br />
por terceiro, no valor corresponde ao débito.<br />
202<br />
ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2002, p.329.<br />
203<br />
GOMES, Orlando apud BULGARELLI, W. Contratos mercantis. São Paulo: Atlas, 1995, p.307.<br />
204<br />
PARIZZATO, João Roberto. Alienação fiduciária: doutrina, jurisprudência e prática forense. Minas<br />
Gerais - Ouro Fino: Edipa, 1998.<br />
205<br />
ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2002.<br />
74
Neste sentido, a alienação fiduciária em garantia, para atender às entidades<br />
financeiras e também aos consumidores, facilitou inegavelmente a concessão de<br />
crédito direto ao comprador, oferecendo ao financiador garantia efetiva do<br />
ressarcimento do seu crédito, sem, no entanto, retirar do financiado seu direito de<br />
posse sobre a coisa alienada, lhe assegurando o uso e gozo, podendo usufruí-los da<br />
forma como entendesse. 206<br />
Também com o fim de inibir a má utilização da alienação fiduciária em<br />
garantia por parte dos contratantes, vedou o legislador no § 7º, art. 66 207 , da Lei<br />
4.728 de 1965, a incidência do que se conhece por pacto comissório 208 209 , instituto<br />
que dá ao credor o poder de avocar para si a coisa dada em garantia face ao não<br />
pagamento do preço pelo comprador. Torna-lhe obrigatório, portanto, vender o bem<br />
para que restituído seja o valor do débito. Tal vedação foi posteriormente ratificada<br />
pela edição do Decreto-Lei nº 911 de 1.969, que em seu art. 1º, § 6º, declarou nula a<br />
cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em<br />
garantia, se a dívida não for paga no seu vencimento.<br />
Quanto à mora do devedor, esta ocorre ex-re, ou seja, com o simples<br />
descumprir do prazo para pagamento, servindo como comprovação a notificação<br />
feita pelo:<br />
“Cartório de Títulos de Documentos ou o protesto do título, a critério do<br />
credor (Decreto-lei nº 911/69, art. 2º, § 2º). Comprovada a mora, é<br />
imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente<br />
(Súmula 72 do STJ). Permite a lei que a instituição financeira proceda à<br />
venda extrajudicial do bem objeto de alienação fiduciária em garantia<br />
(Decreto-lei nº 911/69, art. 2º). Não havendo a prévia avaliação do bem e a<br />
concordância do devedor, o título de crédito emitido pelo financiado perde a<br />
sua liquidez, descaracterizando-se como título executivo, e assim, o devedor<br />
somente responde pessoalmente pelo saldo devedor em processo de<br />
conhecimento.” 210<br />
206 DIREITO BANCÁRIO ON-LINE. Alienação Fiduciária. Disponível em: Acesso em: 27 set. de 2006, p.1.<br />
207 A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse direta da<br />
coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou<br />
devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe<br />
incumbem de acordo com a lei civil e penal.<br />
208 Consagrado no art. 1.163 do CC Brasileiro, é o pacto comissório ente comum aos contratos de<br />
compra e venda e faculta ao credor desfazer o contrato, se não cumprido até certo dia pelo devedor,<br />
ficando de pleno direito com a coisa passados dez dias do vencimento da obrigação.<br />
209 Importante que se saliente que é o pacto comissório também vedado às demais modalidades de<br />
garantia real, tais quais o penhor, a anticrese e a hipoteca, na forma do que dispõe o artigo 765 do<br />
CC: "É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário, a ficar com o<br />
objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento".<br />
210 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2002, p.329-330.<br />
75
Isso ocorre pelo fato de que “o único título executivo criado sem ou contra<br />
vontade do devedor é a Certidão da Dívida Ativa da Fazenda Pública. Todavia, os<br />
demais títulos executivos dependem da expressa anuência do devedor no que toca<br />
ao na e quantum debeatu.” 211<br />
No que diz respeito à posição do avalista, o Decreto-lei nº 911/69 determina<br />
que o avalista, fiador ou terceiro interessado, que pagar a dívida do alienante ou<br />
devedor, se sub-rogará, de pleno direito, no crédito e na alienação fiduciária em<br />
garantia constituída por alienação fiduciária em garantia. Pode-se dizer que,<br />
executada a garantia, o saldo devedor remanesce a responsabilidade do avalista:<br />
“por se tratar de obrigação autônoma e por força do dispositivo contido no<br />
art. 66, § 5º, da Lei nº 4.728/65, com redação dada pelo Decreto-lei nº<br />
911/69, pelo qual não bastando o produto da venda do bem para<br />
pagamento do débito, o devedor continuará responsável pessoalmente<br />
pela obrigação de pagar o saldo devedor apurado, no mesmo sentido da<br />
norma contida no art. 767 da Lei Civil. Portanto, a propriedade fiduciária se<br />
extingue com a excussão da garantia real.” 212<br />
É importante destacar que no caso de frustrar a sub-rogação legal por ato ou<br />
omissão do credor, “o avalista pode se recusar a efetuar o pagamento”, como<br />
ocorre, por exemplo, quando desaparecem as mercadorias objeto da alienação<br />
fiduciária, sem que o credor fiduciário tenha tomado qualquer providência para<br />
localizá-las ou responsabilizar o depositário em caso de extravio ou perda. 213<br />
4.6. O avalista<br />
4.6.1. Quem pode ser avalista<br />
Primeiramente, insta salientar que pode ser avalista qualquer pessoa que<br />
detenha capacidade civil ou comercial. 214 O avalista torna-se co-devedor, em<br />
obrigação solidária, e o pagamento da obrigação pode ser imputado diretamente a<br />
ele, sem que o seja, anteriormente, contra o avalizado. É o que se depreende do art.<br />
42 da LC: quem quer que tenha capacidade para obrigar-se cambialmente, seja<br />
211<br />
ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Op. Cit. 2002, p.330.<br />
212<br />
Idem, 2002, p.330.<br />
213<br />
Idem, 2002, p.330.<br />
214<br />
MARTINS , Fran. Op. Cit. 1997.<br />
76
pessoa física ou jurídica, pode ser avalista, inclusive o estrangeiro, que poderá ser<br />
avalista no Brasil desde que capaz nos termos do ordenamento jurídico, ainda que<br />
incapaz pela lei do Estado a que pertença.<br />
Depreende-se, portanto, que o avalista não precisa ser necessariamente um<br />
terceiro, estranho ao título de crédito, posto fato de adquirir responsabilidade a partir<br />
de tal nexo cambial: podendo avalizar qualquer dos coobrigados, o endossador, o<br />
sacador, o próprio aceitante da letra de câmbio ou o emitente da nota promissória.<br />
Contrários a esta afirmação, alguns doutrinadores, tais como Saraiva, Carvalho de<br />
Mendonça 215 e outros, lecionam pugnando que o coobrigado não pode intervir como<br />
avalista por lhe não ser facultado agravar sua responsabilidade além dos limites<br />
fixados por lei.<br />
Ainda que respeitáveis os argumentos contrários, pode-se afirmar, com fincas<br />
na LUG, art. 30, alínea 2ª, ou na Lei nº 2.044, que no Brasil pode ser avalista não<br />
apenas um terceiro, estranho ao nexo cambial, mas qualquer um dos coobrigados,<br />
um endossador, o sacador, o próprio aceitante da letra de câmbio ou o emitente da<br />
nota promissória, desde que, como já dito anteriormente, tenha capacidade civil ou<br />
comercial. Este leque abrangente de pessoas detentoras de capacidade para ser<br />
avalista apresenta inúmeras vantagens práticas, tanto do ponto de vista de direito<br />
quanto de fato, no sentido de se amalgamar os efeitos e as razões de ser do aval,<br />
qual seja, garantir o pagamento da letra de câmbio e da nota promissória.<br />
"Uma vez que a obrigação do avalista é equiparada à do avalizado, está<br />
claro que não é a mesma que esta, mas uma outra, diferente na sua<br />
essência, embora idêntica nos seus efeitos. O avalista obriga-se de um<br />
modo diverso, mas responde da mesma maneira que o avalizado, sendo<br />
neste sentido que se diz que o aval corresponde a um novo saque, um<br />
novo aceite, um novo endosso, segundo a posição que ocupa na letra de<br />
câmbio. Em virtude desta dupla situação, por um lado, a falsidade, a<br />
inexistência ou a nulidade da obrigação do avalizado não afetam a<br />
obrigação do avalista, não aproveitando a este nenhuma das defesas<br />
pessoais, diretas ou indiretas, que àquele possam legitimamente competir;<br />
por outro lado, o avalista obriga-se apenas como o avalizado, e nos<br />
mesmos termos que este, e, por isso, quando garante ao endossante, tem<br />
a seu favor a prescrição de um ano e libera-se com a falta do protesto;<br />
quando, porém, garante ao sacador ou ao aceitante, não lhe aproveita a<br />
omissão do protesto e só lhe é lícito invocar a prescrição de cinco anos.” 216<br />
215 SARAIVA, José Antônio; CARVALHO DE MENDONÇA apud BORGES, João Eunápio. Op. Cit.<br />
1975, p.44.<br />
216 MIRANDA, Pontes. Op. Cit. 1961, p.376.<br />
77
Tendo em vista que qualquer pessoa civil e comercialmente capaz pode ser<br />
avalista, conclui-se, estrito senso, que também o aval pode ser firmado através de<br />
instrumento de procuração, desde que o procurador esteja munido de poderes<br />
especiais para o ato. Da inteligência do art. 46 da LC, infere-se que o mandatário<br />
que o subscreve sem estar devidamente autorizado não obrigará o mandante, mas<br />
ficará pessoalmente obrigado ao pagamento da letra.<br />
A distinção que por se só se justifica está anotada no art. 1.647, III, do CC<br />
vigente: se o avalista for casado em regime distinto da separação absoluta de bens,<br />
a prestação do aval exige autorização do outro cônjuge: outorga marital ou uxória.<br />
Portanto, o aval agora demandará assinatura do avalista e, se ele é casado pelos<br />
regimes de comunhão universal de bens ou comunhão parcial de bens, a assinatura<br />
do cônjuge autorizando o ato de garantia. Na ausência de tal autorização, poderá o<br />
cônjuge, o marido ou a esposa, pleitear a invalidação do aval, como expressamente<br />
prevê o art. 1.642, IV, do mesmo CC. É preciso estar atento para o fato de tratar-se<br />
de anulabilidade, ou seja, de negócio que, na forma do art. 172, pode ser confirmado<br />
pelas partes, salvo direito de terceiro; ademais, diz o art. 177, a anulabilidade não<br />
tem efeito antes de coisa julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os<br />
interessados (no caso o cônjuge que não autorizou o aval) a podem alegar, e<br />
aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo os casos de solidariedade ou<br />
indivisibilidade. A regra é repetida, especificamente, para o tema aqui examinado,<br />
pelo art. 1.650 da mesma lei, segundo o qual a decretação de invalidade dos atos<br />
praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá<br />
ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.<br />
A confirmação do aval a posteriori poderá se dar de forma expressa, hipótese<br />
na qual se faz necessário que o ato de confirmação contenha a substância do<br />
negócio celebrado e vontade expressa de mantê-lo, como exigido no art. 173. Para o<br />
aval, essa ratificação expressa pode fazer-se pela assinatura da cártula, certo que,<br />
na forma do art. 176, quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização<br />
de terceiro, será válido se este a der posteriormente; a autorização a posteriori pode<br />
dar-se pela mesma forma que a que se daria a priori ou simultaneamente, vale dizer,<br />
pela assinatura conjunta na cártula. Poderá, igualmente, fazer-se por instrumento<br />
avulso, hipótese na qual deverá ser descrito minuciosamente o título, permitindo-se<br />
identificação inequívoca da obrigação, bem como afirmada expressamente a<br />
autorização dada a posteriori para o aval. Esse instrumento deverá ser público ou,<br />
78
se privado, deverá apresentar-se autenticado, como exigido pelo art. 1.649,<br />
parágrafo único, do CC.<br />
O aval prestado por pessoa jurídica contra vedação de contrato ou estatuto<br />
social corresponde ao ato de liberdade e, sendo assim, normalmente o contrato<br />
social de sociedades por quotas de responsabilidade limitada e o estatuto das<br />
sociedades anônimas vedam aos seus administradores a dação de fiança e aval em<br />
nome da sociedade, correndo dúvida, no entanto, se o aval, quando dado, obriga ou<br />
não a sociedade. Alguns doutrinadores e julgados entendem que este aval não tem<br />
validade pelas seguintes razões:<br />
a) os arts. 316 e 331 da Lei Comercial não permitem que os sócios possam<br />
contrair, em nome da sociedade, obrigações estranhas ao seu objeto;<br />
b) considerando que o contrato social tem que ser arquivado no Registro<br />
Público de Empresas Mercantis, predomina o princípio da publicidade,<br />
permitindo-se que um terceiro possa facilmente examinar o contrato da<br />
sociedade e verificar a ocorrência ou não de restrição contratual na dação<br />
do aval;<br />
c) o art. 46 do Decreto nº 2.044/1908 reza que aquele que assina a<br />
declaração cambial, como mandatário ou representante legal de outrem,<br />
sem estar devidamente autorizado, fica por ela pessoalmente obrigado,<br />
colecionando neste sentido os arts. 8.º da LUG e 14 da LC. Portanto, a<br />
sociedade não responderia pelo aval em razão da restrição contratual ou<br />
estatutária.<br />
Outrossim, a orientação predominante é no sentido de considerar válida e<br />
eficaz a obrigação cambiária decorrente do aval prestado por sociedade em razão<br />
de contrato escrito ou estatuto social. De acordo com o Decreto nº 2.044 de 1908,<br />
em seu art. 42, reza sua capacidade cambiária toda pessoa natural ou jurídica que<br />
tenha capacidade jurídica. Esta lei contém norma de ordem pública, pela qual não<br />
pode ser afastada mera cláusula contratual ou estatuto social, cuja eficácia fica<br />
sujeita às relações entre a sociedade dos prejuízos causados por ter praticado o<br />
aval (LSQ. ART. 10, LSA, ARTS. 158 e 159). Além do mais, não tem aplicação no<br />
direito societário brasileiro a teoria ultravires, pela qual a sociedade não teria<br />
responsabilidade pelos atos praticados, em seu nome, por seus administradores,<br />
quando estranhos ao objeto social, sendo a única exceção a sociedade em nome<br />
79
coletivo (CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO, ART. 316). Segundo, porque os<br />
negócios mercantis caracterizam-se por sua celeridade, pelo que não se pode criar<br />
obstáculo ao seu desenvolvimento, exigindo-se que para a prática de cada ato de<br />
administração normal, o terceiro deva tomar conhecimento do contrato social, ou<br />
estatuto, que com ele transacione, para saber se seus administradores têm ou não<br />
poderes para a prática do ato. A tendência do direito moderno é aplicar a teoria da<br />
aparência, visando a proteção do contratante de boa-fé, reconhecendo a eficácia de<br />
situações aparentes, para que a aparência predomine sobre a realidade. Portanto, a<br />
aparência funciona como elemento primordial de situações formalmente irregulares<br />
em sua origem, constituídas, porém, sobre o mando da boa-fé, por ter a sociedade<br />
contribuído para criar uma aparência de legitimidade no que toca a esses atos<br />
praticados pelo sócio com excesso de poderes, de maneira a levar terceiros a<br />
acreditarem na sua legitimidade. Por isso, em havendo vedação contratual ou<br />
estatutária, a sociedade deve responder pelo aval dado por culpa in elegendo e in<br />
vigilando, em relação aos seus administradores. Terceiro, porque o administrador da<br />
sociedade não é seu mandatário, não a representa, não transmite a sua vontade,<br />
mas constitui um de seus órgãos, que exprime e realiza a vontade da sociedade,<br />
gera a vontade social, ou melhor, representa a sociedade. Portanto, a<br />
responsabilidade da sociedade não deve ser considerada como regra absoluta<br />
porque deve ser examinada em cada caso concreto.<br />
De tal maneira, a sociedade não tem responsabilidade como avalista quando<br />
o beneficiário do título tem ciência da vedação contratual do aval (ou deveria ter, em<br />
razão de sua profissão, porque não pode ser considerado de boa-fé). A exemplo,<br />
cita-se a hipótese de uma pessoa ser sócia-gerente de uma sociedade por quotas<br />
de responsabilidade limitada, cujo contrato social vede a dação de aval. Essa<br />
pessoa retira-se da sociedade, concorda em receber a prazo seus haveres sociais<br />
mediante nota promissória emitida pessoalmente pelo sócio-controlador e avalista<br />
pela sociedade. Neste caso, a sociedade não deve responder pelo aval, por não ser<br />
o credor terceiro de boa-fé, porque tinha conhecimento da cláusula do contrato<br />
social proibindo a dação do aval.<br />
80
4.6.2. Responsabilidade do avalista<br />
O avalista é uma pessoa que se torna responsável pelo pagamento de um<br />
título de crédito, nas mesmas condições de seu avalizado. O art. 15 da LC preceitua,<br />
quanto aos efeitos do aval, que o avalista é um obrigado cambial que ocupa, no<br />
contexto cambiário, a mesma posição jurídica objetiva da pessoa a favor de quem<br />
avalizou e à qual se equipara. Será, pois, um obrigado direto, se avalista do<br />
aceitante ou do emitente, quando se tratar de promissórias, ou de regresso, se<br />
avalista do sacador ou dos endossadores. Contudo, não se pode dizer que sua<br />
obrigação seja a mesma obrigação do avalizado, mas simplesmente que é obrigação<br />
do avalizado, que pode não existir ou não ser válida, sem que a do avalista sofra a<br />
menor restrição quanto à validade e à eficácia.<br />
Sob o pálio do art. 43 da já citada LC, insta salientar que o aval é obrigação<br />
autônoma, independente de quaisquer outras decorrentes do mesmo título, inclusive<br />
da do avalizado. Firmando o aval, o signatário fica vinculado e solidariamente<br />
responsável pelo aceite e pelo pagamento da letra, sem embargo da falsidade, da<br />
falsificação ou da nulidade de qualquer outra assinatura.<br />
Em oposição ao que afirmam alguns doutrinadores, a expressão contida na<br />
nossa lei, em seu art. 43, não pode ser vista como um pleonasmo ou expressão<br />
redundante, ao mencionar que as obrigações cambiais são autônomas e<br />
independentes umas das outras. Autonomia não se confunde com independência. A<br />
autonomia é a independência que possui cada uma das obrigações cambiais,<br />
isoladamente consideradas, perante a causa, a relação fundamental determinante<br />
de cada declaração; já a independência é a autonomia considerada nas relações<br />
existentes entre as diversas obrigações cambiais. Outro elemento característico da<br />
obrigação do avalista é o seu caráter abstrato, como são de resto todos os títulos<br />
cambiais ou aqueles que, por lei, lhes forem assimilados.<br />
Outrossim, reforça que no aval, obrigação de uma garantia, a abstração é<br />
ainda, se possível, maior do que em qualquer outra obrigação cambial. Vale dizer<br />
que o simples fato de ser o avalista equiparado ao avalizado não induz à existência<br />
de qualquer relação entre eles. Portanto, cambialmente, a responsabilidade que<br />
decorre para o avalista, qualquer que seja a causa de sua declaração, é a mesma<br />
que contrai qualquer subscritor do título: a garantia do pagamento.<br />
81
Salutares são as expressões de João Eunapio Borges 217 quanto à autonomia.<br />
Por isso mesmo, é transcrita abaixo a sua abalizada opinião, ao dispor que é a<br />
autonomia a obrigação do avalista que não poderá opor ao portador do título<br />
exceções pessoais do que o obrigado a que se equiparou. Como todo devedor<br />
cambial, poderá defender-se, exclusivamente, com as exceções pessoais que lhe<br />
forem próprias, com os defeitos formais do título e com a falta de requisitos<br />
necessários para que o possuidor possa exercer a ação cambial.<br />
O princípio da inoponibilidade das exceções é característica tão essencial ao<br />
direito cambiário, que o admitem e defendem os mais decididos partidários do<br />
caráter acessório do aval em relação à obrigação principal. Com isso, comprova o<br />
princípio que todas as obrigações cambiais são independentes e que sua<br />
inexistência, a falsificação ou a nulidade de umas não refletem sobre as outras.<br />
Segue que nenhum obrigado pode opor ao exeqüente as exceções pessoais que lhe<br />
seriam oponíveis por um dos outros devedores cambiais.<br />
Quanto à equiparação das obrigações cambiais, ressalta-se que esta não é à<br />
obrigação concreta da pessoa avalizada, mas uma equiparação à figura daquele que<br />
figura como obrigado. Substancialmente, o avalista ocupa no contexto cambiário a<br />
mesma posição objetiva que o obrigado, ao qual se equiparou, sem prejuízo para a<br />
independência de suas obrigações.<br />
Só a título de doutrina comparada em outros Estados, tais como a Argentina e<br />
o Uruguai, importa destacar, segundo Segovia: 218 tem-se que o aval constitui<br />
obrigação pessoal distinta e independente dos demais firmatários da letra; é forçoso<br />
concluir que o avalista não pode invocar as exceções pessoais de seu garantido.<br />
Salienta-se, contudo, que embora tão categórico o dispositivo argentino, a<br />
doutrina daquele país tenta conciliá-lo, à medida do possível, com o princípio da<br />
inoponibilidade, aliás, essencial aos interesses da circulação e à própria natureza do<br />
direito cambiário.<br />
Outras características básicas para a validade da declaração cambiária, como<br />
em todo negócio jurídico, são: capacidade, objeto, vontade. Por se tratar de negócio<br />
que se formaliza pela manifestação da vontade, esta deve ser manifestada através<br />
de uma forma escrita. Prestada tal declaração, fatos impeditivos como a<br />
incapacidade do signatário, a ausência de uma vontade livre, consciente, e a<br />
217 BORGES, João Eunápio. Op. Cit. 1975, p.146.<br />
218 SEGOVIA apud COBO. El aval en el derecho argentino, p.159.<br />
82
discordância entre a vontade real e o conteúdo da declaração cambiária, podem<br />
obstar à existência ou à validade da obrigação, que dela devia resultar. Esses<br />
impeditivos se baseiam na falta ou nos vícios da vontade.<br />
Ainda no que tange às exceções oponíveis, vislumbram-se aquelas oponíveis<br />
erga nomes, ou seja, as que refletem o fato constitutivo da obrigação cambiária, bem<br />
como os fatos impeditivos, eminentemente afetos à capacidade do signatário da letra<br />
e aos fatos modificativos ou extintivos, por exemplo, quitação sobre o título.<br />
Alguns fatos impeditivos, como erro, violência, moral, serão exceções<br />
pessoais inoponíveis aos terceiros de boa-fé. Outros são modificativos ou extintivos,<br />
com caráter extracambiário, como no pagamento sem quitação no título,<br />
compensação. Essas regras se aplicam a todas as obrigações cambiais, e são<br />
absolutamente independentes umas das outras.<br />
Admite-se que a exceção de pagamento feito pelo avalizado possa ser oposta<br />
pelo avalista, desde que lhe seja possível fazer prova literal do pagamento. É que o<br />
avalista, sendo responsável pelo pagamento, não é propriamente um devedor da<br />
soma cambial, uma vez que ele tem a responsabilidade, não a dívida. Uma vez<br />
efetuado o pagamento, desaparece aquela responsabilidade.<br />
A figura do dolo, como sendo a exceção a todas as regras, também se<br />
constitui como oponibilidade das exceções.<br />
4.6.3. Direitos do avalista<br />
O avalista assume, no contexto cambiário, obrigação análoga à da pessoa a<br />
que se equipara. É importante destacar que o avalista, para todos os efeitos<br />
cambiais, é o sacador da letra de câmbio, ou o emitente da nota promissória, ou o<br />
endossador, ou o aceitante, ou o interveniente.<br />
Wille Duarte Costa elucida que “se o avalista paga o título, fica sub-rogado<br />
nos direitos emergentes do título contra a pessoa a quem se equiparou pelo aval e<br />
contra os obrigados para com tal pessoa. Se paga, recebe ainda todas as garantias<br />
cambiárias que eram asseguradas ao possuidor.” 219<br />
Não se pode olvidar que o avalista é obrigado da mesma espécie que a<br />
pessoa à qual legalmente se equiparou: o avalista é co-aceitante, co-sacador, co-<br />
219 COSTA, Wille Duarte. Op. Cit. 2003, p.207.<br />
83
endossador, co-interveniente. E, entre obrigados da mesma espécie, não há ação<br />
cambial, posição clara na doutrina.<br />
Se o avalista é o sacador, fica vinculado como sacador (co-sacador); se<br />
aceitante, o avalista responde como aceitante (co-aceitante); se endossador, fica na<br />
posição deste (co-endossador).<br />
Os autores são uníssonos ao reconhecerem que avalista e avalizado são<br />
coobrigados do mesmo grau, e afirmam que entre coobrigados do mesmo grau não<br />
existe regresso cambial. A melhor doutrina, que é conforme os intuitos da lei,<br />
considera a ação do avalista como a do principal obrigado – cambial e direta.<br />
Pode-se inferir que se avalista e avalizado são obrigados do mesmo grau, são<br />
obrigados equiparados se entre obrigados do mesmo grau não há vínculo cambial,<br />
não cabendo ação cambial de uns contra outros, a não ser por força de um<br />
dispositivo expresso. Cabe destacar que o art. 24 da LC prevê que o pagamento<br />
feito pelo aceitante ou pelos respectivos avalistas desonera da responsabilidade<br />
cambial todos os coobrigados. O pagamento feito pelo sacador, pelo endossador ou<br />
respectivo avalista desonera da obrigação cambial os coobrigados posteriores. O<br />
endossador ou o avalista, que paga ao endossatário ou ao avalista posterior, pode<br />
riscar o próprio endosso ou aval e os dos endossadores ou avalistas posteriores.<br />
Compuscando-se a lei cambial, é forçoso admitir ser impossível falar em ação<br />
cambial do avalista contra o avalizado, quando nossa lei não a conhece, nem<br />
explícita nem implicitamente. Nossa lei nega ao avalista a ação cambial específica<br />
contra a pessoa à qual se equiparou, isto porque não há regresso tipicamente<br />
cambial entre obrigados do mesmo grau, destinando-se a ação cambial específica a<br />
garantir os credores ou portadores que se encontrem em situação de supremacia<br />
relativamente aos obrigados anteriores.<br />
Outro ponto que se sobressai no debate cinge-se à solidariedade a que se<br />
refere a LC. Neste ponto, cada signatário é ao mesmo tempo credor e devedor,<br />
obrigado pela dívida inteira perante os obrigados posteriores, com direito a toda<br />
soma cambial em face dos anteriores. Embora sejam autônomas as obrigações<br />
cambiais e cada avalista assuma sua própria obrigação – de garantia – há ao<br />
mesmo tempo uma única responsabilidade, idêntica e solidária para todos. Este<br />
vínculo solidário, sobre o qual se reflete naturalmente o caráter cambiário do título,<br />
autoriza e justifica, nas relações entre coobrigados do mesmo grau, a aplicação das<br />
84
normas comuns das obrigações solidárias, não modificadas pelas regras peculiares<br />
ao direito cambiário relativamente à solidariedade cambial ou sucessiva.<br />
Paga a dívida cambial pelo avalista, poderá este exigi-la, pela ação cambial,<br />
dos obrigados anteriores à pessoa a que se equiparou, isto é, anteriores a seu<br />
avalizado. Mormente no caso de não haver qualquer relação entre avalizado e<br />
avalista, podendo ser o aval firmado sem o conhecimento e mesmo contra a vontade<br />
do avalizado, a defesa deste terá a máxima amplitude, incompatível com as<br />
restrições que cercam a defesa na ação cambial.<br />
Avalista e avalizado são dois coobrigados de igual responsabilidade, cujas<br />
relações se regulam pelas normas das obrigações solidárias. Não estão um defronte<br />
o outro como o fiador perante o afiançado, mas como dois coobrigados ao<br />
pagamento de uma dívida comum. A igualdade no débito é presunção, contrariável,<br />
por todos os meios de prova.<br />
Para haver do avalizado ou do co-avalista aquilo que houver pago por eles,<br />
embora não disponha da ação cambial específica, em virtude de seu caráter<br />
excepcional e das restrições que dela decorrem, nos termos do art. 51, da L C, para<br />
a defesa do executado, tem o avalista a ação executiva. É cambial a ação de que<br />
dispõem os co-avalistas uns contra os outros.<br />
4.7. Aval e o Código Civil vigente<br />
A Lei nº 10.406 de 2002, que institui o CC vigente, tratou do aval no seu art.<br />
897 e seguintes, não trazendo, no seu capítulo Intitulado “Dos Títulos de Crédito”,<br />
grandes ou significativas novidades às cambiais que já não houvessem sido tratadas<br />
pela legislação específica ou pacificada pelo entendimento doutrinário e<br />
jurisprudencial, conforme já analisado. Cumpre lembrar que as alterações que<br />
contrariaram as leis específicas vigentes não lograram aplicabilidade, tal como<br />
ocorreu com a do parágrafo único do art. 897, que veda o aval parcial.<br />
Com efeito, em matéria de títulos de crédito, nomeadamente quanto ao aval,<br />
o mandamento do CC vigente que vem gerando maior polêmica no meio jurídico é o<br />
do art. 1.647, inciso III 220 , sobretudo pelo fato de se aplicar, indistintamente, aos<br />
220 Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art.1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro,<br />
exceto no regime da separação absoluta: III – prestar fiança ou aval. A jurista paulista Regina Beatriz T. da<br />
Silva informa que a iniciativa da exigência da autorização conjugal para o aval foi do Fernando Henrique<br />
Cardoso. In: FIUZA, Ricardo. Novo CC. São Paulo:Saraiva, 2002, p.1459.<br />
85
títulos típicos e atípicos, preexistentes ou não ao novel diploma. Dispõe, nesse<br />
contexto, o artigo, que nenhum dos cônjuges poderá, sem autorização do outro,<br />
garantir obrigação assumida em título de crédito por meio de aval, salvo se casado<br />
no regime matrimonial de separação absoluta de bens, alterando, assim, o direito<br />
antes vigente, que não exigia a autorização conjugal para que o indivíduo casado no<br />
regime de comunhão de bens prestasse aval, mas somente para que prestasse<br />
fiança.<br />
Entretanto, o novo ordenamento civil causou forte impacto no instituto do aval,<br />
fazendo-o em capítulo diverso do dirigido aos títulos de crédito, dispondo no seu art.<br />
1647, Inciso III: “ressalvando o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode,<br />
sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: [...] III – prestar<br />
fiança ou aval.”<br />
Cabe destacar, porém, que por uma questão de princípios, esse preceito do<br />
Novel Ordenamento Cível, com a sua aplicabilidade e exigência, não contraria<br />
nenhuma legislação específica, apenas acrescentando novidade à legislação, o que<br />
não lhe é vedado. No entanto, cumpre, por oportuno, criticar o legislador pátrio, que,<br />
ao impor a autorização do cônjuge para validade do aval, prejudica a livre e<br />
independente circulação da cártula, acrescentando o procedimento de garantia<br />
cambial, passando o aval a necessitar da participação do terceiro estranho à relação<br />
do título.<br />
Diante da atual legislação cível, o avalista necessita da autorização do<br />
cônjuge para garantir qualquer cambial, salvo se for casado pelo regime de<br />
separação absoluta de bens. O aval prestado sem a vênia conjugal não é nulo,<br />
apenas passível de anulação pelo cônjuge cuja autorização não fora concedida,<br />
competindo a este e seus herdeiros o direito à ação de invalidação do aval 221 .<br />
Faz-se necessário esclarecer que a anulabilidade e não nulidade do aval que<br />
prescinda da autorização conjugal advém do caput do art. 1.649 do Novel<br />
Ordenamento Civil, que assim dispõe: “a falta de autorização, não suprida pelo juiz,<br />
quando necessária (art.1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro<br />
cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade<br />
conjugal.”<br />
221 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Novo Código Civil). Artigo 1.642: qualquer que seja o regime de<br />
bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente: Inciso IV: demandar a rescisão dos contratos de<br />
fiança e doação, ou invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos<br />
Incisos III e IV do art. 1.647 [...].<br />
86
Segundo a inteligência do art. 1.648 do CC vigente, 222 o juiz poderá suprir a<br />
outorga quando o cônjuge a denegue sem justo motivo ou lhe seja impossível fazê-<br />
la. Caso o juiz não supra a autorização ou não a faça quando necessário,<br />
considerar-se-á o aval anulável, cabendo ao cônjuge, que não o avalista, fazer o<br />
pleito pertinente. Nesse caso, por força do art.1.646 do ordenamento cível em voga,<br />
o terceiro prejudicado com sentença favorável ao autor terá direito regressivo contra<br />
o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou seus herdeiros.<br />
A aprovação do cônjuge ao aval poderá ser feita por instrumento público ou<br />
particular, desde que autenticada a assinatura. Cumpre salientar que a referida<br />
autorização conjugal não se confunde com o próprio aval, porque aquele que<br />
autoriza não é avalista e, por conseguinte, não é garante do pagamento.<br />
Mesmo quando ainda não exigível a vênia conjugal para o aval, ou seja, antes<br />
do CC vigente, por observância à ainda vigente Lei nº 4.121, de 27 de agosto de<br />
1962, já se preservava o cônjuge não avalista, pois já dispunha o art. 3 º da referida<br />
lei que “pelos títulos de dívida de qualquer natureza, firmados por um só dos<br />
cônjuges, ainda que casados pelo regime de comunhão universal, somente<br />
responderão os bens particulares do signatário e os comuns até o limite de sua<br />
meação.”<br />
Diante da proteção legal ao cônjuge não avalista, convém esclarecer que<br />
aquele que pretender o resguardo da meação deverá comprovar que o aval de seu<br />
marido ou esposa não lhe logrou proveito, direta ou indiretamente. Caso o aval<br />
tenha beneficiado o casal, a defesa de meação torna-se infrutífera.<br />
No que tange ao avalista casado, conclui-se que o CC vigente trouxe, como<br />
novidade, a possibilidade de anulação do aval concedido por pessoa casada, o qual<br />
prescinda da aprovação do respectivo cônjuge. Todavia, nos aspectos práticos e do<br />
ponto de vista do direito empresarial, muitas são as implicações, sendo que a cártula<br />
avalizada por pessoa casada poderá estar acompanhada de uma “verdadeira<br />
papelada” e calcada em procedimentos burocráticos indesejáveis e prejudiciais ao<br />
Direito Cambial, sobretudo, à sua capacidade de livre circulação.<br />
Por fim, acrescenta-se que, tendo em vista as diversas questões envolvidas<br />
na discutida autorização conjugal, e buscando evitar problemas para circulação e<br />
222 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Novo CC). Art. 1.648: cabe ao juiz, nos casos do artigo<br />
antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja<br />
impossível concedê-la.<br />
87
exigência da nota promissória, entende-se que o melhor seria colher o aval do casal<br />
e não de um só cônjuge.<br />
88
5. CONCLUSÃO<br />
A discussão do aval, longe de se resumir a um mero debate retórico do<br />
instituto cambiário, encontra eco nas crescentes preocupações do Direito<br />
relacionadas às modificações promovidas pelo CC vigente, que influenciaram de<br />
forma imprecisa e errônea o Direito Mercantil. Nesta perspectiva, o objetivo geral<br />
deste trabalho consistiu em estudar e entender as adaptações das distorções do<br />
aval à nova legislação.<br />
Em relação ao aval, constatou-se, com base em toda a referência conceitual,<br />
que é um instituto cambiário, caracterizado pela autonomia, liquidez, certeza e<br />
exigibilidade que adere ao título de crédito para garantir a obrigação cambiária por<br />
ele constituída. Verificou-se que o aval pode ser dado nas duas faces do título,<br />
quais sejam verso e anverso, podendo ser lançado em qualquer lugar, por ilação a<br />
LUG, art. 31 al. 2ª, sem que haja prejuízo para sua natureza jurídica. É importante<br />
destacar que o aval inexiste fora do título; o instituto cambiário apenas existe a partir<br />
do saque do título de crédito, que é um título de valor.<br />
Sobre a natureza da obrigação do avalista, esta depende do grau de<br />
responsabilidade do avalizado, conforme a LUG art. 32, 1ª, e LC, art. 31, concluindo-<br />
se que o grau de responsabilidade do avalista é idêntico ao do avalizado, verdadeira<br />
simbiose e interdependência.<br />
A questão do avalista é bastante ampla, tornando-se importante destacar que<br />
ele se responsabiliza pelo pagamento e pela quitação do valor da obrigação<br />
cambiária, na sua integralidade, e não pela pessoa do avalizado, desfazendo-se<br />
qualquer balbúrdia de hermenêutica e exegese. O estudo revelou que o aval nasce<br />
da simples assinatura do avalista, portanto não há necessidade de combinação ou<br />
pluralidade de assinaturas do sacado ou do emitente (subscritor) ou do aceitante. A<br />
assinatura deve ser de próprio punho, sendo inadmissível suprir a assinatura a<br />
autenticação ou chancela mecânica, passível de anulação processual.<br />
Aspectos relacionados a aval e fiança também foram analisados. Observou-<br />
se que o aval difere da fiança, sendo a equiparação entre os institutos apenas<br />
acadêmica. As informações obtidas permitem afirmar que a fiança não pode ser<br />
classificada como instituto cambiário, pois não guarda afinidade técnica e prática<br />
com qualquer título de crédito, e é por sua vez restrita aos contratos e deles<br />
dependente, ostentando caráter bilateral ou sinalagmático.<br />
89
Os dados coletados permitiram também verificar que o aval pode ser<br />
invalidado se casado o avalista e não houver consentimento do cônjuge, salvo se o<br />
regime de casamento for o de separação absoluta de bens; portanto, o aval respeita<br />
a máxima da autonomia de vontades indissociável, a liberdade de negociar fatores<br />
que desencadeiam a fluidez dos negócios cambiais. No entanto, o aval e a fiança se<br />
assemelham como garantia pessoal e fidejussória, mas regidos por regras distintas.<br />
A pesquisa revela, como necessidade, trabalhar as questões em torno do aval<br />
dado por pessoa que integra união estável, tratando-se de pessoa não casada e por<br />
cônjuge separado judicialmente, ainda não divorciado, haja vista que em tais<br />
questões deve prevalecer a responsabilidade do avalista, caso contrário haverá um<br />
prejuízo inestimável para a credibilidade e aplicabilidade do instituto cambiário, que<br />
já se encontra consagrado pela tradição cambiária. Ressalta-se, portanto, que<br />
embora a matéria não seja objeto de previsão legal, existe lacuna ou omissão do<br />
legislador ordinário em enfrentar o desafio do tema no que tange à responsabilidade<br />
do aval dado por pessoa que integra união estável e por pessoa separada<br />
judicialmente não divorciada, não havendo também pacificação na jurisprudência.<br />
Destaca-se, ainda, que o aval feito através de mandato exige a outorga de<br />
poderes expressos, especiais e específicos por meio de procuração, instrumento do<br />
mandato, tendo nomenclatura de mandatário especial para designar o avalista, a<br />
exemplo do que se infere no art. 14 do Decreto nº 2044, de 1908.<br />
Um outro aspecto detectado através da pesquisa diz respeito à omissão dos<br />
arts. 1.295 do antigo CC de 1916, do art. 145 do Código Comercial de 1850, e art.<br />
661 do CC de 2002, por não disciplinarem expressamente a outorga de poderes<br />
para o aval, sendo frágil o Código Comercial de 1850 ao compreender a expressão<br />
garantes da letra de câmbio, a polissemia do sacador, dos endossadores, dos<br />
aceitantes e dos abonadores, fato que gerava balbúrdia jurisprudencial. Digna de<br />
lembrança histórica é a fiança comercial solidária, que na época equipara-se ao aval<br />
no sistema francês, porém se perdeu num ciclo histórico, pelo anacronismo e pela<br />
limitação.<br />
As informações obtidas permitem afirmar que o aval só pode ser dado no<br />
título, pode ser em preto ou em branco, pode ser realizado após o vencimento do<br />
título, não se interpretando como mera cessão, com a ressalva da omissão da LUG<br />
no que concerne a esta indagação.<br />
90
Sobre o aval parcial ou limitado, observou-se que era desconhecido pelo<br />
Decreto nº 2.044 de 1908, e que através do dispositivo do art. 44, inciso IV, passou a<br />
ser admitido pela LUG, na redação existente no art. 30, al. 1ª, e ao contrário do<br />
ordenamento jurídico interno, que veda e torna passivo de nulidade o instituto, tal a<br />
lição encartada no CC vigente pelo art. 166, VII, combinado com o art. 897,<br />
parágrafo único.<br />
Outro assunto cuja complexidade se sobressai nos debates repousa sobre as<br />
restrições quanto ao aval incondicional. É admissível o simples e plural; assim, avais<br />
simultâneos ou co-avais e avais sucessivos ou aval de aval, podendo ainda ser<br />
realizados avais superpostos em branco. Foi possível verificar, também, que o aval<br />
corresponde em regra a ato de liberalidade; no entanto, o contrato social de<br />
sociedades por quotas de responsabilidade limitada e o estatuto das sociedades<br />
anônimas vedam aos seus administradores a outorga de aval em nome da<br />
sociedade, fato que se torna passível de anulação processual, diante da segurança<br />
e equilíbrio dos negócios jurídicos. Outrora, a lei não pode desguarnecer os<br />
interesses e direitos dos terceiros de boa-fé, interpretando-os como alheios aos atos,<br />
fatos e negócios que antecederam o aval em nome da sociedade; portanto, não<br />
devem ser prejudicados no aspecto da patrimonialidade, razão pela qual a lei põe a<br />
salvo tal circunstância na qualidade de credores.<br />
Porém, uma ressalva: tornou-se prática habitual e rotineira em operações<br />
bancárias a dação de aval em títulos de crédito com lastro de garantia de contratos<br />
de outorga de crédito mobiliário e imobiliário, abrangendo leasing, alienação<br />
fiduciária em garantia, consórcio, desconto de títulos e hipotecas, todos<br />
contemplando a possibilidade de cobrança ou execução autônoma contra o avalista<br />
independentemente do contrato, não se tratando o aval de obrigação cambiária<br />
acessória, em regra só podendo ser desconhecido por vício de forma, ou seja, o<br />
título de crédito deixa de ser considerado como tal, na realidade, por não se revestir<br />
dos elementos essenciais.<br />
A partir das análises dos resultados, foi possível constatar que as obrigações<br />
de ordem falimentar são contraídas por força do aval, respondendo o avalista do<br />
falido pelas mesmas obrigações deste, sendo que apenas a resolução sobre os<br />
contratos bilaterais fica a cargo do síndico, ou do liquidante, na hipótese de se tratar<br />
de liquidação extrajudicial.<br />
91
Desta forma, ao se justapor as percepções dos autores pesquisados neste<br />
trabalho, conclui-se que o aval se estende, em última análise, como garantia de<br />
efetivação e realização do crédito. A par do título de crédito, ele se revela como<br />
tutela de crédito, e se constrói no crédito como elemento que credita valor ao título.<br />
Assim, as informações levantadas neste estudo sobre as adaptações das<br />
distorções do aval à nova legislação permitem concluir que o aval, em toda a<br />
dimensão das responsabilidades cambiais, é imprescindível para o equilíbrio das<br />
transações empresariais, não sendo visto como anacrônico, obsoleto ou<br />
ultrapassado.<br />
92
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
ALBERNAZ, Lister Freitas. Títulos de crédito eletrônicos. Disponível<br />
em:. Acesso em: 31 ago. de<br />
2006.<br />
ASCARELLI, Túlio. Teoria geral dos títulos de crédito. 2 ed. São Paulo: Saraiva,<br />
1969.<br />
________. Panorama do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1947.<br />
ASHTON, Peter Walter. Títulos de crédito e valores mobiliários: uma análise<br />
diferenciadora. Direito & Justiça. Revista da Faculdade de Direito da Pontifícia<br />
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Faculdade de Direito, v.29, n.1, ano<br />
XXVI, p.171-193. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.<br />
ASQUINI, Alberto. Titolo di credito. (Trad. Livre). Pádua: Giuffrè, 1966.<br />
BEVILÁQUIA, Clóvis. Código civil comentado. São Paulo: Editora Paulo de<br />
Azevedo, 1957.<br />
BONELLI, Gustavo. Commentario ao códice di commercio. Milão: Ed. Rio, 1938.<br />
BORGES, João Eunápio. Do aval. 3 ed., revista e aumentada. Rio de Janeiro:<br />
Forense, 1960.<br />
______. Do aval. 4 ed. Rio de Janeiro: 1975.<br />
______. Títulos de crédito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971/1976.<br />
BOTREL, Sérgio. A eficácia jurídica da pós-datação do cheque em relação ao<br />
endossatário - concorrência entre os princípios cambiários e o princípio da função<br />
dos contratos – repercussão na contagem do prazo prescricional. Revista da<br />
Faculdade Mineira de Direito, v.7, n.13, p.172-182. Belo Horizonte: 2004.<br />
BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil. Diário<br />
Oficial da União. Brasília, jan.2002.<br />
_______. Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968. Dispõe sobre as duplicatas, e dá<br />
outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, jul.1968.<br />
_______. Lei n. 57.663 de 24 de janeiro de 1966. Dispõe sobre a promulgação das<br />
conversões para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e<br />
notas promissórias. Diário Oficial da União. Brasília, jan.2006.<br />
_______. Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966. Promulga as conversões<br />
para adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas<br />
promissórias. Diário Oficial da União. Brasília, jan.1966.<br />
93
BULGARELLI, Waldirio. Títulos de crédito. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1993.<br />
________. Contratos mercantis. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1995.<br />
CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Exoneração da fiança. Disponível em:<br />
. Acesso em: 13 set. de 2006.<br />
CALDAS, James Corrêa. Fiança em benefício da ordem. Disponível em:<br />
. Acesso em: 13 set. de 2006.<br />
COBO. El aval en el derecho argentino. Argentina, (s/a).<br />
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, 4 ed., v.1. São Paulo: Saraiva.<br />
2000.<br />
______. Curso de direito comercial. 6 ed. Revisada e atualizada, de acordo com o<br />
novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01/2002). São Paulo: Saraiva, 2002.<br />
______. Curso de direito comercial, 8 ed., v.3. São Paulo: Saraiva. 2005.<br />
COSTA, Wille Duarte. Títulos de crédito: de acordo com o novo código civil. Belo<br />
Horizonte: Del Rey, 2003.<br />
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v.1, 14 ed., revisada. São<br />
Paulo: Saraiva, 1998.<br />
DIREITO BANCÁRIO ON-LINE. Alienação fiduciária. Disponível em: Acesso em: 27 set. de 2006.<br />
DÓRIA, Dylson. Curso de direito comercial. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 1998.<br />
ENCICLOPÉDIA® MICROSOFT®. Crédito. Disponível em: Encarta 2001. © 1993-<br />
2000 Microsoft Corporation. Acesso em: 31 ago. de 2006.<br />
______. Título de crédito. Disponível em: Encarta 2001.©1993-2000 Microsoft<br />
Corporation. Acesso em: 01 set. de 2006.<br />
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 3 ed. São Paulo: Atlas,<br />
2003.<br />
FERREIRA, Aurélio Buarque Holanda. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.<br />
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.<br />
FIUZA, Ricardo. Novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2002.<br />
FURTADO, Jorge Henrique C. P. Títulos de crédito. Porto-Portugal: Almeida, 2000.<br />
GALIZZI, Oliva Gustavo. O aval e a outorga conjugal instituída pelo código civil<br />
de 2002. Disponível em:. Acesso<br />
em: 24 ago. de 2006.<br />
94
JÚNIOR THEODORO, Humberto. A fiança e a prorrogação do contrato de<br />
locação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 66-83.<br />
LEITE, Flamarion Tavares Leite. Os nervos do poder: uma visão cibernética do<br />
direito. São Paulo: Max Limonad, 2001.<br />
LOPES, André Cortes Vieira. Inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé<br />
nos títulos cambiais. Disponível em:<br />
. Acesso em: 02 set. de 2006.<br />
LUCCA, Newton. Aspectos da teoria geral dos títulos de crédito. São Paulo:<br />
Pioneira, 1979.<br />
MACHADO, José Luiz Silva. Os títulos de crédito e seus caracteres singulares,<br />
v.1. Salvador: Forense, 1961.<br />
MARTINS, Fran. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Forense, 1997/2000.<br />
MEZZOMO, Marcelo Colombelli. Aval e a meação do cônjuge. Disponível em:<br />
http.://. Acesso em: 23 set. de 2006.<br />
MIRANDA, Maria Bernadete. Os títulos de crédito como documentos<br />
representativos de obrigações pecuniárias. Disponível em:<br />
http://www.direitobrasil.adv.br/artigos/artigo6.pdf>. Acesso em: 31 ago. de 2006 (a).<br />
________. O título de crédito eletrônico no novo código civil. Disponível em:<br />
. Acesso em: 02 set. de 2006.<br />
PEREIRA, Caio Mário Silva. Instituições de direito civil. 3 ed. Rio de Janeiro:<br />
1992.<br />
PEREIRA NETO, Miguel. Os documentos eletrônicos utilizados como meio de prova<br />
para a constituição de título executivo extrajudicial e judicial. In: PEREIRA NETO,<br />
Miguel. Internet: o direito na era virtual. Rio de Janeiro: Forense, 2000.<br />
95
PINTO, Paulo José Silva. Direito cambiário: garantia cambiária e direito<br />
comparado. Rio de Janeiro: Forense, 1948.<br />
REQUIÃO. Rubens. Curso de direito comercial. 23 ed., v.2. São Paulo: Saraiva,<br />
2003.<br />
RIBEIRO, Cláudio Barroso. Protesto de créditos públicos inscritos ou não em<br />
dívida ativa. Disponível em: .<br />
Acesso em: 27 set. 2006.<br />
RIOS, Vitor Eduardo. Títulos de crédito e contratos mercantis. 2 ed., v.22. São<br />
Paulo: Saraiva, 2005.<br />
ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. Títulos de crédito. 2 ed. Revista e atualizada, de<br />
acordo com o novo código civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.<br />
SANTOS, Theophilo Azevedo. Manual dos títulos de crédito. Rio de Janeiro:<br />
Companhia Editora Americana CEA, 1971.<br />
SANTOS, J. M. Carvalho. Código civil brasileiro interpretado: direito das<br />
obrigações. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1988.<br />
SOBRINHO CORRÉIA, Adelgício Barros. Dos efeitos da outorga uxória no aval e na<br />
fiança após o Código Civil de 2002. Disponível em:<br />
. Acesso em: 22 set. de 2006.<br />
SZKLARWOSKY, Leon Fredja. A informática e o mundo moderno. Disponível:<br />
. Acesso em: 22 set. de 2006.<br />
96