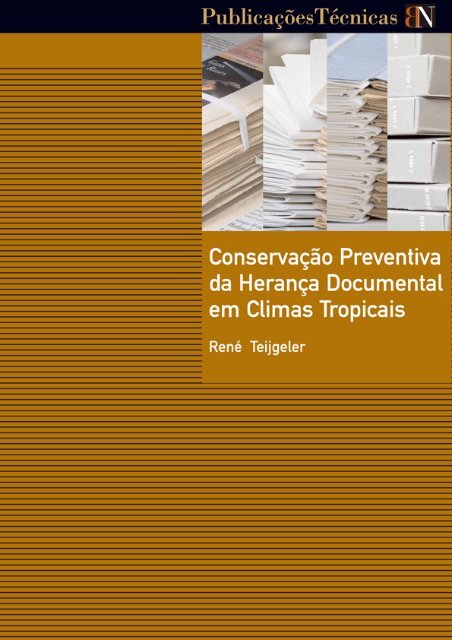Conservação Preventiva da Herança Documental em Climas Tropicais
René Teijgeler - Biblioteca Nacional de Portugal
René Teijgeler - Biblioteca Nacional de Portugal
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong><br />
<strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong><br />
<strong>em</strong><br />
<strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Publicações Técnicas sobre P&C; 4
MINISTÉRIO DA CULTURA<br />
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong><br />
<strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong><br />
<strong>em</strong><br />
<strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Uma bibliografia anota<strong>da</strong><br />
RENÉ TEIJGELER<br />
colaboração<br />
GERRIT DE BRUIN<br />
BIHANNE WASSINK<br />
BERT VAN ZANEN<br />
Lisboa – 2007
PUBLICAÇÕES TÉCNICAS SOBRE P&C<br />
Colecção dirigi<strong>da</strong> por Maria Luísa Cabral<br />
Coordenação Editorial<br />
MARIA LUÍSA CABRAL<br />
BNP<br />
Título Original<br />
Preservation of Archives in Tropical Climates<br />
Tradução <strong>da</strong> edição revista<br />
MARIA TERESA COSTA GUERRA<br />
Revisão Técnica<br />
MARIA LUÍSA CABRAL<br />
Revisão<br />
ROSÁRIO DIAS DIOGO<br />
Capa<br />
HENRIQUE CAYATTE DESIGN<br />
Fotografia Matilde B.<br />
Biblioteca Nacional – Catalogação na Publicação<br />
TEIJGELER, René<br />
<strong>Conservação</strong> preventiva <strong>da</strong> herança documental <strong>em</strong><br />
climas tropicais : uma bibliografia anota<strong>da</strong> / René<br />
Teijgeler ; colab. Gerrit de Bruin, Bihanne Wassink, Bert<br />
van Zanen ; coord. Maria Luísa Cabral ; trad. <strong>da</strong> ed. rev.<br />
Maria Teresa Costa Guerra. – Lisboa : BN, 2007. – 400 p.<br />
(Publicações técnicas sobre P&C ; 4)<br />
ISBN 978-972-565-389-0<br />
I -BRUIN, Gerrit de<br />
II -WASSINK, Bihanne<br />
III -ZANEN, Bert van<br />
IV -CABRAL, Maria Luísa, 1946-<br />
V - GUERRA, Maria Teresa Costa, 1958-<br />
CDU 025.85(035)<br />
022(035)<br />
930.251(035)<br />
069.2(035)
Índice<br />
Apresentação<br />
13<br />
Nota Prévia<br />
15<br />
Prefácio<br />
19<br />
Prefácio à nova edição revista e<br />
primeira tradução para português<br />
21<br />
I PARTE<br />
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DA HERANÇA DOCUMENTAL<br />
EM CLIMAS TROPICAIS<br />
1<br />
Conceitos básicos<br />
1.1 Introdução 27<br />
1.2 Probl<strong>em</strong>as nos trópicos 29<br />
1.3 Zonas de clima tropical 31<br />
1.4 Arquivos, bibliotecas e museus 32<br />
1.5 Estudos 33<br />
1.6 Relatórios nacionais e regionais 36<br />
1.7 Projectos e programas 36<br />
1.7.1 UNESCO 37<br />
1.7.1.1 RAMP 38<br />
1.7.1.2 Museum International 38<br />
1.7.1.3 M<strong>em</strong>ory of the World 39
1.7.2 CIA 39<br />
1.7.3 IFLA-PAC 40<br />
1.7.4 Pacific Manuscript Bureau 41<br />
1.7.5 NRLC 41<br />
1.7.6 APOYO 42<br />
1.7.7 CECOR 42<br />
1.7.8 GCI 43<br />
2<br />
Preservação e conservação<br />
2.1 Introdução 45<br />
2.2 Terminologia 46<br />
2.2.1 Pirâmide <strong>da</strong> Preservação 46<br />
2.2.2 <strong>Conservação</strong> preventiva 47<br />
2.3 Preservação <strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento 49<br />
2.3.1 Artefactos dos trópicos 51<br />
2.3.2 Probl<strong>em</strong>as climáticos 52<br />
2.3.3 Laminação 53<br />
2.3.4 Bibliografia 54<br />
2.4 Tecnologia apropria<strong>da</strong> 57<br />
2.5 Preservação tradicional 60<br />
3<br />
Livros e materiais de escrita<br />
3.1 Livros 65<br />
3.1.1 Manuscritos 65<br />
3.1.2 Livros impressos 67<br />
3.1.3 Encadernações 69<br />
3.2 Materiais de escrita 71<br />
3.2.1 Folha de palmeira 72<br />
3.2.2 Casca de árvore 73<br />
3.2.3 Papel 74<br />
4<br />
Edifícios<br />
4.1 Introdução 79<br />
4.2 Clima e edifícios 82<br />
4.3 Edifícios novos 83<br />
4.4 Edifícios sustentáveis 86<br />
4.4.1 Controlo passivo do ambiente 91<br />
4.5 Construção tradicional 93
4.6 Localização de um edifício 96<br />
4.7 Construção subterrânea 98<br />
4.8 A<strong>da</strong>ptação de edifícios existentes 100<br />
4.9 Construção 101<br />
4.9.1 Paredes 103<br />
4.9.2 Janelas 105<br />
4.9.3 Telhados 107<br />
4.10 Relatórios nacionais e regionais 108<br />
5<br />
Armazenamento<br />
5.1 Introdução 111<br />
5.2 Controlo <strong>da</strong>s condições ambiente 112<br />
5.2.1 Ar-condicionado 116<br />
5.2.2 Simples medi<strong>da</strong>s mecânicas 118<br />
5.2.3 Poluição atmosférica 118<br />
5.3 Luz solar 121<br />
5.4 Poeiras 122<br />
5.5 Estantes 124<br />
5.6 Manuseamento 126<br />
5.7 Acondicionamento 127<br />
5.7.1 Caixas 127<br />
5.7.2 Invólucros 129<br />
5.8 Boa gestão e manutenção 130<br />
6<br />
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
6.1 Introdução 133<br />
6.2 Planeamento para prevenção e controlo de desastres 136<br />
6.2.1 Prevenção 138<br />
6.2.1.1 Edifícios 139<br />
6.2.1.2 Prevenção de desastres causados por fogo 141<br />
6.2.1.2.1 Métodos de combate aos incêndios 145<br />
6.2.1.3 Prevenção de desastres causados por água 147<br />
6.2.2 Capaci<strong>da</strong>de de resposta 149<br />
6.2.3 Resposta 150<br />
6.2.4 Recuperação 151<br />
6.2.4.1 Recuperação de desastres causados por água 153<br />
6.2.4.2 Recuperação de desastres causados por fogo 154<br />
6.3 Desastres naturais 155<br />
6.3.1 Introdução 155<br />
6.3.2 Ciclones tropicais 158<br />
6.3.3 Incêndios florestais 160<br />
6.3.4 Terramotos 162
6.3.5 Vulcões 165<br />
6.3.6 Inun<strong>da</strong>ções 166<br />
6.3.6.1 Tsunami 170<br />
6.3.7 Deslizamentos de terra 170<br />
6.4 Desastres provocados pelo Hom<strong>em</strong> 171<br />
6.4.1 Introdução 171<br />
6.4.2 Guerra 172<br />
6.4.3 Roubo 175<br />
6.4.4 Negligência e van<strong>da</strong>lismo 178<br />
6.5 Cooperação internacional 179<br />
6.5.1 WMO 179<br />
6.5.2 O Protocolo de Haia 180<br />
6.5.3 CARDIN 180<br />
6.5.4 ICBS 181<br />
6.5.5 IDNDR e ISDR 182<br />
6.5.6 ECHO 182<br />
7<br />
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas (GIP)<br />
7.1 Introdução 185<br />
7.1.1 As medi<strong>da</strong>s tradicionais 187<br />
7.1.2 As novas técnicas 188<br />
7.2 Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas (GIP) 189<br />
7.2.1 Prevenção e controlo 190<br />
7.2.2 A GIP e os edifícios 191<br />
7.2.2.1 No interior do edifício 191<br />
7.2.2.2 No exterior do edifício 193<br />
7.2.3 A GIP – Linhas Gerais 193<br />
7.2.4 Bibliografia 196<br />
7.3 Pragas 197<br />
7.3.1 Bolores 198<br />
7.3.2 Insectos 199<br />
7.3.2.1 Várias espécies de Peixinhos-de-prata 200<br />
7.3.2.2 Baratas 200<br />
7.3.2.3 Térmitas 201<br />
7.3.3 Roedores 202<br />
7.3.3.1 Ratazanas 202<br />
7.3.3.2 Ratos 203<br />
7.3.4 Outras pragas de pequeno porte 204<br />
7.3.4.1 Pássaros 204<br />
7.3.4.2 Morcegos 205<br />
7.3.4.3 Cobras 205<br />
7.3.5 Bibliografia 206<br />
7.4 Tratamentos 207<br />
7.4.1 Fumigantes 208
7.4.1.1 Óxido de etileno 208<br />
7.4.1.2 Brometo de metilo 209<br />
7.4.1.3 Fluoreto de sulfurilo 209<br />
7.4.2 Tratamentos não-químicos 211<br />
7.4.2.1 Congelamento, secag<strong>em</strong> por congelação e outros tratamentos a frio 211<br />
7.4.2.2 Aquecimento 212<br />
7.4.2.2.1 O Sist<strong>em</strong>a Thermo-Lignum 212<br />
7.4.2.3 Atmosferas modifica<strong>da</strong>s com baixo teor de oxigénio ou gases inertes 213<br />
7.4.2.4 Radiação gama 214<br />
7.4.2.5 Microon<strong>da</strong>s 214<br />
7.4.3 Métodos tradicionais 215<br />
7.4.3.1 Amargoseira e «Árvore do chá» 216<br />
7.4.4 Bibliografia 218<br />
II PARTE<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Capítulo 1 – Conceitos básicos 221<br />
Capítulo 2 – Preservação e conservação 227<br />
Capítulo 3 – Livros e materiais de escrita 257<br />
Capítulo 4 – Edifícios 287<br />
Capítulo 5 – Armazenamento 307<br />
Capítulo 6 – Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre 319<br />
Capítulo 7 – GIP 343<br />
APÊNDICES<br />
1. Glossário de abreviaturas 367<br />
2. Morados de contactos e Instituições 371<br />
3. Instituições portuguesas no âmbito <strong>da</strong> preservação e conservação 399
Apresentação<br />
Quando sugeri ao René Teijgeler a tradução deste livro para língua portuguesa<br />
não imaginei a árdua tarefa que voluntariamente assumia. De facto, já tinha<br />
folheado suficient<strong>em</strong>ente o livro para perceber o manancial de informação<br />
que ele representava, para me entusiasmar e, sobretudo, para confirmar que o<br />
livro abor<strong>da</strong>va as questões relativas à conservação preventiva sob um ângulo<br />
diferente do habitual. Isto é, o livro revelava uma preocupação genuína com a<br />
situação específica dos países <strong>em</strong> zonas tropicais e s<strong>em</strong> preconceitos equacionava<br />
o probl<strong>em</strong>a, optava por citar as experiências desses países e as bibliografias<br />
adequa<strong>da</strong>s. Outras pessoas terão a mesma sensibili<strong>da</strong>de ao probl<strong>em</strong>a<br />
mas eu tive a sorte de conhecer o René Teijgeler. Mesmo para Portugal,<br />
quantas vezes é que nos pod<strong>em</strong>os guiar pelos ex<strong>em</strong>plos e pela bibliografia<br />
específica aos países <strong>em</strong> zonas tropicais? Muitas, ca<strong>da</strong> vez mais, diria. É difícil<br />
negar esta evidência e, porventura, será errado dirigir <strong>em</strong> exclusivo a nossa<br />
atenção para bibliografia ou trabalhos realizados, experiências ou contactos<br />
acontecidos a norte do Trópico de Câncer. Em sessenta anos de ciência <strong>da</strong><br />
conservação muita coisa mudou; a compl<strong>em</strong>entari<strong>da</strong>de que registamos com<br />
este livro é seguramente uma mu<strong>da</strong>nça maior.<br />
Por outro lado, ter a possibili<strong>da</strong>de de dispor dum manual deste tipo para to<strong>da</strong><br />
a comuni<strong>da</strong>de de língua portuguesa, constituía um desafio enorme, profissionalmente<br />
muito compensador. Um sonho, na ver<strong>da</strong>de, conseguir cumprir<br />
objectivos profissionais mol<strong>da</strong>dos por preocupações de natureza diversa.<br />
Também devo sublinhar que a tradução deste livro é duplamente oportuna.<br />
Do ponto de vista <strong>da</strong> orientação científica porque nunca é d<strong>em</strong>ais explicar e<br />
divulgar que as instituições, e os seus profissionais, dev<strong>em</strong> optar pela conser-<br />
13
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
vação preventiva. Não há mais t<strong>em</strong>po, dinheiro ou perícia humana suficientes<br />
para os cui<strong>da</strong>dos que a vasta massa documental exige. Esta ideia t<strong>em</strong> de solidificar<br />
desde a primeira decisão ou, como diz o autor, não fosse um bom<br />
edifício a primeira linha de defesa. Do ponto de vista prático, trata-se de mais<br />
um trabalho que se insere, na perfeição, na linha editorial <strong>da</strong> Biblioteca Nacional<br />
de Portugal para esta t<strong>em</strong>ática no exercício <strong>da</strong> sua missão normalizadora.<br />
O percurso <strong>da</strong> tradução atravessou várias peripécias s<strong>em</strong>pre esclareci<strong>da</strong>s e<br />
dirimi<strong>da</strong>s com René Teijgeler. A referência justifica-se apenas porque as peripécias<br />
atrasaram a conclusão do trabalho. A estrutura <strong>da</strong> tradução segue<br />
rigorosamente a nova edição revista, com duas excepções: na apresentação<br />
<strong>da</strong> bibliografia que desenhamos um pouco mais nos moldes adoptados na<br />
Biblioteca Nacional de Portugal e na introdução de um apêndice relativo a<br />
instituições portuguesas. Na ausência de terminologia <strong>em</strong> português, optámos<br />
ou por manter o vocábulo <strong>em</strong> inglês ou, no caso de nomes de espécies<br />
animais ou vegetais, por adicionar a designação <strong>em</strong> latim evitando interpretações<br />
incorrectas. Vale a pena também referir que o autor reformulou a<br />
ortografia do seu próprio nome enquanto a tradução prosseguia, alteração,<br />
contudo, não introduzi<strong>da</strong> nos trabalhos do autor referidos na bibliografia.<br />
A tradução foi dedica<strong>da</strong>mente feita pela Dr.ª Maria Teresa Costa Guerra (BNP)<br />
a qu<strong>em</strong> eu muito agradeço. Também exprimo o meu apreço à Dr.ª Cristina<br />
Proença (BNP) que se encarregou do Capítulo 7. Ain<strong>da</strong> o meu obriga<strong>da</strong> às<br />
técnicas <strong>da</strong> BNP, Eng.ª Otília Santos, Dr.ª Teresa Lança, Dr.ª Katia Bettencourt e<br />
à Dr.ª Lília Esteves (IPCR) pela constante disponibili<strong>da</strong>de <strong>em</strong> esclarecer aspectos<br />
técnicos. A revisão editorial <strong>da</strong> Dr.ª Rosário Dias Diogo (BNP), os cui<strong>da</strong>dos<br />
gráficos de Carlos Abreu (BNP), a execução gráfica de Cristina Ferreira e<br />
Humberto Caldeira e a responsabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> edição electrónica <strong>da</strong> Dr.ª Catarina<br />
Crespo (BNP), fecharam o círculo e eu estou-lhes grata. Ao René Teijgeler, um<br />
grande obriga<strong>da</strong> pela confiança deposita<strong>da</strong> e paciência d<strong>em</strong>onstra<strong>da</strong>. O livro,<br />
finalmente, está aí para os profissionais de conservação <strong>da</strong>s bibliotecas, dos<br />
arquivos ou dos museus no âmbito <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong>de de língua portuguesa.<br />
Espero que o utiliz<strong>em</strong> plenamente.<br />
Lisboa, 15 de Dez<strong>em</strong>bro de 2006<br />
MARIA LUÍSA CABRAL<br />
Directora de Serviços<br />
de Aquisições, Processamento e <strong>Conservação</strong><br />
BNP<br />
14
Nota Prévia<br />
Os técnicos familiarizados com a preservação de arquivos sab<strong>em</strong> que a<br />
preservação <strong>em</strong> climas tropicais é mais complexa do que <strong>em</strong> qualquer outro<br />
local. Pode até afirmar-se que a arquivística tropical, ou a gestão de arquivos<br />
<strong>em</strong> zonas tropicais, depende mais do clima do que <strong>da</strong>s questões profissionais.<br />
O «ser ou não ser» dos arquivos nessas zonas é ditado mais pelo clima do que<br />
por qualquer tipo de iniciativas técnicas; qualquer que seja o investimento,<br />
dev<strong>em</strong>os s<strong>em</strong>pre ter <strong>em</strong> conta que esses climas imped<strong>em</strong> completamente a<br />
preservação dos polímeros naturais.<br />
O Conselho Internacional de Arquivos, uma associação <strong>da</strong> qual faz<strong>em</strong> parte<br />
mais de 1600 instituições arquivísticas de 180 países, t<strong>em</strong> vindo a desenvolver<br />
acções decisivas na definição <strong>da</strong>s normas e <strong>da</strong>s práticas mais adequa<strong>da</strong>s a uma<br />
boa gestão de arquivos <strong>em</strong> todo o mundo, há mais de 50 anos. Contudo, t<strong>em</strong><br />
concedido maior atenção à administração geral e preservação de arquivos <strong>em</strong><br />
climas t<strong>em</strong>perados. Espero que esta bibliografia venha trazer um impulso à<br />
preservação de arquivos <strong>em</strong> climas tropicais.<br />
A iniciativa do Arsip Nasional Republik Indonesia, <strong>em</strong> colaboração com os<br />
Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong> e o Conselho Internacional dos Arquivos,<br />
na elaboração desta bibliografia para a Preservation of Archives in Tropical Climates,<br />
constitui um passo decisivo para o desenvolvimento <strong>da</strong> arquivística tropical,<br />
como um assunto autónomo, t<strong>em</strong>a que aliás será discutido num dos próximos<br />
Congressos Internacionais de Arquivos do ICA.<br />
Os arquivos de to<strong>da</strong>s as nações do mundo constitu<strong>em</strong> a herança arquivística <strong>da</strong><br />
humani<strong>da</strong>de e permit<strong>em</strong>-nos estabelecer uma ponte entre as gerações do<br />
15
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
passado e do futuro. Uma colaboração produtiva no campo <strong>da</strong> preservação será<br />
a melhor garantia <strong>da</strong> sobrevivência desse património arquivístico para as<br />
gerações futuras.<br />
DR.JOAN VAN ALBADA<br />
Secretário-geral<br />
Conselho Internacional de Arquivos<br />
Fiquei muito satisfeito com a iniciativa conjunta do Conselho Internacional de<br />
Arquivos, dos Arquivos Nacionais <strong>da</strong> República <strong>da</strong> Indonésia e dos Arquivos<br />
Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong>, relativamente à publicação desta bibliografia sobre<br />
Preservation of Archives in Tropical Climates.<br />
Os Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong> possu<strong>em</strong> uma grande colecção<br />
internacional, com informação proveniente de mais de cinquenta países <strong>em</strong><br />
todo o mundo. Muitos desses arquivos internacionais encontram-se <strong>em</strong> países<br />
com clima tropical: preservá-los requer competências técnicas especiais e<br />
muitos conhecimentos.<br />
Assim, espero que esta bibliografia venha contribuir para a compreensão dos<br />
probl<strong>em</strong>as específicos com que nos deparamos quando pretend<strong>em</strong>os preservar<br />
objectos <strong>em</strong> climas tropicais. Esperamos que este livro se torne um guia<br />
importante para a preservação desses arquivos.<br />
DR.MAARTEN VAN BOVEN<br />
Arquivista Nacional<br />
Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong><br />
A preservação de arquivos que faz<strong>em</strong> parte <strong>da</strong> herança intelectual <strong>da</strong><br />
humani<strong>da</strong>de é uma tarefa fantástica mas complexa, especialmente quando se<br />
situam <strong>em</strong> climas tropicais, como a Indonésia.<br />
Por isso, apraz-me apresentar esta bibliografia sobre a Preservation of Archives in<br />
Tropical Climates, que resulta <strong>da</strong> <strong>em</strong>penha<strong>da</strong> colaboração entre os Arquivos<br />
Nacionais <strong>da</strong> República <strong>da</strong> Indonésia, os Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong> e o<br />
Conselho Internacional de Arquivos.<br />
16
Nota prévia<br />
Para conservar a nossa herança arquivística colectiva necessitamos muito dessa<br />
colaboração. Esta bibliografia reveste-se de especial importância, por reunir<br />
grande parte de to<strong>da</strong> a informação disponível sobre preservação de arquivos<br />
<strong>em</strong> climas tropicais. Espero que a informação assim disponibiliza<strong>da</strong> ajude a<br />
preservar os objectos como «recor<strong>da</strong>ções <strong>da</strong> nossa história».<br />
DR.MUKHLIS PAENI<br />
Director-geral<br />
Arquivos Nacionais <strong>da</strong> República <strong>da</strong> Indonésia
Prefácio<br />
Para corresponder ao interesse crescente sobre preservação, a literatura sobre este<br />
assunto desenvolveu-se de tal modo, que existe agora grande número de livros,<br />
jornais, boletins, bases de <strong>da</strong>dos e páginas <strong>da</strong> Internet dedicado ao assunto.<br />
Até agora, quase to<strong>da</strong>s essas fontes de informação se referiam apenas a probl<strong>em</strong>as<br />
de preservação nos países ricos e industrializados. A presente bibliografia, uma<br />
iniciativa meritória do Conselho Internacional de Arquivos, dos Arquivos<br />
Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong> e dos Arquivos Nacionais <strong>da</strong> República <strong>da</strong> Indonésia,<br />
vai certamente alterar esta tendência etnocêntrica no campo <strong>da</strong> preservação<br />
e <strong>da</strong> conservação, sobretudo quando os autores dessa iniciativa planearam,<br />
<strong>em</strong> conjunto com esta bibliografia, uma conferência internacional sobre<br />
Preservation of Archives in Tropical Climates, <strong>em</strong> Jacarta, de 5 a 8 de Nov<strong>em</strong>bro de 2001.<br />
Esta bibliografia foi concebi<strong>da</strong> para todos aqueles que se interessam pelos<br />
probl<strong>em</strong>as com que se deparam os países <strong>em</strong> desenvolvimento, quando pretend<strong>em</strong><br />
salvaguar<strong>da</strong>r os seus arquivos. O seu propósito é tornar acessíveis as<br />
numerosas fontes de informação, incluindo a Internet. Como os probl<strong>em</strong>as<br />
relacionados com arquivos, bibliotecas e museus apresentam muitas s<strong>em</strong>elhanças,<br />
esta bibliografia inclui muitos títulos dos nossos primos na área <strong>da</strong><br />
preservação. Os assuntos tratados nos capítulos seguintes reflect<strong>em</strong> alguns dos<br />
mais importantes e significativos probl<strong>em</strong>as <strong>da</strong> preservação tropical. A I Parte<br />
consiste principalmente <strong>em</strong> anotações e citações de autores que integram a<br />
nossa lista. Estes últimos foram organizados de tal maneira que falam por si<br />
próprios. Contudo, por vezes, incluíram-se esclarecimentos e aditamentos<br />
desses autores. Outros títulos foram ordenados de acordo com os seus t<strong>em</strong>as<br />
específicos. Recorrendo ao método indutivo, este estudo oferece mais do que<br />
uma bibliografia clássica anota<strong>da</strong>. Na II Parte, a informação bibliográfica foi<br />
19
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
ordena<strong>da</strong> alfabeticamente e organiza<strong>da</strong> por capítulos. Os apêndices inclu<strong>em</strong><br />
um glossário com as muitas abreviaturas usa<strong>da</strong>s no texto, b<strong>em</strong> como uma<br />
desenvolvi<strong>da</strong> lista de endereços de to<strong>da</strong>s as instituições menciona<strong>da</strong>s, incluindo<br />
os seus endereços URL. É importante ter <strong>em</strong> mente que os endereços<br />
electrónicos e URL estão constant<strong>em</strong>ente a mu<strong>da</strong>r.<br />
Como qualquer levantamento bibliográfico, este trabalho foi elaborado<br />
apenas com a intenção de fazer o ponto <strong>da</strong> situação. Nunca houve a intenção<br />
n<strong>em</strong> a pretensão de apresentar uma bibliografia exaustiva. Por razões diversas,<br />
é s<strong>em</strong>pre necessário fazer opções. Em primeiro lugar, esta bibliografia apenas<br />
contém informação existente <strong>em</strong> suporte papel.<br />
Como parte dos probl<strong>em</strong>as de preservação <strong>em</strong> regiões de clima tropical são<br />
s<strong>em</strong>elhantes aos <strong>da</strong>s regiões de clima t<strong>em</strong>perado, incluímos na nossa lista alguns<br />
manuais e obras de referência sobre preservação <strong>em</strong> geral. No entanto, muitos<br />
t<strong>em</strong>as foram omitidos, como bibliografia sobre formação <strong>em</strong> preservação e a<br />
gestão <strong>da</strong> preservação <strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento. A literatura sobre<br />
preservação produzi<strong>da</strong> nas três últimas déca<strong>da</strong>s foi incluí<strong>da</strong> nesta lista, mas os<br />
títulos mais antigos só foram referidos quando considerados significativos.<br />
Finalmente, o trabalho foi realizado <strong>em</strong> apenas sete meses, porque os<br />
editores desejavam ver a bibliografia concluí<strong>da</strong> antes <strong>da</strong> conferência <strong>em</strong> Jacarta,<br />
<strong>em</strong> Nov<strong>em</strong>bro de 2001.<br />
A presente bibliografia não permanecerá tal como se encontra actualmente.<br />
Num futuro próximo, a European Comission on Preservation and Access – ECPA<br />
(Comissão Europeia para a Preservação e Acesso – CEPA), <strong>em</strong> colaboração com<br />
os Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong>, vai publicá-la <strong>em</strong> conjunto com outros<br />
levantamentos, de modo a disponibilizá-la posteriormente na página <strong>da</strong><br />
Internet <strong>da</strong>quela instituição. A CEPA t<strong>em</strong> a intenção de manter esta página<br />
s<strong>em</strong>pre actualiza<strong>da</strong>.<br />
Nenhuma obra desta natureza está livre de erros, <strong>em</strong>bora se tenha feito<br />
grande esforço para os reduzir ao mínimo. No entanto, o leitor deverá ter<br />
presente que os erros estão s<strong>em</strong>pre na orig<strong>em</strong> do sucesso.<br />
Este trabalho não poderia ter sido levado a cabo s<strong>em</strong> a colaboração de muitas<br />
instituições e colegas, <strong>em</strong> muitos lugares do mundo, que de maneira altruísta<br />
nos apoiaram na procura s<strong>em</strong> fim de bibliografia relevante e que<br />
voluntariamente puseram à nossa disposição as suas próprias listas.<br />
O obrigado especial é devido a G. O.Alegbeleye,A. Cox Hollós, L. I. Mwangi,<br />
John McIllwaine e C. Pearson.<br />
Outubro, 2001<br />
RENÉ TEIJGELER<br />
20
Prefácio à nova edição revista e<br />
primeira tradução para português<br />
É com enorme gosto que rel<strong>em</strong>bro a época <strong>em</strong> que estava a trabalhar na<br />
primeira edição deste livro. Durante a minha investigação sobre bibliografia de<br />
preservação <strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, fiquei ca<strong>da</strong> vez mais<br />
convencido que se presta muito mais atenção às questões <strong>da</strong> preservação <strong>em</strong><br />
climas t<strong>em</strong>perados do que às questões de preservação próprias dos países<br />
tropicais. O objectivo <strong>da</strong> bibliografia era, portanto, reunir e anotar uma grande<br />
quanti<strong>da</strong>de de bibliografia nesses t<strong>em</strong>as típicos <strong>da</strong> preservação. A bibliografia<br />
também deveria ser considera<strong>da</strong> como um guia <strong>em</strong> preservação que, de forma<br />
sucinta, ilustraria esses probl<strong>em</strong>as que são tão distintos dos nossos próprios.<br />
Ao mesmo t<strong>em</strong>po, a publicação representava uma declaração política. O objectivo<br />
era criticar indirectamente a aju<strong>da</strong> internacional <strong>em</strong> preservação tão<br />
centra<strong>da</strong> sobre o Ocidente e revelar as melhores práticas quer do Oriente como<br />
do Ocidente. Deixarei aos leitores o juízo sobre o sucesso, ou não, <strong>da</strong>s minhas<br />
intenções.<br />
A primeira edição foi publica<strong>da</strong> pelo Conselho Internacional de Arquivos, pelos<br />
Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Indonésia e pelos Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong> por<br />
ocasião <strong>da</strong> conferência internacional The Preservation of Archives in Tropical Climates<br />
que teve lugar <strong>em</strong> Jacarta, 5-8 de Nov<strong>em</strong>bro de 2001. Pouco t<strong>em</strong>po depois,<br />
uma edição com uma ligeira revisão foi publica<strong>da</strong> <strong>em</strong> Comma, International Journal<br />
on Archives, 2001, 3-4. Por causa <strong>da</strong> falta de t<strong>em</strong>po, a primeira edição apresentava<br />
algumas falhas que foram corrigi<strong>da</strong>s na publicação Comma.A partir desta edição<br />
revista, foi publica<strong>da</strong> uma edição totalmente disponível na Internet, <strong>em</strong> 2003,<br />
na página <strong>da</strong> European Commission on Preservation and Access, GRIP –<br />
21
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Gateway for Resources and Information on Preservation [http//www.knaw.nl<br />
/ecpa/grip/publications.html]. Nesse mesmo ano aquiesci com o pedido de<br />
Walter Henry, a alma dinamizadora por trás do Conservation Online (CoOL),<br />
para disponibilizar a bibliografia na sua página na Internet [http://palimpsest.<br />
stanford.edu/byauth/teygeler/tropical.pdf].<br />
No Verão de 2003 fui agra<strong>da</strong>velmente surpreendido, o mínimo que posso<br />
dizer, quando Maria Luísa Cabral sugeriu a tradução <strong>da</strong> bibliografia para<br />
português. Senti-me honrado por ela se encarregar de tal compromisso<br />
paralelamente com as suas funções tão absorventes de Directora de Serviços de<br />
Aquisições, Processamento e <strong>Conservação</strong> na Biblioteca Nacional de Portugal.<br />
É graças à sua persistência, paciência e entusiasmo que esta edição <strong>em</strong><br />
português vê a luz do dia, três anos depois de ter sido sugeri<strong>da</strong>.<br />
A base desta tradução é a edição com uma ligeira revisão publica<strong>da</strong> <strong>em</strong> Comma.<br />
Mais uma vez, para esta tradução algumas pequenas alterações foram feitas à<br />
primeira parte. Os números dos capítulos foram mu<strong>da</strong>dos, as referências<br />
verifica<strong>da</strong>s de novo e a<strong>da</strong>pta<strong>da</strong>s quando necessário, <strong>em</strong> alguns casos adicionouse<br />
texto e, de um modo geral, o texto foi tornado mais perceptível. Na parte<br />
dois, a Bibliografia, houve muitos ajustamentos. As referências foram<br />
verifica<strong>da</strong>s e a<strong>da</strong>pta<strong>da</strong>s quando eram pouco claras, ou então foram altera<strong>da</strong>s<br />
por razões bibliográficas. O primeiro Apêndice, o Glossário de Abreviaturas, foi<br />
aumentado para ir ao encontro ao leitor. No segundo Apêndice, Mora<strong>da</strong>s de<br />
Contactos e Instituições, to<strong>da</strong>s as mora<strong>da</strong>s foram verifica<strong>da</strong>s e, depois de cinco<br />
anos, muitas tiveram de ser actualiza<strong>da</strong>s. Depois de discutirmos o assunto,<br />
Maria Luísa Cabral e eu próprio decidimos mu<strong>da</strong>r o título para <strong>Conservação</strong><br />
<strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong>. Como o texto se refere sobretudo<br />
a arquivos e bibliotecas, achámos que a designação «herança documental»<br />
corresponderia melhor ao conteúdo. Depois de alguma discussão, preferimos<br />
o termo «conservação preventiva» a «preservação», já que aquele reflectiria<br />
melhor os assuntos abor<strong>da</strong>dos no livro.<br />
A primeira edição foi possível graças ao apoio generoso dos Arquivos<br />
Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong> e também à colaboração de alguns dos seus técnicos.<br />
Agradeço a Gerrit de Bruin, Director do Centro para a Cooperação<br />
Internacional, pela sua contribuição geral no Capítulo 7 e a Bert van Zanen pela<br />
sua contribuição para a bibliografia sobre Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas, mas<br />
estou sobretudo grato a Bihanne Wassink pela sua importante contribuição<br />
22
Prefácio à nova edição revista e primeira tradução para português<br />
para o Capítulo 6 sobre Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre. Quanto a esta<br />
edição <strong>em</strong> português, estou particularmente grato à Biblioteca Nacional de<br />
Portugal que apoiou este projecto e ain<strong>da</strong> mais a Maria Luísa Cabral e a Maria<br />
Teresa Costa Guerra, que assumiu a enorme tarefa de traduzir a bibliografia<br />
para português.<br />
Espero sinceramente que esta tradução <strong>em</strong> português contribua para a<br />
preservação, e acesso, dos valiosos test<strong>em</strong>unhos culturais dos Países de Língua<br />
Oficial Portuguesa na América Latina, na Europa, na África e na Ásia.<br />
Utreque, Dez<strong>em</strong>bro de 2006<br />
DR.RENÉ TEIJGELER<br />
Rene.teygeler@planet.nl
I PARTE<br />
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DA HERANÇA DOCUMENTAL<br />
EM CLIMAS TROPICAIS
1<br />
Conceitos básicos<br />
1.1 Introdução<br />
A nossa herança é tudo aquilo o que conhec<strong>em</strong>os sobre nós próprios; aquilo<br />
que conservamos constitui o nosso único registo. Esse registo é o farol que<br />
ilumina as trevas do t<strong>em</strong>po, a luz que guia os nossos passos. A conservação é a<br />
forma através <strong>da</strong> qual a preservamos. É um compromisso, não só com o<br />
passado, mas também com o futuro (WARD 1989). Garantir a sobrevivência dos<br />
nossos registos não é tarefa fácil. Bibliotecas e arquivos de todo o mundo<br />
debat<strong>em</strong>-se com sérios probl<strong>em</strong>as de preservação. Em qualquer continente que<br />
analis<strong>em</strong>os existe património cultural muito variado e com muitas formas,<br />
ca<strong>da</strong> um deles exige métodos de preservação diferentes. Por essa razão, seria<br />
muito difícil formular uma política uniforme de preservação. Contudo, não<br />
nos pod<strong>em</strong>os arriscar a ser apanhados desprevenidos.<br />
A conservação não possui uma longa história enquanto profissão. Só há<br />
cerca de 30 anos é que o mundo <strong>da</strong> conservação do papel e do livro ganhou<br />
visibili<strong>da</strong>de. Hoje, a conservação é uma profissão com créditos firmados.<br />
Contudo, foram sobretudo os países desenvolvidos que se concentraram nela,<br />
porque os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento tinham outras urgências para<br />
resolver. Só agora é que os conservadores ocidentais começaram a compreender<br />
que os seus colegas, no outro lado do mundo, enfrentam probl<strong>em</strong>as<br />
diferentes, muitas vezes mais complexos do que os seus.<br />
Ao mesmo t<strong>em</strong>po, as instituições ocidentais, que necessitam de soluções<br />
para probl<strong>em</strong>as de conservação <strong>em</strong> massa, são qu<strong>em</strong> mais beneficia com os<br />
avanços <strong>da</strong> ciência <strong>da</strong> conservação. Esper<strong>em</strong>os que tudo isto se modifique no<br />
27
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
futuro. Os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento sofr<strong>em</strong>, muitas vezes, ameaças<br />
específicas à sua herança cultural. As t<strong>em</strong>peraturas extr<strong>em</strong>as e a humi<strong>da</strong>de<br />
relativa causam frequent<strong>em</strong>ente infestações <strong>em</strong> larga escala de insectos e<br />
bolores específicos do país. Além disso, as tradições escritas não-ocidentais,<br />
incluindo os materiais de escrita, são também inúmeras vezes diferentes <strong>da</strong>s<br />
ocidentais. Embora os governos nacionais e as instituições multilaterais conce<strong>da</strong>m<br />
apoio e aju<strong>da</strong>, faz<strong>em</strong>-no sobretudo de acordo com estratégias ocidentais<br />
de preservação. Present<strong>em</strong>ente estão a ser elaborados programas nacionais de<br />
preservação, b<strong>em</strong> como projectos específicos de investigação. Seria bom que se<br />
não impusess<strong>em</strong> as soluções para os probl<strong>em</strong>as ocidentais de conservação aos<br />
países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento. A investigação no âmbito <strong>da</strong> preservação<br />
deveria tentar compreender melhor os probl<strong>em</strong>as típicos não-ocidentais de<br />
conservação (PORCK et al. 2000).<br />
É caro acompanhar a informação sobre assuntos correntes de conservação.<br />
Muitas bibliotecas e arquivos viram-se forçados a cancelar assinaturas de<br />
revistas profissionais por causa de reduções orçamentais. Contudo, com a chega<strong>da</strong><br />
<strong>da</strong> Internet, muita informação se tornou mais acessível gratuitamente,<br />
o que poderá contribuir para uma melhor e mais barata difusão de conhecimentos.<br />
De facto, a conservação <strong>em</strong> climas tropicais não é tarefa fácil. Em 1966,<br />
o arquivista francês Yves Pérotain desabafou: «O trabalho de um arquivista,<br />
nos trópicos, é uma luta titânica».<br />
Os parágrafos que se segu<strong>em</strong> revê<strong>em</strong> alguns conceitos e abor<strong>da</strong>gens básicos,<br />
considerados relevantes para os probl<strong>em</strong>as de conservação nos trópicos. Como<br />
se fala muito de clima tropical, dá-se muita atenção àquilo que se entende<br />
exactamente por «clima tropical». Explica-se, também, que esta bibliografia<br />
não se destina apenas a conservadores <strong>em</strong> arquivos; os colegas que trabalham<br />
<strong>em</strong> bibliotecas e museus pod<strong>em</strong> beneficiar igualmente com este estudo.<br />
Na reali<strong>da</strong>de, um número razoavelmente elevado de referências é proveniente<br />
<strong>da</strong>s suas áreas de conservação. Muitos levantamentos têm sido publicados <strong>em</strong><br />
quase todos os continentes, sendo muito úteis para <strong>da</strong>r a conhecer as necessi<strong>da</strong>des<br />
<strong>da</strong> conservação <strong>em</strong> ca<strong>da</strong> região. O mesmo se passa <strong>em</strong> relação aos<br />
inúmeros relatórios regionais e nacionais. Para ilustrar a cooperação internacional,<br />
incluímos, no fim deste capítulo, diversos ex<strong>em</strong>plos especialmente<br />
significativos. S<strong>em</strong> a cooperação internacional, a conservação enquanto disciplina<br />
permanecerá muito limita<strong>da</strong>, tanto para os países ricos, como para os<br />
pobres.<br />
28
Conceitos básicos<br />
1.2 Probl<strong>em</strong>as nos trópicos<br />
Em geral, as eleva<strong>da</strong>s t<strong>em</strong>peraturas tropicais (tal como as humi<strong>da</strong>des relativas)<br />
des<strong>em</strong>penham um papel fun<strong>da</strong>mental na veloci<strong>da</strong>de dos processos de degra<strong>da</strong>ção<br />
química e biológica, b<strong>em</strong> como na manutenção de ambientes apropriados<br />
à multiplicação de insectos tropicais (ARNOULT et al. 1995). Segundo Jan Lyall,<br />
director do National Preservation Office <strong>da</strong> Australian National Library,<br />
são vários os factores que tornam muito difícil a manutenção de objectos <strong>em</strong><br />
arquivo, na região <strong>da</strong> Ásia/Pacífico; esses factores exist<strong>em</strong> igualmente para<br />
outros países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento:<br />
• <strong>Climas</strong> tropicais;<br />
• Instabili<strong>da</strong>de política ou guerra;<br />
• Desconhecimento, por parte <strong>da</strong>s autori<strong>da</strong>des, <strong>da</strong> necessi<strong>da</strong>de de<br />
preservar;<br />
• Ven<strong>da</strong> de património valioso para obstar às necessi<strong>da</strong>des básicas <strong>da</strong>s<br />
populações locais;<br />
• Isolamento geográfico;<br />
• Diferenças nas capaci<strong>da</strong>des linguísticas e de literacia.<br />
Os governos dev<strong>em</strong> reconhecer a importância <strong>da</strong>s bibliotecas e dos arquivos,<br />
b<strong>em</strong> como a importância <strong>da</strong> necessi<strong>da</strong>de de preservar o património documental<br />
do país, antes que programas de preservação ver<strong>da</strong>deiramente eficazes possam<br />
ser desenvolvidos. O financiamento <strong>da</strong>s activi<strong>da</strong>des <strong>da</strong>s bibliotecas, incluindo a<br />
preservação, depende muito do poder político instalado. Os governos na maioria<br />
dos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento atribu<strong>em</strong> uma priori<strong>da</strong>de muito baixa às<br />
bibliotecas. Os orçamentos <strong>da</strong>s bibliotecas e dos arquivos são muitas vezes tão<br />
reduzidos, que não chegam para adquirir materiais de trabalho indispensáveis,<br />
n<strong>em</strong> para guar<strong>da</strong>r adequa<strong>da</strong>mente as colecções ou para des<strong>em</strong>penhar os serviços<br />
habitualmente prestados pelas bibliotecas ou arquivos: a preservação é ti<strong>da</strong> como<br />
um luxo. Mesmo nos países desenvolvidos, os orçamentos de bibliotecas e<br />
arquivos têm sofrido restrições, e as activi<strong>da</strong>des de preservação são drasticamente<br />
elimina<strong>da</strong>s (LYALL 1997). Ain<strong>da</strong> relativamente a este t<strong>em</strong>a, os probl<strong>em</strong>as sobre<br />
preservação na América Latina não são, de facto, frequent<strong>em</strong>ente muito diferentes<br />
dos probl<strong>em</strong>as <strong>da</strong> América do Norte. Contudo, o nível de alguns dos<br />
probl<strong>em</strong>as na América Central e na América do Sul pode ser mais desencorajador,<br />
pois a disponibili<strong>da</strong>de de recursos humanos e de materiais é extr<strong>em</strong>amente limita<strong>da</strong><br />
(RAPHAEL 1993).A falta de fundos não constitui seguramente o único probl<strong>em</strong>a,<br />
apesar de justificar frequent<strong>em</strong>ente uma política de laissez-faire (STRICKLAND 1959).<br />
29
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
O processo de deterioração nos trópicos é muito complexo, e é difícil<br />
determinar se existe um culpado para ca<strong>da</strong> situação, ou se são diversas forças<br />
<strong>em</strong> activi<strong>da</strong>de simultaneamente (AGRAWAL 1984). As forças destrutivas pod<strong>em</strong> ser<br />
classifica<strong>da</strong>s <strong>em</strong> três grupos – físicas (calor, luz solar, pó, areia), químicas<br />
(humi<strong>da</strong>de, gases, agentes poluentes) e as biológicas (fungos, bactérias,<br />
insectos, roedores). O calor constante ao longo do ano acelera a veloci<strong>da</strong>de de<br />
deterioração. Na prática, um aumento de dez graus centígrados na t<strong>em</strong>peratura<br />
ambiente reduz para metade o período de vi<strong>da</strong> de um livro (THOMSON 1994).<br />
Adicionalmente, a radiação ultravioleta, b<strong>em</strong> como outros el<strong>em</strong>entos<br />
energéticos combinados com altas t<strong>em</strong>peraturas, resulta na aceleração <strong>da</strong><br />
oxi<strong>da</strong>ção e <strong>da</strong> hidrólise. As consequências <strong>da</strong> contaminação química são<br />
maiores quando o ar está no seu ponto de saturação e se dá a condensação. Por<br />
si só, o alto teor de humi<strong>da</strong>de t<strong>em</strong> um acentuado efeito corrosivo na matéria<br />
orgânica. Quando uma percentag<strong>em</strong> eleva<strong>da</strong> de humi<strong>da</strong>de relativa constante se<br />
combina com uma t<strong>em</strong>peratura eleva<strong>da</strong>, a deterioração ocorre com extr<strong>em</strong>a<br />
rapidez. A mesma combinação fatal de calor e humi<strong>da</strong>de cria um ambiente<br />
propício a agentes biológicos. Os fungos permanec<strong>em</strong> inactivos na presença de<br />
baixa percentag<strong>em</strong> de humi<strong>da</strong>de relativa, mas a partir de setenta por cento<br />
entram <strong>em</strong> activi<strong>da</strong>de e multiplicam-se. As pragas de insectos são agentes<br />
destruidores silenciosos. Ag<strong>em</strong> frequent<strong>em</strong>ente durante a noite e pod<strong>em</strong><br />
provocar, rápi<strong>da</strong> e secretamente, <strong>da</strong>nos irreparáveis. Para além destes<br />
mecanismos de deterioração gradual, as regiões tropicais estão sujeitas a<br />
desastres naturais repentinos e violentos. Os trópicos estão, de facto, longe de<br />
constituir um meio ambiente ideal para bibliotecas ou museus (BAISH 1987a).<br />
A maioria dos países nas zonas com clima tropical esteve, de uma forma ou<br />
de outra, sob regime colonial. O impacto do colonialismo na preservação e na<br />
conservação dos Estados recent<strong>em</strong>ente formados é, ain<strong>da</strong> hoje, perceptível.<br />
A pesquisa relativa à criação de serviços de informação <strong>em</strong> África revelou que<br />
as administrações coloniais não consideraram como priori<strong>da</strong>de a criação de<br />
instituições nacionais para promover e apoiar arquivos e bibliotecas. Na véspera<br />
<strong>da</strong> sua independência, muitos países africanos não tinham na<strong>da</strong> s<strong>em</strong>elhante<br />
a um arquivo e/ou a uma biblioteca nacionais.Até mesmo depois <strong>da</strong> sua<br />
independência, alguns países ain<strong>da</strong> não criaram estas instituições. Diz-se que<br />
a falha de algumas administrações coloniais no lançamento de alicerces para<br />
a formação de serviços de informação contribuiu, <strong>em</strong> grande escala, para a<br />
falta de programas ou programas fracos de preservação e conservação <strong>em</strong><br />
África (KHAYUNDI 1995). Ahmed Huq refere que os observadores ocidentais,<br />
<strong>em</strong> particular os ex-governantes, têm claramente uma visão b<strong>em</strong> diferente (HUQ<br />
30
Conceitos básicos<br />
et al. 1977). Noutros países, segundo Plumbe, a criação de bibliotecas resultou<br />
de uma administração colonial mais aberta (PLUMBE 1959a). Infelizmente, parece<br />
que a falta de sensibilização quanto à necessi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> conservação também é<br />
omnipresente fora do continente africano.<br />
1.3 Zonas de clima tropical<br />
Geralmente, a zona tropical é defini<strong>da</strong> pela área de terra e de água situa<strong>da</strong> entre<br />
o Trópico de Câncer (latitude 23,5º N) e o Trópico de Capricórnio (latitude<br />
23,5º S). Ocupando aproxima<strong>da</strong>mente quarenta por cento <strong>da</strong> superfície <strong>da</strong><br />
terra, os trópicos são a residência de quase metade <strong>da</strong> população mundial. Esta<br />
zona é caracteriza<strong>da</strong> pelo calor, pela cintura de humi<strong>da</strong>de <strong>em</strong> volta do equador<br />
e pela pequena alteração sazonal de t<strong>em</strong>peratura. Nos trópicos há variações<br />
climáticas, contudo, noventa por cento <strong>da</strong>s zonas tropicais abrang<strong>em</strong> regiões<br />
com climas quentes e húmidos, quer permanentes, quer sazonais. Os restantes<br />
dez por cento são zonas desérticas, quentes e secas (BAISH 1987a).<br />
Os climas predominantes do globo terrestre são influenciados principalmente<br />
pela energia solar que aquece o solo e as massas de água. Ao nível <strong>da</strong>s<br />
regiões, o clima é influenciado pela altitude, topografia, ventos e correntes<br />
oceânicas; pela relação terra/água, geomorfologia e tipos de vegetação. Assim,<br />
as regiões tropicais e subtropicais pod<strong>em</strong> ser dividi<strong>da</strong>s <strong>em</strong> várias zonas climáticas<br />
diferentes mas, por razões práticas, consideram-se habitualmente três<br />
zonas climáticas principais:<br />
• Zona quente e ári<strong>da</strong>, inclui o clima desértico ou s<strong>em</strong>idesértico, e o clima<br />
marítimo quente seco;<br />
• Zona quente e húmi<strong>da</strong>, inclui o clima equatorial e o clima insular quente<br />
e húmido;<br />
• Zona t<strong>em</strong>pera<strong>da</strong>, inclui o clima com monção e a região tropical montanhosa.<br />
Esta divisão <strong>em</strong> três zonas climáticas é muito vaga, visto existir<strong>em</strong> muitas<br />
regiões com climas diferentes ou com uma combinação de vários tipos de<br />
clima. As condições locais também pod<strong>em</strong> diferir substancialmente <strong>da</strong>s<br />
condições do clima predominante de uma região, dependendo <strong>da</strong> topografia,<br />
<strong>da</strong> altitude e <strong>da</strong>s áreas circun<strong>da</strong>ntes – que pod<strong>em</strong> ser naturais ou construí<strong>da</strong>s<br />
pelo Hom<strong>em</strong>. A presença de condições como massas de ar frio, ventos locais,<br />
31
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
água, urbanizações, altitude e solo, pode influenciar fort<strong>em</strong>ente o clima local<br />
(GUT et al. 1993).<br />
Sendo as características de ca<strong>da</strong> zona diferentes, os seus probl<strong>em</strong>as são<br />
obviamente outros e, por conseguinte, os métodos de preservação serão<br />
também diferentes. Assim, os vários tipos de climas tropicais nas diferentes<br />
regiões exigiram a generalização deste estudo. Embora reconheçamos a importância<br />
deste t<strong>em</strong>a, está fora do âmbito desta bibliografia. Contudo, por vezes<br />
são cita<strong>da</strong>s zonas climáticas específicas, por indicação do autor.<br />
Para facili<strong>da</strong>de de referência, a definição «orientação norte-sul» usa-se no<br />
h<strong>em</strong>isfério norte. No h<strong>em</strong>isfério sul, os termos invert<strong>em</strong>-se. Por ex<strong>em</strong>plo, se a<br />
orientação a norte é recomen<strong>da</strong><strong>da</strong>, isso só se verifica no h<strong>em</strong>isfério norte.<br />
No caso do h<strong>em</strong>isfério sul a orientação recomen<strong>da</strong><strong>da</strong> será, naturalmente, a sul.<br />
1.4 Arquivos, bibliotecas e museus<br />
Pelo título <strong>da</strong> obra poderíamos supor que este estudo abor<strong>da</strong> somente os<br />
arquivos; não é totalmente ver<strong>da</strong>de. Muitas outras instituições se confrontam<br />
com os mesmos probl<strong>em</strong>as ou com probl<strong>em</strong>as s<strong>em</strong>elhantes, concretamente as<br />
bibliotecas e os museus. Os arquivos, <strong>em</strong> conjunto com as bibliotecas e com os<br />
museus, têm a difícil tarefa de proteger e preservar uma área específica do<br />
nosso património cultural comum. São simultaneamente instituições<br />
específicas e compl<strong>em</strong>entares. Ca<strong>da</strong> uma faz uma abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> diferente à preservação.<br />
Não são só as características físicas dos objectos preservados, mas<br />
também o método de preservação a partir do seu conteúdo informativo que<br />
distingu<strong>em</strong> os arquivos <strong>da</strong>s bibliotecas e dos museus (GAUYE 1984). A razão<br />
específica que justifica o desenvolvimento e a preservação de arquivos,<br />
formula<strong>da</strong> <strong>em</strong> terminologia moderna, é a sua contribuição para uma boa gestão,<br />
um correcto armazenamento dos documentos. É uma condição essencial para<br />
um sist<strong>em</strong>a de administração pública eficaz e eficiente. O acervo dos museus<br />
<strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento também t<strong>em</strong> características especiais,<br />
uma vez que alguns historiadores de arte admit<strong>em</strong> a ausência de uma<br />
orientação para controlar ou prevenir a deterioração física do património<br />
cultural <strong>em</strong> socie<strong>da</strong>des não-ocidentais. Não obstante, exist<strong>em</strong> numerosos<br />
ex<strong>em</strong>plos <strong>em</strong> que o inverso é ver<strong>da</strong>deiro (NICKLIN 1983b).<br />
Também é reconhecido que os museus, especialmente nos países <strong>em</strong> vias de<br />
desenvolvimento, des<strong>em</strong>penham um papel fun<strong>da</strong>mental na educação <strong>da</strong>s<br />
pessoas. Quanto às bibliotecas, já nos anos sessenta, a UNESCO (United Nations<br />
32
Conceitos básicos<br />
Educational Scientific and Cultural Organization) chegou à conclusão que uma<br />
campanha de literacia global estaria destina<strong>da</strong> ao fracasso se o desenvolvimento<br />
de redes regionais e nacionais de bibliotecas não se verificasse. É imperativo <strong>da</strong>r<br />
priori<strong>da</strong>de ao material de leitura, especialmente literatura vernácula, destina<strong>da</strong><br />
a adultos recém-alfabetizados (MILBURN 1959). De uma forma ou de outra, os<br />
arquivos, as bibliotecas e os museus são condição sine qua non para a valorização<br />
<strong>da</strong> identi<strong>da</strong>de cultural de uma nação. Tanto a identi<strong>da</strong>de como a recuperação<br />
económica estão relaciona<strong>da</strong>s, de alguma forma, com a sobrevivência do<br />
património cultural (DEAN et al. 2001).<br />
Claramente, to<strong>da</strong>s as enti<strong>da</strong>des culturais se confrontam com as mesmas<br />
dificul<strong>da</strong>des na salvaguar<strong>da</strong> <strong>da</strong> conservação <strong>em</strong> condições climáticas adversas.<br />
É por isso que a literatura sobre preservação para bibliotecas e para museus<br />
também foi ti<strong>da</strong> <strong>em</strong> conta, <strong>em</strong>bora a principal preocupação desta bibliografia<br />
seja a preservação de arquivos.<br />
1.5 Estudos<br />
Os estudos realizados a nível nacional e internacional, b<strong>em</strong> como os inquéritos,<br />
pod<strong>em</strong> <strong>da</strong>r uma ideia real sobre as necessi<strong>da</strong>des <strong>em</strong> conservação <strong>em</strong><br />
arquivos nacionais. Além disso, fornec<strong>em</strong> os el<strong>em</strong>entos quantitativos e<br />
qualitativos sobre o estado de conservação, o que constitui um pré-requisito<br />
para a elaboração de um programa de preservação (IDSALA 1995). Por ex<strong>em</strong>plo,<br />
Cunha, na sua obra Methods of evaluation to determine the preservation needs in libraries and<br />
archives, afirma que ca<strong>da</strong> biblioteca e ca<strong>da</strong> arquivo dev<strong>em</strong> determinar quais as<br />
suas necessi<strong>da</strong>des <strong>em</strong> termos de preservação, para poder<strong>em</strong> elaborar o seu<br />
próprio programa de conservação. Este trabalho serve de enquadramento para<br />
a realização do estudo e fornece ex<strong>em</strong>plos muito úteis para o registo de <strong>da</strong>dos.<br />
Contudo, não estabelece com pormenor a definição <strong>da</strong>s priori<strong>da</strong>des e é, talvez,<br />
excessivamente cauteloso na formulação de determina<strong>da</strong>s recomen<strong>da</strong>ções<br />
(CUNHA 1988).<br />
Em 1978, a UNESCO orientou um levantamento sobre departamentos de<br />
conservação no Médio Oriente. De todos os Estados Árabes somente três<br />
tinham criado serviços de conservação (Egipto, Sudão e Líbia). Isto pode ser<br />
um indicador de que o desenvolvimento dos serviços técnicos <strong>em</strong> arquivos nos<br />
Estados Árabes é muito rudimentar, aliás, uma impressão fun<strong>da</strong>menta<strong>da</strong> no tão<br />
conhecido estado geral de desenvolvimento dos arquivos nestes Estados<br />
(KATHPALIA 1978).<br />
33
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Na Nigéria, quarenta e duas bibliotecas responderam a um questionário <strong>em</strong><br />
1980-1982. A conservação de bibliotecas na Nigéria, o país africano com<br />
maior densi<strong>da</strong>de populacional, pode ser considera<strong>da</strong> um ex<strong>em</strong>plo típico, tanto<br />
para um país <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, como para um país tropical. Saber<br />
que foram incorporados insectici<strong>da</strong>s no processo de criação de papel e<br />
concebidos edifícios <strong>da</strong>s bibliotecas para conservação nos trópicos, constitui<br />
um el<strong>em</strong>ento interessante. O autor alertou também para a necessi<strong>da</strong>de de se<br />
proceder a uma investigação mais profun<strong>da</strong> no âmbito dos probl<strong>em</strong>as <strong>da</strong><br />
conservação, considerados únicos na Nigéria e nos trópicos (ALEGBELEYE 1988).<br />
Outros levantamentos africanos sobre preservação: ADIKWU 1987; JANSSEN et al.<br />
1991; KHAYUNDI 1988 e 1995; KREMP 1993; KUKUBO 1995; MAZIKANA 1995;<br />
MBAYE 1995; MUSEMBI 1999; SONNET-AZIZE 1995; WEILBRENNER et al. 1988. No<br />
anexo dos Proceedings of the Pan-African Conference, Nairobi 1993, vinte e oito países<br />
relatam o estado de preservação dos seus materiais de biblioteca e de arquivo<br />
(ARNOULT et al. 1995). O último estudo sobre preservação <strong>em</strong> África foi organizado<br />
pela JICPA (Joint IFLA-ICA) publicado <strong>em</strong> 2001 (COATES 2001).<br />
Num estudo sobre to<strong>da</strong>s as bibliotecas e arquivos nacionais, organizações<br />
profissionais e institutos de investigação realizado pela UNESCO, uma <strong>da</strong>s<br />
questões abor<strong>da</strong><strong>da</strong>s estava relaciona<strong>da</strong> com a necessi<strong>da</strong>de pr<strong>em</strong>ente de se<br />
proceder à investigação no campo <strong>da</strong> preservação e <strong>da</strong> conservação no futuro.<br />
Das sessenta e nove respostas, 10% correspond<strong>em</strong> aos países menos desenvolvidos,<br />
o que veio acentuar a necessi<strong>da</strong>de de encontrar soluções mais simples<br />
e mais acessíveis: equipamento e materiais, pessoal especializado e literatura<br />
adequa<strong>da</strong> às necessi<strong>da</strong>des dos países tropicais (CLEMENTS et al. 1989).<br />
A National Diet Library (NDL) orientou o Library Preservation Needs Survey of<br />
National Libraries in Asia, <strong>em</strong> 1992. Este estudo t<strong>em</strong> como objectivo pesquisar e<br />
avaliar as questões e as necessi<strong>da</strong>des na área <strong>da</strong> preservação na região <strong>da</strong> Ásia.<br />
Foram analisa<strong>da</strong>s mais de c<strong>em</strong> questões num universo muito lato de assuntos.<br />
O questionário foi enviado para vinte bibliotecas, responsáveis por reunir e por<br />
preservar os documentos de biblioteca a nível nacional, na região oriental e no<br />
Sudoeste Asiático. Doze bibliotecas responderam, incluindo a NDL. Algumas <strong>da</strong>s<br />
conclusões finais revest<strong>em</strong>-se de particular interesse: verificou-se que somente<br />
um pequeno número de países adoptou uma política nacional de preservação<br />
para documentos de biblioteca ou iniciou um programa cooperativo de<br />
preservação com coordenação a nível nacional. Seis bibliotecas responderam<br />
que se estavam a esforçar para despertar a consciência nacional quanto à<br />
necessi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> preservação, três bibliotecas tinham elaborado um programa de<br />
microfilmag<strong>em</strong>, duas bibliotecas consideravam um plano de <strong>em</strong>ergência muito<br />
34
Conceitos básicos<br />
importante, um elevado número de bibliotecas solicitava apoio, informação e<br />
formação à NDL e ao PAC Centre Regional (KAIHARA 1993).<br />
Em 1995, a antiga Comission on Preservation and Access publicou um<br />
inventário sobre as necessi<strong>da</strong>des de preservação nas bibliotecas <strong>da</strong> América<br />
Latina (HAZEN 1995) e Whitney Baker publicou um guia com o título Latin American<br />
Conservation Resources for Libraries and Archives no CoOL, que substituiu o publicado<br />
anteriormente Conservation in Latin America: Current Trends in Cultural Context (BAKER 1995<br />
e 2000).<br />
Foi enviado um questionário exaustivo sobre desenvolvimentos arquivísticos<br />
para a maioria dos m<strong>em</strong>bros do CIA – Concelho Internacional de<br />
Arquivos – <strong>em</strong> 1993 (ROPER 1996b). Aproxima<strong>da</strong>mente metade <strong>da</strong>s cento e vinte<br />
e três respostas foram provenientes de países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento.<br />
Tornou-se evidente que factores como forças económicas, acontecimentos<br />
políticos e desastres naturais, que estão fora do controlo de organizações arquivísticas<br />
nacionais e internacionais, teriam grande importância no desenvolvimento<br />
arquivístico. Em muitos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento a combinação<br />
destas forças adversas limitou o desenvolvimento e nalguns casos piorou a<br />
situação dos arquivos, tendo como comparação os resultados dos estudos<br />
anteriormente realizados (LAAR 1985; D’ÓRLEANS 1985; TANODI 1985; MAZIKANA 1992).<br />
Em termos de conservação, os arquivos continuam a estar instalados <strong>em</strong><br />
edifícios inadequados, tanto pelas suas capaci<strong>da</strong>des de armazenag<strong>em</strong>, como<br />
pela sua adequação; o equipamento é inadequado e insuficiente, frequent<strong>em</strong>ente<br />
quase inexistente se não mesmo obsoleto; a manutenção e o fornecimento<br />
dos materiais para operar e equipamento são irregulares. Contudo,<br />
a maioria <strong>da</strong>s respostas sublinhou mais as influências positivas do que as<br />
negativas no desenvolvimento dos arquivos nos seus países.<br />
Em 1999, Rhys-Lewis observou um interesse crescente na conservação de<br />
arquivos e bibliotecas nos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento. Também<br />
salientou que a conservação nos serviços de arquivo europeus levou aproxima<strong>da</strong>mente<br />
cinquenta anos a ser encara<strong>da</strong> como uma área especializa<strong>da</strong>. Este<br />
desenvolvimento não foi s<strong>em</strong>pre fruto de uma estratégia minuciosamente<br />
planea<strong>da</strong>. O autor afirma que os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento podiam<br />
beneficiar na definição de estratégias efectivas de preservação a partir <strong>da</strong><br />
experiência europeia (RHYS-LEWIS 1999). Dois anos antes elaborou uma lista <strong>da</strong>s<br />
necessi<strong>da</strong>des e probl<strong>em</strong>as, no âmbito <strong>da</strong> preservação e conservação, verifica<strong>da</strong>s<br />
nas regiões altas do Sudeste Asiático, uma região onde a guerra e os conflitos<br />
civis espalharam grande destruição e deixaram as bibliotecas e os arquivos<br />
destituídos de recursos económicos e humanos necessários à mu<strong>da</strong>nça.<br />
35
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1.6 Relatórios nacionais e regionais<br />
Foram publicados muitos relatórios nacionais que parec<strong>em</strong> reflectir o estado de<br />
desenvolvimento <strong>em</strong> t<strong>em</strong>os de conservação (KUBA 2001); pod<strong>em</strong> ser extr<strong>em</strong>amente<br />
úteis para os investigadores que quiser<strong>em</strong> aprofun<strong>da</strong>r as suas pesquisas<br />
numa determina<strong>da</strong> região ou num determinado país. Contudo, muitos transmit<strong>em</strong><br />
somente uma visão superficial. Para o mundo dos museus <strong>em</strong> África,<br />
a bibliografia de Gerhard reveste-se de um interesse especial (GERHARD 1990).<br />
Os relatórios de numerosas missões realiza<strong>da</strong>s por peritos do CIA são<br />
publicados na revista bienal do CIA, Janus, revue archivistique (ver, por ex<strong>em</strong>plo,<br />
a edição especial de 1996) e na revista Archivum, international review of archives. Organizações<br />
multilaterais, <strong>em</strong> particular a UNESCO, também realizaram diversas<br />
missões para elaborar um levantamento sobre as necessi<strong>da</strong>des na conservação,<br />
para avaliar projectos de conservação, etc. A UNESCO publicou sobretudo estes<br />
relatórios na série de estudos do RAMP – Records and Archives Manag<strong>em</strong>ent<br />
Programme. Na secção de literatura sobre Preservation and conservation – preservation in<br />
developing countries pode-se encontrar uma selecção destes relatórios.<br />
1.7 Projectos e programas<br />
Nunca é d<strong>em</strong>ais sublinhar o papel que as organizações internacionais des<strong>em</strong>penham<br />
na preservação do património mundial. Por ex<strong>em</strong>plo, não muito<br />
depois <strong>da</strong> fun<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> UNESCO, <strong>em</strong> 1948, realizou-se um encontro para peritos<br />
<strong>em</strong> arquivos (ROPER 1996a). Desde então, t<strong>em</strong>-se verificado um progresso crescente.<br />
A maioria dos países ocidentais t<strong>em</strong> os seus próprios programas de<br />
desenvolvimento internacional e algum apoio bilateral incide na gestão de<br />
arquivos e na preservação (ARCHER 1996; MURRAY-LACHAPELLE 1999; OLOFSSON 1988; SÖDERMAN<br />
1999). Como guia sobre apoio institucional às funções de bibliotecários <strong>em</strong><br />
países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, ver SANDELL 1996.<br />
Diferentes organizações multilaterais, b<strong>em</strong> como as instituições profissionais<br />
internacionais, conced<strong>em</strong> sobretudo apoio <strong>em</strong> larga escala. Mas, <strong>em</strong> geral,<br />
as iniciativas de cooperação a nível internacional deviam ter uma maior coordenação<br />
entre si (DEAN et al. 2001; NOERLUND et al. 1991). Kukubo, num interessante<br />
artigo, revê as áreas <strong>da</strong> actual e potencial cooperação na preservação e na<br />
conservação nas regiões <strong>da</strong> África Oriental e Austral (KUKUBO 1995). O sucesso de<br />
um programa de preservação que envolva a cooperação de diversas agências<br />
necessitará que a coordenação <strong>da</strong>s suas activi<strong>da</strong>des seja efectua<strong>da</strong> por uma<br />
36
Conceitos básicos<br />
agência local (BERRADA 1995). A necessi<strong>da</strong>de para a existência de uma cooperação<br />
regional <strong>em</strong> África é realça<strong>da</strong> por Sonnet-Azize, 1995. Contudo, os projectos<br />
internacionais também pod<strong>em</strong> levantar questões sensíveis a nível político e<br />
cultural. Quando intelectuais b<strong>em</strong>-intencionados obtêm fundos para apoiar os<br />
arquivos locais na preservação dos seus bens valiosos, pod<strong>em</strong> surgir conflitos<br />
de interesses. Deve salientar-se que n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre é fácil equilibrar as necessi<strong>da</strong>des<br />
<strong>da</strong>s instituições locais com a pressão pelo acesso global e a convicção<br />
<strong>da</strong> comuni<strong>da</strong>de internacional liga<strong>da</strong> à preservação, de que todos somos responsáveis<br />
pela herança cultural universal (LINDSAY 2000; ROBERTS 2001).<br />
Provavelmente, a auto-estra<strong>da</strong> digital é a solução para, pelo menos, uma<br />
forma de acesso global. O Council on Library and Information Resources – CLIR<br />
está a aproveitar a tendência para a educação virtual e desenvolveu uma página<br />
na Internet para <strong>da</strong>r formação no âmbito <strong>da</strong> preservação e <strong>da</strong> conservação no<br />
Sudeste Asiático. Este tipo de ensino possibilitará que os bibliotecários, arquivistas,<br />
etc. adquiram conhecimentos básicos e fiáveis sobre preservação, b<strong>em</strong><br />
como desenvolvam estratégias e respostas a desafios no âmbito <strong>da</strong> preservação,<br />
relativas ao clima, à cultura, às fontes de informação e ao conteúdo. A impl<strong>em</strong>entação<br />
dos primeiros módulos está prevista para o Verão de 2002 e, depois<br />
de uma avaliação no Sudeste Asiático, o CLIR prevê a a<strong>da</strong>ptação dos módulos<br />
para poder<strong>em</strong> ser utilizados <strong>em</strong> todo o mundo.<br />
1.7.1 UNESCO<br />
Desde s<strong>em</strong>pre que a United Nations Educational, Scientific and Cultural<br />
Organization (UNESCO) se t<strong>em</strong> envolvido no desenvolvimento arquivístico<br />
internacional. Foi responsável pela convocatória <strong>da</strong> reunião de 1948, <strong>da</strong> qual<br />
resultou o estabelecimento formal do Concelho Internacional de Arquivos<br />
(CIA), <strong>em</strong> 1950. Assim como a comuni<strong>da</strong>de internacional arquivística cresceu<br />
e se desenvolveu para além <strong>da</strong> Europa e <strong>da</strong> América do Norte, também o<br />
interesse pela referi<strong>da</strong> comuni<strong>da</strong>de e o apoio à mesma se acentuou, por parte<br />
do Concelho Internacional de Arquivos (CIA) e <strong>da</strong> UNESCO. Foi prestado apoio a<br />
países ou a grupos de países vizinhos, tanto através de diversos programas <strong>da</strong><br />
UNESCO, como de outras agências <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s (por ex<strong>em</strong>plo, UNDP,<br />
United Nations Development Programme). É importante saber que quase todos<br />
os países têm a sua própria biblioteca UNESCO.<br />
37
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1.7.1.1 RAMP<br />
De modo a ir ao encontro <strong>da</strong>s necessi<strong>da</strong>des dos Estados-M<strong>em</strong>bros, principalmente<br />
nos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, na área especializa<strong>da</strong> <strong>da</strong> administração<br />
de arquivo e gestão de registos, a Division of the General Information<br />
Program <strong>da</strong> UNESCO impl<strong>em</strong>entou um programa de longo prazo, Records and<br />
Archives Manag<strong>em</strong>ent Programme (RAMP), <strong>em</strong> 1979. Os pontos básicos do<br />
RAMP reflect<strong>em</strong> e contribu<strong>em</strong> para a formulação dos t<strong>em</strong>as centrais do General<br />
Information Program. O RAMP inclui projectos, estudos e outras activi<strong>da</strong>des.<br />
A UNESCO publica regularmente estudos especializados e linhas de orientação<br />
nas áreas de gestão de documentos e arquivos (estudos do RAMP), que abor<strong>da</strong>m<br />
questões básicas de gestão de documentos e arquivos:<br />
• Desenvolvimento <strong>da</strong> infra-estrutura arquivística, incluindo a legislação<br />
arquivística;<br />
• Formação e educação;<br />
• Protecção do património arquivístico;<br />
• Promoção do desenvolvimento e aplicação <strong>da</strong> informação actual;<br />
• Investigação na área <strong>da</strong> teoria e prática arquivísticas.<br />
A maioria dos estudos, principalmente os que foram publicados depois de<br />
1996, está disponível <strong>em</strong> linha. Para publicações mais antigas <strong>da</strong> UNESCO sobre<br />
arquivos ou para publicações com a sua participação, ver EVANS 1983.<br />
Infelizmente, as publicações sobre t<strong>em</strong>as especializados têm a desvantag<strong>em</strong> de<br />
se desactualizar<strong>em</strong> rapi<strong>da</strong>mente.<br />
1.7.1.2 Museum International<br />
O periódico trimestral Museum é uma publicação interessante <strong>da</strong> UNESCO,<br />
publica<strong>da</strong> desde 1948. Em 1992 mudou o nome para Museum International, que é<br />
publicado <strong>em</strong> cinco idiomas (árabe, inglês, francês, russo e espanhol).A leitura<br />
desta publicação é obrigatória para aqueles que quer<strong>em</strong> estar actualizados<br />
quanto aos diversos aspectos <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> dos museus <strong>em</strong> todo o mundo. Ca<strong>da</strong><br />
número cobre um t<strong>em</strong>a especialmente interessante, como se pode ler no Museum,<br />
1987 (156) sobre Staff training ou questões de conservação abor<strong>da</strong><strong>da</strong>s no<br />
Museum, 1982 (34/1) ou museus de determinados países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento<br />
ou <strong>em</strong> determina<strong>da</strong>s regiões referidos no Museum, 1976 (28/4) Africa.<br />
38
Conceitos básicos<br />
A revista funciona como «clearinghouse» para o intercâmbio de pontos de vista<br />
através de estudos de casos, de relatórios, de entrevistas, de debates e de<br />
comentários editoriais de fundo. Para mais informação, consultar a página <strong>da</strong><br />
Internet <strong>da</strong> UNESCO.<br />
1.7.1.3 M<strong>em</strong>ory of the World<br />
Em 1993, a UNESCO criou o programa M<strong>em</strong>ory of the World. O património<br />
documental reflecte a varie<strong>da</strong>de de idiomas, de povos e de culturas. É o<br />
espelho do mundo e a sua m<strong>em</strong>ória. Mas esta m<strong>em</strong>ória é frágil. Ca<strong>da</strong> dia que<br />
passa, partes insubstituíveis desta m<strong>em</strong>ória desaparec<strong>em</strong> para s<strong>em</strong>pre.<br />
A UNESCO lançou este programa como protecção contra uma amnésia<br />
colectiva, chamando à atenção para a preservação dos valiosos fundos de<br />
arquivo e <strong>da</strong>s colecções de bibliotecas por todo o mundo, assegurando a sua<br />
diss<strong>em</strong>inação. Os objectivos deste programa são proporcionar a preservação<br />
através <strong>da</strong>s técnicas mais apropria<strong>da</strong>s, o acesso s<strong>em</strong> discriminação e a distribuição<br />
de produtos derivados a um público tão vasto quanto possível (ver<br />
também ORNAGER 2000).<br />
1.7.2 CIA<br />
O Concelho Internacional de Arquivos (CIA), sendo uma organização<br />
profissional internacional, preocupa-se com to<strong>da</strong>s as questões relativas à gestão<br />
de registos e de arquivos durante o seu ciclo de vi<strong>da</strong>. Enquanto a UNESCO concede<br />
fundos para o desenvolvimento internacional, o CIA fornece o conhecimento<br />
técnico e os recursos humanos.T<strong>em</strong> como objectivos prioritários encorajar e<br />
apoiar o desenvolvimento dos arquivos <strong>em</strong> todos os países, b<strong>em</strong> como preservar<br />
o património arquivístico <strong>da</strong> humani<strong>da</strong>de; promover, organizar e coordenar,<br />
a nível internacional, activi<strong>da</strong>des no campo <strong>da</strong> gestão de registos e de arquivos;<br />
estabelecer, manter e fortalecer relações entre arquivistas de todos os países e<br />
entre to<strong>da</strong>s as instituições, associações profissionais e outras organizações,<br />
b<strong>em</strong> como facilitar a interpretação e utilização de documentos de arquivo,<br />
tornando o seu conteúdo amplamente conhecido, e estimulando um maior<br />
acesso a estes documentos. Para facilitar o seu trabalho por todo o mundo, o CIA<br />
criou agências regionais nas regiões não-europeias. Ca<strong>da</strong> uma <strong>da</strong>s dez agências<br />
regionais existentes gere os seus próprios assuntos e publica a sua própria<br />
39
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
revista. A primeira agência a ser cria<strong>da</strong> foi a SARBICA (1968), a agência regional<br />
do CIA para o Sudeste Asiático.<br />
As questões mais gerais de carácter profissional são discuti<strong>da</strong>s nos<br />
congressos internacionais de arquivos, realizados de quatro <strong>em</strong> quatro anos,<br />
que incorporam tanto reuniões abertas <strong>da</strong>s secções e dos comités do ICA, como<br />
sessões plenárias e encontros de trabalho. Em 1975, na sequência de uma<br />
conferência realiza<strong>da</strong> <strong>em</strong> Dakar (Senegal), o CIA criou o International Archival<br />
Development Fund – FIDA para conceder apoio aos arquivos de países <strong>em</strong> vias<br />
de desenvolvimento. Conjuntamente com a UNESCO, o CIA elaborou o International<br />
Microfilming Program for Developing Countries que visa o apoio aos<br />
arquivos nacionais no intercâmbio ou na aquisição de cópias de microfilmes.<br />
O CIA também facilita a divulgação <strong>da</strong>s boas práticas profissionais e técnicas,<br />
através de publicações como, por ex<strong>em</strong>plo, a revista Comma (uma fusão do<br />
Archivum, Janus e CITRA - proceedings) e dos seus Estudos.<br />
1.7.3 IFLA-PAC<br />
A International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) é uma<br />
organização com projecção mundial, independente e não-governamental,<br />
constituí<strong>da</strong> por mil e trezentos m<strong>em</strong>bros <strong>em</strong> mais de cento e trinta países.<br />
Os seus m<strong>em</strong>bros integram bibliotecas e respectivas associações, bibliotecas e<br />
instituições congéneres, b<strong>em</strong> como sócios institucionais e individuais. T<strong>em</strong><br />
como objectivos promover a cooperação, a discussão e a investigação, a nível<br />
internacional, <strong>em</strong> todos os campos relativos à biblioteconomia. Considera<br />
todos os aspectos <strong>da</strong> biblioteconomia integrados no quadro dos seus interesses<br />
e t<strong>em</strong> vindo a desenvolver esforços no sentido de aumentar o número de países<br />
m<strong>em</strong>bros. A IFLA t<strong>em</strong> uma complexa estrutura organizacional, <strong>da</strong> qual se<br />
destacam cinco programas-quadro, nomea<strong>da</strong>mente o Preservation and<br />
Conservation Core Program – PAC.<br />
Contrariamente a outros programas-quadro, o programa IFLA-PAC opera a<br />
partir de diversas bibliotecas nacionais. O International Focal Point está<br />
localizado na Bibliothéque Nationale <strong>em</strong> Paris, França. Em 1986, o programa<br />
IFLA-PAC criou uma rede de Centros Regionais para tratar de probl<strong>em</strong>as relativos<br />
à preservação <strong>em</strong> todo o mundo (APÊNDICE 2). Hoje exist<strong>em</strong> seis centros<br />
regionais. O programa t<strong>em</strong> um objectivo maior, que é assegurar que os<br />
materiais de biblioteca e de arquivo, publicados e por publicar, <strong>em</strong> todos os<br />
formatos, serão preservados e ficarão acessíveis por um período tão longo<br />
40
Conceitos básicos<br />
quanto possível. O programa PAC publica o periódico International Preservation News,<br />
três vezes por ano, <strong>em</strong> inglês, francês e espanhol, gratuitamente. O número 24,<br />
de Maio de 2001, dedica-se totalmente à Preservation in Asia and the Pacific (ver<br />
também BLANCO, 1988).<br />
Além <strong>da</strong> IFLA, também exist<strong>em</strong> diversas associações de bibliotecas regionais,<br />
por ex<strong>em</strong>plo, o Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL. Foi fun<strong>da</strong>do<br />
<strong>em</strong> Singapura, <strong>em</strong> 1970, como resposta à crescente toma<strong>da</strong> de consciência<br />
relativamente à identi<strong>da</strong>de do Sudeste Asiático, encoraja<strong>da</strong> particularmente pela<br />
formação <strong>da</strong> Association of Southeast Asian Nations – ASEAN.T<strong>em</strong> como missão<br />
principal promover o desenvolvimento <strong>da</strong>s bibliotecas e dos serviços de<br />
informação nestas regiões, b<strong>em</strong> como estimular a participação destas regiões<br />
na comuni<strong>da</strong>de internacional <strong>da</strong> informação.<br />
1.7.4 Pacific Manuscript Bureau<br />
O Pacific Manuscript Bureau – PMB é um dos poucos projectos de arquivo de<br />
longo prazo, <strong>em</strong> todo o mundo, baseado na cooperação internacional.<br />
Ao longo de trinta e três anos t<strong>em</strong> <strong>da</strong>do resposta a dois imperativos idênticos:<br />
às exigências <strong>da</strong> investigação académica e à necessi<strong>da</strong>de de preservar o<br />
património documental e cultural <strong>da</strong>s ilhas do Pacífico. Apesar deste Bureau ser<br />
de pequena dimensão t<strong>em</strong> reputação b<strong>em</strong> marca<strong>da</strong>, fruto <strong>da</strong>s necessi<strong>da</strong>des<br />
existentes, b<strong>em</strong> como do grande apoio de que foi alvo (CUNNINGHAM et al. 1996).<br />
1.7.5 NRLC<br />
O National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC) é<br />
uma instituição científica, subsidia<strong>da</strong> pelo Governo indiano, e foi cria<strong>da</strong> <strong>em</strong><br />
1976 com o propósito de conceder apoio científico à conservação do<br />
património cultural na Índia. Durante o processo de consoli<strong>da</strong>ção, o NRLC<br />
desenvolveu-se com a participação do UNDP e <strong>da</strong> UNESCO, sendo actualmente<br />
m<strong>em</strong>bro associado do ICCROM – International Centre for the Study of the<br />
Preservation and Restoration of Cultural Property. O NRLC desenvolve<br />
investigação relativa a materiais e a métodos de conservação, b<strong>em</strong> como faz<br />
diagnósticos, promove acções de formação sobre conservação preventiva e<br />
curativa, divulga conhecimentos sobre conservação e áreas relaciona<strong>da</strong>s com<br />
conservação, através de bibliotecas e de serviços de informação, e presta<br />
41
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
assistência técnica à impl<strong>em</strong>entação de estruturas para a conservação. O NRLC<br />
desenvolveu e regulamentou um elevado número de métodos para a conservação<br />
de diferentes tipos de objectos e para o estudo analítico do património<br />
cultural. Também organizou diversos s<strong>em</strong>inários sobre conservação preventiva<br />
e programas de formação <strong>em</strong> conservação curativa, destinados a candi<strong>da</strong>tos do<br />
Sul e Sudeste Asiáticos.<br />
1.7.6 APOYO<br />
A Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de las Américas<br />
(APOYO) é um grupo informal constituído por m<strong>em</strong>bros internacionais, que<br />
t<strong>em</strong> como missão apoiar a conservação e a preservação do património material<br />
cultural <strong>da</strong>s Américas (ver a página na Internet no Apêndice 2). Foi cria<strong>da</strong> <strong>em</strong> 1989<br />
por m<strong>em</strong>bros activos do AIC – American Institute of Conservation of Historic<br />
and Artistic Works e funciona com autonomia. Os objectivos principais <strong>da</strong><br />
APOYO são realizar trabalhos no âmbito <strong>da</strong> conservação do património cultural<br />
<strong>da</strong> América Latina, impl<strong>em</strong>entar normas e facultar informação nas línguas<br />
nativas. Para ir ao encontro destas necessi<strong>da</strong>des, o objectivo imediato foi<br />
fomentar e acelerar o intercâmbio de informação sobre questões de conservação<br />
e preservação.A APOYO promoveu este intercâmbio através de um programa<br />
abrangente. Actualmente, a rede estratégica APOYO integra aproxima<strong>da</strong>mente<br />
quatro mil profissionais de conservação e preservação, e continua a crescer.<br />
Estes profissionais são oriundos <strong>da</strong>s Américas, de Espanha e de outros países.<br />
Desde 1990 que a APOYO edita um periódico, publicado uma ou duas vezes por<br />
ano. Present<strong>em</strong>ente é a única publicação <strong>em</strong> espanhol, sobre questões liga<strong>da</strong>s à<br />
conservação, com uma audiência tão vasta. Em 1996, 1998 e 2000 foi publicado<br />
um directório de técnicos e instituições liga<strong>da</strong>s à conservação e preservação do<br />
património cultural <strong>da</strong>s Américas. Também está disponível na página na Internet<br />
<strong>da</strong> Biblioteca Nacional <strong>da</strong> Venezuela informação útil, especialmente traduções de<br />
bibliografia sobre preservação. Na página Conservation online (CoOL), Whitney<br />
Baker incluiu diversas páginas sobre conservação na América Latina.<br />
1.7.7 CECOR<br />
O Centro de <strong>Conservação</strong> e Restauro de Bens Culturais Móveis <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de<br />
Federal de Minas Gerais t<strong>em</strong> como principal objectivo aplicar as técnicas cien-<br />
42
Conceitos básicos<br />
tíficas à protecção do património cultural brasileiro. Deste modo, o CECOR<br />
pretende contribuir para a protecção e para o estudo do património mundial.<br />
As suas áreas prioritárias de investigação integram a análise científica de obras<br />
de arte, para desenvolver o conhecimento sobre os materiais constituintes e as<br />
técnicas artísticas, b<strong>em</strong> como a conservação preventiva, para aprofun<strong>da</strong>r a<br />
compreensão dos processos físicos, químicos e biológicos envolvidos no<br />
envelhecimento e na deterioração dos artefactos. O CECOR t<strong>em</strong> uma página na<br />
Internet muito interessante, disponível <strong>em</strong> português, com algumas<br />
publicações sobre conservação preventiva (ver também SOUZA 1993). Também o<br />
Project on Preventive Conservation in Libraries and Archives (CPBA) t<strong>em</strong> como<br />
objectivo difundir os conhecimentos sobre preservação no património<br />
documental através <strong>da</strong> divulgação e do intercâmbio. As suas activi<strong>da</strong>des são<br />
realiza<strong>da</strong>s através <strong>da</strong> cooperação com um elevado número de instituições.<br />
O CPBA já t<strong>em</strong> cinquenta e três títulos sobre preservação traduzidos para<br />
português, publicou recent<strong>em</strong>ente um manual sobre microfilmag<strong>em</strong> <strong>em</strong><br />
arquivos, seguindo-se a publicação de um Mapa de Preservação. Também são<br />
de salientar as páginas <strong>da</strong> Internet <strong>da</strong> Associação Brasileira de Conservadores e<br />
Restauradores de Bens Culturais (ABRACOR) e do Arquivo Nacional do Brasil.<br />
1.7.8 GCI<br />
O Getty Conservation Institute (GCI), um programa do J. Paul Getty Trust, desde<br />
1982 que se dedica a activi<strong>da</strong>des vocaciona<strong>da</strong>s para o aprofun<strong>da</strong>mento <strong>da</strong><br />
prática e <strong>da</strong> educação de forma a encorajar a preservação, a sua compreensão e<br />
interpretação nas artes visuais – ti<strong>da</strong>s no sentido lato para incluir objectos,<br />
colecções, arquitectura e locais arqueológicos. O Instituto presta serviço à<br />
comuni<strong>da</strong>de internacional de conservação através <strong>da</strong> investigação científica<br />
quanto à natureza, deterioração e tratamento dos materiais; na educação,<br />
formação e projectos pioneiros na área; na difusão de informação, publicando<br />
obras tradicionais e utilizando meios electrónicos. Deram início a fascinantes<br />
projectos de investigação como Collections in Hot and Humid Environments Latin<br />
American Consortium, Performance of Pollutant Adsorbents, Maya Initiative. Actualmente<br />
estão disponíveis inúmeros relatórios e directrizes para uma maior audiência<br />
que pod<strong>em</strong> ser gravados gratuitamente.<br />
43
2<br />
Preservação e conservação<br />
2.1 Introdução<br />
A arte <strong>da</strong> preservação é tão antiga como a própria civilização humana. De certo<br />
modo, pode dizer-se que provém do instinto de autopreservação presente <strong>em</strong><br />
todos os seres vivos (KATHPALIA 1973).Apesar de tudo, quer<strong>em</strong>os manter o passado<br />
vivo. Mas dev<strong>em</strong>os ter <strong>em</strong> mente que o ciclo <strong>da</strong> natureza dita que tudo o que<br />
é feito de matéria orgânica se decompõe. Deste modo, apenas pod<strong>em</strong>os pensar<br />
<strong>em</strong> aumentar a esperança de vi<strong>da</strong> do nosso património <strong>em</strong> suporte papel,<br />
o núcleo dos nossos arquivos e bibliotecas.<br />
A seguir, abor<strong>da</strong>r<strong>em</strong>os a terminologia confusa <strong>em</strong> preservação, <strong>da</strong>r<strong>em</strong>os<br />
a conhecer a pirâmide <strong>da</strong> preservação e far<strong>em</strong>os alguns comentários sobre a<br />
conservação preventiva. A preservação nos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento<br />
é considera<strong>da</strong> por si só uma profissão, não apenas devido às circunstâncias<br />
climáticas difíceis, mas também ao facto de os artefactos <strong>da</strong>s culturas não-<br />
-ocidentais ser<strong>em</strong> de materiais diferentes dos artefactos <strong>da</strong>s culturas ocidentais.<br />
Por ex<strong>em</strong>plo, a laminação continua a ser bastante popular nos trópicos, mas <strong>em</strong><br />
muitos países desenvolvidos esta técnica de conservação não é vista com bons<br />
olhos. Uma atenção redobra<strong>da</strong> à tecnologia apropria<strong>da</strong> à conservação, poderia<br />
contribuir para a solução de enormes probl<strong>em</strong>as <strong>em</strong> arquivos nos países mais<br />
pobres. A importância <strong>da</strong>s técnicas de conservação tradicionais, que a maioria<br />
dos conservadores locais não domina, não devia ser subestima<strong>da</strong>. A aplicação<br />
<strong>da</strong>s técnicas tradicionais aumentaria certamente a integri<strong>da</strong>de dos documentos,<br />
b<strong>em</strong> como a sua esperança de vi<strong>da</strong>.<br />
45
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
2.2 Terminologia<br />
Entre os conservadores de museu e os técnicos de restauro parece existir uma<br />
ver<strong>da</strong>deira torre de Babel, relativamente ao significado dos termos<br />
«preservação» e «conservação». Muitas organizações e autores se têm debruçado<br />
sobre a terminologia <strong>da</strong> preservação. Quanto a nós, não é muito útil<br />
continuar com esta discussão. O mais importante é que, pelo menos todos os<br />
conservadores, definam os seus próprios termos, de modo a que os seus<br />
colegas possam compreender o que quer<strong>em</strong> transmitir. De qualquer modo, esta<br />
clarificação diminui a confusão nos diversos idiomas. MacKenzie apresenta<br />
definições muito latas que cobr<strong>em</strong>, mais ao menos, to<strong>da</strong> a área <strong>da</strong> conservação<br />
(MACKENZIE 1996):<br />
• Preservação, no seu significado corrente no mundo arquivístico, refere-se a<br />
tudo aquilo que contribui para o b<strong>em</strong>-estar físico <strong>da</strong> colecção;<br />
• <strong>Conservação</strong>, ou intervenção física directa sobre o material, é somente uma<br />
parte <strong>da</strong> preservação;<br />
• Preservação indirecta inclui o edifício, os métodos de armazenag<strong>em</strong> de<br />
arquivos, a segurança contra as ameaças e o manuseamento;<br />
• Preservação através <strong>da</strong> substituição ou <strong>da</strong> transferência de suporte. Isto significa executar<br />
cópias dos documentos, normalmente <strong>em</strong> microfilme e, depois, utilizar<br />
as cópias <strong>em</strong> vez dos originais, reduzindo, portanto, o desgaste dos<br />
originais e preservando o seu estado de conservação.<br />
O programa M<strong>em</strong>ory of the World refere (ver a página na Internet) os diferentes<br />
termos como se segu<strong>em</strong>:<br />
• Preservação é a organização e a programação de todos os tipos de activi<strong>da</strong>des<br />
relativas à conservação <strong>da</strong>s colecções, <strong>em</strong> geral;<br />
• <strong>Conservação</strong> é um conceito que inclui conservação preventiva, que t<strong>em</strong> como<br />
objectivo reduzir os riscos de deterioração: controlo ambiental, manutenção<br />
e protecção regular <strong>da</strong>s colecções, aplicando o tratamento adequado,<br />
sist<strong>em</strong>as anti-roubo e criação de documentos alternativos para<br />
documentos originais muito manuseados.<br />
2.2.1 Pirâmide <strong>da</strong> Preservação<br />
Para pôr termo à desord<strong>em</strong> instala<strong>da</strong> na terminologia <strong>da</strong> conservação, os<br />
Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong> criaram a Pirâmide <strong>da</strong> Preservação. Na base deste<br />
46
Preservação e conservação<br />
modelo encontra-se a secção de preservação, com a qual to<strong>da</strong> a colecção beneficia<br />
e, no topo, encontra-se a secção com a qual somente um objecto é que<br />
beneficia pela acção do conservador. A pirâmide <strong>da</strong> preservação é composta<br />
por quatro secções:<br />
• A conservação preventiva integra to<strong>da</strong>s as etapas directas e indirectas, b<strong>em</strong><br />
como as medi<strong>da</strong>s que vão optimizar as condições ambiente, a preservação<br />
e o acesso ao objecto, de modo a prolongar o seu t<strong>em</strong>po de vi<strong>da</strong>. Para<br />
começar, deve definir-se uma linha clara de uma política que inclua<br />
formação, mentalização e profissionalização para todo o pessoal.<br />
• A conservação passiva integra to<strong>da</strong>s as etapas directas e indirectas direcciona<strong>da</strong>s<br />
para o prolongamento do t<strong>em</strong>po de vi<strong>da</strong> dos objectos. Inclui uma<br />
boa gestão interna, purificação do ar, ar-condicionado, limpeza e monitorização<br />
<strong>da</strong> colecção. Um importante aspecto <strong>da</strong> conservação passiva é o<br />
levantamento <strong>da</strong>s condições físicas <strong>da</strong> colecção.<br />
• A conservação activa integra to<strong>da</strong>s as etapas directas e indirectas, b<strong>em</strong> como<br />
intervenções realiza<strong>da</strong>s no objecto de modo a prolongar o seu t<strong>em</strong>po de<br />
vi<strong>da</strong>. Inclui uma nova execução de caixas e invólucros para acondicionar<br />
os objectos, a sua limpeza, desacidificação <strong>em</strong> massa e desinfecção. Esta<br />
fase <strong>em</strong> conservação envolve tarefas que pod<strong>em</strong> não ser realiza<strong>da</strong>s por<br />
conservadores profissionais.<br />
• O restauro integra to<strong>da</strong>s as intervenções que visam o prolongamento do<br />
t<strong>em</strong>po de vi<strong>da</strong> do objecto na sua forma perceptível, de acordo com as<br />
normas de estética e de ética, mantendo a sua integri<strong>da</strong>de histórica. Como<br />
é um trabalho realizado por conservadores altamente qualificados que<br />
trabalham <strong>em</strong> ca<strong>da</strong> objecto, é a fase <strong>da</strong> preservação mais dispendiosa e<br />
morosa.<br />
2.2.2 <strong>Conservação</strong> preventiva<br />
Um dos objectivos prioritários de um museu é assegurar que as suas colecções<br />
fiqu<strong>em</strong> disponíveis para as gerações futuras. A ideia clássica é a de um<br />
conservador vestido de branco a trabalhar num laboratório para estabilizar e<br />
reparar uma peça que sofreu um <strong>da</strong>no ou que foi alvo de negligência. É uma<br />
«conservação paliativa». Contudo, é preferível prevenir ou reduzir a priori os<br />
<strong>da</strong>nos que possam ocorrer. É a conservação preventiva. A deterioração é um<br />
processo contínuo, natural e, to<strong>da</strong>via, pode ser retar<strong>da</strong>do; de facto, a ciência<br />
sugeriu processos que prolongam o t<strong>em</strong>po natural de vi<strong>da</strong> <strong>da</strong> maioria dos<br />
47
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
objectos que se encontra nos museus. Muitas dessas técnicas baseiam-se no<br />
senso comum e numa boa gestão interna. Contudo, estas técnicas dev<strong>em</strong> ser<br />
consoli<strong>da</strong><strong>da</strong>s através dos resultados <strong>da</strong> investigação corrente. Recorrer a um<br />
especialista é vital, se se quer fazer uma abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> fun<strong>da</strong>menta<strong>da</strong> (READ 1994).<br />
Conhecer e identificar probl<strong>em</strong>as de conservação num ambiente tropical e<br />
prever os desenvolvimentos é difícil de compreender e de definir. O probl<strong>em</strong>a<br />
detectado deve ser resolvido, salientando-se a importância <strong>da</strong> conservação<br />
preventiva (DARTNALL 1988). N<strong>em</strong> que seja somente por razões lógicas, os conservadores<br />
dev<strong>em</strong> concentrar-se na conservação preventiva. Apesar de tudo, a prevenção<br />
é preferível ao tratamento. Isto é dirigido especialmente aos países <strong>em</strong><br />
vias de desenvolvimento que não pod<strong>em</strong> canalizar meios financeiros suficientes<br />
para a preservação. Simultaneamente, os países mais ricos consideram<br />
que a conservação preventiva é uma medi<strong>da</strong> que contribui para a racionalização<br />
dos gastos. De facto, porque a conservação preventiva visa o bom estado<br />
de conservação <strong>da</strong>s colecções <strong>em</strong> vez do tratamento de objectos individuais,<br />
vai permitir uma utilização mais eficiente dos recursos limitados, <strong>em</strong> prol <strong>da</strong><br />
maior parte. É, talvez, por isso que a conservação preventiva, a gestão <strong>da</strong>s<br />
condições ambiente onde as colecções se encontram e onde pod<strong>em</strong> ser consulta<strong>da</strong>s,<br />
fez grandes progressos na investigação e na aplicação dos seus resultados<br />
(página <strong>da</strong> Internet do GCI).<br />
Infelizmente, n<strong>em</strong> todos os gestores estão convictos <strong>da</strong> necessi<strong>da</strong>de de<br />
aplicar a conservação preventiva. Durante a sua estadia na Malásia, Margaret<br />
Child observou que os bibliotecários <strong>da</strong> National Library não estavam interessados<br />
<strong>em</strong> despender os fundos necessários para o desenvolvimento de uma<br />
infra-estrutura que viabilizasse a evolução e a maturi<strong>da</strong>de de um programa.<br />
Pelo contrário, preferiam alcançar resultados mais rápidos. As acções básicas <strong>da</strong><br />
preservação, como pequenas intervenções ou a execução de novos acondicionamentos,<br />
inseri<strong>da</strong>s num programa consistente e coordenado, são mais<br />
eficazes do que iniciativas ad hoc (CHILD 1997).<br />
Já na fase <strong>da</strong> elaboração do projecto e <strong>da</strong> construção de um edifício, pod<strong>em</strong><br />
ser toma<strong>da</strong>s muitas medi<strong>da</strong>s de precaução (ver capítulo sobre Edifícios – Construção).<br />
Relativamente ao armazenamento, também pod<strong>em</strong> ser toma<strong>da</strong>s muitas<br />
medi<strong>da</strong>s para se prolongar o t<strong>em</strong>po de vi<strong>da</strong> dos objectos (ver capítulo de<br />
Armazenamento).Ver também ARAAFU 1991; BECK 1996; BRANDT 1994; GUILLEMARD<br />
et al. 1990; MAIDIN HUSSIN 1985; RAPHAEL 1993; READ 1994; SOUZA 1993 e<br />
1994; STANIFORD 1997; TORRES 1996.<br />
48
Preservação e conservação<br />
2.3 Preservação <strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento<br />
Nos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento com uma economia fraca, é compreensível<br />
que n<strong>em</strong> instalações n<strong>em</strong> ambiente político se sobreponham às necessi<strong>da</strong>des<br />
prioritárias para salvar o património cultural (MASAO 1987). Apesar de<br />
tudo, já <strong>em</strong> 1918, na All India Conference of Librarians realiza<strong>da</strong> <strong>em</strong> Lahore,<br />
no Paquistão, presidi<strong>da</strong> pelo bibliotecário <strong>da</strong> Biblioteca Imperial, Chapman, foi<br />
aprova<strong>da</strong> uma proposta sobre «Preservação do livro <strong>em</strong> papel» (BANERJEE 1997).<br />
Contudo, muitos anos passaram até que a preservação fosse reconheci<strong>da</strong> como<br />
uma componente necessária e vital para o desenvolvimento de uma colecção<br />
(LAN HIANG CHAR 1990).<br />
Um dos primeiros defensores e, talvez, divulgadores <strong>da</strong> biblioteconomia<br />
tropical e <strong>da</strong> conservação tropical foi Wilfred J. Plumbe. Como bibliotecário <strong>da</strong><br />
University of Malaya e, mais tarde, <strong>da</strong> Ahmadu Bello University, na Nigéria,<br />
publicou diversos artigos críticos e livros sobre probl<strong>em</strong>as específicos <strong>da</strong> salvaguar<strong>da</strong><br />
de arquivos e de documentos de biblioteca nos trópicos.A sua bibliografia,<br />
<strong>da</strong>ta<strong>da</strong> de 1958, já está ultrapassa<strong>da</strong>, contudo, uma reedição actualiza<strong>da</strong>, de 1964,<br />
prova que teve muita procura e que foi a única obra do género publica<strong>da</strong> naquela<br />
época (PLUMBE 1958 e 1964b). Plumbe, <strong>em</strong> 1964, refere que <strong>em</strong> vários países tropicais<br />
é necessária a criação de centros de patologia do livro, onde se pudess<strong>em</strong><br />
identificar rapi<strong>da</strong>mente pragas de insectos, b<strong>em</strong> como obter directrizes sobre o<br />
seu controlo e outros aspectos sobre a preservação do livro.Também se apercebeu<br />
<strong>da</strong> necessi<strong>da</strong>de de uma reavaliação dos probl<strong>em</strong>as de preservação dos livros por<br />
parte dos editores e do comércio livresco <strong>em</strong> geral. Ambas as ideias, apesar de<br />
ter<strong>em</strong> quase quarenta anos de existência, pod<strong>em</strong> ser ain<strong>da</strong> hoje considera<strong>da</strong>s<br />
(PLUMBE 1964a). O seu livro de 1987 sobre biblioteconomia tropical é uma compilação<br />
de artigos, sendo a grande maioria dos anos sessenta (PLUMBE 1987a).<br />
Outro pioneiro neste t<strong>em</strong>a é o arquivista francês Yves Pérotin que publicou,<br />
<strong>em</strong> 1966, um manual sobre «arquivística tropical», que considera uma<br />
subdisciplina <strong>da</strong> arquivística sob o ponto de vista exclusivamente material.<br />
Ele disse claramente que os manuais publicados até então tinham sido escritos<br />
<strong>em</strong> países não-tropicais. Abor<strong>da</strong>vam questões que só eram váli<strong>da</strong>s para os seus<br />
próprios climas como se foss<strong>em</strong> váli<strong>da</strong>s para todo o mundo.A obra consiste <strong>em</strong><br />
duas partes completamente distintas: a arquivística geral e a arquivística tropical,<br />
propriamente dita, escrita por autores diferentes com amplas<br />
experiências nos trópicos. Este manual de arquivologia tropical foi valioso para<br />
a altura e facultou aos arquivistas nos países tropicais um conjunto de<br />
informações simples e práticas (PÉROTIN 1966).<br />
49
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Nos últimos cinquenta anos a conservação desenvolveu-se e adquiriu um<br />
estatuto acad<strong>em</strong>ico-universitário. Quase por to<strong>da</strong> a parte, a preservação do<br />
património cultural é um t<strong>em</strong>a bastante discutido nas reuniões, mas as medi<strong>da</strong>s<br />
práticas levam frequent<strong>em</strong>ente algum t<strong>em</strong>po a ser aplica<strong>da</strong>s. Deve salientar-se<br />
que é mais moroso organizar um serviço nacional para a protecção do património<br />
cultural do que construir uma fábrica de grande dimensão, e aqueles<br />
que estão preocupados com a preservação dos vestígios do passado dev<strong>em</strong> ser<br />
extr<strong>em</strong>amente pacientes (COREMANS 1965). Devido ao uso intensivo <strong>da</strong> tecnologia<br />
do microfilme no Sudeste Asiático, os tratamentos de preservação dos originais,<br />
<strong>em</strong> alguns casos, não têm constituído uma grande priori<strong>da</strong>de, e intervenções<br />
sustenta<strong>da</strong>s a longo prazo não têm merecido suficiente atenção (DEAN et al.<br />
2001). A aceitação de um projecto de preservação e a participação activa <strong>da</strong><br />
população local no trabalho de preservação são um pré-requisito para alcançar<br />
sucesso (HUNDIUS 2000). Por isso é que a revitalização <strong>da</strong> consciência pública<br />
sobre o valor <strong>da</strong> literatura tradicional <strong>da</strong> população local se reveste <strong>da</strong> maior<br />
importância. Só quando o valor <strong>da</strong> tradição literária é reconhecido pelas<br />
próprias pessoas é que o Estado poderá estar sensível a investir na salvaguar<strong>da</strong><br />
do seu património cultural. De facto, estas experiências vão ao encontro <strong>da</strong><br />
experiência dos técnicos que trabalham <strong>em</strong> projectos de conservação <strong>da</strong> natureza<br />
(ver também KISHORE 1992; HE SHUZONG 2000).<br />
Contrariamente ao que se verifica no Ocidente, nas regiões tropicais ain<strong>da</strong><br />
exist<strong>em</strong> colecções que estão à guar<strong>da</strong> de particulares (BANERJEE 1997). Estas situações<br />
não só criam óbvios probl<strong>em</strong>as de acesso, como também de preservação.<br />
Não é certamente fácil convencer os proprietários <strong>da</strong> necessi<strong>da</strong>de real de<br />
impl<strong>em</strong>entar medi<strong>da</strong>s preventivas (ARNOULT 2000).<br />
Para a biblioteconomia sobre os países tropicais <strong>em</strong> geral, ver World Libraries,<br />
uma revista que se centra <strong>em</strong> biblioteconomia e no desenvolvimento socioeconómico<br />
<strong>em</strong> África, na Ásia e na América Latina.Trata-se <strong>da</strong> continuação <strong>da</strong> Third<br />
World Libraries que foi edita<strong>da</strong> de 1980 até ao Verão de 1996, e é edita<strong>da</strong> pela<br />
Dominican University (anteriormente Rosary College) Graduate School of<br />
Library and Information Science in Illinois.<br />
A. M. Abull Huq publicou uma bibliografia interessante sobre biblioteconomia<br />
mundial, a qual é uma referência incontornável para a biblioteconomia<br />
internacional e comparativa (HUQ 1995). Esta publicação é a continuação do seu<br />
trabalho anterior, cobrindo o período de 1960 a 1975, a qual apresenta a<br />
bibliografia de um período importante no desenvolvimento <strong>da</strong> globalização<br />
dos serviços de biblioteca e informação (HUQ et al. 1977).<br />
50
Preservação e conservação<br />
A este respeito, a Libri, International Libraries and Information Services também publica<br />
artigos interessantes. Ver LIBRI 1997 (47/3). Ver também CLOOMAN 1997b; EVANS<br />
1995 e FABER 1994.<br />
2.3.1 Artefactos dos trópicos<br />
Já deverá estar claro que um conservador que trabalha nos trópicos se depara<br />
com probl<strong>em</strong>as específicos, diferentes dos probl<strong>em</strong>as que colegas nas zonas<br />
t<strong>em</strong>pera<strong>da</strong>s enfrentam. Estes probl<strong>em</strong>as pod<strong>em</strong> classificar-se <strong>em</strong> dois grupos:<br />
os que resultam <strong>da</strong> especifici<strong>da</strong>de dos objectos e dos documentos, e os que<br />
resultam <strong>da</strong>s condições ambiente tropicais existentes nos depósitos onde são<br />
guar<strong>da</strong>dos.<br />
Inicialmente, há cerca de vinte anos, conservadores e responsáveis pelas<br />
colecções começaram a aperceber-se que os artefactos dos trópicos são bastante<br />
diferentes quanto aos materiais, à técnica e à sua utilização tradicional.A ignorância<br />
relativa a estes aspectos revelou-se frequent<strong>em</strong>ente desastrosa. Por ex<strong>em</strong>plo,<br />
às miniaturas que normalmente apresentam uma superfície s<strong>em</strong> brilho, aplicaram-lhes<br />
frequent<strong>em</strong>ente várias cama<strong>da</strong>s de verniz para se ass<strong>em</strong>elhar<strong>em</strong> a<br />
uma pintura a óleo. No passado, a revista Museum, <strong>da</strong> UNESCO, que tinha como<br />
objectivo facultar informações, a nível mundial, sobre a conservação de peças<br />
museológicas, fê-lo relativamente a objectos e materiais do Ocidente (AGRAWAL<br />
1974). Desde então, a conservação desses objectos foi alvo de atenção redobra<strong>da</strong><br />
tendo alguns países tropicais ganho fama (ver também capítulo Livros e materiais de<br />
escrita). Além disso, a manutenção nos países ocidentais de artefactos oriundos<br />
de países não-ocidentais beneficiou <strong>em</strong> grande escala desta aprendizag<strong>em</strong><br />
(BENNETT 1985; TANABE 1980).<br />
Om Prakesh Agrawal publicou uma obra sobre conservação de materiais<br />
indígenas do Sudeste Asiático, escritos e pintados, para o International Institute<br />
for the Conservation of Museum Objects (IIC), obra que continua a ser muito<br />
útil também para todos os que trabalham com casca de bétula, folhas de<br />
palmeira, pintura <strong>em</strong> tecido, manuscritos <strong>em</strong> papel, pinturas <strong>em</strong> papel e thankas<br />
(pintura tibetana) (AGRAWAL 1984). Num trabalho anterior abordou estes<br />
t<strong>em</strong>as, incluindo ain<strong>da</strong> a laca, <strong>em</strong>butidos <strong>em</strong> prata e cobre, e bonecos usados<br />
para projectar sombras (AGRAWAL 1975). É muito interessante, <strong>em</strong> ambas as<br />
publicações, a apresentação dos costumes tradicionais, <strong>da</strong>s práticas e <strong>da</strong>s<br />
normas de manuseamento e conservação dos artefactos. Entre outras coisas, os<br />
conservadores dos manuscritos asiáticos n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre compreend<strong>em</strong> que uma<br />
51
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
<strong>da</strong>s funções importantes dos t<strong>em</strong>plos e dos mosteiros era cui<strong>da</strong>r <strong>da</strong> preservação<br />
dos manuscritos antigos (ver também GREENE 1992; MELLOR 1992; MIBACH 1992; WEERSMA<br />
1987).Tecnicamente, alguns dos costumes locais relacionados com os artefactos<br />
são inconsistentes face à visão actual <strong>da</strong> preservação. Nos anos setenta,<br />
a reacção aos devotos ardentes, que adornam as esculturas de deuses nos<br />
museus com unguentos e grinal<strong>da</strong>s de flores ain<strong>da</strong> era negativa. Foram <strong>da</strong><strong>da</strong>s<br />
instruções aos conservadores de museus para que os vigilantes controlass<strong>em</strong><br />
esta prática (BAXI 1974a). Mas a atitude do pessoal dos museus no que respeita<br />
aos costumes locais foi-se modificando ao longo dos anos (ver BARCLAY et al. 1988).<br />
Nos nossos dias, a ideia que prevalece nos estudos museológicos é que as<br />
populações indígenas têm o direito de praticar os seus rituais junto aos<br />
artefactos que lhes foram retirados há muito t<strong>em</strong>po, depositados agora nas<br />
instalações dos museus (ver NIEÇ 1998). Viv<strong>em</strong>os numa época <strong>em</strong> que as pessoas<br />
reclamam os seus direitos aos governos. O Estado é forçado a devolver as terras,<br />
os direitos legais sobre os artefactos é disputado e grupos formados por um<br />
elevado número de pessoas são compensados pelo prejuízo neles infligido,<br />
no passado. Estas discussões irão afectar a ciência e prática <strong>da</strong> preservação, mais<br />
tarde ou mais cedo (ver também MULONGO 1992).<br />
2.3.2 Probl<strong>em</strong>as climáticos<br />
O amplo leque de efeitos nefastos provocados pelas condições rigorosas de um<br />
clima tropical sobre os artefactos é um t<strong>em</strong>a que só recent<strong>em</strong>ente goza de<br />
atenção por parte de uma audiência crescente no mundo <strong>da</strong> conservação.<br />
Até agora não se encontrou um guia, um manual ou um livro de referência que<br />
abor<strong>da</strong>sse exclusivamente os probl<strong>em</strong>as típicos com que um conservador se<br />
depara nos trópicos. S<strong>em</strong> dúvi<strong>da</strong> que já foram publicados muitos artigos sobre<br />
certas colecções, parte de colecções ou ain<strong>da</strong> sobre probl<strong>em</strong>as típicos, muito<br />
isolados; mas ain<strong>da</strong> está por surgir uma obra de conjunto. Nos anos noventa,<br />
Agrawal publicou uma obra sobre preservação de cariz mais genérico. Foi<br />
elabora<strong>da</strong> para facultar informação, <strong>em</strong> linguag<strong>em</strong> acessível, de modo a possibilitar<br />
aos funcionários de mais de quatrocentos museus indianos a aplicação<br />
dos princípios <strong>da</strong> preservação. Lamentavelmente, o autor não deu muita atenção<br />
aos efeitos adversos que o clima indiano provoca nos artefactos (AGRAWAL 1993).<br />
52
Preservação e conservação<br />
2.3.3 Laminação<br />
Existe uma grande polémica sobre uma tecnologia <strong>em</strong> particular <strong>da</strong><br />
preservação do livro e do papel: a laminação. Esta técnica merece uma atenção<br />
especial, já que é frequent<strong>em</strong>ente pratica<strong>da</strong> nos laboratórios de conservação<br />
nos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, enquanto na maior parte dos países do<br />
Ocidente já foi ultrapassa<strong>da</strong> na sequência de inúmeras discussões. Deve<br />
diferenciar-se a laminação a frio (reforço) <strong>da</strong> laminação a quente. Mas até a<br />
laminação a frio não é uma boa solução para muitos casos.<br />
Geralmente trata-se de intercalar um documento entre duas folhas de um<br />
determinado suporte. Usualmente é identificado com a técnica de inserção de<br />
um documento entre duas folhas de fibras sintéticas. O arquivista americano<br />
W. J. Barrows criou este método há aproxima<strong>da</strong>mente sessenta anos. Hoje <strong>em</strong><br />
dia, exist<strong>em</strong> muitos outros sist<strong>em</strong>as de selag<strong>em</strong> que pod<strong>em</strong> ser adoptados <strong>em</strong><br />
documentos de arquivo. Foram concebidos para reduzir os custos elevados <strong>da</strong>s<br />
máquinas de laminação b<strong>em</strong> como para reduzir as altas t<strong>em</strong>peraturas exigi<strong>da</strong>s<br />
pela laminação (KARIM 1988).<br />
Em 1947, o processo nunca visto de laminação foi revisto no Indian Archives<br />
(CHAKRAVORTI 1947). Já nos anos sessenta, a laminação era encara<strong>da</strong> como uma<br />
solução parcial para os probl<strong>em</strong>as respeitantes à conservação do papel.<br />
Kathpalia ain<strong>da</strong> dá muita importância a todos os tipos de processos de<br />
laminação. Tanto abor<strong>da</strong> o método de laminação a quente com película<br />
sintética, como com tissue (KATHPALIA 1966).<br />
De um modo geral, o método de laminação com película de acetato celulósico<br />
como adesivo termoplástico foi abolido. Pelo menos, o acetato de celulose foi<br />
substituído por película de polietileno. O método de laminação com acetato de<br />
celulose já não é considerado um método legítimo de preservação, porque a sua<br />
reputação foi afecta<strong>da</strong> desde a altura <strong>em</strong> que foi aplicado <strong>em</strong> excesso e <strong>em</strong><br />
situações inadequa<strong>da</strong>s. Muitas instituições deixaram de utilizar este método,<br />
na sequência <strong>da</strong> decisão <strong>da</strong> Library of Congress que visava a substituição <strong>da</strong><br />
laminação pelo encapsulamento, nos anos setenta (MCCRADY 1992). Actualmente,<br />
a maioria dos conservadores prefere a laminação a frio à laminação a quente,<br />
devido às inúmeras desvantagens desta. De facto, trata-se de um método rígido,<br />
i. é, é s<strong>em</strong>pre o mesmo, independent<strong>em</strong>ente do documento (KARIM 1988). Além<br />
disso, é difícil de reverter. A quali<strong>da</strong>de dos materiais utilizados é de importância<br />
decisiva. Entretanto, diversos projectos de reversibili<strong>da</strong>de de laminações tiveram<br />
início para restaurar documentos que se encontravam bastante deteriorados<br />
devido às laminações realiza<strong>da</strong>s nos anos 60 e 70.<br />
53
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
A preservação não consegue propor soluções para to<strong>da</strong>s as situações.<br />
Há muitos anos, o termo «laminação» tornou-se quase um sinónimo de<br />
preservação. A laminação chegou a ser entendi<strong>da</strong> como o tratamento preferencial<br />
e era até aplicado <strong>em</strong> documentos no seu estado primitivo. Este método<br />
raramente é adequado às necessi<strong>da</strong>des existentes, não utiliza materiais estáveis,<br />
é totalmente estranho à situação e dificulta a reversibili<strong>da</strong>de. A experiência<br />
revela que, pelo menos, a técnica de laminação a quente não pode mais ser<br />
considera<strong>da</strong> uma opção viável de preservação para documentos valiosos<br />
(DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY 1997). Muitos dos prós e contras pod<strong>em</strong> ser<br />
pesquisados na página <strong>da</strong> Internet CoOL e na Conservation Dist List.<br />
2.3.4 Bibliografia<br />
T<strong>em</strong> sido publica<strong>da</strong> uma quanti<strong>da</strong>de impressionante de bibliografia sobre preservação<br />
<strong>em</strong> zonas de clima t<strong>em</strong>perado.A recente e conheci<strong>da</strong> bibliografia sobre<br />
conservação de George Martin Cunha, 1972, e a recente obra que a sucede, de<br />
1983 a 1996, de Robert Schnare, proporcionam uma boa panorâmica sobre a<br />
área <strong>da</strong> conservação (CUNHA et al. 1972; SCHNARE et al. 2001). Schnare e os seus co-autores<br />
produziram uma obra impressionante, com mais de 750 páginas, que todos<br />
os conservadores que se prezam dev<strong>em</strong> adquirir. Morrow e Schoenly cobr<strong>em</strong> o<br />
período de 1966 a 1979 na sua bibliografia sobre conservação (MORROW et al.<br />
1979). Jor<strong>da</strong>n escreveu sobre o período que vai de 1993 a 1998 (JORDAN 2000).<br />
Para Archives Preservation Resource Review, ver KAPLAN et al. 1991.<br />
Como os riscos químicos e físicos <strong>em</strong> conservação n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre são<br />
conhecidos, as directrizes ambientais para a conservação publica<strong>da</strong>s pelo<br />
Canadian Council of Archives constitu<strong>em</strong> uma leitura essencial para qualquer<br />
oficina de conservação (LULL et al. 1995). Para a gestão de colecções, deve consultar-se<br />
a página <strong>da</strong> Internet do National Park Service, onde se pod<strong>em</strong> descarregar<br />
diversos artigos, simples e práticos, como o Conserve O Gram, Preservation Tech Notes e<br />
Preservation Briefs.Ver também MANNING et al. 2000; TORRES 1990.<br />
Na Internet estão disponíveis inúmeras bibliografias sobre preservação.<br />
Pode-se pesquisar nas páginas <strong>da</strong> Internet <strong>da</strong> SOLINET (Southeastern Library<br />
Network), <strong>da</strong> NLA (National Library of Australia), <strong>da</strong> Library of Congress, <strong>da</strong><br />
Grinnell College Library e do SCMRE (Smithsonian Institute). A Canadian<br />
Heritage Information Network – CHIN (cadeia de informação) disponibiliza a<br />
Bibliographic and Humanities Conservation Information Network – BCIN, uma<br />
enorme base de <strong>da</strong>dos que menciona publicações sobre to<strong>da</strong>s as áreas <strong>da</strong><br />
54
Preservação e conservação<br />
conservação. A BCIN conta com cerca de 190 000 referências bibliográficas<br />
sobre conservação, incluindo os primeiros 34 volumes <strong>da</strong> Art and Archaeology<br />
Technical Abstracts (AATA), publicados entre 1955 e 1997, relatórios técnicos, actas<br />
de congressos, artigos de revistas, livros, b<strong>em</strong> como material audiovisual e<br />
material não-publicado. A BCIN foi cria<strong>da</strong> <strong>em</strong> 1987 como uma base de <strong>da</strong>dos<br />
acessível através de assinatura, disponível através do Canadian Heritage<br />
Information Network (CHIN). Em Maio de 2002, a BCIN passou a ser gratuita na<br />
página <strong>da</strong> Internet do CIN, distribuí<strong>da</strong> pelo CHIN. O acesso à base de <strong>da</strong>dos,<br />
redesenha<strong>da</strong> <strong>em</strong> 2002, inclui entre outras facili<strong>da</strong>des a pesquisa simples e<br />
avança<strong>da</strong> e a capaci<strong>da</strong>de para redefinir pesquisas.<br />
Desde Junho de 2002, a indispensável Art and Archaelogy Technical Abstracts (AATA)<br />
está disponível <strong>em</strong> linha. A AATA online, Abstracts of International Conservation<br />
Literature é uma base de <strong>da</strong>dos completa, com mais de 100 000 sumários<br />
revistos criticamente e actualizados trimestralmente, relacionados com a<br />
conservação e preservação do património material. Trata-se de uma base de<br />
<strong>da</strong>dos muito sofistica<strong>da</strong>, com sist<strong>em</strong>a de pesquisa completo e a capaci<strong>da</strong>de para<br />
individualizar preferências. A utilização do sist<strong>em</strong>a é gratuita. Contudo, os<br />
novos utilizadores dev<strong>em</strong> inscrever-se.<br />
Outro recurso <strong>em</strong> linha gratuito para os profissionais de conservação é o<br />
CoOL (Conservation Online), a biblioteca de conservação mais útil. Este<br />
projecto do Preservation Department of Stanford University Libraries teve<br />
início <strong>em</strong> 1987; é uma biblioteca com todo o tipo de informação sobre<br />
conservação, que cobre muitos tópicos com interesse para aqueles que estão<br />
envolvidos na conservação de bibliotecas, de arquivos e de materiais de<br />
museus. O conteúdo do CoOL resulta duma varie<strong>da</strong>de de fontes e espera-se que<br />
os seus utilizadores contribuam com algum material para o projecto.<br />
Hoje <strong>em</strong> dia, um conservador pode assinar múltiplos boletins electrónicos,<br />
listas de correio e grupos de discussão. Uma pesquisa na Internet mostrará<br />
todos os tipos de listas, duas <strong>da</strong>s quais exig<strong>em</strong> especial atenção. O grupo de<br />
discussão electrónica <strong>da</strong> Conservation Dist List cobre um amplo leque de t<strong>em</strong>as<br />
de preservação e conservação. O grupo de discussão electrónica e de notícias<br />
actuais pouco convencionais ExLibris é de particular interesse para aqueles que<br />
trabalham essencialmente com livro antigo e colecções especiais. Foi criado <strong>em</strong><br />
1990, na Rutgers University e, <strong>em</strong> Nov<strong>em</strong>bro de 1995, mudou-se para a<br />
University of California <strong>em</strong> Berkeley. Ambas as listas são acessíveis através <strong>da</strong><br />
página <strong>da</strong> Internet CoOL.<br />
55
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Para os restantes t<strong>em</strong>as, utilizo as revistas e os boletins comuns de conservação:<br />
Abbey Newsletter, International Preservation News, Journal of the American Institute<br />
for Conservation, Restauro, Restaurator, Studies in Conservation,The Paper Conservator. Algumas<br />
destas publicações estão disponíveis na Internet (ver Apêndice 2).<br />
Em 1990, Claire Gerhard preparou um pequeno levantamento bibliográfico<br />
sobre conservação preventiva nas zonas tropicais. Dedica especial atenção à<br />
conservação nos museus africanos (GERHARD 1990). Existe outra recente<br />
bibliografia sobre preservação e conservação escrita por Gabriel O. Alegbeleye<br />
para o Joint Committee on Preservation <strong>da</strong> IFLA, <strong>em</strong> África. Abarca literatura<br />
sobre materiais <strong>em</strong> suporte papel, materiais noutros tipos de suportes e <strong>em</strong><br />
edifícios, com especial realce no continente africano (ALEGBELEYE 2000). Para a<br />
consulta de bibliografia sobre preservação no Brasil, ver ALMEIDA 1996.<br />
Títulos antigos sobre preservação nos trópicos são ANÓNIMO 1940, 1944,<br />
1952, 1954 e 1969; BHARGAVA 1967; BLACKIE 1930; BOUSTEAD et al. 1963; BROWN<br />
1903 e 1908; CUNDALL 1926; DATTA 1969; DAVIES 1971 e 1974; EVANS 1969;<br />
FIRMINGER 1921; FLIEDER 1966; JANTAN 1969; KATHPALIA 1966 e 1974; KAUL<br />
1920; KENNEDY 1959 e 1960; KIANI 1974; LEFROY 1909; PACHECO 1978; PÉROTIN<br />
1969; PLUMBE 1958, 1959b, 1964a e 1979; RAUSCHERT 1957; SAVAGE 1934;<br />
SHIPLEY 1926; SINHA 1977; SUDBOROUGH et al. 1920; TURNER 1989; UNESCO 1967<br />
e 1968; WILLIAMS-HUNT 1953.<br />
Outros títulos de foro geral, publicações regionais ou relatórios sobre<br />
conservação nos trópicos são AARONS 1988; AGRAWAL 1974a, 1974b, 1979,<br />
1993 e 1994c; ALEGBELEYE 1985 e 1996a; AL RASHID 1974; ANÓNIMO 1943,<br />
1978, 1980, 1987, 1988; 1994a e 1994b; APARECIDA DE VRIES 1992; ARFANIS<br />
1999; ARFANIS et al. 1993; ARNOULT 1989a e 1989b; ASHRAF et al. 1980; BADU<br />
1990; BADGLEY 1995; BAKKEN 1987; BANSA 1981; BARBÁCHANO 1979; BERGDAHL<br />
1996; BILESANMI 1988 e 1988b; BOUSTEAD 1964; BUCHANAN 1995; CATALÁN<br />
BERTONI et al. 1998; CHATTERJEE 1974; CHIDA 1991; CLARKE 1994; CLEMENTS 1985;<br />
COATES 1993; COREA et al. 1992; CORREIA 1998; CURTIN 1966; DAVISON 1981;<br />
DAWODU 1982; DEAN 1999a; DESHPANDE 1973; D’ORLEANS 1985; DOS SANTOS<br />
1996; DOSUNMI 1989; DREWES 2000; DROGUET 1988; DUVERNE 1997; EVANS 1981<br />
e 1982; EVANS 1995; EZENNIA 1994; FABER 1994; FATIMA 1993; FLOOD 1962;<br />
FORDE 1985; FOX 1984 e 1988; FRANCO et al. 1989; GABOA 1995; GAIROLA 1971<br />
e 1974; GIESE 1996; GOSLING 1996; HAQUE 1996; HARRIS 1957; HARVEY 1995;<br />
HATCH DUPREE 1999; HEGAZI 1996; HENCHY 1998; IWASAKI 1974; JANPOSRI 1975;<br />
JARVIS [s. d.]; KABEBERI 1986; KAIKU 1979; KATHPALIA 1982 e 1982b; KEMONI<br />
1996; KHAN 1992; KIBUNJIA 1997; KLEITZ 1994; KUBA 2001; KULPANTHADA 1974;<br />
LEMMON 1990; LOOK et al. 1996; MACLEAn 1993; MARSH 1989; MATENJE 1985;<br />
56
Preservação e conservação<br />
MAZIKANA 1992; MBAYE 1982; MCCREDIE et al. 1981; MORLEY 1965 e 1974;<br />
MOUSTAMINDI 1974; MUNOZ-SOLA 1987; MUSEMBI 1986 e 1999; MWIYERIWA<br />
1981; NATIONAL ARCHIVES OF INDIA 1988, 1991 e 1993; NDIAYE 1989; NEWMAN<br />
et al. 2000; NIKNAM 1992 e 1995; NISHIKAWA 1977, N'JIE 1987; NOONAN 1987;<br />
OGDEN 1991; OJEH 1983; OJO-IGBINOBA 1991 e 1994; OLIOBI 1987; ONWUBIKO<br />
1991; ORMANNI 1975; PALMA 1999; PALMAI 1982;PASTOUREAU 1984; PATON 1985;<br />
PEARSON 1979 e 1993a; PERTI 1987 e 1989; PERERA 1991; PLUMBE 1987c e<br />
1987d; POLLACK 1988; RHODES 1969; RIBEIRo ZAHER 1999; RICKS 1981 e 1982;<br />
RIJAL 1963; RUTIMANN 1992; SALAZAR 1974; SAUÇOIs 1976; SILVA 1991; SMITH<br />
1996; SOUZA MARDER et al. 2000; STRICKLAND 1959; SULISTYO et al. 1991;<br />
SUTAARGA 1974; TAYLOR 1994; TERRY GONZÁLEZ 1996; THURSTON 1986; TSONOBE<br />
1986; TUNIS 1989; UNESCO 1978; UNOMAH 1985; VINAS TORNER 1975; WERTH<br />
1984; WESTRA 1987; WETTASINGHE 1989 e 1994; WHEELER 1990; WISE 1999;<br />
ZAKI et al. 1993.<br />
Para a consulta de literatura sobre introdução à preservação, procedimentos,<br />
requisitos, etc. nos trópicos, ver ALEGBELEYE 1996b; BEARMAN et al. 2000; BECK<br />
1999; BERGDAHL et al. 1994; CLOONAN 1997a; DEAN 1997; EVANS 1992; JALIL<br />
1992; KATHPALIA 1978; KIVIA 1997; KRAEMER KOELIER 1960; KUFA 1993 e 1997;<br />
LYALL 1994; PERTI 1986; PLUMBE 1959a; PRAJAPATI 1995; ROPER 1980 e 1989;<br />
RUSSELL 1997; SWARTZBURg 1993; UNESCO 1989.<br />
2.4 Tecnologia apropria<strong>da</strong><br />
Os arquivos nas zonas tropicais confrontam-se com enormes probl<strong>em</strong>as.<br />
O clima tropical é muito hostil para os documentos e arquivos, que muitas<br />
vezes não dispõ<strong>em</strong> de fundos, de pessoal especializado e de instalações<br />
apropria<strong>da</strong>s. Além do mais, têm bastantes dificul<strong>da</strong>des <strong>em</strong> obter máquinas<br />
sofistica<strong>da</strong>s ou peças sobresselentes. Assim, a conservação nas zonas tropicais<br />
deveria ser orienta<strong>da</strong> tendo <strong>em</strong> conta as dificul<strong>da</strong>des económicas, b<strong>em</strong> como o<br />
baixo nível tecnológico; a utilização de máquinas sofistica<strong>da</strong>s não deveria ser<br />
sugeri<strong>da</strong> a não ser que não pudesse ser evita<strong>da</strong> ou que as soluções simples não<br />
resolvess<strong>em</strong> as situações (RHYS-LEWIS 1997). Não será fácil para países <strong>em</strong> vias de<br />
desenvolvimento adquirir o equipamento apropriado nas regiões vizinhas.<br />
Deste modo, será s<strong>em</strong>pre mais caro, que mais não seja, devido aos custos<br />
inerentes ao transporte. A falta de oficina de encadernação e de equipamento<br />
de restauro também se verificou nos Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Nigéria (ALBADA et al.<br />
1989). Hector Montenegro, de Cuba, também reconhece estes probl<strong>em</strong>as. Ele<br />
57
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
faz notar que a falta de recursos económicos e a não-aplicação <strong>da</strong> tecnologia<br />
actual são as causas primordiais para os probl<strong>em</strong>as na conservação. As soluções<br />
criativas e viáveis dev<strong>em</strong> ir ao encontro <strong>da</strong>s condições regionais específicas<br />
(GERHARD 1990). Um bom ex<strong>em</strong>plo de «uma solução local para um probl<strong>em</strong>a<br />
local» é a utilização de burros para garantir serviços de biblioteca multimédia<br />
no Zimbabué.As Donkey Drawn Libraries foram impl<strong>em</strong>enta<strong>da</strong>s para assegurar<br />
a extensão dos serviços de biblioteca a comuni<strong>da</strong>des longínquas. Estima-se que<br />
a taxa de literacia neste distrito seja de cerca de 86% e este número é <strong>em</strong><br />
grande parte atribuído aos novos serviços de biblioteca. A mesma ideia já foi<br />
testa<strong>da</strong> no Quénia, com bibliotecas itinerantes transporta<strong>da</strong>s <strong>em</strong> camelos.<br />
O Camel Library Service foi criado <strong>em</strong> 1996 e contava com três camelos, que<br />
passaram a seis camelos <strong>em</strong> 2001 (TATE 2002a e 2000b).<br />
Uma recomen<strong>da</strong>ção importante saí<strong>da</strong> <strong>da</strong> reunião sobre microfilme de<br />
preservação realiza<strong>da</strong> <strong>em</strong> Fevereiro de 2000, <strong>em</strong> Chiang Mai, sublinhava a<br />
necessi<strong>da</strong>de de se financiar investigação sobre tecnologias mais apropria<strong>da</strong>s<br />
que reconhecess<strong>em</strong> as características <strong>da</strong>s condições climáticas <strong>da</strong> região, que<br />
utilizass<strong>em</strong> os materiais locais disponíveis e definiss<strong>em</strong> normas que reconhecess<strong>em</strong><br />
a necessi<strong>da</strong>de de utilizar técnicas de captura disponíveis (ABHAKORN et al.<br />
2000; DAVIES 1979). Muito antes, já Amy Rosenberg tinha reconhecido a<br />
importância <strong>da</strong> adequação <strong>da</strong> tecnologia e tinha declarado que a solução para<br />
os probl<strong>em</strong>as de conservação devia ser de fácil execução, b<strong>em</strong> como devia ser<br />
adequa<strong>da</strong> à situação económica, à cultura e às tradições <strong>da</strong> região (ROSENBERG<br />
1986).<br />
Infelizmente, há poucas oficinas técnicas nas muitas bibliotecas e muitos<br />
arquivos nos países africanos <strong>em</strong> vias de desenvolvimento. Aqueles que<br />
dispõ<strong>em</strong> de oficinas de qualquer tipo deparam-se com dificul<strong>da</strong>des funcionais<br />
muito reais. Esta situação está relaciona<strong>da</strong> com o défice de equipamento ou<br />
com materiais técnicos obsoletos, com a falta de matérias-primas, b<strong>em</strong> como<br />
de outros materiais e, finalmente, com a manutenção (MBAYE 1995). Num certo<br />
número de países noutros continentes, a situação não é muito diferente.<br />
A grande desvantag<strong>em</strong> na formação do pessoal de conservação fora do país de<br />
orig<strong>em</strong> reside no facto de o tipo de equipamento com o qual aprenderam não<br />
estar disponível no seu próprio país. Outra razão para que a formação não seja<br />
realiza<strong>da</strong> fora é porque as soluções estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s nessa condição necessitam de<br />
uma rea<strong>da</strong>ptação às necessi<strong>da</strong>des do próprio país. O conceito-chave para<br />
qualquer oficina de conservação num país <strong>em</strong> vias de desenvolvimento é a<br />
auto-suficiência (MATWALE 1995).<br />
58
Preservação e conservação<br />
Muitas vezes, apesar de existir vontade <strong>em</strong> preservar os materiais, faltam os<br />
conhecimentos necessários; ain<strong>da</strong> não se percebeu que a adopção de pequenas<br />
precauções pode proporcionar grandes resultados (AGRAWAL 1993). Petherbridge,<br />
consultor de preservação, baseia o seu trabalho no seguinte princípio: «Para<br />
mim, a preservação é, antes do mais, conhecimento técnico, mas isso representa<br />
apenas um pequeno fragmento do processo. Basicamente é uma questão<br />
de gestão política e económica <strong>da</strong>s situações.A área <strong>da</strong> preservação documental<br />
exige o desenvolvimento de um núcleo formado por especialistas e uma infra-<br />
-estrutura cultural que não depen<strong>da</strong> de perícia exterior» (GIESE 1995).<br />
O papel t<strong>em</strong> sido um b<strong>em</strong> precioso durante dois milénios. Num mundo que<br />
está <strong>em</strong> constante transformação, é imperiosa a preservação <strong>da</strong> informação <strong>em</strong><br />
papel permanente. Não é preciso utilizar papel permanente para todos os<br />
documentos, mas é necessário utilizá-lo <strong>em</strong> to<strong>da</strong> a informação considera<strong>da</strong> como<br />
herança cultural para as gerações vindouras. O papel permanente é um conceito<br />
importante para o armazenamento de longa duração <strong>da</strong> informação e uma revisão<br />
dos requisitos exigidos para a sua utilização deve salvaguar<strong>da</strong>r a preservação de<br />
longa duração para as gerações vindouras (DAHLO 1998; ver também BÉGIN et al. 2000).<br />
Num futuro próximo, determinados grupos profissionais <strong>em</strong> inúmeros<br />
países ricos deverão utilizar papel permanente. É frequente a quali<strong>da</strong>de do<br />
papel fabricado <strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento para utilização local ser<br />
fraca e não ser adequa<strong>da</strong>, no que diz respeito à sua conservação (BISWAS 1992).<br />
É por esta razão que a procura do papel permanente e do papel alcalino é maior<br />
nestas regiões (KIRKHAM 1990). Diversos fabricantes e instituições com meios<br />
económicos suficientes decidiram aumentar a produção local de papel<br />
permanente. Esta ideia foi testa<strong>da</strong> <strong>em</strong> pelo menos três países <strong>da</strong> América Latina.<br />
Os projectos de conservação preventiva <strong>em</strong> curso tentam insistent<strong>em</strong>ente que<br />
a indústria priva<strong>da</strong> apoie o aumento <strong>da</strong> produção de papel estável para<br />
substituir papéis de fraca quali<strong>da</strong>de e para servir de substituto do papel japonês<br />
e de outros papéis de conservação isentos de ácido (RAPHAEL 1993).<br />
No Brasil, António Gonçalves <strong>da</strong> Silva, engenheiro químico <strong>em</strong> funções no<br />
Arquivo Nacional, fabricou um papel de conservação, s<strong>em</strong>elhante ao papel<br />
japonês, a partir <strong>da</strong> folha de bananeira. Este papel é transparente e possui boa<br />
resistência mecânica. O Arquivo Nacional, <strong>em</strong> parceria com uma organização<br />
local não-governamental, desenvolveu um projecto para a criação de uma fábrica<br />
que produza esta quali<strong>da</strong>de especial de papel. Simultaneamente, o objectivo deste<br />
projecto é criar uma alternativa às fontes de rendimento dos camponeses, para<br />
assim diminuir a migração para as zonas urbanas (informação pessoal de Adriana Cox<br />
Hollós, Arquivo Nacional, Março 2001).<br />
59
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Desde há algum t<strong>em</strong>po que a arte de conservação do papel japonês se tornou<br />
muito popular entre os conservadores ocidentais.A teoria e as técnicas também<br />
foram exporta<strong>da</strong>s para os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento. Contudo, os<br />
papéis japoneses ain<strong>da</strong> têm um preço extr<strong>em</strong>amente elevado. É por este motivo<br />
que países como o Nepal, a Tailândia e a Índia utilizam papel manufacturado<br />
localmente para intervenções de restauro. Estes papéis pod<strong>em</strong> não ser de tão<br />
boa quali<strong>da</strong>de como o papel japonês, mas são certamente neutros, se não um<br />
pouco alcalinos.<br />
Um projecto s<strong>em</strong>elhante está a tomar forma no sector de papel manufacturado<br />
<strong>da</strong> <strong>em</strong>presa Sri Aurobindo Ashram, <strong>em</strong> Pondicherry, na Índia. O Archives<br />
and Research Library está a planear produzir papel permanente para acondicionar<br />
manuscritos e fotografias. Desde 2000 que esta <strong>em</strong>presa tomou medi<strong>da</strong>s<br />
para fabricar papéis com encolag<strong>em</strong> alcalina, isentos de acidez. Este serviço<br />
pretende fornecer a outras instituições na Índia uma alternativa «indígena» a<br />
materiais importados de custos elevados (ANÓNIMO 2001). Isto vai ao encontro de<br />
uma <strong>da</strong>s recomen<strong>da</strong>ções que Pablo Diaz deu no seu país, Equador, quando<br />
aconselhou os conservadores a organizar<strong>em</strong> a manufactura local do papel de<br />
arquivo, <strong>da</strong> pele, do têxtil, do velino e do cartão para evitar<strong>em</strong> os custos elevados<br />
inerentes às importações (ANÓNIMO 1993). Para mais bibliografia ler AGRAWAL<br />
1981; ANÓNIMO 1955; BANERJEE 1974; ROSSMAN 1935; WEBER 2000; ZIZHI 1989.<br />
2.5 Preservação tradicional<br />
Uma área que t<strong>em</strong> sido esqueci<strong>da</strong> na preservação do património é a <strong>da</strong><br />
preservação tradicional. As poucas fontes de que dispomos apenas nos revelam<br />
um pequeno número de métodos tradicionais de preservação. Não exist<strong>em</strong><br />
quaisquer tipos de relatórios de investigação sist<strong>em</strong>ática neste campo.<br />
Infelizmente, ca<strong>da</strong> vez mais as tradições váli<strong>da</strong>s estão <strong>em</strong> perigo de se perder<strong>em</strong><br />
na nossa geração (HAGMULLER et al. 1991). Devia ser desenvolvi<strong>da</strong> investigação sobre<br />
métodos tradicionais de preservação enquanto estes exist<strong>em</strong> (NICKLIN 1983b).<br />
O termo tradição n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre é usado de forma adequa<strong>da</strong>. Antes <strong>da</strong> era<br />
digital, os materiais não-tradicionais (<strong>em</strong> preservação) significavam objectos<br />
legíveis pela máquina (ver SWARTZBURG 1983). Hoje <strong>em</strong> dia, este argumento é ain<strong>da</strong><br />
mais ver<strong>da</strong>deiro nas discussões sobre digitalização, quando a preservação<br />
tradicional (métodos) se contrapõe à tecnologia digital. Neste contexto,<br />
tradicional é aplicado como equivalente a clássico. Quase que inclui um juízo de<br />
valor quando tradicional significa fora de mo<strong>da</strong>, ultrapassado ou conservador,<br />
60
Preservação e conservação<br />
e tecnologia digital significa moderno, actualizado ou progressista.<br />
Outra associação com a palavra tradicional t<strong>em</strong> a ver com a convicção firme na<br />
natureza. Nesta interpretação naturalística, tradição é equipara<strong>da</strong> a natureza, no<br />
sentido <strong>em</strong> que se trata <strong>da</strong> única forma autêntica de fazer as coisas. Especialmente<br />
nos dias românticos dos anos 60 e 70, este ponto de vista tornou-se<br />
muito popular e, de certa forma, ain<strong>da</strong> é. Subsequent<strong>em</strong>ente, a tradição é<br />
entendi<strong>da</strong> como a orig<strong>em</strong> <strong>da</strong> legitimi<strong>da</strong>de pelo que tradição deixou de ser um<br />
termo descritivo e passou a ser um termo prescritivo.<br />
Neste livro, tradição é um termo neutro utilizado para indicar «transmissão»,<br />
oral ou escrita, através <strong>da</strong> qual formas de activi<strong>da</strong>de são passa<strong>da</strong>s de uma<br />
geração para outra e assim perpetua<strong>da</strong>s. Uma vez que preservação tradicional<br />
se refere a formas tradicionais de tratar e preservar o património, a informação,<br />
de uma maneira ou de outra, é passa<strong>da</strong> de geração <strong>em</strong> geração. Isto vai para<br />
além <strong>da</strong> tecnologia tradicional e apenas inclui manuseamento e manutenção<br />
tradicionais. É de prever que algumas destas tradições estejam relaciona<strong>da</strong>s com<br />
o mundo mágico-religioso (HARBSMEIER 1992). Regra geral, é obrigatório<br />
compreender que não há qualquer juízo de valor incluído na expressão<br />
preservação tradicional.<br />
Muitas socie<strong>da</strong>des nas zonas climáticas tropicais desenvolveram avançados<br />
sist<strong>em</strong>as de registo e práticas de preservação muito antes dos colonizadores<br />
europeus ter<strong>em</strong> chegado com os seus próprios sist<strong>em</strong>as de registo. Como<br />
aconteceu durante a I<strong>da</strong>de Média na Europa, era prática comum <strong>em</strong> muitas<br />
culturas asiáticas copiar com regulari<strong>da</strong>de textos para os seus suportes tradicionais,<br />
mais com uma preocupação <strong>em</strong> preservar a informação do que preservar<br />
os próprios materiais originais (GIESE 1995). Felizmente, cópias de cópias<br />
sobreviveram ao t<strong>em</strong>po e são artefactos importantes para o estudo <strong>da</strong> história,<br />
literatura e língua.<br />
Geralmente, a falta de <strong>da</strong>dos sobre a preservação tradicional e os métodos de<br />
restauro resultam <strong>da</strong> escassez do nosso conhecimento acerca <strong>da</strong> tecnologia <strong>da</strong><br />
arte <strong>em</strong> geral (NICKLIN 1983b). Para a arte ocidental, os decisores políticos<br />
parec<strong>em</strong> ter percebido isto. Um ex<strong>em</strong>plo de um projecto de investigação sobre<br />
as técnicas e métodos ocidentais tradicionais é o programa Europeu Mayerne,<br />
no qual cientistas-conservadores, conservadores e historiadores de arte<br />
trabalham juntos com o objectivo de desven<strong>da</strong>r os muitos segredos <strong>da</strong> pintura<br />
ocidental (ver http://www.nwo.nl/nwhome.nsf/pagesNWOP_5ZLHGL_Eng?opendocument&nav=Mayerne_02_NL<br />
[pesquisa 4 Abril 2006]).<br />
61
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Quando, no passado, se desenvolveu a pesquisa sist<strong>em</strong>ática sobre preservação<br />
tradicional, era sobretudo feita sobre artefactos etnográficos; praticamente<br />
quase na<strong>da</strong> se sabe sobre as formas tradicionais de preservar a herança escrita.<br />
Em África, há muitos ex<strong>em</strong>plos que d<strong>em</strong>onstram como os artistas locais se<br />
preocupam com a durabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s suas criações. Jour<strong>da</strong>in, que trabalhou<br />
como consultor para a UNESCO <strong>em</strong> África, reparou como nos relatórios oficiais<br />
muitas vezes era exagerado o medo sobre o desaparecimento total dos materiais<br />
etnográficos. Tradicionalmente, as populações locais sab<strong>em</strong> muito b<strong>em</strong><br />
como conservar a sua preciosa herança cultural, recorrendo a equipamentos<br />
simples e a produtos naturais locais. Jour<strong>da</strong>in até listou várias técnicas engenhosas<br />
de restauro que eram usa<strong>da</strong>s no passado, <strong>em</strong> África (JOURDAIN 1990).<br />
No Bangladesh, as pessoas não estão muito sensibiliza<strong>da</strong>s para a preservação<br />
de artefactos, contudo, <strong>em</strong>pregam alguns métodos que garant<strong>em</strong> a durabili<strong>da</strong>de<br />
enquanto os objectos estão <strong>em</strong> fase de fabrico.As técnicas antigas de secag<strong>em</strong> de<br />
madeiras e de bambu com extractos de casca de árvore, e de frutos ain<strong>da</strong> se<br />
encontram <strong>em</strong> zonas r<strong>em</strong>otas. Outra técnica consiste <strong>em</strong> mergulhar a madeira<br />
ou o bambu <strong>em</strong> água logo após o corte. A imersão na água não é propriamente<br />
um processo de secag<strong>em</strong>, mas protege os toros de madeira e o bambu dos<br />
insectos e dos fungos. Durante esta imersão, os açúcares, as gomas e os taninos<br />
são expelidos parcialmente, ficando os insectos e os fungos s<strong>em</strong> alimento suficiente<br />
para a sua sobrevivência. A maioria dos artefactos celulósicos é guar<strong>da</strong><strong>da</strong><br />
nas cozinhas. Ficam suspensos do tecto de modo a permanecer<strong>em</strong> acima do<br />
solo. A exposição destes objectos ao calor e ao fumo evita o ataque de microorganismos<br />
e de insectos. As substâncias produzi<strong>da</strong>s pela combustão <strong>da</strong> madeira<br />
formam uma cama<strong>da</strong> fina de uma patina castanha na superfície dos objectos,<br />
funcionando como capa protectora (JAHAN 1987; TEYGELER 1993).<br />
A arte do restauro e <strong>da</strong> montag<strong>em</strong> de obras de arte <strong>em</strong> papel e <strong>em</strong> se<strong>da</strong> foi<br />
pratica<strong>da</strong> no Extr<strong>em</strong>o Oriente durante aproxima<strong>da</strong>mente dois milénios. Com<br />
orig<strong>em</strong> inicialmente na China no início <strong>da</strong> era cristã, as técnicas de conservação<br />
e dos materiais rapi<strong>da</strong>mente se expandiram para o Japão. Um escritor chinês<br />
do século V focou pontos-chave <strong>da</strong> conservação que ain<strong>da</strong> hoje são familiares<br />
aos conservadores-restauradores. Resumi<strong>da</strong>mente, passamos a enumerá-los:<br />
o manuseamento cui<strong>da</strong>doso <strong>da</strong>s peças, a selecção dos materiais próprios para<br />
a conservação, a utilização de luz para exames, o armazenamento correcto e a<br />
vigilância contra infestações, exposição <strong>da</strong>s peças a percentagens correctas de<br />
humi<strong>da</strong>de e a exclusão <strong>da</strong> luz solar (SHIPPING 2000; WILLS 1987).<br />
Para manter os livros <strong>em</strong> bom estado de conservação, os chamados pratos de<br />
madeira nanmum eram colocados por cima e por baixo do livro, e o conjunto<br />
62
Preservação e conservação<br />
atado com fio de algodão. Este tipo de pratos de madeira não se deformava e<br />
mantinha-se seco. Por vezes, depois <strong>da</strong> estação chuvosa, os livros eram secos ao<br />
ar livre sobre tábuas, à sombra. Se um livro se molhasse, um especialista<br />
colocava-o numa panela a vapor. O papel ficava mais macio, o que facilitava a<br />
separação <strong>da</strong>s páginas quando estavam pega<strong>da</strong>s (LIN ZUZAO 1999).<br />
É evidente que os estudos dedicados à preservação indígena e às técnicas de<br />
conservação estão muito atrasados <strong>em</strong> relação às técnicas nos países desenvolvidos.<br />
Já é altura de dedicarmos mais atenção a esta área <strong>da</strong> sabedoria<br />
indígena. Noutras áreas, como a conservação ambiental, a tecnologia tradicional<br />
foi há muito t<strong>em</strong>po considera<strong>da</strong> um factor importante (ver KOZO ISHIZUKA et al.<br />
1995). Depois <strong>da</strong> primeira colecção sist<strong>em</strong>ática de artefactos não-ocidentais,<br />
os estudiosos ocidentais levaram, pelo menos, c<strong>em</strong> anos a reconhecer o artista<br />
individual na «arte primitiva». Talvez os seus colegas <strong>em</strong> arquivos, bibliotecas<br />
e museus, i. é, conservadores-restauradores e conservadores, lev<strong>em</strong> novamente<br />
c<strong>em</strong> anos para descobrir as formas tradicionais na preservação não-ocidental e<br />
o seu valor para as práticas actuais de preservação.<br />
Ver também Edifícios – Construção tradicional e os capítulos Armazenamento<br />
– Acondicionamento – Caixas, e Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas.<br />
Para mais bibliografia, ver ABHAKORN 2000; AFAN 1979; AKUSSAH 1991; ALI<br />
1979; BARCLAY et al. 1988; CEESAY 1986; CHEN 1979; COSETENG 1979; EDMONDS<br />
et al. 2000; GULIK 1958; HENDRY 1998; HUNDIUS 2000; IWASAKI 1979; KIM 1979;<br />
KUMARAPPA 1971; LEE,DU HYUN 1979; LEE,KWANG KYU 1979; LIN,ZUZAO 1999;<br />
LINDSTROM et al. 1994; NAIR 1993a; NATIONAL PARK SERVICE 1993; NICKLIN 1978 e<br />
1983; N’GELE 1984; NILVILAI et al. 1995; OJEH 1984; RODRIGUEA et al. 1990;<br />
SAMIDI et al. 1993; VIÑAS, et al. 1988; WAHEED 1993; WILLS 1987; YATIM 1979;<br />
ZHOU BAO ZHONG 1988.<br />
63
3<br />
Livros e materiais de escrita<br />
3.1 Livros<br />
Geralmente, as colecções de património cultural nos trópicos enfrentam mais<br />
probl<strong>em</strong>as do que os seus equivalentes <strong>em</strong> zonas de clima t<strong>em</strong>perado, com a<br />
agravante de algumas peças se confrontar<strong>em</strong> com probl<strong>em</strong>as específicos,<br />
devido à natureza dos materiais de escrita ou de encadernação. Regiões<br />
diferentes têm as suas tradições próprias quanto à escrita e aos manuscritos,<br />
frequent<strong>em</strong>ente influencia<strong>da</strong>s pelas crenças religiosas e costumes. Se quer<strong>em</strong>os<br />
conservar ou restaurar estes manuscritos típicos, t<strong>em</strong>os que conhecer estas<br />
tradições. T<strong>em</strong>os, de facto, que respeitar os antigos proprietários e as suas<br />
convicções, b<strong>em</strong> como contribuir para a integri<strong>da</strong>de dos objectos. Esta é a ética<br />
do conservador de museus e do conservador-restaurador para salvaguar<strong>da</strong>r o<br />
património cultural. Além do mais, até há pouco t<strong>em</strong>po, <strong>em</strong> certas culturas, a<br />
cópia foi o meio tradicional de li<strong>da</strong>r com a deterioração de manuscritos. Para<br />
alguns dos proprietários actuais, a ideia de preservar o património cultural<br />
representa uma maneira de pensar completamente nova.<br />
3.1.1 Manuscritos<br />
Muito se pode dizer e muito já foi dito sobre a produção de manuscritos <strong>em</strong><br />
todo o mundo. É bom não nos esquecermos que grande parte <strong>da</strong> cultura<br />
literária mundial teve orig<strong>em</strong> nas zonas tropicais (GIESE 1995).<br />
65
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Conhecimentos úteis sobre manuscritos de países não-ocidentais foram<br />
reunidos por estudiosos de diversas disciplinas como codicologia, línguas,<br />
literatura, encadernação, história de arte e ciência <strong>da</strong> conservação. Um bom<br />
ex<strong>em</strong>plo para a introdução à literatura e línguas regionais é a obra South-East Asia<br />
languages and literatures: a select guide (HERBERT et al. 1988). Este guia foi concebido por<br />
m<strong>em</strong>bros do South-East Asia Library Group, um grupo sediado no Reino Unido,<br />
constituído por bibliotecários e estudiosos que nutr<strong>em</strong> especial interesse por esta<br />
região. Entenderam que existia a necessi<strong>da</strong>de de se elaborar uma introdução<br />
concisa à história, às línguas com maior relevância, às caligrafias, a sist<strong>em</strong>as de<br />
<strong>da</strong>tação, a manuscritos e a géneros literários do Sudeste Asiático. Apesar de já ter<br />
quinze anos de existência continua a ser uma introdução muito útil.<br />
Um projecto digno de realce é o International Dunhuang Project (IDP). Foi<br />
definido <strong>em</strong> 1993, na sequência de uma reunião de conservadores-restauradores<br />
vindos de todo o mundo para promover<strong>em</strong> o estudo e a preservação<br />
de manuscritos e de documentos impressos de Dunhuang, b<strong>em</strong> como de<br />
outros locais <strong>da</strong> Ásia Central, através <strong>da</strong> cooperação internacional. O IDP t<strong>em</strong><br />
uma página disponível na Internet, muito útil e muito atractiva, que inclui uma<br />
base de <strong>da</strong>dos interactiva. Esta página faculta o acesso a informação sobre mais<br />
de 20 000 manuscritos e documentos impressos <strong>da</strong> Ásia Central pertencentes<br />
à colecção <strong>da</strong> British Library. O IDP t<strong>em</strong> fortes ligações com indivíduos ou<br />
instituições implicados no desenvolvimento informático de áreas relaciona<strong>da</strong>s<br />
com o t<strong>em</strong>a, b<strong>em</strong> como com cientistas. O projecto publica um boletim (IDP<br />
News) disponível na Internet, e realiza uma conferência regularmente (BARNARD<br />
1995 e 1996; BROVENKO 1996; COHEN 1996 e 1998; LAWSON 1996; MENSHIKOV 1996; PETROSYAN<br />
1996; RASCHMANN 1996; SINGH 1996; THOMSON 1996; WEISHENG 1996; WHITFIELD 1996 e 2002).<br />
A Al – Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion é outra instituição que merece ser<br />
menciona<strong>da</strong>. T<strong>em</strong> como objectivo guar<strong>da</strong>r e preservar os manuscritos islâmicos.<br />
A fun<strong>da</strong>ção quer facultar ao mundo o acesso a este enorme tesouro <strong>da</strong> herança<br />
intelectual do Islão, através de um levantamento mundial de to<strong>da</strong>s as bibliotecas<br />
que têm à sua guar<strong>da</strong> manuscritos islâmicos; estu<strong>da</strong>r e catalogar colecções de<br />
manuscritos islâmicos que nunca foram catalogados; documentar através de<br />
imag<strong>em</strong> manuscritos islâmicos (transferência de suportes), utilizando os métodos<br />
tecnológicos mais avançados; editar e publicar uma vasta selecção de manuscritos<br />
importantes. Desde 1998 que publica, s<strong>em</strong> regulari<strong>da</strong>de, a revista Mansurat al-Furqan.<br />
Em 1995, durante a terceira conferência realiza<strong>da</strong> <strong>em</strong> Londres sobre preservação<br />
e conservação de manuscritos islâmicos, os participantes decidiram por unanimi<strong>da</strong>de<br />
apoiar a criação <strong>da</strong> Association for the Preservation of Islamic Materials<br />
(COOPER 1992; DUTTON 1995; IBISH et al. 1996; TEYGELER 1997).<br />
66
Livros e materiais de escrita<br />
Outra grande fonte de informação sobre a tradição árabe é a publicação<br />
recente de A<strong>da</strong>m Gacek – The Arabic manuscript tradition (GACEK 2001). Para além de<br />
um extenso glossário, contém uma bibliografia completa sobre todos os<br />
aspectos <strong>da</strong> produção de manuscritos e codicologia árabes. Revela, s<strong>em</strong><br />
marg<strong>em</strong> para dúvi<strong>da</strong>s, que uma <strong>da</strong>s principais características <strong>da</strong> civilização<br />
árabe islâmica é o culto do livro. Para mais informação sobre a tradição Indo-<br />
-Persa relativa a manuscritos, ver PORTER, 1995.<br />
Os inúmeros catálogos sobre a tradição dos manuscritos não-ocidentais são<br />
fontes de informação tão úteis como os diversos catálogos de exposições:<br />
• Catálogos <strong>da</strong> British Library;<br />
• A publicação al<strong>em</strong>ã Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland de<br />
W.Voigt (Franz Steiner Verlag, Wiesbaden);<br />
• Catálogos <strong>da</strong> Chester Beatty Library (Dublin, Irlan<strong>da</strong>);<br />
• A publicação dinamarquesa Catalogue of Oriental manuscripts, xylographs, etc.<br />
in Danish collections pela Royal Library (Copenhaga, Dinamarca).<br />
3.1.2 Livros impressos<br />
Desde o século XIX que se verifica um aumento na produção de material<br />
impresso. Infelizmente, uma grande parte foi impressa <strong>em</strong> papel de fraca<br />
quali<strong>da</strong>de com alto teor de acidez (HARRIS 1956; LAN 1990). The spread of printing de<br />
Colin Clair é uma série interessante de monografias sobre a impressão fora <strong>da</strong><br />
Europa. Abrange quase to<strong>da</strong> a Ásia, b<strong>em</strong> como a América Latina e a África (CLAIR<br />
1969). Para mais especifici<strong>da</strong>des sobre a impressão nas Américas, ver OSWALD<br />
1968. O Gutenberg Jahrbuch 1988 é dedicado integralmente ao simpósio <strong>da</strong> UNESCO<br />
sobre o início <strong>da</strong> imprensa na Ásia, principalmente na Coreia (RUPPEL 1988).<br />
Uma fonte de informação indispensável é o Book History Online (BHO),<br />
uma base de <strong>da</strong>dos sobre a história do livro impresso e <strong>da</strong>s bibliotecas.<br />
Baseia-se no ABHB, a Annual Bibliography of the History of the Book and Libraries. Este<br />
livro, publicado anualmente, resulta <strong>da</strong> colaboração de historiadores do livro<br />
provenientes de mais de trinta países e integra cerca de 25 000 referências.<br />
Os t<strong>em</strong>as que o BHO abor<strong>da</strong> correspond<strong>em</strong> aos t<strong>em</strong>as tratados pela ABHB: todos<br />
os livros e artigos com valor académico relativos à história do livro impresso,<br />
às bibliotecas e à produção do livro, à distribuição, à conservação, aos ofícios,<br />
às técnicas e à maquinaria e utensílios relacionados com o livro; e ao livro e às<br />
bibliotecas no seu ambiente económico, social e cultural. Desde a Primavera de<br />
67
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
2001, os ficheiros estão <strong>em</strong> linha e pod<strong>em</strong> ser pesquisados pelos nomes dos<br />
autores, dos editores, por palavras-chave nos títulos dos livros e periódicos,<br />
pela classificação, pelas palavras-chave geográficas, pelos nomes dos indivíduos<br />
(impressores, editores, etc.), pelas <strong>em</strong>presas e pelas instituições, e por t<strong>em</strong>as e<br />
por palavras nas anotações. A BHO é concebi<strong>da</strong>, dirigi<strong>da</strong>, manti<strong>da</strong> e publica<strong>da</strong><br />
pela Koninklijke Bibliotheek (Biblioteca Nacional <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong>) <strong>em</strong> cooperação<br />
com comissões nacionais de países de todo o mundo. Exist<strong>em</strong> outras bibliografias<br />
relevantes de carácter geral nas obras sobre cultura islâmica de J. D.<br />
Pearson (PEARSON 1958, 1966, 1971, 1975 e 1979). Para a Indonésia, a bibliografia<br />
anota<strong>da</strong> <strong>da</strong>s bibliografias de K<strong>em</strong>p é imprescindível (KEMP 1990).<br />
Não é nossa intenção listar to<strong>da</strong>s as tradições possíveis, não-ocidentais, <strong>da</strong><br />
escrita e <strong>da</strong> impressão, se é que é mesmo possível. Pretend<strong>em</strong>os, simplesmente,<br />
<strong>da</strong>r uma ideia, um pouco arbitrária, <strong>da</strong> existência <strong>da</strong> imensa literatura sobre<br />
algumas destas tradições. Com efeito, nalgumas regiões e culturas surg<strong>em</strong> mais<br />
publicações do que noutras. Deve-se ao facto de n<strong>em</strong> to<strong>da</strong>s as culturas ser<strong>em</strong><br />
inicialmente alfabetiza<strong>da</strong>s e consequent<strong>em</strong>ente não tenham desenvolvido uma<br />
tradição do manuscrito. Os países onde as tradições e práticas orais prevaleceram<br />
sobre a escrita e a documentação, têm pouca ou nenhuma experiência<br />
de arquivo (FAKHFAKH 1995). A maior parte dessas culturas começou a prestar<br />
atenção à escrita durante o período colonial.<br />
Para mais bibliografia sobre escrita e impressão <strong>em</strong> países não-ocidentais,<br />
b<strong>em</strong> como a sua conservação, ver:<br />
Geral<br />
DIRINGER 1955 e 1982; PLUMBE 1961 e 1964; VERVLIET 1973.<br />
África<br />
ARNOULT 2000; GLINGA 1987; HUNWICK et al. 1994 e 1995; MARREE 1985;<br />
MOMMERSTEEG 1991; MUNTHE 1982; OMOERHA 1973; RYO 1989; TOUSSAINT<br />
1969; WILKS 1978; (para a África do Norte, ver Médio Oriente).<br />
Ásia Central<br />
COHEN 1998; GANSUKH 1997; GRAY 1979; NEBESKY-WOJKOWITZ 1949;<br />
WHITFIELD 1996 e 2002.<br />
Ásia Oriental<br />
ATWOOD 1989; BENNETT 1985; BINH 1992; CARTER 1955; EDGREN 1984;<br />
FLEMMING 1988; HILLIER 1987; HUMMEL 1941; IKEGAMI 1986; KORNICKI 1998;<br />
LEE 1997; LIU GUOJUN et al. 1985; NEEDHAM 1974; PAL et al. 1988; TSIEN 1962<br />
e 1985; TWICHETT 1983 e 1994; XIAO ZHENTANG 1998; ZHOU BAO ZHONG. 1988.<br />
68
Livros e materiais de escrita<br />
Ásia do Sul<br />
AGRAWAL 1972; BISHT 1974; BISHT et al. 2000; DAS 1987; GUY 1982; LOSTY<br />
1982; PAL et al. 1988; RICHARD et al. 1997; USMANI 1986.<br />
Sudeste <strong>da</strong> Ásia<br />
ABHAKORN 2000; AGRAWAL 1984; BEHREND et al. 1993; BEHREND 1993;<br />
CHOULEAN 1992; COEDÈS 1924; DEAN 1990 e 1999c; GALLOP 1991; GALLOp et<br />
al. 1991; GINARSA 1975 e 1976; GINSBURG 2000; GUY 1982; HINZLER 1993;<br />
HOOIJKAAS 1972; HOOP 1940; HUNDIUS 2000; JONES 1993; KHINE 1986;<br />
KUMAR et al. 1996; KUNTARA 1993; MACKNIGHT et al. 1992; MARRISON 1992;<br />
MAUNG WUN 1950; MING 1992; MEIJ 1992; MOLEN 1993; MU'JIZAH 1992;<br />
MULYADI 1992; MYAT 1986; NOEGRAHA 1992; PAL et al. 1988; POSTMA 1992;<br />
PUDJIASTUTI 1992; RAGHAVAN 1979; RUBENSTEIN 1992; RUKMI 1992; SINGER<br />
1993; SUDEWA 1992; SUKANDA-TESSIER 1992; TEYGELER 1995; TOL 1993; QUIGLY<br />
1956; VELDER 1961; WIN HAN 2002.<br />
Médio Oriente<br />
ARNOLD 1929: AVI-YONAH 1973; BAKER 1991b; BEIT-ARIÉ 1992; CHABBOUH<br />
1995a e 1995b; COOPER 1992; DACHS 1982; DÉROCHE 2000; DÉROCHE et al.<br />
1990; DÉROCHE et al. 1997; DUTTON 1995; FARROKH 1968; GACEK 2001;<br />
GUESDON et al. 2001; HUSSEIN 1970; KHAN 1995; MAGGAN et al. 1991 e 1995;<br />
PEDERSEN 1984; SAFADI 1972; SCOTT 1990; SEGUIN 1983; SMITH 1990; STEIN<br />
1997.<br />
América Latina<br />
BERGER 1998; OSWALD 1968; PAGDEN 1972; RIESE 1988; SPINDEN 1935; TORRE<br />
VILLAR 1970.<br />
3.1.3 Encadernações<br />
A arte <strong>da</strong> encadernação e <strong>da</strong> protecção dos manuscritos é tão antiga como a<br />
própria escrita. Por outro lado, os estudos sobre encadernação são relativamente<br />
recentes, o que hoje <strong>em</strong> dia constitui um el<strong>em</strong>ento importante no<br />
estudo sobre a história do livro. Os estudos sobre a encadernação compl<strong>em</strong>entam<br />
os estudos sobre a arte do livro, a codicologia e a paleografia (SCHUNKE<br />
1978). Tanto a capa decorativa de um livro, estrutura externa <strong>da</strong> encadernação,<br />
como a técnica de encadernação, estrutura interna <strong>da</strong> encadernação, são<br />
el<strong>em</strong>entos essenciais do manuscrito que traduz<strong>em</strong> a história do livro.<br />
69
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Desde os t<strong>em</strong>pos mais r<strong>em</strong>otos, as encadernações do mundo islâmico<br />
causaram deslumbramento e admiração. Exist<strong>em</strong> duas tradições de destaque na<br />
encadernação islâmica: a egípcia e a iraniana. Estas tradições r<strong>em</strong>ontam às<br />
encadernações dos turcos otomanos (JAMES 1980). Os encadernadores islâmicos<br />
trabalharam devota<strong>da</strong>mente e com muito <strong>em</strong>penho para enriquecer<strong>em</strong> as capas<br />
de pele, <strong>em</strong> particular a encadernação do Corão, com vários el<strong>em</strong>entos<br />
geométricos, desenhos de folhas e florais, tendo alcançado um nível muito<br />
elevado tanto nas técnicas <strong>da</strong> gravação a seco, como na douração. A sua<br />
influência foi de grande alcance.As técnicas islâmicas de gravação, <strong>em</strong> conjunto<br />
com os padrões geométricos com desenhos de folhas e flores e, <strong>em</strong> especial,<br />
a utilização de arabescos, imprimiram uma marca na arte de encadernação<br />
europeia (LINGS et al. 1976). Paralelamente aos tipos diferentes de encadernações,<br />
é também necessário olhar para o lado técnico <strong>da</strong> encadernação e para os<br />
utensílios utilizados no ofício. Este aspecto <strong>da</strong> arte do livro islâmico está b<strong>em</strong><br />
documentado na bibliografia islâmica.<br />
À excepção <strong>da</strong> prática islâmica e árabe, as capas dos livros e as técnicas de<br />
encadernação ocupam uma pequena parte na bibliografia não-ocidental sobre<br />
as tradições do manuscrito. T<strong>em</strong> sido atribuí<strong>da</strong> alguma atenção às técnicas<br />
chinesas e japonesas de encadernação. O restante continente asiático ou o<br />
africano, ou ain<strong>da</strong> o continente latino-americano, constitui praticamente um<br />
território virg<strong>em</strong> relativamente a esta questão.<br />
Para mais bibliografia sobre encadernações e técnicas de encadernação, e sua<br />
conservação, ver:<br />
China<br />
LEE 1929; MARTINIQUE 1973, 1983 e 1998; MATSUOKO 1996; MORRISON 1949;<br />
NORDSTRAND 1967.<br />
Etiópia<br />
D’ABBADIE 1963; SERGEW HABLE SELASSIE 1981.<br />
India<br />
BEDAR 1996; BISHT 1974; HENDLEY 1893; LOSTY 1982.<br />
Indonésia<br />
NOTO SOEROTO 1913; PLOMP 1992 e 1993; STUTTERHEIM 1929<br />
Japão<br />
ATWOOD 1987; GRAHAM 1965; KOJIRO IKEGAMI 1986; KORNICKI 1998;<br />
THOMPSON 1996.<br />
70
Livros e materiais de escrita<br />
América Latina<br />
GROVER 1988.<br />
Médio Oriente<br />
ARNOULT 1987; BENCHERIFA 1996; BINNEY 1979; BISH 1996; BOSCH 1982;<br />
BOUCHENTOUF 1986; BOUCHENTOUF et al. 1985; BOYD-ALKALAY et al. 1997;<br />
BRAUN 1958; BULL 1986; CLARE 1979; DREIBHOLZ 1994 e 1996; FARROKH<br />
1968; FISCHER 1986; GACEK 1990 e 2001; GUESDON et al. 2001; HALDANE<br />
1983; IBISH et al. 1996; JACOBS 1990 e 1991; JACOBS et al. 1990a, 1990b, 1991<br />
e 1995; JAMES 1980; JARJIS 1995; KEENE et al. 1980; KETZER 1994; LEVEY 1962;<br />
MAGGEN et al. 1991 e 1995; MAHDI ‘ATIQI 1995; MURAD AL-RAMMAH 1995;<br />
PORTER 1995; RABY et al. 1993; REGEMORTER 1961; SCHMIDT 1997; STANKIEWICZ<br />
1996; TANINDI 1990; WÄCHTER 1959.<br />
Tibete:GRÖNBOLD 1991.<br />
3.2 Materiais de escrita<br />
O desejo do Hom<strong>em</strong> <strong>em</strong> expressar o poder <strong>da</strong> palavra sob a forma de texto,<br />
levou-o a descobrir vários tipos de materiais de escrita, de modo a alcançar o<br />
seu objectivo. Quase todos os processos e materiais relativos à escrita como a<br />
impressão, o fabrico de papel, o velino, o pergaminho, a caneta e a tinta, b<strong>em</strong><br />
como a arte <strong>da</strong> encadernação, tiveram orig<strong>em</strong> nos países <strong>da</strong> Ásia e do Norte de<br />
África. Por diversas razões, ca<strong>da</strong> época favoreceu um determinado material de<br />
escrita. As duas razões mais importantes foram a disponibili<strong>da</strong>de defini<strong>da</strong> pela<br />
geografia e o nível de desenvolvimento tecnológico. A utilização de alguns<br />
materiais só foi possível a partir de um certo patamar cultural, que incluía a<br />
capaci<strong>da</strong>de de trabalhar as matérias-primas e de as transformar. Durante o<br />
longo período de história escrita, o grande talento humano debruçou-se sobre<br />
o probl<strong>em</strong>a <strong>em</strong> arranjar materiais adequados à escrita, resultando numa<br />
varie<strong>da</strong>de de soluções muito diferentes mas igualmente eficazes (GAUR 1979).<br />
Muito antes <strong>da</strong> chega<strong>da</strong> dos colonizadores europeus, que trouxeram os seus<br />
próprios sist<strong>em</strong>as de registo dependentes do papel europeu, um grande<br />
número de países não-europeus já tinha desenvolvido sist<strong>em</strong>as de escrita<br />
avançados. Contudo, o tipo de papel europeu não t<strong>em</strong> grande resistência fora<br />
<strong>da</strong>s zonas de clima t<strong>em</strong>perado. Sist<strong>em</strong>as de registo de <strong>da</strong>dos que provaram ser<br />
aceitáveis sob o ponto de vista climático, foram excluídos por não ser<strong>em</strong><br />
adequados às administrações europeias. Em algumas culturas, os dois sist<strong>em</strong>as<br />
coabitaram, o sist<strong>em</strong>a europeu por um lado, sustentando <strong>da</strong>dos essenciais e<br />
71
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
«factos», o sist<strong>em</strong>a autóctone por outro, fornecendo evidência ocasional de<br />
algum relevo para a compreensão de tradições locais relaciona<strong>da</strong>s com, por<br />
ex<strong>em</strong>plo, a religião ou a cultura, ou facultando ain<strong>da</strong> outro tipo de informações<br />
(HOEVEN et al. 1996).<br />
Para qualquer conservador-restaurador idóneo é essencial conhecer esses<br />
materiais de escrita específicos. Na opinião de Petherbridge, pode-se aprender<br />
muito com outras culturas, <strong>em</strong> termos de abor<strong>da</strong>gens diferentes e novas<br />
maneiras de pensar. Para ele, não nos dev<strong>em</strong>os restringir a soluções técnicas,<br />
mas dev<strong>em</strong>os desenvolver estudos históricos e sociais b<strong>em</strong> como analisar os<br />
materiais envolvidos (GIESE 1995).<br />
Um levantamento interessante sobre todos os tipos de materiais de escrita é<br />
o segundo catálogo <strong>da</strong> excelente exposição «L’aventure dês écritures. Matières<br />
et formes», realiza<strong>da</strong> <strong>em</strong> 1997, na Bibliothèque Nationale de France (BRETON-<br />
-GRAVEREAU 1998). As descrições <strong>da</strong>s peças expostas são de quali<strong>da</strong>de superior.<br />
3.2.1 Folha de palmeira<br />
Na Índia e nos países do Sudeste Asiático com influência indiana, a folha de<br />
palmeira foi s<strong>em</strong>pre o material de escrita mais popular de entre os materiais<br />
fabricados a partir de folhas. Grandes colecções de manuscritos <strong>em</strong> folha de<br />
palmeira estão à guar<strong>da</strong> de muitas bibliotecas asiáticas, t<strong>em</strong>plos, mosteiros,<br />
instituições de ensino, b<strong>em</strong> como <strong>em</strong> colecções asiáticas espalha<strong>da</strong>s pelo<br />
mundo. Normalmente, diversos tipos de folhas de palmeira eram utilizados<br />
como material de escrita, variando a <strong>da</strong>ta de utilização e a sua orig<strong>em</strong>,<br />
diferindo a sua preparação de país para país. Nas folhas de palmeira podiam<br />
fazer-se incisões com um estilete ou escrever com pincel e tinta. A dúvi<strong>da</strong><br />
reside no facto de não se saber se é a folha de palmeira ou se é o papel o<br />
material mais adequado ao clima tropical (NOERLUND et al. 1991).<br />
Para mais literatura sobre manuscritos <strong>em</strong> folha de palmeira, ver:<br />
Geral<br />
HUNTER 1978.<br />
India<br />
DAS et al. 1991; DISKALKAR 1979; LOSTY 1982; SEGAL 1979; SURI 1947;<br />
SWARNAKAMAL 1975.<br />
Cambodja<br />
ANÓNIMO 1993.<br />
72
Livros e materiais de escrita<br />
Indonésia<br />
GINARSA 1975 e 1976; GRADER et al. 1941; HINZLER 1993; HOOIJKAAS 1963;<br />
RUBENSTEIN 1992.<br />
Myanmar<br />
WIN HAN 2002.<br />
Sri Lanka<br />
NELL [s. d.].<br />
Tailândia<br />
SCHUYLER 1908.<br />
Para mais literatura sobre conservação de manuscritos <strong>em</strong> folha de palmeira, ver:<br />
Ásia<br />
BARTELT 1975; CROWLEY 1969; CURACH 1995; DEAN 1999b; FLORIAN et al.<br />
1992; LAWSON 1987a, 1987b e 1988a; MCGUINNE 1993; SAMUEL 1994b;<br />
SANDY et al. 2000.<br />
Índia<br />
AGRAWAL 1975, 1981, 1982 e 1984; ANÓNIMO 1991; BHATTACHARYYA 1947a e<br />
1947b; BHOWMIK 1966; DAS 1987; GUPTA 1974; JOSHI 1993; KISHORE 1961;<br />
KUMAR 1963; NAIR 1985; PADHI 1974; SAH 2001; SAMUEL 1994a; SURYAWANSHI<br />
et al. 1992 e 1994; SWARNAKAMAL 1975.<br />
Indonésia<br />
AUGUSTINI 1994; HOOIJKAAS 1972 e 1979.<br />
Myanmar<br />
BARTELT 1972; RAGHAVAN 1979.<br />
Sri Lanka<br />
TITLEY 1963.<br />
3.2.2 Casca de árvore<br />
Outro material que à s<strong>em</strong>elhança <strong>da</strong>s folhas de palmeira necessita somente de<br />
um processo de preparação el<strong>em</strong>entar, é a parte interior <strong>da</strong> casca <strong>da</strong>s árvores.<br />
Na Índia, foram utiliza<strong>da</strong>s duas varie<strong>da</strong>des como material de escrita: a casca de<br />
vidoeiro no Noroeste e a casca do aloé no Nordeste. Na ilha indonésia de<br />
73
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Sumatra existe ain<strong>da</strong> uma varie<strong>da</strong>de interessante do aloé. Nessa ilha, os Batak<br />
costumavam escrever os seus livros desdobráveis sobre casca de árvore no seu<br />
estado natural (TEYGELER 1993; TEYGELER et al. 1995). Os índios <strong>da</strong> América do Norte<br />
utilizavam para bastantes fins, como por ex<strong>em</strong>plo para material de escrita, um<br />
tipo de casca de vidoeiro ligeiramente diferente. A casca de árvore bati<strong>da</strong>,<br />
conheci<strong>da</strong> como barkcloth ou tapa, é utiliza<strong>da</strong> principalmente como têxtil<br />
etnográfico (BELL 1992a), mas na ilha indonésia de Java e na América Central era<br />
costume escrever<strong>em</strong> sobre barkcloth (TEYGELER 1995 e 2000).<br />
Para mais literatura sobre manuscritos <strong>em</strong> casca de árvore e sobre a<br />
respectiva conservação, ver:<br />
Geral<br />
ANÓNIMO 1995; BELL 1992a; DISKALKAR 1979; FLORIAN et al. 1992; GAUR 1979;<br />
HUNTER 1978; WRIGHT 2001.<br />
Índia<br />
AGRAWAL 1975 e 1984; AGRAWAL et al. 1981; AGRAWAL et al. 1984a; AGRAWAL<br />
et al. 1984b; AGRAWAL et al. 1987; BATTON 2001a e 2001b; FELLIOZAT 1947;<br />
KUMAR 1963; KUMAR 1988; LOSTY 1982; LYALL 1980; MAJUMDAR et al. 1966;<br />
RYMAR 1978; SURYAWANSHI 2000.<br />
América Central<br />
BELL 1992a; BOCKWITZ 1949; CHRISTENSEN 1972; GODENNE 1960; HAGEN 1999;<br />
HUNTER 1927; LENZ 1961; RODGERS ALBRO 1993; SANDSTROM 1986.<br />
América do Norte<br />
DEWDNEY 1975; GILBERG 1986; GILBERG et al. 1983 e 1986; HOFFMANN 1998;<br />
SELICK 1987.<br />
3.2.3 Papel<br />
Finalmente chegamos ao papel, outro triunfo <strong>da</strong> tecnologia tradicional. São<br />
muitos os factores que levaram à invenção do papel. O papel teve orig<strong>em</strong> na<br />
China, onde foi possível o seu fabrico de excelente quali<strong>da</strong>de pouco t<strong>em</strong>po<br />
após a sua invenção no século II a. C. A partir <strong>da</strong> China foi difundido pela Ásia<br />
Oriental e via Ásia Central alcançou o Médio Oriente, tendo acabado por<br />
lentamente chegar à Europa muitos séculos depois. Muito já foi escrito sobre a<br />
história do papel na Europa. É um t<strong>em</strong>a de interesse para todos os arquivistas,<br />
74
Livros e materiais de escrita<br />
bibliotecários e conservadores de museu que trabalham nos trópicos. Ao fim e<br />
ao cabo, muitos manuscritos não-ocidentais, material impresso e arquivístico<br />
foram escritos ou impressos <strong>em</strong> papel ocidental que foi importado pela<br />
administração colonial, que frequent<strong>em</strong>ente d<strong>em</strong>onstrava pouco respeito pelos<br />
materiais locais de escrita, incluindo o papel manual local.<br />
O pai <strong>da</strong> história do papel é o americano Dard Hunter (1883-1966). Ele é<br />
conhecido como o historiador cujos estudos constitu<strong>em</strong> a pedra angular do<br />
nosso saber relativo ao papel manufacturado: a sua história, a sua tecnologia e<br />
materiais. De modo a reunir <strong>em</strong> primeira-mão to<strong>da</strong> a informação sobre o fabrico<br />
do papel, viajou por todo o mundo recolhendo instrumentos, equipamento,<br />
matérias-primas e amostras. Com a sua tipografia Mountain House Press, publicou<br />
os seus conhecimentos sobre o fabrico do papel <strong>em</strong> todo o mundo, numa<br />
importante edição limita<strong>da</strong> de livros manufacturados. Algumas <strong>da</strong>s suas<br />
publicações foram reedita<strong>da</strong>s, como a obra de inestimável valor Papermaking. The<br />
history and technique of an ancient craft (HUNTER 1978), um livro obrigatório na estante de<br />
um historiador idóneo do papel. Os outros livros são mais difíceis de obter, não<br />
obstante, constitu<strong>em</strong> um importante ponto de parti<strong>da</strong> para o estudo sobre a<br />
história de qualquer papel, especialmente <strong>da</strong> Ásia e do México (HUNTER 1925, 1927,<br />
1932, 1936a, 1936b, 1937, 1939, 1943 e 1947). Outra obra fun<strong>da</strong>mental para o estudo<br />
sobre o papel é o Dictionary and encyclopaedia of paper and paper-making with equivalents of the<br />
technical terms in French, German, Dutch, Italian, Spanish & Swedish, publicado por Labarre<br />
(LABARRE 1952). A primeira edição é de 1937, <strong>em</strong> 1952 foi revista e aumenta<strong>da</strong>,<br />
e, <strong>em</strong> 1967, Loeber publicou um supl<strong>em</strong>ento (LOEBER 1967).<br />
Comparado com o papel ocidental, o estudo sobre papel não-ocidental<br />
constitui uma tarefa mais complexa. A literatura sobre este t<strong>em</strong>a descobre-se<br />
com dificul<strong>da</strong>de e é divulga<strong>da</strong> <strong>em</strong> periódicos pouco conhecidos, jornais e<br />
relatórios. Um bom apoio para o estudo do papel ocidental e não-ocidental é<br />
a bibliografia de Leif. É a primeira bibliografia abrangente sobre papel manufacturado,<br />
desde os primórdios <strong>da</strong> sua orig<strong>em</strong> até ao seu fabrico com máquinas<br />
na primeira metade do século XIX. Os materiais de escrita que antecederam o<br />
papel (papiro, velino e pergaminho) também são referidos, tendo <strong>em</strong> conta a<br />
sua relação com o papel. A obra integra índices de autores, assuntos e listas por<br />
países. O leitor deve ter presente que desde 1978 surgiram muitas publicações<br />
sobre a história do papel, ocidental e não-ocidental (LEIF 1978).<br />
Uma panorâmica completa sobre as formas como a arte de fabricar papel<br />
viajou através dos t<strong>em</strong>pos é-nos <strong>da</strong><strong>da</strong> por Jonathan Bloom (BLOOM 2001).<br />
Descreve pormenoriza<strong>da</strong>mente a invenção do papel e o seu alastramento ao<br />
mundo islâmico e refere, de forma convicta, que na I<strong>da</strong>de Média o papel<br />
75
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
transformou as vi<strong>da</strong>s <strong>da</strong>s pessoas que viviam na Ásia Ocidental e no Norte de<br />
África. Um dos últimos capítulos do livro abor<strong>da</strong> a chega<strong>da</strong> do papel e o seu<br />
fabrico na Europa cristã.<br />
Só há algumas colecções de papel disponíveis ao público e acessíveis<br />
cientificamente.A Koninklijke Bibliotheek (KB) (Biblioteca Nacional <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong>)<br />
é uma <strong>da</strong>s poucas bibliotecas do mundo que possui uma colecção de papel<br />
histórico. Esta colecção teve início <strong>em</strong> 1971, com a aquisição de uma extensa<br />
colecção particular, composta por bibliografia, documentos avulsos <strong>em</strong> papel e<br />
diversos tipos de documentação. A colecção <strong>da</strong> KB de papel decorativo, oriundo<br />
do Oriente e do Ocidente, é famosa. Com o correr do t<strong>em</strong>po, a colecção de<br />
referência de papel histórico <strong>da</strong> KB aumentou consideravelmente. Em particular<br />
nos últimos anos, t<strong>em</strong> recaído muita atenção sobre a conclusão e melhoramento<br />
<strong>da</strong> catalogação e indexação <strong>da</strong> colecção, de modo a tornar acessíveis as diferentes<br />
fontes de informação a um crescente número de investigadores e de<br />
outras pessoas interessa<strong>da</strong>s. Os títulos dos livros, os livros de amostras, as colecções<br />
e os periódicos integram a base de <strong>da</strong>dos <strong>da</strong> KB e estão disponíveis <strong>em</strong><br />
linha. É esta a razão pela qual a colecção do papel histórico se transformou num<br />
centro internacional de investigação e documentação sobre papel histórico.<br />
O Deutsche Buch und Scriftmuseum, parte <strong>da</strong> Deutsche Bibliothek <strong>em</strong><br />
Leipzig (Biblioteca Nacional <strong>da</strong> Al<strong>em</strong>anha), é o museu do livro mais antigo do<br />
mundo, fun<strong>da</strong>do <strong>em</strong> 1884. Uma <strong>da</strong>s suas colecções famosas é a Papierhistorische<br />
Sammlung, colecção de papel histórico, actualmente disponível na<br />
Internet. Inclui uma colecção de 400 000 marcas de água, papéis decorativos<br />
e marmoreados ocidentais e não-ocidentais, e mais de 600 tipos de papel de<br />
fabrico manual e de fabrico mecânico.A biblioteca especializa<strong>da</strong> é seguramente<br />
de grande importância e integra, entre outras, a famosa biblioteca de Börsenverein<br />
der Deutschen Buchländer, a Associação dos Livreiros Al<strong>em</strong>ães.<br />
Exist<strong>em</strong> algumas organizações internacionais interessantes para aqueles que<br />
desejam saber mais sobre o fabrico do papel. A mais importante é a International<br />
Association of Paper Historians – IPH. A IPH integra profissionais de<br />
diferentes áreas, todos interessados na história do papel. Esta associação<br />
coordena todos os interesses e activi<strong>da</strong>des sobre a história do papel. Como<br />
associação internacional especializa<strong>da</strong>, colabora com organizações internacionais<br />
regionais e locais, não só de historiadores do papel mas também de<br />
arquivistas e bibliotecários, conservadores, historiadores de arte, especialistas<br />
<strong>em</strong> livros, impressão e tecnologia, associações <strong>da</strong> indústria do papel, de editores,<br />
etc. Para conseguir estes objectivos, a IPH publica trimestralmente o periódico<br />
Paper History e realiza um congresso internacional de dois <strong>em</strong> dois anos. Um<br />
76
Livros e materiais de escrita<br />
instrumento muito útil na página <strong>da</strong> Internet <strong>da</strong> IPH é a ligação a diversas bases<br />
de <strong>da</strong>dos de marcas de água.<br />
A International Association of Hand Papermakers and Paper Artists – IAPMA –<br />
dedica-se a prestar apoio a todos os interessados no papel b<strong>em</strong> como a<br />
desenvolver ideias tradicionais e cont<strong>em</strong>porâneas na arte do fabrico manual do<br />
papel, através de reuniões, eventos, publicações e de um centro de pesquisa<br />
visual e de documentação. O objectivo primordial desta associação é facilitar e<br />
encorajar um intercâmbio internacional de ideias e de informação sobre o<br />
fabrico manual do papel. Os congressos, que inclu<strong>em</strong> as ass<strong>em</strong>bleias-gerais,<br />
têm lugar duas vezes por ano. Publicam o IAPMA Bulletin s<strong>em</strong>estralmente e editam<br />
o IAPMA Newsletter três vezes por ano.<br />
A Hand Papermaking é uma organização s<strong>em</strong> fins lucrativos, que t<strong>em</strong> como<br />
finali<strong>da</strong>de desenvolver as ideias tradicionais e cont<strong>em</strong>porâneas na arte do<br />
fabrico manual do papel através de publicações e de outros meios pe<strong>da</strong>gógicos.<br />
O principal objectivo desta organização t<strong>em</strong> sido facultar informação a uma<br />
audiência internacional constituí<strong>da</strong> por diferentes el<strong>em</strong>entos, como artistas,<br />
fabricantes de papel, comerciantes, historiadores e conservadores. Esta organização<br />
publica a revista Hand Papermaking duas vezes por ano e o Hand Papermaking<br />
Newsletter quatro vezes por ano.<br />
Por fim, a utilização do suporte mais moderno – o suporte virtual World<br />
Wide Web – para encontrar informação sobre um ofício com dois mil anos de<br />
existência, diversas páginas interessantes na Internet sobre a história do papel,<br />
moinhos de papel histórico, museus do papel e papel manufacturado, <strong>em</strong> geral,<br />
pod<strong>em</strong> ser encontrados na Internet sob a entra<strong>da</strong> «papel manufacturado».<br />
Dieter Freyer, austríaco, iniciou o seu guia <strong>em</strong> linha sobre o mundo do papel<br />
manufacturado <strong>em</strong> meados de 1998, com apenas uma página com ligações.<br />
A página foi crescendo até se tornar um portal muito útil sobre papel manufacturado.<br />
Os t<strong>em</strong>as estão no presente claramente estruturados <strong>em</strong> diferentes<br />
secções e to<strong>da</strong>s as páginas <strong>da</strong> Internet contêm anotações.<br />
Algumas publicações sobre papel não-ocidental:<br />
Geral<br />
BELL 1992b; COLLINGS et al. 1978; HUNTER 1978.<br />
Butão<br />
YOSHIRO IMAEDA 1988.<br />
China<br />
DRÈGE 1981; FEI WEN TSAI et al. 1997; HARDERS-STEINHÄUSER et al. 1963;<br />
LAWSON 1988b; LI SHU-HWA 1969; TSIEN 1985.<br />
77
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
India<br />
GREEN 1996; NARAYANSWAMI 1961; SOTERIOU 1999; TEYGELER 2001.<br />
Japão<br />
BARRETT 1983; HUGHES 1978; MASUDA 1985; NARITA 1954; PAIREAU 1991.<br />
Ma<strong>da</strong>gáscar<br />
COLANÇON 1921; RANTOANDRO 1983.<br />
México<br />
ACKERSON-ADDOR 1976; LENZ 1968.<br />
Médio Oriente<br />
BAKER 1991a; BAVAVÉAS et al. 1990; BLOOM 2001; FARROKH 1968; GACEK 2001;<br />
HUMBERT 2001; KARABACEK 1991; LOVEDAY 2001; PORTER 1995; WIESNER 1886<br />
e 1887.<br />
Myanmar<br />
KORETSKY 1991; SINDALL 1906.<br />
Nepal<br />
GAJUREL 1994; TRIER 1972.<br />
Pérsia<br />
LE LÉANNEC-BAVAVÉAS 1998.<br />
Tailândia<br />
SIEGENTHALER 1996.<br />
Tibete<br />
HARDERS-STEINHÄUSER 1969; NEBESKY-WOJKOWITZ 1949; SANDERMANN et al. 1970.<br />
Turquia<br />
KAGITCI 1965.<br />
Vietname<br />
BÙI VAN VUONG 1999.
4<br />
Edifícios<br />
4.1 Introdução<br />
No mundo <strong>em</strong> vias de desenvolvimento verificou-se uma tendência crescente,<br />
depois <strong>da</strong> II Guerra Mundial, quanto ao número de novas bibliotecas, arquivos<br />
e museus. Desde então, muitos novos edifícios de biblioteca apareceram no<br />
Ocidente como símbolos de confiança na nova era (HOLDSWORTH 1959).<br />
Especialmente nos anos 60, quando um grande número de países alcançou a<br />
sua deseja<strong>da</strong> independência, deu-se um crescimento acelerado no ramo <strong>da</strong><br />
construção civil. A possibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> existência de um edifício adequado para<br />
arquivo deve ser encara<strong>da</strong> como o primeiro pré-requisito na preservação e<br />
conservação de material de arquivo. É tão óbvio que chega a ser negligenciado:<br />
os edifícios constitu<strong>em</strong> a primeira linha de defesa contra climas rigorosos e contra<br />
diversos tipos de desastres, sendo considerados como um meio fun<strong>da</strong>mental<br />
para a preservação <strong>da</strong>s colecções. Com efeito, a preservação devia ser o guia<br />
básico e geral para arquitectos e arquivistas envolvidos no planeamento de<br />
edifícios para arquivos (BUCHMANN 1998). Frequent<strong>em</strong>ente, o edifício é a única<br />
linha de defesa para a maioria dos museus <strong>em</strong> todo o mundo (DANIEL et al. 2000).<br />
A compreensão sobre a importância dos edifícios para preservar documentos<br />
não constitui novi<strong>da</strong>de. O arquitecto romano Vitruvius, no século I a. C.,<br />
refere que o local adequado para uma biblioteca numa casa deve ter uma ventilação<br />
saudável e não deve ter excesso de humi<strong>da</strong>de (BANKS 1999). No século XIX,<br />
na Índia, as autori<strong>da</strong>des deram início à criação de uma rede de edifícios de<br />
acordo com normas específicas para o armazenamento de documentos locais.<br />
É de facto nos trópicos que o arquitecto t<strong>em</strong> de aplicar todo o seu arsenal de<br />
79
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
estratag<strong>em</strong>as para combater um clima agreste (PLUMBE 1987b). Um programa activo<br />
de construção envolve tanto o restauro de edifícios velhos como a construção de<br />
edifícios novos ou, ain<strong>da</strong>, a combinação de ambos.Além do mais, é urgente uma<br />
mu<strong>da</strong>nça no processo de modernização de arquivos (CONTÉ 1996).<br />
Nalguns países, mesmo hoje <strong>em</strong> dia, as condições dos edifícios de arquivos<br />
e de bibliotecas são deveras preocupantes. A Biblioteca Nacional do Laos não<br />
teve até há b<strong>em</strong> pouco t<strong>em</strong>po instalações permanentes, tendo que mu<strong>da</strong>r de<br />
edifício cinco vezes nos últimos anos. Por este motivo, foi impossível organizar<br />
efectivamente as colecções. Felizmente, hoje <strong>em</strong> dia, esta situação modificou-<br />
-se para melhor (NOERLUND et al. 1991).<br />
Há muito que aprender a partir <strong>da</strong> procura contínua pelo edifício ideal<br />
resultante de diversas normas nacionais e internacionais como a British<br />
Stan<strong>da</strong>rd (BS 5454) ou a International Stan<strong>da</strong>rd Organisation (ISO 11799) (RHYS-<br />
-LEWIS 1999). Nalguns países existe controlo central sobre os projectos dos<br />
edifícios. Esta situação é vantajosa, porque pode promover o desenvolvimento<br />
de um corpo central de peritag<strong>em</strong> técnica para a construção de edifícios para<br />
arquivo (THOMAS 1988). Além do mais, não dev<strong>em</strong>os esquecer que as condições e<br />
as circunstâncias nos países tropicais requer<strong>em</strong> abor<strong>da</strong>gens diferentes. Um<br />
projecto para um edifício de arquivo <strong>em</strong> zonas com climas rigorosos exige<br />
precauções especiais. Efectivamente, têm que possuir a capaci<strong>da</strong>de de suportar<br />
t<strong>em</strong>peraturas eleva<strong>da</strong>s e humi<strong>da</strong>de, de proteger as peças <strong>da</strong> incidência solar, de<br />
protecção contra fungos ou prevenção <strong>da</strong> sua eclosão, de manter afastados<br />
insectos e roedores, e estar preparados para enfrentar o pior dos cenários <strong>em</strong><br />
caso de desastre (DUCHEIN 1980).<br />
Que a construção de um arquivo é muito mais do que a simples construção<br />
de um edifício, pode deduzir-se do ex<strong>em</strong>plo de Burkina-Faso. Apesar <strong>da</strong> existência<br />
dos fundos internacionais, a criação dos Arquivos Nacionais dependeu<br />
acima de tudo do próprio governo, sobretudo <strong>da</strong> lentidão <strong>da</strong>s ro<strong>da</strong>s <strong>da</strong><br />
burocracia. Mesmo com considerável perseverança, levou mais de trinta anos<br />
até que se construísse o edifício central (OUEDRAOGO 1999).<br />
T<strong>em</strong> sido editado um elevado número de publicações e directrizes sobre a<br />
construção de edifícios de arquivo. Contudo, o edifício de arquivo <strong>em</strong> climas<br />
tropicais não t<strong>em</strong> sido alvo de muita atenção. A falta de informação quanto ao<br />
edifício tropical, <strong>em</strong> geral, é frequent<strong>em</strong>ente aponta<strong>da</strong> como um probl<strong>em</strong>a (IFIDON<br />
1990). Em 1979, a UNESCO publicou um livro sobre o projecto de edifícios de<br />
arquivo <strong>em</strong> países tropicais. Destina-se principalmente ao arquivista e ao arquitecto<br />
que participam no projecto e na concretização <strong>da</strong> construção de um edifício<br />
de arquivo. O livro está cheio de desenhos e de diagramas técnicos e, desta<br />
80
Edifícios<br />
forma, os autores conseguiram expor probl<strong>em</strong>as práticos e apresentar as respectivas<br />
soluções de uma forma conveniente. A tecnologia evoluiu rapi<strong>da</strong>mente ao<br />
longo dos vinte anos que passaram, contudo, isso não diminui o valor desta<br />
abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> lúci<strong>da</strong> aos probl<strong>em</strong>as mais comuns e às soluções que requer<strong>em</strong> baixa<br />
tecnologia. É ain<strong>da</strong> uma fonte importante para qualquer arquivista que opte por<br />
um projecto simples e sustentável para um edifício de arquivo (BELL et al. 1979).<br />
Um estudo simples RAMP, dos anos 80, refere as normas para as técnicas a<br />
utilizar na construção dos edifícios de arquivo nos trópicos comparando-as<br />
com as normas para a construção de edifícios <strong>em</strong> países com climas t<strong>em</strong>perados.<br />
Os autores abor<strong>da</strong>ram sucessivamente os depósitos, as paredes, os revestimentos<br />
do chão, as estantes, as galerias e a iluminação. Foi <strong>da</strong><strong>da</strong> ênfase à construção<br />
económica e subsequente manutenção. Embora a maioria <strong>da</strong>s pr<strong>em</strong>issas seja<br />
váli<strong>da</strong> ain<strong>da</strong> hoje, as técnicas estão desactualiza<strong>da</strong>s (BENOIT et al. 1987). Por vezes,<br />
um capítulo sobre edifícios nos trópicos pode estar inserido nas obras gerais<br />
sobre arquivos, por ex<strong>em</strong>plo, o livro de Karim sobre administração de arquivos<br />
no Bangladesh (KARIM 1988).<br />
As publicações de Michel Duchein (1980 e 1988) foram muito populares<br />
no mundo <strong>da</strong> construção de arquivos durante muito t<strong>em</strong>po. Principalmente a<br />
publicação Les bâtiments et équip<strong>em</strong>ents d’archives de 1966, traduzi<strong>da</strong> para inglês,<br />
revista e aumenta<strong>da</strong> <strong>em</strong> 1977 e <strong>em</strong> 1988, que se transformou na bíblia deste<br />
ramo (CHAULEAU 1980). A edição de 1988 inclui no final uma bibliografia<br />
selecciona<strong>da</strong>. Contudo, a obra é dirigi<strong>da</strong> à situação arquivística do Ocidente,<br />
portanto, para zonas com clima t<strong>em</strong>perado e, além do mais, o mundo <strong>da</strong><br />
arquitectura, b<strong>em</strong> como o mundo <strong>da</strong> tecnologia, transformaram-se muito com<br />
o passar dos anos. Por outro lado, o seu artigo de 1980 é totalmente dedicado<br />
aos edifícios <strong>em</strong> zonas com climas tropicais. Neste livro, ele é citado diversas<br />
vezes, pois algumas <strong>da</strong>s suas sugestões e <strong>da</strong>s suas ideias são ain<strong>da</strong> muito<br />
práticas.<br />
Existe uma obra mais recente de Ted Ling que é a base para a construção de<br />
arquivos a partir de 30 anos de experiência na construção de edifícios de arquivo<br />
na Austrália. Ele refere que o desenho, a construção e a gestão de um edifício de<br />
arquivo estão a alterar-se rapi<strong>da</strong>mente. Paradoxalmente, enquanto a construção se<br />
desenvolveu <strong>em</strong> grande escala, pouco se t<strong>em</strong> investido no estudo destes edifícios.<br />
O que t<strong>em</strong> vindo a fazer falta é um livro «Como fazer» que sintetize todos os<br />
aspectos relativos às instalações de um edifício de arquivo, no sentido mais<br />
genérico. Com efeito, à excepção de algumas páginas, esta obra baseia-se nos<br />
edifícios construídos <strong>em</strong> países ocidentais, <strong>em</strong>bora seja uma obra muito prática<br />
e muito concisa (LING 1998).<br />
81
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Em 1990 surgiu uma bibliografia americana sobre planeamento e desenho<br />
de edifícios de biblioteca (DAHLGREN et al. 1990). Foi lançado também um livro<br />
sobre construção de edifícios de arquivo no Reino Unido, com base numa<br />
experiência de 15 anos (KITCHING 1993). Para alguns conceitos europeus mais<br />
antigos, ver Archivum 1957 (7); BERNARD 1982; LEHNBRUCK 1974 e SANCHÉZ BELDA<br />
1964; e para os trópicos, ver BHOWMIK 1974; GWAM 1966; HOARE 1978;<br />
LIPPSMEIER 1980 e MARSHALL 1974.<br />
4.2 Clima e edifícios<br />
As culturas ocidentais her<strong>da</strong>ram inúmeros estereótipos coloniais sobre os<br />
trópicos. N<strong>em</strong> to<strong>da</strong>s estas regiões são quentes, húmi<strong>da</strong>s e subdesenvolvi<strong>da</strong>s<br />
quanto à sua capaci<strong>da</strong>de de preservar o seu rico património documental como<br />
se supunha ser a reali<strong>da</strong>de. De facto, o leque climático é variado e é nos trópicos<br />
que se encontram algumas <strong>da</strong>s mais considera<strong>da</strong>s e modernas bibliotecas<br />
e arquivos (GIESE 1995). Contudo, a complexi<strong>da</strong>de dos climas tropicais, t<strong>em</strong>peraturas<br />
com humi<strong>da</strong>des relativas eleva<strong>da</strong>s, representam os probl<strong>em</strong>as mais<br />
marcantes para qualquer edifício, incluindo os edifícios de arquivo. O solo seco<br />
e poeirento compromete as fun<strong>da</strong>ções. Também existe uma grande varie<strong>da</strong>de<br />
de pragas de insectos que destro<strong>em</strong> a estrutura do edifício. A situação é<br />
frequent<strong>em</strong>ente exacerba<strong>da</strong> devido a uma manutenção fraca, com muitas oportuni<strong>da</strong>des<br />
para a intrusão de animais de maiores dimensões, como ratazanas e<br />
ratos. A biodegra<strong>da</strong>ção é uma grande preocupação, com a eclosão de bolores<br />
resultante de inun<strong>da</strong>ções e de má ventilação (RHYS-LEWIS 1999).<br />
Nas zonas tropicais, a média anual de t<strong>em</strong>peratura não é tão importante como<br />
a amplitude térmica que indica a variação ao longo do ano. Mais importante<br />
ain<strong>da</strong> é a amplitude diária. Por ex<strong>em</strong>plo, a t<strong>em</strong>peratura regista<strong>da</strong> na superfície<br />
<strong>da</strong>s pedras do t<strong>em</strong>plo Borobodur, na Indonésia, subiu de 25º C para 45º C <strong>em</strong><br />
quatro horas, afectando <strong>em</strong> profundi<strong>da</strong>de 5 cm. Quanto à humi<strong>da</strong>de relativa,<br />
verifica-se a mesma situação. A pluviosi<strong>da</strong>de é um factor muito importante e é<br />
a flutuação diária que conta para os conservadores-restauradores. Durante o<br />
dia, os níveis máximos <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa ocorr<strong>em</strong> um pouco antes de<br />
nascer o Sol e os níveis mínimos ao cair <strong>da</strong> tarde, quase o inverso do que<br />
acontece com a t<strong>em</strong>peratura. Naturalmente exist<strong>em</strong> outros factores envolvidos,<br />
como, por ex<strong>em</strong>plo, os níveis subterrâneos dos lençóis de água e o meio marinho.<br />
É esta grande e frequente variação de t<strong>em</strong>peratura e de humi<strong>da</strong>de relativa<br />
que causa tantos contrat<strong>em</strong>pos nos nossos esforços quanto à salvaguar<strong>da</strong> do<br />
nosso património cultural (DAVISON 1981).<br />
82
Edifícios<br />
Os principais factores climáticos que afectam o b<strong>em</strong>-estar do ser humano e<br />
que são relevantes para a construção civil são (GUT et al. 1993):<br />
• T<strong>em</strong>peratura atmosférica, os seus picos e as diferenças entre o dia e a noite<br />
e entre o Verão e o Inverno;<br />
• Humi<strong>da</strong>de e precipitação;<br />
• Entra<strong>da</strong> e saí<strong>da</strong> de radiações, influência <strong>da</strong>s condições atmosféricas,<br />
movimentos de massas de ar e ventos.<br />
Para mais literatura sobre edifícios <strong>em</strong> diferentes climas tropicais, ver<br />
AGRAWAL et al. 1974; BAXI 1974; BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT 1980; CHAN<br />
1978; ELBADAWI 1972a e 1972b; FRY et al. 1956 e 1964 (talvez um pouco<br />
ultrapassado); FULLERTON 1977, 1978 e 1979; HOLDSWORTH 1974; KONYA 1984;<br />
MORENO 1991; SAINI 1980; THOMSON 1974. Para bibliografias antigas, ver<br />
ANÓNIMO 1953 e 1954.<br />
4.3 Edifícios novos<br />
No projecto e na construção de um edifício de arquivo, o arquivista e o<br />
arquitecto dev<strong>em</strong> ter a preservação como ponto de parti<strong>da</strong>. A preservação t<strong>em</strong><br />
um impacto importante e decisivo na construção de estantes, de laboratórios<br />
b<strong>em</strong> como de instalações destina<strong>da</strong>s ao público <strong>em</strong> geral e a zonas de trabalho.<br />
As condições climáticas revest<strong>em</strong>-se de especial importância (BUCHMANN 1998).<br />
Plumbe, <strong>em</strong> 1959, refere com optimismo que a cooperação entre arquitecto e<br />
bibliotecário não é uma tendência, mas sim uma necessi<strong>da</strong>de prática (PLUMBE<br />
1959a). Não obstante, de acordo com Holdsworth, no mesmo periódico, os<br />
arquitectos são um caso raro <strong>em</strong> muitos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento.<br />
São os departamentos públicos locais, <strong>em</strong> grande parte chefiados por engenheiros<br />
civis, que têm constituído as principais organizações de construção<br />
(HOLDSWORTH 1959). Algumas déca<strong>da</strong>s passa<strong>da</strong>s, aparent<strong>em</strong>ente a situação não<br />
mudou muito (HAVARD-WILLIAMS et al. 1987).<br />
É chocante constatar que até numa publicação recente <strong>da</strong> IFLA Section on Library<br />
Buildings and Equipment seja <strong>da</strong><strong>da</strong> tão pouca atenção à preservação na construção e<br />
no desenho de edifícios; de dezasseis intervenientes num s<strong>em</strong>inário sobre<br />
questões liga<strong>da</strong>s à preservação, apenas dois deles abor<strong>da</strong>ram este t<strong>em</strong>a (BISBROUCK<br />
et al. 1999). Na reunião seguinte <strong>da</strong> IFLA, <strong>em</strong> Shangai, verificou-se que as<br />
bibliotecas estão ca<strong>da</strong> vez mais orienta<strong>da</strong>s para as pessoas e não para os livros,<br />
83
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
e também que os edifícios não são considerados como a primeira linha de<br />
defesa. Os projectos são predominant<strong>em</strong>ente projectos funcionais (BISBROUCK<br />
2001). M. Amosu aponta que na região africana subsariana é raro qualquer<br />
instituição começar a sua activi<strong>da</strong>de <strong>em</strong> edifícios novos, e <strong>em</strong> geral as<br />
bibliotecas são alberga<strong>da</strong>s <strong>em</strong> edifícios provisórios. Apesar de tudo, a autora<br />
considera este facto uma vantag<strong>em</strong>, tendo <strong>em</strong> conta que a maioria do pessoal<br />
de biblioteca envolvido no planeamento já sofreu o desconforto do espaço<br />
inadequado e do barulho (AMOSU 1974).<br />
Para a elaboração do projecto do primeiro arquivo efectivo para o Nigerian<br />
National Archives, <strong>em</strong> Iba<strong>da</strong>n, foram realizados inquéritos nos EUA, Grã-<br />
-Bretanha e Rodésia sobre as características básicas e requisitos para um edifício<br />
moderno de arquivo. Como resultado desta investigação, concluiu-se que o<br />
edifício proposto seria o primeiro deste tipo a ser construído na África<br />
Tropical. Foi decidido que a sua última forma e estrutura seriam determina<strong>da</strong>s<br />
pelas características locais, uma situação nunca vista até então pelos arquitectos<br />
europeus e norte-americanos (GWAM 1963).<br />
Antes de 1920, valorizaram-se os efeitos arquitectónicos <strong>em</strong> detrimento dos<br />
requisitos funcionais na construção de bibliotecas. Foram construídos edifícios<br />
monumentais, impressionantes sob o ponto de vista arquitectónico, mas que<br />
não eram adequados para os fins de uma biblioteca. Hoje <strong>em</strong> dia a tónica<br />
mudou; há uma compreensão crescente, concor<strong>da</strong>ndo com Le Corbusier, de<br />
que a forma segue a função (NWAMEFOR 1975).<br />
Contudo, G. Kumar sustenta a ideia que na Índia grande parte <strong>da</strong>s bibliotecas<br />
continua a ser construí<strong>da</strong> de acordo com projectos monumentais, com pé-<br />
-direito alto e amplos átrios (KUMAR 1981). Esta ideia baseia-se no conceito<br />
europeu do século XIX, do museu ser «a casa <strong>da</strong>s musas» e por isso o edifício<br />
t<strong>em</strong> que ter um desenho específico (MYLES 1976).<br />
São poucos os arquivistas que se pod<strong>em</strong> <strong>da</strong>r ao luxo de especificar a<br />
estrutura dos seus edifícios. Se proced<strong>em</strong> desta forma, exist<strong>em</strong> diversos pontos<br />
que têm que se levados <strong>em</strong> conta:<br />
• localização (a salvo de perigos óbvios);<br />
• tão alto quanto a massa térmica permita (menor controlo ambiental no<br />
interior);<br />
• telhado íngr<strong>em</strong>e ou inclinado (melhor drenag<strong>em</strong> <strong>da</strong> água <strong>da</strong> chuva e<br />
redução de infiltrações) (MACKENZIE 1996).<br />
84
Edifícios<br />
Um probl<strong>em</strong>a importante <strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento é a ausência<br />
de normas nacionais para edifícios de arquivo ou o cumprimento insuficiente<br />
de tais normas (IFIDON 1990; NWAFOR 1980). G. Kumar questiona-se sobre como se<br />
pode reconhecer tão pouco <strong>da</strong>s culturas nacionais <strong>em</strong> edifícios novos. Por<br />
ex<strong>em</strong>plo, o gosto indiano pelos pátios podia ser transferido para as bibliotecas,<br />
e a preferência por se sentar<strong>em</strong> de pernas cruza<strong>da</strong>s, ou por se sentar<strong>em</strong><br />
reclinados, devia ser leva<strong>da</strong> <strong>em</strong> conta na escolha do mobiliário (KUMAR 1981).Em<br />
África, os estu<strong>da</strong>ntes mal têm espaço para estu<strong>da</strong>r nas suas casas. É por esta<br />
razão que as bibliotecas africanas necessitarão de maior número de salas de<br />
leitura do que as bibliotecas dos países do ocidente (AMOSU 1974).<br />
A construção de habitações acima do solo, sobre estacas, é um costume<br />
amplamente enraizado <strong>em</strong> muitos países tropicais. Esta prática traz muitas<br />
vantagens: protege o soalho <strong>da</strong> terra molha<strong>da</strong> ou humi<strong>da</strong>de, é a primeira<br />
protecção contra inun<strong>da</strong>ções e constitui, no caso de estacas <strong>em</strong> betão trata<strong>da</strong>s<br />
com um revestimento contra térmitas, uma boa defesa antitérmitas e outros<br />
insectos rastejantes (DUCHEIN 1980; KARIM 1988). Para prevenir ou, pelo menos, para<br />
reduzir o ataque <strong>da</strong>s térmitas, os pavimentos dev<strong>em</strong> ser feitos de betão, tiras de<br />
metal dev<strong>em</strong> ser inseri<strong>da</strong>s nas juntas, os canos e as estacas <strong>em</strong> betão dev<strong>em</strong> ter<br />
protecções de metal nos topos. O melhor modo de garantir a protecção de<br />
materiais de biblioteca contra a infestação de térmitas é evitar que os insectos<br />
lhes ace<strong>da</strong>m (PLUMBE 1987a).<br />
O sist<strong>em</strong>a de drenag<strong>em</strong> do edifício deve ser desenhado de modo a permitir<br />
um escoamento rápido <strong>da</strong> água. Tendo <strong>em</strong> conta o elevado volume de água<br />
envolvido, esta condição pode ser muito importante. Fossas circulares de drenag<strong>em</strong>,<br />
distribuí<strong>da</strong>s ao comprimento do edifício, a intervalos regulares, pod<strong>em</strong><br />
ser a solução a adoptar. São cheias com pedra, o que reduzirá a veloci<strong>da</strong>de proveniente<br />
do impacto <strong>da</strong> água e captará a água corrente para longe do edifício<br />
o mais rapi<strong>da</strong>mente possível (LING 1998).<br />
Frequent<strong>em</strong>ente as t<strong>em</strong>pestades tropicais provocam relâmpagos. Para ultrapassar<br />
esta dificul<strong>da</strong>de, o novo edifício necessita de ter instalado um pára-raios no<br />
telhado. Este método comum consiste num sist<strong>em</strong>a de ligação à terra destinado a<br />
dissipar qualquer potencial <strong>da</strong>no que um raio possa causar. Mesmo que o raio caia<br />
a umas centenas de metros do edifício, ain<strong>da</strong> assim os efeitos poderão ser sentidos.<br />
Se atingir um cabo eléctrico, a on<strong>da</strong> percorre-o até ao sist<strong>em</strong>a eléctrico do edifício<br />
podendo causar consideráveis <strong>da</strong>nos. Os sist<strong>em</strong>as eléctricos dessas instalações<br />
necessitam de protecção sob a forma de diversores de sobretensão. Lamentavelmente<br />
o sist<strong>em</strong>a não é inteiramente seguro. Na melhor <strong>da</strong>s hipóteses,<br />
os riscos pod<strong>em</strong> ser reduzidos ou os <strong>da</strong>nos minimizados (LING 1998).<br />
85
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
As galerias, as saca<strong>da</strong>s e as varan<strong>da</strong>s são marcas comuns <strong>em</strong> países quentes e<br />
húmidos. São muito práticas porque mantêm o sol afastado <strong>da</strong>s janelas e <strong>da</strong>s<br />
paredes exteriores (DUCHEIN 1980). A construção de alpendres não só vai facilitar<br />
as descargas de mercadorias, como também vai proteger os visitantes <strong>da</strong> chuva<br />
e do sol (PLUMBE 1987b).<br />
A construção deve ser a mais baixa possível, de modo a minimizar per<strong>da</strong>s<br />
ou ganhos de calor; esta ideia contraria a construção de torres, por ser<strong>em</strong><br />
relativamente altas <strong>em</strong> comparação com o seu volume (THOMAS 1987). Na última<br />
déca<strong>da</strong>, ou nas duas últimas déca<strong>da</strong>s, verificou-se uma tendência crescente no<br />
Ocidente para a construção de edifícios de arquivo <strong>em</strong> altura. Devido aos<br />
elevadores de rápido acesso, as deslocações verticais já não necessitam de ser<br />
reduzi<strong>da</strong>s. Mas a solução não é construir <strong>em</strong> altura, mas sim estabelecer um<br />
equilíbrio entre diversos factores (DUCHEIN 1988).<br />
Na Índia, <strong>em</strong> 1975, ain<strong>da</strong> se aconselhavam a construir paredes ocas, paredes<br />
duplas ou paredes interiores falsas, pois acreditava-se que frequent<strong>em</strong>ente<br />
serviam de ver<strong>da</strong>deiras barreiras contra a penetração de humi<strong>da</strong>de proveniente<br />
do exterior (SWARNAKAMAL 1975). No Canadá desenvolveu-se uma nova abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong>:<br />
a construção de um edifício num edifício. A ideia é que as áreas onde as<br />
pessoas circulam dev<strong>em</strong> estar localiza<strong>da</strong>s o mais perto possível <strong>da</strong> zona exterior<br />
do prédio e a área dos depósitos deve localizar-se perto do coração do edifício.<br />
Com este método, as áreas dos depósitos ficam mais protegi<strong>da</strong>s <strong>da</strong>s variações<br />
climáticas exteriores. Assim, as instalações serão de maior dimensão e mais<br />
dispendiosas (LING 1998).<br />
Para depósitos nos trópicos, ver BADIOZE ZAMAN 1989; BISBROUCK 2001; FAYE<br />
1982c; MAHMUD et al. 1985 e para conceitos mais antigos, ver DREW 1968;<br />
FEILDEN 1979; ROUSSET DE PINA 1961; TOISHI 1974 e 1979.<br />
Para literatura geral sobre edifícios nos trópicos, ver ALI 2000; ANÓNIMO<br />
1952 e 1985c; BLIGHT 1988; DEQUEKER et al. 1992; KUKREJA 1978; LIPPSMEIER<br />
1980; SALMON 1999; SCHROEDER 1989; WAAL 1993 e para conceitos mais<br />
antigos, ver DANDY 1963; FOYLE 1954; KOENIGSBERGER et al. 1974; ROYAL TROPICAL<br />
INSTITUTE 1962.<br />
4.4 Edifícios sustentáveis<br />
Ao longo <strong>da</strong> última déca<strong>da</strong>, o desenvolvimento sustentável <strong>em</strong>ergiu como uma<br />
resposta prática face à degra<strong>da</strong>ção contínua do meio ambiente global.<br />
A abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> foi lança<strong>da</strong> para o palco político internacional pela Commission<br />
86
Edifícios<br />
on Environment and Development (WCED), lidera<strong>da</strong> pelo primeiro-ministro<br />
norueguês Gro Harl<strong>em</strong> Brundtland <strong>em</strong> 1987, que definiu o desenvolvimento<br />
sustentável como «o desenvolvimento que vai ao encontro <strong>da</strong>s necessi<strong>da</strong>des do<br />
presente s<strong>em</strong> comprometer a capaci<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s futuras gerações de ir<strong>em</strong> ao<br />
encontro <strong>da</strong>s suas próprias necessi<strong>da</strong>des» (WCED 1987). Para a WCED, o desenvolvimento<br />
sustentável inclui dois conceitos-chave. Primeiro, o conceito de<br />
necessi<strong>da</strong>des, particularmente as necessi<strong>da</strong>des essenciais dos desfavorecidos do<br />
mundo, «aos quais devia ser <strong>da</strong><strong>da</strong> uma priori<strong>da</strong>de irrefutável» e segundo, a<br />
ideia de limites quanto à capaci<strong>da</strong>de do ambiente para fazer face às necessi<strong>da</strong>de<br />
presentes e futuras, impostas pela evolução <strong>da</strong> tecnologia e pela organização<br />
social.<br />
Para difundir o relatório de Brundtland, a United Nations Conference on<br />
Environment and Development - UNCED, organizou a Earth Summit no Rio de<br />
Janeiro <strong>em</strong> 1992. A Agen<strong>da</strong> 21 Action Plan <strong>da</strong>í resultante, estabeleceu, pela<br />
primeira vez, um acordo internacional sobre as implicações práticas do<br />
desenvolvimento sustentável para questões transversais, como o comércio, o<br />
crescimento do consumo e <strong>da</strong> população e outras questões sectoriais como,<br />
por ex<strong>em</strong>plo, a arquitectura. Em 2002, realizou-se a United Nations World<br />
Summit on Sustainable Development (Rio+10) Earth Summit, <strong>em</strong><br />
Joanesburgo. Quando esta reunião teve lugar, já não era segredo que o<br />
progresso na impl<strong>em</strong>entação do desenvolvimento sustentável constituía uma<br />
desilusão desde 1992. Esta reunião <strong>em</strong> Joanesburgo não produziu resultados<br />
relevantes, mas foram estabelecidos novos e interessantes objectivos. No<br />
entanto, constatou-se um novo tipo de diálogo entre os participantes,<br />
especialmente entre governos, a socie<strong>da</strong>de civil e o sector privado.<br />
A partir de 1992, definiu-se um conjunto de estratégias locais e nacionais<br />
de modo a a<strong>da</strong>ptar essas recomen<strong>da</strong>ções às condições específicas com que se<br />
deparam as diferentes comuni<strong>da</strong>des <strong>em</strong> todo o mundo. No Summit, <strong>em</strong><br />
Joanesburgo, t<strong>em</strong>as como a energia e o saneamento básico foram el<strong>em</strong>entos<br />
que mereceram mais relevância então do que se verificou <strong>em</strong> encontros<br />
internacionais anteriores sobre desenvolvimento sustentável (http://www.<br />
johannesburgsummit.org [pesquisa de 4 de Abril de 2006]).<br />
Regista-se um constante aumento de consumo energético devido a uma falta<br />
de a<strong>da</strong>ptação às condições climáticas, i. é, a uma ina<strong>da</strong>ptação dos projectos de<br />
edifícios ou <strong>da</strong> arquitectura, dos projectos e dos planos urbanísticos às<br />
circunstâncias climáticas locais. D<strong>em</strong>asia<strong>da</strong>s vezes, os factores climáticos são<br />
negligenciados na construção porque não são de interesse n<strong>em</strong> de preocupação<br />
imediatos para a indústria <strong>da</strong> construção, construtores, projectistas, <strong>em</strong>prei-<br />
87
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
teiros e proprietários. Isto aplica-se não só a estruturas <strong>em</strong> zonas de climas<br />
quentes, como também a zonas de climas t<strong>em</strong>perados e frios. Com a existência<br />
de energia suficiente quase tudo parece ser viável, mas as tendências actuais na<br />
área <strong>da</strong> construção nas regiões tropicais e subtropicais ain<strong>da</strong> revelam pouca<br />
sensibilização <strong>em</strong> relação à conservação energética. O estilo internacional <strong>da</strong><br />
caixa de betão e <strong>da</strong> chapa de ferro dos edifícios estan<strong>da</strong>rdizados tão divulgados<br />
também não está a<strong>da</strong>ptado, não sendo, portanto, adequado às condições<br />
climáticas locais, tornando-se assim o seu crédito a nível mundial questionável<br />
(GUT et al. 1993).<br />
A construção não é impune às consequências a longo prazo deste conceito<br />
numa socie<strong>da</strong>de que gradualmente evolui para a sustentabili<strong>da</strong>de. Com o<br />
advento <strong>da</strong>s mu<strong>da</strong>nças climáticas, a legislação governamental e os tratados<br />
internacionais, os edifícios sustentáveis tornam-se ca<strong>da</strong> vez mais indispensáveis<br />
e constitu<strong>em</strong> informação valiosa para todos os arquitectos, engenheiros e<br />
projectistas que queiram que os seus projectos dê<strong>em</strong> simultaneamente resposta<br />
e correspon<strong>da</strong>m às exigências reais (SMITH 2002). O Royal Institute of British<br />
Architects (RIBA) incluiu no currículo de todos os seus cursos oficialmente<br />
reconhecidos a sustentabili<strong>da</strong>de ecológica (SMITH 2001). Uma <strong>da</strong>s novas publicações<br />
que antevê o futuro debate sobre a sustentabili<strong>da</strong>de <strong>em</strong> arquitectura<br />
intitula-se Taking Shape, de Susannah Hagan. Ao focar o impacto que as novas<br />
teorias <strong>da</strong> tecnologia sustentável e os novos materiais para arquitectura<br />
provocam, Hagan faz ascender a teoria e a prática <strong>da</strong> sustentabili<strong>da</strong>de ambiental<br />
na arquitectura a um nível de grande sensibilização quanto ao seu significado<br />
e potencial cultural (HAGAN 2001).<br />
Hans-Peter Jost e Jutta Schwarz trocam ideias sobre a melhor forma de construir<br />
edifícios de arquivo de acordo com os princípios fun<strong>da</strong>mentais <strong>da</strong> construção<br />
ecológica (JOST et al. 1996). As considerações inclu<strong>em</strong> a escolha do sítio,<br />
acabamentos exteriores, utilização optimiza<strong>da</strong> <strong>da</strong> energia, escolha de materiais,<br />
garantia de durabili<strong>da</strong>de do edifício, manutenção fácil e estabilização do desgaste<br />
do edifício. Uma vez mais, o artigo só se refere aos edifícios no Ocidente.<br />
Foi publicado um estudo bastante interessante pela conhecidíssima editora<br />
Atchitectural Press, sobre a ecologia dos materiais de construção. Apresenta<br />
uma visão abrangente <strong>da</strong> ecologia na construção de edifícios e fornece uma<br />
informação tecnológica vital permitindo ao arquitecto pôr <strong>em</strong> prática as ideias<br />
<strong>da</strong> sustentabili<strong>da</strong>de (BERGE 2001). Na colecção <strong>da</strong> Butterworth’s sobre «Conservation<br />
and Museology» foi publicado um guia fidedigno sobre ecologia e meio<br />
ambiente para a preservação de estruturas históricas <strong>em</strong> madeira, baseado no<br />
respeito pelos ofícios e técnicas de construção tradicionais. Ilustra nova e<br />
88
Edifícios<br />
universal abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> à preservação basea<strong>da</strong> nos Principles for the Preservation of<br />
Historic Timber Structures adoptados pelo International Wood Committee of ICOMOS<br />
– The International Council on Monuments and Sites. Considerações sobre<br />
tecnologia apropria<strong>da</strong>, preservação de florestas com árvores centenárias e<br />
desenvolvimento <strong>da</strong> prática de ofícios tradicionais são fun<strong>da</strong>mentais na sua<br />
argumentação (LARSEN et al. 2000; ver também SCHRECKENBACH 1982; SIERIG 1991c).<br />
A consciência verde tornou-se especialmente popular quando os custos<br />
relativos à construção aumentaram (ROMBAUTS 1996). Na Austrália de hoje, registase<br />
a melhor compreensão desde s<strong>em</strong>pre quanto à integri<strong>da</strong>de estrutural total<br />
de um edifício. Actualmente, os arquivistas não pensam somente <strong>em</strong> criar as<br />
condições ambientais correctas, mas também ponderam a capaci<strong>da</strong>de que um<br />
edifício deve ter para as sustentar. Consideram a estrutura completa do edifício,<br />
i. é, as paredes, o telhado e o chão, como forma de promover este processo (LING<br />
1998). Os arquivistas responsáveis pelos projectos dos novos edifícios, geralmente<br />
não acreditam que se consigam atingir condições ambiente estáveis nos<br />
depósitos através de técnicas de construção, s<strong>em</strong> recorrer a dispositivos<br />
eléctricos de consumo de energia. De alguma maneira, a ideia do edifício<br />
sustentável para arquivo não vingou nos EUA (BANKS 1999).<br />
O estudo de Paul Gut e de Dieter Ackerknech intitulado Climate responsive<br />
building faz uma abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> abrangente, incidindo especialmente no t<strong>em</strong>a<br />
relativo aos edifícios <strong>em</strong> zonas de climas tropicais. Esta obra foi publica<strong>da</strong> pelo<br />
Swiss Centre for Development Cooperation in Technology and Manag<strong>em</strong>ent –<br />
SKAT. O edifício receptivo ao clima constitui uma alternativa possível ao<br />
edifício ina<strong>da</strong>ptado ao clima. É um edifício no qual são adopta<strong>da</strong>s medi<strong>da</strong>s<br />
equilibra<strong>da</strong>s e meios naturais para reduzir o consumo de energia através do seu<br />
desenho, <strong>da</strong> sua construção e dos materiais adequados a um clima específico.<br />
Isto provoca também consequências positivas, tanto a nível económico como a<br />
nível <strong>da</strong> utilização dos próprios recursos locais. Pod<strong>em</strong> conseguir-se melhoramentos<br />
mediante a concepção de um edifício com uma abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> integra<strong>da</strong>.<br />
Inclui a definição de padrões e formas urbanas b<strong>em</strong> como a escolha do terreno<br />
de acordo com os critérios microclimáticos.A forma, o tipo de edifícios e a sua<br />
orientação, a integração de vegetação adequa<strong>da</strong> e a combinação do espaço<br />
interior e exterior requer<strong>em</strong> uma ponderação cui<strong>da</strong>dosa. A utilização correcta<br />
de materiais de construção, os projectos <strong>da</strong>s aberturas para o exterior e a sua<br />
protecção do sol, um sist<strong>em</strong>a natural de arrefecimento, um sist<strong>em</strong>a passivo de<br />
aquecimento solar e a correcta utilização de ventos favoráveis para uma boa<br />
ventilação são importantes el<strong>em</strong>entos de apoio. De alguma forma, isto vai ao<br />
encontro dos argumentos do regionalismo crítico, um conceito introduzido no<br />
89
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
debate sobre arquitectura no início dos anos 80. Não constitui um estilo<br />
propriamente dito, mas sim uma abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> a uma arquitectura que precisa de<br />
responder às necessi<strong>da</strong>des e oportuni<strong>da</strong>des de uma região específica – apesar<br />
de não se opor totalmente ao potencial global (TZONIS et al. 2001).<br />
Em geral, a publicação do SKAT faculta a informação necessária para a elaboração<br />
do projecto e <strong>da</strong> construção de edifícios <strong>em</strong> regiões tropicais e subtropicais,<br />
com respeito pelo controlo do clima através de métodos passivos (i. é, s<strong>em</strong><br />
dispositivos de consumo energético). Em suma, os baixos custos e os conceitos<br />
adequados são levados <strong>em</strong> linha de conta. Uma grande parte do livro é<br />
dedica<strong>da</strong> às nove experiências e simulações realiza<strong>da</strong>s por Gut e Ackerknecht<br />
<strong>em</strong> diversas zonas climáticas. O Apêndice contém os <strong>da</strong>dos físicos necessários<br />
para a avaliação <strong>da</strong>s proprie<strong>da</strong>des dos principais materiais de construção b<strong>em</strong><br />
como outras listas úteis como, por ex<strong>em</strong>plo, uma longa bibliografia (166<br />
títulos), cartas eclípticas solares para regiões tropicais e subtropicais, e factores<br />
de conversão. Segundo Gut, os pontos principais que dev<strong>em</strong> ser levados <strong>em</strong><br />
conta ao projectar um edifício a<strong>da</strong>ptado ao clima são (GUT et al. 1993):<br />
• Minimizar a acumulação de calor durante o dia e maximizar a per<strong>da</strong> de<br />
calor durante a noite nas estações quentes e o inverso nas estações frias;<br />
• Minimizar a acumulação de calor no interior durante as estações quentes;<br />
• Seleccionar o local de acordo com os critérios microclimáticos;<br />
• Optimizar a estrutura do edifício (especialmente no que respeita ao<br />
armazenamento termal e desfasamento horário);<br />
• Controlar a radiação solar;<br />
• Regular a circulação do ar.<br />
Brian Edwards e Biddy Fischer, arquitectos do Reino Unido que defend<strong>em</strong><br />
soluções sustentáveis, escreveram um texto que analisa a mu<strong>da</strong>nça do papel e do<br />
desenho nos edifícios de biblioteca, recorrendo a uma análise crítica de ex<strong>em</strong>plos<br />
recentes <strong>em</strong> todo o mundo. Eles analisam novas bibliotecas nacionais, públicas,<br />
universitárias e especializa<strong>da</strong>s. Conclu<strong>em</strong> que está <strong>em</strong> curso uma mu<strong>da</strong>nça fun<strong>da</strong>mental<br />
nas bibliotecas, uma vez que as novas tecnologias libertam a biblioteca<br />
<strong>da</strong> sua dependência <strong>da</strong> palavra escrita. Ca<strong>da</strong> vez mais as bibliotecas são vistas<br />
como centros de aprendizag<strong>em</strong> com uma interface flexível entre o acesso<br />
baseado no computador e o livro e revistas tradicionais (EDWARDS et al. 2001).<br />
90
Edifícios<br />
4.4.1 Controlo passivo do ambiente<br />
O conceito de controlo passivo do ambiente está completamente sintonizado<br />
com a noção de edifício sustentável. É uma alternativa ao sist<strong>em</strong>a de arcondicionado<br />
mecânico, sendo como tal considerado essencial nos edifícios<br />
sustentáveis. O controlo passivo do ambiente exige que o edifício seja construído<br />
e preparado de modo a que as características térmicas e higroscópicas<br />
do edifício e do seu conteúdo cri<strong>em</strong> condições ambiente adequa<strong>da</strong>s e estáveis.<br />
O controlo passivo do ambiente baseia-se nas características físicas do edifício<br />
e assegura uns valores aceitáveis de t<strong>em</strong>peratura e de humi<strong>da</strong>de relativa. Para a<br />
maior parte <strong>da</strong>s pessoas, o controlo passivo do ambiente é um princípio de<br />
construção quando se torna importante para o engenheiro estar a par <strong>da</strong><br />
utilização que será <strong>da</strong><strong>da</strong> ao edifício. Por sua vez, também é importante que o<br />
utilizador esteja informado sobre quaisquer activi<strong>da</strong>des decorrentes que<br />
poderão eventualmente provocar consequências imprevistas e prejudiciais ao<br />
ambiente no interior do edifício (CHRISTOFFERSON 1995).<br />
A partir <strong>da</strong> história recente <strong>da</strong> construção de depósitos <strong>em</strong> zonas com climas<br />
tropicais, ficou claro que os depósitos des<strong>em</strong>penham um papel primordial no<br />
controlo passivo do ambiente, seja <strong>em</strong> arquivos, bibliotecas ou museus. Em<br />
zonas com climas tropicais é especialmente importante que os edifícios sejam<br />
desenhados ou recuperados para minimizar<strong>em</strong> os probl<strong>em</strong>as provocados pela<br />
humi<strong>da</strong>de (DANIEL et al. 2000). Lamentavelmente, ain<strong>da</strong> se investe pouco na<br />
investigação no âmbito do controlo passivo do clima quando o desenho do<br />
edifício assegura condições ambiente estáveis (LYALL 1997).<br />
Lars Christofferson levou a cabo uma investigação e um projecto de<br />
desenvolvimento notáveis sobre depósitos com controlo passivo do ambiente,<br />
no âmbito do seu doutoramento. Desenvolveu um conceito para poupar<br />
recursos na criação de um ambiente adequado e aliou os «ZEPHYR Climate<br />
Controlled Repositories» à ideia de armazenag<strong>em</strong> sustentável. Apesar de ter baseado<br />
o seu estudo nos depósitos <strong>da</strong> Europa do Norte, a sua obra ain<strong>da</strong> é uma leitura<br />
recomendável para qu<strong>em</strong> constrói edifícios nos trópicos (CHRISTOFFERSON 1995).<br />
O primeiro edifício de arquivo <strong>em</strong> África é um ex<strong>em</strong>plo interessante recente<br />
de controlo passivo do ambiente. No projecto do novo edifício do National<br />
Archives of Nigeria <strong>em</strong> 1958, encontram-se muitas soluções práticas e pouco<br />
dispendiosas para controlar o calor e a humi<strong>da</strong>de. É garanti<strong>da</strong> uma ventilação<br />
completa <strong>em</strong> todos os pisos, constituí<strong>da</strong> por janelas normaliza<strong>da</strong>s com vidro<br />
rugoso, protegi<strong>da</strong>s com persianas e com barras de aço fixa<strong>da</strong>s por dentro,<br />
como protecção contra ladrões. Pela mesma razão, as alas do edifício são longas<br />
91
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
e estreitas, com muitas portas e janelas coloca<strong>da</strong>s <strong>em</strong> frente umas <strong>da</strong>s outras.<br />
A protecção <strong>da</strong>s paredes exteriores contra o sol é garanti<strong>da</strong> por ba<strong>da</strong>nas<br />
verticais entre ca<strong>da</strong> janela e por protecções horizontais por cima <strong>da</strong>s janelas<br />
(GWAM 1966).<br />
Encanar o vento também pode gerar ventilação. Para este efeito, foram<br />
instalados nos telhados sist<strong>em</strong>as de pás ou palas especiais de modo a orientar<br />
o vento para canais que dão para as salas. Esta técnica foi aplica<strong>da</strong> <strong>em</strong> determina<strong>da</strong>s<br />
zonas quentes e secas <strong>da</strong> Índia durante séculos. Usualmente, numa casa<br />
ca<strong>da</strong> divisão t<strong>em</strong> o respectivo sist<strong>em</strong>a de pás e num edifício com diversos<br />
an<strong>da</strong>res os canais chegam até ao piso térreo. Este tipo de ventilação só é exequível<br />
se o vento soprar regularmente na mesma direcção (AGRAWAL 1974).<br />
Em 1982 foi utilizado um determinado sist<strong>em</strong>a de protecção solar para<br />
evitar o aquecimento no edifício de arquivo do Botswana, <strong>em</strong> África. Aqui,<br />
foram construí<strong>da</strong>s bermas <strong>em</strong> terra, por baixo <strong>da</strong>s janelas, envolvendo o<br />
primeiro e segundo an<strong>da</strong>res. As bermas têm uma estrutura de telhado que cria<br />
um espaço para o ar circular entre a própria estrutura e a estrutura do edifício,<br />
evitando o aquecimento solar directo e o aquecimento por radiação (LEKAUKAU et<br />
al. 1986).<br />
Em Cólonia, na Al<strong>em</strong>anha, o sist<strong>em</strong>a de ar-condicionado natural, uma forma<br />
de edifício passivo, é aplica<strong>da</strong> numa área de aproxima<strong>da</strong>mente 10 000 m 2 .T<strong>em</strong><br />
provado ser um método eficaz para estabilizar a t<strong>em</strong>peratura e a humi<strong>da</strong>de<br />
dentro de uma amplitude aceitável de valores para guar<strong>da</strong>r documentos <strong>em</strong><br />
papel.To<strong>da</strong> a área é cerca<strong>da</strong> por uma almofa<strong>da</strong> de ar acima do chão; o ar pode<br />
circular sob a facha<strong>da</strong> e através do espaço entre o telhado e o tecto. Com este<br />
tipo de construção, a área fica isola<strong>da</strong>, tanto quanto possível, do clima exterior<br />
e <strong>da</strong>s suas alterações (BUCHMANN 1998; STEHKÄMPER 1988). Na África do Sul, o conceito<br />
de caixa dentro de uma caixa é explorado numa construção subterrânea (HARRIS<br />
1993; ROWOLDT 1993 e 1994). Em 1992 surgiu uma actualização relativa a este t<strong>em</strong>a.<br />
O autor revelou-se surpreso com a falta de debates sérios sobre o modelo de<br />
Colónia e discute outras experiências <strong>em</strong> países de língua al<strong>em</strong>ã (STEIN 1992).<br />
Uma análise a nível internacional revela que os construtores utilizam geralmente<br />
estruturas com áreas cobertas de pequenas dimensões, dispondo de<br />
paredes com bons isolamentos para conseguir<strong>em</strong> manter condições ambiente<br />
estáveis (THOMAS 1988).<br />
Que a arquitectura sustentável é exequível com pouquíssimos meios,<br />
incluindo meios financeiros, está comprovado por Laurie Baker que, <strong>em</strong> trinta<br />
anos, construiu mais de vinte e seis edifícios. Entre outros edifícios, ele foi<br />
responsável pela construção <strong>da</strong> Library of the Centre for Development Studies<br />
92
Edifícios<br />
at Trivandrum, Kerala. Este edifício de oito an<strong>da</strong>res foi construído com tijolos<br />
à vista, s<strong>em</strong> cimento. O edifício é fresco, dispondo de um sist<strong>em</strong>a de ventilação<br />
e iluminação naturais (HOCHSCHILD 2000; KREMP 2001).<br />
Para mais detalhes sobre materiais de construção, ver a secção abaixo sobre<br />
Construção e para bibliografia mais antiga para arrefecimento passivo, ver KING<br />
1984 e, mais recent<strong>em</strong>ente, ver ROSENHUND 1993.<br />
Para mais informação sobre controlo passivo <strong>da</strong>s condições ambiente, ver<br />
ADAMSON et al. 1993a e 1993b; AIVC 1999; ALLARD 1998; ANÓNIMO 1982a,<br />
1982b, 1982c, 1985b e 1997; AYRES et al. 1988; BAHADORI 1979; BAKER 1987;<br />
BANSAL et al. 1994; COFAIGH EOIN et al. 1996; DODD et al. 1986; DOSWALD 1977;<br />
EDWARDS 1994; EMMANUEL 2002; FISCHER 1984; FITZGERALD et al. 1999; GARDE et<br />
al. 1999; GARDE-BENTALEB et al. 2002; HOLM 1983; PADFIELD et al. 1990; ROAF<br />
2001; ROSENLUND 1989; ROSENLUND et al. 1997; SACRÉ et al. 1992; SWARTZBURG et<br />
al. 1991; SLESSOR et al. 1997; YANG et al. 2000.<br />
Para construção sustentável <strong>em</strong> geral, ver CLARK 1990; EDWARDS 1999; KING<br />
1993; KOKUSEN 1998; MELET 1999; PIANO 1998; RAY-JONES et al. 2000; STEELE<br />
1997; VALE et al. 1991;YEANG 1999.<br />
Para uma bibliografia sobre sist<strong>em</strong>as solares passivos, ver ANÓNIMO 1989,<br />
ROSALUND 1989 e STULZ 1980. Na página <strong>da</strong> Internet do Air Infiltration and<br />
Ventilation Center (AIVC) estão disponíveis várias bibliografias anota<strong>da</strong>s, por<br />
ex<strong>em</strong>plo, sobre arrefecimento passivo, sustentabili<strong>da</strong>de, projectos solares passivos<br />
e ventilação natural. Para uma informação actualiza<strong>da</strong>, deverá verificar-se<br />
página <strong>da</strong> Internet do SKAT e a página do Laboratoire de Génie Industriel (LGI).<br />
4.5 Construção tradicional<br />
Normalmente, a população local sabe como se a<strong>da</strong>ptar às condições rigorosas<br />
dos climas tropicais. Uma forma prática para gerir estes efeitos climáticos t<strong>em</strong><br />
solução nas estruturas dos edifícios tradicionais. Para ca<strong>da</strong> zona climática<br />
diferente, pode encontrar-se um modo de construção tradicional adequado.<br />
Devido a factores diversos, os novos edifícios ou outro tipo de construções não<br />
são frequent<strong>em</strong>ente a<strong>da</strong>ptados às condições locais. Consequent<strong>em</strong>ente, o<br />
conhecimento e a experiência locais perderam-se <strong>em</strong> diversas áreas (GUT et al.<br />
1993). Especialmente no que respeita ao controlo passivo ambiental, as habitações<br />
tradicionais pod<strong>em</strong> revestir-se de grande interesse para os projectistas<br />
dos edifícios de arquivo. Sandra Rowoldt di-lo claramente, ao convi<strong>da</strong>r-nos a<br />
93
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
debruçar sobre a arquitectura doméstica, b<strong>em</strong> como sobre a sua a<strong>da</strong>ptação ao<br />
clima regional. No entanto, ao observarmos a maioria dos edifícios de<br />
instituições verificar<strong>em</strong>os que essa a<strong>da</strong>ptação foi ignora<strong>da</strong> (ROWOLDT 1993).<br />
Agrawal concor<strong>da</strong> com esta ideia ao escrever que a arquitectura tradicional<br />
revela ser muito influencia<strong>da</strong> pelo clima.A análise de medi<strong>da</strong>s tradicionais para<br />
contrabalançar um clima rigoroso produziu algumas soluções que pod<strong>em</strong> ser<br />
a<strong>da</strong>pta<strong>da</strong>s às condições presentes (AGRAWAL 1974).<br />
T<strong>em</strong>-se considerado que os edifícios feitos pelos habitantes locais revelam<br />
menores <strong>da</strong>nos durante os desastres naturais do que aqueles construídos pelos<br />
habitantes recent<strong>em</strong>ente chegados (ver capítulo sobre Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao<br />
desastre). Contudo, soluções meramente tradicionais também revelam uma<br />
continui<strong>da</strong>de de estilos de vi<strong>da</strong> e um tipo de trabalho difícil de exportar para<br />
outras regiões. Uma combinação entre a sabedoria tradicional e a aplicação de<br />
tecnologia avança<strong>da</strong> pode ser necessária (GUT et al. 1993).<br />
No Japão foram inventados alguns métodos de construção únicos e extraordinários.<br />
Para ultrapassar os obstáculos, i. é, condições climáticas resultantes <strong>da</strong><br />
combinação de altas t<strong>em</strong>peraturas, de um elevado teor de humi<strong>da</strong>de e de uma<br />
fraca circulação de ar, os japoneses construíram telhados com <strong>em</strong>penas, paredes<br />
tradicionais de terra e chão alteado, no passado. Os telhados com <strong>em</strong>pena<br />
proteg<strong>em</strong> as casas <strong>da</strong> luz solar, as goteiras largas projectam sombra nas paredes,<br />
proteg<strong>em</strong> as paredes <strong>da</strong> chuva e tanto as madeiras, como a terra são materiais que<br />
absorv<strong>em</strong> e expel<strong>em</strong> a humi<strong>da</strong>de (KATHPALIA 1973; KENJO 1997 e 2000).<br />
O Shoso-in, o arquivo imperial <strong>em</strong> Nara, onde está guar<strong>da</strong>do o tesouro<br />
antigo T’<strong>da</strong>i-ji com 1200 anos, também reflecte a concepção tradicional japonesa<br />
como preservar documentos (BANKS 1999). Como ain<strong>da</strong> hoje se pode ver <strong>em</strong><br />
muitas bibliotecas de t<strong>em</strong>plos no Sudeste Asiático, estruturas de madeira<br />
protegi<strong>da</strong>s <strong>da</strong> luz solar e com telhados de azulejo estão a mais de 2,5 metros<br />
acima do solo, para proporcionar o máximo de circulação de ar (NOERLUND et al.<br />
1998). Uma teoria para o sucesso <strong>da</strong> protecção proporciona<strong>da</strong> pelo Shoso-in é<br />
que o edifício estilo cabina-de-madeira permite que os seus componentes<br />
individuais <strong>em</strong> madeira se expan<strong>da</strong>m e se contraiam com as alterações de<br />
humi<strong>da</strong>de. Deste modo, as condições ambiente <strong>da</strong>s salas interiores pod<strong>em</strong> ser<br />
regula<strong>da</strong>s através do encerramento e <strong>da</strong> abertura <strong>da</strong> parede segundo as alterações<br />
climáticas (WILLS 1987).<br />
No Cambodja e na Tailândia, muitos dos complexos religiosos medievais<br />
Khmer existentes possuíam bibliotecas instala<strong>da</strong>s <strong>em</strong> edifícios de pedra. Em<br />
Pagan, a capital medieval <strong>da</strong> Birmânia, existe ain<strong>da</strong> um edifício medieval do<br />
século XII que t<strong>em</strong> uma divisão interior com protecção contra alterações<br />
94
Edifícios<br />
atmosféricas, onde os preciosos manuscritos budistas eram guar<strong>da</strong>dos <strong>em</strong> arcas<br />
protectoras (GIESE 1995).<br />
Outros ex<strong>em</strong>plos do Sudeste Asiático são as salas para guar<strong>da</strong>r as escrituras<br />
budistas encontra<strong>da</strong>s <strong>em</strong> velhos t<strong>em</strong>plos tailandeses. Estas salas, que r<strong>em</strong>ontam<br />
a 750 anos atrás, eram normalmente construí<strong>da</strong>s sobre pilares e localiza<strong>da</strong>s no<br />
meio de tanques para proteger as escrituras <strong>da</strong>s térmitas e <strong>da</strong>s ratazanas; uma<br />
forma muito prática de combater os insectos e os roedores.<br />
Às vezes, são encontra<strong>da</strong>s soluções muito simples mas eficazes que imped<strong>em</strong><br />
as piores consequências.A casa-forte de um dos t<strong>em</strong>plos budistas mais antigos <strong>da</strong><br />
Coreia, Haeinsa, construído <strong>em</strong> 1488, conserva a colecção completa de sutras<br />
budistas talhados <strong>em</strong> madeira. De modo a melhorar a preservação dos livros, as<br />
janelas foram desenha<strong>da</strong>s nas paredes a norte e a sul. Deste modo, a localização<br />
oposta <strong>da</strong>s janelas provoca uma corrente de ar, controlando assim a t<strong>em</strong>peratura<br />
e a humi<strong>da</strong>de relativa (LEE 1997). Num edifício de arquivo <strong>em</strong> Hanoi, no Vietname,<br />
que é um antigo edifício colonial francês construído para servir de arquivo,<br />
foram abertas secções no chão, debaixo de ca<strong>da</strong> módulo de estantes, para facilitar<br />
a circulação do ar. O chão do sótão foi revestido com areia, que actua como<br />
isolamento contra a transmissão de calor (RHYS-LEWIS 1999).<br />
Ao restaurar um telhado com infiltrações de um museu instalado num<br />
palácio no Laos, os construtores aperceberam-se que já não se produziam as<br />
telhas antigas, somente um velho artífice é que as sabia fabricar. Foi então<br />
desenvolvido um projecto que gerasse lucro, de modo a reactivar esta antiga<br />
tradição do fabrico de telhas (HAGEMUELLER et al. 1995). O probl<strong>em</strong>a sério que se<br />
verifica quanto à preservação <strong>da</strong>s técnicas de restauro tradicionais reside na<br />
falta de procura <strong>da</strong>s mesmas. As encomen<strong>da</strong>s são escassas, até para aqueles que<br />
são oficialmente reconhecidos como detentores <strong>da</strong>s técnicas tradicionais de<br />
conservação, não sendo suficientes para assegurar<strong>em</strong> frequent<strong>em</strong>ente a sua<br />
sobrevivência. Para além disto, actualmente não é fácil encontrar no mercado<br />
os materiais tradicionais (IWASAKI 1979). A falta de informação técnica sobre a<br />
preparação e utilização dos materiais de construção locais foi detecta<strong>da</strong> já há<br />
mais t<strong>em</strong>po (HOLSWORTH 1959). Mesmo nos Estados Unidos <strong>da</strong> América, já existia<br />
uma consciencialização sobre a necessi<strong>da</strong>de de conservar as técnicas tradicionais,<br />
para assegurar a preservação <strong>da</strong>s construções mais antigas (WHITEHILL 1968).<br />
O arquivo real Huang Shi Chen do século XVI, <strong>em</strong> Pequim, t<strong>em</strong> uma estrutura<br />
<strong>em</strong> abóba<strong>da</strong> com arco de meia volta <strong>em</strong> pedra e tijolo, s<strong>em</strong> vigas-mestres<br />
n<strong>em</strong> pilares; inclusivamente as cinco portas de grande dimensão são feitas de<br />
pedra. As paredes circun<strong>da</strong>ntes têm mais de seis metros de espessura. Desta<br />
forma, a t<strong>em</strong>peratura dentro <strong>da</strong> estrutura mantém um valor aceitável, tanto no<br />
95
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
calor do Verão, como no frio do Inverno de Pequim. No sul <strong>da</strong> China, as casasfortes<br />
são circun<strong>da</strong><strong>da</strong>s por um corredor interior como protecção contra o<br />
contacto directo com a atmosfera exterior (YAO 1986).<br />
Outro ex<strong>em</strong>plo surpreendente <strong>da</strong> construção tradicional chinesa é a Tia nyi<br />
Ge. Esta biblioteca priva<strong>da</strong> de 1566, foi construí<strong>da</strong> num jardim botânico.<br />
Em frente do edifício situa-se um lago com ligação ao Grande Lago Dongning.<br />
Os antigos bibliotecários chineses estu<strong>da</strong>ram e analisaram a relação filosófica<br />
entre as matérias-primas do livro: a água e o fogo. A água não só controla o<br />
fogo, como também proporciona o crescimento <strong>da</strong>s plantas, por conseguinte,<br />
do jardim botânico. O proprietário <strong>da</strong> biblioteca construiu a sua residência ao<br />
lado do edifício <strong>da</strong> biblioteca, mas com uma separação constituí<strong>da</strong> por dois<br />
muros paralelos. Assim, uma calami<strong>da</strong>de como o fogo podia ser impedi<strong>da</strong> de<br />
avançar pelo edifício <strong>da</strong> biblioteca. Além do mais, existia uma norma específica<br />
e estrita que proibia a existência de qualquer tipo de lume, b<strong>em</strong> como de velas,<br />
no edifício <strong>da</strong> biblioteca (LIN 1999).<br />
Os Arquivos de Grana<strong>da</strong> dispõ<strong>em</strong> de uma boa ventilação natural, proveniente<br />
de simples sist<strong>em</strong>a de canos, onde circula o ar desde a cave até ao depósito<br />
e do depósito até ao telhado. A diferença de t<strong>em</strong>peratura entre o telhado e a<br />
cave garante uma corrente considerável de ar frio (SÁNCHEZ BELDA 1964). O arrefecimento<br />
passivo constitui, desde há muito t<strong>em</strong>po, uma característica <strong>da</strong> arquitectura<br />
iraniana: os edifícios eram agrupados para reduzir a área exterior.<br />
As paredes tinham uma grande espessura, as portas e as janelas eram <strong>em</strong><br />
pequeno número, os telhados curvos garantiam isolamento e estímulo para a<br />
circulação do ar (BAHADORI 1978).<br />
Para uma visão geral sobre habitações tradicionais nos climas tropicais, ver<br />
GUIDONI 1978. Para mais literatura, especialmente sobre sist<strong>em</strong>as de<br />
arrefecimento na arquitectura tradicional, ver ALP 1987; CAIN et al. 1976;<br />
COFAIGH EOIN et al. 1996; DENYER 1978; FOX 1999; FRICK 1989; GRONDZIK 1987;<br />
HASSAN 1986; LEWCOCk 1978; MOORE 1983; SCHRECKENBACH 1982; WINTERHALTER<br />
1982. Sobre arquitectura tradicional que utiliza terra como material de construção,<br />
ver LEVIN 2001.<br />
4.6 Localização de um edifício<br />
Muitas vezes, tanto os factores políticos e os factores financeiros, como os<br />
requisitos puramente técnicos influenciam a escolha de um local para a cons-<br />
96
Edifícios<br />
trução de um edifício de arquivo. Mas quaisquer que sejam as razões, a escolha<br />
do local é crucial, pois um erro não pode ser r<strong>em</strong>ediado mais tarde e até pode<br />
pôr <strong>em</strong> risco todo o futuro do serviço de arquivo (DUCHEIN 1988). No passado, os<br />
arquivos eram frequent<strong>em</strong>ente construídos <strong>em</strong> locais oferecidos por enti<strong>da</strong>des<br />
oficiais. A maior parte <strong>da</strong>s vezes, os custos e a competição pelo terreno são<br />
factores para a escolha do local de construção de um arquivo (THOMAS 1988).<br />
De acordo com um estudo antigo RAMP e parcialmente desactualizado,<br />
diversos factores dev<strong>em</strong> ser tidos <strong>em</strong> conta na escolha do local onde construir.<br />
O local, entre outras coisas, não deve estar perto de áreas sujeitas a níveis<br />
elevados de poluição atmosférica, um grave probl<strong>em</strong>a que está a aumentar na<br />
maioria <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong>des de países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento. Do mesmo modo,<br />
os locais situados perto de indústrias claramente poluentes dev<strong>em</strong> ser evitados,<br />
como, por ex<strong>em</strong>plo, as estações ferroviárias. As condições climáticas de potenciais<br />
locais para a construção deviam ser estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s cui<strong>da</strong>dosamente, e devia ser<br />
<strong>da</strong><strong>da</strong> preferência a locais situados <strong>em</strong> terrenos elevados com um clima frio e<br />
seco, e ao abrigo do sol e de t<strong>em</strong>pestades. Os locais que estão sujeitos à humi<strong>da</strong>de,<br />
a ventos que transportam sal ou areia, como zonas costeiras, são impróprios<br />
para a construção. Pelo menos as aberturas não deviam ficar directamente<br />
de frente para os ventos dominantes. Alguma protecção ambiental também<br />
pode ser consegui<strong>da</strong> mediante um posicionamento correcto <strong>da</strong> estrutura para<br />
aproveitar qualquer sombra natural ou protecção contra o vento (DANIEL et al.<br />
2000; EZENNIA 1989; LING 1998; THOMAS 1987).<br />
Paul Gut chama à atenção para as condições específicas do local de construção,<br />
como, por ex<strong>em</strong>plo, a presença de bolsas de ar frio, de vento local, de<br />
água, de urbanizações, de altitude e <strong>da</strong> morfologia do solo. Estes factores faz<strong>em</strong><br />
a ver<strong>da</strong>deira diferença e dev<strong>em</strong> ser considerados na elaboração dos detalhes no<br />
projecto do edifício, b<strong>em</strong> como na selecção do local de construção (GUT et al.<br />
1993). Rosenberg verificou um aumento de 12% na humi<strong>da</strong>de relativa no<br />
interior de um museu situado na costa do Gabão, enquanto a t<strong>em</strong>peratura no<br />
exterior era entre 7º-10º C mais eleva<strong>da</strong>. Estes <strong>da</strong>dos dev<strong>em</strong>-se, <strong>em</strong> parte, à<br />
localização do edifício (ROSENBERG 1986). Nas ilhas Fiji, a amplitude térmica<br />
atmosférica diária é muito grande, variando entre 18º C e 48º C. A flutuação<br />
média, regista<strong>da</strong> durante 54 dias, variou entre 22º C e 32º C (DANIEL et al. 2000).<br />
O local de construção também deve ser cautelosamente inspeccionado no<br />
sentido de se apurar se exist<strong>em</strong> montículos ou colónias de térmitas na<br />
proximi<strong>da</strong>de (LING 1998).<br />
Alguns locais de construção são escolhidos de acordo com critérios mais<br />
lógicos do que outros. Se se pretende construir um arquivo destinado a guar-<br />
97
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
<strong>da</strong>r essencialmente documentos históricos, será aconselhável situá-lo na zona<br />
universitária ou perto de uma biblioteca ou de um museu. Por outro lado, se<br />
o arquivo se destinar a guar<strong>da</strong>r um arquivo intermédio, será melhor construílo<br />
perto do centro administrativo. Ter documentos longe <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>de, não constitui<br />
uma boa ideia. A um arquivo não deverá ser bloqueado o acesso por parte<br />
dos seus potenciais utentes: os arquivos não são coisas mortas (DUCHEIN 1988)!<br />
Com o passar do t<strong>em</strong>po, os factores que levaram à selecção do local para<br />
construção de um depósito de arquivo vão sofrendo alterações. Primeiro, porque<br />
os preços dos terrenos e de habitações nos centros <strong>da</strong>s áreas urbanas pod<strong>em</strong> subir<br />
vertiginosamente; segundo, os arredores de ca<strong>da</strong> local também dev<strong>em</strong> ser tidos<br />
<strong>em</strong> conta. Actualmente, distinguimos dois tipos de factores que influenciam a<br />
nossa escolha quanto ao local de construção: factores internos e externos.<br />
Contudo, ca<strong>da</strong> local de construção e ca<strong>da</strong> edifício são únicos (LING 1998).<br />
Uma vez escolhido o local de construção, deve ponderar-se b<strong>em</strong> qual a melhor<br />
orientação a <strong>da</strong>r ao edifício. Para evitar a luz directa do sol, o edifício deverá estar<br />
virado a norte, no h<strong>em</strong>isfério norte ou virado a sul, no h<strong>em</strong>isfério sul (DUCHEIN<br />
1988). Normalmente, a luz que v<strong>em</strong> do norte é considera<strong>da</strong> a luz natural mais<br />
adequa<strong>da</strong> para galerias e oficinas de conservação. A luz do norte é uniforme e as<br />
cores distingu<strong>em</strong>-se claramente. A orientação este-oeste, adopta<strong>da</strong> preferencialmente<br />
pelos construtores na Índia, não resulta, a não ser que as paredes vira<strong>da</strong>s<br />
a este e a oeste tenham protecções contra os raios solares (AGRAWAL 1974).<br />
4.7 Construção subterrânea<br />
A opção por uma construção acima do solo, <strong>em</strong> módulos, ou subterrânea<br />
depende <strong>da</strong> área do terreno existente e de outras restrições que possam ser<br />
impostas, b<strong>em</strong> como <strong>da</strong>s necessi<strong>da</strong>des <strong>da</strong> instituição (LING 1998).<br />
A grande vantag<strong>em</strong> de um depósito subterrâneo reside no facto <strong>da</strong>s condições<br />
ambiente ser<strong>em</strong> muito estáveis. Contudo, os depósitos instalados <strong>em</strong> salas subterrâneas<br />
estão s<strong>em</strong>pre sujeitas à humi<strong>da</strong>de e a bolores (LEE 1997; ROSENBERG 1986). Num<br />
estudo desenvolvido durante cinco anos sobre amplitudes térmicas anuais, no<br />
túmulo antigo de Torazuka a Nordeste de Tóquio, Kenjo apurou que a diferença<br />
de t<strong>em</strong>peratura era mínima ao longo do ano: enquanto a média <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura<br />
mais eleva<strong>da</strong> atingia 30º C e a t<strong>em</strong>peratura mais baixa ficava nos 5º C, ao ar<br />
livre, no túmulo a média <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura mais eleva<strong>da</strong> registava 17º C e a mais<br />
baixa 15º C. No túmulo, o valor <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa ron<strong>da</strong>va s<strong>em</strong>pre os 100%<br />
(KENJO 2000).<br />
98
Edifícios<br />
Não obstante, mediante certas medi<strong>da</strong>s de precaução, como uma impermeabilização<br />
especial, a humi<strong>da</strong>de pode ser controla<strong>da</strong>. Assim, antes <strong>da</strong> construção<br />
dos depósitos subterrâneos <strong>da</strong> National Diet Library, no Japão, foi desenvolvido<br />
um sist<strong>em</strong>a especial de impermeabilização (KENJO 2000). Contudo, este tipo de<br />
edifício faz com que o pessoal se sinta isolado. A criação de um espaço aberto<br />
reduz os efeitos nefastos, pois permite que a luz solar chegue até ao subsolo. Para<br />
além disso, auxilia a diminuir as alterações de t<strong>em</strong>peratura e de humi<strong>da</strong>de no<br />
interior dos depósitos (KENJO 1997).A utilização de áreas subterrâneas para guar<strong>da</strong>r<br />
as obras pode, <strong>em</strong> princípio, aju<strong>da</strong>r a reduzir os custos energéticos. Contudo,<br />
o alto risco de inun<strong>da</strong>ções deve ser levado <strong>em</strong> conta (SCHÜLLER 2000; TAM 1997).<br />
A cave <strong>da</strong> Catedral de Colónia é um interessante ex<strong>em</strong>plo no Ocidente de um<br />
depósito para guar<strong>da</strong>r obras com condições ambiente controla<strong>da</strong>s. Foi aqui,<br />
sob a catedral, que documentos históricos estiveram guar<strong>da</strong>dos centenas de<br />
anos e que apresentam ain<strong>da</strong> um bom estado de conservação (CHRISTOFFERSEN<br />
1995). Apesar de uma construção subterrânea constituir uma solução com<br />
baixo dispêndio de energia para a manutenção de t<strong>em</strong>peraturas relativamente<br />
constantes, existe a correspondente dependência relativamente à electrici<strong>da</strong>de<br />
despendi<strong>da</strong> para a iluminação e para o controlo de humi<strong>da</strong>de (BELLARDO 1995).<br />
Na África do Sul, a Universi<strong>da</strong>de Stellenbosch elaborou um dos maiores<br />
projectos de bibliotecas subterrâneas do mundo, que constitui um inegável<br />
sucesso. As paredes e as fun<strong>da</strong>ções à prova de humi<strong>da</strong>de foram alvo de especial<br />
atenção. Apesar destas medi<strong>da</strong>s, caso se verifiqu<strong>em</strong> entra<strong>da</strong>s de água nas<br />
instalações, esta pode ser facilmente drena<strong>da</strong>. Uma drenag<strong>em</strong> eficaz do telhado<br />
assegura o escoamento exterior <strong>da</strong> água através de um sist<strong>em</strong>a gravitacional de<br />
canos aju<strong>da</strong>ndo a ultrapassar o sist<strong>em</strong>a <strong>da</strong> condensação. Em conjunto com a<br />
extensa área de terreno que circun<strong>da</strong> o edifício, estas características provocam<br />
uma reacção muito lenta a qualquer alteração climática (ROWOLDT 1993). Na<br />
ausência de qualquer zona de um depósito no projecto de um pequeno museu<br />
na Zâmbia, resolveu-se reformular o projecto e introduzir instalações subterrâneas<br />
no programa <strong>da</strong> construção do edifício. Isto foi feito com a aju<strong>da</strong> de<br />
colegas noruegueses que já tinham experiências positivas de depósitos subterrâneos<br />
nas suas zonas de clima frio (BAKKEN et al. 1987).<br />
O conceito de armazenamento subterrâneo está intimamente ligado à<br />
protecção contra os riscos que uma guerra representa. Além disso, <strong>em</strong> zonas<br />
onde os preços dos lotes de terreno são elevados, como por ex<strong>em</strong>plo <strong>em</strong><br />
grandes ci<strong>da</strong>des, pod<strong>em</strong> existir vantagens económicas. Mesmo assim, os custos<br />
de uma estrutura subterrânea são mais elevados do que de um edifício<br />
construído à superfície, a não ser, claro, que se recorra a uma construção<br />
99
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
subterrânea existente. A desvantag<strong>em</strong> reside no facto destas construções estar<strong>em</strong><br />
distantes dos centros urbanos, e necessitar<strong>em</strong> de ar-condicionado e de<br />
equipamento de ventilação (DUCHEIN 1988). Na Índia antiga, também foram<br />
utiliza<strong>da</strong>s pequenas câmaras subterrâneas para a preservação de manuscritos<br />
(SWRNAKAMAL 1975). Para mais informação, ver LABS 1980.<br />
4.8 A<strong>da</strong>ptação de edifícios existentes<br />
Para minimizar os custos, os edifícios existentes são a<strong>da</strong>ptados ou a<strong>da</strong>ptaram-<br />
-se, no passado, para arquivos. Muitos arquivos antigos r<strong>em</strong>ontam ao início do<br />
período colonial. Pod<strong>em</strong>os imaginar que as condições onde os documentos são<br />
guar<strong>da</strong>dos não são as ideais. Em estudos sobre arquivos e bibliotecas africanos,<br />
verificou-se que a maioria <strong>da</strong>s instituições, especialmente os arquivos, a<strong>da</strong>ptou<br />
instalações para guar<strong>da</strong>r as suas colecções. Obviamente que os materiais de<br />
arquivo e de biblioteca guar<strong>da</strong>dos desta forma não receb<strong>em</strong> a protecção<br />
adequa<strong>da</strong>. Os edifícios a<strong>da</strong>ptados são normalmente antigos e, por vezes, com<br />
estruturas degra<strong>da</strong><strong>da</strong>s (KHAYUNDI 1995; LAAR 1985; MBAYE 1995). Outra razão que leva<br />
à a<strong>da</strong>ptação ou reutilização de um edifício antigo, de modo a funcionar como<br />
arquivo, pode ser do âmbito cultural. Constituirá para um governo uma<br />
oportuni<strong>da</strong>de de reaproveitamento de determinados edifícios importantes do<br />
património arquitectónico (DUCHEIN 1988).<br />
A postura dos arquivistas, relativamente à a<strong>da</strong>ptação dos edifícios antigos,<br />
t<strong>em</strong> evoluído. Nos anos sessenta, as opiniões divergiam. Nos anos oitenta, a<br />
opinião internacional era contra a reciclag<strong>em</strong>, pois o resultado seria dispendioso,<br />
insatisfatório ou as duas coisas. Pelo contrário, especialmente nos países<br />
<strong>da</strong> América Latina, verifica-se o dil<strong>em</strong>a de que os arquivos são considerados as<br />
instituições mais adequa<strong>da</strong>s para ocupar os edifícios antigos. Infelizmente,<br />
acontece diversas vezes não haver dinheiro disponível suficiente para conversões<br />
adequa<strong>da</strong>s, que deveriam solucionar probl<strong>em</strong>as relativos ao meio ambiente<br />
inadequado, à poluição atmosférica e à segurança. Nestas circunstâncias, seria<br />
possivelmente melhor aplicar recursos escassos na construção de novos<br />
edifícios, simples e económicos, <strong>em</strong> harmonia com o meio ambiente natural<br />
(THOMAS 1988).<br />
Este conceito v<strong>em</strong> ao encontro <strong>da</strong>s experiências realiza<strong>da</strong>s no Gana, onde<br />
uma casa regional de «chefes» foi a<strong>da</strong>pta<strong>da</strong> para instalar o Museu Nacional do<br />
Gana. Com efeito, todo o processo de redesenho e a<strong>da</strong>ptação do edifício foi<br />
mais dispendioso e mais moroso do que a construção de um novo edifício,<br />
100
Edifícios<br />
específico para instalar o museu. Para além disto, esta situação só veio<br />
confirmar a ideia pré-concebi<strong>da</strong> de que um museu é um local onde se<br />
guar<strong>da</strong>m objectos antigos e raros (MYLES 1976).<br />
Vale a pena notar que a tendência moderna, não só no Ocidente, é construir<br />
instalações de raiz. Para se ter uma ideia <strong>da</strong> quali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> instalação proposta<br />
deve proceder-se de ant<strong>em</strong>ão a uma inspecção completa. Independent<strong>em</strong>ente<br />
<strong>da</strong> funcionali<strong>da</strong>de, deve-se estar alerta para procurar indícios de eventuais<br />
probl<strong>em</strong>as. Exist<strong>em</strong> inúmeros factores a considerar quando se a<strong>da</strong>pta um edifício<br />
já existente: o exterior do edifício, paredes/pavimentos, paredes/portas,<br />
telhado, escoamento de águas, chão, sist<strong>em</strong>as de ar-condicionado, condutas,<br />
sist<strong>em</strong>a contra incêndios, sist<strong>em</strong>a de segurança, sist<strong>em</strong>a eléctrico, canalizações,<br />
protecções de amianto, sist<strong>em</strong>a de iluminação, pragas (LING 1998). Exist<strong>em</strong><br />
diversas possibili<strong>da</strong>des para a<strong>da</strong>ptar um arquivo recuperado a uma zona de<br />
clima tropical, de modo a proteger melhor a nossa herança cultural. Uma delas<br />
traduz-se no isolamento termal radical de edifícios e de salas (SCHÜLLER 2000).<br />
Algumas <strong>da</strong>s experiências europeias relativamente à a<strong>da</strong>ptação de edifícios de<br />
arquivo foram debati<strong>da</strong>s na reunião do ICA/CBQ 1989, <strong>em</strong> Turim, e referi<strong>da</strong>s na<br />
publicação Janus 1992 (1) b<strong>em</strong> como no Expert Meeting, Archive Buildings and<br />
the Conservation of Archival Material, realizado <strong>em</strong> Viena de Áustria,<br />
de 30 de Outubro a 1 de Nov<strong>em</strong>bro de 1985, publica<strong>da</strong>s na Mitteeilung des<br />
Österreichischen Staatsarchivs 1986 (39).Ver também COMMITTEE ON ARCHIVE BUILDING<br />
AND EQUIPMENT ICA/CBQ 1992; SWARTZBURG et al. 1991 e TEULING 1994.<br />
4.9 Construção<br />
Uma <strong>da</strong>s exigências para os edifícios de arquivo nos trópicos é que os materiais<br />
de construção dev<strong>em</strong> estar preparados para aguentar todos os azares e probl<strong>em</strong>as<br />
possíveis, desde os tr<strong>em</strong>ores de terra às pragas de insectos. Outra exigência,<br />
mais recente, é que a construção possua uma eleva<strong>da</strong> capaci<strong>da</strong>de de isolamento<br />
de modo a poder controlar as condições ambiente. A poluição sonora, um<br />
grave probl<strong>em</strong>a <strong>em</strong> muitas bibliotecas, constitui outro factor que pode ser<br />
controlado mediante a escolha de materiais absorventes adequados (SINGH 1981).<br />
Consideram-se ain<strong>da</strong> outras exigências, como os baixos custos iniciais e de<br />
manutenção, os edifícios circun<strong>da</strong>ntes, a resistência ao clima e boa durabili<strong>da</strong>de<br />
(OZOWA 1988).<br />
Na África do Sul, para a construção dos edifícios passivos é encoraja<strong>da</strong> a<br />
utilização de materiais isolantes apropriados. É economicamente contraprodu-<br />
101
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
cente importar produtos quando os produtos locais pod<strong>em</strong> servir de alternativa<br />
para os mesmos fins termodinâmicos (ROWOLDT 1993 e 1994). Os materiais locais são<br />
s<strong>em</strong>pre menos dispendiosos do que o vulgar betão armado e frequent<strong>em</strong>ente<br />
provam ser isolantes melhores.Também são considerados bons isolantes sonoros<br />
materiais como a lama, o vime ou a argila (HAVARD-WILLIAMS et al. 1987) mas, por<br />
alguma razão, os construtores prefer<strong>em</strong> os materiais mais caros, os materiais<br />
importados. Na Nigéria, a maioria <strong>da</strong>s bibliotecas é construí<strong>da</strong> <strong>em</strong> betão armado<br />
(OZOWA 1988). É lamentável que durante a última déca<strong>da</strong> se tenha verificado uma<br />
quebra generaliza<strong>da</strong> quanto ao interesse pela tecnologia apropria<strong>da</strong>.<br />
A selecção dos materiais de construção é indubitavelmente <strong>da</strong> responsabili<strong>da</strong>de<br />
do arquitecto e não do bibliotecário. Contudo, devido ao desconforto<br />
que uma má escolha de materiais pode causar aos utentes de uma biblioteca,<br />
é conveniente o bibliotecário aconselhar o arquitecto (OZOWA 1988). Estranhamente,<br />
Ozowa esquece-se de referir o impacto que uma má escolha provoca no<br />
meio ambiente. Todos os el<strong>em</strong>entos <strong>da</strong> construção de um edifício são<br />
responsáveis na obtenção de um ambiente adequado à preservação – as paredes,<br />
as portas, o telhado, os pavimentos e as janelas. No projecto todos estes el<strong>em</strong>entos<br />
deviam ser concebidos de modo a formar uma uni<strong>da</strong>de integra<strong>da</strong> e compacta<br />
(LING 1998). Ou então, como Daniel sustenta, a primeira tarefa na construção deve<br />
ser reduzir o impacto que a carga climática t<strong>em</strong> sobre o edifício (DANIEL et al. 2000).<br />
Em climas quentes, pode reduzir-se esta carga, sobretudo através <strong>da</strong> sombra<br />
e <strong>da</strong> ventilação, que serve para produzir um ambiente mais agradável no<br />
interior do edifício. Os edifícios com projectos adequados também estão<br />
preparados para amortecer o impacto causado pelas diferenças diárias dos<br />
valores <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura e <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de (DANIEL et al. 2000; TOLEDO et al. 1998a). Há<br />
algum t<strong>em</strong>po atrás, a ideia que prevalecia era a de que com a introdução <strong>da</strong><br />
tecnologia do betão armado e de sist<strong>em</strong>as de ar-condicionado qualquer tipo de<br />
clima local podia ser ignorado ou mesmo dominado (PLUMBE 1959b).<br />
Actualmente, esta visão está ultrapassa<strong>da</strong> (ver também capítulo sobre Armazenamento<br />
– Ar-condicionado).<br />
As estruturas de madeira deveriam ser à prova de ataques de insectos ou<br />
reforça<strong>da</strong>s com metal. Particularmente <strong>em</strong> edifícios próximos do mar, as<br />
estruturas feitas <strong>em</strong> metal deveriam ter um tratamento específico contra a<br />
corrosão (DUCHEIN 1980).Antes <strong>da</strong> II Guerra Mundial, surgiu na Jamaica uma obra<br />
sobre preservação <strong>da</strong> madeira (EDWARDS 1939); ver também BENOIT 1954a e<br />
1954b; FORTIN et al. 1976; GRENOU et al. 1951; KEENAN et al. 1984; RAUCH 1984;<br />
SIERIG 1991a e 1991c; TACK 1980 (para mais informações, ver capítulo sobre Gestão<br />
Integra<strong>da</strong> de Pragas).<br />
102
Edifícios<br />
Para bibliografias sobre materiais de construção para bibliotecas (no Ocidente),<br />
ver BLAIR 1993; e para países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, <strong>em</strong> geral, ver SIERIG<br />
1991b. Uma obra mais antiga sobre materiais de construção e tecnologia<br />
adequa<strong>da</strong> é a monografia número 12; mais recent<strong>em</strong>ente foram publica<strong>da</strong>s pela<br />
SKAT outras obras (ANÓNIMO 1980; STULZ et al. 1993). Ver também ANÓNIMO 1995; DBR<br />
1954; FRICK 1989; HUNDERMAN 1988; MACLEOD 1993; PAMA et al. 1978. Consultar<br />
também a página <strong>da</strong> Internet do Canadian Conservation Institute, já que estão a<br />
investir mais na investigação sobre os materiais de construção no futuro.<br />
4.9.1 Paredes<br />
A tese do doutoramento de Tim Padfield constitui um estudo muito<br />
interessante e completo sobre a influência de materiais absorventes no que diz<br />
respeito à humi<strong>da</strong>de relativa.A influência moderadora de materiais absorventes<br />
<strong>em</strong> pequenos espaços ve<strong>da</strong>dos já é conheci<strong>da</strong> há muito t<strong>em</strong>po. A aplicação do<br />
conceito para controlar a humi<strong>da</strong>de relativa de espaços amplos e não-calafetados,<br />
como casas, t<strong>em</strong> sido inexplicavelmente negligencia<strong>da</strong>. Esta evolução na<br />
tradição <strong>da</strong> construção não só ocultou o potencial dos materiais comuns para<br />
estancar a humi<strong>da</strong>de, como também gerou uma quanti<strong>da</strong>de de probl<strong>em</strong>as de<br />
condensação, não só no interior dos edifícios, como também na estrutura <strong>da</strong>s<br />
paredes e dos telhados. Uma norma rigorosa que permita uma flutuação<br />
aceitável <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa t<strong>em</strong> desencorajado experiências sobre métodos<br />
passivos para a estabilização <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de, pois este tipo de métodos não<br />
consegue garantir níveis constantes e absolutos de humi<strong>da</strong>de. Em edifícios com<br />
taxas pouco eleva<strong>da</strong>s de renovação de ar, como arquivos e armazéns, o estancar<br />
<strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de através de paredes absorventes é tão eficaz que nivela o ciclo<br />
anual <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa, s<strong>em</strong> ser necessário recorrer a sist<strong>em</strong>as mecânicos<br />
de ar-condicionado. Padfield testou o des<strong>em</strong>penho de diferentes materiais e o<br />
seu comportamento localmente (PADFIELD 1999). Publicou diversos estudos<br />
bastante interessantes sobre o controlo passivo do clima, um dos quais constitui<br />
uma análise de uma antiga len<strong>da</strong> himalaica (PADFILED 1987).<br />
A importância de paredes absorventes é corrobora<strong>da</strong> pelos resultados do<br />
Vanuatu Cultural Centre, no Pacífico, onde as condições ambiente foram<br />
controla<strong>da</strong>s durante algum t<strong>em</strong>po. A análise de <strong>da</strong>dos revela que as superfícies<br />
na sala que serve de depósito pod<strong>em</strong> conter índices mais elevados de humi<strong>da</strong>de<br />
relativa do que o ar na sala e no exterior do edifício. Esta tendência conduz a<br />
um processo de condensação (ASPEREN-DE BOER 1968; DANIEL et al. 2000). Neste contexto,<br />
103
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Christofferson desenvolveu uma teoria interessante para definir as capaci<strong>da</strong>des<br />
dos materiais quanto ao estancamento <strong>da</strong>s variações térmicas e <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de<br />
«The buffering capacity factor» (CHRISTOFFERSON 1995) (ver também capítulo sobre<br />
Edifícios – Controlo passivo do ambiente).<br />
Actualmente também exigimos que os nossos edifícios de arquivo possuam<br />
um elevado grau de inércia termal, para que a t<strong>em</strong>peratura e a humi<strong>da</strong>de relativa<br />
no interior se mantenham razoavelmente estáveis e inalteráveis, relativamente<br />
às flutuações do ambiente exterior. A estrutura de um edifício e o seu<br />
reflexo nas condições ambiente é um assunto que requer uma investigação mais<br />
aprofun<strong>da</strong><strong>da</strong>. A possibili<strong>da</strong>de que existe no controlo passivo <strong>da</strong>s condições<br />
ambiente de um edifício, pela gestão <strong>da</strong> transferência dos níveis do ambiente<br />
exterior, constitui um desafio estimulante. A confiança deposita<strong>da</strong> nos grandes<br />
sist<strong>em</strong>as de ar-condicionado tornou-se numa farsa. É um facto que t<strong>em</strong>os capaci<strong>da</strong>de<br />
para controlar grandes espaços vinte e quatro horas por dia, mas os<br />
custos iniciais e de manutenção são muito elevados (RHYS-LEWIS 1999).<br />
Os tijolos ocos feitos de materiais locais também produz<strong>em</strong> um efeito<br />
isolante. Na Colômbia, por ex<strong>em</strong>plo, foi construído um arquivo com paredes<br />
exteriores constituí<strong>da</strong>s por três cama<strong>da</strong>s de tijolos ocos, com caixas-de-ar entre<br />
ca<strong>da</strong> uma, com um reforço <strong>em</strong> aço como protecção contra sismos. O reboco<br />
ligeiramente colorido contribui para a moderação do calor excessivo, para<br />
além de proteger os próprios materiais do clima (BELLARDO 1995). Os materiais<br />
indígenas de construção, como por ex<strong>em</strong>plo o adobe, funcionam como<br />
barreira contra o calor e a humi<strong>da</strong>de (SCHÜLLER 2000).<br />
Na Al<strong>em</strong>anha, a capaci<strong>da</strong>de máxima de estabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s condições ambiente<br />
com pequeníssimas oscilações é consegui<strong>da</strong> através <strong>da</strong> capaci<strong>da</strong>de que as<br />
paredes <strong>em</strong> tijolo têm para constituir barreira, um sist<strong>em</strong>a s<strong>em</strong>elhante aos<br />
sist<strong>em</strong>as de ar-condicionado natural (BUCHMANN 1998). Como a orientação ideal<br />
do edifício é para norte, a parede oposta com orientação para sul t<strong>em</strong> que ser<br />
b<strong>em</strong> protegi<strong>da</strong> do sol, através de grandes reflectores, saca<strong>da</strong>s ou toldos que<br />
permitam a entra<strong>da</strong> de luz mas evit<strong>em</strong> a incidência directa dos raios solares e<br />
do calor. Em zonas com clima particularmente quente e seco, as paredes vira<strong>da</strong>s<br />
a oeste necessitam de ter bastante espessura. Paredes com espessura de 30 cm<br />
garant<strong>em</strong> um isolamento térmico de dez horas. Como alternativa, as paredes<br />
ocas são eficazes para evitar a transmissão de calor. As paredes vira<strong>da</strong>s a sul e a<br />
este pod<strong>em</strong> ter uma construção simples se for<strong>em</strong> protegi<strong>da</strong>s por saliências e<br />
toldos. Geralmente as paredes de grande espessura vão proteger o edifício <strong>da</strong><br />
radiação solar, mas as paredes exteriores necessitam de protecção contra as<br />
chuvas (AGRAWAL 1974).<br />
104
Edifícios<br />
4.9.2 Janelas<br />
As opiniões divid<strong>em</strong>-se quanto à vantag<strong>em</strong> <strong>da</strong> existência de janelas <strong>em</strong> áreas de<br />
armazenamento. Por um lado, a existência de janelas que abram pode reduzir o<br />
calor e a humi<strong>da</strong>de, mas, por outro, a t<strong>em</strong>peratura no interior do edifício pode<br />
aumentar com a incidência dos raios solares. No mundo industrial, ca<strong>da</strong> vez<br />
menos se utilizam janelas, tanto <strong>em</strong> arquivos como <strong>em</strong> áreas de armazenamento<br />
<strong>da</strong>s bibliotecas (MACKENZIE 1996). Nos edifícios tradicionais, os projectistas colocam<br />
janelas <strong>em</strong> determinados pontos para criar<strong>em</strong> correntes de ar (ver neste capítulo a<br />
secção sobre Construção tradicional). Defende-se a ideia de que, <strong>em</strong> determina<strong>da</strong>s<br />
alturas do ano, a ventilação é frequent<strong>em</strong>ente necessária para melhorar as<br />
condições ambiente no espaço do armazém. Mesmo quando existe um sist<strong>em</strong>a<br />
de ar-condicionado instalado, é preferível usar janelas de correr a janelas fixas,<br />
para o caso de falhas de energia (NWAMEFOR 1975).<br />
Numa construção subterrânea a inconveniência <strong>da</strong> escuridão total não deve ser<br />
completamente subestima<strong>da</strong>. É b<strong>em</strong> possível evitar estes contrat<strong>em</strong>pos e ao<br />
mesmo t<strong>em</strong>po garantir uma protecção satisfatória para superfícies <strong>em</strong> vidro de<br />
tamanho reduzido. As seguintes proporções são aconselháveis nos países<br />
tropicais: 1-5% <strong>da</strong> superfície total vira<strong>da</strong> ao sol e 1-10% <strong>da</strong> superfície total não<br />
vira<strong>da</strong> ao sol. To<strong>da</strong>s as superfícies <strong>em</strong> vidro dev<strong>em</strong> ter um dispositivo protector<br />
(painéis, telas) de modo a evitar as radiações solares directas no interior dos<br />
edifícios (KARIM 1988). Por ex<strong>em</strong>plo, na Malásia, o Record Service Center of the<br />
National Archives t<strong>em</strong> pequenas janelas b<strong>em</strong> isola<strong>da</strong>s com vidros, localiza<strong>da</strong>s no<br />
topo <strong>da</strong>s paredes e protegi<strong>da</strong>s <strong>da</strong> incidência directa dos raios solares (ISMAIL 1981).<br />
Nas zonas de monção, as janelas dev<strong>em</strong> ser de dimensões generosas, <strong>em</strong><br />
comparação com as janelas de edifícios <strong>em</strong> zonas com climas quentes/secos ou<br />
secos. Painéis com aberturas para as janelas ou varan<strong>da</strong>s são muito úteis neste<br />
tipo de clima, permitindo ventilação suficiente nas estações chuvosas, preservando<br />
os interiores dos raios solares directos, b<strong>em</strong> como do reflexo solar ou<br />
reflexo do solo. Mas, por trás dos painéis com aberturas, dev<strong>em</strong> ser instalados<br />
estores nas janelas, de modo a poder<strong>em</strong> fechar-se quando é necessário como<br />
protecção contra o sol, ventos frios e pó predominante nesta zona (AGRAWAL<br />
1974).<br />
Quando se abre uma janela entra também pó e luz. Meios simples, mas<br />
eficazes, de protecção contra o sol inclu<strong>em</strong> estores, persianas e cortinas.<br />
To<strong>da</strong>via, a persiana t<strong>em</strong> o efeito indesejável de impedir a entra<strong>da</strong> do ar, b<strong>em</strong><br />
como <strong>da</strong> luz natural, tornando-se, portanto, necessário a utilização de luz<br />
eléctrica na maior parte <strong>da</strong>s vezes (NWAMEFOR 1975).<br />
105
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Para manter os insectos afastados, as janelas dev<strong>em</strong> ser protegi<strong>da</strong>s, pelo<br />
menos, com redes. Malha de rede fina <strong>em</strong> metal ou <strong>em</strong> plástico aplica<strong>da</strong> nas<br />
janelas constitui um meio eficaz contra insectos voadores. No caso de perigo<br />
de furacões as janelas dev<strong>em</strong> ter estruturas fortes e ser protegi<strong>da</strong>s por um<br />
sist<strong>em</strong>a de selag<strong>em</strong> como prevenção contra a quebra de vidros, como por<br />
ex<strong>em</strong>plo porta<strong>da</strong>s anticiclone, b<strong>em</strong> como para não deixar<strong>em</strong> entrar água e<br />
entulho arrastado pelo vento (DUCHEIN 1988 e LING 1998). Os ângulos dos toldos e<br />
as sancas <strong>da</strong>s janelas necessitam de especial atenção, porque não dev<strong>em</strong><br />
impedir a passag<strong>em</strong> do ar (AGRAWAL 1974). As janelas também dev<strong>em</strong> ser<br />
concebi<strong>da</strong>s para aguentar chuvas fortes, bati<strong>da</strong>s na horizontal por fortes ventos,<br />
b<strong>em</strong> como para evitar os efeitos nocivos <strong>da</strong> brisa marítima (PLUMBE 1987b).<br />
Hoje <strong>em</strong> dia, o pó contém gás saturado, o que v<strong>em</strong> criar um novo probl<strong>em</strong>a.<br />
Para eliminar as partículas, foi inventado no Japão um painel especial para<br />
janelas. O painel possui uma estrutura composta: filtros de nylon são fixos aos<br />
dois lados exteriores do painel para eliminar as partículas que contêm gás<br />
saturado. Dentro dos filtros de nylon exist<strong>em</strong> microfiltros que eliminam<br />
bactérias e esporos de fungos. A parte interior é constituí<strong>da</strong> por papel tipo favo<br />
(KENJO 1997). Talvez seja a solução para a corrosão acelera<strong>da</strong> do metal causa<strong>da</strong><br />
pelos gases vulcânicos, pelo menos no que respeita às condições ambiente no<br />
interior (PLUMBE 1987b).<br />
Uma forma de controlar a t<strong>em</strong>peratura nos depósitos e de não deixar entrar<br />
a luz solar é plantar árvores à volta do edifício. O State Archives Department of<br />
Vietnam reconheceu esta condição como ver<strong>da</strong>deira e pôs a ideia <strong>em</strong> prática<br />
(TAM 1997). Foi elabora<strong>da</strong> uma extensa lista de nomes de árvores frondosas (GUT<br />
et al. 1993). Normalmente, é aconselhável limpar a vegetação <strong>da</strong> área circun<strong>da</strong>nte<br />
do edifício, pelo menos no espaço de alguns metros, de modo a que os<br />
insectos não sejam atraídos, o que facilmente constituiria um probl<strong>em</strong>a para os<br />
nossos arquivos (DUCHEIN 1980). As árvores também pod<strong>em</strong> ser um risco quanto<br />
à segurança, proporcionando um fácil acesso às janelas e ao telhado (AGRAWAL<br />
1974). Dev<strong>em</strong>os identificar árvores frondosas que não sejam atractivas para os<br />
insectos e talvez especialistas <strong>em</strong> etnobotânica possam aju<strong>da</strong>r. Em especial nas<br />
zonas de monção, as árvores, os relvados e as nascentes de água revelam-se<br />
numa grande aju<strong>da</strong> na estação seca, arrefecendo o ambiente e reduzindo as<br />
radiações solares (AGRAWAL 1974).<br />
Uma maneira simples de reduzir a concentração de calor no edifício é<br />
aproveitar as brisas dominantes através <strong>da</strong>s janelas (PLUMBE 1987b), que deverão<br />
ser de grandes dimensões (AGRAWAL 1974).<br />
106
Edifícios<br />
4.9.3 Telhados<br />
Os telhados dev<strong>em</strong> ser projectados de modo a resistir<strong>em</strong> às inúmeras e<br />
repentinas chuva<strong>da</strong>s tropicais, b<strong>em</strong> como aos ventos violentos, desde as<br />
rabana<strong>da</strong>s aos ventos ciclónicos. É por isso que os telhados isolados com pez e<br />
inclinados são recomen<strong>da</strong>dos. É essencial que a água proveniente <strong>da</strong>s chuvas<br />
seja repeli<strong>da</strong> para b<strong>em</strong> longe <strong>da</strong>s paredes, de modo a evitar que estas sejam<br />
afecta<strong>da</strong>s. Para além disso, com um sol quase a pique durante as horas mais<br />
quentes do dia, é s<strong>em</strong>pre o telhado que t<strong>em</strong> que suportar a maior acumulação<br />
de calor (PLUMBE 1987b).<br />
O telhado deve ser b<strong>em</strong> fixo e o material utilizado deve isolar o edifício,<br />
tanto do excesso de calor como do excesso de humi<strong>da</strong>de. Os grandes beirais<br />
tradicionais são recomen<strong>da</strong>dos, porque projectam muita sombra <strong>em</strong> volta do<br />
edifício e proteg<strong>em</strong> as paredes exteriores de ficar<strong>em</strong> ensopa<strong>da</strong>s. Um telhado<br />
duplo constitui uma maneira excelente de aumentar a circulação do ar, controlando<br />
assim o ambiente no interior do edifício (ver neste capítulo a secção sobre<br />
Construção tradicional); claro que a construção deve ser resistente às t<strong>em</strong>pestades<br />
(DUCHEIN 1980; SCHÜLLER 2000). Os efeitos nocivos de um telhado isolado com uma<br />
fina cama<strong>da</strong> de pez, no ambiente interior de um museu, encontram-se b<strong>em</strong><br />
ilustrados num caso de estudo brasileiro (TOLEDO et al. 1998a e 1998b). Telhados<br />
feitos de alumínio, zinco, cobre ou de aço inoxidável têm a desvantag<strong>em</strong> de<br />
ser<strong>em</strong> bons condutores de calor. Além disso, também existe o perigo de<br />
corrosão causado pelo contacto com dióxido de enxofre na atmosfera (DUCHEIN<br />
1988). Geralmente, todos os el<strong>em</strong>entos metálicos expostos ao ar livre, nomea<strong>da</strong>mente<br />
<strong>em</strong> zonas marítimas, necessitam acima de tudo de ser tratados contra<br />
a corrosão. Os telhados planos não são aconselháveis devido ao risco de infiltração<br />
na época <strong>da</strong>s chuvas torrenciais (KARIM 1988). Os telhados planos feitos <strong>em</strong><br />
betão com ou s<strong>em</strong> tecto falso estão muitas vezes sujeitos a rachar devido a<br />
contracção e à expansão que se verifica (PLUMBE 1978b).<br />
A construção de telhados e de facha<strong>da</strong>s secundárias reveste-se <strong>da</strong> maior<br />
importância, com um intervalo de alguns metros entre as paredes primárias e<br />
as secundárias, de modo a permitir uma boa circulação de ar <strong>em</strong> volta do<br />
edifício principal. Assim pode evitar-se a incidência directa <strong>da</strong> luz solar, b<strong>em</strong><br />
como o calor proveniente <strong>da</strong>s radiações solares nas paredes exteriores (SCHÜLLER<br />
2000; ver também neste capítulo a secção sobre Construção tradicional). O isolamento<br />
térmico, ou a construção de tectos falsos, produz o mesmo efeito positivo. Em<br />
climas secos e quentes, uma laje de betão reforçado, com 12 cm de espessura,<br />
uma cama<strong>da</strong> de cal ou barro com 9 a 12 cm de espessura, proporciona uma<br />
107
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
diferença de t<strong>em</strong>peratura de cerca de oito horas, no caso de um telhado plano.<br />
Com tectos altos não se obtém qualquer diferença na t<strong>em</strong>peratura, a não ser que<br />
haja um telhado duplo. A inclusão de um pátio num edifício resulta eficazmente<br />
nesta zona. Estes pátios conservam o calor durante o Inverno e permit<strong>em</strong> uma<br />
radiação rápi<strong>da</strong> do calor e o arrefecimento durante o Verão. Um toldo com<br />
aberturas a cobrir o pátio aju<strong>da</strong> a reflectir as radiações solares (AGRAWAL 1974).<br />
Para telhados, ver também STULZ 2000 e ANÓNIMO 1985a; EMMANUEL 2002;<br />
KOENIGSBERGER et al. 1965; LAALY 1992; LANDAETA et al. 1987; MUKERJI 1988;<br />
SPERLING 1970. Consultar também a página na Internet do SKAT para todo o tipo<br />
de materiais de construção e construções sustentáveis.<br />
4.10 Relatórios nacionais e regionais<br />
África<br />
ALEGBELEYE 1988; CONTÉ 1996; HURAULT 1997; KHAYUNDI 1995; ROUSSEIDEPINA<br />
1961; TENDENG 1993.<br />
África do Sul<br />
HARRIS 1993.<br />
Austrália<br />
EHRLICH 1987; SAINI 1970.<br />
Botswana<br />
LEKAUKAu et al. 1986.<br />
Brasil<br />
SEGAWA 1992.<br />
Burkina-Faso<br />
OUEDRAOGO 1999.<br />
Burundi<br />
FAYE 1982a.<br />
China<br />
LONG 1991; YAO YU-CHENG 1986.<br />
Filipinas<br />
CANCIO 1981.<br />
Gana<br />
MINISSI 1965.<br />
108
Edifícios<br />
Guiné<br />
FAYE 1982b.<br />
India<br />
KUMAR 1981.<br />
Indonésia<br />
SOEMARTINI 1986.<br />
Iraque<br />
EDE 1980.<br />
Jamaica<br />
BLACK 1980.<br />
Malásia:<br />
DUCHEIN 1972; JONES 1999; NOR 1986.<br />
Martinica<br />
CHAULEAU 1980.<br />
Marrocos<br />
ABID et al. 1993.<br />
Nigéria<br />
ALAANYI 1989; GWAM 1963; KWASITU 1987; NWAFOR 1981; NWAMEFOR 1975;<br />
OZOWA 1988; PACKMAN 1967.<br />
Pacífico<br />
AYNSLEY 1980.<br />
Taiti<br />
SAQUET 1991.<br />
Ugan<strong>da</strong><br />
RHYS-LEWIS 2000.<br />
Vietname<br />
IMAI 1998.
5<br />
Armazenamento<br />
5.1 Introdução<br />
Quando o coração de uma instituição cultural é constituído pela sua própria<br />
colecção e a maior parte <strong>da</strong> colecção está arruma<strong>da</strong> nos depósitos, as instituições<br />
dev<strong>em</strong> <strong>da</strong>r priori<strong>da</strong>de ao cui<strong>da</strong>do do seu coração – as colecções <strong>em</strong> depósito.<br />
As condições ambiente nos depósitos pod<strong>em</strong> provocar um efeito trágico na<br />
utilização a longo prazo dos documentos e <strong>da</strong> respectiva informação (READ 1994).<br />
Ain<strong>da</strong> no projecto e no planeamento de um edifício de arquivo, pod<strong>em</strong> tomar-<br />
-se medi<strong>da</strong>s específicas para determinar as áreas de armazenamento (ver capítulo<br />
sobre Edifícios). A etapa seguinte visa o funcionamento interno do edifício. Para<br />
preservar os nossos documentos, o objectivo principal <strong>da</strong> construção de um<br />
depósito é estabelecer e manter as condições ambiente adequa<strong>da</strong>s. Recent<strong>em</strong>ente,<br />
o impacto <strong>da</strong>s condições ambiente sobre os documentos foi estu<strong>da</strong>do por alguns<br />
arquivistas e conservadores (LING 1998). Exist<strong>em</strong> muitos critérios que pod<strong>em</strong> ser<br />
enquadrados nas condições ambiente; os mais importantes são t<strong>em</strong>peratura,<br />
humi<strong>da</strong>de relativa, quali<strong>da</strong>de do ar e luz. As áreas de armazenamento pod<strong>em</strong> ter<br />
isolamento térmico e dev<strong>em</strong> estar situa<strong>da</strong>s no centro do edifício (SCHÜLLER 2000).<br />
Curiosamente, um estudo levado a cabo sobre os principais museus brasileiros<br />
revela que um dos principais factores responsáveis pela deterioração dos objectos<br />
é a sua permanência nos depósitos por períodos indefinidos. Independent<strong>em</strong>ente<br />
<strong>da</strong>s condições ambiente especiais necessárias, que estão aquém dos meios que a<br />
maior parte dos museus brasileiros dispõe, o armazenamento pode significar<br />
que os objectos que poderiam ser expostos s<strong>em</strong> qualquer risco, estão<br />
destinados ao esquecimento (OLIVEIRA et al. 1983). Um estudo realizado sobre<br />
111
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
conservação têxtil, mostrando a diferença entre armazenamento e questões<br />
inerentes a exposições entre os países do Sudeste Asiático e os EUA, explica o<br />
impacto que o clima provoca sobre as estratégias de preservação. Parece que os<br />
aspectos seguintes des<strong>em</strong>penham um papel capital na preservação: as<br />
condições climáticas absolutas externas ao museu, o ambiente filosófico e<br />
social, a interacção <strong>da</strong> tecnologia pós-produção, i. é, limpeza e conservação<br />
(BALLARD 1992). As conclusões do INTACH, o Indian Conservation Institute, <strong>em</strong><br />
Lucknow, comprovam que a maioria dos objectos tende a deteriorar-se, não<br />
devido à falta de ar-condicionado ou à falta de conservação mas essencialmente<br />
devido à negligência, ou seja, à falta de tratamento apropriado ou a<br />
armazenamento inadequado (AGRAWAL 1993). Um ex<strong>em</strong>plo que ilustra<br />
perfeitamente, e uma vez mais, a importância <strong>da</strong> formação do pessoal. Muitos<br />
dos probl<strong>em</strong>as que ocorr<strong>em</strong> nas bibliotecas requer<strong>em</strong> investimentos<br />
substanciais para ser<strong>em</strong> combatidos, contudo, pod<strong>em</strong> ser significativamente<br />
melhorados, mediante uma abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> mais sist<strong>em</strong>ática ao controlo climático<br />
e à limpeza e manutenção exequível a baixos custos. (DEAN 2000). De facto, o<br />
primeiro princípio que assegura uma boa preservação e um armazenamento<br />
<strong>em</strong> condições, não tendo <strong>em</strong> conta o local ou o clima, é um manuseamento<br />
cui<strong>da</strong>doso dos materiais (EZENNIA et al. 1995).<br />
Para uma bibliografia inicial sobre armazenamento, ver PLUMBE 1964; outro<br />
título do mesmo autor é de 1958. Um dos estudos mais conhecidos sobre os<br />
diversos aspectos do armazenamento é The Museum Environment, de Garry<br />
Thomson. Desde a sua primeira edição, <strong>em</strong> 1978, já foi reeditado e actualizado<br />
diversas vezes (THOMSON 1994). Para alternativas de armazenamento a baixo custo,<br />
ver WALKER [s. d.]. Para mais bibliografia geral sobre armazenamento, ver<br />
ANÓNIMO 1993; BOUSTEAD 1969; BROMMELLE 1968a; CHONG 1990; LAUER 1979;<br />
OBASI 1980; PEARSON 1997.<br />
5.2 Controlo <strong>da</strong>s condições ambiente<br />
Há oitenta anos, Chapman publicou dois artigos onde expunha o efeito<br />
devastador que o clima tropical <strong>em</strong> Calcutá teve sobre as colecções <strong>da</strong> Imperial<br />
Library of India (CHAPMAN 1919 e 1920). Desde então, o nosso conhecimento sobre<br />
o processo de degra<strong>da</strong>ção do papel evoluiu consideravelmente. Não obstante,<br />
sob o ponto de vista prático, a maioria <strong>da</strong>s bibliotecas nos países tropicais<br />
continua a enfrentar o mesmo desafio. É indiscutível que as medi<strong>da</strong>s de<br />
preservação economicamente mais viáveis pod<strong>em</strong> partir de um estudo sobre as<br />
112
Armazenamento<br />
condições ambiente na armazenag<strong>em</strong>. O ambiente é um factor s<strong>em</strong>pre<br />
presente, que influencia fatalmente a veloci<strong>da</strong>de de deterioração de to<strong>da</strong>s as<br />
colecções (SHAHANI et al. 1995). As altas t<strong>em</strong>peraturas produz<strong>em</strong> dois efeitos sobre<br />
o papel. Primeiro, aceleram a activi<strong>da</strong>de química e, por conseguinte, a veloci<strong>da</strong>de<br />
de deterioração do material de arquivo; por ca<strong>da</strong> aumento de 10º C,<br />
a veloci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> activi<strong>da</strong>de química duplica. Segundo, a veloci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> activi<strong>da</strong>de<br />
biológica também aumenta o volume de <strong>da</strong>nos causados pelos insectos e<br />
bolores na presença de altas t<strong>em</strong>peraturas (ver também o capítulo sobre Gestão<br />
Integra<strong>da</strong> de Pragas). O principal perigo <strong>da</strong> existência de um elevado teor de<br />
humi<strong>da</strong>de relativa é o facto de provocar o aumento <strong>da</strong> activi<strong>da</strong>de biológica; os<br />
bolores só se desenvolv<strong>em</strong> acima de 65 a 70%, enquanto a maioria <strong>da</strong>s pragas<br />
de insectos prolifera <strong>em</strong> ambientes com elevados valores de humi<strong>da</strong>de relativa.<br />
As tintas esmaec<strong>em</strong> mais rapi<strong>da</strong>mente num ambiente com elevados valores de<br />
humi<strong>da</strong>de relativa (THOMAS 1987).<br />
Os dois factores principais a ter <strong>em</strong> conta no planeamento de uma<br />
construção, flutuações repentinas ou repetitivas de t<strong>em</strong>peratura e de humi<strong>da</strong>de<br />
relativa, pod<strong>em</strong> provocar estragos <strong>em</strong> objectos sensíveis (AGRAWAL et al. 1974).<br />
Mu<strong>da</strong>nças de t<strong>em</strong>peratura provocam alterações na dimensão dos materiais, por<br />
vezes bastante acentua<strong>da</strong>s. Assim, surge um probl<strong>em</strong>a relativamente a documentos<br />
com composições complexas de duas ou mais substâncias: tendo ca<strong>da</strong><br />
uma um coeficiente térmico de expansão diferente, os documentos sofr<strong>em</strong><br />
tensões na sua estrutura. Alterações cíclicas de t<strong>em</strong>peratura pod<strong>em</strong> causar<br />
<strong>da</strong>nos permanentes. Com as flutuações de t<strong>em</strong>peratura e alterações <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de<br />
relativa, as dimensões dos materiais também são altera<strong>da</strong>s. Estas situações<br />
provocam estragos acentuados <strong>em</strong> documentos com composições complexas.<br />
Os livros expostos a um ambiente húmido ficam com as beiras incha<strong>da</strong>s e<br />
ondula<strong>da</strong>s, mas se perder<strong>em</strong> humi<strong>da</strong>de, ficarão com as beiras rígi<strong>da</strong>s e os<br />
centros <strong>da</strong>s folhas ficarão inchados. Alterações cíclicas de t<strong>em</strong>peratura pod<strong>em</strong><br />
provocar <strong>da</strong>nos definitivos (THOMAS 1987).<br />
Em certos espaços, a humi<strong>da</strong>de relativa pode ser controla<strong>da</strong>, colocando<br />
tapetes adequados, de algodão, com uma espessura razoável, no chão <strong>da</strong><br />
galeria, uma vez que estes tapetes absorv<strong>em</strong> humi<strong>da</strong>de suficiente do ar<br />
(SWARNAKAMAL 1975). Em 1993, no S<strong>em</strong>inar on Preventive Conservation in Latin<br />
America, a maioria dos participantes concordou que se deve conceder priori<strong>da</strong>de<br />
às questões ambientais relativas à humi<strong>da</strong>de. Foi acentuado que estes<br />
esforços preventivos beneficiariam mais as colecções, <strong>em</strong> termos de preservação<br />
a longo prazo, do que qualquer tratamento individual ou <strong>em</strong> massa<br />
(RAPHAEL 1993). Uma maneira vulgar de reduzir os níveis elevados de humi<strong>da</strong>de<br />
113
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
do ar consiste na utilização de desumidificadores portáteis ou de cristais que a<br />
absorv<strong>em</strong>.Também os aquecimentos de baixa voltag<strong>em</strong> (50-100 Watt) pod<strong>em</strong><br />
ser utilizados, <strong>em</strong>bora somente <strong>em</strong> áreas de pequenas dimensões. Também<br />
aju<strong>da</strong>m a retirar a humi<strong>da</strong>de do ar. Não só têm preços acessíveis, como também<br />
não consom<strong>em</strong> muita electrici<strong>da</strong>de (LING 1998).<br />
Em 1997, o Getty Conservation Institute deu início a um projecto que se<br />
centra <strong>em</strong> desenvolver estratégias económicas e sustentáveis, de forma a<br />
melhorar as condições ambiente <strong>da</strong>s colecções guar<strong>da</strong><strong>da</strong>s <strong>em</strong> edifícios<br />
históricos de regiões com climas quentes e húmidos. O projecto t<strong>em</strong> como<br />
objectivo investigar alternativas aos sist<strong>em</strong>as convencionais de ar-condicionado<br />
através do estudo sobre o controlo <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa por ventilação e por<br />
aquecimento, permitindo, <strong>em</strong> simultâneo, maiores variações de t<strong>em</strong>peratura.<br />
O instituto desenvolveu um conjunto de directrizes para avaliação <strong>da</strong>s<br />
condições ambiente onde se encontravam as colecções dos museus, b<strong>em</strong> como<br />
dos respectivos edifícios (ver a página <strong>da</strong> Internet do GCI).<br />
Portanto, o controlo <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura e <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa é geralmente<br />
encarado como um meio para reduzir a degra<strong>da</strong>ção <strong>da</strong>s colecções.<br />
A manutenção <strong>da</strong>s condições de armazenag<strong>em</strong> de acordo com os parâmetros<br />
estabelecidos é o el<strong>em</strong>ento <strong>da</strong>s condições de armazenag<strong>em</strong> mais discutido; os<br />
valores adequados <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura e <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa na armazenag<strong>em</strong> são<br />
objecto de debate contínuo. Mesmo assim, a maioria dos investigadores tende<br />
a concor<strong>da</strong>r que as normas actuais que visam todos os materiais de arquivo são<br />
d<strong>em</strong>asia<strong>da</strong>mente inflexíveis e que a estabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura e <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de<br />
relativa goza, pelo menos, de igual importância (BANKS 1999; BUCHMANN 1998;<br />
CHRISTOFFERSON 1995; PORCK et al. 2000; RHYS-LEWIS 1999). As normas, tanto para a<br />
t<strong>em</strong>peratura como para a humi<strong>da</strong>de relativa, depend<strong>em</strong> totalmente <strong>da</strong>s<br />
condições climáticas locais (THOMAS 1987). Estranhamente, n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre se têm<br />
<strong>em</strong> conta as próprias condições climáticas como critério. As instituições<br />
tropicais que tentam alcançar um controlo ambiental de acordo com as normas<br />
para zonas t<strong>em</strong>pera<strong>da</strong>s, acabam por desistir s<strong>em</strong> aplicar as medi<strong>da</strong>s adequa<strong>da</strong>s<br />
que têm disponíveis para controlar o ambiente (BALLARD 1992; CLEMENTS et al. 1989).<br />
É <strong>da</strong> maior importância, para os responsáveis de colecções de significado<br />
cultural, conhecer as normas estabeleci<strong>da</strong>s e os pré-requisitos. Aquilo que é o<br />
mínino num país, pode ser o máximo noutro e reconhecido como óptimo<br />
noutro ain<strong>da</strong> (FRÖJD et al. 1997). Não se deve desprezar o facto de uma norma não<br />
constituir mais do que um conjunto de compromissos para qu<strong>em</strong> os aplica<br />
(SHAHANI et al. 1995).<br />
114
Armazenamento<br />
Os valores <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura e <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa constitu<strong>em</strong> a informação<br />
mais estu<strong>da</strong><strong>da</strong> ao longo dos últimos vinte anos. Contudo, os resultados são<br />
frequent<strong>em</strong>ente de pouca utilização prática, devido às limitações e à fraca<br />
fiabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong> monitorização. Os <strong>da</strong>dos fiáveis de uma monitorização são<br />
essenciais para uma decisão sobre o comportamento de um edifício; d<strong>em</strong>onstrarão<br />
se um edifício é a favor, ou contra, a preservação <strong>da</strong>s colecções.<br />
A informação faculta<strong>da</strong> pelo instituto de meteorologia local pode servir de guia<br />
relativo às condições atmosféricas externas, se não estiver situado longe do<br />
edifício. Para a elaboração do projecto de um sist<strong>em</strong>a de monitorização dev<strong>em</strong><br />
ter-se <strong>em</strong> linha de conta diversas directrizes, para se obter<strong>em</strong> parâmetros fiáveis<br />
(DANIEL et al. 2000). Ao longo dos últimos dez anos foram publicados alguns<br />
relatórios de monitorizarão sobre a t<strong>em</strong>peratura e sobre a humi<strong>da</strong>de relativa<br />
(ver também ROSENBERG 1986).<br />
Numa tese de doutoramento sobre as condições ambiente de um museu no<br />
Brasil, foi apresenta<strong>da</strong> a comparação entre dois edifícios históricos com ventilação<br />
natural, dos séculos XVIII e XIX, respectivamente, e um edifício moderno<br />
que dispõe de um sist<strong>em</strong>a de ar-condicionado. Neste estudo verificou-se que<br />
o edifício do século XIX mantinha as condições ambiente mais estáveis, provavelmente<br />
devido à sua varan<strong>da</strong> <strong>em</strong> conjunto com o sist<strong>em</strong>a de ventilação<br />
natural. Por outro lado, o edifício do século XVIII revelou ser o mais probl<strong>em</strong>ático.<br />
A inércia térmica, associa<strong>da</strong> ao sist<strong>em</strong>a de ventilação natural, pode ter<br />
contribuído desfavoravelmente (TOLEDO et al. 1998b). No caso de um microclima,<br />
tanto Kamba como Stolow estu<strong>da</strong>ram a utilização de materiais naturais como<br />
tampões para controlar<strong>em</strong> a humi<strong>da</strong>de relativa (KAMBA 1987; STOLOW 1966).<br />
A relação humi<strong>da</strong>de relativa/t<strong>em</strong>peratura é exposta, de uma forma<br />
excelente, no Preservation Calculator do Image Permanence Institute (IPI).<br />
Refere a veloci<strong>da</strong>de de envelhecimento natural de materiais orgânicos expostos<br />
a determina<strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura e humi<strong>da</strong>de relativa, e mostra também o t<strong>em</strong>po<br />
que o papel leva até ficar quebradiço e o t<strong>em</strong>po necessário para que os bolores<br />
se desenvolvam <strong>em</strong> condições específicas. Funciona com o chamado Preservation<br />
Index (PI), um conceito criado pelo Image Permanence Institute, <strong>em</strong> 1995, para<br />
indicar a «quali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> preservação» num meio ambiente de armazenamento<br />
para materiais orgânicos. O Preservation Index é calculado com base <strong>em</strong> vários<br />
anos, reflectindo o comportamento eventualmente probl<strong>em</strong>ático dos objectos<br />
preservados. Quanto mais elevado é o Preservation Index, melhores são as condições<br />
de preservação para os materiais orgânicos. Os valores, <strong>em</strong> anos, do<br />
Preservation Index foram determinados de modo a que o Preservation Index de 20º C<br />
com 45% de humi<strong>da</strong>de relativa (condições recomen<strong>da</strong><strong>da</strong>s) correspon<strong>da</strong> a<br />
115
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
50 anos. Contudo, as condições recomen<strong>da</strong><strong>da</strong>s foram estabeleci<strong>da</strong>s para climas<br />
t<strong>em</strong>perados e não para climas tropicais. No entanto, esta informação, que pode<br />
ser descarrega<strong>da</strong> gratuitamente <strong>da</strong> página na Internet do IPI, permite uma<br />
compreensão cabal sobre a relação t<strong>em</strong>peratura/humi<strong>da</strong>de relativa.<br />
Ver também AGRAWAL 1977; BROMMELLE 1968b; DRUMMOND 1999; ERHARDT et<br />
al. 1994; FREEMANTLE 1988; GROVE 1961; GUT 1993; KAMBA et al. 1988; LULL et<br />
al.1995; PADFIELD et al. 1990; SCOTT 1994.<br />
5.2.1 Ar-condicionado<br />
O ar-condicionado frequent<strong>em</strong>ente não é a melhor opção para edifícios de<br />
arquivo <strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento. É por esta razão que o controlo<br />
passivo <strong>da</strong>s condições ambiente se tornou numa solução mais atraente para<br />
controlar o meio ambiente físico. O ar-condicionado poderia ser uma solução<br />
para controlar o excesso de calor e de humi<strong>da</strong>de relativa, mas não é acessível a<br />
todos. Para além dos custos <strong>da</strong> instalação do sist<strong>em</strong>a de ar-condicionado, a<br />
manutenção e os custos relativos ao funcionamento, i. é, a conta <strong>da</strong><br />
electrici<strong>da</strong>de (AGRAWAL et al. 1974; AKUSSAH 1989; ARANYANAK 1988; COATES 1995; KARIM 1988;<br />
MACKENZIE 1996; TOLEDO et al. 1998). Já nos anos sessenta era recomen<strong>da</strong><strong>da</strong> alguma<br />
precaução (ROUSSET DE PINA 1961). Um relatório <strong>da</strong> Serra Leoa revela que de todos<br />
os aparelhos de ar-condicionado adquiridos no final dos anos 60 e no início<br />
dos anos 70, todos, à excepção de um, avariaram, não tendo sido viável n<strong>em</strong> a<br />
sua reparação, n<strong>em</strong> a sua substituição (WAGNER 1985). Na Nigéria, nenhum dos<br />
sist<strong>em</strong>as originais centralizados de ar-condicionado funciona. Foram<br />
substituídos na totali<strong>da</strong>de ou por peças (EGBOR 1985). Existe uma grande<br />
polémica entre sist<strong>em</strong>as centralizados ou sist<strong>em</strong>as parciais, <strong>em</strong>bora o resultado<br />
de uma experiência leva<strong>da</strong> a cabo na Jos University, na Nigéria, onde foram<br />
instala<strong>da</strong>s dezasseis uni<strong>da</strong>des diferentes, tenha sido muito positivo. A utilização<br />
de sist<strong>em</strong>as descentralizados diminui a probabili<strong>da</strong>de de o edifício ficar s<strong>em</strong> arcondicionado,<br />
na sua totali<strong>da</strong>de. A maioria dos autores quer evitar o sist<strong>em</strong>a<br />
central de ar-condicionado (EGBOR 1985; NWAFOR 1980; SINGH 1982), o que é<br />
confirmado pelo resultado do estudo levado a cabo no continente africano <strong>em</strong><br />
1998, onde somente 15% dos edifícios construídos para arquivo visavam a<br />
instalação de sist<strong>em</strong>as de ar-condicionado (COATES 2001).<br />
Devido ao mau funcionamento de sist<strong>em</strong>as de ar-condicionado, o conservador<br />
t<strong>em</strong> que recorrer frequent<strong>em</strong>ente a desumidificadores autónomos ou sílica<br />
gel de modo a conseguir algum controlo sobre a humi<strong>da</strong>de (ARANYANAK 1988; ver<br />
116
Armazenamento<br />
também BOUSTEAD 1968).<br />
Com frequência, os arquivistas acreditavam erra<strong>da</strong>mente que a instalação de<br />
um sist<strong>em</strong>a central de ar-condicionado seria a solução adequa<strong>da</strong>. Actualmente<br />
está comprovado que este ponto de vista está completamente errado. Na<br />
ver<strong>da</strong>de, a estrutura de umm edifício deve ter capaci<strong>da</strong>de de criar um ambiente<br />
selado que será compl<strong>em</strong>entado com um sist<strong>em</strong>a de ar-condicionado. O sist<strong>em</strong>a,<br />
só por si, não pode suprir as deficiências no projecto e na construção<br />
do edifício (LING 1998; ROSENBERG 1986). À excepção de sist<strong>em</strong>as altamente fiáveis<br />
(e altamente dispendiosos), a existência de ar-condicionado pode frequent<strong>em</strong>ente<br />
ser mais prejudicial do que a sua ausência. Exist<strong>em</strong> casos onde foram<br />
instalados estes sist<strong>em</strong>as <strong>em</strong> edifícios s<strong>em</strong> instalação inicial que tiveram<br />
resultados desastrosos, particularmente probl<strong>em</strong>as inerentes à humi<strong>da</strong>de<br />
relativa (DANIEL et al. 2000). Petherbridge verificou que <strong>em</strong> dois países com clima<br />
quente e húmido foram investidos fundos na aquisição de sist<strong>em</strong>as de arcondicionado,<br />
destinados a edifícios de arquivo. Contudo, <strong>em</strong> ambos os casos<br />
só a t<strong>em</strong>peratura é que baixou, verificando-se até uma subi<strong>da</strong> <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de<br />
relativa. Como consequência, as colecções sofreram um processo de<br />
deterioração ain<strong>da</strong> mais rápido (GIESE 1995).<br />
No caso de existir um sist<strong>em</strong>a de ar-condicionado, é necessário que o<br />
sist<strong>em</strong>a funcione ininterruptamente, mesmo nas horas s<strong>em</strong> movimento. Em<br />
circunstância alguma deve ser desligado, durante a noite e fins-de-s<strong>em</strong>ana.<br />
Enquanto se pode poupar energia por um lado, apressa-se a degra<strong>da</strong>ção por<br />
outro. Contudo, durante o alerta de um ciclone, o sist<strong>em</strong>a deve ser desligado<br />
devido à possibili<strong>da</strong>de de se vir a verificar um estrago causado pelo vento, pela<br />
chuva ou pelos relâmpagos. Se o sist<strong>em</strong>a de ar-condicionado estiver ligado o<br />
estrago poderá ser de maior dimensão (LING 1998).<br />
Em 1997, os comportamentos térmicos e higrométricos de um espaço com<br />
sist<strong>em</strong>a de ar-condicionado e de um espaço s<strong>em</strong> esse sist<strong>em</strong>a, do Museu Fidji,<br />
<strong>em</strong> Suva, foram monitorizados durante cinquenta e quatro dias. O museu<br />
situa-se numa ilha do Pacífico. O edifício encontra-se perto <strong>da</strong> costa e é<br />
considerado um edifício característico dos mais modernos numa zona de clima<br />
tropical, construído, sobretudo, <strong>em</strong> betão. Os resultados d<strong>em</strong>onstram que as<br />
flutuações diárias <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa e <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura no espaço com o<br />
sist<strong>em</strong>a de ar-condicionado ligado, <strong>em</strong> comparação com o espaço s<strong>em</strong> sist<strong>em</strong>a<br />
de ar-condicionado, são significativas (DANIEL et al. 2000). Assim, é importante<br />
ponderar se qualquer outro sist<strong>em</strong>a, para além deste, poderia ser eficaz quanto<br />
às condições ambiente, ou se algo poderia ser feito, através <strong>da</strong> orientação e do<br />
projecto do edifício, de modo a controlar as condições ambiente no interior<br />
117
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
do museu – se não for possível totalmente, ao menos parcialmente (AGRAWAL et<br />
al. 1974) (ver também o capítulo sobre Edifícios). Para mais informação, ver ADAMSON<br />
et al. 1993a e 1993b; ANÓNIMO 1961; BAXI 1974; COTTELL et al. 1983.<br />
5.2.2 Simples medi<strong>da</strong>s mecânicas<br />
Existe muito mais a fazer para além <strong>da</strong> utilização dos sist<strong>em</strong>as de ar-condicionado,<br />
tão desejados por inúmeros conservadores. Medi<strong>da</strong>s simples para<br />
reduzir o aumento <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura, devido aos raios solares, inclu<strong>em</strong> persianas,<br />
estores e cortinas. As cortinas não dev<strong>em</strong> ser preguea<strong>da</strong>s mas estica<strong>da</strong>s com<br />
suportes horizontais, como prevenção contra a acumulação do pó. Dev<strong>em</strong> ser<br />
preferencialmente brancas, para reflectir<strong>em</strong> a luz solar (HAGMUELLER et al. 1991).<br />
Simples ventoinhas eléctricas também pod<strong>em</strong> ser utiliza<strong>da</strong>s para manter a<br />
circulação de ar e para neutralizar alguns efeitos causados pelas altas<br />
t<strong>em</strong>peraturas e pela humi<strong>da</strong>de (MACKENZIE 1996). Segundo Ling, as ventoinhas de<br />
tecto propiciam uma ventilação adequa<strong>da</strong> mas não baixam os níveis <strong>da</strong><br />
t<strong>em</strong>peratura, n<strong>em</strong> <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa, mantêm somente o ar a circular (LING<br />
1998). A localização <strong>da</strong>s ventoinhas ou de outro tipo de sist<strong>em</strong>as para a<br />
circulação do ar no interior de um museu, não deve perturbar o normal<br />
funcionamento <strong>da</strong> instituição (AGRAWAL et al. 1974). No Vanuatu Cultural Centre<br />
promove-se como estratégia uma ampla circulação e renovação de ar, para<br />
reduzir elevados valores de humi<strong>da</strong>de e probl<strong>em</strong>as de condensação nas zonas<br />
de armazenamento (DANIEL et al. 2000). Os ventiladores eléctricos são menos<br />
adequados do que as ventoinhas de tecto (HAGMUELLER et al. 1991).<br />
Para uma ventilação adequa<strong>da</strong> deve confiar-se nas correntes de ar naturais.<br />
A existência de pequenas janelas ao nível do chão vai melhorar a circulação do<br />
ar. Claro que portas interiores desnecessárias, paredes ou toldos não dev<strong>em</strong><br />
bloquear a livre circulação do ar. Sobre o controlo passivo do clima, consultar<br />
o capítulo sobre Edifícios – Edifícios sustentáveis – Controlo passivo do<br />
ambiente.<br />
5.2.3 Poluição atmosférica<br />
A herança cultural, património valioso do Hom<strong>em</strong>, corre actualmente um<br />
grande risco de extinção devido às condições ambiente adversas e à poluição<br />
atmosférica. O ar não conhece limites n<strong>em</strong> fronteiras. É um recurso partilhado<br />
118
Armazenamento<br />
por to<strong>da</strong> uma nação ou, de maneira mais realista, por todo o mundo.<br />
A poluição atmosférica constitui uma doença sociotecnológica nasci<strong>da</strong> <strong>da</strong><br />
Revolução Industrial. É uma alteração indesejável <strong>da</strong>s características físicas,<br />
químicas e biológicas <strong>da</strong> atmosfera, causa<strong>da</strong> essencialmente por compostos<br />
presentes no lugar errado, na altura erra<strong>da</strong> e <strong>em</strong> concentrações erra<strong>da</strong>s.<br />
Os poluentes provocam efeitos desastrosos na vi<strong>da</strong> e nos materiais. A deterioração<br />
de materiais de arquivo e de biblioteca, que é influencia<strong>da</strong> <strong>em</strong> grande<br />
escala pelas condições ambiente dominantes, podia ser retar<strong>da</strong><strong>da</strong> pelo controlo<br />
<strong>da</strong>s condições ambiente nas zonas de armazenamento. Simples medi<strong>da</strong>s como<br />
a utilização de materiais que absorvam a acidez do ar, r<strong>em</strong>oção de poeiras,<br />
utilização de protectores solares e desumidificadores, etc. poderiam minimizar<br />
os efeitos (JOSHI 1995). Grande parte <strong>da</strong>s bibliotecas localiza-se <strong>em</strong> centros<br />
urbanos industrializados, o que significa que o ambiente atmosférico contém<br />
muitos poluentes, colocando os materiais de biblioteca <strong>em</strong> risco (EZENNIA et al.<br />
1995). Na Nigéria, nas regiões onde se extrai petróleo, verifica-se poluição<br />
termal tanto devido às eleva<strong>da</strong>s t<strong>em</strong>peraturas presentes nas descargas, como<br />
devido ao gás <strong>em</strong> combustão. Também contamina a água <strong>da</strong> chuva e provoca<br />
um ataque ácido nos livros e no papel (AZIAGBA 1991).<br />
Ventos com poeiras contêm ar poluído, com grandes quanti<strong>da</strong>des nocivas de<br />
gases de todos os tipos, o que vai causar oxi<strong>da</strong>ção nalguns materiais de<br />
biblioteca. Para além dos efeitos secundários de ventos fortes, os incêndios<br />
florestais e a radiação ultravioleta excessiva contribu<strong>em</strong> com a sua cota parte<br />
para o processo de deterioração (EZENNIA 1989). Mesmo quando as condições no<br />
exterior são tão adversas, é importante haver uma boa circulação de ar no<br />
edifício, utilizando ventoinhas s<strong>em</strong>pre que necessário. É importante colocar<br />
sist<strong>em</strong>as de ventilação ao longo dos corredores ladeados por estantes,<br />
aplicando exaustores na parte superior <strong>da</strong>s paredes. Os respiradores dev<strong>em</strong> ser<br />
posicionados de modo a poder<strong>em</strong> aspirar o ar, menos poluído possível, para o<br />
interior do edifício. Não dev<strong>em</strong> aspirar os gases produzidos pelos escapes dos<br />
automóveis, n<strong>em</strong> fumo, n<strong>em</strong> gases de edifícios próximos ou do próprio<br />
edifício de arquivo. A ideia é expelir o ar saturado e introduzir ar fresco nas<br />
áreas com estantes do edifício. Em muitos países, uma trama muito fina é<br />
aplica<strong>da</strong> nas janelas. Esta prática permite a entra<strong>da</strong> de ar eliminando uma<br />
grande quanti<strong>da</strong>de de pó. Num museu <strong>da</strong> Costa Rica verificou-se que a face<br />
interior <strong>da</strong> cortina estava limpa, enquanto a face exterior se encontrava<br />
extr<strong>em</strong>amente suja, indicando que o tecido estava a actuar como um filtro<br />
natural (BELLARDO 1995). Investigadores <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de Tóquio descobriram<br />
uma característica interessante do tecido japonês tatami mat, um tecido com<br />
119
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
alguma espessura, próprio para o chão, feito de palha de arroz, com uma<br />
superfície de junco. Concluíram que o tatami fixa o dióxido de nitrogénio <strong>da</strong><br />
atmosfera. Apesar do mecanismo deste processo de purificação continuar por<br />
descobrir, os investigadores reconheceram que o teor de dióxido de nitrogénio<br />
numa sala com tatami é inferior a metade do teor de dióxido de nitrogénio no<br />
exterior <strong>da</strong> sala. Este processo é a única maneira para combater a eleva<strong>da</strong> taxa<br />
de poluição atmosférica <strong>em</strong> Tóquio (WILLS 1987).<br />
Depósitos modernos utilizam filtros químicos para extrair poluentes do ar.<br />
Mesmo s<strong>em</strong> o recurso a um sist<strong>em</strong>a de filtrag<strong>em</strong> dispendioso, exist<strong>em</strong><br />
inúmeras formas para limitar as consequências dos poluentes. Uma <strong>da</strong>s<br />
melhores maneiras é guar<strong>da</strong>r documentos <strong>em</strong> capilhas e <strong>em</strong> caixas feitas com<br />
matéria-prima permanente. A reserva alcalina nestes materiais serve de tampão<br />
entre o conteúdo e o ambiente potencialmente agressivo.As caixas e as capilhas<br />
concebi<strong>da</strong>s de acordo com as normas internacionais criam um microclima<br />
estável para a pereni<strong>da</strong>de dos documentos (ver capítulo sobre Preservação e<br />
conservação).<br />
É evidente que a escolha do local para a construção de arquivos é essencial<br />
para se evitar a poluição atmosférica (ver também capítulo sobre Edifícios – Localização<br />
de um edifício). Muitas áreas urbanas de países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento lutam<br />
contra o enorme probl<strong>em</strong>a <strong>da</strong> poluição atmosférica, causa<strong>da</strong> essencialmente<br />
pelos escapes de todo o tipo de veículos motorizados e, indirectamente, pela<br />
falta de um sist<strong>em</strong>a de transportes públicos. Os países ocidentais também não<br />
aju<strong>da</strong>m tendo <strong>em</strong> conta as controvérsias sobre o Tratado de Quioto, que visa o<br />
combate global contra a poluição. Para além disso, os críticos sustentam a tese<br />
de que o Ocidente está a exportar o seu considerável probl<strong>em</strong>a de poluição<br />
para os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento.<br />
O Getty Conservation Institute prossegue as suas investigações sobre<br />
poluentes <strong>em</strong> ambientes quentes e húmidos no âmbito do novo projecto<br />
Performance of Pollutant Absorbents. Um impressionante estudo europeu<br />
sobre os efeitos provocados pelos poluentes atmosféricos no papel é o de<br />
HAVERMANS et al. 1974. O estudo RAMP, <strong>da</strong> autoria de Pascoe, sobre o impacto<br />
<strong>da</strong> poluição ambiental, está ultrapassado. Mais recent<strong>em</strong>ente, foram publica<strong>da</strong>s<br />
pela Museum Association no Reino Unido normas relativas a este t<strong>em</strong>a (BLADES<br />
et al. 2000; PASCOE 1988). A página <strong>da</strong> Internet do especialista dinamarquês Morten<br />
Ryhl-Svendsen fornece uma bibliografia actualiza<strong>da</strong> sobre poluentes. Esta<br />
página também t<strong>em</strong> disponíveis as últimas conclusões <strong>da</strong> 4.ª reunião Working<br />
Group Indoor Air Pollution (IAP), que teve lugar de 8 a 9 de Nov<strong>em</strong>bro de<br />
2001, <strong>em</strong> Copenhaga.Ver também PEARSON 1988.<br />
120
Armazenamento<br />
5.3 Luz solar<br />
A luz natural ou artificial pode fragilizar alguns materiais, provocando<br />
descoloração ou escurecimento. Os <strong>da</strong>nos provocados pela luz são irreversíveis<br />
e os seus efeitos são cumulativos. Um documento exposto a uma luz fraca<br />
durante muito t<strong>em</strong>po vai revelar os mesmos efeitos que um documento<br />
exposto a uma luz intensa durante pouco t<strong>em</strong>po. Deste modo, é imperioso<br />
reduzir a exposição à luz, tanto quanto possível (READ 1994). Nos países tropicais,<br />
o maior probl<strong>em</strong>a relativo à luz nas bibliotecas consiste na entra<strong>da</strong> de radiação<br />
solar nas instalações. Os telhados, as paredes e as janelas dev<strong>em</strong> ser concebidos<br />
de modo a direccionar ou a ocultar os raios solares (PLUMBE 1987b). A luz<br />
indirecta pode ser utiliza<strong>da</strong> como sist<strong>em</strong>a de iluminação mesmo <strong>em</strong> áreas com<br />
estantes se toma<strong>da</strong>s as devi<strong>da</strong>s precauções. Primeiro, as coxias dev<strong>em</strong> ter uma<br />
determina<strong>da</strong> orientação de modo a que a luz inci<strong>da</strong> indirectamente, e não<br />
directamente, sobre os documentos. Segundo, as janelas dev<strong>em</strong> ser muito<br />
recua<strong>da</strong>s e os telhados dev<strong>em</strong> ser construídos com grandes beirais, para que a<br />
entra<strong>da</strong> <strong>da</strong> luz solar seja indirecta. Também é possível utilizar clarabóias que<br />
transmitam a luz <strong>da</strong>s paredes pinta<strong>da</strong>s com tintas compostas por pigmentos<br />
que absorv<strong>em</strong> os raios ultravioleta como, por ex<strong>em</strong>plo, o dióxido de titânio<br />
branco (BELLARDO 1995) (ver também capítulo sobre Edifícios).<br />
A luz solar contém uma grande quanti<strong>da</strong>de de raios nocivos azuis, violeta e<br />
ultravioleta. A atmosfera húmi<strong>da</strong> aumenta frequent<strong>em</strong>ente o perigo destas<br />
radiações, provocando uma maior refracção dos raios. Perante estas<br />
circunstâncias, torna-se particularmente necessário proteger os documentos <strong>da</strong><br />
luz solar (DUCHEIN 1988). Não é somente a incidência directa <strong>da</strong> luz solar que<br />
chega à superfície <strong>da</strong> Terra que preocupa o conservador-restaurador. Ele<br />
também t<strong>em</strong> que levar <strong>em</strong> conta a luz solar indirecta que v<strong>em</strong> reflecti<strong>da</strong> de<br />
outras fontes (PLUMBE 1987b).<br />
Por uma questão de prestígio, os franceses projectaram a nova Bibliothèque<br />
Nationale de France <strong>em</strong> quatro torres de vidro. Uma <strong>da</strong>s consequências <strong>da</strong><br />
transparência desta construção <strong>em</strong> altura foi o livre acesso <strong>da</strong> luz solar ao<br />
interior dos edifícios. Para proteger o edifício de um acentuado aquecimento<br />
pela luz solar, foram instalados painéis móveis de madeira no lado interior <strong>da</strong>s<br />
janelas. Inespera<strong>da</strong>mente, foi criado um microclima provocando t<strong>em</strong>peraturas<br />
tão eleva<strong>da</strong>s que as porta<strong>da</strong>s <strong>da</strong>s janelas racharam. Conclui-se assim que n<strong>em</strong><br />
to<strong>da</strong>s as medi<strong>da</strong>s para evitar o sol são eficazes. Os efeitos nocivos que o sol<br />
provocou numa colecção guar<strong>da</strong><strong>da</strong> num edifício histórico de madeira, no<br />
Japão, foram claramente d<strong>em</strong>onstrados num estudo <strong>da</strong> autoria de Toshiko<br />
121
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Kenjo. Verificou-se que a colecção guar<strong>da</strong><strong>da</strong> no interior de uma sala vira<strong>da</strong> a<br />
este, onde a incidência solar era mais fraca, foi, efectivamente, a mais protegi<strong>da</strong><br />
dos raios solares (KENJO 1987).<br />
Em climas quentes, a construção <strong>em</strong> altura não t<strong>em</strong> lógica. Dá certamente<br />
orig<strong>em</strong> a uma pequena área de telhado, contudo, aumenta a área de parede<br />
onde os raios solares incid<strong>em</strong> intensivamente. Os telhados e as paredes que<br />
reflect<strong>em</strong> o calor, devido ao material ou à cor que apresentam, vão diminuir o<br />
calor proveniente <strong>da</strong>s radiações solares. Eventualmente, o controlo solar pode<br />
ser conseguido de diversas formas: com telhados com beirais, cortinas nas<br />
paredes, placas protectoras, painéis, toldos perfurados, aberturas para ventilação,<br />
palas a encimar as janelas. Os toldos não dev<strong>em</strong> ser coloca<strong>da</strong>s d<strong>em</strong>asia<strong>da</strong>mente<br />
perto <strong>da</strong>s janelas, pois vão <strong>em</strong>anar calor depois do pôr-do-sol. Num<br />
edifício destinado à instalação de um museu, a luz natural, com to<strong>da</strong>s as<br />
desvantagens inerentes, não deve ser negligencia<strong>da</strong>. Pode ser reflecti<strong>da</strong>,<br />
atenua<strong>da</strong> ou difundi<strong>da</strong> de modo a não brilhar excessivamente e a diminuir os<br />
raios ultravioletas. A luz reflecti<strong>da</strong> a partir do tecto, que entra através de janelas<br />
altas, é a luz adequa<strong>da</strong> para as galerias (AGRAWAL et al. 1974).<br />
Também estão envolvi<strong>da</strong>s diferenças culturais. No Ocidente, as pessoas<br />
gostam de luz intensa, mas no Sudeste Asiático as pessoas sent<strong>em</strong> maior<br />
conforto num ambiente com luz ténue, devido à associação que se faz do calor<br />
com a luz nos trópicos (BALLARD 1992). Talvez o pessoal dos arquivos, <strong>da</strong>s<br />
bibliotecas e dos museus ten<strong>da</strong> a subestimar o mecanismo de auto-regulação<br />
<strong>da</strong> população local. Na Venezuela existe um ditado: «só burros e turistas é que<br />
an<strong>da</strong>m ao sol». Para mais informações, ver DOE 1965.<br />
5.4 Poeiras<br />
Devido à desertificação e à negligência, as antigas bibliotecas de manuscritos<br />
<strong>da</strong> Mauritânia, a maior parte delas priva<strong>da</strong>s, corr<strong>em</strong> grande perigo de<br />
desaparecer<strong>em</strong>. Desde 1966 que uma operação de salvamento está <strong>em</strong> curso,<br />
a qual continua até os dias de hoje (ARNOULT 2000). A State Central Library of<br />
Mongólia t<strong>em</strong> à sua guar<strong>da</strong> mais de um milhão de sutras desde o século XI,<br />
tanto impressos como manuscritos. Os documentos escritos <strong>em</strong> papel não-<br />
-ocidental e com materiais de escrita não adequados ao papel necessitam de<br />
cui<strong>da</strong>dos especiais. O principal probl<strong>em</strong>a é lutar contra a poeira e contra o<br />
baixo teor de humi<strong>da</strong>de relativa, o que constitui uma ver<strong>da</strong>deira ameaça no<br />
clima seco <strong>da</strong> Mongólia (GANSUKH 1997). Em contraste com as experiências<br />
122
Armazenamento<br />
realiza<strong>da</strong>s na Mongólia, a National Library of Korea descobriu que documentos<br />
manuscritos ou impressos <strong>em</strong> papel ocidental desde fins do século XIX até à<br />
actuali<strong>da</strong>de enfrentam um sério probl<strong>em</strong>a de preservação. Os livros antigos <strong>em</strong><br />
papel de amoreira local eram tratados especialmente com água e eram menos<br />
afectados pelas alterações ambientais externas (LEE, SU EUN 1997).<br />
Outro factor, para além <strong>da</strong> t<strong>em</strong>peratura e <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa, que gera um<br />
grande risco nas áreas tropicais é a poeira.T<strong>em</strong> um efeito abrasivo e nocivo sobre<br />
o papel e facilita o desenvolvimento do míldio (PLUMBE 1987a). O pó está s<strong>em</strong>pre<br />
presente <strong>em</strong> praticamente todos os países situados na zona quente e ári<strong>da</strong>. Existe<br />
sob a forma de t<strong>em</strong>pestades violentas de poeira, frequent<strong>em</strong>ente conheci<strong>da</strong>s por<br />
haboobs, simoons ou ajaj. O Gana e a Nigéria do Norte são assolados amiúde por<br />
nuvens de poeira conheci<strong>da</strong>s pelo nome de harmattan. Este vento seco que<br />
transporta poeira sopra do deserto do Saara entre Nov<strong>em</strong>bro e meados de Março<br />
(ver também capítulo sobre Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre – Incêndios florestais). Na maioria<br />
dos casos, este vento transporta poeira vermelha que forma um nevoeiro bastante<br />
denso. As manhãs de harmattan são frias e nubla<strong>da</strong>s, mas a neblina desaparece à<br />
medi<strong>da</strong> que o Sol se torna mais forte.Além de afectar pessoas e outros seres vivos,<br />
o vento também afecta as bibliotecas. Os livros tornam-se quebradiços e as colas<br />
utiliza<strong>da</strong>s nas encadernações desintegram-se. Além disso, o vento forte transporta<br />
inúmeros insectos, aumentando as probabili<strong>da</strong>des de <strong>da</strong>nos nos livros. O harmattan<br />
causa a oxi<strong>da</strong>ção <strong>em</strong> alguns materiais de biblioteca (EZENNIA 1989; PLUMBE 1987b).<br />
Outras zonas onde os edifícios são fustigados pelas t<strong>em</strong>pestades de poeira são<br />
as regiões sul dos Estados Unidos. O edifício <strong>da</strong> Historical Society of Montana está<br />
de frente para as planícies ári<strong>da</strong>s e arenosas. As pequenas partículas de areia<br />
causam <strong>da</strong>nos acentuados no acervo guar<strong>da</strong>do <strong>em</strong> depósito. As partículas de areia<br />
são tão finas que passam pelas rachas entre o tijolo e o umbral <strong>da</strong> janela. Para<br />
atenuar o probl<strong>em</strong>a, os responsáveis pelas instituições optam pela colocação de<br />
cortinas nas janelas. Sab<strong>em</strong>os como são os efeitos nocivos dos ventos regulares de<br />
poeiras quando se observam ao microscópio os cortinados e se tornam visíveis os<br />
cortes profundos no tecido (comunicação particular do pessoal <strong>da</strong> Historical Society of<br />
Montana).<br />
Para os conservadores-restauradores é muito mau o facto <strong>da</strong> circulação de ar ser<br />
um dos princípios do b<strong>em</strong>-estar do pessoal. Consequent<strong>em</strong>ente, as janelas<br />
permanec<strong>em</strong> normalmente abertas e as ventoinhas trabalham ininterruptamente,<br />
e o pó circula livr<strong>em</strong>ente e cobre to<strong>da</strong> e qualquer superfície (SCHÜLLER 2000). Para<br />
evitar a entra<strong>da</strong> <strong>da</strong>s poeiras, as janelas dev<strong>em</strong> ser devi<strong>da</strong>mente calafeta<strong>da</strong>s e os<br />
encaixes não dev<strong>em</strong> ter fen<strong>da</strong>s (PLUMBE 1987b). Os arbustos e as árvores também<br />
pod<strong>em</strong> reduzir a força dos ventos que transportam poeira (GWAM 1963; KUMAR 1981).<br />
123
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Uma vez passa<strong>da</strong>s as t<strong>em</strong>pestades de areia, a limpeza <strong>da</strong> zona deve ser<br />
efectua<strong>da</strong> o mais cautelosa e rapi<strong>da</strong>mente possível (PLUMBE 1987a). Para não se<br />
levantar poeira, deve proceder-se regularmente à limpeza, utilizando um<br />
aspirador potente (DAVISON 1981). Limpar o chão com uma vassoura, um método<br />
amplamente utilizado nos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, não é<br />
recomendável porque apenas espalhará as partículas de poeira.<br />
Para além <strong>da</strong> entra<strong>da</strong> de poeira do exterior, verifica-se igualmente o aparecimento<br />
de poeira no interior do edifício. A principal causa reside na existência<br />
de um pavimento <strong>em</strong> cimento que se vai desagregando.Assim, é absolutamente<br />
imprescindível obter uma protecção para cobrir o chão. Outras causas para a<br />
formação de poeira são os próprios documentos. Ao chegar<strong>em</strong> aos depósitos,<br />
todos os documentos dev<strong>em</strong> ser limpos numa sala própria (DUCHEIN 1988; GWAM<br />
1963).<br />
5.5 Estantes<br />
Dois mil anos a. C., na Mesopotâmia, já os arquivistas colocavam as tabuinhas<br />
de barro <strong>em</strong> prateleiras que não assentavam no chão e afasta<strong>da</strong>s <strong>da</strong>s paredes<br />
para proteger o suporte vulnerável à humi<strong>da</strong>de (BANKS 1999).<br />
Na maior parte dos casos, a utilização de prateleiras foi considera<strong>da</strong> como<br />
outra relíquia <strong>da</strong>s administrações coloniais, frequent<strong>em</strong>ente feitas <strong>em</strong> madeira,<br />
apesar de existir<strong>em</strong> também diversos tipos de estantes metálicas. Geralmente,<br />
verifica-se que há muito trabalho de normalização para ser feito e pod<strong>em</strong><br />
alcançar-se resultados significativos através do reforço e <strong>da</strong> segurança <strong>da</strong>s<br />
estantes – principalmente com barras transversais e com fixações às paredes.<br />
Montar as estantes acima do nível do chão, deve considerar-se prioritário, tendo<br />
<strong>em</strong> conta que a esperança de vi<strong>da</strong> do material guar<strong>da</strong>do aumentará substancialmente.<br />
Estas boas práticas são vitais e de fácil execução (RHYS-LEWIS 1999).<br />
As prateleiras de aço, ajustáveis, são altamente recomen<strong>da</strong><strong>da</strong>s devido à sua<br />
solidez e resistência, tanto ao fogo, como aos ataques de insectos uma vez que<br />
têm um acabamento <strong>em</strong> esmalte cozido que resiste à abrasão e à corrosão.<br />
Desde que os materiais de arquivo não são <strong>em</strong> tamanhos padrão, a flexibili<strong>da</strong>de<br />
<strong>da</strong>s estantes constitui um factor importante. A utilização de prateleiras <strong>em</strong><br />
madeira é aceitável desde que a madeira seja protegi<strong>da</strong> com uma cama<strong>da</strong> de<br />
tinta acrílica ou de verniz (para probl<strong>em</strong>as relacionados com pinturas, ver ADEFARATI 1980).<br />
No entanto, as prateleiras de madeira têm o probl<strong>em</strong>a de ser<strong>em</strong> combustíveis<br />
e vulneráveis ao ataque <strong>da</strong>s térmitas. Contudo, na maioria dos países tropicais,<br />
124
Armazenamento<br />
as madeiras locais serv<strong>em</strong> para o fabrico de mobiliário e de prateleiras. Muitas<br />
destas madeiras são resistentes a infestações de fungos e algumas são resistentes<br />
ao ataque de térmitas (ver também capítulo sobre Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas). As prateleiras<br />
e o mobiliário <strong>em</strong> madeira acarretam uma desvantag<strong>em</strong>, particularmente<br />
se for<strong>em</strong> <strong>em</strong> mal prepara<strong>da</strong>s, que é a de inchar ou contrair de acordo com o<br />
teor de humi<strong>da</strong>de.A cola animal, por sua vez, perde quali<strong>da</strong>de e os objectos com<br />
imperfeições, construídos <strong>em</strong> madeira, tend<strong>em</strong> a separar-se (PLUMBE 1961).<br />
O cimento, <strong>em</strong> primeira análise, não constitui uma alternativa, pois não é muito<br />
flexível e cria poeira facilmente (PÉROTIN 1966). Contudo, exist<strong>em</strong> excepções.<br />
Os arquivos locais <strong>em</strong> África sofr<strong>em</strong> fort<strong>em</strong>ente com o ataque de uma térmita<br />
especial (Pseudocanthotermes), que não possui uma termiteira epigenética e está<br />
espalha<strong>da</strong> por to<strong>da</strong> a parte. Somente o cimento é que consegue detê-la; <strong>em</strong><br />
combinação com suportes de metal, barras ou grades, consegue-se a melhor<br />
defesa contra a infestação de térmitas (HURAULT 1997).<br />
De uma maneira geral, deve ter-se cui<strong>da</strong>do com extr<strong>em</strong>i<strong>da</strong>des cortantes e<br />
superfícies rugosas. As prateleiras escolhi<strong>da</strong>s dev<strong>em</strong> permitir que seja feita a<br />
melhor circulação de ar possível; dev<strong>em</strong> evitar-se prateleiras fecha<strong>da</strong>s com<br />
costas. Estantes compactas não são aconselháveis por interferir<strong>em</strong> com a<br />
circulação de ar (DUCHEIN 1988). Deve evitar-se colocar prateleiras contra uma<br />
parede exterior, pois pod<strong>em</strong> absorver de humi<strong>da</strong>de e impedir uma boa<br />
circulação de ar. A disposição <strong>da</strong>s prateleiras <strong>em</strong> ângulos rectos, relativamente<br />
às paredes, cria uma melhor circulação de ar também necessária para impedir<br />
o desenvolvimento de fungos quando os locais não são arejados. Pela mesma<br />
razão, não se deve recorrer a placas de ferro, mas dev<strong>em</strong> adoptar-se barras<br />
transversais, o que permite a circulação do ar entre as prateleiras (KARIM 1988;<br />
MACKENZIE 1996).<br />
Em caso de número insuficiente de prateleiras, sendo necessário colocar os<br />
documentos no chão, deve utilizar-se qualquer tipo de estrado ou base para<br />
que os documentos não permaneçam <strong>em</strong> contacto directo com o chão. Se os<br />
custos relativos à aquisição de umas prateleiras novas não são suportáveis, por<br />
vezes é possível comprar-se prateleiras <strong>em</strong> segun<strong>da</strong> mão. É necessário limpá-las<br />
minuciosamente antes de ser<strong>em</strong> utiliza<strong>da</strong>s e pode ser necessário levar<strong>em</strong> uma<br />
d<strong>em</strong>ão de tinta se estiver<strong>em</strong> <strong>da</strong>nifica<strong>da</strong>s (LING 1998). É óbvio que as estantes<br />
dev<strong>em</strong> ser de tal maneira sóli<strong>da</strong>s, que aguent<strong>em</strong> as oscilações provoca<strong>da</strong>s por<br />
um tr<strong>em</strong>or de terra e, neste caso, deverá considerar-se a colocação de costas (ver<br />
capítulo sobre Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre – Desastres naturais – Terramotos). Os NAA<br />
(National Archives of Australia) desenvolveram recent<strong>em</strong>ente directrizes para<br />
prateleiras móveis (NAA 1997).<br />
125
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Para algumas experiências, principalmente no Ocidente, com diferentes<br />
sist<strong>em</strong>as de prateleiras para arquivo, ver Atlanti (International Institute for<br />
Archival Science, Maribor) 1993.<br />
5.6 Manuseamento<br />
Actualmente está comprovado que o manuseamento errado de livros e de<br />
outros documentos por parte do pessoal e dos utentes de arquivos constitui<br />
uma <strong>da</strong>s grandes ameaças ao seu b<strong>em</strong>-estar. Ca<strong>da</strong> vez que um livro ou um<br />
documento é retirado do depósito, manuseado com as mãos, exposto à luz ou<br />
a um ambiente diferente, verificam-se s<strong>em</strong>pre alguns <strong>da</strong>nos. Por outro lado, as<br />
colecções de arquivo são preserva<strong>da</strong>s para que possam ser consulta<strong>da</strong>s. É necessário<br />
uma política adequa<strong>da</strong> ao manuseamento tanto para o pessoal como para<br />
os utentes (MACKENZIE 1996).<br />
Na biblioteconomia ocidental, os livros raros e valiosos são tratados de um<br />
modo especial. Esses livros raros e manuscritos são integrados frequent<strong>em</strong>ente<br />
<strong>em</strong> Colecções Especiais e até são impl<strong>em</strong>enta<strong>da</strong>s normas de conduta específicas<br />
para este tipo de documentos (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION 1993) (ver também<br />
DATTA 1969). Esta situação não se verifica na maioria dos países não-ocidentais. Em<br />
inúmeras bibliotecas, ca<strong>da</strong> livro é considerado como uma peça rara e valiosa.<br />
Foi adquirido através de recursos financeiros escassos que tend<strong>em</strong> a diminuir <strong>em</strong><br />
número e <strong>em</strong> montante. Geralmente foram importados do estrangeiro e levaram<br />
diversos meses a chegar. Se se deterioram, não é viável a sua substituição.<br />
Não exist<strong>em</strong> fundos para se comprar material de restauro. Exist<strong>em</strong> poucos meios<br />
para a recuperação dos livros. Há poucos especialistas para executar<strong>em</strong> o trabalho<br />
de restauro. Ca<strong>da</strong> livro é ca<strong>da</strong> vez mais requisitado, pois a capaci<strong>da</strong>de de aquisição<br />
diminuiu devido à escassez de fundos. Os leitores não foram educados <strong>em</strong><br />
contacto com livros e as suas condições de vi<strong>da</strong> não lhes permit<strong>em</strong> levar a cabo<br />
um manuseamento correcto dos livros que ped<strong>em</strong> <strong>em</strong>prestado. A preocupação<br />
do responsável pela biblioteca é manter ca<strong>da</strong> livro <strong>em</strong> circulação o maior período<br />
de t<strong>em</strong>po possível, s<strong>em</strong> acarretar custos adicionais para a biblioteca. Os gastos<br />
com a conservação não dev<strong>em</strong> ser prioritários relativamente aos gastos com o<br />
pessoal. Nestas condições, o bom manuseamento dos livros traz benefícios,<br />
retar<strong>da</strong>ndo os <strong>da</strong>nos inevitáveis causados pelo desgaste. Foi esta experiência<br />
vivi<strong>da</strong> na Universi<strong>da</strong>de de Juba que fez Diana Rosenberg concluir que <strong>em</strong><br />
qualquer medi<strong>da</strong> de preservação aplica<strong>da</strong> numa biblioteca africana, a manutenção<br />
diária dos livros deve ser especialmente realça<strong>da</strong> (ROSENBERG 1995).<br />
126
Armazenamento<br />
Esta observação realista dá visibili<strong>da</strong>de à conservação <strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de<br />
desenvolvimento e realça apenas a importância de um manuseamento adequado<br />
dos materiais de biblioteca e de arquivo. Diana Rosenberg acrescenta que um<br />
bom tratamento diário constitui um dos aspectos <strong>da</strong> preservação e envolve to<strong>da</strong>s<br />
as medi<strong>da</strong>s toma<strong>da</strong>s para melhorar o manuseamento físico diário dos livros<br />
requisitados pelos utentes <strong>da</strong>s bibliotecas. Abrange tanto os actores (pessoal<br />
de biblioteca e utentes) como activi<strong>da</strong>des internas (limpezas arrumação nas<br />
estantes, utilização, execução de fotocópias e pequenas reparações). Diana<br />
Rosenberg termina o seu trabalho enunciando algumas directrizes, b<strong>em</strong> como<br />
uma listag<strong>em</strong> de medi<strong>da</strong>s que pode servir de base para qualquer biblioteca<br />
decidi<strong>da</strong> a rever as suas medi<strong>da</strong>s diárias para cui<strong>da</strong>r dos livros. As técnicas de<br />
manuseamento correcto não requer<strong>em</strong> uma abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> com altas tecnologias,<br />
n<strong>em</strong> constitu<strong>em</strong> uma ameaça para as pessoas ou para o meio ambiente. Um<br />
cui<strong>da</strong>do diário requer uma disciplina contínua (BELLARDO 1995; DARTNALL 1988).<br />
A seguir ao manuseamento, o modo como se guar<strong>da</strong>m as peças é altamente<br />
importante para a salvaguar<strong>da</strong> <strong>da</strong>s mesmas. Mais uma vez, as flutuações de<br />
t<strong>em</strong>peratura e de humi<strong>da</strong>de relativa constitu<strong>em</strong> factores cruciais. Quito, situa<strong>da</strong><br />
no Equador a uma grande altitude, usufrui de um clima quase perfeito, seco e<br />
frio, com uma pressão atmosférica baixa. Condições deste tipo são óptimas<br />
para a preservação de livros e de manuscritos. Aqui, para além de existir<strong>em</strong><br />
alguns probl<strong>em</strong>as com os insectos, pilhas de documentos reunidos por ordens<br />
religiosas e pela administração colonial espanhola permanec<strong>em</strong> <strong>em</strong> boas<br />
condições durante séculos. Contudo, recent<strong>em</strong>ente, o modo incorrecto de<br />
guar<strong>da</strong>r peças <strong>em</strong> galerias e <strong>em</strong> bibliotecas t<strong>em</strong> causado a desintegração<br />
acelera<strong>da</strong> de algumas destas colecções (GIESE 1995).<br />
Para informações gerais sobre manuseamento, ver AGEBUNDE 1984; FORDE<br />
1991; TLALANYANE 1989.<br />
5.7 Acondicionamento<br />
5.7.1 Caixas<br />
Nos arquivos do Ocidente é agora aceite por unanimi<strong>da</strong>de que todos os<br />
documentos, à excepção dos livros encadernados, dev<strong>em</strong> ser inseridos num<br />
qualquer tipo de segundo invólucro. Serve de protecção contra poeiras e suji<strong>da</strong>des,<br />
permite que as peças sejam transporta<strong>da</strong>s de uma forma segura e serve<br />
como primeira linha de defesa <strong>em</strong> caso de incêndio ou de inun<strong>da</strong>ção. A forma<br />
mais económica e efectiva de providenciar medi<strong>da</strong>s razoáveis de protecção dos<br />
127
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
documentos contra todo o tipo de riscos, incluindo volumes encadernados, é<br />
colocá-los <strong>em</strong> caixas (THOMAS 1987).<br />
As caixas também pod<strong>em</strong> aju<strong>da</strong>r <strong>em</strong> caso de flutuações térmicas ou de<br />
humi<strong>da</strong>de, criando com eficácia um microclima <strong>em</strong> volta do documento<br />
(MACKENZIE 1996) (ver também COREMANS 1968).<br />
No Fiji Museum, <strong>em</strong> Suva, as condições ambiente monitoriza<strong>da</strong>s d<strong>em</strong>onstraram<br />
que um simples saco de plástico a envolver os artefactos <strong>em</strong> madeira<br />
minimiza as flutuações de t<strong>em</strong>peratura e de humi<strong>da</strong>de relativa diárias (DANIEL et<br />
al. 2000). Em vez de modificar um espaço amplo, como os espaços <strong>da</strong>s estantes,<br />
uma forma de controlo pode ser consegui<strong>da</strong> através <strong>da</strong> criação de microambientes.<br />
Esses invólucros protectores não só proporcionam um isolamento para<br />
reduzir os efeitos <strong>da</strong>s variações dos níveis de t<strong>em</strong>peratura e humi<strong>da</strong>de, como<br />
também fornec<strong>em</strong> outras oportuni<strong>da</strong>des para controlo (DEAN 2000).<br />
Na Antigui<strong>da</strong>de, os documentos e os livros eram normalmente guar<strong>da</strong>dos<br />
numa espécie de invólucro. Os egípcios, os gregos e os romanos guar<strong>da</strong>vam os<br />
seus rolos <strong>em</strong> caixas cilíndricas <strong>em</strong> madeira ou <strong>em</strong> marfim. Na Índia, b<strong>em</strong><br />
como noutras zonas do Oriente, a protecção dos frágeis manuscritos <strong>em</strong> folha<br />
de palmeira consistia, primeiro, na sua colocação entre placas de madeira ou<br />
de marfim talhado, cobrindo-os depois, com um tecido, conhecido por bastas<br />
(KATHPALIA 1973; PLUMBE 1959). Verificou-se a mesma prática no Laos e noutros<br />
países no continente do Sudeste Asiático (GIESE 1995; HUNDIUS 2000). Em alguns<br />
países estas caixas têm tradicionalmente pernas, de modo a permitir a circulação<br />
do ar. Por vezes utilizam caixas duplas: uma caixa dentro de outra caixa.<br />
As madeiras, frequent<strong>em</strong>ente utiliza<strong>da</strong>s na feitura <strong>da</strong>s caixas, como a madeira<br />
do cipreste, do cedro ou de palóvnia que repel<strong>em</strong> insectos e variam de acordo<br />
com o país (JOURDAIN 1990; KATHPALIA 1973; KENJO 1997; PLUMBE 1959) (ver também o capítulo<br />
sobre Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas). Importantes documentos de arquivo e<br />
manuscritos chineses eram guar<strong>da</strong>dos <strong>em</strong> arcas de madeira de pau-rosa e de<br />
ébano, cobertos com placas de latão e colocados sobre um estrado numa sala,<br />
relativamente resguar<strong>da</strong>dos do fogo (BANERJEE 1997; LI 1995; YAO YU-CHENG 1986).<br />
O Palácio Nacional na Coreia utilizava tradicionalmente armários de madeira<br />
para guar<strong>da</strong>r os seus documentos de arquivo e manuscritos; actualmente foram<br />
substituídos por armários <strong>em</strong> alumínio que não assentam directamente no<br />
chão (SU 1979). O contentor utilizado pelos japoneses para armazenamento,<br />
uma caixa <strong>em</strong> madeira de palóvnia, foi especificamente concebido para <strong>da</strong>r<br />
resposta às alterações de humi<strong>da</strong>de. A madeira de palóvnia é macia e higroscópica.<br />
Em conjugação com a habili<strong>da</strong>de do artífice <strong>da</strong> caixa, quando a percentag<strong>em</strong><br />
de humi<strong>da</strong>de aumenta, garante o ajuste <strong>da</strong> tampa e <strong>da</strong> base <strong>da</strong> caixa de<br />
128
Armazenamento<br />
modo a formar uma barreira entre o exterior e o interior <strong>da</strong> caixa. Ocasionalmente,<br />
também foram encontrados materiais dessecantes <strong>em</strong> caixas velhas.<br />
Os materiais mais comuns são pequenos molhos de palha ou um material<br />
s<strong>em</strong>elhante colocados no fundo <strong>da</strong> caixa (WILLS 1987). Na Tunísia, as caixas de<br />
madeira eram trata<strong>da</strong>s com azeite, de modo a resistiram à humi<strong>da</strong>de salga<strong>da</strong><br />
proveniente do clima costeiro, e no Saara a madeira fresca era esfrega<strong>da</strong> com<br />
óleo de palma, para evitar que secasse ou rachasse (JOURDAIN 1990). Ao medir os<br />
valores <strong>da</strong>s alterações térmicas e <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de relativa no interior <strong>da</strong>s caixas de<br />
preservação, Toshiko Kenjo verificou que eram muito baixos. Se se utilizass<strong>em</strong><br />
caixas duplas de preservação estes valores seriam ain<strong>da</strong> mais baixos. Contudo,<br />
a madeira a utilizar teria de ser submeti<strong>da</strong> a um processo de secag<strong>em</strong> natural,<br />
até deixar de escorrer resina (KENJO 2000). Esta operação evident<strong>em</strong>ente levaria<br />
algum t<strong>em</strong>po a realizar.<br />
A existência de caixas de cartão, segundo Jonathan Rhys-Lewis, melhorou a<br />
situação inicial, quando os documentos de arquivo eram guar<strong>da</strong>dos <strong>em</strong> resmas<br />
ou caixas de arquivo. Como seria de esperar, <strong>em</strong> muitos casos, os fechos <strong>em</strong><br />
metal enferrujaram. Conforme os recursos, vão-se adquirindo caixas de cartão<br />
de quali<strong>da</strong>de superior (RHYS-LEWIS 1999). As caixas de arquivo com fitas para atar<br />
são mais indica<strong>da</strong>s do que as caixas com perfurações no cartão, pois<br />
constitu<strong>em</strong> uma protecção mais eficaz. As cama<strong>da</strong>s de documentos, separa<strong>da</strong>s<br />
por bolsas de ar, são especialmente úteis. Por ex<strong>em</strong>plo, pod<strong>em</strong> colocar-se<br />
documentos <strong>em</strong> invólucros ou capas dentro de caixas fecha<strong>da</strong>s que, por sua<br />
vez, pod<strong>em</strong> ser inseri<strong>da</strong>s <strong>em</strong> caixas fecha<strong>da</strong>s de maior dimensão (BELLARDO 1995).<br />
No âmbito do Projecto de Preservação <strong>em</strong> Massa, do Arquivo Nacional de<br />
Asunción, no Paraguai, Alvaro Gonzàlez desenhou caixas e invólucros para<br />
proteger<strong>em</strong> a valiosa colecção de manuscritos do século XVI ao século XIX,<br />
seriamente <strong>da</strong>nifica<strong>da</strong>. Este tipo de caixa, conheci<strong>da</strong> como caixa «Paraguai»<br />
provou ser muito resistente ao clima subtropical (ESTEVA 1993).<br />
5.7.2 Invólucros<br />
Os documentos de arquivo dev<strong>em</strong> ser guar<strong>da</strong>dos, de preferência, <strong>em</strong> invólucros.<br />
Frequent<strong>em</strong>ente, os documentos antigos são cobertos com papel ou capas<br />
<strong>em</strong> tecido e depois colocados dentro de caixas. Antigamente, os manuscritos<br />
<strong>em</strong> folha de palma eram guar<strong>da</strong>dos <strong>em</strong> invólucros (KATHPALIA 1973). Para repelir<br />
o ataque de insectos, colocavam-se folhas de certas árvores junto aos manuscritos.<br />
O vermelho é, geralmente, a cor que repele o ataque de insectos a livros<br />
129
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
e a manuscritos. A se<strong>da</strong> também é espantosamente imune às larvas que atacam<br />
os livros. Assim, deve usar-se se<strong>da</strong> vermelha para envolver os manuscritos <strong>em</strong><br />
folha de palma (BERDIGALIEVA 1995; SAWARNAKAMAL 1975). No âmbito de um programa<br />
de conservação no Laos, os manuscritos <strong>em</strong> folha de palma foram envolvidos<br />
com tecido de algodão e guar<strong>da</strong>dos <strong>em</strong> estantes modernas com a frente <strong>em</strong><br />
vidro (NOERLUND et al. 1991). No caso de não existir<strong>em</strong> caixas disponíveis, os documentos<br />
de arquivo pod<strong>em</strong> ser envolvidos <strong>em</strong> papel vulgar, à excepção de papel<br />
de jornal ou papel colorido, pois a tinta de jornal e as cores têm tendência a<br />
desaparecer e a esborratar (LING 1998). O material que serve de protecção aos<br />
conjuntos de documentos, encontra-se frequent<strong>em</strong>ente coberto de pó e até de<br />
fulig<strong>em</strong>, enquanto os documentos dentro se encontram limpos. Nestas situações,<br />
o pior que se pode fazer é retirar o material que serve de protecção e<br />
deixar os documentos expostos à poeira e à poluição. O papel de quali<strong>da</strong>de<br />
cujo fabrico está de acordo com as normas internacionais de papel permanente<br />
pode não estar localmente disponível ou ain<strong>da</strong> ser financeiramente incomportável<br />
(ver também Preservação e <strong>Conservação</strong> – Tecnologia apropria<strong>da</strong>). Se for esta a<br />
situação, os conservadores que têm os documentos à sua guar<strong>da</strong> dev<strong>em</strong> previamente<br />
adquirir papel alcalino. O papel de cigarro está disponível <strong>em</strong> inúmeros<br />
países e é geralmente alcalino, apesar de não ser muito resistente (BELLARDO 1995).<br />
5.8 Boa gestão e manutenção<br />
É importante assegurar um bom nível de gestão e manutenção. O edifício no<br />
qual estão guar<strong>da</strong>dos os materiais de biblioteca deve estar s<strong>em</strong>pre limpo e<br />
mantido <strong>em</strong> boas condições (THOMAS 1987). Mas os procedimentos para uma<br />
manutenção adequa<strong>da</strong> constitu<strong>em</strong> um grande probl<strong>em</strong>a e são vulgares nos<br />
países tropicais desde s<strong>em</strong>pre (EGBOR 1985). O nível de exigência <strong>da</strong>s medi<strong>da</strong>s de<br />
manutenção interna deve ser bastante alto. Obviamente, nunca se deve comer<br />
n<strong>em</strong> beber nas áreas de depósito. Dev<strong>em</strong> existir recipientes para o lixo nas áreas<br />
de restauração, que dev<strong>em</strong> ser limpos regularmente. Os produtos alimentares<br />
não dev<strong>em</strong> permanecer noite fora, e dev<strong>em</strong> estar s<strong>em</strong>pre cobertos ou <strong>em</strong> caixas<br />
fecha<strong>da</strong>s (LING 1998; RHYS-LEWIS 1999). Quando se procede a um <strong>em</strong>préstimo de<br />
livros, a boa higiene pessoal, b<strong>em</strong> como a existência de boas condições <strong>em</strong> casa<br />
do utente são factores a ter <strong>em</strong> conta (EZENNIA et al. 1995). O Museu Dr. Albert<br />
Schweizer, no Gabão, ilustra b<strong>em</strong> o que é uma boa gestão e manutenção de uma<br />
instituição. Comparando com outros edifícios no local, as instalações Schweizer<br />
estavam surpreendent<strong>em</strong>ente b<strong>em</strong> preserva<strong>da</strong>s (ROSENBERG 1986).<br />
130
Armazenamento<br />
Considera-se a manutenção de um edifício como parte importante de uma<br />
boa gestão. O arquivo estará aí por um longo período a proteger os documentos<br />
e a proporcionar um local de trabalho para o pessoal e para os utilizadores.<br />
Nos últimos anos, t<strong>em</strong>-se verificado nos países ocidentais uma tendência para<br />
recorrer a <strong>em</strong>presas priva<strong>da</strong>s de manutenção, para o interior e para o exterior<br />
do edifício. Impl<strong>em</strong>entaram-se inúmeras medi<strong>da</strong>s para a manutenção de edifícios,<br />
equipamento e serviços. É frequente pensar-se que a manutenção t<strong>em</strong><br />
início após os acabamentos e a entrega do edifício mas, <strong>em</strong> boa ver<strong>da</strong>de,<br />
começa b<strong>em</strong> antes, na fase do projecto global do edifício, o qual deve exigir a<br />
utilização de materiais com baixa manutenção (LING 1998). Principalmente, não<br />
se deve negligenciar a adequação dos materiais e <strong>da</strong>s construções relativamente<br />
à manutenção.<br />
Em zonas tropicais o fornecimento de corrente eléctrica é, por vezes, irregular,<br />
sendo que as quebras súbitas de tensão ou picos de tensão são comuns.<br />
Do mesmo modo, as t<strong>em</strong>pestades muito violentas, com grandes descargas<br />
eléctricas, pod<strong>em</strong> causar <strong>da</strong>nos a equipamento eléctrico, por ex<strong>em</strong>plo, a<br />
computadores. Para compensar as consequências provoca<strong>da</strong>s por um corte total<br />
de energia, incluindo o encerramento de um sist<strong>em</strong>a de ar-condicionado ou de<br />
um sist<strong>em</strong>a informático, deve considerar-se a possibili<strong>da</strong>de de se instalar um<br />
gerador auxiliar como reserva de energia. Como precaução contra cortes de<br />
energia pode-se instalar uma UPS, i.é,Uninterrupted Power Supply unit (LING 1998).<br />
Contudo, o Hom<strong>em</strong> continua a constituir a maior ameaça para os documentos.<br />
Estes pod<strong>em</strong> ser <strong>da</strong>nificados através de um mau e descui<strong>da</strong>do manuseamento,<br />
ou através de acções criminosas delibera<strong>da</strong>s, incluindo roubo e van<strong>da</strong>lismo<br />
(THOMAS 1987) (ver também o capítulo sobre Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre – Desastres<br />
provocados pelo Hom<strong>em</strong>). Para mais informações, ver CHRISTENSEN 1989.<br />
131
6<br />
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
6.1 Introdução<br />
O desastre acontece <strong>em</strong> qualquer altura, <strong>em</strong> qualquer lugar. Sob diversas<br />
formas – um furacão, um tr<strong>em</strong>or de terra, um tornado, uma inun<strong>da</strong>ção, um<br />
incêndio ou derramamentos perigosos, um acto <strong>da</strong> natureza ou um acto de<br />
terrorismo. Vai tomando forma ao longo de dias ou s<strong>em</strong>anas ou surge<br />
repentinamente, s<strong>em</strong> aviso prévio. Todos os anos, milhões de pessoas<br />
enfrentam um desastre com as suas terríveis consequências (página <strong>da</strong> Internet <strong>da</strong><br />
Federal Emergency Manag<strong>em</strong>ent Agency, FEMA).<br />
Acredita-se que o número de desastres naturais está a aumentar a nível<br />
mundial, devido a alterações climáticas que estão a ocorrer. Apesar de tudo, os<br />
desastres provocam um fascínio no ser humano. Desencadeiam sentimentos de<br />
espanto e de medo, e faz<strong>em</strong> <strong>em</strong>ergir ex<strong>em</strong>plos de corag<strong>em</strong>, de loucura, de<br />
tragédia, <strong>em</strong> suma, todos os componentes de um grande drama. Os desastres são<br />
acontecimentos mediáticos e frequent<strong>em</strong>ente inspiram os produtores de<br />
Hollywood, como se pôde comprovar recent<strong>em</strong>ente, através dos filmes Twister,<br />
Dante’s Peak e Volcano (MUSSER 1997). S<strong>em</strong> se ter sofrido um desastre é difícil imaginar<br />
o choque e a impotência que ele gera no ser humano. Não é necessário dizer que<br />
se dev<strong>em</strong> minimizar os <strong>da</strong>nos causados pelos vários tipos de desastres. Todos os<br />
arquivos dev<strong>em</strong> estar preparados para o pior, estejam situados a norte, a sul, a<br />
oeste ou a leste. Um desastre ou uma <strong>em</strong>ergência engloba tudo, desde uma<br />
janela que alguém se esqueceu de fechar durante uma chuva<strong>da</strong> forte até a um<br />
133
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
tr<strong>em</strong>or de terra de grande dimensão, tudo o que põe <strong>em</strong> perigo os documentos<br />
(TRINKAUS-RANDALL 1995).<br />
Os desastres afectam o mundo inteiro.Toma-se consciência <strong>da</strong> situação ao lerse<br />
o trágico relatório <strong>da</strong> UNESCO sobre a destruição <strong>da</strong> m<strong>em</strong>ória do mundo (HOEVEN<br />
et al. 1996). Ao longo dos t<strong>em</strong>pos, todos os países se confrontaram com <strong>da</strong>nos<br />
ocorridos no seu património cultural, fruto de destruições pr<strong>em</strong>edita<strong>da</strong>s ou<br />
acidentais.As autori<strong>da</strong>des locais b<strong>em</strong> como as comuni<strong>da</strong>des, especialmente as que<br />
dispõ<strong>em</strong> de condições económicas precárias, não vê<strong>em</strong> benefícios <strong>em</strong> reduzir<br />
custos no presente para poder<strong>em</strong> tirar proveito num futuro indeterminado (GRAVIDIA<br />
2001). Não é de admirar que os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento sejam mais<br />
fustigados por desastres do que países com economias fortes. Claro que para estes<br />
países é mais fácil investir na prevenção de potenciais riscos.<br />
Os desastres necessitam de ser previstos de modo a ser<strong>em</strong> controlados, ou<br />
pelo menos, de modo a ser<strong>em</strong> minimiza<strong>da</strong>s as suas consequências. De acordo<br />
com a Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA), o Ciclo de<br />
Gestão do Desastre diz respeito a to<strong>da</strong>s as fases do ciclo de um desastre:<br />
capaci<strong>da</strong>de de resposta, reacção ao desastre, recuperação, reconstrução,<br />
prevenção, descompressão. Ler artigos sobre as experiências idênticas de outras<br />
instituições pode não aju<strong>da</strong>r a evitar o mesmo erro, mas permite ter-se uma<br />
ideia sobre consequências do desastre. Contudo, deve ter-se <strong>em</strong> conta que ca<strong>da</strong><br />
colecção, ca<strong>da</strong> edifício, ca<strong>da</strong> situação é única e por isso ca<strong>da</strong> instituição t<strong>em</strong><br />
que elaborar o seu próprio plano para a prevenção e controlo de desastres.<br />
De uma maneira geral, saber reagir a um desastre é <strong>da</strong> responsabili<strong>da</strong>de de<br />
todos aqueles que detêm responsabili<strong>da</strong>des públicas. Assim, a priori<strong>da</strong>de de<br />
ca<strong>da</strong> arquivista deve consistir no desenvolvimento de um plano de prevenção<br />
de desastres e desenvolvê-lo; mesmo que não seja perfeito, diminuirá os <strong>da</strong>nos<br />
causados nas colecções valiosas. Além disso, a reflexão e a elaboração prévia de<br />
planos contribu<strong>em</strong> para a eliminação do pânico, para assegurar a toma<strong>da</strong> de<br />
decisões adequa<strong>da</strong>s, b<strong>em</strong> como a execução <strong>da</strong>s etapas do plano.<br />
É muito importante para os objectos <strong>em</strong> papel, obras de arte <strong>em</strong>oldura<strong>da</strong>s ou<br />
não, documentos, fotografias ou livros. Contudo, deve pensar-se primeiro no<br />
salvamento do pessoal, para se passar, depois, ao salvamento dos objectos<br />
(página <strong>da</strong> Internet do Bishop Museum). O M<strong>em</strong>ory of the World Programme<br />
aconselha o seguinte (BRANDT-GRAU 2000):<br />
• Preparação prévia para qualquer tipo de desastre; contactar e consultar<br />
outras instituições para partilhar informação e experiência com vista à<br />
cooperação regional;<br />
134
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
• Tirar partido <strong>da</strong>s sessões de formação, <strong>em</strong> particular, dos encontros sobre<br />
plano para controlo e prevenção de desastres e exercícios sobre<br />
capaci<strong>da</strong>de de resposta;<br />
• Solicitar conselhos e aju<strong>da</strong> a especialistas dos departamentos de<br />
preservação <strong>da</strong>s instituições nacionais, a m<strong>em</strong>bros de comissões<br />
permanentes, a centros <strong>da</strong>s organizações profissionais e respectivas<br />
comissões técnicas.<br />
A pesquisa de literatura sobre desastres conduz-nos a todo o tipo de<br />
publicações, desde assuntos sérios até novelas de cabeceira. O melhor é ter um<br />
espírito muito crítico e selectivo. Muitas instituições para salvaguar<strong>da</strong>r o seu<br />
património cultural elaboram e publicam o seu próprio plano de controlo e<br />
prevenção de desastres. Nos países ocidentais, a maior parte dos planos visa a<br />
prevenção contra incêndios e contra calami<strong>da</strong>des provoca<strong>da</strong>s pela água.<br />
Também surg<strong>em</strong> muitos planos regionais de controlo e prevenção de desastres,<br />
porém todos os planos abor<strong>da</strong>m situações verifica<strong>da</strong>s somente <strong>em</strong> países que<br />
não estão situados nas regiões tropicais. Também exist<strong>em</strong> inúmeros livros<br />
publicados sobre desastres naturais, mas poucos sobre as suas consequências,<br />
para além <strong>da</strong>s inun<strong>da</strong>ções <strong>em</strong> arquivos, bibliotecas ou museus. A literatura<br />
sobre negligência também é omissa. É ver<strong>da</strong>de que exist<strong>em</strong> diversas publicações<br />
sobre roubos <strong>em</strong> instituições que têm à guar<strong>da</strong> o património cultural, mas<br />
poucas são as instituições que se atrev<strong>em</strong> a publicar algo sobre negligência,<br />
pois ninguém gosta de lavar a roupa suja <strong>em</strong> público.<br />
Ferramentas de quali<strong>da</strong>de, polivalentes e adequa<strong>da</strong>s às questões sobre desastres,<br />
são poucas ou mesmo nenhumas. A Internet, uma fonte inesgotável de<br />
informação, tornou-se numa <strong>da</strong>s melhores ferramentas disponíveis para questões<br />
relaciona<strong>da</strong>s com desastres, e os autores facultam uma extensa lista de páginas<br />
importantes nesta área (MUSSER et al. 1997). Contudo, deve-se assinalar que os<br />
endereços na Internet mu<strong>da</strong>m frequent<strong>em</strong>ente, ficando assim rapi<strong>da</strong>mente<br />
desactualizados. Na Internet exist<strong>em</strong> diversas bibliografias e bases de <strong>da</strong>dos<br />
disponíveis, como por ex<strong>em</strong>plo na página <strong>da</strong> South-Eastern Library Network,<br />
(SOLINET); na página <strong>da</strong> International Strategy for Disaster Reduction, ISDR; na<br />
página do World Bank-DMF e na Natural Disaster Reference Database, NDRD, na<br />
página <strong>da</strong> NASA-LTP. De acordo com Musser e Recupero (1997), os desastres<br />
também são t<strong>em</strong>as comuns no serviço de referência: consultar nas páginas <strong>da</strong><br />
Internet de FEMA, US Geological Survey. Especialmente o Natural Hazard Center faculta<br />
ain<strong>da</strong> mais ligações.A Virginia Cooperative Extension publica séries intitula<strong>da</strong>s After<br />
a Disaster na sua página sobre Segurança, Alimentação e Água, Como Enfrentar<br />
135
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Dificul<strong>da</strong>des, Limpeza, Seguros e Contractos, Paisag<strong>em</strong> e Agricultura, Reparações<br />
de Telhados. Pod<strong>em</strong> consultar-se também as páginas do CoOL e <strong>da</strong> Rede de<br />
Segurança do Museu, uma iniciativa holandesa <strong>da</strong> autoria de Tom Cr<strong>em</strong>ers.<br />
Para literatura mais antiga sobre desastres, ver bibliografia <strong>em</strong> BUCHANAN<br />
1988; para literatura mais recente, ver bibliografias <strong>da</strong> autoria de MURRAY 1994<br />
e HENRY 1997. Um dos primeiros títulos de uma obra de carácter geral sobre a<br />
capaci<strong>da</strong>de de resposta a desastres <strong>em</strong> arquivos é de BARTON et al. 1985. Embora<br />
destinado à situação norte-americana, constitui um manual de um plano<br />
eficiente e eficaz contra desastres, cobrindo os muitos e diversos aspectos do<br />
planeamento de contingência e dispondo de inúmeras listas para a acção.<br />
Sobre capaci<strong>da</strong>de de resposta a desastres <strong>em</strong> geral, ver HUGHES 1999; KHAN<br />
1998; MCINTYRE 1996; OGDEN 1999. Para directrizes sobre capaci<strong>da</strong>de de<br />
resposta a desastres ver, MURRAY 1991; FRÖJD et al. 1997; THOMAS 1987. Para<br />
livros de bolso ou para manuais, ver BALLOFFET et al. 1992; FORTSON 1992;<br />
HUSKAMP PETERSON 1993; MORRIS 1986; TRINKHAUS-RANDALL 1995. Para outra<br />
literatura sobre desastres e capaci<strong>da</strong>de de resposta a desastres, ver BANERJEE<br />
1997; EZENNIA 1995; KUMEKPOR et al. 1994; MATHIESON 1986.<br />
6.2 Planeamento para prevenção e controlo de desastres<br />
Os desastres são inevitáveis, mas as mortes provoca<strong>da</strong>s pelos desastres não o<br />
são. O desafio que se coloca consiste na minimização do impacto, antecipá-lo<br />
ou até evitá-lo. Os desastres provocam efeitos ca<strong>da</strong> vez mais devastadores <strong>em</strong><br />
todo o mundo. No entanto, a maior parte <strong>da</strong>s pessoas t<strong>em</strong> uma noção ténue ou<br />
mesmo nenhuma <strong>da</strong> natureza dos desastres, <strong>da</strong>s respectivas escalas, b<strong>em</strong> como<br />
do nível de sofrimento que estes causam (IFRC 2001).<br />
Na maior parte <strong>da</strong>s vezes, um desastre ocorrido numa biblioteca ou num<br />
arquivo constitui um evento inesperado que põe as colecções <strong>em</strong> risco.<br />
Nenhuma instituição pode ser excluí<strong>da</strong> ou considerar-se imune a esta<br />
possibili<strong>da</strong>de. Um plano contra desastres ou um plano de contra-ataque ao<br />
desastre, como por vezes é intitulado, constitui a base <strong>da</strong> segurança para<br />
bibliotecas e arquivos, para o seu pessoal e para as suas colecções. Considera-se<br />
parte integrante de qualquer programa de preservação a ser impl<strong>em</strong>entado por<br />
todos os arquivos, bibliotecas e museus. Um plano formal, escrito, habilita<br />
qualquer instituição a responder com eficiência e rapidez a uma <strong>em</strong>ergência,<br />
minimizando os <strong>da</strong>nos causados no edifício e no seu acervo (BRANDT-GRAU 2000).<br />
136
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
É do conhecimento geral que poucas instituições possu<strong>em</strong> um plano de<br />
<strong>em</strong>ergência actualizado. Uma prevenção sensata representa a coluna vertebral<br />
<strong>da</strong> capaci<strong>da</strong>de de resposta a desastres. Contudo, ao desenvolver<strong>em</strong> este tipo de<br />
plano, os arquivistas não só adquir<strong>em</strong> uma melhor preparação para fazer face<br />
a uma <strong>em</strong>ergência, como também estão aptos a eliminar potenciais<br />
contrat<strong>em</strong>pos através do processo de avaliação <strong>da</strong> situação, <strong>da</strong>s colecções e do<br />
depósito, tanto a nível interno como externo (TRINKAUS RANDALL 1995).<br />
Um plano de contra-ataque ao desastre é pouco mais do que o simples bom<br />
senso, é um documento que descreve os procedimentos para a prevenção de<br />
desastres e a reacção a ter quando estes ocorr<strong>em</strong>. A responsabili<strong>da</strong>de de pôr <strong>em</strong><br />
prática estas tarefas é atribuí<strong>da</strong> a vários m<strong>em</strong>bros <strong>da</strong> instituição. Após a<br />
elaboração e a impl<strong>em</strong>entação do plano, é preciso que este seja revisto<br />
regularmente. O importante é que a apresentação do plano seja muito clara,<br />
explicitando ca<strong>da</strong> passo (LYALL 1997).<br />
É também importante frisar que a terminologia relativa aos desastres pode<br />
ser confusa. Do ponto de vista <strong>da</strong> NASA, a capaci<strong>da</strong>de de resposta refere-se às<br />
activi<strong>da</strong>des, aos programas e aos sist<strong>em</strong>as desenvolvidos para ser<strong>em</strong> postos <strong>em</strong><br />
prática no período que antecede o desastre; a resposta refere-se às organizações<br />
responsáveis por agir<strong>em</strong> antes, durante e depois <strong>da</strong> ocorrência de um desastre<br />
de grande dimensão, de modo a controlá-lo e a limitar os estragos; a recuperação<br />
refere-se a programas que visam uma assistência a longo prazo; a<br />
mitigação refere-se a to<strong>da</strong> a preparação física que antecede o desastre. Deste<br />
modo, na elaboração de um plano de <strong>em</strong>ergência distingu<strong>em</strong>-se diversas fases:<br />
• Prevenção;<br />
• Capaci<strong>da</strong>de de resposta;<br />
• Resposta;<br />
• Recuperação.<br />
Na esqu<strong>em</strong>atização do plano são indica<strong>da</strong>s acções para as quatro fases, mas<br />
a prevenção é considera<strong>da</strong> a melhor protecção contra desastres, naturais ou<br />
causados pelo Hom<strong>em</strong> (BRANDT-GRAU 2000).<br />
Actualmente, exist<strong>em</strong> todo o tipo de meios para uma instituição se preparar<br />
convenient<strong>em</strong>ente contra qualquer desastre, natural ou causado pelo Hom<strong>em</strong>.<br />
Na página <strong>da</strong> Internet <strong>da</strong> NASA-LTP estão lista<strong>da</strong>s várias organizações que de<br />
alguma forma estão relaciona<strong>da</strong>s com desastres, entre outras, agências de apoio<br />
a desastres, instituições de investigação e programas de gestão de desastres.<br />
Publicaram <strong>em</strong> conjunto, um elevado número de conselhos sobre todos os<br />
137
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
desastres possíveis de ocorrer<strong>em</strong>, estando alguns deles disponíveis, gratuitamente,<br />
na Internet. Consultar também as páginas <strong>da</strong> Internet relaciona<strong>da</strong>s com<br />
a conservação como NARA, SOLINET, CoOL e até FEMA.<br />
Foi publicado um esmagador número de artigos e livros sobre plano de<br />
desastres. De facto, existe tanta literatura sobre o t<strong>em</strong>a que a maior parte dos<br />
conservadores-restauradores não sabe por onde começar. Infelizmente, a maior<br />
parte <strong>da</strong> literatura existente abor<strong>da</strong> a situação <strong>em</strong> países industrializados. Para<br />
bibliografias, ver FORTSON 1992, que inclui literatura sobre recuperação, e a<br />
bibliografia publica<strong>da</strong> pelo Archives Library and Information Center<br />
Bibliography (CHURCHVILLE 1990). Um volume recente do Journal of the American<br />
Institute for Conservation dedica-se totalmente à capaci<strong>da</strong>de de resposta a desastres,<br />
resposta e recuperação (JAIC 2000). A seguir à literatura referi<strong>da</strong> na introdução<br />
deste capítulo, ver BARTON et al. 1985; BUCHANAN 1988; DORGE et al. 1999;<br />
FAKHFAKH 1995; FOX 1996 e 2000; JAMES 1994; LYALL 1995; KENJO 1997 e 2000;<br />
OBOKOH 1989; SHUKOR 1995; SMITHSONIAN INSTITUTE OFFICE OF RISK MANAGEMENT<br />
1993. Especificamente para planos de <strong>em</strong>ergência <strong>em</strong> África, ver ALEGBELEYE<br />
1993; e para gestão de pessoal durante o desastre, ver REINSCH 1993.<br />
6.2.1 Prevenção<br />
O objectivo básico <strong>da</strong> prevenção assenta na identificação e na minimização dos<br />
riscos que o edifício, o seu equipamento e as instalações corr<strong>em</strong>, b<strong>em</strong> como<br />
na minimização dos riscos naturais <strong>da</strong> zona. Para a sua concretização dev<strong>em</strong><br />
impl<strong>em</strong>entar-se acções de inspecção ao edifício, medi<strong>da</strong>s de limpezas de rotina<br />
e de manutenção, cópias de segurança dos registos vitais armazenados fora do<br />
edifício, fornecimento ininterrupto de energia para o funcionamento de<br />
computadores, seguros abrangentes, etc. (Brandt-Grau 2000).<br />
Um estudo de caso sobre a gestão dos riscos dos desastres no México<br />
d<strong>em</strong>onstra que, apesar <strong>da</strong> frequência com que os desastres naturais acontec<strong>em</strong>,<br />
os mexicanos invest<strong>em</strong> pouco dinheiro na mitigação dos esforços. Além disso,<br />
são postos de reserva fundos insuficientes para cobrir esforços de socorro e de<br />
recuperação. Como resultado, quando ocorre um desastre, o governo é<br />
frequent<strong>em</strong>ente forçado a disponibilizar fundos destinados a outros<br />
programas, inviabilizando assim a continui<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s operações dos mesmos.<br />
Como consequência, verifica-se uma redução no crescimento e um desmoronar<br />
de importantes esforços para o desenvolvimento (KREIMER et al. 1999).<br />
138
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
Os fundos destinados ao controlo de desastres pod<strong>em</strong> aplicar-se a duas áreas<br />
de despesas: uma área relativa à protecção através <strong>da</strong>s medi<strong>da</strong>s de prevenção e<br />
a outra área relativa à reacção a um desastre (FRÖJD et al. 1997).<br />
Segundo o World Bank’s Disaster Manag<strong>em</strong>ent Facility, os três componentes<br />
principais de uma gestão efectiva dos riscos de um desastre são constituídos<br />
pelos riscos <strong>da</strong> identificação, <strong>da</strong> redução, do financiamento e transferência.<br />
Quando ocorr<strong>em</strong> desastres nos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, estão<br />
envolvidos inúmeros factores económicos. O World Bank procura definir as<br />
estratégias para os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, partilhando e transferindo<br />
o conceito de risco de desastre de acordo com a própria interpretação<br />
que estes países faz<strong>em</strong> desse conceito (KREIMER et al. 2000).<br />
A análise ou a identificação do risco, que faz parte do plano de <strong>em</strong>ergência,<br />
constitui uma forma para identificar os riscos de uma locali<strong>da</strong>de específica ou<br />
de um edifício. O resultado de um desastre t<strong>em</strong> efectivamente duas faces. Um<br />
desastre pode afectar (LYALL 1997):<br />
• Somente a instituição;<br />
• To<strong>da</strong> a área onde a instituição se localiza.<br />
Os riscos também pod<strong>em</strong> ser identificados de acordo com as probabili<strong>da</strong>des<br />
<strong>da</strong> ocorrência dos desastres e as consequências dos mesmos (LYALL 1997). Depois<br />
dos riscos ser<strong>em</strong> completamente analisados, é altura de elaborar um plano e de<br />
eliminar o maior número de riscos possíveis ou pelo menos começar a reduzir<br />
o impacto. Este processo não pára os acontecimentos, elimina meramente ou<br />
reduz os riscos do desastre. Assim como o mundo sofre transformações,<br />
também os riscos se transformam, variando de acordo com as próprias<br />
transformações (LYALL 1997).<br />
6.2.1.1 Edifícios<br />
Uma vez mais, o edifício faz de primeira linha de defesa, protegendo os seus<br />
documentos. É por esta razão que as calami<strong>da</strong>des naturais como t<strong>em</strong>pestades,<br />
tr<strong>em</strong>ores de terra e cheias dev<strong>em</strong> ser toma<strong>da</strong>s <strong>em</strong> consideração na elaboração<br />
do projecto de um edifício (GUT 1993). Ao examinar um edifício feito de<br />
propósito para arquivo, o arquivista e o arquitecto dev<strong>em</strong> ambicionar um<br />
ambiente de preservação total. Um edifício de arquivo deve garantir um meio<br />
ambiente seguro e estável para guar<strong>da</strong>r os documentos. A escolha de um local<br />
139
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
para a construção de um arquivo é influenciado por todo o tipo de factores<br />
(para mais informação, ver o capítulo sobre Edificios). As condições climáticas locais de<br />
potenciais localizações dev<strong>em</strong> ser estu<strong>da</strong><strong>da</strong>s cui<strong>da</strong>dosamente, <strong>da</strong>ndo<br />
preferência às regiões altas, que têm um clima frio e seco, e estão protegi<strong>da</strong>s<br />
do sol e de t<strong>em</strong>pestades. O arquivo não deve ser construído perto de parques<br />
industriais perigosos, n<strong>em</strong> áreas que sejam frequent<strong>em</strong>ente palco de agitação<br />
social (THOMAS 1987). A localização geográfica, a situação política, a construção e<br />
as condições do edifício são os principais factores que determinam o risco para<br />
os documentos. Fazer orelhas moucas a estes conselhos é atrair probl<strong>em</strong>as.<br />
Numa conferência internacional sobre os perigos <strong>da</strong> natureza, <strong>em</strong> Fevereiro<br />
de 2001, <strong>em</strong> Awaji no Japão, a delega<strong>da</strong> americana Shirley Mattingley declarou<br />
que se devia falar de «edifícios assassinos» <strong>em</strong> vez de «tr<strong>em</strong>ores de terra<br />
assassinos». Defendeu que o edifício, i. é, a construção do edifício, é a causa<br />
principal dos estragos e não o próprio tr<strong>em</strong>or de terra. A sua opinião foi<br />
partilha<strong>da</strong> pelos delegados <strong>da</strong> Índia e <strong>da</strong> Turquia, ambos os países vítimas de<br />
fortes tr<strong>em</strong>ores de terra no ano anterior. A questão é saber se o desastre é<br />
natural ou causado pelo Hom<strong>em</strong>. A desflorestação <strong>da</strong>s encostas, as más normas<br />
de construção, <strong>em</strong>preiteiros corruptos e irresponsáveis, tudo isto causa mais<br />
<strong>da</strong>nos do que o necessário (LUGT 2001).<br />
Nos EUA, a FEMA publicou uma brochura sobre acidentes múltiplos e sobre<br />
arquitectura. O documento faculta informação genérica sobre uma varie<strong>da</strong>de<br />
de desastres naturais, fenómenos associados a incêndios e um conceito arquitectónico<br />
chamado MPD, Multi Protection Design (FEMA 1986).<br />
O maior potencial de <strong>da</strong>nos catastróficos que ocorr<strong>em</strong> <strong>em</strong> arquivos reside<br />
no fogo e na água. Pouco importa o que se faça para garantir a segurança dos<br />
materiais e para minimizar a agressão ambiental sobre eles, tudo será <strong>em</strong> vão<br />
se a negligência, os acidentes ou as causas naturais do desastre provocar<strong>em</strong><br />
estragos nas colecções (TRINKHAUS-RANDELL 1995). Geralmente, os <strong>da</strong>nos nos<br />
documentos causados por desastres, pod<strong>em</strong> dividir-se <strong>em</strong> quatro grupos:<br />
• Danos causados pela água;<br />
• Danos causados pelo fogo;<br />
• Danos mecânicos;<br />
• Reacções químicas.<br />
Para mais bibliografia sobre o t<strong>em</strong>a ver BUCHANAN 1988; DUCHEIN 1988;<br />
FRÖJD et al. 1997; LING 1998; TENDING 1993; THOMAS 1987.<br />
140
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
6.2.1.2 Prevenção de desastres causados por fogo<br />
O fogo é considerado como um dos piores perigos para os arquivos, museus e<br />
bibliotecas e ocorre mais frequent<strong>em</strong>ente do que aquilo que se pensa (TRINKHAUS-<br />
-RANDALL 1995). Tanto pode ter causas naturais como ser causado pelo Hom<strong>em</strong>.<br />
Em caso de guerra, terrorismo ou van<strong>da</strong>lismo, as pessoas deitam fogo<br />
delibera<strong>da</strong>mente às colecções, mas frequent<strong>em</strong>ente a causa é apenas descuido<br />
ou negligência. Também durante obras <strong>em</strong> edifícios existe um maior risco de<br />
incêndio. Como <strong>em</strong> todos os arquivos, tanto as pessoas como os documentos<br />
necessitam de protecção contra o fogo, <strong>em</strong>bora obviamente n<strong>em</strong> todos os<br />
materiais guar<strong>da</strong>dos <strong>em</strong> arquivos e bibliotecas sejam igualmente susceptíveis<br />
de arder e todos ter<strong>em</strong> características de combustão diferentes (SEPILOVA et al.<br />
1992). O fogo posto é a maior causa de incêndios <strong>em</strong> colecções de documentos<br />
nos Estados Unidos. É talvez por representar<strong>em</strong> o governo que os arquivos são<br />
alvo de violência delibera<strong>da</strong>. Em alguns casos, os funcionários <strong>da</strong> instituição<br />
conhec<strong>em</strong> o incendiário. Os incendiários pod<strong>em</strong> utilizar o material<br />
combustível que tenham à mão ou pod<strong>em</strong> trazê-lo e levá-lo até ao local<br />
escolhido (READ 1994).<br />
Em princípio, as salas concebi<strong>da</strong>s para servir<strong>em</strong> de depósitos destinam-se<br />
somente a guar<strong>da</strong>r arquivos. A existência de máquinas para fazer café, chá ou<br />
até a cola de orig<strong>em</strong> animal deve ser estritamente proibi<strong>da</strong> nas instalações.<br />
Também os aquecimentos eléctricos portáteis são causas comuns de incêndios.<br />
A sua alta potência eléctrica representa uma sobrecarga para as instalações<br />
velhas e muitas vezes ficam ligados depois <strong>da</strong> saí<strong>da</strong> dos funcionários. As máquinas<br />
para fazer chá ou café só pod<strong>em</strong> estar <strong>em</strong> salas de convívio ou <strong>em</strong> zonas<br />
distantes dos documentos. Os aparelhos eléctricos dev<strong>em</strong> ser inspeccionados<br />
frequent<strong>em</strong>ente, e ao fim do dia deve verificar-se se foram desligados.<br />
Obviamente que não é permitido fazer lume nas proximi<strong>da</strong>des do arquivo ou<br />
<strong>da</strong>s colecções <strong>da</strong> biblioteca (NGUYEN THI TAM 1997). Deve optar-se pela instalação de<br />
uma cozinha para os funcionários utilizar<strong>em</strong>, não muito perto <strong>da</strong>s salas de<br />
armazenag<strong>em</strong>. Fumar nas salas de armazenag<strong>em</strong> também deve ser expressamente<br />
proibido. Fumar nas salas onde estão guar<strong>da</strong>dos os documentos não<br />
t<strong>em</strong> relação com qualquer tipo de função ou de operação aí desenvolvi<strong>da</strong>, e<br />
literalmente traz fogo para o interior do edifício. Apesar de ser um hábito <strong>em</strong><br />
muitos países <strong>em</strong> vias de desenvolvimentos, fumar devia ser proibido <strong>em</strong> todos<br />
os arquivos e tribunais para proteger os documentos (READ 1994). Para as pessoas<br />
desfavoreci<strong>da</strong>s a grande metrópole exerce incessant<strong>em</strong>ente uma grande<br />
atracção. Por vezes, constro<strong>em</strong> as suas barracas contíguas aos edifícios de<br />
141
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
arquivo. Não estão a par <strong>da</strong> existência de normas de segurança relativamente a<br />
incêndios, convertendo-se assim a sua presença num potencial risco de<br />
incêndio. Para o b<strong>em</strong> de todos, os terrenos dev<strong>em</strong> manter-se desobstruídos e<br />
ve<strong>da</strong>dos.<br />
Os climas quentes pod<strong>em</strong> pôr <strong>em</strong> causa a segurança contra o fogo <strong>em</strong><br />
arquivos ou bibliotecas. Há já algum t<strong>em</strong>po que se sabe que os filmes de nitrato<br />
de celulose são altamente inflamáveis. Estes filmes decompõ<strong>em</strong>-se rapi<strong>da</strong>mente<br />
quando ating<strong>em</strong> uma t<strong>em</strong>peratura superior à t<strong>em</strong>peratura ambiente. O calor<br />
produzido pela decomposição pode fazer subir a t<strong>em</strong>peratura até ao ponto de<br />
ignição. Uma vez que a veloci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> reacção química é estimula<strong>da</strong> por<br />
t<strong>em</strong>peraturas eleva<strong>da</strong>s, os filmes de nitrato de celulose constitu<strong>em</strong> um risco de<br />
incêndio quando mantidos <strong>em</strong> condições climáticas tropicais, principalmente<br />
quando estão guar<strong>da</strong>dos numa área s<strong>em</strong> ar-condicionado (SEPILOVA et al. 1992).<br />
Em climas tropicais as populações de roedores e de insectos são muito<br />
diversas. Os roedores pod<strong>em</strong> destruir os cabos eléctricos. Ro<strong>em</strong> a cama<strong>da</strong><br />
isoladora dos fios eléctricos provocando, assim, incêndios. As térmitas pod<strong>em</strong><br />
minar a estrutura de um edifício. Durante um incêndio, partes do edifício<br />
pod<strong>em</strong> desabar por causa <strong>da</strong> estrutura afecta<strong>da</strong>, permitindo assim que o<br />
incêndio alastre a todo o edifício (SEPILOVA et al. 1992).<br />
Em termos gerais, para evitar o risco de incêndio, os funcionários dev<strong>em</strong> ser<br />
disciplinados. Dev<strong>em</strong> cumprir normas rigorosas de conduta, como não fumar<br />
nas zonas de armazenag<strong>em</strong> e manter as portas corta-fogo s<strong>em</strong>pre fecha<strong>da</strong>s.<br />
O conservador-restaurador não deve correr riscos no laboratório. As substâncias<br />
químicas perigosas, i. é, os solventes utilizados no laboratório, dev<strong>em</strong><br />
ser guar<strong>da</strong>dos <strong>em</strong> armários à prova de explosão. Também é aconselhável<br />
estabelecer um limite de substâncias químicas e inflamáveis a ter <strong>em</strong> reserva.<br />
Especialmente nos trópicos, tanto o edifício como o equipamento eléctrico<br />
dev<strong>em</strong> ser objecto de uma boa manutenção. Nos trópicos, mesmo os edifícios<br />
mais sólidos degra<strong>da</strong>r-se-ão se houver negligência quanto à manutenção.<br />
De forma indirecta, a negligência representa um risco de incêndio, pois pode<br />
ser razão para a ocorrência de um curto-circuito ou para um rebentamento <strong>da</strong><br />
canalização de gás (RHYS-LEWIS 2000).<br />
Pode li<strong>da</strong>r-se com este tipo de perigos no plano (DUCHEIN 1988):<br />
• Arquitectónico – materiais de construção, características do projecto, etc.;<br />
• Técnico – equipamento específico para combater incêndios, ar-condicionado,<br />
fumigação, etc.;<br />
• Normativo – regras de segurança, tarefas para supervisores, etc.;<br />
142
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
• Preventivo – detectores de fumo, energia eléctrica de <strong>em</strong>ergência para<br />
elevadores.<br />
No projecto de um edifício existe s<strong>em</strong>pre a possibili<strong>da</strong>de de incluir normas<br />
contra incêndios. A utilização de materiais de construção à prova de fogo pode<br />
retar<strong>da</strong>r a propagação de um incêndio, tal como a divisão <strong>da</strong>s áreas de armazenag<strong>em</strong><br />
<strong>em</strong> compartimentos de menores áreas, com divisórias <strong>em</strong> material à<br />
prova de fogo, b<strong>em</strong> como o isolamento <strong>da</strong>s casas-forte <strong>em</strong> relação às áreas de<br />
trabalho (DUCHEIN 1988; FRÖJD et al. 1997; LING 1998; TEULING 1994).<br />
O telhado deve ser construído com material à prova de fogo, como azulejos,<br />
placas de ardósia ou de metal. As janelas dev<strong>em</strong> ser protegi<strong>da</strong>s com vidro<br />
t<strong>em</strong>perado e persianas à prova de fogo. As portas à prova de fogo aju<strong>da</strong>m a<br />
deter o fogo, o fumo e a fulig<strong>em</strong>. Um edifício construído <strong>em</strong> tijolo, pedra ou<br />
cimento t<strong>em</strong> maior resistência ao fogo do que um edifício construído, total ou<br />
parcialmente, <strong>em</strong> madeira. Substâncias inibidoras de fogo são frequent<strong>em</strong>ente<br />
aplica<strong>da</strong>s sobre a madeira. Suspeita-se que algumas destas substâncias inibidoras<br />
utiliza<strong>da</strong>s actualmente <strong>em</strong> sist<strong>em</strong>as aquáticos sejam responsáveis por<br />
probl<strong>em</strong>as ambientais. Nos EUA e na Suíça a utilização de bifenil de polibromato<br />
é proibi<strong>da</strong> (GROSHART, C.P. 2000). A União Europeia colocou o bifenil de<br />
polibromato na lista prioritária de substâncias perigosas.<br />
Alguns HVAC (sist<strong>em</strong>as de aquecimento, ventilação e de ar-condicionado)<br />
são munidos de ventoinhas inverti<strong>da</strong>s que permit<strong>em</strong> expelir o fumo para o<br />
exterior. Quando o edifício se encontra próximo de um incêndio numa floresta<br />
s<strong>em</strong> que esteja efectivamente ameaçado, só se deve utilizar o ar que circula<br />
internamente ou então deve reduzir-se a entra<strong>da</strong> de ar do exterior. É aconselhável<br />
a utilização de filtros de grande eficácia (HEPA, High-Efficiency<br />
Particulate Air) (TRINKLEY 2001).<br />
Uma boa manutenção dentro e fora de um edifício pode ser um meio<br />
preventivo contra incêndios. Além disso, pessoal treinado e sist<strong>em</strong>as de segurança<br />
com uma boa manutenção são também factores importantes para a<br />
prevenção de incêndios nas áreas de armazenamento. Todos os documentos<br />
dev<strong>em</strong> estar acondicionados <strong>em</strong> caixas. Isto protege-os um pouco do fogo e <strong>da</strong><br />
fulig<strong>em</strong>. Mesmo os <strong>da</strong>nos causados por grandes quanti<strong>da</strong>des de água pod<strong>em</strong><br />
ser reduzidos com o acondicionamento <strong>em</strong> caixas (RHYS-LEWIS 2000).<br />
A detecção do incêndio na fase inicial é muito importante. Idealmente, deve<br />
ser instalado um sist<strong>em</strong>a automático de detecção de incêndio com um número<br />
suficiente de detectores ligados ao painel central de controlo. O Conselho<br />
Internacional de Arquivos recomen<strong>da</strong> a utilização de detectores de fumo <strong>em</strong> vez<br />
143
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
de detectores de calor, pois o fumo é produzido numa fase inicial do fogo (FRÖJD<br />
et,. 1997).<br />
Se guar<strong>da</strong>rmos documentos b<strong>em</strong> comprimidos <strong>em</strong> caixas coloca<strong>da</strong>s <strong>em</strong><br />
prateleiras abertas, estarão b<strong>em</strong> melhor do que os documentos que possam ficar<br />
soltos. Documentos b<strong>em</strong> apertados permit<strong>em</strong> a existência de pouco oxigénio e<br />
muitas vezes só as margens exteriores ficam carboniza<strong>da</strong>s. Documentos e pastas<br />
dentro de ficheiros ficam sujeitos a t<strong>em</strong>peraturas muito altas. Os corpos dos<br />
livros deformam-se e o material plástico derrete (TRINKLEY 2001).<br />
Na sequência de um incêndio surg<strong>em</strong> vários tipos de <strong>da</strong>nos. Os incêndios<br />
provocam cinzas, carbonizam, chamuscam, derret<strong>em</strong>, distorc<strong>em</strong>, causam fulig<strong>em</strong><br />
e fumo. Tanto o edifício como a colecção ficarão parcialmente <strong>da</strong>nificados<br />
pela água. Um incêndio pode libertar materiais tóxicos como substâncias<br />
químicas tóxicas, por ex<strong>em</strong>plo, PCB (bifenis policlorados) e amianto. Muito<br />
provavelmente os cabos eléctricos também sofrerão <strong>da</strong>nos. O chão ficará coberto<br />
por uma grande quanti<strong>da</strong>de de vigas de madeira carboniza<strong>da</strong>s, materiais e vidros<br />
quebrados e uma sopa de fulig<strong>em</strong> e água (TRINKLEY 2001).<br />
Exist<strong>em</strong> alguns materiais que não são passivos de recuperação, apesar de to<strong>da</strong>s<br />
as técnicas sofistica<strong>da</strong>s de conservação existentes. Alguns poderão encontrar-se<br />
bastante carbonizados; outros, ligeiramente ressequidos, cobertos com fulig<strong>em</strong>,<br />
com cheiro a fumo, e pod<strong>em</strong> tornar-se quebradiços. O fumo forma uma ligeira<br />
película e deixa cheiro nas colecções. Esta película é áci<strong>da</strong> e provoca descoloração,<br />
corrosão e deterioração total. A limpeza de objectos <strong>em</strong> suporte papel pode ser<br />
difícil devido à sua fragili<strong>da</strong>de. Neste caso, deve recorrer-se a um apoio e a uma<br />
tela para evitar <strong>da</strong>nos nos documentos (TRINKLEY 2001).<br />
A acrescentar aos materiais <strong>em</strong> papel carbonizados, as t<strong>em</strong>peraturas eleva<strong>da</strong>s<br />
vão afectar as estruturas <strong>em</strong> celulose, tornando-as quebradiças, mesmo que não<br />
estejam queima<strong>da</strong>s. A fulig<strong>em</strong> vai penetrar na superfície do papel e pode arrastar<br />
resíduos de materiais plásticos queimados impossíveis de ser<strong>em</strong> r<strong>em</strong>ovidos.<br />
Qualquer material carbonizado fica num estado de maior fragili<strong>da</strong>de quando está<br />
molhado. O papel arde a baixas t<strong>em</strong>peraturas e é na sua superfície porosa que as<br />
partículas de fulig<strong>em</strong> penetram. Na presença de altas t<strong>em</strong>peraturas e alto teor de<br />
humi<strong>da</strong>de o desenvolvimento do bolor dá-se rapi<strong>da</strong>mente, causando <strong>da</strong>nos<br />
irreversíveis. Elaborar antecipa<strong>da</strong>mente um plano de <strong>em</strong>ergência, reduzirá este<br />
tipo de <strong>da</strong>nos e limitará os custos <strong>da</strong> recuperação dos objectos, tal como<br />
test<strong>em</strong>unha a página <strong>da</strong> Internet do Bishop Museum.<br />
Os esforços realizados para combater um incêndio pod<strong>em</strong> causar <strong>da</strong>nos<br />
consideráveis nos documentos, devido à pressão e à quanti<strong>da</strong>de de água utiliza<strong>da</strong><br />
para extinguir as chamas e, pelo menos, parte <strong>da</strong> colecção ficará estraga<strong>da</strong>.<br />
144
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
Os resíduos de certos extintores químicos também pod<strong>em</strong> afectar os materiais<br />
(FRÖJD et al. 1997; READ 1994; TRINKLEY 2001). Os livros ard<strong>em</strong> relativamente devagar.<br />
O papel fica carbonizado e desfaz-se quando manuseado. O fumo e a fulig<strong>em</strong><br />
provocam descoloração nos livros que não sofreram outros <strong>da</strong>nos. As microformas<br />
e os materiais audiovisuais pod<strong>em</strong> ficar completamente destruídos,<br />
s<strong>em</strong> recuperação possível (BRANDT-GRAU 2000). Para incêndios florestais, ver secção<br />
sobre Desastres naturais – Incêndios florestais.<br />
Trinkley, que muito publicou sobre resposta ao desastre, escreveu uma<br />
introdução prática relativamente aos componentes mais relevantes sobre segurança<br />
contra incêndios. Inclui explicações detalha<strong>da</strong>s sobre todos os mecanismos<br />
de detecção de incêndio (alarmes e detectores de fumo), b<strong>em</strong> como mecanismos<br />
de supressão (extintores automáticos e extintores portáteis) utilizados especificamente<br />
<strong>em</strong> depósitos, com a análise <strong>da</strong>s suas características e vantagens.Trinkley<br />
realça a importância <strong>da</strong>s inspecções dos sist<strong>em</strong>as de segurança de incêndio e<br />
enuncia os el<strong>em</strong>entos necessários para um plano de medi<strong>da</strong>s de segurança contra<br />
incêndios (TRINKLEY 1993a). Para os efeitos devastadores causados por um incêndio<br />
numa biblioteca, ver ANÓNIMO 1988; FRÖJD et al. 1997 e SUNG et al. 1990. Para<br />
outras leituras, ver GSA 1997; KRAEMER KOELIER 1960; MAXWELL et al. 1999; MORRIS<br />
1979; NATIONAL ARCHIVES OF INDIA 1993; NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION<br />
1980; THOMAS 1987.<br />
6.2.1.2.1 Métodos de combate aos incêndios<br />
Exist<strong>em</strong> inúmeros métodos para combater incêndios, consistindo um deles na<br />
utilização de um extintor. Normalmente, os extintores estão comercializados<br />
<strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento, <strong>em</strong>bora a sua manutenção constitua<br />
um sério probl<strong>em</strong>a. Depois de alguns anos a sua eficácia é provavelmente nula.<br />
Para melhorar a segurança contra incêndios, é indispensável ter um programa<br />
regular de formação e de actualização; um cobertor não é suficiente para<br />
apagar um incêndio (RHYS-LEWIS 1999 e 2000). Se não existe uma boca-de-incêndio<br />
perto do edifício, a criação de uma alternativa à água, como um pequeno lago<br />
ou um poço, incluindo uma bomba, podiam constituir uma solução<br />
económica (TRINKLEY 2001). A areia também pode ser uma opção.<br />
Ao longo dos anos, as técnicas e os métodos de combate aos incêndios têm-<br />
-se desenvolvido continua<strong>da</strong>mente. Esta é a razão principal pela qual a segurança<br />
contra incêndios existente nos edifícios é frequent<strong>em</strong>ente ultrapassa<strong>da</strong>.<br />
Impregnar as estruturas de madeira com substâncias incomburentes pode<br />
solucionar parte do probl<strong>em</strong>a (SEPILOVA et al. 1992). As substâncias que retar<strong>da</strong>m a<br />
combustão não dev<strong>em</strong> ser utiliza<strong>da</strong>s indiscrimina<strong>da</strong>mente, porque pod<strong>em</strong><br />
145
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
causar probl<strong>em</strong>as ambientais. Dev<strong>em</strong> tomar-se algumas precauções aquando <strong>da</strong><br />
sua aplicação, sobretudo porque algumas substâncias são proibi<strong>da</strong>s <strong>em</strong> vários<br />
países (GROSHART 2000).<br />
É comum dividir os extintores de fogo <strong>em</strong> três grupos:<br />
• Sist<strong>em</strong>as automáticos de extinção de incêndios;<br />
• Extintores manuais portáteis;<br />
• Bobinas de mangueiras de água.<br />
O sist<strong>em</strong>a de extinção automática de incêndios pode funcionar à base de<br />
água, como o sist<strong>em</strong>a por vaporização ou o sist<strong>em</strong>a por aspersão, ou à base de<br />
gás, como o sist<strong>em</strong>a de dióxido de carbono e como o sist<strong>em</strong>a de gás halon,<br />
recent<strong>em</strong>ente proibido. Os sist<strong>em</strong>as de vaporização utilizam um volume de<br />
água bastante mais reduzido do que, por ex<strong>em</strong>plo, os sist<strong>em</strong>as por aspersão.<br />
Provavelmente são o futuro para a supressão de incêndio destinados às<br />
instituições culturais. O sist<strong>em</strong>a de vaporização foi testado num protótipo de<br />
estantes s<strong>em</strong>elhante à galeria aboba<strong>da</strong><strong>da</strong> onde estão guar<strong>da</strong>dos os livros raros<br />
na Biblioteca do Congresso. Segundo Nick Artim, o teste revelou-se promissor,<br />
verificando-se uma franca capaci<strong>da</strong>de de extinção do fogo com o máximo de<br />
10% <strong>da</strong> descarga de água que se utilizaria num combate a um incêndio com o<br />
sist<strong>em</strong>a de aspersão normal (ATRIM 1995; DORGE 1999). Os sist<strong>em</strong>as de aspersão têm<br />
sido t<strong>em</strong>a de debate entre conservadores durante anos. Alguns t<strong>em</strong><strong>em</strong> uma<br />
descarga acidental, outros afirmam que nos últimos trinta anos não houve<br />
qualquer tipo de incidentes. Danos nos objectos depois <strong>da</strong> intervenção <strong>da</strong><br />
briga<strong>da</strong> dos bombeiros com as mangueiras tradicionais pod<strong>em</strong> ser bastante<br />
piores, pois os aspersores libertam somente setenta litros de água por minuto<br />
comparados com os vários milhares de litros disparados pelas mangueiras. Em<br />
geral, os <strong>da</strong>nos sobre os documentos provocados pela água são mais fáceis de<br />
reparar do que os provocados pelo fogo (LING 1998; FRÖJD et al. 1997). Nos casos<br />
<strong>em</strong> que as salas de armazenag<strong>em</strong> não pod<strong>em</strong> ser compartimenta<strong>da</strong>s, o que<br />
seria uma medi<strong>da</strong> de precaução, é aconselhável a instalação de um sist<strong>em</strong>a de<br />
aspersão. Se não for<strong>em</strong> utilizados aspersores, a resistência <strong>da</strong>s paredes e <strong>da</strong>s<br />
portas ao fogo deve ser de quatro horas; caso contrário, deverá ser de duas<br />
horas (LING 1998).<br />
Dos sist<strong>em</strong>as à base de gás, o halon foi amplamente utilizado até há muito<br />
pouco t<strong>em</strong>po. Hoje <strong>em</strong> dia, o gás é proibido <strong>em</strong> inúmeros países devido ao<br />
efeito nefasto que t<strong>em</strong> no ambiente. O dióxido de carbono ain<strong>da</strong> é utilizado<br />
<strong>em</strong> alguns arquivos mas sob normas muito rígi<strong>da</strong>s. Constitui um substituto<br />
146
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
muito eficaz para o oxigénio, s<strong>em</strong> o qual não pode existir fogo, mas quando<br />
as pessoas são apanha<strong>da</strong>s na área onde o gás foi libertado, pod<strong>em</strong> morrer<br />
devido à falta de oxigénio. Também é difícil aplicar o gás eficazmente <strong>em</strong><br />
grandes áreas (FRÖJD et al. 1997).<br />
De todos os extintores manuais e portáteis n<strong>em</strong> todos são adequados aos<br />
arquivos. O CIA aconselha a existência de um extintor à base de dióxido de<br />
carbono e um extintor com água <strong>em</strong> ca<strong>da</strong> ponto de <strong>em</strong>ergência. O extintor à<br />
base de dióxido de carbono deve ser utilizado preferencialmente no caso do<br />
incêndio ser causado por uma avaria eléctrica. Experiências nos Arquivos<br />
Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong> revelaram que o dióxido de carbono é ineficaz <strong>em</strong><br />
incêndios que ocorr<strong>em</strong> com suportes de papel. O CIA aconselha a existência de<br />
um extintor à base de água, com a capaci<strong>da</strong>de de vinte litros, <strong>em</strong> ca<strong>da</strong> duzentos<br />
metros de piso, com dois extintores <strong>em</strong> ca<strong>da</strong> piso, no mínimo. Não se recomen<strong>da</strong>m<br />
extintores à base de espuma e de pó, porque os resíduos pod<strong>em</strong><br />
afectar os materiais de arquivo (FRÖJD et al. 1997).<br />
As tradicionais mangueiras enrola<strong>da</strong>s <strong>em</strong> carretos são utiliza<strong>da</strong>s para<br />
combater incêndios d<strong>em</strong>asia<strong>da</strong>mente violentos para ser<strong>em</strong> combatidos com<br />
extintores manuais. Os carretos dev<strong>em</strong> ser colocados fora <strong>da</strong>s salas de<br />
armazenag<strong>em</strong> para reduzir os <strong>da</strong>nos <strong>em</strong> caso <strong>da</strong> canalização <strong>da</strong> água rebentar.<br />
De acordo com o ICA, to<strong>da</strong>s as zonas do edifício não dev<strong>em</strong> distar mais de seis<br />
metros de uma mangueira totalmente estica<strong>da</strong> (FRÖJD et al. 1997).<br />
6.2.1.3 Prevenção de desastres causados por água<br />
Talvez a segun<strong>da</strong> maior ameaça para os arquivos sejam os <strong>da</strong>nos causados pela<br />
água. Dev<strong>em</strong> ser toma<strong>da</strong>s diversas medi<strong>da</strong>s de precaução. Em locais onde o solo<br />
é húmido, as caves e os an<strong>da</strong>res subterrâneos pod<strong>em</strong> sofrer devido à humi<strong>da</strong>de<br />
que repassa vin<strong>da</strong> de baixo. Um canal impermeável ou uma cama<strong>da</strong> à prova de<br />
humi<strong>da</strong>de nas fun<strong>da</strong>ções <strong>da</strong>s paredes são algumas <strong>da</strong>s soluções técnicas para<br />
este probl<strong>em</strong>a, uma técnica conheci<strong>da</strong> por tanking (LING 1998). Os depósitos não<br />
dev<strong>em</strong> situar-se por baixo de cozinhas e de reservatórios de água, e canos de<br />
esgoto ou canos de água não dev<strong>em</strong> passar pelos depósitos (DUCHEIN 1993).<br />
O edifício deve actuar como protecção natural <strong>da</strong>s colecções contra a água<br />
exterior. Contudo, também pode ser a causa de uma calami<strong>da</strong>de; os telhados,<br />
as paredes, as portas, as janelas, as caves, as goteiras e os sist<strong>em</strong>as de drenag<strong>em</strong>,<br />
todos pod<strong>em</strong> constituir a causa imediata <strong>da</strong> entra<strong>da</strong> de água (LING 1998).<br />
A cobertura do telhado deve ser, com certeza, à prova de água e fixa de forma<br />
147
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
b<strong>em</strong> aperta<strong>da</strong>, os telhados inclinados são preferíveis aos telhados horizontais,<br />
e dev<strong>em</strong> evitar-se aberturas nos telhados. As portas e as janelas dev<strong>em</strong> ser à<br />
prova de água e pod<strong>em</strong> ser protegi<strong>da</strong>s <strong>da</strong>s chuvas fortes por persianas, alpendres<br />
e varan<strong>da</strong>s.As goteiras e os algerozes constitu<strong>em</strong> um risco quando não têm uma<br />
manutenção correcta e não são limpos regularmente (DUCHEIN 1993). As árvores,<br />
especialmente as de grande porte que cresc<strong>em</strong> perto do edifício, pod<strong>em</strong><br />
provocar dificul<strong>da</strong>des, como alguns eucaliptos que deixam cair folhas, casca e<br />
galhos, que por sua vez bloqueiam as goteiras e as canalizações. Além disso, as<br />
suas raízes pod<strong>em</strong> <strong>da</strong>nificar os sist<strong>em</strong>as de drenag<strong>em</strong>. Canos de drenag<strong>em</strong><br />
interiores pod<strong>em</strong> causar o risco de fugas (LING 1998).<br />
As infiltrações são muitas vezes devi<strong>da</strong>s a canalizações de má quali<strong>da</strong>de ou à<br />
fraca manutenção destas. Eis a razão pela qual a instalação <strong>da</strong>s canalizações deve<br />
ser regularmente inspecciona<strong>da</strong> e sujeita a manutenção. Estrategicamente<br />
coloca<strong>da</strong>s, as válvulas de controlo dos circuitos pod<strong>em</strong> pará-las rapi<strong>da</strong>mente<br />
(FRÖJD et al. 1997). Os canos de água geralmente cruzam os edifícios e pod<strong>em</strong> até<br />
estar localizados directamente sobre áreas onde os documentos se encontram<br />
guar<strong>da</strong>dos. A água que pinga de um cano escorrerá para o nível inferior do<br />
edifício, tornando assim to<strong>da</strong>s as áreas que se encontram abaixo <strong>da</strong> fuga vulneráveis<br />
a estragos. É indispensável saber-se onde exist<strong>em</strong> canos que passam<br />
exactamente sobre áreas de estantes (READ 1994). Ver também o capítulo sobre<br />
Edifícios – Construção tradicional e Construção.<br />
Uma parte essencial na protecção contra os estragos provocados pela água é<br />
constituí<strong>da</strong> por medi<strong>da</strong>s ou normas disciplinares de conduta. Algumas estão<br />
relaciona<strong>da</strong>s com a manutenção do edifício, como a inspecção dos telhados,<br />
caves e algerozes, canalização <strong>da</strong> água, cisternas, b<strong>em</strong> como as suas limpezas<br />
frequentes. Outras medi<strong>da</strong>s estão associa<strong>da</strong>s à actuação do pessoal tal como<br />
fechar cui<strong>da</strong>dosamente as torneiras <strong>em</strong> to<strong>da</strong>s as salas e fechar as janelas durante<br />
os períodos <strong>em</strong> que as salas estão desocupa<strong>da</strong>s (DUCHEIN 1993).<br />
Quando <strong>em</strong> contacto com a água, <strong>em</strong> geral, os livros e o papel ficam tortos.<br />
O corpo dos livros separa-se parcial ou totalmente <strong>da</strong> encadernação devido às<br />
diferentes capaci<strong>da</strong>des de dilatação. As tintas solúveis começam a esborratar e<br />
os fungos começam a desenvolver-se dentro de quarenta e oito horas, e <strong>em</strong><br />
climas mais quentes, até mais depressa. As <strong>em</strong>ulsões <strong>da</strong>s películas ficam<br />
<strong>em</strong>pola<strong>da</strong>s e faz<strong>em</strong> bolhas (BUCHANAN 1988; WATERS 1993).<br />
O papel absorve água a diferentes veloci<strong>da</strong>des, dependendo <strong>da</strong> i<strong>da</strong>de, <strong>da</strong><br />
condição e <strong>da</strong> composição do material. De um modo geral, os livros e os<br />
manuscritos com <strong>da</strong>tas anteriores a 1840 absorv<strong>em</strong> água, <strong>em</strong> média, até 80%<br />
do seu peso original. Os livros modernos, excluindo os livros <strong>em</strong> papel muito<br />
148
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
quebradiço, absorv<strong>em</strong> <strong>em</strong> média até 60% do seu peso original. As peles e o<br />
pergaminho arqueiam, enrugam ou encolh<strong>em</strong>. Os <strong>da</strong>nos causados nas capas de<br />
livros pod<strong>em</strong> ser irreparáveis. A água pode provocar a gelatinização do<br />
pergaminho (BRANDT-GRAU 2000).<br />
A instalação de sist<strong>em</strong>as de alarme de detecção de água nos depósitos<br />
garante uma boa protecção contra <strong>da</strong>nos causados pela água. Alguns alarmes<br />
estão ligados a uma central de segurança monitoriza<strong>da</strong>, outros contêm um<br />
dispositivo que faz soar o alarme localmente. Um probl<strong>em</strong>a de ord<strong>em</strong> prática<br />
com os sist<strong>em</strong>as autónomos de alarme coloca-se se as instalações estiver<strong>em</strong><br />
fecha<strong>da</strong>s porque não há ninguém para reagir. Sally Buchanan indica a melhor<br />
localização para os alarmes de detecção de água (BUCHANAN 1988).<br />
Está provado que as caixas proporcionam um excepcional nível de protecção<br />
contra a água (FRÖJD et al. 1997). Para suster os primeiros <strong>da</strong>nos, as prateleiras<br />
dev<strong>em</strong> ser coloca<strong>da</strong>s, pelo menos, a 10 cm do chão (DUCHEIN 1993; FORTSON 1992;<br />
READ 1994). Pelas mesmas razões, as colecções guar<strong>da</strong><strong>da</strong>s t<strong>em</strong>porariamente nunca<br />
dev<strong>em</strong> ser coloca<strong>da</strong>s directamente no chão, dev<strong>em</strong> ser coloca<strong>da</strong>s pelo menos<br />
<strong>em</strong> cima de um estrado (de plástico, se for possível) (FORTSON 1992).<br />
Dev<strong>em</strong> ter-se s<strong>em</strong>pre à mão rolos de plástico para cobrir as estantes e os<br />
ficheiros, para o caso de acontecer uma ruptura. Não se deve usar, contudo, o<br />
plástico como cobertura permanente de documentos: vai impedir uma boa<br />
circulação de ar, criando um potencial ambiente para o desenvolvimento de<br />
bolores (READ 1994).<br />
Para <strong>da</strong>nos causados pela água, vale a pena consultar o estudo <strong>da</strong> RAMP<br />
realizado por Sally Buchanan, b<strong>em</strong> como o recente manual de carácter prático<br />
de Judith Fortson (BUCHANAN 1988; FORTSON 1992). Para a recuperação de materiais<br />
<strong>da</strong>nificados pela água, ver WALSH 1988 e WLATERS 1993; ver também MOORE<br />
1997 e THOMAS 1987. Para um desastre recente causado pela água, ver ELLIS<br />
2000. Para <strong>da</strong>nos causados pela água devido a desastres naturais, ver secção<br />
sobre Desastres naturais – Ciclones tropicais e Inun<strong>da</strong>ções.<br />
6.2.2 Capaci<strong>da</strong>de de resposta<br />
Nesta fase, os arquivos encontram-se aptos a enfrentar o desastre. Envolve<br />
acções como o desenvolvimento de um plano escrito, a sua actualização e teste,<br />
a organização e actualização de todo o tipo de documentação relevante, a constituição<br />
e o formação de uma equipa constituí<strong>da</strong> por técnicos <strong>da</strong> instituição<br />
com capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre, distribuição do plano e <strong>da</strong> docu-<br />
149
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
mentação e formas para notificar as autori<strong>da</strong>des adequa<strong>da</strong>s (BRANDT-GRAU 2000)<br />
(ver também GODOUNOU 1999).<br />
Escusado será dizer que a formação é essencial, porque o pessoal t<strong>em</strong> que<br />
saber o que fazer ou onde encontrar material e informação. Um pequeno<br />
aprovisionamento de material e de equipamento para <strong>em</strong>ergências deve estar<br />
pronto a ser utilizado. Em caso de <strong>em</strong>ergência, a recuperação começará s<strong>em</strong><br />
delongas (FRÖJD et al. 1997; DORGE 1999; BUCHANAN 1988; LYALL 1997).<br />
Um plano de <strong>em</strong>ergência é feito à medi<strong>da</strong>. Ca<strong>da</strong> instituição deve desenvolver<br />
o seu próprio plano. A localização geográfica, a dimensão e natureza <strong>da</strong>s colecções,<br />
o edifício, tudo isso t<strong>em</strong> influência no plano e é específico para ca<strong>da</strong> instituição.<br />
Pod<strong>em</strong>os colher informação ao lermos os planos de <strong>em</strong>ergência de<br />
outros arquivos ou bibliotecas. É aconselhável identificar os procedimentos<br />
existentes sobre prevenção e capaci<strong>da</strong>de de resposta. Um plano de <strong>em</strong>ergência<br />
é complexo; deve aplicar-se a um edifício, às pessoas e às colecções que utilizam<br />
esse edifício, b<strong>em</strong> como ao equipamento. Por isso é constituído por<br />
diversos pequenos planos independentes, mas interligados. O melhor é ser<br />
preparado por uma equipa forma<strong>da</strong> por el<strong>em</strong>entos do pessoal. Uma parte<br />
significativa de um plano de <strong>em</strong>ergência é a atribuição de tarefas e de responsabili<strong>da</strong>des.<br />
O plano deve ser prático e as instruções dev<strong>em</strong> ser breves e claras.<br />
Deve estar arrumado num local óbvio (BUCHANAN 1988; FRÖJD et al. 1997; DORGE 1999;<br />
LYALL 1997).<br />
Uma parte significativa do plano de <strong>em</strong>ergência é constituí<strong>da</strong> por uma lista<br />
com endereços, nomes e números de telefone. Dev<strong>em</strong> existir nomes de pessoas<br />
que integram a equipa de resposta ao desastre, de m<strong>em</strong>bros do pessoal, de<br />
fornecedores e de firmas de salvamento. Estas listas, b<strong>em</strong> como as instruções,<br />
dev<strong>em</strong> ser constant<strong>em</strong>ente actualiza<strong>da</strong>s. Estabelecer priori<strong>da</strong>des também faz<br />
parte do plano de <strong>em</strong>ergência. Usualmente há falta de t<strong>em</strong>po e de recursos.<br />
N<strong>em</strong> tudo pode ou necessita de ser salvo. Algumas obras pod<strong>em</strong> ser facilmente<br />
substituí<strong>da</strong>s, outras são raras ou valiosas. Como <strong>em</strong> caso de <strong>em</strong>ergência é difícil<br />
raciocinar com clareza, é conveniente decidir antecipa<strong>da</strong>mente quais são as<br />
obras prioritárias (FORTSON 1992).<br />
6.2.3 Resposta<br />
A resposta constitui a fase do plano de <strong>em</strong>ergência quando o desastre realmente<br />
ocorre. Engloba as instruções para a acção imediata depois do desastre se<br />
verificar (BUCHANAN 1988). Inclui, entre outras coisas, a avaliação <strong>da</strong> situação a<br />
150
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
enfrentar, a mobilização <strong>da</strong> equipa de resposta ao desastre, o alerta aos serviços<br />
de <strong>em</strong>ergência e a organização <strong>da</strong> recuperação (FRÖJD et al. 1997). Também diz<br />
respeito à estabilização <strong>da</strong>s condições ambiente do edifício como prevenção<br />
contra o desenvolvimento de bolores, à avaliação preliminar <strong>da</strong> extensão do<br />
desastre, ao fotografar dos materiais <strong>da</strong>nificados para servir<strong>em</strong> de base a<br />
reclamações aos seguros, ao estabelecimento de uma área para registo e<br />
<strong>em</strong>balag<strong>em</strong> de material que vai para congelamento e o transporte até às<br />
instalações frigoríficas de obras <strong>da</strong>nifica<strong>da</strong>s pela água (BRANDT-GRAU 2000).<br />
A FEMA desenvolveu respostas à <strong>em</strong>ergência muito concisas e muito úteis,<br />
b<strong>em</strong> como mecanismos de salvamento que já foram traduzidos para várias<br />
línguas (FEMA 1997).<br />
6.2.4 Recuperação<br />
A fase durante a qual tudo começa a voltar ao normal chama-se recuperação.<br />
Nesta altura, a equipa t<strong>em</strong> que pôr <strong>em</strong> prática o plano para recuperar tanto o<br />
local atingido pelo desastre como os materiais <strong>da</strong>nificados, estabelecer as<br />
priori<strong>da</strong>des para o trabalho de restauro, desenvolver um programa faseado de<br />
conservação, contactar companhias de seguros, colocar o material tratado <strong>em</strong><br />
local equipado e, finalmente, analisar o desastre e aperfeiçoar o plano à luz <strong>da</strong><br />
experiência (BRANDT-GRAU 2000). Esta parte do plano é a mais extensa. Vai incluir<br />
técnicas de salvamento para todos os tipos de suporte, b<strong>em</strong> como a indicação<br />
do que se deve e não se deve fazer ao manusear as obras.<br />
Muito t<strong>em</strong> sido dito sobre a recuperação e a conclusão final a que se chegou<br />
é que, <strong>em</strong> caso de desastre, é necessário agir imediatamente. O atraso aumenta<br />
o risco <strong>da</strong> per<strong>da</strong> de uma parte <strong>da</strong> colecção (PAYNE 2000). Isto é especialmente<br />
ver<strong>da</strong>deiro quanto aos <strong>da</strong>nos causados pela água. Quanto mais depressa se agir<br />
correctamente, melhores resultados se alcançarão (BUCHANAN 1988). Claro que os<br />
materiais dev<strong>em</strong> ser manuseados com cui<strong>da</strong>do, pois, de outro modo, sofrerão<br />
<strong>da</strong>nos <strong>em</strong> vez de ser<strong>em</strong> resgatados.<br />
Deve prestar-se muita atenção ao perigo de acidentes que possam ocorrer na<br />
área onde decorr<strong>em</strong> os trabalhos. A cinza, a fulig<strong>em</strong>, os fungos, a suji<strong>da</strong>de e o<br />
bolor pod<strong>em</strong> prejudicar a saúde. Os edifícios <strong>da</strong>nificados por incêndios ou por<br />
tr<strong>em</strong>ores de terra não são locais saudáveis para se trabalhar. Dev<strong>em</strong> ser toma<strong>da</strong>s<br />
medi<strong>da</strong>s de precaução para segurança do pessoal providenciando, pelo menos,<br />
roupas e máscaras protectoras. É importante que ninguém trabalhe sozinho<br />
num edifício <strong>da</strong>nificado e recomen<strong>da</strong>-se a aplicação do sist<strong>em</strong>a de trabalho <strong>em</strong><br />
151
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
equipa, para minorar a insegurança. Deve manter-se contacto com os<br />
funcionários através de walkie-talkies e assinalar a localização do pessoal na planta<br />
disponível na mesa de controlo (REINSCH 1993).<br />
Em regra, não se presta muita atenção às necessi<strong>da</strong>des e aos probl<strong>em</strong>as do<br />
pessoal na altura <strong>da</strong> recuperação. O Getty Conservation Institute chama à<br />
atenção dos conservadores para este facto e define seis níveis de reacções que<br />
o pessoal pode sentir depois do desastre. O estado de tensão e de depressão<br />
pod<strong>em</strong> instalar-se, mas a euforia também é uma reacção possível, a determina<strong>da</strong><br />
altura. É importante estabelecer intervalos regulares, arranjar comi<strong>da</strong>,<br />
escolher um local para comer e para descansar e dispor de instalações sanitárias<br />
acessíveis. Quando o pessoal trabalha muitas horas segui<strong>da</strong>s, o seu cansaço vai<br />
afectar negativamente o seu trabalho (DORGE et al. 1999). As <strong>em</strong>oções e as tensões<br />
vivi<strong>da</strong>s durante o período de recuperação na sequência de um desastre têm de<br />
ser geri<strong>da</strong>s. Nesta altura, os probl<strong>em</strong>as físicos e psicológicos não dev<strong>em</strong> ser<br />
subestimados (REINSCH 1993; ver também PAYNE 2000).<br />
É óbvio que sobretudo os desastres causados pelo Hom<strong>em</strong>, como a guerra e<br />
o terrorismo, terão consequências de grande alcance na saúde mental <strong>da</strong>s<br />
vítimas. Arquivar as atroci<strong>da</strong>des <strong>da</strong> guerra não constitui uma tarefa fácil, como<br />
John Dean constatou durante a recuperação dos Arquivos Tuol Sleng, depois <strong>da</strong><br />
guerra no Cambodja. Reinava constant<strong>em</strong>ente uma atmosfera mórbi<strong>da</strong> e<br />
opressiva na sala devido ao carácter dos arquivos (DEAN 1999).<br />
Mesmo o roubo ou furto nos arquivos, bibliotecas ou museus têm frequent<strong>em</strong>ente<br />
consequências inespera<strong>da</strong>s.A inocência, a confiança, o companheirismo<br />
e a confiança <strong>em</strong> geral são minados, e os traumas psicológicos pod<strong>em</strong> levar<br />
muito t<strong>em</strong>po a ser<strong>em</strong> sanados, dependendo do t<strong>em</strong>po que o crime leva a ser<br />
resolvido. Isto é ain<strong>da</strong> mais ver<strong>da</strong>deiro quando o ladrão é um funcionário do<br />
museu (SOZANSKI 1999).<br />
As lições retira<strong>da</strong>s de uma operação de recuperação, na sequência de uma<br />
ocupação militar, d<strong>em</strong>onstram que a identificação e a documentação <strong>da</strong><br />
colecção são muito importantes para a recuperação. Na eventuali<strong>da</strong>de de<br />
saques, os objectos devi<strong>da</strong>mente <strong>em</strong>pacotados ou acondicionados <strong>em</strong> caixas<br />
estão mais seguros quando são retirados para outro local (NORMAN 2000).<br />
Sobre equipamentos e medi<strong>da</strong>s de protecção pessoal durante a recuperação<br />
de um incêndio, ver TRINKLEY 2001; e durante a recuperação de um desastre<br />
causado por água, ver FORTSON 1992. Para questões de saúde <strong>em</strong> geral e segurança,<br />
ver NEWMAN 1989. Para mais literatura ver BARTON 1989; CUNHA 1992;<br />
SMITH 1992b; IFRC 1993; SHAPKINA et al. 1992.<br />
152
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
6.2.4.1. Recuperação de desastres causados por água<br />
O Bishop Museum no Havai aconselha que antes de mais na<strong>da</strong> ca<strong>da</strong> obra deve<br />
ser retira<strong>da</strong> de imediato do local molhado para um local limpo e seco, onde a<br />
t<strong>em</strong>peratura e a humi<strong>da</strong>de regist<strong>em</strong> os valores mais baixos possíveis para evitar<br />
uma eclosão de bolores. Isto pode conseguir-se através <strong>da</strong> colocação de<br />
ventoinhas, coloca<strong>da</strong>s indirectamente de modo a não espalhar<strong>em</strong> papéis ou<br />
páginas soltas durante o processo de secag<strong>em</strong>. Como a humi<strong>da</strong>de relativa está<br />
frequent<strong>em</strong>ente a mais de 60%, os desumidificadores vão aju<strong>da</strong>r bastante a<br />
criar um ambiente mais seco. São necessárias superfícies eleva<strong>da</strong>s e planas<br />
sobre as quais se possam colocar espécies molha<strong>da</strong>s ou encharca<strong>da</strong>s. Pod<strong>em</strong> ser<br />
usa<strong>da</strong>s toalhas de papel para absorver rapi<strong>da</strong>mente a humi<strong>da</strong>de, as quais pod<strong>em</strong><br />
ser substituí<strong>da</strong>s continuamente. Dev<strong>em</strong> retirar-se s<strong>em</strong>pre os materiais<br />
absorventes molhados <strong>da</strong> zona de secag<strong>em</strong>, de modo a não aumentar<strong>em</strong><br />
humi<strong>da</strong>de à existente no local. Se os materiais tiver<strong>em</strong> que secar no exterior<br />
por não haver um local limpo e seco disponível, é de l<strong>em</strong>brar que a exposição<br />
prolonga<strong>da</strong> à luz solar directa pode esbater a tinta ou os pigmentos, e acelerar<br />
o envelhecimento do papel (página <strong>da</strong> Internet do Bishop Museum).<br />
Nos países ocidentais, os livros <strong>da</strong>nificados por água são frequent<strong>em</strong>ente<br />
congelados para evitar o desenvolvimento dos bolores e para estabilizar o<br />
material molhado. O método de secag<strong>em</strong> utilizado para material congelado à<br />
base de papel chama-se secag<strong>em</strong> por congelação. Este método apresentou bons<br />
resultados mas é muito dispendioso. Se o equipamento para a congelação e<br />
para a secag<strong>em</strong> por congelação não se encontrar disponível ou se este sist<strong>em</strong>a<br />
for d<strong>em</strong>asia<strong>da</strong>mente dispendioso, a secag<strong>em</strong> ao ar constitui a única solução<br />
razoável (BUCHANAN 1988).<br />
A secag<strong>em</strong> ao ar é o método mais antigo e mais comum para li<strong>da</strong>r com livros<br />
e documentos molhados. Não requer um equipamento especial, mas exige<br />
muita mão-de-obra e pode ter de ocupar uma área bastante extensa. Por causa<br />
de encadernações e corpos de livros deformados após a secag<strong>em</strong>, a maioria <strong>da</strong>s<br />
obras encaderna<strong>da</strong>s necessita de ser reencaderna<strong>da</strong>. As folhas avulso necessitam<br />
frequent<strong>em</strong>ente de ser planifica<strong>da</strong>s e acondiciona<strong>da</strong>s de novo (BUCHANAN 1999).<br />
Geralmente, é preferível secar os livros muito lentamente e à sombra.<br />
Na maioria <strong>da</strong> literatura geral sobre prevenção de <strong>em</strong>ergência existe um<br />
capítulo sobre recuperação. Para mais bibliografia consultar BUCHANAN 1999;<br />
KHAN 1994; LUNDQUIST 1986; MCCLEARY 1987; NAA 2000; REES et al. 2000;<br />
WALSH 1988 e 1997; WATERS 1993.<br />
153
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
6.2.4.2. Recuperação de desastres causados por fogo<br />
Uma <strong>da</strong>s etapas mais difíceis na recuperação depois de um incêndio é a r<strong>em</strong>oção<br />
<strong>da</strong> fulig<strong>em</strong>. A r<strong>em</strong>oção torna-se especialmente difícil quando a cama<strong>da</strong> é<br />
mais compacta devido a um excessivo manuseamento ou quando um objecto<br />
foi sujeito a eleva<strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de. Testes realizados no Royal Saskatchewan<br />
Museum revelam que alguns objectos apresentaram mais dificul<strong>da</strong>de na<br />
limpeza seis s<strong>em</strong>anas após o incêndio do que objectos limpos uma s<strong>em</strong>ana<br />
após o incêndio (SPAFFORD-RICCI et al. 2000). Uma vez mais, é melhor agir o mais<br />
depressa possível depois <strong>da</strong> ocorrência de um desastre.<br />
As obras <strong>em</strong> papel pod<strong>em</strong> ser b<strong>em</strong> limpas com um aspirador que tenha um<br />
filtro HEPA 1 ou com uma esponja seca. Os livros dev<strong>em</strong> ser mantidos b<strong>em</strong> fechados<br />
de modo a evitar que a fulig<strong>em</strong> se deposite entre as folhas (TRINKLEY 2001).<br />
Têm sido investigados diversos novos métodos de limpeza de objectos<br />
<strong>da</strong>nificados pelo fogo. O tratamento por oxigénio atómico foi testado <strong>em</strong><br />
pinturas <strong>da</strong>nifica<strong>da</strong>s. Parece que este método t<strong>em</strong> potencial. Este processo não<br />
substituirá técnicas convencionais, mas pode ser uma ferramenta adicional de<br />
conservação onde as técnicas convencionais não for<strong>em</strong> eficazes (RUTLEDGE et al.<br />
2000). As chama<strong>da</strong>s esponjas químicas também foram testa<strong>da</strong>s (MOFFATT 1992).<br />
Exist<strong>em</strong> dois processos comerciais para retirar dos artefactos <strong>da</strong>nificados<br />
pelo fogo o cheiro que inevitavelmente fica impregnado. Contudo, tanto a<br />
desodorização termal, como o tratamento por ozono não são tratamentos adequados<br />
para colecções à base de papel. O primeiro método aplica t<strong>em</strong>peraturas<br />
eleva<strong>da</strong>s, causando o envelhecimento precoce, b<strong>em</strong> como o estado quebradiço<br />
nos documentos. O segundo vai deteriorar a pele, alterar a cor, tornar o papel<br />
quebradiço e desbotar a tinta. Os objectos pequenos pod<strong>em</strong> ser selados dentro<br />
de bolsas de plástico com substâncias absorventes como bicarbonato de sódio,<br />
areia para gatos e carvão activado. Com o t<strong>em</strong>po, grande parte do cheiro será<br />
absorvido. Geralmente, quanto mais depressa a fulig<strong>em</strong> é retira<strong>da</strong> dos artefactos,<br />
mais depressa desaparece o cheiro (TRINKLEY 2001).<br />
Na Internet pode-se encontrar muita informação sobre a recuperação de<br />
desastres. Procure na página CoOL, onde se pod<strong>em</strong> encontrar diversas bilbiografias,<br />
como a publica<strong>da</strong> pela SOLINET chama<strong>da</strong> Capaci<strong>da</strong>de de Resposta ao Desastre e<br />
Recuperação: Bibliografia Selecciona<strong>da</strong>. A página <strong>da</strong> Internet do NEDCC (Northeast<br />
Document Conservation Center) abun<strong>da</strong> <strong>em</strong> muita informação prática,<br />
incluindo diversos folhetos técnicos sobre recuperação. Para recuperação após<br />
1<br />
N. T. - High Efficiency Particulate Air – Grande eficácia para pequenas partículas.<br />
154
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
a ocorrência de um terramoto, ver KREIMER 1989. Além <strong>da</strong> bibliografia menciona<strong>da</strong><br />
anteriormente, ver, para literatura geral sobre recuperação de desastres,<br />
DOIG 1997; NAA 2000; NARA [s. d.]; RUTLEDGE et al. 2000; SCHREIDER 1998.<br />
6.3 Desastres naturais<br />
6.3.1 Introdução<br />
Em muitos locais do mundo, segundo o ISDR, os desastres causados por<br />
manifestações naturais como terramotos, inun<strong>da</strong>ções, deslizamentos, secas,<br />
incêndios naturais, ciclones tropicais e t<strong>em</strong>pestades inerentes, tsunami e<br />
erupções vulcânicas contribuiram <strong>da</strong> forma pesa<strong>da</strong> <strong>em</strong> termos de per<strong>da</strong> de<br />
vi<strong>da</strong>s humanas e de destruição de infra-estruturas económicas e sociais, para já<br />
não mencionar o seu impacto negativo <strong>em</strong> ecossist<strong>em</strong>as frágeis. A lista de<br />
desastres contra os quais é difícil proteger-nos continua, a não ser que se<br />
adopt<strong>em</strong> medi<strong>da</strong>s preventivas.Todos os anos, há tesouros destruídos pelo fogo<br />
e por condições climáticas adversas (SHUKOR 1995). Com efeito, o período entre<br />
1960 e 2000, principalmente nos anos 90, test<strong>em</strong>unha um aumento<br />
exponencial na ocorrência, na severi<strong>da</strong>de e na intensi<strong>da</strong>de de desastres que<br />
aconteceram. Por ex<strong>em</strong>plo, na reunião <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s sobre a redução de<br />
desastres provocados pela água, foram apresentados <strong>da</strong>dos que refer<strong>em</strong> que a<br />
gravi<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s inun<strong>da</strong>ções aumentou (UNESCAP 1990). Os factos e os números <strong>da</strong><br />
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)<br />
confirmam esta escala massiva e crescente de desastres. Anualmente, entre 250<br />
a 300 milhões de pessoas são afecta<strong>da</strong>s, maioritariamente na Ásia. Em 1991 e<br />
1998, por ex<strong>em</strong>plo, o número de chineses vítimas de inun<strong>da</strong>ções era superior<br />
a metade do número global de vítimas registado (IFRC 2001). Esta tendência<br />
constitui uma grande ameaça para o planeta e, por isso, é necessário que seja<br />
trata<strong>da</strong> pela comuni<strong>da</strong>de internacional com carácter urgente.<br />
O Banco Mundial crê que sobretudo os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento<br />
se tornaram mais vulneráveis aos desastres naturais devido a factores como o<br />
aumento <strong>da</strong> população e a urbanização (ANDERSON 2001). De facto, a Tabela 1<br />
mostra que os efeitos dos terramotos são de longe mais devastadores <strong>em</strong> países<br />
pobres do que <strong>em</strong> países ricos. Subsequent<strong>em</strong>ente, há também alterações<br />
culturais que provocam um aumento na magnitude dos desastres naturais.<br />
Antigamente, as pessoas tinham um profundo conhecimento sobre as<br />
condições naturais <strong>da</strong> zona onde viviam. Adoptavam um modo de vi<strong>da</strong> que<br />
155
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
podia enfrentar os riscos naturais. Com o passar dos anos perdeu-se grande<br />
parte desta sabedoria. As pessoas deslocam-se para alcançar um futuro mais<br />
próspero.Alguns dirig<strong>em</strong>-se para as ci<strong>da</strong>des onde este tipo de sabedoria deixou<br />
de ser necessária. Outros vão viver para zonas desconheci<strong>da</strong>s que são<br />
vulneráveis a acidentes inesperados, para os quais não têm qualquer<br />
preparação. Um outro probl<strong>em</strong>a é constituído pelas constantes transformações<br />
externas. Por ex<strong>em</strong>plo, as pessoas que viv<strong>em</strong> nas margens do rio Chao Phrarya,<br />
na Tailândia, não consegu<strong>em</strong> fazer frente às alterações no sist<strong>em</strong>a de drenag<strong>em</strong><br />
que circun<strong>da</strong> Banguecoque e às alterações climáticas globais, devido a tradições<br />
e costumes divergentes (UNESCAP 1990). Na Índia, as pessoas têm o mesmo<br />
comportamento (PRAKASH 1994). É essencial prestar atenção ao saber tradicional<br />
para construção na escolha de um local para a edificação de um novo arquivo<br />
(ver também capítulo sobre Edifícios – Construção tradicional). Hoje <strong>em</strong> dia, exist<strong>em</strong><br />
mapas sobre riscos de desastres naturais (UNESCAP 1990). Se dispusermos de<br />
mapas para essa área, pod<strong>em</strong> facultar valiosa informação adicional.<br />
Consequent<strong>em</strong>ente, t<strong>em</strong>os que ter <strong>em</strong> mente que o factor humano, i. é, os<br />
ambientes social, político e económico, constitu<strong>em</strong> tanto causas de desastres<br />
como o ambiente natural (BLAIKIE et al. 1994).<br />
Manágua Califórnia<br />
Magnitude (Escala de Richter) 5.6 6.4<br />
Área intensamente destruí<strong>da</strong> 100 km 2 1500 km 2<br />
População 420 000 7 000 000<br />
Mortos 5000 – 6000 58 – 60<br />
Feridos 20 000 2540<br />
Tabela 1: Efeitos de terramotos <strong>em</strong> Manágua e na Califórnia <strong>em</strong> 1972.<br />
(KUMEKPOR et al. 1989)<br />
Enquanto os desastres naturais continuar<strong>em</strong> a acontecer, a acção do Hom<strong>em</strong><br />
pode reduzir ou aumentar a vulnerabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des a estes perigos.<br />
Uma forma de preparação contra desastres naturais é o sist<strong>em</strong>a de prognóstico<br />
e de alerta antecipado. Em experiências regionais de desastres há algumas<br />
déca<strong>da</strong>s, os governos decidiram que era necessário existir um mecanismo<br />
regional permanente, para coordenar a gestão de acções relaciona<strong>da</strong>s com<br />
desastres. Cooperam frequent<strong>em</strong>ente com as universi<strong>da</strong>des locais ou com<br />
156
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
outras instituições científicas. Assim, os centros estão aptos para <strong>da</strong>r uma resposta<br />
imediata e coordena<strong>da</strong> a qualquer desastre. Mais ain<strong>da</strong>, os centros des<strong>em</strong>penham<br />
um papel essencial na educação <strong>da</strong> população local e na formação de<br />
pessoal de diferentes organizações. Os media como a Internet, televisão ou rádio<br />
des<strong>em</strong>penham um papel preponderante nos sist<strong>em</strong>as de previsão e de alerta.<br />
Especialmente a televisão e a rádio são vitais para facultar<strong>em</strong> também<br />
informações locais (BURTON [s. d.]). Muitos dos sist<strong>em</strong>as de monitorização e de<br />
alerta antecipado baseiam-se <strong>em</strong> sensores r<strong>em</strong>otos, especialmente <strong>em</strong> observação<br />
por satélite. É somente através de cooperação bilateral ou multilateral que<br />
pod<strong>em</strong>os dispor destes sist<strong>em</strong>as dispendiosos de alta tecnologia (ver também a<br />
secção a seguir sobre Cooperação internacional). Alguns dos centros mais importantes<br />
de previsão e de alerta são:<br />
• National Earthquake Information Centre (NEIC);<br />
• National Hurricane Centre – Tropical Prediction Centre (NHC/TPC);<br />
• Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA);<br />
• Asian Disaster Reduction Centre (ADRC);<br />
• Committee on Earth Observation Satellites (CEOS);<br />
• Disaster Manag<strong>em</strong>ent Support Group (DMSG);<br />
• Hazards Research Lab (HRL).<br />
Em suma, os desastres naturais não pod<strong>em</strong> ser evitados, mas pod<strong>em</strong><br />
tomar-se medi<strong>da</strong>s para eliminar ou reduzir a possibili<strong>da</strong>de de consequências<br />
negativas (BRANDT-GRAU 2000). Na Internet pod<strong>em</strong> encontrar-se muitas páginas<br />
úteis e práticas sobre desastres naturais, a sua previsão, resposta e recuperação.<br />
Pelo menos, dev<strong>em</strong>-se consultar as páginas <strong>da</strong> Internet do Natural Hazards<br />
Center, do CDERA e do CARDIN (Caribbean Disaster Information Network).T<strong>em</strong>se<br />
escrito muito sobre todo o tipo de desastres naturais. Para uma selecção de<br />
literatura geral recente, ver ABBOTT 2002; ALEXANDER 2000; ANÓNIMO 2001a;<br />
BELL 1999; BRADFORD et al. 2001; BURTON et al. 1993; CHAPMAN 1999; DAVIS<br />
2001; EBERT 1997; ERICKSON 2001; GODSCHALK 1998; HARRIS 1990; IDNDR 1997;<br />
INGLETON 1999; JUNCHAYA 1999; KOVACH 1995; KREIMER et al. 1991; LEWIS 1999;<br />
MARTIN 1998; MCCALL e tal. 1992; MCCANN et al. 1995; MISHRA et al. 1993;<br />
MITCHELL 1999; SINHA 1992; SMITH 2000; VARLEY 1994. Especialmente para a<br />
América Latina, ver TALERO e HUSAIN et al. 1996 e ZAVALA et al. 1985. Para<br />
construção segura <strong>em</strong> áreas com tendência para a ocorrência de desastres, ver<br />
a bibliografia de CLAYTON et al. 1994 e COBURN 1995. Para a protecção contra<br />
desastres naturais de edifícios (históricos) ver NELSON 1991. Para sist<strong>em</strong>as de<br />
157
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
alerta antecipado ver BURTON [s. d.]; CARRARA et al. 1995; IDNDR 1998; OLIVER<br />
1989. Para os restantes t<strong>em</strong>as exist<strong>em</strong> inúmeros periódicos como os Journal of<br />
Natural Disaster Science, Natural Disaster Studies, Natural Disaster Survey Report, Natural Disaster<br />
Reduction e Natural Disaster Science. A seguir serão abor<strong>da</strong>dos os seguintes desastres<br />
naturais: ciclones tropicais, incêndios florestais, terramotos, vulcões,<br />
inun<strong>da</strong>ções e deslizamentos de terra.<br />
6.3.2 Ciclones tropicais<br />
Os ciclones tropicais são uma combinação de ventos destruidores, com<br />
trovoa<strong>da</strong>s bruscas e com níveis excepcionais de chuvas. A utilização do termo<br />
«tropical» t<strong>em</strong> uma razão de ser, já que para um ciclone se tornar um desastre<br />
natural t<strong>em</strong> que estar localizado numa zona, pelo menos, a 4° ou 5° de latitude<br />
do equador. Ciclone tropical é o termo genérico utilizado pela World<br />
Meteorological Organisation para definir sist<strong>em</strong>as climáticos que se<br />
desenvolv<strong>em</strong> sobre águas tropicais e subtropicais, onde os ventos exced<strong>em</strong> 34<br />
nós ou 63 km/h. Um ciclone médio pode provocar mais de 250 mm de chuva<br />
<strong>em</strong> menos de um dia e ter ventos à veloci<strong>da</strong>de de 200 km/h. Os ciclones<br />
tropicais também têm uma circulação precisa e organiza<strong>da</strong> numa determina<strong>da</strong><br />
área. No Atlântico e no Pacífico Oriental t<strong>em</strong> o nome de furacão, no Pacífico<br />
Ocidental de tufão, no Oceano Índico somente ciclone e na Austrália t<strong>em</strong> o<br />
nome de Willy-Willy (ANÓNIMO 2001b). Estranhamente, os ciclones também<br />
pod<strong>em</strong> produzir efeitos positivos. Num artigo escrito há algum t<strong>em</strong>po, Sugg<br />
discute os efeitos do fim <strong>da</strong> seca provocados por alguns ciclones tropicais nos<br />
EUA e lista os ciclones que foram mais benéficos quanto a este propósito (SUGG<br />
1968). Em consequência dos ciclones, os edifícios e o recheio ficam <strong>em</strong> perigo,<br />
afectados por fortíssimas raja<strong>da</strong>s de vento e trovoa<strong>da</strong>s bruscas, que causam<br />
derroca<strong>da</strong>s de terras e inun<strong>da</strong>ções. Os sist<strong>em</strong>as de energia eléctrica, água e gás,<br />
b<strong>em</strong> como sist<strong>em</strong>as de drenag<strong>em</strong>, estão sujeitos a grandes estragos. Árvores<br />
caí<strong>da</strong>s e detritos pelos ares pod<strong>em</strong> causar <strong>da</strong>nos. As comunicações pod<strong>em</strong> ficar<br />
afecta<strong>da</strong>s já que as linhas telefónicas e as antenas de rádio e de televisão pod<strong>em</strong><br />
cair.As estra<strong>da</strong>s ficarão bloquea<strong>da</strong>s por detritos e árvores caí<strong>da</strong>s (ANÓNIMO 2001b).<br />
Os estragos inflingidos aos objectos na sequência de um ciclone têm como<br />
causa principal a água, o bolor e probl<strong>em</strong>as mecânicos. N<strong>em</strong> todos os m<strong>em</strong>bros<br />
do pessoal regressam depois de um ciclone, uns são evacuados e outros<br />
têm importantes probl<strong>em</strong>as particulares para resolver (DOIG 1997). Há também a<br />
reacção psicológica depois de um desastre. Corbett escreve: «Contudo, era<br />
158
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
amplamente evidente a apatia causa<strong>da</strong> pelos ain<strong>da</strong> maiores estragos provocados<br />
pela chuva durante as s<strong>em</strong>anas depois do ciclone originando, desnecessariamente,<br />
probl<strong>em</strong>as com bolores» (CORBETT 1974). Um local na zona costeira,<br />
pouco acima do nível do mar, é uma má escolha para a construção de um<br />
depósito. No caso de um país numa pequena ilha plana sujeita a tufões, o local<br />
mais apropriado para a construção de um arquivo poderá ser para sotavento<br />
(THOMAS 1987). Edifícios históricos com uma boa manutenção têm maiores<br />
probabili<strong>da</strong>des de sobreviver a um desastre (NELSON 1991). Os sist<strong>em</strong>as de<br />
drenag<strong>em</strong> e os algerozes são muito importantes. Telhados com inclinação e<br />
uma boa drenag<strong>em</strong> asseguram um rápido escoamento <strong>da</strong> água <strong>da</strong> chuva.<br />
Persianas contra ciclones para to<strong>da</strong>s as áreas com vidros vão evitar que os vidros<br />
se partam devido a fragmentos voadores. Persianas contra ciclones ass<strong>em</strong>elham-se<br />
a portas de enrolar de garag<strong>em</strong>. As aberturas exteriores <strong>da</strong>s salas com<br />
equipamentos mecânicos e eléctricos dev<strong>em</strong> ser tapa<strong>da</strong>s com protectores<br />
anticiclone. Os protectores ve<strong>da</strong>m to<strong>da</strong>s as aberturas e diminu<strong>em</strong> a pressão<br />
sobre o edifício.Têm o aspecto de colunas feitas de persianas com ripas.Todos<br />
os anos, antes <strong>da</strong> estação dos ciclones, as persianas e as protecções dev<strong>em</strong> ser<br />
inspecciona<strong>da</strong>s de modo a garantir<strong>em</strong> um bom funcionamento quando for<br />
necessário. Depois de um alerta de ciclone é importante que se inspeccion<strong>em</strong><br />
os arredores e que se r<strong>em</strong>ovam todos os objectos que possam vir a tornar-se<br />
ver<strong>da</strong>deiros mísseis aéreos. As porta<strong>da</strong>s e as protecções dev<strong>em</strong> estar fecha<strong>da</strong>s.<br />
Os sist<strong>em</strong>as de ar-condicionado dev<strong>em</strong> estar desligados para que <strong>em</strong> caso de<br />
incêndio, este não se propague (LING 1998). As estantes dev<strong>em</strong> ser b<strong>em</strong> fixas ao<br />
chão e ao tecto. As caixas pod<strong>em</strong> reduzir bastante os <strong>da</strong>nos. Os ficheiros nunca<br />
dev<strong>em</strong> ser deixados no chão, n<strong>em</strong> mesmo por pouco dias (BUCHANAN 1988; CORBETT<br />
1974; FORTSON 1992). O International Committee of the Blue Shield (ICBS)<br />
organizou uma conferência <strong>em</strong> 2001, destina<strong>da</strong> às instituições culturais nas<br />
Caraíbas e na América Central. A conferência teve como propósito falar sobre<br />
medi<strong>da</strong>s preventivas e sobre a recuperação após ciclones tropicais (ver a página<br />
<strong>da</strong> Internet do ICBS). As páginas <strong>da</strong> Internet do Purdue University Weather<br />
Processor e do National Hurricane Centre facultam gráficos <strong>da</strong>s trajectórias <strong>da</strong>s<br />
t<strong>em</strong>pestades, e tabelas comenta<strong>da</strong>s sobre t<strong>em</strong>pestades, e inúmeras ligações a<br />
imagens por satélite e por ra<strong>da</strong>r. Exist<strong>em</strong> muitas publicações sobre ciclones<br />
tropicais, mas abor<strong>da</strong>m aspectos diferentes. Doehring e Williams analisaram<br />
181 ciclones tropicais que assolaram a Flori<strong>da</strong> desde 1971; Shaw relata a<br />
história de ciclones tropicais na região central do Pacífico Norte e nas ilhas do<br />
Havai entre 1832 e 1979; Pieke dá uma visão geral deste fenómeno<br />
meteorológico, incluindo um mapa sobre a trajectória dos ciclones tropicais no<br />
159
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Oceano Atlântico e no Golfo do México de 1871 a 1989; Smithson discute as<br />
mu<strong>da</strong>nças provoca<strong>da</strong>s pelo impacto do ciclone; Morris avalia um determinado<br />
modelo global para sist<strong>em</strong>as de alerta com grande antecedência; Nelson debate<br />
a questão relativa à preparação, resposta e recuperação adequa<strong>da</strong> para proteger<br />
edifícios históricos do próximo desastre (DOEHRING et al. 1997; MORRIS 1990; NELSON<br />
1991; PIELKE 1990; SHAW 1981; SMITHSON 1993). Sobre a força destrutiva de um furacão,<br />
ver CORBETT 1974 e LOOSE et al. 1992. Sobre o comportamento dos edifícios na<br />
situação de um terramoto, ver MAYO 1988; INTERTECT 1981 e JAMES COOK<br />
UNIVERSITY OF NORTH QUEENSLAND 1978. Para mais informação sobre ciclones<br />
tropicais, ver AARSON 1989; ANÓNIMO 1989b; MATHIESON 1983; TRINKLEY 1993b.<br />
6.3.3 Incêndios florestais<br />
O fogo é um fenómeno complexo e, se for combatido s<strong>em</strong> o conhecimento<br />
adequado, pode ameaçar um edifício de arquivo, as suas colecções e os<br />
arredores. O fogo é complexo porque é variável no espaço e no t<strong>em</strong>po. Esta<br />
variabili<strong>da</strong>de pode ser constata<strong>da</strong> <strong>em</strong> incêndios sucessivos <strong>em</strong> determina<strong>da</strong><br />
zona – o regime do incêndio – onde o tipo, frequência, época <strong>em</strong> que deflagra<br />
e intensi<strong>da</strong>de do incêndio difere acentua<strong>da</strong>mente. Há muito para se aprender<br />
sobre os efeitos de incêndios reincidentes (página <strong>da</strong> Earth and Atmospheric Science,<br />
Purdue University ESA). A interacção entre as pessoas e a natureza não é desprovi<strong>da</strong><br />
de perigo, seja nos EUA onde mais de quatro ou cinco incêndios florestais são<br />
ateados por pessoas, de acordo com o FEMA, ou no Canadá onde as pessoas são<br />
responsáveis por dois <strong>em</strong> ca<strong>da</strong> três incêndios florestais (TODD et al. [s. d.]).<br />
Os incêndios florestais pod<strong>em</strong> ter diversas origens, sendo os relâmpagos uma<br />
delas. Sob condições extr<strong>em</strong>amente secas, os incêndios florestais são um perigo<br />
potencial. O maior perigo associado à t<strong>em</strong>pestade de areia seca na Nigéria,<br />
a harmattan, é a deflagração de um incêndio. A natureza seca e quebradiça típica<br />
deste tipo de clima torna tudo um potencial alvo de incêndio e a estação<br />
raramente termina s<strong>em</strong> a ocorrência de incêndios. Casas de habitação,<br />
mercados, escritórios, escolas, bibliotecas e mesmo veículos motorizados são<br />
destruídos, tendo como consequências enormes per<strong>da</strong>s de proprie<strong>da</strong>de e de<br />
documentos valiosos (EZENNIA 1989). Outra causa para os incêndios florestais<br />
reside na tradição agrícola <strong>da</strong>s clareiras e <strong>da</strong>s queima<strong>da</strong>s. Numa agricultura,<br />
recorrendo a clareiras ou queima<strong>da</strong>s, limpa-se o terreno com o derrube de<br />
árvores e com fogueiras de mato; as cinzas voltam ao solo como nutrientes.<br />
Os campos só são utilizados durante alguns anos e depois permanec<strong>em</strong> <strong>em</strong><br />
160
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
pousio durante outros tantos. Esta é a prática verifica<strong>da</strong> <strong>em</strong> determinados<br />
sectores <strong>da</strong> Nigéria. Para além <strong>da</strong>s clareiras e <strong>da</strong>s queima<strong>da</strong>s <strong>em</strong> terrenos<br />
agrícolas, as tribos caçadoras queimam o mato para facilitar a prática <strong>da</strong> caça.<br />
Em ambos os casos, as práticas s<strong>em</strong> controlo têm sido caras (EZENNIA 1989).<br />
Muito mudou <strong>em</strong> matéria de combate a incêndios. Hoje <strong>em</strong> dia, uma detecção<br />
precoce é uma componente importante no sist<strong>em</strong>a total de gestão de<br />
incêndios. Por ex<strong>em</strong>plo, durante os últimos trinta anos, o patrulhamento aéreo<br />
substituiu as torres de vigilância como método mais importante de detecção<br />
de incêndios florestais, e os sist<strong>em</strong>as detecção a eleva<strong>da</strong> altitude com<br />
infravermelhos oferec<strong>em</strong> uma boa solução <strong>em</strong> caso de fraca visibili<strong>da</strong>de (KOURTZ<br />
1987). A análise espacial é outro método de planeamento de capaci<strong>da</strong>de de<br />
resposta ao incêndio florestal (LEE et al. 1989). É claro que os edifícios e o<br />
equipamento dev<strong>em</strong> constituir as medi<strong>da</strong>s fun<strong>da</strong>mentais para a protecção <strong>da</strong>s<br />
colecções contra incêndios (ver também secção sobre Plano para prevenção e controlo de<br />
desastres – Prevenção – Prevenção de desastres causados por fogo). O primeiro passo é<br />
definir uma zona de segurança <strong>em</strong> volta do edifício. No caso de um pinhal<br />
é necessária uma área de segurança de pelo menos 33 m, mas, como regra,<br />
o mínimo são 16,5 m. To<strong>da</strong>s as árvores mortas, plantas e arbustos nessa zona<br />
dev<strong>em</strong> ser r<strong>em</strong>ovidos. As árvores à volta do edifício de arquivo dev<strong>em</strong> estar<br />
distancia<strong>da</strong>s deste cerca de 10 m e dev<strong>em</strong> ser po<strong>da</strong><strong>da</strong>s para ter<strong>em</strong> uma altura<br />
de 3 a 5 m. Pod<strong>em</strong> ser utiliza<strong>da</strong>s pedras e cascalho <strong>em</strong> volta do edifício como<br />
barreira contra incêndios. Algumas árvores e plantas resist<strong>em</strong> melhor ao fogo<br />
do que outras. O chorão, o aloé, a groselha, a roseira-de-sebe, o ácer e o álamo<br />
são mais resistentes do que o pinheiro, o abeto ou as coníferas (ver também o<br />
capítulo sobre Edifícios). Material inflamável, como a lenha, deve ser guar<strong>da</strong>do a<br />
uma distância superior a 33 m do edifício. Um incêndio num conjunto<br />
agrícola é frequent<strong>em</strong>ente difícil de ser controlado. Quando a instituição está<br />
localiza<strong>da</strong> num bosque, longe de quartéis de bombeiros ou de fornecimento<br />
de água, deve estar prepara<strong>da</strong> para se confrontar com a ameaça de incêndios<br />
florestais. Se não exist<strong>em</strong> meios para apagar o fogo na proximi<strong>da</strong>de do edifício,<br />
é recomendável providenciar uma fonte de abastecimento de água alternativa<br />
(com bomba), como um reservatório ou um poço. Também é necessário<br />
garantir que os veículos de <strong>em</strong>ergência têm acesso até ao edifício (TRINKLEY 2001).<br />
Assim como para outros desastres naturais, exist<strong>em</strong> muitas páginas na Internet<br />
sobre incêndios florestais. O National Interagency Fire Center (NIFC) e o<br />
National Fire Plan são ambas organizações com base nos EUA e as suas páginas<br />
fornec<strong>em</strong> muita informação sobre incêndios <strong>em</strong> terra virg<strong>em</strong>, <strong>em</strong> geral. Hirsch<br />
e os seus colegas compilaram uma lista bibliográfica de aproxima<strong>da</strong>mente duas<br />
161
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
mil e duzentas entra<strong>da</strong>s para zonas de interface nas zonas urbaniza<strong>da</strong>s e não-<br />
-urbaniza<strong>da</strong>s. Fornec<strong>em</strong> informação sobre diversos tópicos relacionados com a<br />
gestão de incêndios na interface <strong>da</strong>s zonas urbaniza<strong>da</strong>s e não-urbaniza<strong>da</strong>s, que<br />
vai desde materiais de construção e técnicas para reduzir o risco até à gestão do<br />
desastre, questões políticas e sociológicas (HIRSCH et al. [s. d.]). Para mais bibliografia<br />
sobre incêndios florestais, ver DUDLEY 1997; EBERLEE 1998; GOLD COAST COUNCIL<br />
1998; JOHNSON et al. 2001; MANSANET TEROL 1987; MCCANN et al. 1995; MCKAIGE<br />
et al. 1997; TRINKLEY 1993a e 2001; WHITTALL 1992; ZWECK 1983.<br />
6.3.4 Terramotos<br />
Um terramoto é um movimento súbito e rápido <strong>da</strong> terra, causado pela quebra<br />
e deslize <strong>da</strong> rocha sob a superfície terrestre. Pode ocorrer <strong>em</strong> qualquer altura<br />
do ano e <strong>em</strong> qualquer altura do dia ou <strong>da</strong> noite. Pequenos tr<strong>em</strong>ores de terra,<br />
as réplicas, pod<strong>em</strong> seguir-se ao terramoto principal. As réplicas pod<strong>em</strong> ocorrer<br />
nas primeiras horas, dias, s<strong>em</strong>anas ou até meses depois do terramoto. Em todo<br />
o mundo ocorr<strong>em</strong> anualmente entre 70 a 75 terramotos. A força de um<br />
terramoto pode ser medi<strong>da</strong> pela magnitude ou intensi<strong>da</strong>de. A escala de Richter<br />
mede a magnitude e a escala modifica<strong>da</strong> de Mercalli, mede a intensi<strong>da</strong>de. Onde<br />
já ocorreram terramotos no passado, ocorrerão terramotos de novo (página <strong>da</strong><br />
Internet do CDERA). É possível prever terramotos, mas os residentes só têm<br />
algumas horas de marg<strong>em</strong> de manobra. Uma preparação antecipa<strong>da</strong> para a<br />
eventuali<strong>da</strong>de de um terramoto é b<strong>em</strong> melhor do que <strong>da</strong>r início a preparações<br />
depois do alerta (FOX 1999). Os cientistas que estu<strong>da</strong>m a Terra começaram a<br />
registar os terramotos cerca de 1880, mas só a partir de 1940 é que foram<br />
instalados instrumentos nos edifícios para medir<strong>em</strong> as respectivas respostas aos<br />
terramotos. O número de instrumentos instalados nas estruturas aumentou nos<br />
anos cinquenta e nos anos sessenta (CELEBI et al. 1995a). Hoje <strong>em</strong> dia, muitas<br />
instituições e organizações faz<strong>em</strong> previsão de terramotos. Uma delas é o<br />
Earthquake Information Center (NEIC), sediado nos EUA.Trabalha na base <strong>da</strong>s 24<br />
horas por dia, para determinar a localização e a magnitude de terramotos<br />
significativos nos Estados Unidos e no resto do mundo, tão rapi<strong>da</strong>mente e com<br />
tanta precisão quanto possível. Todos os dias, os sist<strong>em</strong>as se tornam mais<br />
sofisticados e são reajustados quando é necessário. Um desses sist<strong>em</strong>as é o<br />
Global Seismic Hazard Assesment Programme (GSHAP) lançado <strong>em</strong> 1992 pelo<br />
International Lithosphere Programme (ILP), com o apoio do International<br />
Council of Scientific Unions (ICSU). O projecto GSHAP, terminado <strong>em</strong> 1999,<br />
162
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
ain<strong>da</strong> pode ser acedido na página <strong>da</strong> Internet do NEIC e faculta mapas e<br />
informação técnica sobre terramotos a nível mundial (ver MCGRUIRE et al. 1995).<br />
Os perigos relacionados com terramotos inclu<strong>em</strong>: edifícios e pontes <strong>em</strong> perigo<br />
de ruína, estilhaços de vidro, ruptura de serviços de utili<strong>da</strong>de pública,<br />
incêndios, deslocação de terras, grandes inun<strong>da</strong>ções, avalanchas nas montanhas<br />
e, nas zonas costeiras baixas, tsunami, i. é, enormes e destruidoras on<strong>da</strong>s<br />
oceânicas (página do CDERA).A destruição ou a derroca<strong>da</strong> de edifícios, b<strong>em</strong> como<br />
de outras estruturas, causam a maior parte <strong>da</strong>s mortes ou ferimentos <strong>em</strong> caso<br />
de terramoto. Estas per<strong>da</strong>s pod<strong>em</strong> ser reduzi<strong>da</strong>s, documentando e compreendendo<br />
como é que as estruturas respond<strong>em</strong> aos terramotos. A aquisição<br />
destes conhecimentos requer um compromisso a longo prazo, porque os<br />
terramotos devastadores ocorr<strong>em</strong> entre intervalos irregulares e frequent<strong>em</strong>ente<br />
longos. Através <strong>da</strong> observação de como as estruturas reag<strong>em</strong> aos terramotos e<br />
aplicando os conhecimentos adquiridos, os cientistas e os engenheiros estão a<br />
aperfeiçoar a capaci<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s estruturas para sobreviver<strong>em</strong> aos grandes terramotos.<br />
Isto levou à concretização de inúmeras revisões e a aperfeiçoamentos<br />
dos códigos de construção. Um dos resultados <strong>da</strong> pesquisa sismológica foi a<br />
concepção do telhado flexível (CELEBI et al. 1995b). Outro facto que <strong>em</strong>erge do<br />
grande volume deste tipo de <strong>da</strong>dos: o movimento perto do epicentro é mais<br />
forte do que se pensava ser (CELEBI et al. 1995a). Primeiro que tudo, ao projectar<br />
um edifício de arquivo é imperativo determinar um local de construção<br />
seguro. É aconselhável identificar a estrutura geológica dos terrenos antes de<br />
iniciar a construção, b<strong>em</strong> como verificar se o local representa um potencial<br />
risco de deslizamentos de terra. Quando se constrói numa área com propensão<br />
à ocorrência de terramotos, é necessário adoptar modelos resistentes a sismos,<br />
de acordo com as normas locais para a construção <strong>em</strong> segurança, se disponível.<br />
É importante perceber que quando não pod<strong>em</strong>os prever a ocorrência de um<br />
terramoto, pelo menos, dev<strong>em</strong>os tirar conclusões de modo a podermos reduzir<br />
futuros prejuízos (ver ANÓNIMO 1989a; GEIS 1988 e JOICE 2001). É viável efectuar muitas<br />
a<strong>da</strong>ptações nos edifícios convencionais, de modo a reduzir os efeitos de um<br />
terramoto. Contudo, não é possível construir edifícios anti-sísmicos (ANÓNIMO<br />
[s. d.]a). A adesão aos códigos de construção pode reduzir as per<strong>da</strong>s causa<strong>da</strong>s<br />
por um terramoto, uma vez que eles constitu<strong>em</strong> a primeira linha de defesa <strong>da</strong>s<br />
pessoas contra os efeitos dos terramotos (CELEBI et al. 1995a).To<strong>da</strong>s as partes de um<br />
edifício situado numa área sísmica deviam, <strong>em</strong> princípio, estar liga<strong>da</strong>s entre si.<br />
Todo o edifício devia estar preso às fun<strong>da</strong>ções, pois, assim, seria mais difícil<br />
sofrer estragos. O edifício deve ser desenhado de modo a ser flexível e deve<br />
manter-se unido quando for abanado de um lado para o outro e de cima para<br />
163
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
baixo (FORSTON 1992). De entre as formas de arquitectura tradicionais mais<br />
resistentes aos terramotos, constam as estruturas de madeira, quando as suas<br />
junções se encontram saudáveis e os insectos e fungos não a atacaram.<br />
Contudo, os edifícios <strong>em</strong> madeira são vulneráveis ao fogo, que deflagra muitas<br />
vezes a seguir aos terramotos (FEILDEN 1987). Os Incas construíam tradicionalmente<br />
as suas casas com paredes afunila<strong>da</strong>s de grande espessura. Estas<br />
estruturas conseguiam resistir aos piores terramotos e deslizamentos de terra.<br />
Também construíram um sist<strong>em</strong>a de drenag<strong>em</strong> que constituía um obstáculo<br />
aos deslizamentos de terra (FOX 1999). Não é necessariamente dispendioso<br />
construir um edifício que garanta segurança contra terramotos. Por ex<strong>em</strong>plo,<br />
o arquitecto anglo-indiano Laurie Baker utiliza principalmente materiais locais<br />
de construção e técnicas eficazes ao nível de custos e de energia para construir<br />
casas de habitação à prova de choque (HOCHSCHILD 2000; KREMP 2001). Deste modo,<br />
as decisões arquitectónicas relativas ao planeamento <strong>da</strong> localização, <strong>da</strong><br />
configuração do edifício e outras práticas de construção, são determinantes<br />
cruciais no comportamento global de um edifício durante um terramoto (AIA<br />
1992). Um edifício mais antigo com alterações posteriores pode ficar com estas<br />
áreas mais frágeis do que as originais. As fun<strong>da</strong>ções dev<strong>em</strong> ser inspecciona<strong>da</strong>s<br />
para se saber se exist<strong>em</strong> estragos causados por térmitas. Os edifícios r<strong>em</strong>odelados,<br />
preparados para um eventual terramoto, e que são alvo de manutenção<br />
regular, têm maiores probabili<strong>da</strong>des de sobreviver<strong>em</strong> e de ficar<strong>em</strong> pouco<br />
<strong>da</strong>nificados (NELSON 1991). Correias, cabos e tirantes centrais diminu<strong>em</strong> a possibili<strong>da</strong>de<br />
de colapso tendo, apesar disso, um impacto mínimo na estrutura<br />
histórica <strong>da</strong> construção (TOLLES et al. 1996, 2000a e 2000b). No interior do edifício,<br />
os cabos eléctricos, a canalização <strong>da</strong>s águas e a tubag<strong>em</strong> de gás deviam ser feitos<br />
de forma a evitar roturas. Os sist<strong>em</strong>as dispersores e de alarme contra incêndios<br />
<strong>em</strong> edifícios altos pod<strong>em</strong> disparar durante um terramoto, mesmo s<strong>em</strong> ocorrer<br />
um incêndio. Numa zona sísmica activa, um sist<strong>em</strong>a dispersor de tubag<strong>em</strong> seca<br />
é a melhor opção. As substâncias químicas perigosas que se encontram no<br />
laboratório de conservação dev<strong>em</strong> ser guar<strong>da</strong><strong>da</strong>s <strong>em</strong> armários especiais, que<br />
dev<strong>em</strong> ser fixos com to<strong>da</strong> a segurança ao chão e às paredes (CORNU et al. 1991).<br />
Para prevenir ou, pelo menos, para reduzir os efeitos de um terramoto, dev<strong>em</strong><br />
ser toma<strong>da</strong>s diversas precauções nos depósitos. As estantes pod<strong>em</strong> cair e o seu<br />
conteúdo cair no chão. Poucos livros aguentam s<strong>em</strong>elhante tratamento.<br />
Os <strong>da</strong>nos causados pelo fogo ou pela água resultam frequent<strong>em</strong>ente <strong>da</strong> activi<strong>da</strong>de<br />
sísmica (BRANDT-GRAU 2000). Os equipamentos dev<strong>em</strong> ser fixos às paredes,<br />
ao chão e ao tecto. Os módulos de estantes colocados costas com costas dev<strong>em</strong><br />
ser presos uns aos outros. Painéis de fundo ou travejamento <strong>em</strong> cruz dão mais<br />
164
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
estabili<strong>da</strong>de aos módulos de estantes. No caso de estantes compactas ou<br />
deslizantes os materiais não são atirados ao chão, mas as pessoas pod<strong>em</strong> ficar<br />
magoa<strong>da</strong>s se os módulos se deslocar<strong>em</strong> durante um terramoto. Um dispositivo<br />
automático lateral para travar as estantes é a solução. As caixas proteg<strong>em</strong> os<br />
arquivos e os livros e reduz<strong>em</strong> os <strong>da</strong>nos físicos se caír<strong>em</strong> <strong>da</strong>s estantes.Também<br />
evitam que os documentos soltos se espalh<strong>em</strong> no chão. As gavetas e portas dos<br />
armários dev<strong>em</strong> ser fecha<strong>da</strong>s. Redes de nylon coloca<strong>da</strong>s transversalmente nas<br />
aberturas <strong>da</strong>s estantes pod<strong>em</strong> apanhar os objectos no caso de escorregar<strong>em</strong><br />
durante um terramoto. Os objectos pesados dev<strong>em</strong> ser s<strong>em</strong>pre colocados <strong>em</strong><br />
prateleiras mais baixas (CORNU et al. 1991; FORTSON 1992). As páginas <strong>da</strong> Internet dos<br />
CARDIN, CDERA, ADRC, USGS (United States Geological Survey) são importantes<br />
para desastres causados por terramotos. Para publicações sobre os efeitos de<br />
terramotos <strong>em</strong> instituições de arquivo, ver EZENNIA 1995; LEMMON 1991 e LING<br />
1998. Para edifícios e tr<strong>em</strong>ores de terra, ver AIA 1992; BUILDING RESEARCH<br />
STATION (Great Britain) 1966; CALIFORNIA SEISMIC COMISSION 1992; INTERNATIONAL<br />
INSTITUTE OF SEISMOLOGY AND EARTHQUAKE ENGINEERING 1992; KEY 1988; KREIMER<br />
1989; NORTON 1985; STULZ et al. 1976.<br />
A próxima publicação do ICOMOS (International Council on Monuments and<br />
Sites) – Proceedings of the International conference on the seismic performance of traditional<br />
buildings. Istambul, Turkey, Nov. 16 – 18, 2000 também promete ser muito<br />
interessante. Naeim editou um livro de bolso sobre a projecção sísmica e<br />
Shelton publicou normas de segurança contra sismos para estantes de<br />
bibliotecas (NAEIM 1989; SHELTON 1990).<br />
Para bibliografia geral sobre terramotos, ver AGBABIAN et al. 1990 e 1991;<br />
ANÓNIMO [s. d.]a; ERICKSON 2001; HARRIS 1990; JONES et al. 1982; KUMEKPO et al.<br />
1994; MCCANN et al. 1995; PICHARD 1984.<br />
6.3.5Vulcões<br />
Um vulcão é uma montanha ou uma colina com uma abertura ou uma<br />
chaminé <strong>da</strong> qual são ejectados materiais vulcânicos como lava, fragmentos de<br />
rocha ou gases, durante uma erupção. Uma contag<strong>em</strong> recente indica que nos<br />
passados dez mil anos, mil quinhentos e onze vulcões entraram <strong>em</strong> erupção<br />
<strong>em</strong> cerca de sessenta países. Os vulcões encontram-se <strong>em</strong> locais específicos do<br />
planeta, a maioria na vizinhança de planaltos. Os vulcões formam-se <strong>em</strong> zonas<br />
de subducção, <strong>em</strong> zonas de propagação e pontos quentes (SIMPKIN 1994). O Japão<br />
e a Indonésia têm as zonas mais importantes do mundo com vulcões activos,<br />
165
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
seguindo-se os EUA. Desde 1980, entraram <strong>em</strong> activi<strong>da</strong>de nos EUA uma média<br />
de cinco vulcões por ano (página <strong>da</strong> Internet <strong>da</strong> FEMA). Uma erupção vulcânica<br />
pode ser a causa directa ou indirecta de todo o tipo de acidentes (página <strong>da</strong><br />
Internet do CDERA): projécteis inflamáveis: pod<strong>em</strong> <strong>da</strong>nificar edifícios e, estando<br />
incandescentes, provocar incêndios; inun<strong>da</strong>ções de lama: a rocha vulcânica e os<br />
detritos pod<strong>em</strong> misturar-se com a água dos lagos e provocar uma torrente<br />
quase sóli<strong>da</strong> que engole tudo o que encontra. As inun<strong>da</strong>ções de lama também<br />
são conheci<strong>da</strong>s por lahars; torrentes incendiárias e chuvas de cinza: estas<br />
torrentes são misturas de gases quentes, cinzas, pequenos fragmentos de rocha<br />
e pedra-pomes. Pod<strong>em</strong> deslocar-se a uma veloci<strong>da</strong>de superior a 100km/h e<br />
provocar probl<strong>em</strong>as nos pulmões e queimaduras de pele. Os edifícios pod<strong>em</strong><br />
facilmente pegar fogo e as cinzas pesa<strong>da</strong>s pod<strong>em</strong> <strong>da</strong>nificar telhados planos ou<br />
pouco inclinados; gases: pod<strong>em</strong> ser prejudiciais para as pessoas; torrentes de<br />
lava: as torrentes de lava são muito perigosas por ser<strong>em</strong> de rocha fundi<strong>da</strong><br />
extr<strong>em</strong>amente quente. Pod<strong>em</strong> destruir tudo o que encontrar<strong>em</strong>; tr<strong>em</strong>ores de<br />
terra locais; tsunami. Tsunami é a palavra japonesa para uma on<strong>da</strong> avassaladora.<br />
Muitas páginas <strong>da</strong> Internet dão atenção a vulcões e activi<strong>da</strong>de vulcânica actual.<br />
O vulcanologista François Beauducel, de Gua<strong>da</strong>lupe, publicou uma bibliografia<br />
sobre o vulcão indonésio Merapi e inclui ligações para revistas <strong>da</strong><br />
especiali<strong>da</strong>de. As páginas <strong>da</strong> Internet United States Geological Survey (USGS),<br />
que abrange vários observatórios como o Hawaiian Volvano Observatory, e o<br />
Cascades Volcano Observatory val<strong>em</strong> a pena ser consulta<strong>da</strong>s. Para vulcões, ver<br />
também as páginas <strong>da</strong> Michigan Technological University (Geological and<br />
Engineering Sciences), o Electronic Volcano sediado no Dartmouth College, o<br />
Volcano World, no Smithsonian’s Global Volcanism Program e o CDERA.<br />
Contrastando com a imensa literatura sobre vulcões, não se encontram<br />
referências sobre preservação <strong>em</strong> arquivos, bibliotecas e museus no caso de<br />
desastres provocados por vulcões. Para mais informação, ver CHESTER 1993;<br />
ERICKSON 2001; GANDRU 1997; HALL 1991; HARRIS 1990; MCCANN et al. 1995;<br />
SIGURDSSON et al. 1999; TAZIEFF et al. 1990; TILLING 1991.<br />
6.3.6 Inun<strong>da</strong>ções<br />
De todos os perigos naturais capazes de causar um desastre, uma inun<strong>da</strong>ção é,<br />
de longe, o mais comum, causando per<strong>da</strong>s de vi<strong>da</strong>s humanas, sofrimento,<br />
prejuízos e estragos enormes aos edifícios, às colheitas e às infra-estruturas<br />
(ANÓNIMO [s. d.]b). Uma inun<strong>da</strong>ção é uma subi<strong>da</strong> anormal do nível <strong>da</strong> água do<br />
mar, dos rios ou dos lagos. A água <strong>da</strong>s inun<strong>da</strong>ções pode ser forte s<strong>em</strong> o parecer.<br />
166
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
A água doce a correr livr<strong>em</strong>ente a 6,4 km/h, um an<strong>da</strong>mento ritmado e<br />
vigoroso, corresponde a uma força de 29,7 kg/0,3 m 2 sobre tudo o que<br />
encontra. Dobrando a veloci<strong>da</strong>de <strong>da</strong> água para 12 km/h, a força aumenta para<br />
119kg/0,3m 2 , aproxima<strong>da</strong>mente. É o suficiente para <strong>em</strong>purrar um carro ou<br />
elevar uma camião numa estra<strong>da</strong> inun<strong>da</strong><strong>da</strong>, se a água chegar ao nível <strong>da</strong> porta<br />
(DISASTER RELIEF [s. d.]). As inun<strong>da</strong>ções pod<strong>em</strong> ser causa<strong>da</strong>s por fortes chuva<strong>da</strong>s,<br />
i. é, depois de um ciclone, do rebentamento de um dique, de trovoa<strong>da</strong>s ou de<br />
tsunami. Uma inun<strong>da</strong>ção pode ser um fenómeno natural, mas os seus efeitos são<br />
frequent<strong>em</strong>ente exacerbados, até causados, talvez, por acções pouco sensatas.<br />
Por ex<strong>em</strong>plo, a susceptibili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s pessoas a inun<strong>da</strong>ções aumenta quando<br />
viv<strong>em</strong> <strong>em</strong> zonas costeiras baixas, <strong>em</strong> margens com ravinas, <strong>em</strong> terrenos que<br />
inun<strong>da</strong>m devido ao aumento do cau<strong>da</strong>l de grandes rios ou que viv<strong>em</strong> nas zonas<br />
baixas de vales fechados de pedra calcária. Este tipo de riscos podiam ser<br />
minimizados com a identificação deste tipo de áreas através do Flood Mapping<br />
Programme, conhecendo a história <strong>da</strong>s inun<strong>da</strong>ções nessa área relata<strong>da</strong> pelos<br />
residentes mais idosos e respeitando os cursos naturais <strong>da</strong> água (ANÓNIMO [s. d.]b).<br />
Outra importante causa de inun<strong>da</strong>ções é uma drenag<strong>em</strong> obstruí<strong>da</strong>. Durante<br />
períodos de chuvas fortes, o lixo que obstrui o sist<strong>em</strong>a de drenag<strong>em</strong> t<strong>em</strong> um<br />
efeito prejudicial e impede que a água corra livr<strong>em</strong>ente, provocando assim um<br />
maior cau<strong>da</strong>l e, <strong>em</strong> última análise, provocando a inun<strong>da</strong>ção.<br />
A desflorestação também constitui uma causa b<strong>em</strong> conheci<strong>da</strong> de<br />
inun<strong>da</strong>ções. S<strong>em</strong> o sist<strong>em</strong>a <strong>da</strong>s raízes <strong>da</strong>s árvores, a água <strong>da</strong> chuva corre<br />
livr<strong>em</strong>ente pelas encostas abaixo arrastando tudo, inclusive terra e detritos<br />
(ANÓNIMO [s. d.]b). As medi<strong>da</strong>s para contornar os efeitos causados pelas inun<strong>da</strong>ções<br />
são geralmente de dois géneros: o controlo <strong>da</strong> água do rio e o controlo<br />
<strong>da</strong>s margens, incluindo políticas de utilização dos terrenos. O controlo dos rios<br />
inclui medi<strong>da</strong>s como melhoramento do canal e a construção de reservatórios<br />
para recolher o excesso de água. O controlo sobre os terrenos inclui a<br />
construção de terraços e a reflorestação. Estas são apenas algumas <strong>da</strong>s medi<strong>da</strong>s<br />
possíveis (página <strong>da</strong> Internet do CDERA).A única protecção total e eficaz contra uma<br />
inun<strong>da</strong>ção causa<strong>da</strong> pelo aumento do cau<strong>da</strong>l de um rio é a escolha de um local<br />
suficient<strong>em</strong>ente alto de modo a ultrapassar este perigo (DUCHEIN 1988). Numa<br />
reunião <strong>da</strong> UN Economic and Social Comission for Asia and the Pacific<br />
(UNESCAP), <strong>em</strong> Banguecoque <strong>em</strong> 1991, um delegado declarou que 80% <strong>da</strong>s<br />
vítimas de desastres causados pela água viv<strong>em</strong> no Bangladesh, na China ou na<br />
Índia. Parece que os países com menor rendimento são os mais afectados por<br />
desastres causados por inun<strong>da</strong>ções.Tornou-se também claro que a maioria <strong>da</strong>s<br />
vítimas <strong>da</strong>s inun<strong>da</strong>ções vive <strong>em</strong> zonas rurais e pertence à cama<strong>da</strong> mais desfa-<br />
167
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
voreci<strong>da</strong> <strong>da</strong> população (UNESCAP 1990). A preparação constitui a melhor defesa<br />
para um desastre. Assim, quando se escolhe um local para um arquivo,<br />
biblioteca ou museu é muito importante investigar se existe o risco de uma<br />
inun<strong>da</strong>ção. O próprio edifício necessita de uma estrutura que aguente a pressão<br />
<strong>da</strong> água ou a veloci<strong>da</strong>de do cau<strong>da</strong>l. Fun<strong>da</strong>ções adequa<strong>da</strong>s evitam que estas<br />
flutu<strong>em</strong>. Em muitos países as casas tradicionais são construí<strong>da</strong>s sobre estacas<br />
para reduzir os <strong>da</strong>nos causados por inun<strong>da</strong>ções. Para instituições do<br />
património cultural, a elevação <strong>da</strong> cave pode ser a solução (página do CDERA).<br />
Escusado será de dizer que o telhado constitui um factor importante para a<br />
prevenção <strong>da</strong> invasão de água (ver secção sobre Prevenção de desastres causados por<br />
água). As coberturas dos telhados têm que poder resistir a chuvas fortes e a<br />
cobertura deve ser b<strong>em</strong> fixa, de modo a que o vento não a possa arrancar.<br />
Os telhados planos e as clarabóias constitu<strong>em</strong> um risco, b<strong>em</strong> como paredes<br />
construí<strong>da</strong>s com materiais que não são à prova de água, i. é, pedra porosa. Uma<br />
parede grossa e dupla, com um espaço no meio, é aconselhável <strong>em</strong> áreas<br />
susceptíveis de inun<strong>da</strong>ção.To<strong>da</strong>s as aberturas nas paredes, como portas, janelas,<br />
respiradouros, orifícios para arejamento, etc. constitu<strong>em</strong> um risco. Dev<strong>em</strong> ser<br />
à prova de água e as porta<strong>da</strong>s são uma boa protecção contra a chuva forte.To<strong>da</strong>s<br />
as janelas dev<strong>em</strong> estar coloca<strong>da</strong>s b<strong>em</strong> acima do nível do chão (DUCHEIN 1993).<br />
Escudos de metal contra inun<strong>da</strong>ções encastrados nas portas e janelas reduzirão<br />
a quanti<strong>da</strong>de de água que pode penetrar e, <strong>em</strong> alternativa, poder-se-á utilizar<br />
o velho sist<strong>em</strong>a de sacos de areia ou placas de metal (FORTSON 1992). O saco de<br />
areia t<strong>em</strong> uma versão moderna: a almofa<strong>da</strong> absorvente de água. Absorve a água<br />
e quando incha actua como um saco de areia. Depois dum desastre deve<br />
verificar-se se ficou água <strong>em</strong> zonas mais escondi<strong>da</strong>s como sótãos, tectos falsos<br />
ou estantes compactas. A água também pode <strong>da</strong>nificar os sist<strong>em</strong>as quer de<br />
detecção, quer de supressão de fogo (FORTSON 1992). Pod<strong>em</strong> instalar-se sist<strong>em</strong>as<br />
de alarme para detectar água <strong>em</strong> zonas de depósito. Pod<strong>em</strong> ser ligados a um<br />
sist<strong>em</strong>a central de alarme, mas se isto não for possível, exist<strong>em</strong> uni<strong>da</strong>des autosuficientes<br />
que duram 72 horas. Mais uma vez, caixas de arquivo funcionam<br />
como uma boa protecção para o papel e para livros. A maior parte <strong>da</strong>s caixas<br />
resiste à água e garante alguma protecção, mesmo quando a água está contamina<strong>da</strong><br />
com sal ou outros detritos <strong>da</strong> inun<strong>da</strong>ção. Como já se referiu (ver secção<br />
sobre Prevenção de desastres causados por água) as prateleiras dev<strong>em</strong> estar distancia<strong>da</strong>s<br />
do chão, pelo menos, 10 cm. As colecções armazena<strong>da</strong>s t<strong>em</strong>porariamente<br />
nunca dev<strong>em</strong> ser coloca<strong>da</strong>s directamente sobre o chão mas s<strong>em</strong>pre num<br />
estrado. Se não houver t<strong>em</strong>po suficiente para deslocar uma colecção para fora<br />
de uma área vulnerável, as prateleiras deverão ser cobertas com folhas de<br />
168
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
plástico. Não deverão ficar tapa<strong>da</strong>s mais do que 48 horas e deverão ser<br />
inspecciona<strong>da</strong>s de 12 <strong>em</strong> 12 horas por causa do bolor. Mantenha s<strong>em</strong>pre uma<br />
reserva de folhas de plástico, fita autocolante larga e tesouras nos armazéns<br />
pronta a ser usa<strong>da</strong> (FORTSON 1992). A inun<strong>da</strong>ção desastrosa de Florença, <strong>em</strong> 1966,<br />
<strong>da</strong>nificou severamente as colecções <strong>da</strong> Biblioteca Nacional. No entanto, também<br />
chamou a atenção do grande público para a conservação dos documentos<br />
de biblioteca (LAN 1990).A água do rio, encanado através de ruas estreitas, viajou<br />
cerca de 80 milhas por hora e caiu sobre a Biblioteca Nacional de Florença,<br />
encharcando milhares de manuscritos (NELSON 1991). A inun<strong>da</strong>ção de 1997 na<br />
Polónia afectou cerca de 80 bibliotecas e destruiu cerca de 300 000 volumes<br />
cujo valor se estimou <strong>em</strong> 700 000 dólares americanos. Em cima disto, as<br />
per<strong>da</strong>s materiais <strong>em</strong> edifícios e equipamentos estimaram-se <strong>em</strong> 1 000 000 de<br />
dólares americanos (WOLOSZ 1999). Os desastres naturais provocados pela água<br />
causam confusão e destruição a um grande segmento <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong>de. Isto<br />
dificulta a recuperação. O pessoal pode ter outros probl<strong>em</strong>as <strong>em</strong> casa, falta de<br />
assistência por parte <strong>da</strong>s autori<strong>da</strong>des locais ou falta de mantimentos (FORTSON<br />
1992). Hoje <strong>em</strong> dia os efeitos <strong>da</strong> água sobre os documentos são b<strong>em</strong> conhecidos.<br />
A água do mar é mais destruidora do que a água doce, por causa do<br />
efeito corrosivo do sal marinho. As águas de uma inun<strong>da</strong>ção pod<strong>em</strong> estar<br />
poluí<strong>da</strong>s e provocar<strong>em</strong> <strong>da</strong>nos especiais ao papel (ver secção Prevenção de desastres<br />
causados por água). O papel e os livros pod<strong>em</strong> ficar cobertos com lama e detritos<br />
(DUCHEIN 1993; WATERS 1993). Para a recuperação de papel e livros molhados, ver as<br />
secções sobre Preparação e Recuperação. Material audiovisual, fotografias,<br />
microformas, suportes magnéticos e outros discos são também vulneráveis à<br />
água e os <strong>da</strong>nos depend<strong>em</strong> do tipo de material, do t<strong>em</strong>po que estiver<strong>em</strong><br />
expostos à água, à t<strong>em</strong>peratura desta, etc. (BRANDT-GRAU 2000). Para páginas <strong>da</strong><br />
Internet sobre desastres relacionados com água, ver Dartmouth Flood Observatory,<br />
Flood Hazard Research Centre (FHRC), International Tsunami<br />
Information Centre (ITIC). Uma bibliografia <strong>em</strong> linha sobre inun<strong>da</strong>ções<br />
chama<strong>da</strong> El Niño and flooding, a global resource é publica<strong>da</strong> na página <strong>da</strong> Internet do<br />
Center for Ocean and Atmospheric Prediction Studies. Para mais bibliografia,<br />
ver ANÓNIMO 1992; CORNING MUSEUM OF GLASS 1977; EZENNIA 1995; LUCCHITTA<br />
et al. 1999; MCCARNN et al. 1995; REES et al. 2000; (UNESCAP) 1990; WOLOSZ<br />
1999.<br />
169
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
6.3.6.1 Tsunami<br />
Tsunami é a palavra japonesa para uma on<strong>da</strong> gigantesca e é considera<strong>da</strong> um tipo<br />
especial de inun<strong>da</strong>ção muitas vezes causa<strong>da</strong> por um terramoto. Esta on<strong>da</strong> pode<br />
deslocar-se sobre o oceano a uma veloci<strong>da</strong>de de 800km/h. Os tsunami são uma<br />
ameaça s<strong>em</strong>pre presente para as vi<strong>da</strong>s e para as proprie<strong>da</strong>des ao longo <strong>da</strong> costa<br />
<strong>da</strong> maior parte dos oceanos do mundo. Muitas <strong>da</strong>s páginas <strong>da</strong> Internet sobre<br />
desastres naturais também cobr<strong>em</strong> inun<strong>da</strong>ções. Para informação exclusiva<br />
sobre tsunami ver a página do National Tsunami Hazard Mitigation Programme<br />
hospe<strong>da</strong>do no NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e<br />
também as páginas do National Ti<strong>da</strong>l Facility, o International Tsunami<br />
Information Center, o Tsunami, hospe<strong>da</strong>dos no Earth and Space Sciences <strong>da</strong><br />
Universi<strong>da</strong>de de Washington. Os tsunami são estu<strong>da</strong>dos com particular atenção;<br />
para mais informação sobre este assunto, ver HEBENSTREIT 1999; TINTI 1993.<br />
Para a história dos tsunami no Mar Mediterrâneo, ver SOLOVIEV 2000. Verificar<br />
também os Proceedings of the Tsunami Hazard Mitigation Programme Review e o IUGG<br />
International Tsunami Symposium (ITS 2001), realizado <strong>em</strong> Seattle, Washington, 7-10<br />
Agosto 2001. Para informação específica sobre edifícios e projectos para<br />
tsunami, ver National Tsunami Hazard Mitigation Program 2001. Para mais<br />
informação sobre tsunami, ver BERNARD 1991; KEATING et al. 2000; TSUCHIYA et al.<br />
1995; USGS [s. d.].<br />
6.3.7 Deslizamentos de terra<br />
Um deslizamento de terra consiste na deslocação de solo e rochas por uma<br />
encosta abaixo, como efeito secundário de tr<strong>em</strong>ores de terra, ciclones tropicais,<br />
fortes chuva<strong>da</strong>s ou erupções vulcânicas. Deslizamentos de terra são um<br />
fenómeno geológico muito frequente. Pod<strong>em</strong> atingir uma veloci<strong>da</strong>de que vai<br />
de 16 km/h até 56 km/h. A consistência <strong>da</strong> torrente de detritos varia entre<br />
uma água lamacenta até uma lama espessa e com pedras, que pode arrastar<br />
grandes objectos como pedregulhos, árvores e carros.As torrentes com lixos de<br />
diferentes origens pod<strong>em</strong> ser canaliza<strong>da</strong>s, aumentando muitíssimo o seu poder<br />
destrutivo. Tudo o que fique no caminho de um deslizamento sofrerá <strong>da</strong>nos.<br />
Um deslizamento destrói edifícios, obstrui estra<strong>da</strong>s e leitos de água, destrói<br />
sist<strong>em</strong>as de comunicação.As inun<strong>da</strong>ções pod<strong>em</strong> acontecer <strong>em</strong> consequência de<br />
deslizamentos. Calcula-se que nos Estados Unidos haja anualmente entre 25 e<br />
50 mortes por deslizamento, e cujos <strong>da</strong>nos ron<strong>da</strong>m cerca de 2 biliões de<br />
170
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
dólares americanos (página <strong>da</strong> Internet FEMA). No final de Dez<strong>em</strong>bro de 2000,<br />
fortes chuva<strong>da</strong>s provocaram terríveis deslizamentos de lama <strong>em</strong> Vargas, perto<br />
de Caracas, Venezuela, matando 20 000 pessoas. Bons sist<strong>em</strong>as de drenag<strong>em</strong>,<br />
ordenamento dos solos através <strong>da</strong> construção de terraços, reflorestação para<br />
evitar deslizamentos superficiais e cobertura do solo com erva ou s<strong>em</strong>enteiras<br />
são medi<strong>da</strong>s gerais de prevenção. Os edifícios, especialmente os que têm<br />
fun<strong>da</strong>ções fracas, construídos <strong>em</strong> encostas inclina<strong>da</strong>s ou no sopé destas, estão<br />
ameaçados pelos deslizamentos (página <strong>da</strong> Internet CDERA). A página <strong>da</strong> Internet<br />
do National Landslide Information Center dá mais informação específica sobre<br />
deslizamentos acontecidos nos USA. A sua Searchable National Landslide<br />
Information Database refere imensa bibliografia relevante. Para mais<br />
informação, ver CRUDEN et al. 1997; DIKAU 1996; ERLEY 1981; KEATING et al.<br />
2000; MULDER 1991; REEVES 1982; SLOSSON et al. 1992; TIANCHI 1990; TURNER et<br />
al. 1996.<br />
6.4 Desastres provocados pelo Hom<strong>em</strong><br />
6.4.1 Introdução<br />
Mesmo sendo ver<strong>da</strong>de que as nossas bibliotecas estejam a abarrotar com livros,<br />
nunca antes na história <strong>da</strong> espécie humana houve um século tão destrutivo<br />
relativamente a livros como o século vinte. Duas guerras mundiais e numerosos<br />
conflitos armados já contribuíram com o seu quinhão, muitos regimes<br />
totalitários purgaram as bibliotecas de publicações e o que ficou sofre <strong>da</strong>nos,<br />
muitas vezes, causados quer pela água, quer pelo fogo. O Hom<strong>em</strong> t<strong>em</strong> sido<br />
mais destrutivo para a herança cultural do que a natureza. Muitos destes <strong>da</strong>nos<br />
são propositados. Não é possível enumerar to<strong>da</strong>s as causas de destruição e <strong>da</strong>no<br />
a nível mundial, n<strong>em</strong> fazê-lo de acordo com uma ord<strong>em</strong> de priori<strong>da</strong>des. Ca<strong>da</strong><br />
região t<strong>em</strong> os seus próprios probl<strong>em</strong>as (HOEVEN et al. 1996). Os responsáveis pela<br />
herança cultural pod<strong>em</strong> pensar que os desastres são grandes e catastróficos<br />
acontecimentos como os tornados ou as inun<strong>da</strong>ções – acontecimentos naturais<br />
dramáticos, sobre os quais existe pouco, se algum, controlo. Contudo, muitos<br />
desastres são acontecimentos que apenas afectam os documentos de uma única<br />
instituição. Independent<strong>em</strong>ente de ser<strong>em</strong> grandes ou pequenos, os desastres<br />
ameaçam a segurança dos documentos. Um simples fogo ou inun<strong>da</strong>ção pode<br />
eliminar partes substanciais <strong>da</strong> história regista<strong>da</strong> duma comuni<strong>da</strong>de. Para nos<br />
prepararmos para um desastre, t<strong>em</strong>os primeiro que tomar consciência dos<br />
171
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
potenciais perigos que os documentos enfrentam (READ 1994). O ICOMOS,<br />
a organização internacional não-governamental que se dedica à conservação<br />
dos monumentos e sítios arqueológicos históricos mundiais, disponibilizou o<br />
seu mais recente relatório sobre monumentos e sítios arqueológicos <strong>em</strong><br />
perigo. Para mais de 60 países está mapea<strong>da</strong> to<strong>da</strong> a série de perigos para a<br />
herança cultural provocados pelo Hom<strong>em</strong>, desde a criminali<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s escavações<br />
ilegais e saque de igrejas com vista ao comércio internacional, até ao<br />
impacto do turismo global. O relatório constitui um primeiro passo para o<br />
reconhecimento e inventariação de monumentos <strong>em</strong> risco, para a recolha de<br />
informação acerca dos perigos que eles enfrentam, para a promoção de acções<br />
onde as catástrofes já ocorreram, inspirando outros compromissos quer a nível<br />
nacional, como internacional, e fornecendo um impulso positivo adicional<br />
para as instituições que já trabalham neste campo (BUMBARU 2000). Os desastres<br />
provocados pelo Hom<strong>em</strong> e que se listam pod<strong>em</strong> ser distinguidos e segui<strong>da</strong>mente<br />
analisados: guerra, roubo; negligência e van<strong>da</strong>lismo. Para mais bibliografia<br />
sobre segurança <strong>em</strong> geral, ver AGEBUNDE 1988; BAXI 1974; LISTON 1993;<br />
MENGES 1990; NWAMEFOR 1974; ONADIRAN 1986; SHEPILOVA 1992; SOETE et al.<br />
1999; TEFENRA 1986; THAPISA 1982.<br />
6.4.2 Guerra<br />
Em situação de guerra, os arquivos ficam sujeitos a grandes riscos. D<strong>em</strong>oraria<br />
muito t<strong>em</strong>po elaborar uma lista de to<strong>da</strong>s as bibliotecas e arquivos destruídos<br />
ou seriamente <strong>da</strong>nificados pela guerra, bombardeamentos ou fogo, tenham<br />
sido deliberados ou acidentais. Nenhuma lista foi elabora<strong>da</strong> sobre as espécies<br />
ou colecções alguma vez perdi<strong>da</strong>s ou <strong>em</strong> perigo. A Biblioteca de Alexandria é<br />
provavelmente o ex<strong>em</strong>plo histórico mais famoso, mas quantos outros tesouros<br />
conhecidos e desconhecidos desapareceram <strong>em</strong> Constantinopla, Varsóvia,<br />
Florença ou, mais recent<strong>em</strong>ente, <strong>em</strong> Bucareste, São Petersburgo ou Sarajevo?<br />
Trist<strong>em</strong>ente, a lista não pode ser fecha<strong>da</strong>. No âmbito do World M<strong>em</strong>ory<br />
Programme, H. van der Hoeven e J. van Alba<strong>da</strong> tentaram enumerar os maiores<br />
desastres que destruíram ou provocaram <strong>da</strong>nos irreparáveis <strong>em</strong> bibliotecas e<br />
arquivos durante o século XX (HOEVEN et al. 1996). Exist<strong>em</strong> colecções dispersas<br />
depois <strong>da</strong> deslocação acidental ou delibera<strong>da</strong> de arquivos e bibliotecas. No<br />
meio <strong>da</strong> luta arma<strong>da</strong>, a herança cultural fica sujeita à destruição. Em casos<br />
isolados, os documentos tornam-se o alvo do conflito e são delibera<strong>da</strong>mente<br />
aniquilados, como fica d<strong>em</strong>onstrado pela destruição do Records Office <strong>em</strong> Bo,<br />
172
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
Serra Leoa. Neste caso, ci<strong>da</strong>dãos prejudicados devastaram a instituição, porque<br />
tratando-se de proprie<strong>da</strong>de governamental, representava o inimigo (ALEGBELEYE<br />
1999; FRÖJD 1997). Por outro lado, os arquivos constitu<strong>em</strong> uma boa fonte de<br />
informação útil para o agressor. Nestas circunstâncias, os arquivos são muitas<br />
vezes acidentalmente destruídos na tentativa de atingir outros objectivos (HASPEL<br />
1992). Idealmente, a população mundial deveria apenas ser composta por<br />
pacifistas convictos. Infelizmente, a reali<strong>da</strong>de cruel contradiz este sonho e<br />
ensina que a reali<strong>da</strong>de é outra. A guerra não pode ser impedi<strong>da</strong> mas, pelo<br />
menos, pod<strong>em</strong> tomar-se algumas precauções para minimizar as consequências<br />
perniciosas. Mais uma vez, o edifício constitui a primeira linha de defesa.<br />
A localização do arquivo deve ficar tão afastado quanto possível de locais<br />
estratégicos e do centro <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong>des (HASPEL 1992). A construção subterrânea é<br />
outra possibili<strong>da</strong>de para proteger a colecção contra os efeitos <strong>da</strong> guerra (HASPEL<br />
1992; LING 1998; DUCHEIN 1988). Há algumas desvantagens relativamente à construção<br />
subterrânea. É muito cara e o perigo de inun<strong>da</strong>ção é um risco (ver<br />
também o capítulo sobre Edifícios – Construção subterrânea). Entre as instituições que<br />
efectivamente construíram depósitos subterrâneos encontram-se a Universi<strong>da</strong>de<br />
de Telavive (Israel), o Arquivo Nacional <strong>da</strong> Noruega (Noruega) e a<br />
Biblioteca <strong>da</strong> Dieta (Japão). Quando se constrói acima do subsolo, as paredes<br />
dev<strong>em</strong> ser suficient<strong>em</strong>ente espessas para aguentar<strong>em</strong> um violento ataque à<br />
bomba e não dev<strong>em</strong> ter janelas. As condutas de gás e a rede eléctrica dev<strong>em</strong><br />
ficar tanto quanto possível afasta<strong>da</strong>s <strong>da</strong>s colecções. O edifício deve dispor de<br />
meios adequados de combate ao fogo (HASPEL 1992). Também se sabe que as<br />
instituições que albergam a herança cultural são um alvo preferencial dos<br />
terroristas. Em muitas <strong>da</strong>s suas consequências, o terrorismo ass<strong>em</strong>elha-se à<br />
guerra e muitas <strong>da</strong>s precauções adopta<strong>da</strong>s contra a guerra também são váli<strong>da</strong>s<br />
contra o terrorismo. Neste caso, a segurança é <strong>da</strong> maior importância (ver também<br />
as secções abaixo sobre Roubo, e Negligência e van<strong>da</strong>lismo). Durante o planeamento e<br />
construção do Public Record Office, <strong>em</strong> Londres, foi presta<strong>da</strong> muita atenção à<br />
segurança dos documentos. A ideia era evitar que as pessoas tivess<strong>em</strong> acesso ao<br />
arquivo durante a noite e que os veículos se aproximass<strong>em</strong> d<strong>em</strong>asiado do<br />
edifício, por causa <strong>da</strong> possível ameaça de carros armadilhados com bombas.<br />
O local é ve<strong>da</strong>do com um gradeamento apenas com duas entra<strong>da</strong>s, uma para<br />
carros, outra para peões. O parqueamento só é permitido a uma certa distância<br />
do edifício (THOMAS 1992). Infelizmente, os mais recentes ataques terroristas nos<br />
USA, a destruição <strong>da</strong>s Torres Gémeas do World Trade Center, <strong>em</strong> Nova Iorque, a<br />
11 de Set<strong>em</strong>bro de 2001, d<strong>em</strong>onstram que é impossível controlar a c<strong>em</strong> por<br />
cento um ataque terrorista. Em função destas circunstâncias, o FEMA teve de<br />
173
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
alterar a garantia <strong>da</strong><strong>da</strong> na sua folha sobre terrorismo de que um ataque<br />
terrorista nos USA continua a ser possível, <strong>em</strong>bora não seja provável (página <strong>da</strong><br />
Internet do FEMA). Parece que a única forma de combater o terrorismo é fazer<br />
todo o esforço para tomar medi<strong>da</strong>s de precaução. Dev<strong>em</strong> também tomar-se<br />
medi<strong>da</strong>s preventivas. Como uma activi<strong>da</strong>de normal do arquivo, por ex<strong>em</strong>plo,<br />
os inventários dev<strong>em</strong> ter várias cópias, <strong>em</strong> microfilme, e dev<strong>em</strong> ser armazenados<br />
<strong>em</strong> locais diferentes. A preparação de inventários, indicando priori<strong>da</strong>des<br />
e <strong>da</strong>ndo indicações do que deve ser salvo primeiro <strong>em</strong> caso de perigo, é muito<br />
útil. Pode aprender-se imenso a partir de uma operação de salvamento depois<br />
de um acidente. A identificação <strong>da</strong> colecção e a documentação sobre ela são<br />
muito importantes para a recuperação. Os objectos que estão devi<strong>da</strong>mente<br />
acondicionados e <strong>em</strong> caixas estão mais seguros. Numa zona provável de<br />
conflito, acondicionar <strong>em</strong> caixas é mais urgente, já que evita <strong>da</strong>nos sobre os<br />
objectos se estes for<strong>em</strong> saqueados ou evacuados. Os objectos pod<strong>em</strong> ser<br />
marcados com marcadores UV (ultravioleta). Este processo t<strong>em</strong> a vantag<strong>em</strong> de<br />
o texto ser invisível a olho nu. Se esta é uma prática adequa<strong>da</strong> de conservação<br />
ou não, ain<strong>da</strong> está por descobrir (NORMAN 2000). Na pior <strong>da</strong>s situações, as<br />
colecções dev<strong>em</strong> ser evacua<strong>da</strong>s para um local seguro (FRÖJD et al. 1997).<br />
Evident<strong>em</strong>ente que o International Committee of the Blue Shield (ICBS) dispõe<br />
de muitos programas para proteger a herança cultural <strong>em</strong> t<strong>em</strong>po de conflito<br />
armado, uma vez que este era o seu objectivo inicial (ver também capítulo sobre<br />
Cooperação internacional – ICBS). O Blue Shield é uma componente importante de<br />
um Sist<strong>em</strong>a de Preparação contra os Riscos, um plano de acção coerente para<br />
colaboração entre várias agências e organizações nacionais e internacionais.<br />
Testa modelos de preparação contra riscos e as operações do Blue Shield são<br />
feitas de acordo com ca<strong>da</strong> país, de forma a reflectir<strong>em</strong> as práticas e diferenças<br />
nacionais e locais, legais ou jurídicas, organizacionais e técnicas, b<strong>em</strong> como os<br />
valores culturais e os possíveis riscos peculiares ao país ou à locali<strong>da</strong>de (página<br />
<strong>da</strong> Internet do ICOMOS-ICBS). É óbvio o que um conflito armado pode provocar nas<br />
colecções. N<strong>em</strong> todos os <strong>da</strong>nos são directos e muitos são causados pelos<br />
resultados indirectos do conflito. Os edifícios muitas vezes ficam <strong>da</strong>nificados,<br />
deixando os documentos praticamente s<strong>em</strong> protecção a intrusos indesejados e<br />
ao t<strong>em</strong>po. Também há muitos <strong>da</strong>nos que resultam do fogo e de probl<strong>em</strong>as<br />
causados pela água <strong>em</strong> consequência de choques (FRÖJD et al. 1997). É importantíssimo<br />
que se continue a partilhar experiências por mais tristes que elas<br />
possam ser. O Z<strong>em</strong>aljski Muzej <strong>em</strong> Serajevo, Bósnia-Herzegovina, e o Tiroler<br />
Landesmuseum Ferdiandeum <strong>em</strong> Innsbruck, Áustria, organizaram <strong>em</strong><br />
conjunto um congresso sobre catástrofes e gestão <strong>da</strong>s catástrofes <strong>em</strong> Abril de<br />
174
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
2001. Cento e vinte e cinco participantes de 17 países partilharam as suas<br />
experiências infelizes <strong>em</strong> situações catastróficas. Aquilo que muitos tinham <strong>em</strong><br />
comum era o facto de que estavam insuficient<strong>em</strong>ente preparados para li<strong>da</strong>r<br />
com catástrofes nos seus museus. A conclusão foi que é importante trocar<br />
experiências para evitar repetir erros s<strong>em</strong>elhantes (MADER 2001). Por alguma<br />
razão, as consequências <strong>da</strong> guerra civil nos arquivos na Nigéria na déca<strong>da</strong> de<br />
1960 foram tão b<strong>em</strong> documenta<strong>da</strong>s. Ver BANKOLE 1969; BOWDEN 1974; ENU<br />
1970; OBI 1971; OLUWAKAYODE 1972. Para mais bibliografia, ver ATKINS 1993;<br />
DEAN 1999; FREDERIKSEN et al. 2000; CIA 1996; Jackson et al. 2000; MUKIMBIRI<br />
1996; PEIC et al. 1999; REDMOND-COOPER 2000; RIEDLMAYER 1999 e 2000;<br />
VARLAMOFF et al. 2000.<br />
6.4.3 Roubo<br />
Infelizmente, o roubo é uma ameaça vulgar para os documentos Na maioria<br />
dos casos, a ameaça para os documentos armazenados resulta de roubo<br />
interno, per<strong>da</strong>s de carácter administrativo ou per<strong>da</strong>s por arrombamento.Tanto<br />
o pessoal, como os utilizadores, como os intrusos pod<strong>em</strong> roubar objectos.<br />
Os documentos de arquivo raramente atra<strong>em</strong> ladrões devido ao seu valor<br />
financeiro ou porque contenham informação confidencial. É bastante raro que<br />
os documentos sejam roubados através de assalto. Quando acontec<strong>em</strong> roubos,<br />
normalmente são feitos por leitores nas salas de leitura. Quanto a este aspecto,<br />
os arquivos não pod<strong>em</strong> ser confundidos com museus (DUCHEIN 1988). Apesar<br />
disso, a julgar pela extensão <strong>da</strong> lista de livros roubados nos USA, o roubo<br />
tornou-se uma ocupação popular (MASON 1975). A razão por que não se ouve<br />
muito acerca destes infelizes acontecimentos é porque os gestores e os<br />
conservadores quer<strong>em</strong> manter o nome <strong>da</strong> biblioteca <strong>em</strong> questão afastado <strong>da</strong>s<br />
notícias. O roubo de livros simplesmente não é reconhecido. Parte deste<br />
comportamento pode explicar-se pelo receio de contágio. As bibliotecas ficam<br />
s<strong>em</strong>pre nervosas por revelar<strong>em</strong> a sua vulnerabili<strong>da</strong>de, mas é importante<br />
compreender que o roubo de livros é um crime grave. Algumas histórias são<br />
inacreditáveis e parec<strong>em</strong> um ver<strong>da</strong>deiro livro de suspense. Talvez haja alguma<br />
sabedoria nas palavras de um manuscrito do século XIII: Possa aquele que rouba<br />
| Apanhar um safanão na cabeça (ver REED 1997). O saque de colecções por forças<br />
ocupantes é outra <strong>da</strong>s consequências <strong>da</strong> guerra e do terrorismo. Um efeito<br />
lateral <strong>da</strong> guerra é a destruição de livros, utilizados como combustível para<br />
cozinhar ou como material de construção para completar partes <strong>em</strong> falta de<br />
175
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
edifícios históricos (PEIC et al. 1999). Na guerra, a herança documental é<br />
frequent<strong>em</strong>ente reduzi<strong>da</strong> a material disponível para fazer lume ou calafetar<br />
chão húmido ou como papel de <strong>em</strong>brulho para produtos do mercado e<br />
mesmo papel higiénico (RHYS-LEWIS 1999). O roubo não é apenas um enorme<br />
probl<strong>em</strong>a para arquivos e bibliotecas.Todos os dias, os conservadores de museu<br />
receb<strong>em</strong> ofertas para comprar peças de arte rouba<strong>da</strong>s e o comércio ilegal,<br />
especialmente <strong>em</strong> arte não-ocidental, está a aumentar com facili<strong>da</strong>de. Enquanto<br />
houver um mercado disponível na Europa e na América do Norte para arte<br />
ilegal, é difícil para os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento acabar com o roubo<br />
de objectos. Nos países ocidentais gasta-se uma quanti<strong>da</strong>de de dinheiro na<br />
adopção de medi<strong>da</strong>s técnicas para proteger as colecções. Mas mesmo que o<br />
governo de um país <strong>em</strong> vias de desenvolvimento possa dispor <strong>da</strong>s medi<strong>da</strong>s de<br />
segurança mais avança<strong>da</strong>s para evitar que as peças de arte saiam do país, a<br />
atracção do dinheiro fácil é capaz de corromper as instituições que dev<strong>em</strong> zelar<br />
pela aplicação <strong>da</strong> lei. Só se as instituições públicas se recusar<strong>em</strong> a adquirir arte<br />
ilegal, será possível acabar com o negócio <strong>da</strong> arte ilegal (EYO 1986). Desde 1997<br />
que o Projecto Object ID possibilitou aos museus e aos negociantes de arte<br />
verificar<strong>em</strong> se um objecto é roubado ou não antes <strong>da</strong> compra. O objectivo do<br />
programa é concretizar um sist<strong>em</strong>a de informação internacionalmente<br />
acessível e eficaz. Um sist<strong>em</strong>a de controlo eficaz inclui documentação,<br />
identificação e registo precisos <strong>da</strong> arte rouba<strong>da</strong>. Ao mesmo t<strong>em</strong>po, é uma<br />
norma internacional para descrever objectos culturais. É promovido por<br />
grandes agências que zelam pelo cumprimento <strong>da</strong> lei (FBI, Scotland Yard,<br />
Interpol), museus, instituições culturais, organizações que negociam com arte<br />
ou a avaliam, e companhias seguradoras. Em 1999, o Projecto Object ID<br />
encontrou uma nova casa no Council for the Prevention of Art Theft (CoPAT) (ver<br />
a página <strong>da</strong> Internet do Object ID). O KIT Culture (Koninklijk Instituut voor de<br />
Tropen) na Holan<strong>da</strong> gere um programa para introduzir um sist<strong>em</strong>a de registo<br />
digital <strong>em</strong> museus de países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento. O objectivo é<br />
controlar o comércio ilegal <strong>da</strong> herança cultural. Desenvolveu um sist<strong>em</strong>a de<br />
documentação para museus, para ser utilizado <strong>em</strong> museus de catorze países <strong>em</strong><br />
África, Ásia e América Latina. Em ca<strong>da</strong> museu é instalado um computador com<br />
o software Object ID especialmente desenvolvido e uma câmara digital,<br />
conheci<strong>da</strong> como o pacote KIT Object ID. Basta carregar num botão para<br />
informar a Interpol e as autori<strong>da</strong>des aduaneiras que determinado objecto está<br />
<strong>em</strong> falta. Desta maneira, a informação circula mais depressa do que o objecto<br />
roubado (página <strong>da</strong> Internet do KIT Culture). Há algumas bases de <strong>da</strong>dos na Internet<br />
que registam as peças de arte e livros roubados, como a priva<strong>da</strong> Art Loss<br />
176
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
Register (ARL), a Red List of ICOM, que se concentra no saque de objectos<br />
arqueológicos de África, e a Interpol (ver PORTES 1996 e UNESCO 1995). Muitas destas<br />
pod<strong>em</strong> também ser consulta<strong>da</strong>s através <strong>da</strong>s páginas <strong>da</strong> Internet do Object ID e<br />
<strong>da</strong> Museum-Security Network. As precauções para controlar o roubo são<br />
muitas vezes designa<strong>da</strong>s como medi<strong>da</strong>s de segurança. As medi<strong>da</strong>s de segurança<br />
pod<strong>em</strong> ser de alta tecnologia, como as câmaras de vigilância e fechaduras<br />
electrónicas, ou tecnologia mais modesta, como a limitação do acesso às áreas<br />
de estantes, barras nas janelas, fechaduras e portões tradicionais, guar<strong>da</strong>s e<br />
vigilantes (BELLARDO 1995). O acesso controlado para os leitores habituais garante<br />
a disponibili<strong>da</strong>de dos documentos para as gerações futuras (READ 1994). Um<br />
ponto fraco na manutenção de qualquer sist<strong>em</strong>a de segurança são os<br />
descontentes que pod<strong>em</strong> tentar conseguir retribuição através do roubo,<br />
destruição ou manuseio incorrecto propositado <strong>da</strong>s colecções (ANÓNIMO 1999).<br />
Para além dos métodos técnicos de protecção, os arquivos dev<strong>em</strong> ter<br />
regulamentos de segurança. Para garantir a aplicação <strong>da</strong>s regras, as salas de<br />
leitura e as entra<strong>da</strong>s dev<strong>em</strong> ser supervisiona<strong>da</strong>s. Um processo de registo para<br />
visitantes e um regulamento geral de conduta dev<strong>em</strong> fazer parte do regulamento<br />
de segurança. Os avisos também pod<strong>em</strong> aju<strong>da</strong>r e, regra geral, são bons<br />
l<strong>em</strong>bretes do regulamento. A experiência ensina que os depósitos não dev<strong>em</strong><br />
estar acessíveis a todo o pessoal, e a aplicação estrita de procedimento de<br />
assinatura na entra<strong>da</strong> e na saí<strong>da</strong> <strong>da</strong>s áreas fecha<strong>da</strong>s é indispensável para uma<br />
segurança eficaz (DUCHEIN 1988; LING 1998; STOREY et al. 1989; THOMAS 1987; TRINKAUS-RANDALL<br />
1995). Também exist<strong>em</strong> normas sobre a conduta que um arquivista deve<br />
adoptar no caso de um roubo comum (TOTKA 1993). Os guar<strong>da</strong>s des<strong>em</strong>penham<br />
um papel importante para manter a segurança <strong>em</strong> arquivos, bibliotecas e<br />
museus, mas os guar<strong>da</strong>s não têm formação específica <strong>em</strong> todos os países. Se são<br />
s<strong>em</strong>ianalfabetos, é possível que não sejam capazes de identificar passes ou<br />
cartões de identi<strong>da</strong>de (BAXI 1974). Com a presença de seguranças treinados<br />
dentro <strong>da</strong>s instalações verificou-se uma ver<strong>da</strong>deira diferença <strong>em</strong> algumas<br />
bibliotecas – até se salvaram vi<strong>da</strong>s (SOETE 1999). O desenho do edifício pode<br />
aju<strong>da</strong>r a reduzir o risco do crime. As salas de leitura dev<strong>em</strong> ser desenha<strong>da</strong>s de<br />
modo a que o pessoal possa supervisionar o público (LING 1998; DUCHEIN 1988).<br />
Deve ter-se <strong>em</strong> conta que to<strong>da</strong>s as medi<strong>da</strong>s de segurança constantes no projecto<br />
do edifício depend<strong>em</strong> <strong>da</strong> quali<strong>da</strong>de dos materiais e <strong>da</strong>s técnicas de construção.<br />
Por ex<strong>em</strong>plo, a aplicação de uma fechadura não funciona quando os materiais<br />
utilizados para a construção <strong>da</strong> porta, do armário ou <strong>da</strong> janela onde está fixa<strong>da</strong><br />
são de baixa quali<strong>da</strong>de (DIXON 1999). Apesar de ter sido publicado já há algum<br />
t<strong>em</strong>po, ain<strong>da</strong> pode ser interessante ler o trabalho no periódico <strong>da</strong> UNESCO<br />
177
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Museum, 1974, 26 (1), dedicado totalmente aos roubos. Uma bibliografia selecciona<strong>da</strong><br />
sobre a arte de roubar está disponível na página <strong>da</strong> Internet do Museum<br />
Security. Na mesma página encontra-se uma bibliografia electrónica <strong>da</strong> URL sobre<br />
Arqueologia, Antigui<strong>da</strong>des, Roubos e Pilhagens e Bibliografia sobre o Probl<strong>em</strong>a<br />
<strong>da</strong>s Pilhagens: páginas <strong>da</strong> Internet e literatura sobre Políticas Arqueológicas para<br />
Colecções Priva<strong>da</strong>s, Caça Comercial ao Tesouro, Pilhag<strong>em</strong> e Arqueologia<br />
Profissional. Para manuais sobre segurança, ver TRINKAUS-RANDALL 1995 e FENNELLY<br />
1983 (tecnicamente desactualizado). Para mais informação sobre todo o tipo de<br />
fechaduras, ver DIXON 1999. Para mais bibliografia, ver ALLEN 1990 e 1994;<br />
JACKANICZ 1990; LEMMON 1991; MOFFET 1988; OKOTORE 1990; OKOYE-IKONTA et al.<br />
1981; ONADIRAN 1988; SCHMIDT et al. 1996; SOZANSKI 1999.<br />
6.4.4 Negligência e van<strong>da</strong>lismo<br />
A negligência é maioritariamente causa<strong>da</strong> pela falta de cui<strong>da</strong>do ou pelos<br />
escassos meios económicos, mas também pode ser proposita<strong>da</strong>.Abrange vários<br />
sectores: a manutenção do edifício, o manuseamento dos objectos pelo pessoal<br />
e pelos utentes e o cumprimento <strong>da</strong>s normas por parte do pessoal (ver também<br />
os capítulos sobre Edifícios e Armazenamento). Outras formas de negligência diz<strong>em</strong><br />
respeito aos objectos relacionados com minorias, colecções que foram leva<strong>da</strong>s<br />
por forças de ocupação como troféus ou colecções que foram desloca<strong>da</strong>s para<br />
depósitos mais seguros (HOEVEN et al. 1996). Estes objectos dev<strong>em</strong> voltar aos seus<br />
ver<strong>da</strong>deiros proprietários (ver também o capítulo sobre Preservação e conservação –<br />
Preservação <strong>em</strong> países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento – Artefactos dos trópicos). Entretanto,<br />
dev<strong>em</strong> receber o mesmo tratamento no depósito que os outros objectos <strong>da</strong><br />
colecção receb<strong>em</strong> (NIEC 1998). O van<strong>da</strong>lismo é frequent<strong>em</strong>ente um sinal de<br />
vingança (HANSAN 1974). Isto é confirmado através de um relatório sobre um<br />
vân<strong>da</strong>lo que cortou um quadro de um antigo mestre holandês com uma faca,<br />
no Dordrechts Museum, <strong>em</strong> 1989. Disse-se que o malfeitor estava des<strong>em</strong>pregado<br />
e revoltado com o facto de os estrangeiros arranjar<strong>em</strong> <strong>em</strong>prego na<br />
Holan<strong>da</strong> (TALLEY 1989). O departamento Darwin do Australian National Archives<br />
tinha bastantes probl<strong>em</strong>as até que construíram uma barreira à volta do local (LING<br />
1998).A área que circun<strong>da</strong> o edifício também deve ser b<strong>em</strong> ilumina<strong>da</strong>.As árvores<br />
e os arbustos têm a desvantag<strong>em</strong> de conseguir esconder pessoas e também<br />
pod<strong>em</strong> ser utilizados como acesso ao edifício. Uma boa ve<strong>da</strong>ção impede<br />
violações de proprie<strong>da</strong>de alheia e restringe a transferência ilegal de proprie<strong>da</strong>de<br />
(BAXI 1974; DUCHEIN 1988; LING 1998; TEULING 1994). É aconselhável o patrulhamento<br />
178
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
aleatório <strong>da</strong> zona nas horas mortas por pessoal <strong>da</strong> segurança (BAXI 1974). Um<br />
estudo sobre museus indianos no início dos anos oitenta revelou que a maioria<br />
dos <strong>da</strong>nos <strong>em</strong> objectos é causa<strong>da</strong> mais pela negligência por parte do conservador<br />
do que por qualquer outra razão (AGRAWAL 1928B). Através de formação adequa<strong>da</strong> e<br />
de educação estes probl<strong>em</strong>as podiam, pelo menos <strong>em</strong> parte, ser evitados.A maior<br />
parte <strong>da</strong>s páginas <strong>da</strong> Internet com os títulos Guerra e Roubos cont<strong>em</strong> informação<br />
sobre negligência e van<strong>da</strong>lismo.<br />
6.5 Cooperação internacional<br />
Muitos sist<strong>em</strong>as de alta tecnologia só pod<strong>em</strong> concretizar-se através <strong>da</strong><br />
cooperação internacional. Contribu<strong>em</strong> consideravelmente para uma ampla<br />
mitigação do desastre, com a integração de sist<strong>em</strong>as convencionais de<br />
prevenção de desastre.<br />
6.5.1 WMO<br />
A World Meteorological Organization (WMO) é uma agência especializa<strong>da</strong> <strong>da</strong>s<br />
Nações Uni<strong>da</strong>s, desde 1951. O objectivo <strong>da</strong> WMO é facilitar a cooperação<br />
internacional para o estabelecimento de redes de estações, para levar a cabo<br />
observações meteorológicas, hidrológicas, etc.; e para promover o rápido intercâmbio<br />
de informação meteorológica, a normalização de observação<br />
meteorológica e a publicação uniforme de observações e estatísticas. O World<br />
Weather Watch (WWW) é a coluna dorsal <strong>da</strong>s activi<strong>da</strong>des <strong>da</strong> WMO. O WWW<br />
fornece informação actualiza<strong>da</strong> sobre as condições meteorológicas. O Tropical<br />
Cyclone Programme (TCP) está reunido sob a égide do WWW. O TCP, que<br />
contribui substancialmente para a activi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> UN International Decade for<br />
Natural Disaster Reduction, está designado para prestar assistência a mais de<br />
cinquenta países <strong>em</strong> zonas vulneráveis a ciclones tropicais, de modo a minimizar<br />
a destruição e per<strong>da</strong>s de vi<strong>da</strong>s através do aperfeiçoamento <strong>da</strong>s previsões<br />
e dos sist<strong>em</strong>as de alerta, b<strong>em</strong> como de medi<strong>da</strong>s de resposta a desastres. Uma<br />
parte do programa de hidrologia e de recursos hidráulicos é uma previsão<br />
especializa<strong>da</strong> para aju<strong>da</strong>r comuni<strong>da</strong>des e governos <strong>em</strong> zonas propensas a inun<strong>da</strong>ções.<br />
O Regional Programme com gabinetes para África, Américas, Caraíbas,<br />
Ásia e Pacífico, serve de centro regional a todos os outros programas <strong>da</strong> WMO<br />
e contribui para a sua expansão especialmente <strong>em</strong> novas zonas prioritárias.<br />
179
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
6.5.2 O Protocolo de Haia<br />
Um segundo novo protocolo para a 1954 Hague Convention on the Protection<br />
of Cultural Property in the Event of Armed Conflict foi adoptado por<br />
unanimi<strong>da</strong>de, na noite de sexta-feira, dia 26 de Março de 1999, <strong>em</strong> Haia, na<br />
Holan<strong>da</strong>. O novo Protocolo representa o maior avanço quanto à protecção<br />
internacional <strong>da</strong> cultura durante déca<strong>da</strong>s. A 1954 Hague Convention, que t<strong>em</strong><br />
como objectivo a prevenção de grandes per<strong>da</strong>s de património cultural importante,<br />
falhou durante os últimos quarenta e cinco anos, especialmente no que<br />
respeita a conflitos armados, como guerras civis, que se tornaram numa<br />
característica constante no mundo pós-guerra. Um dos maiores avanços reside<br />
no facto de que, após a assinatura de 1954, o Protocolo se impôs, foi impl<strong>em</strong>entado<br />
e finalmente cumprido.Vão realizar-se duas reuniões anuais dos States<br />
Parties e os States elegerão o Committee for the Protection of Cultural Property<br />
in the Event of Armed Conflict constituído por doze m<strong>em</strong>bros.A Comissão t<strong>em</strong><br />
como dever controlar e promover de uma maneira geral, b<strong>em</strong> como considerar<br />
candi<strong>da</strong>turas tanto para a protecção excepcional como para a assistência<br />
financeira, um fundo a estabelecer de acordo com o Protocolo. A International<br />
Committee of the Blue Shield e as suas distintas organizações profissionais<br />
constituintes vão des<strong>em</strong>penhar um papel importante de consultoria <strong>em</strong> relação<br />
à Comissão e às reuniões dos States Parties e serão consulta<strong>da</strong>s sobre propostas<br />
para, por ex<strong>em</strong>plo, a designação excepcional de protecção.<br />
6.5.3 CARDIN<br />
A Caribbean Disaster Information Network (CARDIN) foi cria<strong>da</strong> <strong>em</strong> Junho de<br />
1999 para garantir a ligação com organizações <strong>da</strong>s Caraíbas relaciona<strong>da</strong>s com<br />
desastres, para alargar o âmbito <strong>da</strong> colecção de informação relaciona<strong>da</strong> com<br />
desastres e para assegurar um melhor acesso a esse material. Em colaboração<br />
com os seus associados, procura fornecer uma abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> nova e dinâmica no<br />
acesso e diss<strong>em</strong>inação <strong>da</strong> informação relaciona<strong>da</strong> com desastres, de forma a<br />
preparar e minimizar os efeitos dos desastres na Região <strong>da</strong>s Caraíbas. Desde<br />
Janeiro de 2000, o CARDIN Newsletter t<strong>em</strong> sido publicado <strong>em</strong> inglês, francês e<br />
espanhol. Muitas organizações beneficiam <strong>da</strong> sua activi<strong>da</strong>de, como organismos<br />
governamentais, uni<strong>da</strong>des de planeamento, técnicos de estatística, decisores políticos,<br />
investigadores e estu<strong>da</strong>ntes. A rede cobre as Caraíbas de língua inglesa,<br />
holandesa, espanhola e francesa e é subsidia<strong>da</strong> pelo European Community<br />
180
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
Humanitarian Office (ECHO). A Library of the University of the West Indies, <strong>em</strong><br />
Mona, foi escolhi<strong>da</strong> como ponto central para a informação sobre desastres nas<br />
Caraíbas. O Joint IFLA/ICA Committee on Preservation and Conservation for<br />
Africa (JICPA) t<strong>em</strong> promovido a criação de comissões nacionais. Pelo menos<br />
treze países, incluindo a África do Sul, Botswana, Quénia e Nigéria, diz<strong>em</strong> ter<br />
comissões de preservação. Segundo G. O. Alegbeleye, apenas as bibliotecas <strong>da</strong><br />
África do Sul têm programas de gestão de desastres. Ele espera que, no futuro,<br />
mais bibliotecas africanas possam desenvolver programas de gestão de desastre,<br />
através <strong>da</strong> informação disponível nas comissões nacionais (ALEGBELEYE 1999).<br />
6.5.4 ICBS<br />
O Blue Shield é o equivalente cultural à Cruz Vermelha. Trata-se do símbolo<br />
aprovado na Convenção de Haia de 1954 (ver acima) para assinalar locais<br />
culturais, de modo a protegê-los de ataques <strong>em</strong> caso de conflito armado.<br />
É também o nome de uma comissão internacional organiza<strong>da</strong> <strong>em</strong> 1996 para<br />
proteger a herança cultural mundial ameaça<strong>da</strong> por guerras e desastres naturais.<br />
O ICBS, International Committee of the Blue Shield, é uma comissão permanente<br />
para coordenação e resposta <strong>em</strong> caso de <strong>em</strong>ergência dos quatro corpos<br />
profissionais não-governamentais <strong>da</strong> UNESCO para a área <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong>de cultural,<br />
i. é, o International Council on Archives (ICA), a International Federation<br />
of Library Associations and Institutions (IFLA), o International Council of<br />
Museums (ICOM), e o International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).<br />
Trabalham juntos no sentido de preparar<strong>em</strong> e responder<strong>em</strong> a situações de<br />
<strong>em</strong>ergência que possam afectar a herança cultural e cobr<strong>em</strong> museus e arquivos,<br />
locais históricos e bibliotecas. Respeitam os seguintes princípios: acções<br />
conjuntas; independência; neutrali<strong>da</strong>de; profissionalismo; respeito pela<br />
identi<strong>da</strong>de cultural; trabalho numa base não-lucrativa. É vital que esta iniciativa<br />
internacional seja adopta<strong>da</strong> e suporta<strong>da</strong> por iniciativas locais. Em muitos países<br />
estão a ser formados Blue Shield Committees. O trabalho do ICBS foi<br />
reconhecido no Segundo Protocolo <strong>da</strong> Convenção de Haia, acor<strong>da</strong>do <strong>em</strong> Abril<br />
de 1999, entre 84 países. Isto dá ao ICBS um novo papel, o de aconselhar o<br />
Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed<br />
Conflict, estrutura intergovernamental.<br />
181
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
6.5.5 IDNDR e ISDR<br />
No início de 1990, as Nações Uni<strong>da</strong>s (ONU) lançaram a International Decade<br />
for Natural Disaster Reduction (IDNDR 1990 – 2000) para sensibilizar as pessoas<br />
para o quanto elas próprias pod<strong>em</strong> fazer para se proteger dos desastres naturais.<br />
O programa <strong>da</strong> ONU t<strong>em</strong> indubitavelmente conseguido muitas coisas boas,<br />
<strong>em</strong>bora tenha pouco impacto no ci<strong>da</strong>dão médio e pouco resultado na redução<br />
<strong>da</strong> severi<strong>da</strong>de dos desastres a nível mundial. A última déca<strong>da</strong> do século XX<br />
assistiu a muitos desastres naturais. Só na região <strong>da</strong> Ásia/Pacífico houve<br />
grandes inun<strong>da</strong>ções no Bangladesh e na China, um terramoto particularmente<br />
grave no Japão e incêndios florestais devastadores na Austrália. Em todos estes<br />
casos houve muitas críticas sobre a adequação <strong>da</strong> preparação e sobre a eficácia<br />
<strong>da</strong> resposta. Este ponto de vista é suportado pelas conclusões alcança<strong>da</strong>s pela<br />
revisão periódica do programa <strong>da</strong> World Conference on Natural Disaster<br />
Reduction <strong>em</strong> Yokohama, Japão, 23-27 Maio 1994, a que assistiram representantes<br />
de 155 países (LYALL 1997). Apesar <strong>da</strong>s críticas, o programa procede.<br />
Em 1999, o International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) foi incorporado<br />
no IDNDR Programme Forum como o passo seguinte para o IDNDR.<br />
Reafirma a necessi<strong>da</strong>de de considerar como el<strong>em</strong>entos essenciais <strong>da</strong>s políticas<br />
governamentais quer a redução do desastre, quer a gestão do risco. O ISDR<br />
batalhará no sentido de conseguir que to<strong>da</strong>s as socie<strong>da</strong>des se torn<strong>em</strong> resistentes<br />
aos efeitos dos acidentes naturais, de forma a reduzir as per<strong>da</strong>s humanas,<br />
económicas e sociais. Esta visão concretizar-se-á centrando-se nos seguintes<br />
seis objectivos: aumento <strong>da</strong> sensibilização pública; obtenção do envolvimento<br />
<strong>da</strong>s autori<strong>da</strong>des públicas; estimulação <strong>da</strong> interdisciplinari<strong>da</strong>de e <strong>da</strong>s parcerias<br />
intersectoriais, e expansão <strong>da</strong> rede para redução de riscos a todos os níveis;<br />
melhoramento do conhecimento científico sobre as causas dos desastres<br />
naturais e os efeitos dos acidentes naturais e desastres relacionados de carácter<br />
tecnológico e ambiental sobre as socie<strong>da</strong>des; contínua cooperação internacional<br />
para reduzir o impacto do El Niño e outras variantes climáticas; reforço<br />
<strong>da</strong>s capaci<strong>da</strong>des de redução do desastre através do Early Warning. Para mais<br />
informação sobre o IDNDR, ver INGLETON 1999.<br />
6.5.6 ECHO<br />
Desde 1994, o ECHO, European Community Humanitarian Office, t<strong>em</strong> vindo a<br />
financiar a prevenção de desastres, as operações de prevenção, de mitigação e<br />
182
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
de preparação <strong>em</strong> todo o mundo <strong>em</strong> desenvolvimento <strong>em</strong> resposta a pedidos<br />
<strong>da</strong>s NGO’s, organizações internacionais e institutos universitários de investigação.<br />
Embora o man<strong>da</strong>to do ECHO seja providenciar e subsidiar aju<strong>da</strong><br />
humanitária, faz muito mais do que isso. Desenvolve estudos, estabelece<br />
acordos de cooperação, promove e coordena medi<strong>da</strong>s de prevenção de desastre<br />
formando especialistas, reforçando instituições e gerindo microprojectos-<br />
-piloto. A ECHO também organiza programas de formação e desenvolve acções<br />
de sensibilização do público acerca de questões humanitárias na Europa e<br />
noutros sítios.
7<br />
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
7.1 Introdução<br />
Em todo o mundo, o número de pragas nocivas é muito elevado. No entanto,<br />
apenas uma pequena percentag<strong>em</strong> é prejudicial ao Hom<strong>em</strong> e aos seus bens<br />
armazenados. Correspond<strong>em</strong> a vários milhares de pragas de invertebrados,<br />
como insectos e ácaros, e a algumas dúzias de vertebrados, como roedores,<br />
morcegos e pássaros. Essas pragas são combati<strong>da</strong>s <strong>em</strong> todo o lado mas, devido<br />
a certas condições climáticas e socioculturais, os países <strong>em</strong> vias de desenvolvimento<br />
são os que mais sofr<strong>em</strong>. Em primeiro lugar, porque muitas espécies se<br />
desenvolv<strong>em</strong> excelent<strong>em</strong>ente <strong>em</strong> climas tropicais, e, depois, porque exist<strong>em</strong><br />
poucos obstáculos a esse desenvolvimento. A infestação por pragas pode<br />
desencadear três efeitos prejudiciais: <strong>da</strong>nos <strong>em</strong> objectos, <strong>da</strong>nos nos utilizadores,<br />
medo aos utilizadores. Os materiais orgânicos são geralmente muito<br />
sensíveis a infestações: os mais ameaçados são os livros e o papel, seguidos por<br />
colecções de História Natural, materiais já anteriormente <strong>da</strong>nificados, têxteis e<br />
materiais etnográficos (CLARESON 1993). Aos insectos se dev<strong>em</strong> anualmente muitas<br />
per<strong>da</strong>s e <strong>da</strong>nos, sendo eles ain<strong>da</strong> parcialmente responsáveis pela lenta erosão <strong>da</strong><br />
nossa herança cultural (PINNIGER 1994). Nenhuma colecção escapa às pragas.<br />
O t<strong>em</strong>po joga a favor dos insectos, uma vez que a sua existência é muito<br />
anterior à <strong>da</strong> humani<strong>da</strong>de.Tiveram, portanto, muito mais t<strong>em</strong>po para se tornar<br />
naquilo que são present<strong>em</strong>ente e esse t<strong>em</strong>po concedeu-lhes a capaci<strong>da</strong>de de se<br />
a<strong>da</strong>ptar<strong>em</strong> praticamente a todo o tipo de situações. Por isso, aproveitam to<strong>da</strong>s<br />
185
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
as oportuni<strong>da</strong>des concedi<strong>da</strong>s pelos desastres naturais, pelas alterações<br />
climáticas e por circunstâncias difíceis. Possu<strong>em</strong> o instinto e a capaci<strong>da</strong>de de se<br />
a<strong>da</strong>ptar <strong>em</strong> a to<strong>da</strong>s as condições, através do seu poderoso instinto de sobrevivência.<br />
Graças à rapidez com que se multiplicam, consegu<strong>em</strong> ultrapassar quase<br />
tudo. Nesse sentido, os insectos são inimigos t<strong>em</strong>íveis (PLUMBE 1959b). A maioria<br />
<strong>da</strong>s espécies de insectos com maior probabili<strong>da</strong>de de infestar colecções <strong>em</strong><br />
suporte de papel é atraí<strong>da</strong>, não tanto pelo papel <strong>em</strong> si, mas pela sua encolag<strong>em</strong>,<br />
adesivos e amidos, mais facilmente digeríveis do que a celulose de que é<br />
composto. Alguns insectos também atacam a celulose (papel e cartão), b<strong>em</strong><br />
como proteínas (pergaminho e peles). Os <strong>da</strong>nos provocados por insectos não<br />
derivam exclusivamente dos seus hábitos alimentares: as colecções são<br />
igualmente <strong>da</strong>nifica<strong>da</strong>s pela construção de galerias e ninhos, tal como pelos<br />
seus dejectos (LINDBLOM PATKUS 1999). O bolor, outra b<strong>em</strong> conheci<strong>da</strong> ameaça para<br />
os arquivos, desenvolveu uma simbiose perfeita com a natureza e com os<br />
objectos feitos de materiais naturais. Os esporos consegu<strong>em</strong> sobreviver <strong>em</strong><br />
quaisquer condições climáticas, sejam elas mais ou menos quentes, frias,<br />
húmi<strong>da</strong>s ou secas. Essa capaci<strong>da</strong>de de ajustamento a quase to<strong>da</strong>s as condições<br />
materiais caracteriza os microorganismos enquanto agentes primários de<br />
deterioração. Tratam-se de organismos unicelulares que não necessitam <strong>da</strong><br />
energia <strong>da</strong> luz para o seu crescimento. Os esporos microscópicos, produzidos<br />
<strong>em</strong> grandes quanti<strong>da</strong>des e aerotransportados, são diss<strong>em</strong>inados pelas correntes<br />
de ar. Por vezes são à prova de água e resistentes à secag<strong>em</strong> (desidratação). Os<br />
microorganismos, tal como os fungos, <strong>da</strong>nificam permanent<strong>em</strong>ente os materiais<br />
que os abrigam, aos quais provocam manchas e diminu<strong>em</strong> a respectiva<br />
resistência mecânica. As manchas dispersas <strong>em</strong> papel impresso ou gravuras<br />
(foxing) resultam destes surtos. Só o calor ou o frio extr<strong>em</strong>os consegu<strong>em</strong><br />
destruí-los (NATIONAL PARK SERVICE 1993). Os roedores constitu<strong>em</strong> outra séria ameaça<br />
<strong>em</strong> arquivos, bibliotecas e museus. São devoradores relativamente pequenos,<br />
pertencentes ao reino dos vertebrados, i. é, são animais com coluna vertebral.<br />
Alguns deles, como as ratazanas ou os ratos, constitu<strong>em</strong> pragas comuns <strong>em</strong><br />
áreas urbanas e industriais. Exist<strong>em</strong> outras espécies de roedores que são<br />
considera<strong>da</strong>s pragas <strong>em</strong> certas regiões do globo ou <strong>em</strong> determina<strong>da</strong>s circunstâncias.<br />
Contudo, <strong>em</strong>bora ocasionalmente se torn<strong>em</strong> pragas ameaçadoras,<br />
nenhuma delas se diss<strong>em</strong>inou globalmente como o rato doméstico, a ratazana<br />
<strong>da</strong> Noruega e o rato dos telhados (ver a página <strong>da</strong> Internet <strong>da</strong> Rentokil). Diversos<br />
roedores atacam materiais de encadernação, adesivos e outras substâncias<br />
existentes nas colecções de bibliotecas e arquivos. Como alguns deles são<br />
atraídos por locais fechados e escuros, que abun<strong>da</strong>m <strong>em</strong> armazéns e depósitos,<br />
186
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
e muitos desses materiais raramente são manipulados, por vezes os roedores<br />
causam graves <strong>da</strong>nos antes de ser<strong>em</strong> detectados (LINDBLOM PATKUS 1999). Os materiais<br />
de arquivo pod<strong>em</strong> ser roídos, conspurcados, manchados e rasgados<br />
(BRANDT-GRAU 2000). Uma prova evidente dos estragos causados por roedores nos<br />
depósitos são as marcas de dentes por eles deixa<strong>da</strong>s <strong>em</strong> encadernações de pele<br />
e velino. Outras encadernações serão destruí<strong>da</strong>s por contaminação de<br />
excr<strong>em</strong>entos ou urina. O mais grave é que, pela sua proximi<strong>da</strong>de, o Hom<strong>em</strong><br />
fica exposto a doenças graves, algumas <strong>da</strong>s quais de desfecho fatal (ver a página<br />
<strong>da</strong> Internet <strong>da</strong> Rentokil).<br />
7.1.1 As medi<strong>da</strong>s tradicionais<br />
Desde há séculos que as populações vêm combatendo pragas e desenvolvendo<br />
uma larga varie<strong>da</strong>de de soluções e técnicas de erradicação. Em muitos casos,<br />
algumas soluções apenas funcionaram <strong>em</strong> parte; outras, foram eficazes durante<br />
um curto período de t<strong>em</strong>po; outras, ain<strong>da</strong>, revelaram-se extr<strong>em</strong>amente tóxicas,<br />
quer para o Hom<strong>em</strong>, quer para o meio ambiente. Em relação a ataques de<br />
pragas de insectos, o grande desenvolvimento <strong>da</strong> química proporcionou ao<br />
Hom<strong>em</strong> defesas muito importantes na sua protecção pessoal e na protecção<br />
dos seus bens culturais. Actualmente, os anúncios publicitários incitam o<br />
público a recear as pragas e a contar com o exterminador (um sist<strong>em</strong>a de eliminação<br />
de pragas robotizado) para exercer o seu controlo imediato, simples<br />
e eficaz.Todos os anos se gastam milhões de dólares <strong>em</strong> produtos vendidos ao<br />
balcão, serviços profissionais e pestici<strong>da</strong>s de uso restrito. E, mesmo assim, as<br />
pragas persist<strong>em</strong>. Na reali<strong>da</strong>de, alguns especialistas consideram que apenas<br />
estamos a criar espécies de superpragas, com resistência acresci<strong>da</strong> a pestici<strong>da</strong>s<br />
(CHICORA 1994). As bibliotecas e os arquivos têm recorrido tradicionalmente a<br />
pestici<strong>da</strong>s para prevenção regular de pragas e resposta a infestações. Contudo,<br />
muitas vezes os pestici<strong>da</strong>s não imped<strong>em</strong> infestações e a sua aplicação não pode<br />
r<strong>em</strong>ediar os estragos já provocados (LINDBLOM PATKUS 1999). Desde que o óxido de<br />
etileno caiu <strong>em</strong> desgraça, nos finais dos anos 80, deixou de haver fumigantes<br />
apropriados para uso <strong>em</strong> bibliotecas e arquivos, capazes de controlar eficazmente<br />
microorganismos e insectos. As fumigações com timol, destina<strong>da</strong>s a<br />
conter bolores, revelaram-se, a longo prazo, mais prejudiciais do que benéficas.<br />
A procura de substitutos atóxicos do óxido de etileno, do timol e de outros<br />
fumigantes conhecidos, prosseguiu <strong>em</strong> passo acelerado, desde então, com<br />
algum sucesso (McCRADY 1991). Preocupações ambientais e de saúde provocaram<br />
187
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
uma mu<strong>da</strong>nça radical na percepção geral dos métodos de controlo químico de<br />
pragas. Instituições governamentais e ambientais procuram limitar ain<strong>da</strong> mais<br />
o uso de substâncias químicas <strong>em</strong> áreas que, até aqui, as tinham utilizado <strong>em</strong><br />
tratamentos de rotina (NICHOLSON et al. 1996). Os pestici<strong>da</strong>s não só pod<strong>em</strong> causar<br />
probl<strong>em</strong>as de saúde ao pessoal <strong>da</strong>s instituições, como pod<strong>em</strong> ain<strong>da</strong> <strong>da</strong>nificar<br />
as colecções <strong>em</strong> suporte de papel. A ver<strong>da</strong>de é que t<strong>em</strong>os de mu<strong>da</strong>r a nossa<br />
maneira de li<strong>da</strong>r com infestações de pragas: recorrer menos a substâncias<br />
químicas, assegurar que aquelas que utilizamos são adequa<strong>da</strong>s, que a sua<br />
aplicação é correcta e, de entre os pestici<strong>da</strong>s disponíveis, seleccionar os menos<br />
tóxicos. Simultaneamente, dev<strong>em</strong>os prosseguir a introdução de modificações<br />
mecânicas e culturais de modo a afastar ou eliminar mais eficazmente as pragas<br />
pela fome, tornando os museus, bibliotecas, arquivos e locais históricos menos<br />
apelativos para tudo aquilo que possa constituir uma ameaça às colecções<br />
(CHICORA 1994).<br />
7.1.2 As novas técnicas<br />
No início dos anos 80, surgiram diversas tendências na gestão de pragas <strong>em</strong><br />
museus. Embora continuass<strong>em</strong> preocupados com os <strong>da</strong>nos infligidos pelas<br />
pragas às colecções, os conservadores começaram a preocupar-se igualmente<br />
com os <strong>da</strong>nos provocados pelos pestici<strong>da</strong>s <strong>em</strong> materiais históricos. Também a<br />
sua preocupação com eventuais efeitos <strong>da</strong>s substâncias tóxicas na saúde se foi<br />
desenvolvendo gradualmente. Tentaram então descobrir uma maneira de<br />
proteger as colecções que reduzisse simultaneamente o contacto com materiais<br />
tóxicos. Cedo tropeçaram na Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas (GIP), inicialmente<br />
desenvolvi<strong>da</strong> tendo <strong>em</strong> vista as comuni<strong>da</strong>des agrícolas e urbanas, e aplicaram<br />
o conceito a arquivos, bibliotecas e museus (JESSUP 2001). O t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que a<br />
maioria <strong>da</strong>s instituições assinava contratos relativos a pulverizações mensais<br />
acabou. O técnico <strong>da</strong> <strong>em</strong>presa chegava, pontual como um relógio e executava<br />
as suas pulverizações <strong>em</strong> diversos locais. Os conservadores confiavam<br />
plenamente na <strong>em</strong>presa, tal como no técnico (CHICORA 1994). Dez anos após a sua<br />
introdução na conservação, a ênfase no controlo de pragas transferiu-se<br />
totalmente para a GIP (McCRADY 1991). A abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> <strong>da</strong> GIP à prevenção e gestão<br />
de pragas baseia-se fun<strong>da</strong>mentalmente <strong>em</strong> meios atóxicos (como o controlo<br />
<strong>da</strong>s condições ambiente, de alimentos e de pontos de entra<strong>da</strong> nos edifícios).<br />
Os tratamentos químicos usam-se apenas <strong>em</strong> situações de crise que ameac<strong>em</strong><br />
destruições rápi<strong>da</strong>s, ou quando as pragas não ced<strong>em</strong> a métodos mais conser-<br />
188
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
vadores (LINDBLOM PATKUS 1999). Actualmente, a GIP é o método preferido por todos<br />
e muitas <strong>em</strong>presas de controlo de pragas oferec<strong>em</strong> já serviços nessa área,<br />
<strong>em</strong>bora muito frequent<strong>em</strong>ente pouco mais sejam do que as velhas técnicas<br />
com uma nova aparência, de modo a torná-las mais apelativas. Um ver<strong>da</strong>deiro<br />
programa de GIP prefere abor<strong>da</strong>gens menos tóxicas e integra uma grande<br />
varie<strong>da</strong>de de meios mecânicos, culturais, biológicos e (<strong>em</strong> último recurso)<br />
químicos (CHICORA 1994). É impossível fornecer uma solução pronta-a-usar <strong>em</strong><br />
relação a qualquer tipo de praga. A abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> <strong>da</strong> GIP depende do local e <strong>da</strong>s<br />
circunstâncias. Algumas delas são: o clima; as condições nos depósitos; zonas<br />
circun<strong>da</strong>ntes dos edifícios; o tipo de pragas (JESSUP 2001). Os técnicos de preservação<br />
modernos recomen<strong>da</strong>m a aplicação de programas de Gestão Integra<strong>da</strong> de<br />
Pragas e, na maioria <strong>da</strong>s instituições onde ele já foi aplicado, tanto o uso de<br />
pestici<strong>da</strong>s, como a incidência de pragas diminuiu de forma muito significativa<br />
(MITCHELL [s. d.]).<br />
7.2 Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas (GIP)<br />
Dwight Isley foi o primeiro a escrever sobre o conceito de GIP, enquanto prática<br />
formal aplica<strong>da</strong> à agricultura. O trabalho de Isley começou nos anos 20,<br />
quando ele revolucionou o moderno controlo de pragas, ao aplicar critérios<br />
como a vigilância, as preocupações económicas e a utilização de armadilhas,<br />
<strong>em</strong> simultâneo com insectici<strong>da</strong>s, no ataque ao escaravelho <strong>da</strong>s s<strong>em</strong>entes do<br />
algodão no Arkansas. Isley estudou a biologia e a ecologia desse escaravelho e<br />
integrou essa informação num sist<strong>em</strong>a de gestão de pragas. Apesar do programa<br />
pioneiro de Isley, e depois de outros investigadores se ter<strong>em</strong> igualmente<br />
apercebido dos probl<strong>em</strong>as potenciais causados pelo uso de pestici<strong>da</strong>s, a GIP só<br />
ganhou ímpeto nos finais dos anos 60. Inicialmente os progressos <strong>da</strong> GIP foram<br />
lentos, <strong>em</strong> parte devido à existência de muitos pestici<strong>da</strong>s sintéticos, baratos e<br />
eficazes, mas também pelo conhecimento limitado sobre as consequências do<br />
seu uso, a longo prazo, para os organismos e o ambiente. Contudo, como o<br />
recurso a esses compostos aumentou e se diss<strong>em</strong>inou, certos factores conduziram<br />
a graves impactos negativos nos lucros de explorações agrícolas e ao<br />
desenvolvimento do interesse na criação de programas de GIP. Os três factores<br />
básicos a considerar são a resistência aos pestici<strong>da</strong>s, os efeitos dos pestici<strong>da</strong>s <strong>em</strong><br />
organismos que não são o seu alvo, e a regulamentação crescente. Em conjunto,<br />
os factores acima mencionados aceleraram a urgência no desenvolvimento de<br />
programas de GIP, tendo <strong>em</strong> vista uma gestão de pragas eficaz e exequível. Nova<br />
189
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
legislação foi ensaia<strong>da</strong> e os organismos oficiais começaram a des<strong>em</strong>penhar um<br />
papel mais importante na promoção <strong>da</strong> GIP, numa perspectiva de investigação<br />
e de alargamento. Nos anos 70, foram apoiados alguns projectos que privilegiavam<br />
a vigilância como forma de controlo <strong>da</strong> densi<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s populações de<br />
pragas e aconselhavam o uso de pestici<strong>da</strong>s apenas quando se atingiam níveis de<br />
infestação economicamente devastadores (preocupações económicas).<br />
Contudo, a redução do uso de pestici<strong>da</strong>s tornou-se agora <strong>da</strong> maior importância<br />
<strong>em</strong> conjunto com a rentabili<strong>da</strong>de. A nova filosofia <strong>da</strong> GIP integrava alguns dos<br />
antigos objectivos, como o tradicional critério <strong>da</strong> rentabili<strong>da</strong>de, mas também<br />
incluía factores como a segurança social e a sustentabili<strong>da</strong>de ambiental (ver a página<br />
<strong>da</strong> Internet do Northern States Conservation Center). Quando, no início dos anos 80,<br />
a Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas foi introduzi<strong>da</strong> na área <strong>da</strong> conservação, a ideia<br />
geral <strong>da</strong> GIP era facilmente compreensível. Naturalmente, os objectos a proteger<br />
deviam ser manuseados com mais cui<strong>da</strong>do do que produtos alimentares,<br />
e algumas substâncias químicas deviam ser utiliza<strong>da</strong>s com outra dosag<strong>em</strong>.<br />
Como a GIP constitui uma abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> ecológica aos probl<strong>em</strong>as decorrentes de<br />
infestações por pragas, e foi s<strong>em</strong>pre específica para ca<strong>da</strong> local, é possível<br />
a<strong>da</strong>ptá-la a qualquer situação. E <strong>em</strong>bora os pormenores dos tratamentos<br />
possam variar, a filosofia <strong>da</strong> GIP permanece a mesma. Os benefícios <strong>da</strong> GIP<br />
inclu<strong>em</strong>: um melhor controlo de pragas; um local de trabalho mais seguro e<br />
mais saudável; menores custos, devido à redução do uso de pestici<strong>da</strong>s; um<br />
melhor relacionamento na instituição e com o público (MITCHELL [s. d.]).<br />
7.2.1 Prevenção e controlo<br />
Qualquer programa de GIP, planeado para uma instituição sensível como uma<br />
biblioteca ou um arquivo, um museu histórico, cultural, etnográfico, de história<br />
de arte ou história natural, ou ain<strong>da</strong> para qualquer tesouro arquitectónico,<br />
deve conceder tanta importância à prevenção, como ao controlo de pragas.<br />
Os conservadores dos museus não pod<strong>em</strong> ficar à espera que parte de um<br />
objecto ou de uma estrutura de muito valor vá parar ao estômago de insectos<br />
ou roedores para reagir a um probl<strong>em</strong>a de infestação (PARKER 1993). Um programa<br />
de GIP eficaz reduz a capaci<strong>da</strong>de de sobrevivência <strong>da</strong>s pragas, diminuindo os<br />
el<strong>em</strong>entos essenciais a essa sobrevivência (por ex<strong>em</strong>plo, alimentos, humi<strong>da</strong>de<br />
e habitat). Os diversos componentes de qualquer plano de GIP cont<strong>em</strong>plam o<br />
controlo e a identificação de pragas, inspecções, modificações de habitat, rectificação<br />
de condições ambientais, saneamento básico correcto, acções de trata-<br />
190
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
mento, avaliação e formação. Esses componentes encontram-se <strong>em</strong> permanente<br />
actualização e são cíclicos. O objectivo <strong>da</strong> GIP é prevenir infestações de pragas<br />
e reduzir simultaneamente o uso de substâncias tóxicas, que pod<strong>em</strong> afectar<br />
negativamente o ambiente e os materiais que desejamos proteger (JESSUP 2001).<br />
Ou, de forma mais complexa: a GIP implica a aplicação de uma tecnologia de<br />
controlo integra<strong>da</strong> e inovadora, compatível com o ambiente, que recorre à<br />
gestão ambiental, ao controlo biológico e à educação do público, compl<strong>em</strong>enta<strong>da</strong><br />
com a utilização segura de uma tecnologia de controlo químico.<br />
7.2.2 A GIP e os edifícios<br />
As pragas introduz<strong>em</strong>-se <strong>em</strong> instituições culturais de muitas maneiras. Em<br />
primeiro lugar, e antes de mais, os edifícios possu<strong>em</strong> muitas aberturas, como<br />
portas, janelas e canalizações. As típicas fontes de infestação <strong>em</strong> museus têm<br />
orig<strong>em</strong> <strong>em</strong> trabalhos preparatórios (especialmente aqueles que utilizam<br />
insectos para limpar esqueletos de animais) e <strong>em</strong> programas educativos (dos<br />
quais os insectos escapam muitas vezes). Também os desastres naturais e as<br />
t<strong>em</strong>pestades constitu<strong>em</strong> boas vias de acesso a edifícios para as pragas (ver o<br />
capítulo sobre Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre), b<strong>em</strong> como a devolução de obras<br />
<strong>em</strong>presta<strong>da</strong>s e a existência de ninhos <strong>em</strong> aberturas dos telhados (CLARESON 1993).<br />
Actualmente, encontram-se já disponíveis diversos métodos arquitectónicos de<br />
protecção contra pragas, especialmente <strong>em</strong> países com larga experiência de<br />
infestações de térmitas (ver o capítulo sobre Edifícios).<br />
7.2.2.1 No interior do edifício<br />
Um programa de GIP será tão forte quanto o <strong>em</strong>penho <strong>da</strong>queles que o impl<strong>em</strong>entam<br />
e quanto o envolvimento de todos os que trabalham na instituição.<br />
Os passos necessários à aplicação de um programa de GIP abrang<strong>em</strong> os<br />
edifícios, o clima, a acessibili<strong>da</strong>de às colecções, as condições <strong>em</strong> que se encontram<br />
as colecções, o ambiente, o espaço envolvente do edifício e depende<br />
do modelo de gestão adoptado, dos estilos de gestão, etc. (MITCHELL [s. d.]).<br />
Os edifícios dev<strong>em</strong> ser considerados como a primeira barreira à entra<strong>da</strong> de<br />
insectos e des<strong>em</strong>penham um papel importante na gestão integra<strong>da</strong> de pragas.<br />
O mesmo se aplica às zonas circun<strong>da</strong>ntes, ao projecto e construção, à manutenção<br />
e saneamento, instalações e estruturas. As pragas potenciais de verte-<br />
191
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
brados pod<strong>em</strong> ser controla<strong>da</strong>s <strong>da</strong> mesma maneira que as de insectos. Antes de<br />
ve<strong>da</strong>r aberturas, será aconselhável verificar se algum animal permaneceu no<br />
interior do edifício (PEARSON 1993). É também particularmente importante<br />
adoptar procedimentos rigorosos no tratamento de colecções recent<strong>em</strong>ente<br />
adquiri<strong>da</strong>s, uma vez que pod<strong>em</strong> ter sido guar<strong>da</strong><strong>da</strong>s <strong>em</strong> sótãos ou caves que<br />
albergu<strong>em</strong> pragas (ver também HICKIN 1971). Esses procedimentos inclu<strong>em</strong> os<br />
seguintes cui<strong>da</strong>dos:<br />
• Inspecção imediata de todos os materiais que dão entra<strong>da</strong> nos serviços;<br />
• R<strong>em</strong>oção dos objectos que se encontram <strong>em</strong> áreas de depósito ou dentro<br />
de acondicionamentos para expedição;<br />
• Inspecção do verso <strong>da</strong>s molduras e dos passe-partout, de papel de <strong>em</strong>brulho<br />
e outros materiais acompanhantes;<br />
• Transferência de materiais para que se proce<strong>da</strong> à limpeza de caixas de<br />
arquivo;<br />
• Isolamento, se possível, dos materiais recebidos e sua colocação <strong>em</strong><br />
espaço afastado <strong>da</strong>s colecções existentes;<br />
• Eliminação de caixas velhas, a menos que possuam grande quali<strong>da</strong>de<br />
arquivística e se tenha a certeza de que não se encontram contamina<strong>da</strong>s;<br />
• Inspecção dos materiais recebidos e seu acondicionamento definitivo, o<br />
mais depressa possível;<br />
• Colocação de armadilhas, tipo ten<strong>da</strong>, adesiva, na parede interior de ca<strong>da</strong><br />
caixa para facilitar o controlo de insectos;<br />
• Aspiração cui<strong>da</strong>dosa dos materiais (partindo do princípio de que os<br />
objectos não estão deteriorados n<strong>em</strong> são frágeis) aplicando um filtro de<br />
nylon, ou de outro material macio, com um aspirador de grande potência.<br />
É bom l<strong>em</strong>brar que as colecções não constitu<strong>em</strong> a única fonte de alimento<br />
para os insectos. Muitas acções preventivas pod<strong>em</strong> ter lugar no interior do<br />
próprio edifício. Ao optimizar a utilização do edifício, as pragas pod<strong>em</strong> ser<br />
evita<strong>da</strong>s. Depois de uma boa gestão do edifício e do controlo regular de pragas,<br />
outros pontos de interesse dev<strong>em</strong> ser ain<strong>da</strong> mencionados:<br />
• O consumo de alimentos deve realizar-se <strong>em</strong> local apropriado; os restos<br />
de comi<strong>da</strong> dev<strong>em</strong> ser cui<strong>da</strong>dosamente guar<strong>da</strong>dos <strong>em</strong> caixas e fechados ou<br />
r<strong>em</strong>ovidos;<br />
• É bom l<strong>em</strong>brar que os pássaros mortos e/ou ninhos abandonados<br />
exerc<strong>em</strong> forte atracção sobre os insectos;<br />
• R<strong>em</strong>over insectos mortos;<br />
192
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
• Evitar a colocação de plantas no interior do edifício para não atrair<br />
insectos;<br />
• Verificar possíveis locais de entra<strong>da</strong> de insectos, como janelas e portas mal<br />
ve<strong>da</strong><strong>da</strong>s, janelas e portas habitualmente abertas, fen<strong>da</strong>s e rachas <strong>em</strong><br />
paredes e nas fun<strong>da</strong>ções, rachas <strong>em</strong> torno de canalizações, respiradouros<br />
e condutas de ar;<br />
• Estar atento a possíveis áreas húmi<strong>da</strong>s, como canos a pingar, fontes de<br />
água, armários onde se guar<strong>da</strong>m produtos químicos ou de limpeza,<br />
equipamentos de climatização, águas estagna<strong>da</strong>s <strong>em</strong> telhados ou outros<br />
locais onde possam atrair insectos;<br />
• Inspeccionar espaços pequenos, escuros, apertados e isolados, onde os<br />
insectos que ameaçam as colecções gostam de se abrigar;<br />
• Evitar a acumulação de poeiras e pós, que constitu<strong>em</strong> um ambiente<br />
hospitaleiro para as pragas.<br />
7.2.2.2 No exterior do edifício<br />
• A vegetação <strong>em</strong> torno do edifício constitui um óptimo habitat para os<br />
insectos; assim, deve ser manti<strong>da</strong> uma zona s<strong>em</strong> vegetação <strong>em</strong> torno do<br />
edifício de cerca de 40 cm;<br />
• A área que rodeia as fun<strong>da</strong>ções deve ser calceta<strong>da</strong> com cascalho e nivela<strong>da</strong><br />
de forma a evitar inun<strong>da</strong>ções nas caves;<br />
• Dev<strong>em</strong> ser manti<strong>da</strong>s as condições climáticas recomen<strong>da</strong><strong>da</strong>s para a<br />
preservação do papel, de modo a facilitar o controlo <strong>da</strong>s populações de<br />
insectos.<br />
7.2.3 A GIP – Linhas gerais<br />
Como a Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas (GIP) depende largamente de condições<br />
locais, foram desenvolvidos diversos modelos. De acordo com os seus<br />
objectivos específicos, os Arquivos Nacionais <strong>da</strong> Holan<strong>da</strong> definiram um<br />
programa de GIP para conter insectos, roedores e microorganismos, que<br />
constitu<strong>em</strong> uma ameaça permanente (ARA 2000). Os fundos que integram os<br />
Arquivos Nacionais são considerados únicos e muito valiosos o que faz com<br />
que a tolerância à presença de pragas seja muita baixa. A GIP pode definir-se,<br />
<strong>em</strong> termos gerais, como a coordenação de to<strong>da</strong> a informação sobre condições<br />
193
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
ambientais, no sentido mais lato, e o conhecimento sobre controlo de pragas.<br />
Um bom programa de GIP baseia-se numa utilização mínima de substâncias<br />
tóxicas e recorre a uma combinação de el<strong>em</strong>entos mecânicos, culturais,<br />
biológicos e químicos. Constitui um instrumento de gestão que reúne to<strong>da</strong>s as<br />
estratégias relaciona<strong>da</strong>s com infestações. Na sua essência, a GIP t<strong>em</strong> tudo a ver<br />
com a dinâmica <strong>da</strong>s populações <strong>da</strong>s espécies que constitu<strong>em</strong> as pragas.Trata-se<br />
de um processo para determinar ONDE, QUAL, COMO, PORQUÊ e O QUE deve ser<br />
feito. Para começar, algumas questões precisam de ser respondi<strong>da</strong>s:<br />
• Será que o controlo é mesmo necessário e se justifica?<br />
• Quando é o controlo necessário?<br />
• Onde é o controlo necessário?<br />
• Que tipo de que controlo é necessário?<br />
Todo o sist<strong>em</strong>a de GIP é construído <strong>em</strong> torno destas quatro questões, que<br />
dev<strong>em</strong> ser cui<strong>da</strong>dosamente pondera<strong>da</strong>s, uma a uma. Depois de encontra<strong>da</strong> a<br />
resposta a ca<strong>da</strong> uma delas, os t<strong>em</strong>as a considerar segui<strong>da</strong>mente são:<br />
• Em que momento se pode considerar que uma infestação alcançou a sua<br />
expressão máxima?<br />
• Os depósitos são constant<strong>em</strong>ente vigiados permitindo a identificação <strong>da</strong>s<br />
espécies de pragas?<br />
• Uma vez identifica<strong>da</strong> a praga, existirá informação suficiente para compreender<br />
a sua biologia e a sua vi<strong>da</strong>?<br />
• Quando se escolh<strong>em</strong> e aplicam as medi<strong>da</strong>s e os métodos apropriados ao<br />
controlo de pragas, estarão eles devi<strong>da</strong>mente enquadrados num programa<br />
b<strong>em</strong> integrado?<br />
• Quando o programa já se encontra a decorrer, é continuamente avaliado<br />
e ajustado, <strong>em</strong> caso de necessi<strong>da</strong>de?<br />
Provavelmente, o passo mais difícil <strong>em</strong> todo o programa de GIP é determinar<br />
o momento <strong>em</strong> que uma infestação atingiu o seu limite de tolerância e se torna<br />
necessário agir. Isso implica uma pergunta: que grau de <strong>da</strong>nificação dos<br />
arquivos será aceitável? Aplicando o mesmo raciocínio a pragas – quantos<br />
ex<strong>em</strong>plares de uma mesma espécie serão aceitáveis? Os limites de tolerância<br />
pod<strong>em</strong> variar de depósito para depósito.<br />
194
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
É absolutamente imperativo aprender tudo sobre a espécie identifica<strong>da</strong>, de<br />
modo a poder escolher o tratamento adequado. Algumas <strong>da</strong>s questões que se<br />
dev<strong>em</strong> colocar inclu<strong>em</strong> as seguintes:<br />
• Como se introduziu a praga no edifício?<br />
• Qual o seu local de reprodução?<br />
• O que come?<br />
• Onde se esconde?<br />
Para o controlo mecânico de pragas, aconselham-se as seguintes iniciativas:<br />
• Usar sist<strong>em</strong>as de encerramento automático nas portas dos depósitos;<br />
• Fechar to<strong>da</strong>s as janelas ou aplicar redes com 16-18 buracos por polega<strong>da</strong><br />
(2,75 cm) <strong>em</strong> to<strong>da</strong>s elas;<br />
• Aplicar rede com 16-18 buracos por polega<strong>da</strong> (2,75 cm) <strong>em</strong> to<strong>da</strong>s as<br />
grades;<br />
• Resolver todos os probl<strong>em</strong>as relacionados com água e humi<strong>da</strong>de;<br />
• Garantir que a climatização se mantém estável nos depósitos;<br />
• Usar a iluminação exterior como forma de desestabilização do padrão de<br />
vi<strong>da</strong> <strong>da</strong>s pragas;<br />
• Evitar a existência de flores e madeira <strong>em</strong> decomposição perto do<br />
edifício.<br />
Para o controlo cultural de pragas, recomen<strong>da</strong>-se o seguinte:<br />
• Evitar a presença de plantas (secas ou verdes) no edifício, incluindo os<br />
gabinetes;<br />
• Impedir a circulação e consumo de alimentos nas áreas de depósito;<br />
• Promover os hábitos de boa manutenção e ter cui<strong>da</strong>dos especiais com<br />
canalizações e condutas do lixo.<br />
É essencial que as diversas medi<strong>da</strong>s de controlo se integr<strong>em</strong> umas nas<br />
outras. Qualquer <strong>da</strong>s iniciativas – mecânica, cultural ou química – deve apoiar<br />
as outras.<br />
A vigilância sobre as pragas é uma preocupação diária para qualquer<br />
arquivo digno desse nome. Logo que se manifestam os primeiros sinais de<br />
infestação, esse controlo deve ser intensificado. Uma vez obtidos resultados<br />
195
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
através <strong>da</strong>s medi<strong>da</strong>s aplica<strong>da</strong>s, a intensi<strong>da</strong>de do controlo pode regressar ao nível<br />
normal. Se, pelo contrário, essas medi<strong>da</strong>s não produzir<strong>em</strong> resultados, todo o<br />
programa de GIP deverá ser ajustado. Durante a avaliação, deve ficar b<strong>em</strong> claro<br />
onde é que o programa falhou. Provavelmente, será necessário recorrer a<br />
medi<strong>da</strong>s de controlo químico de uso restrito. O recurso a substâncias químicas<br />
é muitas vezes limitado pela legislação de protecção do ambiente e <strong>da</strong> saúde<br />
pública. Nesse sentido, só pessoas qualifica<strong>da</strong>s – geralmente <strong>em</strong>presas<br />
especializa<strong>da</strong>s – são autoriza<strong>da</strong>s a usar pestici<strong>da</strong>s.<br />
7.2.4 Bibliografia<br />
Uma grande quanti<strong>da</strong>de de obras foi já publica<strong>da</strong> sobre Gestão Integra<strong>da</strong> de<br />
Pragas. Antes dos anos 80, quase to<strong>da</strong>s as publicações tinham <strong>em</strong> vista o<br />
controlo de pragas aplicado à agricultura e a locali<strong>da</strong>des urbanas. Ain<strong>da</strong> hoje,<br />
muitas publicações se dedicam, exclusivamente, à GIP aplica<strong>da</strong> à agricultura ou<br />
a produtos alimentares armazenados (nos trópicos). Quando o programa de<br />
GIP se tornou popular na área de conservação, muitas publicações dedica<strong>da</strong>s ao<br />
programa GIP pareciam especialmente talha<strong>da</strong>s para arquivos, bibliotecas e<br />
museus. De facto, não têm conta os livros e artigos dedicados a este t<strong>em</strong>a.<br />
A CoOL publica diversas bibliografias sobre gestão de pragas na sua página na<br />
Internet: ver SANCHEZ HERNAMPÉREZ 2001; JESSUP 2001 e SOLINET 2000. Os livros<br />
sobre GIP mais conhecidos <strong>em</strong> geral são FLORIAN 1997; HARMON 1993; OLKOWSKI<br />
et al. 1991; PARKER 1998. Outras obras inclu<strong>em</strong> BAISH 1987; FLINT et al. 1981a;<br />
HANLON et al. 1993 ; MITCHELL [s. d.]; PARKER 1987 e 1993; TRINKLEY 1990;<br />
VALENTIN et al. 1997; WEARING 1998.<br />
Sobre controlo de pragas nos trópicos, ver AGRAVAL 1985, 1989, 1991, 1993<br />
e 1995; AGRAVAL et al. 1991; ANÓNIMO 1962; ARANYANAK 1988; EZENNIA 1991;<br />
FLORIAN 1997; GARG et al. 1994; KUMAR et al. 1999; MORE et al. 1975; NAIR 1974<br />
1993b e 1995; NAIR et al. 1972; NATIONAL RESOURCE INSTITUTE 1972; QUEK et al.<br />
1990.<br />
Para uma bibliografia sobre controlo de pragas (urbanas), ver EBELING 1996.<br />
Uma visão completa sobre a maioria dos métodos não-químicos de controlo<br />
de pragas pode encontrar-se <strong>em</strong> WELLHEISER 1992. Se se pretende um guia<br />
recente sobre controlo de pragas, ver MALLIS 1990. Alguns títulos mais antigos<br />
sobre o controlo de pragas são ANÓNIMO 1955; BAYNES-COPE et al. 1966; HICKIN<br />
1971b; MERTON 1956; NAIR 1978; SZENT-YVANY 1968; ROSSMAN 1935; WERNER<br />
196
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
1968 e 1979; WINKS et al. 1977; WOOD 1956. Alguns títulos mais recentes<br />
sobre controlo de pragas (urbanas) são ACKERY et al. 1999; BAYNES-COPE et al.<br />
1987; BENNETT et al. 1986; BRANDT 1995; BREWER et al. 1996; CUNHA 1989;<br />
DUVERNE 1998; FLORIAN 1987; GILBERG. 1991; GILBERG et al 1992; GUPTA 1984;<br />
HEDGES 1994; LIFTON 1985; MEHROTA 1991; PASQURELLI 1989; PEARSON 1993 e<br />
1999; PINNIGER 1991, 1993 e 1994; PINNIGER et al. 1998; ROBINSON et al. 1999;<br />
SARKAR 1991; STANSFIELD 1989; STRANGER et al. 1992; TRUMAN et al. 1988;<br />
VALENTIN et al. 1998; WARE 1980; WILDLEY 1996; WILLIAMS et al. 1989; WIXED et<br />
al. 1997; ZAITSEVA 1989.<br />
Para literatura sobre biodegra<strong>da</strong>ção, ver ANÓNIMO 1949; ARANYANAK 1988;<br />
AGRAVAL 1985, 1989, 1991, 1993 e 1995; AGRAWAL et al. 1991; BARNES 1984;<br />
BRAVERY 1977; EZENNIA 1991; GARG et al. 1994; HONGSAGRUP 1995; KUMAR et al.<br />
1999; MORE et al. 1975; NAIR 1974, 1977, 1993b e 1995; NAIR et al. 1972;<br />
NYUKSHA 1980 e 1994; SINGH 1994; TOSHO et al. 1993; VALENTIN 1986; WALTERS<br />
et al. 1972; WIMALADASA 1993. Para manuais sobre a prevenção <strong>da</strong><br />
biodegra<strong>da</strong>ção, ver CUMBERLAND 1991.<br />
Muitas publicações electrónicas e outra informação útil pod<strong>em</strong> ser<br />
descarrega<strong>da</strong>s a partir <strong>da</strong>s páginas <strong>da</strong> Internet sobre GIP. É bom l<strong>em</strong>brar que as<br />
<strong>em</strong>presas comerciais a operar neste ramo são muito activas e n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre<br />
ader<strong>em</strong> às normas arquivísticas. Assim, será de to<strong>da</strong> a conveniência verificar as<br />
inúmeras ligações sobre GIP na página <strong>da</strong> Internet do British Columbia Ministry<br />
of Water (Land and Air Protection, Pollution Prevention e R<strong>em</strong>ediation<br />
Branch), b<strong>em</strong> como as páginas <strong>da</strong> Internet <strong>da</strong> revista (comercial) Pest Control e<br />
<strong>da</strong> Kansas State University, Research and Extension. As obras referi<strong>da</strong>s nos<br />
capítulos anteriores são igualmente relevantes para este t<strong>em</strong>a, nomea<strong>da</strong>mente<br />
os capítulos intitulados Preservação e conservação – Preservação tradicional e<br />
parte dos capítulos dedicados aos Edifícios e ao Armazenamento.<br />
7.3 Pragas<br />
Quase um milhão de espécies animais estão devi<strong>da</strong>mente identifica<strong>da</strong>s <strong>em</strong> todo<br />
o mundo. Contudo, é comummente aceite que o número de espécies é na<br />
reali<strong>da</strong>de dez vezes superior, especialmente no que toca a insectos, que exist<strong>em</strong><br />
<strong>em</strong> quanti<strong>da</strong>des impressionantes: três quartos dos animais existentes são<br />
insectos, cuja maior parte se encontra <strong>em</strong> regiões tropicais, devido ao elevado<br />
teor de humi<strong>da</strong>de e à abundância de alimentos. Em t<strong>em</strong>pos de escassez, os<br />
197
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
animais tend<strong>em</strong> a especializar-se, a<strong>da</strong>ptando-se praticamente a qualquer tipo<br />
de situação, por mais difícil que seja. Por isso, a flora e a fauna são tão varia<strong>da</strong>s,<br />
especialmente nos trópicos. A probabili<strong>da</strong>de de uma dessas espécies, altamente<br />
especializa<strong>da</strong>, atacar as nossas colecções é, assim, muito considerável (ARA<br />
2000). Como um programa de GIP necessita de conhecer tudo sobre pragas –<br />
incluindo hábitos e o meio ambiente <strong>em</strong> que se desenvolv<strong>em</strong> e sobreviv<strong>em</strong> –<br />
depende muito <strong>da</strong> actualização constante desses conhecimentos. Embora seja<br />
impossível para qualquer conservador frequentar infindáveis cursos de<br />
biologia, é essencial obter alguma informação básica sobre as pragas mais<br />
comuns. Segui<strong>da</strong>mente concentrar<strong>em</strong>os a nossa atenção <strong>em</strong> fungos, insectos,<br />
roedores e outras pequenas pragas.<br />
7.3.1 Bolores<br />
O bolor é um tipo de fungo. Embora existam muitas varie<strong>da</strong>des, pode dizer-se<br />
que, <strong>em</strong> geral, os seus esporos são atraídos por amido, colas, gelatinas, pele de<br />
animais incluindo a pele humana. Para se desenvolver, os esporos necessitam,<br />
além de alimentos, de humi<strong>da</strong>de relativa acima de 60%. Encontram-se s<strong>em</strong>pre<br />
presentes no ar e, enquanto permanec<strong>em</strong> latentes, não constitu<strong>em</strong> qualquer<br />
probl<strong>em</strong>a. Porém, <strong>em</strong> condições ideais, tornam-se activos e, se não for<strong>em</strong><br />
detectados, pod<strong>em</strong> destruir muitos tipos de arquivos (LING 1988). Se a t<strong>em</strong>peratura<br />
e a humi<strong>da</strong>de relativa não puder<strong>em</strong> ser manti<strong>da</strong>s dentro dos limites<br />
devidos, dev<strong>em</strong> envi<strong>da</strong>r-se todos o esforços para atrasar o crescimento dos<br />
fungos através <strong>da</strong> circulação de ar, a qual contribui para impedir flutuações no<br />
teor de humi<strong>da</strong>de e consequente formação de bolsas de ar propícias ao<br />
crescimento dos fungos. As primeiras medi<strong>da</strong>s a adoptar para impedir a<br />
formação de fungos são, além <strong>da</strong> circulação de ar, a limpeza <strong>da</strong> área (KATYHPALIA<br />
1973). O excesso de calor, o arejamento deficiente e a humi<strong>da</strong>de relativa<br />
superior a 65% constitu<strong>em</strong> as condições ideais para o desenvolvimento de<br />
bolores. Especialmente <strong>em</strong> caves, onde a água no solo e as t<strong>em</strong>peraturas mais<br />
frescas estimulam a formação de vapor de água, a humi<strong>da</strong>de relativa eleva<strong>da</strong> é<br />
particularmente probl<strong>em</strong>ática. O aparecimento de bolor representa uma<br />
ameaça séria e requer acção imediata. Baixar a t<strong>em</strong>peratura e os níveis de<br />
humi<strong>da</strong>de relativa, e aumentar a circulação de ar são acções imprescindíveis,<br />
quando se pretende impedir o crescimento de bolores (READ 1994). Um modo<br />
interessante e inovador de abor<strong>da</strong>r a deterioração por fungos é o estudo sobre<br />
a acção antifúngica <strong>da</strong>s drogas homeopáticas para tratamento de fungos<br />
198
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
isolados de livros <strong>da</strong>nificados (GARG 1995). Um modo de evitar o crescimento de<br />
fungos <strong>em</strong> livros, na ausência de ar-condicionado, é pincelar as capas duras<br />
com goma-laca (contendo insectici<strong>da</strong>) e cobrir as sobrecapas de papel com<br />
plástico. Isso foi feito nos anos 60, na Malásia (conversa pessoal com Rita Warpeha, do<br />
Smithsonian/National Acad<strong>em</strong>y of Science, <strong>em</strong> 31 de Março de 2001), mas não sab<strong>em</strong>os se<br />
ain<strong>da</strong> se pratica.<br />
7.3.2 Insectos<br />
Os insectos são perigosos e constitu<strong>em</strong> uma ameaça potencial para os materiais<br />
<strong>em</strong> arquivo, especialmente nos países tropicais. Nas regiões t<strong>em</strong>pera<strong>da</strong>s,<br />
<strong>em</strong>bora o probl<strong>em</strong>a exista, não é tão grave (KATHPALIA 1973). As várias espécies de<br />
peixinhos-de-prata, os Psocópteros (também conhecidos por piolhos-dos-livros) e<br />
as baratas são alguns dos insectos mais comuns <strong>em</strong> bibliotecas. As várias<br />
espécies de peixinhos-de-prata, chegam a atingir 12,5 mm de comprimento,<br />
alimentam-se de encolag<strong>em</strong>, produz<strong>em</strong> buracos no papel (especialmente no<br />
papel de lustro) e <strong>da</strong>nificam encadernações e papéis de parede, para chegar às<br />
respectivas colas. Também se alimentam de têxteis, especialmente de rayon 1 ,<br />
algodão e linho. Prefer<strong>em</strong> locais sombrios e húmidos, onde ninguém vai<br />
durante longos períodos de t<strong>em</strong>po. Os Psocópteros alimentam-se de bolores<br />
microscópicos que se desenvolv<strong>em</strong> no papel e a sua presença indica, portanto,<br />
um probl<strong>em</strong>a de humi<strong>da</strong>de nos depósitos. São muito mais pequenos (cerca de<br />
1 a 2 mm) do que as várias espécies de peixinhos-de-prata e também se<br />
alimentam de grude e cola mas não faz<strong>em</strong> buracos no papel. As baratas são<br />
omnívoras, mas gostam especialmente de materiais que contêm amido e<br />
proteínas; devoram páginas de livros, encadernações, colas, pele e papéis de<br />
parede. As baratas faz<strong>em</strong> buracos no papel e nas encadernações, e também as<br />
mancham seriamente com as suas secreções. São tigmotáticas, o que significa<br />
que gostam do contacto de to<strong>da</strong>s as partes do seu corpo com qualquer<br />
superfície; procuram introduzir-se, através de fen<strong>da</strong>s muito estreitas, <strong>em</strong><br />
objectos <strong>em</strong>oldurados e nas paredes, etc. (LINDBLOM PATKUS 1999).<br />
1<br />
Material de suporte para intervenções de conservação e restauro.<br />
199
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
7.3.2.1Várias espécies de Peixinhos-de-prata<br />
As várias espécies de peixinhos-de-prata contam-se entre as espécies de<br />
insectos mais antigas do planeta: existiam já na Terra antes de os insectos ter<strong>em</strong><br />
desenvolvido asas. Eram <strong>da</strong>s pragas mais comuns <strong>em</strong> casas e escritórios quando<br />
o papel de parede estava na mo<strong>da</strong> e quando as caldeiras a carvão possuíam<br />
canos colados, ve<strong>da</strong>dos com fita e revestidos com material isolante. Os lepismas<br />
e os Thermobia domestica são os insectos mais representativos <strong>da</strong> ord<strong>em</strong> dos<br />
Tisanuros. Com um comprimento de cerca de centímetro e meio quando<br />
adultos, continuam a evoluir – ao contrário de outros insectos – e consegu<strong>em</strong><br />
expandir o seu esqueleto exterior (o exoesqueleto) até 50 ou 60 vezes o seu<br />
tamanho inicial. Possu<strong>em</strong> compri<strong>da</strong>s antenas na zona <strong>da</strong> cabeça e três<br />
protuberâncias s<strong>em</strong>elhantes a antenas na zona abdominal (as cer<strong>da</strong>s dos<br />
Tisanuros). São esguios, mais largos na zona <strong>da</strong> cabeça e o corpo vai afunilando<br />
gradualmente <strong>em</strong> direcção à cau<strong>da</strong>. Geralmente evitam a luz, e prefer<strong>em</strong> os<br />
locais escuros e isolados. Uma <strong>da</strong>s espécies mais cita<strong>da</strong>s de peixinhos-de-prata<br />
é o Lepisma saccharina. Os Thermobia domestica não são prateados, mas sarapintados,<br />
com manchas <strong>em</strong> cinzento-escuro e amarelo baço.A sua distribuição, tamanho,<br />
formato e apêndices ass<strong>em</strong>elham-se aos dos peixinhos-de-prata. Porém, os<br />
Thermobia domestica decidi<strong>da</strong>mente prefer<strong>em</strong> t<strong>em</strong>peraturas mais eleva<strong>da</strong>s e<br />
ambientes acima de 32º C. Ex<strong>em</strong>plos de ambientes preferidos dos Thermobia<br />
domestica são as pa<strong>da</strong>rias, onde existe calor e amido <strong>em</strong> abundância, salas de<br />
caldeiras, sist<strong>em</strong>as de canalização de vapor, casas de banho <strong>em</strong> casas aqueci<strong>da</strong>s,<br />
divisórias <strong>da</strong>s dependências onde estão os aquecedores de água.<br />
7.3.2.2 Baratas<br />
As baratas exist<strong>em</strong> há mais de 300 milhões de anos. Os fósseis mais antigos<br />
apresentam aparência idêntica à actual: corpo oval e chato, com patas e antenas<br />
compri<strong>da</strong>s. A barata dos nossos dias t<strong>em</strong> a mesma preferência por climas<br />
quentes e húmidos. Exist<strong>em</strong>, <strong>em</strong> todo o mundo, 3500 tipos de baratas. Embora<br />
a maioria viva nos trópicos, algumas – as chama<strong>da</strong>s baratas urbanas – prefer<strong>em</strong><br />
as t<strong>em</strong>peraturas e humi<strong>da</strong>de mais estáveis que os humanos têm <strong>em</strong> suas casas<br />
e locais de trabalho. Conhecer as características comuns e as diferenças entre as<br />
espécies, é muito importante. Divulgar estes conhecimentos, fará com que os<br />
clientes sintam mais confiança na sua capaci<strong>da</strong>de profissional como controladores<br />
de pragas.Ter <strong>em</strong> conta os hábitos <strong>da</strong>s baratas, permite aplicar medi<strong>da</strong>s<br />
200
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
mais eficazes no seu controlo. À excepção do tamanho, to<strong>da</strong>s as baratas se<br />
ass<strong>em</strong>elham, na forma e na aparência. São animais nocturnos e permanec<strong>em</strong><br />
na obscuri<strong>da</strong>de s<strong>em</strong>pre que possível. Quando se deixam ver <strong>em</strong> espaço aberto,<br />
ou à luz do dia, isso significa que existe uma grande infestação. As baratas<br />
também gostam de esconderijos apertados, onde o seu corpo possa tocar as<br />
superfícies, por cima e por baixo. À medi<strong>da</strong> que vão atingindo a i<strong>da</strong>de adulta,<br />
procuram espaços diferentes, onde possam acomo<strong>da</strong>r o seu tamanho ca<strong>da</strong> vez<br />
maior. As baratas mais comuns são a barata al<strong>em</strong>ã (Blatella germanica), a barata<br />
americana (Periplaneta americana) e a barata oriental (Blatta orientalis).<br />
7.3.2.3 Térmitas<br />
As térmitas pertenc<strong>em</strong> à ord<strong>em</strong> dos Isópteros. Na natureza, as térmitas são<br />
considera<strong>da</strong>s benéficas, visto que inger<strong>em</strong> matéria vegetal morta ou <strong>em</strong><br />
processo de decomposição. É quando as térmitas começam a atacar estruturas<br />
de madeira que se tornam pragas. Exist<strong>em</strong> três tipos de térmitas: as que<br />
infestam a madeira seca, as que infestam a madeira molha<strong>da</strong> e as subterrâneas.<br />
As térmitas subterrâneas faz<strong>em</strong> os ninhos nos solos que lhes proporcionam a<br />
humi<strong>da</strong>de de que necessitam. Pod<strong>em</strong> atacar qualquer tipo de madeira que<br />
esteja <strong>em</strong> contacto com o solo. Na ausência dessa madeira, as térmitas constro<strong>em</strong><br />
galerias ou túneis de lama, no interior <strong>da</strong>s fen<strong>da</strong>s existentes nas<br />
fun<strong>da</strong>ções dos edifícios, ou no exterior de construções de betão, de modo a<br />
alcançar a madeira que se encontra alguns metros acima do solo. Até certo<br />
ponto, as térmitas consegu<strong>em</strong> controlar a t<strong>em</strong>peratura no interior <strong>da</strong> colónia.<br />
As galerias são construí<strong>da</strong>s de tal modo que algumas ficam acima do solo,<br />
outras abaixo. Desse modo, <strong>em</strong> condições de frio ou calor extr<strong>em</strong>os, as térmitas<br />
refugiam-se abaixo do solo, onde as condições são mais equilibra<strong>da</strong>s. As térmitas<br />
subterrâneas necessitam de um teor de humi<strong>da</strong>de amplo e constante. Parte<br />
dessa humi<strong>da</strong>de é forneci<strong>da</strong> pelo seu próprio metabolismo, outra parte pelo<br />
solo, cuja humi<strong>da</strong>de se propaga ao longo <strong>da</strong>s galerias ou túneis construídos<br />
pelas térmitas. Uma vez que a colónia de térmitas subterrâneas geralmente<br />
retira a sua humi<strong>da</strong>de do solo, elas depend<strong>em</strong> do tipo de solos. A humi<strong>da</strong>de,<br />
nos solos argilosos, encontra-se estreitamente liga<strong>da</strong> às respectivas partículas,<br />
não estando por isso acessíveis às térmitas. Os solos arenosos permit<strong>em</strong> o<br />
acesso a mais humi<strong>da</strong>de e, <strong>em</strong> consequência, as térmitas habitam neles mais<br />
frequent<strong>em</strong>ente, porque neles sobreviv<strong>em</strong> com mais facili<strong>da</strong>de. Os fungos,<br />
quando presentes na madeira, constitu<strong>em</strong> outra fonte de humi<strong>da</strong>de. Também<br />
201
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
contribu<strong>em</strong> para a regulação do teor de humi<strong>da</strong>de no interior <strong>da</strong>s galerias.<br />
Os tampões de comi<strong>da</strong> parcialmente mastiga<strong>da</strong> e fezes, colocados pelas<br />
térmitas nas passagens, também contribu<strong>em</strong> para a regulação <strong>da</strong> humi<strong>da</strong>de.<br />
Ocasionalmente, as térmitas subterrâneas pod<strong>em</strong> ser encontra<strong>da</strong>s acima do<br />
subsolo, e s<strong>em</strong> contacto com ele. Isso acontece s<strong>em</strong>pre que a fonte de humi<strong>da</strong>de<br />
é outra: condensação, canos e telhados com fugas de água, por ex<strong>em</strong>plo.<br />
A madeira é constituí<strong>da</strong> principalmente por celulose, uma vasta e complexa<br />
cadeia de moléculas químicas relativamente simples. Poucos animais possu<strong>em</strong><br />
a necessária capaci<strong>da</strong>de de alterar a composição química <strong>da</strong> celulose, transformando-a<br />
<strong>em</strong> pequenos nutrientes mais facilmente assimiláveis. As térmitas<br />
possu<strong>em</strong> protozoários na parte terminal do aparelho digestivo, que se encarregam<br />
de operar a transformação <strong>da</strong> celulose <strong>em</strong> substâncias que as térmitas<br />
consegu<strong>em</strong> digerir. Se estes protozoários desaparecer<strong>em</strong>, as térmitas poderão<br />
morrer de fome.<br />
7.3.3 Roedores<br />
7.3.3.1 Ratazanas<br />
As ratazanas já causaram mais sofrimento e prejuízos à espécie humana do que<br />
qualquer outra praga de vertebrados, através de epid<strong>em</strong>ias de peste, <strong>da</strong> peste<br />
negra na Europa ou <strong>da</strong> febre causa<strong>da</strong> pela mordedura <strong>da</strong> ratazana.As estatísticas<br />
revelam que as ratazanas destro<strong>em</strong> 20% <strong>da</strong>s reservas alimentares mundiais <strong>em</strong><br />
ca<strong>da</strong> ano, quer directamente, na sua dieta, quer indirectamente, por contaminação.<br />
As ratazanas estão s<strong>em</strong>pre a roer qualquer coisa, com os seus dentes<br />
extr<strong>em</strong>amente resistentes. Atacam regularmente materiais de construção, como<br />
blocos de escória, caixilharia de alumínio, tijolos de adobe, papelão, armários<br />
de madeira, revestimentos de chumbo e tubagens de plástico ou chumbo.<br />
Depois de fazer um orifício com os dentes, uma ratazana adulta consegue<br />
esgueirar-se através de uma abertura com cerca de 1,5 cm de altura. Em geral,<br />
as ratazanas são muito cautelosas. Por isso, o seu controlo requer uma<br />
abor<strong>da</strong>g<strong>em</strong> integra<strong>da</strong>, incluindo o recurso a meios não-letais, como inspecções<br />
regulares, melhoria <strong>da</strong>s condições higiénicas e estruturas à prova de ratazanas.<br />
O controlo letal combina muitas vezes o uso de ratici<strong>da</strong>s, qualquer substância<br />
usa<strong>da</strong> para eliminar roedores, com meios atóxicos, como armadilhas ou<br />
armadilhas adesivas. Numa mesma população de ratazanas, algumas são fáceis<br />
de controlar, outras são difíceis: o sucesso do controlo, a longo prazo, não é<br />
202
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
simples. Para isso, a solução mais indica<strong>da</strong> é o controlo <strong>da</strong>s populações, não de<br />
ratazanas isola<strong>da</strong>s (STRONG 1987). As ratazanas foram-se a<strong>da</strong>ptando à maior parte<br />
dos ambientes humanos. São extraordinárias atletas e sobreviventes muito b<strong>em</strong><br />
sucedi<strong>da</strong>s. Para levar a bom termo o controlo de ratazanas, é necessário<br />
compreendê-las. Dois dos factores biológicos mais importantes a ter <strong>em</strong> conta<br />
são o seu medo de objectos desconhecidos e a distância a que se afastam dos<br />
seus ninhos (30 a 50 metros). Os bons programas de controlo de ratazanas<br />
utilizam geralmente uma combinação de instrumentos e procedimentos para<br />
diminuir as populações de ratazanas b<strong>em</strong> como para mantê-las reduzi<strong>da</strong>s.<br />
A longo prazo, a melhor opção é a construção de edifícios que as mantenham<br />
afastados, também designados por edifícios à prova de ratazanas. Outras<br />
tácticas inclu<strong>em</strong> o recurso a armadilhas e venenos. Quando se utilizam ratici<strong>da</strong>s<br />
e pós para detectar pragas, é necessário acautelar os riscos <strong>em</strong> relação a pessoas,<br />
especialmente crianças, animais de estimação e outros animais. Em sentido<br />
lato, a ratazana mais comum é a ratazana <strong>da</strong> Noruega (Rattus norvegicus), igualmente<br />
designa<strong>da</strong> por ratazana castanha, ratazana doméstica, ratazana dos<br />
esgotos e ratazana dos cais. A ratazana <strong>da</strong> Noruega é considera<strong>da</strong> a mais importante<br />
do mundo e existe <strong>em</strong> todos os países. Outra espécie muito diss<strong>em</strong>ina<strong>da</strong><br />
é a ratazana do telhado (Rattus rattus), também conhecido por ratazana preta.<br />
7.3.3.2 Ratos<br />
Os ratos domésticos são os roedores que mais b<strong>em</strong> se a<strong>da</strong>ptaram à convivência<br />
com a espécie humana. Encontram-se praticamente <strong>em</strong> todos os locais onde<br />
exist<strong>em</strong> pessoas, comendo os seus alimentos, resguar<strong>da</strong>ndo-se nas suas<br />
estruturas e reproduzindo-se com um ritmo notável. É a praga de vertebrados<br />
mais probl<strong>em</strong>ática e economicamente mais significativa, responsável pela<br />
contaminação de milhões de dólares de alimentos, por <strong>da</strong>nos infligidos a todo<br />
tipo de bens pessoais e por incêndios que têm orig<strong>em</strong> no seu incessante roer.<br />
Muitos dos fracassos <strong>da</strong>s desinfestações dev<strong>em</strong>-se à falta de conhecimentos do<br />
técnico sobre a biologia e os hábitos do rato, particularmente sobre as diferenças<br />
entre ratos e ratazanas. Os ratos possu<strong>em</strong> uma capaci<strong>da</strong>de reprodutora<br />
excepcional: um casal pode produzir 50 crias por ano. Os ratos também se<br />
aventuram muito menos do que as ratazanas, nunca se afastando do ninho mais<br />
do que 3 a 5 metros. Para ser<strong>em</strong> eficazes, o isco, as armadilhas ou as armadilhas<br />
adesivas dev<strong>em</strong> ser colocados perto dos ninhos. Por isso, as inspecções<br />
periódicas são imprescindíveis. E como os ratos são curiosos e inspeccionam<br />
203
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
todos os objectos desconhecidos no seu território, as medi<strong>da</strong>s de controlo<br />
pod<strong>em</strong> actuar rapi<strong>da</strong>mente, quando aplica<strong>da</strong>s correctamente. O controlo de<br />
ratos domésticos revela-se mais eficaz quando desenvolvido a três níveis:<br />
sanitário, construção à prova de ratos, redução <strong>da</strong>s populações por meio de<br />
armadilhas e venenos. O nome científico do rato doméstico é Mus musculus.<br />
7.3.4 Outras pragas de pequeno porte<br />
Embora as ratazanas e os ratos domésticos constituam as pragas mais comuns<br />
de vertebrados <strong>em</strong> áreas urbanas, outros vertebrados pod<strong>em</strong> tornar-se pragas,<br />
quando se deslocam <strong>da</strong>s matas ou parques, onde viv<strong>em</strong> habitualmente, para<br />
zonas residenciais.<br />
7.3.4.1 Pássaros<br />
Os pássaros proporcionam-nos grande prazer e entretenimento, e contribu<strong>em</strong><br />
para o aumento <strong>da</strong> quali<strong>da</strong>de de vi<strong>da</strong>. Esses coloridos el<strong>em</strong>entos dos ecossist<strong>em</strong>as<br />
naturais são estu<strong>da</strong>dos, observados, fotografados, apreciados e caçados.<br />
A observação de pássaros, enquanto activi<strong>da</strong>de desportiva e recreativa, envolve<br />
mais de 10 milhões de pessoas. Por essa razão, os pássaros são especialmente<br />
protegidos por leis, regulamentações e pela opinião pública. Contudo, os pássaros<br />
pod<strong>em</strong> tornar-se pragas quando começam a alimentar-se <strong>da</strong>s nossas colheitas, ou<br />
provocam probl<strong>em</strong>as de saúde, se faz<strong>em</strong> ninhos <strong>em</strong> edifícios, contaminam<br />
alimentos ou causam perturbações. Nenhuma espécie pode ser classifica<strong>da</strong><br />
taxativamente como boa ou má: se os pássaros são benéficos ou prejudiciais<br />
depende <strong>da</strong> época, do local, <strong>da</strong> activi<strong>da</strong>de. O pombo vulgar, <strong>em</strong> particular,<br />
pode tornar-se um incómodo para os arquivos. O pombo doméstico (Columba<br />
livia) evoluiu a partir <strong>da</strong>s espécies que viviam nas falésias rochosas <strong>da</strong> Europa<br />
e <strong>da</strong> Ásia e foi levado para América do Norte como animal doméstico. Inicialmente,<br />
os pombos <strong>da</strong>s falésias faziam os ninhos <strong>em</strong> grutas e orifícios ou sob<br />
protuberâncias rochosas de maneira que se a<strong>da</strong>ptaram confortavelmente a<br />
parapeitos, telhados, beirais, campanários e outras estruturas construí<strong>da</strong>s pelo<br />
Hom<strong>em</strong>. Os pombos dão prazer a muitas pessoas. Juntamente com os par<strong>da</strong>is,<br />
são dos poucos animais selvagens amigáveis que se pod<strong>em</strong> observar no centro<br />
<strong>da</strong>s ci<strong>da</strong>des. Muitos frequentadores de parques adoptam determinados pombos<br />
que alimentam diariamente. Os pombos também são criados para compe-<br />
204
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
tições, voos acrobáticos e produção de carne. As corri<strong>da</strong>s de pombos são um<br />
desporto muito apreciado na Europa e noutras partes do mundo chegando<br />
aquelas aves a percorrer entre 16 a 1600 km (o recorde é de 4839 km).<br />
Os pombos são utilizados na investigação científica sobre doenças cardíacas<br />
(humanas) e doenças <strong>da</strong>s galinhas domésticas. São também criados para alimentação.A<br />
carne de pombo, igualmente conhecido por borracho, é considera<strong>da</strong><br />
um acepipe. Os pombos tornaram-se a praga de pássaros mais séria <strong>em</strong> relação<br />
aos edifícios.<br />
7.3.4.2 Morcegos<br />
Os morcegos são únicos no reino animal – são os únicos mamíferos que<br />
consegu<strong>em</strong> realmente voar graças a uma fina m<strong>em</strong>brana que parte <strong>da</strong>s patas<br />
dianteiras, modifica<strong>da</strong>s, até às patas traseiras e depois até à cau<strong>da</strong>. Os ossos nos<br />
«dedos» são muito alongados e suportam as asas. Os morcegos são quase<br />
s<strong>em</strong>pre benéficos. Muitos deles alimentam-se de insectos e consom<strong>em</strong> até<br />
metade do seu peso apenas numa única refeição. Contudo, por vezes tornamse<br />
incómodos quando penetram no interior de edifícios ou quando se tornam<br />
um probl<strong>em</strong>a de saúde pública. Os locais preferidos para se recolher<strong>em</strong> ou para<br />
hibernação pod<strong>em</strong> ser os sótãos de edifícios, espaços ocos <strong>em</strong> paredes ou<br />
tectos, torres de campanários, chaminés, caldeiras não utiliza<strong>da</strong>s, etc. Os dejectos<br />
e a urina dos morcegos produz<strong>em</strong> um odor intenso e manchas <strong>em</strong> paredes<br />
e tectos. Os seus guinchos agudos e desordenados pod<strong>em</strong> tornar-se intoleráveis<br />
para os moradores dos edifícios. Os morcegos estão associados a certas doenças<br />
que afectam as pessoas.<br />
7.3.4.3 Cobras<br />
A maioria <strong>da</strong>s cobras é não-venenosa, inofensiva e benéfica. Porém, poucos as<br />
quer<strong>em</strong> dentro de casa. Em geral, as cobras venenosas possu<strong>em</strong> cabeças grandes<br />
e triangulares, com uma fen<strong>da</strong> entre as narinas e os olhos, com pupilas verticais<br />
e elípticas. Pod<strong>em</strong> também possuir guizos na cau<strong>da</strong>, presas visíveis e uma<br />
cama<strong>da</strong> única de escamas entre a abertura anal e a ponta <strong>da</strong> cau<strong>da</strong>. Quando não<br />
t<strong>em</strong>os a certeza, mais vale presumir que uma cobra é venenosa e proceder com<br />
cautela. As cobras são pre<strong>da</strong>dores. Dependendo <strong>da</strong> espécie, a sua dieta inclui<br />
insectos, roedores, rãs, pássaros, vermes ou sapos. Algumas hibernam <strong>em</strong> caver-<br />
205
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
nas durante o Inverno, ou durante as estações secas ou <strong>da</strong>s chuvas, por vezes por<br />
baixo de casas. Em certas épocas do ano, pod<strong>em</strong> introduzir-se no interior de<br />
edifícios <strong>em</strong> busca de calor, sombra ou humi<strong>da</strong>de, ou mesmo à procura de uma<br />
presa. Quando necessitamos de resolver probl<strong>em</strong>as relacionados com cobras,<br />
dev<strong>em</strong>os l<strong>em</strong>brar-nos de que pode tratar-se de uma espécie protegi<strong>da</strong>.<br />
7.3.5 Bibliografia<br />
Existe muita literatura sobre grupos específicos de pragas. A Rentokil Library<br />
t<strong>em</strong> vindo a publicar bons livros sobre alguns desses grupos (ver a página <strong>da</strong><br />
Internet <strong>da</strong> Rentokil). Para literatura sobre peixinhos-de-prata e outros, ver IFTIKHAR<br />
et al. 1984; KALSHOVEN 1938; KRAEMER KOELIER 1960; LEHMANN 1965; MORI<br />
1975; OLKOWSKI et al. 1987; PÖSCHKO et al. 1997; SHIPLEY 1925; SWEETMAN 1938.<br />
Para literatura sobre baratas, ver CORNWELL 1968 e 1976; OLKOWSKI et al.<br />
1984; ROBINOW 1956; SCHAL et al. 1990; URS 1993.<br />
Para literatura sobre térmitas e outros insectos parasitas <strong>da</strong> madeira, ver<br />
ANÓNIMO 1944 e 1950; BECKER 1977; CHAND 1976; EBELING et al. 1965; FUXA<br />
1987; GAY 1963; GRASSÉ 1966; HADLINGTON 1987; HARRINGTON et al. 1993;<br />
HARRIS 1943 e 1962; HICKIN 1971a; JAHAN et al. 1995; MACGREGOR 1950; MORI<br />
1984; MOSSBERG 1990; NATIONAL ARCHIVES OF INDIA 1991; NOIROT et al. 1947;<br />
UNESCO 1960; RAUCH 1984; ST. GEORGE et al. 1960; VELDERRAIN 1991; WHITE<br />
1970; WILLIAMS 1973; WILLIAMS 1977.<br />
Para uma revisão geral sobre infestações e preservação <strong>da</strong> madeira, durante<br />
os primeiros 50 anos do século XX, ver GRENOU et al. 1951. Para mais literatura<br />
sobre preservação e infestações <strong>da</strong> madeira ver BECKER 1977; BENOIT 1954a e<br />
1954b; BRAVERY 1977; BULTMAN et al. 1987; BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT<br />
1980; COLEMAN 1978; FINDLAY 1985; FORTIN et al. 1976; GOWERS 1970; HICKIN<br />
1978; MORI 1984; OCLOO et al. 1980; PATON et al. 1987; TACK 1980; UNGER et<br />
al. 1993; WERNER 1968; WHITE 1970; WILKINSON 1979; WILLIAMS 1973.<br />
Para literatura sobre roedores, ver JACKSON et al. 1997; MEYER 1998;<br />
OLKOWSKI et al. 1986 e 1991; RAUCH 1984; STRONG 1987.<br />
Embora publicado já há algum t<strong>em</strong>po, ain<strong>da</strong> vale a pena ler o trabalho de<br />
Mary Wood Lee sobre bolores (WOOD LEE 1989), publicado na revista <strong>da</strong> UNESCO.<br />
206
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
Para outras leituras sobre bolores, ver ABERG 1989; ANÓNIMO 1950; EZENNIA<br />
1993; HEIM et al. 1968; KELLER 1959; LIM et al. 1989; NATIONAL PARK SERVICE<br />
1993; PLUMBE 1961; RYTKONEN et al. 1988; SCOTT 1994 e 1996; UPSHER et al.<br />
1972; WEE et al. 1980.<br />
7.4 Tratamentos<br />
O número de pragas existentes <strong>em</strong> todo o mundo é muito elevado e as pragas<br />
locais que t<strong>em</strong>os de enfrentar são aos milhares, o que torna difícil combatê-las,<br />
visto não existir uma solução única. É importante l<strong>em</strong>brar que avistar um ou<br />
dois insectos constitui o momento certo para proceder ao seu controlo, de<br />
modo a definir a extensão do probl<strong>em</strong>a, mas não constitui necessariamente<br />
uma situação de crise. No passado, quando se avistavam insectos, recorria-se<br />
frequent<strong>em</strong>ente ao uso de insectici<strong>da</strong>s. Se houver uma infestação séria de<br />
insectos, ou se as técnicas de prevenção acima referi<strong>da</strong>s não for<strong>em</strong> suficientes<br />
para conter o probl<strong>em</strong>a, pode ser necessário um tratamento directo. Essa<br />
estratégia deve ser usa<strong>da</strong> como último recurso.Todos os meios químicos e nãoquímicos<br />
se encontram à nossa disposição, mas os não-químicos dev<strong>em</strong><br />
usar-se s<strong>em</strong>pre que possível. As colecções <strong>da</strong>s bibliotecas e arquivos são<br />
constant<strong>em</strong>ente ameaça<strong>da</strong>s por uma varie<strong>da</strong>de de pragas que causam <strong>da</strong>nos <strong>em</strong><br />
suportes de papel e outros materiais. Os métodos menos agressivos – quer para<br />
as colecções, quer para o pessoal – implicam o uso de medi<strong>da</strong>s preventivas e<br />
inspecções regulares. Na ocorrência de uma infestação, o tratamento deve ser<br />
a<strong>da</strong>ptado às espécies de insectos específicas e ao tipo de materiais infestados.<br />
Os tratamentos químicos dev<strong>em</strong> evitar-se a não ser como último recurso.<br />
As modernas tecnologias, como o congelamento e as atmosferas modifica<strong>da</strong>s,<br />
representam alternativas potenciais importantes ao controlo químico<br />
(página <strong>da</strong> Internet <strong>da</strong> NEDCC). Ultimamente, na bibliografia sobre conservação têm<br />
aparecido frequent<strong>em</strong>ente relatórios sobre a investigação e experiência do controlo<br />
de pragas. Quando é necessário recorrer a fumigações para conter insectos,<br />
a congelação é o método alternativo habitualmente escolhido. Os gases inertes<br />
são considerados os fumigantes do futuro, <strong>em</strong>bora poucas instituições possuam<br />
instalações para os poder usar.As atmosferas inertes pod<strong>em</strong> ser cria<strong>da</strong>s no interior<br />
de espaços fechados, retirando-lhes o ar e bombeando dióxido de carbono,<br />
nitrogénio ou árgon. Recent<strong>em</strong>ente foi comercializa<strong>da</strong> uma espécie de bolha<br />
para esse efeito, <strong>em</strong>bora se encontre ain<strong>da</strong> <strong>em</strong> fase experimental. O método<br />
utilizado – por meio de calor controlado – acelera o processo de fumigação<br />
207
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
(MCCRADY 1991). As bibliotecas e os arquivos têm recorrido tradicionalmente aos<br />
pestici<strong>da</strong>s na prevenção de pragas e como resposta a infestações. Contudo, os<br />
pestici<strong>da</strong>s n<strong>em</strong> s<strong>em</strong>pre evitam reinfestações e a sua aplicação após a ocorrência<br />
de <strong>da</strong>nos de na<strong>da</strong> serve. Os pestici<strong>da</strong>s também se tornaram menos atraentes,<br />
<strong>da</strong><strong>da</strong> a consciência crescente de que esses compostos químicos constitu<strong>em</strong> um<br />
factor de risco para a saúde do pessoal e causam <strong>da</strong>nos às colecções <strong>em</strong> suporte<br />
de papel. Novos métodos de extermínio, como o congelamento controlado e a<br />
privação de oxigénio, constitu<strong>em</strong> alternativas prometedoras, <strong>em</strong>bora, tal como<br />
os pestici<strong>da</strong>s, não impeçam reinfestações. A prevenção só pode ser b<strong>em</strong><br />
sucedi<strong>da</strong> com uma manutenção rigorosa e métodos de controlo (LINDBLOM PATKUS<br />
1999).<br />
7.4.1 Fumigantes<br />
No passado, as fumigações constituíam o único meio de assegurar a eliminação<br />
de infestações. As instalações eram frequent<strong>em</strong>ente fumiga<strong>da</strong>s com carácter<br />
regular, mesmo quando não existiam ameaças concretas (LING 1998). Os depósitos<br />
dev<strong>em</strong> ser completamente independentes uns dos outros. As divisões<br />
dev<strong>em</strong> ser espaçosas e com boa ventilação. Mas não dev<strong>em</strong> ultrapassar 200<br />
metros cúbicos <strong>em</strong> volume, para poder<strong>em</strong> ser desinfectados separa<strong>da</strong>mente,<br />
se necessário (DAVISON 1981). O uso de fumigantes implica a exposição de materiais<br />
contaminados a gases letais. Os fumigantes contam-se entre os pestici<strong>da</strong>s<br />
mais tóxicos, permanec<strong>em</strong> no ar e rapi<strong>da</strong>mente se propagam numa vasta área.<br />
Pod<strong>em</strong>, tal como outros pestici<strong>da</strong>s, causar probl<strong>em</strong>as de saúde a longo e a curto<br />
prazo, desde náuseas e dores de cabeça a probl<strong>em</strong>as respiratórios ou cancro.<br />
Grande parte dos tratamentos com substâncias químicas não causam qualquer<br />
efeito durante a exposição, mas pod<strong>em</strong> ser absorvidos pelo corpo, vindo a<br />
causar probl<strong>em</strong>as anos mais tarde. Muitos desses compostos químicos também<br />
<strong>da</strong>nificam os materiais tratados e nenhum deles deixa resíduos capazes de<br />
impedir uma reinfestação. A consciência crescente dos riscos, colocou nova<br />
ênfase na necessi<strong>da</strong>de de recorrer a métodos de controlo não-químicos.<br />
7.4.1.1 Óxido de etileno<br />
O óxido de etileno, um fumigante gasoso, foi usado regularmente <strong>em</strong><br />
bibliotecas e arquivos até aos anos 80 do século XX; muitas bibliotecas tinham<br />
208
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
as suas próprias câmaras de óxido de etileno. Este gás é muito eficiente na<br />
eliminação de insectos adultos, larvas e ovos, mas coloca sérios probl<strong>em</strong>as de<br />
saúde aos trabalhadores e tudo indica que altera as características físicas e<br />
químicas do papel, pergaminho e peles. Os governos foram baixando os níveis<br />
legais de exposição ao óxido de etileno e a maioria <strong>da</strong>s câmaras existentes nas<br />
bibliotecas não se enquadram nessas restrições. Nos materiais tratados<br />
permanec<strong>em</strong> resíduos de óxido de etileno, mas também pouco se sabe sobre<br />
as consequências <strong>da</strong> exposição às toxinas <strong>da</strong>quele gás, a longo prazo, para o<br />
pessoal e para as colecções. O óxido de etileno deve ser usado apenas como<br />
último recurso: os materiais dev<strong>em</strong> ser enviados a instalações comerciais para<br />
ser<strong>em</strong> expostos àquele gás durante várias s<strong>em</strong>anas, pelo menos, antes de<br />
regressar<strong>em</strong> às bibliotecas ou arquivos respectivos. Na Holan<strong>da</strong> é proibido<br />
tratar papel e produtos similares com óxido de etileno.<br />
7.4.1.2 Brometo de metilo<br />
Por vezes, usa-se brometo de metilo <strong>em</strong> substituição do óxido de etileno.<br />
O brometo de metilo é comercializado com nomes diferentes. Trata-se de um<br />
líquido ou gás incolor e volátil, com um cheiro s<strong>em</strong>elhante ao do clorofórmio.<br />
Quando utilizado como fumigante do solo, apenas uma pequena percentag<strong>em</strong><br />
do brometo de metilo se transforma <strong>em</strong> ião brometo, ao mesmo t<strong>em</strong>po que<br />
grande parte do gás é libertado na atmosfera. Este gás é modera<strong>da</strong>mente tóxico<br />
para organismos aquáticos. Na Holan<strong>da</strong>, o brometo de metilo foi completamente<br />
banido como desinfectante do solo de estufas. Em seu lugar, passou a<br />
aplicar-se vapor quente, que é muito mais saudável para o ambiente. A mais<br />
pequena porção de brometo de metilo é altamente tóxica. Estudos recentes<br />
com seres humanos, indicam que os pulmões pod<strong>em</strong> ficar seriamente<br />
afectados (a curto prazo) pela inalação intensa do gás, <strong>da</strong> qual resultam<br />
frequent<strong>em</strong>ente consequências neurológicas. Esses efeitos sent<strong>em</strong>-se a longo<br />
prazo. A informação existente sugere que as pessoas constant<strong>em</strong>ente expostas<br />
ao brometo de metilo pod<strong>em</strong> vir a sofrer (a longo prazo) de um ligeiro<br />
enfraquecimento neurológico.<br />
7.4.1.3 Fluoreto de sulfurilo<br />
A designação comercial do fluoreto de sulfurilo é vikane, gás usado para<br />
fumigar estruturas de madeira. Este gás penetra muito profun<strong>da</strong>mente e,<br />
209
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
muitas vezes, elimina completamente as pragas invasoras. Para obter bons<br />
resultados, consoante o tipo de construção, as portas e janelas dos edifícios<br />
dev<strong>em</strong> ser isola<strong>da</strong>s com fita e chapa de plástico, ou pode cobrir-se inteiramente<br />
a estrutura com lona alcatroa<strong>da</strong>. Os edifícios dev<strong>em</strong> permanecer isolados entre<br />
2 a 72 horas, segundo o tipo de intervenção. No exterior, e <strong>em</strong> torno do<br />
edifício, dev<strong>em</strong> ser colocados avisos aconselhando todos a manter-se afastados.<br />
Depois de retira<strong>da</strong> a fita, um técnico deverá proceder ao arejamento <strong>da</strong><br />
estrutura, abrindo portas e janelas. Pod<strong>em</strong> também utilizar-se ventoinhas para<br />
acelerar o processo. Uma vez que o edifício esteja completamente arejado, o<br />
técnico terá de avaliar se permaneceram no ar quaisquer resíduos do gás, para<br />
assegurar que a concentração desses resíduos se situa abaixo dos níveis<br />
permitidos para regresso dos ocupantes. O técnico afixará, então, um aviso,<br />
indicando o dia e a hora do regresso. Como o vikane é um gás, não um vapor,<br />
o arejamento faz-se rapi<strong>da</strong>mente. Estudos recentes d<strong>em</strong>onstraram que na<br />
maioria <strong>da</strong>s estruturas o nível de resíduos é inferior a 1 parte por milhão nas<br />
6 horas seguintes ao arejamento, e que 24 horas após o seu início não exist<strong>em</strong><br />
já níveis detectáveis de vikane. Investigaram-se os <strong>da</strong>nos potenciais do gás às<br />
modernas resinas e pigmentos <strong>da</strong>s ceras, b<strong>em</strong> como a metais. Os cientistas<br />
investigaram também a interacção entre o vikane, as proteínas e os corantes e concluíram<br />
que quando o vikane é aplicado adequa<strong>da</strong>mente, poucos ou nenhuns<br />
<strong>da</strong>nos acontec<strong>em</strong>. Apenas <strong>em</strong> arquivos se notaram ligeiras alterações. Por outro<br />
lado, ficou decidido que fosse feito o registo dos objectos fumigados, para que<br />
futuros tratamentos pudess<strong>em</strong> fun<strong>da</strong>mentar-se no historial <strong>da</strong>s fumigações<br />
anteriores. O fluoreto de sulfurilo, que constitui um perigo para a saúde,<br />
penetra no corpo por inalação. Uma exposição excessiva a elevados níveis desse<br />
gás provoca irritação nasal e <strong>da</strong> garganta, b<strong>em</strong> como náuseas. Em concentrações<br />
muito eleva<strong>da</strong>s (como as que se usam nas fumigações) pode provocar<br />
a formação de líquido nos pulmões, sonolência, pneumonias e convulsões,<br />
sintomas que se pod<strong>em</strong> manifestar nas 8 horas seguintes à exposição. Na eventuali<strong>da</strong>de<br />
improvável de el<strong>em</strong>entos do pessoal vir<strong>em</strong> a sentir algum desses<br />
sintomas <strong>em</strong> edifícios recent<strong>em</strong>ente fumigados, é aconselhável que abandon<strong>em</strong><br />
o edifício rapi<strong>da</strong>mente e que a <strong>em</strong>presa responsável pelo trabalho seja convi<strong>da</strong><strong>da</strong><br />
a reavaliar os níveis do gás no edifício. Como o fluoreto de sulfurilo é um<br />
gás não adere a superfícies secas; por isso, não há perigo de contaminação para<br />
qu<strong>em</strong> toca nessas superfícies.<br />
210
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
7.4.2 Tratamentos não-químicos<br />
Uma grande varie<strong>da</strong>de de processos não-químicos para extermínio de insectos<br />
foi já experimenta<strong>da</strong>, sendo os mais prometedores: o congelamento e as<br />
atmosferas modifica<strong>da</strong>s. Os métodos que não se revelaram tão eficazes inclu<strong>em</strong><br />
a utilização de calor, raios gama e microon<strong>da</strong>s.<br />
7.4.2.1 Congelamento, secag<strong>em</strong> por congelação e outros tratamentos pelo frio<br />
O congelamento controlado t<strong>em</strong> vindo a ser aplicado <strong>em</strong> várias instituições ao<br />
longo dos últimos quinze anos e os relatórios sobre a sua eficácia descrev<strong>em</strong>no<br />
como largamente favorável. O congelamento apresenta vantagens porque<br />
não implica o recurso a substâncias químicas não representando, por essa<br />
razão, qualquer risco para o pessoal <strong>da</strong>s bibliotecas n<strong>em</strong> para o meio ambiente.<br />
Pode ser aplicado à maioria dos materiais existentes <strong>em</strong> bibliotecas e parece<br />
não causar qualquer <strong>da</strong>no às colecções, <strong>em</strong>bora a investigação nessa área ain<strong>da</strong><br />
não se considere concluí<strong>da</strong>. Os objectos muito frágeis, os que são compostos<br />
por vários tipos de materiais e os com el<strong>em</strong>entos quebradiços, provavelmente<br />
não deveriam ser congelados. Os materiais pod<strong>em</strong> ser tratados <strong>em</strong><br />
congeladores domésticos ou comerciais, industriais, ou de t<strong>em</strong>peratura e<br />
humi<strong>da</strong>de controla<strong>da</strong>s. Os materiais a tratar dev<strong>em</strong> ser introduzidos <strong>em</strong> bolsas<br />
e selados, a menos que se trate de um congelador de t<strong>em</strong>peraturas e humi<strong>da</strong>de<br />
especialmente controla<strong>da</strong>s. As bolsas dev<strong>em</strong> ser sela<strong>da</strong>s uma vez introduzidos<br />
os materiais para impedir os insectos de sair. Algumas instituições <strong>em</strong>pacotam<br />
os materiais <strong>em</strong> caixas e, <strong>em</strong> segui<strong>da</strong>, introduz<strong>em</strong> as caixas dentro de bolsas.<br />
As bolsas proteg<strong>em</strong> os objectos <strong>da</strong>s alterações de humi<strong>da</strong>de durante o processo<br />
de descongelamento; proteg<strong>em</strong> também os livros dos efeitos <strong>da</strong> condensação,<br />
uma vez retirados do congelador. É essencial contar com a resistência à<br />
congelação: os insectos a<strong>da</strong>ptam-se a t<strong>em</strong>peraturas negativas quando são<br />
mantidos <strong>em</strong> áreas refrigera<strong>da</strong>s, ou quando o processo de congelação é lento.<br />
A investigação nesta área é ain<strong>da</strong> incipiente: não se sabe ain<strong>da</strong> se as pragas<br />
comuns <strong>em</strong> bibliotecas possu<strong>em</strong> a capaci<strong>da</strong>de de desenvolver resistência ao<br />
congelamento. Na ausência de informação definitiva, os materiais dev<strong>em</strong> ser<br />
mantidos à t<strong>em</strong>peratura ambiente até ao início do congelamento. Não se<br />
dev<strong>em</strong> colocar d<strong>em</strong>asiados objectos no congelador, porque atrasa o processo.<br />
É <strong>da</strong> maior importância que os materiais sejam congelados rapi<strong>da</strong>mente:<br />
a t<strong>em</strong>peratura deve descer até 0º C <strong>em</strong> 4 horas e -20º C <strong>em</strong> 8 horas. Que se<br />
211
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
saiba, os tratamentos que permitiram alcançar os melhores resultados foram<br />
realizados com uma t<strong>em</strong>peratura de -29º C durante 72 horas. Desconhece-se<br />
se baixas t<strong>em</strong>peraturas por períodos curtos serão igualmente eficazes; há relatórios<br />
que atestam que t<strong>em</strong>peraturas de -20º C por 48 horas foram usa<strong>da</strong>s com<br />
êxito. As colecções dev<strong>em</strong> ser descongela<strong>da</strong>s lentamente (de modo a alcançar<br />
0º C <strong>em</strong> 8 horas) e depois trazi<strong>da</strong>s até à t<strong>em</strong>peratura ambiente. O processo deve<br />
então ser repetido para assegurar a eficácia dos resultados. Os objectos dev<strong>em</strong><br />
permanecer encerrados nas bolsas (algumas instituições conservam-nos assim<br />
durante seis a oito meses) até que uma inspecção indique que a infestação de<br />
insectos se encontra resolvi<strong>da</strong>. To<strong>da</strong> a documentação relativa a ca<strong>da</strong> fase do<br />
tratamento deve ser arquiva<strong>da</strong>. Tal como os tratamentos químicos, o congelamento<br />
não impede novas infestações. Se as colecções não regressar<strong>em</strong> a um<br />
depósito b<strong>em</strong> limpo, certamente voltarão a ficar infesta<strong>da</strong>s. As pragas de<br />
insectos <strong>em</strong> museus pod<strong>em</strong> ser erradica<strong>da</strong>s recorrendo ao congelamento, <strong>em</strong><br />
alternativa ao uso de fumigantes e pestici<strong>da</strong>s. Para evitar <strong>da</strong>nos potenciais<br />
causados pelo processo de congelamento, os espécimes (herbários, peles secas,<br />
<strong>em</strong>balsamados, colecções de insectos, esqueletos, etc.) dev<strong>em</strong> ser isolados <strong>em</strong><br />
bolsas de polietileno à t<strong>em</strong>peratura ambiente, congelados rapi<strong>da</strong>mente a -20º<br />
C e mantidos a essa t<strong>em</strong>peratura, durante, pelo menos, 48 horas. As bolsas só<br />
dev<strong>em</strong> ser abertas quando o seu conteúdo se encontrar de novo à t<strong>em</strong>peratura<br />
ambiente (pelo menos, 24 horas depois). Recomen<strong>da</strong>-se a repetição dos ciclos<br />
de congelamento/descongelamento para garantir a eliminação dos insectos.<br />
O controlo de insectos, <strong>em</strong> museus, por meio de congelamento, será muito<br />
mais eficaz se for utilizado como parte de um programa de gestão integra<strong>da</strong> de<br />
pragas (FLORIAN 1986).<br />
7.4.2.2 Aquecimento<br />
O calor pode eliminar insectos eficazmente: t<strong>em</strong> sido utilizado <strong>em</strong> todo o<br />
mundo no processamento de produtos alimentares e no fabrico de r<strong>em</strong>édios.<br />
Uma t<strong>em</strong>peratura de 60º C, durante uma hora, elimina a maioria dos insectos.<br />
Contudo, o calor não deve ser utilizado para eliminar insectos <strong>em</strong> colecções <strong>em</strong><br />
suporte de papel porque as t<strong>em</strong>peraturas muito eleva<strong>da</strong>s aceleram a oxi<strong>da</strong>ção e<br />
envelhec<strong>em</strong> o papel. A esse nível de t<strong>em</strong>peraturas, o papel torna-se quebradiço.<br />
212
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
7.4.2.2.1 O Sist<strong>em</strong>a Thermo-Lignum<br />
O método Thermo-lignum® elimina pragas de insectos por meio de ar quente,<br />
s<strong>em</strong> substâncias químicas. É um sist<strong>em</strong>a rápido e adequado para a saúde e para<br />
o ambiente. Objectos de todo o tipo pod<strong>em</strong> ser tratados <strong>em</strong> óptimas condições<br />
por meio de um sist<strong>em</strong>a de câmaras complexo e controlado electronicamente.<br />
A leitura do teor de humi<strong>da</strong>de fornece o parâmetro inicial do processo. Com<br />
base nessa informação, calculam-se e programam-se outros factores relevantes.<br />
Todo o processo é controlado por uma uni<strong>da</strong>de de processamento térmico,<br />
enquanto os parâmetros-chave <strong>da</strong> câmara (t<strong>em</strong>peratura, humi<strong>da</strong>de relativa e<br />
t<strong>em</strong>peratura interior do objecto) são avaliados e indicados por computador.<br />
Não há dúvi<strong>da</strong> de que o sist<strong>em</strong>a Thermo-Lignum destrói os insectos e é igualmente<br />
eficaz para eliminar bolores. Contudo, os conservadores receiam as consequências<br />
de t<strong>em</strong>peraturas tão eleva<strong>da</strong>s. Os receios justificados dessas t<strong>em</strong>peraturas<br />
(acima de 50º C) têm a ver com os seus efeitos que pod<strong>em</strong> causar os seguintes<br />
probl<strong>em</strong>as: amolecimento de ceras, adesivos sintéticos, revestimentos de<br />
superfícies, etc. Outros probl<strong>em</strong>as são os materiais com vidro com baixas<br />
t<strong>em</strong>peraturas de transição; a expansão directa de materiais quebráveis, como o<br />
vidro; a contracção <strong>da</strong> pele <strong>da</strong>s encadernações de livros (CHILD 1944).<br />
7.4.2.3 Atmosferas modifica<strong>da</strong>s com baixo teor de oxigénio ou gases inertes<br />
As atmosferas modifica<strong>da</strong>s têm sido largamente utiliza<strong>da</strong>s pelas indústrias<br />
agrícolas e de produtos alimentares no controlo de infestações de insectos.<br />
A designação aplica-se a diversos processos: diminuição de oxigénio, aumento<br />
de dióxido de carbono e o recurso a gases inertes, principalmente ao nitrogénio.<br />
As instituições culturais têm vindo a efectuar, nos últimos dez anos,<br />
experiências varia<strong>da</strong>s com atmosferas modifica<strong>da</strong>s, geralmente com resultados<br />
positivos. As atmosferas modifica<strong>da</strong>s são muito prometedoras, mas será<br />
necessário aprofun<strong>da</strong>r as investigações para definir os t<strong>em</strong>pos óptimos de<br />
exposição e os métodos a aplicar a ca<strong>da</strong> espécie de insectos.Aparent<strong>em</strong>ente não<br />
causam qualquer <strong>da</strong>no às colecções, mas os possíveis efeitos a longo prazo<br />
foram ain<strong>da</strong> pouco estu<strong>da</strong>dos.A exposição a altos níveis de dióxido de carbono<br />
pode constituir um risco para o pessoal mas não deixa resíduos nas colecções.<br />
As atmosferas modifica<strong>da</strong>s pod<strong>em</strong> ser utiliza<strong>da</strong>s <strong>em</strong>:<br />
• Câmaras tradicionais de fumigação ou bolhas portáteis;<br />
• Em bolsas de plástico de baixa permeabili<strong>da</strong>de.<br />
213
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Com uma câmara ou uma bolha, os materiais dev<strong>em</strong> ser preparados para o<br />
tratamento (colocados <strong>em</strong> quarentena, documentados e, <strong>em</strong> segui<strong>da</strong>, levados<br />
para o interior do local de tratamento): o ar será então retirado, introduzindo-<br />
-se o dióxido de carbono (<strong>em</strong> geral, uma concentração de 60%) ou nitrogénio<br />
(até conseguir uma atmosfera com menos de 1% de oxigénio). Uma vez<br />
consegui<strong>da</strong> a concentração atmosférica pretendi<strong>da</strong>, deverá ser manti<strong>da</strong> com<br />
t<strong>em</strong>peratura e humi<strong>da</strong>de relativa específicas durante o período de t<strong>em</strong>po considerado<br />
necessário. Uma vez concluído o tratamento, suspende-se o vácuo,<br />
retira-se o dióxido de carbono ou o nitrogénio, areja-se a câmara e retiram-se<br />
os materiais para uma área de quarentena, a fim de confirmar a eficácia do<br />
tratamento. O processo para o tratamento de materiais <strong>em</strong> bolsas de plástico de<br />
baixa permeabili<strong>da</strong>de é idêntico, com a diferença que os materiais são<br />
acondicionados juntamente com um dispositivo de expulsão de oxigénio, que<br />
reduz o seu nível a uma quanti<strong>da</strong>de inferior à necessária para a respiração dos<br />
insectos. Em alguns casos, as bolsas são expurga<strong>da</strong>s com nitrogénio antes de<br />
ser<strong>em</strong> ve<strong>da</strong><strong>da</strong>s. Nos testes efectuados até hoje, foi experimenta<strong>da</strong> uma grande<br />
varie<strong>da</strong>de de períodos de exposição, t<strong>em</strong>peraturas e humi<strong>da</strong>de relativa. Uma<br />
vez que as condições necessárias para alcançar uma taxa aceitável de insectos<br />
eliminados parec<strong>em</strong> variar com o tipo de espécies e de processos utilizados,<br />
ain<strong>da</strong> não exist<strong>em</strong> linhas de orientação definitivas para a utilização de<br />
atmosferas modifica<strong>da</strong>s. Deve ouvir-se o parecer de um profissional de preservação<br />
antes de se recorrer a tratamentos com atmosferas modifica<strong>da</strong>s.<br />
7.4.2.4 Radiação gama<br />
A radiação gama é utiliza<strong>da</strong> para esterilizar cosméticos, produtos agrícolas e<br />
alimentares, materiais cirúrgicos, equipamentos hospitalares e laboratoriais.<br />
Durante o tratamento constitui algum risco para o pessoal, mas não deixa<br />
quaisquer resíduos nos materiais tratados. A radiação gama é eficaz para<br />
eliminar insectos, mas a dose mínima adequa<strong>da</strong> às diversas espécies é ain<strong>da</strong><br />
desconheci<strong>da</strong>, e depende de variáveis como as condições climáticas e o tipo de<br />
materiais infestados. No entanto, a investigação d<strong>em</strong>onstrou que a radiação<br />
gama pode desencadear a oxi<strong>da</strong>ção e provocar a cisão <strong>da</strong>s moléculas <strong>da</strong><br />
celulose, ou seja, que possui a capaci<strong>da</strong>de de causar sérios <strong>da</strong>nos <strong>em</strong> materiais<br />
<strong>em</strong> suporte de papel. Verifica-se ain<strong>da</strong> um efeito cumulativo com exposições<br />
repeti<strong>da</strong>s. Em resumo, a radiação gama não se recomen<strong>da</strong>. Na Holan<strong>da</strong> não<br />
existe outra opção para tratar arquivos de grandes dimensões.<br />
214
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
7.4.2.5 Microon<strong>da</strong>s<br />
As opiniões sobre a eficácia <strong>da</strong>s microon<strong>da</strong>s na eliminação de insectos têm<br />
circulado entre arquivistas e bibliotecários nos últimos anos. As microon<strong>da</strong>s<br />
têm sido usa<strong>da</strong>s, para controlar insectos com muito bons resultados pelas<br />
indústrias de alimentos, de produtos agrícolas e de têxteis, mas não se<br />
recomen<strong>da</strong>m para bibliotecas e muito menos para arquivos. As microon<strong>da</strong>s<br />
possu<strong>em</strong> fraco poder de penetração e, por isso, não consegu<strong>em</strong> atravessar livros<br />
com muitas páginas. A sua eficácia também depende do tipo de insectos, b<strong>em</strong><br />
como <strong>da</strong> intensi<strong>da</strong>de e <strong>da</strong> frequência <strong>da</strong> radiação. Os fornos de microon<strong>da</strong>s<br />
variam de intensi<strong>da</strong>de e, por isso, é extr<strong>em</strong>amente difícil determinar os t<strong>em</strong>pos<br />
e as t<strong>em</strong>peraturas estan<strong>da</strong>rdiza<strong>da</strong>s para ca<strong>da</strong> tratamento. O argumento básico<br />
contra o uso <strong>da</strong>s microon<strong>da</strong>s é o perigo de potenciais <strong>da</strong>nos aos materiais <strong>em</strong><br />
tratamento. Os resultados de várias experiências comprovaram que algumas<br />
páginas e capas de livros pod<strong>em</strong> ficar queima<strong>da</strong>s, acessórios de metal, como<br />
grampos, pod<strong>em</strong> arquear e os adesivos pod<strong>em</strong> amolecer, provocando a separação<br />
<strong>da</strong>s páginas <strong>da</strong>s respectivas encadernações, <strong>em</strong> certos livros. Quando os<br />
objectos metálicos (grampos, agrafos, argolas) são introduzidos indiscrimina<strong>da</strong>mente<br />
<strong>em</strong> fornos microon<strong>da</strong>s, o padrão de energia torna-se disruptivo e<br />
distorcido, o que dá lugar à formação de arco. Dois objectos de metal, tais<br />
como um grampo e a cavi<strong>da</strong>de constituí<strong>da</strong> pelas paredes de metal do forno,<br />
ficam próximos e submetidos a um campo intenso de energia de microon<strong>da</strong>s:<br />
o resultado é a formação de arco. Essa formação acontece porque o ar entre os<br />
dois objectos metálicos fica electricamente carregado, ou ionizado, tal como o<br />
ar atmosférico entre uma nuv<strong>em</strong> de t<strong>em</strong>pestade e a terra. O ar ionizado torna-<br />
-se então um condutor eléctrico, e a corrente eléctrica preenche esse espaço<br />
sob a forma de um relâmpago, que dura apenas uns instantes, porque descarrega<br />
ou neutraliza o ar ionizado; contudo, num microon<strong>da</strong>s, o arco permanece,<br />
<strong>em</strong> maior ou menor grau, enquanto a energia do microon<strong>da</strong>s estiver a ser<br />
aplica<strong>da</strong>. No mínimo, esse fenómeno pode causar marcas ou orifícios nas<br />
superfícies envolvi<strong>da</strong>s e, na pior <strong>da</strong>s hipóteses, pode mesmo queimar ou<br />
perfurar as paredes do forno ou o objecto.<br />
7.4.3 Métodos tradicionais<br />
A luta do Hom<strong>em</strong> contra os insectos não é um combate dos nossos dias,<br />
começou com a alvora<strong>da</strong> <strong>da</strong> história. Sab<strong>em</strong>os, pelos escritos de Homero, que os<br />
215
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
gregos usaram dióxido de enxofre para eliminar várias espécies de insectos.<br />
Gnadinger, no seu excelente livro intitulado Pyrethrum Flower, explica que as flores<br />
do piretro eram usa<strong>da</strong>s como pestici<strong>da</strong>s na Pérsia. Na Índia, utilizavam-se plantas<br />
aromáticas e respectivas folhas como repelentes de insectos, desde os t<strong>em</strong>pos<br />
mais r<strong>em</strong>otos. As plantas que então conheciam eram o Acorus calamus, Linn (<strong>em</strong><br />
Hindi, Ghodbach e <strong>em</strong> Sânscrito, Shadgrantha), a Withania somnifera, Dun (Ashwagandha<br />
ou Asana), as folhas do tabaco, etc. (SWARNAKAMAL 1975). No século V d. C., os fabricantes<br />
de papel chineses começaram a adicionar insectici<strong>da</strong> ao papel fabricado a<br />
partir <strong>da</strong>s s<strong>em</strong>entes do sobreiro de Amur (Phellodendron amurense, Rupr.). Mais tarde,<br />
passaram a ser obrigados por lei a fazê-lo (PLUMBE 1987). Nos anos 50 e 60 do<br />
século XX era prática corrente (<strong>em</strong>bora actualmente caí<strong>da</strong> <strong>em</strong> desuso) proteger<br />
os livros dos insectos envernizando as respectivas capas. A utilização de cartão<br />
calandrado reduz igualmente o perigo de infestação. Outras precauções são o uso<br />
de encadernações com telas prepara<strong>da</strong>s, linha de costura <strong>em</strong> nylon e adesivo de<br />
acetato de polivinil (PVA) e papel com encolag<strong>em</strong> s<strong>em</strong> amido, dextrina ou caseína<br />
(PLUMBE 1987). As térmitas abun<strong>da</strong>m <strong>em</strong> climas tropicais e subtropicais.Vale a pena<br />
l<strong>em</strong>brar que as térmitas têm dois inimigos fatais: a luz solar e o ar fresco. Um<br />
antigo r<strong>em</strong>édio, muito usado contra as térmitas, é evitar o contacto de prateleiras<br />
de depósitos com o soalho, mergulhando as respectivas bases <strong>em</strong> recipientes com<br />
óleo de creosoto e óleo de querosene (1:2) (KATHPALIA 1973; TALWAR 1993).O Ghodbach<br />
é muito conhecido como repelente de insectos e nos distritos Konkan de<br />
Maharashtra é designado por Pandri. Contém um óleo aromático volátil e uma<br />
substância amarga, conheci<strong>da</strong> por lacorin. Juntos, constitu<strong>em</strong> um poderoso<br />
insectici<strong>da</strong>. Um ataque de formiga branca é muitas vezes identificado com o uso<br />
do Ghodbach <strong>em</strong> pó. O Ghodbach é uma erva erecta e aromática dos pântanos, um<br />
rizoma denso e rastejante. As folhas e a raiz dão orig<strong>em</strong> a um insectici<strong>da</strong> muito<br />
eficaz. A Ashwagandha, um pequeno arbusto erecto com cerca de 45 cm de altura,<br />
é outra planta com proprie<strong>da</strong>des s<strong>em</strong>elhantes. Era prática corrente colocar ramos<br />
de Ghodbach e Ashawagandha <strong>em</strong> arquivos e bibliotecas no passado, para proteger<br />
os livros e os manuscritos do ataque de pragas.Também se recorria a compostos<br />
de chumbo e arsénico para preservar arquivos valiosos.A resina <strong>da</strong> árvore indiana<br />
Boswellia thurifera (conheci<strong>da</strong> por Frankincense), Gugal ou Dhup, é usa<strong>da</strong> <strong>em</strong> muitas<br />
zonas <strong>da</strong> Índia, onde é queima<strong>da</strong> como incenso. Desinfecta a casa e serve<br />
como fumigante para afastar pragas de insectos. Em alguns museus indianos,<br />
é costume colocar determina<strong>da</strong>s plantas aromáticas <strong>em</strong> vitrinas, como o tabaco,<br />
a amargoseira, etc., com o objectivo de repelir pragas de insectos (SWARNAKAMAL<br />
1975).<br />
216
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
7.4.3.1 Amargoseira e «Árvore do Chá»<br />
Actualmente, exist<strong>em</strong> muitos repelentes à base de extracto de plantas. Contudo,<br />
convém ter muita cautela com esses repelentes tradicionais, que mantêm as<br />
suas proprie<strong>da</strong>des venenosas e pod<strong>em</strong> ser prejudiciais, tanto para o Hom<strong>em</strong>,<br />
como para os documentos <strong>em</strong> arquivo. Os produtos à base de plantas pod<strong>em</strong><br />
parecer amigos do ambiente, mas isso não reduz as suas características<br />
venenosas. Os conservadores faz<strong>em</strong> b<strong>em</strong> <strong>em</strong> l<strong>em</strong>brar que a natureza tanto dá a<br />
vi<strong>da</strong> como a tira. Alguns destes repelentes de orig<strong>em</strong> vegetal serv<strong>em</strong> para<br />
fabricar papel com proprie<strong>da</strong>des insectici<strong>da</strong>s que é usado para ficar <strong>em</strong><br />
contacto directo com os documentos. Exist<strong>em</strong> também repelentes sob a forma<br />
de óleo, com os quais se unta ou impregna o papel. Actualmente, os especialistas<br />
<strong>em</strong> conservação consideram que exist<strong>em</strong> dois repelentes vegetais<br />
prometedores: os extractos de amargoseira (Azadirachta indica) e o óleo <strong>da</strong> «árvore<br />
do chá» (Melaleuca alternifolia). Contudo, a «árvore do chá» é venenosa, devido<br />
aos elevados conteúdos de compostos orgânicos voláteis (terebintina). Na Austrália,<br />
o óleo <strong>da</strong> «árvore do chá» t<strong>em</strong> sido um r<strong>em</strong>édio popular muito apreciado<br />
para pessoas e animais. A Macquarie University conduziu uma investigação<br />
sobre a activi<strong>da</strong>de antimicrobiana de um grande número de óleos <strong>da</strong> «árvore<br />
do chá» comercializados. Os resultados desse trabalho d<strong>em</strong>onstraram a importância<br />
<strong>da</strong> terpina-4-ol na acção contra os micróbios. A poderosa acção antimicrobiana<br />
do p-cimene, um componente menos importante do óleo <strong>da</strong> «árvore<br />
do chá», foi também confirma<strong>da</strong>. Alguns microorganismos são altamente<br />
susceptíveis a combinações <strong>da</strong> terpina-4-ol e do p-cimene. Os óleos essenciais<br />
<strong>da</strong> «árvore do chá» são muito s<strong>em</strong>elhantes à terebintina a qual, por sua vez, era<br />
já um r<strong>em</strong>édio tradicional com múltiplas aplicações na vi<strong>da</strong> rural: há menos de<br />
50 anos, a terebintina era usa<strong>da</strong> para curar qualquer maleita <strong>da</strong> população ou<br />
de animais domésticos. Mas sabia-se também que havia casos de envenenamento.<br />
Actualmente, a maioria <strong>da</strong>s pessoas já compreendeu que a terebintina é<br />
mais tóxica do que benéfica e, por ter sido posta de parte, o recurso ao óleo de<br />
melaleuca, quimicamente aparentado, aumentou extraordinariamente. Vários<br />
estudos foram publicados <strong>em</strong> revistas respeitáveis, apoiando o uso do popular<br />
r<strong>em</strong>édio. O óleo <strong>da</strong> «árvore do chá» revelou-se muito eficaz contra uma<br />
grande varie<strong>da</strong>de de bactérias, por ex<strong>em</strong>plo, fungos e fermentos. Um dos<br />
estudos realizados considerou os efeitos do óleo <strong>em</strong> bactérias normais <strong>da</strong> pele,<br />
comparando-os com os efeitos causados pelas bactérias nocivas: constatou-se<br />
que o óleo atacava preferencialmente as bactérias nocivas, s<strong>em</strong> perturbar as<br />
benéficas. No entanto, os compostos que curam são os que desencadeiam<br />
217
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
efeitos secundários, sendo razoável concluir que, mesmo <strong>em</strong> pequenas doses,<br />
esses compostos pod<strong>em</strong> ser nocivos. Do uso do óleo <strong>da</strong> «árvore de chá» diz-<br />
-se que «um pouco de óleo <strong>da</strong> árvore de chá é bom; d<strong>em</strong>ais, não é melhor».<br />
Outra característica do óleo é ser fort<strong>em</strong>ente atraído por outros tipos de óleos.<br />
Em termos científicos, essa característica designa-se por lipofilia, literalmente<br />
«o amor pela gordura», <strong>em</strong> termos científicos. Como a pele é rica <strong>em</strong> óleos,<br />
as substâncias químicas essenciais <strong>da</strong> melaleuca são rapi<strong>da</strong>mente absorvi<strong>da</strong>s,<br />
penetrando <strong>em</strong> segui<strong>da</strong> na corrente sanguínea. A amargoseira (Azadirachta indica)<br />
possui grandes potenciali<strong>da</strong>des, tanto pelas capaci<strong>da</strong>des de cura, como pela<br />
eficácia no controlo de insectos. Sobre este t<strong>em</strong>a existe muita informação na<br />
Internet, e present<strong>em</strong>ente a Cornell University desenvolve uma investigação<br />
sobre as possíveis aplicações do óleo na conservação.<br />
7.4.4 Bibliografia<br />
A quanti<strong>da</strong>de de literatura sobre este assunto ou, mais precisamente, assuntos é<br />
muito substancial, mas apenas uma pequena parte aparece referencia<strong>da</strong> a seguir.<br />
Para literatura sobre fumigantes, ver: BOND 1998; COLEMAN 1978; GEROZISIS et al.<br />
1990; GILLIES et al. 1992; HAENEL 1964; HENGEMIHLE et al. 1995; LEESCH et al.<br />
1978; MCCOMB 1983; MONRO 19075; MORI et al. 1974; PINNIGER 1998; READE<br />
FONG 2001; SMITH 1984b; TALWAR 1975. Para mais informação sobre o<br />
fumigante vikane, ver as páginas <strong>da</strong> Internet do GCI e do Dow Agro Sciences.<br />
Para literatura sobre tratamentos não-químicos, a quente, por congelamento<br />
e radiação, ver: BAUST 1973; BREZNER et al. 1989; DANIEL et al. 1993;<br />
ELERT et al. 1997; FLINT et al. 1981b; FLORIAN 1986; FORBES et al. 1987; KAPLAN<br />
et al. 1996; KETCHAM 1984; KING 1984; LAWSON 1988; LECLERC 1989; MCCALL<br />
1986; NESHEIM 1984; PATON et al. 1987; PEACOCK 1998 e 1999; SMITH 1984a e<br />
1986; TANIMURA et al. 1995; TEPLY et al. 1986; TILTON et al. 1982a e 1982b;<br />
URBAN et al. 1986; VALENTIN et al. 1990; WILKINSON 1980.<br />
Para repelentes tradicionais, ver: DAVI 1989; NAIR 1993a; SAMIDI et al.1993.<br />
Sobre a «árvore do chá» e a amargoseira, consulte-se a página <strong>da</strong> Internet de<br />
The Rural Industries Research and Development Corporation (RIRDC) e a Ne<strong>em</strong><br />
Foun<strong>da</strong>tion. Para alguma literatura sobre este t<strong>em</strong>a, ver: AD HOC PANEL OF THE<br />
BOARD ON SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. NATIONAL<br />
RESEARCH COUNCIL [s. d.]; CASEY SCLAR 1994; GATEBY et al.2001.<br />
218
II PARTE<br />
B I BLIOGRAFIA
1<br />
Conceitos básicos<br />
ADIKWU,C.C.A.<br />
1987 A survey of University Archives in five universities in Nigeria. Library Focus<br />
(Nigerian Library Association, Kaduna State Division) 5(1/2): 24-37.<br />
AGEBUNDE,J.A.<br />
1984 Probl<strong>em</strong>s of interlibrary photocopying practice: a user’s view in relation<br />
to preservation of library materials. Nigerian Library and Information Science<br />
Review 2: 19-88.<br />
AGRAWAL,O.P.<br />
1984 Conservation of manuscripts and paintings of South-east Asia. London: Butterworths.<br />
ALEGBELEYE,G.O.<br />
1988 The conservation scene in Nigeria: a panoramic view of the condition of<br />
bibliographic resources. Restaurator 9(1): 14-26.<br />
ARCHER,R.<br />
1996 Archives and records manag<strong>em</strong>ent: an IRDC 25 year retrospective of<br />
support. Janus (special on inter-regional conference on archival<br />
development, Tunis 1995): 122.<br />
ARNOULT, J.-M.;V. KREMP;M.MUSEMBI<br />
1995 Proceedings of the Pan-African Conference on the preservation and conservation of library and<br />
archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993. The Hague: IFLA.<br />
BAISH,M.A.<br />
1987 Special probl<strong>em</strong>s of conservation in the tropics. Conservation Administration<br />
News 31: 4-5.<br />
221
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
BAKER,W.<br />
2000 Latin American Conservation Resources For Libraries and Archives. Online publication:<br />
http://palimpsest.stanford.edu/bib/wbaker/[accessed April 4 2006].<br />
BERRADA,L.<br />
1995 Co-operation in the area of preservation of library and archival materials.<br />
In Proceedings of the Pan-African conference on the preservation and conservation of library<br />
and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited by J.-M. Arnoult et<br />
al.The Hague: IFLA, 163-164.<br />
BLANCO,L.<br />
1988 PAC Regional Center: Caracas. International Preservation News 3: 1-4.<br />
CLEMENTS, D. W. G.; J. H. MCILWAINE.; A. C. THURSTON;S.A.RUDD<br />
1989 Review of training needs in preservation and conservation. Paris: UNESCO.<br />
COATES,P.R.<br />
2001 JICPA survey of conservation facilities and experts in Africa. International<br />
Preservation News: 33-35.<br />
CUNHA,G.<br />
1988 Methods of evaluation to determine the preservation needs in libraries and archives. Paris:<br />
UNESCO.<br />
CUNNINGHAM, A.; E. MAIDMENT<br />
1996 The Pacific Manuscripts Bureau: a duty of care for the preservation and<br />
diss<strong>em</strong>ination of Pacific documentation. The Cont<strong>em</strong>porary Pacific (Center for<br />
Pacific Islands Studies & University of Hawaii Press) 8 (Jan.).<br />
DEAN,J.F.<br />
1997 The preservation and conservation needs of the Upper Regions of Southeast<br />
Asia. Libri 47(3): 124-138.<br />
DEAN,J.F.;J.HENCHY<br />
2001 Preserving in Southeast Asia: a new beginning. International Preservation News<br />
24: 15-19.<br />
D’ORLEANS,J.<br />
1985 The status of archivists in relation to other information professionals in the public service in<br />
Africa. Paris: UNESCO.<br />
EVANS,F.B.<br />
1983 Writings on archives published by and with the assistance of Unesco.A RAMP study. Paris:<br />
UNESCO.<br />
222
Bibliografia | Conceitos básicos<br />
GAUYE,O.<br />
1984 Spécificité des archives et convergence avec les bibliothèques, les musées<br />
et les centres de documentation. Archivum 30: 17-27.<br />
GERHARD,C.<br />
1990 Preventive conservation in the tropics: a bibliography.New York:IFA, NYU.<br />
GUT,P.;D.ACKERKNECHT<br />
1993 Climate responsive building. St. Gallen: SKAT.<br />
HAZEN,D.C.<br />
1995 Preservation priorities in Latin America: A report from the sixtieth IFLA Meeting, Havana,<br />
Cuba. Washington, D. C.: Commission on Preservation and Access.<br />
IDSALAH,M.<br />
1995 Preservation and conservation programmes in North Africa. In Proceedings<br />
of the Pan-African conference on the preservation and conservation of library and archival<br />
materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited by J.-M. Arnoult et al. The<br />
Hague: IFLA, 45-48.<br />
JANSSEN,G.;B.VAN REETH<br />
1991 Missions d’évaluation sur la situation archivistique en Afrique centrale (Burundi, Cameroun,<br />
Gabon, Rwan<strong>da</strong>,Angola, Guinée Equatoriale, Sao Tome, Zaire).<br />
KAIHARA,AYAKO<br />
1993 Preservation needs survey conducted by the PAC Regional Center for Asia.<br />
CDNLAO Newsletter 18: 1-3.<br />
KATHPALIA,Y. P.<br />
1978 Conservation and restoration of archives: a survey of facilities. Paris: UNESCO.<br />
KHAYUNDI,F.E.<br />
1988 A survey of preservation of library collections in Kenya. Nairobi: University of Nairobi.<br />
1995 An overview of preservation and conservation programmes in eastern<br />
and southern Africa. In Proceedings of the Pan-African conference on the preservation<br />
and conservation of library and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993,<br />
edited by J.-M. Arnoult et al. The Hague: IFLA, 31-36.<br />
KREMP,V.<br />
1993 A brief survey of the African situation. International Preservation News 6: 6.<br />
KUBA,MASAKAZU<br />
2001 Reasons for Strengthening Links with our Neighbour Countries<br />
International Preservation News 24: 20-21.<br />
223
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
KUKUBO,R.J.<br />
1995 A review of areas of actual and potential co-operation in preservation and<br />
conservation efforts in eastern and southern Africa. In Proceedings of the Pan-<br />
African conference on the preservation and conservation of library and archival materials.<br />
Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited by J.-M. Arnoult et al. The Hague:<br />
IFLA, 157-162.<br />
LAAR,E.VAN<br />
1985 The status of archives and records manag<strong>em</strong>ent syst<strong>em</strong>s and services in African m<strong>em</strong>ber<br />
states: a RAMP study. Paris: UNESCO.<br />
LINDSAY,J.<br />
2000 Questions of written heritage and access: some points for discussion. In<br />
Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices<br />
in Southeast Asia: assessing current needs and evaluating past projects, Chiang Mai, Feb.<br />
21-24, 2000, edited by R. Abhakorn, N. Vaneesorn, A. Trakarnpan and T.<br />
Easum. Chiang Mai: Chiang Mai University, 299-312.<br />
LYALL,J.<br />
1997 The role of counter disaster planning in establishing national and<br />
international preservation information networks. In Preparing for preservation<br />
environment: against severe climate and various disasters. Proceedings of the 7th Annual<br />
Symposium on Preservation,Asia and Oceania Region. Tokyo: National Diet Library,<br />
113-130.<br />
MAZIKANA,P.C.<br />
1992 Survey of the archival situation in Africa. Paris: UNESCO/ICA.<br />
1995 An evaluation of preservation and conservation programmes and<br />
facilities in Africa. In Proceedings of the Pan-African conference on the preservation and<br />
conservation of library and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited<br />
by J.-M. Arnoult et al. The Hague: IFLA, 21-30.<br />
MBAYE,S.<br />
1995 Probl<strong>em</strong>s of preservation and conservation in libraries and archives of<br />
Black Africa. In Proceedings of the Pan-African conference on the preservation and<br />
conservation of library and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited<br />
by J.-M. Arnoult et al. The Hague: IFLA, 41-44.<br />
MILBURN,S.<br />
1959 The provision of vernacular literature. LibraryTrends 8(2): 307-321.<br />
MURRAY-LACHAPELLE,R.<br />
1999 Canadian international development assistance in the field of archives<br />
and records manag<strong>em</strong>ent. Archivum 44: 221-234.<br />
224
Bibliografia | Conceitos básicos<br />
MUSEMBI,M.<br />
1999 Preservation of library and archival materials in Africa: an evaluation. Nairobi.<br />
NICKLIN,K.<br />
1983 Traditional preservation methods: Some African practices observed. Museum<br />
35(2): 123-127.<br />
NOERLUND, I.; J. PALM;S.RASMUSSEN<br />
1991 Cultural institutions in Laos (I): libraries and research institutions, restoration, conservation<br />
and training needs. NIAS Report, vol. 5. Copenhagen: Nordic Institute of Asian<br />
Studies.<br />
OLOFSSON,E.<br />
1988 A professional exchange programme: Sweden-Africa. Museum 160: 206-209.<br />
ORNAGER,S.<br />
2000 Cultural property preservation the UNESCO M<strong>em</strong>ory of the World<br />
Programme. In Proceedings of the international meeting on microform preservation and<br />
conservation practices in Southeast Asia: assessing current needs and evaluating past projects,<br />
Chiang Mai, Feb. 21-24, 2000, edited by R. Abhakorn, N. Vaneesorn, A.<br />
Trakarnpan and T. Easum. Chiang Mai: Chiang Mai University, 272-278.<br />
PLUMBE,W.J.<br />
1959 Introduction. LibraryTrends (Current trends in newly developing countries)<br />
8(2): 125-129.<br />
PORCK, H.; R. TEYGELER<br />
2000 Preservation science survey.An overview of recent developments in research on the conservation<br />
of selected analog library and archival materials. Washington D. C.: Council on<br />
Library and Information Resources.<br />
RAPHAEL,B.<br />
1993 Preventive conservation in Latin America. Abbey Newsletter 17(5): 67.<br />
RHYS-LEWIS,J.<br />
1999 The role of conservation and preservation in the archives of developing<br />
countries: observations based on missions to Kenya, Ugan<strong>da</strong> and<br />
Vietnam. Archivum 44: 157-170.<br />
ROBERTS,K.<br />
2001 Preserving Maori documentary heritage in New Zealand. International<br />
Preservation News 24: 11-14.<br />
ROPER,M.<br />
1996a The role of international organisations in archival development. Janus 1:<br />
103-109.<br />
225
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1996b<br />
The present state of archival development worldwide. Janus (special on<br />
inter-regional conference on archival development. Tunis 1995): 11-47.<br />
SANDELL,B.<br />
1996 Guide to institutions supporting librarianship in developing countries. Upsalla: Uppsala<br />
University Library.<br />
SÖDERMAN,C.<br />
1999 Support to archives in the developing countries. Archivum 44: 213-220.<br />
SONNET-AZIZE,R.G.<br />
1995 Preservation and conservation measures in Central-Africa: proposals for<br />
training programmes. In Proceedings of the Pan-African conference on the preservation<br />
and conservation of library and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993,<br />
edited by J-M. Arnoult et al. The Hague: IFLA, 165-168.<br />
SOUZA,L.A.C.<br />
1993 La enseñanza y la practica de la conservacion preventiva en CECOR/ Minas<br />
Gerais, Brasil. In S<strong>em</strong>inario Sobre Conservacion <strong>Preventiva</strong> en America Latina/ S<strong>em</strong>inar<br />
on Preventive Conservation in Latin America, promovido por Apoyo. CAL Conservation<br />
Analytical Laboratory of the Smithsonian Institution, The Getty Conservation Institute,<br />
Library of Congress,Washington DC 19-20 Agosto, 1993, 22.<br />
STRICKLAND,J.T.<br />
1959 Patterns of library service in Africa. Library Trends 8(2): 163-191.<br />
TANODI,A.<br />
1985 The status of archivists in relation to other information professionals in the public service in<br />
Latin America. Paris: UNESCO.<br />
THOMSON,G.<br />
1994 The museum environment. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Hein<strong>em</strong>ann.<br />
WARD,P.<br />
1989 The nature of conservation: a race against time. Marina del Rey: Getty Conservation<br />
Institute.<br />
WEILBRENNER, B.; A. TENDING<br />
1988 Enquête sur la situation archivitique <strong>da</strong>ns les pays d’Afrique de l’ouest d’expression française:<br />
Rapport Final. Dakar: ICA.<br />
226
2<br />
Preservação e conservação<br />
AARONS,J.A.<br />
1988 Conservation activities in Jamaica. COMLA Newsletter (Commonwealth<br />
Library Association) 62: 8-9.<br />
ABHAKORN,R.<br />
2000 Towards a collective m<strong>em</strong>ory of mainland Southeast Asia: Field preservation<br />
of traditional manuscripts in Thailand, Laos and Myanmar. In A reader in<br />
preservation and conservation,edited by R.W. Manning and V. Kr<strong>em</strong>p. München:<br />
Sauer, 86-91.<br />
ABHAKORN, R.; N.VANEESORN;A.TRAKARNPAN;T.EASUM, ed.<br />
2000 Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices<br />
in Southeast Asia: assessing current needs and evaluating past projects. February 21-24,<br />
2000. Chiang Mai: Chiang Mai University.<br />
AFAN,C.L.<br />
1979 Preservation of folk culture. In Preservation of cultural properties and traditions:<br />
proceedings of the second Asian-Pacific conference: 28 May-2 June, edited by W. K. Lee.<br />
Seoul, 37-41.<br />
AGRAWAL,O.P.<br />
1974a<br />
Conservation in India. In Conservation in the tropics, edited by O. P. Agrawal.<br />
Rome: 12-47.<br />
1974b<br />
1974c<br />
Probl<strong>em</strong>s of conservation of Indian Miniatures. In Conservation in the tropics,<br />
edited by O. P. Agrawal. Rome, 87-90.<br />
Conservation in the tropics. New Delhi: International Centre for Conservation.<br />
1975 Conservation of Asian Cultural Objects: Asian materials and techniques.<br />
Museum 27(4): 155-212.<br />
227
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1979 Probl<strong>em</strong>s of preservation of cultural objects. Paris: UNESCO.<br />
1981 Appropriate Indian technology for the conservation of museum collections.<br />
In Technical handbooks for museums and monuments (7). Paris: UNESCO, 69-82.<br />
1984 Conservation of manuscripts and paintings of south-east asia. London: Butterworths.<br />
1993 Preservation of art objects and library materials. New Delhi: National Book Trust.<br />
AGRAWAL,U.<br />
1974 Abstracts of conservation articles in Museum,Vols. I to XXIV. Conservation of<br />
Cultural Property in India 7: 77-87.<br />
AKUSSAH,H.<br />
1991 The preservation of traditional library and archival materials in the<br />
‘harsh’ Ghanaian environment. African Journal of Library,Archives and Information<br />
Science 1: 19-38.<br />
AL RASHID<br />
1974 Conservation in Malaysia. In Conservation in the tropics, edited by O. P. Agrawal.<br />
Rome, 196-200.<br />
ALBADA, J. van; P. BOWER<br />
1989 Records manag<strong>em</strong>ent and National Archives in Nigeria. Paris: UNESCO.<br />
ALEGBELEYE,G.O.<br />
1985 Conservation of bibliographic resources of Nigeria: probl<strong>em</strong>s and prospects.<br />
Nigerian Libraries 21: 1-15.<br />
1996a<br />
1996b<br />
A study of book deterioration at the University of Iba<strong>da</strong>n Library and its<br />
implications for preservation and conservation in African university<br />
libraries. African Journal of Library,Archives and Information Science 6: 37-45.<br />
How should preservation procedures be impl<strong>em</strong>ented in Africa. International<br />
Preservation News 13: 9-10.<br />
2000 Preservation and conservation of library and archival materials: a selective bibliography<br />
prepared by G. O.Alegbeleye for the JICPA. Iba<strong>da</strong>n: JICPA.<br />
ALI,M.K.binH.<br />
1979 Preservation of folk culture in Malaysia. In Preservation of cultural properties and<br />
traditions. Proceedings of the second Asian-Pacific conference 28 May-2 June, Seoul, edited<br />
by W. K. Lee. 105-111.<br />
ALMEIDA,M.C.B.de<br />
1996 Bibliografia sobre conservação e restauração de bens culturais. São Paulo: USP/<br />
Comissão de Patrimônio Cultural.<br />
228
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
ANÓNIMO<br />
1940 Protection of books in tropics. American Archivist 3: 212.<br />
ANÓNIMO<br />
1943 Protection of books in tropics. American Archivist 6: 197.<br />
ANÓNIMO<br />
1944 Protection of books in tropics. American Archivist 7: 159.<br />
ANÓNIMO<br />
1952 Protection of books in tropics. American Archivist 15: 379.<br />
ANÓNIMO<br />
1954 Protection of books in tropics. American Archivist 17: 54.<br />
ANÓNIMO<br />
1955 Insectici<strong>da</strong>l papers. Papermaker (mid-summer): 32-34.<br />
ANÓNIMO<br />
1969 La préservation des biens culturels notamment en milieu tropical. Musées<br />
et monuments 11.<br />
ANÓNIMO<br />
1978 Archives preservation: Nepal. Paris: UNESCO.<br />
ANÓNIMO<br />
1980 The conservation of cultural materials in humid climates. Proceedings of the UNESCO<br />
Regional S<strong>em</strong>inar held at Canberra College of Advanced Education, February 19-23, 1979.<br />
Canberra: Australian National Committee for UNESCO, Australian<br />
Government Publishing Service.<br />
ANÓNIMO<br />
1987 Books in peril. Proceedings of the symposium on the preservation of library and archives<br />
materials in Southern Africa. Cape Town, Nov. 19-21, 1986. Cape Town: South<br />
African Library.<br />
ANÓNIMO<br />
1988 Préservation du patrimoine des bibliothèques et archives d’Afrique francophone. Séminaire<br />
organisé par Bibliothèque Nationale, Paris-Sablé, 24-28 octobre 1988. Paris-Sablé:<br />
Bibliothèque Nationale etc.<br />
ANÓNIMO<br />
1993 Preservation consulting in Latin America. Abbey Newsletter 17(1):4.<br />
ANÓNIMO<br />
1994a Cambodia. International Preservation News June: 11.<br />
229
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
ANÓNIMO<br />
1994b Laos. International Preservation News June 8:12.<br />
ANÓNIMO<br />
2001 Permanent paper project in Pondicherry. International Preservation News 25:21.<br />
ARAAFU<br />
1991 La conservation préventive. Paris: ARAAFU.<br />
ARFANIS,P.<br />
1999 Archives at Risk in Cambodia: The National Archives of Cambodia and<br />
the Role of the Foreign Advisor. In Australian Society of Archivists Conference,<br />
Brisbane, July 1999. Archives at risk: Accountability, Vulnerability and Credibility.<br />
Brisbane: Australian Society of Archivists.<br />
ARFANIS, P.; H. JARVIS<br />
1993 Archives in Cambodia; neglected institutions. Archives and Manuscripts<br />
(Australian Society of Archivists) 21(2): 252-262.<br />
ARNOULT, J.-M.<br />
1989a Bibliothèque Nationale de Tunis: politique de préservation et de conservation. Paris.<br />
1989b<br />
Propositions de mesures de préservation et de conservation des villes ancienne (Chinguetti,<br />
Oua<strong>da</strong>ne et Akjoujt): Mauritanie. Paris: UNESCO.<br />
2000 Libraries of the ancient cities of Mauritania. International Preservation News 21: 21.<br />
ASHRAF, A.; M. A. KHAN<br />
1980 Conservation and restoration of archival material. Islamabad: National Archives of<br />
India.<br />
BADGLEY,J.<br />
1995 Exchange and conservation programs. Burma Debate 2: 30.<br />
BADU,E.E.<br />
1990 The preservation of library materials: a case study of the University of<br />
Science Technical Library in Ghana. Aslib Proceedings 41: 119-125.<br />
BAKKEN,A.<br />
1987 Museums in the third world: conservation in developing countries.<br />
Ethnographic Conservation Newsletter (ICOM) 3: 1-3.<br />
BANERJEE,D.N.<br />
1997 The preservation of documents against disasters: the challenge before the<br />
Indian Libraries. In Preparing for preservation environment: against severe climate and<br />
various disasters. Proceedings of the 7th Annual Symposium on Preservation, National Diet<br />
Library. Tokyo: Japan Library Association, 131-136.<br />
230
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
BANERJEE,N.R.<br />
1974 Procedure and machinery of conservation in Nepal. In Conservation in the<br />
tropics, edited by O. P. Agrawal. Rome, 204-207.<br />
BANSA,H.<br />
1981 The conservation of library collections in tropical and sub-tropical<br />
conditions: the probl<strong>em</strong> of increased <strong>da</strong>ngers of <strong>da</strong>mage and decay in<br />
areas of high t<strong>em</strong>peratures and humidity. IFLA Journal 7(3): 264-267.<br />
BARBÁCHANO,P.<br />
1979 Conservación y restauración de materiales de archivos y bibliotecas: informe preparado para<br />
el Gobierno de Bolivia por la Organización de las Naciones Uni<strong>da</strong>s para la Educación, la<br />
Ciencia y la Cultura. Paris: UNESCO.<br />
BARCLAY, R.; M. GILBERG;J.C.MCCAWLEY;T.STONE, ed.<br />
1988 The care and preservation of ethnological materials. Symposium 86, Proceedings. Ottawa:<br />
Canadian Conservation Istitute.<br />
BAXI,S.J.<br />
1974 Security probl<strong>em</strong>s in Indian museums. Museum 26(1): 48-52.<br />
BEARMAN, F.; E. KISSEL<br />
2000 A global approach: setting up a preservation program at Makare<br />
University Library in Kampala, Ugan<strong>da</strong>. The Book and Paper Group Annual 19: 9-14.<br />
BECK,I.<br />
1996 Priority on preventive conservation at the National Archives of Brazil.<br />
International Preservation News 12: 9.<br />
1999 Building preservation knowledge in Brazil. Washington D. C.: CLIR.<br />
BÉGIN,P.;D.GRATTAN; B.PETERS<br />
2000 Paper permanence: the development and implications of a Canadian<br />
Stan<strong>da</strong>rd. In Access to information preservation issues. Proceedings of the 34 International<br />
Conference of the Round Table on Archives Citra – Bu<strong>da</strong>pest 1999. Paris: ICA, 133-138.<br />
BENNETT,W.<br />
1985 Conservation and mounting of eastern pictorial art: a bibliography of<br />
western language publications. The Paper Conservator 9: 61-63.<br />
BERGDAHL,B.<br />
1996 Myanmar: report from a preservation and conservation meeting, and<br />
some related events, Nov. 20-24, 1995. Focus on International and Comparative<br />
Librarianship 27: 206-209.<br />
231
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
BERGDAHL, B.; P. GUAYSUWAN<br />
1994 The advanc<strong>em</strong>ent of librarianship.A workshop to identify and assess needs in Indochina and<br />
Myanmar and to formulate project proposals. Proceedings of the workshop held in Hanoi,<br />
Vietnam, June 2-4, 1994. Uppsala: Uppsala University Library.<br />
BHARGAVA,K.D.<br />
1967 Repair and preservation of records. New Delhi: National Archives of India.<br />
BILESANMI,S.A.<br />
1988a<br />
Preservation of library materials in Nigeria Which way forward.<br />
Nigerbiblios 13(2): 17-19.<br />
1988b<br />
Preservation probl<strong>em</strong>s of a new Nigerian library: a case study of Ogun<br />
State University. Nigerian Library and Information Science Review 6(1): 33-36.<br />
BISWAS,S.C.<br />
1992 Acquisitions and preservation of Indian publications: probl<strong>em</strong>s and<br />
prospects. In Planning modernization and preservation programmes for South Asian<br />
libraries, edited by K. Dasgupta. Calcutta: National Library, 10-16.<br />
BLACKIE,W.J.<br />
1930 Preservation of books in the tropics. Agricultural Journal of Fiji 3(2): 84-85.<br />
BOUSTEAD,W.M.<br />
1964 The surface pH measur<strong>em</strong>ent and deacidification of prints and drawings<br />
in tropical climates. Studies in Conservation 9(2): 50-58.<br />
BOUSTEAD, W. M.; G. THOMSON<br />
1963 The conservation of works of art in tropical and sub-tropical zones. In<br />
Recent advances in conservation. Contribution to the ICC Rome Conference. London:<br />
Butterworth, 73-78.<br />
BRANDT,A.C.<br />
1994 Conservación preventiva: Principales orientaciones, estrategias y métodos.<br />
IFLA Journal 20(3): 276-283.<br />
BROWN,F.<br />
1903 The preservation of books in hot climates. Scientific American Suppl<strong>em</strong>ent 56.<br />
1908 The preservation of books in hot climates. Scientific American Suppl<strong>em</strong>ent 65.<br />
BUCHANAN,S.A.<br />
1995 Preservation perspectives: Haiti: an essential heritage. Wilson Library Bulletin<br />
69(8): 68-69.<br />
232
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
CATALÁN BERTONI,G.;P.MUJICA GONZÁLEZ;A.PALMA VARAS; M.PEÑA REYES<br />
1998 Conservación es un proyecto integral: Valorización de las colecciones de<br />
la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Chile. Conserva 2: 3-11.<br />
CEESAY,B.A.<br />
1986 Traditional ways of processing and preserving leather in Kuonko, a<br />
village in the Sandu district, Upper River Division of the Gambia, West<br />
Africa. In Symposium 86.The care of ethnological materials, edited by R. Barclay,<br />
M. Gilberg, J. C. McCawley, T. Stone. Ottawa: CCI, 47-52.<br />
CHAKRAVORTI,S.<br />
1947 A review of the lamination process. Indian Archives 1(4): 304-309.<br />
CHATTERJEE,N.<br />
1974 Some faulty approaches and preservation. Conservation of Cultural Property in<br />
India 7: 32-37.<br />
CHEN, Chi-lu<br />
1979 Some r<strong>em</strong>arks on preservation of cultural properties and traditions in the<br />
process of modernization. In Preservation of cultural properties and traditions.<br />
Proceedings of the second Asian-Pacific conference 28 May-2 June, Seoul, edited by W. K.<br />
Lee. 66-68.<br />
CHIDA,M.<br />
1991 Preservation manag<strong>em</strong>ent in tropical archives: challenging responsibility and limited sources.<br />
The case of the National Archives of Zimbabwe. MA-thesis. London: University College.<br />
CHILD,M.<br />
1997 Taking preservation across cultural frontiers. Libri 47(3): 139-146.<br />
CLARKE,R.<br />
1994 Conservation at the University of West Indies. Conservation Administration News<br />
58/59: 25-27.<br />
CLEMENTS,D.W.G.<br />
1985 Preservation of library collections: People’s Republic of China. Paris: UNESCO.<br />
CLOONAN,M.V.<br />
1997a Global views on preservation: introduction. Libri 47(3): 121-123.<br />
1997b Preservation without borders. Libri 47(3): 180-186.<br />
COATES,P.R.<br />
1993 Preservation in South Africa The present situation. International Preservation<br />
News 6: 9-11.<br />
233
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
COREA, I.; D. M. THILAKARATNE<br />
1992 Conservation and preservation of library materials in Sri Lanka. In Planning<br />
modernization and preservation programmes for South Asian libraries, edited by K.<br />
Dasgupta. Calcutta: National Library, 134-141.<br />
COREMANS,P.<br />
1965 Preservation of the cultural heritage in tropical Africa. Museum 3: 168-174.<br />
CORREIA,I.<br />
1998 Acerca dos factores externos de degra<strong>da</strong>ção do património bibliográfico<br />
<strong>em</strong> Goa. ARP: Boletim periódico 0(3): 4-5.<br />
COSETENG,A.<br />
1979 Philippine cultural properties and traditions, an overview. In Preservation of<br />
cultural properties and traditions. Proceedings of the second Asian-Pacific conference 28<br />
May-2 June, Seoul, edited by W. K. Lee. 120-124.<br />
CUNDALL,F.<br />
1926 The preservation of books in the tropics. In Handbook of Jamaica, edited by<br />
F. Cun<strong>da</strong>ll. Kingston: Government Printing Office.<br />
CUNHA, G. M.; D. G. CUNHA<br />
1972 Conservation of library materials. A manual and bibliography on the care, repair and<br />
restoration of library materials.Vol. I and II. Metuchen: Scarecrow Press.<br />
CURTIN,P.<br />
1966 The archives of tropical Africa: a reconnaissance. Journal of African History 1: 129.<br />
DAHLØ,R.<br />
1998 The rationale of permanent paper. In 64th IFLA General Conference August 16-<br />
August 21, 1998. Proceedings. The Hague: IFLA.<br />
DARTNALL,J.<br />
1988 Library conservation in the tropics. Education for Librarianship (Australia) 5<br />
(1): 10-17.<br />
DATTA,D.G.<br />
1969 Care and preservation of rare library materials. Calcutta Indian Association of<br />
Special Libraries and Information Centres Bulletin (IASLIC) 14: 97-101.<br />
DAVIES,J.<br />
1971 Conservation of records with particular reference to Malaysia. Southeast<br />
Asian Archives 4: 28-40.<br />
1974 Conservation of records in the National Archives and Library of Malaysia.<br />
In Conservation in the tropics, edited by O. P. Agrawal. Rome: 81-86.<br />
234
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
1979 A study of the basic stan<strong>da</strong>rds and methods in preservation and conservation workshops<br />
applicable to developing countries. Brussels: UNESCO and ICA.<br />
DAVISON,S.<br />
1981 Conservation of museum objects in tropical conditions. In Conservation of<br />
museum objects in the tropical conditions, edited by S. McCredle et al. Kuala<br />
Lumpur, 5-9.<br />
DAWODU,Y. O.<br />
1982 Responsibilities in the African context. Museum 34: 43.<br />
DEAN,J.F.<br />
1997 The preservation and conservation needs of the Upper Regions of Southeast<br />
Asia. Libri 47(3): 124-138.<br />
1999 Collection care and preservation of Southeast Asian materials. International<br />
Preservation News 20: 10-14.<br />
DEAN,J.F.;J.HENCHY<br />
2001 Preserving in Southeast Asia: a new beginning. International Preservation News<br />
24: 15-19.<br />
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY<br />
1997 Preservation basics for paper-based records. Atlanta: Department of Archives and<br />
History, Georgia.<br />
DESHPANDE,M.N.<br />
1973 Probl<strong>em</strong>s of conservation of cultural property in India. Conservation of<br />
Cultural Property in India 6: 15-21.<br />
DOSUNMI,J.A.<br />
1989 Preservation and conservation of library materials in Nigeria: a new<br />
awareness. COMLA Newsletter (Commonwealth Library Association) 64: 3-4.<br />
DREWES,J.<br />
2000 Cuba paradigms: The John Hopkins University Experience. The Book and<br />
Paper Group Annual 19: 21-24.<br />
DROGUET,A.<br />
1988 Kenya: pilot project on a National Archival Networking. Paris: UNESCO.<br />
DUPREE,N.Hatch<br />
1999 Libraries in Afghanistan. International Preservation News 19: 20-27.<br />
DUVERNE,R.<br />
1997 La conservation des documents graphiques en milieu tropical humide.<br />
Conservation restauration des biens culturels 10: 45-50.<br />
235
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
EDMONDS, P.; E. WILD<br />
2000 New obligations: conservation policy and treatment approaches for<br />
Aboriginal collections in Bunjilaka, the Aboriginal Centre, Melbourne<br />
Museum. In IIC Melbourne Congress 2000. Tradition and innovation: advances in<br />
conservation, edited by A. Roy and P. Smith. London: ICC, 60-64.<br />
EVANS,E.J.A.<br />
1969 Preservation of library material in tropical countries. Library Trends 8: 291-306.<br />
EVANS,F.B.<br />
1981 Development of an archival and record manag<strong>em</strong>ent programme: The Republic of Cyprus.<br />
Paris: UNESCO.<br />
1982 Development of the archival and record manag<strong>em</strong>ent programme: Malaysia. Paris:<br />
UNESCO.<br />
EVANS,J.<br />
1992 Development of revival libraries in the Solomon Islands. International<br />
Information and Library Review 24: 55-70. Evans, J. A.<br />
EVANS,J.A.<br />
1995 Planning for library development: Third World perspectives. Halifax, Nova Scotia:<br />
School of Library and Information Studies, Dalhousie University.<br />
EZENNIA,S.E.<br />
1994 Probl<strong>em</strong>s of preservation of library materials: the Nigerian experience.<br />
Library and Archival Security 12(2): 51-62.<br />
FABER,J.<br />
1994 The development of libraries in the third world: an inventory of information sources. Den<br />
Haag: The Hague Polytechnic, Department of Librarianship and<br />
Information Studies.<br />
FATIMA,N.<br />
1993 Preservation and conservation of library materials in Pakistan. Probl<strong>em</strong>s<br />
and prospects. Pakistan Library Bulletin 14: 1-9.<br />
FIRMINGER,W.K.<br />
1921 Bengal and Bihar district records 1760-1790.Their historical value and<br />
methods of preservation. In Proceedings of the Indian Historical Records Commission<br />
3: 23-36.<br />
FLIEDER,F.<br />
1966 The protection of archival documents against the effects of tropical<br />
climates. In A manual of tropical archivology, edited by Y. Pérotin. Paris/The<br />
Hague: Mouton, 93-108.<br />
236
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
FLOOD,R.A.<br />
1962 The British Council and library development in Africa. East African Library<br />
Association Bulletin 1: 7-10.<br />
FORDE,H.<br />
1985 Conservation department at the Malaysian National Library. Paris: UNESCO.<br />
FOX,L.L.<br />
1984 SOLINET proposes conservation program for the Southeast. Conservation<br />
Administration News 17: 20.<br />
1988 The SOLINET preservation program: building a preservation network in<br />
the Southeast. New Library Scene 7(4): 1, 5-9.<br />
FRANCO, C. do Amaral Peixoto Moreira<br />
1989 Arquivos públicos <strong>em</strong> regiões tropicais. In S<strong>em</strong>inário de tropicologia (1983,<br />
Recife), edited by E. Massangana. Recife: Fun<strong>da</strong>ção Joaquim Nabuco, 127-159.<br />
GABOA,T.S.A.<br />
1995 Preservation practices in the University of Cape Coast Library: an appraisal.<br />
Aslib Proceedings 47: 127-129.<br />
GAIROLA,T. R.<br />
1971 Conservation of cultural property. Spectrum 4(3)<br />
1974 Conservation probl<strong>em</strong>s in Burma. In Conservation in the tropics, edited by O. P.<br />
Agrawal. Rome, 202-204.<br />
GERHARD,C.<br />
1990 Preventive conservation in the tropics: a bibliography. New York: IFA, NYU.<br />
GIESE,D.<br />
1995 Preservation in the tropics. National Library of Australia News 5(8):12-15.<br />
1996 Focusing on Southeast Asia. National Library of Australia News 10(6): 4.<br />
GOSLING,A.<br />
1996 Burma and beyond. National Library of Australia News 6(13): 2.<br />
GREENE,V.<br />
1992 Accessories of holiness: defining Jewish sacred objects. Journal of the<br />
American Institute for Conservation 31(1), 31-40.<br />
GUILLEMARD, D.; L. BOUTIN<br />
1990 L’exposition ‘de jade et de nacre’ au musée néocalédonien de Nouméa:<br />
conservation préventive. Conservation - Restauration des biens culturels (Dec.): 21-25.<br />
237
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
GULIK,R.H.van<br />
1958 Chinese pictorial art as viewed by the connoisseur. Notes on the means and methods of<br />
traditional Chinese Connoisseurship of pictorial art, based upon A study of the art of<br />
mounting scrolls in China and Japan. Roma: Instituto Italiano per il Medio ed<br />
Estr<strong>em</strong>o Oriente.<br />
HAGMUELLER, G.; E. LIND<br />
1991 Cultural institutions in Laos (II): the Royal Palace Museum of Luang Prabang: general<br />
condition, conservation and restoration needs. Copenhagen: Nordic Institute of<br />
Asian Studies.<br />
HAQUE,E.<br />
1974 Conservation in Bangladesh. In Conservation in the tropics, edited by O. P.<br />
Agrawal. Rome, 200-202.<br />
HARBSMEIER,M.<br />
1992 Buch, Magie und koloniale Situation. Zur Anthropologie von Buch und<br />
Schrift. In: Peter Ganz, Das Buch als magisches und als Repräsentationsobjekt,<br />
Wiesbaden: Otto Harrassowitz, pp. 3-24.<br />
HARRIS,J.<br />
1957 Notes on book preservation in West African countries. Iba<strong>da</strong>n: University of Iba<strong>da</strong>n<br />
Library.<br />
HARVEY,R.<br />
1995 Library and archives preservation in countries of the ASEAN region. Asian<br />
Libraries 4: 42-51.<br />
HE SHUZONG<br />
2000 The mainland’s environment and the protection of China’s cultural<br />
heritage. A Chinese cultural lawyer’s perspective. Art,Antiquity and Law 5/1<br />
(March).<br />
HEGAZI,M.F.<br />
1996 Conservation and preservation policy at the National Library of Egypt<br />
(Dar al-Kutub). In The conservation and preservation of islamic manuscripts.Proceedings<br />
of the third conference of Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th Nov<strong>em</strong>ber<br />
1995, edited by Y. Ibish and G. Atiyeh. London: Al-Furqan Islamic<br />
Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 7-14.<br />
HENCHY,J.<br />
1998 Preservation and archives in Vietnam. Washington D. C.: CLIR.<br />
HENDRY,J.<br />
1998 The tradition of Japanese mounting and some methods applied to early<br />
graphic materials. IDP News (Newsletter of the International Dunhuang Project) 11:<br />
4-5.<br />
238
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
HUNDIUS,H.<br />
2000 Preservation of Lao manuscripts programme. In Proceedings of the international<br />
meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia: assessing<br />
current needs and evaluating past projects, (Chiang Mai, Feb. 21-24, 2000), edited<br />
by R. Abhakorn, N. Vaneesorn, A. Trakarnpan and T. Easum. Chiang Mai:<br />
Chiang Mai University, 313-317.<br />
HUQ,A.M.A.<br />
1995 World librarianship: an international and comparative dimension, an annotated bibliography<br />
1976-1992. Dhaka: Acad<strong>em</strong>ic Press.<br />
HUQ, A. M. A.; M. M. AMAN<br />
1977 Librarianship and the Third World: an annotated bibliography of selected literature on<br />
developing nations, 1960-1975. New York: Garland.<br />
IWASAKI,TOMOKICHI<br />
1974 Conservation in Japan. In Conservation in the tropics, edited by O. P. Agrawal.<br />
Rome, 200-202.<br />
1979 The Second Asian-Pacific Conference of the preservation of cultural<br />
properties and traditions. In Preservation of cultural properties and traditions.<br />
Proceedings of the second Asian-Pacific conference 28 May-2 June, Seoul, edited by W. K.<br />
Lee. 33-36.<br />
JAHAN,S.<br />
1987 Traditional techniques for the preservation of cellulosic ethnographic<br />
materials. In ICOM-CC 8th Triennial Meeting, Sydney,Australia 6-11 Sept<strong>em</strong>ber 1987.<br />
Preprints (1). Los Angeles: Getty Conservation Institute. 209-210.<br />
JALIL,N.<br />
1992 Forward planning for the preservation and conservation programme in the National Archives<br />
of Malaysia. London: University College.<br />
JANPOSRI,K.<br />
1975 Conservation of cultural property in Thailand. Conservation of Cultural Property<br />
in India 8: 33-34.<br />
JANTAN,A.<br />
1969 Conservation of archives: Malaysia. Unesco Bulletin for Libraries 23(4): 203-207.<br />
JARVIS,H.<br />
1989 A visit to Kampuchea 9th to 23th July 1987: A report. International Library<br />
Review 21: 387-393.<br />
239
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
JORDAN,S.<br />
2000 A review of the preservation literature, 1993-1998. Library Resources and<br />
Technical Services 44: 4-21.<br />
JOURDAIN,C.<br />
1990 Méthodes traditionnelles et locales de conservation des objects<br />
ethnographiques <strong>da</strong>ns diverses régions africaines. In ICOM-CC 9th Triennial<br />
Meeting Dresden, German D<strong>em</strong>ocratic Republic 26-31 August 1990. Preprints (1). Los<br />
Angeles: ICOM, 174-180.<br />
KABEBERI,M.<br />
1986 Voice of Kenya’s role in collection preservation and diss<strong>em</strong>ination of<br />
Kenya’s cultural heritage. Fontes Atis Musicae 33: 105-108.<br />
KAIKU,O.R.<br />
1979 The preservation and conservation of cultural material in the Papua New<br />
Guinea Museum. Oral History (University of Essex) 7(4): 9-13.<br />
KAPLAN, H. A.; M. HOLDEN;K.LUDWIG<br />
1991 Archives preservation resource review. The American Archivist fall: 502-544.<br />
KARIM,K.M.<br />
1988 Archives administration. Dhaka: Kanak Prokshaani.<br />
KATHPALIA,Y. P.<br />
1966 Restoration of documents. In A manual of tropical archivology, edited by Y.<br />
Pérotin. Paris/The Hague: Mouton, 120-149.<br />
1973 Conservation and restoration of archive materials. Documentation, Libraries and<br />
Archives: Studies and Research 3 Paris: UNESCO.<br />
1974 New approaches to conservation of paper. In Conservation in the tropics,edited<br />
by O. P. Agrawal. Rome: 91-97.<br />
1978 Conservation and restoration of archives: a survey of facilities. Paris: UNESCO.<br />
1982a<br />
1982b<br />
Conservation and restoration of archives. Unesco Journal of Information Science,<br />
Librarianship and Archives Administration 8: 97.<br />
Conservation and preservation of archives. Unesco Journal of Information<br />
Science, Librarianship and Archives Administration 4(2): 94-100.<br />
KAUL,D.K.<br />
1920 Care and preservation of old records in Northern Indian States. In<br />
Proceedings of the Indian Historical Records Commission 2: 31-39.<br />
240
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
KEMONI,H.N.<br />
1996 Preservation and conservation of archival materials: the case of Kenya<br />
[Kenya National Archives and Documentation Service]. African Journal of<br />
Library,Archives and Information Science 6: 46-51.<br />
KENNEDY,R.A.<br />
1959 Conservation in wet tropics. Technical Bulletin Museums Association of Middle<br />
Africa 1.<br />
1960 Conservation in humid tropical zone. Museum News 38(7): 16-20.<br />
KHAN,S.<br />
1992 Preservation of library materials and training: situation in Bangladesh. In<br />
Planning modernization and preservation programmes for South Asian libraries, edited by<br />
K. Dasgupta. Calcutta: National Library, 142-152.<br />
KIANI,Y.<br />
1974 Conservation in Iran. In Conservation in the tropics, edited by O. P. Agrawal.<br />
Rome, 192-196.<br />
KIBUNJIA,M.<br />
1997 Conservation of collections in East Africa museums: the shared<br />
experiences. In La conservation: une science en évolution, bilan et perspectives. Actes des<br />
troisièmes journées internationales d’études de l’Arsag.Paris - 21 au 25 avril 1997, edited<br />
by S. Monod. Paris: Arsag, 259-264.<br />
KIM, Dong Uk<br />
1979 Progress and preservation. In Preservation of cultural properties and traditions.<br />
Proceedings of the second Asian-Pacific conference 28 May-2 June, Seoul, edited by W. K.<br />
Lee. 69-74.<br />
KISHORE,R.<br />
1992 Need of creating awareness for preservation and diss<strong>em</strong>ination of<br />
working knowledge for conserving documentary heritage: conducting<br />
workshops at different locations in India. In Planning modernization and<br />
preservation programmes for South Asian libraries, edited by K. Dasgupta. Calcutta:<br />
National Library, 121-123.<br />
KIVIA,I.<br />
1997 Preservation of library materials in the South Pacific. Libri 47(3):162-168.<br />
KLEITZ, M.-O.<br />
1994 Problèmes et difficultés liés…la conservation des collections en zone<br />
caraïbe: orientation pour une ébauche de solutions. In Les musées des<br />
départ<strong>em</strong>ents français d’Amérique: actes du congrès, Fort-de-France (Martinique), 14-18<br />
241
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
nov<strong>em</strong>bre 1994. Fort-de-France: Association des amis du Musée régionale<br />
d’histoire et d’ethnographie, 102-108.<br />
KOZO ISHIZUKA;SHIGERU HISAJIMA;D.R.J.MACER, ed.<br />
1995 Traditional Technology for Environmental Conservation and Sustainable Development in the<br />
Asian-Pacific Region. Proceedings of the UNESCO - University of Tsukuba International<br />
S<strong>em</strong>inar on Traditional Technology for Environmental Conservation and Sustainable<br />
Development in the Asian-Pacific Region, held in Tsukuba Science City, Japan, 11-14<br />
Dec<strong>em</strong>ber, 1995.<br />
KRAEMER KOELIER,G.<br />
1960 Previsión y conservación de bibliotecas y archivos contra agentes bióticos, el fuego y factores<br />
climáticos. Madrid: Dirección general de archivos y bibliotecas. Sección de<br />
Publicaciones de la Junta Téchnica de Archivos, Bibliotecas y Museos.<br />
KUBA, Masakazu<br />
2001 Visiting Southeast Asian countries (Indonesia, Malaysia and Vietnam):<br />
New challenges to preservation in the 21st century. International Preservation<br />
News 24.<br />
KUFA,J.C.<br />
1993 Guidelines for setting up a conservation workshop in a developing country.<br />
ESARBICA Journal 13: 60-68.<br />
1997 Lengthening the life of library, archive and museum resources in Botswana.<br />
Libri 47(3): 158-161.<br />
KULPANTHADA,J.<br />
1974 Conservation in Thailand. In Conservation in the tropics, edited by O. P.<br />
Agrawal. Rome, 208-209.<br />
KUMARAPPA,J.C.<br />
1971 Non-slaughtered leather. In Gram udyog patrika. Part 1: 1939-1946, edited by<br />
J. C. Kumarappa. Madras: Kumarappa M<strong>em</strong>orial Trust, 246-247.<br />
LAN HIANG CHAR<br />
1990 Preservation of library materials: the Hawaii experience. [Jakarta]: Congress of<br />
Southeast Asian Librarians (Consal).<br />
LEE, Du Hyun<br />
1979 Intangible cultural assets and their transmission to future generations in<br />
Korea. In Preservation of cultural properties and traditions.Proceedings of the second Asian-<br />
-Pacific conference 28 May-2 June, Seoul, edited by W. K. Lee. 92-96.<br />
242
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
LEE, Kwang Kyu<br />
1979 Preservation of folk culture. In Preservation of cultural properties and traditions.<br />
Proceedings of the second Asian-Pacific conference 28 May-2 June, Seoul, edited by W. K.<br />
Lee. 125-129.<br />
LEFROY,H.M.<br />
1909 Preserving books in the tropics. Agricultural News (Barbados) 8: 367.<br />
LEMMON,A.E.<br />
1990 Latin American Archives and Preservation and Conservation Institute. SAA<br />
Newsletter (Society of American Archivists) (January): 14-15.<br />
LIN, Zuzao<br />
1999 The traditional and modern preservation of library rare books and<br />
precious materials in China. International Preservation News 19: 8-11.<br />
LINDSAY,J.<br />
2000 Questions of written heritage and access: some points for discussion. In<br />
Proceedings of the international meeting on microform preservation and conservation practices<br />
in Southeast Asia: assessing current needs and evaluating past projects, (Chiang Mai, Feb.<br />
21-24, 2000), edited by R. Abhakorn, N.Vaneesorn, A.Trakarnpan and T.<br />
Easum. Chiang Mai: Chiang Mai University, 299-312.<br />
LINDSTROM, L.; G. M. WHITE<br />
1994 Culture, kastrom, tradition: developing cultural policy in Melanesia. Suva: Institute of<br />
Pacific studies.<br />
LOOK, D. W.; D. H. R. SPENNEMANN<br />
1996 In a tropical marine climate: conservation manag<strong>em</strong>ent of historic<br />
metals. APT Bullettin 27(1-2): 60-68.<br />
LULL,W.P.;P.BANKS<br />
1995 Conservation environment guidelines for libraries and archives. Ottawa: Canadian<br />
Council of Archives.<br />
MACKENZIE,G.P.<br />
1996 Establishing a preservation programme. Janus 1: 86-99.<br />
MACLEAN,M.G.H.<br />
1993 Cultural heritage manag<strong>em</strong>ent in Asia and the Pacific: conservation and policy. Proceedings of<br />
a symposium held in Honolulu,Hawaii,Sept<strong>em</strong>ber 8-13,1991. Marina del Rey: Getty<br />
Conservation Institute.<br />
243
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
MAIDIN HUSSIN<br />
1985 A study in preventive conservation of archival materials with some reference to probl<strong>em</strong>s in<br />
tropical areas. London: University College.<br />
MANNING,R.W.;V.KREMP, ed.<br />
2000 A reader in Preservation and Conservation. München: Saur.<br />
MARDER, O. Souza; N. CASSARES;S.SETTE ZUNIGA<br />
2000 Conservation in Brazil: Challenges and achiev<strong>em</strong>ents. The Book and Paper<br />
Group Annual 19: 53-58.<br />
MARSH,F.<br />
1989 Cyprus. Conservation probl<strong>em</strong>s of the Public Record Office. Paris: UNESCO.<br />
MASAO,F.T.<br />
1987 The balance between domestic needs and international aid in museum<br />
training. Museum 156: 275-277.<br />
MATENJE,F.<br />
1985 Preservation and conservation of library materials in the tropics and sub-tropical areas, with<br />
special reference to the University of Malawi libraries. MA-thesis. London: University<br />
College.<br />
MATWALE,G.M.<br />
1995 A review of probl<strong>em</strong>s related to the establishment of effective conservation<br />
programmes for libraries and archive materials in Kenya. In Proceedings of<br />
the Pan-African conference on the preservation and conservation of library and archival<br />
materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited by J.-M. Arnoult et al. The<br />
Hague: IFLA, 49-54.<br />
MAZIKANA,P.C.<br />
1992 Survey of the archival situation in Africa. Paris: UNESCO/ICA.<br />
MBAYE,S.<br />
1982 Specific probl<strong>em</strong>s in African archives. Gazette des Archives: 20-29.<br />
1995 Probl<strong>em</strong>s of preservation and conservation in libraries and archives of<br />
Black Africa. In Proceedings of the Pan-African conference on the preservation and<br />
conservation of library and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited<br />
by J.-M. Arnoult et al. The Hague: IFLA, 41-44.<br />
MCCRADY,E.<br />
1992 Review of Paper preservation: current issues and recent developments, edited by<br />
P. Luner. TAPPI Press, Atlanta, 1990. Abbey Newsletter 16(7-8): 108-111.<br />
MCCREDIE, D. W.; O. B. M.YATIM;M.PIPER;A.PHILLIPS<br />
1981 Conservation of museum objects in the tropical conditions. Proceedings of the Museums<br />
244
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
Association of Malaysia Workshop, Kota Kinabalu, Sabah, 16-19 June 1980. Kuala<br />
Lumpur: The Museums Association of Malayasia.<br />
MELLOR,S.P.<br />
1992 The exhibition and conservation of African objects: considering the<br />
nontangible. Journal of the American Institute for Conservation 31(1), 1-2.<br />
MIBACH,L.<br />
1992 Introduction: The conservation of sacred objects. Journal of the American<br />
Institute for Conservation 31(1), 1-2.<br />
MORLEY,G.<br />
1965 Museums in India. Museum 18(4).<br />
1974 Conservation in Southeast and East Asia. In Conservation in the tropics, edited<br />
by O. P. Agrawal. Rome, 171-178.<br />
MORROW, C. C.; S. B. SCHOENLY<br />
1979 A conservation bibliography for librarians, archivists, and administrators. Troy, N.Y.:The<br />
Whitson Publishing Company.<br />
MOUSTAMINDI,C.<br />
1974 Conservation in Afghanistan. In Conservation in the tropics, edited by O. P.<br />
Agrawal. Rome, 181-182.<br />
MULONGO,A.H.<br />
1992 Return and restitution of cultural property, The Broken Hill Skul: a<br />
Zambian case. Museum International 174(44/2): 103-104.<br />
MUNOZ-SOLA,H.<br />
1987 Preservation of library materials in a tropical climate: the Puerto Rican<br />
experience. In Preservation and conservation of Sci-Tech materials, edited by E.<br />
Mount. New York: Haworth Press, 41-47.<br />
MUSEMBI,M.<br />
1986 Archives development in Kenya. Information Development 2(4): 218-222.<br />
1999 Preservation of library and archival materials in Africa: an evaluation. Nairobi.<br />
MWIYERIWA,S.S.<br />
1981 Personally speaking: information service in Africa, a luxury or a necessity<br />
for library preservation. MALA Bulletin 2: 11-15.<br />
NAIR,S.M.<br />
1993 Traditional methods of conservation: the Indian scene. In Fourth s<strong>em</strong>inar on<br />
the conservation of Asian cultural heritage: traditional material and techniques in<br />
conservation. National Cultural Properties Research Institute, 33-34.<br />
245
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA<br />
1988 Repair and preservation of records. New Delhi: National Archives of India.<br />
1991 Guide to restoration of documents. New Delhi: National Archives of India.<br />
1993 El<strong>em</strong>ents of records manag<strong>em</strong>ent and conservation. New Delhi: National Archives of<br />
India.<br />
NATIONAL PARK SERVICE<br />
1993 Traditional cultural properties. Cultural Resource Manag<strong>em</strong>ent 16 (special Issue).<br />
NDIAYE,A.G.<br />
1979 Does conservation of archival material matter,with special reference to Senegal. MA-thesis,<br />
Loughborough University, Department of Technology Leicestershire:<br />
Loughborough University.<br />
NEWMAN,W.;T.PATTISON<br />
2000 Cuba paradigms: The NEDCC experience. The Book and Paper Group Annual 19:<br />
25-30.<br />
N’GELE,O.<br />
1984 Conservation storage and exhibition of African textiles (the Africana<br />
museum experience). In Traditional textile conservation, storage and museum<br />
probl<strong>em</strong>s. International s<strong>em</strong>inar/ workshops in Bamako, Mali, 15 June-12 July 1984,8.<br />
NICKLIN,K.<br />
1978 The utilization of local skills and materials in a Nigerian museum.<br />
Museums Journal 78(1): 10-12.<br />
1983a Traditional preserving methods of preserving cultural property in the<br />
Cross River Region of Southeastern Nigeria. Museum Ethnographer’s Group<br />
Newsletter 13: 27-34.<br />
1983b Traditional preservation methods: Some African practices observed.<br />
Museum 35(2): 123-127.<br />
NIEÇ, H., ed.<br />
1998 Cultural rights and wrongs, a collection essays in comm<strong>em</strong>oration of the 50th Anniversary<br />
of the Universal Declaration of Human Rights. Paris: UNESCO.<br />
NIKNAM,M.<br />
1992 A new horizon in the future of conservation of library materials in Iran.<br />
In Conference on book and paper conservation Bu<strong>da</strong>past 4-7 Sept<strong>em</strong>ber 1990, edited by<br />
B. Kastaly. Bu<strong>da</strong>pest: National Széchényi Library, 343-346.<br />
1995 Conservation of library materials in Iran. Conservation Administration News 46:<br />
6-7.<br />
246
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
NILVILAI, S.; S. WANGCHAREONTRAKUL<br />
1995 Use of traditional Thai herbs for control. In Biodeterioration of cultural property.<br />
Proceedings of the 3rd International Conference on biodeterioration of cultural property, July<br />
4-7,1995,Bangkok,Thailand, edited by C.Aranyanak et al. Bangkok: Office of<br />
Archeology and National Museums, Conservation Science Division, 530-541.<br />
NISHIKAWA, Kyotaro<br />
1977 Conservation science in ‘Hyogu’. Report of special study. Tokyo: Tokyo National<br />
Research Institute of Cultural Properties.<br />
N’JIE,S.P.C.<br />
1987 Collecting policies and preservation: the Gambia. In Preservation of library<br />
materials, edited by M. Smith. New York: Saur, 24-30.<br />
NOONAN,M.<br />
1987 Book preservation and conservation in the Latin American collection. In<br />
Caribbean Collections: Recession Manag<strong>em</strong>ent Strategies for Libraries, edited by M. J.<br />
Grothey. Madison (WI): SALAM Secretariat.<br />
OGDEN,S.<br />
1991 NEDCC in Nigeria: a personal report. Conservation Administration News 45: 1-3, 30.<br />
OJEH,F.K.<br />
1983 The probl<strong>em</strong> of conservation of cultural property in Nigeria. In Proceedings<br />
of the International Conference on Non-destructive Testing in Conservation of works of Art,<br />
Rome 27-29 October 1983. Rome: Associazione Italiana Prove Non-distruttive.<br />
1984 Textile conservation in Nigerian museums. In International s<strong>em</strong>inar/workshops<br />
in Bamako, Mali, 15 June-12 July 1984, 14.<br />
OJO-IGBINOBA,M.E.<br />
1991 Conservation, preservation and restauration in Nigerian libraries.<br />
Information Development 7(1): 39-44.<br />
1994 The practice of conservation in Sub-Saharan Africa. African Research<br />
Documentation 64: 60-61.<br />
OLIOBI,M.I.<br />
1987 Acad<strong>em</strong>ic libraries and their preservation probl<strong>em</strong>s. Nigerian Library and<br />
Information Science Review 5(1-2): 41.<br />
ONWUBIKO,M.C.<br />
1991 Deterioration of library materials. What options for Nigeria. Library Review<br />
47: 6.<br />
247
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
ORMANNI,E.<br />
1975 Preservation of materials at the National Library, Cairo. Paris: UNESCO.<br />
PACHECO, C.V.; J. R. BERGES PENA<br />
1978 Investigaciones sobre la patologia del papel en las zonas tropicales.<br />
Centromidca 1/2.<br />
PALMA,M.A.<br />
1999 Preservation at the National Library of Chili. International Preservation News<br />
18: 14-15.<br />
PALMAI,C.K.<br />
1982 The first conservation laboratory in Chili. Museum News 60(3): 23-25.<br />
PASTOUREAU,M.<br />
1984 Séminaire sur la préservation des documents écrits: République démocratique de Ma<strong>da</strong>gascar.<br />
Paris: UNESCO.<br />
PATON,P.M.<br />
1985 Conservation in Grahamstown. Southern African Museums Association Bulletin<br />
(SAMAB) 16(6): 287-292.<br />
PEARSON, C., ed.<br />
1979 Regional s<strong>em</strong>inar on the conservation of cultural materials in humid climates.Canberra,19-23<br />
February 1979. Canberra: Australian Government Publishing Service.<br />
PEARSON,C.<br />
1993 Issues that affect cultural property, specifically objects in South Asia and<br />
the Pacific. In Cultural heritage manag<strong>em</strong>ent in Asia and the Pacific: conservation and<br />
policy. Proceedings of a symposium held in Honolulu, Hawaii, Sept<strong>em</strong>ber 8-13,1991,<br />
edited by M. G. H. MacLean. Marina del Rey: Getty Conservation Institute,<br />
63-76.<br />
PERERA,P.A.S.H.<br />
1991 Preservation and conservation of library materials in tropical countries. London:<br />
University College.<br />
PÉROTIN,Y.<br />
1969 Préservation et classification des archives au Maroc. Paris: UNESCO.<br />
PERTI,R.K.<br />
1986 Manag<strong>em</strong>ent of a conservation programme. Archivum 39 (Proceedings of<br />
the 10th International Congress on Archives, Bonn, 17-21 Sept<strong>em</strong>ber,<br />
1984): 148-150.<br />
248
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
1987 Conservation of traditional records, paper and allied materials. Proceedings of the<br />
International S<strong>em</strong>inar of the South and West Asian Regional s<strong>em</strong>inar of the International<br />
Council on Archives and National Archives of India. New Delhi: National Archives<br />
of India.<br />
1989 Probl<strong>em</strong>s and studies in conservation of the archival heritage in tropical<br />
countries. In Policies for the preservation of the archival heritage: proceedings of the 25th<br />
International Archival Round Table Conference,Gardone Riviera,1987. Paris: ICA, 189-194.<br />
PLUMBE,W.J.<br />
1958 Storage and preservation of books, periodicals and newspapers in<br />
tropical climates. Unesco Bulletin for Libraries 12(7): 156-162.<br />
1959a Introduction. Library Trends 8(2): 125-129.<br />
1959b Preservation of library materials in tropical countries. Library Trends 8(2):<br />
291-306.<br />
1964a<br />
The preservation of books in tropical and subtropical countries. London: Oxford<br />
University Press.<br />
1964b<br />
Storage and preservation of books, periodicals and newspapers in tropical climates: a select<br />
bibliography. Paris: UNESCO.<br />
1979 The preservation of library materials in tropical countries. Library Trends 2.<br />
1987a<br />
Tropical librarianship. Preservation of books in tropical and subtropical countries.<br />
Metuchen, N. J.: Scarecrow Press.<br />
1987b The preservation of books in Guyana. In Tropical Librarianship, edited by W. J.<br />
Plumbe. New York: Metuchen, 236-240.<br />
1987c<br />
Preservation of books and periodicals in Arab countries. In Tropical<br />
Librarianship, edited by W. J. Plumbe. New York: Metuchen, 217-222.<br />
POLLACK,M.<br />
1988 Conservation of the Sind Government Archives. Library Conservation News 21:<br />
6-8.<br />
PRAJAPATI,C.L.<br />
1995 Probl<strong>em</strong>s relating to establishment of effective preservation and<br />
restoration programmes in archives and libraries. Lucknow Librarian 27: 37-41.<br />
RAPHAEL,B.<br />
1993 Preventive conservation in Latin America. Abbey Newsletter 17(5): 67.<br />
249
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
RAUSCHERT,M.<br />
1957 Paper and writing materials in moist tropical regions. Allg<strong>em</strong>eine Papier-<br />
Rundschau: 48-50.<br />
READ,F.<br />
1994 Preventive conservation. Online publication: http://www.meaco.com/<br />
preventa.htm [accessed 4 April 2006].<br />
RHODES,D.E.<br />
1969 India, Pakistan, Ceylon, Burma and Thailand. Amster<strong>da</strong>m/London/NY: VanGendt<br />
/Routledge and Paul Kegan/Abner Schram.<br />
RHYS-LEWIS,J.<br />
1997 Consultancy mission to the Kenya National Archives and Documentation Service: Final<br />
Report. Nairobi: Kenya National Archives.<br />
RICKS,A.<br />
1981 RAMP pilot project for the establishment of a regional archives and records centre: Republic<br />
of the Philippines. Paris: UNESCO.<br />
1982 RAMP pilot project for the establishment of a regional archives and records centre (report<br />
No.2): Republic of the Philippines. Paris: UNESCO.<br />
RIJAL,S.<br />
1973 Archiving, preservation and exchange of oral traditions already collected.<br />
Southeast Asian Archives 6: 91-99.<br />
RODRIGUEA, A.; K. PETTUS<br />
1990 The importance of vernacular traditions. APT Bulletin.<br />
ROPER,M.<br />
1980 Establishment of a technical training centre in archival restoration and reprography:<br />
d<strong>em</strong>ocratic Republic of the Su<strong>da</strong>n. Paris/The Hague: UNESCO.<br />
1989 Planning, equipping and staffing an archival preservation and conservation service. Paris:<br />
UNESCO.<br />
ROSENBERG,A.<br />
1986 Report on a visit to the National Museums of Gabon, Central Africa. In<br />
Symposium 86.The care of ethnological materials, edited by R. Barclay, M. Gilberg,<br />
J. C. McCawley, T. Stone. Ottawa: CCI, 254-258.<br />
ROSSMAN,J.<br />
1935 [Methods of producing insect repellent paper]. Paper Trade Journal 100: 39<br />
and 40.<br />
250
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
RUSSELL,A.<br />
1997 Collections in Cuba: an island apart. Libri 47(3): 147-152.<br />
RUTIMANN,H.<br />
1992 Preservation and access in China: possibilities for cooperation. Washington D. C.:<br />
Commission on Preservation and Access.<br />
SALAZAR,L.A.<br />
1974 Preservation of cultural property in the Philippines. In Conservation in the<br />
tropics, edited by O. P. Agrawal. Rome, 181-182.<br />
SAMIDI; Hr. SADIRIN<br />
1993 Traditional conservation of wooden carving house of Kudus (Indonesia).<br />
In Fourth s<strong>em</strong>inar on the conservation of Asian cultural heritage: traditional material and<br />
techniques in conservation. National Cultural Properties Research Institute,<br />
117-138.<br />
SAUÇOIS,C.<br />
1976 Creation d’un service de restauration et de reprographie à la bibliothèque centrale universitaire<br />
d’Istanbul. Paris: UNESCO.<br />
SAVAGE,E.A.<br />
1934 The preservation of books in the tropics. In The libraries of Bermu<strong>da</strong>, the<br />
Bahamas, the British West Indies, British Guiana, British Honduras, Puerto Rico, and the<br />
American Virgin Islands. London: Library Association. Appendix I.<br />
SCHNARE,R.E.Jr.;S.G.SWARTZBURG;G.M.CUNHA<br />
2001 Bibliography of preservation literature 1983-1996. Lanham: Scarecrow Press.<br />
SHIPLEY,A.E.<br />
1926 Bookbinding in the tropics. Tropical Agriculture 3: 141.<br />
SHIPPING,Xu<br />
2000 China’s recent achiev<strong>em</strong>ents in the protection of paper archives. In Access<br />
to information preservation issues. Proceedings of the 34 International Conference of the<br />
Round Table on Archives Citra – Bu<strong>da</strong>pest 1999. Paris: ICA, 139-147.<br />
SILVA,R.<br />
1991 The preservation of cultural property in tropical environments. Colombo, Sri Lanka:<br />
ICOMOS.<br />
SINHA,T.S.<br />
1977 Care and preservation of records in the Bihar State Archives as source materials for the study<br />
of modern Indian history. Patna: Bihar State Archives.<br />
251
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
SMITH,W.<br />
1996 Preservation of library materials in Southeast Asia: issues, workshops and institutions.<br />
Australian Library and Information Services.<br />
SÖDERMAN,C.<br />
1999 Support to archives in the developing countries. Archivum 44: 213-220.<br />
SOUZA,L.A.C.<br />
1993 La enseñanza y la practica de la conservacion preventiva en CECOR/ Minas<br />
Gerais, Brasil. In S<strong>em</strong>inario Sobre Conservacion <strong>Preventiva</strong> en America Latina / S<strong>em</strong>inar<br />
on Preventive Conservation in Latin America, promovido por Apoyo. CAL Conservation<br />
Analytical Laboratory of the Smithsonian Institution, The Getty Conservation Institute,<br />
Library of Congress,Washington DC 19-20 Agosto, 199, 22.<br />
1994 A importância <strong>da</strong> conservação preventiva. Revista <strong>da</strong> Biblioteca Mário de Andrade<br />
52: 87-93.<br />
STANIFORTH,S.<br />
1997 To<strong>da</strong>y’s work for tomorrow’s enjoyment: the role of preventive<br />
conservation. In The Victoria M<strong>em</strong>orial Hall Calcutta: conception, collections,<br />
conservation, edited by P. Vaughan. Mumbai: Marg Publications / National<br />
Centre for the Performing Arts, 120-128.<br />
STRICKLAND,J.T.<br />
1959 Patterns of library service in Africa. Library Trends 8(2): 163-191.<br />
SUDBOROUGH, J. J.; M. M. MEHTA<br />
1920 The perishing of paper in Indian libraries. Journal of the Indian Institute of<br />
Science 3(7): 119-226.<br />
SULISTYO, Basuki, et al.<br />
1991 New challenges in library services in the developing world:proceedings of the English Congress<br />
of Southeast Asian Librarians, Jakarta, 11-14 June 1990. Jakarta: National Library<br />
of Indonesia and Indonesian Library Association,.<br />
SUTAARGA,M.A.<br />
1974 Conservation in Indonesia. In Conservation in the tropics, edited by O. P.<br />
Agrawal. Rome, 179-181<br />
SWARTZBURG,S.G.<br />
1983 Conservation in the library: a handbook of use and care of traditional and nontraditional<br />
materials. Westport, Conn.: Greenwood Press.<br />
1993 Resources for the conservation of South East Asian art. Art Libraries Journal<br />
18: 39-43.<br />
252
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
TANABE, S., ed.<br />
1980 Conservation of Far Eastern art objects. Tokyo: Tokyo National Research Institute<br />
of Cultural Properties.<br />
TATE,T.H.<br />
2002a<br />
2002b<br />
Camel Library Services in Kenya, July 22-28, 2001. Report on the Assessment of Non-<br />
Motorized Mobile Libraries. Under the auspices of the IFLA Round Table on<br />
Mobile Libraries, the Moroney Bookmobile Company, USA, and the Kenya<br />
National Library Service. The Hague, IFLA.<br />
The Donkey Drawn Mobile Library Services in Zimbabwe, August 6-13, 2001. Report on<br />
the Assessment of Non-Motorized Mobile Libraries / Under the auspices of the IFLA<br />
Round Table on Mobile Libraries and the Moroney Bookmobile Company,<br />
USA. The Hague: IFLA.<br />
TAYLOR,P.M.<br />
1994 Fragile traditions. Indonesian art in jeopardy. Honolulu: University of Hawaii Press.<br />
TERRY GONZÁLEZ,M.<br />
1996 Latest initiatives by national institutions Struggling for preserving: the<br />
case of the ‘José Marti’ Library in Cuba. International Preservation News 12:8.<br />
TEYGELER,R.<br />
1993 Pustaha. A study into the production process of the Batak book. In<br />
Manuscripts of Indonesia, edited by T.E. Behrend et al. Published as Bijdragen tot<br />
de Taal-, Land- en Volkenkunde 1993(149/3). Leiden: The Royal Institute of<br />
Linguistics and Anthropology, 593-611.<br />
THURSTON,A.<br />
1986 The Zanzibar Archives Project. Information Development 2(4): 223-226.<br />
TORRES,A.R.de<br />
1990 Collection care: a selected bibliography. Washington, D. C.: National Institute for<br />
the Conservation of Cultural Property.<br />
1996 Preventive conservation: global trends. In The conservation and preservation of<br />
islamic manuscripts. Proceedings of the third conference of Al-Furqan Islamic Heritage<br />
Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish and G. Atiyeh. London:<br />
Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 185-194.<br />
TSONOBE,J.N.<br />
1986 Preservation of library materials. Botswana Library Association Journal 8: 19-27.<br />
TUNIS,A.<br />
1989 Probl<strong>em</strong>e der Museen in Afrika. Museumskunde.<br />
253
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
TURNER,E.<br />
1989 Specific probl<strong>em</strong>s in tropical countries. Archivum 35: 153-158.<br />
UNESCO<br />
1967 The preservation of cultural property with special reference to tropical conditions. Rome:<br />
UNESCO.<br />
1968 The conservation of cultural property: with special reference to tropical conditions.<br />
Museums and Monuments Series 11. Paris: UNESCO.<br />
1978 Nepal: archives preservation. Project findings and recommen<strong>da</strong>tions. Paris: UNESCO.<br />
1989 S<strong>em</strong>inar on the conservation and preservation of library and archival<br />
materials in a tropical environment, Canberra 1-22-89/2-3-89. Pacific<br />
Archives Newsletter 3: 4-5.<br />
UNOMAH,J.I.<br />
1985 Deterioration and restauration of library materials: the Nigerian<br />
situation. Nigerian Library and Information Science Review (Journal of the Oyo<br />
State Division, Nigerian Library Association) 3(1-2): 23-28.<br />
VINAS TORNER,V.<br />
1975 Biblioteca nacional: conservación y restauración de documentos y manuscritos de valor<br />
historico. Paris: UNESCO.<br />
VIÑAS,V.; R.VIÑAS<br />
1988 Traditional restoration techniques. Paris: UNESCO.<br />
VRIES, M. Apareci<strong>da</strong> de<br />
1992 Brazilian National Library’s restoration laboratory. In Conference on book and<br />
paper conservation Bu<strong>da</strong>pest 4-7 Sept<strong>em</strong>ber 1990, edited by B. Kastaly. Bu<strong>da</strong>pest:<br />
National Széchényi Library, 347-355.<br />
WAHEED,I.<br />
1993 Traditional conservation in the Maldives. In Fourth s<strong>em</strong>inar on the conservation<br />
of Asian cultural heritage: traditional material and techniques in conservation. National<br />
Cultural Properties Research Institute, 42-51.<br />
WEBER,H.<br />
2000 Integrated preservation: achieving best results with scarce resources. In<br />
Access to information preservation issues. Proceedings of the 34 International Conference of<br />
the Round Table on Archives Citra – Bu<strong>da</strong>pest 1999. Paris: ICA, 103-108.<br />
254
Bibliografia | Preservação e conservação<br />
WEERSMA,A.<br />
1987 Some theoretical considerations on the handling and care of sacred<br />
objects in a museum context. In ICOM-CC 8th Triennial Meeting, Sydney,Australia<br />
6-11 Sept<strong>em</strong>ber 1987. Preprints (2). Los Angeles: Getty Conservation Institute,<br />
567-570.<br />
WERTH,A.J.<br />
1984 Centres for preservation and restoration. Southern African Museums Association<br />
Bulletin (SAMAB) 4: 153-158.<br />
WESTRA,P.E.<br />
1987 The current state of preservation of library and archival materials in<br />
South Africa. South African Archives Journal 29: 3-11.<br />
WETTASINGHE,S.<br />
1989 Archive conservation in South Asia. SALG Newsletter (Southeast Asian<br />
Library Group) 34: 9-14.<br />
1994 Materials used in creating public records in Sri Lanka and their impact on<br />
preservation. In Current Records Manag<strong>em</strong>ent in Sri Lanka. Colombo: Department<br />
of National Archives.<br />
WHEELER,D.L.<br />
1990 After much neglect, Cambodia’s library gets American aid to save its<br />
meager collection of books and manuscripts. Chronicle of Higher Education<br />
36(47): A32.<br />
WILLIAMS-HUNT,P.D.R.<br />
1953 Preserving books and prints in the tropics. Kuala Lumpur: Museums Department.<br />
Museums Popular Pamphlet; no. 3.<br />
WILLS,P.<br />
1987 New directions of the ancient kind: conservation traditions in the Far<br />
East. The Paper Conservator 11: 36-38.<br />
WISE,A.<br />
1999 Conservation in India. Paper Conservation News 90: 8-9.<br />
YATIM, O. bin M.<br />
1979 Preservation and cultural properties in Malaysia. In Preservation of cultural<br />
properties and traditions. Proceedings of the second Asian-Pacific conference, 28 May-2 June,<br />
Seoul, edited by W. K. Lee. 101-104.<br />
ZAHER, C. Ribeiro<br />
1999 Present strategies and future perspectives of conservation at the National<br />
Library of Brazil. International Preservation News 19: 15-19.<br />
255
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
ZAKI,B.;P.LAKRAMI;J.E.TAHARI<br />
1993 Conservation et préservation des documents d’archives. Rabat: ESI.<br />
ZHOU BAO ZHONG.<br />
1988 The preservation of ancient Chinese paper. In The conservation of Far Eastern<br />
art: preprints of the contributions to the Kyoto Congress, 19-23 Sept<strong>em</strong>ber 1988, edited<br />
by John S. Mills; Smith, Perry;Yamasaki, Kazuo. 19-21.<br />
ZIZHI,F.<br />
1989 Technological options for developing countries. Archivum 35: 159-161.<br />
256
3<br />
Livros e materiais de escrita<br />
ABHAKORN,R.<br />
2000 Towards a collective m<strong>em</strong>ory of mainland Southeast Asia: Field<br />
preservation of traditional manuscripts in Thailand, Laos and Myanmar.<br />
In A reader in preservation and conservation, edited by R. W. Manning and V.<br />
Kr<strong>em</strong>p. München: Sauer, 86-91.<br />
ACKERSON-ADDOR,S.<br />
1976 Le papier en Amérique Latine. Basel: Schweizer Papierhistoriker.<br />
AGRAWAL,O.P.<br />
1972 A study in the technique and materials of Indian illustrated manuscripts.<br />
Bulletin National Museum (New Delhi) 3: 22-33.<br />
1975 Conservation of Asian Cultural Objects: Asian materials and techniques.<br />
Museum 27(4): 155-212.<br />
1981 Probl<strong>em</strong>s of preservation of palm-leaf manuscripts. In ICOM-CC 6th Triennial<br />
Meeting Ottawa (81-14-17): 1-7.<br />
1982 Care and conservation of palm-leaf and paper illustrated manuscripts. In<br />
Palm-leaf and paper, illustrated manuscripts of India and Southeast Asia, edited by John<br />
Guy. Melbourne: National Gallery of Victoria, 84-90.<br />
1984 Conservation of manuscripts and paintings of south-east asia. London: Butterworths.<br />
AGRAWAL, O. P.; S. K. BHATIA<br />
1981 Investigations for preservation of birch-bark manuscripts. In ICOM-CC 6th<br />
Triennial Meeting Ottawa (81-14-18): 1-4.<br />
257
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
AGRAWAL, O. P.; S. DHAWAN<br />
1984a Studies on fungal resistance of birch-bark. In ICOM-CC 7th Triennial Meeting<br />
Copenhagen (84-25): 1-3.<br />
AGRAWAL, O. P.; C. B. GUPTA;D.G.SURYAVANSHI<br />
1984b Conservation and study of the properties of birch-bark. In ICOM-CC 7th<br />
Triennial Meeting Copenhagen (84-25). Preprints (2): 14.1-14.4.<br />
AGRAWAL,O.P.;D.G.SURYAVANSHI<br />
1987 Further studies on the probl<strong>em</strong>s of conservation of birch bark. In ICOM-CC<br />
8th Triennial Meeting, Sydney, Australia 6-11 Sept<strong>em</strong>ber 1987. Preprints (2). Los<br />
Angeles: Getty Conservation Institute, 635-640.<br />
AGUSTINI,NINIS D., et al.<br />
1994 Faktor fisika biota kimia <strong>da</strong>n penanganan <strong>da</strong>lam kelestarian manuskrip lontar. Laporan<br />
Penelitian Bandung: Tim Program Pelestarian Bahan Pustaka <strong>da</strong>n Arsip.<br />
ANÓNIMO<br />
1991 Rolled palm leaves. Library Conservation News 34: 5.<br />
ANÓNIMO<br />
1993 SASTRA: A Project for the Restoration of Cambodia’s Written Heritage.<br />
Asian Libraries (June).<br />
ANÓNIMO<br />
1995 Bark cloth (Tapa, paper mulberry) Broussonetia sp. Conservation News 58:<br />
28-29.<br />
ARNOLD, T. W.; A. GROHMANN<br />
1929 The Islamic book. Leipzig: Pegasus Press.<br />
ARNOULT, J.-M.<br />
1987 Préservation des collections de la Bibliothèque nationale:Algérie. Paris: UNESCO.<br />
2000 Libraries of the ancient cities of Mauritania. International Preservation News<br />
21:21.<br />
ATWOOD,C.<br />
1987 Japanese folded sheet books: construction, materials and conservation.<br />
The Paper Conservator (The Institute of Paper Conservation, 10th Anniversary<br />
Conference, 14-18 April 1986, Oxford, Part 2.) 11: 10-21.<br />
1989 An exploration of Japanese books. New Library Scene 8(3): 1, 5-6.<br />
AVI-YONAH,M.<br />
1973 Ancient Scrolls. Jeruzal<strong>em</strong>: Cassell.<br />
258
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
BAKER,D.<br />
1991a Arab paper making. The Paper Conservator 15: 28-35.<br />
1991b<br />
The conservation of Jam’ al-Tawarikh by Rashid Al-Din (1313). Arts and<br />
the Islamic World (spring): 32-33.<br />
BARNARD,M.<br />
1996 The British Library Stein Collection: its conservation history and future<br />
preservation. In Dunhuang and Turfan. Contents and conservation of ancient documents<br />
from Central Asia, edited by S. Whitfield and F. Wood. London: The British<br />
Library, 16-19.<br />
BARNARD, M.; S. WHITFIELD<br />
1995 The International Dunhuang Project: Re-uniting the world’s earliest<br />
paper archive. Paper Conservation News 75: 8-10.<br />
BARRETT,T.<br />
1983 Japanese papermaking:traditions,tools and techniques. New York\Tokyo:Weatherhill.<br />
BARTELT,E.<br />
1972 Eine Methode, Palmblattmanuskripte zu restaurieren und zu konservieren.<br />
Mitteilungen,Internationale Arbeitsg<strong>em</strong>einschaft der Archiv-Bibliotheks-und Grafikrestauratoren<br />
41(3): 243-246.<br />
1975 Eine Methode, Palmblattmanuskripte zu restaurieren und konservieren.<br />
Mitteilungen,Internationale Arbeitsg<strong>em</strong>einschaft der Archiv-Bibliotheks-und Grafikrestauratoren<br />
3: 165-169.<br />
BATTON,S.S.<br />
2001a<br />
2001b<br />
Trennungsangst. Das Auseinandernehmen und Konservieren eines<br />
buddhistischen Birkenrinden-Manuskripts. Restauro 1: 20-24.<br />
Separation anxiety: the conservation of a 5th century Buddhist Gandharan manuscript.<br />
Online publication: http://www.asianart.com/articles/batton/index.<br />
html [accessed April 4 2006].<br />
BAVAVÉAS, M.-T.; G. HUMBERT<br />
1990 Une méthode de description du papier non filigrane (dit «oriental»).<br />
Gazette du livre médiéval 17: 24-30.<br />
BEDAR,A.R.<br />
1996 The preservation of islamic manuscripts in India. In The conservation and<br />
preservation of islamic manuscripts. Proceedings of the third conference of Al-Furqan Islamic<br />
Heritage Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish and G. Atiyeh.<br />
London: Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 15-20.<br />
259
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
BEHREND,T.E.<br />
1993 Manuscript production in nineteenth-century Java. Codicology and the<br />
writing of Javanese literary history. In Manuscripts of Indonesia, edited by T. E.<br />
Behrend et al. Published as Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 1993<br />
(149/3). Leiden: The Royal Institute of Linguistics and Anthropology,<br />
407-437.<br />
BEHREND, T. E.; W. van der MOLEN<br />
1993 Manuscripts of Indonesia. Published as Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde<br />
149(3).<br />
BEIT-ARIÉ,M.<br />
1992 Hebrew manuscripts of east and west.Towards a comparative codicology. London: The<br />
British Library.<br />
BELL,L.A.<br />
1992a<br />
1992b<br />
Papyrus, tapa, amate and rice paper. McMinnville: Liliaceae Press.<br />
Plant fibers for papermaking. McMinnville: Liliaceae Press.<br />
BENCHERIFA,M.<br />
1996 The restoration of manuscripts in Morocco. In The conservation and preservation<br />
of islamic manuscripts. Proceedings of the third conference of Al-Furqan Islamic Heritage<br />
Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish and G. Atiyeh.<br />
London: Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 21-28.<br />
BENNETT,W.<br />
1985 Conservation and mounting of Eastern pictorial art: a bibliography of<br />
Western language publications. The Paper Conservator, (9).<br />
BERGER,U.<br />
1998 Mexican painted manuscripts. Occasional paper 91 London:The British Library.<br />
BHATTACHARYYA,B.<br />
1947a Palm-leaf manuscripts and their preservation. Indian Archives 1(3): 233-234.<br />
1947b Further note on palm-leaf manuscripts. Indian Archives 1(4): 325.<br />
BHOWMIK, Swarnakamal<br />
1966 Conservation of palm-leaf manuscripts. Baro<strong>da</strong> Museum and Picture Gallery<br />
Bulletin 19: 59-65.<br />
BINH, Truong Van<br />
1992 The traditional Vietnamese scripts. Paper presented at: International Workshop<br />
on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal Institute<br />
of Linguistics and Anthropology.<br />
260
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
BINNEY,E.<br />
1979 Turkish treasures from the collection of Edwin Binney, 3rd. Exhibition catalogue<br />
Portland: Portland art museum.<br />
BISH,T.<br />
1996 Conservation at the Khalidi Library in the Old City of Jeruzal<strong>em</strong>. In The<br />
conservation and preservation of islamic manuscripts. Proceedings of the third conference of<br />
Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish<br />
and G. Atiyeh. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 49-52.<br />
BISHT,A.S.<br />
1974 Preservation of an illustrated manuscript on paper. In Conservation in the<br />
tropics, edited by O. P. Agrawal. Rome, 98-102.<br />
BISHT A. S.; I. K. BHATNAGAR;S.P.SINGH, ed.<br />
2000 Conservation of Cultural Property in India. Delhi.<br />
BLOOM,J.M.<br />
2001 Paper before print.The history and impact of paper in the Islamic world. New Haven;<br />
London:Yale University Press.<br />
BOCKWITZ,H.H.<br />
1949 Die Papiermacherkunst und ihre Bedeutung im Reiche der Azteken und<br />
Maya-Indianer. Das Papier 3: 53-55.<br />
BOSCH,G.;J.CARSWELL;G.PETHERBRIDGE<br />
1981 Islamic bindings and bookmaking. A catalogue of an exhibition, the Oriental Institute, the<br />
University of Chicago, May 18-August 18, 1981. Chicago: The Oriental Institute<br />
Museum.<br />
BOUCHENTOUF,M.<br />
1986 Préservation et restauration du patrimoine manuscrit et imprimé: Maroc.<br />
L’Informatiste 4(6): 14.<br />
BOUCHENTOUF, M.; L. E. SAMARASINGHE<br />
1985 Préservation et restauration du patrimoine manuscrit et imprimé: Maroc. Paris: UNESCO.<br />
BRAUN,H.<br />
1958 Das Islamische Buch und sein Einband. Philobiblon II(3): 191-198.<br />
BRETON-GRAVEREAU, S.; D.THIBAULT, ed.<br />
1998 L’aventure des écritures. Matières et formes. Paris: Bibliothèque nationale de France.<br />
BROVENKO,N.<br />
1996 The conservation history of the Dunhuang Collection preserved in the<br />
Institute of Oriental Studies, Russian Acad<strong>em</strong>y of Sciences. In Dunhuang and<br />
261
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Turfan. Contents and conservation of ancient documents from Central Asia, edited by S.<br />
Whitfield and F. Wood. London: The British Library, 43-49.<br />
BÙI VAN VUONG<br />
1999 Du papier «Dó» aux estampes populaires. Hanoi: Editions The Gioi.<br />
BULL,W.<br />
1987 Rebinding islamic Manuscripts: a new direction. The Paper Conservator (The<br />
Institute of Paper Conservation, 10th Anniversary Conference, 14-18<br />
April 1986, Oxford, Part 2.) 11: D16-D22.<br />
CARTER,T.F.<br />
1955 The invention of printing in China and its spread westwards. Second edition revised<br />
by L. Carrington Goodrich. New York: Ronald Press Co.<br />
CEESAY,B.A.<br />
1986 Traditional ways of processing and preserving leather in Kuonko, a<br />
village in the Sandu district, Upper River Division of the Gambia, West<br />
Africa. In Symposium 86.The care of ethnological materials, edited by R. Barclay,<br />
M. Gilberg, J. C. McCawley, T. Stone. Ottawa: CCI, 47-52.<br />
CHABBOUH,I.<br />
1995 Two new sources on the art of mixing ink. In The codicology of islamic<br />
manuscripts. Proceedings of the second conference of Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion<br />
4-5 Dec<strong>em</strong>ber 1993, edited by Y. Dutton. London: Al-Furqan Islamic Heritage<br />
Foun<strong>da</strong>tion, 59-76.<br />
1996 A dictionary of terms in the production of arabic manuscripts. In The<br />
conservation and preservation of islamic manuscripts. Proceedings of the third conference of<br />
Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish<br />
and G.Atiyeh. London:Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 147-150.<br />
CHOULEAN, Ang<br />
1992 Khmer language manuscripts. Paper presented at: International Workshop on<br />
Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal Institute of<br />
Linguistics and Anthropology.<br />
CHRISTENSEN, B.; S. MARTI<br />
1972 Witchcraft and pre-columbian paper. Mexico City: Ediciones Euroamericanas.<br />
CLAIR,C.<br />
1969 The spread of printing.A history of printing outside Europe in monographs. Amster<strong>da</strong>m/<br />
London/NY:Van Gendt/Routledge and Kegan Paul/Abner Schram.<br />
262
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
CLARE,J.;F.MARSH<br />
1979 A dry repair method for Islamic illuminated manuscript leaves. The Paper<br />
Conservator 4: 4-9.<br />
COEDÈS,G.<br />
1924 The Vajiranana National Library of Siam. Bangkok: Bangkok Times Press.<br />
COHEN,M.<br />
1996 The conservation of Cave 17 material in the Bibliothèque National, Paris.<br />
In Dunhuang and Turfan.Contents and conservation of ancient documents from Central Asia,<br />
edited by S. Whitfield and F. Wood. London: The British Library, 32-34.<br />
1998 Conservation des manuscrits de Dunhuang et d’Asie centrale. Paris: Bibliothèque<br />
nationale de France.<br />
COLANÇON<br />
1921 Notice sur la fabrication du papier dit Antaimoro. Bulletin Economique<br />
(Antananarivo, Ma<strong>da</strong>gascar) 3: 267-269.<br />
COLLINGS,T.;D.MILNER<br />
1978 The identification of oriental paper-making fibres. The Paper Conservator 3:<br />
51-79.<br />
COOPER,J.<br />
1992 The significance of islamic manuscripts.Proceedings of the inaugural conference of Al-Furqan<br />
Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion (30th Nov.-1st Dec 1991). Publication Number 3.<br />
London: Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion.<br />
CROWLEY,A.S.<br />
1969 Repair and conservation of palm-leaf manuscripts. Restaurator 1(2): 105-114.<br />
CURACH,L.<br />
1995 Palm leaves and hot chips. National Library of Australia News 5(7): 9-11.<br />
D’ABBADIE,A.<br />
1963 Ethiopian bookbindings. The Library 5(18): 227-231.<br />
DACHS, K., ed.<br />
1982 Das Buch im Orient: Hss. und kostbare Drucke aus zwei Jahrtausenden. Ausstellung,<br />
Bayerische Staatsbibliothek 16 Nov. 1982/5 Febr. 1983. Wiesbaden: Reichert.<br />
DAS,A.C.<br />
1987 Conservation of some non-book material in the National Library.<br />
Conservation of Cultural Property in India 1985-1987 18/20: 14-21.<br />
263
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
DAS,J.P.;J.WILLIAMS<br />
1991 Palm-leaf miniatures. New Delhi: Abhinav Publications.<br />
DEAN,J.F.<br />
1990 The preservation of books and manuscripts in Cambodia. The American<br />
Archivist 53(2): 282-297.<br />
1999b Conservation of palm-leaf manuscripts. Paper Conservation News 89: 10-11.<br />
1999c<br />
Burma, Cambodia, Laos, and Vietnam: the Road Towards Recovery for<br />
Library and Archival Collections after War and Civil Unrest. In Disaster and<br />
after: the practicalities of information service in times of war and other catastrophes.<br />
Proceedings of an international conference sponsored by IGLA (The International Group of the<br />
Library Association), University of Bristol, Sept 4-6 1998, edited by P. Sturges and<br />
D. Rosenberg. London: Taylor Graham Publishing, 29-50.<br />
DÉROCHE, F., ed.<br />
2000 Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe. Paris: Bibliothèque Nationale<br />
de France.<br />
DÉROCHE, F.; A. GACEK;J.J.WITKAMP, ed.<br />
1990 Manuscripts of the Middle East. Leiden: Ter Lugt Press.<br />
DÉROCHE,F.;F.RICHARD<br />
1997 Scribes et manuscrits du Moyen-Orient. Paris: Bibliothèque Nationale de France.<br />
DEWDNEY,S.<br />
1975 The sacred scrolls of the Southern Objibway.Toronto: University of Toronto Press.<br />
DIRINGER,D.<br />
1955 The illuminated book. Its history and production. London: Faber and Faber.<br />
1982 The book before printing. Ancient, medieval and oriental. New York: Dover<br />
Publications, Inc.<br />
DISKALKAR,D.B.<br />
1979 Materials used for indian epigraphical records. Poona: Bhan<strong>da</strong>rkar Oriental<br />
Research Institute.<br />
DRÈGE, J.-P.<br />
1981 Papiers de Danhuang, essai d’analyse morphologique des manuscrits<br />
chinois <strong>da</strong>tés. T’ong Pao (Leiden): 305-360.<br />
DREIBHOLZ,U.<br />
1994 Conservation of early Koran fragments. Paper Conservation News 69: 10.<br />
264
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
1996 Treatment of early islamic manuscripts fragments on parchment: a case<br />
history: the find of Sana’a,Y<strong>em</strong>en. In The conservation and preservation of islamic<br />
manuscripts. Proceedings of the third conference of Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion<br />
18th-19th Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish and G.Atiyeh. London:Al-Furqan<br />
Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 131-146.<br />
DUTTON,Y., ed.<br />
1995 The codicology of islamic manuscripts. Proceedings of the second conference of Al-Furqan<br />
Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion,4-5 Dec<strong>em</strong>ber 1993. Publication 15. London:Al-Furqan<br />
Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion.<br />
EDGREN,S.<br />
1984 Chinese rare books in American collections. Exhibition catalogue New York: China<br />
House Gallery/China Institute in America.<br />
FAKHFAKH,M.<br />
1995 Emergency plan for dealing with accumulations of records and archives in government<br />
services: a RAMP study. Paris: UNESCO.<br />
FARROKH, Rokn od Din Homayun<br />
1968 History of books and the imperial libraries of Iran. Teheran: Ministery of Art and<br />
Culture.<br />
FEI WEN TSAI; D. van der REYDEN<br />
1997 Analysis of modern Chinese paper and treatment of a Chinese woodblock<br />
print. The Paper Conservator 21: 48-62.<br />
FILLIOZAT,J.<br />
1947 Manuscripts on birch bark (bhurjapatra) and their preservation. Indian<br />
Archives 1(2): 102-108.<br />
FISCHER,B.<br />
1986 Sewing and end bands in Islamic technique. Restaurator 7(4): 181-201.<br />
FLEMING,L.E.<br />
1988 Managing the Repair of a Collection of Japanese Printed Books. In The<br />
Conservation of Far Eastern Art – Preprints of the Contributions to the Kyoto Congress, 19-<br />
-23 Sept<strong>em</strong>ber 1988. London: The International Institute for the<br />
Conservation of Historic and Artistic Works: 25-29.<br />
FLORIAN, M.-L.; D. P. KRONKRIGHT;R.E.NORTON<br />
1992 The conservation of artifacts made from plant materials. The Getty Conservation<br />
Institute.<br />
265
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
GACEK,A.<br />
1991 Arabic bookmaking and terminology as portrayed by Bakr al-Ishbili in<br />
his Kitab al taysir fi sina’at al-tasfir. Manuscripts of the Middle East (Leiden)<br />
1990-91(5): 106-113.<br />
2001 The Arabic manuscript tradition. A glossary of technical terms and bibliography.<br />
Handbook of Oriental Studies, Section 1, Volume 58. Leiden, Boston,<br />
Köln: Brill.<br />
GAIROLA,T.R.<br />
1960 Preservation of a miniature and a wall painting. Ancient India 16: 85-88.<br />
GAJUREL, C. L.; K. K.VAIDYA<br />
1994 Paper, paper products and ink. In Traditional arts and crafts of Nepal, edited by<br />
C. L. Gajurel and K. K.Vaidya. New Delhi: S. Chand, 153-170.<br />
GALLOP,A.T.<br />
1991 Malay manuscript art: The british library collection. The British Library<br />
Journal 17(2).<br />
GALLOP,A.T.;B.ARPS<br />
1991 Golden Letters/Surat Emas. Writing traditions of Indonesia/Bu<strong>da</strong>ya Tulis Di Indonesia.<br />
London/Jakarta: The British Library/Yayasan lontar.<br />
GAUR,A.<br />
1979 Writing materials of the east. London: The British Library.<br />
GIBBS,P.<br />
1995 Pre-tenth century Chinese papers: a study in scientific conservation techniques. PhD-thesis<br />
(Sussex).<br />
GIBBS, P. J.; K. R. SEDDON<br />
1996 The Dunhuang Diamant Sutra: a challenging probl<strong>em</strong> for scientific<br />
conservation techniques. In Dunhuang and Turfan. Contents and conservation of<br />
ancient documents from Central Asia, edited by S. Whitfield and F. Wood.<br />
London: The British Library, 59-69.<br />
GIESE,D.<br />
1995 Preservation in the tropics. National Library of Australia News 5(8):12-15.<br />
GILBERG,M.R.<br />
1986 Plasticization and forming of misshapen birch-bark artifacts using<br />
solvent vapours. Studies in Conservation 31(4): 177-184.<br />
266
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
GILBERG, M. R.; J. H. A. GRANT<br />
1984 The conservation of a birch bark scroll: a case study. Journal of International<br />
Institute of Conservation Canadian Group (1983-84) 8/9: 23-27.<br />
1986 The care and preservation of birch bark scrolls in museum collections.<br />
Curator 29(1): 67-80.<br />
GINARSA,K.<br />
1975 The lontar (palmyra) palm. Review of Indonesian and Malayan affairs 9(1): 90-103.<br />
1976 The lontar (palmyra) palm. Singaraja: Serba Guna Press.<br />
GINSBURG,H.<br />
2000 Thai art and culture.Historic manuscripts from Western collections.London: the British<br />
Library.<br />
GLINGA,W.<br />
1987 Literatur in Senegal: Geschichte, Mythos und gesellschaftliches Ideal in der oralen und<br />
schriftlichen Literatur. Bayreuth: Universität Bayreuth.<br />
GODENNE,W.<br />
1960 Le papier des comptes communaux de Malines <strong>da</strong>tant du moyen âge.<br />
Bulletin du Cercle Archéologique de Malines 64: 36-53.<br />
GRADER,C.J.;C.HOOIJKAAS<br />
1941 Lontar als schrijfmateriaal [Lontar as writing material]. Mededelingen van de<br />
Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk [Stichting] 13: 23-29.<br />
GRAHAM,R.<br />
1965 Early Japanese Bookbinding. The Private Library (6/2): 26–31.<br />
GRAY, B., ed.<br />
1979 The arts of the book in Central Asia 14th-16th Centuries. Serin<strong>da</strong> Publications/<br />
Unesco.<br />
GREEN,S.B.<br />
1996 Rajasthani papers, old and new. Paper Conservation News 78: 8-9.<br />
GRÖNBOLD, G., ed.<br />
1991 Tibetanische Buchdeckel. München: Bayerische Staatsbibliothek.<br />
GROVER,M.L.<br />
1988 Paper and binding quality of Latin American books. Abbey Newsletter 12(5): 90.<br />
GUESDON, M.-G.; A.VERNAY-NOURI, ed.<br />
2001 L’art du livre arabe.Du manuscrit au livre d’artiste. Paris: Bibliothèque nationale de France.<br />
267
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
GUPTA,C.B.<br />
1974 Preservation of palm leaf manuscripts. Conservation of Cultural Property in India<br />
7: 59-61.<br />
GUY,J.<br />
1982 Palm-leaf and paper, Illustrated manuscripts of India and Southeast Asia. Melbourne:<br />
National Gallery of Victoria.<br />
HAGEN,V.W. von<br />
1999 The Aztec and Maya papermakers. New York: Dover.<br />
HALDANE,D.<br />
1983 Islamic bookbindings in the Victoria and Albert Museum. London:The world of islam<br />
festival trust.<br />
HARDERS-STEINHÄUSER,M.<br />
1969 Mikroskopische Untersuchung einiger früher, ostasiatischer Tun-huang<br />
Papiere. Das Papier 4/5:1-6 and 4: 210-212 and 272-276.<br />
HARDERS-STEINHÄUSER, M.; G. JAYME<br />
1963 Untersuchung des Papiers acht verschiedener alter Na-Khi-Handschriften<br />
auf Rohstoff und Herstellungsweise. In The life and culture of the Na-Khi tribe<br />
of the China-Tibet borderland, edited by J. F. Rock. Wiesbaden: Franz Steiner,<br />
53-70.<br />
HARRIS,J.<br />
1956 Notes on book preservation in West Africa. WALA News 2(4): 102-105.<br />
HENDLEY,T.H.<br />
1893 Persian and Indian Bookbinding. The Journal of Indian Art and Industry<br />
(London: Griggs & Sons).<br />
HERBERT, P.; A. MILNER, ed.<br />
1988 South-East Asia languages and literatures: a select guide. Arran: Kisca<strong>da</strong>le<br />
Publications.<br />
HILLIER,J.<br />
1987 The Art of the Japanese Book. London: Sotheby’s Publications by Philip Wils<br />
Publishers.<br />
HINZLER,H.I.R.<br />
1993 Balinese palm-leaf manuscripts. In Manuscripts of Indonesia, edited by T. E.<br />
Behrend et al. Published as Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 1993<br />
(149/3). Leiden: The Royal Institute of Linguistics and Anthropology,<br />
438-474.<br />
268
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
HOEVEN, H. van der; J. van ALBADA<br />
1996 M<strong>em</strong>ory of the world:Lost m<strong>em</strong>ory Libraries and archives destroyed in the twentieth century.<br />
Paris: UNESCO.<br />
HOFFMANN,P.<br />
1998 Postkarten aus Birkenrinde.Wie sind sie zu entrollen. Restauro 4: 246-247.<br />
HOOIJKAAS,C.<br />
1963 Books made in Bali. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 119(4): 371-386.<br />
1972 La conservation des manuscrits et de la parole parlée en Indonesie. Archipel<br />
6: 33-41.<br />
1979 Preservation and cataloguing of manuscripts in Bali. Bijdragen tot de Taal-,<br />
Land- en Volkenkunde 135(2/3): 347-353.<br />
HOOP, A. N. J. Th. à Th. van der<br />
1940 Eenige wenken voor conservatoren van kleine musea in Ned. Indië.<br />
Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap 80(3): 425-455.<br />
HUGHES,S.<br />
1978 Washi, the world of Japanese paper. Tokyo, New York, San Francisco: Ko<strong>da</strong>nsha<br />
International.<br />
HUMBERT,G.<br />
2001 La fabrication du papier arabe. In L’art du livre arabe.Du manuscrit au livre d’artiste<br />
edited by M.-G. Guesdon and A.Vernay-Nouri. Paris: Bibliothèque<br />
nationale de France.<br />
HUMMEL,A.W.<br />
1941 The Development of the Book in China. (Presidential address delivered at<br />
the American Oriental Society’s Annual Meeting, Chicago, 15 April<br />
1941). Journal of the American Oriental Society (61/2): 71–76.<br />
HUNDIUS,H.<br />
2000 Preservation of Lao manuscripts programme. In Proceedings of the international<br />
meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia: assessing<br />
current needs and evaluating past projects, (Chiang Mai, Feb. 21-24, 2000), edited<br />
by R. Abhakorn, N. Vaneesorn, A. Trakarnpan and T. Easum. Chiang Mai:<br />
Chiang Mai University, 313-317.<br />
HUNTER,D.<br />
1925 The literature of papermaking 1390-1800. Chillicothe, Ohio.<br />
1927 Primitive papermaking: an account of a Mexican sojourn and of a voyage to the Pacific<br />
islands in search of information, impl<strong>em</strong>ents and specimens relating to the etc.<br />
Chillicothe: The Mountain House Press.<br />
269
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1932 Old papermaking in China and Japan. Chillicothe, Ohio: Mountain House Press.<br />
1936a<br />
1936b<br />
A papermaking pilgrimage to Japan, Korea and China. New York: Pynson Printers.<br />
Papermaking in Southern Siam. Chillicothe, Ohio: Mountain House Press.<br />
1937 Chinese cer<strong>em</strong>onial paper. Chillicothe, Ohio: Mountain House Press.<br />
1939 Papermaking by hand in India. New York: Pynson Printers.<br />
1943 The sacred papers of the Orient. Paper and Twine journal 16: 17-21.<br />
1947 Papermaking in Indo-China. Chillicothe, Ohio: Mountain House Press.<br />
1978 Papermaking. New York: Dover.<br />
HUNWICK, J. O.; R. S. O’FAHEY, ed.<br />
1994 Arabic literature of Africa.Vol I:The writings of Eastern Su<strong>da</strong>nic Africa to c.1900. Leiden: Brill.<br />
1995 Arabic literature of Africa.Vol II.The writings of Central Su<strong>da</strong>nic Africa. Leiden: Brill.<br />
HUSSEIN,M.A.<br />
1970 Origins of the book. From papyrus to codex. Leipzig: Edition Leipzig.<br />
IBISH,Y.; G.ATIYEH, ed.<br />
1996 The conservation and preservation of Islamic manuscripts. Publication 19. London:<br />
Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion.<br />
IKEGAMI, Kojiro<br />
1986 Japanese Bookbinding – Instructions from a Master Craftsman. A<strong>da</strong>pted by Barbara<br />
B. Stephan. New York: Weatherhill.<br />
IMAEDA, Yoshiro<br />
1988 Papermaking in Bhutan. Resho and Tsasho. Kasama: Cannabis Press.<br />
JACOBS,D.<br />
1990 Developments in the conservation of Islamic manuscripts at the IOLR. India<br />
Office Library and Records Oriental Collections Newsletter 44: 12.<br />
1991 Simple book supports for islamic manuscripts. British Library Conservation<br />
News 33.<br />
JACOBS,D.;B.RODGERS<br />
1990a Developments in the conservation of Islamic manuscripts at IOLR- further<br />
notes. OIOC Newsletter 45: 17.<br />
1990b<br />
Developments in the conservation of Oriental (Islamic) Manuscripts at<br />
the India Office Library, London. Restaurator 11: 110-138.<br />
270
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
1992 Developments in Islamic Book Conservation. IPC meeting held on<br />
Sept<strong>em</strong>ber 16, 1991. Paper Conservation News 61: 8-9.<br />
1996 Developments in Islamic binding and conservation in the Oriental and<br />
India Office Collections of the British Library. In The conservation and<br />
preservation of Islamic manuscripts. Proceedings of the third conference of Al-Furqan Islamic<br />
Heritage Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish and G. Atiyeh.<br />
London: Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 81-92.<br />
JAMES,D.<br />
1980 Qur’ans and bindings from the Chester Beatty library. A facsimile exhibition. London:<br />
World of Islam Festival Trust.<br />
JARJIS,R.A.<br />
1996 Ion-beam codicology: its potential in developing scientific conservation<br />
of Islamic manuscripts. In The conservation and preservation of Islamic manuscripts.<br />
Proceedings of the third conference of Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th<br />
Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish and G.Atiyeh. London:Al-Furqan Islamic<br />
Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 93-118.<br />
JONES, F. J.; K. R. SEDDON<br />
1992 The Dunhuang Diamond Sutra: a study in scientific conservation<br />
techniques. In Conference on book and paper conservation Bu<strong>da</strong>pest 4-7 Sept<strong>em</strong>ber<br />
1990, edited by B.Kastaly. Bu<strong>da</strong>pest: National Széchényi Library, 238-243.<br />
JONES,R.<br />
1993 European and Asian papers in Malay manuscripts. A provisional<br />
assessment. In Manuscripts of Indonesia, edited by T. E. Behrend et al.<br />
Published as Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 1993(149/3). Leiden:<br />
The Royal Institute of Linguistics and Anthropology, 475-502.<br />
JOSHI,Y.<br />
1993 Care and repair of palm leaf manuscripts in Indian repositories. Janus 1:<br />
92-96.<br />
KAGITCI,M.A.<br />
1965 A brief history of papermaking in Turkey. The Papermaker 34(2): 41-51.<br />
KARABACEK,J.von<br />
1991 Arab paper. London: Islington Books Ltd.<br />
KEENE, J. A.; D. L. THOMAS<br />
1980 Sultanate of Oman: Conservation of ancient manuscripts. Paris: UNESCO.<br />
271
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
KEMP,H.C.<br />
1990 Annotated bibliography of bibliographies on Indonesia. Leiden: KITLV.<br />
KETZER,R.<br />
1994 A conservation project in Kairouan. Paper Conservation News 69: 8-9.<br />
KHINE,Myat<br />
1986 The fine writings on ancient parabaiks. Forward (October): 22-25.<br />
KIRKHAM,M.<br />
1990 Alkaline-sized paper in South Africa. AMLIB Newsletter 44.<br />
KISHORE,R.<br />
1961 Preservation and repair of palm leaf manuscripts. Indian Archives (14 January).<br />
KOJIRO IKEGAMI<br />
1986 Japanese bookbinding. New York/Tokyo: Weatherhill.<br />
KORETSKY, E.; D. KORETSKY<br />
1991 The goldbeaters of Man<strong>da</strong>lay. An account of hand paper-making in Burma to<strong>da</strong>y.<br />
Brookline, Ma. Carriage House Press.<br />
KORNICKI,P.<br />
1998 The book in Japan. A cultural history from the beginnings to the nineteenth century.<br />
Leiden: Brill.<br />
KUMAR,A.<br />
1988 Conservation of a bark painting. In Restoration of Indian Art. Some case studies<br />
(Vol. I), edited by O. P. Agrawal and U. Agrawal. Intach Conservation<br />
Centre, Lucknow: 30-32.<br />
KUMAR, A.; J. H. MCGLYNN<br />
1996 Illuminations.The writing tradition of Indonesia. Jakarta: The Lontar Foun<strong>da</strong>tion.<br />
KUMAR,V.<br />
1963 Preservation of bark and palm-leaf manuscripts. Harald of Library Science 2:<br />
236-241.<br />
KUNTARA WIRYAMARTANA,I.<br />
1993 The scriptoria in the Merbabu-Merapi area. In Manuscripts of Indonesia,<br />
edited by T. E. Behrend et al. Published as Bijdragen tot de Taal-, Land- en<br />
Volkenkunde 1993(149/3). Leiden: The Royal Institute of Linguistics and<br />
Anthropology, 503-509.<br />
LABARRE,J.E.<br />
1952 Dictionary and encyclopaedia of paper and paper-making with equivalents of the technical<br />
terms in French, German, Dutch, Italian, Spanish and Swedish. Amster<strong>da</strong>m: Swets and<br />
Zeitlinger.<br />
272
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
LAWSON,P.<br />
1987a Palm leaf books and their conservation. Library Conservation News 16: 4-7.<br />
1987b Palm-leaf manuscripts and their conservation. Library Conservation News 17: 4-5.<br />
1988a Conservation of palm-leaf books. Library Conservation News 36.<br />
1988b<br />
The Preservation of pre Tenth-century Paper. In: The Conservation of Far Eastern<br />
Art. Preprints of the Contributions to the IIC Kyoto Congress, 19-23 Sept<strong>em</strong>ber 1988.<br />
London: The International Institute for the Conservation of Historic and<br />
Artistic Works, 15-18.<br />
LAWSON, P.; M. BARNARD<br />
1996 The preservation of pre-tenth century graphic material. In Dunhuang and<br />
Turfan. Contents and conservation of ancient documents from Central Asia, edited by S.<br />
Whitfield and F. Wood. London: The British Library, 7-15.<br />
LE LÉANNEC-BAVAVÉAS, M.-T.<br />
1998 Les papiers non filigranés médiévaux de la Perse à l’Espagne. Paris: CNRS.<br />
LEE,V. C.<br />
1929 A sketch of the evolution of Chinese book-binding. Library Science Quarterly<br />
3: 539-550.<br />
LEIF,I.P.<br />
1978 An international sourcebook of paper history. Hamden/Folkstone: Archon/Dawson.<br />
LENZ,H.<br />
1961 Mexican Indian Paper: Its history and survival. Mexico City: Editorial Cultura.<br />
1968 Das Papier in der Kolonialzeit Mexicos. Papiergeschichte 18: 39-48.<br />
LEVEY,M.<br />
1966 Mediaeval Arabic bookmaking and its relation to early ch<strong>em</strong>istry and<br />
pharmacology. Transactions of the American Philosophical Society 1962 52(4)<br />
(reprint).<br />
LI SHU-HWA<br />
1969 The spread of the art of paper-making and the discoveries of old paper.<br />
Collected papers on history and art of China (First Collection) 3. Taipei:<br />
National Historical Museum.<br />
LIN, Zuzao<br />
1999 The traditional and modern preservation of library rare books and<br />
precious materials in China. International Preservation News 19: 8-11.<br />
273
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
LINGS, M.; Yasin Hamid SAFADI<br />
1976 The Qur’an. Catalogue of an exhibition of Qur’an manuscripts at the British Library 3<br />
April-15 August 1976. London: The World of Islam Publishing Company.<br />
LIU GUOJUN;ZHENG YICHENG<br />
1985 The story of chinese books. Beijing: Foreign Languages Press.<br />
LOEBER,E.G.<br />
1967 Suppl<strong>em</strong>ent to E. J. Labarre ‘Dictionary and encyclopædia of paper and paper-making’.<br />
Amster<strong>da</strong>m: Swets and Zeitlinger.<br />
LOSTY,J.P.<br />
1982 The art of the book in India. London: The British Library.<br />
LOVEDAY,H.<br />
2001 Islamic paper, a study of the ancient craft. London:The Don Baker M<strong>em</strong>orial Fund.<br />
LYALL,J.<br />
1980 Various approaches to the conservation and restoration of aboriginal<br />
artifacts made from bark. ICCM Bulletin 6(2): 20-32.<br />
MACKNIGHT, C. C.; I. A. CALDWELL<br />
1992 Variation in Bugis manuscripts. Paper presented at: International Workshop on<br />
Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal Institute of<br />
Linguistics and Anthropology.<br />
MAGGEN, M.; S. SABAR<br />
1991 Conservation of the Aleppo Codex. Restaurator 12: 116-130.<br />
1995 The conservation of two Karaite marriage contracts. Restaurator 16(2): 77-85.<br />
MAHDI ‘ATIQI<br />
1996 Probl<strong>em</strong>s relating to the treatment of islamic manuscripts: paper. In The<br />
conservation and preservation of islamic manuscripts. Proceedings of the third conference of<br />
Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish<br />
and G.Atiyeh. London:Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 151-156.<br />
MAJUMDAR,P.C.;O.P.AGRAWAL<br />
1966 Repair and conservation of birch-bark (bhurja-patra) manuscripts. In<br />
Conservation of cultural property in India. Proceedings of the s<strong>em</strong>inar held in New Delhi,<br />
February 23-25, 1966.<br />
MAREE,J.<br />
1985 Conservation and restoration of manuscript material. In Proceedings of the<br />
symposium on manuscripts in Southern Africa, 21-23 Nov<strong>em</strong>ber, 1985. Cape Town:<br />
South African Library.<br />
274
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
MARRISON,G.E.<br />
1992 Ahmad-Muhammad: a Javanese verse romance. Paper presented at:<br />
International Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992.<br />
Leiden: Royal Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
MARSH,F.J.<br />
1980 The repair of Islamic illuminated manuscript leaves and the conservation<br />
of palm-leaf manuscripts. In International Symposium on the Conservation and<br />
Restoration of Cultural Property. Conservation of Far Eastern art objects. Nov<strong>em</strong>ber 26-29,<br />
1979, Tokyo, Japan. Tokyo: Tokyo National Research Institute of Cultural<br />
Objects, 3-16.<br />
MARTINIQUE,E.<br />
1973 Binding and preservation of Chinese double-leaved books. Library Quarterly<br />
43: 227-236.<br />
1983 Chinese traditional bookbinding. A study of its evolution and techniques. Chinese<br />
Materials Center.<br />
1998 Preservation of Chinese Traditional Books in Cultural Institutions in Taiwan. The Edwin<br />
Mellen Press.<br />
MASUDA, Katsuhiko<br />
1985 Japanese paper and hyogu. The Paper Conservator 9: 32-41.<br />
MATSUOKO,K.<br />
1996 An investigative study of the frontpiece of the Diamant Sutra. In Dunhuang<br />
and Turfan. Contents and conservation of ancient documents from Central Asia, edited by<br />
S. Whitfield and F. Wood. London: The British Library, 20-26.<br />
MATWALE,G.M.<br />
1977 An observation study of the paper documents conservation processes and techniques in current<br />
use in the National Archives of India with recommen<strong>da</strong>tions for their a<strong>da</strong>ptations in Kenya<br />
National Archives. New Delhi: National Archives of India.<br />
MAUNG WUN<br />
1950 Notes on Burmese manuscript books. Journal of Burma Research Society 33(2):<br />
224-229.<br />
MCGUINNE, Niamh<br />
1993 The treatment of insect <strong>da</strong>maged palm leaves. Unpublished report for the Bodleian<br />
Library [Oxford: Bodleian Library].<br />
275
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
MEIJ, T. C. van der<br />
1992 Sasak manuscripts, scripts and spelling. Paper presented at: International<br />
Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal<br />
Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
MENSHIKOV,L.N.<br />
1996 The history of conservation in the Dunhuang library itself. In Dunhuang and<br />
Turfan. Contents and conservation of ancient documents from Central Asia, edited by S.<br />
Whitfield and F. Wood. London: The British Library, 50-52.<br />
MING, Ding Choo<br />
1992 Malay manuscripts: Materials and probl<strong>em</strong>s of conservation. Paper<br />
presented at: International Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18<br />
Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
MOLEN, W. van der<br />
1993 Many greetings from Madura. An exercise in eighteenth century codicology.<br />
In Manuscripts of Indonesia, edited by T. E. Behrend et al. Published as<br />
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 1993(149/3). Leiden: The Royal<br />
Institute of Linguistics and Anthropology, 510-532.<br />
MOMMERSTEEG,G.<br />
1991 L’éducation coranique au Mali: le pouvoir des mots sacres. In L’enseign<strong>em</strong>ent<br />
islamique au Mali, edited by B. Sanankoua et L. Brenner. Bamako: Editions<br />
Jamana.<br />
MORRISON,H.M.<br />
1949 Making Books in China. Canadian Geographical Journal, 39: 232-243.<br />
MU’JIZAH<br />
1992 Illuminations and illustrations in Malay manuscripts at the National<br />
Library. Paper presented at: International Workshop on Indonesian Studies No. 7.<br />
Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal Institute of Linguistics and<br />
Anthropology.<br />
MULYADI, Sri Wulan Rujiati<br />
1992 Collections of Bima Malay manuscripts. Paper presented at: International<br />
Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal<br />
Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
MUNTHE,L.<br />
1982 La tradition Arabico-Malgache vue à travers les manuscrits disponibles. Oslo.<br />
276
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
MURAD AL-RAMMAH<br />
1996 The ancient library of Kairouan and its methods of conservation. In The<br />
conservation and preservation of Islamic manuscripts. Proceedings of the third conference of<br />
Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion 18th-19th Nov<strong>em</strong>ber 1995, edited by Y. Ibish<br />
and G. Atiyeh. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion, 29-48.<br />
MYAT, Khine<br />
1986 The Fine Writings on Ancient Parabaiks. Forward, October 22-25.<br />
NAIR,M.V.<br />
1987 New method for relaxing brittle palm-leaves. Conservation of Cultural Property<br />
in India 1985-1987 18/20: 1-4.<br />
NARAYANSWAMI,C.K.<br />
1961 The story of handmade paper industry. Bombay: Khadi and Village Industries<br />
Commission.<br />
NARITA, Kiyofusa<br />
1954 Japanese papermaking. Tokyo: Hokuseido Press.<br />
NEBESKY-WOJKOWITZ,R.<br />
1949 Schriftwesen, Papierherstellung und Buchdruck bei den Tibetern. PhD-thesis. Wien.<br />
NEEDHAM,J.<br />
1974 Science and civilisation in China.Vol 5:Ch<strong>em</strong>istry and ch<strong>em</strong>ical technology. Cambridge:<br />
Cambridge University Press.<br />
NELL, Andreas<br />
[s. d.] Ceylon Palm Leaf Manuscript Books. In Ceylon Observer Annual.<br />
NOEGRAHA, Nindya<br />
1992 Mengenal naskah kuno Perpustakaan Nasional RI. Paper presented at:<br />
International Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992.<br />
Leiden: Royal Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
NOERLUND, I.; J. PALM;S.RASMUSSEN<br />
1991 Cultural institutions in Laos (I): libraries and research institutions, restoration, conservation<br />
and training needs. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies.<br />
NORDSTRAND,O.K.<br />
1958 Some notes on procedures used in the Royal Library, Copenhagen, for the<br />
preservation of palm-leaf manuscripts. Studies in Conservation 3:135-140.<br />
1967 Chinese double-leaved books and their restoration. Libri 17(2): 104-130.<br />
277
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
NOTO SOEROTO<br />
1913 Over Javaansche boek versieringskunst [On the art of decoration of the<br />
Javanese book]. Het Nederlandsch Indisch Huis Oud en Nieuw (2 juli).<br />
OMOERHA,T.<br />
1973 Nigerian Arabic manuscripts: state of documentation, terms of preservation.<br />
Africana Library Journal 4: 17-21.<br />
OSWALD,J.C.<br />
1968 Printing in the Americas. New York: Hacker Art Book.<br />
PADHI,B.K.<br />
1974 Preservation of palm leaf manuscripts in Orissa. Conservation of Cultural<br />
Property in India 7: 62-65.<br />
PAGDEN,A.R.<br />
1972 Mexican pictorial manuscripts. Oxford: Bodleian Library.<br />
PAIREAU,F.<br />
1991 Papiers japonais. Paris: Biro.<br />
PEARSON,J.D.<br />
1958 Index Islamicus. London: SOAS.<br />
1966 Oriental and Asian bibliography: an introduction with some reference to Africa. Hamden:<br />
Archon Books.<br />
1971 Oriental manuscripts in Europe and North America. London: SOAS.<br />
1975 A world bibliography of oriental bibliographies. London: SOAS.<br />
1979 South Asian bibliography. London: SOAS.<br />
PEDERSEN,J.<br />
1984 The arabic book. Princeton: Princeton University Press.<br />
PETROSYAN,Y.A.<br />
1996 Conservation and restoration probl<strong>em</strong>s of oriental manuscripts in the<br />
Institute of Oriental Studies, St.Petersburg. In Dunhuang and Turfan. Contents<br />
and conservation of ancient documents from Central Asia, edited by S. Whitfield and<br />
F. Wood. London: The British Library, 39-42.<br />
PLENDERLEITH,H.J.<br />
1971 Papyrus, parchment, and paper. In The conservation of Antiquities and Works of<br />
Art, edited by H. J. Plenderleith and A. E. A. Werner. London: Oxford<br />
University press, 41-44.<br />
278
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
PLOMP,M.<br />
1992 On the decoration of Islamic bookbindings from Indonesia: variations<br />
on an Islamic th<strong>em</strong>e. Paper presented at: International Workshop on Indonesian<br />
Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal Institute of Linguistics<br />
and Anthropology.<br />
1993 Traditional bookbindings from Indonesia. Materials and decorations. In<br />
Manuscripts of Indonesia, edited by T. E. Behrend et al. Published as Bijdragen tot<br />
de Taal-, Land- en Volkenkunde 1993(149/3). Leiden: The Royal Institute of<br />
Linguistics and Anthropology, 571-592.<br />
PLUMBE,W.J.<br />
1961 Books and writing in the tropics. Before the invention of printing. Malayan<br />
Library Journal 2(1): 41-50.<br />
1964 The preservation of books in tropical and subtropical countries. London: Oxford<br />
University Press.<br />
PORTER,Y.<br />
1995 Painters, Paintings and Books. An Essay on Indo-Persian Technical Literature, 12th-19th<br />
centuries. Delhi, India: Manohar.<br />
POSTMA,A.<br />
1992 On scripts and manuscripts in the Philippines. A brief note. Paper<br />
presented at: International Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18<br />
Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
PAL, Pratapaditya; J. MEECH-PEKARIK<br />
1988 Buddhist book illuminations. New York: Ravi Kumar Publishers/Hacker Art Books.<br />
PUDJIASTUTI,T.<br />
1992 Overview of materials used in Ceribon manuscripts. Paper presented at:<br />
International Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992.<br />
Leiden: Royal Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
QUIGLY,E.P.<br />
1956 Some observations on Libraries, Manuscripts and Books of Burma from the 3rd Century to<br />
1886. London: A. Probsthain.<br />
RABY, J.; Z. TANINDI<br />
1993 Turkish bookbinding in the 15th century. London: Azimuth Editions.<br />
RAGHAVAN,V.<br />
1979 Preservation of palm-leaf and parabaik manuscripts and plan for compilation of a union<br />
catalogue of manuscripts: Socialist Republic of the Union of Burma. Paris: UNESCO.<br />
279
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
RANTOANDRO,G.<br />
1983 Contribution à la connaissance du ‘papier Ant<strong>em</strong>oro’ (Sud-est de Ma<strong>da</strong>gascar).<br />
Archipel 26: 86-104.<br />
RASCHMANN,S.-C.<br />
1996 A survey of research on the materials from Turfan held at Berlin. In<br />
Dunhuang and Turfan. Contents and conservation of ancient documents from Central Asia,<br />
edited by S. Whitfield and F. Wood. London: The British Library, 53-56.<br />
REGEMORTER,B.van<br />
1961 Some oriental bindings in the Chester Beatty Library. Dublin: Hodges Figgis.<br />
RICHARD,F.;T.AUBRY<br />
1997 Un cas intéressant de restauration d’un Coran indien de la fin du XVe<br />
siècle (BNF, manuscrit arabe 7260). In La conservation: une science en évolution,<br />
bilan et perspectives.Actes des troisièmes journées internationales d’études de l’Arsag. Paris -<br />
21 au 25 avril 1997, edited by S. Monod. Paris: Arsag, 109-115.<br />
RIESE,B.<br />
1988 Indianische Handschriften und Berliner Forscher: Handbuch zur Ausstellung. Berlin:<br />
Universitätsbibliothek, Freie Universität.<br />
RODGERS ALBRO,S.<br />
1993 The Oztoticpac lands map: examination and conservation treatment. In<br />
ICOM-CC 10th Triennial Meeting Washington, DC, USA, 1993. Preprints (2). Paris:<br />
ICOM, 429-434.<br />
RUBENSTEIN,R.<br />
1992 Divine letters: writing and lontar in Bali. Paper presented at: International<br />
Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal<br />
Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
RUKMI,M.I.<br />
1992 Some external features of Jakarta manuscripts. Paper presented at:<br />
International Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992.<br />
Leiden: Royal Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
RUPPEL, A., ed.<br />
1988 Gutenberg Jahrbuch 1988. Mainz:Verlag der Gutenberg-Gesellschaft.<br />
RYMAR,G.I.<br />
1978 Conservation and restoration of birch bark manuscripts. In ICOM-CC 5th<br />
Triennal Meeting Zagreb (78-14-17):1-6.<br />
280
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
RYO,F.<br />
1989 Restauration de manuscrits éthiopiens. Musée de l’institut d’études éthiopiens,<br />
Addis Abe<strong>da</strong>. Paris-Sablé: Bibliothèque Nationale.<br />
SAFADI,Y. H.<br />
ca 1972<br />
Annotated bibliography on Arabic printing and book production 1514-1972. Leiden:<br />
Smitskamp Antiquariaat.<br />
SAH,A.<br />
2001 Save palm leaf manuscript heritage. Mission Save Art Heritage 3. Lucknow:<br />
Indian Council of Conservation Institutes.<br />
SAMUEL,J.G.<br />
1994a Preservation of palm-leaf manuscripts in Tamil. IFLA Journal 20(3): 294-305.<br />
1994b Preservation of palm leaf. Restaurator 20: 294-305.<br />
SANDERMANN, W.; H. FUNKE<br />
1970 Ch<strong>em</strong>ische Untersuchung eines schwarzen Tibetischen Papiers. Papiergeschichte<br />
20: 41-43.<br />
SANDSTROM, A. R.; P. E. SANDSTROM<br />
1986 Traditional papermaking and paper cult figures of Mexico. Norman/London:<br />
University of Oklahoma Press.<br />
SANDY, M.; L. BACON<br />
2000 Investigation into the degra<strong>da</strong>tion of Raphia palm leaf material used in<br />
ethnographic objects. In IIC Melbourne Congress 2000. Tradition and innovation:<br />
advances in conservation, edited by A. Roy and P. Smith. London: ICC.<br />
SCHMIDT,R.<br />
1997 National Center for Archives in Sana’a: preservation and conservation:Y<strong>em</strong>en. Paris: UNESCO.<br />
SCHUNKE,<br />
1978 Einführung in die Einbandbestimmung. Dresden: VEB Verlag der Kunst.<br />
SCHUYLER, M. Jr.<br />
1908 Notes on the making of palm-leaf manuscripts in Siam. Journal of the<br />
American Oriental Society 29: 281-283.<br />
SCOTT,H.H.<br />
1990 Islamic book conservation. In American Institute of Conservation Book and Paper<br />
Group Annual, vol. 9.<br />
SEGAL,J.<br />
1979 The Conservation of Palm leaves. Unpublished report for the Bodleian Library.<br />
[Oxford: Bodleian Library].<br />
281
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
SEGUIN, J.-P.<br />
1983 Propositions pour sauvegarde des manuscrits du Maroc, et en particulier de ceux de la<br />
Bibliothèque Qaraouyine à Fès. Paris: UNESCO.<br />
SELICK,M.<br />
1987 Birchbark repair. Ethnographic Conservation Newsletter (ICOM) 3: 12-13.<br />
SERGEW HABLE SELASSIE<br />
1981 Bookmaking in Ethiopia. Leiden: Sergew Hable Selassie.<br />
SERJEE,J.<br />
1995 The conservation of Mongolian books. International Preservation News 9: 6-7.<br />
SHIPLEY,A.E.<br />
1926 Bookbinding in the tropics. Tropical Agriculture 3: 141.<br />
SIEGENTHALER,F.<br />
1996 Saa Paper of Thailand.Vol I, II, III, IV. Muttenz: Paper Art.<br />
SINDALL,R.W.<br />
1906 Report on the manufacture of paper and paper-pulp in Burma. Rangon: Office of the<br />
superintendent, Government Printing.<br />
SINGER,N.F.<br />
1993 Kammavaca texts.Their Covers and Binding Ribbons. Arts of Asia (may/june):<br />
97-106.<br />
SINGH,S.P.<br />
1996 Conservation of Central Asian collections in the National Museum, New<br />
Delhi, India. In Dunhuang and Turfan. Contents and conservation of ancient documents<br />
from Central Asia, edited by S. Whitfield and F. Wood. London: The British<br />
Library, 57-58.<br />
SMITH,M.<br />
1990 The conservation of Islamic book pages. In American Institute of Conservation<br />
Book and Paper Group Annual, vol. 9, 118–119.<br />
SOTERIOU,A.<br />
1999 Gift of conquerors. Hand papermaking in India. New Delhi: Mappin Publications.<br />
SPINDEN,H.J.<br />
1935 Indian manuscripts of southern Mexico. Washington, D.C.: Smithsonian<br />
Institution.<br />
STANKIEWICZ,J.<br />
1996 The conservation of Hebrew manuscript no 8 2238 in the Jewish national<br />
and university library, Jerusal<strong>em</strong>: an evaluation of the method. Restaurator<br />
17: 64-74.<br />
282
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
STEIN, H., ed.<br />
1997 Orientalische Buchkunst in Gotha. Gotha: Forschungs-und Landesbibliothek Gotha.<br />
STUTTERHEIM,W.F.<br />
1929 Iets over het javaansche boek. De Tampon 9(8): 262-266.<br />
SUDEWA,A.<br />
1992 From Kartasura to Surakarta. Paper presented at: International Workshop on<br />
Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18 Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal Institute of<br />
Linguistics and Anthropology.<br />
SUKANDA-TESSIER,V.<br />
1992 An introduction to the study of West Javanese Mosl<strong>em</strong> manuscripts. Paper<br />
presented at: International Workshop on Indonesian Studies No. 7. Leiden, 14-18<br />
Dec<strong>em</strong>ber 1992. Leiden: Royal Institute of Linguistics and Anthropology.<br />
SURI, Jina Harisagara<br />
1947 Palm-leaf manuscripts in Jaisalmir. Indian Archives 1(3): 234-235.<br />
SURYAWANSHI,D.G.<br />
2000 An ancient writing material. Birch-bark and its need of conservation.<br />
Restaurator 21: 1-7.<br />
SURYAWANSHI,D.G.;O.P.AGRAWAL<br />
1995 Evaluation of hand-made Nepalese paper for lining paintings. Restaurator<br />
16(2): 65-76.<br />
SURYAWANSHI, D. G.; M.V. NAIR;P.M.SINHA<br />
1992 Improving the flexibility of palm leaf. Restaurator 13(1): 37-46.<br />
SURYAWANSHI, D. G.; P. M. SINHA;O.P.AGRAWAL<br />
1994 Basic studies on the properties of palmleaf. Restaurator 15: 65-78.<br />
SWARNAKAMAL<br />
1975 Protection and conservation of museum collection. Baro<strong>da</strong>: Museum and Picture Gallery.<br />
TANINDI,Z.<br />
1991 Manuscript production in the Ottoman Palace workshop. Manuscripts of the<br />
Middle East (Leiden) 1990-91(5): 67-98.<br />
TEYGELER,R.<br />
1993 Pustaha. A study into the production process of the Batak book. In<br />
Manuscripts of Indonesia, edited by T. E. Behrend et al. Published as Bijdragen tot<br />
de Taal-, Land- en Volkenkunde 1993(149/3). Leiden: The Royal Institute of<br />
Linguistics and Anthropology, 593-611.<br />
283
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1995 Writing material from Indonesia. Dluwang, a Javanese/Madurese tapa<br />
from the papermulberry tree. International Institute for Asian Studies Newsletter 6:35.<br />
1997 Het islamitische boek: verslag van een conferentie [the islamic book:<br />
report of a conference]. Care 0: 35-40.<br />
2000 Dluwang, a near-paper from Indonesia. In IPH Congres Book 1996(11),<br />
edited by R. Teygeler. Marburg: International Association of Paperhistorians,134-145.<br />
2001 Kagaz: handmade paper from India.Yester<strong>da</strong>y, to<strong>da</strong>y and tomorrow. In IPH<br />
Congress Book 1998(12), edited by P.Tschudin. Marburg: International<br />
Association of Paperhistorians, 185-194.<br />
TEYGELER, R.; H. PORCK<br />
1995 Technical analysis and conservation of a bark manuscript in the Dutch<br />
Royal Library. The Paper Conservator 19: 55-62.<br />
THOMPSON,A.<br />
1996 Japanese conservation techniques as applied to pre-tenth century<br />
material. In Dunhuang and Turfan. Contents and conservation of ancient documents from<br />
Central Asia, edited by S. Whitfield and F. Wood. London: The British<br />
Library, 27-28.<br />
TITLEY,N.M.<br />
1963 An illustrated Sinhalese palm-leaf manuscript. British Museum Quarterly 26:<br />
86-88.<br />
TLALANYANE,T.<br />
1989 The care and handling of books and book repair. Botswana Library Association<br />
Journal 11: 7-18.<br />
TOL,R.<br />
1993 A royal collection of Bugis manuscripts. In Manuscripts of Indonesia, edited by<br />
T. E. Behrend et al. Published as Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde<br />
1993(149/3). Leiden:The Royal Institute of Linguistics and Anthropology,<br />
612-629.<br />
TORRE VILLAR, E. de la; A. GOMEZ<br />
1970 Das Buch in Mexiko/El libro en Mexico.: Universi<strong>da</strong>d nacional autonoma de<br />
Mexico/Instituto de Investigaciones Bibliograficas.<br />
TOUSSAINT,A.<br />
1969 Early printing in Mauritius, Réunion, Ma<strong>da</strong>gascar and the Seychelles. Amster<strong>da</strong>m/<br />
London/NY:Van Gendt/Routledge and Kegan Paul/Abner Schram.<br />
284
Bibliografia | Livros e materiais de escrita<br />
TRIER,J.<br />
1972 Ancient Paper of Nepal. Results of ethno-technological field work on its manufacture, uses<br />
and history with technical analyses of bast, paper and manuscripts. Jutland<br />
Archeological Society Publications,Volume X.<br />
TSIEN, Tsuen-Hsuin<br />
1962 Written on bamboo and silk.The beginnings of chinese books and inscriptions. Chicago/<br />
London/Toronto: University of Chicago Press.<br />
1985 Paper and printing. In Science and Civilisation in China. Vol. 5: Ch<strong>em</strong>istry and<br />
Ch<strong>em</strong>ical Technology I, edited by J. Needham. Cambridge.<br />
TWITCHETT,D.<br />
1983 Printing and Publishing in Medieval China. New York: Frederic C. Beil.<br />
1994 Druckkunst und Verlagswesen im Mittelalterlichen China. Wolfenbütteler Schriften<br />
zur Geschichte des Buchwesens 22. Wiesbaden: Harrassowitch Verlag.<br />
USAMI,M.A.<br />
1986 Manuscripts: the need for their search and preservation. Pakistan Library<br />
Bulletin 17(1): I-VIII.<br />
VELDER,C.<br />
1961 Die Palmblatt-Manuskriptkultur Thailands. Nachrichten der Gesellschaft für<br />
Natur- und Völkerkunde Ostasiens 89/90: 110-114.<br />
VERVLIET, H. D. L., ed.<br />
1973 Liber Librorum. 5000 Jahre Buchkunst. Genf: Weber.<br />
WÄCHTER,O.<br />
1959 The restoration of Persian lacquer bindings. Allg<strong>em</strong>einer Anzeiger fur<br />
Buchbindereien 72, 349–352.<br />
WEISHENG,Du<br />
1996 The restoration of the Dunhuang manuscripts in the National Library of<br />
China. In Dunhuang and Turfan. Contents and conservation of ancient documents from<br />
Central Asia, edited by S. Whitfield and F. Wood. London: The British<br />
Library, 29-31.<br />
WHITFIELD,S.<br />
2002 Dunhuang manuscript Forgeries. The British Library Studies in Conservation<br />
Science 3. London: The British Library.<br />
285
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
WHITFIELD, S.; F. WOOD<br />
1996 Dunhuang and Turfan. Contents and conservation of ancient documents from Central Asia.<br />
The British Library Studies in Conservation Science 1. London: The<br />
British Library.<br />
WIESNER,J.von<br />
1886 Mikroscopische Untersuchung der Papiere von El-Faijum. Mittheilungen aus<br />
der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer (Wien) 1/2: 45-48.<br />
1887 Die Faijûmer und Uschmûneiner Papiere. Mittheilungen aus der Sammlung der<br />
Papyrus Erzherzog Rainer (Wien) Bd. II und III.<br />
WILKS,I.<br />
1968 The transmission of islamic learning in the Western Su<strong>da</strong>n. In Literacy in<br />
traditional societies, edited by J. Goody. Cambridge: Cambridge University<br />
Press, 161-197.<br />
WIN HAN<br />
2002 The preservation and conservation of traditional manuscripts for the 21st<br />
century in Myanmar Naing Gan. Myanmar Perspectives Magazine 5.<br />
WRIGHT, M. M., ed.<br />
2001 Barkcloth. Aspects of preparation, use, determination, conservation and display. S<strong>em</strong>inar<br />
organised by the Conservators of Ethnographic Artefacts at Torquay<br />
Museum on 4 Dec<strong>em</strong>ber 1997. CEA Series No. 2. London: Archetype<br />
Publications.<br />
XIAO ZHENTANG;DING YU<br />
1998 The Repair and Binding of Old Chinese Books – Translated and A<strong>da</strong>pted<br />
for Western Conservators. Translated to English by David Helliwell. The<br />
East Asian Library Journal, VIII/1, 27–149.<br />
ZHOU BAO ZHONG<br />
1988 The Preservation of Ancient Chinese Paper. In The Conservation of Far Eastern<br />
Art, Preprints of the Contributions to the Kyoto Congress,19–23 Sept<strong>em</strong>ber 1988, edited<br />
by John S. Mills, Perry Smith and Kazuo Yamasaki. IIC.<br />
286
4<br />
Edifícios<br />
ABID, A.; J.-M. ARNOULT;J.MEISNER<br />
1993 Bibliothèque Nationale du Maroc: programme architectural, sauvegarde des manuscrits,<br />
esquisse d’un plan d’ens<strong>em</strong>ble. Paris: UNESCO.<br />
ADAMSON, B.; M. NYSTRÖM<br />
1993a Indoor climate and passive climatization. Lund: Lund University.<br />
ADAMSON,B.;O.ABERG<br />
1993b Design for climatization, houses in warm-humid areas. Lund: Lund Centre For<br />
Habitat Studies (LCHS).<br />
AGRAWAL, O. P.; S. J. BAXI<br />
1974 Climate and museum architecture in South and South-East Asia. Museum<br />
26(3/4): 269-273.<br />
AIVC<br />
1999 Natural ventilation. In Ventilation and Indoor Quality in Buildings. Proceedings of the<br />
Air Infiltration and Ventilation Centre 20th Annual Conference, Edingburgh Sept<strong>em</strong>ber<br />
1999. AIVC: 101-125.<br />
ALAANYI,J.N.<br />
1989 Planning library buildings in tropical countries with special reference to Nigeria.<br />
University of Loughborough.<br />
ALEGBELEYE,G.O.<br />
1988 The conservation scene in Nigeria: a panoramic view of the condition of<br />
bibliographic resources. Restaurator 9(1): 14-26.<br />
ALI, Zainab Faruqui<br />
2000 Environmental performance of the buildings designed by the modern masters in the tropics:<br />
287
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
architecture of Le Corbusier and Louis I Kahn in India and Bangladesh.<br />
Thesis (Ph. D.) Environment and Energy Studies Programme. London:<br />
Architectural Association.<br />
ALLARD, F., ed.<br />
1998 Natural ventilation in buildings, a design handbook. London: James and James.<br />
ALP,A.<br />
1987 Vernacular climate control in desert architecture. In Cont<strong>em</strong>porary and<br />
traditional Arabian design,review 1987,edited by B.Washburn. Dhahran: College<br />
of Environmental Design, King Fahd University of Petroleum and<br />
Minerals, 44-54.<br />
AMOSU,M.<br />
1974 On the planning of a new library in Nigeria. Nigerian Libraries 10(2/3):<br />
141-147.<br />
ANÓNIMO<br />
1952 Tropical architecture & town planning in French colonial Africa. Techniques<br />
& architecture (Paris) 11(5-6): 33-116.<br />
ANÓNIMO<br />
1953 Preliminary BRAB bibliography of housing and building in hot-humid and hot-dry climates.<br />
Suppl<strong>em</strong>ent 1. Special publications 27. University of Texas Bureau of<br />
Engineering Research.<br />
ANÓNIMO<br />
1954 Preliminary BRAB bibliography of housing and building in hot-humid and hot-dry climates.<br />
Suppl<strong>em</strong>ent 2. Special publications 28. University of Texas Bureau of<br />
Engineering Research.<br />
ANÓNIMO<br />
1980 Appropriate industrial technology for construction and building materials. Monographs<br />
on appropriate industrial technology (Chapman and Hall), No. 12. New<br />
York: United Nations Industrial Development Organization.<br />
ANÓNIMO<br />
1982a<br />
ANÓNIMO<br />
1982b<br />
La conception thermique des bâtiments en Guyane.Le Pre St. Gervais: Loft Impressions.<br />
La conception thermique des bâtiments en Guadeloupe. Le Pre St. Gervais: Loft<br />
Impressions.<br />
ANÓNIMO<br />
1982c Thermal comfort in hot climates. Heating and ventilating engineer 56(651): 19.<br />
288
Bibliografia | Edifícios<br />
ANÓNIMO<br />
1985a<br />
Toitures en zones tropicales arides. Paris: GRET.<br />
ANÓNIMO<br />
1985b Thermal insulation in hot climates. Symposium, Bagh<strong>da</strong>d, Iraq, Nov. 26-28, 1984.<br />
Bagh<strong>da</strong>d: Building Research Center.<br />
ANÓNIMO<br />
1985c Building overseas in warm climates. BRE digest 302: 1-7.<br />
ANÓNIMO<br />
1989 Bibliography on Passive Solar Syst<strong>em</strong>s In Buildings. Nairobi: UNCHS (Habitat).<br />
ANÓNIMO<br />
1995 Report on a building materials sub-sectoral analysis (BMSSA conducted in Dar es Salaam,<br />
Morogoro and Arusha,Tanzania). Nairobi: ApproTEC.<br />
ANÓNIMO<br />
1997 Global overview of construction technology trends: energy efficiency in construction.<br />
Nairobi: UNCHS.<br />
ARCHIVUM<br />
1957 Bâtiments d’archives. Archivum 7.<br />
ASPEREN-DE BOER,J.R.J.van<br />
1968 Humidity in walls in relation to the preservation of works of art. In London<br />
Conference on Museum Climatology, edited by G. Thomson. IIC: 109-117.<br />
AYNSLEY,R.M.<br />
1980 Protective construction in the South Pacific. Sydney: Department of Architectural<br />
Science, University of Sydney.<br />
AYRES, et al.<br />
1988 Energy conservation and climate control in museums. Los Angeles: Getty<br />
Conservation Institute.<br />
BADIOZE ZAMAN,H.<br />
1989 Building requir<strong>em</strong>ents for national libraries in developing countries. Singapore: Oxford<br />
University Press.<br />
BAHADORI,M.N.<br />
1978 Passive cooling syst<strong>em</strong>s in Iranian architecture. Scientific American 268:<br />
144-154.<br />
1979 Natural cooling in hot regions. In Solar energy application in buildings,edited by<br />
A. A. M. Sayish. New York: Acad<strong>em</strong>ic Press, 68-81.<br />
289
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
BAKER,N.V.<br />
1987 Passive and low energy design for tropical island climates. London: Commonwealth<br />
Secretariat Publications.<br />
BAKKEN, A.; M.VELURE;G.FJERDUMSMOEN<br />
1987 Underground storage - two att<strong>em</strong>pts, one in Norway and one in Zambia:<br />
a situation report. In ICOM-CC 8th Triennial Meeting, Sydney, Australia 6-11<br />
Sept<strong>em</strong>ber 1987.Preprints (3). Los Angeles: Getty Conservation Institute, 859-862.<br />
BANSAL, N. K.; G. HAUSER;G.MINKE<br />
1994 Passive building design, a handbook of natural climatic control. Amster<strong>da</strong>m: Elsevier<br />
Science.<br />
BAXI,S.J.<br />
1974 Climate and museum architecture in the tropics. In Conservation in the tropics,<br />
edited by O. P. Agrawal. Rome, 69-73.<br />
BELL, L.; B. FAYE<br />
1979 La conception des bâtiments d’archives en pays tropical. Documentation, Libraries<br />
and Archives: Studies and Research 9. Paris: UNESCO.<br />
BELLARDO,L.<br />
1995 Low energy, low technology, low toxicity approaches to preservation. Abbey<br />
Newsletter 19(1): 9-12.<br />
BENOIT,J.<br />
1954a<br />
1954b<br />
La preservation des bois de nos territoires d’outre-mer. Bois et forêts des<br />
tropiques (juillet/aout): 29-39.<br />
La preservation des bois de nos territoires d’outre-mer. Bois et forêts des<br />
tropiques (sept<strong>em</strong>bre/octobre): 46-57.<br />
BENOIT,G.;D.NEIRINCK<br />
1987 Les moyens de conservation les plus économiques <strong>da</strong>ns les bâtiments d’archives des pays<br />
industriels et tropicaux. Paris: UNESCO.<br />
BERGE,B.<br />
2001 Ecology of building materials. London: Architectural Press.<br />
BERNARD,F.<br />
1982 The design of archive buildings. Unesco Journal of Information Science, Librarianship<br />
and Archives Administration 8: 91-92.<br />
BHOWMIK, Swarnakamal<br />
1974 Design of a museum building and preservation. In Conservation in the tropics,<br />
edited by O. P. Agrawal. Rome: 74-80.<br />
290
Bibliografia | Edifícios<br />
BISBROUCK,M-F,ed.<br />
2001 Library buildings in a changing environment:Shanghai,China,14-18 August 1999.Munich:<br />
Saur.<br />
BISBROUCK, M-F.; M. CHAUVEINC, ed.<br />
1999 Intelligent library buildings. Proceedings of the tenth s<strong>em</strong>inar of the IFLA Section on Library<br />
Buildings and Equipment. Munich: Saur.<br />
BLACK,C.V.<br />
1980 The Jamaica Archives repository. Archivum 2 (Proceedings of the second<br />
Caribbean Archives Conference, Guadeloupe and Martinique, October<br />
27-31, 1975): 146-152.<br />
BLAIR,L.<br />
1993 Bibliography of materials on the planning and construction of library<br />
buildings. ARSC Journal (R. Warren: Storage of sound recording) 24(2):<br />
130-175.<br />
BLIGHT,G.E.<br />
1988 Construction in tropical soils. In Proceedings of Geomechanics in Tropical Soils,<br />
edited by The Organising Committee 2-ICOTS. Singapore: A. A. Balk<strong>em</strong>a.<br />
BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT<br />
1980 Building in hot climates. Overseas Building Notes. London: Her Majesty’s<br />
Stationary Office.<br />
BUCHMANN,W.<br />
1998 Preservation: Buildings and equipment. Janus 1: 49-63.<br />
CAIN, A.; F. AFSHAR,J.NORTON;M.R.DARAIE<br />
1976 Traditional cooling syst<strong>em</strong>s in the Third World. The Ecologist 6(2): 60-64.<br />
CANCIO,I.M.<br />
1981 Planning a library in the tropics. Bulletin of the Philippine Library Association<br />
1980/81(13): 74-85.<br />
CHAN,T.S.<br />
1978 Public library buildings for Asia. IFLA Journal 4: 110-113.<br />
CHAULEAU,L.<br />
1980 Le nouveau bâtiment des archives départ<strong>em</strong>entales de la Martinique.<br />
Archivum 2 (Proceedings of the second Caribbean Archives Conference,<br />
Guadeloupe and Martinique, October 27-31, 1975): 153-160.<br />
291
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
CHRISTOFFERSON,L.D.<br />
1995 Zephyr. Passive climate controlled repositories. Storage facilities for museum, archive and<br />
library purposes. Lund: Lund University.<br />
CLARK, T., ed.<br />
1990 Sustainable architecture in Cameroon. Report on the first national conference. Yaounde:<br />
Ecole Nationale Superieure Polytechnique.<br />
COFAIGH EOIN. O.; J. A. OLLEY;L.J.OWEN<br />
1996 The climatic dwelling. London: James and James.<br />
COMMITTEE ON ARCHIVE BUILDING EQUIPMENT ICA/CBQ<br />
1992 Proceedings meeting on the a<strong>da</strong>ption of existing buildings for archival<br />
needs, Turin 1989. Published as Janus 1.<br />
CONTÉ,A.S.<br />
1996 La programmation de bâtiments d’archives en Afrique. Janus 1: 100-102.<br />
DAHLGREN, A. C.; E. P. HEYNS<br />
1990 Planning library buildings: A select bibliography. Chicago: Library Administration<br />
and Manag<strong>em</strong>ent Association, American Library Association.<br />
DANBY,M.<br />
1963 Grammar of architectural design, with special reference to the tropics. London: Oxford<br />
University Press.<br />
DANIEL,V.; C. PEARSON,I.COLE,W.GANTHER;S.KING<br />
2000 Behaviour of museum buildings in tropical climates. In IIC Melbourne<br />
Congress 2000. Tradition and innovation: advances in conservation, edited by A. Roy<br />
and P. Smith. London: ICC, 45-50.<br />
DBR.<br />
1954 Behaviour of building materials in tropical regions. No. SB 30. Sydney: Commonwealth<br />
Experimental Building Station.<br />
DENYER,S.<br />
1978 Traditional architecture: an historical and geographical perspective. 3 rd Edition.<br />
London: Hein<strong>em</strong>ann.<br />
DEQUEKER, P.; M. KANENE<br />
1992 L’architecture tropicale: théorie et mise en practique en Afrique tropicale humide.Kinshasa:<br />
Centre de Recherches Pe<strong>da</strong>gogiques.<br />
DODD, J., et al.<br />
1986 International climatic architecture congress: 1-3 July 1986. Proceedings. Louvain La<br />
Neuve: Centre de Recherches en Architecture, Architecture et Climat,<br />
Université Catholique de Louvain.<br />
292
Bibliografia | Edifícios<br />
DOSWALD,F.<br />
1977 Planen und Bauen in heissen Zonen. Zürich: Baufachverlag Ag.<br />
DREW,J.B.<br />
1968 Museum design with special reference to the tropics. In London Conference<br />
on Museum Climatology, edited by G. Thomson. IIC: 183-189.<br />
DUCHEIN,M.<br />
1972 Malaysia: planning and equipment of the National Archives building. Paris: UNESCO.<br />
1980 Les bâtiments et équip<strong>em</strong>ents d’archives <strong>da</strong>ns les pays tropicaux. Archivum<br />
2 (Proceedings of the second Caribbean Archives Conference, Guadeloupe<br />
and Martinique, October 27-31, 1975): 127-145.<br />
1988 Archive buildings and equipment. München: Saur.<br />
EDE,J.R.<br />
1980 Iraq: construction of a national archives building. Paris: UNESCO.<br />
EDWARDS,B.<br />
1999 Sustainable architecture: European directives and building design. Oxford: Architectural<br />
Press.<br />
EDWARDS,B.;B.FISCHER<br />
2001 Libraries and Learning Resource Centres. Oxford: Architectural Press.<br />
EDWARDS,H.<br />
1994 Archives building design for energy economy. South African Archives Journal 36.<br />
EDWARDS,W.H.<br />
1939 The preservation of wooden buildings in the tropics, with special reference to conditions<br />
existing in Jamaica. Kingston: Government Printing Office.<br />
EHRLICH,S.<br />
1987 Darwin: architecture in the tropics. Architecture Australia 76(6): 71-83.<br />
ELBADAWI,M.S.<br />
1972a Sahara. Canadian architect (Apr.): 63-6.<br />
1972b Sahara part 2. Canadian architect (May): 55-9.<br />
EMMANUEL, Rohinton<br />
2002 An analysis of the bio-climatic effects of roof cover of domestic buildings<br />
in the Equatorial tropics. Architectural science review 45(2): 117-124.<br />
293
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
FAYE,B.<br />
1982a<br />
1982b<br />
1982c<br />
Burundi: Construction d’un bâtiment pour les archives nationales. Paris: UNESCO.<br />
Guinée: Construction d’un complexe documentaire archives nationales Bibliothèque<br />
Nationale. Paris: UNESCO.<br />
The design of archive buildings. Unesco Journal of Information Science,<br />
Librarianship and Archives Administration 4(2): 88-93.<br />
FEILDEN,B.M.<br />
1979 Design of museums for conservation of cultural property. In Regional<br />
s<strong>em</strong>inar on the conservation of cultural materials in humid climates. Canberra, 19-23<br />
February 1979, edited by C. Pearson. Canberra: Australian Government<br />
Publication Services, 66-77.<br />
FISCHER,T.<br />
1984 The well-t<strong>em</strong>pered tropics. Progressive Architecture 65(4): 98-103.<br />
FITZGERALD, E., et al.<br />
1999 A green Vitruvius: principles and practice of sustainable architectural design. The<br />
European Commission, Directorate General XVII for Energy: THERMIE<br />
Programme. London: James and James.<br />
FORTIN,Y.; J. POLIQUIN<br />
1976 Natural durability and preservation of one hundred tropical African woods. Ottawa:<br />
International Development Research Center.<br />
FOX,C.<br />
1999 Cuzco: Back to the future. Unesco Sources 117: 13-14.<br />
FOYLE, A. M., ed.<br />
1954 Conference on Tropical Architecture. A report of the proceedings of the conference held at<br />
University College, London, March 1953. London: George Allen and Unwin.<br />
FRICK,H.<br />
1989 Traditional rural architecture and building methods in the hills of Central-Eastern Nepal.<br />
Liechtenstein: Dome Verlag.<br />
FRY, M.; J. DREW<br />
1956 Tropical architecture in the humid zone. London: B. T. Batsford Ltd.<br />
1964 Tropical architecture in the dry and humid zones. London: B. T. Batsford Ltd.<br />
FULLERTON,R.L.<br />
1977 Building construction in warm climates.Vol.3. Oxford: Oxford University Press.<br />
294
Bibliografia | Edifícios<br />
1978 Building construction in warm climates. Vol. 2. 2nd Edition. Oxford: Oxford<br />
University Press.<br />
1979 Building construction in warm climates. Vol. 1. 2nd Edition. Oxford: Oxford<br />
University Press.<br />
GARDE,F.;BOYER, H.; GATINA,J.C.<br />
1999 Elaboration of global quality stan<strong>da</strong>rds for natural and low energy<br />
cooling in french tropical island buildings. Building and Environment 34: 71-83.<br />
GARDE-BENTALEB, F., et al.<br />
2002 Bringing scientific knowledge from research to the professional fields:<br />
the case of the thermal and airflow design of buildings in tropical<br />
climates. Energy & buildings 34(5): 511-521.<br />
GRENOU, B. van, et al.<br />
1951 Wood preservation during the last 50 years. Leiden: A. W. Sijthoff.<br />
GRONDZIK,W.T.<br />
1987 Environmental control in Arabian buildings. In Cont<strong>em</strong>porary and traditional<br />
Arabian design, review 1987, edited by B. Washburn. Dhahran: College of<br />
Environmental Design, King Fahd University of Petroleum and Minerals,<br />
40-45.<br />
GUIDONI,E.<br />
1978 Primitive architecture. New York: Abrams.<br />
GUT,P.;D.ACKERKNECHT<br />
1993 Climate responsive building. St. Gallen: SKAT.<br />
GWAM,L.C.<br />
1963 First permanent building of the Nigerian National Archives. American<br />
Archivist 26: 67-74.<br />
1966 The construction of archive buildings in tropical countries. In A manual of<br />
tropical archivology, edited by Y. Pérotin. Paris/The Hague: Mouton, 77-92.<br />
HAGAN,S.<br />
2001 Taking shape. Oxford: Butterworth-Hein<strong>em</strong>ann.<br />
HAGMUELLER, G.; E. LIND<br />
1995 Cultural institutions in Laos (II): the Royal Palace Museum of Luang Prabang. Nias<br />
Report, vol. 6. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies.<br />
HARRIS,V.<br />
1993 Going for green: public archives building in South Africa and the<br />
prospects for natural climate control. AMLIB Newsletter 53.<br />
295
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
HASSAN,F.<br />
1986 Natural energy and vernacular architecture: Principles and examples with reference to hotarid<br />
climates. Chicago/London: The University of Chicago Press.<br />
HAVARD-WILLIAMS, P.; J. E. JENGO<br />
1987 Library design and planning in developing countries. Libri 37: 160-176.<br />
HOARE,P.<br />
1978 Consideration of some planning factors and stan<strong>da</strong>rds relating to<br />
university libraries in tropical developing countries. Toktok Bilong Haus Buk<br />
25/26: 16-27.<br />
HOCHSCHILD,A.<br />
2000 The brick master of Kerala. Mother Jones (July/August).<br />
HOLDSWORTH,H.<br />
1959 Library buildings in newly developing countries. Library Trends (Current<br />
trends in newly developing countries) 8(2): 278-290.<br />
1974 Planning libraries in the humid tropics. Overseas Universities 21: 5-11.<br />
HOLM,D.<br />
1983 Energy conservation in hot climates. London: Architectural Press.<br />
HUNDERMAN,H.J.<br />
1988 Humidity and building materials in the museum setting. In The interior<br />
handbook for historic buildings, edited by C. E. Fischer. Washington: Historic<br />
Preservation Education Foun<strong>da</strong>tion, 4.29-4.34.<br />
HURAULT,J.<br />
1997 La conservation des archives locales en Afrique tropicale procédés de<br />
construction et mobilier. Janus 2: 120-128.<br />
IFIDON,B.I.<br />
1990 University library buildings in the tropics. A literature survey. Third World<br />
Libraries 1: 34-39.<br />
IMAI, Kiyoshi<br />
1998 The National Archives Centers in Vietnam. Paper Conservation News 88: 6-7.<br />
JONES,D.J.<br />
1999 Fountain of knowledge: the story of Pustaka Negeri Sarawak. Kuching: Pustaka Negeri<br />
Sarawak.<br />
JOST, H.-P.; J. SCHWARZ<br />
1996 Constructions écologiques de bâtiments d’archives. Janus 2: 97-101.<br />
296
Bibliografia | Edifícios<br />
KEENAN, F. J.; M. TEJADA<br />
1984 Tropical timber for building materials in the Andean Group countries of South America.<br />
Ottawa: IDCR.<br />
KHAYUNDI,F.E.<br />
1995 An overview of preservation and conservation programmes in eastern<br />
and southern Africa. In Proceedings of the Pan-African conference on the preservation<br />
and conservation of library and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993,<br />
edited by J.-M. Arnoult et al. The Hague: IFLA, 31-36.<br />
KING,S.E.<br />
1984 State of the art in passive cooling. In Proceedings of ANZES, edited by R. K. H.<br />
Johnson. Canberra: CCAE.<br />
1993 Building for conservation: appropriate design for environmental control<br />
in the tropics. In Cultural heritage manag<strong>em</strong>ent in Asia and the Pacific: conservation and<br />
policy. Proceedings of a symposium held in Honolulu, Hawaii, Sept<strong>em</strong>ber 8-13, 1991,<br />
edited by M. G. H. MacLean. Marina del Rey: Getty Conservation<br />
Institute, 77-98.<br />
KITCHING,C.<br />
1993 Archive building in the United Kingdom 1977-1992. London: Royal Commission<br />
on Historical Manuscripts.<br />
KOENIGSBERGER, O. H.; R. LYNN<br />
1965 Roofs in the warm humid tropics. London: Lund Humphries for the<br />
Architectural Association.<br />
KOENIGSBERGER, O. H.; T. G. INGERSOLL;S.V.SZOKOLAY<br />
1974 Manual of tropical housing and building. London: Longman.<br />
KOKUSEN<br />
1998 The world cultural heritage in Asian countries sustainable development and conservation. 7th<br />
S<strong>em</strong>inar on the conservation of Asian cultural heritage.Preprints.Tokyo:Tokyo National<br />
Research Institute of Cultural Properties.<br />
KONYA,A.<br />
1984 Design primer for hot climates. London: Architectural Press.<br />
KREMP,V.<br />
2001 A Westerner who has chosen the developing world. International Preservation<br />
News 25: 5.<br />
KUKREJA,C.P.<br />
1978 Tropical architecture. New Delhi: Tata/McGraw-Hill.<br />
297
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
KUMAR,G.<br />
1981 Planning and design of library buildings: the Indian experience. Library<br />
Herald 82(20/2-4): 59-71.<br />
KWASITSU,L.<br />
1987 The University of Calabar, definitive library building: history and future<br />
developments. International Library Review 1987 18: 73-80.<br />
LAALY,H.<br />
1992 The Science and Technology of Traditional and Modern Roofing Syst<strong>em</strong>s:Volume 1 and 2.3rd<br />
Edition. Los Angeles, CA: H. Laaly,<br />
LABS,K.<br />
1980 Terra types: underground housing for arid zones. In Housing in arid lands,<br />
edited by G. Golany. London: The Architectural Press.<br />
LANDAETA, G.; S. LARSSON<br />
1987 Roofs in the warm-humid tropics of South-East Asia.Lund: Lund Centre For Habitat<br />
Studies (LCHS).<br />
LARSEN, K. E.; N. MARSTEIN<br />
2000 Conservation of historic timber structures. An ecological approach. London:<br />
Butterworth.<br />
LEHNBRUCK,M.<br />
1974 Museum architecture. Museum 26(3/4): 128-267.<br />
LEKAUKAU, T. M.; J. A. RITCHIE<br />
1986 Botswana: the National Archives at Gaborone. Archivum 31: 15-25.<br />
LEVIN, J., ed.<br />
2001 Conservation. The Getty Conservation Institute Newsletter (special on<br />
earthen architecture). Published as Conservation 16(1).<br />
LEWCOCK,R.<br />
1978 Traditional architecture in Kuwait and the Northern Gulf. London: Art and<br />
Archeology Research Papers.<br />
LING,T.<br />
1998 Solid, safe, secure: building archives repositories in Australia. Canberra: National<br />
Archives of Australia, 1998.<br />
LIPPSMEIER,J.G.<br />
1980 Building in the tropics. Munich: Callwey.<br />
298
Bibliografia | Edifícios<br />
LONG, Yuchuen<br />
1991 Discussion of the guiding ideology of buildings for archives in P. R. China.<br />
Atlanti: 34-35.<br />
MACLEOD,D.<br />
1993 Guidelines for the identification of appropriate building construction methods in developing<br />
areas. Halfway House: Development Bank of Southern Africa.<br />
MAHMUD, K.; B. U. NWAFOR, ed.<br />
1985 Tropical library architecture. Proceedings of a s<strong>em</strong>inar held at Ahmadu Bello University,<br />
Zaria, Nigeria 30-31 May, 1980. Zaria: Kashim Ibrahim Library.<br />
MARSHALL,D.N.<br />
1975 University library buildings in tropical regions. Timesless Fellowship 1974/<br />
75(9): 101-106.<br />
MELET,E.<br />
1999 Sustainable architecture: towards a diverse built environment. Rotter<strong>da</strong>m: NAI<br />
Publishers.<br />
MINISSI,F.<br />
1965 The new National Museum of Ghana, Accra. Museum 18(3): 160-167.<br />
MOORE,F.<br />
1983 Learning from the past passive cooling strategies in traditional and<br />
cont<strong>em</strong>porary architecture. In Proceedings of Islamic architecture and urbanism,<br />
edited by A. Germen. Damman: King Faisal University.<br />
MORENO, S., et al.<br />
1991 Arquitectura para el tropico humedo [Architecture for the humid<br />
tropics]. Proa 406 (Special issue): 12-36.<br />
MUKERJI,K.<br />
1988 Global Review of Traditional Roof Constructions and General Discussion of Roof Types and<br />
Design Guidelines. 3rd Edition. New York: UNIDO.<br />
NOERLUND, I.; J. PALM;S.RASMUSSEN<br />
1991 Cultural institutions in Laos (I): libraries and research institutions, restoration, conservation<br />
and training needs.Nias Report, vol. 5. Copenhagen: Nordic Institute of Asian<br />
Studies.<br />
NOR,K.H.<br />
1986 The Malaysian National Archives building in Kuala Lumpur. Archivum 31: 67.<br />
299
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
NWAFOR,B.U.<br />
1980 Stan<strong>da</strong>rds for Nigerian acad<strong>em</strong>ic library buildings. Nigerian Libraries 16: 71-78.<br />
1981 The spine in the heart: the University of Jos in search for a library<br />
building model. College and Research Libraries News 42: 447-455.<br />
NWAMEFOR,A.C.<br />
1975 Nigerian studies: planning library buildings for Nigerian universities.<br />
International Library Review 7: 67-76.<br />
OUEDRAOGO,D.<br />
1999 La construction du dépot central des Archives Nationales du Burkina<br />
Faso. Archivum 44: 171-182.<br />
OZOWA,V. N.<br />
1988 Planning university library buildings in Nigeria. International Library Review<br />
20: 375-386.<br />
PACKMAN,J.<br />
1967 Planning of new library buildings for the university of Ile-Ife (Nigeria).<br />
Nigerian Libraries 3: 96-98.<br />
PADFIELD,T.<br />
1987 Water vapour transfer between absorbent materials at different<br />
t<strong>em</strong>peratures. ICCM Bulletin (Australia) 13: 43-55.<br />
1999 The role of absorbent building materials in moderating changes of relative humidity. PhDthesis.<br />
Published as Report from the Department of Structural<br />
Engineering and Materials.The Technical University of Denmark. Series R<br />
no. 54. The Technical University of Denmark. Department of Structural<br />
Engineering and Materials.<br />
PADFIELD,T.;P.JENSEN<br />
1990 Low energy climate control in museum stores. In ICOM-CC 9th Triennial<br />
Meeting Dresden, German D<strong>em</strong>ocratic Republic 26-31 August 1990. Preprints (1). Los<br />
Angeles: ICOM, 596-601.<br />
PAMA,R.P.;D.J.COOK<br />
1978 Materials of construction for developing countries. Klongluang: Asian Institute of<br />
Technology.<br />
PIANO,R.<br />
1998 Sustainable architectures Arquitecturas sostenibles. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.<br />
PLUMBE,W.J.<br />
1959a<br />
Introduction. LibraryTrends (Current trends in newly developing countries)<br />
8(2): 125-129.<br />
300
Bibliografia | Edifícios<br />
1959b<br />
1987a<br />
Preservation of library materials in tropical countries. Library Trends<br />
(Current trends in newly developing countries) 8(2): 291-306.<br />
Preservation of books and periodicals in Arab countries. In Tropical<br />
Librarianship, edited by W. J. Plumbe. New York: Metuchen, 217-222.<br />
1987b<br />
Climate as a factor in the planning of university library buildings. In<br />
Tropical Librarianship, edited by W. J. Plumbe. New York: Metuchen, 19-52.<br />
RAUCH,E.<br />
1984 Rodent and termite proofing of buildings. St. Gallen: SKAT.<br />
RAY-JONES, A.; E. MAKI,W.;MCDONOUGH,S.Nikken;KABUSHIKI KAISHA<br />
2000 Sustainable architecture in Japan: the green buildings of Nikken Sekkei. New York;<br />
Chichester: Wiley-Acad<strong>em</strong>y.<br />
RHYS-LEWIS,J.<br />
1999 The role of conservation and preservation in the archives of developing<br />
countries: observations based on missions to Kenya, Ugan<strong>da</strong> and<br />
Vietnam. Archivum 44: 157-170.<br />
2000 National archives of Ugan<strong>da</strong>: Determination is all that it takes. International<br />
Preservation News 22/23: 19-21.<br />
ROAF,S.<br />
2001 Ecohouse: a design guide. Oxford: Architectural Press.<br />
ROMBAUTS,W.<br />
1996 Quelques problèmes concernant la construction des bâtiments d’archives<br />
et des matériaux utilisés en Europe. Janus 2: 87-96.<br />
ROSENLUND,H.<br />
1989 Design of energy efficient houses in a hot and arid climate including utilization of passive<br />
solar energy. Lund: Lund Centre For Habitat Studies (LCHS).<br />
1993 Desert buildings: a parametric study on passive climatisation. Lund: Lund University.<br />
ROSENLUND, H.; D. OUAHRANI;E.JOHANSSON<br />
1997 Architecture a<strong>da</strong>ptée aux zones arides. Lund: Lund University.<br />
ROUSSET DE PINA,J.<br />
1961 Construction of libraries in tropical countries. Unesco Bulletin for Libraries 15:<br />
263-270.<br />
ROWOLDT,S.<br />
1993 The greening of archive buildings: natural air-conditioning in the<br />
Southern African context. Janus 2: 36-41.<br />
301
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1994 The ‘greening’ of archives buildings: the implications of impl<strong>em</strong>enting<br />
‘natural’ air-conditioning in the Southern African context. Archives News<br />
37(6).<br />
ROYAL TROPICAL INSTITUTE, ed.<br />
1962 Literature on building and housing in the tropics.Amster<strong>da</strong>m: Royal Tropical Institute.<br />
SACRÉ, C., et al.<br />
1992 Guide sur la climatisation naturelle de l’habitat en climat tropical humide: méthodologie de<br />
prise en compte des paramètres climatiques <strong>da</strong>ns l’habitat et conseils practiques.Paris: CSTB.<br />
SAINI,B.S.<br />
1970 Architecture in tropical Australia. Architectural Association Paper 6. London:<br />
Lund Humphries for the Architectural Association.<br />
1980 Building in hot dry climates. New York; Chichester: Wiley.<br />
SALMON,C.<br />
1999 Architectural design for tropical regions. New York; Chichester: Wiley.<br />
SANCHEZ BELDA,L.<br />
1964 Construction of archives buildings in the last ten years. Unesco Bulletin for<br />
Libraries 18(1): 21.<br />
SAQUET,J.L.<br />
1991 Architecture tropicale de Tahiti «te Fare». Papeete: Polymages-Scoop.<br />
SCHRECKENBACH,H.<br />
1982 Construction technology for a tropical developing country. Eschborn: GTZ.<br />
SCHROEDER, H., ed.<br />
1989 Planning and building in the tropics: reports. Weimar: Hochschule für Architektur<br />
und Bauwesen.<br />
SEGAWA,H.<br />
1992 Radicalismo tropical: la Amazonia contexttualiza<strong>da</strong> [Tropical radicalism:<br />
Amazonia contextualised]. Arquitectura Viva 25:26-29.<br />
SIERIG, J., ed.<br />
1991a<br />
1991b<br />
1991c<br />
Tropical wood. Stuttgart: IRB-Verlag.<br />
Local materials in construction in developing countries. Stuttgart: IRB-Verlag.<br />
Timber constructions in developing countries. Stuttgart: IRB-Verlag.<br />
SINGH,R.<br />
1982 Building, furniture and equipment for special libraries. Herald of Library<br />
Science 21(3/4): 227-238.<br />
302
Bibliografia | Edifícios<br />
SLESSOR,C.;J.LINDEN<br />
1997 Eco-tech:sustainable architecture and high technology.London:Thames and Hudson.<br />
SMITH,P.<br />
2001 Architecture in a climate of change. Oxford: Architectural Press.<br />
2002 Sustainability at the cutting edge. Oxford: Architectural Press.<br />
SOEMARTINI<br />
1986 Le bâtiment des archives nationales de la république d’Indonésie à<br />
Jakarta. Archivum 31: 62-63.<br />
SPERLING,R.<br />
1970 Roofs for warm climates. London: Her Majesty’s Stationary Office.<br />
STEELE,J.<br />
1997 Sustainable architecture: principles, paradigms, and case studies. New York: McGraw-Hill.<br />
STEHKÄMPER,H.<br />
1988 Natural air-conditioning of stacks. Restaurator 9: 163-177.<br />
STEIN,W.H.<br />
1992 Fragen der Anwendung des Kölner Modells im Archivbau. Der Archivar<br />
45(3): 409-424.<br />
STULZ,R.<br />
1980 El<strong>em</strong>ents of solar architecture for tropical regions. St. Gallen: SKAT.<br />
2000 Roofing Primer-a catalogue of potential solutions. St. Gallen: SKAT.<br />
STULZ, R.; K. MUKERJI<br />
1993 Appropriate building materials. St. Gallen: SKAT/IT/GATE.<br />
SWARTZBURG, S. G.; H. BUSSEY<br />
1991 Libraries and archives: design and renovation with a preservation perspective. Metuchen,<br />
NJ: The Scarecrow Press.<br />
TACK,C.H.<br />
1980 Preservation of timber for tropical building. In Building in hot climates. A<br />
selection of overseas building notes, edited by [Overseas Division of the Building<br />
Research Establishment]. London: Her Majesty’s Stationary Office, 239-253.<br />
THE WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT DEVELOPMENT<br />
1987 Our common future. London: Oxford University Press.<br />
303
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
THOMAS,D.<br />
1988 Archive buildings: international comparisons. Journal of the Society of Archivists<br />
9(1): 38-44.<br />
THOMAS,D.L.<br />
1987 Study on control of security and storage of holdings. A Ramp study with guidelines. Paris:<br />
UNISIST.<br />
THOMSON,G.<br />
1974 Climate and the museums in the tropics. In Conservation in the tropics, edited<br />
by O. P. Agrawal. Rome: 37-52.<br />
TOISHI,K.<br />
1974 Tropical climate and new concrete building for a museum. In Conservation<br />
in the tropics, edited by O. P. Agrawal. Rome: 53-58.<br />
1979 Tropical climate and new concrete buildings for a museum. In Proceedings<br />
of Regional s<strong>em</strong>inar on the conservation of cultural materials in humid climates, edited by<br />
C. Pearson. Canberra: AGPS.<br />
TOLEDO,F.;C.PRICE<br />
1998a A note on tropical, hot, and humid museums. Journal of Conservation and<br />
Museum Studies 4.<br />
TOLEDO,F.;C.PRICE<br />
1998b A note on the performance of three museum buildings in Northeast<br />
Brazil. In Site effects: the impact of location on conservation treatments. Preprints of the<br />
SSCR conference held in Dundee, 5 and 6 May 1998, edited by M. M. Wright and<br />
Y. M. T. Player-Dahnsjö. Dundee: SSCR, 63-69.<br />
TZONIS, A.; L. LEFAIVRE;B.STAGNO, ed.<br />
2001 Tropical architecture: critical regionalism in the age of globalization. London: Wiley-<br />
-Acad<strong>em</strong>y<br />
VALE, B.; R. J. D.VALE<br />
1991 Green architecture: design for a sustainable future. London: Thames and Hudson.<br />
WAAL,H.B.de<br />
1993 New recommen<strong>da</strong>tions for building in tropical climates. Building and<br />
Environment 28(3): 271-285.<br />
WHITEHILL,W.M.<br />
1968 Report on Professional and Public Education for Historic Preservation. Submitted 15<br />
April 1968 to the Trustees of the National Trust for Historic Preservation<br />
by the Committee on Professional and Public Education for Historic<br />
Preservation (Whitehill Report).<br />
304
Bibliografia | Edifícios<br />
WINTERHALTER,C.P.<br />
1982 Environmental control in the indigenous architecture of the Eastern<br />
province of Saudi Arabia. Journal of Science and Engineering 7(2): 111-121.<br />
YANG, K. H.; M. M. TING<br />
2000 An innovative analysis and experimental investigation on energy savings<br />
of a VAV syst<strong>em</strong> in hot and humid climates. Building and Environment 35(1):<br />
27-31.<br />
YAO YU-CHENG<br />
1986 China’s archive buildings: past and present. Mitteilungen des Oesterreichischen<br />
Staatsarchivs 39: 218-220.<br />
YEANG,K.<br />
1999 The green skyscraper: the basis for designing sustainable intensive buildings. New York:<br />
Prestel.
5<br />
Armazenamento<br />
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION<br />
1993 Stan<strong>da</strong>rds for ethical conduct for rare books, manuscripts, and special<br />
collections librarians, with guidelines for institutional practice in<br />
support of the stan<strong>da</strong>rds, 2nd edition, 1992. College and Research Libraries<br />
News 54(4): 207-215.<br />
ADAMSON, B.; M. NYSTRÖM<br />
1993a Indoor climate and passive climatization. Lund: Lund University.<br />
ADAMSON,B.;O.ABERG<br />
1993b Design for climatization, houses in warm-humid areas. Lund: Lund Centre For<br />
Habitat Studies (LCHS).<br />
ADEFARATI,F.B.<br />
1980 Paints and painting probl<strong>em</strong>s in the tropics. Journal of the Oil and Colour<br />
Ch<strong>em</strong>ists’Association.<br />
AGEBUNDE,J.A.<br />
1984 Probl<strong>em</strong>s of interlibrary photocopying practice: a user’s view in relation<br />
to preservation of library materials. Nigerian Library and Information Science<br />
Review 2: 19-88.<br />
AGRAWAL,O.P.<br />
1977 Environment and preservation of paper. Conservation of Cultural Property in India 10.<br />
1993 Preservation of art objects and library materials. New Delhi: National Book Trust.<br />
AGRAWAL, O. P.; S. J. BAXI<br />
1974 Climate and museum architecture in South and South-East Asia. Museum<br />
26(3/4): 269-273.<br />
307
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
AKUSSAH,H.<br />
1989 Information resource manag<strong>em</strong>ent in Ghana. The case of the National<br />
Archives. IRM Journal.<br />
ANÓNIMO<br />
1961 Air conditioning requir<strong>em</strong>ents in the tropics. Heating and Ventilating Engineer<br />
(Dec.).<br />
ANÓNIMO<br />
1993 Preservation consulting in Latin America. Abbey Newsletter 17(1): 4.<br />
ARANYANAK,C.<br />
1988 Control of museum climate in Thailand. In Control of museum climate in Asia<br />
and the Pacific Area, edited by Kamba et al. Kyoto: Japanese Organizing<br />
Committee for the ICC Congress, 11-20.<br />
ARNOULT, J.-M.<br />
2000 Libraries of the ancient cities of Mauritania. International Preservation News 21: 21.<br />
AZIAGBA,P.C.<br />
1991 Deterioration of library and archival materials in the Delta Region of<br />
Nigeria. International Library Review 23: 73-81.<br />
BALLARD,M.W.<br />
1992 Climate and conservation. In Papers delivered at the Textile Subgroup Session, AIC<br />
20th Annual Meeting, Buffalo, New York, June 1992.Textile Speciality Group Postprints ,<br />
edited by S.Thomassen-Krauss, L. Eaton and S.L. Reiter. Washington: AIC,<br />
31-45.<br />
BANERJEE,D.N.<br />
1997 The preservation of documents against disasters: the challenge before the<br />
Indian Libraries. In Preparing for preservation environment: against severe climate and<br />
various disasters. Proceedings of the 7th Annual Symposium on Preservation, National Diet<br />
Library. Tokyo: Japan Library Association, 131-136.<br />
BANKS,P.<br />
1999 Overview of alternative space options for libraries and archives. In 14th<br />
Annual Preservation Conference, held on March 25, 1999. Washington:<br />
NARA. Online publication http://www.archives.gov/preservation/<br />
storage/overview-alt-space.html [accessed April 4 2006].<br />
BAXI,S.J.<br />
1974 Climate and museum architecture in the tropics. In Conservation in the tropics,<br />
edited by O. P. Agrawal. Rome, 69-73.<br />
308
Bibliografia | Armazenamento<br />
BELLARDO,L.<br />
1995 Low energy, low technology, low toxicity approaches to preservation.<br />
Abbey Newsletter 19(1): 9-12.<br />
BERDIGALIEVA,R.<br />
1995 Rare books are wrapped into red silk the National Library of Kazakhstan.<br />
International Preservation News 9: 10-11.<br />
BLADES,N.;T.ORESZCZYN,B.BORDASS;M.CASSAR<br />
2000 Guidelines on pollution control in museum buildings. London: Museum Association.<br />
BOUSTEAD,W.M.<br />
1968 Dehumidification in museum storage areas. In London Conference on Museum<br />
Climatology, edited by G.Thomson. IIC: 103-107.<br />
1969 Probl<strong>em</strong>s of art conservation. H<strong>em</strong>isphere 13(4).<br />
BROMMELLE,N.S.<br />
1968a<br />
Lighting, air-conditioning, exhibition, storage, handling and packing. In<br />
The conservation of cultural property: with special reference to tropical conditions. Paris:<br />
Unesco, 291-302.<br />
1968b<br />
The conservation of museum objects in the tropics. In London Conference on<br />
Museum Climatology, edited by G. Thomson. IIC: 139-149.<br />
BUCHMANN,W.<br />
1998 Preservation: Buildings and equipment. Janus 1: 49-63.<br />
CHAPMAN,J.A.<br />
1919 An enquiry into the causes of perishing of paper. Calcutta Review (July):<br />
301-307.<br />
1920 The perishing of paper, II. Calcutta Review (July): 233-246.<br />
CHONG,A.C.M.<br />
1990 Museum environment in the tropics focusing on Sabah Museum. PhD-thesis. London:<br />
University College, Institute of Archaeology.<br />
CHRISTENSEN,C.<br />
1989 Good housekeeping. The National Trust.<br />
CHRISTOFFERSON,L.D.<br />
1995 Zephyr. Passive climate controlled repositories. Storage facilities for museum, archive and<br />
library purposes. Lund: Lund University.<br />
309
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
CLEMENTS, D. W. G., et al.<br />
1989 Review of training needs in preservation and conservation. Paris: UNESCO.<br />
COATES,P.R.<br />
1995 Preservation in South Africa - The present situation. In Proceedings of the Pan-<br />
African conference on the preservation and conservation of library and archival materials.<br />
Nairobi,Kenya:21-25 June 1993, edited by J-M.Arnoult et al.The Hague: IFLA,<br />
37-40.<br />
2001 JICPA survey of conservation facilities and experts in Africa. International<br />
Preservation News: 33-35.<br />
COREMANS,P.<br />
1968 Climate and microclimate. In The conservation of cultural property: with special<br />
reference to tropical conditions. Paris: Unesco, 27-40.<br />
COTTELL, L. W.; S. OLAREWAJU<br />
1983 Tropical refrigeration and air-conditioning. London: Longman.<br />
DANIEL,V;C. PEARSON;I.COLE;W.GANTHER;S.KING<br />
2000 Behaviour of museum buildings in tropical climates. In IIC Melbourne<br />
Congress 2000. Tradition and innovation: advances in conservation, edited by A. Roy<br />
and P. Smith. London: ICC, 45-50.<br />
DARTNALL,J.<br />
1988 Library conservation in the tropics. Education for Librarianship (Australia)<br />
5(1): 10-17.<br />
DATTA,D.G.<br />
1969 Care and preservation of rare library materials. Calcutta Indian Association of<br />
Special Libraries and Information Centres Bulletin (IASLIC) 14: 97-101.<br />
DAVISON,S.<br />
1981 Conservation of museum objects in tropical conditions. In Conservation of<br />
museum objects in the tropical conditions, edited by S. McCredle et al. Kuala<br />
Lumpur, 5-9.<br />
DEAN,J.F.<br />
2000 Collections care in Southeast Asia: Conservation and the need for the<br />
creation of micro-environments. In A reader in preservation and conservation,<br />
edited by R. W. Manning, and V. Kr<strong>em</strong>p. München: Sauer, 92-111.<br />
DOE,B.<br />
1965 Notes on museum and art gallery lighting in the tropics. Studies in<br />
Conservation 10: 64.<br />
310
Bibliografia | Armazenamento<br />
DRUMMOND,M.<br />
1999 Practical climate control at the Meseu Mineiro, Belo Horizonte, Brazil: a<br />
cheap and simple solution. In ICOM-CC 12th Triennial Meeting, Lyon, 29 August-<br />
3 Sept<strong>em</strong>ber 1999. Preprints (1). London: James and James, 42-45.<br />
DUCHEIN,M.<br />
1988 Archive buildings and equipment. München: Saur.<br />
EGBOR,A.A.<br />
1985 Air conditioning and the tropical university library. In Tropical library<br />
architecture. Proceedings of a s<strong>em</strong>inar held at Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria 30-31<br />
May,1980, edited by K. Mahmud and B. U. Nwafor. Zaria: Kashim Ibrahim<br />
Library.<br />
ERHARDT, D.; M. MECKLENBURG<br />
1994 Relative humidity re-examined. In Preventive conservation practice, theory and<br />
research: Preprints of the contribution to the Ottawa congress, 12-16 Sept<strong>em</strong>ber 1994,<br />
edited by A. Roy and P. Smith. London: ICC, 32-38.<br />
ESTEVA,M.<br />
1993 Mass preservation project in Asunción, Paraguay. Abbey Newsletter 17(1): 8.<br />
EZENNIA,S.E.<br />
1989 The Harmattan and library resources manag<strong>em</strong>ent in Nigeria: an<br />
appraisal of effects, probl<strong>em</strong>s, and prospects. Library and Archival Security<br />
9(2): 43-48.<br />
EZENNIA, S. E.; E. O. ONWUKA<br />
1995 The battle for preservation of library materials in Nigeria. Library and<br />
Archival Security 13(1): 29-39.<br />
FORDE,H.<br />
1991 The education of staff and users for the proper handling and care of archival materials. A<br />
RAMP study with guidelines. Paris: UNESCO.<br />
FREEMANTLE,E.<br />
1988 Humidity control for small volumes. In Control of museum climate in Asia and<br />
the Pacific Area, edited by Kamba et al. Kyoto: Japanese Organizing<br />
Committee for the ICC Congress.<br />
FRÖJD, I.; J. MCINTYRE;B.BANKS; J.-M. DUREAU;Y. OGAWA;M.PANDZIC<br />
1997 Guidelines on disaster prevention and control in archives. Paris: ICA.<br />
311
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
GANSUKH, Ganjav<br />
1997 Peculiarities of Mongolian sutras and their preservation. In Preparing for<br />
preservation environment: against severe climate and various disasters. Proceedings of the 7th<br />
Annual Symposium on Preservation, National Diet Library. Tokyo: Japan Library<br />
Association, 165-170.<br />
GIESE,D.<br />
1995 Preservation in the tropics. National Library of Australia News 5(8):12-15.<br />
GROVE,L.E.<br />
1961 What good is Greenland. New thinking on book preservation and<br />
t<strong>em</strong>perature. Wilson Library Bulletin 36(9): 749, 757.<br />
GUT,P.;D.ACKERKNECHT<br />
1993 Climate responsive building. St. Gallen: SKAT.<br />
GWAM,L.C.<br />
1963 First permanent building of the Nigerian National Archives. American<br />
Archivist 26: 67-74.<br />
HAGMUELLER, G.; E. LIND<br />
1991 Cultural institutions in Laos (II): the Royal Palace Museum of Luang Prabang: general<br />
condition, conservation and restoration needs 1991. Nias Report, vol. 6. Copenhagen:<br />
Nordic Institute of Asian Studies.<br />
HAVERMANS,J.;R.vanDEVENTER;R.vanDONGEN;F.FLIEDER;F.DANIEL;P.KOLSETH;T.IVERSEN;<br />
H. LENNHOLM;O.LINDQVIST;A.JOHANSSON<br />
1994 The effects of air pollutants on the accelerated ageing of cellulose containing materials-paper.<br />
STEP project CT 90-0100. Part 1-3. Delft: TNO.<br />
HUNDIUS,H.<br />
2000 Preservation of Lao manuscripts programme. In Proceedings of the international<br />
meeting on microform preservation and conservation practices in Southeast Asia: assessing<br />
current needs and evaluating past projects, (Chiang Mai, Feb. 21-24, 2000), edited<br />
by R. Abhakorn, N. Vaneesorn, A. Trakarnpan and T. Easum. Chiang Mai:<br />
Chiang Mai University, 313-317.<br />
HURAULT,J.<br />
1997 La conservation des archives locales en Afrique tropicale procédés de<br />
construction et mobilier. Janus 2: 120-128.<br />
JOSHI,Y.<br />
1995 Protections of collections from <strong>da</strong>mage caused by pollutions. In Proceedings<br />
of the Pan-African conference on the preservation and conservation of library and archival<br />
materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited by J.-M. Arnoult et al. The<br />
Hague: IFLA, 71-76.<br />
312
Bibliografia | Armazenamento<br />
JOURDAIN,C.<br />
1990 Méthodes traditionnelles et locales de conservation des objects<br />
ethnographiques <strong>da</strong>ns diverses régions africaines. In ICOM-CC 9th Triennial<br />
Meeting Dresden, German D<strong>em</strong>ocratic Republic 26-31 August 1990. Preprints (1). Los<br />
Angeles: ICOM, 174-180.<br />
KAMBA,N.<br />
1987 A study of natural materials as RH buffers and application to a showcase.<br />
In IIC 8th Triennial Meeting, Sydney 6-11 Sept<strong>em</strong>ber 1987. Preprints. 875-879.<br />
KAMBA, N.; S. T. MIURA, ed.<br />
1988 Control of museum climate in Asia and the Pacific Area. Kyoto: Japanese Organizing<br />
Committee for the ICC Congress.<br />
KARIM,K.M.<br />
1988 Archives administration. Dhaka: Kanak Prokshaani.<br />
KATHPALIA,Y. P.<br />
1973 Conservation and restoration of archive materials. Documentation, Libraries and<br />
Archives: Studies and Research 3. Paris: UNESCO.<br />
KENJO, Toshiko<br />
1987 Investigation of sun shining at a Japanese historical wooden building by<br />
use of photo-monitoring strips. In ICOM-CC 8th Triennial Meeting, Sydney,<br />
Australia 6-11 Sept<strong>em</strong>ber 1987. Preprints (3). Los Angeles: Getty Conservation<br />
Institute, 881-884.<br />
1997 Preservation environment of stacks and anti-disaster measure in Japan. In<br />
Preparing for preservation environment: against severe climate and various disasters.<br />
Proceedings of the 7th Annual Symposium on Preservation, National Diet Library. Tokyo:<br />
Japan Library Association, 171-187.<br />
2000 Preservation environment in library stacks and anti-disaster measures. In<br />
A reader in preservation and conservation, edited by R. W. Manning, and V. Kr<strong>em</strong>p.<br />
München: Sauer, 119-127.<br />
KUMAR,G.<br />
1981 Planning and design of library buildings: the Indian experience. Library<br />
Herald 82(20/2-4): 59-71.<br />
LAUER,P.<br />
1979 The economy of artifact storage. In Regional s<strong>em</strong>inar on the conservation of cultural<br />
materials in humid climates. Canberra, 19-23 February 1979, edited by C. Pearson.<br />
Canberra: Australian Government Publication Services.<br />
313
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
LEE, Su Eun<br />
1997 The current situation and plans for preserving materials in the National<br />
Library of Korea. In Preparing for preservation environment: against severe climate and<br />
various disasters. Proceedings of the 7th Annual Symposium on Preservation, National Diet<br />
Library. Tokyo: Japan Library Association, 137-148.<br />
LI, Yuhu<br />
1995 Chinese inventions for restoring and protecting deteriorated writings.<br />
International Preservation News 9: 9.<br />
LING,T.<br />
1998 Solid, safe, secure: building archives repositories in Australia. Canberra: National<br />
Archives of Australia, 1998.<br />
LULL,W.P.;P.BANKS<br />
1995 Conservation environment guidelines for libraries and archives. Ottawa: Canadian<br />
Council of Archives.<br />
MACKENZIE,G.P.<br />
1996 Establishing a preservation programme. Janus 1: 86-99.<br />
NATIONAL ARCHIVES OF AUSTRALIA<br />
1997 Guidelines for mobile shelving for archives, libraries and museums. Canberra: NAA.<br />
NOERLUND, I.; J. PALM;S.RASMUSSEN<br />
1991 Cultural institutions in Laos (I): libraries and research institutions, restoration, conservation<br />
and training needs. NIAS Report, vol. 5. Copenhagen: Nordic Institute of Asian<br />
Studies.<br />
NWAFOR,B.U.<br />
1980 Stan<strong>da</strong>rds for Nigerian acad<strong>em</strong>ic library buildings. Nigerian Libraries 16:<br />
71-78.<br />
OBASI,J.U.<br />
1980 Primary source materials for social research in Nigeria. Probl<strong>em</strong>s of<br />
storage and preservation. African Research Documentation 24: 14-18.<br />
OLIVEIRA, A. de; M. de SOUZA CHAGAS<br />
1983 A tropical experiment: the Museu do Homen do Nordeste, Recife. Museum<br />
138(1): 181-185.<br />
PADFIELD,T.;P.JENSEN<br />
1990 Low energy climate control in museum stores. In ICOM-CC 9th Triennial<br />
Meeting Dresden, German D<strong>em</strong>ocratic Republic 26-31 August 1990. Preprints (1). Los<br />
Angeles: ICOM, 596-601.<br />
314
Bibliografia | Armazenamento<br />
PASCOE,M.W.<br />
1988 Impact of environmental pollution on the preservation of archives and records.A RAMP study.<br />
Paris: UNESCO.<br />
PEARSON,C.<br />
1988 The probl<strong>em</strong>s of environmental control in Pacific Island Museums. In<br />
Control of museum climate in Asia and the Pacific Area, edited by Kamba et al.<br />
Kyoto: Japanese Organizing Committee for the ICC Congress.<br />
1997 Preserving collections in tropical countries. Conservation: the GCI Newsletter<br />
12(2): 17-18.<br />
PÉROTIN,Y.<br />
1966 A manual of tropical archivology. Paris/The Hague: Mouton.<br />
PLUMBE,W.J.<br />
1958 Storage and preservation of books, periodicals and newspapers in<br />
tropical climates. Unesco Bulletin for Libraries 12(7): 156-162.<br />
1959 Preservation of library materials in tropical countries. Library Trends 8(2):<br />
291-306.<br />
1961 Furniture and equipment in tropical libraries. Unesco Bulletin for Libraries 15:<br />
271-276.<br />
1964 Storage and preservation of books, periodicals and newspapers in tropical climates: a select<br />
bibliography. Paris: UNESCO.<br />
1987 Climate as a factor in the planning of university library buildings. In<br />
Tropical Librarianship, edited by W. J. Plumbe. New York: Metuchen, 19-52.<br />
1987a<br />
Preservation of books and periodicals in Arab countries. In Tropical<br />
Librarianship, edited by W. J. Plumbe. New York: Metuchen, 217-222.<br />
PORCK, H.; R. TEYGELER<br />
2000 Preservation science survey.An overview of recent developments in research on the conservation<br />
of selected analog library and archival materials. Washington D. C.: Council on<br />
Library and Information Resources.<br />
RAPHAEL,B.<br />
1993 Preventive conservation in Latin America. Abbey Newsletter 17(5): 67.<br />
READ,F.<br />
1994 Preventive conservation. Online publication: http://www.meaco.com/<br />
preventa. htm [accessed April 4 2006].<br />
315
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
RHYS-LEWIS,J.<br />
1999 The role of conservation and preservation in the archives of developing<br />
countries: observations based on missions to Kenya, Ugan<strong>da</strong> and Vietnam.<br />
Archivum 44: 157-170.<br />
ROSENBERG,A.<br />
1986 Report on a visit to the National Museums of Gabon, Central Africa. In<br />
Symposium 86.The care of ethnological materials, edited by R. Barclay, M. Gilberg,<br />
J. C. McCawley, T. Stone. Ottawa: CCI, 254-258.<br />
ROSENBERG,D.<br />
1995 Every<strong>da</strong>y care of books in libraries. In Proceedings of the Pan-African conference<br />
on the preservation and conservation of library and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25<br />
June 1993, edited by J.-M. Arnoult et al. The Hague: IFLA, 77-88.<br />
ROUSSET DE PINA,J.<br />
1961 Construction of libraries in tropical countries. Unesco Bulletin for Libraries 15:<br />
263-270.<br />
SCHÜLLER,D.<br />
2000 Audio and video materials in tropical countries. International Preservation News<br />
21: 4-9.<br />
SCOTT,G.<br />
1994 Moisture, ventilation and mould growth. In Preventive conservation practice,<br />
theory and research: Preprints of the contribution to the Ottawa congress, 12-16 Sept<strong>em</strong>ber<br />
1994, edited by A. Roy and P. Smith. London: ICC, 149-153.<br />
SHAHANI, C.; F. H. HENGEMIHLE;N.WEBERG<br />
1995 The effect of fluctuations in relative humidity on library and archival<br />
materials and their aging within contained microenvironments. In<br />
Proceedings of the Pan-African conference on the preservation and conservation of library and<br />
archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited by J.-M. Arnoult et al.<br />
The Hague: IFLA, 61-70.<br />
SINGH,R.<br />
1982 Building, furniture and equipment for special libraries. Herald of Library<br />
Science 21(3/4): 227-238.<br />
STOLOW,N.<br />
1966 Fun<strong>da</strong>mental case design fore humidity sensitive collections. Museum News<br />
(Feb.): 45-52.<br />
316
Bibliografia | Armazenamento<br />
SU, Jui-Ping<br />
1979 The conservation and restoration of painting and calligraphy in the<br />
National Palace Museum. In Preservation of cultural properties and traditions.<br />
Proceedings of the second Asian-Pacific conference 28 May-2 June, Seoul, edited by W. K.<br />
Lee. 25-32.<br />
SWARNAKAMAL<br />
1975 Protection and conservation of museum collection. Baro<strong>da</strong>: Museum and Picture<br />
Gallery.<br />
THOMAS,D.L.<br />
1987 Study on control of security and storage of holdings. A Ramp study with guidelines. Paris:<br />
UNISIST.<br />
THOMSON,G.<br />
1994 The museum environment. Oxford: Butterworth-Hein<strong>em</strong>ann.<br />
TLALANYANE,T.<br />
1989 The care and handling of books and book repair. Botswana Library Association<br />
Journal 11: 7-18.<br />
TOLEDO,F.;C.PRICE<br />
1998 A note on the performance of three museum buildings in Northeast<br />
Brazil. In Site effects: the impact of location on conservation treatments. Preprints of the<br />
SSCR conference held in Dundee, 5 and 6 May 1998, edited by M. M. Wright and<br />
Y. M. T. Player-Dahnsjö. Dundee: SSCR, 63-69.<br />
WAGNER,A.<br />
1985 Sierra Leone: Development of the National Archives and Records Archives Service. Paris:<br />
UNESCO.<br />
WILLS,P.<br />
1987 New directions of the ancient kind: conservation traditions in the Far<br />
East. The Paper Conservator 11: 36-38.<br />
YAO YU-CHENG<br />
1986 China’s archive buildings: past and present. Mitteilungen des Oesterreichischen<br />
Staatsarchivs 39: 218-220.<br />
317
6<br />
Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
AARSON,J.A.<br />
1989 Contingency and response manag<strong>em</strong>ent: lessons from Hurricane Gilbert.<br />
In Disaster planning in Jamaica: safeguarding documents and vital <strong>da</strong>ta, edited by H.<br />
Brown. Kingston: Jamaica Library Association, 39-44.<br />
ABBOTT,P.L.<br />
2002 Natural disasters. Boston: McGraw-Hill.<br />
AGBABIAN, M. S.; S. F. MASRI;R.L.NEGBOR<br />
1990 Evaluation of seismic mitigation measures for art objects. Marina del Rey: Getty<br />
Conservation Institute.<br />
AGBABIAN, M. S.; W. S. GINELL,S.F.MASRI;R.L.NEGBOR<br />
1991 Evaluation of earthquake <strong>da</strong>mage mitigation methods for museum<br />
objects. Studies in Conservation 36: 111-120.<br />
AGEBUNDE,J.A.<br />
1988 Security needs of a typical Nigerian acad<strong>em</strong>ic library. Nigerian Library and<br />
Information Science Review 6(2).<br />
ALEGBELEYE,G.O.<br />
1993 Disaster control planning in libraries,archives and electronic <strong>da</strong>ta processing centres in Africa.<br />
Iba<strong>da</strong>n: Options Books and Information Services.<br />
1999 The role of the joint IFLA/ICA Committee on Preservation on the preservation and<br />
conservation of library and archival materials in Africa. Online publication: http://<br />
www.ifla.org/IV/ifla65/papers/094-102e.htm [accessed April 4 2006].<br />
319
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
ALEXANDER,D.E.<br />
2000 Confronting catastrophe: new perspectives on natural disasters. New York: Oxford<br />
University Press.<br />
ALLEN,S.<br />
1990 Theft in libraries or archives. College and Research Libraries News 51: 939-943.<br />
1994 ACRL/RBMS Security Committtee’s guidelines regarding thefts in libraries. Washington,<br />
D. C.: Association of College and Research Libraries.<br />
ANDERSON,W.A.<br />
2001 The world bank and disaster manag<strong>em</strong>ent. In World conference on natural<br />
disasters, 5-7 February 2001. Preprints. Kobe, Japan. Kobe.<br />
ANÓNIMO<br />
1988 Leningrad Library fire. Abbey Newsletter 12(4): 59-61.<br />
ANÓNIMO<br />
1989a The California Earthquake. Abbey Newsletter 13(7): 113-116.<br />
ANÓNIMO<br />
1989b Hurricane Hugo puts plans to test. Abbey Newsletter 13(7): 114-115.<br />
ANÓNIMO<br />
1992 International workshop on flood mitigation, <strong>em</strong>ergency preparedness, and flood disaster.<br />
Proceedings of the International Workshop on Flood Mitigation, Emergency Preparedness, and<br />
Flood Disaster Manag<strong>em</strong>ent, 22-25 June 1992, Hanoi,Vietnam. Hanoi: Ministry of<br />
Water Resources, Socialist Republic of Vietnam / UNDP.<br />
ANÓNIMO<br />
1999 ACRL/RBMS Security Committee’s guidelines for the security of rare book, manuscript and<br />
other special collections. Washington, D.C.: Association of College and Research<br />
Libraries.<br />
ANÓNIMO<br />
2001a<br />
ANÓNIMO<br />
2001b<br />
Preprints World conference on natural disasters, 5-7 February 2001. Kobe, Japan. Kobe.<br />
Hurricane. Online publication: http://www.cdera.org/doccentre/fs tropsys.<br />
php [accesssed April 4 2006].<br />
ANÓNIMO<br />
[s. d.]a Preliminary reconnaissance report of the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake, 1995.<br />
Tokyo: Architectural Institute of Japan.<br />
320
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
ANÓNIMO<br />
[s. d.]b<br />
Floods. Online publication: http://64.77.83.172/articles/flood.html<br />
[accessed January 2001].<br />
ATKINS, W.; E. BELCHER<br />
1993 Co-ordinating a bomb blast recovery. Conservation Administration News 55: 1-2<br />
and 24.<br />
ATRIM,N.<br />
1995 An up<strong>da</strong>te on micromist fire extinguishment syst<strong>em</strong>s. WAAC Newsletter 17:14.<br />
BALLOFFET, N.; A. B. HOFMANN<br />
1992 Library Disaster Handbook: planning, recovery, resources. With a section on photographic<br />
materials by Ana B. Hofman. Highland: Southern New York Library Resources<br />
Council.<br />
BANERJEE,D.N.<br />
1997 The preservation of documents against disasters: the challenge before the<br />
Indian Libraries. In Preparing for preservation environment: against severe climate and<br />
various disasters. Proceedings of the 7th Annual Symposium on Preservation, National Diet<br />
Library. Tokyo: Japan Library Association, 131-136.<br />
BANKOLE,E.B.<br />
1969 The public library in post-war reconstruction and national development.<br />
Nigerian Libraries 5: 7-10.<br />
BARTON,J.P.<br />
1989 Recovery of archival material following a disaster. In Proceedings of<br />
conservation in archives: International Symposium Ottawa, Cana<strong>da</strong>, May 10-12, 1988.<br />
Paris: International Council on Archives, 291-295.<br />
BARTON, J. P.; J. G. WELLHEISER, ed.<br />
1985 An ounce of prevention. A handbook on disaster contingency planning for archives, libraries<br />
and record centres. Toronto: Toronto Area Archivists Group Education<br />
Foun<strong>da</strong>tion.<br />
BAXI,S.J.<br />
1974 Security probl<strong>em</strong>s in Indian museums. Museum 26(1): 48-52.<br />
BELL,F.G.<br />
1999 Geological hazards: their assessment, avoi<strong>da</strong>nce, and mitigation. London, New York: E.<br />
Spon and F. N. Spon.<br />
321
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
BERNARD,E.N.<br />
1991 [Proceedings] Fourteenth International Tsunami Symposium, held in<br />
Novosibirsk, USSR, from 31 July to 3 August 1989. Published as Natural<br />
Hazards 4.<br />
BLAIKIE,P.;T.CANNON,I.DAVIS;B.WISNER<br />
1994 At risk: natural hazards, people’s vulnerability and disasters. New York: Routledge.<br />
BOWDEN,R.<br />
1974 On civil war and preservation of library materials, the recovery: Nigerian<br />
Library developments 1970-1973. Journal of Librarianship 6: 179-202.<br />
BRADFORD, M.; R. S. CARMICHAEL, ed.<br />
2001 Natural disasters. Pasadena, Ca.: Sal<strong>em</strong> Press.<br />
BRANDT-GRAU, A., ed.<br />
2000 Safeguarding our documentary heritage. Online publication: http://webworld.<br />
unesco.org/safeguarding/en/ [accessed April 4 2006], also published as<br />
CD-ROM.<br />
BUCHANAN,S.A.<br />
1988 Disaster planning, preparedness and recovery for libraries and archives: a RAMP study with<br />
guidelines. Paris: UNESCO.<br />
1999 Emergency salvage of wet books and records. Online publication: http://www.<br />
nedcc.org/plam3/tleaf37.htm [accessed April 4 2006].<br />
BUILDING RESEARCH STATION (GREAT BRITAIN)<br />
1966 Model regulations for small buildings in earthquake and hurricane areas. Tropical<br />
Building Legislation Note 7. Garston BRS 1966.<br />
BUMBARU, D.; S. BURKE,M.PETZET;M.TRUSCOTT;J.ZIESEMER<br />
2000 Heritage at risk. ICOMOS world report 2000 on monuments and sites in <strong>da</strong>nger. München:<br />
Saur.<br />
BURTON,L.<br />
[s. d.]<br />
Amateur radio and disaster preparedness: working hand in hand for preparedness to<strong>da</strong>y, safety<br />
tomorrow. Online publication: http://64.77.83.172/articles/amat rad.html<br />
[accessed January 2001].<br />
BURTON, I.; R. W. KATES;G.F.WHITE<br />
1993 The environment as hazard. New York, London: Guilford Press.<br />
322
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
CARRARA, A.; F. GUZZETTI<br />
1995 Geographical information syst<strong>em</strong>s in assessing natural hazards. Dordrecht: Kluwer<br />
Acad<strong>em</strong>ic.<br />
CELEBI, M.; P. A. SPUDICH;R.A.PAGE;P.H.STAUFFER<br />
1995a Saving lives through better design stan<strong>da</strong>rds. Online publication: http://quake.<br />
usgs.gov/prepare/factsheets/BetterDesign [accessed April 4 2006].<br />
CELEBI, M.; R. A. PAGE;L.SEEKINS<br />
1995b Building safer structures. Online publication: http://quake.usgs.gov/prepare/<br />
factsheets/Safer Structures [accessed April 4 2006].<br />
CHAPMAN,D.M.<br />
1999 Natural hazards. South Melbourne, NY: Oxford University Press.<br />
CHESTER,D.<br />
1993 Volcanoes and society. London: Edward Arnold Editions.<br />
CHURCHVILLE, L. H.; C. HALE<br />
1990 Disaster planning. Washington, D. C.: Archives Library and Information Center<br />
Bibliography.<br />
CLAYTON, A.; I. DAVIS<br />
1994 Building for safety compendium: an annotated bibliography and information directory for<br />
safe building. London: ITDG Publishing.<br />
COBURN, A., et al.<br />
1995 Technical principles of building for safety. London: IT Publications.<br />
CORBETT,N.J.<br />
1974 Damage to records in Darwin caused by cyclone Tracy. Archives and Manuscripts<br />
of Australia 6(3): 193-199.<br />
CORNU, E.; L. BONE<br />
1991 Seismic disaster planning: preventive measures make a difference. WAAC<br />
Newsletter 13(3):13-19.<br />
CRUDEN, D. M.; R. FELL, ed.<br />
1997 Landslide risk assessment. International workshop. 1997 Feb. Honolulu, HI. A. A. Balk<strong>em</strong>a.<br />
CUNHA,G.D.M.<br />
1992 Disaster planning and a guide to recovery resources. Library Technology<br />
Reports 28 (Sept./Oct.): 533-624.<br />
DAVIS,L.<br />
2001 Natural disasters. New York: Facts on File, Inc.<br />
323
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
DEAN,J.F.<br />
1999 Burma, Cambodia, Laos, and Vietnam: the Road Towards Recovery for<br />
Library and Archival Collections after War and Civil Unrest. In Disaster and<br />
after: the practicalities of information service in times of war and other catastrophes.<br />
Proceedings of an international conference sponsored by IGLA (The International Group of the<br />
Library Association), University of Bristol, Sept 4-6 1998, edited by P. Sturges and<br />
D. Rosenberg. London: Taylor Graham Publishing, 151-160.<br />
DIKAU, R., ed.<br />
1996 Landslide recognition. identification, mov<strong>em</strong>ent and courses. International Association<br />
of Geomorphologists 5. Chichester: Wiley.<br />
DIXON,L.<br />
1999 Locks and keys. Technical aspects of locking devices. In 1999 National<br />
conference on cultural property protection proceedings. Cultural property protection from the<br />
ground up, edited by National Conference on Cultural Property Protection.<br />
Washington, D. C.: Smithsonian Institute.<br />
DOEHRING, F.; J. M. WILLIAMS<br />
1997 Flori<strong>da</strong> hurricanes and tropical storms. Gainesville: University Press of Flori<strong>da</strong>.<br />
DOIG,J.<br />
1997 Disaster recovery for archives, libraries and record manag<strong>em</strong>ent syst<strong>em</strong>s in Australia and New<br />
Zealand. Wagga Wagga.<br />
DORGE,V.; S. L. JONES<br />
1999 Building an <strong>em</strong>ergency plan. A guide for museums and other cultural institutions. Los<br />
Angeles: Getty Conservation Institute.<br />
DUCHEIN,M.<br />
1988 Archive buildings and equipment. München: Saur.<br />
1993 Protection of archives against water <strong>da</strong>mage. Atlanti: 19-23.<br />
DUDLEY,N.<br />
1997 The year the world caught fire. Gland, Switzerland:World Wild Fund International.<br />
EBERLEE,J.<br />
1998 Investigating an environmental disaster: lessons from the Indonesian fires and haze. Ottawa:<br />
IDCR.<br />
EBERT,C.H.V.<br />
1997 Disasters: violence of nature and threats by man. Dubuque, Iowa: Ken<strong>da</strong>ll/Hunt Pub.<br />
324
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
ELLIS,S.<br />
2000 Disaster recovery at the University of Alberta, or every flood has a silver<br />
lining. Journal of the American Institute for Conservation 39(1):117-122.<br />
ENU,C.E.<br />
1970 The effects of the Nigerian civil war on the library services in the former<br />
eastern region. International Library Review 20: 206-217.<br />
ERICKSON,J.<br />
2001 Quakes, eruptions, and other geologic cataclysms: revealing the earth’s hazards. New York:<br />
Facts on File.<br />
ERLEY,D.<br />
1981 Reducing landslide hazards.A guide for planners. Report Planning Advisory Service<br />
American Planning Association 359. American Planning Association.<br />
EYO, Ekpo Okpo<br />
1986 A threat to national art treasures. The illicit traffic in stolen art. In The<br />
Challenge to our Cultural Heritage.Why to preserve the past. Proceedings of a conference on<br />
cultural preservation.Washington D. C., 8-10 April 1984, edited by R. Isar. Paris/<br />
Washington D. C./London: UNESCO/Smithsonian Institute Press, 203-212.<br />
EZENNIA,S.E.<br />
1995 Flood, earthquake, libraries and library materials (in hot, wet climates).<br />
Library and Archival Security 13(1): 21-27.<br />
FAKHFAKH,M.<br />
1995 Emergency plan for dealing with accumulations of records and archives in government<br />
services: a RAMP study. Paris: UNESCO.<br />
FEILDEN,B.M.<br />
1987 Between two earthquakes, cultural properties in seismic zones. Marina del Rey: Getty<br />
Conservation Institute.<br />
FENNELLY,L.J.<br />
1983 Museum, archive, and library security. Woburn: Butterworth Publishers.<br />
FORTSON,J.<br />
1992 Disaster planning and recovery. A how-to-do-it manual for librarians and archivists. New<br />
York / London: Neal-Schuman Publishers.<br />
FOX,C.<br />
1999 Cuzco: Back to the future. Unesco Sources 117: 13-14.<br />
325
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
FOX,L.L.<br />
1996 Workbook for developing a disasterplan. Atlanta: Library of Virginia.<br />
2000 Contents of a disaster plan. Online publication: http://www.solinet.net/<br />
preservation/leaflets/leaflets t<strong>em</strong>pl.cfm?doc id=116 [accessed April 4<br />
2006].<br />
FREDERIKSEN,C.;F.BAKKEN<br />
2000 Libraries in Kosoa/Kosovo.A general assessment and a short and medium-term development<br />
plan. Joint UNESCO, CoE and IFLA/FAIFE Kosovo Library Mission. IFLA/FAIFE.<br />
FRÖJD, I.; J. MCINTYRE;B.BANKS; J.-M. DUREAU;Y. OGAWA;M.PANDZIC<br />
1997 Guidelines on disaster prevention and control in archives. Paris: ICA.<br />
GANDRU,H.<br />
1997 Des volcans et des hommes. Geneva: Tricorne Editions.<br />
GAVIDIA,J.<br />
2001 Vulnerability reduction: from knowledge to action. In World conference on<br />
natural disasters, 5-7 February 2001. Preprints. Kobe, Japan. Kobe.<br />
GEIS, D. E., ed.<br />
1988 Architectural and urban design lessons from the 1985 Mexico City earthquake.<br />
Washington, D. C.: American Institute of Architects (AIA), Council on<br />
Architectural Research.<br />
GODOUNOU,A.<br />
1999 Documentation in the service of conservation: an African training<br />
experiment. Museum International 201(51/1): 28-32.<br />
GODSCHALK,D.R.<br />
1998 Natural hazard mitigation. Recasting disaster policy and planning. Washington, D. C.:<br />
Island Press.<br />
GROSHART, C. P.; W. B. A. WASSENBERG;R.W.P.M.LAANE<br />
2000 Ch<strong>em</strong>ical study on brominated flame-retar<strong>da</strong>nts. The Hague: Rijksinstituut voor<br />
Kust en Zee.<br />
HALL,M.L.<br />
1991 Advances (?) in mitigating volcano hazards in Latin America. Earthquakes<br />
and Volcanoes 22(3): 149-150.<br />
HARRIS,L.S.<br />
1990 Agents of chaos: earthquakes, volcanoes, and other natural disasters. Missoula, Montana:<br />
Moutain Press Publishing Company.<br />
326
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
HASAN,M.M.<br />
1974 Thefts and van<strong>da</strong>lism: the situation in Egypt. Museum 26(1): 45-47.<br />
HEBENSTREIT,G.<br />
1999 Perspectives on tsunami hazard reduction: observations, theory and planning. Advances in<br />
natural and technological hazards research, Vol.9. Dordrecht: Kluwer<br />
Acad<strong>em</strong>ic.<br />
HENRY,W.<br />
1997 A brief bibliography on disasters. Online publication: http://palimpsest.<br />
stanford.edu/byauth/henry/southnet.html [accessed April 4 2006].<br />
HERSCHER, A.; A. RIEDLMAYER<br />
2000 Architectural heritage in Kosovo: a post-war report. US ICOMOS Newsletter<br />
New Series 19/20.<br />
HIRSCH, K. G.; M. M. PINEDO;J.M.GREENLEE<br />
[s. d.] An international collection of Wildland-urban interface resource materials. Information<br />
Report NOR-X-344. Canadian Fire Research Network, Northwest Region.<br />
HOEVEN, H. van der; J. van ALBADA<br />
1996 M<strong>em</strong>ory of the world:Lost m<strong>em</strong>ory Libraries and archives destroyed in the twentieth century.<br />
Paris: UNESCO.<br />
HUGHES,B.<br />
1999 Disaster: are you prepared. A paper presented at the 10th National Library Technicians’<br />
Conference, Fr<strong>em</strong>antle, 8-10 Sept<strong>em</strong>ber 1999. Online publication: http://www.<br />
nla.gov.au/nla staffpaper/bhughes1. html [accessed April 4 2006].<br />
HUSKAMP PETERSON,T.<br />
1993 A primer on disaster preparedness, manag<strong>em</strong>ent, and response: paper-based material.<br />
Washington, D. C.: Smithsonian Institute/Library of Congress/National<br />
Park Service/NARA.<br />
IMAI, Kiyoshi<br />
1998 The National Archives Centers in Vietnam. Paper Conservation News 88: 6-7.<br />
INGLETON,J.<br />
1999 Natural disaster manag<strong>em</strong>ent. A presentation to comm<strong>em</strong>orate the International Decade for<br />
Natural Disaster Reduction (IDNDR). Leicester: Tudor Rose.<br />
INTERTECT<br />
1981 Minimum Stan<strong>da</strong>rds for Cyclone Resistant Housing Utilizing Traditional Materials Found In<br />
the Third World. 3rd Edition. Washington: Intertect.<br />
327
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
JACKANICZ,D.<br />
1990 Theft at the National Archives: The Murphy Case, 1962-1975. Library and<br />
Archival Security 10(2): 23-50.<br />
JACKSON,B.;W.STEPNIAK<br />
2000 General assessment of the situation of archives in Kosovo. Paris: UNESCO.<br />
JAMES.V.<br />
1994 Disaster control planning in Nigerian libraries and archives. Lagos Librarian 15.<br />
JOHNSON, E. A.; K. MIYANISHI, ed.<br />
2001 Forest fires. Behavior and ecological effects. San Diego, Calif.: London Acad<strong>em</strong>ic.<br />
JOICE,G.E.<br />
2001 Museum’s seismic mitigation efforts pay off during Feb.28 earthquake. Online publication:<br />
http://www.seattleartmuseum.org/departments/pr/pressroom/<br />
news/earthquakefeb2801.htm [accessed January 2001].<br />
JONES, B.; M. TOMASEVIC, ed.<br />
1982 Social and economic aspects of earthquakes. Ithaca: Program in Urban and<br />
Regional Studies, Cornell University.<br />
JUNCHAYA,K.A.<br />
1999 They laughed at Noah: preparing for natural disasters. Clifton, NJ: MedCap.<br />
KEATING, B. H.; C. F. WAYTHOMAS;A.DAWSON, ed.<br />
2000 Landslides and tsunamis. Basel/Boston: Birkhauser Verlag.<br />
KENJO, Toshiko<br />
1997 Preservation environment of stacks and anti-disaster measure in Japan. In<br />
Preparing for preservation environment: against severe climate and various disasters.<br />
Proceedings of the 7th Annual Symposium on Preservation, National Diet Library. Tokyo:<br />
Japan Library Association, 171-187.<br />
2000 Preservation environment in library stacks and anti-disaster measures. In<br />
A reader in preservation and conservation, edited by R. W. Manning, and V. Kr<strong>em</strong>p.<br />
München: Sauer, 119-127.<br />
KEY,D.<br />
1988 Earthquake design practice for buildings. London: Thomas Telford.<br />
KHAN,M.B.<br />
1994 First steps for handling and drying water <strong>da</strong>maged materials. Columbia, SC: MBK<br />
Consulting.<br />
328
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
1998 Disaster response and planning for libraries. Chicago/London: American Library<br />
Association.<br />
KOURTZ,P.<br />
1987 The need for improved forest fire detection. The Forestry Chronicle.<br />
KOVACH,R.L.<br />
1995 Earth’s fury: an introduction to natural hazards and disasters. Englewood Cliffs, New<br />
Jersey: Prentice-Hall Inc.<br />
KRAEMER KOELIER,G.<br />
1960 Previsión y conservación de bibliotecas y archivos contra agentes bióticos, el fuego y factores<br />
climáticos. Madrid: Dirección general de archivos y bibliotecas. Sección de<br />
publicaciones de la junta téchnica de archivos, bibliotecas y museos.<br />
KREIMER,A.<br />
1989 Reconstruction after earthquakes: Sustainability and development. Washington, D. C.:<br />
World Bank.<br />
KREIMER, A.; M. ARNOLD<br />
2000 Managing disaster risk in <strong>em</strong>erging economies. Washington, D. C.: World Bank.<br />
KREIMER, A.; M. MUNASINGHE, ed.<br />
1991 Managing natural disasters and the environment.Colloquium on the environment and natural<br />
disaster manag<strong>em</strong>ent. Washington, D. C.: World Bank.<br />
KREIMER, A.; M. ARNOLD; C.BARHAM; P.FREEMAN; R.GILBERT; F.KRIMGOLD; R.LESTER; J.D.<br />
POLLNER;T.VOGT<br />
1999 Managing disaster risk in Mexico. Market incentives for mitigation investment.<br />
Washington, D. C.: World Bank.<br />
KUMEKPOR, T. K. B.; J. E. J. M. van LANDEWIJK<br />
1989 A review of hazards and disaster minimisation in Ghana. In Proceedings of<br />
the Comm<strong>em</strong>oration of the Accra earthquake, held August 17th, 1989, and the Hazards<br />
Reduction workshop, held on October 31st, 1989, edited by Kumekpor et al.<br />
Leiden: REMEDI.<br />
LEE, B. S.; K. R. ANDERSON<br />
1989 A spatial analysis approach for forest fire preparedness planning. Presented at the 10th<br />
Conference on Fire and Forest Meteorology,April 17-21,1989,Ottawa,Cana<strong>da</strong>. Edmonton:<br />
Forestry Cana<strong>da</strong>.<br />
LEMMON,A.E.<br />
1991 Confronting man and nature: the National Archives of El Salvador.<br />
American Archivist 54(3): 404-410.<br />
329
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
LEWIS,J.<br />
1999 Development in disaster-prone places. Studies of vulnerability. London: Intermediate<br />
Technology.<br />
LING,T.<br />
1998 Solid, safe, secure: building archives repositories in Australia. Canberra: National<br />
Archives of Australia.<br />
LISTON, D., ed.<br />
1993 Museum security and protection: A handbook for cultural heritage institutions.<br />
London/New York: ICOM/Routledge.<br />
LOOSE, M.; R. BRAITHWAITE<br />
1992 State Library of the Northern Territory. Australian Acad<strong>em</strong>y and Research Libraries<br />
123(2): 132.<br />
LUCCHITTA, I.; L. B. LEOPOLD<br />
1999 Floods and sandbars in the Grand Canyon. GSA To<strong>da</strong>y 9(4): 1-7.<br />
LUGT, H. van der<br />
2001 Killer-earthquakes Killer-buildings!. NRC Handelsblad (Rotter<strong>da</strong>m) February<br />
9: 4.<br />
LUNDQUIST,E.G.<br />
1986 Salvage of water <strong>da</strong>maged books, documents, micrographic and magnetic media. San<br />
Francisco: Document Reprocessors of San Francisco.<br />
LYALL,J.<br />
1995 Disaster planning for libraries and archives understanding the essential<br />
issues. In Proceedings of the Pan-African conference on the preservation and conservation<br />
of library and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June 1993, edited by J.-M.<br />
Arnoult et al. The Hague: IFLA, 103-112.<br />
1997 The role of counter disaster planning in establishing national and<br />
international preservation information networks. In Preparing for preservation<br />
environment: against severe climate and various disasters. Proceedings of the 7th Annual<br />
Symposium on Preservation,Asia and Oceania Region. Tokyo: National Diet Library,<br />
113-130.<br />
MADER,S.<br />
2001 Catastrophes and catastrophe manag<strong>em</strong>ent, the April 2001 congress in<br />
Sarajevo helped to restore peace. International Preservation News 25: 12-13.<br />
MANSANET TEROL,C.M.<br />
1987 Incendios forestales en Alicante. Estudio de la evolución de la vegetación qu<strong>em</strong>a<strong>da</strong>. Alicante:<br />
Caja de Ahorros Provincial de Alicante.<br />
330
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
MARTIN,P.<br />
1998 Ces risques que l’ont dit naturels. Aix-en-Provence: Edisud.<br />
MASON,P.P.<br />
1975 Archival security: New solutions for an old probl<strong>em</strong>. The American Archivist<br />
38(4):473-499.<br />
MATHIESON,D.F.<br />
1983 Hurricane preparedness: establishing workable policies for dealing with<br />
storm threats. Technology and Conservation 8(2): 28-29.<br />
1986 Preparations to reduce disaster. The Book and Paper Group Annual 5: 153-158.<br />
MAXWELL, I.; N. ROSS;A.DAKIN<br />
1999 Fire protection and the built heritage. Edinburgh: Historic Scotland.<br />
MAYO,A.<br />
1988 Cyclone-resistant houses for developing countries. CRC.<br />
MCCALL, G. J. H.; D. J. C. LAMING;S.C.SCOTT<br />
1992 Geohazards: natural and man-made. New York: Chapman and Hall.<br />
MCCANN,J.;B.SHAND<br />
1995 Surviving natural disasters: how to prepare for earthquakes, hurricanes, tornados, floods,<br />
wildfires, thunderstorms, blizzards, tsunamis, volcanic eruptions, and other calamities.<br />
Sal<strong>em</strong>, Or: DIMI Press.<br />
MCCLEARY,J.M.<br />
1987 Vacuum freeze-drying: A method used to salvage water-<strong>da</strong>maged archival and library<br />
materials.A RAMP study with guidelines. Paris: UNESCO.<br />
MCGRUIRE, B.; C. R. J. KILBURN;J.MURRAY, ed.<br />
1995 Monitoring active volcanoes strategies, procedures and techniques. London: UCL Press<br />
Limited, University College London.<br />
MCINTYRE,J.E.<br />
1996 Managing the disaster. Janus 1: 79-86.<br />
MCKAIGE, B. J.; R. J. WILLIAMS;W.M.WAGGITT<br />
1997 Bushfire ‘97. Proceedings, Plaza Hotel, Darwin, Northern Territory, Australia. Winnellie,<br />
N. T.: CSIRO Tropical Ecosyst<strong>em</strong>s Research Centre.<br />
MENGES,G.<br />
1990 ACRL guidelines for the security of rare book, manuscript, and other<br />
special collections. College and Research Libraries News 51: 240-244.<br />
331
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
MISHRA, G. K.; G. C. MATHUR<br />
1993 Natural disaster reduction. New Delhi: Reliance Pub. House and Indian<br />
Institute of Public Administration, Centre for Urban Studies.<br />
MITCHELL, J. K., ed.<br />
1999 Crucibles of hazard.Mega-cities and disasters in transition. New York: United Nations<br />
University Press.<br />
MOFFATT,E.<br />
1992 Analysis of ‘ch<strong>em</strong>ical sponges’ used by the commercial fire cleanup industry to r<strong>em</strong>ove soot<br />
from various surfaces. IIC-CG Bulletin 17(3): 9-10.<br />
MOFFET,W.A.<br />
1988 Guidelines regarding thefts in libraries. College and Research Libraries News 49:<br />
159-162.<br />
MOORE,P.<br />
1997 Vital records protection issues. Abbey Newsletter 21(8): 113-114 and 117-118.<br />
MORRIS,J.<br />
1979 Managing the library fire risk. Berkeley: University of California.<br />
1986 The library disaster preparedness handbook. Chicago: American Library Association.<br />
MORRIS,R.M.<br />
1990 Early warning of tropical cyclone threat: gui<strong>da</strong>nce from the operational<br />
NWP global model. Weather 45(4): 113-121.<br />
MUKIMBIRI,J.<br />
1996 A look at the world’s priorities. An example of lost heritage: Rwan<strong>da</strong>.<br />
International Preservation News 13: 20-21.<br />
MULDER,F.<br />
1991 Assessment of landslide hazard. Amster<strong>da</strong>m/Utrecht: Koninklijk Nederlands<br />
Aardrijkskundig Genootschap/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.<br />
MURRAY,T.<br />
1991 Basic guidelines for disaster planning in Oklahoma. Tusla: Disaster Preparedness<br />
Committee, Oklahoma Conservation Congress.<br />
MURRAY, T., ed.<br />
1994 Bibliography on disasters,disaster preparedness and disaster recovery.Tulsa: University of<br />
Tulsa.<br />
MUSSER, L.; L. RECUPERO<br />
1997 Internet resources on disasters. Association of College and Research Libraries NewsNet<br />
58(6).<br />
332
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
NAEIM, F., ed.<br />
1989 The seismic design handbook. New York: Chapman and Hall.<br />
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA<br />
1993 Guidelines for prevention, detection and control of fire in archives and libraries. New<br />
Delhi: National Archives of India.<br />
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION<br />
1980 Archives and record centers,1980. Boston, MA: National Fire Protection Association.<br />
NATIONAL TSUNAMI HAZARD MITIGATION PROGRAM<br />
2001 Designing for tsunamis. Seven principles for planning and designing for tsunami hazards.<br />
Washington, D. C., etc.: NOAA,etc.<br />
NELSON,C.L.<br />
1991 Protecting the past from natural disasters. Washington, D. C.:The Preservation Press.<br />
NEWMAN,W.<br />
1989 Sources of information on health and safety for archivists and<br />
conservationists. In Proceedings of conservation in archives: International Symposium<br />
Ottawa, Cana<strong>da</strong>, May 10-12, 1988. Paris: International Council on Archives,<br />
273-280.<br />
NIEÇ, H., ed.<br />
1998 Cultural rights and wrongs, a collection essays in comm<strong>em</strong>oration of the 50th Anniversary<br />
of the Universal Declaration of Human Rights. Paris: UNESCO.<br />
NORMAN,K.<br />
2000 The retrieval of Kuwait National museum’s collections from Iraq: an<br />
assessment of the operation and lessons learned. Journal of the American<br />
Institute for Conservation 39(1): 135-147.<br />
NORTON,J.<br />
1985 Introduction of earthquake resistant building techniques in the Koumbia Area, N.W. Guinea<br />
(1985). Toronto: Development Workshop.<br />
NWAMEFOR,A.C.<br />
1974 Security probl<strong>em</strong>s of university libraries in Nigeria. Library Association Records<br />
76: 244-245.<br />
OBI,D.S.<br />
1971 Aftermath of the civil war in Nigeria. Rebuilding with books in Nigeria.<br />
Pennsylvania Library Association Bulletin 26: 164-166.<br />
333
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
OBOKOH,N.P.<br />
1989 Disaster control planning in Nigerian libraries and archives. African Journal<br />
of Acad<strong>em</strong>ic Librarianship 7: 41-48.<br />
OGDEN, S., ed.<br />
1999 Preservation of library and archival materials: a manual. Online publication: http://<br />
www.nedcc.org/plam3/manhome.htm [accessed April 4 2006].<br />
OKOTORE,K.<br />
1990 Abuse of library materials. A survey of Oyo State College of Education<br />
Library, Ilesa. African Journal of Acad<strong>em</strong>ic Librarianship 8: 45-52.<br />
OKOYE-IKONTA;I.GABBY<br />
1981 Book thefts and mutilation in Nigerian university libraries. Library Scientist<br />
8: 89-100.<br />
OLIVER,J.E.<br />
1989 Tropical cyclone warning syst<strong>em</strong>: a survey of public interpretation and opinions in<br />
Queensland on the present Tropical Cyclone Warning Syst<strong>em</strong>. Sydney: Cumberland<br />
College of Health Sciences, Disaster Manag<strong>em</strong>ent Studies Centre.<br />
OLUWAKAYODE,A.<br />
1972 Nigerian libraries after the war. Wilson Library Bulletin 46: 881.<br />
ONADIRAN,G.T.<br />
1986 Library users as security probl<strong>em</strong>s in Africa. International Library Mov<strong>em</strong>ent<br />
8(1): 37-43.<br />
1988 Book theft in University Libraries in Nigeria. Library and Archival Security<br />
8(3-4): 37-48.<br />
PAYNE,S.<br />
2000 Noah’s Ark: Perth Museum and the great flood. In Perth flood s<strong>em</strong>inar. Every<br />
cloud has a silver lining. Papers arising from the s<strong>em</strong>inar, held on 7 June 2000, on the<br />
recovery, conservation and restoration of works of art and objects <strong>da</strong>maged in the Perth flood<br />
of 1993, edited by S. M. Rees and E. Robertson Rose. Dundee: SSCR<br />
(Scottish Society for Conservation and Restoration), 3-5.<br />
PEIC, S.; A. TELALOVIC<br />
1999 Sarajevo: Coping with disaster. In Disaster and after: the practicalities of<br />
information service in times of war and other catastrophes. Proceedings of an international<br />
conference sponsored by IGLA (The International Group of the Library Association),<br />
University of Bristol, Sept 4-6 1998, edited by P. Sturges and D. Rosenberg.<br />
London: Taylor Graham Publishing, 151-160.<br />
334
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
PICHARD,P.<br />
1984 Emergency measures and <strong>da</strong>mage assessment after an earthquake. Paris: UNESCO.<br />
PIELKE, R. A. Jr.<br />
1990 Hurricane. New York: Routledge.<br />
PORTES, E. des<br />
1996 ICOM and the battle against illicit traffic of cultural property. Museum<br />
International 191(48/3): 51-58.<br />
PRAKASH, Indu<br />
1994 Disaster manag<strong>em</strong>ent. Societal vulnerability to natural calamities and man made disasters<br />
preparedness and response (Indian scene). Gaziabad: Rashtra Prahari.<br />
REDMOND-COOPER, R., ed.<br />
2000 The mainland’s environment and the protection of China’s cultural heritage.<br />
A Chinese cultural lawyer’s perspective. Art,Antiquity and Law 5/1 (March).<br />
REED,C.<br />
1997 Biblioklepts. Harvard Magazine, March/April 1997.<br />
REES, S. M.; E. Robertson ROSE, ed.<br />
2000 Perth flood s<strong>em</strong>inar. Every cloud has a silver lining. Papers arising from the s<strong>em</strong>inar, held on<br />
7 June 2000,on the recovery,conservation and restoration of works of art and objects <strong>da</strong>maged<br />
in the Perth flood of 1993. Dundee: SSCR (Scottish Society for Conservation and<br />
Restoration).<br />
REEVES, R. B., ed.<br />
1982 Application of walls to landslide control probl<strong>em</strong>s. Proceedings of two sessions sponsored by<br />
the Committee on Earth Retaining Structures of the Geotechnical Engineering Division of the<br />
American Society of Civil Engineers at the ASCE National Convention, Las Vegas, Neva<strong>da</strong>,<br />
April 29, 1982. New York: American Society of Civil Engineers.<br />
REINSCH,M.<br />
1993 Library disasters and effective staff manag<strong>em</strong>ent. Conservation Administration<br />
News 55: 4-5 and 55: 31-32.<br />
RHYS-LEWIS,J.<br />
1999 The role of conservation and preservation in the archives of developing<br />
countries: observations based on missions to Kenya, Ugan<strong>da</strong> and Vietnam.<br />
Archivum 44: 157-170.<br />
2000b<br />
Conservation and preservation activities in archives and libraries in developing countries. An<br />
advisory guideline on policy and planning. London:Association of Commonwealth<br />
Archivists and record Managers/London Metropolitan Archives.<br />
335
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
RIEDLMAYER,A.<br />
1999 Libraries and archives in Kosova: a postwar report. US ICOMOS Newsletter<br />
13/14.<br />
2000 Museums in Kosovo: a first postwar assessment. US ICOMOS Newsletter 15/16.<br />
RUTLEDGE, S. K.; B. A. BANKS,M.FORKAPA,T.STRUEBER,E.SECHKAR;K.MALINOWSKI<br />
2000 Atomic oxygen treatment as a method of recovering smoke-<strong>da</strong>maged<br />
paintings. Journal of the American Institute for Conservation 39(1): 65-74.<br />
SCHMIDT, P. R.; R. J. MCINTOSH<br />
1996 Plundering Africa’s past. Bloomington: Indian University Press.<br />
SCHREIDER,T.<br />
1998 Encyclopedia of disaster recovery, security and risk manag<strong>em</strong>ent. Crucible Publishing<br />
Works.<br />
SEPILOVA, I.; G. A. G. THOMAS<br />
1992 Main principles of fire protection in libraries and archives. A RAMP study. Paris: UNESCO.<br />
SHAPKINA, L. B., et al.<br />
1992 Restoring book paper and drying books after a disaster. Restaurator 13(2):<br />
47-57.<br />
SHAW,S.L.<br />
1981 A history of tropical cyclones in the Central North Pacific and the Hawaiian Islands, 1832-<br />
-1979. Silver Spring: U. S. Dept. of Commerce, National Oceanic and<br />
Atmospheric Administration.<br />
SHELTON,J.A.<br />
1990 Seismic safety stan<strong>da</strong>rds for library shelving. Sacramento: California State Library<br />
Foun<strong>da</strong>tion.<br />
SHEPILOVA,I.G.<br />
1992 The basic requir<strong>em</strong>ents for security. Janus 1: 89-100.<br />
SHUKOR,A.R.<br />
1995 Disaster control planning in tropical countries with special reference to the National Library<br />
of Malaysia. MA-thesis, Loughborough University Leicestershire:<br />
Loughborough University.<br />
SIGURDSSON, H.; B. HAUGHTON;S.R.MCNUTT;H.RYMER;J.STIX, ed.<br />
1999 The encyclopedia of volcanoes. London/New York: Acad<strong>em</strong>ic Press.<br />
SIMPKIN, T.; L. SIEBERT<br />
1994 Volcanoes of the world. Tucson, Ar.: Geoscience Press.<br />
336
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
SINHA, D. K., ed.<br />
1992 Natural disaster reduction for the nineties. Perspectives, aspects and strategies. 78th Indian<br />
science congress. Calcutta: International Journal Services.<br />
SLOSSON, J. E.; A. G. KEENE;J.A.JOHNSON, ed.<br />
1992 Landslides, landslide mitigation. Boulder, Colo: Geological Society of America.<br />
SMITH,K.<br />
2000 Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster. New York: Routledge.<br />
SMITH,R.D.<br />
1992 Disaster recovery: probl<strong>em</strong>s and procedures. IFLA Journal 18(1): 13-24.<br />
SMITHSON,P.<br />
1993 Tropical cyclones and their changing impact. Geography 78(339-2): 170-174.<br />
SMITHSONIAN INSTITUTE OFFICE OF RISK MANAGEMENT<br />
1993 Smithsonian Institution staff disaster preparedness procedures. Online publication:<br />
http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/disasters/primer/sidisast.html<br />
[accessed April 4 2006].<br />
SOETE,G.J.;G.ZIMMERMAN<br />
1999 Manag<strong>em</strong>ent of library security. Online publication: http://www.museumsecurity.org/manag<strong>em</strong>ent-of-library-security.htm.<br />
[accessed April 4 2006].<br />
SOLOVIEV, S. L.; O. N. SOLOVIEVA;C.N.GO;K.S.KIM;N.A.SHCHETNIKOV<br />
2000 Tsunamis in the Mediterranean Sea 2000 B.C.–2000 A.D. Advances in natural and<br />
technological hazards research,Vol.13. Dordrecht: Kluwer Acad<strong>em</strong>ic.<br />
SOZANSKI,E.<br />
1999 Theft of confidence:When a museum piece is stolen, trust is eroded. Online publication:<br />
http.//www.museum-security.org/theft-of-confidence.htm [accessed<br />
April 4 2006].<br />
SPAFFORD-RICCI, S.; F. GRAHAM<br />
2000 The Fire at the Royal Saskatchewan Museum. Part 2: R<strong>em</strong>oval of soot<br />
from artifacts and recovery of the building. Journal of the American Institute for<br />
Conservation 39(2): 37-57.<br />
STOREY, R.; A. M. WHERRY;J.F.WILSON<br />
1989 Three views on security. Journal of Society of Archivists 10: 108-114.<br />
STULZ, R.; J. HUBER<br />
1976 Erdbebensicheres, billiges Bauen, am Beispiel Guat<strong>em</strong>ala. Zürich: SVMT.<br />
337
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
SUGG,A.E.<br />
1968 Beneficial aspects of the tropical cyclone. Journal of Applied Meteorology 7(1):<br />
39-45.<br />
SUNG, C.; L. HOOVER,V. PAVLOVICH;P.WATERS<br />
1990 Fire Recovery at the Library of the Acad<strong>em</strong>y of Sciences of the USSR.<br />
American Archivist 53: 298 -312.<br />
TALERO DE HUSAIN, E. L.; G. UMAÑA DE GAUTHIER;F.GONZÁLEZ<br />
1996 Las máquinas y los desastres naturales. Santafé de Bogotá (Colombia): Dirección<br />
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. División de<br />
Educación e Información Pública, Universi<strong>da</strong>d Pe<strong>da</strong>gógica Nacional.<br />
TALLEY,K.<br />
1989 Dutch Disaster. ARTnews 88(6): 60-61.<br />
TAZIEFF, H.; M. DERRUAU<br />
1990 Le volcanisme et sa prévention. Paris: Masson Editions.<br />
TEFENRA,B.<br />
1986 Security managment of collections in Ethiopian Acad<strong>em</strong>ic libraries.<br />
African Journal of Library,Archival and Information Science 6(2): 121.<br />
TENDING,A.<br />
1993 Architectural protection of library materials in Western Africa. International<br />
Preservation News 6: 7-9.<br />
TEULING,A.J.M.den<br />
1994 Requir<strong>em</strong>ents for the building and equipment of repositories and their conversion or<br />
refurbishment or a<strong>da</strong>ptation of buildings or part of buildings for repositories. Regulations,<br />
edited by Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs, The<br />
Netherlands; translation: E. Pouwels (typed paper/<strong>da</strong>ctylographié).<br />
THAPISA,A.N.P.<br />
1982 Book security syst<strong>em</strong>s administration at the University of Botswana Library.<br />
Botswana Library Association Journal 4: 11-17.<br />
THOMAS,D.L.<br />
1987 Study on control of security and storage of holdings.A RAMP study with guidelines. Paris:<br />
UNISIST.<br />
TIANCHI,LI<br />
1990 Landslide manag<strong>em</strong>ent in the mountain areas of China. Kathmandu: International<br />
Centre for Integrated Mountain Development.<br />
338
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
TILLING,R.I.<br />
1991 Reducing volcanic risk: are we winning some battles but losing the war.<br />
Earthquakes and Volcanoes 22(3): 133-137.<br />
TINTI,S.<br />
1993 Tsunamis in the World. Fifteenth International Tsunami Symposium, 1991. Advances in<br />
natural and technological hazards research, Vol. 13. Dordrecht: Kluwer<br />
Acad<strong>em</strong>ic.<br />
TODD, B.; P. H. KOURTZ<br />
[s. d.] Predicting the <strong>da</strong>ily occurrence of people-caused forest fires. Information Report PI-X-<br />
-103. Petawawa: National Forestry Institute.<br />
TOLLES E. L.; F. A. WEBSTER;A.CROSBY;E.E.KIMBO<br />
1996 Survey of the <strong>da</strong>mage to historic adobe buildings after the January 1994 Northridge<br />
earthquake. Marina del Rey: Getty Conservation Institute.<br />
TOLLES E. L.; E. E. KIMBRO;F.A.WEBSTER;W.S.GINELL<br />
2000a Damage to the objects. Seismic stabilization of historic adobe structures. Final report of the<br />
Getty Seismic Adobe Project. Marina del Rey: Getty Conservation Institute.<br />
TOLLES, E. L.; W. S. GINELL<br />
2000b Seismic stabilization of historic adobe structures. Journal of the American<br />
Institute for Conservation 39(1): 147-163.<br />
TOTKA,V.A. Jr.<br />
1993 Preventing patron theft in the archives; legal perspectives and probl<strong>em</strong>s.<br />
American Archivist 56: 664-672.<br />
TRINKAUS-RANDALL,G.<br />
1995 Protecting your collections: a manual of archival security. Chicago: Society of<br />
American Archivists.<br />
TRINKLEY,M.<br />
1993a<br />
1993b<br />
Can you stand the heat. A fire safety primer for libraries, archives and museums. Atlanta:<br />
Southeastern Library Network.<br />
Hurricane! Are you ready for the big one: a primer for libraries, museums and archives.<br />
Columbia, SC: Chicora Foun<strong>da</strong>tion.<br />
2001 Protecting your institution from wild fires: planning not to burn and learning to recover.<br />
Online publication: http://palimpsest.stanford.edu/byauth/trinkley/<br />
wildfire.html [accessed April 4 2006].<br />
339
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
TSUCHIYA, Yoshito; Nobuo SHUTO<br />
1995 Tsunami. Progress in prediction, disaster prevention and warning. International Tsunami<br />
Symposium (16th) 1993.Wakayama, Japan. Dordrecht: Kluwer Acad<strong>em</strong>ic.<br />
TURNER, A. K.; R. L. SCHUSTER, ed.<br />
1996 Landslides: investigation and mitigation. Special report 247 (National Research<br />
Council (US),Transportation Research Board) Washington, D. C.: National<br />
Acad<strong>em</strong>y Press.<br />
UNESCAP<br />
1990 Forecasting, preparedness and other operational measures for water-related natural disaster<br />
reduction in Asia and the Pacific. United Nations.<br />
UNESCO<br />
1995 Stolen art and cultural property INTERPOL’s special programme. Museum<br />
International 188(47/4): 57-58.<br />
USGS<br />
[s. d.]<br />
Surviving a Tsunami Lessons from Chile, Hawaii, and Japan. U. S. Geological Survey<br />
Circular 1187 Denver, CO: US Geological Survey.<br />
VARLAMOFF, M.-T.; G. MACKENZIE<br />
2000 Archives and libraries in times of war: the role of IFLA and ICA within ICBC<br />
(International Committee of the Blue Shield). In A reader in preservation and<br />
conservation,edited by R.W. Manning and V. Kr<strong>em</strong>p. München: Sauer, 149-157.<br />
VARLEY,A.<br />
1994 Disasters, development, and environment. Chichester: J. Wiley.<br />
WALSH,B.<br />
1988 Salvage operations for water <strong>da</strong>maged collections. WAAC Newsletter 10(2): 2-5.<br />
1997 Salvage operations for water-<strong>da</strong>maged archival collections: A second<br />
glance. WAAC Newsletter 19(2).<br />
WATERS,P.<br />
1993 Procedure for salvage of water <strong>da</strong>maged library materials. Online publication:<br />
http://www.archives.gov/preservation/conservation/library-materials-<br />
01.html [accessed April 4 2006].<br />
WHITTALL,J.<br />
1992 Promotion activities and public awareness programs in fire manag<strong>em</strong>ent and prevention.<br />
Canberra: J. Whittall.<br />
340
Bibliografia | Capaci<strong>da</strong>de de resposta ao desastre<br />
WOLOSZ,J.<br />
1999 Polish experience in saving library collections. In Cultural heritage protection<br />
in case of <strong>em</strong>ergency with respect to the flood. Papers presented at international workshop<br />
Warszawa Wroclaw Klodzko Brzeg 1998, edited by W. Bialek. Warsaw: Pagina<br />
Publishing House, 84-90.<br />
ZAVALA, G. L.; M. G. CAPUTO;J.E.HARDOY;H.M.HERZER<br />
1985 Desastres naturales y socie<strong>da</strong>d en América Latina. Buenos Aires: Emece Ediciones.<br />
ZWECK,T.<br />
1983 Priceless books lost in bushfires. InCite 4(6): 1.
7<br />
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
ARA<br />
2000 IPM model. Den Haag: ARA. Unpublished m<strong>em</strong>orandum.<br />
ABERG,O.<br />
1989 Moisture and mould in dwellings in a tropical coastal climate. Lund: Lund Centre For<br />
Habitat Studies (LCHS).<br />
ACKERY, P. R.; D. B. PINNIGER;J.CHAMBERS<br />
1999 Enhanced pest capture rates using pheromone-baited sticky traps in<br />
museum stores. Studies in Conservation 44(1): 67-71.<br />
AD HOC PANEL OF THE BOARD ON SCIENCE TECHNOLOGY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT<br />
NATIONAL RESEARCH COUNCIL<br />
[s. d.]<br />
Ne<strong>em</strong>. A tree for solving global probl<strong>em</strong>s. Online publication: http://<br />
books.nap.edu/books/0309046866/html/R1.html pagetop [accessed<br />
April 4 2006].<br />
AGRAWAL,O.P.<br />
1985 Control of biodeterioration in museums. New Delhi: National Museum of India.<br />
Dept. of Culture, National Research Laboratory for Conservation of<br />
Cultural Property. Technical Note 2.<br />
1989 An overview of studies related to biodeterioration of cultural property. In<br />
International conference on biodeterioration of cultural property, Preprints, 20-25 February,<br />
Vol. I.<br />
1991 An overview of studies on biodeterioration of cultural property. In<br />
Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the International Conference on<br />
Biodeterioration of Cultural Property held at National Research Laboratory for Conservation<br />
of Cultural Property February 20-25, 1989, eited by O. P. Agrawal and D. Shashi,<br />
2-15.<br />
343
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1993 Pathak, Nimisha, Biodeterioration of ethnological objects.A review.: National Research<br />
Laboratory for Conservation of Cultural Property. INTACH Material<br />
Heritage Series 8.<br />
1995 An overview of probl<strong>em</strong>s of biodeterioration of cultural property in Asia.<br />
In Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the 3rd International Conference on<br />
biodeterioration of cultural property, July 4-7, 1995, Bangkok,Thailand, edited by C.<br />
Aranyanak et al. Bangkok: Office of Archeology and National Museums.<br />
Conservation Science Division, 14-34.<br />
AGRAWAL, O. P.; S. DHAWAN, ed.<br />
1991 Biodeterioration of cultural property.Proceedings of the International Conference,Feb.20-25,<br />
1989, Lucknow, India. New Delhi: S. G. Wasani.<br />
ANÓNIMO<br />
1944 Termite proofing of timber for use in the tropcis. London: H. M. Stationary Office.<br />
Forest Products Research Laboratory 38.<br />
ANÓNIMO<br />
1949 Tropic proofing; protection against deterioration due to tropical climates. London: H. M.<br />
Stationary Office. Ministry of Supply and Department of Scientific and<br />
Industrial Research.<br />
ANÓNIMO<br />
1950 Termite, wood-borers and fungi in buildings. Report of the Committee opn the Protection of<br />
Building Timbers in South Africa against termites,wood-boring beetles and fungi. Pretoria:<br />
South African Council for Scientific and Industrial Research.<br />
ANÓNIMO<br />
1955 Insectici<strong>da</strong>l papers. Papermaker (mid-summer): 32-34.<br />
ANÓNIMO<br />
1962 Operation tropical wet.Environmental and microbiological observations.Panama Canal Zone,<br />
Republic of Panama,Nov<strong>em</strong>ber-Dec<strong>em</strong>ber 1960. Washington, D. C.: U. S. Government<br />
Printing Office.<br />
ARANYANAK,C.<br />
1988 Factors in deterioration of cultural materials in Thailand. SPAFA Digest 8(2):<br />
19-21.<br />
BAISH,M.A.<br />
1987 Review of Integrated Pest Manag<strong>em</strong>ent in Museum, Library and Archival Facilities, by<br />
James D. Harmon. Conservation Administration News 31: 6-7.<br />
344
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
BARNES,J.D.<br />
1984 Biodeterioration and archival documents. Preservation of library and archvial<br />
materals:193-197.<br />
BAUST,J.G.<br />
1973 Mechanisms of cryoprotection in freezing tolerant aminal syst<strong>em</strong>s. Cryobiology<br />
10(3): 197-205.<br />
BAYNES-COPE;A.DAVID<br />
1987 Advances in urban pest manag<strong>em</strong>ent. International Biodeterioration (American<br />
Association of Cereal Ch<strong>em</strong>ists): 23(4).<br />
BECKER,G.<br />
1977 Ecology and physiology of wood destroying coleoptera in structural timber.<br />
Material und organismen 12(2): 141-160.<br />
BENNETT, G. W.; J. M. OWENS, ed.<br />
1986 Pheromones and their use. In Insect suppression with controlled release pheromone<br />
syst<strong>em</strong>s, edited by A. F. Kydonieus and M. Beroze. Boca Raton, CRC Press: 3-12.<br />
BENOIT,J.<br />
1954a<br />
1954b<br />
La preservation des bois de nos territoires d’outre-mer. Bois et forêts des tropiques<br />
(juillet/aout): 29-39.<br />
La preservation des bois de nos territoires d’outre-mer. Bois et forêts des tropiques<br />
(sept<strong>em</strong>bre/octobre): 46-57.<br />
BOND,E.J.<br />
1998 Manual of fumigation for insect control. London, Cana<strong>da</strong>: FAO/INPhO.<br />
BRANDT,A.C.<br />
1995 Interventions in libraries and archives in which infections and/or<br />
infestations have occured. In Proceedings of the Pan-African conference on the<br />
preservation and conservation of library and archival materials. Nairobi, Kenya: 21-25 June<br />
1993, edited by J.-M. Arnoult et al. The Hague: IFLA, 55-59.<br />
BRANDT-GRAU, A., ed.<br />
2000 Safeguarding our documentary heritage. Online publication: http://webworld.<br />
unesco.org/safeguarding/en/[accessed April 4 2006], also Published as<br />
CD-ROM.<br />
BRAVERY,A.F.<br />
1977 Biodeterioration of solid and constructional timbers. Ch<strong>em</strong>istry and industry<br />
16: 665-668.<br />
345
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
BREWER,M.M.de;C.A.SOSA<br />
1996 Insectos en bibliothecas y archivos. Ciencia Hoy (Buenos Aires) 6(5): 40-44.<br />
BREZNER,J.;P.LUNER<br />
1989 Nuke ‘<strong>em</strong>! Library pest control using a microwave. Library Journal 114(15):<br />
60-63.<br />
BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT<br />
1980 Timber in tropical building. In Building in hot climates. A selection of overseas<br />
building notes, edited by Overseas Division of the Building Research<br />
Establishment. London: Her Majesty’s Stationary Office, 195-217.<br />
BULTMAN, J. D.; R. H. BEAL;F.F.K.AMPONG;G.C.LLEWELLYN; C. E. O’REAR, ed.<br />
1987 Resistance of some woods from Africa and Southeast Asia to neotropical<br />
wood-destroyers. Biodeterioration research 1 (Pan American Biodeterioration<br />
Society. 1st Meeting Washington, DC., 1986): 75-85.<br />
CHAND,P.<br />
1976 Control of termites. Conservation of Cultural Property in India 9: 64.<br />
CHICORA<br />
1994 Managing pests in your collections. Online publication: http://palimpsest.<br />
stanford.edu/byorg/chicora/chicpest.html [accessed April 4 2006].<br />
CHILD,R.E.<br />
1994 The Thermo Lignum process for pest control. Paper Conservation News 72: 9.<br />
CLARESON,T.<br />
1993 Pest Control S<strong>em</strong>inar, Austin: A Report. Abbey Newsletter 17(4): 57-58.<br />
COLEMAN,G.R.<br />
1978 Insectici<strong>da</strong>l smokes for the conservation of structural timbers. In<br />
Conservation of wood in painting and the decorative arts. Preprints of the contributions to the<br />
Oxford congress, 17-23 Sept<strong>em</strong>ber 1978, 23-26.<br />
CORNWELL,P.B.<br />
1968 The cockroach. Vol.1: A laboratory insect and an industrial pest. East Grinstead:<br />
Rentokil. The Rentokil Library.<br />
CORNWELL,P.B.<br />
1976 The cockroach.Vol.2: Insecticides and coackroach control. East Grinstead: Rentokil.<br />
The Rentokil Library.<br />
CUMBERLAND,D.R.<br />
1991 Guidelines for the prevention and control of biodeterioration. Collection<br />
Storage 15(4).<br />
346
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
CUNHA,G.M.<br />
1989 Methods for the eradication of pests in museum objects. In Papers from the<br />
British Museum / MEG, ethnographic conservation colloquium, 9-10th Nov<strong>em</strong>ber 1989,<br />
103-108.<br />
DANIEL,V.; G. HANLON;S.MAEKAWA<br />
1993 Eradication of pests in museums using nitrogen. WAAC Newsletter (Western<br />
Association for Art Conservation) 15(3): 15-19.<br />
DAVI,L.D.<br />
1989 Experiment on the application of Art<strong>em</strong>isia oil as insecticide and insect<br />
repellent in the museum. Conservation of Cultural Property in India 22, 108-111.<br />
DUVERNE,R.<br />
1998 Urban entomology. Division of Agricultural Sciences, University of California.<br />
EBELING,W.<br />
1996 Urban entomology. Berkeley: University of California. online publication:<br />
http://www.entomology.ucr.edu/ebeling/ [accessed April 4 2006].<br />
EBELING, W.; R. J. PENCE<br />
1965 Termite control. Prevention and control of the western subterranean termite. University of<br />
California.<br />
ELERT, K.; S. MAEKAWA<br />
1997 Projekt zur Schädlingsbekämpfung am GCI: Stickstoff und wiederverwendbare<br />
Begasungszelte (Nitrogen and reusable fumigation tents).<br />
Restauro 4: 260-266.<br />
EZENNIA,S.E.<br />
1991 Biological factors in paper deterioration in Nigeria. Library and Archival<br />
Security 11(1): 103-107.<br />
1993 The struggle to prevent micro-organisms from devouring library<br />
resources in Nigeria. Library and Archival Security 12(1): 23-33.<br />
FINDLAY,W.P.K.,ed.<br />
1985 Preservation of timber in the tropics. Dordrecht: Martinus Nijhoff/W. Junk.<br />
FLINT, M. L.; R. van den BOSCH<br />
1981a Introduction to Integrated Pest Manag<strong>em</strong>ent. Martinus Nijhoff/W. Junk.<br />
1981b Freezing for museum pest eradication. Collection Forum (Spring): 1-7.<br />
FLORIAN, M.-L.<br />
1986 The freezing process - effects on insects and artifact materials. In IIC-CG<br />
12th annual conference May 16-18, 1986.Winnipeg, 43-40.<br />
347
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1987 Assessment of pest probl<strong>em</strong>s in museum buildings: methodology and<br />
recommen<strong>da</strong>tions. A case history. In IIC-CG GC 13th annual conference abstracts<br />
6(1). British Columbia: Provincial Museum Victoria. 25-26.<br />
1997 Heritage eaters - insects and fungi in heritage collections. London: James and James.<br />
FORBES,C.F.;W.EBELING<br />
1987 Up<strong>da</strong>te: use of heat for elimination of structural pests. IPM Practitioner<br />
9(8): 1-5.<br />
FORTIN,Y.; J. POLIQUIN<br />
1976 Natural durability and preservation of one hundred tropical African woods. Ottawa:<br />
International Development Research Center.<br />
FUXA,J.R.<br />
1987 Identifying termites (order Isoptera). Queensland Agricultural Journal: 139-144.<br />
GARG,K.L.<br />
1995 Use of homeopathic drugs as antifungal agent for the protection of<br />
books and paper materials. In Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the<br />
3rd International Conference on biodeterioration of cultural property, July 4-7, 1995,<br />
Bangkok,Thailand, edited by C.Aranyanak et al. Bangkok: Office of Archeology<br />
and National Museums, Conservation Science Division, 104-115.<br />
GARG, L. K.; N. GARG;K.J.MUKERJI, ed.<br />
1994 Recent advances in biodeterioration and biodegra<strong>da</strong>tion.Vol. I: Biodeterioration of cultural<br />
heritage. Calcutta: Naya Prokash.<br />
GATEBY, S.; P. TOWNLEY<br />
2001 Potential use of the essential oil of Melaleuca alternifolia. In Biodeterioration<br />
of cultural property. Proceedings of the 5th International Conference, 12-14 Nov<strong>em</strong>ber<br />
2001, Sydney,Australia.<br />
GAY,F.J.<br />
1963 Soil treatment for termite control in Australia. Building: Lighting and Engeneering<br />
(August).<br />
GEROZISIS,J.;P.HADLINGTON<br />
1990 Inert atmosphere fumigation of museum objects. Pest Control Technology: 80-84.<br />
GILBERG,M.<br />
1991 Pheromone traps for monitoring insect pests in museums. IIC-CG Newsletter<br />
30(2): 17 and 9-11.<br />
348
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
GILBERG, M.; A. ROACH<br />
1992 Pheromone traps for monitoring pests in museums. IIC-CG Bulletin: 9-14.<br />
GILLIES,T.;N.PUTT; M. De Von FLINDT, ed.<br />
1992 Preliminary benefits analysis of ethylene oxide as a fumigant in libraries. MacLean, Va:<br />
The MITRE Corporation. Metrek Division.<br />
GOWERS,H.J.<br />
1970 The treatment of ethnographical wood. In Preprints of the contributions to the<br />
New York conference on conservation of stone and wooden objects, 7-13 June 1970.Vol. 2:<br />
Conservation of wooden objects 2 June 1970, 45-52.<br />
GRASSÉ,P.P.<br />
1966 Archive destroying termites. In A manulal of tropical archivology, edited by Y.<br />
Pérotin. Paris/The Hague: Mouton, 109-117.<br />
GRENOU, B. van, et al.<br />
1951 Wood preservation during the last 50 years. Leiden: A.W. Sijthoff.<br />
GUPTA,C.B.<br />
1984 Managing museum collections without pests and ch<strong>em</strong>icals. Grist: 9-12.<br />
HADLINGTON,P.<br />
1987 Australian termites and other common timber pests. Kensington: New South Wales<br />
University Press.<br />
HAENEL,H.<br />
1964 An evaluation of ortho-phenyl phenol as a fungici<strong>da</strong>l fumigant for<br />
archives and libraries. Journal of the American Institute for Conservation 25: 49-55.<br />
HANLON,G.;V.DANIEL;N.RAVENEL;S.MAEKAWA<br />
1993 Integrated pest manag<strong>em</strong>ent in museum, library and archival facilities. London.<br />
HARMON,J.D.<br />
1993 Integrated pest manag<strong>em</strong>ent in museum, library and archival facilities. A step by step<br />
approach for the design, development, impl<strong>em</strong>entation and maintenance of an Integrated Pest<br />
Manag<strong>em</strong>ent Program. Indianapolis: Harmon Preservation Pest Manag<strong>em</strong>ent.<br />
HARRINGTON, R.; N. STORK, ed.<br />
1993 Termites. Pest Control (May): 12-17 and 46-49.<br />
HARRIS,W.V.<br />
1943 Termites in East Africa. IV: Termites and buildings. East African Agricultural<br />
Journal 8(3): 146-152.<br />
349
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
1962 Prevention of termite <strong>da</strong>mage to buildings, with special reference to lowcost<br />
housing in the humid tropics. In Termites in the humid tropics. Proceedings<br />
of the New Delhi Symposium. Paris: Unesco, 179-181.<br />
HEDGES,S.<br />
1994 Pest animals in buildings. London: G. Godwin/Longman.<br />
HEIM, R.; F. FLIEDER;J.NICOT<br />
1968 Combating the moulds which develop on cultural property in tropical<br />
climates. In The conservation of cultural property: with special reference to tropical<br />
conditions. Paris: Unesco, 41-52.<br />
HENGEMIHLE, F. H.; N. WEBERG;C.J.SHAHANI<br />
1995 Description of residual ethylene oxide from fumigated library materials. Washington<br />
D. C.: Library of Congress. Preservation Research and Testing Series No. 9502.<br />
HICKIN,N.E.<br />
1971a<br />
1971b<br />
Termites.A world probl<strong>em</strong>. London: Hutchinson and Co.The Rentokil Library.<br />
Museum pest manag<strong>em</strong>ent: the collections inspection room. In Proceedings<br />
of the 14th annual IIC-CG conference, 101-106.<br />
1978 Insect <strong>da</strong>mage to wood in the decorative arts. A world probl<strong>em</strong>. In<br />
Conservation of wood in painting and the decorative arts. Preprints of the Contributions to<br />
the Oxford Congress, 17-23 Sept<strong>em</strong>ber 1978. London: ICC,19-22.<br />
HOFFMAN,E.<br />
1963 Mold growth and painted surfaces in tropical areas. Australian Paint Journal<br />
(Dec. 9).<br />
HONGSAPRUG,W.<br />
1995 On the preservation and protection of specimens against biodeterioration.<br />
In Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the 3rd International Conference on<br />
biodeterioration of cultural property, July 4-7, 1995, Bangkok,Thailand, edited by C.<br />
Aranyanak et al. Bangkok: Office of Archeology and National Museums,<br />
Conservation Science Division, 611-620.<br />
IFTIKHAR, Alam; Kishore RANBIR, ed.<br />
1984 Bionomics and control of Lepisma saccharina (Thysanura). Conservation of<br />
Cultural Property in India 1983-1984 (1983 S<strong>em</strong>inar: Conservation of Paintings)<br />
16/17: 77- 83.<br />
JACKSON, W. B.; J. A. CHAPMAN;G.A.FELDHAMER, ed.<br />
1997 Norway rat and allies. In Wild Mammals of North America. The Johns Hopkins<br />
University Press, 1077-1088.<br />
350
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
JAHAN, M. S. A. M.; S. N. MUNSHI<br />
1995 Termite infestation in the museum: possible preventive measures and<br />
their control. In Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the 3rd<br />
International Conference on biodeterioration of cultural property, July 4-7, 1995, Bangkok,<br />
Thailand, edited by C. Aranyanak et al. Bangkok: Office of Archeology and<br />
National Museums, Conservation Science Division, 598-602.<br />
JESSUP,W.<br />
2001 Integrated pest manag<strong>em</strong>ent: A selected bibliography for collections care. Online<br />
publication: http://palimpsest.stanford.edu/byauth/jessup/ipm.html<br />
[accessed April 4 2006].<br />
KALSHOVEN,L.G.E.<br />
1938 Book-beetle in the Netherlands Indies. Entomologische Mededeelingen van<br />
Nederlandsch-Indië 4: 10-16.<br />
KAPLAN, H. A.; L. K. SCHULTE<br />
1996 Oxygen deprivation for the extermination of infesting architectural<br />
drawings. The Paper Conservator 20: 22-26.<br />
KATHPALIA,Y. P.<br />
1973 Conservation and restoration of archive materials. Paris: UNESCO. Documentation,<br />
Libraries and Archives: Studies and Research 3.<br />
KELLER,G.W.<br />
1959 Preventing fungus and bacteriological attack in the tropical monsoon<br />
period. Ch<strong>em</strong>ical Abstracts 53.<br />
KETCHAM,J.D.<br />
1984 Investigation into freezing as an alternative method of disinfesting proteinaceous artifacts: the<br />
effects of subfreezing t<strong>em</strong>peratures on Dermestes maculatus Degeer (coleoptera: Dermesti<strong>da</strong>e).<br />
Kingston, Ontario: Queen’s University. Research Report 87.<br />
KOESTLER,R.J.;T.F.MATHEWS<br />
1994 Application of anoxic treatment for insect control in manuscripts of the<br />
library of Megisti Laura, Mount Athos, Greece. In Environment et conservation<br />
de l’écrit, de l’image et du son. Actes des deuxièmes journées internationales d’études de<br />
l’Arsag. Paris - 16 au 20 mai 1994, edited by S. Monod. Paris: Arsag, 59-62.<br />
KOYANAO,M.<br />
1993 Fungal contamination of Japanese paintings stored in Japan. In<br />
Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the 2nd International Conference,<br />
October 5-8, 1992, Yokohama, Japan, edited by K. Tosho et al. Tokyo:<br />
International Communications Specialists, 570-581.<br />
351
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
KRAEMER KOELIER,G.<br />
1960 Previsión y conservación de bibliotecas y archivos contra agentes bióticos, el fuego y factores<br />
climáticos. Madrid: Dirección general de archivos y bibliotecas. Sección de<br />
publicaciones de la junta téchnica de archivos, bibliotecas y museos.<br />
KUMAR, R.; A.V. KUMAR<br />
1999 Biodeterioration of stone in tropical environments. An overview. Marina del rey, CA:<br />
Getty Conservation Institute.<br />
LARSEN, K. E.; N. MARSTEIN<br />
2000 Conservation of historic timber structures.An ecological approach. London: Butterworth.<br />
LAWSON,P.<br />
1988 Freezing as a means of pest control. Library Conservation News 20: 6.<br />
LECLERC,F.<br />
1989 Effects produced by gamma radiation on paper. In Cultural patrimony and<br />
biological deterioration: proceedings of the S. F. I. I. C. workshops, Poitiers, 17-18 Nov<strong>em</strong>ber<br />
1988, edited by Section française de l’Institut International de Conservation,<br />
91-95.<br />
LEE, M. Wood<br />
1988 Prevention and treatment of mold in library collections, with an <strong>em</strong>phasis on tropical<br />
climates. Paris: UNESCO.LEESCH, J. G.; H. A. HIGHLAND<br />
1978 Fumigation of shrinked-wrapped pallets. Journal of the Georgia Entomological<br />
Society 13(1).<br />
LEHMANN,D.<br />
1965 Mottenschutzbehandlung textiler und zoologischer Museumsobjekte. Der<br />
Preparator. Zeitschrift fur Museumstechnik 11(2): 187-230.<br />
LIFTON,B.<br />
1985 Bug busters: getting rid of household pests without <strong>da</strong>ngerous ch<strong>em</strong>icals. McGraw-Hill<br />
Book Company.<br />
LIM, G.; T. K. TAN;A.TOH<br />
1989 The fungal probl<strong>em</strong> in buildings in the humid tropics. International<br />
Biodeterioration (American Assocociation of Cereal Ch<strong>em</strong>ists).<br />
LINDBLOM PATKUS,B.<br />
1999 Integrated pest manag<strong>em</strong>ent. Online publication: http://www.nedcc.org/<br />
plam3/tleaf11.htm [accessed April 4 2006].<br />
352
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
MCCRADY,E.<br />
1991 Progress in Preservation. Alkaline paper advocate, 4(2), May 1991.<br />
MACGREGOR,W.D.<br />
1950 The protection of buildings and timber against termites. London: Her Majesty<br />
Stationary Office. Department of Scientific and Industrial Research. Forest<br />
Product Research Bulletin, no. 24.<br />
MALLIS,A.<br />
1990 Handbook of pest control. Cleveland: Franzak and Foster.<br />
MCCALL,N.<br />
1985 Ionizing radiation as an exterminant. Me Farlin Library Conservation<br />
Administration News 23 (October): 1-2 and 20-21.<br />
MCCOMB,R.E.<br />
1983 Three gaseous fumigants. Abbey Newsletter 7(1): 12.<br />
MEHROTRA,D.C.<br />
1991 Ways to get rid of pests in museums. In Biodeterioration of cultural property.<br />
Proceedings of the International Conference on Biodeterioration of Cultural Property held at<br />
National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property February 20-25,<br />
1989, edited by O. P. Agrawal and D. Shashi, 73-75.<br />
MERTON,T.<br />
1956 Barrier against pests. Proc. Royal Society 234(1197): 218-220.<br />
MEYER,A.<br />
1998 Rodents in museums, not only a gnawing probl<strong>em</strong>!. In Proceedings of the 3rd<br />
Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums: Stockholm, Sept<strong>em</strong>ber 24-25,<br />
1998, 158-163.<br />
MITCHELL,B.<br />
[s. d.]<br />
IPM:Integrated pest manag<strong>em</strong>ent kit for building managers.How to impl<strong>em</strong>ent an integrated<br />
pest manag<strong>em</strong>ent program in your building(s). Boston: Massachusetts Department<br />
of Food and Agriculture, Pecticide Bureau.<br />
MONRO,H.A.U.<br />
1975 Manual of fumigation for control. Rome: FAO. FAO Agricultural Studies 79.<br />
MORE, H.; H. ARAI.<br />
1975 Biodeterioration of books and their pest controls in Japan. Tokyo.<br />
MORI,H.<br />
1975 Repellent effects of some incenses on the silverfish, lepisma saccharina<br />
linne (Thysanura). Science for Conservation 14 (March): 45-49.<br />
353
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
MORI, H.; H. ARAI<br />
1974 Fumigation with Vikane (suffuryl fluoride) in the folklore museum in<br />
Machi<strong>da</strong> City, Japan. Science for Conservation 12 (March): 103-108.<br />
MORI, Hachiro<br />
1984 Termite control treatment using boron compounds. Science for Conservation<br />
23: 41-54.<br />
MOSSBERG,B.<br />
1990 Termites and construction. Lund: LCHS.<br />
NAIR,S.M.<br />
1974 Biodeterioration of museum materials in tropical countries. In Conservation<br />
in the tropics, edited by O. P. Agrawal. Rome: 150-158.<br />
1977 Biodeterioration of paper. Conservation of Cultural Property in India 10: 22.<br />
1978 Some simple methods for examination of organic museum objects for<br />
insect attack. Conservation of Cultural Property in India 11: 29-30.<br />
1993a<br />
1993b<br />
Traditional methods of conservation: the Indian scene. In Fourth s<strong>em</strong>inar on<br />
the conservation of Asian cultural heritage: traditional material and techniques in<br />
conservation. National Cultural Properties Research Institute, 33-34.<br />
The probl<strong>em</strong> of biodeterioration of natural history collections in tropical<br />
countries. Recent advances in biodeterioration and biodegra<strong>da</strong>tion. In<br />
Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the 2nd International Conference,<br />
October 5-8, 1992, Yokohama, Japan, edited by K. Tosho et al. Tokyo:<br />
International Communications Specialists, 481-490.<br />
1995 Biodeterioration of cultural property in tropical countries: gaps in our<br />
knowledge and the need for further research. In Biodeterioration of cultural<br />
property. Proceedings of the 3rd International Conference on biodeterioration of cultural<br />
property, July 4-7, 1995, Bangkok, Thailand, edited by C. Aranyanak et al.<br />
Bangkok: Office of Archeology and National Museums, Conservation<br />
Science Division, 138-147.<br />
NAIR, S. M.; O. P. AGRAWAL, ed.<br />
1972 Biodeterioration of museum materials in tropical countries. In Proceedings<br />
of the Asia Pacific s<strong>em</strong>inar on conservation of cultural property, feb. 7-16, 1972. New<br />
Delhi, 150-158.<br />
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA<br />
1991b<br />
Guidelines for control and prevention of termite infestation in archives and libraries. New<br />
Delhi: National Archives of India. Monograph No.1.<br />
354
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
NATIONAL PARK SERVICE<br />
1993 Mold and Mildew: Prevention of Microorganism Growth In Museum Collections. Online<br />
publication: http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/disasters/primer/<br />
npsmold.html [accessed April 4 2006].<br />
NATIONAL RESOURCE INSTITUTE<br />
1992 A synopsis of integrated pest manag<strong>em</strong>ent in developing countries in the tropics: synthesis.<br />
Report. Chatham: National Resource Institute.<br />
NESHEIM,K.<br />
1984 The Yale non-toxic method of erradicating bookeating insects by deep-<br />
-freezing. Restaurator 6(3/4): 147-164.<br />
NICHOLSON, M.; W. von ROTBERG<br />
1996 Controlled environment heat treatment as a safe and efficient method of<br />
pest control. In Proceedings of 2nd international conference of insect pests in the urban<br />
environment, Edinburgh, 1996, edited by K. B. Wildey. Exeter: BPC. Wheatons.<br />
NILVILAI, S.; S. WANGCHAREONTRAKUL<br />
1995 Use of traditional Thai herbs for control. In Biodeterioration of cultural property.<br />
Proceedings of the 3rd International Conference on biodeterioration of cultural property, July<br />
4-7,1995,Bangkok,Thailand, edited by C.Aranyanak et al. Bangkok: Office of<br />
Archeology and National Museums, Conservation Science Division, 530-541.<br />
NOIROT, C.; H. ALLIOT<br />
1947 La lutte contre les termites. Paris: Masson.<br />
NYUKSHA,J.P.<br />
1994 The biodeterioration of paper and books. In Recent advances in biodeterioration<br />
and biodegra<strong>da</strong>tion. Volume I: biodeterioration of cultural heritage. Calcutta: Naya<br />
Prokash, 1-88.<br />
NYUKSHA,Y. P.<br />
1980 Biodeterioration and biostability of library materials. Restaurator 4(1): 71-77.<br />
OCLOO, J. K.; M. B. USHER<br />
1980 The resistance of 85 Ghanaian hardwood timbers to <strong>da</strong>mage by<br />
subterranean termites. In Proceedings of the first international conference, Ottawa,<br />
21-23 august 1978. American Society for Testing and Materials. ASTM special<br />
technical publication 691. Philadelphia, 972-980.<br />
OLKOWSKI, W.; H. OLKOWSKI<br />
1987 Pests that <strong>da</strong>mage paper: silverfish, firebrats and booklice. Pest Control<br />
Quarterly 3(1) (Winter): 9-13.<br />
355
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
OLKOWSKI, W.; S. DAAR<br />
1986 Tips on trapping rats and mice and rodent proofing buildings. The IPM<br />
Practitioner 8(11/12): 8-9.<br />
OLKOWSKI, W.; S. DAAR;H.OLKOWSKI<br />
1984 Integrated pest manag<strong>em</strong>ent for the German cockroach. Berkeley, California: Bio-<br />
Integral Resource Center.<br />
1991 Common-sense pest control. Newtown, CT: The Taunton Press.<br />
PARKER,T.A.<br />
1987 Integrated pest manag<strong>em</strong>ent for libraries. In Preservation of library materials.<br />
Conference held at National Library of Austria,Vienna, April 7-10, 1986, edited by<br />
M. A. Smith. Munich: Sauer Verlag, 103-123.<br />
1988 Study on Integrated Pest Manag<strong>em</strong>ent for libraries and archives. Paris: UNESCO.<br />
1993 Review of Integrated Pest Manag<strong>em</strong>ent in Museum, Library and Archival Facilities, by<br />
James D. Harmon. Indianapolis: Harmon Preservation Pest Manag<strong>em</strong>ent.<br />
1993. Abbey Newsletter 17(2): 27-28.<br />
PASQUARELLI,M.L.R.<br />
1989 Utilização do método de congelamento para recuperação de material<br />
bibliográfico infestado por ativi<strong>da</strong>de larval. Ciência e Cultura (São Paulo)<br />
41(8): 808-810.<br />
PATON, R.; J. W. CREFFIELD<br />
1987 The tolerance of some timber pests to atmospheres of carbon dioxide<br />
and carbon dioxide in air. International Pest Control 1(29): 10-12.<br />
PEACOCK,E.E.<br />
1998 Freezing natural fibre textiles. In Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on<br />
Insect Pest Control in Museums, Stockholm, Sept<strong>em</strong>ber 24-25, 1998. Stockholm:<br />
Naturhistoriska Riksmuseet, 61-70.<br />
1999 A note on the effect of multiple freeze-thaw treatment on natural fibre<br />
fabrics. Studies in Conservation 44(1): 12-18.<br />
PEARSON,A.<br />
1999 Pest practice. Building Citation 264(8112/45): 48-49.<br />
PEARSON,C.<br />
1993 Building out pests. AICCM Bulletin 19(1/2): 41-55.<br />
PINNIGER, D.; E. SUNESEN<br />
1994 Pests in museums. London: Archetype.<br />
356
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
PINNIGER,D.;V.BLYTH;H.KINGSLEY<br />
1998 Trappping: the key to pest manag<strong>em</strong>ent. In Proceedings of the 3rd Nordic<br />
Symposium on Insect Pest Control in Museums:Stockholm,Sept<strong>em</strong>ber 24-2.1998, 96-107.<br />
PINNIGER,D.B.<br />
1991 New Developments in the detection and control of insects which <strong>da</strong>mage<br />
museum collections. Biodeterioration Abstracts 5(2): 125-130.<br />
1993 Advances in the detection of pests which attack museum collections. In<br />
Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the 2nd International Conference,<br />
October 5-8, 1992, Yokohama, Japan, edited by K. Tosho et al. Tokyo:<br />
International Communications Specialists, 521-527.<br />
1994 Insect pests in museums. London: Archetype.<br />
1998 Fumigant gases to control in museum objects. In Proceedings of the 3rd Nordic<br />
Symposium on Insect Pest Control in Museums:Stockholm,Sept<strong>em</strong>ber 24-25,1998,110-111.<br />
PLUMBE,W.J.<br />
1961 Protection of books against mildew. Malayan Library Journal 1(2): 11-13.<br />
1987 Preservation of books and periodicals in Arab countries. In Tropical<br />
Librarianship, edited by W. J. Plumbe. New York: Metuchen, 217-222.<br />
PÖSCHKO, M.; D.-E. PETERSEN;C.REICHMUTH<br />
1997 Silberfischchen in Büchern: Schadenspotential und Bekämpfungsmö<br />
glichkeiten. Restauro 103(1): 50-55.<br />
QUEK, L. C.; M. RAZAK;M.W.BALLARD<br />
1990 Pest control for t<strong>em</strong>perate vs tropical museums: North America –<br />
Southeast Asia.: ICOM. In ICOM-CC 9th Triennial Meeting Dresden,German D<strong>em</strong>ocratic<br />
Republic 26-31 August 1990. Preprints (2). Los Angeles: ICOM, 817-820.<br />
RAUCH,E.<br />
1984 Rodent and termite proofing of buildings. St. Gallen: SKAT.<br />
READ,F.<br />
1994 Preventive conservation. Online publication: http://www.meaco.com/preventa.<br />
htm [accessed April 4 2006].<br />
READE FONG,E.C.<br />
2001 Mass fumigation at the University Library in Suva. International Preservation<br />
News 24: 5-6.<br />
ROBINOW,B.H.<br />
1956 Books and cockroaches; an att<strong>em</strong>pt to cope with the menace. South African<br />
Libraries 24(2): 40-42.<br />
357
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
ROBINSON, W. H.; F. RETTICH;G.W.RAMBO, ed.<br />
1999 Proceedings of the 3rd international conference on urban pests. Czech University of<br />
Agriculture, Prague: July 19-22, 1999. Prague: Graficke zavody Hronov.<br />
ROSSMAN,J.<br />
1935 [Methods of producing insect repellent paper]. Paper Trade Journal 100: 39 and 40.<br />
RYTKONEN, A.-L., et al.<br />
1988 The effect of air t<strong>em</strong>perature and humidity on the growth of some fungi.<br />
In Proceedings of Healthy Buildings 88, edited by B. Berglund and T. Lindvall.<br />
Stockholm: Swedish Council for Building Research.<br />
SAMIDI; Hr. SADIRIN<br />
1993 Traditional conservation of wooden carving house of Kudus (Indonesia).<br />
In Fourth s<strong>em</strong>inar on the conservation of Asian cultural heritage: traditional material and<br />
techniques in conservation. National Cultural Properties Research Institute,<br />
117-138.<br />
SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ,A.<br />
2001 A brief bibliography on pest manag<strong>em</strong>ent. Online publication: http://palimpsest.<br />
stanford.edu/byauth/hernampez/pestbib.html [accessed April 4 2006].<br />
SARKAR,N.N.<br />
1991 Control of biological agents of library materials in India. In International<br />
s<strong>em</strong>inar on research in preservation and conservation. Arden House, May 25 to 29, 1991.<br />
100-118.<br />
SCHAL, C.; R. L. HAMILTON<br />
1990 Integrated suppression of synanthropic cockroaches. Annual Review of<br />
Entomology 35: 521-551.<br />
SCLAR, D. Casey<br />
1994 Ne<strong>em</strong>: mode of action of compounds present in extracts and<br />
formulations of Azadirachta indica seeds and their efficacy to pests of<br />
ornamental plants and to non-target species. Online publication: http://<br />
www.colostate.edu/Depts/Entomology/courses/en570/papers1994/<br />
sclar.html [accessed April 4 2006].<br />
SCOTT,G.<br />
1994 Moisture, ventilation and mould growth. In Preventive conservation practice,<br />
theory and research: Preprints of the contribution to the Ottawa congress, 12-16 Sept<strong>em</strong>ber<br />
1994, edited by A. Roy and P. Smith. London: ICC, 149-153.<br />
358
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
SCOTT,G.<br />
1996 Mould growth in tropical environments: a discussion. In ICOM-CC 11th<br />
Triennal Meeting Edingburgh, Scotland 1-6 Sept<strong>em</strong>ber. Preprints (1). London: James<br />
and James, 91-96.<br />
SHIPLEY,A.E.<br />
1925 En<strong>em</strong>ies of books. Tropical Agriculture 2: 223-224.<br />
SINGH,J.<br />
1994 Biodeterioration of building materials. In Recent advances in biodeterioration and<br />
biodegra<strong>da</strong>tion.Volume I: biodeterioration of cultural heritage. Calcutta: Naya Prokash,<br />
399-427.<br />
SMITH,R.D.<br />
1984a<br />
The use of redesigned and mechanically modified commercial freezers to<br />
dry water-wetted books and exterminate. Journal of Biological Curation 1(1): 1-4.<br />
1984b Fumigation dil<strong>em</strong>ma: more overkill or common sense. In Biodeterioration 6:<br />
papers presented at 6th Interational Biodeterioration Symposium,Washington DC, August<br />
1984, 374-379.<br />
1986 Background, use, and beneficts of blast freezers in the prevention and<br />
extermination of insects. New Library Scene 3(6): 1 and 5-6.<br />
SOLINET<br />
2000 Pest Control:selected bibliography. Online publication: http://www.solinet.net/<br />
preservation/leaflets/leaflets t<strong>em</strong>pl.cfm?doc id=125.<br />
ST.GEORGE, R. A.; H. R. JOHNSTON;R.J.KOWAL<br />
1960 Subterranean termites, their prevention and control in buildings. Home and<br />
Garden Bulletin (US Department of Agriculture) 64: 30.<br />
STANSFIELD,G.<br />
1989 Physical methods of pest control. Restaurator 6(3-4): 165-190.<br />
STRANGER, C.; L. BRANDIS<br />
1992 Insect pests and their erradication (non-ch<strong>em</strong>ical methods). Australian<br />
Library Journal 41:180-183.<br />
STRONG,G.E.<br />
1987 Rats Oh No, Not Rats!. Special Libraries 76(2): 105-111.<br />
SUPRIANA,N.<br />
1988 Studies in the natural durability of tropical timbers to termite attack.<br />
International Biodeterioration (American Assocociation of Cereal Ch<strong>em</strong>ists) 24:<br />
337-341.<br />
359
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
SWARNAKAMAL<br />
1975 Protection and conservation of musu<strong>em</strong> collection. Baro<strong>da</strong>: Museum and Picture Gallery.<br />
SWEETMAN,H.L.<br />
1938 Physical ecology of the firebrat,Thermobia domestica (Packard). Ecological<br />
Monographs 8: 285-311.<br />
SZENT-YVANY,J.J.H.<br />
1968 Identification and control of insect pests. In The conservation of cultural property:<br />
with special reference to tropical conditions. Paris: Unesco, 53-70.<br />
TACK,C.H.<br />
1980 Preservation of timber for tropical building. In Building in hot climates. A<br />
selection of overseas building notes, edited by [Overseas Division of the Building<br />
Research Establishment]. London: Her Majesty’s Stationary Office, 239-253.<br />
TALWAR,V.V.<br />
1975 Fumigation techniques for sterilisation of paper. Conservation of Cultural<br />
Property in India 8: 46-49.<br />
TANIMURA, H.; S.YAMAGICHI<br />
1995 The freezing method for eradication of museum pest - the safe method<br />
for both of the human body and artifacts - experiment on Japanese<br />
artifacts and the present state of freezing method in western countries. In<br />
Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the 3rd International Conference on<br />
biodeterioration of cultural property, July 4-7, 1995, Bangkok,Thailand, edited by C.<br />
Aranyanak et al. Bangkok: Office of Archeology and National Museums,<br />
Conservation Science Division, 555-566.<br />
TEPLY,J.;C.FRANEK;R.KRAUS;V. CERVENKA<br />
1986 Mobile irradiator and its application in the preservation of the objects of<br />
art. Radiation Physics and Ch<strong>em</strong>istry (The international journal for radiation<br />
reactions, processes and industrial applications) 28(5-6): 585-588.<br />
TILTON, E. W.; H. H.VARDELL<br />
1982a An evaluation of a pilot-plant microwave vacuum drying unit for storedproduct<br />
control. Journal of the Georgia Entomological Society 17(1): 133-138.<br />
1982b<br />
Combination of microwaves and partial vacuum for control of four<br />
stored-product in stored grain. Journal of the Georgia Entomological Society<br />
17(1): 106-112.<br />
TOSHO, K.; H. ARAI;T.KENJO;K.YAMANO, ed.<br />
1993 Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the 2nd International Conference,<br />
October 5-8, 1992, Yokohama, Japan. Tokyo: International Communications<br />
Specialists.<br />
360
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
TRINKLEY,M.<br />
1990 Integrated pest manag<strong>em</strong>ent: beating the critter jitters. Atlanta: SOLINET.<br />
TRUMAN,L.C.;G.W.BENNET;W.L.BUTTS<br />
1988 Scientific guide to pest control operations. Duluth, MN: Harcourt Brace Janovich.<br />
UNESCO<br />
1960 Termites in the humid tropics. Proceedings of the New Delhi symposium jointly organized by<br />
UNESCO and the Zoological Survey of India. Paris: UNESCO.<br />
UNGER, A.; W. UNGER;C.REICHMUTH<br />
1993 The fumigation of insect-infested wood sculptures and paintings with<br />
nitrogen. In Biodeterioration of cultural property. Proceedings of the 2nd International<br />
Conference, October 5-8, 1992,Yokohama, Japan, edited by K. Tosho et al. Tokyo:<br />
International Communications Specialists, 440-446.<br />
UPSHER, F. J.; A. H. WALTERS; E. H. Hueck-Van der PLAS, ed.<br />
1972 Microfungi at the joint tropical research unit, Innisfail, Queensland. In<br />
Biodeterioration of materials. Proceedings of the 2nd international biodeterioration<br />
symposium, Lunteren, the Netherlands, 13th-18th Sept<strong>em</strong>ber 1971. London: Applied<br />
Science.<br />
URBAN,J.;P.JUSTA<br />
1986 Conservation by gamma radiation: the Museum of Central Boh<strong>em</strong>ia in<br />
Roztoky. Museum 38(3): 151 and 165-167.<br />
URS,K.C.D.<br />
1993 Population suppression of the American cockroach, Periplaneta<br />
americana (Blatti<strong>da</strong>e, Dictyoptera), with pheromone. In Biodeterioration of<br />
cultural property. Proceedings of the 2nd International Conference, October 5-8, 1992,<br />
Yokohama, Japan, edited by K. Tosho et al. Tokyo: International Communications<br />
Specialists, 456-460.<br />
VALENTIN,N.<br />
1986 Biodeterioration of library materials disinfection methods and new<br />
alternatives. The Paper Conservator10, 40-45.<br />
VALENTIN, N.; K. GRIMSTAD, ed.<br />
1990 Eradication in museums and archives by oxygen replac<strong>em</strong>ent a pilot<br />
project. In ICOM-CC 9th Triennial Meeting Dresden, German D<strong>em</strong>ocratic Republic 26-31<br />
August 1990. Preprints (2). Los Angeles: ICOM, 820-823.<br />
VALENTIN, N., et al.<br />
1998 Microbiological control in archives, libraries and museums by<br />
ventilation syst<strong>em</strong>s. Restaurator 19(2): 85-107.<br />
361
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
VALENTIN, N.; M.VAILLANT;H.GUERRERO<br />
1997 Programa de control integrado de plagas en bienes culturales de paises<br />
de clima mediterraneo y tropical. Apoyo 7(1): 13-15.<br />
VELDERRAIN,C.<br />
1991 Danger! Termites: Préserver les constructions des dégâts des termites. Paris: GRET.<br />
WALTERS, A. H.; E. H. Hueck-Van der PLAS, ed.<br />
1972 Biodeterioration of materials. In Proceedings of the 2nd international<br />
biodeterioration symposium. Lunteren, the Netherlands, 13th-18th sept<strong>em</strong>ber 1971.<br />
London and New York: Wiley-Halsted Press.<br />
WARE,G.W.<br />
1980 Complete guide to pest control with and without ch<strong>em</strong>icals. San Francisco,<br />
Ca.: Thomson.<br />
WEARING,C.H.<br />
1988 Evaluating the IPM impl<strong>em</strong>entation process. Annual Review of Entomology 33:<br />
17-38.<br />
WEE,Y. C.; K. B. LEE<br />
1980 Proliferation of algae on surfaces of buildings in Singapore. International<br />
Biodeterioration (American Assocociation of Cereal Ch<strong>em</strong>ists).<br />
WELLHEISER,J.G.<br />
1992 Non-ch<strong>em</strong>cial treatment processes for desinfection of insects and fungi in library collections.<br />
The Hague: K. G. Saur.<br />
WERNER,A.E.<br />
1968 The conservation of leather, wood, bone and ivory, and archival<br />
materials. In The conservation of cultural property: with special reference to tropical<br />
conditions. Paris: Unesco, 265-290.<br />
1979 Insect infestation and its control. In Regional s<strong>em</strong>inar on the conservation of cultural<br />
materials in humid climates. Canberra, 19-23 February 1979, edited by C.Pearson.<br />
Canberra: Australian Government Publication Services, 54-58.<br />
WHITE,M.G.<br />
1970 The inspection and treatment of houses for <strong>da</strong>mage by wood-boring.<br />
Timberlab Papers 33: 7.<br />
WILDEY, K. B., ed.<br />
1996 Proceedings of 2nd international conference of insect pests in the urban environment,<br />
Edinburgh, 1996. Exeter: BPC. Wheatons.<br />
362
Bibliografia | Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
WILKINSON,J.G.<br />
1979 Industrial timber preservation. London: Associated Business Press.<br />
WILKINSON,R.S.<br />
1980 Further observations on freezing for storage. The Entomologist’s Record and<br />
Journal of Variation 92(11/12): 273-274.<br />
WILLIAMS,L.H.<br />
1973 Recognition and control of wood destroying beetles. Pest Control Magazine<br />
(February), 24 and 26-28.<br />
WILLIAMS,M.C.<br />
1977 The ecology and physiology of structural wood destroying isoptera.<br />
Material und organismen 12(2): 111-140.<br />
WILLIAMS, S. L.; E. A. WALSH<br />
1989 Developing ch<strong>em</strong>ical pest control strategies for museums. Curator 32(1):<br />
34-49 and 67-69.<br />
WIMALADASA,S.N.<br />
1993 Biodeterioration of cultural property (paper and wood). In Biodeterioration<br />
of cultural property. Proceedings of the 2nd International Conference, October 5-8, 1992,<br />
Yokohama, Japan, edited by K. Tosho et al. Tokyo: International<br />
Communications Specialists, 34-40.<br />
WINKS, R. G.; B. R. CHAMP<br />
1977 The principles of pest control in museums. In Proceedings of the ICCM National<br />
Conference, Canberra, May 1976. Sydney:The Institute for the Conservation of<br />
Cultural Material, 77-79.<br />
WIXTED, D.; R. FLASHINSKI,P.PELLITTER;S.CRAVEN, ed.<br />
1997 Pest manag<strong>em</strong>ent principles for the commercial applicator: structural pest control.<br />
Madison: University of Wisconsin-Extension.<br />
WOOD,G.W.<br />
1956 Books and documents: protection from insect <strong>da</strong>mage. A survey of the<br />
probl<strong>em</strong> and methods of control. Pesticides Abstracts and News Summary 2(2),<br />
Section A, Insecticides.<br />
ZAITSEVA,G.A.<br />
1989 Control in museums: the use of traps. In International conference on biodeterioration<br />
of cultural property, Preprints, 20-25 February. Vol. I, 38-43.<br />
363
APÊNDICES
Apêndice 1<br />
Glossário de abreviaturas<br />
AATA<br />
Art and Archaeology Technical Abstracts<br />
ABHB Annual Bibliography of the History of the Book and Libraries<br />
ABRACOR Associação Brasileira de Conservadores-Restauradores de Bens<br />
Culturais<br />
a. C. Antes de Cristo<br />
ADRC Asian Disaster Reduction Centre<br />
AIA<br />
American Institute of Architects<br />
AIC<br />
American Institute of Conservation of Historic and Artistic Works<br />
AIVC<br />
Air Infiltration and Ventilation Centre<br />
AMIA Association of Moving Image Archivists<br />
ANRI<br />
Arsip Nasional di Republik Indonesia<br />
APOYO Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de las<br />
Américas<br />
ARA<br />
Alg<strong>em</strong>een Rijksarchief, see Nationaal Archief<br />
ARL<br />
Art Loss Register<br />
ASEAN Association of Southeast Nations<br />
BCIN<br />
Bibliographic Database of the Conservation Information Network<br />
BHO<br />
Book History Online<br />
BS<br />
British Stan<strong>da</strong>rd<br />
C<br />
Celsius<br />
CARDIN Caribbean Disaster Information Network<br />
CCI<br />
Canadian Conservation Institute<br />
CDERA Caribbean Disaster Emergency Response Agency<br />
CDNLAO Conference of Directors of National Libraries in Asia and Oceania<br />
CECOR Centro de <strong>Conservação</strong> e Restauração de Bens Culturais Móveis<br />
CEOS-DMSG Committee on Earth Observation Satellites/Disaster Manag<strong>em</strong>ent<br />
Support Group<br />
CHIN Canadian Heritage Information Network<br />
CIA<br />
Conselho Internacional de Arquivos<br />
CIDA<br />
Canadian International Development Agency<br />
CLIR<br />
Council on Library and Information Resources<br />
COAPS Center for Ocean and Atmospheric Prediction Studies<br />
CONSAL Congress of Southeast Asian Librarians<br />
CoOL Conservation Online<br />
CoPAT Council for the Prevention of Art Theft<br />
COSTFORD Centre of Science and Technology For Rural Development<br />
CPBA<br />
Projeto <strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>em</strong> Bibliotecas e Arquivos<br />
367
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
d. C. Depois de Cristo<br />
DMF<br />
Disaster Manag<strong>em</strong>ent Facility<br />
ECHO European Community Humanitarian Office<br />
ECPA<br />
European Commission on Preservation and Access<br />
ESA<br />
Earth and Atmospheric Science<br />
EUA<br />
Estados Unidos <strong>da</strong> América<br />
FBI<br />
Federal Bureau of Investigation<br />
FEMA Federal Emergency Manag<strong>em</strong>ent Agency<br />
FHRC Flood Hazard Research Centre<br />
FIAT<br />
Fédération Internationale des Archives de Télévision<br />
FIDA<br />
International Archival Development Fund<br />
GCI<br />
Getty Conservation Institute<br />
GSHAP Global Seismic Hazard Assessment Program<br />
HEPA<br />
High-Efficiency Particulate Air (filter)<br />
HR<br />
Humi<strong>da</strong>de Relativa<br />
HRL<br />
Hazards Research Lab<br />
HVAC Heating,Ventilating, and Air Conditioning<br />
GIP<br />
Gestão Integra<strong>da</strong> de Pragas<br />
IAP<br />
Indoor Air Pollution working group<br />
IAPMA International Association of Hand Papermakers and Paper Artists<br />
IASA<br />
International Association of Sound and Audiovisual Archives<br />
ICA/CBQ ICA Committee on Archive Building and Equipment<br />
ICBS<br />
International Committee of the Blue Shield<br />
ICC<br />
International Institute for the Conservation of Museum Objects<br />
ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and<br />
Restoration of Cultural Property<br />
ICOM International Council of Museums<br />
ICOMOS International Council on Monuments and Sites<br />
ICSU<br />
International Council of Scientific Unions<br />
IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction<br />
IDP<br />
International Dunhuang Project<br />
IFLA<br />
International Federation of Library Associations and Institutions<br />
IFLA-PAC IFLA core programme for preservation and conservation<br />
IFRC<br />
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies<br />
IFTA<br />
International Federation of Television Archives<br />
ILP<br />
International Lithosphere Program<br />
INTACH Indian National Trust for Art and Cultural Heritage<br />
IPH<br />
International Association of Paper Historians<br />
IPI<br />
Image Permanence Institute<br />
ISDR<br />
International Strategy for Disaster Reduction<br />
ISO<br />
International Stan<strong>da</strong>rd Organisation<br />
ITIC<br />
International Tsunami Information Center<br />
368
Bibliografia | Apêndice 1<br />
JICPA<br />
Joint IFLA/ICA Committee for Preservation in Africa<br />
KB<br />
Koninklijke Bibliotheek, National Library of the Netherlands<br />
KIT<br />
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Royal Tropical Institute<br />
LGI<br />
Laboratoire de Génie Industriel<br />
LTP<br />
Laboratory for Terrestrial Physics<br />
MPD<br />
Multi Protection Design<br />
NA<br />
Nationaal Archief, National Archives of the Netherlands (formerly ARA)<br />
NAA<br />
National Archives of Australia<br />
NARA National Archives and Record Administration<br />
NAS<br />
National Archives of Singapore<br />
NASA National Aeronautics and Space Administration<br />
NCPTT National Centre for Preservation Technology and Training<br />
NCSD National Councils for Sustainable Development<br />
NDL<br />
National Diet Library<br />
NDRD Natural Disaster Reference Database<br />
NEDCC Northeast Document Conservation Center<br />
NEIC<br />
National Earthquake Information Centre<br />
NGO<br />
Non-governmental Organisation<br />
NHC<br />
National Hurricane Centre<br />
NHC/TPC National Hurricane Centre / Tropical Prediction Centre<br />
NIC<br />
National Institute for the Conservation of Cultural Property<br />
NIFC<br />
National Interagency Fire Center<br />
NLA<br />
National Library of Australia<br />
NLD<br />
The National Diet Library<br />
NLIC<br />
National Landslide Information Center<br />
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration<br />
NPS<br />
National Park Service<br />
NRLC The National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property<br />
Object ID Object Identification<br />
ODPEM Office of Disaster Preparedness and Emergency Manag<strong>em</strong>ent<br />
ONU<br />
Organização <strong>da</strong>s Nações Uni<strong>da</strong>s<br />
PAMBU Pacific Manuscripts Bureau<br />
PARBICA Pacific Regional Branch International Council on Archives<br />
pH Potential of hydrogen = degree of acidity/alkalinity (1–14)<br />
PhD<br />
Doctor of Philosophy<br />
PI<br />
Preservation Index<br />
PMB<br />
Pacific Manuscripts Bureau<br />
PVA<br />
Acetato de polivinilo (Polyvinyl acetate)<br />
RAMP Records and Archives Manag<strong>em</strong>ent Programme<br />
RU<br />
Reino Unido<br />
RIBA<br />
Royal Institute of British Architects<br />
RIRDC The Rural Industries Research and Development Corporation<br />
369
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
SAM<br />
SARBICA<br />
SCMRE<br />
SEACAP<br />
SEAPAVAA<br />
SKAT<br />
SOLINET<br />
T<br />
TCP<br />
UNCED<br />
UNDP<br />
UNESCAP<br />
UNESCO<br />
UPS<br />
URL<br />
USGS<br />
UV<br />
WCED<br />
WMO<br />
WWW<br />
Seattle Art Museum<br />
Southeast Asia Regional Branch International Council on Archives<br />
Smithsonian Center for Materials Research and Education<br />
Southeast Asian Consortium for Access and Preservation<br />
South East Asia-Pacific Audiovisual Archive Association<br />
Swiss Centre for Development Cooperation in Technology and<br />
Manag<strong>em</strong>ent<br />
Southeastern Library Network<br />
T<strong>em</strong>peratura<br />
Tropical Cyclone Programme<br />
United Nations Conference on Environment and Development<br />
United Nations Development Programme<br />
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the<br />
Pacific<br />
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization<br />
Uninterrupted Power Supply unit<br />
Uniform Resource Locator = website address<br />
United States Geological Survey<br />
Ultravioleta<br />
World Commission on Environment and Development<br />
World Meteorological Organization<br />
World Weather Watch<br />
370
Apêndice 2<br />
Mora<strong>da</strong>s de contactos e Instituições<br />
Por ord<strong>em</strong> alfabética<br />
Abbey Newsletter<br />
<br />
A<br />
Abstracts of International Conservation Literature (AATA)<br />
Email: aata@getty.edu<br />
<br />
Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC)<br />
c/o Dr Peter Wouters<br />
Boulevard Poincaré 79<br />
B-1060 Brussels<br />
Belgium<br />
Tel: +32 2 655 77 11<br />
Fax: +32 2 653 07 29<br />
Email: inive@bbri.be<br />
<br />
Al-Furqan Islamic Heritage Foun<strong>da</strong>tion<br />
Eagle House, High Street<br />
Wimbledon<br />
London SW19 5EF<br />
United Kingdom<br />
Tel: +44 181 944 1233<br />
Fax: +44 181 944 1633<br />
Email: info@al-furqan.com<br />
<br />
American Institute for Conservation (AIC)<br />
1717 Sweet NW, Suite 301<br />
Washington DC 2006<br />
USA<br />
Tel: +1 202 452 9545<br />
Fax: +1 202 452 9328<br />
Email: info@aic-faic.org<br />
<br />
371
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Art Loss Register (ARL)<br />
First Floor,<br />
63-66 Hatton Garden,<br />
London EC1N 8LE<br />
Tel: +44 20 7841 5780<br />
Fax: +44 20 7841 5781<br />
Email: artloss@artloss.com<br />
<br />
Architectural Institute of Japan<br />
26-20, Shiba 5-chome, Minato-ku,<br />
Tokyo 108-8414<br />
Japan<br />
Tel: +81 3 3456 2051<br />
Fax: +81 3 3456 2058<br />
Email: info@aij.or.jp<br />
<br />
Arquivo Nacional<br />
Rua Azeredo Coutinho, 77<br />
Centro, 20230-170<br />
Rio de Janeiro, RJ<br />
Brazil<br />
Tel: +55 21 3806 6140<br />
Fax: +55 21 3806 6139<br />
Email: ccd@arquivonacional.gov.br<br />
<br />
Asian Disaster Reduction Centre (ADRC)<br />
3F, IHD Centre Bldg.<br />
1-5-1 Wakihama-kaigan-dori<br />
Chuo-ku, Kobe City<br />
Hyogo Prefecture 651-0073<br />
Japan<br />
Tel: +81 78 230 0346<br />
Fax: +81 78 230 0347<br />
Email: rep@adrc.or.jp<br />
<br />
Asociación para la Conservación del Patrimonio cultural de las Américas (APOYO)<br />
P.O.Box 76932<br />
Washington, D.C. 20013, USA<br />
372
Bibliografia | Apêndice 2<br />
Tel: +1 202 707/1026/5634<br />
Fax: +1 202 707/1525<br />
Email: ator@loc.gov<br />
<br />
<br />
Associação Brazileira de Conservadores-Restauradores de Bens Culturais (ABRACOR)<br />
Caixa Postal 6557 - CEP: 20030-970<br />
Rio de Janeiro - RJ<br />
Brazil<br />
Tel: + 55 21 2262 2591<br />
Email: abracor@abracor.com.br<br />
<br />
Association of Moving Image Archivists (AMIA)<br />
1313 N.Vine Street<br />
Hollywood, CA 90028<br />
USA<br />
Tel: +1 323 463 1500<br />
Fax: +1 323 463 1506<br />
Email: amia@amianet.org<br />
<br />
Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN)<br />
<br />
B<br />
Bishop Museum<br />
The State Museum of Natural and<br />
Cultural History<br />
1525 Bernice Street<br />
Honolulu Hawai’i<br />
96817-0916<br />
USA<br />
Tel: +1 808 847 3511<br />
Fax : +1 808 841 8968<br />
Email: museum@<br />
bishopmuseum.org<br />
<br />
Book History Online (BHO)<br />
www.kb.nl/bho<br />
373
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
C<br />
British Columbia<br />
Ministry of Water, Land and Air Protection Pollution Prevention and R<strong>em</strong>ediation<br />
Branch<br />
Box 9342 Stn , Prov. Govt.<br />
Victoria, British Columbia<br />
V8W 9M1<br />
Cana<strong>da</strong><br />
Tel: +1 250-387-4441<br />
<br />
Canadian Conservation Institute (CCI)<br />
1030 Innes Road<br />
Ottawa ON K1A 0M5<br />
Cana<strong>da</strong><br />
Tel: +1 613 998 3721<br />
Fax: +1 613 998 4721<br />
Email: cci-icc_services@pch.gc.ca<br />
<br />
Canadian Heritage Information Network (CHIN)<br />
15 Eddy Street, (15-4-A)<br />
Gatineau, Quebec<br />
Cana<strong>da</strong> K1A 0M5<br />
Tel: +1 819 994-1200<br />
Fax: +1 819 994-9555<br />
Email: service@chin.gc.ca<br />
<br />
Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA)<br />
Building #1 Manor Lodge<br />
Lodge Hill, St Michael<br />
Barbados<br />
Tel: + 1 246 425-0386<br />
Fax: +1 246 425-8854<br />
Email: cdera@caribsurf.com<br />
<br />
Caribbean Disaster Information Network (CARDIN)<br />
Science Library, University of the West Indies<br />
Mrs. Beverley Lashely<br />
Project Coordinator<br />
P.O.Box 104, Mona, Kingston 7<br />
374
Bibliografia | Apêndice 2<br />
Jamaica, West Indies<br />
Tel: +1 876 970 1757<br />
Fax: +1 876 970 1758<br />
Email: cardin@uwimona.edu.jm<br />
<br />
Center for Ocean and Atmospheric Prediction Studies (COAPS)<br />
[Bibliography El Nino and flooding, a global resource]<br />
Flori<strong>da</strong> State University<br />
Tallahassee, FL 32306-2840<br />
USA<br />
Tel: +1 850 644-6931<br />
Fax: +1 850 644-4841<br />
<br />
Centre of Science and Technology for Rural Development (COSTFORD)<br />
Architectural Services<br />
F-329/2, Lado Sarai<br />
110 030 New Delhi<br />
Tel: +91 93 - 1241 2778<br />
Fax: +91 11 - 2653 1525<br />
Email: costfordncr@gmail.com<br />
<br />
Centro de <strong>Conservação</strong> e Restauração de Bens Culturais Móveis (CECOR)<br />
Brazil<br />
Prof. Luiz A. C. Souza<br />
Tel.: +55 31 3499.5378<br />
Fax: +55 31 3499.5375<br />
Email: conserv@de<strong>da</strong>lus.<br />
lcc.ufmg.br<br />
<br />
Commission on Preservation and Access (CLIR)<br />
1755 Massachusetts Avenue, NW<br />
Suite 500<br />
Washington DC 20036-2188<br />
USA<br />
Tel: +1 202 939 4750<br />
Fax: +1 202 939 4765<br />
Email: info@clir.org<br />
<br />
375
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Committee on Earth Observation Satellites (CEOS)<br />
Email: ceos-sec@jaxa.jp<br />
<br />
Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL)<br />
National Library Board (NLB)<br />
1 T<strong>em</strong>asek Ave 06-00<br />
Millenia Tower<br />
Singapore 039192<br />
Contact: Ms. Eunice Low<br />
Tel: +65 332 3133<br />
Email: eunicelow@nlb.gov.sg<br />
<br />
Conservation DistList<br />
Subscribe: consdist YourFirstName YourLastName and send to<br />
consdist-request@lindy.stanford.edu<br />
<br />
D<br />
CoOL (Conservation Online)<br />
<br />
Dartmouth Flood Observatory<br />
Department of Geography<br />
Dartmouth College<br />
Dr. G.R. Brakenridge<br />
Hanover, NH 03755<br />
USA<br />
Tel: + 1 603 646-2870<br />
Fax: +1 603 646 1601<br />
Email: Brakenridge@<strong>da</strong>rtmouth.edu<br />
<br />
Die Deutsche Bibliothek, Leipzig<br />
The National Library of Germany<br />
Deutsches Buch- und Schriftmuseum<br />
Papierhistorische Sammlungen<br />
Dr. Frieder Schmidt<br />
Deutscher Platz 1<br />
04103 Leipzig<br />
Germany<br />
Tel: +49 341 2271 250/273<br />
376
Bibliografia | Apêndice 2<br />
Email: schmidtf@dbl.ddb.de<br />
<br />
Dow Agro Sciences<br />
Customer Information Center<br />
9330 Zionsville Road<br />
Indianapolis, IN 46268-1054<br />
USA<br />
Tel: 1-800-992-5994<br />
Fax: 1-800-905-7326<br />
<br />
Earth and Space Sciences ‘Tsunami’<br />
University of Washington<br />
Main Office, 63 Johnson Hall<br />
Box 351310<br />
Seattle, WA 98195-1310<br />
USA<br />
Tel: +1 206 543 1190<br />
Fax: +1 206 543 0489<br />
Email: advising@ess.washington. edu<br />
<br />
E<br />
Ecological Society of Australia (ESA)<br />
P.O.Box 1564<br />
Canberra ACT 2601<br />
Australia<br />
Tel:+61 8 8953 7544<br />
Fax: +61 8 8953 7566<br />
Email: ExecutiveOfficer@<br />
ecolsoc.org.au<br />
<br />
The Electronic Volcano<br />
Dartmouth College<br />
Hanover, NH 03755<br />
USA<br />
Tel: +1 603 646 1110<br />
Email: barbara.defelice@<br />
<strong>da</strong>rtmouth.edu<br />
<br />
377
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
European Commission on Preservation and Access (ECPA)<br />
Kloveniersburgwal 29<br />
1011 JV Amster<strong>da</strong>m<br />
The Netherlands<br />
Tel:+31-20 551 08 39<br />
Fax: +31 20 620 4941<br />
Email: ecpa@bureau.knaw.nl<br />
<br />
F<br />
European Community Humanitarian Office (ECHO)<br />
Email: echo-info@cec.eu.int<br />
<br />
Federal Emergency Manag<strong>em</strong>ent Agency (FEMA)<br />
500 C Street, SW<br />
Washington, D.C. 20472<br />
USA<br />
Tel: +1 800 621 3362<br />
Email: FEMA-Correspondence-Unit@dhs.gov<br />
<br />
Flood Hazard Research Centre (FHRC)<br />
Middlesex University<br />
Queensway<br />
Enfield<br />
Middlesex<br />
EN3 4SA<br />
United Kingdom<br />
Tel: +44 20 8411 5359<br />
Fax: +44 20 8411 5403<br />
Email: FHRC1@mdx.ac.uk<br />
<br />
François Beauducel<br />
Observatoire Volcanologique de la Soufrière<br />
Le Houëlmont<br />
F-97113 Gourbeyre<br />
Guadeloupe<br />
Tel: +590 99 11 33<br />
Fax: +590 99 11 34<br />
Email: beauducel@ipgp.jussieu.fr<br />
<br />
378
Bibliografia | Apêndice 2<br />
The Getty Conservation Institute (GCI)<br />
1200 Getty Center Drive, Suite 700<br />
Los Angeles, CA 90049-1684<br />
USA<br />
Tel: +1 310 440 7325<br />
Fax: +1 310 440 7702<br />
Email: gciweb@getty.edu<br />
<br />
Grinnell College<br />
P.O.Box 805<br />
Grinnell IA 50112-1690<br />
Iowa<br />
USA<br />
Tel: +1 641 269 4000<br />
<br />
Büttenpapier / Handmade paper<br />
Email: dieter.freyer@vienna.at<br />
<br />
G<br />
H<br />
Hand Papermaking<br />
PO Box 1070<br />
Beltsville, MD 20704-1070<br />
USA<br />
Tel: +1 301 220 2393<br />
Tel: +1 800 821-6604 toll-free<br />
Fax: +1 301 220 2394<br />
info@handpapermaking.org<br />
<br />
Hazards Research Lab (HRL)<br />
Department of Geography<br />
University of South Carolina<br />
Columbia, South Carolina 29208<br />
USA<br />
Tel: +1 803 777 1699<br />
Fax: +1 803 777 4972<br />
Email: scutter@sc.edu<br />
<br />
379
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
I<br />
Image Permanence Institute (IPI)<br />
Rochester Institute of Technology<br />
70 Lomb M<strong>em</strong>orial Drive<br />
Rochester, NY 14623-5604<br />
USA<br />
Tel: +1 585 475 5199<br />
Fax: +1 585 475 7230<br />
Email: ipiwww@rit.edu<br />
<br />
International Association of Hand Papermakers and Paper Artists (IAPMA)<br />
IAPMA President<br />
Helene Tschacher<br />
Kirchenäcker 8<br />
84048 Mainburg<br />
Germany<br />
Tel: +49 8751 9990<br />
Fax: +49 8751 9944<br />
Email: president@iapma.info<br />
<br />
International Association of Paper Historians (IPH)<br />
IPH Secretary<br />
Ursula Reinhard<br />
c/o Hochstrasse 87<br />
B-4700 Eupen<br />
Belgium<br />
Tel: +49 2372 123108<br />
Fax: +49 2372 73079<br />
Email:reinhard.h<strong>em</strong>er@arcormail.de<br />
<br />
International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)<br />
Secretary General<br />
Gunnel Jönsson<br />
Radio Archive<br />
Swedish Broadcasting Resources<br />
SE-10510 Stockholm<br />
Sweden<br />
Tel: +46 8 784 15 35<br />
Fax: +46 8 784 22 85<br />
380
Bibliografia | Apêndice 2<br />
Mobile: +46 70 229 31 71<br />
Email: gunnel.jonsson@srf.se<br />
<br />
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural<br />
Property (ICCROM)<br />
via di San Michele, 13<br />
I-00153 Roma<br />
Italy<br />
Tel: +39 6 5855 31<br />
Fax: +39 6 5855 3349<br />
Email: iccrom@iccrom.org<br />
<br />
International Committee of the Blue Shield (ICBS)<br />
Joan van Alba<strong>da</strong><br />
President<br />
C/o The International Council on Archives / Conseil international des archives<br />
60, rue des Francs-Bourgeois<br />
75003 PARIS<br />
France<br />
Tel: +33 1 40276306<br />
Fax: +33 142722065<br />
<br />
International Council on Archives (ICA)<br />
Secretariat<br />
60, rue des Francs-Bourgeois<br />
75003 Paris<br />
France<br />
Tel: +33 1 40276306<br />
Fax: +33 1 42722065<br />
Email: ica@ica.org<br />
<br />
International Council of Museums (ICOM)<br />
Maison de l’Unesco<br />
1 rue Miollis<br />
75732 Paris 15<br />
France<br />
Tel: +33 1 47 34 05 00<br />
Fax: +33 1 43 06 78 62<br />
381
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Email: secretariat@icom.org<br />
<br />
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)<br />
ICOMOS International Secretariat<br />
49-51 rue de la Fédération<br />
75015 Paris<br />
France<br />
Tel: +33 1 4567 6770<br />
Fax: +33 1 4566 0622<br />
Email: secretariat@icomos.org<br />
<br />
The International Dunhuang Project (IDP)<br />
Dr. Susan Whitfield<br />
The British Library<br />
96 Euston Road<br />
London NW1 2DB<br />
United Kingdom<br />
Tel: +44 20 7412 7319<br />
Fax: +44 20 7412 7641<br />
Email: idp@bl.uk<br />
<br />
International Federation of Library Associations and Institutes Headquarters (IFLA)<br />
P.O.Box 95312<br />
2509 CH The Hague<br />
Netherlands<br />
Tel: +31 70 3140884<br />
Fax: +31 70 3834827<br />
Email: IFLA@ifla.org<br />
<br />
International Federation of Library Associations and Institutes (IFLA)<br />
IFLA core programme for preservation and conservation (IFLA-PAC)<br />
Bibliothèque Nationale de France<br />
2, rue Vivienne<br />
75084 Paris cedex 02<br />
France<br />
Tel: +33 15379 5980<br />
Email: christiane.baryla@bnf.fr<br />
<br />
382
Bibliografia | Apêndice 2<br />
IFLA-PAC, Regional Centre for Asia<br />
National Diet Library<br />
Acquisitions Department<br />
10-1 Nagata-cho 1-chome<br />
Chiyo<strong>da</strong>-ku<br />
Tokyo 100-8924<br />
Japan<br />
Tel: +81 3 3581 2331<br />
Fax: +81 3 3592 0783<br />
Email: pacasia@ndl.go.jp<br />
<br />
IFLA-PAC, Regional Centre for Latin America and the Caribbean<br />
Bibliotheca Nacional de Venezuela<br />
Apartado Postal 6525<br />
Carmelitas Caracas 1010<br />
Venezuela<br />
Tel: 58 212 505 90 51<br />
E-mail: dconsev@bnv.bib.ve<br />
<br />
IFLA-PAC, Regional Centre for<br />
Oceania and South East Asia<br />
National Library of Australia<br />
Preservation Services Branch<br />
Canberra ACT 2600<br />
Australia<br />
Tel. +61 2 62621662<br />
Fax +61 2 62734535<br />
Email: cwebb@nla.gov.au<br />
<br />
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)<br />
P.O.Box 372<br />
CH-1211 Geneva 19<br />
Switzerland<br />
Tel: +41 22 730 4222<br />
Fax: +41 22 733 0395<br />
Email: secretariat@ifrc.org<br />
<br />
383
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
International Preservation News<br />
IFLA-PAC<br />
Bibliothèque nationale de France<br />
PAC Programme Officer<br />
Quai François-Mauriac<br />
75706 PARIS Cedex 13, France<br />
Tel: +33 1 53795971<br />
Email: corine.koch@bnf.fr<br />
<br />
International Tsunami Information Center (ITIC)<br />
ITSU/IOC secretariat<br />
Dr. Laura Kong<br />
Director, International Tsunami Information Centre (ITIC)<br />
737 Bishop St., Suite 2200<br />
Honolulu, HI 96813-3213<br />
USA<br />
Tel: +1 808 532 6423<br />
Fax: +1 808 532 5576<br />
Email: l.kong@unesco.org<br />
<br />
J<br />
Interpol<br />
<br />
Joint IFLA/ICA committee for preservation in Africa (JICPA)<br />
P.O.Box 49210<br />
Nairobi<br />
Kenya<br />
Tel: +254 22289 59 / 254222 60 07<br />
Fax: +254 2 22 80 20<br />
Email: Knarchives@form-net.com<br />
<br />
Journal of the American Institute for Conservation<br />
1717 K Street, NW, Suite 200<br />
Washington, DC 20006<br />
USA<br />
<br />
K<br />
Kansas State University<br />
Research and Extension<br />
<br />
384
Bibliografia | Apêndice 2<br />
Koninklijke Bibliotheek<br />
National Library of the Netherlands<br />
Paperhistorical Collection<br />
c/o Dr. Henk Porck<br />
Prins Will<strong>em</strong> Alexanderhof 5<br />
2509 LK The Hague<br />
the Netherlands<br />
Tel: +31 70 3140572<br />
Fax: +31 70 3140655<br />
Email: henk.porck@kb.nl<br />
<br />
Koninklijk Instituut van de Tropen<br />
Royal Tropical Institute (KIT-Culture)<br />
Mauritskade 63<br />
1092 AD Amster<strong>da</strong>m<br />
The Netherlands<br />
Tel: +31 20 568 8466<br />
Fax: +31 20 568 8376<br />
Email: Culture@kit.nl<br />
<br />
Laboratoire de Génie Industriel (LGI)<br />
Faculté des Sciences et Technologies<br />
Université de la Réunion<br />
c/o Patrick Hervé, Director<br />
Tel: +33 2 62 93 82 27<br />
Fax: +33 2 62 93 86 65<br />
Email: Hpatrick.herve@univ-reunion.fr<br />
<br />
L<br />
Library of Congress<br />
Preservation Directorate<br />
Washington 20540-4500<br />
USA<br />
Tel: +1 202 707 5213<br />
Fax: +1 202 707 3434<br />
Email: preserve@loc.gov<br />
<br />
385
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
M<br />
Michigan Technological University<br />
Geological and Engineering Sciences<br />
[Volcanoes]<br />
1400 Townsend Drive<br />
Houghton MI, 49931-1295<br />
Michigan<br />
USA<br />
Tel: +1 906 487 2531<br />
Email: raman@mtu.edu<br />
<br />
Morten Ryhl-Svendsen<br />
The National Museum of Denmark<br />
Conservation,<br />
Administration<br />
Brede 260<br />
DK 2800 Lyngby<br />
Danmark<br />
Tel: (+45) 3347 3502<br />
Fax: (+45) 3347 3327<br />
Email: cons@natmus.dk<br />
<br />
Museum Security Network<br />
Rechter Rottekade 171<br />
3032 XD Rotter<strong>da</strong>m<br />
The Netherlands<br />
Tel: +31 10 4655724<br />
Cell: +31 6 242 246 20<br />
Email: toncr<strong>em</strong>ers@museum-security.org<br />
<br />
N<br />
National Aeronautics and Space Administration (NASA)<br />
Laboratory for Terrestrial Physics (LTP)<br />
Natural Disaster Reference Database (NDRD)<br />
Email: einaudi@carioca.gsfc.<br />
nasa.gov<br />
<br />
National Archives<br />
Prins Will<strong>em</strong>-Alexanderhof 20<br />
2595 BE the Hague<br />
386
Bibliografia | Apêndice 2<br />
the Netherlands<br />
Tel: +31 70 3315400<br />
Fax: + 31 70 3315540<br />
Email: info@nationaalarchief.nl<br />
<br />
National Archives of Australia (NAA)<br />
P.O.Box 7425<br />
Canberra ACT 2610<br />
Australia<br />
Tel: +61 2 6212 3600<br />
Fax: +61 2 6212 3699<br />
Email: archives@naa.gov.au<br />
<br />
National Archives & Records Administration (NARA)<br />
Preservation and Archives Professionals<br />
8601 Adelphi Road<br />
College Park, MD 20740-6001<br />
USA<br />
Tel: +1 301837 0482<br />
Fax: +1 301837 0483<br />
Email: preserve@nara.gov<br />
<br />
National Centre for Preservation Technology and Training (NCPTT)<br />
National Park Service<br />
645 University Parkway<br />
Natchitoches, LA 71457<br />
USA<br />
Tel: +1 318 356 7444<br />
Fax: +1 318 356 9119<br />
Email: kevin_ammons@nps.gov<br />
<br />
The National Conference on Cultural Property Protection<br />
Tel: +1 202 633 9446<br />
Email: conf@ops.si.edu<br />
<br />
National Councils for Sustainable Development (NCSDS)<br />
Earth Council Foun<strong>da</strong>tion<br />
387
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
c/o Sondra Sullivan<br />
Ontario, Cana<strong>da</strong><br />
Tel: +1 416-4983150<br />
Fax: +1 416-4987296<br />
Email 1: ecsondra@web.ca<br />
Email 2: ecouncil@ecouncil.ac.cr<br />
<br />
National Earthquake Information Centre (NEIC)<br />
United States Geological Survey (USGS)<br />
Box 25046, DFC, MS 966<br />
Denver, Colorado 80225-0046<br />
USA<br />
Tel: +1 303 273 8500<br />
Fax: +1 303 273 8450<br />
Email: se<strong>da</strong>s@usgs.gov<br />
<br />
National Fire Plan<br />
USDA Forest Service<br />
National Fire Plan, S&PF<br />
1400 Independence Ave. SW - 1109<br />
Washington, D.C. 20250-0003<br />
Tel: +1 202 205-1332<br />
Email: spfnic@fs.fed.us<br />
<br />
Natural Hazards Center (NHC)<br />
Natural Hazards Research and Applications Information Center<br />
University of Colorado<br />
482 UCB<br />
Boulder, CO 80309-0482<br />
USA<br />
Tel: +1 303 492 6818<br />
Fax: +1 303 492 2151<br />
Email: hazctr@colorado.edu<br />
<br />
National Hurricane Centre / Tropical Prediction Centre (NHC/TPC)<br />
NOAA/ National Weather Service<br />
National Centers for Environmental Prediction<br />
11691 S.W. 17th Street<br />
388
Bibliografia | Apêndice 2<br />
Miami, Flori<strong>da</strong> 33165-2149<br />
USA<br />
Email: nhc.public.affairs@noaa.gov<br />
<br />
National Institute for the Conservation of Cultural Property (NIC)<br />
See: Heritage Preservation<br />
1012 14th Street, NW<br />
Suite 1200<br />
Washington, DC 20005<br />
Phone 202-233-0800<br />
Fax 202-233-0807<br />
Email: rhouse@<br />
heritagepreservation.org<br />
The National Interagency Fire Center (NIFC)<br />
3833 S. Development Avenue<br />
Boise, I<strong>da</strong>ho 83705-5354<br />
USA<br />
Tel: +1 208 387 5512<br />
Email: NIFC-Comments@ nifc.blm.gov<br />
<br />
National Landslide Information Center (NLIC)<br />
United States Geological Survey (USGS)<br />
Mail Stop 966<br />
Box 25046, DFC, MS 967<br />
Denver, Colorado 80225<br />
USA<br />
Tel: +1 800 654 4966<br />
Fax: +1 303 273 8600<br />
Email: highland@usgs.gov<br />
<br />
National Library of Australia (NLA)<br />
Canberra, ACT 2600<br />
Australia<br />
Tel: + 61 2 6262 1111<br />
Fax: + 61 2 6257 1703<br />
Email: www@nla.gov.au<br />
<br />
389
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)<br />
The National Tsunami Hazard Mitigation Program<br />
14th Street & Constitution Avenue, NW Room 6217<br />
Washington, DC 20230<br />
USA<br />
Tel: +1 202 482 6090<br />
Fax: +1 202 482 3154<br />
Email: answers@noaa.gov<br />
<br />
National Park Service (NPS)<br />
Cultural Resources - <br />
General - <br />
Museum Manag<strong>em</strong>ent Program - <br />
National Preservation Office<br />
The British Library<br />
96 Euston Road<br />
London, NW1 2DB<br />
United Kingdom<br />
Tel: +44 20 7412 7612<br />
Fax: +44 20 7412 7796<br />
Email: npo@bl.uk<br />
<br />
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo<br />
Independent Administrative Institution<br />
13-43 Ueno Parek, Taito-ku<br />
Tokyo, 110-8713<br />
Japan<br />
Tel:+81 3 3823 2241<br />
Fax:+81 3 3828 2434<br />
<br />
National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property (NRLC)<br />
Sector E/3, Aliganj,<br />
Lucknow - 226 024<br />
India<br />
Tel: +91 522 335359<br />
Fax: +91 522 372378<br />
Email: director@nrlccp.org<br />
<br />
390
Bibliografia | Apêndice 2<br />
National Ti<strong>da</strong>l Facility<br />
See: National Ti<strong>da</strong>l Centre<br />
Australian Bureau of Meteorology<br />
P.O. Box 421<br />
Kent Town SA 5071<br />
Tel: +61 8 8366 2730<br />
Fax:+61 8 8366 2651<br />
Email: ntc@bom.gov.au<br />
<br />
Ne<strong>em</strong> Foun<strong>da</strong>tion<br />
67-A,Vithal Nagar Society<br />
Road No. 12, JVPD Sch<strong>em</strong>e,<br />
Mumbai - 400049, Maharashtra, India<br />
Tel: +91 22 26206367 / 26207867 / 26231709<br />
Fax: +91 22 26207508<br />
Email: info@ne<strong>em</strong>foun<strong>da</strong>tion.org<br />
<br />
Northern States Conservation Center<br />
P.O. Box 8081<br />
St. Paul, MN 55108<br />
Tel: +651 659-9420<br />
Email: info@collectioncare.org<br />
<br />
Object ID<br />
Council for the Prevention of Art Theft (CoPAT)<br />
The Estate Office<br />
Stourhead Park<br />
Stourton<br />
Warminster<br />
Wiltshire, BA12 6QD<br />
United Kingdom<br />
Tel / Fax: +44 1747 841540<br />
Email: info@object-id.com<br />
<br />
O<br />
Office of Disaster Preparedness and Emergency Manag<strong>em</strong>ent (ODPEM)<br />
12 Camp Road,<br />
Kingston 4<br />
Jamaica<br />
391
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
P<br />
Tel:+1 876 928 5111 4<br />
Email: info@odp<strong>em</strong>.org.jm<br />
<br />
Pacific Regional Branch International Council on Archives (PARBICA)<br />
Setareki Tale<br />
President<br />
National Archives of Fiji<br />
P.O. Box 2125<br />
Government Buildings<br />
Suva<br />
Fiji Islands<br />
Tel: +679 304 144<br />
Fax: +679 307 006<br />
<br />
(The) Paper Conservator<br />
<br />
Pest Control magazine<br />
P.O. Box 5057<br />
Brentwood, TN 37024-5057<br />
USA<br />
Tel: +1 615 377-3322<br />
Fax: +1 615 377-3322<br />
Email: pestcon@questex.com<br />
<br />
R<br />
Projeto <strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>em</strong> Bibliotecas e Arquivos (CPBA)<br />
Brazil<br />
Email: cpba@unicamp.br<br />
<br />
Red List ICOM<br />
(for address see ICOM)<br />
<br />
Rentokil Initial plc<br />
Research and Development<br />
Felcourt<br />
East Grinstead<br />
West Sussex, RH19 2JY<br />
United Kingdom<br />
392
Bibliografia | Apêndice 2<br />
Tel: +44 1342 833022<br />
Fax: +44 1342 836180<br />
Email: techinfo@r-d.rentokil-initial.co.uk<br />
<br />
Restauro<br />
Re<strong>da</strong>ktion<br />
Streitfeldstraße 35<br />
D-81673 München<br />
Germany<br />
Tel: +49 89 43 60 05-0<br />
Fax: +49 89 43 60 05-113<br />
Email: f.kl<strong>em</strong>m@restauro.de<br />
<br />
Restaurator<br />
International Journal for the Preservation of Library and Archival Material<br />
<br />
Royal Institute of British Architects (RIBA)<br />
66 Portland Place<br />
London W1B 1AD<br />
United Kingdom<br />
Tel: +44 20 7580 5533<br />
Fax: +44 20 7255 1541<br />
Email: info@inst.riba.org<br />
<br />
The Rural Industries Research and Development Corporation (RIRDC)<br />
Level 2, 15 National Circuit<br />
Barton Act 2600<br />
P.O. Box 4776, Kingston Act 2604<br />
Australia<br />
Tel:+61 2 6272 4819<br />
Fax:+61 2 6272 5877<br />
Email: rirdc@rirdc.gov.au<br />
<br />
Seattle Art Museum (SAM)<br />
P.O. Box 22000<br />
Seattle, WA 98122-9700<br />
USA<br />
S<br />
393
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
Tel: +1 206 654 3100<br />
Email: webmaster@<br />
seattleartmuseum.org<br />
<br />
Severe Weather Research Group<br />
Earth and Atmospheric Science (ESA)<br />
550 Stadium Mall Drive<br />
Purdue University<br />
Indiana<br />
USA<br />
West Lafayette, IN 47907-2051<br />
Tel: +1 765 494 3258<br />
Fax: +1 765 496 1210<br />
Email: jtrapp@purdue.edu<br />
<br />
Smithsonian Institute<br />
Global Volcanism Program<br />
Department of Mineral Sciences<br />
National Museum of Natural History Room E-421<br />
MRC 0119<br />
P.O. Box 37012<br />
Smithsonian Institution<br />
Washington DC 20013-7012<br />
USA<br />
Tel: +1 202 633 1802<br />
Fax: +1 202 357 2476<br />
Email: gvp@si.edu<br />
<br />
Smithsonian Institute<br />
Smithsonian Center for Materials Research and Education (SCMRE)<br />
New name: Museum Conservation Institute/ Museum Support Center<br />
4210 Silver Hill Road<br />
Suitland, Maryland, 20746<br />
USA<br />
Tel: +1 301-238-1240<br />
Fax: +1 301 238-3709<br />
Email: web@scmre.si.edu<br />
<br />
394
Bibliografia | Apêndice 2<br />
South East Asia-Pacific Audiovisual Archive Association (SEAPAVAA)<br />
Secretariat<br />
MIS Division, Philippine Information Agency,<br />
Ground Floor, PIA Bldg.,Visayas Ave., Diliman,<br />
Quezon City, Philippines 1100<br />
Fax: + 632 9204395<br />
Email: seapavaa@yahoo.com<br />
<br />
Southeastern Library Network (SOLINET)<br />
1438 West Peachtree Street, NW Suite 200<br />
Atlanta, GA 30309-2955<br />
USA<br />
Tel: +1 404 892 0943<br />
Fax: +1 404 892 7879<br />
Email: amy_dyk<strong>em</strong>an@solinet.net<br />
<br />
Studies in Conservation (Index)<br />
The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works<br />
6 Buckingham Street<br />
London WC2N 6BA<br />
United Kingdom<br />
Tel: +44 20 7839 5975<br />
Fax: +44 20 7976 1564<br />
Email: iic@iiconservation.org<br />
<br />
Swiss Centre for Development Cooperation in Technology and Manag<strong>em</strong>ent (SKAT)<br />
Vadianstrasse 42<br />
CH-9000 St.Gallen<br />
Switzerland<br />
Tel: +41 71 228 54 54<br />
Fax: +41 71 228 54 55<br />
Email: info@skat.ch<br />
<br />
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)<br />
United Nations<br />
<br />
U<br />
395
<strong>Conservação</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>da</strong> <strong>Herança</strong> <strong>Documental</strong> <strong>em</strong> <strong>Climas</strong> <strong>Tropicais</strong><br />
United Nations International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)<br />
Palais des Nations<br />
CH 1211 Geneva 10<br />
Switzerland.<br />
Tel: +41 22 9172529<br />
Fax: +41 22 9170563<br />
Email: isdr@un.org<br />
<br />
United States Geological Survey (USGS)<br />
USGS National Center<br />
12201 Sunrise Valley Drive<br />
Reston,VA 20192,<br />
USA<br />
Tel:+1 703 648 4000<br />
<br />
United States Geological Survey (USGS)<br />
USGS/Cascades Volcano Observatory<br />
Vancouver, Washington<br />
USA<br />
Email: GS-CVO-WEB@usgs.gov<br />
<br />
United States Geological Survey (USGS)<br />
Hawaiian Volcano Observatory<br />
Hawaii Volcanoes National Park<br />
Hawaii<br />
USA<br />
Email: hvowebmaster@<br />
hvo.wr.usgs.gov<br />
<br />
V<br />
Virginia Cooperative Extension<br />
101 Hutcheson Hall (Mail Code 0402)<br />
Virginia Tech<br />
Blacksburg,VA 24061<br />
Tel: 540-231-5299<br />
Fax: 540-231-4370<br />
Email: jacksons@vt.edu<br />
<br />
396
Bibliografia | Apêndice 2<br />
Volcano World<br />
USA<br />
Email: volcanoworld@space.edu<br />
<br />
World Bank<br />
Disaster Manag<strong>em</strong>ent Facility<br />
See: Hazard Risk Manag<strong>em</strong>ent<br />
Email: hazardmanag<strong>em</strong>ent@<br />
worldbank.org<br />
<br />
1<br />
Actualizado <strong>em</strong> Abril de 2006.<br />
397
Apêndice 3<br />
Instituições portuguesas no âmbito <strong>da</strong> preservação e conservação<br />
Por ord<strong>em</strong> alfabética<br />
Biblioteca Nacional de Portugal<br />
Campo Grande, 83<br />
1749-081 Lisboa<br />
Portugal<br />
bn@bn.pt<br />
Instituto Nacional de Arquivos/Torre do Tombo<br />
Alame<strong>da</strong> <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de<br />
1649-010 Lisboa<br />
Portugal<br />
iantt@iantt.pt<br />
Departamento de <strong>Conservação</strong> e Restauro<br />
FCT/UNL<br />
Monte de Caparica<br />
2829-516 Caparica<br />
Portugal<br />
sec-ndcr@sec-ndcr@fct.unl.pt<br />
Instituto Português de <strong>Conservação</strong> e Restauro<br />
Rua <strong>da</strong>s Janelas Verdes 37<br />
1249-018 Lisboa<br />
Portugal<br />
ipcr@ipcr.pt<br />
Escola Superior de Tecnologia de Tomar<br />
Departamento de Arte, <strong>Conservação</strong> e Restauro<br />
Quinta do Contador<br />
Estra<strong>da</strong> <strong>da</strong> Serra<br />
2300-313 Tomar<br />
Portugal<br />
www.ipt.pt<br />
399