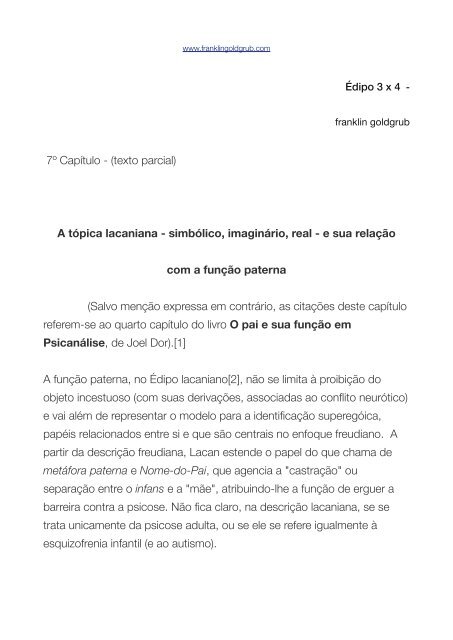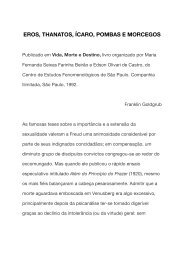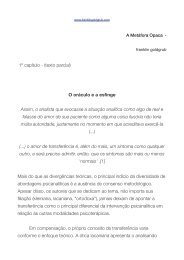Edipo 3 x 4 - 3º Capitulo - (texto parcial) - Franklin Goldgrub
Edipo 3 x 4 - 3º Capitulo - (texto parcial) - Franklin Goldgrub
Edipo 3 x 4 - 3º Capitulo - (texto parcial) - Franklin Goldgrub
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
7º Capítulo - (<strong>texto</strong> <strong>parcial</strong>)<br />
www.franklingoldgrub.com<br />
Édipo 3 x 4 -<br />
franklin goldgrub<br />
A tópica lacaniana - simbólico, imaginário, real - e sua relação<br />
com a função paterna<br />
(Salvo menção expressa em contrário, as citações deste capítulo<br />
referem-se ao quarto capítulo do livro O pai e sua função em<br />
Psicanálise, de Joel Dor).[1]<br />
A função paterna, no Édipo lacaniano[2], não se limita à proibição do<br />
objeto incestuoso (com suas derivações, associadas ao conflito neurótico)<br />
e vai além de representar o modelo para a identificação superegóica,<br />
papéis relacionados entre si e que são centrais no enfoque freudiano. A<br />
partir da descrição freudiana, Lacan estende o papel do que chama de<br />
metáfora paterna e Nome-do-Pai, que agencia a "castração" ou<br />
separação entre o infans e a "mãe", atribuindo-lhe a função de erguer a<br />
barreira contra a psicose. Não fica claro, na descrição lacaniana, se se<br />
trata unicamente da psicose adulta, ou se ele se refere igualmente à<br />
esquizofrenia infantil (e ao autismo).
Em relação ao adulto, a literatura lacaniana recorre à petição princípio. Se<br />
há surto, a explicação é que a castração não teria sido agenciada<br />
devidamente pelos representantes encarregados de fazer valer a metáfora<br />
paterna ou o Nome-do-Pai. Evidentemente, desde que não há como<br />
prever o que acontecerá na fase adulta a partir da "observação" do<br />
processo de constituição do sujeito, a explicação em questão não<br />
somente é inverificável como tautológica. A segunda teoria das pulsões<br />
freudiana oferece um enfoque mais coerente. Se a dualidade pulsional<br />
permanece ao longo da vida, a "desfusão", termo utilizado por Freud para<br />
descrever a autonomia adquirida pela pulsão de morte, não mais<br />
contrabalançada por Eros, permitiria entender melhor o movimento que<br />
inverte as posições de sujeito e de objeto (ou nem sequer objeto, situação<br />
prévia ao espelho) no quadro psicótico. Desde que devidamente<br />
interpretado, o conceito freudiano parece dar conta do surto sem recorrer<br />
à petição de princípio inerente à hipóstase lacaniana. Cabe acrescentar<br />
que a desfusão não necessariamente se apresenta como irreversível,<br />
levando em conta que a posição de sujeito pode ser recuperada. Nem<br />
todo surto se cronifica, nem toda condição psicótica se deteriora, nem<br />
sempre o resultado da irrupção delirante é a demência.<br />
Mas, de qualquer forma, em vez de atribuir retroativamente o surto a uma<br />
falha no "Nome-do-Pai", trata-se de reconhecer a psicose como uma<br />
possibilidade, imprevisível e incontrolável, do sujeito constituído. Já em<br />
relação ao autismo e à psicose infantil, o estádio do espelho e a aquisição<br />
da linguagem constituiriam fenômenos de importância capital para<br />
entender de que maneira o infans pode emergir desses momentos<br />
constitutivos e aceder à posição de sujeito. Ainda que Lacan não os tenha<br />
mencionado explicitamente, o autismo e a esquizofrenia infantil apóiam<br />
decisivamente a sua teoria da constituição do sujeito. Vale a pena<br />
ressalvar que "metáfora paterna" e "Nome-do-Pai" seriam metáforas do
processo de aquisição de linguagem, agenciado pela identificação com o<br />
lugar de sujeito, prevalecente por sua vez no discurso do campo<br />
desejante ("função materna") e do campo normativo ("função paterna").<br />
Além de promover a neurose (considerada no universo teórico<br />
psicanalítico como um mal menor quando comparada à perversão)[3], o<br />
superego freudiano é também o responsável pela depressão, quando a<br />
proibição dirigida ao primeiro objeto de desejo (a "mãe") ultrapassa a<br />
exacerbação típica da neurose (em que são condenadas pelo interdito as<br />
situações caracterizadas por um alto grau de prazer) e atinge a posição<br />
de sujeito, promovendo a desvalorização do eu mediante a auto-crítica<br />
(culpa) que bloqueia o acesso a todo objeto. Freud não derivou dessa<br />
hipótese o que parece sua conseqüência lógica: se a desvalorização<br />
extrema caracteriza o quadro melancólico[4], seria possível deduzir que a<br />
função superegóica na mania está ligada à valorização irrestrita do eu. O<br />
mecanismo seria simetricamente oposto ao da depressão: se a auto-<br />
agressão, em função do distanciamento ao ideal, constituiria o<br />
mecanismo da auto-desvalorização, a auto-exaltação, decorrente do<br />
movimento contrário - a coincidência entre o eu e seu ideal - ocasionaria o<br />
quadro maníaco. Na mania, o objeto de desejo não apenas é acessível<br />
mas constitui um apêndice do sujeito; tudo se torna possível quando a<br />
interdição sai de cena. Menos a possibilidade de receber, que promove a<br />
associação entre estado maníaco e rejeição, mecanismo que aciona o<br />
movimento oposto, conducente à depressão.<br />
É lícito considerar que o quadro maníaco-depressivo decorre do poder<br />
irrestrito adquirido pelo eu (ego) ideal, que na teoria da constituição do<br />
sujeito pode ser referido ao primeiro momento do Édipo, designável pela<br />
expressão sujeito absoluto, anterior ao reconhecimento do desejo do<br />
outro (ideal de ego). A diferenciação entre ego ideal e ideal de ego foi feita
por Lacan, leitor atento das entrelinhas freudianas. Lacan não mencionou<br />
a função do supereu na mania, mas em compensação percebeu a sua<br />
importância na perversão, o que certamente deve ter surpreendido<br />
bastante o pensamento psicanalítico canônico. Se o eu ideal está ligado à<br />
depressão e à mania, o ideal de ego seria responsável pela neurose e pela<br />
perversão, no último caso através do imperativo: Goze! (ou: transgrida!). O<br />
eu ideal designaria então a forma de identidade que Freud descreveu<br />
como narcisismo primário, e o ideal de eu ao narcisismo secundário. O<br />
narcisismo primário caracteriza a mania-depressão e a paranóia, enquanto<br />
o narcisismo secundário caracteriza os conflitos do sujeito constituído - ou<br />
seja, neurose e perversão.<br />
Tudo se passa como se a identificação com as expectativas inconscientes<br />
do Outro (no exercício da função normativa), caracterizadas pela ênfase<br />
no ideal, se expressassem por esses conflitos, o que faria do supereu o<br />
vilão da segunda tópica. Mas, e referindo novamente o enfoque<br />
lacaniano, o supereu tem também a função de contrapor o ideal de eu ao<br />
eu ideal, fazendo do conflito no sujeito constituído como tal, submetido à<br />
falta, o oposto ao conflito tal como se expressa nos casos em que a<br />
completude (desejo de não desejar, pulsão de morte) subverteu o regime<br />
da falta (desejo de desejar, pulsão de vida). Nessa acepção, a expressão<br />
narcisismo primário (eu ideal) designaria o primeiro momento da formação<br />
do eu (aquisição de linguagem, início da fase fálica, reconhecimento do<br />
próprio desejo[5]), enquanto narcisismo secundário (ideal de eu) descreve<br />
a possibilidade de dirigir o não para o próprio desejo, equivalente ao<br />
reconhecimento do desejo do outro.<br />
O reconhecimento do desejo do outro, por sua vez, não significa a<br />
inexistência de conflito na relação, visto que pode derivar em fuga<br />
(neurose) e/ou dependência (perversão), embora seja também a pré-
condição da sublimação (aceitação da diferença e propensão à<br />
criatividade). O eu ideal corresponde ao primeiro momento do Édipo, em<br />
que, recém advinda à posição de sujeito, a criança (não mais infans,<br />
porque já habitada pela linguagem em forma de discurso próprio)<br />
empenha-se para ser aceita incondicionalmente, recusando normas e<br />
limites. O ideal de eu corresponde ao momento final do Édipo, quando a<br />
dimensão do futuro se sobrepõe à do presente. A criança ter-se-ia<br />
identificado com o lugar que, (sempre de maneira singular, com todas as<br />
peculiaridades expressas em cada posição de sujeito), supõe a aceitação<br />
das restrições impostas ao narcisismo primário. Sob esse aspecto, o<br />
supereu expressaria o reconhecimento do desejo do outro, que equilibra a<br />
exigência de ter o próprio desejo reconhecido pelo outro.<br />
Faltou a Lacan reconhecer que o supereu, além das suas funções<br />
conflitivas (expressas pela neurose, perversão, mania e depressão) e da<br />
sua "periclitância" na paranóia, também é responsável pela possibilidade<br />
de reconhecer o desejo do outro sem a renúncia ao próprio desejo. Na<br />
medida em que se manifesta dessa maneira, o supereu constitui a<br />
condição de possibilidade do prazer não conflitivo, cuja conseqüência é a<br />
criatividade, ou seja, a sublimação, caracterizada pela convivência não<br />
competitiva entre a auto-valorização e a valorização do objeto. O eu ideal<br />
representa o narcisismo primário, a posição de objeto absoluto; é anterior<br />
ao supereu. O supereu tanto pode representar a possibilidade de dizer<br />
não ao desejo de não desejar (posição de sujeito desejante), como,<br />
através do ideal de eu "tirânico", manter a posição de sujeito absoluto que<br />
havia inaugurado a fase fálica, portanto o complexo de Édipo. Neste<br />
último caso, a conseqüência seria a psicose maníaco-depressiva (ou<br />
distúrbio bi-polar).
Lacan separa mais claramente do que Freud a função proibitiva e<br />
propiciatória do supereu do seu agente parental concreto, ou seja, o<br />
adulto de carne e osso (pai propriamente dito ou seu(s) substituto(s)).<br />
Geralmente emprega a locução "função paterna" em vez de "pai". Mesmo<br />
assim, também ocorre sob sua pena a confusão entre "pai real" e "pai<br />
concreto". Não menos freqüente é encontrar, na literatura lacaniana, como<br />
no título do capítulo do Dor que trata do tema, o substantivo "pai", em vez<br />
de "função paterna". (Seria o caso de considerar que mesmo "função<br />
paterna" não é uma expressão isenta de empirismo, por manter a<br />
referência a "pai" e ao masculino. "Campo normativo" poderia substituí-la<br />
vantajosamente, visto que a separação em relação à "figura materna" -<br />
expressão igualmente inadequada -, pode ser agenciada por qualquer<br />
pessoa, independentemente do sexo).<br />
-----------------<br />
Segue-se uma interpretação das três formas assumidas pela função do<br />
pai na concepção lacaniana:<br />
Pai imaginário: função paterna (campo normativo) tal como<br />
desempenhada(o) na primeira etapa do Édipo, propiciando a identificação<br />
com o lugar que produz a aquisição de linguagem. Trata-se do início da<br />
fase fálica, momento inaugural da posição de sujeito, associado ao<br />
conceito de "metáfora paterna" (que pode ser interpretado como<br />
representação do processo responsável pela passagem de "ser o
[1] Jorge Zahar Editor, 1993. Original em francês publicado pela Point<br />
Hors Ligne, Paris: 1989.[2] Lacan confere ao complexo de Édipo, tal<br />
como elaborado por Freud, o caráter de um mito teórico mas promove a<br />
castração a conceito central para entender o acesso à posição de sujeito.<br />
[3] Bem como a única alternativa, no sujeito constituído, à perversão. A<br />
psicanálise oficial (tanto a não lacaniana como a lacaniana) não considera<br />
a sublimação como estrutura pertencente ao quadro nosográfico<br />
enquanto avesso (e antídoto) da neurose, da perversão e da psicose.<br />
Priva-se assim de compreender a possibilidade do prazer não conflitivo e<br />
da criatividade como contraponto à relação de fuga e/ou dependência. [4]<br />
Melancolia era o termo usado para designar a depressão na nosografia<br />
psiquiátrica do início do século XX. [5] Sempre expresso metafórica e<br />
metonimicamente pela demanda.<br />
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨<br />
Consulte mais sobre esse e outro títulos do autor:<br />
www.franklingoldgrub.com