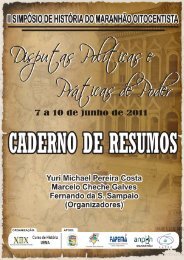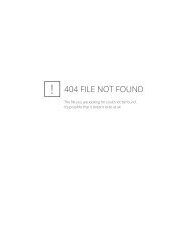(a): Maikon Levi Vilar Veiga - Outros Tempos - Uema
(a): Maikon Levi Vilar Veiga - Outros Tempos - Uema
(a): Maikon Levi Vilar Veiga - Outros Tempos - Uema
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO<br />
CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS<br />
CURSO DE HISTÓRIA<br />
MAIKON LEVI VILAR VEIGA<br />
A SOCIEDADE LUDOVICENSE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX: Uma<br />
análise sócio-profissional (1850-1888)<br />
São Luís<br />
2006
MAIKON LEVI VILAR VEIGA<br />
A SOCIEDADE LUDOVICENSE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX: Uma<br />
análise sócio-profissional (1850-1888)<br />
Monografia apresentada ao Curso de História da<br />
Universidade Estadual do Maranhão, para<br />
obtenção do grau de Licenciatura em História.<br />
Orientador: Prof. Fábio Monteiro<br />
São Luís<br />
2006
<strong>Veiga</strong>, <strong>Maikon</strong> <strong>Levi</strong> <strong>Vilar</strong><br />
A sociedade ludovicense na segunda metade do século XIX: uma<br />
análise sócio-profissional (1850-1888) / <strong>Maikon</strong> <strong>Levi</strong> <strong>Vilar</strong> <strong>Veiga</strong>. – São<br />
Luís, 2006.<br />
55 f.: il.<br />
Monografia (Graduação em História) – Curso de Historia ,<br />
Universidade Estadual do Maranhão, 2006.<br />
1. São Luís – sociedade. 2. Tipos sociais – análise sócio-profissional.<br />
3. Sociedade ludovicense – século XIX . I. Título.<br />
CDU 981.21 : 316.339.56 (812.1) “1850-1888”
MAIKON LEVI VILAR VEIGA<br />
A SOCIEDADE LUDOVICENSE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX: Uma<br />
Aprovada em: ____/____/____<br />
análise sócio-profissional (1850-1888)<br />
Monografia apresentada ao Curso de História da<br />
Universidade Estadual do Maranhão, para<br />
obtenção do grau de Licenciado em História.<br />
BANCA EXAMINADORA<br />
__________________________________________<br />
Prof. Fábio Monteiro (Orientador)<br />
Universidade Estadual do Maranhão<br />
__________________________________________<br />
Prof. Yuri Michael Pereira Costa<br />
Universidade Estadual do Maranhão<br />
__________________________________________<br />
Profª. Maria de Lourdes Lauande Lacroix<br />
Universidade Estadual do Maranhão
A Deus, a minha família e a todos que<br />
sempre nos apoiaram.<br />
Ao curso de História da UFMA e da UEMA,<br />
pois tive o privilégio de aprender com os<br />
Mestres e Doutores das duas<br />
Universidades.
AGRADECIMENTOS<br />
Primeiramente a Deus por me dar forças e estar sempre do meu lado.<br />
A minha família, que acompanha toda a minha trajetória de vida.<br />
A Universidade Federal do Maranhão, especificamente ao Curso de<br />
História, já que comecei o curso nesta universidade, transferindo-me depois para<br />
UEMA.<br />
abertos.<br />
A Universidade Estadual do Maranhão, por ter me acolhido de braços<br />
Aos professores do curso de História da Ufma, em especial a Antonia<br />
Mota, Wagner Cabral, Telma, Josenildo, Marize e Glória.<br />
Aos professores do curso de História a <strong>Uema</strong>, em special Lourdinha,<br />
Alan, Henrique, Marcelo, Júlia, Ximendes, Elizabeth, Helidaci, meus grandes<br />
incentivadores e mestres.<br />
Aos meus pais Idalina e Pedro, aos meus irmãos, <strong>Veiga</strong>, Viviane, Agmar e<br />
Wagner, pelos incentivos e ajuda de todas as formas. A minha namorada Valéria<br />
pelos incentivos quando pensava em desistir e por tudo o que fez por mim (ela sabe<br />
do que estou falando). A Pandôra, pelos intermináveis latidos, quando precisava<br />
estudar.<br />
Aos amigos da turma 2001.1, da UFMA: Ariel, Amadeu, Christoferson,<br />
Giovanna, Gleidson, Jean Gustavo, Joseane, Jackson, Paulinho, Nágela Simone,<br />
Roberto Portela, Thiagão, Tássio, Zé Ramalho Júnior e Wheriston.<br />
Aos amigos da turma da UEMA: Daniel, Jeane, Salomão, Jhonatan,<br />
Poliana, Marcos Aurélio, Yara, Mardeine, Larissa, Ritinha, Jesiel, Nilson, Arisson.<br />
Ao meu grande amigo de longa data João Ricardo, que sempre me<br />
ajudou quando mais precisava, valeu fera!<br />
A Superintendência de Cultura Popular, onde estagiei por dois anos e ao<br />
seu quadro de funcionários.<br />
Ao professor Fábio, que em sua esplêndida orientação permitiu a<br />
concretização deste trabalho.
“o grande historiador – ou talvez devesse dizer<br />
mais amplamente, o grande pensador – é o<br />
homem que faz a pergunta por quê? Sobre<br />
coisas novas ou em novos contextos.”<br />
Edward Hallet Carr
RESUMO<br />
Faz-se uma análise de como era a sociedade ludovicense entre 1850-1888,<br />
tentando perceber a riqueza de relações cotidianas entre livres, livres pobres,<br />
senhores e escravos. Desconstroe-se argumentos cristalizados pela historiografia<br />
tradicional como o binômio senhor/escravo, que polarizou a sociedade de acordo<br />
com os conceitos da grande lavoura de exportação, seguindo uma análise sócio -<br />
profissional do período.<br />
Palavras-chave: São Luís, sociedade, tipos sociais, tipos profissionais.
ABSTRACT<br />
If wakes an analysis of how was São Luís society between 1850 – 1888, trying to<br />
realize the wealth of quotidian relations among free people, poor people, owners<br />
and slaves. Arguments from traditional historiography are undone like the binomial<br />
owners/slave that polarized society according to the concepts of plantation,<br />
following a socio and professional analysis from the period.<br />
Key-words: São Luís. Society. Socio types. Professional types.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES<br />
Tabela 1 – Aulas/Quantidade de alunos .............................................................. 34<br />
Tabela 2 – Oficinas/Quantidades de aprendizes ................................................ 34<br />
Tabela 3 – Profissão/Quantidade de trabalhadores............................................. 35<br />
Quadro 1 – Caricatura/Descrição Pomada.......................................................... 41<br />
Quadro 2 – Caricatura/Descrição Troira.............................................................. 41<br />
Quadro 3 – Caricatura/Descrição segundo Elizabeth.......................................... 43
SUMÁRIO<br />
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................ 10<br />
2 O QUE SABEMOS SOBRE NÓS NO XIX? ............................................ 13<br />
3 SÃO LUÍS OITOCENTISTA .................................................................... 21<br />
3.1 Formação da Praia Grande ................................................................... 21<br />
3.2 O Porto.................................................................................................... 23<br />
3.3 A constituição da Feira ......................................................................... 24<br />
3.4 Por detrás dos azulejos......................................................................... 25<br />
4 TIPOS SÓCIO-PROFISSIONAIS DE SÃO LUÍS .................................... 33<br />
4.1 Tipos Profissionais................................................................................ 33<br />
4.2 Tipos sociais.......................................................................................... 38<br />
4.2.1 Escravos urbanos ................................................................................... 39<br />
4.2.2 Os tipos populares .................................................................................. 40<br />
4.2.3 O papel das mulheres ............................................................................. 42<br />
5 CONSIDERACÕES FINAIS .................................................................... 44<br />
REFERÊNCIAS ....................................................................................... 46<br />
LISTA DE JORNAIS ................................................................................ 48<br />
ANEXOS ................................................................................................. 49<br />
1 INTRODUÇÃO
Refletindo-se acerca da São Luís na segunda metade do século XIX,<br />
tendo como ponto de partida a análise da historiografia tradicional, pode-se em um<br />
lampejo inicial supor e pensar que um binômio viveu por aqui de forma polarizada e<br />
desconexa. Em outras palavras, pode-se pensar que os senhores e os escravos<br />
eram os únicos atores sociais que encenavam no palco ludovicense. Quem lê sobre<br />
São Luís, entre 1850-1888, entende a mesma não como um palco, mais sim como<br />
um campo de batalhas entre senhor e escravo, percebendo o primeiro como<br />
opressor e o segundo como oprimindo, esquecendo-se do todo.<br />
No presente trabalho, tentar-se-á tatear até que ponto essa é uma falsa<br />
impressão, através de um retrocesso não ao passado que já foi consumado e já não<br />
pode ser mais remontado, mas, tentando-se perceber elementos que indiquem uma<br />
outra visão do que se tem em São Luís para além de senhores e escravos.<br />
A pesquisa busca analisar se o aclamado binômio desfrutou e conviveu<br />
de uma forma polarizada e totalmente desconexa do restante dos moradores de São<br />
Luís, ou se dividiram experiências que fugiram do contexto do grande sistema<br />
agrário de exportação.<br />
A problemática encontrada na pesquisa, como em qualquer outra, se<br />
relaciona fundamentalmente ao fato do objeto não jorrar como um gêiser em<br />
erupção, tornando-se necessário a utilização de técnicas para a interpretação do<br />
objeto em estudo. Edward Hallet Carr afirmava: “É comum dizer-se que os fatos<br />
falam por si. Naturalmente isso não é verdade. Os fatos falam apenas quando o<br />
historiador os aborda: é ele quem decide quais os fatos que vêm à cena e em que<br />
ordem ou contexto”. 1<br />
A pesquisa utilizou como fonte primária jornais da época 2 , no intuito de<br />
elencar reportagens, matérias, reclamações, avisos, ou até descrições que<br />
abordassem a situação de como se encontrava a sociedade ludovicense na época<br />
1 CARR, Edward Hallet. Que é história? Tradução de Lúcia Maurício de Alverga. 8. ed. Rio de<br />
Janeiro: Paz e Terra, 1982. 189 p. Tradução de: What is History, p. 47.<br />
2 A utilização de jornais como fonte primária é uma importante ferramenta para o cientista social<br />
tentar perceber a seleção de fatos de um determinado período. Entretanto, como abordado pela<br />
historiografia atual, o documento seja ele escrito ou em outro suporte, necessita ser analisado como<br />
uma peça formulada dentro de sua época e meio. Jacques Le Goff assinala que “o documento é<br />
produzido consciente ou inconscientemente pelas sociedades do passado, tanto para impor uma<br />
imagem desse passado, quanto para dizer a verdade”. Nesta perspectiva, a utilização de jornais<br />
como fonte levará esse aspecto em relevância, no intuito de não qualificar o documento como um<br />
dado dotado de imparcialidade. (LE GOFF, 1988, p.54).
da desagregação do sistema escravista. Uma pesquisa bibliográfica e leituras<br />
teóricas pertinentes ao tema foi outra fonte para um maior suporte das<br />
argumentações propostas.<br />
A hipótese levantada então, é a de que no período estudado São Luís<br />
contava com um quadro sócio-profissional bastante diversificado, o que formava<br />
uma teia de relacionamentos muito mais complexa do que um simples jogo de<br />
mocinho e bandido, de senhores x escravos. Na tentativa de sondar essa hipótese,<br />
se pesquisou primordialmente nas fontes primárias relatos no período de 1850 a<br />
1888. A escolha desse recorte histórico não foi aleatória, almeja-se tatear um novo<br />
momento econômico e social no cenário maranhense que se configurava neste<br />
período. No outro pólo, a pesquisa encerra-se em 1888, pois dessa década em<br />
diante novas orientações irão marcar o início de uma nova conjuntura para o objeto<br />
do estudo. A partir de 1888 a escravidão, uma das bases de sustentação do sistema<br />
agrário exportador teve um fim com a Lei Áurea, tendo como conseqüência a<br />
proclamação da república e a modificação das relações inter-pessoais, sociais,<br />
profissionais, etc.<br />
O presente trabalho, não abordará o período pós 1888(apesar de usar<br />
alguns conceitos de 1902), sabe-se que esse momento histórico é uma nova fase,<br />
que requer uma outra pesquisa e, certamente novos métodos de abordagem e<br />
tratamento desse novo recorte histórico.<br />
Gostaria de ressaltar que a escolha por esse tema reflete a minha grande<br />
admiração pelo social e cultural, bem como minha angustia de não ver presente em<br />
nossa historiografia a riqueza do ludovicense enquanto sujeitos e atores sociais, no<br />
período em análise. Ademais meu intuito é demonstrar como o povo merece ter uma<br />
história, que pelo menos se aproxime do real, e que não fique escondida por detrás<br />
da história da desagregação do sistema agrário exportador.<br />
Acredito que a relevância desse trabalho consiste em tentar entender<br />
processos históricos que são analisados somente de dois ângulos: o ponto de vista<br />
dos senhores e o ponto de vista dos escravos. E o povo, ou seja, o restante da<br />
população, não merece uma análise?<br />
A contribuição ao enriquecimento do debate de uma temática tão<br />
importante para a construção da identidade e memória coletiva do Estado e<br />
principalmente de São Luís, traz ao campo de análise, um assunto pouco abordado,<br />
e mostra que a nossa amada História é o campo ideal para conjecturas acerca das
produções do homem.<br />
Nesse sentido, o trabalho está sistematizado de maneira a tratar no<br />
primeiro capítulo das novas abordagens acerca da sociedade Maranhense, no que<br />
se referem aos escravos, senhores, livres e pobres. Após essa análise, se fará no<br />
segundo capítulo uma abordagem da situação e urbanização de São Luís, dando-se<br />
realce ao processo de abandono e falta de conservação da cidade. No último<br />
capítulo será feita uma pequena discussão acerca dos tipos sociais e profissionais<br />
que estão presentes em São Luís no período de 1850-1888, discussão essa que nos<br />
levará a perceber que por entre senhores e escravos também viviam e conviviam um<br />
grande número de profissionais e pessoas de todo tipo.
2 O QUE SABEMOS SOBRE NÓS NO XIX ?<br />
Sem dúvidas, o primeiro grande golpe que sofreu o sistema escravista<br />
brasileiro foi a abolição do tráfico internacional de africanos. A partir de 1850, a<br />
economia brasileira, fundada no trabalho escravo, desligou-se do fornecimento<br />
africano. Sem a fonte de renovação dos plantéis, vital para sua sobrevivência, o<br />
escravismo entrou em colapso.<br />
No Maranhão, o escravo esteve presente em grandes quantidades desde<br />
a segunda metade do século XVIII até os anos 80 do século XIX, assim como em<br />
todo o Brasil, era o escravo quem assegurava a economia maranhense. A mão-de-<br />
obra escrava foi tão importante para o Maranhão que a redução de 73.245 peças<br />
para 33.446 entre 1872 e 1887 em razão do tráfico internacional, ajudou na<br />
estagnação da lavoura e do comércio da província. Em 1821, o trabalho escravo<br />
predominava nas atividades agrícolas do Maranhão. ”Entre os trabalhadores desse<br />
setor, 77,7% eram escravos e 22.3% livres. Em 1872, os números havia se invertido,<br />
os homens livres representavam 70,4% e os escravos 39,6% dessa mão-de-obra”. 3<br />
O modelo de colonização do Maranhão foi marcado pela economia<br />
agrário-exportadora, escravista e mercantil, definida, particularmente, a partir da<br />
segunda metade do século XVIII.<br />
Assim, a condição jurídica, livre ou escravo, e o padrão de renda das<br />
pessoas, somadas a elementos da tradição européia do Ocidente, como os<br />
resíduos das relações de suserania e vassalagem, ainda presentes na<br />
mentalidade do colonizador português, imprimiram formalmente, os códigos<br />
das relações sociais no Maranhão. 4<br />
O escravo representava e demonstrava opulência e o alto prestígio social<br />
dos fazendeiros maranhenses, mesmo que para isso eles se endividassem junto aos<br />
vendedores de escravos. Como se pode notar, esse comportamento indica o quanto<br />
estavam presentes no imaginário dessa elite econômica, os resíduos da mentalidade<br />
senhorial do ocidente medieval, caracterizada, em grande parte, pelo desejo de ser<br />
servido e reverenciado por uma larga clientela. “Assim, sendo a condição de ser<br />
senhor, definia-se na tradição nobiliárquica acrescida de um novo elemento: a<br />
3 PEREIRA DO LAGO apud FARIA, Regina Helena Martins de. A transformação dos trabalhos nos trópicos:<br />
propostas e realizações. Recife, 2001. Centro de Filosofia e Ciencias Humanas.Programa de Pós-Graduação em<br />
História. Universidade Federal de Pernanbuco. p. 157<br />
4 PEREIRA, Josenildo de Jesus. Na fronteira do cárcere e do paraíso: um estudo sobre as práticas e resistência<br />
escrava no Maranhão oitocentista. 2001. Dissertação ( mestrado em História Social) – Programa de pós<br />
Graduação em História Política Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2001. p. 32
escravidão” 5 . “Portanto, o escravo para o maranhense representava e significava<br />
honra e dignidade associados ao poder de mando”. 6<br />
Os aspectos demográficos são muito importantes para conhecermos o<br />
grau de importância do escravo para a sociedade maranhense. Já sabemos que na<br />
primeira metade do século XIX o escravo esteve presente em quantidades<br />
superiores aos homens livres, porém na segunda metade do período analisado este<br />
quadro se inverte e teremos, portanto uma maioria de pessoas livres, assim sendo<br />
percebe-se que “no cotidiano da formação escrava maranhense, distinguiam-se os<br />
funcionários públicos, os comerciantes, os lavradores, os trabalhadores: escravos e<br />
libertos, os brancos pobres e os índios”. 7<br />
Deve-se deixar clara a grande importância escrava para a economia e<br />
sociedade maranhense, porém faz-se necessário entender que entre escravos e<br />
demais segmentos sociais estabeleceram-se uma diversificada e complexa rede de<br />
relações. Entre senhores e escravos existiam, particularmente, relações de<br />
dominação, de conflito, mas também de aliança e convivência pacífica. ¨A<br />
experiência cotidiana das relações escravistas transcendiam o discurso jurídico, pois<br />
homens e mulheres, quer fossem brancos, ricos ou pobres, escravos ou livres,<br />
construíram o processo histórico de suas vidas em sociedade¨. 8<br />
Os negros eram vistos como mão de obra potencial para o sistema agrário<br />
exportador, já os livres pobres que para Caio Prado Jr. 9 viviam à margem da<br />
economia agrária exportadora, não podiam se entrosar normalmente no organismo<br />
econômico e social do país, pois eram um elemento desajustado. Segundo Regina<br />
Faria 10 , os homens livres na primeira metade do século XIX eram vistos como inúteis<br />
e perigosos por não estarem inseridos na grande lavoura ou participarem de forma<br />
marginal. Eles ocupavam principalmente a criação de gado e, de acordo com o<br />
secretário de governo de 1840, Domingos José Gonçalves de Magalhães 11 , eram<br />
“homens ociosos”, sem domicílio certo, amantes da vida meio errante, pouco dados<br />
a outros místeres e muito à rapina e à caça.<br />
5<br />
SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo:<br />
Companhia das Letras, 1988, p.203-223.<br />
6<br />
RIBEIRO, Jalila. A desagregação do sistema escravista no Maranhão (1850-1888). São Luís: SIOGE, 1989<br />
p.132.<br />
7<br />
PEREIRA, op. cit. p. 36<br />
8<br />
Id. Ibid., p. 45<br />
9<br />
PRADO Jr. Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1972. p. 198<br />
10<br />
FARIA op. cit. p.157<br />
11<br />
MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de apud FARIA op. cit. p. 156
De acordo com edição de 14 de fevereiro de 1869 de “O Artista” 12 , pode-<br />
se perceber com riqueza de detalhes a descrição dos livres pobres maranhenses:<br />
São homens ou famílias que não tem suas terras vivem nas alheias,<br />
intrusos ou com licença dos respectivos donos. Há proprietários que tem<br />
centenas de intrusos e não tem meios de os fazerem evacuar. Mas evacuar<br />
para quê? Seria melhor arrendar-lhes terras: mas é que eles não se<br />
sujeitam a um arrendamento e se assinassem algum seria logo necessário<br />
expeli-los por falta de pagamentos, e as coisas ficariam como estão. Quem<br />
não tem uma energia fora do comum não expulsa um desses intrusos por<br />
ter que adquirir um inimigo que tem uma infinidade de meios de fazer mal. O<br />
pior é que de todo modo, quer como amigos quer como inimigos, fazem-se<br />
pesados ao senhor das terras: cortam madeira reservada, colhem-nas<br />
escondidas nas roças, desmancham cercas, quebram porteiras, ligam-se<br />
com escravos, para prejudicarem os senhores, tem laços com escravos<br />
fugidos, avisam-lhes das diligências, amigam-se com as escravas, matam<br />
os animais domésticos, esfaltam os cavalos nos passeios noturnos, animam<br />
os escravos a insubordinação com discursos subversivo,suas mulheres são<br />
parteiras de abortos clandestinos entre as escravas que pretendem subtrair<br />
a escravidão o fruto de seu ventre, andam por detrás dos ranchos dos<br />
escravos abrindo caminhos novos para fins ilícitos, o pretexto de fazerem o<br />
que eles chamam picada de caçador; de maneira que o proprietário não<br />
pode ter em sua casa a ordem que deseja. 13<br />
Ainda em “O Artista”, percebemos entre os livres pobres os que se dizem<br />
lavradores por possuírem roça, embora em terra alheia:<br />
Pescam ou caçam num dia, fazem farinha noutro, trabalham uma hora na<br />
roça em outro e dormem ou passeiam o resto da semana. Andam léguas<br />
para ir cavar num buraco onde sabem que há uma paca ou um tatu, ou para<br />
trazerem uma arroba de frutos silvestres e voltam com seu achado: se a<br />
caça é morta a tiro, avaliam-na no custo da carga da pólvora; se é morta a<br />
facão ou a laço ou se é fruta, tudo é lucro: são dons gratuitos que nada<br />
custaram porque eles não sabem dar valor ao tempo, são pródigos de sua<br />
fortuna.<br />
A liberdade e a ociosidade dos livres pobres, de acordo com o exposto no<br />
jornal “O Artista”, são estereotipadas por não estarem inseridas no contexto da<br />
grande lavoura de exportação; portanto a ociosidade do livre era vista pela elite<br />
agrária como preguiça e falta de valor ao tempo e ainda eram taxados de<br />
vagabundos.<br />
Existia desde a colônia leis que proibiam a vadiagem. O código criminal do<br />
Império determinava pena de prisão com trabalho, por oito e vinte e quatro dias, a<br />
qualquer pessoa que não tivesse uma “ocupação honesta e justa” para o império. O<br />
que seria uma ocupação honesta para o Império?Seria estar na órbita do sistema<br />
agrário de exportação? O modo de vida dos livres pobres não era honesto por não<br />
se enquadrar em tal contexto?<br />
12 Jornal dedicado, principalmente, às artes mecânicas, encontrado na Biblioteca Pública Benedito Leite: “Só<br />
chegamos a ser livres à proporção que nos fazemos industriosos e moraes” (C. B. Dunoyer).<br />
13 O Artista, 14 de fevereiro de 1869 apud FARIA p. 163.
O que deve ser percebido aqui é a preocupação de enquadrar esse<br />
homem livre como fonte de mão-de-obra, pois o Maranhão perdeu boa parte de seus<br />
plantéis de escravos para o sudeste, devido ao tráfico interprovincial. Portanto, de<br />
acordo com o presidente da província em 1874, Augusto Olímpio Gomes de Castro:<br />
A instrução pode operar essa reforma salutar, inspirando nas classes<br />
pobres o desejo da propriedade e o amor da família, estímulos poderosos<br />
para combater a dissipação e a ociosidade. Melhorada a educação do povo,<br />
o trabalho será procurado, e a produção aumentará. 14<br />
Como se pode perceber, o modo de vida dos livres pobres passa a não<br />
ser mais aceito em uma sociedade que carece de mão-de-obra e vê nesse pobre um<br />
meio de suprir tal deficiência, com isto tem início uma mudança na posição das elites<br />
em relação aos pobres livres. Gradativamente iam sendo aceitos como homens e<br />
mulheres que podiam ser integrados ao mercado de trabalho, se mudassem<br />
radicalmente o modo de viver.<br />
O engenheiro Miguel Ferreira mostra muito bem como o modo de vida dos<br />
livres pobres era diferente do modelo pautado na subordinação e disciplina imposta<br />
pelo padrão, que se inseria no contexto da grande lavoura de exportação:<br />
Procure um homem para o trabalho: acham-se vinte, o que prova que não<br />
faltam braços no país. Trate-se com qualquer deles, e dirá que é um homem<br />
de bem os direitos; e para o provar refere que tem servido a muitos patrões e<br />
sempre a contento. Depois de uma fastidiosa seca, aí fica o homem<br />
contratado, que o proprietário dava por despachado, mas que parece esperar<br />
ainda por alguma cousa. Afinal depois de muitos rodeios, pede abertamente<br />
o dinheiro adiantado. Se o proprietário adianta, pela maior parte das vezes<br />
fica sem o trabalhador e sem o dinheiro, e se nega o homem de bem se<br />
ofende e por isso não vai trabalhar. Se vai, trabalhar em cada casa 15 dias;<br />
faz uma viagem ao mangue num barco, daí vai tirar pedra em uma pedreira,<br />
na outra semana vai tirar cipó ou buriti para vender na cidade, porque não<br />
quer estar sujeito a patrões, depois se aborrece de andar pelo mato, e vai<br />
pescar; n’outra semana vai para um barco buscar sarnambi ou carregar<br />
pedra. Os proprietários não podem detalhar um serviço para o dia de<br />
amanhã, porque não sabem quantos trabalhadores virão ao serviço, quantos<br />
irão pescar, quantos caçar, quantos dormir etc. 15<br />
De acordo com Regina Faria, para transformar o livre pobre considerado<br />
inútil e perigoso em um trabalhador enquadrado nos padrões desejados pela elite,<br />
muitas estratégias foram sugeridas, mas poucas ações foram realizadas para<br />
implementá-las, apesar das incontáveis queixas de serem um empecilho à<br />
14 GOMES DE CASTRO 1875, p.11 apud FARIA, 2001 p.166<br />
15 FARIA op. cit p.172
“civilização da província”. Tentou-se o ensino agrícola que não vingou, criaram-se<br />
novas leis contra a vadiagem, mas praticamente não foram efetivados.<br />
Devido à seca de 1877 a 1878, o número de pobres livres aumentou muito<br />
no Maranhão por causa dos emigrantes cearenses. Quando a administração da<br />
província ficou ciente do volume de pessoas que estavam chegando, tomou-se<br />
providências para controlar a situação. A presidência da província instruía que os<br />
retirantes fossem empregados preferencialmente em serviços de lavoura, em terras<br />
particulares ou devolutas. Com isso, o governo contribuía para acabar com o<br />
problema da falta de braços no setor e diminuía suas despesas com o sustento dos<br />
retirantes. Ora, para uma província que estava perdendo os braços escravos, a<br />
corrente migratória foi de extrema importância e valia.<br />
O Maranhão conseguiu absorver a grande maioria dos imigrantes e, de<br />
acordo com o Diário do Maranhão nas edições dos dias 14 e 27 de fevereiro de<br />
1879, há indícios de como estava sendo feita essa absorção:<br />
Os emigrantes que foram remetidos para a comissão desta vila (Penalva)<br />
já mudaram de aspecto, estão todos satisfeitos, e são moralizados e<br />
trabalhadores, não tendo havido entre eles a menor desordem.<br />
Dos que para aqui (Brejo) vieram, muitos se ocupam com proveito da<br />
lavoura; preciso é, no entanto que a autoridade evite que outros se<br />
entreguem à vadiagem para não lhes ser imputado o desaparecimento de<br />
rezes e furtos das roçadas. 16<br />
Estariam, portanto, integrados à vida do Maranhão, inclusive aos<br />
trabalhos agrícolas. O aumento na produção de cereais indica que os retirantes<br />
tinham se integrado basicamente como pequenos produtores. A grande lavoura<br />
escravista estava perdendo fôlego. Os livres pobres ganham espaço. Mas as elites<br />
se recusam a admitir que isso estivesse acontecendo. Contudo, não deixava de<br />
perceber a existência do livre pobre como um braço útil e como pequeno produtor<br />
rural. Começaram a aparecer referências que elogiavam os livres pobres como: “...<br />
são em extremo famigerados, dedicados ao trabalho e muitos concorrem para a<br />
prosperidade da lavoura de Monção. São eles os fornecedores de toda a farinha que<br />
se gasta nos engenhos de açúcar, da circunvizinhança”. 17 Como se pode perceber,<br />
o pobre livre na segunda metade do século XIX teve grande importância no contexto<br />
sócio-econômico da época. Eles se relacionaram com escravos e senhores,<br />
enriquecendo a teia de relações sociais maranhense na época da desagregação do<br />
sistema escravista. As relações inter-pessoais: apadrinhamentos, modo de vida,<br />
16 DIÁRIO do Maranhão, 14 e 27 de fevereiro de 1879<br />
17 O Artista, fevereiro, 1881 apud FARIA,
costumes, relações com senhores e escravos, casamentos etc., são temas ainda<br />
pouco trabalhados, merecendo a atenção dos pesquisadores, portanto:<br />
O perfil das relações no Maranhão, não ficou, em nível do cotidiano,<br />
reduzido ao binômio senhor/escravo, pelo contrário, as relações no plano do<br />
cotidiano eram complexas e decorrentes dos resíduos culturais presentes<br />
na memória das pessoas que teciam as relações cotidianas. Além do mais,<br />
os níveis dessas relações, conflito, negociação, solidariedade e violência<br />
variavam em maior ou menor grau, dependendo das circunstâncias em que<br />
pudessem se encontrar os sujeitos sociais. 18<br />
Por entre os largos, as ruas, os becos estreitos e o porto de São Luís, os<br />
escravos recriavam a sua condição social, indicando aspectos de suas<br />
formas de ler e viver o mundo, sugerindo dimensões das maneiras de<br />
viverem a resistência, o amor às intrigas e as maneiras de solucionarem os<br />
seus problemas . 19<br />
O Maranhão oitocentista foi marcado por uma forte religiosidade entre os<br />
componentes das elites. A elite maranhense entre 1850 e 1888 expressava sua<br />
religiosidade nos hábitos de rezar e assistir às missas, e era permeada por um<br />
profundo medo da morte, já que são várias as cartas de liberdade em nome de<br />
santos de devoção dos senhores e do próprio Deus. Um exemplo foi a liberdade<br />
concedida à escrava Raimunda, menor de idade, mulata, por Francisca Antônia<br />
Lima em respeito ao dia em que se celebrava a sagrada morte e paixão de Cristo 20 .<br />
Encomendavam-se inúmeras missas para a salvação das suas almas, de seus pais,<br />
filhos e parentes. O mesmo não se pode falar dos pobres e escravos, pois:<br />
As luzes do cristianismo parecem que ainda não penetravam essas vilas de<br />
tetos de palha e essas choupanas esgarradas em tão vasto território.<br />
Pobres padieiros com nome de igreja, ermas de fieis; apenas aninham as<br />
corujas, morcegos e mais aves noturnas, cujas imundices cobrem o chão<br />
sem assoalho, e até os mesmos altares; um vapor pútrito, como o hálito da<br />
peste se exala do santuário deserto, e tão miserável é o seu aspecto que<br />
parecem monumentos de zombaria ao mais sublime dos sentimentos<br />
humanos [...]. O que se pode esperar de homens não domados por<br />
nenhum freio. 21<br />
Percebe-se, portanto, que a preocupação de salvar a alma era bastante<br />
acentuada no imaginário cristão católico da sociedade maranhense na época, aqui<br />
analisada, mas essas possibilidades estavam diretamente ligadas e articuladas às<br />
condições financeiras dos que em vida, desejavam a salvação por entenderem que<br />
para além do mundo terreno havia o prolongamento da vida, e que esta não podia e<br />
não devia ser carregada de desalentos espirituais.<br />
18 PEREIRA op. cit. p. 49<br />
19 PEREIRA op. cit. p. 63<br />
20 Cartório Celso Coutinho. Livro de Notas n. 25, 1866, apud RIBEIRO op. cit. p. 69<br />
21 MAGALHÃES apud FARIA p. 158
A despeito das convicções que definiam a concepção cristã, que era<br />
dominante quanto a experiência do sagrado, o que vale salientarmos é a<br />
relação intrínseca entre o poder econômico e a fé religiosa herdada da<br />
cultura medieval portuguesa, a qual tecia, uma rede de compromissos<br />
entre o profano e o sagrado, entre a bolsa e a vida, entre o medo e o<br />
mistério. A única mediação deste drama Barroco era o dinheiro, já que<br />
somente ele é que podia pagar pelas inúmeras missas, ou construir igrejas<br />
e capelas, ou pagar honorários de padres.[...]. Os escravos, entretanto, não<br />
participavam diretamente desses atos ritualísticos pois, ao morrerem eram<br />
enterrados no Cemitério da Santa Casa, mas sem a encomenda de sua<br />
alma a Deus. Pelo interior da província, o leito dos rios serviam-lhes como<br />
depósitos de seus corpos, já dilacerados pelos castigos ou fatigados por<br />
rígidas jornadas de trabalho. 22<br />
Como se pode perceber a vida religiosa se mostrava diferenciada nas<br />
várias facetas da sociedade maranhense. Será que podemos falar o mesmo da<br />
própria estrutura social? Será que a análise da estrutura social de livres, pobres e<br />
dos próprios negros do interior do estado pode ser aplicada para São Luís, capital da<br />
província, que passava por um processo de urbanização nunca visto no Maranhão?<br />
As novas figuras que surgiram nesse contexto, dinamizaram ou não o quadro sócio-<br />
profissional e o próprio cotidiano dos ludovicenses? Essas respostas aparentemente<br />
fáceis e por mais banais que sejam, ainda não foram respondidas, pois ficaram<br />
camufladas em meio a um tiroteio da Historiografia: Senhores X Escravos,<br />
opressores X oprimidos. Esse jogo de mocinho e bandido já rendeu bons frutos para<br />
a historiografia, nos deu respostas a muitas dúvidas, porém é muito angustiante não<br />
saber responder com precisão quem foi São Luís para além de senhores e escravos.<br />
Se prestarmos atenção no que Aluísio Azevedo descreve em sua obra “O<br />
Mulato” entenderemos o que foi São Luís entre 1850 e 1888:<br />
[...] A Praça da Alegria apresentava um ar fúnebre...do outro lado da praça<br />
uma preta velha vendia fatos de boi. As crianças nuas...com os ventres<br />
amarelentos e crescidos empinavam papagaio de papel .Um outro branco<br />
levado a necessidade de sair, atravessava a rua. Ao longe para as bandas de<br />
São Pantaleão, ouvia-se apregoar: “Arroz de Veneza! Mangas! Mocajubas!”...<br />
O quitandeiro, assentado sobre o balcão, cochilava... Da praia de Santo<br />
Antonio enchiam toda a cidade de sons invariáveis e monótonos de uma<br />
buzina, anunciando que os pescadores chegavam do mar, para lá<br />
convergiam apressadas e cheias de interesse, as peixeiras, quase todas<br />
negras, muito gordas... A Praia Grande e a Rua da Estrela contrastava com o<br />
resto da cidade. Em todas as direções cruzavam-se esbofados e rubros,<br />
cruzavam-se os negros e os caixeiros em serviço na rua. Os corretores de<br />
escravos examinavam os negros..., os leiloeiros cantavam em voz alta o<br />
preço das mercadorias. 23<br />
A descrição não nos deixa dúvidas da grande gama de atividades<br />
profissionais existentes em São Luís no período analisado. Aluísio fala em<br />
22 PEREIRA op. cit. p. 51<br />
23 AZEVEDO, Aluisio. O Mulato.Rio de Janeiro: Editora Ática, 1986, p.15-16
vendedoras de fatos de boi, quitandeiro, pescadores, peixeiras, caixeiros, corretores<br />
e leiloeiros. Devemos entender aqui que essas atividades não eram atividades só de<br />
negros ou só de brancos. As atividades profissionais de São Luís podem nos fazer<br />
entender por outro ângulo a sociedade ludovicense. As crianças que brincam com a<br />
pipa segundo Azevedo, não demonstram o grande temor que os brancos têm de<br />
rebeliões negras. É difícil de acreditar que elas possam brincar em um campo de<br />
batalha, em meio a senhores e escravos se digladiando, visão esta que ainda<br />
permeia a historiografia maranhense.<br />
A análise sócio-profissional de São Luís nos permitirá montar um<br />
panorama de como era a capital maranhense, esse panorama porém não é um<br />
quadro esquemático fechado. Antes de falar especificamente do quadro profissional<br />
ludovicense é de extrema importância se entender a cidade de São Luís.<br />
24 Id. Ibid. p.186.<br />
No dia seguinte, por todas as ruas da cidade de São Luís do Maranhão, e<br />
nas repartições públicas, na praça do comercio, nos açougues, nas<br />
quitandas, nas salas e nas alcovas, boquejava-se largamente sobre a<br />
misteriosa morte do Dr. Raimundo. Era a ordem do dia. 24
3 SÃO LUÍS OITOCENTISTA<br />
São Luís em meados do século XIX, constituiu-se de três mundos<br />
distintos, porém nem sempre excludentes, tendo em mente que os homens<br />
constroem e tecem suas vidas baseados nas relações sociais e estas, por sua vez,<br />
são compostas de brigas, intrigas, mas também de amor, amizades, solidariedade.<br />
De um lado impregnada com os ares de progresso temos a elite urbana de São Luís<br />
que adotou e tentou reproduzir nos trópicos ares de vida européia, principalmente<br />
francesa, todavia por razões diversas, que vão desde o clima, passando pelo baixo<br />
grau de escolaridade e chegando até uma das bases de sustentação do sistema: a<br />
escravidão, a tentativa de civilização acabou sendo uma caricatura do modelo ideal.<br />
Por outro lado esse mesmo espaço urbano era ocupado pela sociabilidade escrava,<br />
por suas formas de ler e ver o mundo. Nesse emaranhado de atores encontrava-se<br />
também os pobres livres, as pessoas de pequenas posses, em outras palavras,<br />
aqueles que por não se enquadrarem no contexto da grande lavoura de exportação<br />
ficaram à margem da sociedade e eram taxados de vadios.<br />
3.1 Formação da Praia Grande<br />
Em São Luís, o Bairro da Praia Grande 25 despontou como o local onde<br />
muitas edificações foram construídas principalmente no decorrer do século XIX, com<br />
a expansão da cidade.<br />
Deve-se ressaltar que a organização urbana da Praia Grande 26 , com seus<br />
grandes casarões denota os reflexos do crescimento econômico aferido pelo<br />
Maranhão durante a segunda metade do século XVIII e decorrer das primeiras<br />
décadas do século XIX. A iniciativa dos proprietários de estabelecimentos, que<br />
25 A denominação do bairro com Praia Grande, teve origem de acordo com Carlos de Lima, “na<br />
chamada Praia Grande, isto é, o espaço que medeia, mais ou menos, do atual Shopping Cidadão até<br />
o final da Rua do Trapiche, em contraposição à Praia Pequena, ou Praia da Trindade, na altura da<br />
Rua do Ribeirão (também conhecida como Praia do Caju) e Praia de Santo Antônio, em direção à<br />
antiga Estação da Estrada de Ferro S. Luís - Teresina, hoje Gerência de Segurança Púbica” (LIMA,<br />
2002, p. 23).<br />
26 O bairro em seu princípio, era cercado de juçarais e olhos d’água, sendo constantemente alagado<br />
no período chuvoso. “A Praia Grande era, pois, todo o terreno desde a travessa Boa Ventura (Fluvial)<br />
até a rua do Trapiche, onde despontavam vários olhos d’água sob frondosos juçarais, recebendo as<br />
enxurradas vindas da rua do Giz, um tremendo lamaçal tornado impraticável, duas vezes ao dia, nas<br />
marés crescentes, para o transporte das mercadorias recebidas do interior, quando toda a<br />
comunicação por São Luís se fazia por mar” (Ibid., p.24).
construíram e moldaram com seus vistosos casarões azulejados, a imponência de<br />
uma época onde “a sociedade passou a requintar-se, através de melhorias urbanas<br />
e de suas habitações.” 27<br />
A área compreendida pelo centro histórico e em especial a Praia Grande,<br />
teve até o início do século XX, uma importância vital para a cidade de São Luís,<br />
constatando-se que nesse logradouro, estava situada uma vasta parte do comércio,<br />
em virtude da volumosa passagem de mercadorias e produtos carregados e<br />
descarregados no Porto localizado neste logradouro. O local também despontava<br />
como preferido na fixação de residências de comerciantes enriquecidos e<br />
afidalgados.<br />
A área antes cheia de alagados e pântanos, aos poucos, começou com a<br />
chegada dos estabelecimentos e novos moradores a ganhar novos ares com a<br />
modificação da paisagem física. Essas mudanças que se processavam na área são<br />
confirmadas por Viveiros, “aterrou os pântanos, secou os olhos d’água , roçou os<br />
manguezais, beneficiou-se com dezenas e dezenas de braças de cais, dotando-lhe<br />
de trapiches [...] e cobrindo-o de sobradões, de ombreiras, de cantarias, de janelas,<br />
de grades de ferro e revestidos de azulejos”. 28<br />
Com as mudanças na paisagem natural da área, removendo-se os<br />
empecilhos às construções, começou-se o processo de organização espacial das<br />
edificações que constituíram o conjunto arquitetônico.<br />
O comércio, que se alojou naquele setor foi elemento canalizador das<br />
condições materiais para o desenvolvimento do centro histórico, com o investimento<br />
de capitais na melhoria da área.<br />
A atração de famílias que começaram a fixar residência também foi outro<br />
fator importante, na medida em que as autoridades públicas tiveram que prover -<br />
mesmo com todas as debilidades existentes - esses moradores com serviços, como<br />
calçamento das ruas e abastecimento de água.<br />
Uma forma típica de utilização dos casarões no período se dava em forma<br />
27 GOMES, Geovana Carneiro Rocha. Praia Grande: o surgimento do bairro, o porto, a feira e sua<br />
decadência econômica. 1998. 43 f. Monografia (Graduação em História) Universidade Federal do<br />
Maranhão, São Luís, 1998, p. 19<br />
28 VIVEIROS, Jerônimo José de. História do Comércio do Maranhão (1612 – 1615). São Luís:<br />
Associação Comercial, 1954. p. 144
de comércio na parte térrea e moradia nos pavimentos superiores, havendo também<br />
construções, cuja habitação era unicamente utilizada como moradia.<br />
[...] o bairro da Praia Grande continuou abrigando comerciantes abastados,<br />
que ali construíram seus imponentes casarões. Os primeiros pisos dessas<br />
edificações sediavam estabelecimentos comerciais, enquanto os andares<br />
superiores serviam de residência aos seus proprietários. 29<br />
Os elementos que colaboraram para a consolidação e vocação comercial<br />
deste distrito da cidade são: a constituição da Feira, do Porto e a própria localização<br />
geográfica (dentro do perímetro original de surgimento da cidade).<br />
3.2 O Porto<br />
O porto da Praia Grande serviu como alavanca para as atividades<br />
econômicas não só de São Luis, como do Maranhão, pois do mesmo ocorria a<br />
partida e chegada de mercadorias que impulsionavam as transações comerciais. “O<br />
porto vai ser o grande corredor de escoamento para aquele comércio emergente, e<br />
em função deste surge o primeiro bairro comercial de São Luís”. 30<br />
São Luís muito lucrava por ser o único porto exportador, acumulando uma<br />
função essencial dentro da dinâmica econômica do Estado. A passagem das<br />
mercadorias exportadas e importadas trouxe um volume de capital que possibilitou a<br />
criação e manutenção de um estilo de vida mais requintado para um segmento de<br />
seus moradores.<br />
Mesmo com as mudanças processadas na economia no decorrer do<br />
século XIX, como o início do ciclo da cana de açúcar que deslocou o eixo econômico<br />
mais para o interior do Estado, São Luís continuava a ser o elo da cadeia comercial.<br />
São Luís, a capital, nada perderia; muito pelo contrário, único porto<br />
exportador, desenvolveu-se e enriqueceu-se ainda mais - os seus<br />
sobradões, de sacadas de ferro, de umbrais de cantaria, cujos azulejos<br />
reverberavam ao sol, aumentaram em número. 31<br />
O porto era o grande responsável pela articulação do Maranhão dentro do<br />
comércio exportador de produtos agrícolas. A produção de algodão, cana de açúcar<br />
29 NOGUEIRA JÚNIOR, Francisco Domingos Bezerra. Praia Grande: tesouro cultural, patrimônio da<br />
humanidade. 2001. 65 f. Monografia (Graduação em História) Universidade Federal do Maranhão,<br />
São Luís, 2001, p. 18<br />
30 PEREIRA, Lana Lourdes. Praia Grande: uma história de resistência. 1997. 65 f. Monografia<br />
(Graduação em História) Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 1997, p.13<br />
31 MEIRELES, Mário Martins. História do Maranhão. 2. ed. São Luís: Fundação Cultural do<br />
Maranhão, 1980, p. 297
e arroz que constituíram produtos essenciais à economia maranhense no decorrer<br />
dos séculos XVIII e XIX - cada um dentro de um determinado momento - teve seu<br />
escoadouro no porto de São Luís.<br />
O porto apesar de largamente utilizado, possuía problemas de ordem<br />
estrutural com “bancos de areia; canal de ziguezague; a grande amplitude das<br />
marés, o que só permitia o atracamento na maré alta; e cais pequeno”. 32<br />
A despeito desses problemas o porto era um elemento fundamental para o<br />
desenvolvimento da cidade e consequentemente, foi um fator que canalizou<br />
condições materiais para o surgimento do padrão arquitetônico dos grandes<br />
sobrados, muitos revestidos com azulejos importados, dinamizando com isso a vida<br />
em sociedade.<br />
3.3 A constituição da Feira<br />
A formação da feira na Praia Grande 33 foi outro elemento que fomentou a<br />
circulação de moeda na área e serviu de local para venda de víveres indispensáveis<br />
à população.<br />
A constituição da feira nos moldes que chegou aos dias atuais, remonta<br />
ao século XIX, quando se sentiu a necessidade da construção de um local que<br />
pudesse melhor acomodar a venda de gêneros alimentícios na cidade, pois com o<br />
desaparecimento das barracas 34 da Praia Grande, tornou-se mais complicado a<br />
aquisição de alimentos.<br />
Na tentativa de sanar as dificuldades da população nesse sentido, foi<br />
dado início em 1855 a construção da Casa da Praça cuja obra só foi terminada em<br />
1862, pela Companhia Confiança Maranhense. “A Casa da Praça era um conjunto<br />
arquitetônico à semelhança de um quadrilátero, tendo no centro de cada uma de<br />
suas alas, um portão que dava acesso a um jardim interno”. 35 A construção da Casa<br />
32 GOMES op. Cit. p.24<br />
33 Para um melhor estudo sobre a formação da feira da Praia Grande, recomenda-se a leitura da<br />
obra Feira da Praia Grande, de José Ribamar Sousa dos Reis.<br />
34 As barracas da Praia Grande foram planejadas no início do século XIX para a guarda e venda de<br />
gêneros alimentícios da população de São Luís. “Finalmente em 1805, feitos os aterros e um cais,<br />
áreas foram concedidas aos comerciantes para erigirem casas a fim de formar uma praça regular, de<br />
40 braças, onde se estabeleceriam as barracas” (LIMA, 2002, p. 24) Essas barracas organizadas<br />
para suprir as necessidades de guarda e venda de alimentos, deu origem ao que se denominou Casa<br />
das Tulhas ou Celeiro Público.<br />
35 REIS, José Ribamar Sousa dos. Feira da Praia Grande. São Luís: Augusta, 1982., p. 99
da Praça (atual Feira da Praia Grande) foi um elemento de muita serventia para a<br />
dinamização da área do núcleo inicial de formação da cidade.<br />
3.4 Por detrás dos azulejos.<br />
São Luís desenvolveu-se como já aludido, a partir de um núcleo inicial, a<br />
Praia Grande. Esse núcleo foi sempre a parte mais importante comercialmente e<br />
que recebeu primeiramente os melhoramentos urbanos. Assim é que essa área<br />
central da cidade foi o alvo principal das transformações modernizantes e<br />
organização urbana. Esse momento coincide com a segunda fase do<br />
desenvolvimento econômico do Maranhão, meados do século XIX à crise do final do<br />
século 36 , quando se verificou uma diversificação do capital mercantil e a gênese de<br />
um setor de serviços, principalmente na capital. Tais serviços foram sempre de uso<br />
restrito e contemplaram apenas as áreas nobres da cidade, como a Praia Grande e<br />
os bairros centrais.<br />
A cidade de São Luís na metade do século XIX, era formada por três<br />
freguesias urbanas: a de Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora da Conceição e<br />
São João Batista. A cidade ao expandir o seu núcleo urbano, aumentou o seu<br />
número de ruas, edifícios e população, necessitando também de uma maior<br />
demanda de serviços públicos. Segundo Raimundo Palhano 37 os anos de 1850 a<br />
1870 foram caracterizados pelo surgimento e desenvolvimento dos serviços<br />
públicos, momento também onde as cidades brasileiras, principalmente as capitais<br />
encontravam-se em fase inicial de urbanização, sendo o estado o principal vetor<br />
desse processo. Nesse sentido o poder publico elaborou medidas visando melhorar<br />
o aspecto urbano de São Luís. O Código de Posturas de 1866 foi um instrumento<br />
dessa tentativa. Nota-se no Código de Posturas a preocupação com as aparências<br />
das ruas de São Luís buscando minimizar características do meio rural. A rua passa<br />
a ser um lugar de intensa movimentação, daí a preocupação com carruagens,<br />
carroças junto de animais e pedestres. Além da aparência das ruas também era<br />
preocupação do Código de Posturas o comércio, o vestir, e até os vícios como o<br />
fumo e a bebida.<br />
36 REIS, Flávio Antonio Moura. Grupos políticos e a estrutura oligárquica no Maranhão (1850-<br />
1930). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1992.<br />
37 PALHANO, Raimundo nonato Silva. A produção da coisa Pública: serviços e cidadania na<br />
primeira república – ludovicence. São Luís: IPES, 1988, p 155.
Os serviços de iluminação, transporte, limpeza e abastecimento faziam<br />
parte das necessidades de uma cidade em expansão. A iluminação pública na<br />
primeira metade do século XIX era feita através de candeeiros à base de azeite, que<br />
além de deficientes abrangia apenas a região central da cidade e de acordo com<br />
Vieira Filho 38 , os lampiões viviam sujos eram poucos e mal conservados. Percebem-<br />
se as mudanças no sistema de iluminação na passagem de o Mulato onde Azevedo<br />
nos relata:<br />
Também dizia mal da iluminação a gás;... Dantes os escravos tinham o que<br />
fazer! Mal serviam o jantar iam aprontar e acender os candeeiros deitar-lhes<br />
novo azeite e coloca-los no seu lugar... E hoje? É só chegar o palitinho de<br />
fogo à bruxaria do bico de gás e [...] cala-se na pândega! Já não há tarefa! 39<br />
A implantação da iluminação pública em São Luís data de 1863, além de<br />
demonstrar sérios problemas, contemplou principalmente os bairros centrais<br />
habitados pelas classes mais abastardas.<br />
Com relação ao abastecimento de água potável, este era um problema<br />
crônico em São Luís. O fornecimento era dependente da venda por parte de alguns<br />
proprietários de poços nos arredores da cidade; dentre esses comerciantes de água<br />
destacou-se a figura de Ana Jansen, comerciante e latifundiária da capital. A água<br />
servida a uma parcela da população de São Luís, era de péssima qualidade e<br />
segundo relatos temos que: “A água que se vende atualmente é péssima<br />
principalmente a que vem do Sítio do Sr. Comendador Vasconcelos, que é bastante<br />
salobra” 40 . Apesar de tais referenciais terem um grau de confiabilidade pouco<br />
significativa, já que tal depoimento foi encontrado em um jornal de esquerda da<br />
época, e possivelmente utiliza-se do problema da água para afetar politicamente o<br />
comendador, deve-se encarar o problema de água potável em São Luís como real.<br />
Em 1856, o governo da província concedeu o privilégio da venda de água,<br />
por sessenta anos, para a companhia de água do Rio Anil. Esta deveria canalizar<br />
água do Anil para a população da cidade. Essa Companhia não obteve sucesso e<br />
terminou sendo incorporada, em 1875, pela Companhia de Águas de São Luís, que<br />
funcionou até 1920.<br />
Essas Companhias não conseguiram satisfazer minimamente a<br />
população, pois além da precariedade e os altos preços dos serviços prestados, o<br />
38<br />
VIEIRA FILHO, Domingos. Breve História das ruas e pacas de São Luís. 2. ed. Maranhão, 1971<br />
p. 16.<br />
39<br />
AZEVEDO, Aluísio op. cit. p.71<br />
40<br />
Jornal Para Todos, 28 de setembro de 1877, ano 1, nº. 26
número de pessoas que usufruíam era restrito, principalmente, a elite local que<br />
podia pagar. A população pobre em sua maioria usava as bicas, chafarizes e fontes<br />
públicas.<br />
A limitação do acesso à água potável contribuía decisivamente para o<br />
problema de insalubridade, que era agravado dentre outros fatores pelo precário<br />
sistema de esgotos. Os dejetos deveriam ser despejados no mar, mas não era<br />
pouca as vezes que a população usava para isso um terreno vazio, ou mesmo a rua.<br />
Outro item fundamental para a salubridade das cidades é a limpeza<br />
pública. Contudo, esse serviço nunca foi uma prioridade para o Estado, ao contrário<br />
foi sempre assunto secundário. Ainda assim, nos locais onde se fazia a coleta, era<br />
usado o cofo de palha como depósito de lixo, deixado nas portas das casas. A<br />
limpeza pública era precária e realizada por método primitivo. As condições gerais<br />
de asseio da cidade eram as piores possíveis, pois como afirma Palhano “as artérias<br />
da capital eram comumente invadidas por lamas, excrementos de animais, restos de<br />
vegetais e de sobras de todas as espécies, lançadas pela população. 41 Segundo<br />
Vieira Filho:<br />
Os garis da época eram os ventos, o “ vento amigo” que Oliveira Viana<br />
chamou acertadamente de “ grande higienista da cidade” e a água das<br />
grossas chuvas que lavam as ruas de São Luís, escoando-se rapidamente<br />
por causa das ladeiras que tornavam pitoresco esse abençoado burgo[...]. 42<br />
As precárias condições de salubridade facilitavam a proliferação de<br />
doenças como a varíola, sarampo, gripe, hepatite, disenterias e outras sendo<br />
comum os surtos epidêmicos, como os de varíola relatados por Marques:<br />
A varíola de vez em quando reaparece, e sempre fazendo muitas vitimas,<br />
como aconteceu na capital nos anos de 1837 a 1838, de 1854 de 1867 a<br />
1868 e de 1870 a 1871 aqui na capital sendo as três primeiras mortíferas,<br />
especialmente a de 1854, e as outras mais benignas. 43<br />
Essas doenças atingiram a população em geral, porém as camadas<br />
populares, principalmente os escravos, devido o difícil acesso dos melhoramentos<br />
urbanos, eram os que mais sofriam com a precária salubridade da cidade, o que<br />
ocasionava um grande número de mortes.<br />
No que diz respeito aos serviços públicos, observa-se que apesar de<br />
algumas melhorias, como por exemplo, a iluminação a gás e uma série de contratos<br />
41 PALHANO op. cit.p. 236<br />
42 VIEIRA FILHO op. cit. p. 21<br />
43 MARQUES, Augusto César. Dicionário histórico e geográfico da província do Maranhão. Rio<br />
de Janeiro: Fon-Fon e Seleta, 1870, p. 486.
para abastecer a cidade de água encanada, foram medidas precárias e limitadas,<br />
que não chegou a satisfazer a demanda geral, beneficiando e privilegiando apenas<br />
as elites econômicas e políticas e os bairros centrais da capital.<br />
Percebe-se que São Luís, mesmo passando por uma grave crise<br />
econômica, buscava manter a todo custo a aparência e o status. Nessa cidade onde<br />
o projeto modernizante da elite burguesa foi malogrado, onde os serviços de infra-<br />
estrutura urbana não contemplaram a maioria da população e onde os aportes<br />
civilizatórios não puderam realizar mais do que um arremendo daquilo que acontecia<br />
na Europa existia muitas formas de sociabilidade que se entrelaçavam e formava<br />
uma diversificada e complexa rede de convivência, onde seus atores: os escravos, a<br />
população pobre, os “vadios” tinham seus modos de vida duramente recriminado e<br />
reprimido até mesmo pelo Estado.<br />
O que deve ser entendido é que mesmo tendo sua forma de viver<br />
reprimida, o popular enquanto sujeitos vivenciaram a realidade de São Luís, e de<br />
alguma forma se apropriam dela e a re-inventam, portanto o Estado através do seu<br />
aparelho repressor tolheu o direito dos mais pobres e negros de viverem segundo<br />
seus princípios, porém o povo está sempre presente quando tudo acontece, é<br />
testemunha ocular do crime, é através dele que a notícia se espalha, o popular é o<br />
registro de tudo o que acontece na cidade.<br />
A polícia, órgão repressor estatal é por excelência o instrumento de<br />
manutenção da ordem do Estado, e é responsável pela segurança pública dos<br />
cidadãos, porém é comum se encontrar nos jornais da segunda metade do século<br />
XIX denúncias sobre o precário funcionamento da polícia, assim como apresentam<br />
queixas da população revoltada com a ineficiência da mesma e com seus tumultos<br />
causados por seus agentes.<br />
Com relação à estrutura de funcionamento da polícia, o jornal O Binóculo,<br />
traz uma nota intitulada: Obra Prima da Natureza, que diz o seguinte:<br />
44 O Binóculo, 27 de novembro de 1888.<br />
A obra mais importante que tem o nosso governo, é a cadeia do Cutim!<br />
Ah!... essa obra sim senhor : as portas desse suntuoso edifício são<br />
engrenadas com fortes e grossíssimas pindobas, o telhado coberto com o<br />
mesmo objeto, o destacamento que guarda essa – obra prima da natureza<br />
– e os pobres inocentes que por infelicidade tiveram a infelicidade de lá cair,<br />
é composta de no máximo seis praças, três desses estão diariamente<br />
licenciadas, das três que ficam em serviço, uma vai tirar palmito para o<br />
cavalinho do Sr. Subdelegado; a outra vai tirar caranguejos para nós comer,<br />
a última fica dormindo na fresca sombra dum arvoredo que tem defronte.<br />
Quanto aos presos nada sabemos. 44
“Ainda com relação aos péssimos serviços prestados pela polícia e o<br />
número muito reduzido de soldados, o Jornal Para Todos denuncia os transtornos<br />
causados pelos agentes dizendo:” No incêndio que houve na madrugada do dia oito<br />
apresentou-se “UM” soldado do 5º batalhão uniformemente fardado de roupas de<br />
dormir” 45 .Através desses relatos percebe-se um total despreparo da polícia militar<br />
comprovadas pelo número muito pequeno de soldados e pela postura dos policiais<br />
frente não somente a população, mas principalmente a seus superiores, que por<br />
sinal, a toda hora encontramos nos jornais, referências elogiosas a esses que<br />
comandavam um “ batalhãozinho” de pessoas despreparadas.<br />
Honras de Major: Ao Sr. Capitão do segundo batalhão da guarda nacional<br />
desta província João Pedro Alves de Barros foram concedidas as honras de<br />
major.<br />
Promoção – Foi promovido a coronel graduado o Sr. Tenente-coronel do<br />
corpo de engenheiros João Victor Vieira da Silva. 46<br />
Aqui se pode afirmar que a real preocupação da polícia além de reprimir<br />
os que não se enquadravam em uma cidade urbana, era promover pessoas que não<br />
cumpriam suas obrigações enquanto comandantes do órgão protetor da população.<br />
Enquanto a população sofre e reclama dos serviços da polícia, percebe-se um<br />
descomprometimento do alto escalão para com os ludovicences.<br />
Se a polícia não tinha compromisso para com a população, a população<br />
não confiava e nem acreditava na polícia, pois como a mesma pouco cumpria com<br />
os seus deveres, os ludovicences procuravam dar o famoso jeitinho brasileiro 47<br />
quando eram vítimas de roubo, valendo até apelar para os jornais, como percebe-se<br />
no seguinte aviso:<br />
AVISO: Tendo os ladrões penetrado hotem à noute, em casa de morada de<br />
baixo assignada, à rua de S. Pantaleão, chácara contígua ao<br />
estabelecimento comercial do sr. Bernardo e fronteira ao do sr. Manoel dos<br />
Reis Gomes, e d’ahi roubando uma saleira de prata com logares para sete<br />
vidros, seis galinhas e mais a quantia de 4,3000 reis, em cobre, que se<br />
achava dentro de uma das gavetas do guarda-louças; - pede a pessoa a<br />
quem o mesmo saleiro for offerecido, especialmente aos senhores ourives,<br />
o favor de apprehendel o e entrega-o a abaixo assignada, visto ser-lhe<br />
impossível obter as galinhas e a importância subtraída.<br />
Rosa Emília Rodrigues Branco Pereira. 48<br />
Como já foi dito a policia estava preocupada era com os vadios, vadiagem<br />
esta, que era considerada própria dos desocupados, ou seja, dos não engajados no<br />
45 Jornal Para Todos, 13 de julho de 1877.<br />
46 A Actualidade, 14 de agosto de 1869.<br />
47 Ver HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil<br />
48 Pacotilha, 13 de maio de 1888.
mercado formal de trabalho, o ócio era característico da vadiagem portanto:<br />
na rua do Ribeirão, canto com a rua da Saavedra, reúne-se todas as noites<br />
umas abelhas perigosas, que sem respeitar a moral pública, larga de<br />
ROUPA À PROA mil palavrões cabeludos. Eis os nomes das primeiras que<br />
sobresahem, Benedita, Filomena e a celebre Joana, negrinha de pá virada,<br />
que tantas vezes tem visitado os raios da cadeia pública. Melhor se tornaria<br />
a comédia se o sr. Subdelegado do 3º distrito expedisse ordem para ser<br />
liquidado esse cortiço, que tanto mal tem causado àqueles moradores. 49<br />
Esse é um exemplo típico normalmente classificado como vadiagem pela boa<br />
sociedade do período, que além das denúncias ainda enumeravam muitas outras<br />
atitudes como definidoras de vadiagem, para as mulheres sobressaem alguns<br />
adjetivos mais comuns como rueiras, escandalosas, “alegres”, etc. No caso dos<br />
homens temos: boêmio, notívago, gatuno e ébrio.<br />
Os “Vadios” eram perseguidos e não tinham o direito de reclamar dos<br />
serviços da polícia, entretanto os moradores dos bairros centrais de São Luís<br />
sempre estavam cobrando da polícia atitudes para com os desordeiros e<br />
vagabundos, é o que se percebe na edição do jornal Pacotilha de 01 de junho de<br />
1888.<br />
Alerta policia???<br />
Pedimos ao sr. chefe de polícia, que não se esqueça de mandar patrulhar a<br />
rua de S. Pantaleão, com especialidade ao conto da de S. Thiago, que é<br />
onde junta-se constantemente grande número de vadios e desordeiros!<br />
Nesse lugar da-se sempre cousas do arco da velha, constantemente apitase,<br />
não aparece um soldado, como sempre: ora, isso não tem geito; é<br />
preciso andarem mais activos com a lei; não é essa a primeira reclamação<br />
que temos feito.<br />
Os moradores da rua S. Pantaleão. 50<br />
Deve-se entender o conceito de vadiagem dentro do discurso para a<br />
transformação do trabalho na província do Maranhão, pois com a decadência e crise<br />
do sistema agrário exportador no Maranhão, as pessoas que antes não eram nem<br />
lembradas enquanto seres humanos e aqui estamos falando dos pobres e negros,<br />
passam a ser vista como mão de obra potencial, porém, para isso elas deveriam se<br />
enquadrar em uma urbanização almejada pela elite, devendo para isso modificar o<br />
seu modo de viver:<br />
49 O BINÓCULO, 27 de novembro de 1887.<br />
50 PACOTILHA, 01 de junho de 1888<br />
51 O PAIZ, 29 de maio de 1888.<br />
[...] Ainda está tudo por fazer, para que possa organizar regularmente o<br />
trabalho, é preciso antes de tudo criar o trabalhador porque não existe entre<br />
nós”.<br />
[...] Entretanto não posso deixar de reconhecer que é geralmente dotada de<br />
boa índole, faltando somente educá-la e chama-la ao trabalho... 51
Mesmo quando os livres pobres passaram a ser vistos como mão de obra<br />
potencial, os discursos preconceituosos para com esse tipo de trabalhador<br />
continuaram a ser usados:<br />
Ninguém é capaz de conseguir trabalho dessa gente. Muitas vezes o<br />
proprietário vai convidar trabalhadores prometendo-lhes pagamento pontual<br />
e boa alimentação; exigem logo adiantamento dos jornais, alegando que<br />
precisam comprar uma calça ou camisa, os que obtém o abono nunca mais<br />
aparecem para o não pagar e os que não obtêm tornam este pretexto para<br />
não ir ao trabalho, porque não podem ir sem roupa para fora de casa. 52<br />
Indubitavelmente o modo de vida dos pobres livres passa a não ser mais<br />
aceitável em uma cidade em processo de urbanização, assim as vacarias e tudo o<br />
que lembrasse o meio rural foi proibida nos bairros centrais de São Luís pelo Código<br />
de Posturas, porém, os tipos sociais e os tipos profissionais que permeiam esse<br />
universo não somente de livres pobres, mais de toda uma gente que construiu suas<br />
vidas em sociedade, reconstroem o cotidiano de São Luís mostrando o que os<br />
ludovicences faziam, quem eles eram e como viviam.O popular é muito importante<br />
para se entender a cidade de São Luís da segunda metade do século XIX.<br />
Deve-se levar em consideração três critérios para se entender a<br />
sociedade maranhense da primeira metade do século XIX. O critério da cor; o<br />
critério econômico e o critério jurídico, ou seja, ser ou não ser dono de escravo. A<br />
sociedade maranhense segundo Faria 53 se tornou mais complexa na segunda<br />
metade do século XIX devido à interrupção do tráfico de africanos, a emigração<br />
nordestina, a desagregação do escravismo, a miscigenação e outros fatores que<br />
contribuíram para diversificar os tipos físicos e os papeis sociais. Assim sendo:<br />
Com o passar do tempo, a instalação em seu núcleo urbano de diversos<br />
negociantes, lojistas e quitandeiros de toda origem, portugueses,<br />
brasileiros, ingleses e franceses conferiu a São Luís a condição de “cidade<br />
comercial” e a quarta cidade brasileira em importância econômica. Nesse<br />
processo, por volta de 1861, São Luís já possuía mais ou menos uns 36<br />
negociantes com escritório situado na Rua do Trapiche, do Egyto, Formosa,<br />
dos Barbeiros, da Estrele e do giz, no Largo do Carmo, 04 armazéns de<br />
madeira de construção civil e naval; 05 mercados de lojas livres; 03 agentes<br />
de leilões; 158 quitandas; 59 armazéns de mantimentos secos de todas as<br />
qualidades, frutas e aves. Os seguimentos médios e ricos da cidade ainda<br />
podiam contar com uma larga oferta de serviços de modista, retratista,<br />
relojoeiros, arquitetos, ourives e outros. 54<br />
Nesse sentido a busca da compreensão do cotidiano da cidade de São<br />
52 O PAIZ, 29 de maio de 1888.<br />
53 FARIA op. cit. p. 60<br />
54 PEREIRA, op. cit. P. 57
Luís, perpassa e está permeada dos hábitos desses sujeitos que modificaram e<br />
transformaram a estrutura social da capital, portanto:<br />
Os quitandeiros maranhenses, foram co-responsáveis pelo movimento<br />
transformador, foram, com absoluta convicção, representantes de vetores<br />
sociais específicos, que, se dominados, não emergiram do mocambo e/ou<br />
da senzala, pois participando da organização, da reprodução, e da<br />
transformação sociais, configuravam a habitação inclusive da meia-parede,<br />
da meia-morada, da parede-e-meia etc. 55<br />
55 CORRÊA, Rossini. Formação Social do Maranhão: o presente de uma arqueologia.São Luís,<br />
Sioge, 1993, p.89
4 TIPOS SÓCIO-PROFISSIONAIS DE SÃO LUÍS<br />
O povo, bem como as funções que exercem dentro de uma sociedade, ou<br />
seja, suas profissões podem muito, mostrar como foi uma determinada sociedade e<br />
como ela se organizava. Entender o profissional e atrelado a ele o sujeito enquanto<br />
ator social é sem dúvidas entender a alma de uma sociedade.<br />
4.1 Tipos Profissionais<br />
No decorrer do século XIX, principalmente na segunda metade, a<br />
estrutura social maranhense tornou-se mais complexa com o surgimento dos<br />
seguimentos médios formados, em grande parte, de funcionários públicos, cujo<br />
número foi aumentado com a complexidade do aparelho do Estado; de pequenos<br />
comerciantes, de profissionais liberais e, ainda, de padres e literatos. Aumentou<br />
também sensivelmente a população dos homens livres destituídos de qualquer<br />
fortuna. Pensando nisso é que o ensino de ofício foi efetivamente promovido, no<br />
Maranhão, através da fundação, em 1842, da Casa dos Educandos Artífices.<br />
era:<br />
Segundo Maria do Socorro Cabral, a finalidade desse estabelecimento<br />
1º - desviar da carreira dos vícios, dezenas de moços que não tendo de que<br />
viverem, nem quem promova sua educação crescem ao desamparo e<br />
tornam-se inúteis e pesados a sociedade;<br />
2º - animar as artes e oferecer à capital e à província trabalhadores e<br />
artífices que tanto necessita. 56<br />
Na década de 50 continuou a casa dos educandos em considerável ritmo<br />
de crescimento. Nesse período, introduziram-se mais algumas matérias de estudo,<br />
criaram-se outras oficinas e foi aumentado o número de educandos.<br />
Em 1855 existiam, no estabelecimento, 137 educandos e as aulas e as<br />
oficinas, tinham para Cabral, os respectivos números:<br />
56 CABRAL, Maria do Socorro Coelho. Política e Educação no Maranhão. São Luís: Sioge, 1984,<br />
p.55
Tabela 1 – Aulas/Quantidade de alunos<br />
Fonte: Maria do Socorro Cabral (1984, p.57)<br />
Tabela 2 – Oficinas/Quantidades de aprendizes<br />
Fonte: Maria do Socorro Cabral (1984, p.57)<br />
A Casa dos Educandos, em 1855, era considerada como um dos<br />
melhores empreendimentos educacionais do país, no campo do ensino de ofícios,<br />
em 1873 a Casa contava com 300 alunos, freqüentando oito diferentes oficinas que<br />
existiam em tal estabelecimento: gravura, marcenaria, alfaiataria, sapataria,<br />
carpintaria, pedreiro, serralheria e ferraria. Havia além dessas oficinas, aulas de<br />
primeiras letras, gramática aplicada, de desenho, de música e de instrumentos de<br />
sopro e de corda.<br />
AULAS QUANTIDADE DE ALUNOS<br />
Primeiras Letras 137<br />
Escultura e Desenho Aplicado às Artes 8<br />
Geometria e Mecânica aplicada às Artes<br />
e noções gerais de aritmética e álgebra<br />
6<br />
Música e instrumentos de corda 10<br />
Música e instrumentos bélicos 28<br />
OFICINAS QUANTIDADE DE APRENDIZES<br />
Alfaiate 25<br />
Sapateiro 20<br />
Pedreiro 16<br />
Carpinteiro 10<br />
Charuteiro 25<br />
A partir dessa época, a Casa dos Educandos passa a apresentar sinais<br />
de declínio, houve uma redução em 1874 do número de alunos, caindo para apenas<br />
100, o número de oficinas também caiu para apenas quatro. A Casa fechou suas<br />
portas com a proclamação da república em 13 de dezembro de 1889.<br />
O serviço dos Artífices era muito importante em uma sociedade urbana<br />
como a de São Luís da segunda metade do século XIX, é comum se encontrar nos<br />
folhetins da época, histórias que demonstram a importância dos seus serviços, como
exemplo tem a seguinte que diz: “Sapatos muito largos: ... Espere, vou dizer-lhe o<br />
que é [...] Deve ser um sapateiro que mandei chamar... é o sapateiro da senhora<br />
Morbais”. 57<br />
Segundo Pereira do Lago 58 em 1821 as profissões acima citadas estavam<br />
distribuídas da seguinte forma, em toda a província:<br />
Profissão Quantidade de livres<br />
exercendo<br />
Quantidade de<br />
Escravos exercendo<br />
Alfaiates 61 96 157<br />
Caldeireiros 4 1 5<br />
Carpinteiros 86 183 269<br />
Carpinteiro de Machado 96 42 138<br />
Calafates 80 38 118<br />
Espingardeiros 5 3 8<br />
Ferreiros 37 23 60<br />
Funileiros 2 1 3<br />
Marceneiros 30 27 57<br />
Ourives 49 11 60<br />
Pedreiros e Carteiros 404 608 1012<br />
Pintores 10 5 15<br />
Sapateiros 92 143 235<br />
Seleiros 4 1 5<br />
Tanoeiros 4 6 10<br />
Tabela 3 – Profissão/Quantidade de trabalhadores<br />
Fonte: Pereira do Lago (2001, p. 121 à 123)<br />
Total<br />
De acordo com os dados percebe-se que das quinze profissões<br />
apresentadas, dez eram exercidas pela maioria de livres, enquanto apenas cinco a<br />
maioria era de escravos. Não se encontrou dados que pudesse nos dar um<br />
panorama da segunda metade do século em análise, porém chegou-se a uma<br />
conclusão que essas profissões passaram em sua grande maioria a ser exercidas<br />
57 Jornal Para todos, 1º de agosto de 1877.<br />
58 LAGO, Antonio Bernardino Pereira do.Estatística histórico-geográfico da Província do<br />
Maranhão.São Paulo, Siciliano, 2001, p. 121 a 123.
por pessoas livres, levando-se em consideração a saída de uma grande quantidade<br />
de negros para o sudeste do país, devido o tráfico interprovincial e principalmente<br />
devido a criação da Casa dos Educandos que passou a formar livres nessas<br />
profissões.<br />
Além dessas profissões, iremos encontrar ainda muitas outras em São<br />
Luis. Dentro do funcionalismo público temos que: “O empregado público mais antigo<br />
de toda esta província, que ainda se acha no exercício de seu emprego, é o Sr.<br />
Tenente Coronel João Joaquim Belfort Sabino” 59 . O funcionalismo público pode ser<br />
encarado como um novo seguimento em São Luís, pois surgiu com o aumento da<br />
complexidade do aparelho estatal. Sem entrar na questão de quando se passou a<br />
confundir o público e o privado, em São Luís no período analisado era comum<br />
encontrar depoimentos nos jornais do tipo: “Um conhecido empregado público, que<br />
enriqueceu no exercício de suas funções, foi ultimamente demitido em conseqüência<br />
de sérias desconfianças a seu respeito”. 60<br />
Os bairros centrais de São Luís urbanizaram-se, porém as áreas mais<br />
afastadas mantiveram características tipicamente rurais, portanto não podemos<br />
esquecer da presença de pequenos agricultores e criadores de gado, tendo em vista<br />
que:<br />
Além das peras da Maioba, tem uma quinta do Caminho Grande, uma<br />
maçãeira com duas lindas maçãs. Não tarda que teremos também pecegos<br />
produzidos na ilha...<br />
[...] Onze pessoas, ao todo, comerão da pêra maranhense que foi vendida<br />
no bazar de Santo Antonio. 61<br />
Agricultores, pequenos criadores de gado, pescadores são profissões que<br />
prestavam importante papel na sociedade ludovicence, pois estavam inseridos no<br />
cotidiano popular e segundo Azevedo: “Da praia de Santo Antonio enchiam toda a<br />
cidade de sons invariáveis e monótonos de uma buzina, anunciando que os<br />
pescadores chegavam do mar, para lá convergiam apressadas e cheias de<br />
interesse, as peixeiras, quase todas negras, muito gordas”. 62 Em outras palavras, os<br />
pescadores oferecendo seus serviços para a população, dinamizavam o comércio, o<br />
convívio, o contato e a própria vida do ludovicence.<br />
O número de profissionais liberais também aumentou. Encontraremos<br />
59 Jornal Para todos, 13 de julho de 1877<br />
60 Jornal Para todos, 24 de março de 1878<br />
61 Jornal Para todos, 13 de julho de 1877<br />
62 AZEVEDO op. cit. p.15-16
professores, médicos, advogados, etc. Para se ter uma idéia dessa evolução, basta<br />
perceber que em 1838 só existiam apenas duas escolas públicas primárias na<br />
capital, enquanto em 1860 encontraremos nove escolas desse tipo com 541 alunos,<br />
isso sem levar em conta as escolas agrícolas e a própria Casa dos Educandos que<br />
possuía um quadro de 137 professores. Além disso, os jornais sempre faziam<br />
menção a esses profissionais: “Quem passa a noite pela Rua do Sol, nas<br />
proximidades do quartel, admira e louva a dedicação do Sr. Roberto Moreira no<br />
ensino de escripturação mercantil e contabilidade”. 63<br />
O Jornal Para todos, A Actualidade, bem como A Pacotilha, mostra a<br />
importância e influencia dos literatos, escritores, médicos e advogados em São Luís:<br />
-Honramos hoje a primeiras página do Jornal Para Todos com o retrato do<br />
talentoso maranhense Marcelino Augusto de Lima Baratta, auctor da<br />
mimosa coleção de poesias, recentemente publicadas sob o título de<br />
Miragens. 64<br />
- Noticiamos a chegada à cidade de um dos mais ilustres escriptores<br />
maranhenses, o sympatico Sr. José Pereira da Silva Coqueiro. 65<br />
- Consultório Médico – O Sr. Dr. Augusto Teixeira Belfort Roxo tendo<br />
saltado da Europa acaba de abrir o seu escriptório de consultas médica –<br />
cirúrgicas em casa de sua residência rua Grande nº 17. 66<br />
- Dr. Nina Rodrigues – Médico Operador – Dá consultas das 7 às 9 horas<br />
da manhã na casa da sua residência a rua do Sol nº 17, onde recebe<br />
chamadas a qualquer hora do dia e da noite. 67<br />
- Oculista – O Dr. Correia Bittencourt, oculista residente na corte, ex chefe<br />
de clínica de moléstia dos olhos dos gabinetes dos Drs. Wecker e Panas<br />
em Paris, e do professor Hirschberg, em Berlim, de passagem por essa<br />
cidade, demora-se algum tempo no exercício de sua<br />
especialidade.Consultório e residência, à luz do Quebra Costas nº 11( em<br />
faca da pharmacia Abreu), Consultas das 8 da manhã às 12. Grátis aos<br />
pobres. 68<br />
Como se percebe, esses médicos, advogados e literatos, estudavam na<br />
Europa tendo uma formação diferenciada de outras profissões. Foi explícito e hoje é<br />
bem nítido, que houve um relacionamento do senhoriato com a intelectualidade,<br />
houve um complemento funcional de interesses, no Maranhão e bem mais em São<br />
Luís. “No Maranhão, o crescimento material (infra-estrutura) provocou a<br />
conseqüência correlata do florescimento cultural. Isto é, o senhoriato de agricultores<br />
e comerciantes, necessitando parlamentar, foi procriador de sua intelectualidade.” 69<br />
Em outras palavras, havia um casamento, sem divorcio, de senhores e<br />
63 Jornal Para todos, 13 de julho de 1877.<br />
64 Jornal Para todos, 1º de agosto de 1877.<br />
65 Jornal Para todos, 28 de setembro de 1877.<br />
66 A Actualidade, 11 de maio de 1869.<br />
67 A pacotilha, 13 de maio de 1888.<br />
68 A pacotilha, 13 de maio de 1888.<br />
69 CORRÊA, op. cit. p.116
intelectuais na sociedade maranhense, portanto:<br />
O labirinto social do grupo maranhense estruturou-se no imperialismo dos<br />
intelectuais, escondendo o crescimento econômico de agricultores,<br />
pecuaristas e comerciantes.<br />
[...] Da funcionalidade recíproca, de senhores e intelectuais, resultam, no<br />
mínimo, a organização do trabalho e a consciência oficial, subestruturas<br />
essenciais da totalidade da estrutura social. 70<br />
Deve-se entender também é que dentro desse grupo de “grandes”,<br />
grandes agricultores; grandes pecuaristas e grandes comerciantes, também<br />
existiram os “pequenos” comerciantes e agricultores. Os quitandeiros também são<br />
atores sociais do cotidiano de são Luís, não sendo menos importantes para a<br />
sociedade, somente porque produziam e vendiam em menor quantidade ou porque<br />
possuíam um grau de instrução menos elevado, deve-se pensar o quitandeiro como<br />
um agente difusor e propagador de relacionamentos, pois, em seu estabelecimento<br />
se dava convívios de toda ordem, e foram principalmente a partir das quitandas que<br />
as notícias, picuinhas ou não se espalhavam.<br />
Essa grande e complexa rede de profissionais encontrada na São Luís da<br />
segunda metade do século XIX, (aqui se deve deixar claro que sem dúvidas<br />
existiram outros tipos de profissionais não citados e tratados na análise) nos permite<br />
ampliar a visão e perceber uma infinidade de possibilidades de convívio, de<br />
relacionamentos, essa diversidade profissional tece uma teia de convivência para<br />
além de senhores e escravos e nos abre um enorme leque de possibilidades para se<br />
pensar São Luís de um outro ângulo, a partir do povo, entendendo povo como todo<br />
ser humano que viveu esse período estando na órbita do sistema agrário exportador<br />
ou não.<br />
4.2 Tipos sociais<br />
Como se sabe, os tipos populares são o registro de tudo o que acontece<br />
na cidade, é através dele que a notícia se espalha. Ele é testemunha ocular seja de<br />
um crime, seja de um adultério, portanto sabendo de sua existência estaremos<br />
cientes da existência de uma rede de relacionamentos que vai além do binômio<br />
senhor/escravo.<br />
70 Id. Ibid. p. 122
4.2.1 Escravos urbanos<br />
O cotidiano da cidade de São Luís foi fortemente marcado pela presença<br />
dos escravos nas casas e nas ruas. O ambiente urbano possibilitou uma maior<br />
liberdade de movimentos dos cativos, levando em consideração que eles exerciam<br />
várias funções nas ruas, o que também proporcionou um maior contato com outros<br />
segmentos sociais, criando novas teias de relacionamentos.<br />
O trabalho no ambiente urbano era diversificado. Alguns escravos<br />
trabalhavam na casa senhorial, outros eram alugados e outros eram de ganho. Os<br />
escravos domésticos trabalhavam em serviços relacionados a casa: cozinhavam,<br />
lavavam, passavam, cuidavam do jardim, esse tipo de escravo tinham uma relação<br />
mais próximas com seus senhores e geralmente andavam mais bem vestidos.<br />
A locação de escravos fazia parte do dia-a-dia da cidade. Os escravos<br />
eram alugados para os mais variados tipos de serviços: serventes, padeiros, oleiro,<br />
ama de leite, cozinheira, doceira, alfaiate, sapateiro, etc.<br />
O escravo de ganho era aquele que trabalhavam nas ruas negociando os<br />
seus serviços. Seus senhores estipulavam uma quantia a ser-lhes entregue no final<br />
do dia ou da semana, se o escravo faltasse com o compromisso era castigado. O<br />
escravo além de entregar a quantia estipulada ao senhor, deveria com o excedente<br />
pagar seu sustento. Muitos escravos de ganho moravam separados de seus<br />
senhores, em quartos alugados.<br />
A vigilância sobre esses escravos era mais difícil, mesmo com a presença<br />
da polícia, pois era nas ruas que os escravos recriavam suas formas de ver e ler o<br />
mundo e:<br />
Por entre os largos, as ruas, os becos estreitos e o porto de São Luís, os<br />
escravos recriavam a sua condição social, indicando aspectos de suas<br />
formas de ler e viver o mundo, sugerindo dimensões das maneiras de<br />
viverem a resistência, o amor às intrigas e as maneiras de solucionarem os<br />
seus problemas. 71<br />
O ambiente urbano deu uma dinâmica ao sistema escravocrata. As várias<br />
modalidades de trabalho, doméstico, aluguel e de ganho; a maior mobilidade<br />
escrava, o grande contingente de escravos e liberto, o que facilitava as fugas, as<br />
novas formas de vigilância e as formas encontradas pelo escravo para exercerem<br />
sua subjetividade: batuques, fugas, crimes, cumplicidade, são fatores que<br />
71 PEREIRA op. cit. p. 63
compunham o cotidiano escravo na cidade.<br />
4.2.2. Alguns tipos populares<br />
Deve-se perceber e entender o popular como um agente difusor de<br />
preservação da memória de um povo, ele é sem dúvidas um registro de tudo o que<br />
acontece em uma cidade, portanto entender o popular é conhecer o lugar onde ele<br />
viveu.<br />
Pesquisando em jornais da época em análise (1850-1888), encontrou-se<br />
diversas caricaturas de tipos populares, porém sem nenhuma descrição. Na<br />
pesquisa também tivemos contato com jornais que não estão dentro do período<br />
analisado (1902 - Jornal Os Novos), onde foram encontradas descrições de tipos<br />
populares que se enquadram perfeitamente nas caricaturas. Sabe-se que o<br />
historiador não deve comparar coisas e épocas diferentes, porém, apesar dos<br />
jornais estarem em contextos diferentes (Antes e depois da escravidão), estão muito<br />
próximos quando se estuda o social pois para Jacques le Goff “o processo mental<br />
se estuda no longo período dos séculos” 72 , e ao descrever um personagem histórico<br />
sem dúvidas se trabalha com a mente, portanto a descrição de tipos populares em<br />
1902 dificilmente modificou-se em relação a segunda metade do século XIX.<br />
Astolfo Marques 73 descreve no jornal Os Novos de 1902 alguns tipos<br />
populares comuns na São Luís da época.<br />
Um tipo interessante descrito por Marques é o Pomada. Negro “fidalgo”,<br />
metido a poeta. Ou como nos fala Marques:<br />
“É negro, ele mesmo o reconhece, mas não um negro aí qualquer. Negros<br />
há-os de duas qualidades, negro lítico e negro positívia.Negro positívia é<br />
aquele que rouba o alheio contra a vontade do dono.Dessa categoria ele<br />
não é, nem será.Negro lítico é aquele que é sério e que goza da estima de<br />
todas as pessoas de bem. É essa categoria a que ele pertence.” 74<br />
O que se percebe, além do tom preconceituoso típico da época presente<br />
na descrição, é que a descrição do Pomada é de 1902, esse termo não foi<br />
encontrado nos jornais da segunda metade do século XIX, porém é bastante<br />
semelhante e se aproxima muito das caricaturas encontradas em 1877 no Jornal<br />
Para Todos, assim temos:<br />
72 LE GOFF op. cit<br />
73 Jornalista Maranhense<br />
74 Tipos Populares: O Pomada Os novos, agosto de 1902
CARICATURA- 1877 DESCRIÇÃO DE MARQUES-1902<br />
Quadro 1 – Caricatura/Descrição Pomada<br />
Outro tipo popular descrito por Marques é o Troira. Orador, músico<br />
dramaturgo e muito apreciado nas rodas sociais, tem uma voz firme e sonora que<br />
causa assombro e inveja.<br />
Quadro 2 – Caricatura/Descrição Troira<br />
Pomada - Negro lítico é aquele que é<br />
sério e que goza da estima de todas as<br />
pessoas de bem. É essa categoria a que<br />
ele pertence.<br />
CARICATURA – 1877 DESCRIÇÃO DE MARQUES -1902<br />
Estatura regular, muito magro, bigode<br />
bem torcido e suissas pouco espesses,<br />
de ar sempre alegre e presenteiro.<br />
Não foram encontradas mais nenhuma descrição no Jornal Os Novos de<br />
1902, porém foram encontradas no Jornal para Todos de 1877 muitas outras
caricaturas que podem ser vistas em anexo.<br />
4.2.3 O Papel das Mulheres<br />
A mulher permaneceu sem história durante um longo período. Atualmente<br />
encontram-se alguns estudos acerca do tema, porém, muito pouco para abarcar o<br />
leque de abrangência deste tema. Mulheres negras; pobre; livres; ricas, pode-se<br />
abordar o assunto de vários ângulos. Elizabeth Sousa Abrantes em um artigo<br />
intitulado A educação feminina em São Luís – século XIX, citando o jornal O Século,<br />
retrata a vida da mulher da seguinte forma:<br />
Até aos 8 anos só trata de brinquedos; dos 8 aos 10 já gosta de<br />
cumprimentos nos bailes; dos 10 aos 13 já gosta de ler e copia versos; dos<br />
13 aos 15 lê o folhetim do jornal e escreve às amigas comentando os bailes;<br />
dos 15 aos 18 tem confidentes, lê romances, discute modas...; aos 19 fixa a<br />
escolha e principia a falar em história; aos 20 fala de economia e casa-se;<br />
dos 20 aos 25 aparece em todos os bailes...; aos 26 tem um filho, que não<br />
amamenta , mas a quem adora...; aos 30 fala em questões científicas e lê o<br />
jornal...; aos 40 trata de política...; aos 50 tem um confessor...; nos 60<br />
brinca com os netos, reza o terço no rosário e ensina remédios e<br />
comezinhas. 75<br />
Como se pode notar esse era um retrato da mulher de classe média e<br />
elevada, onde sua educação principalmente na primeira metade do século XIX, era<br />
uma educação doméstica e orientada para o casamento. Já as mulheres negras<br />
como é sabido não tinham educação, pois eram consideradas unicamente como<br />
objetos, a mulher livre e pobre por não poder desempenhar atividades unicamente<br />
do lar e na maioria das vezes fugiam a moral da união legítima através do<br />
casamento, não eram bem vistas em uma sociedade rígida e patriarcal.<br />
Durante a primeira metade do século XIX a mulher vivia exclusivamente<br />
para a casa e família. Assim sendo:<br />
È incalculável a ação da mulher na família. Se o homem é o chefe, e a<br />
cabeça, a mulher é o coração. Ao primeiro toca a razão que manifesta a<br />
sabedoria e felicidade, e a segunda o sentimento, que inspira uma e produz<br />
a outra. Se ela encanta e duplica por suas virtudes a existência do esposo,<br />
que torrente de benefícios não derrama sobre os seus filhos...Senhora dos<br />
corações, a mulher é o mais forte laço de família. 76<br />
Já na segunda metade do século em análise, devido o incremento da<br />
sociedade e da vida urbana houve uma ruptura com o confinamento doméstico.<br />
75 COSTA, Wagner Cabral da (org). História do Maranhão: novos estudos.São Luís, Edufma, 2004.<br />
p.145<br />
76 Id. Ibid p.148
Nesse período abriu duas instituições de ensino dedicadas a educação de meninas<br />
desvalidas: o Recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios e o asilo<br />
de Santa Tereza. Nessas instituições as meninas aprendiam doutrina cristã; deveres<br />
morais; leitura; princípios gerais de gramática; escrita; aritmética; frações; trabalhos<br />
de agulha; economia doméstica; como cozinhar; lavar; engomar; etc. A partir dos<br />
anos 50 do século XIX São Luís contava com várias escolas privadas para a<br />
educação feminina, além das já citadas instituições para meninas desvalidas.<br />
Segundo Elizabeth:<br />
Nos espaços públicos de convivência social das elites, as jovens deveriam<br />
apresentar novas prendas relacionadas as etiquetas sociais, com maneiras<br />
recatadas e elegantes de se apresentar em público, exigindo<br />
conhecimentos de arte, falando uma língua estrangeira, de preferência o<br />
francês.Esses conhecimentos seriam obtidos nos colégios femininos, que<br />
procuraram adequar seus programas para atender esse tipo de educação. 77<br />
Portanto na segunda metade do século XIX a mulher passa a ser vista não como<br />
simplesmente a rainha do lar, ela agora deve se instruir de modo que possa dessa<br />
forma ensinar os filhos a portasse diante de uma sociedade que adorava imitar os<br />
padrões europeus de sociabilidade. Portanto:<br />
A análise da educação feminina em São Luís revelou sua correspondência<br />
com valores e ideários feminino da sociedade, sendo a instrução intelectual<br />
um componente essencial de uma educação voltada para moldar a mulher<br />
em seu papel de mãe, missão que necessitava, além de uma sólida<br />
educação doméstica e religiosa, uma instrução intelectual que a habilitasse<br />
a ser educadora dos seus filhos, a mulher em que o homem pudesse<br />
encontrar não só a mãe carinhosa... senão também a companheira de seu<br />
espírito. 78<br />
Quadro 3 – Caricatura/Descrição segundo Elizabeth<br />
77 Id. Ibid p.164<br />
78 Id. Ibid p.170<br />
CARICATURA – 1877 DESCRIÇÃO SEGUNDO ELIZABETH<br />
Pura; sóbria; devota; cheia de<br />
superstições; mãe; rainha do lar;<br />
religiosa e que passa a ter uma<br />
educação intelectual.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
O presente trabalho teve como meta a análise em um determinado<br />
período histórico (1850 - 1888) da sociedade de São Luís, tentando percebê-la de<br />
um outro ângulo, analisando-a para além de senhores e escravos.<br />
Para a construção deste objetivo, a pesquisa buscou evidenciar a<br />
diversidade social e profissional ludovicense, tentando não montar um quadro<br />
esquemático de como era a sociedade da capital maranhense, mais sim mostrar o<br />
diferente. Sabemos da importância do negro para toda sociedade brasileira,<br />
queremos tornar pública também a importância de outros segmentos sociais.<br />
O que ficou evidenciado após a análise e interpretação das fontes foi que<br />
São Luís na segunda metade do século XIX foi muito rica em agentes sociais e<br />
profissionais. Infelizmente a maior parte desses agentes ainda permanecem<br />
calados, ficando sem história dentro da historiografia maranhense, portanto cabe<br />
aos historiadores reviverem e desmistificarem essa história.<br />
Na busca pela análise e interpretação dos processos históricos que<br />
perpassam o período analisado, algumas dificuldades foram detectadas; como o<br />
pouco material encontrado nas fontes primárias, devido não existir na época o<br />
instrumental teórico acerca da importância da preservação do material produzido<br />
(como por exemplo, a preservação de jornais, etc.) para futuras gerações. Muito<br />
material se perdeu ao longo do tempo e outra grande quantidade se perde na<br />
Biblioteca Pública Benedito Leite, principalmente pela utilização inadequada dos<br />
mesmos.<br />
Uma outra dificuldade, bem maior que a já aludida, foi a pequena<br />
produção historiográfica sobre o tema de análise. A maioria dos trabalhos desse<br />
período aborda ou o negro como foco principal ou a desagregação do regime<br />
escravista dando uma abordagem econômica.<br />
Atrelados a esses fatores mencionados, a complexidade solicitada pela<br />
pesquisa – como em qualquer outra – foi um fator para a finalização do recorte<br />
histórico em 1888. Quando se fazia necessário um recorte bem maior para uma<br />
análise em âmbito mais aprofundado do objeto. Entretanto, como o fim do período<br />
escravista trouxe novos rumos para o Brasil, achou-se melhor trabalhar o social de<br />
São Luís antes do fim da escravidão. Pretendemos expandir o recorte histórico no<br />
intuito de analisar os desdobramentos do fim da escravidão para a sociedade
maranhense em um futuro projeto de pós-graduação. Portanto, a pesquisa não<br />
expira com o término deste trabalho monográfico, apenas mais uma pedra foi<br />
colocada no alicerce, para se entender os processos atuantes sobre o objeto.<br />
Uma nova pesquisa nasce não simplesmente na busca de mostrar a<br />
importância de outros segmentos sociais, mas agora analisar como uma sociedade<br />
tão rica sócio-profissionalmente falando se organizava, pensava, tecia suas vidas,<br />
enfim como era realmente o cotidiano de São Luís antes e depois da desagregação<br />
do sistema escravista.<br />
A primeira pedra colocada no alicerce foi mostrar e comprovar primeiro a<br />
existência de outros segmentos sociais e segundo explicar sua importância e valor<br />
na história de São Luís, resta-nos agora seguir a pesquisa para conhecer as<br />
relações sociais maranhense, não somente entre escravos e senhores, mais sim<br />
entre todos que realmente fizeram parte de nossa história, e que como vimos ao<br />
longo da narrativa são muitos e com uma real importância.
REFERÊNCIAS<br />
AZEVEDO, Aluisio. O Mulato. Rio de Janeiro: Editora Ática, 1986.<br />
BLOCH, Marc Leopold Benjamim. Apologia da História, ou, Ofício de Historiador.<br />
Tradução de André Teles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 159 p. Tradução de:<br />
Apologie pour l’histoire, ou, Métier d’ historien. ISBN 85 - 7110 - 609 - 6.<br />
BURKE, Peter (Org.). A Escrita da História: novas perspectivas. Tradução de<br />
Magna Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992. 354 p.<br />
CABRAL, Maria do Socorro Coelho. Política e Educação no Maranhão. São Luís:<br />
Sioge, 1984<br />
CALDEIRA, José de Ribamar Chaves. Vadiagem no Maranhão na primeira matade<br />
do século XIX. São Luís, 1993<br />
CÂMARA, Paulo Roberto Pereira.Cidade Brodio: Um estudo da vadiagem em São<br />
Luís na Virada do Século XX. São Luís, 2005. 74 f. Monografia (Graduação em<br />
História) Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2005.<br />
CARR, Edward Hallet. Que é história? Tradução de Lúcia Maurício de Alverga. 8.<br />
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 189 p. Tradução de: What is History.<br />
CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao sul da história: lavradores pobres na crise<br />
do trabalho escravo. Editora brasiliense, 1987.<br />
CORRÊA, Rossini. Formação Social do Maranhão: o presente de uma<br />
arqueologia. São Luís: Sioge, 1993.<br />
COSTA, Wagner Cabral da (org). História do Maranhão: novos estudos. São Luís,<br />
Edufma, 2004.<br />
FARIA, Regina Helena Martins de. A transformação dos trabalhos nos trópicos:<br />
propostas e realizações. Recife:. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa<br />
de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de Pernambuco, 2001.<br />
FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 3 ed.<br />
São Paul: Kairós,1983.<br />
GOMES, Geovana Carneiro Rocha. Praia Grande: o surgimento do bairro, o<br />
porto, a feira e sua decadência econômica. 1998. 43 f. Monografia (Graduação<br />
em História) Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 1998.<br />
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 21. ed. Rio de Janeiro: José<br />
Olímpio, 1989.<br />
LAGO, Antonio Bernardino Pereira do. Estatística histórico-geográfico da
Província do Maranhão. São Paulo: Siciliano, 2001.<br />
LE GOFF, Jacques (Org.). A história nova. Tradução de Eduardo Brandão. 4. ed.<br />
São Paulo: Martins Fontes, 1988. 318 p.<br />
MARQUES, Augusto César. Dicionário histórico e geográfico da província do<br />
Maranhão. Rio de Janeiro: Fon-Fon e Seleta, 1870.<br />
MEIRELES, Mário Martins. História do Maranhão. 2. ed. São Luís: Fundação<br />
Cultural do Maranhão, 1980.<br />
NOGUEIRA JÚNIOR, Francisco Domingos Bezerra. Praia Grande: tesouro cultural,<br />
patrimônio da humanidade. 2001. 65 f. Monografia (Graduação em História)<br />
Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2001.<br />
PALHANO, Raimundo nonato Silva. A produção da coisa Pública: serviços e<br />
cidadania na primeira república – ludovicence. São Luís: IPES, 1988.<br />
PEREIRA, Josenildo de Jesus. Na fronteira do cárcere e do paraíso: um estudo<br />
sobre as práticas e resistência escrava no Maranhão oitocentista. 2001. Dissertação<br />
(mestrado em História Social) – Programa de pós Graduação em História Política<br />
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2001<br />
PEREIRA, Lana Lourdes. Praia Grande: uma história de resistência. 1997. 65 f.<br />
Monografia (Graduação em História) Universidade Estadual do Maranhão, São Luís,<br />
1997.<br />
PRADO, Caio Jr. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1972.<br />
REIS, Flávio Antonio Moura. Grupos políticos e a estrutura oligárquica no<br />
Maranhão (1850-1930). Universidade Estadual de Campinas, Campinas,1992.<br />
REIS, José Ribamar Sousa dos. Feira da Praia Grande. São Luís: Augusta, 1982.<br />
RIBEIRO, Jalila. A desagregação do sistema escravista no Maranhão (1850-<br />
1888). São Luís: SIOGE, 1989.<br />
SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade<br />
colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.<br />
VIEIRA FILHO, Domingos. Breve História das ruas e pacas de São Luís. 2. ed.<br />
Maranhão, 1971.<br />
VIVEIROS, Jerônimo José de. História do Comércio do Maranhão (1612 – 1615).<br />
São Luís: Associação Comercial, 1954.
LISTA DE JORNAIS PESQUISADOS<br />
JORNAL PARA TODOS, São Luís, ano de 1877.<br />
JORNAL A ACTUALIDADE, São Luís, ano de 1869.<br />
JORNAL A PACOTILHA, São Luís, ano de 1888.<br />
JORNAL OS NOVOS, São Luís, ano de1902.<br />
JORNAL O BINÓCULO, São Luís, ano de 1887.<br />
JORNAL O PAÍZ, São Luís, ano de 1888.
ANEXOS
ANEXO A - Caricaturas encontradas no Jornal Para Todos
ANEXO B - Caricaturas encontradas no Jornal Para Todos
ANEXO C - Caricatura encontradas em Cidade Brodio: Um estudo da vadiagem em<br />
São Luís na Virada do Século XX.
ANEXO D - Caricatura encontradas em Cidade Brodio: Um estudo da vadiagem em<br />
São Luís na Virada do Século XX.
ANEXO E - Caricatura encontradas em Cidade Brodio: Um estudo da vadiagem em<br />
São Luís na Virada do Século XX.
ANEXO F - Caricatura encontradas no Jornal Para Todos