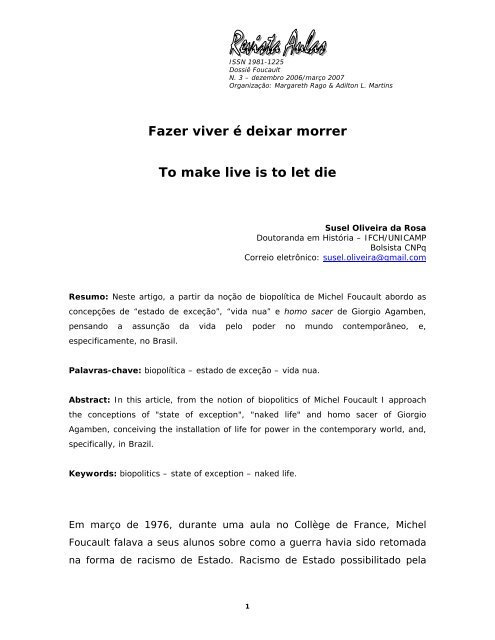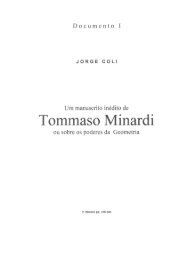Fazer viver é deixar morrer To make live is to let die - Unicamp
Fazer viver é deixar morrer To make live is to let die - Unicamp
Fazer viver é deixar morrer To make live is to let die - Unicamp
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ISSN 1981-1225<br />
Dossiê Foucault<br />
N. 3 – dezembro 2006/março 2007<br />
Organização: Margareth Rago & Adil<strong>to</strong>n L. Martins<br />
<strong>Fazer</strong> <strong>viver</strong> <strong>é</strong> <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong><br />
<strong>To</strong> <strong>make</strong> <strong>live</strong> <strong>is</strong> <strong>to</strong> <strong>let</strong> <strong>die</strong><br />
Susel O<strong>live</strong>ira da Rosa<br />
Dou<strong>to</strong>randa em H<strong>is</strong>tória – IFCH/UNICAMP<br />
Bols<strong>is</strong>ta CNPq<br />
Correio e<strong>let</strong>rônico: susel.o<strong>live</strong>ira@gmail.com<br />
Resumo: Neste artigo, a partir da noção de biopolítica de Michel Foucault abordo as<br />
concepções de “estado de exceção”, “vida nua” e homo sacer de Giorgio Agamben,<br />
pensando a assunção da vida pelo poder no mundo contemporâneo, e,<br />
especificamente, no Brasil.<br />
Palavras-chave: biopolítica – estado de exceção – vida nua.<br />
Abstract: In th<strong>is</strong> article, from the notion of biopolitics of Michel Foucault I approach<br />
the conceptions of "state of exception", "naked life" and homo sacer of Giorgio<br />
Agamben, conceiving the installation of life for power in the contemporary world, and,<br />
specifically, in Brazil.<br />
Keywords: biopolitics – state of exception – naked life.<br />
Em março de 1976, durante uma aula no Collège de France, Michel<br />
Foucault falava a seus alunos sobre como a guerra havia sido re<strong>to</strong>mada<br />
na forma de rac<strong>is</strong>mo de Estado. Rac<strong>is</strong>mo de Estado possibilitado pela<br />
1
Susel O<strong>live</strong>ira da Rosa<br />
<strong>Fazer</strong> <strong>viver</strong> <strong>é</strong> <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong><br />
assunção da vida pelo poder, pela <strong>to</strong>mada de poder sobre o homem<br />
enquan<strong>to</strong> ser vivo. Re<strong>to</strong>mando a teoria clássica da soberania, Foucault<br />
lembrava que o soberano detinha o poder de vida e morte de seus<br />
súdi<strong>to</strong>s, poder de fazer <strong>morrer</strong> e <strong>deixar</strong> <strong>viver</strong>. Ao decretar a morte<br />
dos súdi<strong>to</strong>s, o soberano exercia, tamb<strong>é</strong>m, o poder sobre a vida –<br />
Foucault referia-se ao direi<strong>to</strong> político soberano que vigorou at<strong>é</strong> o s<strong>é</strong>culo<br />
XIX, s<strong>é</strong>culo em que o poder soberano foi perpassado e modificado por<br />
um poder inverso: o poder de fazer <strong>viver</strong> e <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong> 1 . Tratava-<br />
se da assunção da vida pelo poder, da biopolítica como denominou<br />
Foucault.<br />
O poder d<strong>is</strong>ciplinar, que já em fins do s<strong>é</strong>culo XVII centrava-se no<br />
corpo individual (organizando, esquadrinhando, vigiando),<br />
possibili<strong>to</strong>u à biopolítica implantar-se em uma outra escala. <strong>To</strong>mando<br />
a vida como elemen<strong>to</strong> político por excelência, a biopolítica perpassou<br />
o antigo poder soberano. Com os investimen<strong>to</strong>s de poder centrados<br />
no homem-esp<strong>é</strong>cie, a vida passou a ser admin<strong>is</strong>trada e regrada pelo<br />
Estado. Em nome da proteção das condições de vida da população,<br />
preserva-se a vida de uns, enquan<strong>to</strong> au<strong>to</strong>riza-se a morte de outros<br />
tan<strong>to</strong>s. Se o poder soberano já expunha a vida humana individual à<br />
morte, ainda que de maneira limitada, o bipoder expõe a vida de<br />
populações e grupos inteiros.<br />
Em prol do “futuro da esp<strong>é</strong>cie”, do “bem comum”, da “saúde das<br />
populações” ou da “vitalidade do corpo social”, o Estado passou a<br />
“cuidar” da saúde e da higiene das pessoas. Esse “cuidado” deu origem<br />
a um novo corpo, nas palavras de Foucault, “múltiplo, com inúmeras<br />
cabeças”, referindo-se a noção de população – <strong>é</strong> com a noção de<br />
população que a biopolítica trabalha. É a população, a massa, que<br />
passou a ser, não só d<strong>is</strong>ciplinada, mas controlada segundo padrões<br />
1<br />
Foucault re<strong>to</strong>ma as d<strong>is</strong>cussões entre os jur<strong>is</strong>tas dos s<strong>é</strong>culos XVII e XVIII mostrando que essa<br />
transformação aconteceu paulatinamente.<br />
2
ISSN 1981-1225<br />
Dossiê Foucault<br />
N. 3 – dezembro 2006/março 2007<br />
Organização: Margareth Rago & Adil<strong>to</strong>n L. Martins<br />
normalizadores. Atrav<strong>é</strong>s da norma, a biopolítica investe sobre a vida: o<br />
poder normalizador exclui e inclui pessoas e grupos (socia<strong>is</strong>, <strong>é</strong>tnicos,<br />
cultura<strong>is</strong>, etc), ajustando seus corpos aos processos desejados.<br />
Com base nos padrões normalizadores e em nome dos que devem<br />
<strong>viver</strong>, estipula-se quem deve <strong>morrer</strong> – “a morte do outro, da raça<br />
ruim <strong>é</strong> o que vai <strong>deixar</strong> a vida em geral ma<strong>is</strong> sadia” (Foucault,<br />
2002:305). Assim, o rac<strong>is</strong>mo do s<strong>é</strong>culo XIX já não pode ser encarado<br />
meramente como fru<strong>to</strong> do ódio entre as raças, mas como uma doutrina<br />
política estatal a justificar a atuação violenta dos Estados modernos. No<br />
limiar da modernidade biológica – diz Foucault (2001: 134) – a esp<strong>é</strong>cie<br />
ingressou no jogo das estrat<strong>é</strong>gias políticas. Isso não significa que a vida<br />
tenha sido <strong>to</strong>talmente integrada às t<strong>é</strong>cnicas que a gerenciam, “ela lhes<br />
escapa continuamente” 2 .<br />
Hannah Arendt, assim como Foucault, tamb<strong>é</strong>m acentuou o que<br />
chamou de vitória da convicção da superioridade da vida sobre <strong>to</strong>do o<br />
res<strong>to</strong>, ou a vitória do animal laborans que colocou a vida biológica no<br />
centro dos interesses políticos. A “glorificação da violência em si” no<br />
mundo moderno provinha, para a filósofa, dessa apropriação da vida<br />
pela política – “a vida <strong>é</strong> o crit<strong>é</strong>rio supremo ao qual tudo o ma<strong>is</strong> se<br />
subordina” (Arendt, 2004: 324). A imagem do relojoeiro que deve ser<br />
superior a <strong>to</strong>dos os relógios dos qua<strong>is</strong> <strong>é</strong> a causa, perdeu seu lugar, em<br />
um momen<strong>to</strong> crucial da modernidade, para a imagem do<br />
desenvolvimen<strong>to</strong> da vida orgânica.<br />
Giogio Agamben faz confluir o pensamen<strong>to</strong> de Foucault e Arendt,<br />
mostrando o quan<strong>to</strong> a assunção da vida pelo poder expôs a vida<br />
2 Foucault faz referência à fome que assola o mundo não-ocidental e aos r<strong>is</strong>cos biológicos possivelmente<br />
ma<strong>is</strong> graves que antes do nascimen<strong>to</strong> da microbiologia (Foucault, 2001: 134).<br />
3
Susel O<strong>live</strong>ira da Rosa<br />
<strong>Fazer</strong> <strong>viver</strong> <strong>é</strong> <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong><br />
humana à categoria de “vida nua”. A base da democracia moderna, diz<br />
Agamben, não <strong>é</strong> o homem livre, “com suas prerrogativas e os seus<br />
estatu<strong>to</strong>s, e nem ao menos simplesmente o homo, mas o corpus <strong>é</strong> o<br />
novo sujei<strong>to</strong> da política” (2004: 129-130). É a reivindicação e a<br />
exposição desse corpo que marca a ascensão da vida nua como o novo<br />
corpo político moderno – “são os corpos matáve<strong>is</strong> dos súdi<strong>to</strong>s que<br />
formam o novo corpo político do Ocidente” (Agamben, 2004: 131).<br />
Somente porque a vida biológica se <strong>to</strong>rnou fa<strong>to</strong> político dec<strong>is</strong>ivo que se<br />
pode entender como, no s<strong>é</strong>culo XX,<br />
as democracias parlamentares puderam virar Estados<br />
<strong>to</strong>talitários, e os Estados <strong>to</strong>talitários converter-se quase sem<br />
solução de continuidade em democracias parlamentares. Em<br />
ambos os casos, estas reviravoltas produziam-se num contex<strong>to</strong><br />
em que a política já havia se transformado, fazia tempo, em<br />
biopolítica, e no qual a aposta em jogo cons<strong>is</strong>tia então apenas<br />
em determinar qual forma de organização se revelaria ma<strong>is</strong><br />
eficaz para assegurar o cuidado, o controle e o usufru<strong>to</strong> da vida<br />
nua.<br />
Vida nua <strong>é</strong> a vida “matável e insacrificável do homo sacer”, vida<br />
que se pode <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong>. Colocada fora da jur<strong>is</strong>dição humana, seu<br />
exemplo supremo <strong>é</strong> a vida no campo de concentração. Estando fora da<br />
jur<strong>is</strong>dição, a ‘vida nua’ <strong>é</strong> a vida que pode ser exterminada sem que se<br />
cometa qualquer crime ou sacrifício. A origem da expressão “vida nua”<br />
remonta a Walter Benjamin, para quem a vida nua seria a portadora do<br />
nexo entre violência e direi<strong>to</strong>. Re<strong>to</strong>mando a id<strong>é</strong>ia da soberania,<br />
Agamben diz que a vida no ‘bando soberano’ <strong>é</strong> a vida nua ou vida sacra.<br />
É na esfera soberana que se pode matar sem cometer homicídio e sem<br />
celebrar um sacrifício – nesse sentido ‘insacrificável’ – a sacralidade da<br />
vida hoje significa a “sujeição da vida a um poder de morte, a sua<br />
4
ISSN 1981-1225<br />
Dossiê Foucault<br />
N. 3 – dezembro 2006/março 2007<br />
Organização: Margareth Rago & Adil<strong>to</strong>n L. Martins<br />
irreparável exposição na relação de abandono” (2004a: 91). A<br />
sacralidade da vida não <strong>é</strong>, como se pode pensar, um direi<strong>to</strong> humano<br />
inalienável e fundamental, a sacralidade da vida na modernidade <strong>é</strong><br />
destituída da id<strong>é</strong>ia do sacrifício.<br />
Numa figura enigmática do direi<strong>to</strong> romano arcaico, Agamben (2004:<br />
91) buscou o concei<strong>to</strong> de homo sacer - pessoa que foi posta para fora<br />
da jur<strong>is</strong>dição humana sem, entretan<strong>to</strong>, ultrapassar para a esfera divina.<br />
Algu<strong>é</strong>m que foi privado dos direi<strong>to</strong>s ma<strong>is</strong> básicos, compondo uma sobra.<br />
Sobra humana ou, ainda, um alimen<strong>to</strong> simbólico para a manutenção de<br />
uma estrutura de poder. A vida nua do homo sacer <strong>é</strong> sacrificada na<br />
estrutura biopolítica. O homo sacer não faz parte da vida a ser<br />
preservada, mas sim da vida descartável, compondo a estrutura de<br />
exceção contemporânea.<br />
Estrutura de exceção que se transformou no paradigma biopolítico<br />
dos governos atua<strong>is</strong>. Com origem na Revolução Francesa – quando pela<br />
primeira vez se criminalizou o inimigo em nome da “humanidade” – o<br />
estado de exceção foi aplicado como política de governo na Alemanha,<br />
um pouco antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial. De medida<br />
prov<strong>is</strong>ória e excepcional transformou-se em “uma t<strong>é</strong>cnica de governo<br />
[que] ameaça transformar radicalmente – e, de fa<strong>to</strong>, já transformou de<br />
modo mui<strong>to</strong> perceptível – a estrutura e o sentido da d<strong>is</strong>tinção tradicional<br />
entre os diversos tipos de constituição” (Agamben, 2004a: 13).<br />
A teoria do estado de exceção foi elaborada por Carl Schmitt, e<br />
publicada pela primeira vez em 1921. Entre os anos de 1934 e 1948,<br />
segundo Agamben, em função da ruína das democracias europ<strong>é</strong>ias, a<br />
teoria foi re<strong>to</strong>mada com sucesso, permanecendo atual e atingindo seu<br />
“pleno desenvolvimen<strong>to</strong>” na nossa <strong>é</strong>poca. Carl Schmitt (1992) lembrava<br />
5
Susel O<strong>live</strong>ira da Rosa<br />
<strong>Fazer</strong> <strong>viver</strong> <strong>é</strong> <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong><br />
que o soberano internamente podia decidir a suspensão da ordem legal<br />
e decretar o estado de exceção. Externamente decretava guerra aos<br />
seus inimigos, ancorado no juss belli, segundo o qual um Estado poderia<br />
decretar guerra a outro, se assim julgasse necessário. Após a Revolução<br />
Francesa esse poder de dec<strong>is</strong>ão deixou de ex<strong>is</strong>tir com o ocaso da<br />
soberania. Em seu lugar surgiu o concei<strong>to</strong> de “guerra humanitária”, ou<br />
seja, as guerras passaram a ser justificadas em nome do “bem da<br />
humanidade”, e não da inimizade entre Estados. Isso resul<strong>to</strong>u na<br />
criminalização do inimigo, que já não <strong>é</strong> ma<strong>is</strong> um “inimigo do Estado”,<br />
mas um “inimigo da humanidade” 3 . Para inimigos da humanidade o<br />
ordenamen<strong>to</strong> jurídico comporta a exceção, a anomia.<br />
O estado de exceção suspende o ordenamen<strong>to</strong> jurídico, mas não<br />
desdenha desse ordenamen<strong>to</strong>, ao contrário, compõe com ele a própria<br />
lógica da exceção. Originalmente o soberano fazia <strong>is</strong>so ancorado em<br />
uma ordem jurídica que continha essa possibilidade. Nesse caso, a<br />
norma pressupunha a possibilidade de sua própria suspensão. Embora<br />
não explicitamente, essa fórmula permanece atual, já que “o estado de<br />
exceção representa a inclusão e a captura de um espaço que não está<br />
fora nem dentro” (Agamben, 2004a: 56), numa relação de dentro/fora,<br />
de inclusão/exclusão, de anomia/nomos.<br />
A reconfiguração da soberania nas democracias modernas propiciou<br />
a ind<strong>is</strong>tinção entre exceção e normalidade. Se o poder soberano tende a<br />
desaparecer, enquan<strong>to</strong> possibilidade do soberano de decidir sobre o<br />
estado de exceção, “não <strong>é</strong> só a exceção como exceção que desaparece,<br />
mas tamb<strong>é</strong>m, a norma como norma, ou seja, exceção e norma <strong>to</strong>rnam-<br />
se uma e a mesma co<strong>is</strong>a, na imanência de um único plano” (Agamben,<br />
3 Como lembra Carl Schmitt (1992), a humanidade como tal não pode fazer guerras, já que não tem nenhum<br />
inimigo, pelo menos neste planeta. A utilização do nome humanidade serve para retirar do inimigo o status<br />
de homem, e levar a guerra a extremos.<br />
6
ISSN 1981-1225<br />
Dossiê Foucault<br />
N. 3 – dezembro 2006/março 2007<br />
Organização: Margareth Rago & Adil<strong>to</strong>n L. Martins<br />
2004a: 47). Essa ind<strong>is</strong>tinção entre exceção e norma, entre lei e anomia,<br />
<strong>é</strong> uma característica do poder político no mundo contemporâneo.<br />
Re<strong>to</strong>mando e contrapondo-se a algumas id<strong>é</strong>ias de Carl Schmitt,<br />
Walter Benjamin, em 1942, afirmou que o estado de exceção tinha se<br />
<strong>to</strong>rnado a regra: para al<strong>é</strong>m de uma medida excepcional <strong>to</strong>rnara-se uma<br />
t<strong>é</strong>cnica de governo, constitutiva da própria ordem jurídica. Encontramos<br />
essa afirmação de Benjamin, em suas “teses sobre a h<strong>is</strong>tória”, ma<strong>is</strong><br />
prec<strong>is</strong>amente no tex<strong>to</strong> da tese VIII:<br />
A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ no<br />
qual vivemos <strong>é</strong> a regra. Prec<strong>is</strong>amos chegar a um concei<strong>to</strong> de h<strong>is</strong>tória<br />
que dê conta d<strong>is</strong>so. Então surgirá diante de nós nossa tarefa, a de<br />
instaurar o real estado de exceção; e graças a <strong>is</strong>so, nossa posição na<br />
luta contra o fasc<strong>is</strong>mo <strong>to</strong>rnar-se-á melhor. A chance deste cons<strong>is</strong>te,<br />
não por último, em que seus adversários o afrontem em nome do<br />
progresso como se este fosse uma norma h<strong>is</strong>tórica. – O espan<strong>to</strong> em<br />
constatar que os acontecimen<strong>to</strong>s que vivemos ‘ainda’ sejam possíve<strong>is</strong><br />
no s<strong>é</strong>culo XX não <strong>é</strong> nenhum espan<strong>to</strong> filosófico (Benjamin, 1992: 161-<br />
162).<br />
Walter Benjamin escreveu as teses a respei<strong>to</strong> da h<strong>is</strong>tória poucos<br />
anos antes do final da segunda guerra, e, portan<strong>to</strong>, antes de <strong>to</strong>marmos<br />
conhecimen<strong>to</strong> da dimensão dos acontecimen<strong>to</strong>s catastróficos de tal<br />
confli<strong>to</strong>. O próprio Benjamin suicidou-se em 1942, na iminência de ser<br />
preso pelos fasc<strong>is</strong>tas. Que anál<strong>is</strong>e faria ele, então, se tivesse sobrevivido<br />
à segunda guerra quando tantas vozes se ergueram chocadas com o<br />
genocídio perpetrado pelos naz<strong>is</strong>tas, sem, talvez, compreender a<br />
dimensão da catástrofe que não foi apenas localizada, mas que já se<br />
esboçava há ma<strong>is</strong> tempo por um estado de exceção <strong>to</strong>rnado regra?<br />
7
Susel O<strong>live</strong>ira da Rosa<br />
<strong>Fazer</strong> <strong>viver</strong> <strong>é</strong> <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong><br />
Agamben lembra-nos que os d<strong>is</strong>positivos de exceção são hoje<br />
amplamente utilizados como medida de segurança pelos estados<br />
“democráticos”. Os d<strong>is</strong>positivos de lei, criados após o onze de setembro,<br />
nos EUA, por exemplo, são d<strong>is</strong>positivos de exceção que incluem,<br />
inclusive, a desnacionalização do cidadão – referência ao Patriot Act I e<br />
ao Patriot Act II – e destroem <strong>to</strong>do o estatu<strong>to</strong> jurídico do indivíduo,<br />
produzindo “um ser juridicamente inominável e inclassificável”, diz<br />
Agamben ao perceber o significado “imediatamente biopolítico do estado<br />
de exceção como estrutura original em que o direi<strong>to</strong> inclui em si o<br />
vivente por meio de sua própria suspensão” (2004a: 14).<br />
Como podemos perceber, nesse estado de exceção fazer <strong>viver</strong><br />
ma<strong>is</strong> do que nunca <strong>é</strong>, tamb<strong>é</strong>m, <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong>. Ou seja, a noção de<br />
biopolítica de Foucault permanece extremamente atual, estando no<br />
cerne do concei<strong>to</strong> do estado de exceção e vida nua. Pensando na<br />
h<strong>is</strong>tória brasileira, exceção e vida nua parecem compor os diversos<br />
momen<strong>to</strong>s da trajetória do país, sendo, at<strong>é</strong> mesmo, regra. Suspei<strong>to</strong> que<br />
anomia e nomos se entrelacem desde os primórdios das ações políticas<br />
no país – no au<strong>to</strong>ritar<strong>is</strong>mo que marca a trajetória brasileira desde a<br />
colonização aos sucessivos estados de sítio, os golpes, as ditaduras, etc,<br />
que caracterizam o período republicano. Na atualidade, num cenário de<br />
guerra urbana, cr<strong>is</strong>e carcerária, escândalos políticos, etc, a ind<strong>is</strong>tinção<br />
entre anomia a nomos <strong>to</strong>rna-se ma<strong>is</strong> profunda e v<strong>is</strong>ível. Quan<strong>to</strong> à vida<br />
nua podemos localizá-la antes mesmo da construção do estado, atrav<strong>é</strong>s<br />
do genocídio dos nativos e da escravização dos africanos. Vida nua dos<br />
descendentes desses escravos, estigmatizados na irônica “democracia<br />
racial” brasileira; dos nativos caçados, evangelizados, escravizados,<br />
aculturados, ou então, capturados pelo ordenamen<strong>to</strong> atrav<strong>é</strong>s das<br />
instituições de “proteção ao índio”. Vida nua dos moradores da periferia,<br />
8
ISSN 1981-1225<br />
Dossiê Foucault<br />
N. 3 – dezembro 2006/março 2007<br />
Organização: Margareth Rago & Adil<strong>to</strong>n L. Martins<br />
dos moradores de rua, dos sem-te<strong>to</strong> e sem-terra, sujei<strong>to</strong>s à violência e<br />
arbitrariedade em um país de povo “cordial e pacífico”. Vida nua dos<br />
perseguidos políticos na <strong>é</strong>poca do Estado Novo e da ditadura militar.<br />
Vida nua de <strong>to</strong>dos aqueles que não estão, como comumente pensamos,<br />
“à margem do ordenamen<strong>to</strong> social”, mas sim fazem parte de uma lógica<br />
excludente. Lógica que compõem a situação de “a-bandono” 4 em relação<br />
à lei, na qual o banido não <strong>é</strong> simplesmente colocado para fora da lei,<br />
mas <strong>é</strong> abandonado por ela, e, paradoxalmente, <strong>é</strong> nessa situação de<br />
“abandono” que esses sujei<strong>to</strong>s se constituem, no limiar entre vida e<br />
direi<strong>to</strong>, representam a vida colocada para fora da jur<strong>is</strong>dição humana.<br />
Atualmente, encarcerados em favelas e vilas, sobrevivem nas ma<strong>is</strong><br />
precárias condições – falta de acesso à saúde, educação, trabalho, falta<br />
saneamen<strong>to</strong> básico, moradia, etc – vivendo uma “situação sem saída” 5 .<br />
Ref<strong>let</strong>indo sobre esse contex<strong>to</strong>, especialmente no que diz respei<strong>to</strong> à<br />
cr<strong>is</strong>e carcerária e a vida confinada nos presídios brasileiros, Giacóia<br />
(2006) diz que ass<strong>is</strong>timos atualmente a uma d<strong>is</strong>puta pelo direi<strong>to</strong> de<br />
decidir acerca do estado de exceção no Brasil. D<strong>is</strong>puta em <strong>to</strong>rno da<br />
dec<strong>is</strong>ão soberana sobre a vida e a morte da vida nua. Ultrapassando a<br />
indignação moral<strong>is</strong>ta com os ep<strong>is</strong>ódios de violência, deveríamos buscar<br />
uma reflexão h<strong>is</strong>tórico-filosófica crítica, enfatiza Giacóia, deixando-nos<br />
uma questão inquietante: quem são os novos soberanos?<br />
Quem são os novos soberanos, quem det<strong>é</strong>m atualmente o poder de<br />
fazer <strong>viver</strong> e <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong>? Quem decide o futuro do homo sacer no<br />
Brasil contemporâneo?<br />
4 Referência à relação no bando soberano anal<strong>is</strong>ada por Agamben (2004).<br />
5 Situação sem saída na linguagem das favelas cariocas significa “cabeça de porco” – expressão que<br />
originalmente remete ao famoso cortiço carioca destruído no final do s<strong>é</strong>culo XIX, depo<strong>is</strong> de interditado pela<br />
Inspe<strong>to</strong>ria Geral de Higiene. Está aí o sentido do título Cabeça de Porco, livro de Lu<strong>is</strong> Eduardo Soares, MV Bill<br />
e Celso Athayde, publicado pela Edi<strong>to</strong>ra Objetiva em 2005.<br />
9
Susel O<strong>live</strong>ira da Rosa<br />
<strong>Fazer</strong> <strong>viver</strong> <strong>é</strong> <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong><br />
No caso da vida nua exposta nos presídios brasileiros ou “macabros<br />
depósi<strong>to</strong>s de corpos humanos confinados” (Giacóia, 2006: 198),<br />
inúmeras vezes são os integrantes de facções e grupos riva<strong>is</strong> que<br />
decidem pela vida e morte do homo sacer. Nesse espaço o Estado não <strong>é</strong><br />
ma<strong>is</strong> o único deten<strong>to</strong>r do poder de fazer <strong>viver</strong> e <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong> - “a vida<br />
como obje<strong>to</strong> político foi, de algum modo, <strong>to</strong>mada ao p<strong>é</strong> da <strong>let</strong>ra e<br />
voltada contra o s<strong>is</strong>tema que tentava controlá-la” (Foucault, 2001: 136).<br />
Penso que essa situação ref<strong>let</strong>e tamb<strong>é</strong>m a violência que perpassa as<br />
relações entre polícia e política nas principa<strong>is</strong> cidades brasileiras. A<br />
d<strong>is</strong>puta em <strong>to</strong>rno do poder de vida e morte da vida nua desnuda-se na<br />
tensão entre política, polícia e, por vezes, crime organizado, expondo o<br />
homo sacer à violência cotidiana.<br />
Tecnologia do Estado associada intimamente à política, a polícia<br />
tem como alvo o sujei<strong>to</strong> como corpo. Manter a ordem <strong>é</strong> o seu objetivo,<br />
entretan<strong>to</strong>, a id<strong>é</strong>ia de “manutenção da ordem” pressupõe em si a<br />
desordem, já que a “ordem” não está inscrita na natureza das co<strong>is</strong>as 6 .<br />
Atualmente, em meio à velocidade do tempo presente 7 , ma<strong>is</strong> que<br />
manter a ordem, a polícia tem gerido a desordem. Agamben 8 diz que as<br />
políticas de segurança, atualmente, não são destinadas a prevenir os<br />
even<strong>to</strong>s, mas sim <strong>to</strong>mar provei<strong>to</strong> quando eles ocorrem. O filósofo cita o<br />
trecho de uma entrev<strong>is</strong>ta dada por um policial italiano acerca das<br />
investigações sobre o comportamen<strong>to</strong> da polícia no caso da morte de<br />
um jovem em Gênova, no encontro do G8, em 2001; o policial<br />
estranhava a investigação dizendo que “o governo não espera ordem,<br />
6<br />
No livro Pureza e Perigo (1976. São Paulo: Perspectiva), Mary Douglas anal<strong>is</strong>a os pressupos<strong>to</strong>s que<br />
embasam nossas id<strong>é</strong>ias sobre “ordem” e “desordem”.<br />
7<br />
Sobre a aceleração do tempo presente ou ainda a mutação temporal contemporânea, pode-se consultar:<br />
Zaki Laidi, em La tyrannie de l’urgence (Les grandes conf<strong>é</strong>rences. 1999. Montreal, Éditions Fides) e Paul<br />
Virilio em A in<strong>é</strong>rcia polar (1993. L<strong>is</strong>boa: Dom Quixote), A velocidade de libertação (2000. L<strong>is</strong>boa, Relógio<br />
D´Água Edi<strong>to</strong>res) e Velocidade e Política (1997. São Paulo, Estação Liberdade).<br />
8<br />
Giorgio Agamben numa entrev<strong>is</strong>ta à Rev<strong>is</strong>ta ‘Carta Capital’ em 31/03/2004.<br />
10
ISSN 1981-1225<br />
Dossiê Foucault<br />
N. 3 – dezembro 2006/março 2007<br />
Organização: Margareth Rago & Adil<strong>to</strong>n L. Martins<br />
mas que organizemos a desordem”. Os policia<strong>is</strong> do BOPE (Batalhão de<br />
Operações Especia<strong>is</strong> da Polícia Militar do Rio de Janeiro) tamb<strong>é</strong>m<br />
atestam à atribuição da polícia de gerir a desordem: “a polícia vive do<br />
que <strong>é</strong> ilegal; quan<strong>to</strong> ma<strong>is</strong> desordem houver, maior o lucro dos<br />
convenciona<strong>is</strong>” (Soares, Bat<strong>is</strong>ta e Pimentel, 2006: 117). Coreografia<br />
elegante da baixa política, como diz Heuil<strong>let</strong> (2004: 325), a polícia deve<br />
realizar as condições efetivas da política, ocupando-se do imprev<strong>is</strong>ível e<br />
do imprev<strong>is</strong><strong>to</strong>. No cenário de guerra urbana, a polícia deixou de ser um<br />
simples meio da política, sendo “um elemen<strong>to</strong> constitutivo da sua<br />
estrutura que participa na definição dos seus fins e não <strong>é</strong> desprovida de<br />
sentido” (Heuil<strong>let</strong>, 2004: 11). Ou seja, para Heuil<strong>let</strong>, a polícia recobre o<br />
campo real da política. A polícia <strong>é</strong> aquilo que se encontra sob a política.<br />
Nesse sentido, no Brasil, muitas vezes <strong>é</strong> a polícia que exerce o poder de<br />
<strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong>, como podemos perceber no rela<strong>to</strong> de um ex-policial<br />
que afirma ser o BOPE a melhor tropa de guerra urbana do mundo,<br />
atribuindo essa qualidade ao fa<strong>to</strong> de que “em nenhum lugar do mundo<br />
se pode praticar <strong>to</strong>dos os dias” (Soares, Bat<strong>is</strong>ta e Pimentel, 2006: 26)<br />
como aqui.<br />
Agindo em situações críticas e fazendo incursões nas favelas, para<br />
os policia<strong>is</strong> do BOPE, “com os margina<strong>is</strong> não tem apelação; à noite, por<br />
exemplo, não fazemos pr<strong>is</strong>ioneiros; nas incursões noturnas, se<br />
<strong>to</strong>parmos com vagabundo, ele vai pra vala” (Soares, Bat<strong>is</strong>ta e Pimentel,<br />
2006: 26). A ação <strong>é</strong> em tempo real e os alvos (“vagabundos” na<br />
linguagem dos policia<strong>is</strong>) não têm chance de defesa quando pegos. Diz<br />
ainda o ex-capitão do BOPE que<br />
11
Susel O<strong>live</strong>ira da Rosa<br />
<strong>Fazer</strong> <strong>viver</strong> <strong>é</strong> <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong><br />
a violência a gente comete. Alguns chamam <strong>to</strong>rtura(...)não me<br />
envergonho de não me envergonhar de ter dado muita porrada em<br />
vagabundo. Primeiro, porque só bati em vagabundo, só matei<br />
vagabundo. Isso eu posso afirmar com <strong>to</strong>da certeza. Sin<strong>to</strong> minha<br />
alma limpa e tenho a consciência leve, porque só executei bandido.<br />
E, para mim, bandido <strong>é</strong> bandido, seja ele moleque ou homem fei<strong>to</strong>.<br />
Vagabundo <strong>é</strong> vagabundo (Soares, Bat<strong>is</strong>ta e Pimentel, 2006:35-36).<br />
A descartabilidade da vida humana nessa situação <strong>é</strong> patente. Um<br />
dos policia<strong>is</strong> narradores, chega à conclusão que <strong>to</strong>dos ali foram<br />
“adestrados” para se transformarem em “cães selvagens”. Cães<br />
selvagens a serviço de um estado de exceção, removendo o “lixo<br />
humano” (Bauman, 2005): “enquan<strong>to</strong> nos acomodávamos, ocupávamos<br />
os pon<strong>to</strong>s estrat<strong>é</strong>gicos e planejávamos uma ação saneadora, para nos<br />
livrarmos de uma vez dos vagabundos daquela comunidade” (Soares,<br />
Bat<strong>is</strong>ta e Pimentel, 2006: 75).<br />
Mas as descrições não são somente de “ações saneadoras”: os ex-<br />
policia<strong>is</strong> do BOPE relatam os vínculos, por vezes estrei<strong>to</strong>s, entre polícia,<br />
política e crime organizado. Por exemplo, quando um dos líderes do<br />
tráfico na favela da Rocinha (Rio de Janeiro) decide abandonar a cidade<br />
e se refugiar no nordeste. O fugitivo <strong>é</strong> caçado e preso pelos policia<strong>is</strong>,<br />
entretan<strong>to</strong>, seu destino não <strong>é</strong> o cárcere, mas sim re<strong>to</strong>mar o comando do<br />
tráfico na favela – já não pode ficar sem pagar mensalmente cer<strong>to</strong> valor<br />
em dinheiro a um líder político. Outro rela<strong>to</strong> trata do seqüestro da<br />
mulher de um traficante por policia<strong>is</strong>, ordenado por políticos que<br />
desejavam desocupar uma favela que havia sido invadida pela polícia.<br />
Atribuído a integrantes de uma facção criminosa rival, a guerra<br />
estendeu-se às ruas nesse ep<strong>is</strong>ódio, ocupando as manchetes alarm<strong>is</strong>tas<br />
dos grandes jorna<strong>is</strong>, ta<strong>is</strong> como “violência do tráfico nas ruas”,<br />
“população atemorizada”, etc. Outro caso comum citado pelos ex-<br />
12
ISSN 1981-1225<br />
Dossiê Foucault<br />
N. 3 – dezembro 2006/março 2007<br />
Organização: Margareth Rago & Adil<strong>to</strong>n L. Martins<br />
policia<strong>is</strong> são as apreensões de armas do tráfico: “a polícia vende as<br />
armas para os traficantes, vai buscá-las no morro para o espetáculo das<br />
exibições políticas na mídia. No dia seguinte, devolve <strong>to</strong>das elas e ainda<br />
cobra uma taxa dos traficantes” (Soares, Bat<strong>is</strong>ta e Pimentel, 2206: 25-<br />
26).<br />
Atuações desse tipo desnudam o estado de exceção vivido<br />
cotidianamente por inúmeros brasileiros, expondo vidas que det<strong>é</strong>m o<br />
estatu<strong>to</strong> de vida nua ou lixo humano, e, enquan<strong>to</strong> tal, são descartáve<strong>is</strong>.<br />
<strong>Fazer</strong> <strong>viver</strong> <strong>é</strong>, explicitamente, <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong>.<br />
Bibliografia<br />
AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. 2004. Belo<br />
Horizonte, Edi<strong>to</strong>ra da UFMG.<br />
AGAMBEN, G. Estado de Exceção. 2004a. São Paulo, Boitempo.<br />
ARENDT, H. A Condição Humana. 2004. 10 ed. Rio de Janeiro, Forense-<br />
Universitária.<br />
BAUMAN, Z. Vidas Desperdiçadas. 2005. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.<br />
BENJAMIN, W. Sobre arte, t<strong>é</strong>cnica, linguagem e política. 1992. L<strong>is</strong>boa,<br />
Relógio D’Água.<br />
FOUCAULT, M. Em Defesa da Sociedade. 2002. São Paulo, Martins<br />
Fontes.<br />
FOUCAULT, M. H<strong>is</strong>tória da Sexualidade vol.1. 2001. 14 ed. Rio de<br />
Janeiro, Graal.<br />
GIACÓIA, O. Foucault. In: RAGO, M., VEIGA-NETO, A. (org.). Figuras de<br />
Foucault. 2006. São Paulo, Autêntica, p. 187-203.<br />
HEUILLET, H. Alta Polícia Baixa Política. 2004. L<strong>is</strong>boa, Edi<strong>to</strong>rial Notícias.<br />
13
Susel O<strong>live</strong>ira da Rosa<br />
<strong>Fazer</strong> <strong>viver</strong> <strong>é</strong> <strong>deixar</strong> <strong>morrer</strong><br />
SCHMITT, C. O concei<strong>to</strong> do Político. 1992. São Paulo, Vozes.<br />
SOARES, L.E., BATISTA, A., PIMENTEL, R. Elite da Tropa. 2006. Rio de<br />
Janeiro, Objetiva.<br />
14<br />
Recebido em dezembro/2006.<br />
Aprovado em fevereiro/2007.