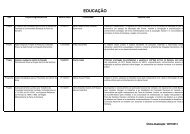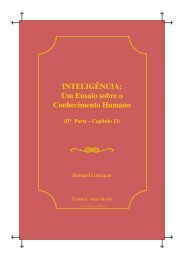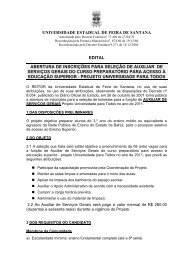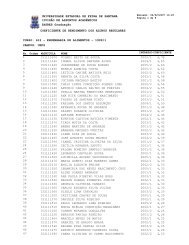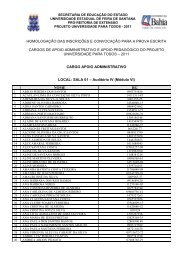a dissolução do ser humano nas ciências humanas - Universidade ...
a dissolução do ser humano nas ciências humanas - Universidade ...
a dissolução do ser humano nas ciências humanas - Universidade ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hélio Roque Hartmann<br />
A DISSOLUÇÃO DO SER HUMANO NAS<br />
CIÊNCIAS HUMANAS<br />
Hélio Roque Hartamann<br />
Professor de Filosofia DFE - UEM - Paraná<br />
Resumo: São vários os objetivos que queremos desenvolver<br />
neste artigo. Em primeiro lugar, informar sobre os problemas<br />
que afetam o conceito de antropologia filosófica e sua<br />
definição tanto frente à filosofia, como em relação às<br />
antropologias científicas. Em segun<strong>do</strong> lugar, insistir no<br />
caráter filosófico da antropologia filosófica, partin<strong>do</strong> de<br />
uma noção precisa de filosofia. Em terceiro lugar, ten<strong>do</strong><br />
em conta o anteriormente exposto, sugerir um mo<strong>do</strong> de<br />
articulação positiva entre ciência e filosofia <strong>do</strong> homem,<br />
que implique o entendimento e o esforço das <strong>ciências</strong><br />
huma<strong>nas</strong>/sociais como reconstrução e recuperação <strong>do</strong><br />
senti<strong>do</strong> e aposte por uma imagem mais humana <strong>do</strong> homem.<br />
Palavras-chaves: Filosofia. Antropologia filosófica.<br />
Ciência.<br />
Abstract: Many are the objectives intended for development<br />
in this article. In the first place, inform about the problems<br />
that affect the concept of Philosophical Antropology and its<br />
definition regarding philosophy itself as well as the scientific<br />
antropologies . Second , to insist in the philosophical character<br />
of the Philosophical Antropology, using a precise notion<br />
Philosophy as a starting point. Third, having taken in counderation<br />
what was formerly exposed, suggest a way of positive<br />
articulation between the science and the Philosophy of<br />
man, that implies the undstanding and the effort of the<br />
human/social sciences as a recuperation of the meaning<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
25
26 Hélio Roque Hartmann<br />
and a more human image of man.<br />
Key-words - Philosophy. Philosophical Antropology.<br />
Science.<br />
I n t r o d u ç ã o<br />
En ninguna época se ha sabi<strong>do</strong> tanto<br />
y tan diverso con respecto al hombre<br />
como en la nuestra. En ninguna época<br />
se expuso el conocimiento acerca del<br />
hombre en forma más penetrante ni<br />
más fascinante que en ésta. Ninguna<br />
época, hasta la fecha, ha si<strong>do</strong> capaz<br />
de hacer accesible este saber con la<br />
rapidez y facilidad que la nuestra. Y,<br />
sin embargo, en ningún tiempo se ha<br />
sabi<strong>do</strong> menos acerca de lo que el<br />
hombre és. En ninguna época ha si<strong>do</strong><br />
el hombre tan problemático como en<br />
la actual.<br />
Martín Heidegger<br />
Apesar de que o tema sobre o homem tenha constituí<strong>do</strong><br />
uma preocupação constante da filosofia ocidental desde<br />
seu começo, é, no entanto, somente a partir <strong>do</strong> fim <strong>do</strong><br />
século passa<strong>do</strong> e princípios <strong>do</strong> atual que ela adquire uma<br />
posição preeminente na investigação filosófica.<br />
A característica mais sobressaliente <strong>do</strong> tema <strong>do</strong> homem,<br />
assim como ele se apresenta, por exemplo, na América<br />
Latina, é sua pluralidade problemática. O tema <strong>do</strong> homem<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
é encara<strong>do</strong> numa problemática complexa e multifacética.<br />
O pluralismo referi<strong>do</strong> não é, muitas vezes, mais que a<br />
reflexão <strong>do</strong> multifacetismo que toma a questão na discussão<br />
antropológica européia,iInfluência da qual a América Latina<br />
ainda não se libertou completamente e que é, por sua vez,<br />
produto da ambigüidade na pergunta que a investigação<br />
filosófica trata de resolver: que é propriamente o <strong>humano</strong>?<br />
Com efeito, a forma como se interpreta essa pergunta<br />
e seu contexto determinam até certo ponto o caráter da<br />
resposta que se lhe dará, pois nela estão latentes várias<br />
questões diferentes: a onto-metafísica, da condição e essência<br />
<strong>do</strong> homem; o problema epistemo-lógico, de sua definição<br />
e distinção com relação a outros <strong>ser</strong>es e a interpretação<br />
dessa definição; o problema cosmo-ético de sua posição<br />
e relação com respeito ao resto <strong>do</strong> universo.<br />
Certamente não é tarefa da antropologia filosófica dar<br />
uma resposta completa a tal questão, mas sim determinála<br />
de um mo<strong>do</strong> rigoroso. Mesmo no caso em que assumíssemos<br />
para a antropologia filosófica, modestamente, uma função<br />
esclarece<strong>do</strong>ra ou crítica, nem por isso seu estatuto deixaria<br />
de <strong>ser</strong> problemático.<br />
Em um <strong>do</strong>s textos considera<strong>do</strong>s como fundacionais da<br />
antropologia filosófica, Heidegger parafraseia Scheler e<br />
expressa o primeiro traço dessa problematicidade com<br />
palavras que se tornaram hoje emblemáticas: “Em nenhuma<br />
época da história o homem tornou-se tão problemático<br />
para si mesmo como na atualidade”. E continua: Temos<br />
uma antropologia científica, outra filosófica e outra teológica,<br />
que não se preocupam uma com a outra. Mas não temos<br />
uma idéia unitária <strong>do</strong> homem. Por outro la<strong>do</strong>, a multidão<br />
sempre crescente de <strong>ciências</strong> especiais, que se ocupam<br />
com o homem, ocultam muito mais a essência deste que<br />
o iluminam, por mais valiosas que sejam”.<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
27
28 Hélio Roque Hartmann<br />
Ten<strong>do</strong> em conta essas idéias, vários são, pois, os<br />
problemas que gostaríamos de formular, nesta comunicação,<br />
relaciona<strong>do</strong>s com o lugar que ocupa a antropologia filosófica<br />
na ciência e na filosofia, bem como as determinações,<br />
mediações e relações existentes entre filosofia <strong>do</strong> homem<br />
e ciência <strong>do</strong> homem. A escassa importância que se tem<br />
atribuí<strong>do</strong> aos problemas aqui trata<strong>do</strong>s, creio que constitui<br />
a chave para manter a profunda indefinição em que está<br />
sumida a antropologia filosófica; saber que trata <strong>do</strong> <strong>ser</strong><br />
<strong>humano</strong> desde uma perspectiva filosófica, que interroga o<br />
<strong>ser</strong> <strong>humano</strong> a partir da filosofia.<br />
Ademais, as relações entre filosofia e <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong><br />
têm si<strong>do</strong>, ultimamente, de mo<strong>do</strong> geral, mais negativas que<br />
positivas; é comum adscrever a filosofia ao conjunto das<br />
<strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> como mais uma ciência humana. São<br />
quase nulas as tentativas de articulação positiva entre<br />
ambas, enquanto projetos que salvaguardem a autonomia<br />
e a natureza distinta, tanto <strong>do</strong> saber filosófico quanto <strong>do</strong><br />
conhecimento científico, gera<strong>do</strong>s em ambos os campos<br />
dessas atividades huma<strong>nas</strong> diferenciadas.<br />
Nosso propósito é, pois, determinar o lugar específico<br />
e irrenunciável que cabe à antropologia filosófica, ou filosofia<br />
<strong>do</strong> homem, no conjunto <strong>do</strong> saber <strong>humano</strong>, e defender a<br />
reconstrução e recuperação <strong>do</strong> senti<strong>do</strong> <strong>nas</strong> <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>,<br />
num momento em que assistimos com preocupação a<br />
desregulação antropológica vigente.<br />
1 Noção prévia de filosofia<br />
O mais conveniente para captar o fenômeno filosófico,<br />
sua manifestação histórica, <strong>ser</strong>ia retroceder à origem dessa<br />
atividade, na Grécia, e captar o fenômeno a partir da<br />
intencionalidade que o constitui. Que fazem os <strong>ser</strong>es <strong>humano</strong>s<br />
que filosofam? A partir de que plano falamos de filosofia?<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
É a filosofia mais um <strong>do</strong>s objetos das <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>?<br />
Não vamos, nessa seção, fazer uma história da origem e<br />
<strong>do</strong> desenvolvimento da filosofia. Baste-nos dizer a respeito<br />
pelo menos que to<strong>do</strong> grande filósofo foi grande porque<br />
conseguiu reproduzir, em sua pessoa, pelo menos<br />
aproximadamente, aquela situação originária em que a<br />
filosofia <strong>nas</strong>ceu.<br />
Dito isso, temos que responder brevemente a três<br />
perguntas, de mo<strong>do</strong> que se somos capazes de respondêlas<br />
teremos consegui<strong>do</strong> uma noção de filosofia suficiente<br />
para o nosso objetivo.<br />
Em primeiro lugar, com relação a que problemas se dá<br />
a atividade filosófica? Em segun<strong>do</strong> lugar, como, ou seja,<br />
com que instrumentos conta o filósofo para obter uma<br />
resposta ou solução, caso existam? E, em terceiro lugar,<br />
qual é a finalidade dessa atividade, se é que tem alguma?<br />
Se aquilo que caracteriza a nova situação é a de que<br />
não há uma única palavra sobre as coisas, mas que cada<br />
pessoa tem direito a opinar, então as conseqüências são<br />
amplas. Primeiramente, as palavras ‘<strong>do</strong>gmáticas’ anteriores<br />
são palavras de um contexto determina<strong>do</strong>, diferentes das<br />
pronunciadas por outros povos para as mesmas coisas.<br />
Cada povo tem seus deuses; logo nenhum deles é universal:<br />
as respectivas tradições são particulares; também os mitos<br />
tradicionais, como discursos tradicionais sobre a realidade<br />
são particulares, porque já não se identificam mais com a<br />
realidade. Pois bem, o filósofo não pretende criar outro<br />
discurso particular, mas um discurso váli<strong>do</strong> para to<strong>do</strong>s, o<br />
filósofo quer dizer um discurso universal.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, com essa relativização da tradição<br />
fica contaminada a totalidade da tradição em conseqüência<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
29
30 Hélio Roque Hartmann<br />
da fragilidade da particularidade. Se bem que essa atividade<br />
filosófica começou, obviamente, por algum ponto concreto,<br />
de fato terminou sempre orientada pelos princípios da<br />
totalidade da vida e da totalidade <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. A experiência<br />
<strong>do</strong> filósofo não se refere aos fracassos cotidianos da<br />
experiência, mas ao sistema global de compreensão da<br />
totalidade que caracteriza a vida humana. Não se trata de<br />
resolver algum problema diário imediato, mas de pensar<br />
o significa<strong>do</strong> global da vida. O que se torna problemático<br />
é o sistema global de referências, o mun<strong>do</strong> e a vida,<br />
enquanto tais, porque, como disse HABERMAS 1 , já não<br />
é essa ou aquela razão que não convence mais, é “o tipo<br />
de fundamentos, o tipo de razões que são dadas, que<br />
deixam de convencer”.<br />
Como responder, <strong>do</strong> ponto de vista filosófico, a tão<br />
árdua questão? É aqui que entra o terceiro aspecto básico<br />
da atitude filosófica, deriva<strong>do</strong> <strong>do</strong>s anteriores. Se a filosofia<br />
surge no processo de democratização <strong>do</strong> uso da palavra 2 ,<br />
é mediante o recurso à palavra própria, à razão própria,<br />
que é mister conseguir as respostas que a filosofia busca<br />
sobre o senti<strong>do</strong> da totalidade. O recurso à própria palavra<br />
não é nem um mero palavrea<strong>do</strong>, nem recaída num novo<br />
particularismo, nesse caso sob a forma de subjetivismo.<br />
Justamente o contrário: reconhecer o direito de falar é<br />
reconhecer o direito de dizer a realidade, de dar razões,<br />
por que o logos, a razão, é universal, é, inclusive, o meio<br />
universal que enlaça ohomem com o mun<strong>do</strong>, que nos pode<br />
descobrir a realidade <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, bem além <strong>do</strong>s pequenos<br />
interesses que possam introduzir fatores de distorção em<br />
nossa consideração <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. Sobre isso, Platão já nos<br />
ensinava que o exercício da razão é dialógico, não é<br />
priva<strong>do</strong>, mas comunitário.<br />
Nessa perspectiva, a filosofia é o recurso à capacidade<br />
dialogal da comunidade para dar respostas às interrogações<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
que os homens se fazem sobre o senti<strong>do</strong> <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> e da<br />
vida humana.<br />
Resta-nos responder a última das perguntas formuladas,<br />
a pergunta sobre a função da filosofia. Sem estender-nos<br />
sobre a questão, indicaremos somente que em relação a<br />
ela atuam fatores distorcivos como a insistência platônica<br />
de que a função <strong>do</strong> filósofo devia <strong>ser</strong> a de reinar, isto é,<br />
a concepção da filosofia como teoria e a firme convicção<br />
quanto ao compromisso prático que isso comporta até<br />
fazer o filósofo rei.<br />
A razão, para o compromisso prático da filosofia é<br />
que quan<strong>do</strong> se aplica a razão à resposta a problemas que<br />
afetam o senti<strong>do</strong> da vida e <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, não é possível<br />
separar uma razão teórica e uma razão prática, já que toda<br />
teoria tem sua vertente prática; mais ainda, como afirma<br />
HUSSERL 3 explicitamente, “toda teoria é prática”. Acontece<br />
que uma teoria sobre os problemas últimos da vida e <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong> não é prática com referência aos problemas imediatos,<br />
por exemplo, de caráter <strong>do</strong>méstico, ou com relação aos<br />
pequenos problemas que às vezes nos prendem ao imediato.<br />
É preciso romper com to<strong>do</strong>s esses pequenos interesses,<br />
peque<strong>nas</strong> mesquinharias, para poder ascender ao nível<br />
específico no qual a filosofia é viável, porque para agir<br />
corretamente com garantias de que de verdade se efetua<br />
com justiça, é preciso superar a ‘cegueira’ e aceder aos<br />
modelos ideais que conduzem em direção ao verdadeiramente<br />
verdadeiro.<br />
A busca de um senti<strong>do</strong> total é, ao mesmo tempo, busca<br />
de uma ação que seja universal, que transcenda qualquer<br />
particularidade. Por isso, a filosofia, e não a ciência, como<br />
veremos, inaugura uma nova praxis, a praxis da crítica<br />
universal de toda vida e <strong>do</strong>s objetivos vitais, crítica da<br />
cultura, da própria humanidade e de to<strong>do</strong>s os valores que<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
31
32 Hélio Roque Hartmann<br />
a regem implícita ou explicitamente 4 . Porque a comunidade<br />
é a comunidade presente e futura, com a qual a filosofia<br />
surge realmente como movimento de tensão e compromisso<br />
com um mo<strong>do</strong> de vida, mais que como um corpo de resulta<strong>do</strong>s<br />
ou técnicas a aplicar. Por isso a filosofia está mais na<br />
negação que na afirmação. Como diria MÉRLEAU-PONTY,<br />
“o filósofo sempre está adiante <strong>do</strong> constituí<strong>do</strong>, porque se<br />
aborrece no constituí<strong>do</strong>” 5 .<br />
2 Filosofia e ciência<br />
Como é nosso propósito imediato colocar as bases<br />
para diferenciar filosofia e ciência, questão que nos é<br />
necessária para captar mais adiante as formas de articulação<br />
entre uma filosofia <strong>do</strong> homem e uma ciência <strong>do</strong> homem,<br />
comecemos com uma rápida distinção entre história da<br />
filosofia e história da ciência.<br />
A dependência que a filosofia tem de um logos comunitátio<br />
significa que, em nenhum momento, está enclausurada<br />
nem com respeito ao passa<strong>do</strong>, nem com relação ao presente<br />
e ao futuro. É diferente com respeito à ciência, para a qual<br />
o passa<strong>do</strong> não representa senão um momento de seu<br />
desenvolvimento, mas não de sua maturidade, nem de sua<br />
verdade. Por isso, se para a ciência, o passa<strong>do</strong> poderia<br />
<strong>ser</strong> considera<strong>do</strong> como uma história de erros, já que o que<br />
<strong>do</strong> passa<strong>do</strong> não é erro pertence ao presente, na filosofia,<br />
o passa<strong>do</strong> é verdadeiramente passa<strong>do</strong>, porque seu senti<strong>do</strong><br />
pertence essencialmente à sua comunidade, mas é, ao<br />
mesmo tempo, verdadeiramente filosofia, porque nos interpela<br />
enquanto filosofia, à medida em que representa um logos<br />
aceito em sua época. Portanto, a relação da filosofia com<br />
seu passa<strong>do</strong> não é o da verdade com seus erros. Cada<br />
época tem sua verdade e uma verdade também para nós.<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
É certo que quan<strong>do</strong> surgiu a filosofia, a distinção entre<br />
ela e a ciência não era uma distinção necessária, embora<br />
fundamentável. Na atualidade, porém, é imprescindível,<br />
sobretu<strong>do</strong>, porque, ao longo de <strong>do</strong>is milênios e meio de<br />
desenvolvimento da filosofia e da ciência, aquela manteve<br />
uma autocompreensão mais ou menos constante, enquanto<br />
que esta tem um senti<strong>do</strong> que dificilmente encaixaria nos<br />
traços que antes delineamos como característicos da filosofia.<br />
Com efeito, a ciência não trata da totalidade <strong>do</strong> mun<strong>do</strong><br />
e da vida, mas é eficaz somente quan<strong>do</strong> consegue delimitar<br />
um objeto com certa precisão. Toda ciência particular - e<br />
‘que’ pode <strong>ser</strong> a ciência senão ciência particular - “começa<br />
por delimitar”, diz ORTEGA y GASSET em: Qué és filosofía 6 ? ,<br />
e, uma vez delimita<strong>do</strong> seu campo, buscará fixar os fatos<br />
que o constituem bem como as relações que unem esses<br />
fatos; seu objeto não pode deixar de <strong>ser</strong> ob<strong>ser</strong>vável mediata<br />
ou imediatamente. A realidade que a ciência trata de<br />
conhecer é uma realidade de fatos, mesmo que sejam<br />
fatos lingüísticos. Se o mun<strong>do</strong> é um conjunto de fatos, a<br />
pretensão da ciência é, poderíamos dizer, refletir esse<br />
conjunto de fatos e relações. E por isso tem ou pode ter<br />
uma incidência prática imediata. A técnica baseada na<br />
determinação causal <strong>do</strong>s fatos se aplica a to<strong>do</strong> aquele<br />
nível da realidade em que se pode detectar fatos, por mais<br />
sublime que possa <strong>ser</strong> esse nível.<br />
Frente à ciência e <strong>do</strong> ponto de vista dela a filosofia não<br />
tem um objeto preciso, e isso apesar das aparências,<br />
porque trata da totalidade em que agem os objetos da<br />
ciência. A filosofia não pretende dar-nos verdades concretas,<br />
mas a própria verdade, somente o âmbito no qual a verdade<br />
tem senti<strong>do</strong>.<br />
A filosofia, ao falar da totalidade não se restringe a<br />
partes que constituam pequenos to<strong>do</strong>s por si mesmos.<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
33
34 Hélio Roque Hartmann<br />
Precisamente essa razão torna impossível à filosofia aplicar<br />
méto<strong>do</strong>s de análise e de controle estáveis, uniformes e<br />
operacionalmente unívocos. Nesse senti<strong>do</strong>, é simplista<br />
falar de filosofia empírica, por exemplo. Na realidade, o<br />
filósofo não faz nenhum experimento nem delimitações da<br />
realidade com o fim de aplicar-lhe ob<strong>ser</strong>vações protocolizadas<br />
e controladas. Por tu<strong>do</strong> isso, justamente, a história continua<br />
estan<strong>do</strong> aberta na filosofia, enquanto que na ciência, em<br />
senti<strong>do</strong> estrito, está clausurada, pois seu ponto de referência<br />
não é a história humana, em suma, as linguagens ditas ou<br />
faladas, mas a realidade confrontada experimentalmente.<br />
Com efeito, nos últimos tempos tem-se diluí<strong>do</strong> a relação<br />
entre o pensamento filosófico e os demais, sobretu<strong>do</strong>, o<br />
científico. O êxito da ciência fê-la sentir-se, de certo mo<strong>do</strong>,<br />
“autônoma” ou autosuficiente. Dada a enorme proliferação<br />
da investigação científica e sua especialização, não é fácil<br />
ver até que ponto continua sen<strong>do</strong> cria<strong>do</strong>ra. Sua inércia é<br />
muito grande; o impulso recebi<strong>do</strong> da imediatamente anterior<br />
a fará avançar, sem dúvida, durante muito tempo; o<br />
aperfeiçoamento de suas técnicas asseguram resulta<strong>do</strong>s<br />
impressionantes.<br />
Cabe duvidar, não obstante, daquilo que nela é estritamente<br />
pensamento. A acumulação de ob<strong>ser</strong>vações, experimentos,<br />
da<strong>do</strong>s, estatísticas, é incomparável com o de qualquer<br />
época. Acrescente-se algo decisivo: a informática, o uso<br />
<strong>do</strong>s mais complexos computa<strong>do</strong>res, permite dispor de<br />
tu<strong>do</strong> isso de maneira quase instantânea e estabelecer<br />
relações entre o que se sabe. O futuro da ciência parece<br />
garanti<strong>do</strong> e com facilidades que não se podiam sequer<br />
desejar há pouco tempo.<br />
Existem, contu<strong>do</strong>, alguns riscos que parecem inquietantes.<br />
O primeiro, a possível crença de que os da<strong>do</strong>s já são<br />
saber; não o são, mas são meros materiais para um saber<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
não fácil de alcançar e que um aparato jamais possui; este<br />
não sabe nada, senão o homem que o utiliza, se chega a<br />
isso. A segunda tendência é contentar-se com a quantificação,<br />
que é importante em alguns campos, mas não tem nada a<br />
ver em outros. Há a tendência de contentar-se com o que<br />
as técnicas oferecem, a identificar com isso a realidade,<br />
com o qual se deixa uma parte dela, que pode <strong>ser</strong> essencial,<br />
fora da ciência. Uma outra propensão é a que se desliza<br />
em reduzir as possíveis respostas a “sim” ou “não”, estimuladas<br />
pela estrutura binária da maioria <strong>do</strong>s aparelhos. Mas, com<br />
isso, exerce-se violência sobre a realidade e, em muitos<br />
casos, se a obriga a mentir, porque não admite esse tipo<br />
de resposta.<br />
A sustantivação <strong>do</strong> aparelho leva a eliminar o que lhe<br />
excede, e obscurece aquilo que tem si<strong>do</strong> a grande descoberta<br />
da filosofia deste século: a peculiaridade e irredutibilidade<br />
<strong>do</strong> <strong>humano</strong>. Toma-se a parte pelo to<strong>do</strong>, e talvez seja a<br />
parte menor <strong>do</strong> ponto de vista daquilo que é necessário<br />
para orientar-se na vida, para saber a que ater-se.<br />
Perdeu-se quase completamente o senti<strong>do</strong> da “prova”<br />
quan<strong>do</strong> não se reduz à matemática ou à “comprovação<br />
experimental”. Surpreende em muitos livros com pretensão<br />
científica, de verdadeiro valor inclusive, a omissão de to<strong>do</strong><br />
propósito de justificação. Enunciam-se teses, que se supõem<br />
respaldadas por experimentos, medições ou estatísticas,<br />
porém não se pergunta se essas teses são evidentes, e<br />
se não o são, como é usual, não se busca o caminho pelo<br />
qual adquiram a evidência que não possuem diretamente.<br />
Isso significa que há uma profunda desorientação com<br />
respeito aos méto<strong>do</strong>s, não da investigação, mas de<br />
conhecimento. “Averiguam-se” muitas coisas, mas as conexões<br />
entre elas, que poderiam levar a uma configuração inteligível<br />
ficam na sombra. Cada forma de conhecimento requer um,<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
35
36 Hélio Roque Hartmann<br />
tipo adequa<strong>do</strong> de justificação, prova ou fundamentação,<br />
e chegamos a nos dar conta de que tu<strong>do</strong> isso é impreciso,<br />
inclusive na maior parte <strong>do</strong>s livros filosóficos deste século.<br />
Pese a tu<strong>do</strong> isso, acredito que continua sen<strong>do</strong> válida<br />
a concepção habermasiana para captar essa situação: a<br />
ciência tem um valor técnico; no caso da ciência <strong>do</strong>s<br />
<strong>humano</strong>s ou <strong>do</strong>s animais pode manter também um valor<br />
técnico, embora o normal é que tenha um valor prático, isto<br />
é, que sirva para entender-nos sobre nós mesmos e com<br />
os outros. Porém, só a filosofia pode ter um valor emancipatório,<br />
já que não fica no nível <strong>do</strong>s problemas técnicos que a<br />
ciência pode resolver, tampouco se prende aos problemas<br />
práticos da convivência, senão que questiona o sistema<br />
de fins que regem tanto a instalação da técnica como a<br />
prática. A pergunta que dinamiza o saber filosófico é, na<br />
verdade, o para que de minha existência, que não se pode<br />
responder nem com respostas técnicas nem com propostas<br />
práticas. Obviamente a filosofia pretende assumir essas<br />
perguntas racionalmente, formulá-las a partir <strong>do</strong> próprio<br />
homem, desde a reflexão comunitária <strong>do</strong> filósofo, sem<br />
recorrer a instância alheia ao próprio poder racional <strong>do</strong> <strong>ser</strong><br />
<strong>humano</strong>.<br />
Deduz-se de tu<strong>do</strong> isso uma questão de máxima importância:<br />
a filosofia não tem partes isoláveis <strong>do</strong> to<strong>do</strong>; toda filosofia<br />
está em todas as suas partes. Nisso a diferença com a<br />
ciência é patente, pois como foi visto muito bem por ORTEGA<br />
y GASSET: “Cada ciência aceita sua limitação e faz dela<br />
seu méto<strong>do</strong> positivo [...] cada ciência se faz independente<br />
das demais, ou seja, não aceita sua jurisdição” 7 . As <strong>ciências</strong><br />
gostariam de manter entre si a mesma relação que as<br />
espécies de um gênero que, apesar de estarem aparentadas<br />
filogeneticamente, cada uma mantém sua identidade íntegra.<br />
Pois bem, na filosofia as chamadas discipli<strong>nas</strong> não são<br />
umas independentes das outras, pois a filosofia não existe<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
como gênero que se realize em partes independentes, já<br />
que está toda em cada parte. O decisivo para que um<br />
pensamento seja filosófico é que o discurso inicia<strong>do</strong> afete<br />
a totalidade <strong>do</strong> <strong>ser</strong>, da verdade e <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, de tal mo<strong>do</strong><br />
que pretende transcender to<strong>do</strong>s os condicionamentos particulares.<br />
A necessidade de realizar-se no to<strong>do</strong> não significa que<br />
a filosofia não tenha partes, mas que estas não mantêm<br />
entre si uma relação de independência. Ela aplica sua<br />
visão total e universal aos diversos segmentos dentro <strong>do</strong>s<br />
quais nos relacionamos com a realidade, com o <strong>ser</strong> e com<br />
a verdade. O fato mesmo de <strong>ser</strong> discursiva a faz<br />
necessariamente sintagmática e, obviamente, não se pode<br />
dizer tu<strong>do</strong> de uma só vez. Inclusive, geneticamente, é<br />
sabi<strong>do</strong> que antes se pensaram os problemas cosmológicos<br />
que, por exemplo, os políticos ou antropológicos. Porém,<br />
não se pode desconhecer que as soluções que se pensam,<br />
num setor da realidade, têm de valer para to<strong>do</strong>s os demais.<br />
Assim, as soluções cosmológicas são solidárias de uma<br />
antropologia e de uma ética; mas essas implicam também<br />
uma visão da natureza.<br />
A filosofia está toda em cada parte e cada parte, só<br />
é filosofia se nela se condensa ou se manifesta - ainda que<br />
seja a título de exigência - o to<strong>do</strong> da filosofia. O afã<br />
especializa<strong>do</strong>r que divide os profissionais da filosofia não<br />
é senão outro exemplo mais que, naturalmente, pode esgotar<br />
o senti<strong>do</strong> filosófico, assim que se rompa a relação com a<br />
totalidade filosófica.<br />
3 A <strong>dissolução</strong> <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> <strong>nas</strong> <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong><br />
O processo de <strong>dissolução</strong> <strong>do</strong> homem pelas <strong>ciências</strong><br />
huma<strong>nas</strong> constitui um mo<strong>do</strong> de articulação deficiente, quan<strong>do</strong><br />
não negativa, entre <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> e antropologia filosófica<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
37
38 Hélio Roque Hartmann<br />
ou filosofia <strong>do</strong> homem. Quan<strong>do</strong> se privilegia, nessa análise<br />
e articulação, exclusivamente o científico, as possibilidades<br />
próprias da ciência, operan<strong>do</strong> no senti<strong>do</strong> mesmo da atividade<br />
científica, as <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>, antes de conceber e<br />
conhecer o <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> enquanto tal, tratarãode dissolvêlo.<br />
O movimento teórico da ciência, mesmo que seja suas<br />
teorias explicativas. As <strong>ciências</strong> se referem necessariamente<br />
humana, não pode fazer mais que arrastá-la em direção a<br />
um poderoso anti-humanismo, hoje em dia plenamente<br />
formula<strong>do</strong> e assumi<strong>do</strong> pela epistemologia das <strong>ciências</strong><br />
huma<strong>nas</strong>.<br />
Comecemos pelo segun<strong>do</strong> aspecto da questão por <strong>ser</strong><br />
o que impera na própria prática da ciência. Com efeito,<br />
desde o começo, podemos advertir que a ciência se situa<br />
diante da realidade feita e constituída pelos fatos, frente<br />
aos quais tratará de expor feita e constituída pelos fatos,<br />
frente aos quais tratará de expor suas teorias explicativas.<br />
As <strong>ciências</strong> se referem necessariamente ao âmbito <strong>do</strong><br />
da<strong>do</strong>, <strong>do</strong> que é, seja isto um objeto material, uma estrutura<br />
ideal matemática ou um sujeito. A ciência deve tomar<br />
inclusive aos sujeitos - ou pessoas - como fatos que agem<br />
em relação a outros fatos, mesmo que essa atuação seja<br />
estatística. A ciência só pode tratar por definição daquilo<br />
que é objetivável, <strong>do</strong> homem enquanto da<strong>do</strong>, <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong><br />
enquanto ao que é. Por isso podemos dizer que as chaves<br />
enquanto ao que é estão na ciência.<br />
O grande valor da ciência <strong>do</strong> homem está, justamente,<br />
em <strong>ser</strong> conseqüente com esse movimento de destronamento<br />
e humilhação <strong>do</strong> orgulho <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> que já aparece<br />
com o giro copernicano, e termina com a última grande<br />
humilhação <strong>do</strong> homem que é conseqüência da consideração<br />
<strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> como uma máquina pensante, depois de ter<br />
passa<strong>do</strong> por Darwin, Freud e o estruturalismo. Assim, as<br />
<strong>ciências</strong> <strong>do</strong> homem não são senão a culminação de um<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
movimento, no qual o <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> foi aprenden<strong>do</strong> que o que<br />
um dia acreditou <strong>ser</strong> obra sua, na realidade, era algo que<br />
o ultrapassava, estan<strong>do</strong> além de si mesmo, que o que ele<br />
é lhe escapa, porque a chave <strong>do</strong> que é não está em si<br />
mesmo, senão no outro, na natureza e na sociedade. O<br />
problema <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong>, na época Moderna, procede<br />
justamente da progressiva e imparável <strong>dissolução</strong> <strong>do</strong> homem 8<br />
que as <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> operam, <strong>do</strong> progresso da explicação,<br />
em suma, das grandes humilhações <strong>do</strong> homem e que já<br />
são clássicas na literatura antropológico-filosófica.<br />
O processo de <strong>dissolução</strong> <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> se inicia no<br />
Re<strong>nas</strong>cimento com a humilhação cosmológica, pela qual<br />
sabemos que nossa morada, a Terra não é o centro <strong>do</strong><br />
universo, mas nada mais que um ponto perdi<strong>do</strong> nos espaços<br />
infinitos. No século XIX, a humilhação biológica <strong>ser</strong>á decisiva<br />
e quase diríamos definitiva, já que por ela o amo e senhor<br />
da criação aprenderá que não é senão mais um produto<br />
de forças estritamente aleatórias e <strong>do</strong> acaso, das que em<br />
to<strong>do</strong> caso o homem é uma máxima improbabilidade; o <strong>ser</strong><br />
<strong>humano</strong> parece não <strong>ser</strong> outra coisa que resulta<strong>do</strong> de forças<br />
biológicas.<br />
Na humilhação psicológica é minada a arrogância <strong>do</strong><br />
eu e <strong>do</strong> poder da auto-consciência, que fica desativada ao<br />
descobrir-se que não é senão uma pequena brecha aberta<br />
entre os desejos <strong>do</strong> corpo e os imperativos da sociedade.<br />
Por isso, até as criações mais sublimes estão transpassadas<br />
ou tomam sua substância <strong>do</strong> corpo de um mo<strong>do</strong> que se<br />
escapa ao eu.<br />
Por fim teríamos a humilhação estruturalista, continuada<br />
ou prolongada na mais recente humilhação informática,<br />
pela qual estamos ven<strong>do</strong>, <strong>nas</strong> últimas décadas, que devemos<br />
pensar-nos a partir da imagem de um computa<strong>do</strong>r, que não<br />
tem outra virtude que converter em vantagem os próprios<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
39
40 Hélio Roque Hartmann<br />
defeitos. Não supõe uma tremenda humilhação enfrentarmonos,<br />
por exemplo, em xadrez a um mini-computa<strong>do</strong>r e ter<br />
a certeza de que perderemos na maior parte das vezes?<br />
Em to<strong>do</strong> caso, se já LÉVI-STRAUSS 9 tinha dito que somos<br />
coisas entre as coisas, a moderna e recente ciência <strong>do</strong>s<br />
computa<strong>do</strong>res é a melhor prova dessa afirmação.<br />
E isso porque cada ciência humana elabora uma<br />
parcela de <strong>dissolução</strong> <strong>do</strong> homem: de análise <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong>,<br />
de explicação <strong>do</strong> homem. Explicar o homem, que é o que<br />
move as <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>, não é senão dissolvê-lo nos<br />
fatos da natureza e da sociedade, ven<strong>do</strong> que por trás <strong>do</strong><br />
pensamento <strong>do</strong> homem, de sua linguagem, de suas intenções<br />
e desejos estão, por um la<strong>do</strong>, a sociedade que os transmitiu<br />
na medida em que tem si<strong>do</strong> molda<strong>do</strong> nela, e o cérebro<br />
<strong>humano</strong>, máquina tremendamente complexa mas cujo fim<br />
não parece <strong>ser</strong> outro que garantir a sobrevivência <strong>do</strong><br />
código genético, que pareceria tomar os indivíduos como<br />
elos de uma tendência a perpetuar-se, tal como o entende<br />
a moderna sociobiologia. Seria algo como pensar que o<br />
homem não é nada mais que o mo<strong>do</strong> que o gene tem de<br />
produzir outro gene. A nova ciência humana descobre, em<br />
resumo, que a subjetividade humana aparentemente autônoma<br />
não é tanto um sujeito de como um sujeito a, não é tanto<br />
um sujeito que vive no mun<strong>do</strong> como um sujeito ao mun<strong>do</strong>,<br />
ao ponto de a consciência de <strong>ser</strong> sujeito <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> não <strong>ser</strong><br />
mais que um efeito superficial.<br />
Assim, o saber não se elabora como um conhecimento<br />
<strong>do</strong> homem, mas ocupan<strong>do</strong> o lugar que o homem deixou<br />
livre para os objetos. Desse mo<strong>do</strong>, as <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>/<br />
sociais deixam de tratar <strong>do</strong> homem ou <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> para<br />
falar de linguagem, de comportamento, da cultura, da economia,<br />
etc. São <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> na ausência <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong>,<br />
mas não porque pretendam que esse <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> esteja<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
em outro lugar, senão porque para elas ele não existe<br />
absolutamente. Porque se, na realidade, o <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> é,<br />
indubitavelmente, o que é, ou seja, o conjunto de suas<br />
determinações biológicas, psicológicas e sociais, também<br />
é, ao mesmo tempo, um projeto a partir <strong>do</strong> que é capaz de<br />
distanciar-se <strong>do</strong> que é, de ir além <strong>do</strong> comportamento<br />
pauta<strong>do</strong> pela tradição, por exemplo, na invenção, na criação<br />
<strong>do</strong> tipo que for, de maneira que se é somente o que é,<br />
também transcende o que é para o que não é. É, nesse<br />
ponto, que radica a articulação positiva da ciência <strong>do</strong><br />
homem e da filosofia <strong>do</strong> homem e, da mesma forma,<br />
também a crítica da ciência, bem como a fundamentação<br />
antropológica da própria ciência vivem dessa realidade<br />
que acabamos de enunciar.<br />
4 Filosofia <strong>do</strong> homem e ciência <strong>do</strong> homem: articulações<br />
Na linha <strong>do</strong>s enuncia<strong>do</strong>s anteriores, pode-se afirmar<br />
que, enquanto as <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>, ou <strong>do</strong> homem, tratariam<br />
<strong>do</strong> exterior ou somático, a filosofia <strong>do</strong> homem ou antropologia<br />
filosófica se pergunta pelo <strong>ser</strong> <strong>do</strong> homem que possibilita<br />
aquelas manifestações.<br />
Estamos convenci<strong>do</strong>s de que a articulação da filosofia<br />
<strong>do</strong> homem e as <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> precisa <strong>ser</strong> pensada a<br />
partir de postula<strong>do</strong>s radicalmente diferentes <strong>do</strong>s de uma<br />
concepção biologizante, conseguida com base na indução,<br />
ob<strong>ser</strong>vação e experimentação. Não cabe igualmente pensála<br />
desde óticas filosóficas essencialistas ou abstratas,<br />
que se perguntam pelo princípio <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong>, que deve<br />
elevá-lo, em geral, sobre as plantas e os animais, a menos<br />
que essência signifique o <strong>ser</strong> concretamente - o homem de<br />
carne e osso - individualiza<strong>do</strong> em suas qualidades irrenunciáveis.<br />
Somente a a partir desse traço, que constitui o <strong>ser</strong> <strong>humano</strong><br />
como diferencialmente <strong>humano</strong>, pode-se formular a pergunta<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
41
42 Hélio Roque Hartmann<br />
originária da filosofia: quem sou, de onde venho, para<br />
aonde vou?<br />
Por outro la<strong>do</strong>, uma articulação viável e eficaz não<br />
pode querer dar-se a partir de uma integração da filosofia<br />
<strong>do</strong> homem <strong>nas</strong> <strong>ciências</strong> <strong>do</strong> homem ou vice-versa, nem no<br />
senti<strong>do</strong> de uma fundamentação que sobreponha uma à se<br />
com chances positivas, basea<strong>do</strong> em justaposições ou adições<br />
de conhecimentos e enfoques epistêmicos distintos, nem<br />
pela redução da filosofia <strong>do</strong> homem ou antropologia filosófica<br />
à antropologia científica.<br />
Entendemos que a antropologia filosófica não é nem<br />
o conjunto das <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>, nem o conjunto <strong>do</strong>s<br />
princípios de interdisciplinariedade das mesmas. A filosofia<br />
<strong>do</strong> homem deve situar-se em outro nível, no nível filosófico,<br />
que é o nível que se nutre não de fatos, mas de âmbitos<br />
somente nos quais os fatos têm senti<strong>do</strong> e podem ter senti<strong>do</strong><br />
para nós.<br />
Por isso, nada obsta que possamos pensar alguns<br />
princípios unifica<strong>do</strong>res, em nível científico, que, por um<br />
la<strong>do</strong>, <strong>ser</strong>vissem para pensar aquilo que já se realizou <strong>nas</strong><br />
<strong>ciências</strong> sociais e, por outro, aquilo que já se efetivou <strong>nas</strong><br />
<strong>ciências</strong> biológicas. A articulação da filosofia <strong>do</strong> homem<br />
e das <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> não pode-se basear numa<br />
desqualificação, nem de cada uma das <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>,<br />
em particular, nem na desqualificação de sua totalidade,<br />
que, se não é reduzível efetivamente, como não é nenhuma<br />
totalidade aberta, é, contu<strong>do</strong>, possível como programa.<br />
Isso não significa tampouco que a linguagem dessa ciência<br />
tenha que proceder de uma única fonte, já que o fato de<br />
<strong>ser</strong> uma espécie dentro da uma família animal impõe alguns<br />
traços determina<strong>do</strong>s a priori pela região <strong>do</strong> animal da<strong>do</strong>.<br />
Essa linguagem, não obstante, só <strong>ser</strong>á <strong>do</strong> homem na<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
medida em que seja reassumida em um projeto histórico,<br />
social e cultural que transcenda qualquer formulação animal<br />
genérica.<br />
Com essas considerações podemos resumir a articulação<br />
entre filosofia e <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>, indican<strong>do</strong> ainda outro<br />
aspecto ou possibilidade de articulação. Se por um la<strong>do</strong><br />
é acentua<strong>do</strong> o fator teórico contemplativo das <strong>ciências</strong> <strong>do</strong><br />
homem, por outro la<strong>do</strong> nos fica a perspectiva tão importante<br />
ou mais que a anterior, a vertente prática, que precisa <strong>ser</strong><br />
mencionada. Acabamos de dizer que as <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>,<br />
ao congelarem a vida, estão falan<strong>do</strong>, na realidade, da vida<br />
irreal - em representação - ; que o <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> tem que sair<br />
<strong>do</strong> museu e decidir sua vida, viver, e viver é decidir.<br />
A decisão de fazer ciência vem animada por um interesse<br />
prático. Creio que Javier San Martín captou, com perspicácia,<br />
esse ‘background’ prático das <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>: toda<br />
ciência humana representa alguma terapia dela sempre<br />
terminamos esperan<strong>do</strong> remédios; precisamente o afã analítico,<br />
dissolvente e explicativo das <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> responde<br />
no fun<strong>do</strong> à convicção ou crença de que a solução de<br />
nossos problemas passa pelo conhecimento total da realidade<br />
humana, como se a ação moral ou política exigisse previamente<br />
um conhecimento total <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong>. Esse é um mito,<br />
inclusive o mais tenaz de to<strong>do</strong>s os mitos, a idéia de<br />
ciência que um dia revelaria o homem a si mesmo 10 ,<br />
idéia de ciência que tratasse de cobrir-me com o universo<br />
da ciência, o universo de suas proposições, acreditan<strong>do</strong>me<br />
dissolvi<strong>do</strong> nelas, que pensasse, por conseguinte, que<br />
tal conhecimento <strong>ser</strong>ia requisito de qualquer ação. No<br />
fun<strong>do</strong>, isso não é outra coisa que o mito da Ilustração.<br />
Aqui radica a desarmonia tão insistentemente denunciada<br />
pelos filósofos (Heidegger, por exemplo), e escritores de<br />
que, apesar de saber tanto sobre o homem, desconhecemos<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
43
44 Hélio Roque Hartmann<br />
tanto sobre ele. Porque sabemos efetivamente muito com<br />
relação ao que é; o conhecimento <strong>do</strong> homem chegou, hoje<br />
em dia, a limites inabarcáveis, mas ao mesmo tempo<br />
estamos mais cegos que nunca com respeito à autoconsciência,<br />
à capacidade de autodecisão, de criação <strong>do</strong> próprio mun<strong>do</strong>,<br />
posto que a cultura contemporânea está empenhada<br />
justamente em afogar essa ruptura entre o determina<strong>do</strong> e<br />
o indetermina<strong>do</strong> <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong>.<br />
Os problemas <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong>,porém, são problemas<br />
em que palpitam perguntas que não se respondem <strong>nas</strong><br />
<strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>. Frente ao “como” ao que as <strong>ciências</strong><br />
huma<strong>nas</strong> podem responder, a filosofia acrescenta um<br />
inquietante “para que” ao que já não respondem, porque<br />
aquela primeira pergunta questiona nosso “que” somos,<br />
enquanto esta pergunta por “quem” somos.<br />
O argumento básico <strong>do</strong> segun<strong>do</strong> mo<strong>do</strong> de articulação<br />
apresenta<strong>do</strong> entre ciência e filosofia <strong>do</strong> homem afirma que<br />
a filosofia <strong>do</strong> homem é, em verdade, um saber sobre a<br />
indeterminação, <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> enquanto identidade pessoal<br />
e como projeto, que aninha no cenário natural que constitui<br />
o <strong>ser</strong> <strong>humano</strong>. Nesse senti<strong>do</strong>, é função da filosofia dar-nos<br />
a forma de to<strong>do</strong> discurso <strong>humano</strong> 11 , pelo que é ou representa<br />
ao mesmo tempo a fundamentação das <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong>,<br />
pois a ciência se fundamenta unicamente na peculiaridade<br />
<strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> de não <strong>ser</strong> totalmente determina<strong>do</strong>. Todavia,<br />
na medida em que uma ciência seja “humana” não poderá<br />
deixar de mostrar essa forma de to<strong>do</strong> discurso <strong>humano</strong>,<br />
mesmo que seja somente num senti<strong>do</strong> desloca<strong>do</strong> e ainda<br />
desfigura<strong>do</strong>.<br />
Segun<strong>do</strong> isso, o mo<strong>do</strong> de articulação positiva entre<br />
ciência e filosofia <strong>do</strong> homem, implica o entendimento e o<br />
esforço da ciência humana como reconstrução e recuperação<br />
<strong>do</strong> senti<strong>do</strong> 12<br />
. Afinal, parece <strong>ser</strong> um traço básico de to<strong>do</strong><br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
conhecimento <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> o desejo de compreender os<br />
homens e a nós mesmos. Ademais, toda cultura - e dentro<br />
dela a ciência, a filosofia - cumpre uma função e tem um<br />
senti<strong>do</strong>. O senti<strong>do</strong> das <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> lhes advém <strong>do</strong><br />
senti<strong>do</strong> imediato delas mesmas, ancoradas no próprio<br />
senti<strong>do</strong> <strong>do</strong>s outros, porque as <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> são, antes<br />
de tu<strong>do</strong>, conhecimento <strong>do</strong>s homens; primeiro, para interagir<br />
mutuamente e, em segun<strong>do</strong> lugar, para resolver os problemas<br />
da vida humana. A partir <strong>do</strong> problema de base, específico<br />
de cada ciência humana, esta tem que projetar esse campo<br />
de compreensão.<br />
Já, na filosofia <strong>do</strong> homem, toda apropriação de senti<strong>do</strong><br />
tem que <strong>ser</strong> confronta<strong>do</strong> com uma atitude global, que não<br />
pode <strong>ser</strong> discuti<strong>do</strong> somente ou fundamentalmente com<br />
méto<strong>do</strong>s científicos, pois transcende, por seu próprio caráter,<br />
à realidade fática. Quan<strong>do</strong> nos propomos estudar o homem,<br />
ainda que necessariamente devamos partir <strong>do</strong>s homens,<br />
esforçan<strong>do</strong>-nos por compreender as ilusões e expectativas<br />
deles, o que significa compreender seu senti<strong>do</strong>, na realidade<br />
estamos apostan<strong>do</strong> por uma imagem <strong>do</strong> homem, por um<br />
destino <strong>do</strong> <strong>ser</strong> <strong>humano</strong>, cuja validez racional e, portanto<br />
universal , é missão da filosofia verificar, controlar ou<br />
consolidar.<br />
A comparação ou avaliação <strong>do</strong>s diversos senti<strong>do</strong>s, em<br />
que o <strong>ser</strong> <strong>humano</strong> se vive e projeta seu mun<strong>do</strong>, têm como<br />
meta fundar um senti<strong>do</strong>, a partir <strong>do</strong> qual se possa avaliar<br />
to<strong>do</strong>s os demais. Isso exige obviamente uma sociedade<br />
universal emancipada. Na medida em que essa idéia é um<br />
projeto que impulsiona ou dirige a atividade filosófica,<br />
esta é mais que um esboço positivo, é crítica das condições<br />
fáticas <strong>do</strong> senti<strong>do</strong> ou <strong>do</strong>s senti<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s homens.<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
45
46 Hélio Roque Hartmann<br />
5 Notas<br />
1- HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa, p. 101.<br />
2- A partir de uma interpretação sociológica, a filosofia surge com<br />
a passagem de um mun<strong>do</strong> de aldeias no qual vivia um povo (laos),<br />
sumi<strong>do</strong> na tradição mítica, a um povo (demos) em que já não fala<br />
somente um, normalmente aquele que representa sacralmente a<br />
sociedade, mas existe isegoria, o respeito à palavra (Lledó, E. La<br />
memoria del Logos. Madrid: Taurus, 1984, pp.66 e 105).<br />
3 - HUSSERL, E. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología<br />
transcendental, 1962, p. 329.<br />
4 - HUSSERL, E. Op. cit., pp. 329-330.<br />
5- MÉRLEAU-PONTyS, Fenomelogía de la percepción, p. 68.<br />
6 -ORTEGA Y GASSET, J. Qué és filosofía?, p. 62.<br />
7- ORTEGA Y GASSET, J. Op., cit. p.49.<br />
8 -LÉVI-STRAUSS,C.La pensée sauvage, p. 357<br />
9- LÉVI-STRAUSS se reconhece como materialista transcendental<br />
e como esteta; esteta enquanto não considera indecoroso “estudar<br />
os homens como se fossem formigas”. Isso simplesmente coincide<br />
com a atitude científica, pois o fim das <strong>ciências</strong> huma<strong>nas</strong> não é<br />
constituir o homem, mas dissolvê-lo. Porém, “como a mente é<br />
também uma coisa, o funcionamento desta coisa nos instrui sobre<br />
a natureza das coisas” (La pensée sauvage. Paris: Plon, 1962, p.<br />
327-328).<br />
10- DESCHOUX, M., La para<strong>do</strong>xe anthropologique, apud J. San<br />
Martín, El senti<strong>do</strong> de la filosofía del hombre, 1988, p.86.<br />
11- JOLY, J.Y., Comprender el hombre, p. 139.<br />
12- SAN MARTÍN, J. El senti<strong>do</strong> de la filosofía del hombre,p.90.<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999
Hélio Roque Hartmann<br />
6 Referências bibliográficas:<br />
HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa. Madrid:Taurus,<br />
1988.<br />
_____. Ciencia y técnica como ideología. Madrid: Taurus,<br />
1989.<br />
CARRACEDO, J.R. El hombre y la ética. Barcelona: Anthropos,1987.<br />
FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas - una arqueología<br />
de las ciencias huma<strong>nas</strong>. México: Siglo Veintiuno, 1991.<br />
GOMEZ ROMERO, I. Hus<strong>ser</strong>l y la crisis de la razón.Madrid:<br />
Cincel, 1988.<br />
HEIDEGGER, M. Kant y el problema de la metafísica.México:<br />
FCE, 1986, .<br />
HUSSERL, E. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología<br />
trascendental. Madrid: Alfaguara, 1962<br />
JOLIF, J.Y. Comprender el hombre. Salamanca: Sígueme,<br />
1969.<br />
LLEDÓ, E. La memoria del Logos. Madrid: Taurus,1984.<br />
LÉVI-STRAUSS, C. La penssée sauvage. Paris: Plon, 1962.<br />
—————Tristes trópicos. Buenos Aires: Eudeba, 1970.<br />
MARÍAS, J. Razón de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial,<br />
1993.<br />
MÉRLEAU-PONTY. Fenomenología de la percepción.Barcelona:<br />
Península, 1960.<br />
MOREY, M. El hombre como argumento. Barcelona: Anthropos,1987.<br />
ORTEGA y GASSET,J.¿Qué és filosofía? Madri: Revista<br />
de Occidente/Alianza,1995.<br />
SÁENZ DEL CASTILLO, T.O. El <strong>ser</strong> y el hombre. San José<br />
(C.R.): Efa, 1974.<br />
SAN MARTÍN, J. El senti<strong>do</strong> de la filosofía del hombre.<br />
Barcelona: Anthropos, 1988.<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999<br />
47
48 Hélio Roque Hartmann<br />
Ideação, Feira de Santana, n.4, p.25-48, jul./dez. 1999