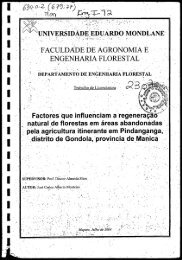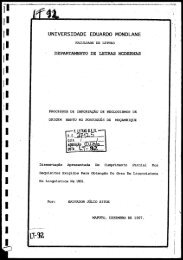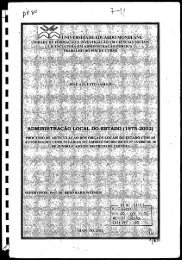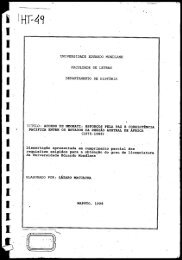universidade de lisboa faculdade de letras mestrado
universidade de lisboa faculdade de letras mestrado
universidade de lisboa faculdade de letras mestrado
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSIDADE DE LISBOA<br />
FACULDADE DE LETRAS<br />
MESTRADO EM LITERATURA PORTUGUESA MODERNA E<br />
CONTEMPORÂNEA<br />
AGOSTINHO MATIAS GOENHA<br />
AS MANIFESTAÇÕES SEMÂNTICAS DAS PERSONAGENS EM PORTAGEM E<br />
EM A ESTRANHA AVENTURA.<br />
TESE DE MESTRADO EM LITERATURA PORTUGUESA MODERNA E<br />
CONTEMPORÂNEA APRESENTADA À FACULDADE DE LETRAS DA<br />
UNIVERSIDADE DE LISBOA<br />
PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM LITERATURAS<br />
ROMÂNICAS
AGRADECIMENTOS<br />
Em primeiro lugar, queria manifestar o meu reconhecimento ao incentivo<br />
inicial dado em Moçambique pela Dr.ª Fátima Mendonça, docente da Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Letras da Universida<strong>de</strong> Eduardo Mondlane, no sentido <strong>de</strong> levar avante este projecto.<br />
A Dr.ª Fátima foi, aliás, a minha primeira orientadora <strong>de</strong>sta mesma tese, em Maputo<br />
(mas para a obtenção do grau <strong>de</strong> Licenciatura), a qual não se concluiu, por motivos<br />
vários. Estendo esta gratidão à Professora Fernanda Angyus, que foi leitora do<br />
Instituto Camões em Maputo, particularmente na Universida<strong>de</strong> Pedagógica, pelo<br />
apoio prestado para a obtenção da bolsa <strong>de</strong> estudos concedida pelo Instituto Camões,<br />
correspon<strong>de</strong>nte à frequência da parte curricular do Mestrado. De uma forma geral,<br />
agra<strong>de</strong>ço a todos os que em Moçambique contribuíram, directa ou indirectamente,<br />
para a efectivação <strong>de</strong>ste meu projecto, em especial, o Magnífico Reitor da<br />
Universida<strong>de</strong> Pedagógica <strong>de</strong> Moçambique, o Professor Doutor Machili.<br />
No que diz respeito a Portugal, não po<strong>de</strong>rei <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> enaltecer o Professor<br />
Doutor Alberto Carvalho que, <strong>de</strong> forma muito empenhada, tornou possível o meu<br />
ingresso na FLUL, tendo-me ajudo a superar todos os obstáculos inerentes às questões<br />
burocráticas relacionadas com a matrícula e a inscrição. Um agra<strong>de</strong>cimento especial,<br />
ainda, pelo facto <strong>de</strong> me ter ajudado a integrar-me no curso e por me ter proposto a<br />
Professora Doutora Maria Lúcia Lepecki para minha orientadora.
Não podia <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> enaltecer a Professora Doutora Maria Lúcia Lepecki, da<br />
FLUL, pela forma sábia, superior e incansável com que se prestou a orientar-me,<br />
tendo-se multiplicado em esforços para me fazer ultrapassar algumas lacunas típicas<br />
<strong>de</strong> um licenciado. Este voto é extensivo a todos os professores da FLUL que<br />
orientaram os Seminários correspon<strong>de</strong>ntes à parte lectiva do Mestrado.<br />
Este trabalho não teria sido possível sem o financiamento do INSTITUTO<br />
CAMÕES, na parte curricular, e do Programa PRAXIS XXI, na parte correspon<strong>de</strong>nte<br />
à Dissertação da Tese: a estas duas instituições vão os meus agra<strong>de</strong>cimentos, sem me<br />
esquecer das funcionárias da Biblioteca Central da FLUL, dos seus vários Institutos,<br />
das várias Bibliotecas públicas <strong>de</strong> Lisboa, <strong>de</strong> todos os colegas e professores da FLUL,<br />
sem os quais talvez este trabalho não se tivesse tornado realida<strong>de</strong>.
Resumo da tese com o título: As manifestações semânticas das personagens<br />
em Portagem e em A Estranha Aventura.<br />
O estudo <strong>de</strong>stes dois textos oferece-se, quer pela sua temática específica, quer<br />
pela abrangência <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> parte da argumentação utilizada, como um espaço <strong>de</strong><br />
reflexão e <strong>de</strong> análise das configurações humanas das personagens, na sua dimensão<br />
semântica, privilegiando-se a temática social, isto é, o conteúdo e não a forma.<br />
No capítulo I, far-se-á a primeira aproximação aos textos do corpus,<br />
analisando a problemática do Narrador, do mundo narrado e das questões <strong>de</strong> discurso.<br />
A voz do Narrador e as vozes das personagens serão vistas no domínio das<br />
autonomias discursivas. No capítulo II, serão analisadas as personagens nas suas<br />
vivências sociais, partindo-se dos grupos sociais, para as específicas relações<br />
familiares. Particular realce será dado à dinâmica das relações <strong>de</strong> parentesco, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as<br />
alianças familiares, às relações <strong>de</strong> consanguinida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> afinida<strong>de</strong>. No capítulo III<br />
serão exploradas algumas questões básicas relacionadas com a problemática dos<br />
Espaços e do Tempo, respectivamente. E, finalmente, no capítulo IV, será apresentada<br />
a conclusão.
ERRATA (corpo da Tese)<br />
On<strong>de</strong> se lê: Leia-se<br />
página 1, linha 21: sócio-cultural sociocultural<br />
página 2, linha 5: terrorristas terroristas<br />
página 2, linha 20: sitema<br />
sistema<br />
página 4, linha 22: literarura literatura<br />
página 5, linha 13: sócio-polítiticos socio-políticos<br />
página 5,linha18:compre<strong>de</strong>rmos compreen<strong>de</strong>rmos<br />
página 5, linha 19: sócio-cultural socio-cultural<br />
página 6, linha 1: recepação recepção<br />
página 6, linha 5: rastrear rastear<br />
página 6, linha 10: comprensão compreensão<br />
página 7, linha 7: Prodadores Prosadores<br />
página 9, linha 15: <strong>de</strong>scordantes discordantes<br />
página 9, linha 22: juri júri<br />
página 21, linha 8: estractos estratos<br />
página 21, linha10: i<strong>de</strong>alogia i<strong>de</strong>ologia<br />
página 23, linha 8: rítmo ritmo<br />
página 25, linha 19: <strong>de</strong>sfazamento <strong>de</strong>sfasamento<br />
página 28, linha16: consi<strong>de</strong>r consi<strong>de</strong>rar<br />
página 37, linha 18: Fervereiro Fevereiro<br />
página 38, linha 1: palvras palavras<br />
página 53, linha16: socias sociais<br />
página 53, linha 18: socio-económicos<br />
página 53, linha 19: “ds”<br />
“mesmam”<br />
sócio-económicos<br />
da mesma<br />
página 60, linha 4: condicionanate condicionante<br />
página 63, linha 4: incosciente inconsciente<br />
página 66, linha 14: homosexualida<strong>de</strong> simbóloica homossexualida<strong>de</strong> simbólica<br />
página 66, linha 17: homosexualida<strong>de</strong><br />
página 66, linha19: mulats Mulatos<br />
homossexualida<strong>de</strong><br />
suprimir
página 67, linha 13: “sua”<br />
“Em”<br />
suas<br />
página 68, linha 11: inserir virgula entre<br />
página 69, linha 11: adveem<br />
«... persegue , as<br />
dificulda<strong>de</strong>s...»<br />
advêm<br />
página 69, linha18: cmpanheira companheira<br />
página 72, linha 3: “se quer” sequer<br />
página 74, linha 8: inserir virgula <strong>de</strong>pois <strong>de</strong><br />
Marandal ,<br />
página 74, linha 18: submisão submissão<br />
página 76, linha 22: inserir vírgula <strong>de</strong>pois <strong>de</strong><br />
companheira,<br />
página 77, linha 18: repercursões repercussões<br />
página 80, linha 9 do rodapé: “Este <strong>de</strong><br />
recrutamento”<br />
Este recrutamento<br />
página 82, linha 2: inserir vírgula <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> em<br />
geral,<br />
página 86, linha 16: inserir vírgula <strong>de</strong>pois <strong>de</strong><br />
problemas,<br />
página 92, linha 9: aflicção aflição<br />
página 94, linha 23: escritors escritores<br />
página 95, linha do rodapé: “vazinhança” vizinhança<br />
página 101, linha 16: fudamentais fundamentais<br />
página 102, linha 1: antepasados antepassados<br />
página 102, linha 4: “todo povo” “todo o povo”<br />
página 105, linha 11: “po<strong>de</strong> tradicional”<br />
linha 8: evi<strong>de</strong>ncir<br />
linha 15: “po<strong>de</strong> central”<br />
po<strong>de</strong>r tradicional<br />
evi<strong>de</strong>nciar<br />
“po<strong>de</strong>r central”<br />
página 110, linha 29:”ferroviàrios ferroviários<br />
página 112, linha 5: “civilivação”<br />
linha 8: miscelânia<br />
página 116, linha?: veêm-na<br />
Civilização<br />
miscelânea<br />
vêem-na
página 117, linha 6: “temporalme” temporalmente<br />
página 119, linha 3: predominantente predominantemente<br />
página 121, linha 5: “intevalo” intervalo<br />
página 123, linha 4: “anlepse” analepse<br />
página 126, linha 6: rastreio<br />
linha 6: comprennsão<br />
linha 8: vivênecias<br />
rasteio<br />
compreensão<br />
vivências<br />
página 127, linha16: “com” como<br />
página 128, linha 2: particuar<br />
linha 23: <strong>de</strong>sfavoridos<br />
Particular<br />
<strong>de</strong>sfavorecidos<br />
página 134, linha 14: Pseudónomo Pseudónimo<br />
página 135, linha 8: ediçõa<br />
linha 12: “Maris Alzira Seixo”<br />
linha 29: Ediçõs<br />
Edição<br />
Maria Alzira Seixo<br />
Edições<br />
página 137, linha 26: “Nacinalida<strong>de</strong>” Nacionalida<strong>de</strong><br />
página 139, linha 23: “Cimbra”<br />
Coimbra
Índice<br />
Introdução----------------------------------------------------------------------------------------1<br />
Capítulo I – Primeira aproximação aos textos: Narrador, narrado e questões<br />
do discurso------------------------------------------------------------------------------------22<br />
. Autonomias discursivas: voz do Narrador e vozes das personagens--------31<br />
Capítulo II - Vivências sociais: do grupo social às específicas relações<br />
familiares----…………..48<br />
. A família alargada--------------------------------------------------------------------91<br />
Capítulo III - Sobre Espaços e Tempos<br />
. O espaço rural-----------------------------------------------------------------------101<br />
. O espaço urbano--------------------------------------------------------------------109<br />
. Tempo e tempos--------------------------------------------------------------------117<br />
Capítulo IV - Conclusão------------------------------------------------------------------126<br />
BIBLIOGRAFIA----------------------------------------------------------------------------134
INTRODUÇÃO<br />
O corpus que constitui o objecto da presente investigação, A Estranha<br />
Aventura e Portagem, <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo e <strong>de</strong> Orlando Men<strong>de</strong>s, respectivamente,<br />
teve como tempo e espaço privilegiados nos seus conteúdos narrativos, o<br />
Moçambique anterior à In<strong>de</strong>pendência Nacional em 1975. Situa-se numa altura em<br />
que este espaço africano estava sob a administração e a jurisdição portuguesas; por<br />
isso, Moçambique era consi<strong>de</strong>rado uma parte (colónia ou província) <strong>de</strong> Portugal, à<br />
semelhança das outras quatro ex–colónias portuguesas <strong>de</strong> África.<br />
Estas obras <strong>de</strong> Orlando Men<strong>de</strong>s e <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo enquadram-se, como<br />
já se referiu, no mesmo contexto espácio-temporal e, mais importante do que isso,<br />
partilham, aproximadamente, as mesmas temáticas. Foram escritas mais ou menos na<br />
mesma época e as primeiras edições foram postas em circulação pela COLECÇÃO<br />
PROSADORES DE MOÇAMBIQUE, por intermédio da Editorial Notícias da Beira<br />
(Moçambique), em 1966 e 1961, respectivamente.<br />
De um modo geral, as obras referidas acima procuram reflectir o culminar <strong>de</strong><br />
um intenso trabalho político-cultural, em Moçambique, ao nível das Letras. No que<br />
diz respeito, particularmente a Guilherme <strong>de</strong> Melo, este produz uma literatura<br />
marcada i<strong>de</strong>ologicamente pela tentativa <strong>de</strong> criar um espaço literário que,<br />
esteticamente, <strong>de</strong>ixa perceber as suas ligações com diversas correntes literárias, em<br />
particular, com o Neo-Realismo Português. No plano da intervenção sócio-cultural e<br />
i<strong>de</strong>ológica, Melo <strong>de</strong>ixa transparecer as suas ligações com o po<strong>de</strong>r colonial em<br />
Moçambique, através do apoio incondicional que prestava ao Governo colonial
vigente na altura. Essa i<strong>de</strong>ologia pro-regime era mais evi<strong>de</strong>nte na sua activida<strong>de</strong><br />
jornalística no diário <strong>de</strong> Notícias <strong>de</strong> Lourenço Marques e no Notícias da Beira, aon<strong>de</strong><br />
manifestava a sua antipatia pelo surgimento e pela dinâmica do Movimento <strong>de</strong><br />
Libertação <strong>de</strong> Moçambique (Frelimo), através <strong>de</strong> reacções repressivas verbais. Na<br />
linguagem oficial da época, os membros <strong>de</strong>sse Movimento eram <strong>de</strong>signados por<br />
turras (termo pejorativo que era uma espécie <strong>de</strong> diminutivo <strong>de</strong> terrorristas). Ainda<br />
que, em termos temáticos se possa dizer que as obras do corpus se assemelham, em<br />
termos i<strong>de</strong>ológicos, Guilherme <strong>de</strong> Melo prossegue um caminho que o afasta da<br />
dinâmica literária <strong>de</strong> Men<strong>de</strong>s. Neste particular, os contos <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo<br />
recolhem, na verda<strong>de</strong>, uma herança secular <strong>de</strong> sofrimento das camadas mais<br />
<strong>de</strong>sfavorecidas do Moçambique colonial, mas não para encontrar a razão e a força <strong>de</strong><br />
luta presente e futura mas, simplesmente, para constatar esse sofrimento e, quando<br />
muito, para lamentá-lo.<br />
Guilherme <strong>de</strong> Melo segue uma trajectória que o afasta da dinâmica literária<br />
local, “nacional” e moçambicana, em que os consi<strong>de</strong>rados verda<strong>de</strong>iros escritores<br />
moçambicanos estão tocados pelos problemas do povo, segundo critérios que, no<br />
quadro da então <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ada luta armada <strong>de</strong> libertação nacional, fundamentaram o<br />
conceito <strong>de</strong> literatura moçambicana. O pressuposto dominante era o da ligação da<br />
literatura à realida<strong>de</strong>, fazendo-se a sua representação, explicando-se assim que todos<br />
os problemas do colonizado mereciam a atenção <strong>de</strong>ssa literatura engajada. Neste<br />
aspecto, Guilherme <strong>de</strong> Melo, por causa da sua opção político-i<strong>de</strong>ológica, não<br />
imprimiu à sua obra, esta dinâmica <strong>de</strong> uma literatura comprometida, <strong>de</strong> <strong>de</strong>núncia do<br />
sitema colonial, integrando elementos exigidos pela revolução. Em consequência<br />
disto e como forma <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstração do seu <strong>de</strong>scontentamento para com a nova<br />
realida<strong>de</strong> que se avizinha, Melo abandona Moçambique em vésperas da
In<strong>de</strong>pendência Nacional do país. Po<strong>de</strong>-se justificar, assim, a não a<strong>de</strong>são, a não<br />
inclusão das suas obras na literatura moçambicana. Aliás, a integração nessa literatura<br />
equivalia na altura a uma i<strong>de</strong>ntificação total com a FRELIMO e com todos os valores<br />
com ela representados. O posicionamento hostil <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo para com o<br />
Movimento <strong>de</strong> Libertação e o abandono do país ditaram o seu afastamento do leque<br />
<strong>de</strong> autores moçambicanos.<br />
Orlando Men<strong>de</strong>s distancia-se, em termos político-i<strong>de</strong>ológicos, <strong>de</strong> Guilherme<br />
<strong>de</strong> Melo. Ainda que em termos temáticos, a obra do corpus <strong>de</strong>ste trabalho estabeleça<br />
algumas semelhanças com a <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo, Orlando Men<strong>de</strong>s surge também a<br />
privilegiar uma literatura marcada i<strong>de</strong>ologicamente pela tentativa <strong>de</strong> criação <strong>de</strong> um<br />
espaço literário “nacional” <strong>de</strong> fortes ligações com o Neo-Realismo. Além disso, após<br />
a In<strong>de</strong>pendência <strong>de</strong> Moçambique, permaneceu no país. Teve uma participação<br />
dinâmica e intensa na área da promoção e da divulgação <strong>de</strong> autores moçambicanos (e<br />
não só) graças a uma activida<strong>de</strong> editorial mais orientada. Segundo Fátima Mendonça<br />
«a constituição em Agosto <strong>de</strong> 1982 da Associação dos Escritores Moçambicanos veio<br />
<strong>de</strong>spoletar uma nova dinâmica na vida literária do país, não só pela sua (<strong>de</strong> Orlando<br />
Men<strong>de</strong>s) própria activida<strong>de</strong> editorial, como pela motivação que suscitou para outras<br />
iniciativas editoriais.» 1 Embora as obras <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> interesse tenham sido, ainda<br />
segundo Fátima Mendonça, «saudadas com entusiasmo pela crítica mais idónea,<br />
Orlando Men<strong>de</strong>s remeteu-se sempre a um discreto silêncio até 1975, não tendo tido<br />
qualquer participação na vida cultural <strong>de</strong> Moçambique para além da que a activida<strong>de</strong><br />
editorial lhe proporcionava.» 2<br />
1 . Fátima MENDONÇA, 1989: XII<br />
2 . Fátima MENDONÇA, 1989: XVI
Após a In<strong>de</strong>pendência, Orlando Men<strong>de</strong>s teve uma participação muito activa<br />
em várias iniciativas <strong>de</strong> carácter cultural promovidas por diferentes instituições. Foi<br />
um dos gran<strong>de</strong>s animadores da vida da Associação dos Escritores Moçambicanos,<br />
aon<strong>de</strong> veio a ser Presi<strong>de</strong>nte do Conselho Fiscal, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a sua fundação até 1987 e,<br />
posteriormente, Presi<strong>de</strong>nte da Assembleia Geral. De certa forma, esta sua trajectória<br />
na vida cultural e literária em Moçambique após a In<strong>de</strong>pendência Nacional terá,<br />
provavelmente, encontrado aceitação por parte <strong>de</strong> um público moçambicano que,<br />
i<strong>de</strong>ntificando-se com as novas condições políticas trazidas pela In<strong>de</strong>pendência, sentia<br />
a literatura engajada como uma voz que reproduzia as suas próprias aspirações,<br />
<strong>de</strong>sejos e memória. Justifica-se assim uma a<strong>de</strong>são quase espontânea na recepção <strong>de</strong><br />
textos cuja temática dominante se centrava sobre a <strong>de</strong>núncia do colonialismo e a<br />
exaltação dos valores que a in<strong>de</strong>pendência trazia. Do mesmo modo se explica a<br />
exclusão <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo e a não recepção das suas obras no Moçambique<br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, por não ter a<strong>de</strong>rido ao projecto <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> uma nova nação, e não<br />
propriamente por causa da sua opção estético-literária ou por causa da temática que,<br />
como se viu atrás, não difere tanto da <strong>de</strong> Orlando Men<strong>de</strong>s (pelo menos nas obras que<br />
constituem o corpus).<br />
Assim, nesta análise procuro mostrar que, não obstante A Estranha Aventura e<br />
Portagem po<strong>de</strong>rem ser integrados na mesma estética literária (neo-realista) e<br />
abordarem temáticas semelhantes, os percursos social, político-i<strong>de</strong>ológico <strong>de</strong><br />
Guilherme <strong>de</strong> Melo e <strong>de</strong> Orlando Men<strong>de</strong>s, respectivamente, fazem com que este<br />
último seja aceite e integrado também na literatura moçambicana (para além da<br />
portuguesa) e o outro, não se enquadre naquela, procurando eu a sua integração na<br />
<strong>de</strong>signada Literarura Portuguesa Ultramarina. António J. Saraiva e Óscar Lopes<br />
enquadram Orlando Men<strong>de</strong>s no conjunto <strong>de</strong> autores portugueses pertencentes ao
ealismo contemporâneo, ainda que, em geral, consi<strong>de</strong>rem alguma literatura<br />
produzida nas ex-colónias <strong>de</strong> particular por, segundo eles, se situar entre as novas<br />
literaturas africanas <strong>de</strong> expressão portuguesa e a literatura colonial. É assim, afirmam<br />
eles, que «há um aspecto particular na evolução do realismo contemporâneo<br />
(português) que precisa <strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rado à parte: o das literaturas africanas <strong>de</strong><br />
língua portuguesa, que estudaremos até à <strong>de</strong>scolonização. Embora as suas<br />
manifestações mais evoluídas se possam classificar <strong>de</strong> neo-realistas e algumas das<br />
obras capitais sejam da segunda meta<strong>de</strong> do século (vinte), o seu <strong>de</strong>senvolvimento<br />
processou-se em condições muito próprias (...).» 3 Estão referidas por estes autores na<br />
mesma obra (História da Literatura Portuguesa), as seguintes obras <strong>de</strong> Orlando<br />
Men<strong>de</strong>s: um romance, Portagem (1965), poesia e pequenas histórias, Produção com<br />
que aprendo (1978) poesia, contos e teatro, País Emerso 1 e 2. 4 Po<strong>de</strong>-se observar, a<br />
partir da constatação feita acima, como os factores extra-literários (sócio-polítitcos e<br />
i<strong>de</strong>ológicos) po<strong>de</strong>m contribuir para a aceitação ou para a exclusão <strong>de</strong> uma obra num<br />
<strong>de</strong>terminado espaço humano, por causa da mudança estrutural e política das condições<br />
<strong>de</strong> vida, neste caso em Moçambique.<br />
Ainda que o objectivo <strong>de</strong>ste trabalho não seja <strong>de</strong> análise biográfica, importa<br />
conhecer minimamente o percurso <strong>de</strong> Melo e <strong>de</strong> Men<strong>de</strong>s para melhor compren<strong>de</strong>rmos<br />
o grau <strong>de</strong> empenho na activida<strong>de</strong> sócio-cultural, literária e até política, antes e <strong>de</strong>pois<br />
da In<strong>de</strong>pendência Nacional <strong>de</strong> Moçambique. Este dado é importante na medida em<br />
que o seu maior ou menor empenho, num e/ou noutro período, condicionou a sua<br />
recepação e a sua integração (ou não) num <strong>de</strong>terminado espaço social e literário.<br />
3 . António J. SARAIVA e Óscar LOPES, 1979: 1157<br />
4 . António J. SARAIVA e Óscar LOPES, 1979: 1157
Assim, o estudo <strong>de</strong>stes dois textos oferece-se, quer pela sua temática<br />
específica, quer pela abrangência <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> parte da argumentação utilizada, como<br />
um espaço <strong>de</strong> reflexão e visa, numa primeira fase, rastrear a biografia <strong>de</strong> Orlando<br />
Men<strong>de</strong>s e <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo, para melhor se po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>svendar os particularismos<br />
estruturais e temáticos, confrontando-os com contextos literários e situacionais do<br />
momento ou anteriores. Deste modo, a metodologia utilizada é baseada,<br />
fundamentalmente, na análise estrutural e semântica dos textos, por um lado, e no<br />
enquadramento histórico-cultural, por outro, o que justifica a referência biográfica dos<br />
autores, para melhor comprensão do seu percurso literário e não só.<br />
Orlando Marques <strong>de</strong> Almeida Men<strong>de</strong>s nasceu a 4 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 1916, na<br />
Ilha <strong>de</strong> Moçambique e morreu no dia 13 <strong>de</strong> Janeiro <strong>de</strong> 1990, em Maputo. Em<br />
Lourenço Marques concluiu o sétimo ano do liceu. Foi funcionário dos Serviços <strong>de</strong><br />
Fazenda até 1944, ano em que seguiu para Portugal on<strong>de</strong>, sendo estudante-<br />
trabalhador, obteve a Licenciatura em Ciências Biológicas pela Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ciências<br />
da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Coimbra. Após a licenciatura, foi Assistente <strong>de</strong> Botânica da<br />
mesma Faculda<strong>de</strong>. De regresso a Moçambique, em 1951, passou a exercer a profissão<br />
<strong>de</strong> fitopatologista. Foi investigador <strong>de</strong> medicina tradicional no Ministério da Saú<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Moçambique. O início da activida<strong>de</strong> literária <strong>de</strong> Orlando Men<strong>de</strong>s remonta aos anos<br />
férteis do neo-realismo. Apontado justamente por Rui Knopfli como a “voz insólita”<br />
que se erguia contra uma poesia que _ após a morte <strong>de</strong> Rui <strong>de</strong> Noronha _ tinha o<br />
exótico por paradigma, é <strong>de</strong> todos os moçambicanos aquele em cuja obra é visível um<br />
percurso pacientemente construído, marcado por elementos que ao longo do tempo se<br />
foram entrosando na construção <strong>de</strong> um espaço moçambicano <strong>de</strong> expressão.<br />
Publicou os seguintes livros: Trajectórias, Coimbra, (edição do autor), 1940;<br />
Clima, Coimbra, (edição do autor), 1959; Depois do 7º Dia, Lourenço Marques,
Publicações Tribuna, 1963, (Col. Cancioneiro <strong>de</strong> Moçambique 2); Portanto Eu vos<br />
Escrevo, Viseu/Portugal, (edição do autor), 1964; Portagem, Romance, Beira,<br />
(Notícias da Beira), 1966, (Col. Prodadores <strong>de</strong> Moçambique). S. Paulo, Ática, 1981<br />
(Col. Autores Africanos); Véspera Confiada, Lourenço Marques, Livraria Académica,<br />
1968; Um Minuto <strong>de</strong> Silêncio,Teatro, Beira, Notícias da Beira, 1970 (Col. Prosadores<br />
<strong>de</strong> Moçambique 7); A<strong>de</strong>us <strong>de</strong> Gutucumbui, Poesia, (Lourenço Marques), Académica,<br />
1974, (Col. O som e o sentido 3); A Fome das Larvas, Poesia, (Lourenço Marques),<br />
Académica, 1975, (Col. O som e o sentido 6); País Emerso I, Poesia, Contos e Teatro,<br />
Lourenço Marques, Empresa Mo<strong>de</strong>rna, 1975; País Emerso II, Poesia talvez<br />
necessária, Maputo, (edição do autor), 1976; Produção Com que Aprendo, poesia e<br />
pequenas histórias, Maputo, Instituto Nacional do Livro e do Disco, 1978; Lume<br />
Florindo na Forja, Maputo, INLD, 1980; Sobre literatura moçambicana, Maputo,<br />
INLD, 1982 (ensaios); Papá Operário Mais Seis Histórias, contos para crianças,<br />
Maputo, INLD, 1980, 2ª ed., 1983 (Col. Chirico); As faces visitadas, Maputo, AEMO,<br />
1985, (Col. Timbila 4); O menino que não crescia, Contos para crianças, Maputo,<br />
INLD,1986 (Col. Chirico 19).<br />
Tem colaboração literária dispersa em O Diabo, Mundo Literário, Seara Nova,<br />
Vértice, Colóquio/Letras e África _ <strong>de</strong> Portugal; Itinerário, Voz <strong>de</strong> Moçambique, A<br />
Tribuna, Caliban, Notícias, Tempo, Charrua e Forja _ <strong>de</strong> Moçambique.<br />
Está representado em várias antologias <strong>de</strong> poesia e prosa <strong>de</strong> Moçambique.<br />
Foi galardoado com os prémios “Fialho <strong>de</strong> Almeida” dos Jogos Florais<br />
Universitários <strong>de</strong> Coimbra (1946) e “1º Prémio <strong>de</strong> Poesia” dos Concursos Literários<br />
da Câmara Municipal <strong>de</strong> Lourenço Marques (1953). 5<br />
5 . Fátima MENDONÇA: XVI-XVIII
O percurso literário e profissional <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo é apresentado <strong>de</strong><br />
forma breve nas contracapas <strong>de</strong> dois romances seus, Raízes do Ódio e A Sombra dos<br />
Dias e da colectânea <strong>de</strong> contos que constitui um dos corpus do presente trabalho: A<br />
Estranha Aventura. Tendo como epicentro Moçambique, as referências sobre<br />
Guilherme <strong>de</strong> Melo caracterizam-se, nas três obras citadas por, implícita e<br />
explicitamente, o integrarem no lote da literatura produzida em Moçambique, o que<br />
não é pacífico por parte dos estudiosos e dos teóricos literários <strong>de</strong> Moçambique.<br />
Aliás, a inclusão <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo na Literatura moçambicana enfrenta ainda<br />
gran<strong>de</strong> resistência e opositores. Não sei se será menos polémico consi<strong>de</strong>rá-lo escritor<br />
intermédio (hesitante entre Portugal e Moçambique), ten<strong>de</strong>ndo a partilhar duas<br />
nacionalida<strong>de</strong>s: a portuguesa, na civil e na literária, e só a moçambicana, na literária.<br />
Talvez seja <strong>de</strong> se reflectir sobre a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se consi<strong>de</strong>rar a sua<br />
literatura (e a dos outros da sua geração) como ultramarina, que se situa entre as ex-<br />
colónias e a ex-Metrópole: seria literatura dúbia, por reflectir duas realida<strong>de</strong>s? Como<br />
se po<strong>de</strong> ver, a sua incorporação num <strong>de</strong>terminado espaço literário, por causa das<br />
contingências políticas, não é pacífica. De qualquer das formas, a sua integração na<br />
literatura portuguesa do ultramar é uma possibilida<strong>de</strong> eventualmente pouco polémica<br />
e é aproximadamente nessa perspectiva que se procurará orientar este estudo,<br />
contrariando <strong>de</strong> certa forma a opinião expressa nos pós-fácios atrás referidos, <strong>de</strong> que<br />
Guilherme <strong>de</strong> Melo é um escritor exclusivamente moçambicano:<br />
«Nascido na antiga Lourenço Marques actual Maputo, Guilherme <strong>de</strong> Melo viveu em<br />
Moçambique até finais <strong>de</strong> 1974, aí realizando, como jornalista e escritor, uma obra notável <strong>de</strong><br />
que se <strong>de</strong>stacam A Estranha Aventura (contos) e As Raízes do Ódio (romance), logo após a<br />
sua publicação apreendida pela ex-Pi<strong>de</strong>. Ao radicar-se em Portugal e retomando a sua<br />
activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> jornalista nos quadros do Diário <strong>de</strong> Notícias _ on<strong>de</strong> é, presentemente, um dos<br />
redactores-editorialistas _ , Guilherme <strong>de</strong> Melo ressurgiu como escritor, <strong>de</strong> forma fulgurante,<br />
exactamente com A Sombra dos Dias, a que se seguiram Ainda Havia Sol (romance) e, há
poucos meses, Moçambique: Dez Anos Depois (reportagem), estas duas obras também com a<br />
chancela da Editorial Notícias.» 6<br />
Em relação à provável apreensão pela Pi<strong>de</strong>, <strong>de</strong> As Raízes do Ódio, há vozes<br />
<strong>de</strong>scordantes <strong>de</strong>sta informação em Moçambique (particularmente <strong>de</strong> Fátima<br />
Mendonça, ainda que não oficialmente), que sustentam que esse romance teria sido<br />
retirado das prateleiras voluntariamente pelo autor, por motivos <strong>de</strong>sconhecidos. Aliás,<br />
seria incoerente a sua retirada, uma vez que, como se disse atrás, ele era um dos<br />
<strong>de</strong>fensores do Regime Colonial.<br />
Raízes do Ódio, primeiro romance <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo, foi editado pela<br />
primeira vez em Moçambique, há quase 40 anos. A segunda edição publicou-se em<br />
Lisboa, sob recomendação, em 1981, do juri do gran<strong>de</strong> prémio literário do Círculo <strong>de</strong><br />
Leitores, uma vez que, em geral as obras produzidas na então África Portuguesa eram<br />
<strong>de</strong>sconhecidas, ou ignoradas, na Metrópole. 7<br />
«Guilherme <strong>de</strong> Melo é um dos nomes mais representativos da nova geração literária<br />
moçambicana, tendo-se consagrado há muito, não obstante ainda, como poeta, contista e<br />
jornalista.<br />
Na activida<strong>de</strong> jornalística, Guilherme <strong>de</strong> Melo foi Chefe <strong>de</strong> Redacção do Notícias <strong>de</strong><br />
Lourenço Marques. Como contista e à parte uma pequena brochura publicada pela Associação<br />
dos Naturais da Província, tem obra dispersa por vários jornais e revistas.<br />
Por iniciativa do Notícias da Beira, edita-se pela primeira vez e a sério A Estranha<br />
Aventura, na colecção PROSADORES DE MOÇAMBIQUE, integrada na <strong>de</strong>signada<br />
literatura portuguesa ultramarina. 8<br />
Consta ainda nas seguintes publicações:<br />
Poetas <strong>de</strong> Moçambique, Lisboa, Casa dos Estudantes do Império, 1960<br />
(Poemas seleccionados por Luís Polanah);<br />
6 . Cf. contra-capa <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo, 1985<br />
7 . Cf. contra-capa <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo, 1990<br />
8 . Cf. capa e contra-capa <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo, 1961
Poetas <strong>de</strong> Moçambique, Lisboa, Casa dos Estudantes do Império,1962<br />
(Antologia organizada e prefaciada por Alfredo Margarido).<br />
Feita uma breve caracterização das biografias dos autores, procurarei<br />
apresentar um panorama sócio-histórico das obras <strong>de</strong> Melo e <strong>de</strong> Men<strong>de</strong>s e, em<br />
seguida, um breve enquadramento teórico, on<strong>de</strong> a tónica dominante será o Neo-<br />
Realismo Português.<br />
No capítulo I, far-se-á a primeira aproximação aos textos do corpus,<br />
analisando a problemática do Narrador, do mundo narrado e das questões <strong>de</strong> discurso.<br />
A voz do Narrador e as vozes das personagens serão vistas no domínio das<br />
autonomias discursivas. No capítulo II, serão analisadas as personagens nas suas<br />
vivências sociais, partindo-se dos grupos sociais, para as específicas relações<br />
familiares. Particular realce será dado à dinâmica das relações <strong>de</strong> parentesco, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as<br />
alianças familiares, às relações <strong>de</strong> consanguinida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> afinida<strong>de</strong>. No capítulo III<br />
serão exploradas algumas questões básicas relacionadas com a problemática dos<br />
Espaços e do Tempo, respectivamente. E, finalmente, no capítulo IV, será apresentada<br />
a conclusão.<br />
Não obstante algumas naturais diferenças, os dois escritores <strong>de</strong> que me<br />
ocuparei, têm em comum o facto <strong>de</strong> terem sido escritores, activida<strong>de</strong> que a exerceram<br />
principalmente em Moçambique, o facto <strong>de</strong> terem exercido (ou ainda exercerem –<br />
caso <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo) a activida<strong>de</strong> literária, tanto em Moçambique, como em<br />
Portugal, o facto <strong>de</strong> terem vivido tanto em Moçambique, como em Portugal e,<br />
fundamentalmente, o facto <strong>de</strong> terem sofrido a influência do Neo-Realismo português e<br />
não só. Esta condição dual <strong>de</strong> escritores como Melo e Men<strong>de</strong>s, tanto vivencial como<br />
na produção literária, veio a criar, com as in<strong>de</strong>pendências dos países africanos, muitos<br />
problemas, tanto ao nível do seu enquadramento jurídico-civil, quanto, a um nível
particular, mas também muito sensível, o da <strong>de</strong>finição da nacionalida<strong>de</strong> literária. Esta<br />
questão da nacionalida<strong>de</strong> não merecerá maiores <strong>de</strong>senvolvimentos, pois não é<br />
objectivo <strong>de</strong>ste trabalho aprofundar esta problemática, para além <strong>de</strong> ser ainda muito<br />
polémica e <strong>de</strong> estar longe <strong>de</strong> reunir consensos.<br />
As in<strong>de</strong>pendências dos países africanos <strong>de</strong> expressão portuguesa vieram, a seu<br />
tempo e até à actualida<strong>de</strong>, agitar novamente um velho problema: o da atribuição da<br />
nacionalida<strong>de</strong> literária, que muitas vezes se verificou e se verifica não coincidir com a<br />
nacionalida<strong>de</strong> política ou com a civil. Neste caso concreto, estes dois autores <strong>de</strong> A<br />
Estranha Aventura e <strong>de</strong> Portagem, serão enquadrados na Literatura Portuguesa<br />
Mo<strong>de</strong>rna e Contemporânea, por se achar que ambos congregam o que se po<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>signar por perfil típico da época em que Moçambique estava integrado na<br />
administração <strong>de</strong> Portugal, consequência lógica da sua condição <strong>de</strong> colónia, do clima<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ias e <strong>de</strong> valores (marcadamente sob influência do Neo-Realismo, no âmbito da<br />
literatura e da doutrina marxista-leninista, no âmbito do pensamento político), em que<br />
os autores viviam e que, <strong>de</strong> certo modo, os aproximava em cada fase da sua<br />
experiência particular.<br />
Sem se preten<strong>de</strong>r alimentar polémicas em torno <strong>de</strong>sta questão da<br />
nacionalida<strong>de</strong> literária (porque, afinal <strong>de</strong> contas, ainda está longe <strong>de</strong> se achar uma<br />
solução e esta investigação não tem sequer, a pretensão <strong>de</strong> apresentar sugestões ou<br />
propostas nessa matéria), é <strong>de</strong>veras importante levantar algumas questões e recordar<br />
velhos problemas que sempre se colocaram em torno <strong>de</strong> escritores que partilharam,<br />
tanto emocional, afectiva, como literariamente, o espaço e a vida espiritual<br />
portugueses e o espaço e a vida material e espiritual africanos. Se é verda<strong>de</strong> que tanto<br />
Orlando Men<strong>de</strong>s, como Guilherme <strong>de</strong> Melo po<strong>de</strong>m ser consi<strong>de</strong>rados escritores<br />
moçambicanos (e o primeiro parece reunir consenso nessa questão, em Moçambique),
não é menos verda<strong>de</strong> que nada obsta a que também sejam consi<strong>de</strong>rados escritores<br />
portugueses integráveis naquilo que se <strong>de</strong>signa por literatura portuguesa<br />
ultramarina. É certo que se está sempre, nestas situações, perante o velho dilema <strong>de</strong><br />
se ter que saber se o legado <strong>de</strong>sta literatura <strong>de</strong>ve ser incorporado na literatura das ex-<br />
colónias, como resultado dos processos das in<strong>de</strong>pendências nacionais, ou se esse<br />
legado <strong>de</strong>ve ser afecto à vasta literatura portuguesa (obe<strong>de</strong>cendo a que critérios?, a<br />
que princípios estético-teóricos?); ou ainda, se <strong>de</strong>ve enriquecer as "duas" literaturas<br />
(ou será que é uma só _ a portuguesa _ mas com ramificações específicas?). Estas<br />
questões e outras afins, nunca foram pacíficas e continuam muito acesas, actualmente,<br />
nos <strong>de</strong>bates da especialida<strong>de</strong>: literatura portuguesa vs literaturas africanas <strong>de</strong><br />
expressão portuguesa. Importante contributo é dado por Gilberto Moura, na sua<br />
<strong>de</strong>finição <strong>de</strong> nacionalida<strong>de</strong> literária, ainda que não apresente soluções à vista, para o<br />
caso africano, e não esgote este assunto sempre controverso:<br />
«São principalmente um espírito nacional que se exprime e a língua que lhe serve <strong>de</strong><br />
suporte, os elementos básicos <strong>de</strong>terminantes da nacionalida<strong>de</strong> literária. O conceito <strong>de</strong> "nação"<br />
está subjacente ao do "espírito nacional". (Para o caso africano) um espírito nacional<br />
(africano) exprime-se numa língua não nacional (ou não originariamente nacional). O que<br />
fazer? (Creio que) <strong>de</strong>ve prevalecer a língua, se o sujeito <strong>de</strong> avaliação, isto é, a obra, é <strong>de</strong><br />
or<strong>de</strong>m predominantemente ou exclusivamente literária; e o espírito nacional, se for <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m<br />
extra-literária, no domínio mais alargado, mais genérico, da cultura. Num sentido restrito, tais<br />
obras serão incluídas numa literatura; num sentido mais amplo, sê-lo-ão, ou não, na cultura<br />
que criou essa literatura.» 9<br />
Observando atentamente o último período da citação, nota-se uma certa<br />
hesitação (compreensível) <strong>de</strong> Gilberto Moura em especificar o "sítio" on<strong>de</strong> <strong>de</strong>vem ser<br />
incluídas essas obras africanas, em <strong>de</strong>terminar em que cultura foram criadas;<br />
especificando: será que, pelo facto <strong>de</strong> Orlando Men<strong>de</strong>s ter vivido muito tempo<br />
(nasceu e morreu em Moçambique) no país do Índico se po<strong>de</strong> afirmar que exprimiu,<br />
nas suas obras, em geral, e em Portagem, em particular, a cultura moçambicana?; será<br />
9 . Gilberto MOURA, 1985: 95-102
conhecedor da realida<strong>de</strong> intrínseca e profunda moçambicana? De qual <strong>de</strong>las? Será que<br />
Guilherme <strong>de</strong> Melo, por ter eleito temáticas moçambicanas em A Estranha Aventura,<br />
incluindo as personagens e as suas vivências e mundividências, po<strong>de</strong> ser integrado,<br />
literariamente no lote dos chamados escritores moçambicanos? Que dizer <strong>de</strong> outras<br />
obras suas produzidas em Portugal (o caso <strong>de</strong> Raízes do Ódio e <strong>de</strong> A Sombra dos<br />
Dias) e, particularmente, daquelas que relevam e revelam a realida<strong>de</strong> sócio cultural e<br />
até literária <strong>de</strong> Portugal? Estas e outras questões dificilmente encontram resposta<br />
(pelo menos até agora) e neste trabalho não têm outra finalida<strong>de</strong> se não chamar a<br />
atenção para a sua reflexão.<br />
A literatura é um fenómeno humano partilhado por todos os povos. Entretanto,<br />
ela não é universal; toda a literatura é regional, radica nos valores, nas tradições, nas<br />
aspirações estéticas das socieda<strong>de</strong>s individuais. Se a problemática da nacionalida<strong>de</strong><br />
literária africana se mostra <strong>de</strong> difícil solução, também se <strong>de</strong>ve acautelar a<br />
problemática em torno da universalida<strong>de</strong> literária, pois estes conceitos<br />
complementam-se: no<br />
universal se incorpora o nacional, o regional, etc.; do nacional se inferem situações<br />
universais. Neste âmbito, Eugénio Lisboa, criticando a questão abusiva da<br />
moçambicanida<strong>de</strong>, apresenta as seguintes interrogações suspensas e as respectivas<br />
reflexões:<br />
«O que é afinal ser-se moçambicano, enquanto poeta? Ter os problemas mais comuns<br />
à gente <strong>de</strong> Moçambique? Quais problemas? Serão esses os únicos legítimos para um poeta<br />
que cá se exprime? Então os problemas universais serão porventura apátridas? (…).<br />
(…) Os problemas universais são problemas <strong>de</strong> todas as pátrias. É simplesmente<br />
ridículo, em relação a alguns génios, por natureza universalistas e não <strong>de</strong>masiado radicados a<br />
um húmus específico, andar a levantar <strong>de</strong>slocadas questões <strong>de</strong> problemática local, a pretexto<br />
<strong>de</strong> um comportamento social que a este tipo <strong>de</strong> homens precisamente se não <strong>de</strong>ve preten<strong>de</strong>r<br />
impor.<br />
Literatura não é sociologia: reflecte, quando muito, emocionalmente, em poetas <strong>de</strong><br />
certo tipo, uma realida<strong>de</strong> social que profundamente os marcou. Po<strong>de</strong>mos pessoalmente, por<br />
temperamento e formação, preferir (uma ou outra); trata-se <strong>de</strong> razões pessoais.
Po<strong>de</strong>r-se-ia, quando muito, avançar um julgamento <strong>de</strong> natureza moral que conferiria<br />
ao poeta comprometido as palmas merecidas por uma generosida<strong>de</strong> mais aberta.» 10<br />
Eugénio Lisboa foi um dos criadores e críticos literários <strong>de</strong> literaturas<br />
africanas <strong>de</strong> expressão portuguesa, em geral, e da moçambicana, em particular, que se<br />
empenhou no seu estudo, na sua análise e teorização. Entretanto, mesmo tendo como<br />
suporte os seus argumentos, dificilmente se consegue i<strong>de</strong>ntificar um critério válido e<br />
consensual para <strong>de</strong>finir com precisão a nacionalida<strong>de</strong> literária. Se o critério aleatório<br />
não parece ser sério, pelo menos o opcional vai valendo por respon<strong>de</strong>r a "razões<br />
pessoais, <strong>de</strong> natureza moral", como <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> Lisboa, 1984: 140.<br />
De um modo geral, principalmente entre os escritores <strong>de</strong> origem e/ou <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scendência portuguesa, os que terminaram por ver África com outros olhos, os<br />
olhos da curiosida<strong>de</strong> intelectual e da afectivida<strong>de</strong> fraternal, foram os que adquiriram<br />
uma experiência e uma vivência africanas, como parece ser o caso <strong>de</strong> Orlando<br />
Men<strong>de</strong>s e <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo. Recuando para o período <strong>de</strong> dominação colonial e<br />
para a então política da Metrópole, verifica-se que o po<strong>de</strong>r central via África como<br />
«uma espécie <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> coutada histórica e mítica do Estado Novo, com o qual os<br />
portugueses nada tinham a ver. Daí o <strong>de</strong>sinteresse clamoroso, generalizado por<br />
intelectuais oposicionistas, incluindo os escritores.» (Cf. nota <strong>de</strong> rodapé nº 7) 11<br />
Inicialmente, os autores africanos, ou que escreviam a partir <strong>de</strong> África,<br />
subsidiários da língua e da literatura portuguesas, vão ao encontro da produção textual<br />
que normalmente se inicia e se <strong>de</strong>senvolve no jornalismo e <strong>de</strong>pois transita para o<br />
texto literário tradicional: o poema, a crónica, o romance. 12<br />
10 . Eugénio LISBOA, 1984: 136-137<br />
11 . Manuel FERREIRA, 1989: 10<br />
12 . São três as condições prévias ao aparecimento <strong>de</strong> todas as literaturas africanas: (i) a eliminação<br />
do tráfico <strong>de</strong> escravos; (ii) a introdução da Tipografia e, consequentemente, da Imprensa e (iii) a
A primeira literatura escrita produzida em Moçambique é essencialmente <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes e/ou <strong>de</strong> portugueses, com todas as características, na temática e na<br />
forma, da que então se produzia em Portugal. A introdução nessas obras <strong>de</strong> alguns<br />
elementos do exotismo, bebidos na observação artificial, quase sempre <strong>de</strong>s<strong>de</strong>nhosa da<br />
paisagem humana e física <strong>de</strong> Moçambique, não altera o carácter estrangeiro <strong>de</strong>ssa<br />
literatura, que se <strong>de</strong>signa por colonial (ou ultramarina; ou ainda portuguesa em<br />
África). Esta literatura incumbe-se também <strong>de</strong> veicular os alibis morais da ocupação<br />
colonial, <strong>de</strong>turpando, <strong>de</strong> certa forma, e mistificando as relações entre colonizadores e<br />
colonizados e criando a ilusão <strong>de</strong> uma interacção cultural pacífica entre as duas partes,<br />
numa contradição insanável.<br />
Só nos meados do século XX a literatura africana atingiu a consciência do<br />
mundo exterior e isso porque uma nova geração <strong>de</strong> escritores reconhecidos (casos <strong>de</strong><br />
Orlando Men<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo, <strong>de</strong> Rodrigues Júnior, <strong>de</strong> José Craveirinha, <strong>de</strong><br />
Noémia <strong>de</strong> Sousa, etc.) escolheu recorrer às línguas europeias. Para ilustrar,<br />
Portagem, <strong>de</strong> acordo com Manuel Ferreira, dá «testemunho <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong><br />
moçambicana compósita _ europeus/portugueses, africanos, mulatos, indianos _ em<br />
que são evi<strong>de</strong>ntes os sinais <strong>de</strong> <strong>de</strong>sintegração do modus colectivo que interliga os seus<br />
elementos: o colonialismo, o mal-estar, a insegurança, a cruelda<strong>de</strong>, o racismo, a<br />
prepotência, são temas comuns das narrativas que apontam para o processo então em<br />
curso.» 13<br />
criação <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> escolar. A evolução da literatura escrita em Moçambique tem uma ligação directa<br />
com o surgimento da Imprensa.<br />
Como anotou Margarido, a imprensa da época «aborda os problemas da burguesia do momento, a<br />
qual (…) se vê muito <strong>de</strong>pressa ultrapassada pelo aparecimento <strong>de</strong> fenómenos económicos consecutivos<br />
à exploração intensiva do país (…). A imprensa colocará, então, o problema da colonização <strong>de</strong><br />
Moçambique (…). Em torno do Jornal Brado Africano, reunir-se-ão com esse objectivo negros,<br />
mestiços, às vezes indianos e mesmo, embora raramente, brancos.» (Alfredo MARGARIDO, 1980: 67)<br />
13 . Tal é o caso do objecto (corpus) <strong>de</strong>ste trabalho e também das obras Nós Matámos o Cão<br />
Tinhoso, Godido e Outros Contos; da poesia tímida <strong>de</strong> Rui <strong>de</strong> Noronha, à contundência <strong>de</strong> José<br />
Craveirinha, <strong>de</strong> Noémia <strong>de</strong> Sousa, para referir alguns nomes da literatura dos anos 60/70, mais ou
Entretanto, é <strong>de</strong> realçar que a literatura escrita moçambicana, em particular, e<br />
a dos PALOP em geral, teve a sua génese na Europa. Não foram poucos os<br />
portugueses que intervieram no processo <strong>de</strong> consciencialização literária e cultural<br />
africano. Neste caso concreto, a corrente literária neo-realista portuguesa e a<br />
i<strong>de</strong>ologia marxista-leninista são as que predominaram nas obras que constituem o<br />
corpus. Em certos casos, alguns estudiosos portugueses <strong>de</strong> Letras emprestaram a sua<br />
contribuição para a formação das literaturas das nações africanas.<br />
A literatura produzida no antigo ultramar português não tinha o costume <strong>de</strong><br />
interessar sectores alargados da intelectualida<strong>de</strong> lusa, fosse essa literatura <strong>de</strong> brancos,<br />
<strong>de</strong> mestiços ou <strong>de</strong> negros. As preocupações <strong>de</strong> índole social ou contra os abusos da<br />
administração, circunscreviam-se a um certo jornalismo e não eram, por norma,<br />
entendidas como tema criativo, ressalvando-se o plano abstracto das i<strong>de</strong>ias liberais.<br />
No texto literário da época, em alguns autores se <strong>de</strong>lineia o sentimento nacional;<br />
excessivo, em muitos casos, não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ter a carga colonial .<br />
O Neo-Realismo surge, no nosso século, como projecção literariamente elaborada<br />
(e para alguns até, mais projecção do que elaboração) do Materialismo Histórico e<br />
Dialéctico, enquanto o Realismo e o Naturalismo aparecem na segunda meta<strong>de</strong> do<br />
século passado. O Realismo valoriza a observação como instrumento <strong>de</strong><br />
conhecimento, conduzindo à análise minuciosa dos costumes; ao mesmo tempo, essa<br />
análise dos costumes constitui o suporte metodológico <strong>de</strong> uma crítica social <strong>de</strong> intuito<br />
reformista, num quadro i<strong>de</strong>ológico anti-i<strong>de</strong>alista e anti-romântico.<br />
O Realismo privilegia uma visão materialista das coisas e dos fenómenos:<br />
confere-se proeminência à realida<strong>de</strong> material e empiricamente verificável. Num<br />
menos consensuais, no que diz respeito à sua aceitabilida<strong>de</strong> na arena internacional e, particularmente,<br />
em Moçambique. (Manuel FERREIRA, 1978: 51)
plano <strong>de</strong> actuação social, o Realismo conexiona-se com correntes <strong>de</strong> pensamento<br />
150-151<br />
<strong>de</strong> índole materialista, nalguns casos, <strong>de</strong> índole socialista.<br />
No que diz respeito ao Neo-Realismo importa referir que o que presi<strong>de</strong> à sua<br />
génese é a dinâmica essencialmente colectivista assumida pelo momento histórico<br />
em que se vivia: a concepção militante da literatura. Acentuou muitas vezes, quer<br />
numa óptica i<strong>de</strong>ológica, quer pelas preferências temáticas manifestadas, o seu<br />
carácter <strong>de</strong> Humanismo renovado. O compromisso social assumido não podia<br />
<strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> envolver uma atenção consi<strong>de</strong>rável relativamente aos elementos<br />
humanos que povoam o universo da ficção encarados como meios <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>monstração <strong>de</strong> um empenhamento e solidarieda<strong>de</strong> activa. Segundo Mário<br />
Sacramento, concretiza-se assim «uma autodialéctica <strong>de</strong> classe pela qual o<br />
escritor, quase sempre <strong>de</strong> origem e interesse pequeno-burguês e urbano, procura<br />
i<strong>de</strong>ntificar-se com as massas trabalhadoras, <strong>de</strong> uma maneira geral rurais.» 14 No<br />
Neo-Realismo, em termos mais concretos, o período preciso em que se situam as<br />
tentativas poéticas que parecem mais significativas para explicarem as suas<br />
opções narrativas, é o correspon<strong>de</strong>nte aos finais dos anos trinta e princípios dos<br />
quarenta, época <strong>de</strong> mais intensa criação teórica neo-realista 15 . O texto tinha que<br />
ser lido numa perspectiva <strong>de</strong> empenhamento e entendimento como proposta <strong>de</strong><br />
aproximação em relação aos problemas concretos do espaço representado.<br />
O Neo-Realismo português, como período literário dotado <strong>de</strong> características<br />
pragmáticas <strong>de</strong>finidas, constituiu-se, como se referiu, no final da primeira meta<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ste século. Ele nutriu-se <strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nadas históricas e sociais. Assim, não<br />
po<strong>de</strong>rão ser ignorados, como elementos motores <strong>de</strong> uma prática literária<br />
14 . Mário SACRAMENTO, Há uma estética Neo-Realista?, p. 50, citado por Carlos Reis, 1983:<br />
15 . Carlos REIS, 1983: 403
empenhada, fenómenos como a crise económica dos anos vinte, a instauração <strong>de</strong><br />
regimes políticos <strong>de</strong> feição totalitária (sobretudo na Itália, na Alemanha, na<br />
Espanha e em Portugal) e, como acontecimento culminante, o <strong>de</strong>flagrar da<br />
Segunda Guerra Mundial.<br />
Os factos anunciados eram manifestações como que superficiais provocadas<br />
por forças <strong>de</strong> base como o acelerar do <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> economias <strong>de</strong> carácter<br />
monopolista, a progressiva industrialização das socieda<strong>de</strong>s oci<strong>de</strong>ntais, com origem<br />
na segunda meta<strong>de</strong> do século, a germinação e posterior amadurecimento <strong>de</strong><br />
conflitos <strong>de</strong> classe irrefreáveis, o incremento dos "mass-média", etc..<br />
O Neo-Realismo português foi influenciado pelo Realismo Socialista. Este<br />
assentava a sua concepção do fenómeno literário numa informação i<strong>de</strong>ológica <strong>de</strong><br />
natureza marxista, favorecida pelas circunstâncias históricas em que surgiu, na<br />
Rússia dos anos 20 e 30. Competia ao Realismo socialista (como movimento<br />
literário historicamente integrado) a tarefa <strong>de</strong> transformação i<strong>de</strong>ológica e <strong>de</strong><br />
educação dos trabalhadores no espírito do Socialismo.<br />
O romance americano dos anos vinte, que privilegia a temática dos <strong>de</strong>serdados<br />
sociais, mas no contexto norte-americano, também influenciou e prece<strong>de</strong>u o Neo-<br />
Realismo. Preocupava-se por questões como a segregação racial, o espírito<br />
competitivo <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> que se pretendia <strong>de</strong>mocrática, a ânsia do lucro e as<br />
distorções <strong>de</strong>la <strong>de</strong>fluentes, os traumatismos provocados pela crise económica do<br />
final dos anos vinte.<br />
Sendo o Neo-Realismo uma nova maneira <strong>de</strong> ver o Mundo, o Homem e os<br />
seus problemas, não podia <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> se reflectir em todas as formas <strong>de</strong> produzir<br />
"objectos artísticos" por via da literatura, do cinema, das artes plásticas, da música<br />
e até através <strong>de</strong> um modo novo <strong>de</strong> reescrever a História, a Filosofia, a Sociologia
e outros temas das Humanida<strong>de</strong>s, bem como das outras ciências. Guilherme <strong>de</strong><br />
Melo e Orlando Men<strong>de</strong>s procuram reflectir em A Estranha Aventura e em<br />
Portagem, respectivamente, as suas vivências em terras africanas, em geral, e<br />
moçambicanas, em particular, colocando em relevo questões relacionadas com o<br />
Homem concreto, nas suas diferenças e especificações. Por outras palavras, há<br />
uma explícita solidarieda<strong>de</strong> por parte do autor com o Homem africano<br />
<strong>de</strong>sfavorecido, segregado da vida; há uma manifesta vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> intervenção<br />
transformadora (prejudicada embora pela dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> a mensagem chegar aos<br />
<strong>de</strong>stinatários potenciais, que seria a maioria da população autóctone <strong>de</strong><br />
Moçambique, quer assimilada, quer simplesmente nativa). Tal como <strong>de</strong>fen<strong>de</strong><br />
Urbano Tavares Rodrigues, o <strong>de</strong>nominador comum <strong>de</strong>sta literatura neo-realista<br />
será «a sondagem das existências "reduzidas" - sua relação com o trabalho, com a<br />
dor, com o amor, sua tomada <strong>de</strong> consciência (manifestada, por exemplo, em<br />
Portagem, através da personagem Xilim) das formas <strong>de</strong> exploração <strong>de</strong> que são<br />
objecto. Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong>stas obras, que entre nós trouxeram para a cena literária os<br />
camponeses, os pescadores, os contrabandistas, os mineiros, terão sido os<br />
romances <strong>de</strong> Gorki e os <strong>de</strong> Steinbeck, os contos <strong>de</strong> Michael Guld, as narrativas<br />
épicas e líricas <strong>de</strong> Jorge Amado.» 16 Se, neste particular, Guilherme <strong>de</strong> Melo, em<br />
A Estranha Aventura, aflora estas temáticas, Orlando Men<strong>de</strong>s, em Portagem,<br />
aprofunda-as, pondo até em <strong>de</strong>staque as precárias condições <strong>de</strong> segurança nas<br />
minas do Patrão Campos, o negócio <strong>de</strong> contrabando protagonizado por este, a<br />
<strong>de</strong>sonestida<strong>de</strong> e a <strong>de</strong>slealda<strong>de</strong> do pescador branco Coxo para com o pescador<br />
artesanal, o mulato Juza.<br />
16 . Urbano Rodrigues TAVARES, 1981: 13-14
Neste contexto, a análise dialéctica das relações humanas <strong>de</strong>ntro do quadro das<br />
relações <strong>de</strong> produção é já muito relevante nos textos <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo e <strong>de</strong><br />
Orlando Men<strong>de</strong>s, vindo a atingir os seus pontos mais altos em escritores mais<br />
progressistas em Moçambique, como Luís Bernardo Honwana, em Nós Matamos<br />
o Cão Tinhoso, José Craveirinha e Noémia <strong>de</strong> Sousa, só para citar alguns<br />
exemplos. É <strong>de</strong> admitir que as obras que constituem o corpus <strong>de</strong>ste trabalho<br />
caibam no conceito do neo-realismo pelo que revelam, a nível sócio-político, da<br />
realida<strong>de</strong> portuguesa no Ultramar, em particular, no Moçambique da Guerra<br />
Colonial e da situação social na Metrópole, abalada com uma gran<strong>de</strong> vaga <strong>de</strong><br />
emigração económica e com o regime Salazarista. Aliás, é <strong>de</strong> realçar que<br />
Portagem e A Estranha Aventura procuram reflectir uma socieda<strong>de</strong> moçambicana.<br />
Nessa mesma socieda<strong>de</strong> (isto é, com os olhos virados para <strong>de</strong>ntro), patenteiam-se<br />
os estractos do mundo do trabalho, das carências primárias, principalmente para<br />
os nativos (a fome, o <strong>de</strong>sejo sexual, a doença, o medo) e ainda da religião, da<br />
moral, dos reflexos da nova i<strong>de</strong>alogia.
CAPÍTULO I - Primeira aproximação aos textos: narrador, narrado e<br />
questões <strong>de</strong> discurso<br />
A análise das questões do discurso do narrador terá como suporte o quadro<br />
teórico interactivo narrador-discurso, em estreita correspondência com o discurso das<br />
personagens.<br />
A problemática do narrador, em qualquer obra que se preten<strong>de</strong> narrativa, é<br />
sempre objecto <strong>de</strong> aturados estudos e, tratando-se <strong>de</strong> um assunto sempre actual, a sua<br />
análise mostra-se sempre pertinente.<br />
Não se preten<strong>de</strong>ndo esgotar esta questão, tem-se como intuito propor algumas<br />
linhas <strong>de</strong> leitura à luz do que nos oferece o corpus.<br />
O narrador po<strong>de</strong> ser visto sob várias perspectivas, uma <strong>de</strong>las sendo a do<br />
narrador literário como um leitor da realida<strong>de</strong> que constitui o objecto da narrativa, do<br />
mesmo modo que qualquer leitor o é em relação ao mundo circundante. Se é verda<strong>de</strong><br />
que qualquer um po<strong>de</strong> ler o mundo conforme o seu posicionamento, a sua visão do<br />
cosmos, etc., não será menos lícito afirmar que a diferença entre um leitor do mundo e<br />
o narrador da ficção está em que este lê o mundo real e objectivo filtrado por mo<strong>de</strong>los<br />
<strong>de</strong> ficcionalida<strong>de</strong> e cria, a partir da leitura, um objecto narrativo a ser lido como<br />
ficção. Este narrador <strong>de</strong>sempenha a dupla função semântica <strong>de</strong> <strong>de</strong>scodificador<br />
(porque leitor) e <strong>de</strong> codificador (porque criador do objecto <strong>de</strong> leitura). Tanto a<br />
<strong>de</strong>scodificação como a codificação se estruturam temporalmente; por essa razão, tal<br />
como po<strong>de</strong>mos falar <strong>de</strong> uma temporalida<strong>de</strong> na apreensão do mundo real, temos<br />
também <strong>de</strong> reconhecer o tempo como categoria fundamental <strong>de</strong> qualquer discurso.<br />
Porque contém tempo, todo o discurso é um «Mundo» - palavra que, neste contexto,<br />
significa totalida<strong>de</strong> e inteireza <strong>de</strong> construção linguística.
Em relação ao mundo narrado é importante saber que tipo <strong>de</strong> informação nos<br />
reserva o texto, ou <strong>de</strong>terminados momentos do mesmo, pois que uma das<br />
características básicas do mundo narrado dos autores do corpus é o relaxamento da<br />
acção, ou o abrandamento e lentidão que vão, obviamente, contaminar a própria<br />
personagem, quiçá o seu espírito. Com esta situação, o próprio discurso narrativo é<br />
afectado, pois não se impõe à personagem adoptar uma postura, o que abranda o rítmo<br />
da sucessão <strong>de</strong> eventos. A narração po<strong>de</strong> ser pausada e até lentamente ritmada. Por<br />
exemplo, no primeiro capítulo <strong>de</strong> Portagem po<strong>de</strong>-se constatar isso: os<br />
acontecimentos, ou melhor, as constatações dos factos centram-se no espaço<br />
ancestral, a al<strong>de</strong>ia abandonada <strong>de</strong> Ridjalembe (simbolizado pelo microcosmos da<br />
palhota e pela velha), que remete para um tempo passado e mítico:<br />
«A velha negra sai da palhota e fecha os olhos doridos pela luz crua do sol.<br />
Depois abre-os lentamente e a boca encasquilha-se-lhe num sorriso<br />
aparentemente sem sentido. No terreiro não há ninguém que lhe faça lembrar<br />
coisas do mundo que está esquecendo. Tudo quanto ela enten<strong>de</strong> do exterior é<br />
aquele ranger medroso dos ramos nus da árvore mirrada, sucedidos pelo vento<br />
quente e vagaroso que passa e se escon<strong>de</strong> na terra.» (Po.: 11)<br />
A velha Alima como que encarna não só essa ancestralida<strong>de</strong>, mas também<br />
esse discurso algo lento, nostálgico, quase que falho <strong>de</strong> acção física, que o narrador<br />
adopta. É o discurso que chamei “relaxado”. O narrador como que abranda o ritmo e,<br />
assumindo valor metafórico, esse abrandamento vai condizendo com a situação <strong>de</strong><br />
solidão e <strong>de</strong> abandono da velha Alima, com a quase total indiferença por parte dos<br />
ex-al<strong>de</strong>ões (que, entretanto, foram para o Marandal, <strong>de</strong>vido à situação <strong>de</strong> seca no<br />
Ridjalembe) em relação às suas raízes, às tradições. Há como que uma rejeição<br />
passiva <strong>de</strong>sse mundo passado (<strong>de</strong> que a emigração para a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Marandal é o<br />
sintoma mais evi<strong>de</strong>nte), reforçada pela esterilida<strong>de</strong> da terra. Não é ainda muito<br />
importante procurar uma explicação acerca das outras razões possíveis que teriam
ocasionado a emigração da povoação <strong>de</strong> Ridjalembe, entretanto, importa referir que a<br />
seca é um factor <strong>de</strong>terminante (mais adiante a questão será retomada):<br />
«Recordando, é <strong>de</strong>pois o mar que lhe aparece, um mar <strong>de</strong> ondas bravias<br />
que foi a fronteira <strong>de</strong> emigração <strong>de</strong> negros para o sul, na gran<strong>de</strong> seca (...). Aí<br />
começou a solidão enorme da velha Alima.» (Po.: 11-12) 17<br />
O ritmo brando não só é proporcionado pelo conteúdo da <strong>de</strong>scrição<br />
do narrador, mas também pela forma como selecciona e usa os tempos<br />
verbais.<br />
É verda<strong>de</strong> que muito se tem dito sobre os tempos verbais e a sua significação<br />
na diegese narrativa, e é certo também que só na base dos tempos dos verbos não se<br />
apren<strong>de</strong> quase nada sobre a temporalida<strong>de</strong> da acção, na narrativa ficcional. Entretanto,<br />
é pertinente realçar que, no presente caso, é justificável a sua convocação para uma<br />
melhor compreensão do fenómeno do mundo narrado.<br />
A literatura está e é feita <strong>de</strong> língua natural e os tempos da literatura não po<strong>de</strong>m<br />
ser algo totalmente diferente dos tempos da linguagem não literária. O contrário<br />
também parece verda<strong>de</strong>: os tempos da linguagem não literária não po<strong>de</strong>m ser algo<br />
completamente diferente dos tempos da obra literária. No mundo narrado, nas obras<br />
do corpus, os Pretéritos Imperfeito e o Perfeito Simples aparecem como sinais<br />
linguísticos indicadores <strong>de</strong> que se está perante uma narração, ou seja, são tempos mais<br />
<strong>de</strong> orientação ocasional da narrativa e não propriamente <strong>de</strong> tensão ou <strong>de</strong> acção. Como<br />
se verá mais abaixo, este tempo narrado é, num aspecto, mais pobre, noutros, mais<br />
rico, pois todo o tempo relatado é um tempo acumulado e, como tal, contém<br />
omissões. O acto em si <strong>de</strong> omitir pressupõe uma <strong>de</strong>terminada selecção, sendo esta, por<br />
17 . Passarei daqui em diante a utilizar, nas citações, as seguintes iniciais<br />
referentes às obras do corpus: A Estranha Aventura (E.A.) e Portagem (Po).
sua vez, fruto da interpretação do narrador. Há uma espécie <strong>de</strong> ciclo vicioso. Veja-se a<br />
seguinte passagem <strong>de</strong> Portagem:<br />
«A velha ainda se lembra <strong>de</strong> que lá longe, a planície se esvai no sopé da serra do<br />
Marrandal. Vieram os brancos com as suas máquinas para abrirem os gran<strong>de</strong>s buracos na terra<br />
e tirar o carvão (...).» (Po: 12)<br />
Repare-se que, <strong>de</strong> entre os vários acontecimentos lembrados pela velha, o<br />
narrador privilegiou o da planície, uma paisagem para ela carregada <strong>de</strong> muito<br />
significado. Aqui o narrador seleccionou o que achou conveniente, omitindo o<br />
restante fluir da memória que a velha verosimilmente po<strong>de</strong>ria ter tido. Se no acto <strong>de</strong><br />
«lembrar» o narrador põe a personagem a actualizar a acção mental, o conteúdo <strong>de</strong>ssa<br />
lembrança é dado no Pretérito Perfeito, precisamente para dar o efeito <strong>de</strong><br />
acontecimento ocorrido num <strong>de</strong>terminado passado. Por outras palavras, há como que<br />
uma tentativa <strong>de</strong> distinguir o acto <strong>de</strong> lembrar em si, como estando a ocorrer no<br />
presente, e aquilo que se lembra, como tendo já, obviamente, ocorrido no passado. É<br />
precisamente este manipular <strong>de</strong> tempos que faz com que Portagem, ainda que relate<br />
factos passados, os torne actuais e, ainda que sejam factos «presentificados», dêem<br />
também informação sobre <strong>de</strong>sfazamento temporal entre lembrança e lembrado.<br />
Não obstante isto, é preciso não per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista que em Portagem estes<br />
tempos, predominantemente do mundo narrado, se encontram em paralelo formal e<br />
em parelha com os tempos do mundo comentado, vivido e vice-versa.<br />
Ao observar as nuances do mundo narrado vê-se que, afinal, um tempo verbal,<br />
numa narrativa, tem como contexto essa mesma narrativa, com todos os seus tempos.<br />
O seu valor <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada obra narrativa no seu todo.<br />
Em A Estranha Aventura também é possível encontrar situações que po<strong>de</strong>m<br />
enquadrar o mundo narrado. No primeiro conto, «A Estranha Aventura», há uma<br />
espécie <strong>de</strong> relato da infância do narrador. Discursivizado, preferencialmente no
Presente do Indicativo, esse relato recupera as suas vivências, <strong>de</strong>screvendo os<br />
acontecimentos ocorridos e caracterizando o espaço físico. Há sempre um tom<br />
monótono, aparentando ausência <strong>de</strong> movimento. Não se dá a ver a dinâmica da<br />
juventu<strong>de</strong> do Narrador, como se se pintasse um quadro pseudo-estático. É curioso<br />
notar que o narrador, em quase três páginas e meia, a contar do princípio, faz pura e<br />
simplesmente a caracterização disfórica do seu bairro <strong>de</strong> infância (a solidão, o<br />
isolamento, o <strong>de</strong>sconhecido ) e, com a precisão <strong>de</strong> um topógrafo ou <strong>de</strong> um urbanista, a<br />
localização do mesmo. Veja-se com que carga irónica:<br />
locativo:<br />
«Claro que vocês não sabem on<strong>de</strong> ficam as Mahotas. É natural: se nasceram<br />
na cida<strong>de</strong> (...). Mas às Mahotas ninguém vai.» (E. A.: 15)<br />
O narrador <strong>de</strong>monstra ter um fino domínio na <strong>de</strong>scrição <strong>de</strong> carácter<br />
«(...) as Mahotas não ficam à beira <strong>de</strong> nenhuma estrada <strong>de</strong> passagem. A<br />
estrada que leva até lá , parte <strong>de</strong> Lourenço Marques e segue em linha recta (15<br />
)»; «(...) as Mahotas resumem-se a vinte casas ferroviárias (...) (16)»; «(...) um<br />
bairrosinho ferroviário branquejando num <strong>de</strong>scampado (...) (16)». « As ruas<br />
são todas <strong>de</strong> alcatrão com pedrisco miúdo em cima (...).» (E.A: 17)<br />
Se se exceptuarem algumas passagens das páginas 27 e 32 do mesmo conto,<br />
po<strong>de</strong>-se constatar a quase ausência <strong>de</strong> dinamismo e, mais precisamente, <strong>de</strong> uma<br />
sequência dialógica. É verda<strong>de</strong> que este narrador, tal como se advertiu, não se coíbe<br />
<strong>de</strong> utilizar o Presente do Indicativo, só que este presente é diferente do do mundo<br />
comentado, <strong>de</strong> «dramatização» dos acontecimentos através da recorrência ao discurso<br />
directo (por exemplo, através do diálogo entre as personagens). Inserido neste<br />
discurso <strong>de</strong>scritivo-caracterizador, este presente procura espelhar a paisagem<br />
verda<strong>de</strong>ira, actualizada, tornando assim credível a informação do narrador. Aliás, o<br />
carácter autobiográfico <strong>de</strong>ste conto também justifica a preferência pelo presente do<br />
indicativo, na primeira pessoa gramatical. Esta é uma das marcas da literatura<br />
autobiográfica.
A problemática da autobiografia coloca outra questão ao nível da autoria do<br />
discurso. Quem se responsabiliza por ele, em A Estranha Aventura, o narrador ou o<br />
autor 18 ? Na verda<strong>de</strong>, Guilherme <strong>de</strong> Melo viveu a sua infância naquele Bairro<br />
Ferroviário. A <strong>de</strong>scrição física correspon<strong>de</strong> às características do mesmo. Mas será isso<br />
suficiente para se dizer que os factos narrados correspon<strong>de</strong>m às vivências reais por ele<br />
tidas naquele bairro isolado? Clara Rocha também trata a dinâmica <strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong><br />
“eu”. 19<br />
Há um aspecto que à primeira vista po<strong>de</strong>rá parecer paradoxal neste mundo<br />
narrado caracterizado, como já se disse, pelo relaxamento da acção e pela lentidão.<br />
Não obstante a lentidão, o narrador adopta uma estratégia que permite a aceleração e a<br />
consequente recuperação dos acontecimentos, recorrendo a resumos e a anacronias.<br />
Assim obtém também o efeito <strong>de</strong> brevida<strong>de</strong> que é característica do conto. Elucida-se<br />
apenas a aceleração dos acontecimentos:<br />
«Já há longos anos que não vou às Mahotas» (18 ); «(...) os primeiros meses<br />
correram e pouco a pouco, o hábito e a adaptação tomaram o lugar da revolta e<br />
do azedume» (19); « Quantos dias, quantas semanas rolaram, <strong>de</strong>pois disso<br />
(...)?» (E. A.: 24)<br />
Para colmatar as lacunas informativas provocadas por longas omissões ou por<br />
resumos, o narrador, sem per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista a característica do seu discurso do mundo<br />
narrado, socorre-se do processo <strong>de</strong> reiteração ou da convocação do discurso anterior,<br />
estabelecendo assim, as pontes entre as várias sequências discursivas e contribuindo<br />
também, não só para uma certa coerência linguística dos elementos, mas também para<br />
18 . Clara ROCHA dá uma resposta, <strong>de</strong> certo modo justificável, quando afirma que «Ao nível do<br />
discurso, a autobiografia po<strong>de</strong> ser entendida como uma recriação em que se fun<strong>de</strong>m memória e<br />
imaginação, uma combinação entre experiência vivida e efabulação.» (1992: 46)<br />
19 . «Nesta perspectiva, a formação do eu através da palavra correspon<strong>de</strong> a um segundo nascimento,<br />
e o sujeito que (se) narra é um outro, um duplo da pessoa real. Esse eu é apenas uma personagem <strong>de</strong><br />
ficção por ser protagonista duma vida da qual o próprio eu não é autor, somente o co-autor.» (Clara<br />
ROCHA, 1992: 46)
a coesão discursiva: «Tudo isto aconteceu não tinha eu <strong>de</strong>z anos, já vos disse, creio.»<br />
(E. A: 30)<br />
Também se nota uma acentuada tendência para o estabelecimento da coerência<br />
entre este narrador autobiográfico e o seu <strong>de</strong>stinatário explicitado (vos), ainda que<br />
in<strong>de</strong>terminado. Este <strong>de</strong>stinatário será o próprio narrador, será o «outro» interlocutor,<br />
ou serão os dois? Há uma forte preocupação em interpelar o interlocutor, em apelar à<br />
sua atenção, o que é uma conseguida forma <strong>de</strong> criar empatia com o texto. Isto quer<br />
dizer que o narrador, neste texto, recorre a uma espécie <strong>de</strong> monólogo dialogante, o<br />
que lhe faculta a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> o texto po<strong>de</strong>r repetir-se a si mesmo, <strong>de</strong> se citar a si<br />
próprio. Também há nele uma tentativa consciente <strong>de</strong> apreensão do passado,<br />
consi<strong>de</strong>rando o domínio da recordação o único <strong>de</strong> conhecimento realmente válido. Há<br />
também que consi<strong>de</strong>r aqui, a existência <strong>de</strong> «uma revelação da personagem feita por si<br />
própria, através do quotidiano, em or<strong>de</strong>m a atingir a sua transparência absoluta, o que<br />
se consegue através do recurso constante à técnica do monólogo.» 20 E é preciso<br />
observar a interpelação do interlocutor, como quando o narrador diz, a dado passo:<br />
«Claro que vocês não sabem on<strong>de</strong> ficam as Mahotas. É natural» (16). « Por sua vez,<br />
vós todos os outros, os que não vivem lá (...) não sabem on<strong>de</strong> ficam as Mahotas.» (E.A.: 16)<br />
O narrador não só se revela a si mesmo, como também chama a atenção do<br />
leitor (ou do interlocutor), convidando-o a partilhar consigo os acontecimentos, a<br />
i<strong>de</strong>ntificar-se até com o seu perfil, com as suas i<strong>de</strong>ias. Isto só é possível na medida em<br />
que uma obra literária, qualquer que seja a mundividência que lhe está subjacente,<br />
preten<strong>de</strong> ser uma transposição da vida. Esta po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rada como que uma<br />
exigência para a participação do leitor na obra. Nesta perspectiva, a evocação<br />
<strong>de</strong>sempenha um papel fundamental, pois «provoca no leitor a impressão mais funda<br />
<strong>de</strong> um distanciamento entre o plano do passado e do presente; por outro lado, ela<br />
20 . Maria Alzira SEIXO, (1984: 12)
aproxima do narrador, sob o ponto <strong>de</strong> vista afectivo, as coisas que já foram». 21 Nestas<br />
modalida<strong>de</strong>s, ou em muitas outras que aparecem ao longo da obra, a segunda pessoa<br />
evocativa funciona como elemento que justapõe o presente ao passado, afirmando-os<br />
na sua interligação <strong>de</strong> um tempo único.<br />
Facto curioso é notar que, tanto em Portagem, como em A Estranha Aventura,<br />
predominantemente, é do presente que os narradores falam, virados para o passado e<br />
comunicando o que <strong>de</strong>sse passado assumem, o que <strong>de</strong>le, através do presente, se lhes<br />
torna actual no instante. Este tipo <strong>de</strong> narrador mantém-se numa constante dialéctica<br />
passado-presente, isto é, mergulha no passado para explicar as origens do presente,<br />
que lhe é, antes <strong>de</strong> mais nada, apreensível. O passado impõe-se como massa<br />
esmagadora, mas o presente, constantemente o encara. O capítulo dois <strong>de</strong> Portagem<br />
mostra isso:<br />
«Com a pá <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira, João Xilim faz guinar a almadia para a ilhota no meio do rio.<br />
De um salto, põe os pés na areia. Despe a camisa (...).» (15)<br />
Mais adiante:<br />
« João Xilim veio para o quintal após esse primeiro encontro com a senhora e a<br />
menina relembrou a história do seu nome.» (16)<br />
Note-se algo similar em A Estranha Aventura:<br />
«Naquela tar<strong>de</strong> (...) Marianita não veio brincar com as outras. Tasquinhou, sem<br />
vonta<strong>de</strong>, a merenda (...).»<br />
E, mais adiante:<br />
« Vejo-a entrar, da ca<strong>de</strong>ira do canto on<strong>de</strong> me sentei há pouco, quando cheguei. Vejoa<br />
entrar e não tenho coragem <strong>de</strong> me levantar (...). Vejo-a entrar e encolho-me mais no meu<br />
canto (...).» (E. A.: 55)<br />
A partir <strong>de</strong>stes exemplos po<strong>de</strong>-se enten<strong>de</strong>r que há, nestas duas obras, dois<br />
planos do passado: um, mais próximo, que se situa ao nível da narrativa e outro, mais<br />
distante, situando-se, ao nível da lembrança. Aliás, Portagem suporta-se basicamente<br />
21 . Vergílio FERREIA, «Um tempo <strong>de</strong> pesquisa », in Maria Alzira Seixo, 1984: 134
por um discurso rememorativo, questão a que voltarei mais adiante. O mesmo não se<br />
po<strong>de</strong>rá dizer <strong>de</strong> A Estranha Aventura, pelo menos na maior parte dos contos.<br />
. Autonomias discursivas: voz do Narrador e vozes das Personagens<br />
No capítulo 17 <strong>de</strong> Portagem verifica-se uma mudança no discurso: há como<br />
que uma responsabilida<strong>de</strong> quase total do narrador, através do recurso ao discurso<br />
indirecto, que diz as falas das personagens. Por vezes, essas pronunciam, no interior<br />
<strong>de</strong> uma extensa sequência narrativa, uma única frase directa, forçando assim a trama<br />
cerrada do discurso do narrador. Atente-se, por exemplo, nas páginas 97, 98 e 99: na<br />
primeira, não há nenhuma intervenção directa <strong>de</strong> uma personagem; na segunda,<br />
encontram-se apenas duas intervenções muitíssimo breves, uma, <strong>de</strong> quatro palavras e<br />
outra, <strong>de</strong> uma palavra apenas; na terceira, apenas uma intervenção em discurso<br />
directo, também numa frase com quatro palavras.<br />
A par <strong>de</strong>sta estratégia, suce<strong>de</strong>m-se, às vezes, às cogitações em discurso<br />
indirecto livre, falas isoladas e únicas da personagem em discurso directo, coroando<br />
um extenso discurso indirecto do narrador. A isso se po<strong>de</strong>m seguir novas<br />
consi<strong>de</strong>rações também respondidas, mas somente através do mesmo processo <strong>de</strong><br />
discurso indirecto livre:<br />
«A sua melhor vingança seria apanhá-los juntos e matá-los ao mesmo tempo. Que<br />
continuassem a pouca vergonha <strong>de</strong>baixo da terra, para não se rirem mais à sua custa. Outro<br />
qualquer esperaria uns dias, até os surpreen<strong>de</strong>r em flagrante. Mas ele não é homem para<br />
esperar. Acabará imediatamente com tudo. Logo que entre em casa.<br />
_ Ah! se eu apanhasse os dois juntos!<br />
Convencera-se <strong>de</strong> que ela seria uma boa esposa (...).» (Po.: 100)<br />
Não se trata aqui <strong>de</strong> diálogo, mas <strong>de</strong> “citação exacta” da fala da personagem<br />
consigo mesma, citação que o discurso indirecto livre da responsabilida<strong>de</strong> do narrador<br />
contextualiza. Esta esporádica intervenção da voz autónoma da personagem talvez
sirva para <strong>de</strong>spertar a atenção do leitor para o carácter «personalizado» da narrativa e<br />
para encurtar a distância temporal entre o presente do narrador e o passado dos<br />
acontecimentos, contribuindo, assim, talvez para uma maior aproximação afectiva<br />
entre o leitor e a personagem. Para tal, este narrador serve-se, como parece claro, do<br />
jogo discursivo que envolve os discursos directo e indirecto e da própria manipulação<br />
das distâncias, através dos jogos com os tempos verbais.<br />
Em relação a A Estranha Aventura, também se manifesta a responsabilida<strong>de</strong><br />
quase total do narrador em dizer as falas das personagens. Essas têm, em geral,<br />
poucas intervenções; <strong>de</strong> qualquer modo, falas das personagens também ocorrem.<br />
Contos como «O Moleque do Violão», «A Estranha Aventura» e «Um tipo<br />
In<strong>de</strong>cente» não apresentam quaisquer marcas <strong>de</strong> discurso directo. Outros chegam a<br />
apresentar apenas três breves intervenções directas das personagens, ou somente uma<br />
curta. Os restantes contos apresentam uma estruturação balançada, ainda que o peso<br />
tenda mais para o predomínio da “voz do narrador”. Neste aspecto, Portagem e A<br />
Estranha Aventura apresentam uma estruturação aproximadamente igual.<br />
Descritas minimamente as características discursivas do mundo narrado nas<br />
obras Portagem e A Estranha aventura, é altura <strong>de</strong> observarmos o “mundo<br />
comentado”.<br />
Como <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> Harald Weinrich 22 , o mundo comentado exige geralmente uma<br />
<strong>de</strong>terminada postura, uma atitu<strong>de</strong> imediata, tais como: uma opinião, uma valoração,<br />
uma correcção ou coisa semelhante. Nota-se na manifestação <strong>de</strong>ste mundo uma certa<br />
atitu<strong>de</strong> tensa por parte das personagens; há, na verda<strong>de</strong>, uma dinâmica, uma vivência<br />
que se traduz num discurso «dramático» das personagens, pois aqui se trata já <strong>de</strong><br />
situações e <strong>de</strong> acontecimentos que as afectam directamente. Para resolver ou enfrentar<br />
22 . Harald WEINRICH, 1974: 51
as adversida<strong>de</strong>s que o mundo da narrativa lhes impõe, as personagens têm que se<br />
mover e têm que agir. O que se po<strong>de</strong> observar é que, na verda<strong>de</strong>, há uma junção entre<br />
o “mundo narrado” e o “comentado”, pois o texto é um todo e a separação dos modos<br />
narrativos <strong>de</strong>ve-se apenas a razões metodológicas.<br />
O diálogo aparece como uma das marcas que <strong>de</strong>terminam a necessida<strong>de</strong> do<br />
comentário do narrador e, por consequência, as manifestações da personagem, a sua<br />
apreciação <strong>de</strong> pessoas e <strong>de</strong> factos permitem uma caracterização e uma avaliação do<br />
mundo.<br />
É verda<strong>de</strong> que, <strong>de</strong> uma maneira geral, o narrador consi<strong>de</strong>rado dramatizado,<br />
aparece integrado na história, isto é, nas narrativas <strong>de</strong> primeira pessoa; mas também<br />
po<strong>de</strong>-se encontrar o ponto <strong>de</strong> vista que tem lugar quando a narrativa é vista através do<br />
espírito <strong>de</strong> uma personagem, que se po<strong>de</strong> <strong>de</strong>signar <strong>de</strong> «dramatizada» na terceira<br />
pessoa. Se se observar o capítulo 10 <strong>de</strong> Portagem, po<strong>de</strong>-se constatar que, não obstante<br />
o facto <strong>de</strong> a narrativa, no seu todo, privilegiar a terceira pessoa, aqui tem-se, em meia<br />
página, uma situação típica <strong>de</strong> dramatização (diálogo, entenda-se) das personagens,<br />
aparecendo o narrador como uma espécie <strong>de</strong> mediador entre os discursos <strong>de</strong> Luísa, do<br />
soldado e <strong>de</strong> Xilim. Neste contexto, o que o narrador está a fazer equivale à didascália<br />
no texto dramático, pois ele está informando sobre a atitu<strong>de</strong> física, psicológica, etc.,<br />
das personagens:<br />
«Luísa <strong>de</strong>mora-se muito tempo na barraca. Quando chega à porta, diz para o soldado<br />
que a espera:<br />
_ Vou morrer cedo, ele falou...<br />
Dá uma gargalhada e saracoteia-se. Olha então para o marido.<br />
_ Ih! Ih! seu rei das minas, já nem fala mais à gente!...<br />
_ Homem <strong>de</strong> vergonha não conhece mulher ordinária como você!<br />
_ Homem <strong>de</strong> vergonha um corno assim?!... Ninguém tá ouvir?... Ah! Ah! Ah!<br />
Mas não ri mais. João Xilim puxa dum punhal (...). O soldado esgueira-se por entre o<br />
grupo <strong>de</strong> curiosos em gritaria. Levam Luísa para o Hospital.» (Po: 62)<br />
Veja-se como, em tão poucas linhas, há uma gran<strong>de</strong> tensão entre as<br />
personagens, associada às reacções das mesmas, num clima <strong>de</strong> confrontação verbal
que culmina na agressão física. Para além disso, ao nível dos tempos, nota-se também<br />
o que se referiu atrás: já não há a diferença temporal entre o presente do narrador e o<br />
passado dos acontecimentos que, normalmente, se verifica nas narrativas <strong>de</strong> primeira<br />
pessoa, pois a narrativa cria a ilusão <strong>de</strong> que os acontecimentos vão ocorrendo à<br />
medida que o narrador toma a ocorrência dos mesmos e os verbaliza; aparenta ser<br />
tudo tão simultâneo, que até parece tratar-se <strong>de</strong> um filme em que o “operador <strong>de</strong><br />
câmara” é o narrador e o objecto da filmagem, as próprias personagens, o cenário e a<br />
acção.<br />
Como <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> Friedman: «o fim primeiro da ficção é produzir a ilusão<br />
completa da realida<strong>de</strong>.» 23<br />
Entretanto, para o caso <strong>de</strong> narrativas como o romance, a novela, o conto, etc.,<br />
esta asserção precisa <strong>de</strong> uma informação complementar pois, pelo seu carácter<br />
informativo, formativo e recreativo, o seu fim primeiro não é tanto produzir uma<br />
ilusão, mas transmitir certos valores, a vários níveis, ainda que seja da natureza <strong>de</strong><br />
certa narrativa produzir a ilusão da realida<strong>de</strong>, e talvez <strong>de</strong> toda a narrativa, mesmo da<br />
que preten<strong>de</strong> colocar em cheque essa ilusão. Neste caso, é preciso não per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista<br />
o facto <strong>de</strong> que o diálogo, crie a ilusão que criar, é representado por um discurso citado<br />
das personagens, que consiste na reprodução fiel, em discurso directo, das palavras<br />
supostamente pronunciadas pela personagem. Este tipo <strong>de</strong> discurso é muito valioso<br />
para a compreensão da semântica das personagens, uma vez que costuma apresentar<br />
marcas que comportam, muitas vezes, traços dialectais, sociolectais, idiolectais, que<br />
contribuem para a caracterização das próprias personagens.<br />
Há uma outra característica do discurso directo que também está patente, tanto<br />
em Portagem, como em A Estranha Aventura. Na generalida<strong>de</strong> dos discursos directos<br />
23 . Françoise Van Rossum-Guyon, Philippe Hammon, Daniele Sallemane, s/d: 30
das duas obras, nos diálogos não se tem propriamente uma conversa corrida entre as<br />
personagens, com princípio, meio e fim; há, isso sim, recortes <strong>de</strong> diálogos que são<br />
completados e até contextualizados pelo narrador. Se, a título experimental, lhes<br />
retirassem as passagens correspon<strong>de</strong>ntes às intervenções do narrador, ficariam, não<br />
propriamente como diálogos, mas como intervenções ocas e, nalguns casos,<br />
<strong>de</strong>sconexas. Veja-se o conto «Jangô», em A Estranha Aventura, mais precisamente o<br />
diálogo entre Jangô e os amigos:<br />
«Jangô estava acocorado no mato, com os outros garotos do bando, os olhos presos na<br />
cantina do Issufo(...):<br />
_ Mas vamos todos ou quê?<br />
_ Todos ele há-<strong>de</strong> esconfiar...<br />
_ Po<strong>de</strong> ir o Jangô, o Paulinho e o Gafanhoto...<br />
_ É melhor...<br />
_ Mas aeu também queria ir!<br />
_Três chega...<br />
O Gafanhoto pôs-se a remexer com um pausinho seco a crosta do esfolão enorme<br />
(...).»<br />
(E.A.: 65)<br />
Esta constatação permite que se concor<strong>de</strong> com Maria Alzira Seixo acerca das<br />
personagens, quando diz que «nas poucas vezes em que <strong>de</strong>paramos com personagens<br />
que falam, várias características se revelam.» 24 Assim aparece-nos muitas vezes a<br />
continuação <strong>de</strong> um princípio <strong>de</strong> diálogo expressa pelo discurso indirecto ou, pelo<br />
contrário, o discurso directo a perseguir a narração feita pelo narrador; outras vezes, o<br />
diálogo é formado por breves réplicas separadas por longos períodos em que o autor<br />
dá conta <strong>de</strong> tudo o que as personagens dizem. Este discurso directo utilizado para a<br />
transmissão dos diálogos efectuados no passado, tal como se notou atrás, dá a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong><br />
que a narrativa é conduzida <strong>de</strong> uma maneira objectiva e que a conversação que se<br />
procura reproduzir é isolada, num contexto temporal <strong>de</strong>finido e até <strong>de</strong>finitivo. Este<br />
24 . Maria Alzira SEIXO, 1984: 23
dado é interessante porque tem a ver com o modo como o narrador manipula a citação<br />
da palavra da personagem.<br />
Em Portagem, as falas dialogadas <strong>de</strong> João Xilim, Jaime, Juza, Luísa, etc., são<br />
raras. Em contrapartida, as falas monologadas, on<strong>de</strong> o próprio narrador se adianta,<br />
respon<strong>de</strong>ndo e esclarecendo, são vivas e operacionais, dando conta das complexas<br />
conjunturas daquele que fala (para si e por si) quando po<strong>de</strong>. Neste caso, o «não dito»<br />
fica por conta do estilo indirecto livre, precisamente, do narrador que procura<br />
esclarecer por suas palavras aquilo que ele acha que a personagem não disse, mas,<br />
supostamente, teria querido dizer, ou aquilo que <strong>de</strong>veria dizer, mas que não chegou a<br />
dizer. Assim, ele nos vai franqueando uma elocução que mergulha no prazer quase<br />
sensual <strong>de</strong> narrar. O narrador não escon<strong>de</strong> o prazer e a emoção que teve em narrar<br />
tendo, talvez por isso, se apropriado das falas das personagens, colocando-as em<br />
discurso indirecto livre. Vejam-se as falas interiores dos mulatos Xilim e Luísa, da<br />
branca Maria Helena, dos negros Isidro e Jaime, todos personagens complexas,<br />
fazendo uso <strong>de</strong> frases breves, sempre coloquial e moçambicanamente. Só<br />
conhecemos as frases indispensáveis (já que o narrador se encarrega <strong>de</strong> dizer e<br />
interpretar os seus pensamentos, sempre através do discurso indirecto) para configurar<br />
mentes em constante tensão interrogativa. Repare-se, por exemplo, no capítulo 9,<br />
numa das várias ocasiões em que Xilim, já casado e em dificulda<strong>de</strong>, fica<br />
<strong>de</strong>sempregado, sendo confortado pelo amigo Rafael.<br />
Entretanto, já no que diz respeito ao diálogo entre Maria Helena e as senhoras<br />
da Cruzada Feminina <strong>de</strong> Socorros Morais, encarregadas <strong>de</strong> proteger moral e<br />
socialmente os<br />
brancos, para que eles possam tornar-se superiores pelos seus exemplos, há como que<br />
uma conversa seca, um diálogo que se resume ao essencial e é suportada por uma
carga <strong>de</strong> ironia muito forte. Há uma troca ágil <strong>de</strong> chavões retóricos por parte das<br />
senhoras da «Cruzada», contra a fala objectiva e enérgica <strong>de</strong> Maria Helena, que se<br />
<strong>de</strong>fen<strong>de</strong> ante a «ajuda» hipócrita prometida.<br />
Um outro aspecto interessante <strong>de</strong> Portagem é que o narrador transfere para a<br />
personagem a responsabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> discursos outros, que não o diálogo oral. E essa<br />
estratégia <strong>de</strong> variação discursiva incute outra dinâmica ao texto, quebrando-lhe uma<br />
possível monotonia. Assim, o narrador, às vezes dá a palavra à personagem,<br />
incumbindo-a <strong>de</strong> exibir a poesia percebida no linguajar quotidiano do povo<br />
moçambicano e <strong>de</strong> dar, ao mesmo tempo, escape aos sentimentos <strong>de</strong> frustração e mal<br />
estar. No primeiro caso, em Portagem, tem-se a personagem Xilim a “falar”, através<br />
<strong>de</strong> um discurso epistolar (legitimado pela carta <strong>de</strong> amor), com o seu amigo Rafael,<br />
numa linguagem com um misto <strong>de</strong> marcas <strong>de</strong> escrita e <strong>de</strong> oralida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> nível <strong>de</strong> língua<br />
popular, a roçar o calão, como se ilustra:<br />
«Kamianato, 10 <strong>de</strong> Fervereiro/ Meu querido amigo eu escrevo estas linhas para dizer<br />
que tou aqui nas mina Jumpers ponto já arangei emprego bom <strong>de</strong> capataz como já tinha<br />
prendido lá no Mrandal não custou pra trabalhar bem aqui, (…).» (Po.: 55)<br />
No segundo caso, através <strong>de</strong> um discurso poético e sem alterar a linguagem<br />
coloquial, na sua expressão lírica (na mesma epístola), o narrador mostra um Xilim<br />
romântico nas palavras amorosas que dirige à sua companheira Luísa (na carta ao<br />
cuidado do amigo Rafael), talvez como consolação pela distância que os separava.<br />
Repare-se no tom emotivo das palvras <strong>de</strong> Xilim, que é dado conhecer através da<br />
leitura <strong>de</strong>ssa carta pelo amigo Rafael:<br />
«Olha peço a você (Rafael) entregar este bilhete pra Luiza (…)»./ «Revira o bilhete<br />
nas mãos. Por fora tem escrito: Escelenticima Senhora Ilustricima minha Senhora D. Luiza<br />
Maulane (Xilim) cuidado meu amigo Rafael. Como o bilhete não estava fechado, Rafael lê:/<br />
Minha querida filhinha e amorzinha Luiza eu escrevo estas linha Deus quere tu não está<br />
doente (…). Filhinha tu é anjo é uma lua cheia é estrela quando trabalho este sorviço nem<br />
tenho mais vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> ficar nesta terra Luiza (…).» (Po.: 55-56)
Carmen L. S. Dias referiu-se à importância <strong>de</strong>ssa carta, notando que ela é «o<br />
momento clímax no panorama precário <strong>de</strong> verbalização directa, é veículo da<br />
interiorida<strong>de</strong> em perturbação, permite a Xilim <strong>de</strong>nunciar ao amigo a sua condição<br />
quase servil e exprimir à Luísa, a efusão amorosa, “agora” também verbalizada» 25 .<br />
Este exemplo da carta aparece como situação única em toda a narrativa. Nela, a<br />
mensagem é vazada na tonalida<strong>de</strong> emotiva e típica da oralida<strong>de</strong>, diferentemente do<br />
discurso coloquial narrado, que abrange o geral da obra.<br />
Se a tonalida<strong>de</strong> emotiva da oralida<strong>de</strong> tipicamente moçambicana também po<strong>de</strong><br />
ser constatada nalguns contos <strong>de</strong> A Estranha Aventura, isso já não se verifica por<br />
«diálogo» entre discursos, como aconteceu na carta, em Portagem, mas ao nível do<br />
próprio discurso narrativo, na expressão ou na verbalização <strong>de</strong> algumas personagens<br />
(cuja condição social é semelhante à do Xilim). Em «Jangô» encontra-se o bando <strong>de</strong><br />
garotos que planeia um assalto à loja do monhé Issufo e a seguinte conversa<br />
elucidativa entre mãe e filho:<br />
« _ Olha, Jangô... Tu onte e hoje não foi na escola...<br />
_ Pois não...<br />
_Porque é qui tu está sempre a fugir da escola?<br />
_ É chatice a escola, mãe!<br />
_ Mas tu não vês qui si não estuda não prestas para nada ? (...).» (EA: 75)<br />
Neste extracto, se é verda<strong>de</strong> que se po<strong>de</strong> inferir a precária condição social das<br />
camadas sociais nativas <strong>de</strong> Moçambique daquele tempo, através <strong>de</strong> dificulda<strong>de</strong>s<br />
sócio-económicas que Jangô enfrenta para continuar com os estudos, também não é<br />
menos verda<strong>de</strong> que essa paupérrima condição social é legível através do<br />
conhecimento do nível <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> da mãe e do filho, espelhado pelo fraco<br />
domínio da língua portuguesa expresso neste diálogo.<br />
25 . Carmen L.S. DIAS, «África», nº 12, 1978: 73
Entretanto, nesta obra <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo, também se encontram variações<br />
<strong>de</strong> discursos. Em «Olhos <strong>de</strong> Marianita» (que é título <strong>de</strong> uma canção popular folclórica<br />
portuguesa) o narrador coloca na voz das colegas <strong>de</strong> Marianita, a perturbação, a<br />
confusão psicológica que reinava na cabeça <strong>de</strong>la, «as imagens soltas a perpassarem-<br />
lhe pela mente» (pág. 53 ), por causa do ambiente enigmático que se vivia em sua<br />
casa. As colegas <strong>de</strong> Marianita cantam para ela em coro mas, na verda<strong>de</strong>, o que ela<br />
ouve são ecos da sua própria mente e das suas alucinações. Há um exercício <strong>de</strong><br />
introspecção que é transfigurado na imagem e na verbalização das colegas, através da<br />
canção. A canção tem um conteúdo contraditório, como confuso é o pensamento da<br />
personagem (menina) e vai metaforizar assim, a ocultação da verda<strong>de</strong>, que<br />
condicionará uma série <strong>de</strong> mal-entendidos na adolescente. Ainda que aparentemente<br />
distinto, entre o conteúdo da canção referida e a história da cegonha voadora que traz,<br />
milagrosamente um bebé, há uma certa parecença, pois ambos põem em causa, por<br />
um lado, a ocultação da verda<strong>de</strong> e, por outro, os tabus e a falibilida<strong>de</strong> da moral <strong>de</strong><br />
algumas fábulas, em particular, e da educação tradicional, em geral.<br />
O autor agrupou os contos <strong>de</strong> A Estranha Aventura em conformida<strong>de</strong> com a<br />
sua temática. Para cada subgrupo, introduziu um texto iniciático a abrir cada um dos<br />
temas. Cada um <strong>de</strong>sses textos é um poema. Assim, para o primeiro subgrupo, tem-se<br />
um poema sem título, <strong>de</strong> estrutura narrativa, ou seja, com categorias narrativas como<br />
personagens, tempo, narrador, etc. Este texto constitui o resumo dos conteúdos dos<br />
contos «Jangô», «O Estranho Amor», e «Os cães ladram lá fora», e funciona como<br />
uma espécie <strong>de</strong> epígrafe <strong>de</strong>senvolvida. No segundo subgrupo, o poema, também sem<br />
título, tal como o anterior, tem como temática predominante a lírico-amorosa, à<br />
semelhança, aliás, dos respectivos contos. No terceiro, a tónica dominante no poema é<br />
a vida social, a condizer com a mensagem que os contos preten<strong>de</strong>m transmitir.
Esta não titulagem dos poemas não é ocasional; ela justifica-se pelo facto <strong>de</strong> se<br />
ter feito tal titulagem em cada página prece<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> cada grupo <strong>de</strong> contos, sendo que<br />
os três títulos «Os contos <strong>de</strong> Infância», «Quatro Histórias <strong>de</strong> amor» e «A vida e os<br />
Homens», se a<strong>de</strong>quam perfeitamente, tanto aos poemas, como aos conjuntos <strong>de</strong><br />
contos. A ausência <strong>de</strong> título legitima também o carácter epigráfico 26 dos poemas.<br />
Estas três epígrafes têm, claramente, uma função temática, pois esboçam pistas <strong>de</strong><br />
leitura particularmente importantes nos planos semântico e pragmático.<br />
Ao fazer o “casamento” entre os dois discursos literários (poesia e prosa) o<br />
narrador procura estabelecer uma certa intertextualida<strong>de</strong> a nível temático-discursivo<br />
(entre os poemas <strong>de</strong> abertura e os respectivos grupos <strong>de</strong> contos), e intra-discursivo<br />
(<strong>de</strong>ntro dos contos que contêm poemas <strong>de</strong> conteúdo lírico, como é o caso <strong>de</strong> «Os<br />
olhos <strong>de</strong> Marianita»).<br />
Como já se referiu, os contos <strong>de</strong> A Estranha<br />
Aventura subdivi<strong>de</strong>m-se em três grupos, com os<br />
seguintes títulos genéricos: «Os contos da infância»,<br />
«Quatro histórias <strong>de</strong> amor» e «A vida e os homens».<br />
«Contos <strong>de</strong> infância» introduz uma série <strong>de</strong> quatro<br />
narrativas que têm nas personagens adolescentes os<br />
gran<strong>de</strong>s protagonistas, incorporando os vários tipos<br />
<strong>de</strong> vivências, <strong>de</strong> sonhos e <strong>de</strong> ilusões <strong>de</strong>sta faixa<br />
etária. Há também a preocupação em diversificar os<br />
tipos <strong>de</strong> camadas sociais representadas, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as<br />
mais mo<strong>de</strong>stas, (como em «Jangô», «O Moleque do<br />
Vilão»), às mais altas (como em «Os Olhos da<br />
Marianita» e, numa dimensão reduzida, em «A<br />
Estranha Aventura»). O subtítulo genérico <strong>de</strong>stes<br />
quatro contos é, imediatamente, seguido por um texto<br />
26 . Epígrafe «texto, normalmente <strong>de</strong> curta extensão, inscrito antes <strong>de</strong> iniciar a narrativa<br />
propriamente dita, uma das suas partes ou um dos seus capítulos. Não constituindo uma prática<br />
exclusiva do modo marrativo, tanto po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong> autoria alheia, como da responsabilida<strong>de</strong> do autor do<br />
relato que ela antece<strong>de</strong>, sendo, no entanto, em cada caso, a sua projecção sensivelmente diversa.»<br />
(Carlos REIS, 1990: 124)
que pertence a um outro discurso literário: o lírico.<br />
Entretanto, convém antes referir que há uma relação<br />
<strong>de</strong> cumplicida<strong>de</strong> semântica entre o poema e o título<br />
dos quatro contos. Este serve para legitimar o poema<br />
que, em termos <strong>de</strong> formas <strong>de</strong> expressão, privilegia um<br />
discurso oralizante, fazendo uma espécie <strong>de</strong> mimese<br />
em relação aos contos tradicionais orais, ou seja, o<br />
poema procura assemelhar-se aos contos tradicionais<br />
orais que são ditos <strong>de</strong> forma cantada (alguns), com<br />
certa rima e musicalida<strong>de</strong>. Este poema é um texto<br />
narrativo em verso, isto é, é um poema com um<br />
discurso diegetizado, contendo as componentes<br />
básicas da narrativa (as personagens, o narrador, o<br />
tempo, etc.). Apresenta um <strong>de</strong>stinatário (narratário)<br />
explícito: «Sentava a gente no colo,/ e a gente logo<br />
dizia» (E.A., 9) que, implicitamente, se po<strong>de</strong> dizer que<br />
é constituído por uma personagem colectiva (a gente),<br />
<strong>de</strong> uma faixa etária jovem. Aliás, tal situação po<strong>de</strong><br />
justificar-se também pelo facto <strong>de</strong> que, na educação<br />
tradicional, esta faixa etária é potencialmente alvo<br />
<strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong> comunicação pois, estas formas orais<br />
<strong>de</strong> transmissão <strong>de</strong> valores, além <strong>de</strong> entreterem, têm<br />
um papel moral, social e, sobretudo, educativo.<br />
Assim, este poema-conto serve para a educação<br />
das novas gerações, pelos mais velhos, simbolizados,<br />
no caso, pela mamana Elisa,<br />
narradora/contadora/educadora dos jovens: «(…) a<br />
gente logo dizia:/ “Conta uma história qualquer,/ conta<br />
lá, mamana Elisa…”» (E.A.: 9). Esta transmissão <strong>de</strong><br />
valores é feita <strong>de</strong> uma forma dialogada: narrador<br />
(contador) e personagens (ouvintes) interagem,<br />
tornando o acto <strong>de</strong> contar mais dinâmico. A moral da<br />
história funciona como o ensinamento fundamental<br />
que cada jovem adquire, que todos compreen<strong>de</strong>m<br />
pois pertencem ao mesmo sistema <strong>de</strong> valores<br />
tradicionais. Mais abaixo, aquando da análise <strong>de</strong> «Os
Olhos <strong>de</strong> Marianita», ver-se-ão algumas limitações, em<br />
parte, <strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong> educação.<br />
Nota curiosa é que o autor teve a preocupação <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stacar, tanto na fala da narradora, mamana Elisa,<br />
como na da personagem colectiva (a gente) um registo<br />
<strong>de</strong> língua popular, fazendo com que houvesse uma<br />
correspondência entre o nível social mo<strong>de</strong>sto, o baixo<br />
nível <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> das personagens e a sua<br />
linguagem, funcionando esta como marcadora e<br />
i<strong>de</strong>ntificadora do estatuto social daquelas. É assim<br />
que se po<strong>de</strong> constatar a cumplicida<strong>de</strong> entre o poema e<br />
os respectivos contos que se seguem. Aliás, à<br />
semelhança do texto lírico/narrativo, as quatro<br />
histórias têm como epicentro as ambições naturais<br />
dos adolescentes, a vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> satisfazer a<br />
curiosida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> protagonizar cenas <strong>de</strong> «aventura».<br />
Mais precisamente, umas procuram <strong>de</strong>screver um<br />
ambiente social hostil aos meninos e às suas ida<strong>de</strong>s,<br />
proibindo-os <strong>de</strong> sonhar _ é o caso <strong>de</strong> «O Moleque do<br />
Violão», <strong>de</strong> «Jangô» _ outras mostram a necessida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> maior aproximação entre adolescentes e adultos,<br />
para se vencerem, <strong>de</strong>ste modo, certos tabus _ é o<br />
caso <strong>de</strong> «Os Olhos <strong>de</strong> Marianita.»<br />
Este poema/narrativa, em relação ao conjunto dos<br />
quatro contos, apresenta-se com a seguinte função:<br />
serve como epígrafe e, mais precisamente, constitui o<br />
resumo, ou a apresentação em miniatura dos contos<br />
«Jangô», «O Estranho Amor» e «Os Cães Ladram lá<br />
Fora», isto em termos <strong>de</strong> representação <strong>de</strong> um cenário<br />
protagonizado por personagens pertencentes a um<br />
estatuto social mo<strong>de</strong>sto e <strong>de</strong>sprovido <strong>de</strong> recursos. 27<br />
Ainda que o referido poema não seja propriamente um<br />
texto curto, no resto serve os propósitos da epígrafe.<br />
27 . A propósito da epígrafe, po<strong>de</strong>-se ter como suporte a <strong>de</strong>finição dada por Carlos Reis,<br />
na nota <strong>de</strong> rodapé n.º26.
Aliás, Guilherme <strong>de</strong> Melo usa esta estratégia<br />
epigráfica também em relação às outras subdivisões.<br />
O segundo subgrupo, que contém também uma série<br />
<strong>de</strong> quatro contos, é introduzido por um título genérico,<br />
«Quatro Histórias <strong>de</strong> Amor», elucidativo do conteúdo<br />
básico <strong>de</strong>ssas narrativas: as várias histórias <strong>de</strong> amor,<br />
vistas pelo autor quase sempre <strong>de</strong> forma disfórica. A<br />
abrir este subgrupo tem-se também um poema lírico a<br />
servir <strong>de</strong> mote aos quatro contos que têm, como já se<br />
disse, na temática do amor, o epicentro. Este poema,<br />
em traços gerais, mostra a <strong>de</strong>scrença do sujeito lírico<br />
em relação ao amor (pelo menos o convencional<br />
homem/mulher). O sujeito lírico convida Desdémona e<br />
Romeu a irem à busca <strong>de</strong> um amor outro, mais livre<br />
como o vento:<br />
«Desdémona do pálido sorriso,/ e tu Romeu, do longo suspirar,/ vin<strong>de</strong> comigo,<br />
caminhando agora/ num outro andar preciso», (…) «Que ele, o amor, o vosso,/<br />
<strong>de</strong> Ofélia ou <strong>de</strong> Natércia, inteiro em si mesmo há-<strong>de</strong> ficar.» (E.A.: 91)<br />
À excepção do último conto, «A trovoada», os outros<br />
problematizam e põem em causa o amor convencional<br />
aceite como socialmente <strong>de</strong>sejável entre o homem e a<br />
mulher e encaminhado no sentido da constituição da<br />
família. O narrador mostra-o sempre como uma<br />
relação falhada. Há como que uma «negação», ou uma<br />
<strong>de</strong>scrença na relação conjugal entre as personagens,<br />
nos contos e do sujeito lírico, no poema. Há uma<br />
espécie <strong>de</strong> outra proposta para um outro tipo <strong>de</strong> amor,<br />
para uma outra forma possível <strong>de</strong> estar e <strong>de</strong> ser.<br />
Repare-se na resposta <strong>de</strong> João Pedro à esposa,<br />
Leonor, no conto «A Porta Fechada», a propósito da<br />
razão que o levou a comprar uma «flat»<br />
clan<strong>de</strong>stinamente, para se evadir da monotonia da<br />
vida conjugal, quando se atinge a saturação em casa:<br />
«_ O que fiz, acredita, <strong>de</strong>zenas e <strong>de</strong>zenas <strong>de</strong> outros homens o <strong>de</strong>sejam, em<br />
cada hora <strong>de</strong> cada dia, fazer também. A diferença resi<strong>de</strong> apenas em que eu tive<br />
a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> o fazer, enquanto a gran<strong>de</strong> maioria dos outros, jamais
encontra essa possibilida<strong>de</strong>. Mas no fundo, bem no fundo <strong>de</strong> si mesmo, cada<br />
homem arrasta sempre, pela vida fora, o sonho frustrado <strong>de</strong> uma porta fechada<br />
que se abre apenas para ele próprio.» (E.A.: 110)<br />
Para completar o quadro, no último subgrupo, «A Vida<br />
e os Homens», o narrador apresenta a mesma<br />
organização estrutural dos contos anteriores. O<br />
poema introdutório apresenta uma espécie <strong>de</strong><br />
antítese, na medida em que, na primeira estrofe, o<br />
sujeito lírico aborda a problemática da vida numa<br />
perspectiva <strong>de</strong> ligação entre a natureza e o além. O<br />
resultado parece ser um vazio:<br />
«Ajoelho-me <strong>de</strong>fronte dos altares/ e os Santos são <strong>de</strong> pedra,/ <strong>de</strong> mármore e <strong>de</strong><br />
pau pintado,/ e escorrem sobre mim/ os gélidos olhares/ das pálpebras vazias.»<br />
(E.A.: 179)<br />
Na última estrofe a vida é vista numa perspectiva<br />
humana, com os seus contrastes, os seus lados belo e<br />
triste:<br />
«Ajoelho-me <strong>de</strong>fronte dos homens,/ das coisas,/ <strong>de</strong> cada mulher parida _ e só<br />
aí eu Te encontro,/ Nosso Senhor Jesus Cristo/ <strong>de</strong> Fome, <strong>de</strong> Frio, da Dor,/ da<br />
Beleza e do Amor,/ e dos Homens/ e da vida.» (E.A.: 179)<br />
Este poema, tal como os anteriores e já referidos, é<br />
também epigráfico e funciona como uma ilustração dos<br />
problemas relatados nos quatro contos que constituem<br />
esta parte: a existência humana, a dignida<strong>de</strong>, as<br />
assimetrias sociais, etc..Todas as três subpartes (e os<br />
doze contos em geral, mais os respectivos poemas<br />
introdutórios) apresentam, no fundo, personagens <strong>de</strong><br />
muita <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> humana, que têm a função <strong>de</strong> pôr em<br />
relevo os gran<strong>de</strong>s problemas das diversas minisocieda<strong>de</strong>s<br />
moçambicanas, po<strong>de</strong>ndo funcionar como<br />
uma parábola das socieda<strong>de</strong>s da época.
O narrador, aliás, mesmo <strong>de</strong>ntro da estrutura narrativa dos contos, procura<br />
sempre incutir poeticida<strong>de</strong> ao seu discurso, enriquecendo-a com uma certa<br />
musicalida<strong>de</strong>, recriando uma ritmicida<strong>de</strong> que é ilustrada, por exemplo, na combinação<br />
gráfica e fónica entre os fonemas dos vocábulos O mar / Omar / Amor, no conto «O<br />
Estranho Amor». O título em si já metaforiza o que entre estas três palavras vai<br />
suce<strong>de</strong>ndo ao longo do mesmo conto: estranhas uniões e <strong>de</strong>suniões provocadas pelo<br />
relacionamento entre Omar e Suleima, ainda que temporário. Suleima é, aliás, a única<br />
“peça” também ela «estranha» na combinação ritmada entre as três anteriores. Veja-<br />
se, a título <strong>de</strong> curiosida<strong>de</strong>, a imagem retórica que resulta do seguinte: o «casamento»<br />
entre Omar e o mar é o resultado do próprio amor do mar para com Omar. Há,<br />
neste caso, por parte do narrador, a preocupação <strong>de</strong> combinar os processos retóricos e<br />
os prosódicos. Isto ainda respon<strong>de</strong> à preocupação <strong>de</strong> quebrar uma possível monotonia<br />
narrativa sendo então, um contributo para o enriquecimento do mundo narrado.<br />
Em muitos casos, quando esta poeticida<strong>de</strong> é enriquecida por algumas figuras<br />
<strong>de</strong> retórica como «a metáfora e a comparação estas <strong>de</strong>sempenham aí um pouco o<br />
papel que a explicação do significado tem no artigo <strong>de</strong> dicionário.» 28<br />
Conforme Françoise Van Rossun-Guyson et alli, in Categorias da Narrativa, a<br />
personagem infeliz situa-se num lugar angustiante e a personagem feliz, num locus<br />
amoenus. Aí tem-se, em gran<strong>de</strong> escala, uma espécie <strong>de</strong> «metonímia narrativa»: em<br />
Portagem, por exemplo, po<strong>de</strong>-se ver o todo (subúrbio <strong>de</strong> Marandal) pela parte (Casa<br />
<strong>de</strong> Caju <strong>de</strong> Maria Helena), «o cenário, pela paisagem, o habitat pelo habitante que é,<br />
talvez próprio em geral, dos autores Realistas.» 29<br />
O discurso da memória, sendo importante nas duas obras que venho<br />
analisando, tem, entretanto, características e implicações diversas em cada uma <strong>de</strong>las.<br />
28 . Françoise VAN ROSSUM-GUY, et al, s/d: 68<br />
29 . Françoise VAN ROSSUM-GUYSON, et ali, s/d: 100
O narrador <strong>de</strong> Portagem confere a responsabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> rememorar às próprias<br />
personagens e, com maior <strong>de</strong>staque, a Xilim, Maria Helena e vovó Alima. Há uma<br />
nítida separação entre narrador e personagens, neste aspecto, funcionando, aquele,<br />
como uma espécie <strong>de</strong> vigilante e controlador do fluir do pensamento retrospectivo das<br />
suas criaturas. Distanciando-se <strong>de</strong>las, este narrador não assume a responsabilida<strong>de</strong><br />
psíquica dos seus «filhos», limitando-se apenas a responsabilizar-se pela sua<br />
exteriorização verbal. Vale-se da sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> observar o fluir do pensamento, da<br />
memória das personagens para, <strong>de</strong>pois, seleccionar a informação precisa para eventos<br />
<strong>de</strong>terminados. Repare-se na seguinte passagem: «João Xulim assiste à vida da gente <strong>de</strong><br />
Marandal como um sonâmbulo. Pergunta a si mesmo o que veio ali fazer (…).» (Po.:<br />
31)<br />
Os momentos rememorados não só servem para recuperar a informação do<br />
passado da personagem, achada pertinente, como também para estabelecerem ligação<br />
entre os vários momentos narrativos. Eles têm, por isso, um carácter anafórico:<br />
reenviam as unida<strong>de</strong>s textuais para unida<strong>de</strong>s disjuntas, já ditas ou ainda por dizer,<br />
reforçando, <strong>de</strong>sta feita, a coerência interna dos eventos e a sua ligação (coesão) ao<br />
conjunto da narrativa. As memórias servem, neste caso, para estabelecer<br />
correlacionações entre essas unida<strong>de</strong>s, dando-lhes sentidos mais globais, pois a escrita<br />
memorialista é também um percurso <strong>de</strong> labirinto: o narrador (ou o eu) «move-se<br />
tacteante nos corredores da sua intimida<strong>de</strong>, do seu psiquismo, ou da sua vida, avança e<br />
volta atrás (...).» 30<br />
30 . Clara ROCHA, 1992: 54
familiares<br />
CAPÍTULO II - Vivências sociais: do grupo social às específicas relações<br />
Nas duas obras do corpus, a movimentação das personagens faz-se <strong>de</strong> modo a<br />
criar complexas relações sociais: há, <strong>de</strong> facto, relações sociais verticais e horizontais.<br />
Dentro <strong>de</strong>ssas relações sociais é que se configuram problemas pessoais.<br />
Por relações sociais horizontais enten<strong>de</strong>-se aquelas configuradas <strong>de</strong>ntro do<br />
meio a que as personagens pertencem. Estas relações po<strong>de</strong>m ser vistas e analisadas<br />
tanto na classe pobre, quanto na classe média e na alta. Po<strong>de</strong>m situar-se na primeira<br />
categoria, a título ilustrativo, os contos «Os Cães Ladram lá Fora» e «O Estranho<br />
Amor»; e na segunda, «Os Olhos da Marianita» e «A Porta Fechada».<br />
Em «Os olhos da Marianita», conto narrado na primeira pessoa, tem-se a<br />
elucidação <strong>de</strong> relações sociais horizontais na classe média ou alta. É retratada a<br />
vida doméstica <strong>de</strong> uma família citadina, cuja dona <strong>de</strong> casa (mãe; esposa) estava na<br />
iminência <strong>de</strong> dar à luz uma criança. É problematizada a questão da revelação ou não,<br />
às crianças, da verda<strong>de</strong> sobre o nascimento e a morte, tendo como base uma história<br />
caricata em torno da lenda da cegonha sobre o nascimento das crianças. A morte<br />
(inferida) da mãe <strong>de</strong> Marianita, aquando do parto, prova a limitação <strong>de</strong> certos<br />
processos tradicionais <strong>de</strong> ensinamento e <strong>de</strong> transmissão <strong>de</strong> conhecimentos<br />
consi<strong>de</strong>rados tabus numa <strong>de</strong>terminada socieda<strong>de</strong> (como o nascimento e a morte) e o<br />
embaraço que cria a ocultação <strong>de</strong>ssa verda<strong>de</strong>, quando se está perante situações<br />
imprevistas na or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> valores tradicionais ou não. O embaraço manifesta-se<br />
precisamente pelo facto <strong>de</strong>, na história fantástica sobre o nascimento <strong>de</strong> crianças a<br />
partir da lenda da cegonha, não estar contemplada a probabilida<strong>de</strong> da eventualida<strong>de</strong><br />
da morte da criança, em casos excepcionais. Perante o dilema causado pela morte,
tanto da mãe da Mariana, como da criança, os familiares da adolescente viram-se<br />
numa situação embaraçosa e <strong>de</strong> difícil explicação.<br />
Marianita é a garota curiosa (típico da ida<strong>de</strong>) em saber o que se passa à sua<br />
volta e, neste caso, em casa, em torno da mãe que está na iminência <strong>de</strong> trazer à luz<br />
uma criança. A curiosida<strong>de</strong> <strong>de</strong>la é insatisfeita com uma resposta que a põe mais<br />
indignada ainda: a história da cegonha que vai trazer uma criança. A sua estranheza,<br />
indignação e expectativa, levam-na à ansieda<strong>de</strong>. A curiosida<strong>de</strong> satisfá-la sozinha,<br />
quando se apercebe da morte da mãe, aquando do parto e por causa da não chegada da<br />
prometida cegonha, isto perante a impotência e a mu<strong>de</strong>z forçadas do tio e do pai, por<br />
tal situação lhes ter criado um gran<strong>de</strong> embaraço, a dois níveis: em relação à morte em<br />
si e em relação à garota, que exigia uma explicação para o mistério sigilosamente<br />
ocultado. Neste contexto, po<strong>de</strong>-se afirmar que a função da Marianita é a <strong>de</strong><br />
problematizar a questão do tabu em torno do nascimento e da morte, as<br />
dificulda<strong>de</strong>s em usar uma linguagem a<strong>de</strong>quada e apropriada às crianças. Mas no<br />
fundo está-se perante a atribuição do papel <strong>de</strong> transmissor <strong>de</strong> valores sociais, morais<br />
e éticos à educação tradicional oral, através <strong>de</strong> histórias lendárias, <strong>de</strong> fantasias, <strong>de</strong><br />
provérbios, tudo por via indirecta, transmissão essa que é feita através <strong>de</strong> mensagens<br />
aproximativas. Está <strong>de</strong>monstrada a limitação <strong>de</strong>ste processo educativo, a <strong>de</strong>lica<strong>de</strong>za<br />
em lidar com o tema da morte, fora <strong>de</strong> preconceitos. Nota interessante é o facto <strong>de</strong> o<br />
narrador, através da canção, colocar nas vozes das colegas <strong>de</strong> escola da Marianita, as<br />
suas (<strong>de</strong> Marianita) próprias imaginações e até visões contraditórias, provocadas pelo<br />
cenário que se vive em sua própria casa. Essa falta <strong>de</strong> verda<strong>de</strong> punha-a perturbada,<br />
confusa; veja-se a resposta imaginária (afinal é um monólogo!) que ela dá aos<br />
colegas:<br />
«Mentira! Mentira!… Os meus olhos não são nada ver<strong>de</strong>s…São castanhos, olhem,<br />
são castanhos!…
Não. Naquela tar<strong>de</strong>, silenciosa e absorta ao canto da varanda, Marianita não veio<br />
brincar com as outras. Tasquinhou sem vonta<strong>de</strong>, a merenda, imagens soltas a perpassarem-lhe<br />
pela mente, na evocação da balbúrdia <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>nada que reinava em casa, quando abalou para a<br />
escola: o quarto da mãe fechado; o pai passeando, agitado, <strong>de</strong> um lado para o outro; a tia<br />
chegando apressada <strong>de</strong> sua casa, aon<strong>de</strong> a foram buscar. E ela, a Marianita, muito tonta, muito<br />
apatetada nos seus sete anitos ingénuos, perdida naquela confusão estranha que quer<br />
compreen<strong>de</strong>r e não consegue.» (E. A.: 53)<br />
Porque envolta numa verda<strong>de</strong> oculta, ou numa inverda<strong>de</strong>, porque lutadora pela<br />
conquista <strong>de</strong>ssa verda<strong>de</strong>, a Marianita po<strong>de</strong> ser vista como a própria metáfora da<br />
procura da verda<strong>de</strong>. Harald Weinrich corrobora este posicionamento. 31<br />
«Os Cães ladram lá fora» oferece a ilustração <strong>de</strong> relações sociais horizontais<br />
na classe pobre. É a história da mulata Lucinda, perseguida pelos azares da vida<br />
passada, estigmatizada na mulata leviana que foi sua mãe, forçada por circunstâncias<br />
sócio-económicas a seu <strong>de</strong>sfavor. Lucinda, filha <strong>de</strong> pai incógnito branco, segue<br />
involuntariamente e como fatalida<strong>de</strong> o caminho da sua mãe. Teve filhos com<br />
diferentes homens (um branco e um mulato); foi mulher/mercadoria por se ter visto<br />
obrigada a prostituir-se; teve uma vida errante, <strong>de</strong> privações e <strong>de</strong> carências. Como se<br />
não bastasse este quadro negro, o filho mulato, não obstante ter tido uma formação<br />
profissional elementar, também seguiu o triste caminho «traçado» para a sua raça:<br />
uma vida marginal, entremeada com gatunagem, vícios e ódios, como consequência<br />
da dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> inserção numa socieda<strong>de</strong> que lhe é hostil. Esse seu modo duvidoso<br />
<strong>de</strong> vida culminou com uma <strong>de</strong>sfeita que aprontou à própria mãe: ludibriou-a, ao<br />
orquestrar a história da viagem.<br />
De um modo genérico, po<strong>de</strong>-se dizer que há, neste conto, como epicentro, as<br />
raças branca, negra e, sobretudo, mestiça; estas duas últimas, pre<strong>de</strong>stinadas a uma<br />
vida <strong>de</strong> penúria, <strong>de</strong> pobreza, <strong>de</strong> infi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong>, na visão do narrador, precisamente<br />
31 . «Na metáfora mantém-se a tensão entre a significação própria (entendida como expectativa<br />
<strong>de</strong> uma <strong>de</strong>terminação) e a <strong>de</strong>terminação verda<strong>de</strong>ira no contexto concreto, a qual é <strong>de</strong> sentido oposto à<br />
expectativa. Essa tensão constitui o encanto da metáfora.» (Harald WEINRICH, 1974: 140)
encarnada pela figura da mulata (ou do mulato) vista como símbolo da imoralida<strong>de</strong><br />
(em termos conjugais) e como objecto <strong>de</strong> uso, <strong>de</strong> lazer e <strong>de</strong> prazer sexuais. O mestiço<br />
é o produto do cruzamento <strong>de</strong> duas e até <strong>de</strong> três raças; é mais rejeitado pelo branco e<br />
acolhido pelo negro. É caso para se dizer que se trata <strong>de</strong> uma contradição na união.<br />
Aliás, em Portagem, Orlando Men<strong>de</strong>s conseguiu explorar com maior profundida<strong>de</strong><br />
esta problemática e po<strong>de</strong>-se constatar certa semelhança entre o que se passa em «Os<br />
Cães Ladram lá fora» e o que ocorre com Xilim, em Portagem. De tão próximos que<br />
estão os ambientes sociais caracterizados e retratados nas duas obras, evocando a<br />
questão da raça, po<strong>de</strong>-se afirmar que se está perante uma afinida<strong>de</strong> temática entre as<br />
duas obras. Dificilmente os autores po<strong>de</strong>riam ignorar esta temática pois, na época a<br />
que remontam as obras, a realida<strong>de</strong> retratada não só era evi<strong>de</strong>nte, como também era<br />
claramente vivida, visível e sentida. O narrador <strong>de</strong> Portagem esclarece melhor o fim<br />
reservado ao negro e ao mulato em geral:<br />
«E no seu (Xilim) coração nunca houve amor nem ódio verda<strong>de</strong>iros. Apenas<br />
<strong>de</strong>sgostos, insuficiências e cansaços. E, mandando na vida <strong>de</strong>le, quatro <strong>de</strong>stinos <strong>de</strong> mulher.<br />
Está só no mundo, mas sabe agora que avó Alima, negra Kati, menina Maria Helena e mulata<br />
Luísa lhes <strong>de</strong>ram consciência <strong>de</strong> homem traído. Mas, recordando-se <strong>de</strong>las, <strong>de</strong>scobre-se<br />
lentamente. O erro fundamental que comprometeu a paz da sua vida, foi o abraço da mãe Kati<br />
e do Patrão Campos, esse abraço que fez <strong>de</strong>le um ser <strong>de</strong> uma raça infamada.» (Po.: 160)<br />
Retomando «Os Cães Ladram Lá fora» e, em função do que se <strong>de</strong>u a ler, po<strong>de</strong>-<br />
se <strong>de</strong>terminar (algumas) funções às seguintes personagens:<br />
Lucinda é a mulata solteira e solitária, com uma vida cheia <strong>de</strong> privações e <strong>de</strong><br />
carências; foi abandonada pelo primeiro homem, branco, com quem teve um filho<br />
fortuito, que se tornou, mais tar<strong>de</strong>, marginal; o segundo homem, um negro bêbado,<br />
veio a falecer, pouco tempo <strong>de</strong>pois. Ela levava uma vida leviana, como consequência<br />
da sua situação <strong>de</strong> pobreza. Envelheceu levando essa forma <strong>de</strong> ganhar o pão. Já idosa,<br />
viu no filho o salvador, a ténue esperança, que se <strong>de</strong>sfez imediatamente após este tê-la<br />
ludibriado e extorquido dinheiro. Lucinda é a personagem marcada por dificulda<strong>de</strong>s e
perseguida por azares e com um triste <strong>de</strong>stino, igual a tantas outras mulheres como<br />
ela, que também viviam na periferia da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ex-Lourenço Marques, com o<br />
estigma da raça mestiça/negra como fatalida<strong>de</strong>.<br />
Maria e Helena são as amigas e companheiras <strong>de</strong> Lucinda (tanto na boémia,<br />
como na má vida) que tiveram o cuidado <strong>de</strong> se <strong>de</strong>spedirem da amiga, para a hipotética<br />
viagem <strong>de</strong>sta com o filho para Joanesburgo. Unia-as a mesma raça, o mesmo tipo <strong>de</strong><br />
dificulda<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> pobreza, <strong>de</strong> <strong>de</strong>stino. Joana é outra companheira <strong>de</strong> Lucinda, esta<br />
mais esclarecida e <strong>de</strong>sperta para a vida. Foi quem alertou a amiga para o engano do<br />
filho. Mais pragmática e realista, não se <strong>de</strong>ixa levar por emoções, contudo, a sua raça<br />
mestiça reserva-lhe um <strong>de</strong>stino igual ao das outras. Amelinha e Luísa completam o<br />
quadro social das amiza<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Lucinda. As características e as qualida<strong>de</strong>s inerentes a<br />
todas elas têm a função <strong>de</strong> completar o quadro <strong>de</strong>scritivo que caracteriza a amiga,<br />
servem também para melhor conhecimento e compreensão da vida <strong>de</strong> Lucinda.<br />
Outras personagens <strong>de</strong>sempenham outros papeis complementares do quadro<br />
social em análise, ainda que numa perspectiva relativamente secundária: é o caso do<br />
senhor Men<strong>de</strong>s, dono do Salão, do patrão da Lucinda e da respectiva senhora, entre<br />
outros. Sobre a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> personagens complementadoras do quadro social,<br />
remeto para as palavras <strong>de</strong> Carlos Reis. 32<br />
Duas personagens apresentam contornos interessantes nesta trama: o soldado<br />
e o chofer <strong>de</strong> táxi. A primeira, ter-se-á envolvido ocasional e sexualmente com Luísa,<br />
trabalhadora no salão do senhor Men<strong>de</strong>s e amiga <strong>de</strong> Lucinda. É o símbolo <strong>de</strong> homens<br />
que, a troco <strong>de</strong> dinheiro, usufruíam do prazer sexual das negras e das mulatas.<br />
32 . «Ao assumir-se como eixo <strong>de</strong> representação <strong>de</strong> uma personagem, a narrativa arrisca-se a<br />
<strong>de</strong>linear um universo insuficiente, no plano da ilustração social; daí a construção dum mosaico <strong>de</strong><br />
figuras aparentemente secundárias mas realmente dotadas <strong>de</strong> relevantes funções, no que diz respeito à<br />
representação i<strong>de</strong>ológico-social.» (Carlos REIS, 1983: 543)
Juntam-se ao soldado, os marinheiros, outros clientes preferidos daquelas, porque <strong>de</strong><br />
bolso leve.<br />
Por seu turno, o chofer (como tantos outros choferes <strong>de</strong> táxis) era<br />
intermediário da clientela do sexo. A espaços, eles próprios se tornavam os clientes.<br />
Como se po<strong>de</strong> observar com base neste quadro <strong>de</strong><br />
relacionamento social das personagens, há a<br />
preocupação, por parte do narrador, em revelar<br />
contradições na socieda<strong>de</strong>, ou seja, processos <strong>de</strong><br />
luta, conflitos latentes e patentes que, doutro modo,<br />
permaneceriam ocultos ou passariam <strong>de</strong>spercebidos.<br />
Destacam-se questões inerentes à educação, ao<br />
adultério, à ambição, ao culto das aparências e à<br />
<strong>de</strong>gradação do sentimento amoroso.<br />
Quanto às relações socias verticais <strong>de</strong>ntro da mesma classe, diga-se que elas são<br />
típicas <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s muito hierarquizadas. Isto é fruto da estratificação social, das<br />
assimetrias socio-económicas e até das discriminações raciais e sexuais.<br />
Para ilustrar as relações verticais <strong>de</strong>ntro ds mesmam classe tratarei, na obra <strong>de</strong><br />
Guilherme <strong>de</strong> Melo, dois contos: «A Porta Fechada» e «Um Tipo In<strong>de</strong>cente». Em<br />
«Um Tipo In<strong>de</strong>cente» o narrador, em discurso em primeira pessoa, relata uma<br />
realida<strong>de</strong> sócio-económica (a falta <strong>de</strong> emprego e as suas consequências directas na<br />
vida da personagem protagonista). O conto é tanto um «<strong>de</strong>sabafo» quanto uma crítica<br />
ao sistema, por causa da <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> nos direitos e <strong>de</strong>veres entre os cidadãos,<br />
materializada pela falta <strong>de</strong> emprego, que se mostra intolerável. É uma situação que é<br />
fruto <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> urbana, <strong>de</strong> economia <strong>de</strong> mercado, com uma política social não<br />
virada suficientemente para as reais necessida<strong>de</strong>s dos indivíduos.<br />
O narrador/personagem, não nomeado, configura-se como vítima do sistema<br />
social que privilegia as elites, personificadas essas pela figura do amigo do café. Este
está numa situação sócio-profissional privilegiada, oposta à do narrador/personagem.<br />
O amigo é alvo dos <strong>de</strong>sabafos críticos do <strong>de</strong>sempregado; é o retrato, o reflexo <strong>de</strong> uma<br />
socieda<strong>de</strong> egoísta, hierarquizada. Este «amigo», na dinâmica geral do conto,<br />
simboliza o próprio po<strong>de</strong>r. A mulher do narrador completa o quadro, pois ela é a<br />
razão da inquietação e das preocupações do narrador, seu marido.<br />
Porque são ilustradas relações sociais <strong>de</strong>ntro da classe média ou alta, o texto<br />
põe em cena acontecimentos que ocorreram entre gente <strong>de</strong> nível cultural e académico<br />
supostamente alto, o que se <strong>de</strong>preen<strong>de</strong> do tipo <strong>de</strong> linguagem utilizada pelos<br />
interlocutores protagonistas: (o narrador/personagem e o amigo do café), localizando<br />
ainda a acção no meio citadino, urbano, teoricamente sinónimo <strong>de</strong> certa evolução e<br />
civilida<strong>de</strong>. A conversa que <strong>de</strong>corre no café reflecte uma socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> consumo em<br />
que cada um está por si, Deus por todos e o Estado, por ninguém, ocasionando o<br />
surgimento <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong>sagregada moral e socialmente, fortemente<br />
estratificada.<br />
Também na classe pobre se põem relações sociais verticais. Isso ocorre tanto<br />
em Portagem, como em A Estranha Aventura, mas também em toda a obra narrativa<br />
que se preten<strong>de</strong> Neo-realista, pois a camada social mo<strong>de</strong>sta foi a eleita por excelência<br />
por esta corrente literária. O espaço <strong>de</strong> «A Trovoada», ilustrando a ambiência psico-<br />
social <strong>de</strong> um micro-universo do subúrbio, <strong>de</strong>ixa transparecer e perceber, quase <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
o início, que essa ambiência se encontra nitidamente afectada por conflitos<br />
enquadrados pela estratificação social da socieda<strong>de</strong>.<br />
Neste conto está implícita a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> um certo <strong>de</strong>spertar <strong>de</strong> consciências por<br />
parte do discriminado, do segregado. Tal i<strong>de</strong>ia é dada a ver através das<br />
movimentações do protagonista nas cenas do <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar <strong>de</strong> uma série <strong>de</strong> reuniões<br />
clan<strong>de</strong>stinas e multirraciais, em prol da luta pelos valores humanos básicos, como a
Igualda<strong>de</strong>, a Dignida<strong>de</strong> e a Fraternida<strong>de</strong>. Ainda que a solução para esses problemas<br />
não se vislumbre possível no «tempo útil» dos acontecimentos, acalenta-se uma<br />
esperança futura, encarnada pela figura do feto na barriga da mãe, i<strong>de</strong>ia legitimada<br />
pelo lumiar e pelo brilhar da trovoada, que dá «novas luzes» e, ao mesmo tempo,<br />
metaforiza o grito <strong>de</strong> revolta:<br />
«O relâmpago abriu o negrume da noite <strong>de</strong> alto a baixo e o trovão encheu o espaço, lá<br />
fora. Longo, ru<strong>de</strong>, enorme. Ela ajeitou-se mais <strong>de</strong> encontro ao peito do homem. Depois o<br />
silêncio voltou a <strong>de</strong>scer e as pancadas calmas e ritmadas do coração <strong>de</strong>le (o feto) continuaram<br />
iguais, junto aos lábios da mulher.<br />
E a voz <strong>de</strong>le veio nítida e, ao mesmo tempo, envolta por uma estranha e doce emoção.<br />
_ Agora eu sei qui vale mesmo a pena... Qui há sempre alguém qui há-<strong>de</strong><br />
aproveitar....» (E.A.: 176)<br />
A este propósito, é <strong>de</strong> concordar com Alexandre Pinheiro Torres que via, no<br />
movimento Neo-Realista, a possibilida<strong>de</strong> do <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar <strong>de</strong> acções que implicassem<br />
gran<strong>de</strong>s transformações. 33<br />
É isso, aliás, que o narrador/protagonista tenta concretizar, através <strong>de</strong> reuniões<br />
clan<strong>de</strong>stinas com o grupo <strong>de</strong> amigos:<br />
«_ Só qui a gente reúne-se na casa do Aníbal. Eu, o Luís, o César. É um gran<strong>de</strong> rapaz,<br />
esse Aníbal, sabes?» (E. A: 171)<br />
Esta personagem, porque revoltada, <strong>de</strong>scontente com o estado <strong>de</strong> coisas na<br />
socieda<strong>de</strong> on<strong>de</strong> vive (injustiça social, racismo, discriminação, etc.) se envolve em<br />
encontros clan<strong>de</strong>stinos com outros companheiros, com quem partilha os mesmos<br />
i<strong>de</strong>ais. Sente o estigma da raça mestiça. Entretanto, a mulher mostra-se reticente e<br />
<strong>de</strong>sconfiada quanto ao possível sucesso <strong>de</strong>ssas activida<strong>de</strong>s oficialmente ilícitas e<br />
obscuras; é incrédula quanto à possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> o grupo do marido po<strong>de</strong>r mudar o<br />
estado <strong>de</strong> coisas na socieda<strong>de</strong> que se mostra segregacionista. A sobrepor-se a estas<br />
33 . «O Neo-Realismo pressupõe um conhecimento dialéctico da realida<strong>de</strong> exterior. Embora o<br />
Homem se <strong>de</strong>fina como condicionado por um complexo <strong>de</strong> factores sócio-económicos e se integre num<br />
processo <strong>de</strong>ste tipo, ele po<strong>de</strong> transformar esse condicionamento pela acção certamente revolucionária.»<br />
(Alexandre Pinheiro TORRES, 1977: 30)
hesitações e incertezas, está o feto que é visto pelo casal, especialmente pelo marido,<br />
como o garante, a esperança <strong>de</strong> um novo iluminar da trovoada, mais fulminante. É<br />
como se fosse uma crença na nova visão da vida, do novo grito, para e por um mundo<br />
<strong>de</strong> e para iguais.<br />
Para legitimar o enquadramento dos acontecimentos <strong>de</strong>ste conto nas relações<br />
sociais verticais na classe pobre, po<strong>de</strong>r-se-á, entre outras situações, visualizar o<br />
espaço <strong>de</strong> habitação (no subúrbio), <strong>de</strong> convivência, <strong>de</strong> lazer do protagonista e dos seus<br />
vizinhos. O estado físico das suas casas <strong>de</strong>ixa muito a <strong>de</strong>sejar. As casas são <strong>de</strong><br />
construção precária, a contrastar com o Hotel, o espaço do «outro» (turistas) e<br />
sinónimo <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r económico e social, que é também <strong>de</strong>finidor do estatuto social e da<br />
diferenciação:<br />
«Ficou agachado atrás do monte <strong>de</strong> chapas <strong>de</strong> zinco velhas, (...). Passou pela casa<br />
velha, do Nunes, pelo casebre podre da viúva do Simão, pela machamba da Inácia e só parou<br />
junto aos <strong>de</strong>graus da sua própria casa.» (E. A.: 169)<br />
Outro quadro social similar a este po<strong>de</strong> ser constatado em «O Estranho Amor<br />
<strong>de</strong> Omar Sambine», on<strong>de</strong> a própria personagem Omar protagoniza uma cena que tem<br />
início na sua infância quando, um dia, no colo da mãe, conheceu o mar pela primeira<br />
vez. Aos vinte anos muda-se do interior para o litoral e aí conhece Suleima que, mais<br />
tar<strong>de</strong>, se tornou sua mulher e <strong>de</strong> quem se separou, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> terem tido um filho<br />
juntos. Até aí Omar vivia se amantizando harmoniosamente com o mar (o que veio,<br />
aliás, a perpetuar-se por toda a vida, eternamente), à excepção da altura em que o mar<br />
se rebelou, ciumento, por ele se ter envolvido com a mulata Suleima. Esta, e o filho<br />
tido com Omar, vieram a ter um <strong>de</strong>stino <strong>de</strong>scolorido, talvez como consequência do<br />
ciúme do mar e como manifestação da sua revolta.<br />
Omar Sambine é uma personagem estranha, como estranho foi o seu<br />
<strong>de</strong>sempenho amoroso, tanto com o mar, como com a Suleima. Nasceu no interior e
conheceu o mar através da mãe, sem ter sabido como. Do mar nunca mais se livrou,<br />
aliás, o mar foi o seu primeiro amante. Apren<strong>de</strong>u a trabalhar no e com o mar e,<br />
estranhamente, morreu por causa do mar e no mar. A sua vida conjugal e familiar<br />
humana, isto é, com a Suleima, foi um fracasso. Foi abandonado pela mulher e pelo<br />
filho; estranhamente, foi aceite pelo mar.<br />
A mulata Suleima, temporariamente amante <strong>de</strong> Omar, é uma personagem<br />
algo complicada, bárbara e com uma personalida<strong>de</strong> diabólica; estranha criatura,<br />
como aliás o Omar. Ela revelou-se sempre propensa à levianda<strong>de</strong>. A sua relação<br />
amorosa com Omar provocou a ira do mar, primeiro amante e companheiro <strong>de</strong>ste:<br />
«E foi nessa noite _ a noite em que, pela primeira vez, ela (Suleima) entrou na palhota<br />
que ele (Omar) construíra, para ali ficar, senhora e dona _ que o mar subitamente cresceu<br />
numa fúria <strong>de</strong> morte, avançando pela praia a<strong>de</strong>ntro numa galopada que força alguma parecia<br />
po<strong>de</strong>r domar, o vento fustigando, aos urros, o leque <strong>de</strong> palmeiras (...). E todos gritaram que<br />
nunca o mar se levantara em raiva tamanha.» (Po.: 122)<br />
Está explicitada a manifestação do ciúme do mar por causa do amor <strong>de</strong><br />
Suleima e <strong>de</strong> Omar. O castigo que o mar preten<strong>de</strong>u dar à sua rival foi o <strong>de</strong> esta se<br />
separar do seu apaixonado e do filho, passando a entregar-se à prostituição, na Ponta<br />
da Ilha.<br />
O filho <strong>de</strong> Suleima e <strong>de</strong> Omar, rapaz belo e forte como o pai, inicialmente<br />
também se tornou pescador artesanal. Aos vinte anos, abandonou os pais, seguindo<br />
uma vida errante e duvidosa, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Nampula, mais ou menos à semelhança do<br />
pai, ainda que este tenha seguido o percurso em direcção ao mar.<br />
Este panorama é o reflexo <strong>de</strong> uma família <strong>de</strong>sagregada, que não consegue<br />
manter o equilíbrio social, moral e emocional; é consequência da fúria do mar e, à<br />
semelhança dos progenitores <strong>de</strong> Omar e até <strong>de</strong> Suleima, paga pelos «pecados» <strong>de</strong>stes:<br />
ser negro ou mestiço.
A lenda do barco também tem uma importância impar na vida social <strong>de</strong>stas<br />
personagens paupérrimas. Associado ao mar e a Omar, tem-se o estranho barco,<br />
incorporado nesta lenda fantástica. Este barco não tem fundo e, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> Omar<br />
morrer no mar, vai transportando perpetuamente o «falecido», imortalizando-o e<br />
tornando-o misteriosamente imanente.<br />
A misteriosa envolvência do mar com Omar não é um acontecimento vulgar e,<br />
como lenda, ocorreu há muitos e muitos anos atrás. A única memória viva que<br />
perpetua a sua existência, e porque esta lenda ocorre numa socieda<strong>de</strong> tradicional,<br />
predominantemente <strong>de</strong> cultura oral, são as anciãs, responsabilizadas pela sua<br />
conservação e pelo seu secretismo. Estas <strong>de</strong>vem manter sempre um certo misticismo,<br />
não só em torno da lenda em si, mas em torno <strong>de</strong>las também. Elas são as garantes e as<br />
guardiãs dos segredos e das regras tradicionais daquela al<strong>de</strong>ia do litoral da Ilha <strong>de</strong><br />
Moçambique. A elas cabe a tarefa <strong>de</strong> transmissoras da educação e do saber ancestrais,<br />
ilustrados na lenda criada em torno da morte/casamento <strong>de</strong> Omar no e com o mar. Os<br />
ensinamentos, a educação moral e cívica a dar aos mais jovens, não são transmitidos<br />
em qualquer ocasião, há momentos próprios para que as anciãs façam valer os seus<br />
dotes:<br />
«E dizem as negras velhas que, nas noites quentes <strong>de</strong> Verão, quando o luar passeia<br />
pela praia, as brancas tranças <strong>de</strong>sfeitas por entre os esguios <strong>de</strong>dos das palmeiras, ao longe, um<br />
estranho barco sem fundo assoma das ondas e voga, mansamente, docemente, à luz das<br />
estrelas.<br />
E quando as negras velhas contam a lenda, tão velha como elas, os negrinhos tenros<br />
que amanhã hão-<strong>de</strong> seguir os pais (...) ficam quietos e imóveis, (...) olhando as águas que<br />
numa noite levaram para si, sôfregas <strong>de</strong> amor e <strong>de</strong> perdão, o corpo maravilhosamente nu <strong>de</strong><br />
Omar Sambine.» (E.A.: 127)<br />
Constata-se também em «O Estranho Amor <strong>de</strong> Omar Sambine» a existência <strong>de</strong><br />
um discurso poético, a começar pelo próprio título. Neste, interessante é notar o<br />
trocadilho nas palavras Amor e Omar, da letra “a” pela “o” e vice-versa. Há também<br />
um jogo <strong>de</strong> palavras entre Omar e mar pois, na primeira, basta suprimir a letra “o” e
tem-se imediatamente a segunda. Tais situações criam certa ritmicida<strong>de</strong> e até<br />
sonorida<strong>de</strong> entre os vocábulos em causa: Amor, Omar e Mar que, por acaso, são as<br />
palavras-chave <strong>de</strong>ste conto. Estes três elementos, ao longo do texto, vão entrelaçando<br />
teias <strong>de</strong> sentidos variados, ou seja, verifica-se o «casamento» perpétuo entre Omar e o<br />
mar, o que é a manifestação do amor <strong>de</strong> ambos, afastada que foi Suleima, pessoa<br />
estranha ao mar e, <strong>de</strong> certo modo, a Omar também. Inclusive, em termos prosódicos,<br />
porque não rima com os três elementos-chave atrás mencionados, Suleima apresenta-<br />
se como estranho a eles, assim como estranha foi a sua vida e a sua personalida<strong>de</strong>.<br />
O outro aspecto que se po<strong>de</strong> ver <strong>de</strong>ntro das relações sociais verticais na classe<br />
pobre, ainda que <strong>de</strong> forma abreviada, é a tradicional <strong>de</strong>pendência da mulher para com<br />
o homem, tanto ao nível da esfera da privacida<strong>de</strong> familiar, como nos sectores <strong>de</strong> vida<br />
profissional. Em geral, ainda que em muitas socieda<strong>de</strong>s oci<strong>de</strong>ntais se lute para a<br />
redução das assimetrias, a mulher continua, em muitos casos, numa situação <strong>de</strong><br />
inferiorida<strong>de</strong>.<br />
A pobreza, que se <strong>de</strong>ve enten<strong>de</strong>r quase como a gran<strong>de</strong> personagem, é a mais<br />
importante condicionanate das relações na classe social que estamos a analisar. Ela<br />
está profundamente inscrita na estrutura social da socieda<strong>de</strong> moçambicana, mesmo na<br />
actualida<strong>de</strong> (mais <strong>de</strong> 70% da população é pobre), coincidindo tradicionalmente com<br />
as posições mais subalternizadas e subordinadas em todas ou em parte das dimensões<br />
<strong>de</strong> estruturação do tecido social. Assim, ser pobre correspon<strong>de</strong>, em gran<strong>de</strong> parte, a ter<br />
um estatuto fortemente sedimentado, com tradução continuada não só nas condições<br />
materiais da vida, mas também nas dimensões relacionais e culturais da existência das<br />
famílias e grupos que ocupam essas posições.<br />
De forma geral, ser pobre é ter um estatuto <strong>de</strong> exclusão social dos padrões que<br />
<strong>de</strong>finem um cidadão, ou seja, é ter os mesmos direitos e <strong>de</strong>veres que todos os outros
apenas no plano formal, é saber menos acerca <strong>de</strong>sses direitos e <strong>de</strong>veres (e,<br />
consequentemente, <strong>de</strong> saberes e po<strong>de</strong>res); é ter menos capacida<strong>de</strong> e possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
os exercer, porque ignorados.<br />
Nesse aspecto, é interessante a figura do monhé, que é vista como estando<br />
numa posição intermédia entre os grupos <strong>de</strong> relações sociais horizontais e os <strong>de</strong><br />
relações sociais verticais, cuja activida<strong>de</strong> sócio-profissional característica é o<br />
pequeno comércio.<br />
Há um certo preconceito associado a esta etnia <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte, originariamente,<br />
<strong>de</strong> Árabe e/ou <strong>de</strong> Indiano: os monhés são tidos como comerciantes pobres e como<br />
consequência disso, pagam aos seus empregados salários baixos e miseráveis:<br />
«(...) A hora em que regressava da cida<strong>de</strong>, do trabalho na loja do Fernan<strong>de</strong>s caneco,<br />
do seu trabalho <strong>de</strong> costureira curvada o dia inteiro para a máquina, a coser (...),<br />
Nessas ocasiões, Angelina esquecia toda a sua vida <strong>de</strong> mulata precocemente<br />
envelhecida e triste, (...) e <strong>de</strong> oitocentos escudos magros e frouxos heroicamente divididos<br />
pelos trinta dias <strong>de</strong> cada mês.» (E.A.: 74-75)<br />
Outra figura que se liga ao monhé, e que às vezes se confun<strong>de</strong> com ele, é a<br />
do caneco, <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Árabe e <strong>de</strong> negro. No mesmo conto, faz-se referência ao<br />
caneco Fernan<strong>de</strong>s. Estes têm em comum a origem ou a <strong>de</strong>scendência asiática (e<br />
também africana, para o caso do último). Fernan<strong>de</strong>s também está ligado ao pequeno<br />
comércio: é proprietário <strong>de</strong> uma loja na cida<strong>de</strong>, é alfaiate e patrão da Angelina e da<br />
Isabel.<br />
Muitas outras figuras <strong>de</strong> monhé aparecem. Uma é o cantineiro Issufo, em<br />
«Jangô».Também é <strong>de</strong>signado por indiano (sua origem étnica) e, <strong>de</strong> forma <strong>de</strong>spectiva,<br />
por monhé, e é proprietário <strong>de</strong> um pequeno estabelecimento comercial retalhista,<br />
único existente naquele bairro suburbano <strong>de</strong> Mavalane, nos arredores <strong>de</strong> Lourenço<br />
Marques.<br />
Em «Os Sonhos do Mufana» também se encontra a figura do «monhé da<br />
Paiva Manso», indiano ou seu <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte, sempre ligado ao pequeno comércio,
acessível e direccionado especificamente às camadas sociais mais mo<strong>de</strong>stas. No conto<br />
«Os Cães Ladram lá Fora» o monhé Ibraímo é o comerciante a quem Luísa comprou a<br />
mala <strong>de</strong> cartão (barata) para a suposta viagem à Johanesburgo. Mais uma vez, é<br />
apresentada a figura do monhé (indiano, caneco ou mouro) como a que mais se <strong>de</strong>dica<br />
àquele comércio. Esse tipo, o monhé, que aparece configurado em diferentes<br />
personagens, vai servir também como estabelecedor da ligação com a maioria dos<br />
contos <strong>de</strong> «A Estranha Aventura», aparecendo também em Portagem. Aqui, no<br />
capítulo 12, o monhé Ibraímo é o comerciante indiano, proprietário da loja nos<br />
arredores da ca<strong>de</strong>ia da Fortaleza, mais conhecido pela sua astúcia na arte <strong>de</strong> ludibriar<br />
a clientela. No capítulo 14, o monhé Karim não só simboliza a activida<strong>de</strong> comercial<br />
na zona urbana, como também representa a figura do monhé em geral _ uma figura<br />
profundamente enraizada na realida<strong>de</strong> sócio-económica do país.<br />
Diga-se, ainda, que na figura do monhé se projectam valores e se <strong>de</strong>nunciam<br />
contradições. A reiteração do nome monhé ao longo dos textos permite, ainda, a<br />
potenciação semântica das personagens que incarnam o tipo, nos termos exactos ou<br />
aproximados da observação <strong>de</strong> Carlos Reis. 34<br />
Vista a representação das relações sociais na obra <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo,<br />
observaremos agora o que se passa em Portagem. Esse livro dá testemunho <strong>de</strong> uma<br />
socieda<strong>de</strong> compósita _ europeus/portugueses, africanos, indianos (monhés), mulatos e<br />
canecos _ em que são evi<strong>de</strong>ntes os sinais da <strong>de</strong>sintegração <strong>de</strong> relacionamentos. O mal-<br />
estar, a insegurança, a cruelda<strong>de</strong>, o racismo, a prepotência, são alguns dos temas <strong>de</strong>sta<br />
narrativa que apontam para o processo então em curso. Portagem é uma narrativa com<br />
34 . «Justamente a alcunha revela-se um processo particularmente significativo, quando se<br />
trata <strong>de</strong> incrementar as potencialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> representação social inerentes às personagens (...). Com a<br />
alcunha estamos, pois, num domínio cujas virtualida<strong>de</strong>s semânticas são inegáveis. Funcionando como<br />
<strong>de</strong>nominação suplementar ou substitutiva, <strong>de</strong> intuitos correctivos e clarificadores (porque torna patente<br />
uma característica física, psicológica, moral ou social, que o nome propriamente dito não evi<strong>de</strong>ncia) a<br />
alcunha aponta (...) para a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se ler no sujeito uma mensagem <strong>de</strong> contornos sociais que<br />
essa <strong>de</strong>signação <strong>de</strong> circunstância só por si imediatamente expressa.» (Carlos REIS, 1983: 487-488)
um alto teor <strong>de</strong> problematização social; o seu conteúdo centra-se nos percalços<br />
emocionais da inter-relação <strong>de</strong> negros, mulatos e brancos, na socieda<strong>de</strong> colonial <strong>de</strong><br />
Moçambique da década <strong>de</strong> 60/70. Este é um novo projecto ficcional, segundo Manuel<br />
Ferreira 35 , uma história on<strong>de</strong> o mulato Xilim, <strong>de</strong>batendo-se a princípio, no interior <strong>de</strong><br />
uma esfera limitada <strong>de</strong> consciência e <strong>de</strong>sestabilizado emocionalmente, busca e<br />
<strong>de</strong>scobre a individualização através <strong>de</strong> sucessivas fugas e retornos.<br />
Através das jornadas fatigantes, <strong>de</strong> suas idas e vindas, fugindo aos transtornos<br />
criados pela sua origem, Xilim <strong>de</strong>scobre-se lentamente, procurando inventar 36 um<br />
começo para a nova raça, agora assumida.<br />
É assim que Xilim incorpora, <strong>de</strong> forma incosciente, a metáfora da dúvida.<br />
Ao longo da narrativa, mostra-se uma personagem que, constantemente, oscila no<br />
tempo e no espaço; ora se sente visto pelos negros como a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> todas as<br />
cobardias e traições, ora como a expressão <strong>de</strong> uma linguagem nova que tenta dar uma<br />
interpretação diferente da vida dos negros do Marandal.<br />
Este Xilim é um indivíduo solitário, que age impulsiva e instintivamente,<br />
suposta presa do Destino. Esse seu comportamento tem origem no seu passado<br />
espúrio. Ele como que <strong>de</strong>sperdiça, nessa angustiante recordação, as suas melhores<br />
energias, retratando, <strong>de</strong>sta forma, o seu processo <strong>de</strong> individualização. Sensível aos<br />
apelos telúricos, que se manifestam <strong>de</strong> modo instintivo, e aos apelos universais<br />
humanos, fruto da aproximação circunstancial com brancos e negros <strong>de</strong> todas as<br />
35 . Portagem «Abre amplo espaço para uma reflexão produtiva que transcen<strong>de</strong> o estético,<br />
fixando no âmbito narrativo conjunturas tão específicas e até significativas para uma visão<br />
problematizante do convívio entre as três raças postas em duplo conflito: (i) face às suas próprias<br />
relações interpessoais, (ii) face à voragem do capitalismo colonial que, aprofundando os vínculos <strong>de</strong><br />
subserviência, vai agravando o preconceito racial.» (Carmen L. S. DIAS, 1979: 67)<br />
36 . O verbo sublinhado «acentua o sentido <strong>de</strong> busca/construção, incluindo a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> constante<br />
tactear sofrido, da experiência quotidianamente reelaborada até ao <strong>de</strong>spertar <strong>de</strong> um novo homem,<br />
composto multiforme e flexível, <strong>de</strong> antagonismos interiores. Em suma, inventar um futuro é criar<br />
para si e para a sua comunida<strong>de</strong> uma leitura fecunda da própria história, ou seja, a História on<strong>de</strong> não<br />
prevalecerá a memória do dominador.» (Carmen L. S. DIAS, 1979: 69)
origens e condições sociais, os seus sofrimentos, revoltas e <strong>de</strong>sânimos revertem para a<br />
assunção final da própria raça.<br />
A discriminação racial <strong>de</strong> Xilim e <strong>de</strong> outros negros, (tema que também se<br />
manifesta em A Estranha Aventura), aparece inserida no interior <strong>de</strong> um quadro social<br />
mais abrangente, que permite representar as articulações configuradoras da própria<br />
dominação da potência colonial, que legitima a servidão dos homens <strong>de</strong> todas as<br />
cores. Estas situações são legitimadas em Portagem, por exemplo, no capítulo 6, com<br />
a <strong>de</strong>rrocada económica <strong>de</strong> Patrão Campos, que se mostra impreparado para tarefas<br />
extractivas <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> porte. Este sente-se pressionado pela necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> aumentar a<br />
todo o custo o rendimento diário da exploração da mina, factor directo da tragédia que<br />
acaba por lhe custar a própria vida e a <strong>de</strong> vários mineiros, <strong>de</strong>ixando numa situação<br />
<strong>de</strong>licada e <strong>de</strong> incerteza, não só a própria família, como a dos mineiros soterrados e<br />
sobreviventes.<br />
O enredo <strong>de</strong> Portagem fixa, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a infância, as vicissitu<strong>de</strong>s do mulato Xilim,<br />
filho natural da negra Kati e do patrão branco das minas <strong>de</strong> carvão <strong>de</strong> Marandal. O<br />
mundo infantil vai perseguindo Xilim ao longo <strong>de</strong> toda a trama, fazendo-lhe reviver o<br />
drama do passado. Se, em geral, a infância é vista como gloriosa, feliz, harmoniosa (<br />
uma forma <strong>de</strong> Paraíso Perdido) tal não acontece com Xilim. Na inocência da sua<br />
juventu<strong>de</strong>, inicialmente ignorante da sua origem, Xilim apaixona-se pela menina<br />
branca que ignora ser sua irmã. Apercebendo-se, pouco tempo <strong>de</strong>pois, da existência<br />
do laço <strong>de</strong> sangue com Maria Helena, foge <strong>de</strong> Marandal, incriminando-se pelo amor<br />
ilícito. Entretanto, porque é correspondido, reinci<strong>de</strong> no incesto.<br />
Já adulto, Xilim apercebe-se <strong>de</strong> que é diferente dos <strong>de</strong>mais e passa a viver<br />
entre as duas raças puras, suportando ora o seu <strong>de</strong>sprezo, ora a sua <strong>de</strong>sconfiança. O<br />
casamento com a mulata Luísa, em vez <strong>de</strong> felicida<strong>de</strong>, só lhe trouxe tristezas e
dissabores; ela trai-o amantizando-se com o branco Esteves, pequeno comerciante da<br />
zona, a troco da ajuda à família <strong>de</strong> Xilim. Nesse quadro, o branco protagoniza uma<br />
cena <strong>de</strong> chantagem e <strong>de</strong> oportunismo.<br />
No que diz respeito à personagem Alima, po<strong>de</strong>r-se-á dizer, <strong>de</strong> forma<br />
abreviada, que é a imagem reiterada <strong>de</strong> um passado sem retorno, caracterizando-se<br />
por um ódio <strong>de</strong>smedido a todos os brancos, a quem atribui todas as culpas pelos<br />
azares e pelos insucessos do seu povo. Quanto ao Justino, revela-se como uma<br />
personagem parada no tempo, situação provocada pela sua loucura, continuando a<br />
contar costumes do mato. Ele já não se lembra <strong>de</strong> nada do tempo <strong>de</strong> rapaz antes <strong>de</strong> vir<br />
a cida<strong>de</strong> e falta-lhe a imaginação - o que lhe impe<strong>de</strong> a invenção da outra vida. É um<br />
homem conformado com o <strong>de</strong>stino, porque não vislumbra soluções para tantas<br />
vicissitu<strong>de</strong>s que a vida lhe reservou ao longo dos tempos. A sua luta, assim como a<br />
<strong>de</strong> Xilim e <strong>de</strong> outros negros e mulatos, remontando aos vovós Mafanissane e Alima,<br />
foi inglória e a <strong>de</strong>sgraça foi passando <strong>de</strong> geração em geração, conformando um<br />
<strong>de</strong>stino traçado no cruzamento adúltero <strong>de</strong> duas raças:<br />
«Tudo o que se passou <strong>de</strong>pois, tudo o que pesou sobre o seu (coração) e manchou as<br />
suas mãos e os seus olhos, proveio <strong>de</strong>sse erro. Por toda a parte ele encontrou gente que anda à<br />
toa, rejeitada pelos brancos e pelos negros. Deserdada pelas duas raças puras. Mas ele<br />
escon<strong>de</strong>rá dos filhos a memória dos pecados das negras Kati e dos patrões Campos. E eles<br />
nascerão como se a raça mestiça não tivesse nascido <strong>de</strong> um abraço fortuito.» (Po.: 160)<br />
De problemáticas socialmente can<strong>de</strong>ntes, como a condição da mulher e o<br />
adultério, a temas como a honra ou o suicídio, da ociosida<strong>de</strong> ao po<strong>de</strong>r da imaginação<br />
e à inocência infantil, abre-se em Portagem e em A Estranha Aventura um leque <strong>de</strong><br />
temas e sub-temas consi<strong>de</strong>ravelmente diversificados. Há, nestas obras uma<br />
preocupação dominante com a condição dos <strong>de</strong>sfavorecidos, quadro em que se trata<br />
reiteradamente a condição da mulher, as instituições do casamento e da família,<br />
abordando-se ainda os comportamentos que evi<strong>de</strong>nciam a crise que atinge tais
instituições (por exemplo, o adultério, o incesto, a poligamia, etc.). Para melhor<br />
compreensão e conhecimento <strong>de</strong>stas instituições, é útil procurar i<strong>de</strong>ntificar os códigos<br />
culturais que lhes estão subjacentes. É preciso consi<strong>de</strong>rar a priori a personagem como<br />
um signo, isto é, escolher um “ponto <strong>de</strong> vista” que a construa como integrante <strong>de</strong> uma<br />
mensagem.<br />
A personagem em ficção como a <strong>de</strong> Portagem e a <strong>de</strong> A Estranha Aventura é<br />
claramente condicionada por uma série <strong>de</strong> códigos culturais, nomeadamente os<br />
códigos que regulam as relações familiares.<br />
Tudo se organiza em função das relações permitidas e das relações<br />
interditas (excluídas). Assim, são permitidos os amores conjugais <strong>de</strong> que temos<br />
exemplos, em Portagem, (o velho Mafanissane com a companheira; o patrão Campos<br />
com a Dona Laura; o Sr. Esteves com a Maria Helena, etc.), tal como em A Estranha<br />
Aventura, (João Pedro com a Leonor e Omar Sambine com a mulata Suleima, etc.).<br />
Representando o grupo interdito <strong>de</strong> relações, temos situações várias, por exemplo, o<br />
incesto em Portagem, entre Xilim e Maria Helena, pois são irmãos. Em A Estranha<br />
Aventura parece ocorrer homosexualida<strong>de</strong> simbóloica entre Omar e o mar. Por seu<br />
turno, o adultério do homem aparece em Portagem, entre o patrão Campos e a<br />
mulata Kati; entre o branco Coxo e a mulata Beatriz; entre o Sr. Esteves e a mulata<br />
Luísa. Se consi<strong>de</strong>rarmos a hipótese <strong>de</strong>, em A Estranha Aventura, haver<br />
homosexualida<strong>de</strong> simbólica, a relação Omar/mar será também uma forma <strong>de</strong><br />
adultério. Quanto ao adultério da mulher, encontramo-lo em Portagem, com as<br />
mulats Kati, Beatriz, Luísa e, em Em A Estranha Aventura, com a mulata Suleima,<br />
entre outras.<br />
O espaço da obediência aos comportamentos prescritos é ocupado por<br />
“heróis”, o dos comportamentos transgressores é ocupado por “anti-heróis”. Uma
outra opção aos conteúdos ficcionais, ou uma outra época valorizarão inversamente<br />
este esquema (herói homossexual, a-social, mulher adúltera, etc.). Po<strong>de</strong>mos dizer que<br />
um texto é legível (para uma dada socieda<strong>de</strong>, numa dada época) quando houver<br />
coincidência entre o herói e o espaço moral valorizado. 37<br />
Sobre tudo isso, há alguns dados curiosos a <strong>de</strong>stacar:<br />
Quando ocorre adultério masculino geralmente o adúltero é o homem branco,<br />
que se envolve com negras ou com mulatas casadas ou não, estando reflectida uma<br />
relação <strong>de</strong> submissão da mulher nativa, mesmo em termos afectivos.<br />
Por outro lado é nas mulheres mulatas que se representará a situação <strong>de</strong><br />
prostituição ( ou <strong>de</strong> semi-prostituição ). Essa figura da mulata-prostituta retoma a<br />
visão colonialista das “raças”, nos termos postos por Fernando A. Novais. 38<br />
Os casamentos, as alianças matrimoniais, as relações sexuais ocasionais e o<br />
adultério são alguns dos aspectos a serem tomados em conta, para se analisar o tópico<br />
das relações <strong>de</strong> parentesco nas suas múltiplas implicações.<br />
A família é melhor compreendida como sistema moral, do que como uma<br />
instituição no sentido restrito, isto é, como composição dos membros com o conjunto<br />
<strong>de</strong> bens a eles pertencentes, incluindo o próprio espaço <strong>de</strong> habitação e outras<br />
proprieda<strong>de</strong>s. Os valores morais não florescem no vácuo, antes se relacionam <strong>de</strong><br />
modo subtil com as estruturas sociais e biológicas. A família é um vinculo crucial<br />
entre o sistema moral, as estruturas sociais e biológicas. Se se começar a dar, à partida<br />
uma caracterização <strong>de</strong>masiado restrita da família, em termos <strong>de</strong> consanguinida<strong>de</strong> ou<br />
37 . Françoise VAN ROSSUM-GUYSON, ett allii, (s/d: 80-83)<br />
38 . «Se é verda<strong>de</strong> que os casamentos entre brancos e negros ou pardos não era uma<br />
impossibilida<strong>de</strong> total, não é menos verda<strong>de</strong> que prevaleceram nessas relações ou “tratos ilícitos”, ou<br />
concubinatos, as aventuras fugazes (…). (Fernando A. NOVAIS, 1997:240)<br />
Provavelmente radica-se nesse padrão <strong>de</strong> relações a origem do velho ditado: “branca pra casar, mulata<br />
pra fo…, negra pra trabalhar”, palavrório recorrente entre os homens daquele tempo. Até um Gregório<br />
<strong>de</strong> Matos sugere, segundo Haussen, que a negra e mulata são sujas <strong>de</strong> sangue por <strong>de</strong>finição, logo, por<br />
extensão semântica, os termos mulata e negra, po<strong>de</strong>m significar puta, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente <strong>de</strong> outra<br />
qualificação.» (Fernando A. NOVAIS, 1997: 240-241)
<strong>de</strong> domesticida<strong>de</strong>, po<strong>de</strong>-se adulterar o seu verda<strong>de</strong>iro conteúdo, pelo menos na África<br />
tradicional. Ali, o sistema familiar implica uma partilha dos papeis entre duas<br />
gerações adultas, por exemplo, tanto entre o pai e o filho como entre a sogra e a nora,<br />
no caso <strong>de</strong> esta última coabitar com a família do esposo. A organização dos espaços a<br />
serem ocupados por membros da família, tanto no interior da casa, como no campo,<br />
na cida<strong>de</strong> e até na Igreja, obe<strong>de</strong>ce a atitu<strong>de</strong>s ritualizadas que são, <strong>de</strong> certa maneira,<br />
uma forma <strong>de</strong> tornar a coabitação menos difícil e <strong>de</strong> diminuir as ocasiões <strong>de</strong> conflito.<br />
Para compreen<strong>de</strong>r a figura <strong>de</strong> Xilim, o epicentro da narrativa <strong>de</strong> Portagem, é<br />
bom fazer-se retroce<strong>de</strong>r a sua linhagem até às gerações antepassadas. A vida actual<br />
que Xilim persegue, as dificulda<strong>de</strong>s enfrentadas a vários níveis (<strong>de</strong>semprego,<br />
relacionamento social e conjugal, marginalização socio-profissional), é mais<br />
consequência do que causa do tipo <strong>de</strong> vida a que esteve sujeito o velho negro escravo<br />
Mafanissane em longínquo passado, quatro ou cinco gerações antes <strong>de</strong> Xilim.<br />
Fazendo uma reconstituição da família <strong>de</strong> Xilim, ter-se-ia o seguinte percurso:<br />
(i) O escravo Mafanissane e sua companheira (não nomeada nem <strong>de</strong>stacada). Estes<br />
são os progenitores do filho débil. Aliás, ironicamente, a <strong>de</strong>bilida<strong>de</strong> física vai<br />
metaforizar a própria fragilida<strong>de</strong> sócio-económica, moral e psicológica <strong>de</strong>sta e das<br />
gerações seguintes até à do Xilim, uma fragilida<strong>de</strong> que parece não ter fim à vista.<br />
Esta família <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> escravos é por si o reflexo <strong>de</strong> uma situação <strong>de</strong><br />
anormalida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> injustiça social, pois o próprio processo <strong>de</strong> escravatura foi<br />
reconhecido, ao longo da história, pela sua brutalida<strong>de</strong> e <strong>de</strong>sumanida<strong>de</strong>. Por isso, é<br />
uma família <strong>de</strong>sagregada a partir do velho Mafanissane, passando pelo filho débil, até<br />
à avó Alima, solitária e abandonada no Ridjalembe pela sua filha Kati, levada à<br />
levianda<strong>de</strong> e a uma vida promíscua precisamente pela sua condição social.
O narrador apresenta <strong>de</strong>sta forma, e <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início, uma situação <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sequilíbrio em relação a esta família, que se converte numa estranha normalida<strong>de</strong><br />
pela negativa. Esse <strong>de</strong>sequilíbrio vai-se perpetuando ao longo das gerações, o que<br />
equivale a dizer que ele criou personagens equilibradas disforicamente, por se<br />
manterem no mesmo espaço e na mesma estrutura sócio-económica ao longo da<br />
narrativa. Do ponto <strong>de</strong> vista das suas funções, essas personagens reiteram a<br />
representação da miséria e da fragilida<strong>de</strong> que adveêm <strong>de</strong> dificulda<strong>de</strong>s económicas,<br />
documentando uma socieda<strong>de</strong> hierarquizada e injusta.<br />
( ii) Filho débil e sua companheira – Este casal não é nomeado, como também não<br />
se lhe dá o <strong>de</strong>vido relevo. Porque o mais importante é situar os acontecimentos em<br />
Xilim, o mais rápido possível, o narrador opta por omitir, neste caso, a história <strong>de</strong>ste<br />
inonimado casal. Esta estratégia <strong>de</strong> resumo <strong>de</strong> acontecimentos permite a aceleração da<br />
narrativa. O filho débil e a cmpanheira são os progenitores <strong>de</strong> vovó Alima. A partir<br />
<strong>de</strong>sta velha, o narrador estabelece a ligação genealógica entre a geração anterior e a<br />
posterior.<br />
(iii) Vovó Alima e seu companheiro _ Vovó Alima, cujo companheiro não se<br />
nomeia, é a única sobrevivente da sua geração, da gran<strong>de</strong> seca que assolou<br />
Ridjalembe. Como consequência <strong>de</strong>ssa seca, todos os al<strong>de</strong>ões abandonaram a<br />
povoação para os subúrbios do Marandal, permanecendo ela sozinha na terra<br />
ancestral, como que a simbolizar a resistência, a perpetuar os antepassados, ligando-os<br />
à nova geração, entretanto refugiada no espaço urbano, o espaço do outro.
Vovó Alima é uma espécie <strong>de</strong> guardiã da al<strong>de</strong>ia <strong>de</strong>serta e abandonada. Ela<br />
aceita o sacrifício individual <strong>de</strong> permanecer solitária e abandonada na al<strong>de</strong>ia natal <strong>de</strong><br />
Ridjalembe, para salvar o seu povo.<br />
A única filha <strong>de</strong> vovó Alima é a Kati, neta do “Filho débil” e bisneta do<br />
escravo Mafanissane.<br />
(iv) Kati e Patrão Campos – A relação entre ambos foi fortuita e ocasional, tendo,<br />
para o Patrão Campos, resultado num filho ilegítimo e, consequentemente, não<br />
reconhecido por ele. A partir <strong>de</strong>sta intromissão <strong>de</strong> um elemento estranho à linhagem<br />
do velho escravo (o patrão Campos) a estrutura familiar das gerações seguintes se<br />
<strong>de</strong>smoronou. E a <strong>de</strong>sagregação moral foi acrescentar-se à já <strong>de</strong>sajustada situação<br />
sócio-económica da linhagem do velho.<br />
Por causa das relações adúlteras do patrão Campos, perpetuam-se ainda mais<br />
as miseráveis condições <strong>de</strong>sta família, ao mesmo tempo que as relações <strong>de</strong> parentesco<br />
se complexificam e se fragilizam. Com o nascimento <strong>de</strong> Xilim surge um outro (novo)<br />
problema, o do mulato, pertencente tanto ao sangue do patrão Campos, como ao da<br />
Kati e, antiteticamente, não se parecendo a nenhum <strong>de</strong>les por ser diferente. Esta<br />
diferença rácica vai criar uma situação <strong>de</strong> dúvida, que o próprio Xilim manifesta<br />
quando, em monólogo, se pergunta: «Afinal quem sou eu? A que raça pertenço?» Este<br />
problema, frequente na literatura africana do autor e <strong>de</strong>pois das in<strong>de</strong>pendências, foi<br />
tratado <strong>de</strong> modo muito interessante em Mayombe, <strong>de</strong> Pepetela. 39<br />
39 . «Também Pepetela, em Mayombe, inserirá problematicamente entre as suas personagens o<br />
mestiço apelidado Teoria, um instrutor guerrilheiro que, como João Xilim, <strong>de</strong> Portagem, expõe o<br />
<strong>de</strong>safio constante e doloroso em que se constitui o simples convívio no seio do grupo, dada a marca<br />
duvidosa <strong>de</strong> «produto híbrido». Assim fala «Teoria»:<br />
“ Da terra recebi a cor escura do café, vinda da mãe, misturada ao branco <strong>de</strong>funto do meu pai,<br />
comerciante português. Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor. Num universo <strong>de</strong> sim ou
Em Xilim, a questão da cor da pele vai constituir um estigma ao longo <strong>de</strong> toda<br />
a sua vida e vai ditar o seu inglório <strong>de</strong>stino, em todas as suas esferas, porque produto<br />
<strong>de</strong> relações adúlteras entre a mãe Kati e o branco patrão Campos. É aliás em Xilim<br />
que o autor mais investe no representar da discriminação socio-cultural e racial, ainda<br />
que, já a partir da mãe Kati, se vislumbrassem ténues manifestações do tema.<br />
(iv´) Uhulamo – Companheiro <strong>de</strong> Kati, padrasto <strong>de</strong> Xilim e capataz da mina <strong>de</strong> patrão<br />
Campos, é a configuração da aceitação pacífica <strong>de</strong> imoralida<strong>de</strong>s, a troco <strong>de</strong> favores<br />
profissionais. Em conivência com o seu patrão, mediante a aceitação por imposição e<br />
sem escolha <strong>de</strong> Kati, é-lhe proposto encobrir a relação adúltera entre patrão Campos e<br />
a mulata, consentindo viver com esta como sua companheira e com Xilim como filho<br />
<strong>de</strong> ambos.<br />
Uhulamo é uma personagem cuja lógica ultrapassa talvez o limite do possível<br />
em termos do imaginário social, pois ele aceitou constituir uma família que, na<br />
verda<strong>de</strong>, não o era. Com isso, também contribui para a <strong>de</strong>sagregação da família do<br />
negro Mafanissane. Se é verda<strong>de</strong> que a nível social e aos olhos dos habitantes do<br />
Marandal, Uhulamo é visto como o companheiro <strong>de</strong> Kati, não é menos verda<strong>de</strong> que<br />
entre ambos perpassa um sentimento <strong>de</strong> serem objectos humanos usados para<br />
camuflar os abusos e a prepotência do patrão Campos, representantes <strong>de</strong> homens<br />
<strong>de</strong>sprovidos <strong>de</strong> dignida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> honra e <strong>de</strong> valores nobres <strong>de</strong> moral. Uhulamo sabe e<br />
sente que, do ponto <strong>de</strong> vista ético, não é companheiro <strong>de</strong> Kati, não é padrasto <strong>de</strong><br />
Xilim e nem sequer se integra na família <strong>de</strong>stes, sendo um estranho.<br />
não, branco ou negro, eu represento o “talvez” (…). Porque no mundo não há lugar para o talvez?”.»<br />
(Manuel FERREIRA, 1979: 68)
(v) Xilim e sua companheira, a mulata Luísa, filha <strong>de</strong> Dona Maria _ A trama<br />
narrativa apresenta, fundamentalmente a partir <strong>de</strong> Xilim, uma dinâmica semântica que<br />
privilegia sobremaneira o tema da cor da pele. Vista como fatalida<strong>de</strong> do seu <strong>de</strong>stino e<br />
como resultado <strong>de</strong> relações adúlteras, a cor mestiça tem, na visão do narrador, uma<br />
conotação disfórica. Esta disforia não é mais do que a metaforização das condições <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>gradação sócio-económica, ética e moral vividas pelo negro e pelo mestiço.<br />
Aliando-se este tipo <strong>de</strong> situações somente às raças atrás referidas, escamoteia-se a sua<br />
verda<strong>de</strong>ira natureza, sendo assim dado ver um quadro social numa das suas facetas, a<br />
outra po<strong>de</strong>ndo ser inferida, se for abordada do ponto <strong>de</strong> vista irónico.<br />
Também a partir <strong>de</strong> Xilim e remontando à sua mãe Kati, a rigi<strong>de</strong>z da estrutura<br />
familiar tradicional é posta em causa. Já não se tem bem claro quem é parente, quem<br />
não o é, pois o pai biológico <strong>de</strong> Xilim (o patrão Campos) não é seu pai sociológico,<br />
tendo sido “substituído” pelo velho Uhulamo (seu parente por conveniência). Maria<br />
Helena veio a ser a irmã (ainda por cima branca) que antes não era, situação muito<br />
confusa, até que um dia a verda<strong>de</strong> veio ao <strong>de</strong> cima. Xilim ficou a saber <strong>de</strong> tudo:<br />
jurídica e sociologicamente, ele não era filho <strong>de</strong> patrão Campos nem irmão <strong>de</strong> Maria<br />
Helena. Uma série <strong>de</strong> outras re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> parentesco se entrelaçam e se complicam, se<br />
forem vistas do lado da linhagem do patrão Campos. Aliás, esta confusão<br />
condicionará Xilim, na medida em que, a partir <strong>de</strong> uma vida pouco clara entre os seus<br />
progenitores, foi ele próprio um indivíduo com uma relação conjugal pouco<br />
conseguida. Levou uma vida errante e confusa, sem emprego fixo, com privações e<br />
<strong>de</strong>smandos. Viveu sempre num estado <strong>de</strong> permanente perturbação, primeiro numa<br />
família aparente (com a mulata Kati e o velho Uhulamo), <strong>de</strong>pois em situação<br />
equivalente, como criado (da meia-irmã Maria Helena, tendo o pai biológico como<br />
seu patrão e como patroa a mãe <strong>de</strong> Maria Helena). Xilim ignorava a situação, até que
o tempo se encarregou <strong>de</strong> <strong>de</strong>svendar o mistério em torno da sua ascendência remota e<br />
dos seus progenitores, como se nota a seguir:<br />
«Com o breve crepúsculo a extinguir-se, João Xilim continua meditando na ilhota <strong>de</strong><br />
areia. E recorda-se que fora naquele verão que se apercebera <strong>de</strong> uma realida<strong>de</strong> que viera a<br />
marcá-lo no ventre <strong>de</strong> sua mãe. Ele não era negro como a outra gente nascida em terras <strong>de</strong><br />
Marandal. Tinha a pele mais clara que a dos negros e o cabelo mais liso.» (Po.: 21)<br />
O conhecimento <strong>de</strong>sta realida<strong>de</strong> tornou mais nublado o seu horizonte social. A<br />
tentativa <strong>de</strong> constituição <strong>de</strong> uma família, por parte <strong>de</strong> Xilim, não se mostrou frutífera.<br />
Como companheiro da mulata Luísa, era in<strong>de</strong>sejado aos olhos da mãe <strong>de</strong>sta, por ser<br />
pobre e por não garantir a melhoria das condições <strong>de</strong> vida da filha e as suas também.<br />
Entretanto, Xilim e Luísa tiveram um filho, o Zidrito (antes morrera-lhes outro, ainda<br />
na barriga <strong>de</strong> Luísa). Zidrito é o último elemento referido na linhagem do velho<br />
escravo Mafanissane. Se o parentesco for visto com certa rigi<strong>de</strong>z, então Xilim<br />
pertencerá a uma meia-família, cujas gerações vindouras po<strong>de</strong>rão per<strong>de</strong>r a<br />
referencialida<strong>de</strong> dos seus antepassados, pois estes não constituem nem a honra, nem o<br />
orgulho da família. 40<br />
Xilim é <strong>de</strong> uma família sem honra e sem orgulho porque é resultado <strong>de</strong><br />
“companheirismos” orquestrados pelo patrão Campos. Katia feriu o orgulho reverente<br />
pelos antepassados, pois não manteve a pureza rácica da linhagem. A honra é um<br />
ingrediente importante para o prestígio que permite a um chefe <strong>de</strong> família atrair<br />
seguidores. Xilim não teve em casa da mãe um verda<strong>de</strong>iro chefe <strong>de</strong> família (Uhulamo<br />
era um lacaio ao serviço do patrão Campos), logo, não teve um exemplo a seguir, pois<br />
a sua mãe Luísa levava uma vida duvidosa.<br />
40 . Visto no sentido formal, o parentesco «é uma função, no sentido quase matemático do<br />
termo. Induz entre os homens relações igualitárias (todos têm a mesma honra) indistintas (<strong>de</strong>ve-se tanta<br />
ajuda e afecto a um primo como a um irmão) marcadas, no plano das trocas, por uma reciprocida<strong>de</strong> não<br />
tabelada. A honra é um capital social que se mantém e que se faz frutificar em conjunto, mas cada<br />
situação <strong>de</strong> avaliação repõe em causa a categoria e os próprios contornos do grupo solidário.» (Philipe<br />
ARIÈS, 1990: 122-123)
O concubinato, naquela socieda<strong>de</strong> tradicional às portas da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Marandal<br />
parece ter sido, contudo, uma prática bastante estável entre a pobre família aon<strong>de</strong><br />
viveu e cresceu Xilim. Aliás, ele próprio viria a constituir família com Luísa,<br />
seguindo a mesma tradição costumeira que, pelos vistos, era prática comum na<br />
maioria das famílias suburbanas e rurais <strong>de</strong> Marandal. A incidência do concubinato<br />
parece tê-lo tornado a forma tradicional típica <strong>de</strong> casamento costumeiro, a par <strong>de</strong> (e<br />
não como alternativa) casamentos oficiais e católicos nas camadas sociais assimiladas<br />
e nas <strong>de</strong> origem europeia.<br />
Em relação ao casal Kati e Uhulamo, como o vínculo com o patrão Campos<br />
foi substituído pelos laços <strong>de</strong> forte subordinação e <strong>de</strong>pendência, a cultura <strong>de</strong><br />
respeitabilida<strong>de</strong> foi substituída pela <strong>de</strong> submisão e lealda<strong>de</strong>. É com base neste cenário<br />
que Xilim procura em vão fazer justiça pelas próprias mãos. Supunha ele que, para<br />
uma família sem nobreza <strong>de</strong> carácter e sem posição social <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque no mundo,<br />
fazer valer a sua honra (a da mãe e a <strong>de</strong> tantos outros <strong>de</strong>sfavorecidos e injustiçados),<br />
através <strong>de</strong> conflitos que incluem violências, pancadarias e vigarice, era um meio <strong>de</strong><br />
existir e <strong>de</strong> <strong>de</strong>safiar a posição social <strong>de</strong> outrem. Entretanto, por enquanto, Xilim<br />
optou por emigrar, na vã tentativa <strong>de</strong> esquecer tanta injustiça, <strong>de</strong> atenuar a sua raiva e<br />
<strong>de</strong> conseguir melhoria <strong>de</strong> condições <strong>de</strong> vida. A estratégia não resultou: Xilim não<br />
esquece o passado, não consegue mudar o <strong>de</strong>stino.<br />
Pouco tempo <strong>de</strong>pois da fuga, regressa a Marandal. É quando lhe assoma um<br />
misto <strong>de</strong> arrependimento e <strong>de</strong> ódio:<br />
«João Xilim assiste à vida da gente <strong>de</strong> Marandal como um sonâmbulo. Pergunta a si<br />
mesmo que veio ali fazer. Fugira porque Kati se tinha embrulhado com Patrão Campos,<br />
diante dos seus próprios olhos. Patrão Campos <strong>de</strong>via ser o pai <strong>de</strong>le. E tivera, apesar disso,<br />
coragem para regressar, tornar a ver o branco da mina e o capataz que dorme todas as noites<br />
com a mãe. (…) Nos primeiros tempos <strong>de</strong> embargadiço pensara constantemente em regressar<br />
um dia a Marandal e vingar-se <strong>de</strong> patrão Campos e <strong>de</strong> Kati que lhe tinham atraiçoado a<br />
inocência.» Po.: 31
Para dar conta do pensamento, das imaginações <strong>de</strong> Xilim, o narrador assume-<br />
se como uma máquina <strong>de</strong> filmar montada no cérebro daquele, permitindo-se assim um<br />
conhecimento pormenorizado das cogitações da personagem. O narrador não só relata<br />
o pensamento <strong>de</strong> Xilim, discursivizado no passado, como também o comenta, analisa<br />
e interpreta. Resulta uma imagem clara do mundo interior <strong>de</strong> Xilim, caracterizado por<br />
permanente perturbação. Por exemplo, no capítulo 7 <strong>de</strong> Portagem, servindo-se <strong>de</strong> um<br />
discurso na terceira pessoa, o narrador funciona como árbitro da situação, como<br />
controlador das acções e dos pensamentos das personagens. Apesar <strong>de</strong>, amiú<strong>de</strong>,<br />
recorrer ao discurso directo (não ao diálogo, pois não se colocam as personagens<br />
numa situação <strong>de</strong> comunicação bilateral em presença), privilegia o seu próprio<br />
discurso: a narração. Este narrador <strong>de</strong>posita confiança e tem preferência na sua voz<br />
narrativa, produzindo um efeito parecido com o <strong>de</strong> recontar dos factos e das acções<br />
das personagens. Entretanto, essa voz narrativa está, algumas vezes, em conivência<br />
com o discurso das próprias personagens. Para situar melhor na estrutura discursiva<br />
do texto, veja-se que o relato das acções e das activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Maria Helena e <strong>de</strong> Xilim<br />
é secundado pelo diálogo entre ambos, produzindo-se um discurso híbrido, sem ser<br />
directo, nem indirecto, mas aproximando-se do indirecto livre; talvez seja um discurso<br />
que conjuga os três:<br />
No dia seguinte (Maria Helena) mandou chamar o mulato que fora moleque na sua<br />
casa (…).<br />
_ João, man<strong>de</strong>i-te chamar porque preciso muito <strong>de</strong> ti…<br />
Conta-lhe tudo, as suas intenções, as objecções <strong>de</strong> António Santos, a relutância da<br />
mãe em continuar a viver agora no Marandal. Precisa <strong>de</strong>le para combater e vencer a<br />
superstição dos trabalhadores da mina (…).<br />
_Então, João?!…<br />
Nada se arrisca (João) a prometer. Os negros hão-<strong>de</strong> esquivar-se a voltar a trabalhar<br />
naquele poço on<strong>de</strong> ficaram enterrados para sempre vinte e três companheiros. E terá coragem<br />
para lhes falar nisso?<br />
_Vou ver, menina…» Po.: 43
Repare-se que não há propriamente um diálogo entre Maria Helena e Xilim.<br />
Com esta estratégia <strong>de</strong> mediação discursiva, o narrador consegue ganhar tempo: em<br />
vez <strong>de</strong> reproduzir a totalida<strong>de</strong> das falas directas dos dois, trata, ele próprio, <strong>de</strong><br />
interpretar e <strong>de</strong> sintetizar a conversa <strong>de</strong> ambos. A narrativa torna-se menos <strong>de</strong>nsa e <strong>de</strong><br />
progressão relativamente rápida, mercê da estratégia discursiva do narrador: uma<br />
estratégia que predomina, aliás, em toda a narrativa Mendista.<br />
Voltando às questões da família, lembre-se que quatro gerações separam<br />
Xilim do seu avô Mafanissane. Em todas essas gerações há um traço comum: <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
Mafanissane e sua companheira a Xilim e Luísa, cada casal teve somente um filho.<br />
Isso condiciona a inexistência <strong>de</strong> consanguinida<strong>de</strong> alargada e, ao mesmo tempo, po<strong>de</strong><br />
suscitar a hipótese <strong>de</strong> <strong>de</strong>satenção a uma das características mais típicas da família<br />
africana: a existência <strong>de</strong> muitos filhos. Se se trata <strong>de</strong> <strong>de</strong>satenção, tem certa gravida<strong>de</strong>,<br />
pois nas famílias africanas em geral, e nas do sul <strong>de</strong> Moçambique em particular, os<br />
filhos constituem o bem mais precioso, imprescindível mesmo à subsistência. É pouco<br />
crível e pouco verosímil que nessas famílias das socieda<strong>de</strong>s tradicionais os casais<br />
tivessem tido somente um filho cada, ainda que teoricamente não fosse impossível.<br />
Será algo consciente, premeditado, o facto <strong>de</strong> o narrador ter privilegiado um único<br />
filho para cada casal, sem pelo menos fazer referência a tios paternos ou maternos, a<br />
primos, a irmãos (à excepção <strong>de</strong> Xilim e <strong>de</strong> Maria Helena), ou usou a estratégia <strong>de</strong><br />
ocultação dos nomes <strong>de</strong> irmãos, tios, para mostrar a irrelevância da sua integração na<br />
trama narrativa (à semelhança, aliás, da ocultação <strong>de</strong> nomes <strong>de</strong> algumas personagens,<br />
por exemplo o da companheira do escravo Mafanissane, o do filho débil e o da sua<br />
companheira, o do companheiro da avó Alima, etc.)? De qualquer modo, esse<br />
“empobrecimento” das famílias, em termos <strong>de</strong> número do agregado, ocasiona uma<br />
total <strong>de</strong>sagregação entre os seus membros. Além disso, tal situação coloca algumas
preocupações em termos <strong>de</strong> experiência afectiva das famílias africanas. O que será, ou<br />
melhor, o que significará um filho único para um africano rural ou da zona<br />
suburbana? As respostas a estas perguntas, ainda que sejam <strong>de</strong>sejáveis, não se<br />
mostram fáceis, a menos que se pretenda uma especulação. Entretanto, a questão do<br />
filho único tem <strong>de</strong> ser minimamente pon<strong>de</strong>rada quando se trata <strong>de</strong> literatura africana.<br />
Um filho único, na África tradicional, on<strong>de</strong> a maior riqueza é a mão <strong>de</strong> obra<br />
dos parentes, não será bom, na medida em que enfraquece a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> produção<br />
material e <strong>de</strong> reprodução da família. Há também repercursões ao nível das alianças e<br />
das trocas matrimoniais com outras tribos vizinhas. Um filho único diminui<br />
drasticamente as hipóteses <strong>de</strong> trocas, também vistas como fontes <strong>de</strong> angariação <strong>de</strong><br />
mão <strong>de</strong> obra, para além, como é óbvio, <strong>de</strong> ser garante da reprodução do grupo. Po<strong>de</strong>r-<br />
se-á conjecturar que os filhos únicos reflectem uma evolução <strong>de</strong> mentalida<strong>de</strong> nessas<br />
socieda<strong>de</strong>s no sentido <strong>de</strong> se preten<strong>de</strong>r proporcionar boas condições <strong>de</strong> vida aos filhos<br />
e <strong>de</strong> minorar os gastos com a criação e a educação dos mesmos. É <strong>de</strong> crer, entretanto,<br />
que esse pensamento ainda não existisse, ma medida em que ainda não se tinha<br />
implantado o sistema <strong>de</strong> produção e <strong>de</strong> acumulação capitalistas. Essas socieda<strong>de</strong>s<br />
tradicionais, ou do mundo suburbano são, em parte, fechadas e têm como<br />
característica, em relação aos filhos, a partilha <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong>s na educação e na<br />
sua criação. Não há propriamente uma responsabilização individual das famílias<br />
somente para com os filhos biológicos e, por isso, não há a consciência <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas na<br />
criação dos filhos.<br />
O filho único não é, para a família tradicional africana, sinónimo <strong>de</strong><br />
racionalida<strong>de</strong>. Pelo contrário, constitui uma preocupação para os progenitores e para a<br />
socieda<strong>de</strong> em geral. O pensamento predominante é o <strong>de</strong> que não se po<strong>de</strong> limitar a<br />
vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> Deus; os progenitores <strong>de</strong>vem ter tantos filhos quanto as suas capacida<strong>de</strong>s o
permitam, pois a responsabilida<strong>de</strong> futura para os alimentar estará nas mãos do próprio<br />
Todo Po<strong>de</strong>roso, que <strong>de</strong>legará em cada um dos membros <strong>de</strong>ssa socieda<strong>de</strong> essa<br />
responsabilida<strong>de</strong>. Aliás, na zona sul <strong>de</strong> Moçambique, e crê-se que em toda a África<br />
tradicional em geral, ter poucos filhos (e ter somente um é inimaginável) é sinal <strong>de</strong><br />
que o homem tem medo <strong>de</strong> alimentar, <strong>de</strong> criar e <strong>de</strong> assumir uma responsabilida<strong>de</strong> para<br />
com uma família específica; ele é fraco como homem. O seu po<strong>de</strong>r está exactamente<br />
no procedimento contrário, tendo em conta que, para além do que se disse, esses<br />
mesmos filhos serão responsabilizados futuramente para cuidar dos pais. Ter um filho<br />
é pois hipotecar o seu futuro na velhice.<br />
Uma hipótese se po<strong>de</strong> aventar para se tentar compreen<strong>de</strong>r o porquê <strong>de</strong> o Autor<br />
<strong>de</strong> Portagem “criar” famílias com um único filho: essas famílias só po<strong>de</strong>m ser aceites<br />
como simbólicas, ou seja, se nas socieda<strong>de</strong>s tradicionais africanas ter muitos filhos é<br />
uma riqueza, então, ter um é uma pobreza, logo, estas famílias tradicionais, neste<br />
contexto, eram pobres também por isso. Neste caso, filho único será a metaforização<br />
da exiguida<strong>de</strong> <strong>de</strong> recursos, da redução <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> privações e <strong>de</strong> exclusão<br />
da situação <strong>de</strong> normalida<strong>de</strong> (ter muitos filhos). Simbolicamente, ter muitos filhos,<br />
neste contexto, é ter muitas e boas oportunida<strong>de</strong>s.<br />
Como Xilim não é feliz ao nível da família e só tem um único filho, então só<br />
lhe resta esta alternativa: tem que lutar, com pouca ajuda, pela sobrevivência, tem que<br />
abrir caminho por si na vida social, elevando-se à posição que os seus talentos<br />
permitem. As personagens Xilim, em Portagem, e Jangô, em A Estranha Aventura,<br />
por não terem laços familiares próximos (irmãos, primos e tios), o que no mínimo é<br />
um absurdo, em termos <strong>de</strong> imaginário africano, não têm nenhuma linhagem que lhes<br />
permita <strong>de</strong>finir e <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r a continuida<strong>de</strong> do seu nome. Falta-lhes ainda muito no<br />
plano da solidarieda<strong>de</strong> social; não têm um grupo coerente e coeso, alargado e
consanguíneo, um grupo <strong>de</strong> pessoas que partilhem com parentes outros uma<br />
ascendência comum até um antepassado fundador. Por acaso, Xilim tem vago<br />
conhecimento <strong>de</strong> um antepassado, pois conheceu a sua avó Alima, a qual veio a<br />
morrer na sua ausência, sem lhe ter legado nada da cultura tradicional dos<br />
antepassados <strong>de</strong> Ridjalembe.<br />
Tanto em Portagem, como em A Estranha Aventura, se po<strong>de</strong> ver outro tipo <strong>de</strong><br />
família, a <strong>de</strong> <strong>de</strong>scendência e <strong>de</strong> características europeias: é o caso, em Portagem, das<br />
famílias do patrão Campos, do Sr. António Santos, supostamente do Delegado do<br />
Ministério Público, do Dr. Ramires, do Sr. Juíz, etc., e, em A Estranha Aventura, da<br />
família <strong>de</strong> Marianita (conto «Os olhos da Marianita»), da <strong>de</strong> João Pedro (conto «A<br />
porta fechada») e da <strong>de</strong> Cacilda (conto «Cacilda»). De mo<strong>de</strong>lo europeu, essas famílias<br />
assentam em outras bases culturais e civilizacionais, raízes que mantêm, apesar <strong>de</strong><br />
serem emigrantes ou <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> emigrantes. Em geral, o nível sócio-económico<br />
<strong>de</strong>ssas famílias é aceitável, pois têm acesso ao saber, à cultura e consequentemente ao<br />
po<strong>de</strong>r. Salvo raras excepções, (por exemplo, o Sr. Esteves e o Marques, em Portagem;<br />
a personagem/narrador do conto «Um tipo in<strong>de</strong>cente», em A Estranha Aventura), a<br />
vida <strong>de</strong>stas famílias corre sem gran<strong>de</strong>s sobressaltos, não obstante alguns assomos <strong>de</strong><br />
sauda<strong>de</strong> e <strong>de</strong> sentimentos <strong>de</strong> nostalgia para com a Pátria-Mãe, a Metrópole. O<br />
sentimento <strong>de</strong> sauda<strong>de</strong> tem reflexos directos nos pais <strong>de</strong> Cacilda e culmina com o<br />
regresso <strong>de</strong>stes à terra natal, apesar da relutância da filha que, teimosamente, prefere<br />
permanecer em Moçambique, sua terra natal. Esta micro realida<strong>de</strong> do colono, que vai<br />
para África, por uns tempos, para enriquecer, afim <strong>de</strong> <strong>de</strong>pois regressar, norteou a<br />
mentalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> muitos <strong>de</strong>les, ainda que alguns tenham <strong>de</strong>cidido ficar <strong>de</strong>finitivamente<br />
no continente negro.
Diferentemente <strong>de</strong> Portagem, em A Estranha Aventura tem-se a<br />
predominância <strong>de</strong> contos que procuram reproduzir o espaço social ou o microcosmos<br />
<strong>de</strong> famílias europeias ou <strong>de</strong>las <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes. Guilherme <strong>de</strong> Melo criou cenários on<strong>de</strong><br />
acontecimentos se <strong>de</strong>senrolam basicamente em famílias cujo modo e padrão <strong>de</strong> vida é<br />
marcadamente europeu. Entretanto, vão-se levantando alguns focos <strong>de</strong> conflito<br />
cultural, social e racial, cada vez que culturas diferentes entram em contacto; é o<br />
caso, por exemplo, das incompetências dos criados em casa dos patrões brancos: 41<br />
«O mufana, que tem na ca<strong>de</strong>rneta, como ida<strong>de</strong> provável, catorze anos e que fez,<br />
realmente, apenas doze anos, veio da terra há pouco mais <strong>de</strong> um ano. Os primeiros meses<br />
passou-os numa casa gran<strong>de</strong>, com um quintal enorme, ali nos arredores da cida<strong>de</strong>, tratando<br />
dos coelhos, das galinhas, do cão.<br />
Mas não era bom aquele serviço. Afinal, era quase a mesma coisa que guardar<br />
cabritos do tatana (pai ou tio), na terra, antes <strong>de</strong> vir para o Chilunguine (cida<strong>de</strong>).» (E A.: 18)<br />
A separação entre os adolescentes emigrantes das zonas rurais ou suburbanas<br />
para a cida<strong>de</strong> (ou mesmo para as minas do Rand - metaforizadas em Portagem pelas<br />
minas <strong>de</strong> Jumpers - na vizinha Africana do Sul) e os familiares da terra natal, era por<br />
41 . Os criados indígenas são os empregados domésticos que, geralmente, eram recrutados nas<br />
zonas rurais, sem o mínimo <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> aculturação. A sua mundividência reflectia a forma <strong>de</strong><br />
ser e <strong>de</strong> estar do campo, daí as constantes incompreensões e <strong>de</strong>sentendimentos mútuos. A maior<br />
dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> comunicação situava-se ao nível da língua portuguesa, cuja compreensão, por parte do<br />
nativo não aculturado, era fraca, precisando até, amiú<strong>de</strong>, <strong>de</strong> tradução ou <strong>de</strong> interpretação <strong>de</strong> outro<br />
indígena, “civilizado”.<br />
Regra geral, a faixa etária preferida pelos patrões era entre os oito e os quinze anos, sendo<br />
frequente a obrigatorieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> abandono da al<strong>de</strong>ia natal, por parte do nativo futuro criado, para viver<br />
ou nos anexos da casa do patrão ou nos subúrbios ao redor da cida<strong>de</strong>. Este <strong>de</strong> recrutamento <strong>de</strong> mão <strong>de</strong><br />
obra infantil levantava o problema da legalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> esses criados estarem ou não autorizados a<br />
trabalhar. Para o contorno <strong>de</strong>sta ilegalida<strong>de</strong>, o que os patrões <strong>de</strong>fendiam perante as autorida<strong>de</strong>s era que<br />
se tratava <strong>de</strong> menores sob sua tutela, aos quais era prestado um misericordioso apoio sócio-económico,<br />
ajudando-os a minorar as carências e as privações, mas também ajudando o próprio Estado a civilizálos.<br />
Os patrões dignavam-se assim a criar os filhos nativos num espírito patriótico e <strong>de</strong> “boa-vonta<strong>de</strong>”.<br />
Outra <strong>de</strong>signação que parelhava com a <strong>de</strong> criado era a <strong>de</strong> moleque, à semelhança <strong>de</strong> mufana, que na<br />
língua Xi-Ronga <strong>de</strong> Maputo significa rapaz.<br />
Geralmente dava-se preferência aos rapazinhos do sexo masculino, (não fossem as<br />
rapariguinhas envergonhar as donas <strong>de</strong> casa, amantizando-se com os patrões, o que era muito<br />
frequente, mas fora das pare<strong>de</strong>s do lar). Entretanto, incluem-se na nomenclatura acima dada,<br />
<strong>de</strong>signações para funções domésticas similares como mainato (tratador e engomador <strong>de</strong> roupa) e até<br />
rapaz. Em relação a esta última, ela era usada quer se tratasse verda<strong>de</strong>iramente <strong>de</strong> um rapaz, quer <strong>de</strong><br />
um senhor, pai <strong>de</strong> filhos; daí a crítica que, após a in<strong>de</strong>pendência <strong>de</strong> Moçambique, o Presi<strong>de</strong>nte Samora<br />
Machel fazia a essa forma <strong>de</strong> tratamento e <strong>de</strong> inferiorização, nalguns dos versos <strong>de</strong> uma canção popular<br />
revolucionária, com os seguintes dizers: «não vamos esquecer o tempo que passou (bis)/; Quem po<strong>de</strong><br />
esquecer o que passou?!/ O pai <strong>de</strong> cinco filhos<br />
chamado o rapaz! (…).»
vezes tão brusca que estes ficavam anos sem saberem novas dos filhos. Quando as<br />
sabiam, podiam ser novas da morte:<br />
«(…) Foi então que, <strong>de</strong> repente, a criança (o mufana) surgiu em correria <strong>de</strong>sabalada<br />
<strong>de</strong> passeio para passeio.<br />
Houve um guinchar estrídulo <strong>de</strong> travões, um ranger alucinante <strong>de</strong> pneus, um baque,<br />
um uivo, talvez um estertor sufocado_ e, <strong>de</strong>pois, um silêncio enorme, profundo.» (E.A.: 198)<br />
«E nessa noite, longe, em qualquer ponto das terras <strong>de</strong> Gaza, cães esqueléticos<br />
ladriscavam fomes pelos carreiros abertos no mato, enquanto estendida na esteira, mamana,<br />
antes <strong>de</strong> adormecer, recordava o filho miúdo que seguira para o Chilunguíne, a cida<strong>de</strong> dos<br />
brancos, (…).» (E.A.: 205)<br />
O sul <strong>de</strong> Moçambique (espaço on<strong>de</strong> <strong>de</strong>correm as acções <strong>de</strong> «Uma criança<br />
morta» e <strong>de</strong> Portagem) caracteriza-se, nas zonas rurais e suburbanas, por um modo <strong>de</strong><br />
produção se<strong>de</strong>ntária e agrícola, on<strong>de</strong> o instrumento <strong>de</strong> maior uso é a enxada. Assim, a<br />
população <strong>de</strong>ssas zonas nunca foi para além <strong>de</strong> uma agricultura <strong>de</strong> sobrvivência.<br />
A<strong>de</strong>mais, o trabalho da machamba (campo) era feito por mulheres, já que os homens,<br />
em geral emigravam. Provavelmente, a dificulda<strong>de</strong> ou mesmo a impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
usar a charrua limitava a porção <strong>de</strong> terra a explorar por cada agregado, com<br />
consequências na sua capacida<strong>de</strong> para acumular recursos. Nestas socieda<strong>de</strong>s on<strong>de</strong>,<br />
para além da agricultura, há a pastorícia, a riqueza continua a ser reconhecida em<br />
termos <strong>de</strong> mão-<strong>de</strong>-obra, disponível na família alargada, mais do que na família<br />
restrita. 42<br />
Assim se explica que a exogamia seja sempre a regra básica do casamento,<br />
funcionando como forma <strong>de</strong> esten<strong>de</strong>r e <strong>de</strong> alargar a família, mas sobretudo como<br />
estratégia para aumentar a riqueza humana.<br />
Os jovens regressados da cida<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> ou das minas do Rand, encontravam<br />
nos clãs vizinhos o espaço i<strong>de</strong>al para procurarem esposas, muitas vezes em situações<br />
concertadas entre os anciãos das famílias envolvidas. Habitualmente, o pagamento<br />
pela noiva anda ligado à exogamia: compensa-se a família da noiva com generosas<br />
42 . Cf. James CASEY, 1990: 94
ofertas <strong>de</strong> gado e <strong>de</strong> outras coisas, cerimónia que se <strong>de</strong>signa por lobolo no sul <strong>de</strong><br />
Moçambique. Xilim não se enquadra neste esquema por já ter abandonado<br />
(juntamente com os outros al<strong>de</strong>ões) Ridjalembe, espaço ancestral on<strong>de</strong> eventualmente<br />
estas práticas seriam comuns e, ainda, porque per<strong>de</strong>u parcialmente as raízes da sua<br />
tradição, pois cresceu nos subúrbios <strong>de</strong> Marandal, on<strong>de</strong> uma cultura intermédia entre<br />
urbana e rural revela a presença <strong>de</strong> uma população aculturada, <strong>de</strong> pensamento dúbio,<br />
com comportamentos e atitu<strong>de</strong>s viciados pela cultura consumista da cida<strong>de</strong>. Aliás, a<br />
cor mestiça <strong>de</strong> Xilim é em si a encarnação <strong>de</strong>ssa dualida<strong>de</strong> cultural.<br />
Importa fazer uma breve referência aos casamentos no plano específico das<br />
relações conjugais, para uma melhor compreensão da relações consanguíneas ou por<br />
afinida<strong>de</strong>. Por exemplo, Omar Sambine, no conto “O Estranho Amor” <strong>de</strong> A Estranha<br />
Aventura, é uma personagem cuja vida conjugal confusa e sem glória culminou com<br />
o abandono da mulher, Suleima, que enveredara pela prostituição. A situação lembra<br />
a <strong>de</strong> Xilim. Com o casamento falhado, a vida familiar sem sucesso, a alternativa<br />
encontrada por Omar foi juntar-se eternamente ao mar, amantizando-se com ele. O<br />
mesmo se po<strong>de</strong> dizer <strong>de</strong> Luísa, ex-esposa <strong>de</strong> Xilim. Neste aspecto, Portagem e A<br />
Estranha Aventura cruzam-se frequentemente, havendo nas duas obras, recorrência ao<br />
tema da prostituição, da miséria, da promiscuida<strong>de</strong>, da raça e, sobretudo, da injustiça<br />
social; o jovem rapaz é a personagem chamada a enfrentar as vicissitu<strong>de</strong>s da vida,<br />
atribuindo-se à mulher um papel secundário <strong>de</strong> passivida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> conformismo. Em A<br />
Estranha Aventura, Suleima, primeira esposa <strong>de</strong> Omar, e em Portagem, Luísa,<br />
esposa <strong>de</strong> Xilim, <strong>de</strong>svirtuam o papel tradicional <strong>de</strong>stinado à mulher, pervertendo a sua<br />
função básica que era, segundo a mentalida<strong>de</strong> da época, doméstica: cabia à mulher
ealizar trabalhos caseiros, zelando pelos filhos e pelos homens, em geral: os irmãos,<br />
o marido, os primos, os cunhados, etc. 43 .<br />
Este papel predominantemente doméstico da mulher não só se manifesta nas<br />
camadas sociais <strong>de</strong>sfavorecidas enquadradas nas estruturas sociais tradicionais<br />
africanas, mas também nas mulheres pertencentes às famílias europeias, <strong>de</strong> cultura<br />
acentuadamente oci<strong>de</strong>ntal. Numa e noutra socieda<strong>de</strong> paira, ainda que <strong>de</strong> maneira<br />
diferenciada, o espectro da superiorida<strong>de</strong> masculina e da sujeição feminina. Leonor,<br />
esposa <strong>de</strong> João Pedro, no conto “A porta fechada”, <strong>de</strong> A Estranha Aventura, ilustra<br />
isso: uma mulher assumidamente doméstica, dona <strong>de</strong> casa e conformada com tal<br />
situação. Aliás, a própria estrutura da socieda<strong>de</strong> está organizada <strong>de</strong> tal forma que a<br />
mulher se convença <strong>de</strong> que o seu lugar é somente no doce lar. Mas o excesso <strong>de</strong> zelo<br />
<strong>de</strong> Leonor para com o marido, bem como a insegurança emocional manifestada em<br />
<strong>de</strong>sconfianças, em ciúmes infundados e em vigilância, provocam no marido um<br />
gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>sgaste emocional. Saturado, João Paulo reage assim:<br />
«Não pensaste, Leonor… Não pensaste que estavas sempre on<strong>de</strong> eu estivesse quando<br />
me encontrava em casa e que, às vezes, eu po<strong>de</strong>ria querer que tu não estivesses ao meu lado,<br />
para que fosse eu próprio a sentir a necessida<strong>de</strong> da tua presença?…(…). Tu e os teus jornais, à<br />
hora da sesta _ porque tu nunca conseguiste dormir a sesta, mas partias do princípio que o teu<br />
<strong>de</strong>ver, como boa e <strong>de</strong>dicada esposa, era <strong>de</strong>itares-te ao meu lado, ro<strong>de</strong>ada pelo teu monte<br />
incrível <strong>de</strong> jornais que folheavas num ranger medonho das páginas, um ranger que me<br />
exasperava os nervos, me roubava o sono, me <strong>de</strong>struía o <strong>de</strong>scanso e que, apesar <strong>de</strong> tudo isso,<br />
43 . Tenha-se em atenção que Ariès faz esta constatação para <strong>de</strong>screver a visão do mundo sobre<br />
a mulher, na Europa Renascentista que, por acaso, encontra paralelo com as actuais socieda<strong>de</strong>s<br />
tradicionais africanas.<br />
Sobre a mulher e a vida doméstica, diz Ariès que a primeira tem «por vocação incarnar a<br />
imagem, enraizada pela Igreja e pela socieda<strong>de</strong> civil, <strong>de</strong> esposa e <strong>de</strong> mãe, em conjunto. A exigência <strong>de</strong><br />
honra, feita <strong>de</strong> contenção, <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> aos seus e ao seu bom nome, resume-a bem; portanto, um<br />
<strong>de</strong>votamento constante a todos aqueles que vivem em comum sob o seu tecto, <strong>de</strong>stina-a a servir, isto é,<br />
a cuidar: alimentar, educar, acarinhar na doença, assistir na morte; é essa a função das mulheres, que a<br />
ela se consagram gratuitamente: não está nos usos, <strong>de</strong> resto, reconhecer a sua tão frequente participação<br />
na produção para melhor as louvar e nos testemunhos reconhecer o seu <strong>de</strong>votamento». (Philpe ARIÈS,<br />
1990: 417). Ao jovem cabia um papel importante no exterior da família, da casa, ou do lar. Xilim,<br />
Omar Sambine, o mufana, a criança (morta) partem em busca <strong>de</strong> glória. «A juventu<strong>de</strong> era uma fase do<br />
ciclo <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong>s que o indivíduo tinha e ainda tem perante a comunida<strong>de</strong>, uma ida<strong>de</strong> marcada<br />
<strong>de</strong> rebeldia e inquietação, que a comunida<strong>de</strong> sanciona. Jovens eram aqueles que podiam correr riscos<br />
porque não tinham a responsabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma mulher e filhos; era com eles que se contava para<br />
aguentarem o peso das responsabilida<strong>de</strong>s e das <strong>de</strong>spesas familiares». A juventu<strong>de</strong> terminava não com a<br />
ida<strong>de</strong>, mas com o assumir <strong>de</strong> novas responsabilida<strong>de</strong>s perante a comunida<strong>de</strong>, as <strong>de</strong> homem casado e <strong>de</strong><br />
família. (Philipe ARIÈS, 1990 vol. III: 417)
era o teu doce embalo, o entretenimento que po<strong>de</strong>rias ter ficado a fazer na sala, mas que<br />
tinhas forçosamente <strong>de</strong> arranjar ali na cama, porque eu ia dormir a sesta e tu, como esposa fiel<br />
e cumpridora, tinhas <strong>de</strong> recolher-te ao quarto comigo…(…).» (E.A.: 105-106)<br />
A citação dá uma visão panorâmica do quanto a própria mulher contribuía,<br />
neste caso, para a sua inferiorização. Aliás, nota-se que a intenção <strong>de</strong> Leonor não é, <strong>de</strong><br />
forma alguma, irritar o marido, mas a sua situação <strong>de</strong> clausura permanente em casa<br />
faz com que veja, no momento <strong>de</strong> regresso do marido, a altura i<strong>de</strong>al para se libertar e<br />
comunicar intimamente com o seu querido homem, não obstante o facto <strong>de</strong> ele, às<br />
vezes regressar ( do serviço) a casa extremamente cansado. Provavelmente se ela<br />
também trabalhasse, dividiria as suas atenções não só entre o lar e o serviço, mas<br />
também entre o círculo <strong>de</strong> amigos e <strong>de</strong> colegas <strong>de</strong> serviço.<br />
A mesma atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> domesticida<strong>de</strong> é constatada na patroa do rapaz, em «O<br />
sonho do Mufana» on<strong>de</strong> ela se limita a controlar e a gerir os trabalhos dos seus<br />
criados. Num discurso indirecto livre, o narrador intercala a sua fala com a da dona <strong>de</strong><br />
casa e proporciona um discurso híbrido (da personagem e <strong>de</strong>le) on<strong>de</strong>, não obstante o<br />
carácter narrativo do mesmo, sobressai a impressão <strong>de</strong> se estar perante o discurso<br />
directo, patenteado pelas marcas temporais do Presente do Indicativo, das interjeições,<br />
das frases exclamativas e dos <strong>de</strong>ícticos espácio-temporais:<br />
«Os olhos da senhora estão presos nos cacos do bule <strong>de</strong> vidro. Estúpido que se farta,<br />
aquele mufana! Passa a vida sempre a olhar para ontem, a sonhar acordado. Sempre na lua, o<br />
estafermo. O que foi que lhe partiu na outra semana? Ah! uma chávena. E noutro dia, um<br />
pires. Ai mas agora o bule não lhe perdoa, não.» (E.A.: 191)<br />
Veja-se a forma irónica e satírica com que a senhora <strong>de</strong>screve o<br />
comportamento do mufana: “sempre a olhar para ontem, a sonhar acordado” e o modo<br />
peculiar como se entrelaçam os diálogos entre o narrador e a patroa do mufana.<br />
Em relação a Portagem, é curioso notar a hipocrisia em que algumas relações<br />
conjugais se formavam. Como, em geral, nas colónias, no princípio do seu<br />
povoamento houvesse mais homens que mulheres da terra (Metrópole), a
contingência do momento levava a que os colonos se vissem na encruzilhada <strong>de</strong> terem<br />
que se envolver sexualmente com as negras nativas. Tais relações ocasionais, algumas<br />
vezes, provocavam situações caricatas quando esses mesmos colonos tinham que,<br />
posteriormente, receber as esposas legítimas vindas da Metrópole. As negras nativas,<br />
com as quais as relações eram geralmente ocasionais, ou <strong>de</strong> infi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> ou até<br />
adúlteras e cujos filhos daí nascidos eram consi<strong>de</strong>rados ilegítimos e <strong>de</strong> pais<br />
incógnitos, eram preteridas com a vinda daquelas. Assim cresciam muitos rapazes e<br />
raparigas mestiços, com pais incógnitos, o que obrigava a um consertar clan<strong>de</strong>stino <strong>de</strong><br />
posições entre as mulheres negras e os homens brancos adúlteros (ou não), para<br />
camuflar e abafar a existência <strong>de</strong> filhos fora do casamento oficial. Sendo, o patrão<br />
Campos, o orquestrador da trama, Xilim, Uhulamo e Katia personificam esse tipo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sonestida<strong>de</strong>, sendo estes vítimas. Neste contexto, o filho ilegítimo Xilim não é<br />
conveniente que seja reconhecido pelo patrão Campos (não vá tal situação fazer-lhe<br />
per<strong>de</strong>r o prestígio e a honra, perante a mulher recém-chegada e perante os<br />
semelhantes). Entretanto, Xilim tem um acolhimento afectivo muito querido por parte<br />
da mãe, apesar das limitações <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong>sta e das privações. Também é aceite e<br />
integrado na família materna como parte integrante e como membro <strong>de</strong> pleno direito<br />
<strong>de</strong>ssa linhagem materna, como é característico nas socieda<strong>de</strong>s africanas. Nas tradições<br />
africanas, «os filhos ilegítimos parecem ter um lugar mais seguro nas socieda<strong>de</strong>s<br />
organizadas sobre princípios <strong>de</strong> linhagem do que nas que se <strong>de</strong>finem em torno do lar.<br />
Nos povos matrilineares, po<strong>de</strong>m acomodar-se, sem gran<strong>de</strong>s problemas na tribo da<br />
mãe. Mesmo nas populações patrilineares, é mais a paternida<strong>de</strong> social do que a<br />
paternida<strong>de</strong> física que <strong>de</strong>termina a norma reguladora do estatuto.» 44<br />
44 . James CASEY, 1990: 14
Aliás, Xilim, rejeitado pelo pai, não po<strong>de</strong>ria ter melhor enquadramento social,<br />
do que o que teve na linhagem da mãe. Esta negação <strong>de</strong> paternida<strong>de</strong> por parte <strong>de</strong><br />
patrão permite-nos fazer novamente uma reflexão acerca das relações <strong>de</strong><br />
consanguinida<strong>de</strong> nas obras do corpus. Tanto em Portagem, como em A Estranha<br />
Aventura, não se investe tanto nas figuras <strong>de</strong> irmãos consanguíneos que só aparecem a<br />
espaços como personagens simplesmente aludidas ou como figurantes. E, no entanto,<br />
um irmão consanguíneo é importante nas socieda<strong>de</strong>s tradicionais do Sul <strong>de</strong><br />
Moçambique: em situações especiais (por exemplo, <strong>de</strong> morte), o irmão mais velho<br />
po<strong>de</strong> assumir um papel <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança na família. Nestes casos, substituto do pai e do<br />
marido, o irmão mais velho é o guia e o iniciador, um mo<strong>de</strong>lo tranquilizante para a<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> masculina em crise. Enquanto isso, a irmã mais velha, protectora, <strong>de</strong>dica-<br />
se <strong>de</strong> corpo e alma à educação e à promoção do irmão mais novo.<br />
A diferença <strong>de</strong> sexo cria, entre irmãos e irmãs, uma relação complexa, <strong>de</strong> certa<br />
forma iniciática: a primeira forma <strong>de</strong> relação com o outro sexo. Profundamente<br />
recalcadas pelos interditos religiosos e sociais, estas relações raramente se resolvem<br />
em sexualida<strong>de</strong> propriamente dita, mas po<strong>de</strong>m parecer muito próximas <strong>de</strong> relações<br />
amorosas e são seguramente marcadas por relações <strong>de</strong> carinho e <strong>de</strong> afectivida<strong>de</strong>.<br />
A figura dos avós merece atenção quando se fala <strong>de</strong> família africana<br />
tradicional. Nas socieda<strong>de</strong>s tradicionais africanas, o orgulho e a reverência pelos<br />
passados e antepassados é um meio <strong>de</strong> manter a pureza e a fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> para com as<br />
tradições. Quando se fala <strong>de</strong> família, nessas socieda<strong>de</strong>s, dá-se especial <strong>de</strong>staque aos<br />
avôs como guardas da memória passada e como educadores das novas gerações,<br />
através <strong>de</strong> ensinamentos dos usos e costumes da tribo, preferencialmente nas noites <strong>de</strong><br />
luar, à volta da fogueira, sempre através <strong>de</strong> manifestações culturais e poéticas orais<br />
(contos, fábulas, provérbios, etc.). Importância ainda maior é dada aos mortos a quem
se reconhece o papel <strong>de</strong> protectores dos vivos e da perseguição dos espíritos malignos.<br />
Têm ainda a função <strong>de</strong> vigiar os vivos nas suas activida<strong>de</strong>s, fundamentalmente, no<br />
seguimento e no cumprimento da tradição. Xilim, o velho Justino, Katia, vovó Alima,<br />
em Portagem, são vítimas dos males cometidos pelos seus progenitores (o<br />
envolvimento com os brancos) e a paga é perpétua. O velho Justino, já louco, é a<br />
ilustração disso:<br />
«(…) Para o velho Justino, é a presença errante <strong>de</strong> Deus que conhece os seus pecados<br />
(…). É ali que Justino se escon<strong>de</strong> todas as noites, porque <strong>de</strong> dia ele anda por caminhos que já<br />
não são frequentados, sem saber para on<strong>de</strong> ir. Quer ir embora, mas em toda a parte em que<br />
ele se encontra, aparece aquela gente que faz palhaçadas do outro mundo. Depois <strong>de</strong><br />
escurecer, as sombras perseguem-no e o velho afasta-se <strong>de</strong>las, trôpego e <strong>de</strong>sfigurado (…).»<br />
(Po.: 77-78)<br />
A loucura <strong>de</strong> Justino é a manifestação dos seus próprios pecados e dos seus<br />
antepassados. A vida errante <strong>de</strong> Xilim po<strong>de</strong> ser posta em paralelo com o estado<br />
psíquico <strong>de</strong>ste velho, na medida em que é também uma anormalida<strong>de</strong> (pre<strong>de</strong>stinada<br />
pelo passado da mãe Kati que se amantizou com o patrão Campos), não no plano<br />
psíquico, mas no sócio-económico e até no racial. A anormalida<strong>de</strong>, ao longo dos<br />
tempos, veio a tornar-se em normalida<strong>de</strong>, na medida em que se manteve inalterável<br />
esse <strong>de</strong>sequilíbrio social ao longo <strong>de</strong> muitas gerações.<br />
Entretanto, nem sempre esse mundo tradicional é um mar <strong>de</strong> tristezas;<br />
tem também as sua ocasiões belas, <strong>de</strong> encanto e <strong>de</strong> poesia. Isso acontece quando se<br />
revivem acontecimentos mágicos e míticos passados e quando se recordam<br />
antepassados ou pessoas com eles relacionados (os mortos), através <strong>de</strong> histórias<br />
fantásticas, <strong>de</strong> lendas contadas pelas anciãs aos mais novos, todas carregadas <strong>de</strong> um<br />
forte teor educativo e moral. É o caso da lenda que ficou, após a estranha morte <strong>de</strong><br />
Omar Sambine no mar:<br />
«E dizem as negras velhas que, nas noites quentes <strong>de</strong> verão, quando o luar passeia<br />
pela praia, as brancas tranças <strong>de</strong>sfeitas por entre os esguios <strong>de</strong>dos das palmeiras, ao longe, um<br />
estranho barco sem fundo assoma das ondas e voga, mansamente, docemente, à luz das<br />
estrelas.
E quando as negras velhas contam a lenda, tão velha como elas, os negrinhos tenros<br />
(…) ficam quietos, imóveis, <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s olhos aterrados, olhando as águas que numa noite<br />
levaram para si, sófregas <strong>de</strong> amor e <strong>de</strong> perdão, o corpo maravilhosamente nu <strong>de</strong> Omar<br />
Sambine.» (E.A.: 127)<br />
A presença dos avôs em casa dos filhos já casados e com famílias, frequente<br />
no mundo rural e suburbano, entre as camadas sociais menos favorecidas, on<strong>de</strong><br />
aqueles <strong>de</strong>sempenham um papel <strong>de</strong> certa relevância na educação das novas gerações e<br />
na ligação com o passado, não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> levantar alguns problemas quando, por<br />
exemplo, já não po<strong>de</strong>m trabalhar. Talvez por isso, essa presença seja «muito mais rara<br />
no meio urbano, a não ser temporariamente, partilhando os filhos os alojamentos dos<br />
seus velhos <strong>de</strong>vido à exiguida<strong>de</strong> das habitações», e também por causa do ritmo muito<br />
acelerado da vida urbana 45 .<br />
Conforme se situe no mundo urbano ou no rural, a importância dos avôs é<br />
variável: apaga-se ligeiramente nas cida<strong>de</strong>s e até é vista como um fardo; ganha uma<br />
importância vital no mundo rural ou suburbano, é uma referência obrigatória e até um<br />
símbolo <strong>de</strong> sabedoria da tribo. 46<br />
45 . Philippe ARIÈS, 1990, vol.IV: 172<br />
46 . «Os avós intervêm <strong>de</strong> forma mais ou menos pontual conforme a distância a que vivem.<br />
Habitualmente sem encargos das funções educativas, po<strong>de</strong>m dar-se ao luxo <strong>de</strong> serem doces para com<br />
os netos, <strong>de</strong> serem o “Avozinho”, a “Avozinha”. Po<strong>de</strong>m substituir os pais, mortos ou afastados. São<br />
personagens quase míticas e uma espécie <strong>de</strong> esboço <strong>de</strong> uma genealogia para os netos. Além disso, o<br />
papel real dos avós na transmissão dos saberes e das tradições não <strong>de</strong>ve ser subestimado. Neste século<br />
XX <strong>de</strong> turbulência, a <strong>de</strong>scrição dos acontecimentos históricos, míticos e sobre a comunida<strong>de</strong>, da forma<br />
como foram vividos pelos mais velhos, constitui a forma <strong>de</strong> privatização da memória, muitas vezes<br />
feminina, dada a maior longevida<strong>de</strong> das avós, casadas também mais novas.» (Philipe ARIÈS, 1990,<br />
vol. IV: 173)
. A família alargada<br />
Conforme aponta Ariès, nas fórmulas vulgarizadas evocando os próximos, os<br />
amigos são sempre citados a seguir aos parentes, sem nunca com eles se<br />
i<strong>de</strong>ntificarem. Cada família po<strong>de</strong> contar com um número estável <strong>de</strong> amigos que<br />
completa e consolida o grupo <strong>de</strong> sangue e da aliança. Entre estes amigos, não são por<br />
vezes mais do que um punhado aqueles cuja intimida<strong>de</strong> permite associá-los aos<br />
parentes. 47<br />
O quadro dado pelas personagens que são companheiras ou amigas <strong>de</strong> Xilim é<br />
uma espécie <strong>de</strong> redundância pois, ao serem caracterizadas, reforça-se o conhecimento<br />
e a compreensão do próprio Xilim; é como se <strong>de</strong>sempenhassem uma função<br />
atributiva, servindo não só para a sua qualificação e para a sua <strong>de</strong>terminação, mas<br />
sobretudo, para a sua caracterização. Quando se persegue em Portagem, por exemplo,<br />
a vida do negro fogareiro Jaime, veterano nos navios e nas viagens para outras terras,<br />
encontra-se no seu percurso uma boa parte da vida errante <strong>de</strong> Xilim. Aliás, aquando<br />
da partida <strong>de</strong> Xilim para a cida<strong>de</strong> longínqua, este conheceu, no cargueiro aon<strong>de</strong> se<br />
empregou como moço <strong>de</strong> limpeza, o negro Jaime. Unidos por um passado comum, <strong>de</strong><br />
sofrimento e <strong>de</strong> miséria, partilham juntos as tristes recordações das angústias da vida.<br />
Jaime, coinci<strong>de</strong>ntemente, também teve uma infância aventureira e sacrificada nos<br />
subúrbios da cida<strong>de</strong> gran<strong>de</strong>, tal como Xilim, no Marandal. A sua mãe também era<br />
prostituta e ele próprio nunca teve uma companheira fixa. Jaime é o exemplo do<br />
fracasso e do insucesso na vida. Este quadro é tirado a papel químico do que é e foi<br />
Xilim. À semelhança do amigo Xilim, o negro Jaime teve uma infância perturbada,<br />
igual a <strong>de</strong> muitos meninos do bairro suburbano <strong>de</strong> Marandal: entre a pobreza, a<br />
47 . Philippe ARIÈS, 1990, vol. III: 169
miséria e o alcoolismo. A cantina da Casa do Caju era o local da promiscuida<strong>de</strong> e do<br />
álcool, frequentado por Marcelino e Rafael, trabalhadores e amigos <strong>de</strong> Xilim na<br />
cida<strong>de</strong>. A situação sócio-económica <strong>de</strong>stes assemelhava-se à <strong>de</strong> Xilim.<br />
Aspecto interessante e elucidativo é a distinção entre o grupo <strong>de</strong> amigos que se<br />
juntou a Xilim e o apoiou no dia do seu julgamento e o representado pelos que<br />
intervieram no julgamento, o Juiz, o Delegado do Ministério Público e o Dr. Ramires,<br />
Defensor Oficioso <strong>de</strong> Xilim e <strong>de</strong> todos os pobres. É relevante notar que, mesmo nas<br />
ocasiões <strong>de</strong> aflicção, os amigos <strong>de</strong> Xilim sempre estiveram com ele, prestando-lhe a<br />
sua solidarieda<strong>de</strong>, ainda que <strong>de</strong> forma meramente moral, revelando assim um gran<strong>de</strong><br />
sentido <strong>de</strong> camaradagem, não obstante alguma hipocrisia e cobardia <strong>de</strong> alguns falsos-<br />
amigos, como o velho Justino. Este foi a causa involuntária do crime <strong>de</strong> Xilim, por ter<br />
facilitado o encontro <strong>de</strong> Luísa, esposa <strong>de</strong> Xilim, com o Sr. Esteves. A sua ida ao<br />
julgamento revela uma atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> arrependimento e <strong>de</strong> remorsos pela sua<br />
<strong>de</strong>sonestida<strong>de</strong> moral, o que , aliás, veio a pagar <strong>de</strong> outro modo através da perda <strong>de</strong><br />
emprego e da loucura.<br />
Entretanto, a amiza<strong>de</strong> mais sólida <strong>de</strong> Xilim foi com o mulato Juza que, para<br />
além <strong>de</strong> lhe ter oferecido emprego na sua gamboa, por tê-lo visto na <strong>de</strong>sgraça, foi<br />
também seu testemunha <strong>de</strong> <strong>de</strong>fesa, manifestando um forte espírito <strong>de</strong> solidarieda<strong>de</strong> e<br />
<strong>de</strong> humanismo.<br />
No conto «A Estranha Aventura» po<strong>de</strong>-se dizer que há um outro tipo <strong>de</strong><br />
amiza<strong>de</strong>, melhor ainda, po<strong>de</strong>-se constatar que faixas etárias <strong>de</strong>terminaram, <strong>de</strong> certo<br />
modo, as amiza<strong>de</strong>s, tal como acontece com o estatuto sócio-profissional, o sexo e até<br />
a raça. Nesse conto, os protagonistas são adolescentes ainda não conscientes das<br />
diferenças entre as camadas sociais em que, eventualmente, se enquadram os seus<br />
familiares. Há uma relação <strong>de</strong> amiza<strong>de</strong> harmoniosa entre os rapazes e as raparigas <strong>de</strong>
níveis e <strong>de</strong> estratos sociais diferentes, sendo o critério natural para a unida<strong>de</strong> do grupo<br />
simplesmente a ida<strong>de</strong>: a pretita Chirinda, a Ana Luísa, o mulato José, o Pedro, etc.,<br />
são o exemplo disso. Curioso é o facto <strong>de</strong> o narrador, que também é um dos<br />
componentes do grupo juvenil <strong>de</strong> amigos, realçar os adjectivos pretita e mulato.<br />
Demonstra claramente a intenção <strong>de</strong> dar a ver uma socieda<strong>de</strong> compósita, harmoniosa,<br />
i<strong>de</strong>al, <strong>de</strong> relações que uniam a pequenada, que não olhava à raça e a outro tipo <strong>de</strong><br />
diferenças. Contudo, permite também perceber que, na verda<strong>de</strong>, o problema da cor<br />
existia, mas que não era motivo <strong>de</strong> discriminação, nem <strong>de</strong> marginalização entre a<br />
rapaziada. O quadro juvenil sugere a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> existência <strong>de</strong> concórdia e <strong>de</strong><br />
camaradagem entre seres humanos <strong>de</strong> diferentes raças e etnias, fazendo valer os<br />
gran<strong>de</strong>s i<strong>de</strong>ais da dignida<strong>de</strong> humana como a Igualda<strong>de</strong>, a Fraternida<strong>de</strong> e a Liberda<strong>de</strong>.<br />
A amiza<strong>de</strong> <strong>de</strong>ste grupo juvenil estendia-se aos cães, aos bichos e até à própria<br />
natureza. Esta convivialida<strong>de</strong> da rapaziada, com tudo e com todos, procura reflectir<br />
um universo social <strong>de</strong> harmonia entre os homens, os bichos e a natureza, tal como<br />
Deus o concebeu. Veja-se, a propósito uma passagem como: «uma brisa larga e boa<br />
vinha <strong>de</strong> lá do fundo do horizonte, dos lados da Costa do Sol e, maternalmente,<br />
afagava os homens, as crianças e os bichos.» (E.A.: 20)<br />
O advérbio maternalmente situa a brisa ao nível dos afectos humanos<br />
femininos, assim como o verbo afagar sugere o carinho, a doçura, a calmia com que<br />
esse afecto se manifestava, que não <strong>de</strong>ve diferir do comportamento das crianças, umas<br />
em relação às outras. Entre os amigos das crianças, uns são reais, outros imaginários e<br />
<strong>de</strong> sonhos, atitu<strong>de</strong> típica daquela faixa etária. Em relação aos amigos imaginários,<br />
especial atenção <strong>de</strong>dicava o grupo aos índios, aos bandidos e aos tubarões,<br />
personagens fictícias, actualizadas ou convocadas nas brinca<strong>de</strong>iras aos polícias-e-<br />
ladrões, aos cow-boys, ou vistas e conhecidas através <strong>de</strong> leituras <strong>de</strong> romances <strong>de</strong>
aventura, <strong>de</strong> viagens à lua, etc.. Esta especial curiosida<strong>de</strong> pela aventura terá sido<br />
provocada pelo aparecimento misterioso <strong>de</strong> um homem:<br />
«Mansamente a Ana Luísa sussurrou aquilo mesmo que, afinal, se arreigara na alma<br />
<strong>de</strong> todos nós: que o homem não era <strong>de</strong>ste mundo. Eu andava, nessa altura, lembro-me bem, a<br />
ler a «Viagem à Lua», <strong>de</strong> Júlio Verne. Era isso: o homem viera do espaço, numa madrugada<br />
raiada <strong>de</strong> ouro, montando a sua bela nave prateada.» (E.A.: 30)<br />
A curiosida<strong>de</strong> em relação ao homem misterioso foi o complemento do <strong>de</strong>sejo<br />
<strong>de</strong> aventura do grupo, <strong>de</strong>sejo que se manifestava nas brinca<strong>de</strong>iras diárias:<br />
«Ao fim <strong>de</strong> um dia inteiro <strong>de</strong> viagens, assaltavam-nos <strong>de</strong>sejos súbitos <strong>de</strong> combates<br />
sangrentos. Entrincheirávamo-nos, então, nos fortins imaginários, porque eles, os índios, aí<br />
vinham(…) porque os índios ali estavam, para as (raparigas) raptar, para as amarrar ao poste<br />
da tortura, para as escalpelizar. Não era assim que o Emílio Salgari e o Júlio Verne nos<br />
contavam?» (E.A.: 22)<br />
Veja-se como o narrador encurta a distância entre os adolescentes e os autores<br />
das obras <strong>de</strong> aventura: dá a sensação <strong>de</strong> que Salgari e Verne contavam essas histórias<br />
<strong>de</strong> aventura oralmente, na presença dos garotos. A forma como são referidos os dois<br />
autores, utilizando o artigo <strong>de</strong>finido (o Emílio Salgari, o Júlio Verne) revela uma<br />
acentuada aproximação entre o narrador e eles e contribui, ainda, para a aproximação<br />
entre as personagens adolescentes e o narrador, bem como entre aquelas e os escritors<br />
referidos. 48<br />
As histórias <strong>de</strong> romances <strong>de</strong> aventuras, <strong>de</strong> fantasias e até com extra-terrestres,<br />
estabelecem uma ligação directa com as micro-histórias contidas no conto, que<br />
também encerram situações idênticas; é o caso da <strong>de</strong>scoberta do gato, do<br />
aparecimento do homem estranho. As próprias brinca<strong>de</strong>iras da rapaziada constituem a<br />
encenação <strong>de</strong> situações <strong>de</strong> aventura e assim se legitima a leitura <strong>de</strong> uma(s) história(s)<br />
a partir <strong>de</strong> outras. Na verda<strong>de</strong>, as histórias <strong>de</strong> Verne e <strong>de</strong> Salgari são autênticas<br />
48 . «O emprego do artigo <strong>de</strong>finido com os nomes próprios é usual no português <strong>de</strong> Portugal. O<br />
artigo serve para ro<strong>de</strong>ar o nome duma atmosfera afectiva e familiar que é muito grata à alma lusitana<br />
(…).<br />
Com os apelidos <strong>de</strong>nota igualmente intimida<strong>de</strong> e por isso se utiliza <strong>de</strong> preferência para os<br />
contemporâneos, ainda que, aplicados a artistas ou figuras históricas do passado, possa significar um<br />
profundo conhecimento das suas obras e da sua personalida<strong>de</strong>.» (Pilar Vasques CUESTA, et alli, 1971:<br />
463)
metáforas das histórias do gato e até do homem misterioso; as brinca<strong>de</strong>iras dos<br />
garotos nas matas são a encenação <strong>de</strong>ssas metáforas, estabelecendo-se assim um ciclo<br />
<strong>de</strong> inter-textualida<strong>de</strong> e até <strong>de</strong> intra-textualida<strong>de</strong>.<br />
Refira-se, a título <strong>de</strong> curiosida<strong>de</strong> que a história da <strong>de</strong>scoberta do gato encerra,<br />
entretanto, alguns tabus. Provavelmente o gato será um animal misterioso em muitas<br />
culturas, daí o facto <strong>de</strong>, por exemplo, na nossa tradição popular ser consi<strong>de</strong>rado um<br />
animal com sete vidas. 49<br />
À semelhança da gata, a história do homem estranho, que se tornou também<br />
amigo da rapaziada, alterou a vida do grupo dos cinco. Valendo-se <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong><br />
intra-textualida<strong>de</strong>, o que permite contar uma história <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> outra(s), o homem<br />
estranho conta aos meninos a sua estranha história do outro mundo, «esse mundo <strong>de</strong><br />
beleza e harmonia», «<strong>de</strong> aleluia» e <strong>de</strong> paz.» (E.A.: 29)<br />
Em classes sociais mais elevadas, se é verda<strong>de</strong> que se tem a manifestação <strong>de</strong><br />
amiza<strong>de</strong>s puras, não é menos verda<strong>de</strong> que, preferencialmente, as amiza<strong>de</strong>s se<br />
estabelecem em função da posição sócio-profissional e <strong>de</strong> interesses. Repare-se, a<br />
título <strong>de</strong> exemplo, na relação <strong>de</strong> amiza<strong>de</strong>, misturada com interesses comerciais e até<br />
amorosos que encontramos em Portagem. O Sr. Santos, homem <strong>de</strong> negócios e<br />
prestigiado, a viver na cida<strong>de</strong>, longe dos subúrbios <strong>de</strong> Marandal, conhecera o<br />
cantineiro Esteves numa altura em que o negócio <strong>de</strong>ste ia à falência. Propôs-lhe,<br />
49 . Na cultura tradicional do Sul <strong>de</strong> Moçambique, o gato não só é visto como um bicho<br />
misterioso, mas também como altamente supersticioso. Na verda<strong>de</strong>, não é propriamente o gato que é<br />
visto como tal, mas pensa-se que um feiticeiro é capaz <strong>de</strong> fazer transportar o seu feitiço, os espíritos<br />
malignos, através do gato, para uma <strong>de</strong>terminada família a quem se queira fazer mal. A criação do gato<br />
numa família doméstica reveste-se <strong>de</strong> maiores cautelas, não vá a vazinhança aproveitar-se das suas<br />
escapa<strong>de</strong>las para lhe passar súbita e subtilmente um feitiço. Em princípio, <strong>de</strong> noite, o gato não <strong>de</strong>ve<br />
permanecer <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> casa, pois diz-se que é traiçoeiro, po<strong>de</strong>ndo, na calada da noite, atacar o seu dono,<br />
ou confundir o sexo dos rapazinhos com o rato, seu alimento preferido. Entretanto, o gato também tem<br />
uma função utilitária <strong>de</strong> dia, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> casa: é um bom caçador <strong>de</strong> ratos, ajudando assim a minorar o<br />
seu efeito <strong>de</strong>vastador. Para o caso <strong>de</strong> gatos estranhos que aparecem à noite a miar nas chapas <strong>de</strong> zinco<br />
que cobrem as casas rurais, estes são vistos como prenunciadores e anunciadores <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>sgraça, <strong>de</strong><br />
um azar que se avizinha.
então, a activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> contrabando que o Esteves prontamente aceitou, na certeza <strong>de</strong><br />
que haveria <strong>de</strong> recuperar o mais <strong>de</strong>pressa possível da sua crise económica. António<br />
Santos fora também amigo do Sr. Campos, ex-proprietário das minas do Marandal,<br />
em cujo <strong>de</strong>sabamento per<strong>de</strong>ram a vida muitos mineiros. Tal situação levou à morte do<br />
senhor Campos, tendo ficado a esposa e a filha Maria Helena entregues à sua sorte. O<br />
Sr. Santos, após a morte do amigo, assumiu-se como o protector da viúva e da<br />
filhinha. Foi precisamente nessa base que se tornou o elo <strong>de</strong> ligação (por<br />
apadrinhamento) entre o Sr. Esteves, já velho e sem mulher, e a enlutada família<br />
Campos, sem recursos, nem gran<strong>de</strong>s meios <strong>de</strong> sobrevivência. É no meio <strong>de</strong>ste<br />
conhecimento programado e interesseiro que Maria Helena, filha do falecido Campos,<br />
casa com o velho Esteves, com a conivência e o consentimento da mãe, que via nesse<br />
casamento a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> salvação, sem olhar a meios para atingir os seus<br />
objectivos:<br />
«(Maria Helena) partira para a cida<strong>de</strong> com a mãe, rejeitara vários rapazes que<br />
tentaram namorá-la e, em casa <strong>de</strong> António Santos, conhecera o cantineiro. Aceitara a sugestão<br />
da mãe que estava ansiosa por que ela se casasse para regressar à sua al<strong>de</strong>ia. Sabia que este<br />
casamento, para ser coerente com o seu código, era tudo quanto <strong>de</strong>veria ambicionar uma<br />
mulher(…).» (Po.: 82-83)<br />
Concedida como relação <strong>de</strong> reciprocida<strong>de</strong> perfeita a dois, a amiza<strong>de</strong> é mais um<br />
tipo <strong>de</strong> relação e po<strong>de</strong>rá afirmar-se em vários espaços exteriores à família que<br />
estabelecem com ela uma ruptura temporária ou durável: a escola, os grupos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>,<br />
o emprego, etc.. A amiza<strong>de</strong> implica, <strong>de</strong> certo modo, liberda<strong>de</strong> e privacida<strong>de</strong>. A<br />
amiza<strong>de</strong> po<strong>de</strong> ter também implicações políticas. No conto «A Trovoada» o mulato<br />
mecânico (não nomeado), ainda que censurado pela mulher, <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ia uma série <strong>de</strong><br />
encontros clan<strong>de</strong>stinos com um grupo <strong>de</strong> amigos, numa casa próxima da sua, em prol<br />
da <strong>de</strong>fesa dos direitos <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong>, da justiça social e do respeito pelo próximo.<br />
Ainda que essas reuniões não pareçam po<strong>de</strong>r produzir os efeitos <strong>de</strong>sejáveis a curto
prazo, o mulato acalenta uma esperança que se manifestará na figura do futuro filho.<br />
Esse simboliza o iluminar, o brilhar da trovoada que dá novas luzes e, ao mesmo<br />
tempo, constitui o grito <strong>de</strong> revolta e um <strong>de</strong>spertar <strong>de</strong> consciências por parte do mulato<br />
discriminado e dos seus amigos, razão das reuniões secretas. Mediante a interrogativa<br />
suspeição da mulher perante as obscuras movimentações do marido e dos amigos, o<br />
mulato mecânico respon<strong>de</strong>, num discurso marcadamente coloquial e <strong>de</strong>nunciador da<br />
sua mo<strong>de</strong>sta condição social:<br />
«_ Oh! Nada! _ fez ele _ Só qui a gente reúne na casa do Aníbal. Eu, o Luís, o César.<br />
Tem mais duas pessoas. A gente gosta <strong>de</strong> si juntar, <strong>de</strong> ler, os livros, conversar. É um gran<strong>de</strong><br />
rapaz, esse Aníbal, sabes?<br />
_ Tenho medo das conversas <strong>de</strong>le para ti…<br />
_ Medo, medo, o quê!…Faz mal a gente falar das coisas?<br />
_ Ele está sempre contra os brancos….» (E.A:. 171)<br />
Este grupo <strong>de</strong> amigos reunia-se clan<strong>de</strong>stinamente, pois o sistema político<br />
vigente privava-os dos seus direitos fundamentais e negava-lhes a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
expressão e <strong>de</strong> livre associação. Não era como nas reuniões <strong>de</strong> carácter <strong>de</strong>mocrático<br />
em que os membros do povo ou os seus representantes podiam exprimir livremente o<br />
seu pensamento e <strong>de</strong>liberar sobre assuntos comuns. Com efeito, trata-se <strong>de</strong> um <strong>de</strong>bate<br />
a propósito <strong>de</strong> interesses colectivos, mas ele ocorre na clan<strong>de</strong>stinida<strong>de</strong> e à porta<br />
fechada. Vê-se como se passa do íntimo, envolvido num afecto, fruto <strong>de</strong> convivências,<br />
ao clan<strong>de</strong>stino e, portanto, ao suspeito aos olhos das forças exteriores que o po<strong>de</strong>r<br />
público <strong>de</strong> regulação censura. Na conflituosa relação que assim se estabelece, o<br />
privado surge bem contido num espaço protegido, num abrigo. Assim, «a área da vida<br />
privada seria o espaço doméstico circunscrito por um muro, tal como o do claustro<br />
(…). A vida privada é, portanto, vida <strong>de</strong> família, não individual mas convivial e<br />
baseada na confiança mútua (e na amiza<strong>de</strong> <strong>de</strong> “estranhos” à família).» 50<br />
50 . Philipe ARIÈS, 1990, vol.II: 22-23
No conto «Jangô», a vizinhança entre a miudagem esfomeada, a condição<br />
paupérrima das suas famílias e o objectivo comum (roubo) em face das aventuras,<br />
constituem as razões básicas para que este grupo <strong>de</strong> amigos e <strong>de</strong> vizinhos forme um<br />
bando. Por causa da fome, o bando protagoniza um roubo na cantina do Issufo. Há<br />
uma mistura entre a vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> aventura, típica da ida<strong>de</strong>, e a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> satisfação<br />
da fome, predominando, logicamente, esta última. O homem necessitado não tem<br />
sensibilida<strong>de</strong> para o belo, o estético, o ético, o moral e mesmo o literário. As mulheres<br />
e os homens indígenas progenitores dos garotos completam o quadro suburbano da<br />
miséria: a cantina do Issufo é o ponto <strong>de</strong> encontro, on<strong>de</strong> se manifestam vonta<strong>de</strong>s e as<br />
incapacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> adquirir objectos <strong>de</strong> ornamentação, <strong>de</strong> beleza e <strong>de</strong> adorno.<br />
No mundo urbano, as relações <strong>de</strong> vizinhança são mais discretas e os momentos<br />
<strong>de</strong> convívio ocorrem mais entre amigos do que entre vizinhos e em espaços públicos<br />
como o cinema, o teatro, o café, etc., sendo a casa o lugar privado por excelência.<br />
Entre os adolescentes, a família nuclear e a escola são basicamente as únicas<br />
instituições responsáveis pela socialização das crianças. A família e a escola fazem<br />
parte do mesmo processo, que é o <strong>de</strong> educar os jovens para uma socieda<strong>de</strong> cada vez<br />
mais egoísta e virada para a concorrência e para a competitivida<strong>de</strong>, em que o estatuto<br />
na socieda<strong>de</strong> tem que ser conseguido, conquistado, se não se tiver o privilégio <strong>de</strong> o ter<br />
por herança. Repare-se que Marianita, no conto «Os olhos <strong>de</strong> Marianita» não tem<br />
propriamente amigos na vizinhança, somente colegas <strong>de</strong> escola, com quem não quer<br />
partilhar a sua estranha novida<strong>de</strong>, pois «não <strong>de</strong>ra resposta a ninguém nem mesmo à<br />
Joaninha, à sua parceira, à sua melhor amiga (na escola). A nenhuma confiara a sua<br />
gran<strong>de</strong> novida<strong>de</strong>:<br />
«Ao recreio <strong>de</strong>ixara-se ficar a um canto da varanda (…).» (E.A.: 51-52)
A situação mais caricata é a do menino (no conto “O moleque do violino”)<br />
que era filho único e não tinha amigos porque os pais achavam que todos os rapazes<br />
das redon<strong>de</strong>zas diziam palavrões que um menino bem educado, como era o filho, não<br />
<strong>de</strong>veria repetir. Os próprios pais encorajavam, assim, o isolamento do menino, em<br />
nome da boa educação, reflectindo a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> que fora <strong>de</strong> casa reinava o império do<br />
mal, enquanto em casa, o ambiente era consi<strong>de</strong>rado paradisíaco.<br />
Na socieda<strong>de</strong> tradicional africana não há uma separação nítida entre o espaço<br />
privado e o espaço público, pois as pessoas pertencem à comunida<strong>de</strong>, que lhes confere<br />
um papel, conforme a ida<strong>de</strong> e a responsabilida<strong>de</strong> social.<br />
Tanto no campo como em zonas suburbanas e urbanas (on<strong>de</strong> vivem classes<br />
privilegiadas) a vizinhança <strong>de</strong>sempenha importante papel, funcionando, por vezes<br />
como, <strong>de</strong> facto, parte da família, tal, aliás, como acontece com os criados. Isso não<br />
impe<strong>de</strong> que criados e vizinhos sejam, também, um potencial perigo. Ariès tem sobre<br />
isso uma interessante observação:<br />
«Criados e vizinhos servem, ajudam a família; mas a sua presença e o seu olhar<br />
incomodam e ameaçam a intimida<strong>de</strong>. Deles o serviço, face a eles a <strong>de</strong>sconfiança. A<br />
vizinhança é simultaneamente cúmplice e hostil.<br />
Os vizinhos estabelecem um código <strong>de</strong> conveniências da casa e da rua, uma norma<br />
perante a qual é preciso vergar-se para se ser admitido, sendo a tendência reproduzir o mesmo<br />
e excluir o diferente: o estrangeiro, <strong>de</strong> nacionalida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> raça, <strong>de</strong> província.» 51<br />
A palavra “vizinhos” forma, com “parentes” e “amigos” uma trilogia. Os<br />
vizinhos, com efeito, representam na vida quotidiana privada um papel que não é<br />
muito diferente do papel dos amigos ou dos parentes, papel ao qual a sua proximida<strong>de</strong><br />
os predispõe. Não se escon<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> coisa ao vizinho.<br />
Uma selecção operada entre os amigos e os vizinhos eleva alguns à qualida<strong>de</strong><br />
invejada <strong>de</strong> padrinhos (dos filhos) e, portanto, <strong>de</strong> compadre (dos pais). O hábito dos<br />
apadrinhamentos múltiplos assumidos por estranhos à família, cria em volta <strong>de</strong> casais<br />
51 . Philipe ARIÈS, 1990, vol. IV: 175-177
prolíferos um novo círculo, imponente e muito particular, <strong>de</strong> compadres e <strong>de</strong><br />
comadres.<br />
Ro<strong>de</strong>ada por parentes, amigos, vizinhos - e compadres - a família africana vive<br />
experiências sociais e afectivas <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> complexida<strong>de</strong> e riqueza.
CAPÍTULO III - Sobre Espaços e Tempos<br />
. O espaços rural<br />
O processo realista <strong>de</strong> construção da narrativa tem uma dinâmica que procura<br />
reflectir <strong>de</strong> modo aproximado o mundo real e até o virtual. Tal facto tem a ver com o<br />
cuidado posto pelo escritor na configuração do espaço, dos costumes (muitas vezes<br />
protagonizados exactamente por figuras típicas) e dos seus objectos mais<br />
característicos. Por exemplo, em Portagem, o percurso <strong>de</strong> Xilim em espaços pré-<br />
<strong>de</strong>terminados tanto pela sua raça mestiça, como pela sua condição sócio-económica,<br />
nos subúrbios <strong>de</strong> Marandal, na cida<strong>de</strong>, etc., procura reproduzir um <strong>de</strong>terminado<br />
objecto restrito: o seu <strong>de</strong>stino como personagem que até se podia assumir como<br />
negação da sua própria tradição. Po<strong>de</strong>ndo perfeitamente ser confrontado com os<br />
<strong>de</strong>stinos <strong>de</strong> pessoas reais, Xilim, cuja individualida<strong>de</strong> perfeitamente conhecemos é,<br />
contudo, apenas uma parte do universo narrativo <strong>de</strong> Portagem.<br />
Duas questões são fudamentais para se compreen<strong>de</strong>r os espaços em Portagem<br />
e em A Estranha Aventura: as questões do mitológico e do fabuloso _ cada uma <strong>de</strong>las<br />
expressando um específico entendimento do mundo. Ao universo mitológico pertence<br />
o espaço rural, que procura reflectir e reproduzir uma memória ancestral, elo <strong>de</strong><br />
ligação <strong>de</strong> antepassados a contemporâneos. O universo mitológico representa um<br />
espaço-tempo inicial, fundador. Ridjalembe, terra natal do velho escravo<br />
Mafanissane, da velha Alima, é o lugar cosmogónico on<strong>de</strong> teve origem a tribo <strong>de</strong><br />
Xilim. A esse espaço <strong>de</strong> memória, vovó Alima se recusa a abandonar, mesmo em<br />
situação <strong>de</strong> extrema necessida<strong>de</strong>. A ligação ao lugar dos antepasados ilustra a gran<strong>de</strong><br />
resistência que constitui (e sempre constituiu) a tradição em relação ao
<strong>de</strong>senvolvimento, à mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>: a tradição preserva usos e costumes; para haver<br />
urbanização e <strong>de</strong>senvolvimento é preciso romper com a tradição. Foi o que fez todo<br />
povo <strong>de</strong> Ridjalembe, à excepção <strong>de</strong> vovó Alima, ao aceitar transferir-se (ainda que<br />
compulsivamente) para Marandal, sob orientação das autorida<strong>de</strong>s administrativas<br />
coloniais. Entretanto, esse corte brusco com a terra natal, com a tradição, com o<br />
passado, teve os seus efeitos, para muitos (se não para todos) dos actuais moradores<br />
do novo bairro. Entre eles, Xilim é o mais representativo.<br />
A tendência para explicar um fenómeno indicando as suas fontes é própria <strong>de</strong><br />
uma série <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los culturais absolutamente contemporâneos, ainda que seja mais<br />
frequente e típica dos mo<strong>de</strong>los tradicionais e ancestrais.<br />
Ridjalembe é a terra on<strong>de</strong> se constitui a família do velho Mafanissane. Com o<br />
<strong>de</strong>correr dos anos, foi fustigada por forças da natureza, tendo sido assolada por uma<br />
seca prolongada, o que provocou a esterilida<strong>de</strong> da terra e o consequente<br />
<strong>de</strong>spovoamento. Uma marca humana ficou, entretanto, a estabelecer e a estreitar a<br />
ligação entre as gerações que sempre viveram na terra ancestral, e as que se viram na<br />
contingência <strong>de</strong> ter que a abandonar: essa marca é a persistente avó Alima. Ela é,<br />
aliás, a única que recusa veementemente a transferência, permanecendo impávida no<br />
Ridjalembe, perpetuando a vida e as almas dos antepassados. Entretanto, a terra árida<br />
não aniquilou todas as formas vivas da natureza naquela terra; permaneceu, para além<br />
da velha, o cajueiro. Esta é uma planta abundante em todo o território moçambicano<br />
e constitui uma fonte apreciável <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> riquezas, através da sua apreciada<br />
castanha <strong>de</strong> caju e, ainda a nível doméstico, através do sumo que se produz a partir da<br />
própria fruta, o caju. Neste caso, este cajueiro não é uma simples árvore <strong>de</strong> sombra<br />
que dá fruto, tem também um papel sagrado, <strong>de</strong> ligação entre os antepassados e os<br />
vivos. É uma espécie <strong>de</strong> Igreja, ou <strong>de</strong> espaço Santo, ao redor do qual vovó Alima
ealiza, periodicamente, missas, num ritual <strong>de</strong> agra<strong>de</strong>cimento aos antepassados e <strong>de</strong><br />
pedido <strong>de</strong> protecção para as suas novas gerações, levadas, enten<strong>de</strong> ela, pelos ventos<br />
do Diabo para Marandal.<br />
Porque fora plantado pelo seu avô Mafanissane, o escravo que iniciou a<br />
linhagem, o cajueiro apresenta uma carga simbólica significativa, que tem a sua<br />
expressão máxima na liberda<strong>de</strong>. É, por isso, a memória, não só da velha e da sua<br />
sofrida vida, mas também <strong>de</strong> todo o Ridjalembe. Processo narrativo privilegiado pelo<br />
narrador <strong>de</strong> Portagem, a rememoração quase apaga o espaço-tempo presente que se<br />
faz tempo virtual, enquanto o pretérito é o tempo real, tempo dos acontecimentos<br />
<strong>de</strong>corridos em espaço concreto, por exemplo Ridjalembe, como se lê em Portagem:<br />
«Dormita alguns instantes sem tempo, para logo acordar (a velha) sobressaltada.<br />
Reconhece o chão pisado por três gerações <strong>de</strong> negros. Fixa os olhos mortiços nos ramos<br />
<strong>de</strong>scarnados do cajueiro plantado por seu avô, o escravo Mafanissane, no dia da sua<br />
libertação. Recordando, é <strong>de</strong>pois o mar que lhe aparece, um mar <strong>de</strong> ondas bravias que foi a<br />
fronteira da emigração dos negros para o sul, na gran<strong>de</strong> seca do ano em que lhe nasceu a filha<br />
Kati. Kati casou com o capataz dos mineiros do Marandal, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> ter gerado e parido um<br />
filho <strong>de</strong> branco.» (Po.: 11-12)<br />
Ridjalembe é uma referência obrigatória para todos os actuais moradores<br />
nativos dos subúrbios <strong>de</strong> Marandal, porque é o espaço <strong>de</strong> iniciação, <strong>de</strong>sconhecido que<br />
foi o percurso anterior do escarvo Mafanissane até à chegada a Ridjalembe. Esse<br />
passado <strong>de</strong>sconhecido anterior, porque misterioso, oculto até aos limites do tabu, vai<br />
constituir um caos. Como o caos é falível, é preciso aos moradores <strong>de</strong> Marandal,<br />
localizar um marco, uma génese, que é especificamente, em termos físicos,<br />
Ridjalembe e, em temos humanos, o escravo Mafanissane.<br />
No Marandal poucos conseguiram manter a ligação com a terra-mãe, ainda<br />
que não se tivessem esquecido, na totalida<strong>de</strong>, das suas raízes ancestrais. Xilim,<br />
perdido nos imprevistos e nos impon<strong>de</strong>ráveis da vida, em terras longínquas, à procura<br />
<strong>de</strong> melhores condições <strong>de</strong> vida, não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong>, periodicamente, manter a ligação com
Ridjalembe, por intermédio da sua mãe. Não tendo chegado a conhecer os últimos<br />
dias <strong>de</strong> vida da sua avó, no Ridjalembe, Xilim vai vivendo num misto <strong>de</strong> sentimento<br />
<strong>de</strong> culpa e <strong>de</strong> tentativa <strong>de</strong> re<strong>de</strong>nção: procura, sempre que possível, conciliar-se com o<br />
passado da família (que é, enfim, o seu) através da permanente recordação e<br />
rememoração <strong>de</strong>sse longínquo tempo. Uma recuperação que po<strong>de</strong> ser feita através do<br />
sonho:<br />
«Homens ru<strong>de</strong>s e sem <strong>de</strong>sejos, foram herdando dos pais os seus lugares na tradição do<br />
Ridjalembe. Mas já nenhum <strong>de</strong>les chegou a viver a época do recrutamento dos escravos nem<br />
fixou a viagem da fome no ano da gran<strong>de</strong> seca. (...) Mas, ao regressar (Xilim), uma das<br />
primeiras notícias foi a da morte da velha solitária na planície, durante a ausência <strong>de</strong>le. (...) E<br />
João Xilim sente remorsos <strong>de</strong> não ter feito mais companhia à avó que para ele agora<br />
representa um símbolo.<br />
Ainda a madrugada vinha longe e já no dormitório dos mineiros o aprendiz João<br />
Xilim estava bem acordado. Tivera pesa<strong>de</strong>los e sonhos aflitivos e inexplicáveis. Durante um<br />
<strong>de</strong>les, encontrava-se no fundo do gran<strong>de</strong> poço da mina a segurar um espigão com mãos<br />
monstruosas.» (Po.: 15-22)<br />
Para muitos dos moradores <strong>de</strong> Marandal, Ridjalembe não só é a terra dos seus<br />
progenitores, dos seus avós, dos antepassados e dos espíritos mas, acima <strong>de</strong> tudo, é<br />
um espaço simbólico e <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> relevância e, precisamente por isso, é mítico e até,<br />
<strong>de</strong> certo modo, misterioso 52 .<br />
A Estranha Aventura ilustra ainda melhor a importância da mitologia,<br />
particularmente na educação moral e tradicional, na inserção dos adolescentes no<br />
mundo imaginário e fantástico concebidos como reais. No conto “ O Estranho Amor”,<br />
a personagem Omar Sambine nasceu numa zona rural, em Nampula, na povoação do<br />
régulo Uhulumo, no interior, longe do mar. É a terra dos seus antepassados, <strong>de</strong> ligação<br />
52 . «(...) O verda<strong>de</strong>iro interesse dos mitos resi<strong>de</strong> precisamente no facto <strong>de</strong> eles nos fazerem<br />
recuar a eras em que, num mundo ainda jovem, os indivíduos se encontravam radicalmente ligados à<br />
terra, às árvores e aos mares, às flores e aos montes, <strong>de</strong> modo totalmente diferente daquele a que nós<br />
hoje em dia estamos habituados. (...) Pouca <strong>de</strong>strinça se fazia entre o real e o irreal.<br />
(...) Tanto o actual homem primitivo (...) como aquele que povoava a selva pré- histórica há milénios,<br />
não é nem nunca foi um ser que habita o seu mundo em fantasias alegres ou em visões encantadoras. A<br />
floresta virgem ocultava horrores, e não ninfas e náia<strong>de</strong>s. Nela reinava o Terror, acompanhada da sua<br />
íntima colaboradora, a Magia, e da sua <strong>de</strong>fesa mais comum, o Sacrifício Humano. Então, embora<br />
erradamente, só <strong>de</strong>terminados rituais mágicos, absurdos mas portentosos, ou qualuqer oferta feita à<br />
custa do sofrimento e da dor, podiam dar alguma esperança à humanida<strong>de</strong> <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r vir a escapar à ira<br />
<strong>de</strong>sta ou daquela divinda<strong>de</strong>.» (Pierre GRIMAL, 992: 11-12)
com a tradição e com os outros, isolada <strong>de</strong> influências <strong>de</strong> estranhos, eventualmente<br />
in<strong>de</strong>sejáveis e perturbadores dos usos e costumes ancestrais daquele espaço rural.<br />
Vivia somente com a mãe e, tal como o pai <strong>de</strong> Xilim, em Portagem, o pai <strong>de</strong> Omar<br />
está distante, em lugar incerto e ele não teve o privilégio <strong>de</strong> o conhecer. Tal como a<br />
mãe <strong>de</strong> Xilim, a <strong>de</strong> Omar <strong>de</strong>sempenhava também a função <strong>de</strong> dona <strong>de</strong> casa e <strong>de</strong> chefe<br />
<strong>de</strong> família.<br />
O régulo Uhulumo é o representante do po<strong>de</strong> tradicional naquela recôndita<br />
zona rural; é o garante dos po<strong>de</strong>res administrativo, executivo e judicial. Mesmo assim,<br />
é uma figura intermediária que estabelece a ligação entre a população nativa local e o<br />
po<strong>de</strong>r administrativo colonial, ou melhor, é quem garante o cumprimento e a<br />
execução das orientações emanadas do po<strong>de</strong> central colonial.<br />
Contrariamente à zona rural e interior, terra natal <strong>de</strong> Omar Sambine, é dado<br />
ver um outro espaço também isolado, mas geograficamente, tanto quanto em termos<br />
civilizacionais: é a Ilha <strong>de</strong> Moçambique. Ainda pequeno, às costas da mãe, Omar<br />
Sambine conhecera a Ilha e o mar. Praia e mar, por razões misteriosas, levam Omar<br />
Sambine, vinte anos <strong>de</strong>pois, a regressar à Ilha, aon<strong>de</strong> se fixa e se integra em<br />
<strong>de</strong>finitivo. Se a razão <strong>de</strong>ste retorno ao mar não é <strong>de</strong>svendada pelo narrador, nada<br />
impe<strong>de</strong> <strong>de</strong> a tentarmos interpretar, aten<strong>de</strong>ndo ao tipo <strong>de</strong> envolvimento entre Omar e<br />
aquele novo espaço mais dinâmico, aliciante e alienante. Para Omar Sambine, o<br />
espaço marítimo, pela sua vastidão e imensidão, serve como meio <strong>de</strong> evasão física,<br />
através das jornadas <strong>de</strong> pesca que ele passou a empreen<strong>de</strong>r, pouco tempo <strong>de</strong>pois da<br />
sua fixação emotivo-afectiva, primeiro, por causa do envolvimento amoroso, ainda<br />
que pouco duradoiro, com a mulata Suleima, segundo e, mais importante, <strong>de</strong>vido ao<br />
amor que se tornaria eterno, entre ele e o mar. A quase simbiose entre Omar e o mar<br />
parece colocar, no último, um claro valor antropomórfico.
Po<strong>de</strong>rá parecer estranho enquadrar Ilha e mar no espaço da ancestralida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Omar Sambine. Entretanto, talvez seja <strong>de</strong> o fazer pois _ tal como os moradores <strong>de</strong><br />
Ridjalembe emigraram para Marandal, em Portagem _ em A Estranha Aventura,<br />
Omar também emigrou para um espaço <strong>de</strong> maior dinâmica e vitalida<strong>de</strong>. Desligou-se,<br />
<strong>de</strong> forma abrupta, das raízes, da tradição e dos espíritos ancestrais protectores da sua<br />
integrida<strong>de</strong> física, moral e espiritual. A consequência mais óbvia <strong>de</strong>sse “virar costas”<br />
ao mundo tradicional foi não ter a personagem conseguido constituir uma família:<br />
antes juntou-se com a mulata Suleima, conotada, por causa da sua raça mestiça, com<br />
infi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> e prostituição. O filho <strong>de</strong> ambos levou uma vida errante e sem rumo, em<br />
Nampula, on<strong>de</strong> intercalou prisão com liberda<strong>de</strong> - o que constitui “punição” tanto a<br />
Omar como, ainda, aos seus parentes directos. A senda <strong>de</strong> medidas punitivas<br />
infligidas eventualmente pelos espíritos ancestrais, que se sentem abandonados, vai<br />
culminar com a própria regeneração <strong>de</strong> Omar que, através <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong><br />
metamorfização, passa a viver eternamente no, com, e para o mar, numa espécie <strong>de</strong><br />
“casamento” que não admite separação. É precisamente a sua ligação com o espaço<br />
marítimo, como culminar da sua morte no mar (que, afinal não foi morte, mas uma<br />
outra vida na reincarnação aquática) que criou a lenda do estranho barco sem fundo. 53<br />
Veja-se como Omar se amantizou com o mar:<br />
«(...) Lento, foi empurrando mansamente o barco para o mar. Saltou par o barco num<br />
impulso firme e os lábios sorriam, sorriam sempre. Remou por algum tempo. Para o largo,<br />
sempre para o largo. (...)<br />
Omar Sambine ajoelhou. Pegou na catana larga e forte, na machadinha curta,<br />
arrumadas a um canto da embarcação. No silêncio da noite, por entre o ruge, ruge sensual e<br />
cálido do mar, as pancadas ressoaram uma após outra. Parou apenas quando sentiu o primeiro<br />
beijo das águas poisar-lhe nos pés.<br />
Devagarinho, mansamente, Omar Sambine <strong>de</strong>itou-se <strong>de</strong> costas (...) sentindo as águas<br />
engolfarem-se lentamente pelas aberturas rasgadas no casco da embarcação e crescerem à sua<br />
volta, tateando-lhe as pernas, lambendo-lhe o torso, mordiscando-lhe o sexo (...).» (E.A.: 126)<br />
53 . É curioso notar que há uma certa semelhança entre a forma como Omar Sambine “se mata”<br />
no mar, em A Estranha Aventura, e a forma como a personagem Juza também se mata no mar, em<br />
Portagem. A diferença é que, o primeiro morreu por amor e por paixão, tendo o segundo morrido por<br />
ciúme e vingança - em consequência da infi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> da mulher. A atitu<strong>de</strong> ciumenta e vingativa <strong>de</strong> Juza<br />
é o lado perverso da manifestação do seu amor pela companheira.
A junção <strong>de</strong> Omar com o mar foi uma atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sespero, pelo facto <strong>de</strong> a<br />
única esperança da sua vida (o filho) não ter correspondido às suas expectativas, pois<br />
este se tornara <strong>de</strong>linquente. Por essa via, é <strong>de</strong> crer que a sua morte não tenha sido só<br />
por amor ao mar, mas também por vingança em relação à vida. Nesse aspecto,<br />
po<strong>de</strong>mos fazer uma correlação com Juza, em Portagem.<br />
Tal como pressentiu o narrador que omnisciente, se antecipa aos<br />
acontecimentos, Juza afundou propositadamente o barco e morreu com a companheira<br />
Beatriz, assim materializando o plano <strong>de</strong> vingança.<br />
A problemática do abandono <strong>de</strong> um espaço rural, tradicional, ligado às<br />
origens, vai colocar algumas questões <strong>de</strong>licadas, como a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, a dignida<strong>de</strong> e a<br />
justiça social. Xilim, em Portagem, e Omar Sambine, em A Estranha Aventura, por<br />
exemplo, seguem um trajecto semelhante: a procura <strong>de</strong> melhores condições <strong>de</strong> vida<br />
num outro espaço diferente do seu. A essa procura correspon<strong>de</strong> também um processo<br />
<strong>de</strong> consciencialização, como a crítica já notou:<br />
«Através da viagem (movimento para fora do lugar físico e, por extensão, do “eu”<br />
subjectivo) Xilim ficará ciente da exploração comum aos negros e mulatos, saberá melhor<br />
sobre a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> no processo <strong>de</strong> distribuição da riqueza, a partir da divisão do trabalho,<br />
que também marginaliza o branco como o Esteves e o próprio Campos, perceberá a ca<strong>de</strong>ia<br />
viciosa do sistema que gera a alienação/imitação, pois seus irmãos negros e mulatos, imitam<br />
os brancos e, finalmente, receberá como irmãos os “brancos que eram compreensivos e não se<br />
pareciam com o patrão Campos”.» (Revista África 1979: 77)<br />
Encontrando outra realida<strong>de</strong> e confrontando-a, Xilim entra em processo <strong>de</strong><br />
transformação, <strong>de</strong> mudança.<br />
De um modo geral, po<strong>de</strong>-se dizer que os espaços rural e suburbano <strong>de</strong>scritos<br />
em Portagem e em A Estranha Aventura, sugerem um ambiente estático, silencioso,<br />
uma visão sempre idêntica das coisas. As al<strong>de</strong>ias ancestral, <strong>de</strong> Xilim em Ridjalembe,<br />
e natal <strong>de</strong> Omar Sambine na povoação do régulo Uhulumo, dão a imagem <strong>de</strong> espaços<br />
abandonados, on<strong>de</strong> avultam, <strong>de</strong> vez em quando, «velhos caquéticos, redutos da
existência; paira a quase completa anulação dos ruídos da vida, persistindo <strong>de</strong> forma<br />
misteriosa o elemento fantasmagórico.» 54<br />
. O espaço urbano<br />
O espaço urbano, culturalmente diversificado e caracterizado por uma enorme<br />
riqueza <strong>de</strong> eventos, <strong>de</strong>ve ser entendido como domínio mais específico do fabuloso, da<br />
história enquanto transformação. A cida<strong>de</strong> é ao mesmo tempo una e variada, pois nela<br />
convivem indivíduos com diferentes estatutos sócio-económico e cultural.<br />
Aliado ao espaço físico da cida<strong>de</strong>, aparece também o psicológico, que se<br />
constitui em função da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>ncir atmosferas <strong>de</strong>nsas e perturbantes,<br />
projectadas sobre comportamentos, também eles normalmente conturbados, das<br />
personagens.<br />
O espaço urbano <strong>de</strong>ve ser observado tendo em conta a periferia, o espaço<br />
suburbano, lugar do nativo. Na cida<strong>de</strong> estão, para os nativos, as oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
emprego, os sonhos e as frustrações, as discriminações e as <strong>de</strong>silusões. A cida<strong>de</strong> é o<br />
espaço do “outro”, do “verda<strong>de</strong>iro cidadão”: o <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> europeus portugueses.<br />
Finalmente, a cida<strong>de</strong> é o espaço do po<strong>de</strong>r. Em alguns casos excepcionais, os nativos<br />
54 . Ilustrando a ambiência psico-social <strong>de</strong> um micro universo rural, alguns espaços das obras<br />
referidas <strong>de</strong>ixam perceber, quase <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início, que essa ambiência se encontra nitidamente afectada<br />
por conflitos enquadrados pelos cenários domésticos (Xilim/Luísa; Omar/Beatriz), sócio-profissional<br />
(<strong>de</strong>semprego do filho <strong>de</strong> Omar Sambine e <strong>de</strong> tantos outros), etc.. Em geral, as figuras dos negros e dos<br />
mulatos e dos outros (<strong>de</strong> origem asiática e europeia) constituem, para além do mais, intérpretes <strong>de</strong> um<br />
sistema <strong>de</strong> relações sociais e psicológicas, em que as figuras do mulato Xilim e <strong>de</strong> Omar Sambine, por<br />
exemplo, se <strong>de</strong>stacam enquanto sujeitos com ausência <strong>de</strong> afirmação social e <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, naturalmente não<br />
isentos <strong>de</strong> incidências i<strong>de</strong>ológicas. A valorização das personagens (negros e mulatos) <strong>de</strong> forma<br />
disfórica, associa-se a situações em que a opressão e o terror se articulavam.<br />
«Valorizar a personagem como elemento crucial da narrativa é, com efeito, correspon<strong>de</strong>r,<br />
antes <strong>de</strong> mais, a um programa estético-i<strong>de</strong>ológico que se <strong>de</strong>sejava norteado por um “humanismo”<br />
renovado. Deste modo, o que se configura na cena literária neo-realista é uma resposta directa a um tal<br />
programa. Se no seu cerne se contemplava o homem concreto, histórico, social e económico, então o<br />
seu inequívoco prolongamento, no plano da ficção narrativa e em sintonia com as directrizes filosóficas<br />
e axiológicas do materialismo histórico, era uma personagem em que se reflectiam, <strong>de</strong> forma mais ou<br />
menos distorcida, as facetas apontadas.» (Carlos REIS, 1983: 527)
que tivessem transitado para a outra civilização (a oci<strong>de</strong>ntal), os chamados<br />
assimilados, podiam partilhar a cida<strong>de</strong>, mas sempre com limitações.<br />
Em Portagem, Marandal é o novo espaço atribuído pelas autorida<strong>de</strong>s<br />
administrativas coloniais aos ex-moradores do Ridjalembe. A transferência do grupo<br />
para esse espaço foi feita em condições <strong>de</strong>ploráveis, o que aumentou ainda mais as<br />
precárias condições dos nativos:<br />
«Os homens moradores no bairro con<strong>de</strong>nado juntaram-se todos e foram pedir um<br />
prolongamento do prazo para abandonarem aquele sítio. Pediram também que lhes fosse<br />
emprestado dinheiro para po<strong>de</strong>rem comprar algum material em segunda mão para substituir o<br />
que estivesse mais velho e não aguentasse a transferência. O chefe que os recebeu, conce<strong>de</strong>ulhes<br />
mais um mês mas informou que não lhes po<strong>de</strong>ria ser emprestado dinheiro. E prometeu<br />
que <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> construído o bairro para brancos, se construiria um bairro <strong>de</strong> alvenaria para<br />
eles. Os homens saíram dali <strong>de</strong>sanimados, <strong>de</strong> cabeças baixas, com uma palavra <strong>de</strong> <strong>de</strong>sgosto<br />
amortecida nos lábios. Um outro branco da brigada sentiu e interiorizou esse <strong>de</strong>sgosto. E<br />
continuou a trabalhar, meditando sobre os aspectos dolorosos das renovações prioritárias.»<br />
(Po.: 115)<br />
Ainda que, na aparência, se possa vislumbrar uma boa intenção, por parte das<br />
autorida<strong>de</strong>s, ao prometerem construir posteriormente um bairro <strong>de</strong> alvenaria para os<br />
“con<strong>de</strong>nados”, o narrador faz, implicitamente, ver outra realida<strong>de</strong>: a existência <strong>de</strong><br />
bairros separados para brancos e negros, eventualmente para outras raças, reflecte<br />
precisamente a política oficial <strong>de</strong> segregação racial, o que passou a ter influência na<br />
forma discriminatória <strong>de</strong> relacionamento entre pessoas <strong>de</strong> raças e <strong>de</strong> etnias diferentes.<br />
Por isso, a cida<strong>de</strong> é vista pelos nativos como um espaço hostil, não obstante ser<br />
também ali que se proporcionam empregos. Nas zonas periféricas da cida<strong>de</strong>, os<br />
espaços habitados por europeus eram urbanizados e havia a preocupação <strong>de</strong><br />
proporcionar um ambiente acolhedor ou minimamente habitável. Em A Estranha<br />
Aventura, o bairro ferroviário é <strong>de</strong>stinado, implicitamente, a “cidadãos” (no sentido<br />
dado ao termo pelas autorida<strong>de</strong>s coloniais) trabalhadores dos caminhos <strong>de</strong> ferro: gente
<strong>de</strong> raça branca, predominantemente. Está-se perante uma situação idêntica à <strong>de</strong><br />
Portagem: a diferença rácica implica diferenças na ocupação <strong>de</strong> espaços:<br />
«A gente que vive no bairro é gente ferroviária. De Lourenço Marques às Mahotas é<br />
meia hora <strong>de</strong> comboio, um quarto <strong>de</strong> hora <strong>de</strong> carro. Os homens vêm no comboio da manhã<br />
para a cida<strong>de</strong>, on<strong>de</strong> trabalham nos caminhos <strong>de</strong> ferro; os garotos <strong>de</strong> escola e os adolescentes<br />
do liceu vêm no autocarro próprio que os caminhos <strong>de</strong> ferro mandam, para os trazer; ao meio<br />
dia os homens regressam a casa <strong>de</strong> comboio, os filhos, no autocarro; <strong>de</strong>pois do almoço os<br />
primeiros regressam à cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> comboio e o autocarro volta com os estudantes dos turnos da<br />
tar<strong>de</strong>. Há ainda um comboio, um pouco mais tar<strong>de</strong>, e as mulheres dos ferroviàrios que lá<br />
moram aproveitam-no para vir a Lourenço Marques fazer compras, se precisam.» (E.A.: 17-<br />
18)<br />
Observe-se que o bairro ferroviário é habitado também por nativos e mestiços,<br />
a julgar pelo grupo dos cinco rapazes que, juntos, partilhavam as cenas da estranha<br />
aventura, que formavam instintivamente pequenos grupos, norteados talvez pela<br />
disposição das casas dos seus pais ou pelas brigas que os haviam separado, conforme<br />
informa o narrador <strong>de</strong> A Estranha Aventura. 55<br />
Em A Estranha Aventura, no primeiro conto, a separação entre o espaço rural,<br />
suburbano e o urbano, faz-se em função do tipo <strong>de</strong> ocupantes <strong>de</strong>sses espaços e não em<br />
função da distância que os separa. O bairro ferroviário das Mahotas é um pequeno<br />
espaço urbanizado, <strong>de</strong>ntro da zona rural; é cercado <strong>de</strong> mato e <strong>de</strong> habitações precárias<br />
dos nativos, on<strong>de</strong> a rapaziada do bairro mo<strong>de</strong>rno e da zona rural circunvizinha<br />
convivia e procurava realizar os seus sonhos <strong>de</strong> aventuras infantis.<br />
No conto “Jangô”, Mavalane é também um bairro com alguma zonas<br />
urbanizadas, com características semelhantes às do bairro das Mahotas. Entretanto,<br />
Mavalane é mais extenso, relativamente mais <strong>de</strong>senvolvido: possui salas <strong>de</strong> cinema,<br />
55 . Se bem que, <strong>de</strong> um modo geral, predominassem, na época e no espaço em análise, atitu<strong>de</strong>s<br />
e comportamentos segregacionistas, são <strong>de</strong> notar algumas excepções. Neste bairro havia coabitação<br />
entre homens <strong>de</strong> raças distintas; no entanto, para serem admitidos ao mundo dito civilizado, os nativos<br />
teriam que passar por uma série <strong>de</strong> provas. Duas <strong>de</strong>las eram fundamentais: o juramento <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> à<br />
Pátria (Portugal) e a aceitação da política assimilacionista. De certo que os negros e mestiços resi<strong>de</strong>ntes<br />
naquele bairro ferroviário (em particular) ou trabalhadores da função pública (em geral) integravam o<br />
lote dos chamados assimilados e, portanto, com direitos aproximados, mas não totalmente iguais, aos<br />
dos cidadãos <strong>de</strong> origem europeia.
cantinas, complexos <strong>de</strong>sportivos. Apesar disso, faz vizinhança com o mundo<br />
primitivo, com o mato, espaço <strong>de</strong> aventuras da pequenada. Diferentemente do bairro<br />
ferroviário das Mahotas, Mavalane foi construído por fundos públicos e, como o<br />
nome claramente elucida, era <strong>de</strong>stinado aos nativos: <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>le havia um sub-bairro<br />
mo<strong>de</strong>lo chamado significativamente Bairro Indígena Municipal. Os seus moradores<br />
tiveram uma sorte diferente dos do Bairro Con<strong>de</strong>nado <strong>de</strong> Portagem. O bairro <strong>de</strong><br />
Mavalane é um continente, cujo conteúdo são os micro-espaços referidos: o Bairro<br />
Municipal Indígena, a cantina, os cinemas, etc.. Este é o protótipo da organização<br />
administrativa e social adoptada pela autorida<strong>de</strong> admnistrativa colonial, ao redor dos<br />
gran<strong>de</strong>s centros urbanos e nalgumas zonas privilegiadas do interior. São uma espécie<br />
<strong>de</strong> zonas satélites on<strong>de</strong> se experimentava a implementação das políticas <strong>de</strong><br />
assimilação e <strong>de</strong> civilivação do africano nativo, convertido e aculturado. Por isso, o<br />
Bairro Indígena Municipal é o protótipo <strong>de</strong> um bairro civilizado (ou para civilizar os<br />
nativos mais receptivos aos mo<strong>de</strong>los culturais da Metrópole). Nele encontramos uma<br />
miscelânia entre o mundo rural, tradicional e indígena e a “civilização” portuguesa:<br />
daí os conflitos culturais nos modos <strong>de</strong> vida entre os moradores. Este bairro, pelas<br />
suas características físicas e morais (convertido <strong>de</strong> tradicional para o mo<strong>de</strong>rno)<br />
procura ser uma réplica da cida<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> (Lourenço Marques), que está a escassos<br />
três quilómetros.<br />
Mavalane funcionava também como uma espécie <strong>de</strong> travão ao provável afluxo<br />
<strong>de</strong> indígenas à capital - cida<strong>de</strong> gran<strong>de</strong>, imponente e cosmopolita - reservada só para os<br />
europeus. A esse propósito, o Cinema Império, que se situa <strong>de</strong>ntro daquele bairro<br />
suburbano, é o espaço <strong>de</strong> realização <strong>de</strong> sonhos dos alienados e assimilados nativos, <strong>de</strong><br />
aventuras e <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação com falsos-heróis, isto a partir do tipo <strong>de</strong> películas que<br />
eram exibidas nessa sala. Provavelmente, as acções <strong>de</strong> gatunagem do bando <strong>de</strong> Jangô,
(no conto com o mesmo título), para além <strong>de</strong> serem o resultado <strong>de</strong> carências <strong>de</strong> todo o<br />
tipo, po<strong>de</strong>m ser também o reflexo das imagens <strong>de</strong> heróis buscadas nos filmes exibidos<br />
no Cinema Império. Era hábito dos jovens e adultos nativos, geralmente moradores<br />
nos bairros periféricos <strong>de</strong> Mavalane, assim como no próprio Bairro Indígena, imitar as<br />
cenas dos heróis e dos protagonistas <strong>de</strong> filmes que melhor condiziam com os seus<br />
sonhos. Não fazendo a <strong>de</strong>strinça entre o ficcional e o real, encaravam todas as cenas<br />
dos filmes como reais e, consequentemente, como passíveis <strong>de</strong> imitação. Os seus<br />
ídolos ganhavam uma dimensão trans-real e constituíam exemplos a imitar e a seguir,<br />
até em nomes adoptados, como se vê em A Estranha Aventura.<br />
A propósito do Aparelho Administrativo Colonial, importa referir que as<br />
instituições representativas dos po<strong>de</strong>res executivo, judicial e legislativo constituem,<br />
no subconsciente dos nativos a representação imponente do próprio po<strong>de</strong>r em geral.<br />
Estas eram instituições vistas com <strong>de</strong>sconfiança e <strong>de</strong> soslaio. Assim, o Tribunal que<br />
julgou Xilim, em Portagem, representa a própria preservação e a manutenção da<br />
justiça. Para Xilim, mostrou-se um espaço hostil, porque o seu julgamento foi parcial,<br />
minado por preconceitos rácicos, sociais, etc. A Esquadra, local on<strong>de</strong> <strong>de</strong>correu o<br />
interrogatório, reflecte a fraqueza da polícia perante o po<strong>de</strong>r económico. Mais adiante,<br />
apercebemo-nos <strong>de</strong> certa anarquia institucional: Xilim, <strong>de</strong>tido sob suspeita <strong>de</strong> crime, é<br />
liberto <strong>de</strong> forma inexplicável para ele, o que o põe incrédulo.<br />
Estas instituições, responsáveis pela manutenção da lei e da or<strong>de</strong>m, têm, <strong>de</strong><br />
certo modo, um papel repressivo sobre os cidadãos, em geral, e sobre os nativos, em<br />
particular.<br />
Em alguns contos <strong>de</strong> A Estranha Aventura, o Narrador sublinha a crítica aos<br />
espaços que simbolizam a repressão.
Retomando a problemática do espaço social, lembraria que, no limiar dos<br />
bairros suburbanos e rurais, cuja população era predominantemente nativa,<br />
distinguindo-se esta entre autóctones (habitantes das zonas rurais e suburbanas) e<br />
assimilados (habitantes dos bairros urbanos e suburbanos) a cantina tem especial<br />
importância no estabelecimento <strong>de</strong> relações entre grupos sociais diferentes. Em<br />
«Jangô», a cantina do monhé Issufo e a loja do caneco e do alfaiate Fernan<strong>de</strong>s são<br />
espaços on<strong>de</strong> se po<strong>de</strong>m reflectir a <strong>de</strong>gradação das condições <strong>de</strong> trabalho dos nativos e<br />
o seu fraco po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> compra. Implantado nas zonas habitacionais atrás referidas, o<br />
pequeno comércio era exercido maioritariamente por cidadãos <strong>de</strong> origem asiática. As<br />
cantinas suburbanas eram o espaço <strong>de</strong> encontro dos trabalhadores das cida<strong>de</strong>s, que<br />
regressavam a casa, ao anoitecer. Em «Os cães ladram lá fora», o narrador volta a<br />
fazer referência às lojas do caneco e do alfaiate Fernan<strong>de</strong>s. Este é o espaço on<strong>de</strong><br />
algumas mulatas e negras do Bairro têm emprego e on<strong>de</strong> se encontram fortuitamente<br />
com os brancos da cida<strong>de</strong>. É um espaço <strong>de</strong> cumplicida<strong>de</strong> entre a ética, a moral e a<br />
promiscuida<strong>de</strong>. A retomada das mesmas lojas <strong>de</strong> um conto para o outro não é<br />
ocasional: o narrador quis, com isso reforçar uma informação importante sobre a<br />
significância <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminado espaço, em «Jangô» e «Os cães ladram lá fora».<br />
O sentido global <strong>de</strong> um enunciado não resulta da soma dos sentidos das suas<br />
palavras ou frases, mas <strong>de</strong> uma sucessão <strong>de</strong> efeitos <strong>de</strong> sentidos solidários. Um<br />
enunciado joga na consecução e combinação <strong>de</strong> conjuntos (sequências, capítulos,<br />
parágrafos, episódios, contos). A análise é que vai permitir o reagrupamento do maior<br />
número <strong>de</strong>les, <strong>de</strong>finirá como equivalentes semanticamente e/ou funcionalmente.<br />
A organização administrativa e social do espaço, em Portagem e em A<br />
Estranha Aventura, obe<strong>de</strong>ce a critérios perfeitamente i<strong>de</strong>ntificáveis e perfeitamente<br />
<strong>de</strong>scriminatórios. O nativo incivilizado, segundo os mo<strong>de</strong>los da administração
colonial portuguesa, <strong>de</strong>via permanecer fiel às leis da natureza (no mato), pois ainda<br />
não tinha atingido um grau <strong>de</strong> civilização que lhe permitisse ter acesso a um “espaço<br />
evoluído”; o nativo trabalhador na cida<strong>de</strong> (geralmente pouco instruído) tinha direito a<br />
ocupar a periferia da cida<strong>de</strong>, para permitir que estivesse próximo do local <strong>de</strong> trabalho.<br />
Eventualmente, alguns bairros suburbanos eram pequenas réplicas <strong>de</strong> bairros urbanos:<br />
ali não só moravam os nativos assimilados, mas também alguns europeus que,<br />
estrategicamente, tinham a “nobre” função <strong>de</strong> civilizar o negro, pelo “bom exemplo”.<br />
As cida<strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s (como Lourenço Marques) eram habitadas quase exclusivamente<br />
por europeus e era on<strong>de</strong> se localizavam a administração e o po<strong>de</strong>r político central.<br />
Em Portagem, o princípio <strong>de</strong> oposição semântica dos espaços, dá maior<br />
<strong>de</strong>staque aos espaços suburbanos e/ou urbanizados, que melhor ilustram o drama da<br />
vida. 56<br />
É no subúrbio que o narrador dá conta da existência da cantina da Casa <strong>de</strong><br />
Caju, proprieda<strong>de</strong> do Sr. Esteves. A cantina é um espaço <strong>de</strong>gradado, principalmente a<br />
nível moral: nas suas traseiras existem quartos <strong>de</strong> aluguer para a prostituição. Na<br />
cantina confluem a miséria, o alcoolismo, o adultério, o <strong>de</strong>semprego, havendo poucas<br />
perspectivas para uma vida sã e harmoniosa. A Casa <strong>de</strong> Caju é também o espaço <strong>de</strong><br />
memória, que se reflecte nas imaginações e nas recordações angustiantes e tristes que<br />
perseguem, principalmente, Xilim e Maria Helena. Este espaço é sempre visto pelo<br />
narrador numa perspectivas disfórica: há ali negócios sujos e tráfico clan<strong>de</strong>stino;<br />
56 . Lotman procura enten<strong>de</strong>r o espaço relacionando-o com o acontecimento – e isso é<br />
particularmente interessante para o que estamos a analisar, como se vê:<br />
«Assim, o acontecimento é sempre a violação <strong>de</strong> uma interdição, um facto que suce<strong>de</strong>u, ainda<br />
que não <strong>de</strong>vesse ter sucedido. (…).<br />
Na base da organização interna dos elementos do texto (artístico, ou mitológico), se encontra,<br />
geralmente o princípio <strong>de</strong> oposição semântica binária: o mundo repartir-se-á em ricos e pobres, em<br />
“seus” e estranhos, em hortodoxos e heréticos, em pessoas cultas e não cultas, em homens da Natureza<br />
e homens da Socieda<strong>de</strong>, em inimigos e amigos (…). No texto, estes mundos recebem quase sempre<br />
uma realização espacial: o mundo dos pobres realiza-se como “subúrbios”, “casebres”, “águas<br />
furtadas”, e o mundo dos ricos, como “cida<strong>de</strong>”, “rua principal”, “palácio”. Aparecem as i<strong>de</strong>ias sobre as<br />
terras pecadoras e as terras justas, a antítese da cida<strong>de</strong> e do campo, da Europa civilizada e da ilha<br />
<strong>de</strong>sabitada, da floresta boémia e do castelo paternal.» (Iuri LOTMAN, 1979: 383-386)
Maria Helena viu-se na contingência <strong>de</strong> ter que casar “à força”; <strong>de</strong>spoletam-se ódios e<br />
vinganças (entre Justino, Sr. Esteves, Maria Helena, etc.).<br />
Em contrapartida, a cida<strong>de</strong> é o espaço das noites <strong>de</strong> luzes acesas, <strong>de</strong> lares com<br />
fartura, paz e alegria, <strong>de</strong> realização <strong>de</strong> negócios. Tanto os cidadãos <strong>de</strong> <strong>de</strong>scendência<br />
europeia, como os nativos veêm-na como lugar <strong>de</strong> esperança, <strong>de</strong> promessas, <strong>de</strong><br />
sucesso, <strong>de</strong> sonho, <strong>de</strong> evasão e até <strong>de</strong> ilusão. É o símbolo do progresso, da civilização;<br />
contudo, não pertence a todos, é só para os que po<strong>de</strong>m. Assim, funciona como uma<br />
parábola da <strong>de</strong>scriminação e da segregação.<br />
. Tempo e Tempos
Ao proce<strong>de</strong>r-se ao estudo da or<strong>de</strong>m do tempo <strong>de</strong> uma narrativa, está-se a<br />
confrontar a or<strong>de</strong>m da disposição dos acontecimentos ou dos segmentos temporais no<br />
discurso narrativo, com a or<strong>de</strong>m da sucessão <strong>de</strong>sses acontecimentos ou <strong>de</strong>sses<br />
segmentos temporais, no plano da história. É por isso que toda a problemática da<br />
anacronia constitui, em relação à narrativa na qual se insere, uma narrativa que se<br />
po<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar temporalme subordinada à primeira, nessa espécie <strong>de</strong> sintaxe<br />
narrativa que se encontra quando se proce<strong>de</strong> à análise <strong>de</strong> uma obra. É importante que<br />
se estabeleça uma breve distinção entre a seguinte tipologia <strong>de</strong> tempo: quando se fala<br />
<strong>de</strong> tempo da história, tem-se em conta o próprio tempo da diegese, ou seja, refere-se,<br />
em primeira instância, ao tempo matemático propriamente dito, à sucessão<br />
cronológica <strong>de</strong> eventos susceptíveis <strong>de</strong> serem dotados com maior ou menor rigor. Em<br />
relação ao tempo do discurso, ele apresenta-se como um tempo linear, que sujeita o<br />
tempo histórico à dinâmica da sucessivida<strong>de</strong> metonímica, que é própria da narrativa.<br />
Por último, o tempo psicológico caracteriza-se por ser um tempo muitas vezes filtrado<br />
pelas vivências subjectivas da personagem. A este propósito, Alzira Seixo constata<br />
que em geral, «o romance mo<strong>de</strong>rno põe <strong>de</strong> lado o chamado tempo objectivo, mantido<br />
por relógios e calendários; impõe-se-lhe agora, (...) a transmissão <strong>de</strong> um tempo<br />
qualitativo, espesso e resistente, espécie <strong>de</strong> continuida<strong>de</strong> íntima que só po<strong>de</strong> existir e<br />
<strong>de</strong>finir-se em relação a uma consciência. Esse tempo espesso mostra-se diversificado<br />
e essas “várias espessuras” só se <strong>de</strong>finem em função da temporalida<strong>de</strong> intrínseca do<br />
ser humano que, existindo no presente, se manifesta dialecticamente entre a<br />
significação <strong>de</strong> um passado e a aquisição <strong>de</strong> um <strong>de</strong>vir.» 57<br />
Nas obras que constituem o corpus, gran<strong>de</strong> relevância ganha a referência à<br />
recordação e mesmo a evocação <strong>de</strong> um tempo passado mítico, consi<strong>de</strong>rado glorioso,<br />
57 . Maria Alzira SEIXO, 1984: 18-19
i<strong>de</strong>al e harmonioso. Por exemplo, a vida quotidiana <strong>de</strong> Xilim, em Portagem, e a <strong>de</strong><br />
Omar Sambine, em A Estranha Aventura, no tempo “actual”, mostra-se difícil,<br />
insuportável, caracterizada por uma série <strong>de</strong> injustiças sociais, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as dificulda<strong>de</strong>s<br />
económicas, a <strong>de</strong>scriminação racial, até às <strong>de</strong> integração e adaptação culturais. O<br />
refúgio é a procura <strong>de</strong> um tempo passado, que parece ter sido glorioso e exemplar.<br />
Para tal, em muitas passagens, o narrador procura incutir, nas personagens, essa<br />
memória, através <strong>de</strong> uma espécie <strong>de</strong> processo introspectivo, on<strong>de</strong> a consciência é<br />
posta ao serviço <strong>de</strong> uma recordação que serve ao aumento <strong>de</strong> conhecimento. Um<br />
presente hostil que obriga à revisitação do passado eufórico merece a atenção <strong>de</strong><br />
Alzira Seixo:<br />
«Trata-se (...) <strong>de</strong> nos comunicar os transes <strong>de</strong> uma consciência que se busca a partir<br />
do tempo que correu. A recordação do passado vai ajudar a <strong>de</strong>finir pessoas que, uma vez<br />
ressuscitadas, vivas, tornadas presentes pela evocação, revitalizam o tempo tornando possível<br />
ao autor reencontrá-lo. É necessário, pois, o reconhecimento do passado, dada a precarieda<strong>de</strong><br />
do presente.<br />
Este reconhecimento advém-nos essencialmente através <strong>de</strong> uma meditação que se<br />
exerce sobre <strong>de</strong>terminados momentos privilegiados em que o autor se encontra em condições<br />
<strong>de</strong> atingir plenamente uma comunhão com o seu passado (…).<br />
Há uma tentativa consciente <strong>de</strong> apreensão do passado, consi<strong>de</strong>rando o domínio da<br />
recordação o único <strong>de</strong> conhecimento realmente válido. (...) Há uma revelação da personagem<br />
feita por si própria, através do quotidiano, em or<strong>de</strong>m a atingir a sua transparência absoluta, o<br />
que se consegue através do recurso constante à técnica do monólogo interior.» 58<br />
Em A Estranha Aventura, no conto com o mesmo nome, através <strong>de</strong> um<br />
discurso rememorativo na primeira pessoa, o narrador-personagem procura privilegiar<br />
três tempos verbais, cada um com o seu papel específico: o presente do indicativo é<br />
eleito para “actualizar os acontecimentos” presentes, que são relatados por este<br />
narrador (por exemplo, «Vocês não sabem (...)»; (...) as Mahotas resumem-se a vinte<br />
casas (...) (15-16). O pretérito imperfeito dá conta <strong>de</strong> acontecimentos que tiveram<br />
uma ocorrência predominantente frequentativa (como, por exemplo, em «Quando as<br />
58 . Maria Alzira SEIXO, 1984: 21-22
férias chegavam (...)» (21); «Por ali andávamos, o dia inteiro» (21). No que diz<br />
respeito ao pretérito perfeito, este privilegia, <strong>de</strong> modo geral, a narração <strong>de</strong><br />
acontecimentos e/ou <strong>de</strong> factos passados recente e pontualmente (como por exemplo<br />
em «E então, um dia, aquilo aconteceu» (25); «E <strong>de</strong> repente (...) sentimos que<br />
aquele homem (...) não pertencia mais ao nosso mundo» (27).<br />
É interessante notar que, em relação ao pretérito perfeito, e com base nos<br />
exemplos atrás aduzidos, não é propriamente o tempo verbal que marca a<br />
pontualida<strong>de</strong> e/ou a recenticida<strong>de</strong> dos acontecimentos, mas as expressões adverbiais<br />
temporal (um dia) e modal (<strong>de</strong> repente), não servindo apenas como reiteradoras da<br />
informação, mas também como especificadoras da mesma.<br />
Continuando ainda neste conto, mais do que a preocupação com os verbos e os<br />
seus valores aspectuais, o narrador interessa-se em se situar a si mesmo e aos seus<br />
actos no plano da rememoração, da recordação do seu passado, a dois níveis, tendo<br />
como parâmetro a sua faixa etária:<br />
- dos 10 aos 20 anos - tempo que abrange as suas histórias <strong>de</strong> infância, as suas<br />
aventuras, etc.;<br />
- <strong>de</strong>pois dos 20 anos - a partir <strong>de</strong> um acontecimento que leu num jornal da<br />
época, relacionado com um homem misterioso e estranho.<br />
Para o narrador, ainda na sua inocente infância, este homem estranho oscilante<br />
entre o humano e o extra-humano, situa-se num tempo impreciso e até in<strong>de</strong>terminado.<br />
Este narrador, que assume um carácter autobiográfico, posiciona-se aqui, no “agora”<br />
da leitura do jornal, servindo este <strong>de</strong> suporte para a rememoração <strong>de</strong> coisas mortas,<br />
imagens esbatidas:<br />
«E foi ao <strong>de</strong>bruçar-me, encantado, para o monte <strong>de</strong> jornais antigos que encontrei<br />
numa prateleira <strong>de</strong> um armário, que repentinamente aquele rosto estranho (...) me tocou a<br />
alma num estremeção violento. Passaram-se quase vinte anos. Mas po<strong>de</strong>riam ter passado<br />
cinquenta, cem que fossem, que esse rosto estaria tão presente na minha recordação.
Por <strong>de</strong>baixo da gravura vinha uma notícia: “ a Polícia encontrou ontem, durante a<br />
noite, perto do sítio conhecido por Mahotas, o louco que, conforme havíamos oportunamente<br />
noticiado, fugira da enfermaria dos alienados (...) e cujo para<strong>de</strong>iro se buscava há vários dias.»<br />
(E.A.: 31)<br />
O tempo revela-se no carácter rememorativo da obra: tudo nela vive pelo<br />
tempo e para o tempo, mas a recordação e a análise não rompem as fronteiras da<br />
cronologia, o leitor não per<strong>de</strong> o fio da narrativa que, em última instância, se po<strong>de</strong><br />
consi<strong>de</strong>rar linear.<br />
Em Portagem, a narrativa inci<strong>de</strong> sobre um passado que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a primeira<br />
linha, se adivinha visto pela perspectiva do presente verbal, caracterizando-se o<br />
discurso pela alternância passado-presente, por vezes em relação <strong>de</strong> inter<strong>de</strong>pendência.<br />
As activida<strong>de</strong>s psíquicas <strong>de</strong> rememoração, <strong>de</strong> Xilim e <strong>de</strong> Justino, por exemplo,<br />
oferecem disso um quadro bem elucidativo:<br />
«Ali na cida<strong>de</strong>, João Xilim já per<strong>de</strong>u as esperanças <strong>de</strong> arranjar emprego. Terá que<br />
emigrar. Ele nasceu para andar <strong>de</strong> terra em terra, sem po<strong>de</strong>r parar muito tempo no mesmo<br />
lugar. Hesita muito, antes <strong>de</strong> se <strong>de</strong>cidir. Volta a lembrar-se do Marandal, <strong>de</strong> Patrão Campos,<br />
da mãe Kati, <strong>de</strong> Maria Helena, do capataz Uhulamo, <strong>de</strong> avó Lima. Lembra-se da sua<br />
meninice, em liberda<strong>de</strong>, para <strong>de</strong>pois o irem buscar e <strong>de</strong>pois <strong>de</strong>ixarem-no em casa do dono da<br />
mina. Lembra-se do seu regresso à povoação, com seis anos <strong>de</strong> andanças por outros lugares,<br />
embarcado.» (Po.: 53-54)<br />
O narrador, privilegiando basicamente um discurso rememorativo, ou <strong>de</strong><br />
actualização permanente <strong>de</strong> um passado que se situa próximo do presente, faz uma<br />
espécie <strong>de</strong> filmagem do passado da personagem Xilim. Porque esse passado, ainda<br />
que recente, se apresenta em todos os seus pormenores, o narrador vê-se na<br />
contingência <strong>de</strong> ter que seleccionar os acontecimentos que acha mais marcantes,<br />
subtraindo as informações que consi<strong>de</strong>ra supérfluas; para tal recorre a elipses, ou a<br />
resumos, como forma <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsar o tempo do discurso (afinal <strong>de</strong> contas a escrita é<br />
um acto <strong>de</strong> selecção e, <strong>de</strong> certo modo, também <strong>de</strong> omissão).<br />
A organização gráfica <strong>de</strong> Portagem também insinua passagem <strong>de</strong> tempo: os<br />
capítulos se separam por um espaço em branco, intevalo <strong>de</strong> valor espácio-temporal.
Alguns capítulos apresentam uma separação bastante curta (entre 5 a 10 centímetros),<br />
po<strong>de</strong>ndo em alguns casos o leitor suspeitar <strong>de</strong> supressão <strong>de</strong> informação. Repare-se nas<br />
páginas 44, 74, 97, 102, 111, 116 e 161: o truncar do texto não só permite <strong>de</strong>sprezar o<br />
supérfluo, obtendo daí um efeito económico e redutor do texto, mas também mudar o<br />
assunto, ou o enfoque temático, num lapso <strong>de</strong> tempo muito reduzido. Se é verda<strong>de</strong><br />
que esta estratégia permite que se concretize e se materialize a elipse, não é menos<br />
verda<strong>de</strong> que ela também contribui para a obtenção <strong>de</strong> um texto resumido ou, pelo<br />
menos, contendo a informação estritamente necessária, na óptica do narrador. Por<br />
exemplo, no capítulo 7, a temática central é a tentativa <strong>de</strong> reabilitar a mina <strong>de</strong> carvão<br />
<strong>de</strong> Marandal e a <strong>de</strong> convencer os mineiros a regressarem ao trabalho, abandonado<br />
após o aci<strong>de</strong>nte. Entretanto, através do processo elíptico atrás caracterizado, o<br />
narrador permitiu, concretamente na página 44, que se mudasse não só o assunto (em<br />
torno da mina), mas também o cenário. O centro já não é Xilim e os negros mineiros<br />
incrédulos e <strong>de</strong>sconfiados, mas Maria Helena, potencial proprietária e actual dirigente<br />
do projecto <strong>de</strong> reabilitação da mina outrora do pai. O centro é o interior <strong>de</strong> Maria<br />
Helena, os seus pensamentos (mais uma vez, a rememoração é chamada a revelar-se).<br />
Repare-se no último parágrafo trânsito <strong>de</strong> tópico, evi<strong>de</strong>nciado pela presença do espaço<br />
gráfico:<br />
«João Xilim acaba por falar com os mineiros, um a um. Louva a bonda<strong>de</strong> da filha do<br />
dono da mina, promete-lhes novas regalias para quando ele for o capataz. E os negros,<br />
relutantes a princípio, mas também sem outras alternativas <strong>de</strong> ocupação que a da emigração<br />
para a cida<strong>de</strong> ou para o Kaniamato, ace<strong>de</strong>m a pegar nas ferramentas e tornam a extrair o<br />
carvão da mina <strong>de</strong> Marandal.<br />
Maria Helena <strong>de</strong>ita-se extenuada <strong>de</strong> energia e da excitação a que se obriga durante<br />
todo o dia, querendo cumprir o melhor possível a sua função <strong>de</strong> dirigente dos trabalhadores e<br />
responsável por eles.» (Po.: 42-44)
A rememoração feita por Maria Helena estabelece estreita ligação entre o<br />
passado (o <strong>de</strong>sabamento da mina <strong>de</strong> Kamianato, a sua ida para o Colégio da cida<strong>de</strong> e<br />
o regresso a Marandal, sua terra natal) e o presente, quando se tenta reabilitar a<br />
mesma mina. O que o texto verbal não explicita é sugerido pela mancha gráfica.<br />
Assim, o leitor não só é levado a ler o tempo explicitado pelas marcas linguísticas,<br />
como também é induzido a ler um tempo oculto no interior das personagens, tempo<br />
marcado pela ausência discursiva, pelos espaços em branco que fazem, não a<br />
separação entre os capítulos e algumas subpartes <strong>de</strong>les, mas, pelo contrário, a ligação<br />
entre eles. A representação do tempo também na mancha gráfica torna todo o texto<br />
profundamente coerente e coeso.<br />
O modo <strong>de</strong> representar atemporalida<strong>de</strong>, potenciando nela muitos significados é<br />
mais elucidativo em Portagem, on<strong>de</strong> se privilegia a elipse espacial (que, pressupõe<br />
elipse temporal) e os processos rememorativo e onírico. Tudo isso manipula e<br />
complexifica o tempo - função também exercida pelas antecipações. Dessas encontra-<br />
se um exemplo na página 69, quando o narrador utiliza a estratégia <strong>de</strong> antecipação <strong>de</strong><br />
um <strong>de</strong>terminado acontecimento (neste caso, a prisão do negro Isidro) para excitar-nos<br />
a curiosida<strong>de</strong> e, ainda, convocar um tempo narrativo que, no plano da história, ocorre,<br />
a posteriori. Estratégia semelhante po<strong>de</strong> ser constatada no mesmo capítulo (74-75).<br />
Aqui se faz uma antecipação hipotética dos acontecimentos, quando o velho Isidro,<br />
sentenciado, traça mentalmente o plano que veremos realizado posteriormente (75). O<br />
procedimento narrativo <strong>de</strong> antecipar os acontecimentos (prolepse) <strong>de</strong>ve ser associado<br />
na análise, ao procedimento contrário: a anlepse. Na narração <strong>de</strong> eventos ocorridos<br />
anteriormente em relação a eventos já narrados, não é <strong>de</strong> estranhar que em Portagem<br />
a analepse seja o recurso discursivo eleito: é que esta narrativa, por privilegiar em<br />
muitas personagens um recordar permanente do passado, acaba por <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar, pela
activação da memória, uma retrospecção <strong>de</strong> feição dialéctica. De facto, à recuperação<br />
constante do passado presi<strong>de</strong>, neste caso, um critério eminentemente dinâmico. Em<br />
vez <strong>de</strong> sujeito a uma contemplação estática e passiva, o passado alterna com o<br />
presente, instituindo-se assim uma espécie <strong>de</strong> sintaxe temporal dialógica. Vejam-se<br />
alguns fragmentos elucidativos:<br />
«(...) E João Xilim <strong>de</strong>ita-se na areia da praia, <strong>de</strong> barriga para o ar, olhando a terra do<br />
outro lado da baía, aos altos e baixos, matutando nas voltas da sua vida. (...) E todos os dias,<br />
àquela hora <strong>de</strong> <strong>de</strong>scanso da faina da pesca, João Xilim recapitula fragmentos do seu<br />
passado.» (Po.: 128)<br />
«Não há dia algum em que Maria Helena não se recorda do Marandal.» (Po.: 81)<br />
O velho Justino «continua a contar costumes do mato. Mas ele já não se lembra <strong>de</strong><br />
nada do tempo <strong>de</strong> capataz antes <strong>de</strong> vir para a cida<strong>de</strong> e falta-lhe a imaginação.» (Po.: 78)<br />
Se as acções <strong>de</strong> matutar, <strong>de</strong> recapitular, <strong>de</strong> não recordar, <strong>de</strong> não se<br />
lembrar, se situam no momento presente, então, po<strong>de</strong>-se arriscar a dizer que ocorrem<br />
simultaneamente no presente <strong>de</strong> enunciação do discurso do narrador; entretanto, o<br />
objecto dos actos cognitivos atrás <strong>de</strong>stacados situa-se impreterivelmente no passado:<br />
aqui está a tal espécie <strong>de</strong> sintaxe temporal dialógica, que é reforçada pela seguinte<br />
compreensão da dinâmica temporal da analepse:<br />
«A analepse não se limita a reorganizar, <strong>de</strong> modo mais ou menos esquemático, o<br />
tempo da história ao nível do discurso. Atribui-se-lhe uma nova or<strong>de</strong>m: sendo concretizada a<br />
partir <strong>de</strong> certas perspectivas inseridas na história, a analepse participa na constituição <strong>de</strong> uma<br />
temporalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cunho psicológico, na medida em que colabora no processo <strong>de</strong> sujeição do<br />
tempo cronológico às vivências das personagens.<br />
É normalmente na vivência <strong>de</strong> situações <strong>de</strong> conflito e <strong>de</strong> isolamento afectivo que se<br />
<strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ia a focalização interna das personagens mencionadas (...).» 59<br />
Ainda em relação a isso, lembre-se que para David Mourão-Ferreira, o tempo<br />
constitui uma componente fundamental, mas também um elemento <strong>de</strong>cisivo, quando<br />
está em causa a diferenciação e a <strong>de</strong>finição dos “tempos”. Há, na origem profunda <strong>de</strong><br />
todos os tempos literários, dois estados <strong>de</strong> duração, fundamentais e opostos: um, que<br />
59 . Carlos REIS, 1980: 45
esulta <strong>de</strong> uma atenção especial dada ao momento; outro, que provém da integração<br />
do momento na sucessão da história dos momentos. 60<br />
Antes <strong>de</strong> terminar esta abordagem do tempo, algumas consi<strong>de</strong>rações finais<br />
sobre a questão da infância e da adolescência (tempos, ida<strong>de</strong>s da vida) nas obras que<br />
venho analisando.<br />
No conto “Os Sonhos do Mufana”, duas personagens ilustram os “tempos da<br />
vida”: o rapaz <strong>de</strong> 19 anos e o menino, <strong>de</strong> 14 anos, que trabalha na sua casa. O<br />
primeiro vive na cida<strong>de</strong>, convive na praia, <strong>de</strong> preferência com raparigas sul-africanas;<br />
leva uma vida ociosa e <strong>de</strong> vaida<strong>de</strong> (alimentada com a permissivida<strong>de</strong> e com a<br />
con<strong>de</strong>scendência maternas), tem uma ambição aventureira, <strong>de</strong> sonhos e planos<br />
irrealizáveis, cheios <strong>de</strong> caprichos. Alheio aos estudos e ao trabalho, este “menino”<br />
gran<strong>de</strong> vai vivendo ao sabor da fortuna do pai, que sempre se mostrou hostil à<br />
ociosida<strong>de</strong> dos filhos. Tanto a este rapaz, como à sua irmã mais nova, <strong>de</strong> 15 anos, é-<br />
lhes permitido sonhar, pois vivem folgados e indiferentes ao futuro, como a seguir se<br />
constata:<br />
«Àquela hora, o menino <strong>de</strong>ve estar na praia, estendido na areia, preso <strong>de</strong> amores a<br />
alguma sul-africana. É sempre assim, quando a época do mar chega e as caravanas dos<br />
turistas inundam a cida<strong>de</strong> e enchem a Polana <strong>de</strong> movimento e <strong>de</strong> cor.(...)<br />
E o menino, que vai fazer <strong>de</strong>zanove anos, que não mexe nenhuma palha, que não quer<br />
saber <strong>de</strong> emprego para nada como também jamais quis saber <strong>de</strong> livros <strong>de</strong> estudo enquanto<br />
andou, ano após ano, a moer dinheiro ao pai, no liceu, está, àquela hora, na maior das<br />
indiferenças (...), placidamente estendido na areia fulva, como um lagarto ao sol, fazendo<br />
olhos meigos para qualquer rapariguinha sar<strong>de</strong>nta, <strong>de</strong> cabelos estopes e formas <strong>de</strong>sajeitadas.»<br />
(E.A.: 185-186)<br />
A outra personagem adolescente que se liga a este rapaz, numa relação<br />
antitética, é o mufana cuja ida<strong>de</strong> provável é <strong>de</strong> catorze anos (e a real, <strong>de</strong> doze) e, por<br />
isso, mais novo que os dois filhos do casal europeu. Este rapaz vindo da zona rural é<br />
sujeito a trabalhos domésticos:<br />
60 . David MOURÃO-FERREIA, citado por Carlos, Reis 1983: 143
«E enquanto o menino está estendido na praia, nas suas conquistas mais imaginárias<br />
do que reais, e a menina se <strong>de</strong>bruça, extasiada, para o livro branco <strong>de</strong> miolo <strong>de</strong> açúcar cor <strong>de</strong><br />
rosa _ na cozinha, o mufana está atarefado <strong>de</strong> volta da loiça, no intervalo que vai do<br />
matabicho ao almoço .(...)<br />
E enquanto o menino, que tem <strong>de</strong>zanove anos e muita dose <strong>de</strong> malandrice no corpo e<br />
<strong>de</strong> herói barato <strong>de</strong> filme americano nas veias, está espapaçado ao sol (...); enquanto a menina,<br />
que tem quinze anos, se estiraça indolentemente nos lençóis do seu corpo tépido <strong>de</strong> virgem<br />
sonhadora, enfronhada na história da criadinha que acabou por casar com o príncipe nórdico _<br />
o mufana, <strong>de</strong> doze anos mal feitos e catorze oficialmente, tem os pés nus assentes no lagedo<br />
da cozinha, lava a loiça do matabicho e pensa na camisa ver<strong>de</strong> e nos calções <strong>de</strong> ganga que viu<br />
na montra <strong>de</strong> manhã da Paiva Manso.» (E.A:. 188-189)<br />
O narrador tem a preocupação <strong>de</strong> reiterar, <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar as diferenças <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>s<br />
entre os dois irmãos e o moleque, através da referência, na página 188, repetida na<br />
página seguinte. Essa redundância não apenas reforça o tema do tempo posto nas<br />
ida<strong>de</strong>s da vida, como po<strong>de</strong>, também, ser vista como <strong>de</strong> valor irónico. Finalmente, a<br />
redundância reforça a coesão narrativa e a<strong>de</strong>nsa a dimensão dramática do texto. 61<br />
Capítulo IV – Conclusão<br />
O estudo das obras que constituem o corpus do presente trabalho permitiu que<br />
se <strong>de</strong>sse primazia à análise das questões <strong>de</strong> discurso, tendo como base as<br />
autonomias discursivas da voz do narrador, das vozes das personagens, tendo,<br />
antes sido feito um breve rastreio das bibliografias dos Autores, para permitir uma<br />
melhor compreennsão do contexto sócio-histórico, literário e i<strong>de</strong>ológico que<br />
presidiu à produção das obras em análise. Numa interacção entre as personagens e<br />
as suas vivênecias sociais, procurou-se compreen<strong>de</strong>r as relações familiares, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
os laços consanguíneos, até às relações por afinida<strong>de</strong>, o que permitiu que se<br />
61 . «(...Consi<strong>de</strong>ra-se que a reiteração <strong>de</strong> certos elementos ao longo da ca<strong>de</strong>ia sintagmática<br />
constitui um mecanismo imprescindível <strong>de</strong> estruturação da coerência textual: assim, no texto narrativo,<br />
as personagens, pela sua simples recorrência, <strong>de</strong>sempenham já uma função anafórica coersiva que em<br />
larga medida garante a legibilida<strong>de</strong> do texto. Acrescente- se que as personagens são submetidas a<br />
processos mais ou menos minu<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> caracterização, verificando-se uma certa redundância entre<br />
esses diversos processos <strong>de</strong> caracterização (...).<br />
(...) Registe-se, por fim, que há estratégias narrativas susceptíveis <strong>de</strong> serem interpretadas à<br />
luz do conceito <strong>de</strong> redundância: o sonho premonitório e as predições, por exemplo, correspon<strong>de</strong>m a<br />
movimentos <strong>de</strong> antecipação discursiva <strong>de</strong> eventos que virão a ser posteriormente confirmados no plano<br />
da história (...).» (Carlos REIS, 1994: 347)
compreen<strong>de</strong>sse melhor a problemática das complexas famílias alargadas, em<br />
especial, as africanas. A análise do Tempo e dos tempos foi feita à luz da sua<br />
dinâmica discursiva e integrada nos espaços que, por razões metodológicas, se<br />
apresentaram em duas isotopias: o rural, o suburbano, associado ao campo, ao<br />
retrógrado e à disforia, e o urbano, ligado à civilização, ao mo<strong>de</strong>rnismo, aos<br />
sonhos, etc., ou seja, à euforia.<br />
As duas obras analisadas, Portagem e A Estranha Aventura, procuram retratar<br />
a problemática social. Por parte dos narradores, na assunção do papel <strong>de</strong><br />
personagem, particularmente em Portagem e na maioria dos contos <strong>de</strong> A Estranha<br />
Aventura, po<strong>de</strong>-se constatar que há uma explícita solidarieda<strong>de</strong> com os segregados<br />
da vida (os nativos do Moçambique colonial, na sua vida doméstica, social,<br />
profissional, etc.) e uma lúcida visão humana. Há ainda uma manifesta vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
intervenção transformadora, embora esta vonta<strong>de</strong> explícita tenha sido prejudicada,<br />
na prática, pela dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> a mensagem chegar aos <strong>de</strong>stinatários <strong>de</strong>sejados<br />
pelo narrador, a maioria dos quais eram, aliás, analfabetos. Os traços que apontei<br />
aproximam Portagem e A Estranha Aventura da ficção neo-realista portuguesa. 62<br />
Tanto Guilherme <strong>de</strong> Melo, como Orlando Men<strong>de</strong>s, parece aproximarem-se,<br />
nas obras analisadas, <strong>de</strong> uma concepção marxista do fenómeno literário. Por isso,<br />
a escrita <strong>de</strong> um e <strong>de</strong> outro mostram-nos um gran<strong>de</strong> comprometimento social, uma<br />
profunda sintonia com os problemas sociais, políticos e económicos do<br />
Moçambique colonial. Encarando a literatura como uma forma <strong>de</strong> consciência<br />
62 . Na ficção neo-realista portuguesa, «o <strong>de</strong>nominador comum será, portanto, a sondagem das<br />
existências “reduzidas”_ sua relação com o trabalho, com a dor, com o amor, sua tomada <strong>de</strong><br />
consciência (que nas páginas do livro se elabora) das formas <strong>de</strong> exploração <strong>de</strong> que são objecto.<br />
Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong>stas obras, que entre nós trouxeram para a cena literária os camponeses, os ganhões, os<br />
campinos, os pescadores, os contrabandistas, os mineiros, terão sido os romances <strong>de</strong> Gorki, e os <strong>de</strong><br />
Steinbeck, os contos <strong>de</strong> Michael Gold, as narrativas épicas e líricas <strong>de</strong> Jorge Amado.» (Urbano Tavares<br />
RODRIGUES, 1981: 13)
social, os dois Autores valorizam a dimensão i<strong>de</strong>ológica da criação literária e<br />
confiam na capacida<strong>de</strong> que a literatura tem <strong>de</strong> intervir no plano sócio-político.<br />
São, aliás, estes fundamentos i<strong>de</strong>ológicos que explicam as opções temáticas<br />
mais significativas do neo-realismo, como a miséria, a pobreza, os<br />
<strong>de</strong>snivelamentos sócioeconómicos, a <strong>de</strong>gradação do tecido social, só para citar<br />
alguns exemplos. 63 Tanto Portagem como A Estranha Aventura <strong>de</strong>ixam perceber<br />
o culminar <strong>de</strong> um vasto empenho político-cultural em Moçambique, marcado pela<br />
tentativa <strong>de</strong> criar uma dinâmica literária que, em termos estéticos, faz perceber<br />
ligações com o neo-realismo, com já se referiu. Entretanto, no plano da<br />
intervenção sócio-cultural e i<strong>de</strong>ológica, Guilherme <strong>de</strong> Melo <strong>de</strong>ixou transfigurar as<br />
suas ligações com o po<strong>de</strong>r colonial em Moçambique, evi<strong>de</strong>nciadas pela sua<br />
activida<strong>de</strong> jornalística que primava por uma <strong>de</strong>clarada antipatia pelo surgimento e<br />
pela dinâmica dos Movimentos <strong>de</strong> Libertação <strong>de</strong> Moçambique, em particuar, pela<br />
FRELIMO. Neste contexto, Guilherme <strong>de</strong> Melo segue um percurso que,<br />
i<strong>de</strong>ologicamente, o distancia do dinamismo literário <strong>de</strong> um Moçambique<br />
revolucionário e, por causa disso, não incutiu à sua obra a dinâmica <strong>de</strong> uma<br />
literatura comprometida, <strong>de</strong> <strong>de</strong>núncia do sistema colonial. Aliás, é com base nisto<br />
que se po<strong>de</strong> justificar a não inclusão das suas obras na literatura moçambicana do<br />
pós-in<strong>de</strong>pendência.<br />
Orlando Men<strong>de</strong>s, por sua vez, afasta-se, do ponto <strong>de</strong> vista político-i<strong>de</strong>ológico,<br />
<strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo (ainda que tematicamente esteja em sintonia com ele).<br />
Men<strong>de</strong>s aparece a dar primazia a uma literatura marcada pela tentativa <strong>de</strong><br />
dinamização <strong>de</strong> um espaço literário “nacional”, <strong>de</strong> fortes ligações com o neo-<br />
63 . «Factor <strong>de</strong> primordial importância na concretização do programa sóciocultural inerente à<br />
literatura neo-ralista, a temática constitui um dos domínios fundamentais <strong>de</strong> toda a obra literária <strong>de</strong><br />
feição comprometida e interventora, já que é no seu domínio que se insinuam as gran<strong>de</strong>s coor<strong>de</strong>nadas<br />
semânticas <strong>de</strong>terminadas pela i<strong>de</strong>ologia que lhes está subjacente.» (Carlos REIS, 1981: 17)
ealismo, o que, aliás, prosseguiu após a In<strong>de</strong>pendência Nacional do país. Deu<br />
ainda gran<strong>de</strong> contributo na promoção e na divulgação <strong>de</strong> autores moçambicanos e<br />
teve participação activa em eventos culturais e editoriais. Este seu empenho terá<br />
contribuído para a sua aceitação também como autor moçambicano, por parte do<br />
público leitor moçambicano e por parte <strong>de</strong> estudiosos da literatura em<br />
Moçambique e não só, por se ter i<strong>de</strong>ntificado com as novas condições políticas,<br />
fruto da In<strong>de</strong>pendência, isto através <strong>de</strong> uma literatura engajada, centrada na<br />
<strong>de</strong>núncia do colonialismo e na exaltação dos valores que a In<strong>de</strong>pendência<br />
trouxera.<br />
Não obstante estes percursos distintos i<strong>de</strong>ologicamente entre Guilherme <strong>de</strong><br />
Melo e Orlando Men<strong>de</strong>s, a análise <strong>de</strong> A Estranha Aventura e <strong>de</strong> Portagem<br />
permitiu-nos observar que estas duas obras abordam temáticas semelhantes, que<br />
privilegiam, em geral, as problemáticas dos <strong>de</strong>sfavoridos, das <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s<br />
sociais, da miséria, da pobreza, etc., isto à luz da i<strong>de</strong>ologia marxista eleita pelo<br />
neo-realismo. A ambiência suburbana e rural <strong>de</strong> Moçambique, em sintonia com os<br />
nativos negros e mulatos, por um lado, e a ambiência urbana integrada<br />
maioritariamente por cidadãos brancos, entrelaçam uma teia <strong>de</strong> relações que, sem<br />
serem necessariamente antagónicas, se mostram em <strong>de</strong>sacordo, ou em <strong>de</strong>sarmonia<br />
com os hábitos sócio-culturais, linguísticos e até i<strong>de</strong>ológicos <strong>de</strong>stes grupos, daí os<br />
naturais <strong>de</strong>sentendimentos e conflitos a vários níveis. Assim, nesta análise tentou-<br />
se mostrar que Portagem e A Estranha Aventura po<strong>de</strong>m ser integrados na mesma<br />
estética literária, sendo que Orlando Men<strong>de</strong>s é aceite e integrado também na<br />
literatura portuguesa (para além <strong>de</strong> ser incorporado na literatura moçambicana) e<br />
A Estranha Aventura <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo não é integrado, nem numa, nem<br />
noutra. Por causa disso, mas não só, procurou-se, com este trabalho, recuperar
Melo e integrá-lo na <strong>de</strong>signada Literatura Portuguesa Ultramarina ou no<br />
Realismo contemporâneo português 64 , ainda que, em geral, consi<strong>de</strong>rem (Saraiva<br />
e Lopes) alguma literatura produzida nas ex-colónias <strong>de</strong> particular por se<br />
situar entre as novas literaturas africanas <strong>de</strong> expressão portuguesa e a<br />
literatura colonial. 65<br />
Sendo profundamente enraizadas na realida<strong>de</strong> moçambicana, as obras <strong>de</strong><br />
Guilherme <strong>de</strong> Melo e <strong>de</strong> Orlando Men<strong>de</strong>s são também universais: os problemas<br />
nelas tratados ultrapassam os limites <strong>de</strong> qualquer fronteira e inserem-se na<br />
problemática global da existência humana pois, <strong>de</strong> forma diferenciada, mas igual<br />
na essência, o homem sempre se <strong>de</strong>bateu com questões como o conflito social, a<br />
alienação e a consciência social, a posse da terra, a opressão, a <strong>de</strong>cadência dos<br />
estratos dominantes, etc..<br />
Para além das questões gerais que acabo <strong>de</strong> colocar, é importante talvez,<br />
sintetizar no fecho <strong>de</strong>ste meu trabalho, os pontos aparentemente secundários em<br />
que se encontram as obras <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo e <strong>de</strong> Orlando Men<strong>de</strong>s. O<br />
primeiro <strong>de</strong>sses pontos será a problemática da migração.<br />
A emigração, supostamente um factor <strong>de</strong> elevação do nível sócio-económico e<br />
cultural dos indivíduos oriundos das zonas rurais, dos subúrbios das gran<strong>de</strong>s<br />
cida<strong>de</strong>s ou dos países pouco <strong>de</strong>senvolvidos, é um dos aspectos comuns a A<br />
Estranha Aventura e a Portagem. No caso <strong>de</strong> Portagem, o narrador privilegia a<br />
migração interna, representada com muita força em Xilim, «o emigrante (que se)<br />
tornou diferente dos negros do Marandal (…). Escutam assombrados a linguagem<br />
nova (…). João Xilim conheceu diversos padrões da condição humana» (31). O<br />
narrador teve a preocupação <strong>de</strong> mostrar que a migração não só visa fins sócio-<br />
64 . Óscar LOPES e António SARAIVA, 1985: 1150<br />
65 . Óscar LOPES e António SARAIVA, 1985: 1150
económicos, como também contribui para uma nova abordagem da vida, uma<br />
nova visão e consequente tomada e <strong>de</strong>spertar <strong>de</strong> consciência para situações <strong>de</strong><br />
ausência <strong>de</strong> valores humanos básicos como Igualda<strong>de</strong>, a Fraternida<strong>de</strong> e a<br />
Liberda<strong>de</strong>. Dá uma espécie <strong>de</strong> luz, por mais ténue que seja, e permite uma visão<br />
do mundo mais alargada. Na obra <strong>de</strong> Guilherme <strong>de</strong> Melo, os narradores <strong>de</strong> alguns<br />
contos dão maior relevo à migração externa, o que se po<strong>de</strong> documentar em «O<br />
moleque do violino», on<strong>de</strong> este «viera ali (…) perguntar pelo menino e dizer<br />
a<strong>de</strong>us, porque naquela manhã mesmo ia-se embora (…) para as minas <strong>de</strong><br />
Transvaal.» (E.A.: 44) Entretanto, o fenómeno <strong>de</strong> migração mostrava-se mais duro<br />
e imoral quando efectuado com fins <strong>de</strong> exploração sexual (migração para a<br />
prostituição) feminina e geralmente o espaço privilegiado era a cida<strong>de</strong> ou a<br />
periferia. Por exemplo, em Portagem, o narrador mostra a personagem Sofia como<br />
a intermediária no recrutamento <strong>de</strong> raparigas negras, do campo para a cida<strong>de</strong>, para<br />
o fim acima referido:<br />
«Sofia pensou no assunto e concordou: engajou negrinhas para servirem na cida<strong>de</strong>.»<br />
(Po.: 57)<br />
A prostituição, os negócios obscuros nas fronteiras, com vista à fuga ao fisco,<br />
caracterizados em Portagem, po<strong>de</strong>m ser integrados no lote do que se po<strong>de</strong><br />
consi<strong>de</strong>rar por contrabando, que era uma das componentes básicas do processo <strong>de</strong><br />
migração clan<strong>de</strong>stina. Se em relação aos nativos africanos a forte razão da<br />
migração era a económico-social, o mesmo não se po<strong>de</strong> dizer em relação a alguns<br />
europeus colonos que pretendiam o processo inverso, ou seja, o regresso à<br />
Metrópole, por <strong>de</strong>silusão, ou por razões afectivo-emocionais, telúricas, ligadas a<br />
um certo saudosismo nostálgico. Estas eram mais fortes que as económicas. No<br />
conto «Cacilda», enquanto a personagem com o mesmo nome, nascida em África
e filha <strong>de</strong> pais portugueses, se i<strong>de</strong>ntifica com o trópico e não sente sauda<strong>de</strong>s da<br />
<strong>de</strong>sconhecida Europa paterna, os seus progenitores, não obstante tantos anos <strong>de</strong><br />
permanência em África, não viam a hora <strong>de</strong> regressar. Este <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ar <strong>de</strong><br />
contradições <strong>de</strong> sentimentos não só reflecte um certo conflito geracional, como<br />
também (reflecte) um agudo conflito <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s. O resultado óbvio <strong>de</strong>ste<br />
conflito foi, nalguns casos, a ruptura. Na página 140 do mesmo conto, o narrador<br />
elucida isso: «Entretanto, um novo problema surgiu na sua (Cacilda) vida: o pai<br />
aposentara-se e queria seguir, com a mulher, para a Metrópole.»<br />
Outro aspecto em que convergem A Estranha Aventura e Portagem é a<br />
preocupação, tanto <strong>de</strong> Men<strong>de</strong>s, como <strong>de</strong> Melo, em estabelecer, ou em adoptar<br />
certos símbolos, para dar significado a actos ou a fenómenos com um grau <strong>de</strong><br />
entendimento difícil através do verbo. Neste contexto, alguns símbolos procurarão<br />
explicar-se a si próprios. A título <strong>de</strong> ilustração, em Portagem, a referência ao<br />
cajueiro plantado pelo ancião da al<strong>de</strong>ia é <strong>de</strong> extrema importância para o<br />
conhecimento e a compreensão da vida cultural e, essencialmente, da alma e do<br />
espírito dos antigos escravos que por lá permaneceram. O cajueiro estabelece uma<br />
cumplicida<strong>de</strong> entre a tradição, a actualida<strong>de</strong> e o futuro <strong>de</strong> Ridjalembe; apresenta-<br />
se também como uma árvore solitária, mas não abandonada, pois ela está naquela<br />
planície on<strong>de</strong> também fica o mundo moribundo da vida toda da negra Alima. Este<br />
cajueiro foi plantado pelo avô Mafanissane (ex-escravo) no dia da sua libertação,<br />
na terra natal, Ridjalembe; por isso, é símbolo <strong>de</strong> vitalida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> recomeço <strong>de</strong> uma<br />
nova vida, <strong>de</strong> reencontro com os seus, <strong>de</strong> retorno à pseudo-liberda<strong>de</strong>, <strong>de</strong><br />
recordação do sofrimento, entre outras contrarieda<strong>de</strong>s que se abateram sobre si e<br />
sobre o seu povo. Ainda que a um nível diferente, mais suave, no conto «A<br />
Estranha Aventura», o canhoeiro é que serve <strong>de</strong> “árvore <strong>de</strong> tesouro” (22), para o
mundo fantástico criado entre a imaginação e a realida<strong>de</strong> dos garotos que<br />
protagonizam a aludida estranha aventura (à semelhança, como lembra o narrador,<br />
<strong>de</strong> Autores Realistas como Júlio Verne e Emílio Salgari), cujos ídolos são à<br />
imagem daqueles garotos.<br />
Outros aspectos comuns A Estranha Aventura e a Portagem po<strong>de</strong>m ser<br />
i<strong>de</strong>ntificados, mas os que foram referidos permitem que se tenha um quadro<br />
panorâmico elucidativo da aproximação entre estas duas obras.<br />
Postas algumas semelhanças entre as obras do corpus, gostaria <strong>de</strong> referir,<br />
muito rapidamente, uma diferença.<br />
No que diz respeito ao género literário, em Portagem, Orlando Men<strong>de</strong>s oscila<br />
entre o que se po<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar um romance e uma novela, se bem que pareça que<br />
tenha pretendido produzir um romance, a julgar pela tentativa <strong>de</strong> tornar a narrativa<br />
complexa, num texto que se preten<strong>de</strong> mais ou menos longo. Já Guilherme <strong>de</strong><br />
Melo, em A Estranha Aventura, optou pelo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> conto, mas com uma<br />
nuance: nalguns <strong>de</strong>sses contos (se não em todos) notam-se características<br />
próximas da crónica jornalística, pois aliam a componente literária à da crítica<br />
informativa <strong>de</strong> certos acontecimentos da época.<br />
******
BIBLIOGRAFIA<br />
CORPUS<br />
. MELO, Guilherme <strong>de</strong> (1961), A Estranha Aventura. – Beira: Edição do Notícias da<br />
Beira (Colecção Prosadores <strong>de</strong> Moçambique).<br />
. MENDES, Orlando (1981), Portagem. – Maputo: INLD.<br />
OUTRA BIBLIOGRAFIA FICCIONAL<br />
. COELHO, Maria do Céu (Pseudónomo: Maria Pacóvia) (1963), O último batuque: -<br />
_ Lourenço Marques: s/Ed..<br />
. DIAS, João (1988), Godido e Outros Contos. – Maputo, 2ª ed.: Associação dos<br />
Escritores Moçambicanos (Colecção Karingana nº 9).<br />
. HONWANA, Luís Bernardo (1980), Nós Matámos o Cão-Tinhoso. – Maputo, 2ª<br />
ed.:INLD.<br />
. MATOS, Eduardo Correia <strong>de</strong> (1955), Mundos do mundo – contos. – Lourenço<br />
Marques: s/Ed..<br />
. MELO, Guilherme <strong>de</strong> (1985), A sombra dos Dias. – Lisboa, 2ª ed.: Editorial<br />
Notícias (Portugal).<br />
. MELO, Guilherme <strong>de</strong> (1990), Raízes do Ódio. – Lisboa, 2ª ed.: Editorial Notícias<br />
(Portugal).<br />
. MONTEIRO, Fernando Amaro (1970), Coronel Sardónia (perfis <strong>de</strong> gente<br />
<strong>de</strong>sconhecida e mais a sombra <strong>de</strong> um menino). _ Lourenço Marques: Socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
«Notícias».<br />
. RODRIGUES JÚNIOR, Manuel (1976), Era o terceiro dia do vento sul. _ Lisboa:<br />
Edições «Marânus».
. RODRIGUES JÚNIOR, Manuel (1960), Muen<strong>de</strong>. _ Lourenço Marques: África<br />
Editora.<br />
. RODRIGUES JÚNIOR, Manuel (1976), Omar Ali. _ Lourenço Marques: Minerva<br />
Central.<br />
1. DE TEORIA LITERÁRIA<br />
. AGUIAR e SILVA, Victor Manuel <strong>de</strong> (1983), Teoria da Literatura. – Coimbra, 5ª<br />
ed.(vol.I): Livraria Almedina.<br />
. BARTHES, Rolland (1973), Análise Estrutural da Narrativa: pesquisas<br />
semiólogicas; introdução à ediçao brasileira por Milton José Pinto. – Petrópoles, 3ª<br />
ed.: Vozes.<br />
. BARTHES, Rolland (1975), Escrever para quê? Para Quem? (Tradução <strong>de</strong> Raquel<br />
Silva) . – Lisboa: Edições 70.<br />
. BARTHES, Rolland (1973), O Grau Zero da Escrita (Tradução <strong>de</strong> Maria Margarida<br />
Barahona). – Lisboa: Edições 70.<br />
. BARREIROS, António José (1992), História da Literatura Portuguesa. – Lisboa,<br />
13ª ed. (vol.II): Pax.<br />
. BENVENISTE, Emile (1976), O Homem na Linguagem: ensaios sobre a<br />
instituição do sujeito através da fala e da escrita (Introdução <strong>de</strong> Maris Alzira Seixo).<br />
– Lisboa: Vega.<br />
. BOOF, Wayne C. (1980), A Retórica da Ficção (Tradução <strong>de</strong> Maria Teresa H.<br />
Guerreiro). – Lisboa: Arcádia.<br />
. CARMO, José Palla (1971), Do livro à leitura. _ s/l.: Publicações Europa-América.<br />
. COELHO, Eduardo do Prado (1982), Os Universos da Crítica: paradigmas nos<br />
Estudos Literários. – Lisboa: Ediçõs 70.<br />
. COELHO, Jacinto do Prado (1992), Dicionário <strong>de</strong> Literatura. – Porto, 4ª ed. (vol.<br />
4): Porto Editora.<br />
. COURTES, Joseph (1979), Introdução à Semiótica Narrativa e Discursiva;<br />
prefácio <strong>de</strong> A. J. Greimas ( Tradução <strong>de</strong> Norma Beckes Tasca) . – Coimbra:<br />
Almedina.<br />
. ECO, Umberto (1981), A Definição da Arte. – Lisboa: Edições 70.<br />
. FRANÇOISE VAN ROSSUM-GUYSON; Philipe Hammon e Daniele Sallemane<br />
(s/d.), Categorias da Narrativa. – Lisboa:Vega.
. GARRETT, Almeida (1961), Doutrinas <strong>de</strong> Estética Literária. _ Lisboa: s/Ed..<br />
. GENETT, Gérard (198?) Discurso da Narrativa (Introdução <strong>de</strong> Maria Alzira<br />
Seixo). – Lisboa, Vega.<br />
. HAMON, Philipp (1976), “O que é uma Descrição?”, in Categorias da Narrativa,<br />
(Prefácio <strong>de</strong> Maria Alzira Seixo). – Lisboa: Vega.<br />
. KAYSER, Wolfgang (1976), Análise e interpretação da obra literária. _ Coimbra:<br />
Livraria Almedina.<br />
. LAUSBERG, Henrich (1982), Elementos <strong>de</strong> Retórica Literária. – Lisboa, 3ª ed.,<br />
Fundação Calouste Gulbenkian, (Tradução <strong>de</strong> R. M. Rosado Fernan<strong>de</strong>s).<br />
. LEFEBVE, Maurice-Jean (1980), Estrutura do discurso da poesia e da narrativa._<br />
Coimbra: Livraria Almedina.<br />
. LEPÉCKI, Maria Lúcia (1979), Meridianos do Texto. – Lisboa: Assírio e Alvim.<br />
. LOHAFER, Susan and Jo Ellyn Clarey (1989), Short story Theory at a Crossroads.<br />
_ Lousiana State University Press.<br />
. LOPES, Óscar e António José Saraiva (1985), História da Literatura Portuguesa. –<br />
Porto, 13ª ed.: Porto Editora.<br />
. LOPES, Óscar (1986), Os sinais e os sentidos: literatura portuguesa do século XX.<br />
–Lisboa: Caminho.<br />
. LOTMAN, Iuri (1979), A Estrutura do Texto Artístico, (Colecçõa Teoria, nº41). –<br />
Lisboa: Editorial Estampa, Ltd.<br />
. LUCKÁCS, Georg (s/d.), Teoria do Romance. – s/l: Editorial Presença (Tradução<br />
<strong>de</strong> Alfredo Margarido).<br />
. MACHEREY, Pierre (1971), Para uma teoria da produção literária._ Lisboa:<br />
Editorial Estampa, 2ª Ed..<br />
. MILLER, J. Hillis (1982), Ficcion and Repetition. _ Oxford: Basil Blackwell.<br />
. PROPP, Vladimir (1992), Morfologia do Conto, (Prefácio <strong>de</strong> Adriano Duarte<br />
Rodrigues). – Lisboa, 3ª ed.: Vega.<br />
. QUINTELA, Paulo (1976), Análise e interpretação da obra literária. _ Coimbra:<br />
Livraria Almedina, 6ª Ed..<br />
. REIS, Carlos e Ana Cristina Lopes (1994), Dicionário <strong>de</strong> Narratologia. – Coimbra,<br />
4ª ed.: Almedina.
. ROBBE-GRILLE, Allain (s/d), Por um novo romance, s/l: Publicações Europa-<br />
América.<br />
. SEIXO, Maria Alzira (1984), “Narrativa e Romance: esboço <strong>de</strong> uma articulação<br />
teórica”; in «Afecto às Letras». – Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.<br />
. SEIXO, Maria Alzira (1992), “Narrativa e Romance na ficção portuguesa e<br />
brasileira”; in «Temas portugueses e brasileiros». – Lisboa: Instituto <strong>de</strong> Cultura e<br />
Língua portuguesa.<br />
. TODOROV, Tzvetan (s/d.), Os Géneros do Discurso. – Lisboa: Edições 70.<br />
. TODOROV, Tzvetan (s/d), Poética da prosa. _ Lisboa: Ediçõas 70.<br />
. TODOROV, Tzvetan (s/d), Simbolismo e Interpretação. _ Lisboa: Edições 70.<br />
. VARGA, A. Kibedi (1981), Teoria da Literatura. _ Lisboa: Editorial Presença.<br />
. WEINRICH, Harald (1974), Estrutura y Función <strong>de</strong> los Tiempos en el Lenguaje. –<br />
Madrid: Editorial Gredos.<br />
. WELLEK, René e Austin Warren (s/d.) Teoria da Literatura. – Lisboa, 4ª ed.:<br />
Publicações Europa-América.<br />
2. DE LITERATURA AFRICANA E PORTUGUESA<br />
. BARTHES, Rolland (1984), Literatura e Realida<strong>de</strong>: o que é o Realismo?. –Lisboa:<br />
Dom Quixote.<br />
. CARVALHO, Alberto (1988), A ficção <strong>de</strong> Baltazar Lopes; contributo para a<br />
originalida<strong>de</strong> da literatura cabo-verdiana, (s.n.) - Tese <strong>de</strong> Doutoramento policopiada,<br />
Lisboa, Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Letras.<br />
. CARVALHO, Alberto (1984), Chiquinho, <strong>de</strong> Baltazar Lopes. – Linda-a-Velha, 5ª<br />
edição : África.<br />
. CARVALHO, Alberto, (1995) “Culturas e Literaturas Africanas, entre o Insular e o<br />
Continental”, in Portugal e o mundo: do passado ao presente. – Cascais: CMC.<br />
. CARVALHO, Alberto, (1990), “Da Tradição Oral na Narrativa Contemporânea”, in<br />
Os Estudos Literários: (entre) ciência e hermenêutica: Actas do Primeiro Congresso<br />
da Associação Portuguesa <strong>de</strong> Literatura Comparada. – Lisboa: APLC, 1990. – 1º<br />
vol..<br />
. CARVALHO, Alberto, (1997) “Dialogismo e Nacinalida<strong>de</strong> Literária em Lueji, <strong>de</strong><br />
Pepetela”, in Nacionalismo e Regionalismo nas Literaturas Lusófonas. – Lisboa:<br />
Cosmos.
. CRISTÓVÃO, Fernando; Maria <strong>de</strong> Lour<strong>de</strong>s FERRAZ e Alberto CARVALHO<br />
(1997), Nacionalismo e Regionalismo nas Literaturas Lusófonas. _ Lisboa: Edições<br />
Cosmos.<br />
. DIAS, Carmen Lydia <strong>de</strong> Sousa (1979) “O instante implacável da consciência em<br />
Portagem <strong>de</strong> Orlando Men<strong>de</strong>s”, «África», nº12. _ Lisboa: s/ed.<br />
. ------------------------ «Estudos Portugueses _ Homenagem a A. J. Saraiva», s/d; s/l.<br />
. FERREIRA, Ana Paula (1992), Alves Redol e o Neo-Realismo Português. – Lisboa:<br />
Caminho.<br />
. FERREIRA, Manuel (1979), «África», nº 12. – Lisboa: s/ed..<br />
. FERREIRA, Manuel (1979), Literaturas Africanas <strong>de</strong> Expressão Portuguesa. – s/l:<br />
Instituto <strong>de</strong> Cultura Portuguesa, (2º vol.: Intróito Angola, Moçambique).<br />
. FERREIRA, Manuel (1985-1988), No Reino <strong>de</strong> Caliban: Antologia Panorâmica da<br />
poesia africana <strong>de</strong> expressão portuguesa. – Lisboa: Plátano, D.L. 1985 - D.L. 1988 –<br />
3º vol. (Moç.) – D.L.1985.<br />
. FERREIRA, Manuel (1989), O Discurso no Percurso Africano I; contributo para<br />
uma estética africana. – Lisboa: Plátano, D.L..<br />
. FRANÇA, José Augusto (s/d), O romantismo em Portugal, s/l: Livros Horizonte,<br />
Vol.I.<br />
. GOMES, Aldónio e Fernando Cavacas (1997), Dicionário <strong>de</strong> Autores <strong>de</strong> Literaturas<br />
Africanas <strong>de</strong> Língua Portuguesa. – Caminho, 2ªed.: Lisboa.<br />
. HAMILTON, Russel (1984), Literatura africana, Literatura Necessária (vo.l II). –<br />
Lisboa: Edições 70.<br />
. LARANJEIRA, José Luís Pires (1995), Literaturas Africanas <strong>de</strong> Expressão<br />
Portuguesa, (com a colaboração da Inocência Mata, Elsa Rodrigues dos Santos). –<br />
Lisboa: Universida<strong>de</strong> Aberta.<br />
. LEPECKI, Maria Lúcia (1985), “Luís Bernardo Honwana: o menino mais o seu<br />
cão”, in Colóqui sobre as Literaturas dos Países Africanos <strong>de</strong> Língua Portuguesa. _<br />
Lisboa, 1985: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.<br />
. LEPECKI, Maria Lúcia (1988), Sobreimpressões: estudos <strong>de</strong> literatura portuguesa<br />
e africana. – Lisboa: Caminho.<br />
. LISBOA, Eugénio (1984), Crónica dos Anos da Peste. – Lisboa: Imprensa<br />
Nacional-Casa da Moeda.<br />
. LISBOA, Eugénio (1980), Do «Orpheu» ao Neo-Realismo. – Lisboa: Instituto <strong>de</strong><br />
Cultura e Língua Portuguesa.
. LISBOA, Eugénio (s/d), Sobre «Presença». – Biblioteca Breve do ICALP: s/l.<br />
. LISBOA, Eugénio (1984), «Um Olhar Atento ao Mundo Africano <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa», in Afecto às Letras. – Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.<br />
. LOURENÇO, Eduardo (1983), Sentido e forma da poesia neo-realista. – Lisboa:<br />
Dom Quixote.<br />
. MARGARIDO, Alfredo (1975), A Introdução do Marxismo em Portugal. – Lisboa:<br />
Guimarães Editora.<br />
. MARGARIDO, Alfredo (1980), Estudos sobre Literaturas das Nações Africanas <strong>de</strong><br />
Língua Portuguesa. – Lisboa: A Regra do Jogo.<br />
. MARTINHO, Ana Maria Mão <strong>de</strong> Ferro (1980), Narrativas curtas <strong>de</strong> ficção e suas<br />
autoras: Angola _ Cabo-Ver<strong>de</strong> _ Moçambique. – Lisboa (s.n.), 1980 _ Tese <strong>de</strong><br />
Mestrado em Literatura Brasileira e Africanas <strong>de</strong> Expressão Portuguesa apresentada à<br />
FLUL.<br />
. MARTINHO, Fernando (1985), O Negro Norte-Americano como mo<strong>de</strong>lo na busca<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> para os poetas <strong>de</strong> África <strong>de</strong> Língua Portuguesa. – Paris: Foundation<br />
Caloust Gulbenkian.<br />
. MENDONÇA, Fátima e Nélson Saúte (1989), Antologia da Nova Poesia<br />
Moçambicana. _ Maputo: Associação dos Escritores Moçambicanos.<br />
. MOSER, Gérard (1983), Bibliografia das Literaturas Africanas <strong>de</strong> Expressâo<br />
Portuguesa. – Lisboa: Imprensa Nacional-casa da Moeda.<br />
. REIS, Carlos (1982), Construção da leitura: Ensaios <strong>de</strong> metodologia e <strong>de</strong> crítica<br />
literária. – Cimbra: Instituto Nacional <strong>de</strong> Investigação Científica.<br />
. REIS, Carlos (1980), Introdução à leitura <strong>de</strong> «Uma abelha na chuva». – Coimbra:<br />
Almedina.<br />
. REIS, Carlos e Maria do Rosário Malheiro (1989), A Construção da Narratica<br />
Queirosiana. – Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.<br />
. REIS, Carlos (1995), O Conhecimento da Literatura (Introdução aos estudos<br />
Literários). – Coimbra: Livraria Almedina.<br />
. REIS, Carlos (1983), O Discurso I<strong>de</strong>ológico no Neo-Realismo Português. –<br />
Coimbra: Livraria Almedina.<br />
. REIS, Carlos (1981), Textos Teóricos do Neo-Realismo Português. – Lisboa: Seara<br />
Nova.<br />
. RODRIGUES, Urbano Tavares (1981), Um novo Olhar sobre o Neo-Realismo<br />
(Prefácio). _ Lisboa: Moraes Editora.
. ROSÁRIO, Lourenço da Costa do (1989), A Narrativa Africana, s/l.:ICALP.<br />
. SACRAMENTO, Mário (1985), Há uma Estética Neo-Realista?. – Lisboa, 2ª ed.:<br />
Vega.<br />
. SIMÕES, João Gaspar (1981), Contistas, novelistas e outros prosadores<br />
contemporâneos. _ s/l, s/Ed..<br />
. SEIXO, Maria Alzira (Dezembro <strong>de</strong> 1984), «Para uma Expressão do Tempo no<br />
Romance português Contemporâneo», in Revista da FLUL. – Lisboa, 5ª série, nº 2.<br />
. TORRES, Alexandre Pinheiro (1989), Estudos sobre as Literaturas <strong>de</strong> Língua<br />
Portuguesa (Ensaios Escolhidos). – Lisboa: Editorial Caminho.<br />
. TORRES, Alexandre Pinheiro (1977), O Neo-Realismo Literário português. –<br />
Lisboa: Moraes Editora.<br />
3. OUTRA BIBLIOGRAFIA<br />
. ARIÈS, Philipe (1990), História da vida privada. – Lisboa: Edições Afrontamento<br />
(vols. II, III, IV e V).<br />
. BARTHES, Rolland (1978), Mitologias, (Tradução e Prefácio <strong>de</strong> José Augusto<br />
Seabra). – Lisboa: Edições 70.<br />
. --------------------------- Bíblia Sagrada. – Lisboa, 13ª ed.: Difusora Bíblica, 1986.<br />
. CHAVES, Castelo Branco (s/d.), Memorialistas Portugueses. – s/l.: Biblioteca<br />
Breve (ICALP).<br />
. CASEY, James (1990), História da Família. – Lisboa: Editorial Teorema.<br />
. CUESTA, Pilar Vasquez e Maria Albertina Men<strong>de</strong>s da Luz (1971), Gramática da<br />
Língua Portuguesa. – Lisboa: Edições 70.<br />
. -------------------------- «Dinâmicas Culturais, Cidadania e Desenvolvimento Local»,<br />
in Actas do Encontro <strong>de</strong> Vila do Con<strong>de</strong>, (Associação Portuguesa <strong>de</strong> Sociologia); 1-3<br />
<strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 1993. – Lisboa: Edição da Associação Portuguesa <strong>de</strong> Sociologia., 1994.<br />
. DOUGLAS, Mary (1976), Pureza e Perigo. _ São Paulo: Editora Perspectiva.<br />
. DURAND, Gilbert (1989), As Estruturas Antropológicas do Imaginário. – Lisboa:<br />
Editorial Presença.<br />
. ELIADE, Mircea (s/d.), O Sagrado e o Profano: a essência das religiões. – Lisboa:<br />
Livros do Brasil.
. GRIMAL, Pierre (1992), Dicionário da Mitologia Grega e Romana (Tradução <strong>de</strong><br />
Victor Jabouille), Lisboa: Bertrand Brasil.<br />
. HALL, Edward (1986), A Dimensão Oculta, s/l.: Relógio d’água.<br />
. HAMILTON, Edith (1991), A Mitologia (Traduzido do Inglês por Maria Luísa<br />
Pinheiro). – Lisboa: Publicações Dom Quixote.<br />
. JUNOD, Henri (1996), Usos e Costumes dos Bantu. – Maputo: Arquivo Histórico<br />
<strong>de</strong> Moçambique (Tomo 1).<br />
. MATEUS, Maria Helena Mira et alli (1989), Gramática Portuguesa. – Lisboa:<br />
Editorial Caminho.<br />
. MOURA, Gilberto (Abril <strong>de</strong> 1985), «Alguns Critérios para a Definição da<br />
Nacionalida<strong>de</strong> Literária», in Revista da FLUL, 5ª Série, nº3, pp. 95-102.<br />
. NOVAIS, Fernando A. (1997), História da Vida Privada do Brasil. – São Paulo:<br />
Editora Schwaroz, Ltd..<br />
. ROCHA, Clara (1992), Márcaras do Narciso. – Coimbra: Almedina.