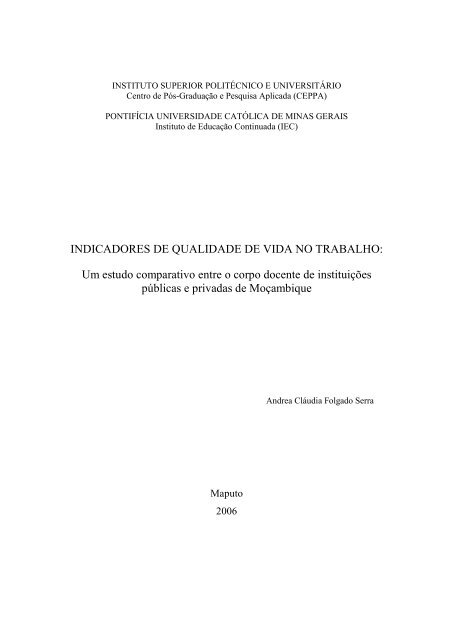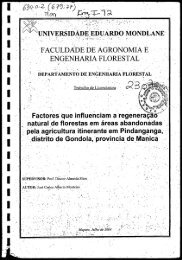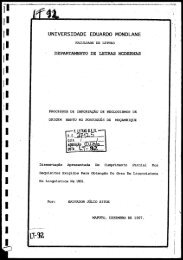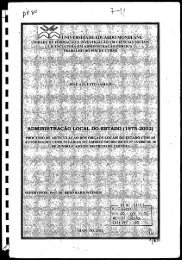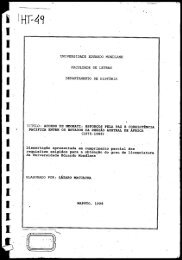INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: Um ...
INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: Um ...
INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: Um ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INSTITUTO SUPERIOR POLIT…CNICO E UNIVERSIT¡RIO<br />
Centro de PÛs-GraduaÁ„o e Pesquisa Aplicada (CEPPA)<br />
PONTIFÕCIA UNIVERSIDA<strong>DE</strong> CAT”LICA <strong>DE</strong> MINAS GERAIS<br />
Instituto de EducaÁ„o Continuada (IEC)<br />
<strong>INDICADORES</strong> <strong>DE</strong> QUALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>VIDA</strong> <strong>NO</strong> <strong>TRABALHO</strong>:<br />
<strong>Um</strong> estudo comparativo entre o corpo docente de instituiÁıes<br />
p˙blicas e privadas de MoÁambique<br />
Maputo<br />
2006<br />
Andrea Cl·udia Folgado Serra
Andrea Cl·udia Folgado Serra<br />
<strong>INDICADORES</strong> <strong>DE</strong> QUALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>VIDA</strong> <strong>NO</strong> <strong>TRABALHO</strong>:<br />
<strong>Um</strong> estudo comparativo entre o corpo docente de instituiÁıes p˙blicas<br />
e privadas de MoÁambique<br />
DissertaÁ„o apresentada ao Programa de PÛs-GraduaÁ„o em<br />
Gest„o EstratÈgica de Recursos Humanos do Instituto Superior<br />
PolitÈcnico e Universit·rio e da PontifÌcia Universidade<br />
CatÛlica de Minas Gerais, como requisito parcial para a<br />
obtenÁ„o do tÌtulo de Mestre em Gest„o de Recursos Humanos.<br />
Orientadora: Prof. Doutora Ana Cristina Limongi FranÁa<br />
Maputo<br />
2006
¿ memÛria do meu pai, Victor,<br />
pelas melhores recordaÁıes da minha inf‚ncia.<br />
¿ minha m„e, Nat·lia,<br />
pelo seu exemplo de vida, de coragem e determinaÁ„o.<br />
Ao H. Ebrahim Rafik,<br />
por todo o amor, paciÍncia e apoio ao longo destes anos.<br />
¿ minha irm„, Alexandra, e ao meu cunhado, Bowdin,<br />
pela forÁa, carinho e apoio, mesmo ‡ dist‚ncia.<br />
Aos meus sobrinhos, Zara, Uri e Kamila,<br />
pela sua graciocidade e alegria.<br />
¿ minha eterna amiga, DÈbora Botelho Moniz,<br />
pela amizade e carinho ao longo destes anos.
AGRA<strong>DE</strong>CIMENTOS<br />
<strong>Um</strong> agradecimento especial quero deixar ‡s pessoas aqui relacionadas pelo apoio e contributo<br />
para a concretizaÁ„o desta pesquisa:<br />
- Ao ISPU, na pessoa do seu Reitor, Prof. Doutor LourenÁo do Ros·rio, que tornou<br />
possÌvel a concretizaÁ„o de mais uma etapa da minha formaÁ„o acadÈmica, pela<br />
concess„o desta bolsa parcial de Mestrado;<br />
- ¿ minha orientadora, Prof. Doutora Ana Cristina Limongi FranÁa, pela s·bia orientaÁ„o e<br />
preciosos contributos ao longo da realizaÁ„o desta pesquisa;<br />
- Ao meu mestre, colega e amigo, Dr. Fernando Ribeiro, pelos preciosos contributos e por<br />
todos os ensinamentos enriquecedores ao longo destes anos;<br />
- ¿ Dra. Rafica Razac, por todo o apoio e atenÁ„o;<br />
- A todos os professores universit·rios que se disponibilizaram a dar o seu contributo neste<br />
estudo;<br />
- Aos meus alunos, pelos preciosos momentos de aprendizagem que engradecem a reflex„o<br />
sobre a minha pr·tica pedagÛgica, contribuindo, assim, para o meu amadurecimento<br />
profissional e pessoal.<br />
N„o poderia deixar de endereÁar tambÈm os meus agradecimentos pela autorizaÁ„o e<br />
apoio na pesquisa de campo ‡s seguintes pessoas representantes das diversas InstituiÁıes de<br />
Ensino Superior do PaÌs que integraram o presente estudo:<br />
- Instituto Superior PolitÈcnico e Universit·rio (ISPU): Prof. Doutor LourenÁo do<br />
Ros·rio, Reitor, Prof. Doutor Francisco Noa, Director CientÌfico e PedagÛgico, Dra. Irene<br />
Mendes, Adjunta do Director CientÌfico e PedagÛgico para a Escola de CiÍncias JurÌdicas<br />
e Sociais e Prof. Doutora Elena Alves, Adjunta do Director CientÌfico e PedagÛgico para<br />
a Escola de Gest„o e Tecnologia;<br />
- Escola Superior de CiÍncias N·uticas (ESCN): Dr. Martinho Fumo, Director, e Sr.<br />
Lucas Cipriano, Chefe do Departamento de NavegaÁ„o;<br />
- Instituto Superior de CiÍncias da Sa˙de (ISCISA): Dr. AurÈlio Zilh„o, Director;<br />
- Instituto Superior de RelaÁıes Internacionais (ISRI): Dr. JosÈ PatrÌcio, Vice-Reitor, e<br />
Dr. Bernu Kunchenje, Director PedagÛgico;
- Instituto Superior de CiÍncias TecnolÛgicas de MoÁambique (ISCTEM): Dr. JosÈ Alexandre<br />
Monjane, Director PedagÛgico, e Prof. Doutor Bettencourt Capece, Director de InvestigaÁ„o e<br />
Extens„o;<br />
- Universidade PedagÛgica (UP): Dr. Alberto Graziano, Director da Faculdade de CiÍncias de<br />
EducaÁ„o FÌsica e Desporto, Dr. Adelino Zacarias Ivala, Director da DelegaÁ„o da UP em<br />
Nampula, Dr. AurÈlio Machado, Chefe de Recursos Humanos da DelegaÁ„o da UP em<br />
Nampula, Dr. Abudo Atumane, docente na DelegaÁ„o da UP em Nampula, e Dr. Francisco<br />
Candrinho, Docente na DelegaÁ„o da UP em Quelimane;<br />
- Universidade S„o Tom·s de MoÁambique (USTM): Dr. Daniel Nivagara, Director<br />
PedagÛgico, e Sr. Carlos Oana, funcion·rio do Registo AcadÈmico;<br />
- Academia Militar (AM): Comandante Daniel Chale, Reitor, Dr.Victor Muirequetule, Director<br />
PedagÛgico, e Dr. Francisco Mataruca, Adjunto do Director PedagÛgico;<br />
- Universidade Mussa Bin Bique (UMBB): Dr. Mohammed Al-Moattar, Gestor, e Dr. Ali Ussin,<br />
Director do Curso de Gest„o e Contabilidade;<br />
- Universidade CatÛlica de MoÁambique (UCM): Padre John James OíKeefe, Director da<br />
Faculdade de EducaÁ„o e ComunicaÁ„o, Dr. Jaime NatÈrcio Benedito, Director PedagÛgico da<br />
Faculdade de EducaÁ„o e ComunicaÁ„o, Dra. CornÈlia de Moor, Directora da Faculdade de<br />
Direito, e Dra. Esther Argelagos, docente na Faculdade de EducaÁ„o e ComunicaÁ„o;<br />
- Universidade Eduardo Mondlane (UEM): Dra. Isabel Guiamba, Directora Adjunta para a<br />
DocÍncia da Faculdade de Engenharia; Dr. M·rio Elias, Director Adjunto para a ¡rea de<br />
DocÍncia da Faculdade de Veterin·ria, Dr. Manuel Sylvestre, Director Adjunto para a ¡rea de<br />
DocÍncia da Faculdade de Economia, Dr. Carlos Arnaldo, Director Adjunto para a GraduaÁ„o e<br />
Pesquisa da Faculdade de Letras e CiÍncias Sociais; Sr. Amilcar, funcion·rio do Departamento<br />
de Recursos Humanos da Faculdade de Medicina, e Sr. Machaieie, funcion·rio do Secretariado<br />
da Faculdade de Arquitectura.<br />
- Instituto Superior de Transportes e ComunicaÁıes (ISUTC): Sra. Helena Carvalho, Assessora<br />
do Reitor, e Dr. M·rio Getimane, docente;<br />
- Academia de CiÍncias Policiais (ACIPOL): Dr. Fernando Tsucana, Director PedagÛgico, e<br />
Dra. Albertina Manhenje, docente.
ìO capital intelectual de uma instituiÁ„o de Ensino<br />
Superior precisa de ser melhor aproveitado. Poucas<br />
organizaÁıes conseguem reunir tantos profissionais com um<br />
elevado grau de conhecimento como as de Ensino Superior.<br />
Afinal, n„o s„o eles que formam os futuros profissionais<br />
de mercado e que trar„o maior competitividade ‡s<br />
organizaÁıes em tempos de globalizaÁ„o? … preciso ampliar<br />
os investimentos no capital humano, n„o sÛ<br />
financeiramente, como tambÈm em credibilidade no potencial<br />
das pessoas, incentivando a sua capacitaÁ„o e<br />
aperfeiÁoamento constantes, bem como as suas condiÁıes de<br />
trabalho e remuneraÁ„o adequadas, o que certamente<br />
assegura qualidade na execuÁ„o dos projectos pedagÛgicos,<br />
pois s„o os professores que os executam e o profissional<br />
que tenha a sua competÍncia intelectual valorizada<br />
certamente realizar· um trabalho de qualidade.î<br />
Ot·vio J. Oliveira
RESUMO<br />
Este estudo, de natureza cientÌfica, teve como objectivo principal investigar os factores de<br />
qualidade de vida no trabalho (QVT) sob os aspectos multifactoriais biolÛgicos,<br />
psicolÛgicos, sociais, organizacionais e sÛcio-demogr·ficos. A partir deste objectivo<br />
foram analisadas as relaÁıes possÌveis entre estes factores e a satisfaÁ„o ou insatisfaÁ„o<br />
de professores universit·rios de MoÁambique. A pesquisa abrangeu uma amostra de 255<br />
professores de treze instituiÁıes de Ensino Superior (IES¥s), localizadas na ProvÌncia e<br />
Cidade de Maputo e nas Cidades de Quelimane e Nampula. Os resultados do estudo<br />
revelam que os professores associam menos o conceito de QVT a factores de dimens„o<br />
biolÛgica, psicolÛgica e social e mais a factores de dimens„o organizacional, com maior<br />
destaque para a remuneraÁ„o e benefÌcios, valorizaÁ„o do indivÌduo e condiÁıes e<br />
recursos de trabalho. O estudo apurou que a maioria dos professores discorda da<br />
existÍncia de acÁıes de QVT promovidas pelas suas instituiÁıes, evocando, em maior<br />
percentagem, razıes, como a falta de recursos financeiros por parte das instituiÁıes, a<br />
fraca gest„o dos recursos humanos e a falta de sensibilizaÁ„o dos gestores para o assunto.<br />
Os resultados mostram que os professores revelam, em termos globais, um grau mÈdio de<br />
satisfaÁ„o moderada com a sua QVT, tendo a dimens„o compensaÁ„o justa e adequada<br />
sido o ponto crÌtico de insatisfaÁ„o para os mesmos. O estudo tambÈm revelou existirem<br />
diferenÁas significativas entre o nÌvel de satisfaÁ„o com a QVT dos professores das IES¥s<br />
p˙blicas e privadas, sendo esta superior para os das privadas. No entanto, indicadores<br />
como remuneraÁ„o adequada e equidade externa foram considerados pontos crÌticos de<br />
insatisfaÁ„o para os professores de ambas as instituiÁıes, enquanto que os professores das<br />
IES¥s p˙blicas se mostraram insatisfeitos com os seguintes indicadores de QVT:<br />
remuneraÁ„o adequada, equidade interna, equidade externa, ambiente fÌsico, material e<br />
equipamento, ambiente saud·vel, stress, retroinformaÁ„o, possibilidade de carreira,<br />
crescimento pessoal, senso comunit·rio, normas e rotinas, papel balanceado no trabalho e<br />
responsabilidade social pelos trabalhadores. Finalmente, o estudo revelou que as<br />
vari·veis sÛcio-demogr·ficas categoria profissional, tipo de contrato de trabalho e<br />
execuÁ„o de outra actividade profissional, para alÈm da docÍncia, influem no nÌvel de<br />
satisfaÁ„o com a QVT.<br />
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho, SatisfaÁ„o, Professores universit·rios,<br />
MoÁambique
ABSTRACT<br />
The main aim of this study, of scientific nature, was research the work quality of life<br />
(WQL) factors from a multifactorial perspective of biologic, psychological, social,<br />
organizational and demografic aspects. From this aim the possible relations between<br />
these factors and the satisfaction or dissatisfaction of teachers from Mozambique Higher<br />
Education institutions were analyse.The research embraces a sample of 255 teachers from<br />
thirteen Higher Education institutions localed in Maputo city and province, and in<br />
Quelimane and Nampula cities. The results of the study reveal that teachers associate less<br />
the WQL concept with factors from biological, psychological and social dimension and<br />
more with factors from the organizational dimension with more emphasis to salary and<br />
benefits, individual valorisation and work conditions and resources. The study shows that<br />
the majority of teachers disagree that their institutions promote WQL practices invoking,<br />
in more percentage, reasons such as the lack of financial resources of the institutions, the<br />
poor human resources management and the lack of sensibility of managers for the<br />
subject. The study shows that teachers reveal, in global terms, a mean level of moderate<br />
satisfaction with their WQL pointing, as a critical factor of dissatisfaction, the dimension<br />
of adequate and fair compensation. The study also reveals significant differences between<br />
the level of teachers satisfaction with their WQL from public and private Higher<br />
Education institutions, witch is higher for teachers from the private sector. However,<br />
indicators such as adequate salary and external equity were considered by teachers from<br />
both kinds of institutions as a critical dissatisfaction factors, while teachers from public<br />
Higher Education institutions had shown dissatisfaction with the following WQL<br />
indicators: adequate salary, internal equity, external equity, physical environment, health<br />
environment, stress, feedback, career opportunity, personal growth, sense of community,<br />
norms and routines, balance role at work and social responsibility for workers. Finally,<br />
the study reveals that some social demographic variables have an influence in the level of<br />
satisfaction with WQL such as professional category, work contract and performance of<br />
another professional activity besides teaching.<br />
Key-words: Work Quality of Life, Satisfation, Higher Education Teachers, Mozambique
LISTA <strong>DE</strong> FIGURAS<br />
FIGURA 1 Factores determinantes da Qualidade de Vida..................................................... 31<br />
FIGURA 2 Modelo de QVT de Nadler e Lawer.................................................................... 37<br />
FIGURA 3 Modelo de QVT de Hackman e Oldham............................................................. 38<br />
FIGURA 4 Indicadores de QVT segundo o Modelo de Westley........................................... 40<br />
FIGURA 5 Elementos de QVT segundo o modelo de Werther e Davis................................ 41<br />
FIGURA 6 Modelo de QVT de Huse e Cummings............................................................... 42<br />
FIGURA 7 QVT versus Produtividade.................................................................................. 42<br />
FIGURA 8 CaracterizaÁ„o das vari·veis do Modelo Biopsicossocial................................... 43<br />
FIGURA 9 Indicadores de QVT segundo o modelo de Walton............................................. 45<br />
FIGURA 10 Factores chave de QVT segundo o modelo de Lippitt......................................... 49<br />
FIGURA 11 Fases de implementaÁ„o de um programa de QVT............................................. 50<br />
FIGURA 12 EquilÌbrio entre Trabalho e Sa˙de....................................................................... 60<br />
FIGURA 13 IESís abrangidas pela Pesquisa............................................................................ 97
LISTA <strong>DE</strong> TABELAS<br />
TABELA 1 CondiÁıes adversas do ambiente de trabalho percepcionadas por<br />
trabalhadores na Austr·lia................................................................................... 64<br />
TABELA 2 Factores de insatisfaÁ„o com a QVT de trabalhadores na Austr·lia.................... 61<br />
TABELA 3 Dados sobre a licenÁa de sa˙de de professores no Estado de Minas Gerais,<br />
Brasil (1999)........................................................................................................ 77<br />
TABELA 4 Problemas reportados por professores no Reino Unido atravÈs da linha de<br />
apoio (2000)......................................................................................................... 78<br />
TABELA 5 ComparaÁ„o de Indicadores de QVT do modelo de Walton entre uma IES<br />
p˙blica e privada, Brasil (2001).......................................................................... 82<br />
TABELA 6 ComparaÁ„o de vari·veis biopsicossociais de QVT entre uma IES p˙blica e<br />
privada, Brasil (2005).......................................................................................... 83<br />
TABELA 7 PopulaÁ„o e Amostra de professores das IES¥s pesquisadas............................... 99<br />
TABELA 8 ConsistÍncia interna da escala de QVT.............................................................. 101<br />
TABELA 9 Percentagem de devoluÁ„o do question·rio de pesquisa por IES...................... 103
LISTA <strong>DE</strong> QUADROS<br />
QUADRO 1 EvoluÁ„o do Conceito de QVT............................................................................ 34<br />
QUADRO 2 ContribuiÁ„o de v·rias ciÍncias no estudo da QVT............................................. 36<br />
QUADRO 3 Vari·veis biopsicossociais qualitativas sobre o conceito de QVT...................... 44<br />
QUADRO 4 OrientaÁıes conceptuais da SatisfaÁ„o no Trabalho............................................ 54<br />
QUADRO 5 Factores que impedem os professores de progredir profissionalmente............... 74
LISTA <strong>DE</strong> GR¡FICOS<br />
GR¡FICO 1 DefiniÁıes de QVT............................................................................................ 108<br />
GR¡FICO 2 AcÁıes de QVT que as IESís promovem.......................................................... 109<br />
GR¡FICO 3 AcÁıes de QVT que as IESís deveriam promover............................................ 110
ABREVIATURAS<br />
ACIPOL Academia de CiÍncias Policiais<br />
AM Academia Militar<br />
ESCN Escola Superior de CiÍncias N·uticas<br />
ICPQL Independent Commission on Population and Quality of Life<br />
IES InstituiÁ„o de Ensino Superior<br />
ISCISA Instituto Superior de CiÍncias da Sa˙de<br />
ISCTEM Instituto Superior de CiÍncias TecnolÛgicas de MoÁambique<br />
ISPU Instituto Superior PolitÈcnico e Universit·rio<br />
ISRI Instituto Superior de RelaÁıes Internacionais<br />
ISUTC Instituto Superior de Transportes e ComunicaÁıes<br />
MEC MinistÈrio da EducaÁ„o e Cultura<br />
MESCT MinistÈrio do Ensino Superior, CiÍncia e Tecnologia<br />
MICT MinistÈrio da CiÍncia e Tecnologia<br />
NTIC Novas Tecnologias de InformaÁ„o e ComunicaÁ„o<br />
OIT OrganizaÁ„o Internacional do Trabalho<br />
OMS OrganizaÁ„o Mundial da Sa˙de<br />
PEES Plano EstratÈgico do Ensino Superior<br />
PNUD Programa das NaÁıes Unidas para o Desenvolvimento<br />
PQT Programa de Qualidade Total<br />
QVT Qualidade de Vida no Trabalho<br />
RSE Responsabilidade Social Empresarial<br />
SNE Sistema Nacional de EducaÁ„o<br />
UCM Universidade CatÛlica de MoÁambique<br />
UEM Universidade Eduardo Mondlane<br />
UMBB Universidade Mussa Bin Bique<br />
UP Universidade PedagÛgica<br />
USTM Universidade S„o Tom·s de MoÁambique
SUM¡RIO<br />
1 INTRODU« O ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ............... 16<br />
1.1 PROBLEMA <strong>DE</strong> INVESTIGA« O ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 18<br />
1.2 OBJECTIVOS ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 25<br />
1.3 JUSTIFICATIVA ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 25<br />
2 FUNDAMENTA« O TE”RICA ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 28<br />
2.1 QUALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>VIDA</strong>: CONCEITO E DIMENS’ES ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 28<br />
2.2 QUALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>VIDA</strong> <strong>NO</strong> <strong>TRABALHO</strong> ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 32<br />
2.2.1 Origem e EvoluÁ„o do Conceito de QVTÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 32<br />
2.2.2 Modelos e Dimensıes ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 36<br />
2.2.2.1 Modelo de Nadler e Lawer ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 37<br />
2.2.2.2 Modelo de Hachman e OldhanÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 38<br />
2.2.2.3 Modelo de Westley ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 40<br />
2.2.2.4 Modelo de Werther e Davis ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 40<br />
2.2.2.5 Modelo de Huse e Cummings ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 41<br />
2.2.2.6 Modelo Biopsicossocial ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 43<br />
2.2.2.7 Modelo de Walton ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 44<br />
2.2.2.8 Modelo de Lippitt ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 48<br />
2.2.2.9 Modelo de Fernandes ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 50<br />
2.2.3 Significado do Trabalho, SatisfaÁ„o no Trabalho e QVTÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ... 52<br />
2.2.4 Sa˙de no Trabalho e QVT ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 59<br />
2.2.5 Estudos e factores correlacionados com a QVT em diversos grupos ocupacionais ÖÖÖÖÖÖÖ... 66<br />
2.3 O <strong>TRABALHO</strong> DOCENTE E A QVT ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 71<br />
2.4 GEST O DA QVT: ASPECTOS POSITIVOS E OBST¡CULOS ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 86<br />
2.4.1 Aspectos Positivos ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 86<br />
2.4.1.1 Clima Organizacional favor·vel ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ... 86<br />
2.4.1.2 Maior comprometimento organizacional ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 88<br />
2.4.1.3 Maior produtividade ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 89<br />
2.4.2 Obst·culos ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ....... 90<br />
2.4.2.1 Impacto da MudanÁa Organizacional ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 90<br />
2.4.2.2 Falta de percepÁ„o e sensibilizaÁ„o das LideranÁas ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ... 91<br />
2.4.2.3 Vis„o dos programas de QVT como um custo ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..... 92<br />
3 METODOLOGIA ......................................................................................................................................................... 94<br />
3.1 TIPO E ESTRAT…GIA <strong>DE</strong> PESQUISA .............................................................................................................. 94<br />
3.2 MO<strong>DE</strong>LOS TE”RICOS <strong>DE</strong> REFER NCIA ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 95<br />
3.3 POPULA« O E AMOSTRA ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 96<br />
3.4 COLECTA <strong>DE</strong> DADOS ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 100<br />
3.4.1 Instrumento de Pesquisa ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 100<br />
3.4.2 Procedimentos de Colecta de Dados .................................................................................................... 102<br />
3.5 TRATAMENTO DOS DADOS ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 103<br />
4 APRESENTA« O DOS RESULTADOS ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 105<br />
4.1 PERFIL DOS PROFESSORES UNIVERSIT¡RIOS ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ... 105<br />
4.2 PERCEP« O DOS PROFESSORES SOBRE O CONCEITO E PR¡TICAS <strong>DE</strong> QVT ..................................... 107<br />
4.2.1 DefiniÁıes de QVT ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 107<br />
4.2.2 AcÁıes de QVT ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 108<br />
4.3 SATISFA« O DOS PROFESSORES COM A QVT ......................................................................................... 110<br />
4.3.1 An·lise Descritiva da SatisfaÁ„o Geral ................................................................................................. 110
4.3.2 An·lise Comparativa da SatisfaÁ„o "p˙blico versus privado" ............................................................... 112<br />
4.4 INFLU NCIA <strong>DE</strong> VARI¡VEIS S”CIO-<strong>DE</strong>MOGR¡FICAS NA SATISFA« O COM A QVT ............................. 114<br />
5 DISCUSS O DOS RESULTADOS ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 116<br />
5.1 CONCEITO E PR¡TICAS <strong>DE</strong> QVT ................................................................................................................... 116<br />
5.2 SATISFA« O GLOBAL COM A QVT ............................................................................................................... 119<br />
5.3 P⁄BLICO VS PRIVADO E A SATISFA« O COM A QVT ................................................................................ 120<br />
5.4 VARI¡VEIS S”CIO-<strong>DE</strong>MOGR¡FICAS E A SATISFA« O COM A QVT ......................................................... 125<br />
6 CONCLUS’ES ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 127<br />
6.1 LIMITA«’ES DO ESTUDO 129<br />
6.2 SUGEST’ES PARA FUTURAS INVESTIGA«’ES 130<br />
REFER NCIAS ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ... 131<br />
ANEXOS ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.ÖÖÖ.. 144
1 INTRODU« O<br />
ìN„o se pode falar em qualidade de produtos e serviÁos se<br />
aqueles que v„o produzi-los n„o tÍm qualidade de vida no<br />
trabalhoî.<br />
Eda Fernandes<br />
As profundas transformaÁıes no mundo do trabalho tÍm sido marcadas por uma<br />
deterioraÁ„o crescente da qualidade de vida nos diversos ‚mbitos do trabalho humano. Hoje,<br />
vivemos num contexto em que a mudanÁa, rumo ‡ modernizaÁ„o, se torna inevit·vel no ‚mbito de<br />
um mundo globalizado, da r·pida aceleraÁ„o das Novas Tecnologias de InformaÁ„o e<br />
ComunicaÁ„o (NTIC), de um capitalismo mundial integrado, da aceleraÁ„o vertiginosa da<br />
produÁ„o, dos novos sentidos de trabalho e das relaÁıes de trabalho, bem como outras relaÁıes<br />
entre os humanos, assim como das contÌnuas desigualdades sociais.<br />
Diante deste contexto de mudanÁas, o sector de produÁ„o tem procurado instaurar<br />
permanentemente novas formas de organizaÁ„o do trabalho, atravÈs da implementaÁ„o de novos<br />
mÈtodos de trabalho e da renovaÁ„o profunda de modelos e estruturas organizativas que procurem<br />
valorizar o conhecimento. O processo de adaptaÁ„o a estas novas mudanÁas, quer no contexto<br />
sÛcio-cultural, quer no ‚mbito do trabalho, tem exigido dos indivÌduos a busca constante de<br />
recursos internos e externos, os quais, muitas vezes, n„o os possuem.<br />
MoÁambique, apesar de ser um PaÌs em desenvolvimento, n„o se exclui deste processo de<br />
mudanÁas, uma vez que, apÛs dezasseis anos de guerra civil, o PaÌs conseguiu finalmente alcanÁar<br />
a Paz em 1992 e recomeÁar todo um processo de reconstruÁ„o de infraestruturas, a nÌvel social e<br />
econÛmico. Desde o inÌcio da dÈcada de 90 atÈ ao momento, o PaÌs tem operado v·rias mudanÁas,<br />
quer no cen·rio econÛmico, com a privatizaÁ„o de empresas estatais, a atracÁ„o de maiores<br />
investimentos no sector empresarial e a modernizaÁ„o do sector p˙blico, quer a nÌvel social, com a<br />
reabilitaÁ„o de estradas e meios de comunicaÁ„o e a construÁ„o de uma sÈrie de infraestruturas no<br />
sector da educaÁ„o e no campo cultural, com vista a desenvolver o PaÌs.<br />
Estas mudanÁas, no contexto social e econÛmico, quer a nÌvel mundial, quer a nÌvel de<br />
MoÁambique, tÍm tido um impacto directo nas instituiÁıes educacionais. Se, por um lado, o sector<br />
de educaÁ„o, em MoÁambique, tem sido palco de in˙meras transformaÁıes, ao mesmo tempo,<br />
muitos s„o os desafios que se lhe colocam, frente ao elevado Ìndice de analfabetismo que atinge,<br />
16
actualmente, 60% da populaÁ„o, segundo o RelatÛrio de Desenvolvimento Humano do ano 2000,<br />
do Programa das NaÁıes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).<br />
Deste a independÍncia, em 1975, atÈ ao inÌcio da dÈcada de 90, o Estado fora sempre o<br />
provedor exclusivo da educaÁ„o em todos os nÌveis. No entanto, devido ‡ massiva exclus„o<br />
escolar, provocada, em parte, pela destruiÁ„o da rede escolar pela guerra e ‡ reduÁ„o do<br />
financiamento p˙blico ao sistema educacional, o governo criou uma sÈrie de polÌticas favorecendo<br />
a entrada de provedores de educaÁ„o n„o governamentais. (PNUD, 2000)<br />
Assim, o PaÌs vivenciou um verdadeiro ìboomî de instituiÁıes educacionais privadas em<br />
todos os nÌveis, em particular, IES¥s que, no espaÁo de 10 anos, passaram de zero para oito (vide<br />
gr·fico 1, anexo A), fomentando a competitividade e tambÈm a criaÁ„o de IES¥s p˙blicas, na sua<br />
maioria, concentrando-se na capital do PaÌs, Maputo.<br />
Durante a dÈcada de 90, a din‚mica do n˙mero de estudantes nas IES¥s tambÈm comeÁou a<br />
registrar alteraÁıes, verificando-se um aumento crescente da procura por serviÁos educacionais de<br />
nÌvel superior (vide gr·fico 2, anexo A).<br />
Nos anos subsequentes a 1999, o n˙mero de estudantes no Ensino Superior continuou a<br />
aumentar em todo o PaÌs, integrando diversas ·reas de estudo, em parte devido ‡ liberalizaÁ„o do<br />
mercado que fomentou o surgimento do IES¥s privadas, com uma maior diversidade de oferta de<br />
Cursos Superiores, e ‡ estratÈgia de expans„o das IESís, quer p˙blicas, quer privadas, para outras<br />
provÌncias do PaÌs (vide gr·ficos 3 e 4, anexo A).<br />
Actualmente, MoÁambique possui um total de 15 IESís, sendo 7 p˙blicas e 8 privadas (vide<br />
tabela 1, anexo A), no entanto, estas instituiÁıes ainda s„o em n˙mero reduzido para suprir a<br />
procura existente.<br />
O sub-sistema do Ensino Superior, como todos os outros sub-sistemas do Sistema Nacional<br />
de EducaÁ„o (SNE), era da responsabilidade do MinistÈrio da EducaÁ„o, no entanto, com a tomada<br />
de posse do governo anterior, apÛs as eleiÁıes de 1999, o referido sub-sistema passou a estar sobre<br />
a alÁada de um novo Ûrg„o - o MinistÈrio de Ensino Superior, CiÍncia e Tecnologia (MESCT) 1 .<br />
1 Actual MinistÈrio da CiÍncia e Tecnologia (MICT)<br />
17
Todavia, o governo actual passou novamente o subsistema de Ensino Superior para o actual<br />
MinistÈrio da EducaÁ„o e Cultura (MEC), que tem como miss„o dar continuidade ‡<br />
operacionalizaÁ„o do Plano EstratÈgico de Ensino Superior (PEES) 2000-2010, tendo, como<br />
alguns desafios pela frente, a concretizaÁ„o de estratÈgias que envolvem, essencialmente, a<br />
melhoria da qualidade de ensino, incentivo ‡ inovaÁ„o e melhoria da qualidade do corpo docente e<br />
tÈcnico/administrativo das IES¥s. AcÁıes estas que se fazem urgentes dentro de um cen·rio de<br />
grande competitividade no seio do mercado de Ensino Superior.<br />
1.1 PROBLEMA <strong>DE</strong> INVESTIGA« O<br />
Actualmente, a qualidade do ensino em MoÁambique e, particularmente, do Ensino Superior,<br />
È traduzida por discutÌveis Ìndices de produtividade e pela capacidade das IES¥s em gerar<br />
conhecimentos pr·ticos e objectivos que atendam ‡s exigÍncias de modernizaÁ„o do mundo em<br />
que vivemos.<br />
A oferta de oportunidades de formaÁ„o superior com qualidade comeÁa a constituir um<br />
factor de preocupaÁ„o por parte do MEC e das prÛprias IESís, tendo sido recentemente criada uma<br />
Comiss„o de Qualidade que est· a trabalhar no sentido de definir, implementar e monitorizar<br />
polÌticas e mecanismos que assegurem o controle de qualidade nas instituiÁıes, frente ‡s<br />
exigÍncias do mercado de trabalho e dos padrıes internacionais de qualidade do Ensino.<br />
Isto coloca as IES¥s, tanto p˙blicas como privadas, num cen·rio de reestruturaÁ„o na sua<br />
forma de gest„o, na selecÁ„o do seu corpo docente, na criaÁ„o de infraestrutura e optimizaÁ„o de<br />
recursos que favoreÁam actividades de extens„o, o desenvolvimento da investigaÁ„o e produÁ„o<br />
cientÌfica, a adequaÁ„o dos curricula ‡s novas exigÍncias do mercado de trabalho e do sector<br />
produtivo.<br />
Mas, para que as IES¥s consigam assegurar uma polÌtica de qualidade para competir no<br />
mercado, urge a necessidade de adoptarem uma orientaÁ„o estratÈgica voltada para os seus<br />
recursos humanos, ou seja, sÛ com quadros suficientes e qualificados È que as IESís poder„o<br />
atingir os seus propÛsitos de qualidade. H· dÈcadas atr·s, a funÁ„o dos Recursos Humanos era<br />
18
puramente administrativa, mas, actualmente, a necessidade de gerir competÍncias e talentos para o<br />
sucesso do negÛcio e para a sobrevivÍncia das organizaÁıes leva a que a ·rea de Recursos<br />
Humanos adopte uma postura mais estratÈgica.<br />
Historicamente, as organizaÁıes tÍm procurado apostar em dois componentes do capital<br />
humano, nomeadamente: investimento em equipamentos e ferramentas de trabalho para o<br />
aumento da produtividade e formaÁ„o contÌnua para actualizar os trabalhadores ‡s novas<br />
exigÍncias e mudanÁas do mercado. No entanto, as organizaÁıes ignoram, esquecem-se ou<br />
minimizam uma terceira componente de grande import‚ncia: a sa˙de e o bem-estar dos seus<br />
trabalhadores. (AssociaÁ„o Brasileita de Qualidade de Vida, 2004)<br />
… um facto que permanece ainda no discurso dos gestores, nos diversos sectores<br />
econÛmicos do PaÌs, sobre a import‚ncia do papel dos Recursos Humanos para a<br />
operacionalizaÁ„o dos novos sistemas de gest„o e produÁ„o, para a inovaÁ„o e como factor<br />
competitivo. Mas a realidade mostra que tais discursos ainda est„o longe de constituir pr·tica nas<br />
organizaÁıes, como agentes estratÈgicos da mudanÁa, para elevar as organizaÁıes para outros<br />
patamares de competitividade nos mercados em que actuam.<br />
S„o muitas as exigÍncias que se fazem aos trabalhadores, as mudanÁas r·pidas e<br />
inesperadas requerem dos mesmos a acomodaÁ„o de novos valores organizacionais, novas formas<br />
de encarar o trabalho e novos instrumentos e pr·ticas organizacionais, afectando o seu sistema<br />
mental, biolÛgico e social e, consequentemente, a sua qualidade de vida no trabalho (QVT).<br />
A lÛgica da racionalidade econÛmica e do lucro continua a dominar a agenda dos gestores e<br />
pouco ou nada se faz relativamente ‡ QVT. No fundo, È uma aparente contradiÁ„o, pois, se, por um<br />
lado, os gestores procuram a produtividade, o lucro e a qualidade e isso sÛ È possÌvel atravÈs do<br />
investimento no capital humano, por outro lado, figura a idÈia de que as pessoas constituem custos<br />
para as organizaÁıes e, por isso, h· receio de se investir no seu bem-estar, no seu desenvolvimento<br />
e QVT.<br />
A situaÁ„o dos recursos humanos no sector educacional e, em particular, nas IES¥s do PaÌs,<br />
pode considerar-se crÌtica e, se os docentes s„o os principais actores da concretizaÁ„o da miss„o<br />
19
destas instituiÁıes, s„o tambÈm alvo de todo um conjunto de pressıes inerentes ao contexto de<br />
mudanÁa do seu prÛprio trabalho e das condiÁıes que possuem para realiz·-lo com sucesso.<br />
… precisamente neste contexto que se insere o ‚mbito da presente pesquisa, numa tentativa<br />
de analisar a QVT dos docentes das IES¥s, frente a todo um conjunto de problem·ticas com que se<br />
vÍem confrontados, no seu quotidiano.<br />
Quando se aborda a QVT, pretende-se referenciar todo um conjunto de esforÁos, que v„o<br />
desde a definiÁ„o de polÌticas atÈ ‡ criaÁ„o de condiÁıes, recursos e de um ambiente de trabalho,<br />
que visem o melhoramento dos sentimentos de realizaÁ„o e satisfaÁ„o por parte de todos os<br />
colaboradores de uma organizaÁ„o.<br />
Os cen·rios entre as IES¥s p˙blicas e privadas do PaÌs apresentam um car·cter diferente,<br />
mas que, no entanto, n„o deixa de ser preocupante. De forma geral, um dos maiores problemas que<br />
as IES¥s enfrentam diz respeito ao insuficiente n˙mero de docentes e investigadores qualificados.<br />
Conforme se pode ver no gr·fico 5, o n˙mero de docentes com PÛs-graduaÁ„o È ainda muito<br />
reduzido. Como sublinham Silva et al.:<br />
Os quadros de pessoal encontram-se desajustados das necessidades das instituiÁıes<br />
ou n„o est„o dotados: para alÈm da falta de docentes/investigadores com pÛsgraduaÁ„o,<br />
h· falta de pessoal tÈcnico para projectos de investigaÁ„o e para a<br />
manutenÁ„o e funcionamento de equipamentos, laboratÛrios e bibliotecas. (Ö) O<br />
acesso a oportunidades de formaÁ„o pÛs-graduada, est·gios e aperfeiÁoamento<br />
profissional dos docentes/investigadores È desequilibrado e a sua progress„o<br />
profissional n„o est· assente em critÈrios modernos de produtividade cientÌfica.<br />
(SILVA et al., 2002, p.3)<br />
No entanto, se nas IES¥s p˙blicas esta È uma problem·tica com maior probabilidade de<br />
soluÁ„o, uma vez que recebem financiamento externo, embora insuficiente, destinado ‡ formaÁ„o<br />
dos docentes, o mesmo j· n„o se pode afirmar relativamente ‡ maior parte das IES¥s privadas, que<br />
apenas sobrevivem das suas propinas mensais.<br />
A agravar esta situaÁ„o, as IES¥s privadas, ao contr·rio das p˙blicas, apresentam um<br />
elevado n˙mero de docentes em regime de tempo parcial e um reduzido n˙mero de docentes a<br />
tempo inteiro, tornando quase que invi·vel a possibilidade para a investigaÁ„o e produÁ„o<br />
cientÌfica. (SILVA et al., 2002) Esta problem·tica origina um questionamento sobre os padrıes de<br />
20
QVT dos docentes, em particular, no momento actual, em que se vive numa era de profundas<br />
transformaÁıes tecnolÛgicas, que interferem na funÁ„o docente, em termos de construÁ„o,<br />
produÁ„o e comunicaÁ„o do conhecimento.<br />
De acordo com a an·lise apresentada pelo MESCT (2001) no PEES, outro dos problemas<br />
que os docentes enfrentam, directamente relacionado com a QVT, e que tem criado um mal-estar<br />
geral nestes profissionais, diz respeito ‡s discrep‚ncias entre os sal·rios que eles auferem, em<br />
particular nas IES¥s p˙blicas, comparados com os dos docentes das IES¥s privadas. Este factor tem<br />
sido a principal causa da mobilidade dos docentes das IES¥s p˙blicas para as IES¥s privadas ou<br />
para outros sectores de actividade empresarial, trabalhando em regime de tempo parcial, como uma<br />
alternativa de conseguir uma melhor condiÁ„o econÛmica e, consequentemente, uma melhor<br />
situaÁ„o social de vida. (PNUD, 2000; MESCT, 2001; SILVA et al., 2002)<br />
Relativamente ao sal·rios dos docentes, NÛvoa afirma que<br />
A quest„o ainda est· na ordem do dia, na medida em que os professores buscam no<br />
exterior os estÌmulos (econÛmicos, culturais, intelectuais, profissionais, etc.) que<br />
muitas vezes n„o conseguem encontrar no interior do ensino. O problema tem<br />
contornos que abrangem aspectos v·rios do trabalho docente, desde a quest„o dos<br />
hor·rios atÈ ‡s distintas formas de mobilidade (destacamentos, mudanÁa de<br />
escolas, etc.), passando pela estabilizaÁ„o profissional e pela organizaÁ„o interna<br />
das escolas. (N”VOA,1999, p.24)<br />
Agregando aos factores acima mencionados, importa tambÈm referenciar outros dois<br />
aspectos, que, perante a opini„o p˙blica, se revelam factores de distinÁ„o entre o Ensino Superior<br />
p˙blico e privado, opini„o que poder· ser distorcida diante de uma an·lise mais minuciosa,<br />
nomeadamente: o excesso de burocratizaÁ„o e centralizaÁ„o e a falta de recursos e de infraestrutura<br />
cruciais para a sua funÁ„o.<br />
De facto, o que se observa È que o sistema de administraÁ„o e gest„o das IES¥s p˙blicas,<br />
seja a nÌvel central ou departamental, n„o permite responder com rapidez e flexibilidade ‡s<br />
exigÍncias dos processos, quer administrativos, quer a nÌvel da gest„o de fundos. (SILVA et al.,<br />
2002) No entanto, nas IES¥s privadas, apesar de existir uma maior flexibilidade, ainda se verifica<br />
alguma burocratizaÁ„o no processo de gest„o interna.<br />
21
Por outro lado, a falta de recursos para manter as infraestruturas, equipamentos e meios<br />
necess·rios para o trabalho de docÍncia e de investigaÁ„o cientÌfica, È um facto generalizado nas<br />
IES¥s p˙blicas que, por apresentarem uma fraca ìcoordenaÁ„o entre unidades tÈcnicas ou sectores<br />
afins, produz n„o raras vezes a n„o utilizaÁ„o racional dos meios existentes, a sua duplicaÁ„o ou<br />
sub-utilizaÁ„oî. (SILVA, et al., p.4)<br />
Na sua maioria, as IES¥s privadas apresentam melhores infraestruturas fÌsicas, equipamento<br />
e recursos tecnolÛgicos mais actualizados, dada a sua recente criaÁ„o, conforme o MESCT (2001),<br />
mas tambÈm em n˙mero insuficiente frente ‡s suas reais necessidades, precisamente pela falta de<br />
apoio financeiro do Estado, pelo seu car·cter privado.<br />
Estes e tantos outros factores tÍm um forte impacto sobre os docentes e sobre a sua QVT,<br />
uma profiss„o que, pela sua natureza, apresenta um conjunto de exigÍncias especÌficas e distintas<br />
de muitas outras, para n„o falar no impacto que as mudanÁas sociais e, em particular, no ensino,<br />
tÍm sobre o trabalho docente.<br />
A profiss„o de docente È, segundo Dejours (1988), uma profiss„o de sofrimento, que<br />
origina um grande desgaste a nÌvel fÌsico e mental, resultante das exigÍncias prÛprias da academia<br />
e do trabalho de docÍncia. Para alÈm de enfrentar a falta de recursos e condiÁıes para desenvolver<br />
o seu trabalho, observando a realidade do quotidiano dos docentes, facilmente se percebe as<br />
alteraÁıes de humor, devido ‡s relaÁıes interpessoais com os estudantes, a sobrecarga de tarefas<br />
que se dividem entre a investigaÁ„o e leitura para a preparaÁ„o das aulas, a sua ministraÁ„o e a<br />
correcÁ„o de testes e trabalhos.<br />
No caso dos professores universit·rios, podem somar-se a estas, outras actividades, como a<br />
participaÁ„o em comissıes e em reuniıes de trabalho, a execuÁ„o de actividades administrativas na<br />
prÛpria IES, a press„o institucional para a publicaÁ„o e pesquisa e para o rendimento e melhoria na<br />
formaÁ„o dos estudantes, a aprendizagem de novos recursos tecnolÛgicos, a submiss„o a normas e<br />
regras tÈcnicas da prÛpria instituiÁ„o de ensino e as governamentais (MEC, MICT, etc), para<br />
enumerar apenas algumas das mais evidentes.<br />
Por outro lado, h· press„o para a qualificaÁ„o do corpo docente, o que exige dos<br />
professores que, durante a realizaÁ„o do seu trabalho, estejam simultaneamente a frequentar<br />
22
Cursos de AperfeiÁoamento Profissional ou de PÛs-graduaÁ„o. Mas tambÈm È verdade que muitos<br />
optam por revezar a actividade de docÍncia com a pr·tica, desenvolvendo outra actividade<br />
profissional no mercado, o que acrescenta o n˙mero de papÈis e de responsabilidades que<br />
assumem, podendo afectar a sua QVT. Conforme Garcia e Benevides-Pereira (2003), tais<br />
actividades levam a uma rotina exaustiva, que deve ser gerida e incorporada nos restantes papÈis<br />
assumidos pelos docentes, no ‚mbito da sua vida pessoal e social, o que nem sempre ocorre,<br />
tornando-os vulner·veis ao stress e, em casos mais graves, ‡ sÌndrome de Burnout.<br />
A realidade do ensino e, em particular, dos professores, tem chamado a atenÁ„o dos<br />
investigadores devido ao aumento do adoecimento e afastamento desses profissionais. Esta<br />
realidade n„o constitui uma peculiaridade do sistema educacional moÁambicano, trata-se de um<br />
fenÛmeno internacional que chega a alcanÁar atÈ os PaÌses do primeiro mundo.<br />
J· na dÈcada de 60, na Europa, realizavam-se os primeiros estudos sobre os problemas de<br />
sa˙de dos docentes e, a partir dos anos 80, v·rios autores centram as suas reflexıes sobre a<br />
educaÁ„o, chamando a atenÁ„o para a figura do docente, procurando decifrar os efeitos que estes<br />
profissionais podem estar a sofrer devido ‡ racionalizaÁ„o do seu trabalho. (GOMES, 2002)<br />
Estudos mais recentes desenvolvidos por v·rios investigadores como, por exemplo, Lima<br />
(1998), Paiva e Marques (1999), Ayres, Brito e Feitosa (1999), Marques e Paiva (1999), Dias<br />
(2001), Souza (2001), Fonseca (2001), Gomes (2002), Christophoro e Waidman (2002), Moreno-<br />
Jimenez et al. (2002), Garcia e Benevides-Pereira (2003), RamÌrez (2003), Carlotto (2003) e Paiva<br />
e Saraiva (2005) tÍm incluÌdo a profiss„o docente no conjunto de profissıes mais stressantes, ‡<br />
semelhanÁa de outros profissionais, cuja ocupaÁ„o exige um forte e constante contacto com as<br />
pessoas, como È o caso de trabalhadores de serviÁo social, de sa˙de, policiais, banc·rios,<br />
profissionais liberais, entre outros. Os referidos estudos mostram que, de uma forma geral, a QVT<br />
dos professores est· abaixo dos Ìndices adequados, o que implica a necessidade de se introduzirem<br />
acÁıes e programas que visem ajudar e promover a sa˙de fÌsica, mental, social e organizacional<br />
nesta camada de profissionais, com vista a uma melhoria da sua QVT.<br />
De igual forma, investigaÁıes desenvolvidas por Marques e Paiva (1999) e Dias (2001),<br />
comparando a QVT de docentes provenientes de IES¥s p˙blicas e privadas, demonstram que os<br />
docentes de IES¥s privadas apresentam um grau de satisfaÁ„o em relaÁ„o a indicadores de QVT<br />
23
superior aos das IES¥s p˙blicas. … neste sentido que se torna relevante efectuar uma an·lise<br />
comparativa entre o corpo docente proveniente de IESís dos sectores p˙blico e privado, uma vez<br />
que apresentam realidades diferentes.<br />
Para alÈm da natureza do seu prÛprio trabalho, NÛvoa (1999, p.29) lembra que ìos<br />
professores encontram-se numa encruzilhada: os tempos s„o para refazer identidades (...) a ades„o<br />
a novos valores pode facilitar a reduÁ„o das margens de ambiguidades que afectam hoje a<br />
profiss„o docenteî.<br />
Isto remete-nos para o momento histÛrico que a humanidade vive actualmente, marcado<br />
pelo surgimento de valores modernos, aliados ‡ acelerada quantidade de dispositivos de<br />
informaÁ„o, graÁas ‡s NTIC, dentro de um contexto de interactividade, mobilidade, velocidade e<br />
globalidade. Esta nova realidade, que se consolida rapidamente, coloca em cheque o SNE do PaÌs,<br />
ainda fragilizado e calcado em velhos paradigmas, em particular no sub-sistema de Ensino<br />
Superior.<br />
Assim se encontram os docentes, numa constante busca de mobilizaÁ„o de recursos<br />
biopsicossociais, por forma a adaptarem-se a novos mÈtodos e pr·ticas de mediaÁ„o pedagÛgica e ‡<br />
reformulaÁ„o do seu papel. Como recorda Gadotti (1975, p.107), ìo novo papel do professor n„o È<br />
o de ìensinarî ou ìcolocar algo que eles pensam saber na cabeÁa de pessoas que n„o sabemî, mas<br />
antes a atitude de que est„o em constante processo de aprendizagem, o que implica uma mudanÁa<br />
de mentalidade.<br />
Diante de toda esta gama de actualizaÁıes que se fazem presentes no dia-a-dia do docente<br />
universit·rio e de todas estas problem·ticas e divergÍncias inerentes ao Ensino Superior p˙blico<br />
versus privado, em MoÁambique, e ‡s exigÍncia fÌsicas, mentais e sociais que se colocam aos<br />
docentes, torna-se imprescindÌvel perceber o grau de satisfaÁ„o dos docentes universit·rios com a<br />
sua QVT. … nesta perspectiva que se pretende, com a presente pesquisa, responder ‡s seguintes<br />
questıes:<br />
Qual a percepÁ„o dos professores universit·rios sobre o conceito e pr·ticas de QVT?<br />
Qual o nÌvel de satisfaÁ„o dos docentes universit·rios com a sua QVT?<br />
24
Existem diferenÁas significativas entre os nÌveis de satisfaÁ„o dos docentes, de IESís<br />
p˙blicas e privadas do PaÌs, com os seus padrıes de QVT?<br />
Que factores sÛcio-demogr·ficos influenciam o nÌvel de satisfaÁ„o global dos professores<br />
universit·rios com a sua QVT?<br />
1.2 OBJECTIVOS<br />
Objectivo Geral:<br />
Analisar, comparar e descrever a QVT dos professores de IESís p˙blicas e privadas de<br />
MoÁambique.<br />
Objectivos EspecÌficos:<br />
Analisar e descrever a percepÁ„o dos docentes sobre o conceito de QVT;<br />
Analisar e descrever a percepÁ„o e sensibilidade dos professores relativamente a pr·ticas de<br />
gest„o da QVT no seio das suas instituiÁıes;<br />
Identificar e descrever os nÌveis de satisfaÁ„o dos professores de Ensino Superior com a sua<br />
QVT;<br />
Verificar diferenÁas entre os nÌveis de satisfaÁ„o geral de professores de IES¥s p˙blicas e<br />
privadas, com a sua QVT;<br />
Verificar a influÍncia de vari·veis sÛcio-demogr·ficas sobre o nÌvel de satisfaÁ„o global<br />
dos professores com a sua QVT.<br />
1.3 JUSTIFICATIVA<br />
… crescente o debate internacional sobre a QVT, numa abordagem em que, perante todas as<br />
mudanÁas que se operam, È cada vez maior o seu impacto a nÌvel dos recursos humanos das<br />
organizaÁıes, com consequÍncias Ûbvias na produtividade e resultado das mesmas.<br />
25
Conforme Boog (2001), um dos maiores desafios que as organizaÁıes enfrentam<br />
actualmente È a necessidade de retenÁ„o de talentos, ou seja, um corpo de profissionais com um<br />
perfil que garanta o seu crescimento, a sua sobrevivÍncia e a sua perpetuaÁ„o no mercado. Mas,<br />
para isso, È importante que estas organizaÁıes criem padrıes de QVT, precisamente, para reter os<br />
seus talentos e, assim, alcanÁar as suas metas. As organizaÁıes, que hoje n„o consideram a QVT<br />
na sua agenda, poder„o entrar na linha de risco da sua prÛpria sobrevivÍncia, num mercado cada<br />
vez mais competitivo e deveras exigente.<br />
Esta preocupaÁ„o com a QVT tem sido pouco explorada e estudada em MoÁambique, uma<br />
vez que, por ser um PaÌs com elevados Ìndices de pobreza absoluta, antes da QVT, as suas<br />
prioridadas tÍm-se concentrado em questıes b·sicas de qualidade de vida da populaÁ„o que, de<br />
uma ou de outra forma, tem um impacto na QVT. No entanto, uma vez que a economia do PaÌs se<br />
encontra em pleno crescimento, resultando em mudanÁas profundas a nÌvel de todos os sectores,<br />
analisar a QVT dentro desta realidade poder· constituir um factor de competitividade nos diversos<br />
sectores e ramos de actividade.<br />
O sub-sistema de Ensino Superior do PaÌs n„o dever· fugir ‡ regra, pois, num cen·rio de<br />
r·pida expans„o em que o mesmo se encontra, os seus recursos humanos constituem, sem d˙vida,<br />
um factor chave de competitividade e de garantia de qualidade do ensino, conforme prevÍ o PEES.<br />
A fraca motivaÁ„o que caracteriza, actualmente, o pessoal docente das IES¥s do PaÌs,<br />
devido ‡ falta de um sistema de incentivos com base no desempenho, incluindo remuneraÁ„o e<br />
condiÁıes de formaÁ„o, ligadas ‡ progress„o na carreira, constitui um facto que n„o promove a<br />
qualidade no trabalho. (MESCT, 2001) Assim, estudar a qualidade de vida na profiss„o de<br />
docÍncia, a nÌvel das IES¥s p˙blicas e privadas do PaÌs, vem ao encontro da qualidade do ensino e<br />
da competitividade entre as mesmas, pois, quanto mais satisfeitos com a QVT, melhor ser· o seu<br />
papel de facilitadores do processo de ensino-aprendizagem.<br />
Sendo a Universidade a matriz da produÁ„o acadÈmica, cabe a ela um papel significativo,<br />
quer na formaÁ„o do profissional, quer na preparaÁ„o de futuros docentes, o que implica a criaÁ„o<br />
de condiÁıes que favoreÁam a QVT. Como afirma Oliveira (2004a, p.86), ìa busca pela qualidade<br />
e excelÍncia organizacional È indispens·vel para a sobrevivÍncia das organizaÁıes, assim como a<br />
qualidade de vida o È para o trabalhadorî. Portanto, o presente estudo torna-se relevante para as<br />
26
IES¥s que ir· abranger, uma vez que poder· traduzir-se num diagnÛstico da QVT dos seus recursos<br />
humanos, que possibilite a identificaÁ„o de lacunas e problemas e consequente necessidade de<br />
·reas de intervenÁ„o a nÌvel da gest„o.<br />
A um nÌvel mais amplo, o estudo poder· identificar uma sÈrie de necessidades de<br />
intervenÁ„o pr·tica, a nÌvel do sub-sistema de Ensino Superior no PaÌs, no ‚mbito da definiÁ„o de<br />
polÌticas e estratÈgias de actuaÁ„o, bem como todo um conjunto de par‚metros que possibilitem ao<br />
MEC avaliar a qualidade das IES¥s, uma vez que estes ainda est„o a ser definidos, segundo este<br />
MinistÈrio. E se a avaliaÁ„o da qualidade das IES¥s passa necessariamente pela QVT dos recursos<br />
humanos, consequentemente, a aposta na qualidade neste nÌvel de ensino constitui um factor<br />
preponderante para a polÌtica de desenvolvimento eficaz da sociedade moÁambicana.<br />
Por outro lado, o desenvolvimento deste estudo È de car·cter inovador pela populaÁ„o que<br />
abrange, uma vez que poucos dos estudos, de alguma forma relacionados com a QVT 2 , que tÍm<br />
sido efectuados, tÍm abrangido os recursos humanos do sector empresarial, quer p˙blico ou<br />
privado. Pesquisas, envolvendo professionais do Ensino Superior, s„o escassas e, no entanto, t„o<br />
necess·rias ‡ melhoria da qualidade e ‡ expans„o do prÛprio ensino no PaÌs.<br />
Este trabalho encontra-se estruturado em cinco capÌtulos, incluindo a presente introduÁ„o,<br />
em que se procura contextualizar o problema da pesquisa, apresentar os objectivos a alcanÁar com<br />
a mesma e a sua relev‚ncia. No CapÌtulo 2, procura-se trazer os principais conceitos, modelos<br />
teÛricos e estudos realizados em torno da QVT e, em particular, do grupo alvo deste estudo ñ os<br />
professores universit·rios. No CapÌtulo 3, apresentam-se, para alÈm dos modelos teÛricos de<br />
referÍncia ao estudo, todos os procedimentos metodolÛgicos e instrumentos utilizados no decorrer<br />
da pesquisa. No CapÌtulo 4, descrevem-se os resultados encontrados atravÈs da colecta de dados no<br />
campo e do tratamento estatÌstico dos dados. No CapÌtulo 5, faz-se a discuss„o dos resultados,<br />
procurando confrontar os achados da pesquisa com os principais estudos e modelos do referencial<br />
teÛrico apresentado. Finalmente, no capÌtulo 6, esboÁam-se as principais conclusıes e limitaÁıes<br />
do estudo e deixam-se algumas sugestıes para futuras investigaÁıes.<br />
2 Por exemplo, sobre temas como MotivaÁ„o no Trabalho, SatisfaÁ„o no Trabalho e Stress Ocupacional.<br />
27
2 FUNDAMENTA« O TE”RICA<br />
2.1 QUALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>VIDA</strong>: CONCEITO E DIMENS’ES<br />
ìQualidade de de Vida È a resposta emocional do<br />
indivÌduo ‡ sua situaÁ„o, de acordo com algum padr„o<br />
Ètico sobre como viver a boa vidaî.<br />
Bjork e Roos<br />
Atingir elevados padrıes de qualidade de vida sempre constituiu uma preocupaÁ„o do<br />
Homem, porÈm, devido ao conjunto de transformaÁıes que as sociedades actuais vivenciam, como<br />
resultado do progresso e desenvolvimento humano, tecnolÛgico e cientÌfico, a discuss„o sobre o<br />
tema È cada vez mais frequente.<br />
Segundo Castanheira et al. (s.d.), o interesse em conceitos como ìpadr„o de vidaî e<br />
ìqualidade de vidaî foi inicialmente partilhado por cientistas sociais, filÛsofos e polÌticos. Este<br />
termo j· era discutido na filosofia antiga do Ocidente e do Oriente, conforme Castanheira et al.<br />
(s.d.), que exemplificam o caso de AristÛteles ter referenciado a idÈia de qualidade de vida como<br />
algo prÛximo da felicidade, do sentir-se realizado plenamente e do caso da filosofia chinesa, que<br />
relaciona a qualidade de vida com o equilÌbrio entre as forÁas positivas e negativas, representadas<br />
pelos conceitos de Yin e Yang.<br />
Actualmente, a literatura apresenta uma abrangÍncia e diversidade de concepÁıes sobre o<br />
termo qualidade de vida, interligando diferentes perspectivas e problem·ticas. Hornquist, citado<br />
por Fontaine, Kulbertus e …tienne (1998, p.32), por exemplo, define a qualidade de vida como<br />
sendo ìuma satisfaÁ„o global apercebida e uma satisfaÁ„o inerente a certos aspectos-chave, sendo<br />
o bem-estar uma preocupaÁ„o particularî. Para Gerin et al., citado por Fontaine, Kulbertus e<br />
…tienne (1998, p.33), a qualidade de vida envolve o ìconjunto das satisfaÁıes/insatisfaÁıes<br />
sentidas por um indivÌduo (ou um grupo de indivÌduos) a propÛsito da sua vida actual em geralî.<br />
Santos e Martins (2002) analisam o conceito de qualidade de vida sobre trÍs aspectos, que<br />
se interligam em grande medida, nomeadamente:<br />
28
DistinÁ„o entre os aspectos materiais da qualidade de vida com grande enfoque nas<br />
sociedades menos desenvolvidas (aspectos de natureza fÌsica e de infraestrutura, como<br />
condiÁıes de habitaÁ„o, abastecimento de ·gua, acesso ‡ sa˙de) e os aspectos imateriais da<br />
qualidade de vida (ambiente, patrimÛnio cultural e bem-estar) que, hoje em dia, se tornam<br />
centrais.<br />
DistinÁ„o entre os aspectos individuais (mais ligados ‡s condiÁıes econÛmicas, pessoais e<br />
familiares dos indivÌduos) e os colectivos (relacionadas com os serviÁos b·sicos e os<br />
serviÁos p˙blicos).<br />
DistinÁ„o entre os aspectos objectivos e subjectivos da qualidade de vida. Os primeiros<br />
podem ser facilmente apreendidos a partir da definiÁ„o de indicadores mensur·veis,<br />
enquanto que os segundos envolvem a percepÁ„o subjectiva de cada indivÌduo que pode<br />
variar consoante a sua estrutura sÛcio-econÛmica.<br />
O relatÛrio de 1996 da Independent Commission on Population and Quality of Life 3<br />
(ICPQL) destaca v·rios elementos para a qualidade de vida, nomeadamente: direito ‡ sa˙de e<br />
educaÁ„o, alimentaÁ„o e habitaÁ„o adequadas, um ambiente est·vel e saud·vel, equidade,<br />
igualdade de gÈnero, dignidade e seguranÁa. A ICPQL (1996, p.65) considera que ìcada um destes<br />
elementos s„o importantes nos seus prÛprios direitos, mas a falta de realizaÁ„o, mesmo de um<br />
deles, pode debilitar o sentido subjectivo de qualidade de vidaî (traduÁ„o nossa).<br />
A OrganizaÁ„o Mundial da Sa˙de (OMS) propıe a seguinte definiÁ„o de qualidade de vida:<br />
(...) uma percepÁ„o individual da sua posiÁ„o na vida no contexto da sua cultura e<br />
do seu sistema de valores relativa aos seus objectivos, aos seus Íxitos, aos seus<br />
padrıes. … um conceito que integra de forma complexa a sa˙de fÌsica da pessoa, o<br />
seu estado psicolÛgico, o seu nÌvel de independÍncia, as suas relaÁıes sociais, as<br />
suas crenÁas pessoais e as suas relaÁıes com os acontecimentos do seu meio<br />
ambiente. (FONTAINE, KULBERTUS e …TIENNE,1988, p.33)<br />
Fontaine, Kulbertus e …tienne (1998) afirmam que o estado de sa˙de, a satisfaÁ„o, o estado<br />
mental ou o bem-estar, conforme a definiÁ„o acima da OMS, n„o constituem os ˙nicos aspectos<br />
que caracterizam a qualidade de vida. Trata-se, antes, de um conceito multidimencional referente ‡<br />
forma como o indivÌduo percepciona estes e outros aspectos da sua vida.<br />
3 Comiss„o Independente para a PopulaÁ„o e Qualidade de Vida.<br />
29
Segundo o grupo de especialistas da OMS (WHOQOL, 1995), a qualidade de vida reflecte<br />
a percepÁ„o que cada indivÌduo possui acerca da sua posiÁ„o na vida, em funÁ„o do seu ambiente<br />
cultural, seus valores, objectivos, expectativas e padrıes de vida.<br />
Lipp e Rocha definem a qualidade de vida como sendo<br />
(...) o viver que È bom e compensador em, pelo menos, quatro ·reas: social,<br />
afectiva, profissional e a que se refere ‡ sa˙de. Para que a pessoa possa ser<br />
considerada como tendo uma boa qualidade de vida, torna-se necess·rio que ela<br />
tenha sucesso em todos esses quadrantes. N„o adianta vocÍ ter muito sucesso sÛ na<br />
carreira ou sÛ na ·rea social e n„o o ter nas outras ·reas. (traduÁ„o nossa) (LIPP e<br />
ROCHA, 1996, p.13)<br />
Lindstrım, citado por AssumpÁ„o Jr. et. al. (2000), considera que a qualidade de vida<br />
envolve quatro esferas da vida, de aplicaÁ„o universal, nomeadamente: a esfera global (sociedade e<br />
ambiente), a esfera externa (condiÁıes sÛcio-econÛmicas), a esfera interpessoal (estrutura e funÁ„o<br />
do apoio social) e a esfera pessoal (condiÁıes fÌsicas, psicolÛgicas e espirituais).<br />
Santos et. al. (2002), Burckhardt et al. (2003), Burckhardt e Anderson (2003) referem-se ‡s<br />
cinco dimensıes de qualidade de vida propostas por Flanagan, autor de uma escala de qualidade de<br />
vida, bastante usada nos E.U.A., pela sua validade e confiabilidade:<br />
1) bem-estar fÌsico e material (boa disposiÁ„o fÌsica, conforto e tranquilidade);<br />
2) relacionamentos (ligaÁıes afectivas condicionadas por uma sÈrie de atitudes<br />
recÌprocas);<br />
3) actividades sociais, comunit·rias e cÌvicas (comportamentos que surgem como resposta<br />
a eventos que actuam sobre a competÍncia funcional do indivÌduo);<br />
4) desenvolvimento e realizaÁ„o pessoal (auto-aceitaÁ„o, relaÁıes positivas com outros,<br />
autonomia, senso de domÌnio e busca de metas);<br />
5) recreaÁ„o (actividades de distracÁ„o de significado individual e social).<br />
AtravÈs do processo de melhoria da qualidade de vida, procura-se alcanÁar um estado de<br />
permanente equilÌbrio entre a sa˙de fÌsica, as vivÍncias emocionais e a elevaÁ„o da consciÍncia,<br />
atravÈs de valores e crenÁas, resultando numa harmonia entre os aspectos pessoais e o ambiente.<br />
(LIPP e ROCHA, 1996) Neste sentido, e conforme defende a ICPQL (1996), a noÁ„o de qualidade<br />
de vida retem sempre um elemento de subjectividade, assim como de diversidade cultural. No<br />
30
primeiro caso, porque depende da percepÁ„o individual e, no segundo, porque se relaciona com<br />
aspectos sÛcio-culturais colectivos de determinada sociedade.<br />
Paschoal (2000) acrescenta que a subjectividade do conceito de qualidade de vida integra<br />
tambÈm a componente tempo, pois o que num determinado momento pode ser qualidade de vida<br />
para um indivÌduo, pode passar a deixar de o ser com o passar do tempo, passando o conceito a<br />
integrar outros critÈrios. Isto È plausÌvel na medida em que o indivÌduo vai passando por diversas<br />
etapas de desenvolvimento ao longo da sua vida, adquirindo novas experiÍncias e novos estados de<br />
maturidade, de uma forma din‚mica e em estreita relaÁ„o com a mutaÁ„o sÛcio-cultural do seu<br />
entorno. Em resumo, È possÌvel identificar uma sÈrie de factores que interferem na qualidade de<br />
vida do homem moderno e constituem o seu meio ambiente fÌsico, psÌquico e social, conforme se<br />
esquematiza na figura 1.<br />
<strong>TRABALHO</strong><br />
LAZER<br />
CULTURA<br />
INDIVÕDUO<br />
Qualidade<br />
de<br />
Vida<br />
FACTORES S”CIO-<br />
ECON”MICOS<br />
EDUCA« O<br />
SA⁄<strong>DE</strong><br />
FAMÕLIA<br />
FIGURA 1- FACTORES <strong>DE</strong>TERMINANTES DA<br />
QUALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>VIDA</strong><br />
FONTE: Killimnik e Morais (2000)<br />
Entre estes factores, o trabalho requer um maior destaque pelo seu grande potencial de<br />
determinaÁ„o da qualidade de vida global. <strong>Um</strong>a parte significativa da vida humana È passada<br />
dentro das organizaÁıes e cerca de 70% do seu tempo est· relacionado directa ou indirectamente<br />
com o trabalho. (KILIMNIK e MORAIS, 2000) DaÌ ser importante a reflex„o sobre a QVT, pois,<br />
no extremo oposto, um trabalho inadequado e causador de sofrimento afecta as restantes esferas da<br />
nossa vida, reduzindo, de alguma forma, a nossa qualidade de vida.<br />
31
2.2 QUALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>VIDA</strong> <strong>NO</strong> <strong>TRABALHO</strong><br />
ìA QVT consiste na aplicaÁ„o concreta de uma filosofia<br />
humanista pela introduÁ„o de mÈtodos participativos, visando<br />
modificar um ou v·rios aspectos do meio-ambiente de trabalho,<br />
a fim de criar uma nova situaÁ„o mais favor·vel ‡ satisfaÁ„o<br />
dos trabalhadores e ‡ produtividade da empresaî.<br />
2.2.1 Origem e EvoluÁ„o do Conceito de QVT<br />
Cleber Aquino<br />
Rodrigues (1994), Fernandes (1996) e Tolfo e Piccinini (2001) situam a origem do conceito<br />
de QVT, na dÈcada de 50, com as pesquisas de Eric Trist e seus colaboradores, no Tavistock<br />
Institute, que fizeram emergir uma abordagem sociotÈcnica em relaÁ„o ‡ organizaÁ„o do trabalho,<br />
utilizando a denominaÁ„o para designar experiÍncias calcadas na relaÁ„o indivÌduo-trabalho-<br />
organizaÁ„o, com base na an·lise e reestruturaÁ„o da tarefa, com o objectivo de tornar a vida dos<br />
trabalhadores menos penosa.<br />
Bowditch e Buono (1992) referem que, no final da dÈcada de 60, a sociedade norte<br />
americana mostrou uma grande preocupaÁ„o com os efeitos do emprego na sa˙de e bem-estar dos<br />
trabalhadores, tendo surgido, pela primeira vez, o termo ìqualidade de empregoî num relatÛrio<br />
realizado pela Universidade de Michigan.<br />
Segundo Chiavenato (1999), Louis Davis, na dÈcada de 70, aquando da realizaÁ„o de um<br />
projecto que envolvia o desenho de cargos, cunhou o termo QVT para designar a preocupaÁ„o com<br />
o bem-estar geral e a sa˙de dos trabalhadores no desempenho das suas tarefas. Entretanto, no final<br />
da dÈcada de 70, Bowditch e Buono (1992) afirmam ter-se registado uma quebra do interesse pela<br />
QVT devido ‡ crescente preocupaÁ„o das organizaÁıes com a inflaÁ„o e a crise energÈtica que<br />
ameaÁava o seu poder competitivo e de sobrevivÍncia.<br />
No inÌcio da dÈcada de 80, face ao declÌnio da postura competitiva dos E.U.A. e da<br />
constataÁ„o de que os trabalhadores apresentavam um menor grau de comprometimento,<br />
comparativamente a outros PaÌses, renasce a preocupaÁ„o com a QVT. (BOWDITCH e BUO<strong>NO</strong>,<br />
1992; DIAS, 2001)<br />
32
Para FranÁa (1997, p.80), a origem do termo QVT provÈm ì(...) da medicina<br />
psicossom·tica que propıe uma vis„o integrada, holÌstica do ser humano, em oposiÁ„o ‡<br />
abordagem cartesiana que divide o ser humano em partesî. No ‚mbito do trabalho, esta<br />
abordagem, de acordo com FranÁa (1997), relaciona-se com um conjunto de factores Èticos da<br />
condiÁ„o humana, nomeadamente: controle de riscos ocupacionais do ambiente fÌsico de trabalho,<br />
de padrıes de relaÁıes de trabalho, da carga fÌsica e mental exigida, das implicaÁıes polÌticas e<br />
ideolÛgicas, do estilo e din‚mica da lideranÁa, dos aspectos inerentes ao trabalho em si e da<br />
satisfaÁ„o no trabalho.<br />
Conforme Bowditch e Buono (1992), a literatura apresenta dois grupos de definiÁıes de<br />
QVT, um primeiro grupo que se refere a todo um conjunto de condiÁıes e pr·ticas organizacionais<br />
(seguranÁa no trabalho, enriquecimento de cargos, participaÁ„o e autonomia na tomada de decis„o)<br />
e um segundo grupo que enfatiza os efeitos das condiÁıes de trabalho no bem-estar dos<br />
trabalhadores (satisfaÁ„o com o trabalho, crescimento e desenvolvimento dentro da organizaÁ„o,<br />
capacidade de satisfaÁ„o das necessidades individuais). PorÈm, estes dois grupos de definiÁıes n„o<br />
s„o contrastantes, pelo contr·rio, as condiÁıes e caracterÌsticas do trabalho relacionadas com uma<br />
ìboaî QVT influem directamente na percepÁ„o e satisfaÁ„o dos trabalhadores. (BOWDITCH e<br />
BUO<strong>NO</strong>, 1992)<br />
A despeito destes grupos de definiÁıes, Bowditch e Buono (1992) consideram que, por um<br />
lado, a QVT representa uma preocupaÁ„o com o efeito do trabalho nas pessoas e na efic·cia das<br />
organizaÁıes e, por outro, representa a ideia da necessidade dos trabalhadores participarem na<br />
resoluÁ„o de problemas e na tomada de decisıes. Rodrigues (1994) e Fernandes (1996) lembram<br />
que existe na literatura uma diversidade de conceitos sobre QVT e recorrem ao trabalho de Nadler<br />
e Lawer que examinam a QVT ao longo do tempo, uma vez que o conceito passou por diferentes<br />
concepÁıes, como se pode observar no quadro 1.<br />
Actualmente o conceito de QVT, para Chiavenato (1999), envolve, tanto os aspectos fÌsicos<br />
e ambientais do trabalho, como os aspectos psicolÛgicos, assumindo, todavia, duas posiÁıes<br />
contrastantes: por um lado, a reivindicaÁ„o dos trabalhadores quanto ao seu bem-estar e satisfaÁ„o<br />
e, por outro, o interesse das organizaÁıes, quanto aos seus efeitos sobre a produtividade e<br />
qualidade.<br />
33
CONCEP«’ES<br />
EVOLUTIVAS <strong>DE</strong> QVT<br />
QVT como vari·vel<br />
(1959 a 1972)<br />
QVT como uma<br />
abordagem (1969 a 1974)<br />
QVT como um mÈtodo<br />
(1972 a 1975)<br />
QVT como um<br />
movimento (1975 a 1980)<br />
QVT como tudo<br />
(1979 a 1982)<br />
QVT como nada<br />
(previs„o futura)<br />
FONTE: Rodrigues (1994) e Fernandes (1996)<br />
QUADRO 1<br />
EVOLU« O DO CONCEITO <strong>DE</strong> QVT<br />
CARACTERÕSTICAS OU VIS O<br />
A QVT era considerada como reacÁ„o do indivÌduo ao trabalho ou ‡s<br />
consequÍncias pessoais da experiÍncia do trabalho. Era investigado como<br />
melhorar a qualidade de vida no trabalho para o indivÌduo.<br />
O foco era o indivÌduo antes do resultado organizacional, mas, ao mesmo<br />
tempo, tendia a trazer melhorias, tanto ao trabalho do empregado, como ao<br />
trabalho gerencial.<br />
<strong>Um</strong> conjunto de abordagens, mÈtodos ou tÈcnicas para melhorar o ambiente de<br />
trabalho e tornar o trabalho mais produtivo e mais satisfatÛrio. A QVT era vista<br />
como sinÛnimo de grupos autÛnomos de trabalho, enriquecimento de cargo ou<br />
desenho de novas plantas com integraÁ„o social e tÈcnica.<br />
DeclaraÁ„o ideolÛgica sobre a natureza do trabalho e as relaÁıes dos<br />
trabalhadores com a organizaÁ„o. Os termos ñ administraÁ„o participativa e<br />
democracia industrial ñ eram frequentemente ditos como ideais do movimento<br />
de QVT.<br />
Como panaceia contra a competiÁ„o estrangeira, problemas de qualidade,<br />
baixas taxas de produtividade, problemas de queixas e outros problemas<br />
organizacionais.<br />
A globalizaÁ„o da definiÁ„o trar· como consequÍncia inevit·vel a descrenÁa de<br />
alguns autores sobre o termo QVT. E, para estes, QVT nada representar·.<br />
Segundo Chiavenato (1999, p.391), ìa QVT representa em que grau os membros da<br />
organizaÁ„o s„o capazes de satisfazer suas necessidades pessoais atravÈs do seu trabalho na<br />
organizaÁ„oî. Neste contexto, Chiavenato (1999) assume a posiÁ„o de que a QVT envolve um<br />
conjunto de factores intrÌnsecos (conte˙do) e extrÌnsecos (contexto) do cargo que afectam as<br />
atitudes e comportamentos, cruciais para a produtividade individual e grupal, como motivaÁ„o,<br />
adaptabilidade a mudanÁas, criatividade e inovaÁ„o. Tais factores podem resumir-se nos seguintes:<br />
1) SatisfaÁ„o com o trabalho realizado; 2) Possibilidades de futuro na organizaÁ„o; 3)<br />
Reconhecimento pelo alcance de resultados; 4) Sal·rio percebido; 5) BenefÌcios auferidos; 6)<br />
Relacionamento humano a nÌvel grupal e organizacional; 7) Autonomia e responsabilidade na<br />
tomada de decis„o; 8) Possibilidades de participaÁ„o.<br />
FranÁa (1997, p.80) define o conceito de QVT como ì(...) o conjunto das acÁıes de uma<br />
empresa que envolvem a implantaÁ„o de melhorias e inovaÁıes gerenciais e tecnolÛgicas no<br />
ambiente de trabalhoî. (traduÁ„o nossa) Por outro lado, Rodrigues (1994) afirma somente ser<br />
possÌvel haver QVT, quando existe motivaÁ„o e satisfaÁ„o em diferentes nÌveis da organizaÁ„o,<br />
resultantes da combinaÁ„o de diversas dimensıes directamente dependentes e dimensıes n„o<br />
dependentes da tarefa.<br />
34
<strong>Um</strong>a vis„o mais ampla da QVT, incorporando a perspectiva individual do trabalhador e as<br />
perspectivas da organizaÁ„o e da sociedade, È apresentada por Bowditch e Buono (1992, p.208)<br />
sob quatro domÌnios diferentes, porÈm relacionados:<br />
1. <strong>Um</strong>a filosofia, com valores e suposiÁıes subjacentes, que s„o colaborativas, humanÌsticas e<br />
igualit·rias por natureza;<br />
2. <strong>Um</strong> conjunto de estruturas e mÈtodos (metas partilhadas, comitÈs conjuntos, uso de<br />
consultores, estratÈgias de desenvolvimento organizacional, etc.) para a mudanÁa<br />
organizacional;<br />
3. <strong>Um</strong> conjunto de processos humanos (participaÁ„o dos trabalhadores na soluÁ„o de problemas e<br />
tomada de decisıes, relaÁıes intra e intergrupais melhores, maior competÍncia interpessoal),<br />
funcionando, decorrendo de uma mudanÁa planeada;<br />
4. <strong>Um</strong> conjunto de resultados (baseados em avaliaÁıes adaptativas, longitudinais e holÌsticas,<br />
frequentemente dirigidas a questıes como satisfaÁ„o no trabalho, efic·cia organizacional,<br />
produtividade individual) que podem ser acompanhados e avaliados.<br />
V·rios autores, como Carvalho e Nascimento (1997), Cowling e Mailer (1998) e Caetano e<br />
Vala (2002), salientam o crescente desenvolvimento da Ergonomia como uma ciÍncia<br />
multisciplinar que procura compatibilizar e adequar os factores fÌsicos, ambientais e<br />
organizacionais com as necessidades, caracterÌsticas e aspectos sÛcio-psicolÛgicos dos<br />
trabalhadores, com vista a maximizar a produtividade, tendo como pano de fundo a melhoria da<br />
qualidade do trabalho, do conforto e seguranÁa dos trabalhadores e da QVT. No entanto, conforme<br />
FranÁa (1997, 2003), outras ciÍncias tÍm dado a sua contribuiÁ„o no estudo da QVT (vide quadro<br />
2).<br />
Considini e Calus (s.d.) consideram que a QVT consiste num constructo din‚mico e<br />
multidimensional que integra os conceitos de seguranÁa no trabalho, sistemas de remuneraÁ„o,<br />
oportunidades de treinamento e desenvolvimento de carreiras e participaÁ„o na tomada de decis„o.<br />
Por isso, a QVT tem sido definida como um conjunto de estratÈgias no local de trabalho, operaÁıes<br />
e ambiente que promovam e mantenham a satisfaÁ„o dos trabalhadores, com o fim de melhorar as<br />
condiÁıes de trabalho para os trabalhadores e o grau de efic·cia para os empregadores.<br />
35
QUADRO 2<br />
CONTRIBUI« O <strong>DE</strong> V¡RIAS CI NCIAS <strong>NO</strong> ESTUDO DA QVT<br />
CI NCIA CONTRIBUI« O <strong>NO</strong> ESTUDO DA QVT<br />
SA⁄<strong>DE</strong> Nesta ·rea, a ciÍncia tem procurado preservar a integridade fÌsica, mental e social do ser<br />
humano e n„o apenas actuar sobre o controle de doenÁas, gerando avanÁos biomÈdicos e<br />
mais expectativa de vida.<br />
ECOLOGIA VÍ o Homem como parte integrante e respons·vel pela preservaÁ„o do sistema dos seres<br />
vivos e dos insumos da natureza.<br />
PSICOLOGIA Juntamente com a Filosofia, demonstra a influÍncia das atitudes internas e perspectivas de<br />
vida de cada indivÌduo no seu trabalho e a import‚ncia do significado intrÌnseco das<br />
necessidades individuais para o seu envolvimento no trabalho.<br />
SOCIOLOGIA Resgata a dimens„o simbÛlica do que È compartilhado e construÌdo socialmente,<br />
demonstrando as suas implicaÁıes nos diversos contextos culturais e antropolÛgicos da<br />
organizaÁ„o.<br />
ECO<strong>NO</strong>MIA Enfatiza a consciÍncia de que os bens s„o finitos e que a distribuiÁ„o dos bens, recursos e<br />
serviÁos deve envolver, de forma equilibrada, a responsabilidade e os direitos da sociedade.<br />
ADMINISTRA« O Procura aumentar a capacidade de mobilizar recursos para atingir resultados, num ambiente<br />
cada vez mais complexo, mut·vel e competitivo.<br />
ENGENHARIA Elabora formas de produÁ„o voltadas para a flexibilizaÁ„o da manufactura, armazenamento<br />
de materiais, uso de tecnologia, organizaÁ„o do trabalho e controle de processos.<br />
FONTE: FranÁa (1997; 2003)<br />
Maccoby (s.d.) vÍ a QVT como um meio de passagem de um modelo burocr·tico industrial<br />
de gest„o cientÌfica com a sua fragmentaÁ„o do trabalho e controle hier·rquico para uma equipa<br />
flexÌvel, diversificada em competÍncias e participativa. Para Shamir e Salomon, citados por<br />
Rodrigues (1994, p.98), a QVT refere-se ìa um bem-estar relacionado ao emprego do indivÌduo e a<br />
extens„o em que a sua experiÍncia de trabalho È compensadora, satisfatÛria e despojada de stress e<br />
outras consequÍncias negativasî. Portanto, a QVT, segundo Oliveira (2004a, p.167), ìconstitui-se<br />
na peÁa-chave do desenvolvimento humano enquanto profissional, pois È nas organizaÁıes que ele<br />
encontra seu sucesso ou sua frustraÁ„oî.<br />
2.2.2 Modelos e Dimensıes de QVT<br />
A avaliaÁ„o da QVT deve basear-se a partir de um enfoque biopsicossocial, conforme<br />
propıe FranÁa (1997), onde se vÍ a organizaÁ„o e as pessoas como um todo. Esta perspectiva<br />
constitui um factor diferencial para as organizaÁıes que pretendem realizar diagnÛsticos,<br />
campanhas e implementar projectos voltados para o desenvolvimento das pessoas no trabalho,<br />
melhorando, deste modo, a sua QVT. (FRAN«A, 1997)<br />
36
Oliveira destaca que as instituiÁıes tÍm o papel de criar<br />
(...) mecanismos capazes de proporcionar ao trabalhador uma esperanÁa de vida<br />
melhor. Dessa maneira, qualquer programa de qualidade ter· sucesso nas<br />
organizaÁıes porque ela se torna intrÌnseca e, consequentemente, todo o produto<br />
ou serviÁo que passe por pessoas que tenham QVT ter· o embri„o desse bem-estar<br />
e satisfaÁ„o. (OLIVEIRA, 2004a, p.167)<br />
Segundo Chiavenato (1999), a import‚ncia das necessidades humanas varia conforme a<br />
cultura de cada indivÌduo e de cada organizaÁ„o, daÌ que a QVT n„o È determinada apenas pelas<br />
caracterÌsticas individuais e nem pelas caracterÌsticas organizacionais, mas sim pela interacÁ„o<br />
sistÈmica entre ambas. Precisamente por este motivo, s„o v·rios os modelos e as dimensıes<br />
propostos por diferentes autores, para avaliar a QVT. Em seguida, procura-se caracterizar alguns<br />
destes modelos.<br />
2.2.2.1 Modelo de Nadler e Lawer<br />
O Modelo de QVT de Nadler e Lawer fundamenta-se em quatro aspectos que, quando<br />
incrementados, resultam numa melhoria na QVT, conforme esquematiza a figura 2.<br />
ParticipaÁ„o dos<br />
funcion·rios nas<br />
decisıes<br />
NADLER & LAWER (1983)<br />
Modelo de Qualidade de Vida no Trabalho<br />
InovaÁ„o no<br />
sistema de<br />
recompensas para<br />
influenciar o clima<br />
organizacional<br />
Melhoria<br />
da<br />
QVT<br />
ReestruturaÁ„o do<br />
trabalho por meio<br />
do enriquecimento<br />
de tarefas e de<br />
grupos autÛnomos<br />
de trabalho<br />
Melhoria no<br />
ambiente de<br />
trabalho quanto a<br />
condiÁıes fÌsicas<br />
e psicolÛgicas<br />
FIGURA 2 - MO<strong>DE</strong>LO <strong>DE</strong> QVT <strong>DE</strong> NADLER E LAWER<br />
FONTE: Adaptado de Chiavenato (1999; 2004)<br />
Conforme Rodrigues (1994), os autores deste modelo enfatizam que o factor crÌtico de<br />
sucesso de qualquer programa de QVT est· na estrutura dos processos participantes, exigindo um<br />
treinamento prÈvio como preparaÁ„o para alÈm de outros aspectos, como a necessidade de<br />
37
mudanÁas a nÌvel dos sistemas de gest„o e da estrutura organizacional e ainda um forte<br />
comprometimento com o processo por parte dos gestores de topo. Os autores deste modelo<br />
reforÁam ainda a ideia de que as organizaÁıes que d„o import‚ncia ‡s pr·ticas de gest„o da<br />
qualidade e respectivo impacto sobre os indivÌduos e sua QVT possuem um grande potencial de<br />
desempenho. (RODRIGUES, 1994)<br />
2.2.2.2 Modelo de Hachman e Oldhan<br />
Para Chiavenato (1999), o modelo de QVT, proposto por Hackman e Oldhan, encontra-se<br />
bastante relacionado com o desenho de cargos, daÌ que os autores propıem sete dimensıes do<br />
cargo que possibilitam avaliar estados psicolÛgicos crÌticos que originam resultados pessoais e de<br />
trabalho com impacto na QVT (vide figura 3).<br />
Dimensıes do<br />
Cargo<br />
Variedade de<br />
Habilidades<br />
Identidade da Tarefa<br />
Significado da Tarefa<br />
Inter-relacionamento<br />
Autonomia<br />
Feedback do prÛprio<br />
trabalho<br />
Feedback Extrinseco<br />
HACKMAN & OLDHAM (1975)<br />
Modelo de Qualidade de Vida no Trabalho<br />
Estados PsicolÛgicos<br />
CrÌticos<br />
PercepÁ„o do<br />
significado do<br />
trabalho<br />
Sentido de<br />
responsabilidade<br />
pessoal do<br />
trabalho<br />
Conhecimento<br />
dos reais<br />
resultados do<br />
trabalho<br />
Resultados Pessoais<br />
e de Trabalho<br />
SatisfaÁ„o geral com<br />
o trabalho<br />
MotivaÁ„o interna<br />
para o trabalho<br />
ProduÁ„o de trabalho<br />
de alta qualidade<br />
Absentismo e<br />
rotatividade baixas<br />
FIGURA 3 - MO<strong>DE</strong>LO <strong>DE</strong> QVT <strong>DE</strong> HACKMAN E OLDHAM<br />
FONTE: Fernandes (1996) e Ferreira, Neves e Caetano (2001)<br />
Tendo em conta este modelo, Fernandes (1996) e Ferreira, Neves e Caetano (2001)<br />
sublinham que a variedade do trabalho, a identidade e o significado da tarefa influenciam a<br />
percepÁ„o que o indivÌduo tem do seu trabalho, a autonomia contribui para o sentido de<br />
responsabildiade social pelo trabalho e o feedback facilita o conhecimento dos reais resultados do<br />
trabalho.<br />
38
Chiavenato (1999, p.392) explica as dimensıes do cargo do modelo de Hackman e<br />
Oldham, nomeadamente:<br />
1. Variedade de habilidades: o cargo deve requerer v·rias e diferentes habilidades,<br />
conhecimentos e competÍncias da pessoa;<br />
2. Identidade da tarefa: o trabalho deve ser realizado do inÌcio atÈ ao fim, para que a<br />
pessoa possa perceber que produz um resultado palp·vel;<br />
3. Significado da tarefa: a pessoa deve ter uma clara percepÁ„o de como o seu<br />
trabalho produz consequÍncias e impactos sobre o trabalho das outras;<br />
4. Inter-relacionamento: a tarefa deve proporcionar contacto interpessoal do ocupante<br />
com outras pessoas ou com clientes internos e externos<br />
5. Autonomia: a pessoa deve ter responsabilidade pessoal para planear e executar as<br />
tarefas, autonomia e independÍncia para desempenh·-las;<br />
6. Feedback do prÛprio trabalho: a tarefa deve proporcionar informaÁ„o de retorno ‡<br />
pessoa, para que ela possa autoavaliar o seu desempenho;<br />
7. Feedback extrÌnseco: deve haver o retorno proporcionado pelos superiores<br />
hier·rquicos ou clientes a respeito do desempenho na tarefa;<br />
De acordo com este modelo de Hackman e Oldhan, as dimensıes do cargo s„o factores<br />
determinantes da QVT, por oferecerem recompensas intrÌnsecas, possibilitando a satisfaÁ„o no<br />
cargo e a automotivaÁ„o no trabalho. (CHIAVENATO, 1999; 2004) Por este motivo, os autores do<br />
modelo utilizam, como mÈtodo de diagnÛstico da QVT, as caracterÌsticas do cargo e a<br />
mensuraÁ„o do grau de satisfaÁ„o e de motivaÁ„o interna atravÈs de um instrumento por eles<br />
denominado por Job Diagnostic Survey ñ JDS. (CHIAVENATO, 1999, SANT¥ANNA e<br />
MORAES, 1998)<br />
Conforme referem Sant¥anna e Moraes (1998), o modelo de Hackman e Oldham tem sido<br />
amplamente referenciado e adoptado por diversas organizaÁıes, por possibilitar:<br />
a compreens„o das diferenÁas existentes na QVT entre indivÌduos que ocupam postos<br />
de trabalho diferentes, inclusive dentro de uma mesma organizaÁ„o;<br />
o diagnÛstico de mudanÁas no conte˙do de determinados cargos, em decorrÍncia de<br />
inovaÁıes tecnolÛgicas e/ou organizacionais;<br />
a avaliaÁ„o dos efeitos positivos ou negativos dessas mudanÁas sobre a QVT .<br />
39
2.2.2.3 Modelo de Westley<br />
Westley, em 1979, apresentou um modelo que avalia a QVT atravÈs de quatro indicadores<br />
fundamentais, conforme se esquematiza na figura 4. Este modelo considera que os problemas<br />
polÌticos e econÛmicos, resultantes da concentraÁ„o de poder e de lucros, origina a inseguranÁa e<br />
injustiÁa, enquanto que os problemas de car·cter psicolÛgico e sociolÛgico surgem das<br />
caracterÌsticas desumanas do trabalho, em consequÍncia da complexidade das organizaÁıes,<br />
originando uma ausÍncia do significado do trabalho e a anomia no trabalho. (FERNAN<strong>DE</strong>S, 1996)<br />
WESTLEY (1979)<br />
ECON”MICO POLÕTICO<br />
Equidade Equidade Salarial<br />
RemuneraÁ„o<br />
RemuneraÁ„o<br />
Adequada<br />
BenefÌcios<br />
BenefÌcios<br />
Local Local de Trabalho<br />
Carga Carga Hor·ria<br />
Ambiente Ambiente Externo<br />
SOCIOL”GICO<br />
ParticipaÁ„o ParticipaÁ„o nas Decisıes<br />
Autonomia<br />
Autonomia<br />
Relacionamento<br />
Relacionamento<br />
Interpessoal<br />
Grau Grau de Responsabilidade<br />
Valor Valor Pessoal<br />
Modelo de Qualidade de Vida no Trabalho<br />
<strong>INDICADORES</strong><br />
<strong>DE</strong><br />
QVT<br />
SeguranÁa SeguranÁa no Emprego<br />
ActuaÁ„o ActuaÁ„o Sindical<br />
RetroinformaÁ„o<br />
RetroinformaÁ„o<br />
Liberdade Liberdade de Express„o<br />
ValorizaÁ„o ValorizaÁ„o do Cargo<br />
Relacionamento Relacionamento com a<br />
Chefia<br />
PSICOL”GICO<br />
RealizaÁ„o RealizaÁ„o Potencial<br />
NÌvel NÌvel de Desafio<br />
Desenvolvimento Desenvolvimento Pessoal<br />
Desenvolvimento Desenvolvimento Profissional<br />
Criatividade<br />
Criatividade<br />
Auto-avaliaÁ„o<br />
Auto-avaliaÁ„o<br />
Variedade Variedade de Tarefa<br />
IdentificaÁ„o IdentificaÁ„o com a Tarefa<br />
FIGURA 4 - <strong>INDICADORES</strong> <strong>DE</strong> QVT SEGUNDO O MO<strong>DE</strong>LO<br />
<strong>DE</strong> WESTLEY<br />
FONTE: Adaptado de Fernandes (1996)<br />
2.2.2.4 Modelo de Werther e Davis<br />
Werther e Davis estruturaram um modelo constituÌdo por elementos organizacionais,<br />
ambientais e comportamentais, que influenciam o projecto de cargos em termos de QVT, conforme<br />
se esquematiza na figura 5.<br />
40
Organizacionais<br />
Abordagem<br />
Abordagem<br />
mecanicista<br />
Fluxo Fluxo de trabalho<br />
Pr·ticas Pr·ticas de trabalho<br />
WERTHER & DAVIS (1983)<br />
Modelo de Qualidade de Vida no Trabalho<br />
ELEMENTOS<br />
<strong>DE</strong><br />
QVT<br />
Comportamentais<br />
Autonomia<br />
Autonomia<br />
Variedade Variedade<br />
Identidade Identidade da tarefa<br />
RetroinformaÁ„o<br />
RetroinformaÁ„o<br />
Ambientais<br />
Habilidades Habilidades e<br />
disponibilidades dos<br />
empregados<br />
Expectativas Expectativas sociais<br />
FIGURA 5 - ELEMENTOS <strong>DE</strong> QVT SEGUNDO O MO<strong>DE</strong>LO<br />
<strong>DE</strong> WERTHER E DAVIS<br />
FONTE: Fernandes (1996)<br />
Segundo este modelo, a QVT È afectada por elementos organizacionais, como fluxo de<br />
trabalho e pr·ticas de trabalho, no contexto de uma abordagem mecanicista, por elementos<br />
ambientais, pelo seu significado nas condiÁıes de trabalho e por elementos comportamentais, que<br />
se relacionam com as necessidades humanas e aos modos de comportamento individuais no<br />
ambiente de trabalho. (FERNAN<strong>DE</strong>S, 1996)<br />
2.2.2.5 Modelo de Huse e Cummings<br />
Huse e Cummings, citados por Rodrigues (1994, p.90) definem a QVT como uma forma de<br />
pensamento que envolve as pessoas, o trabalho e a organizaÁ„o, destacando dois aspectos distintos:<br />
ìa preocupaÁ„o com o bem-estar do trabalhador e com a efic·cia organizacional e a participaÁ„o<br />
dos trabalhadores nas decisıes e problemas do trabalhoî.<br />
Segundo Rodrigues (1994), esta definiÁ„o possibilita um programa de QVT diferente de<br />
outras abordagens tradicionais e a operacionalizaÁ„o do conceito, de acordo com os autores do<br />
modelo, È feita atravÈs de quatro aspectos ou programas, como se esquematiza na figura 6,<br />
nomeadamente:<br />
1. A participaÁ„o do trabalhador ñ atravÈs de uma filosofia organizacional adequada, em que<br />
o trabalhador È integrado na tomada de decis„o em v·rios nÌveis organizacionais e na<br />
an·lise da soluÁ„o de problemas na produÁ„o;<br />
41
2. O projecto do Cargo ñ envolve a sua reestruturaÁ„o com base no enriquecimento do<br />
mesmo, por meio de variedades de tarefas, retroacÁ„o e grupos de trabalho, de forma a<br />
satisfazer as necessidades tecnolÛgicas do trabalhador;<br />
3. InovaÁ„o no sistema de recompensa ñ envolve o plano do cargo e sal·rio, com o objectivo<br />
de minimizar as diferenÁas salariais e de ìstatusî entre os trabalhadores;<br />
4. Melhoria no ambiente de trabalho ñ implica mudanÁas fÌsicas nas condiÁıes de trabalho,<br />
possibilitando um maior nÌvel de satisfaÁ„o dos trabalhadores e afectando positivamente a<br />
produtividade de forma indirecta.<br />
HUSE & CUMMINGS (1985)<br />
Modelo de Qualidade de Vida no Trabalho<br />
ParticipaÁ„o<br />
ParticipaÁ„o<br />
do<br />
Trabalhador<br />
Melhoria no<br />
ambiente ambiente de<br />
trabalho<br />
QVT<br />
InovaÁ„o no<br />
sistema de<br />
recompensa<br />
Projecto do<br />
Cargo<br />
FIGURA 6 - MO<strong>DE</strong>LO <strong>DE</strong> QVT <strong>DE</strong> HUSE E CUMMINGS<br />
FONTE: Rodrigues (1994)<br />
Huse e Cummings, citados por Rodrigues (1994), referem ainda que as intervenÁıes de um<br />
programa de QVT afectam positivamente a comunicaÁ„o e coordenaÁ„o, a motivaÁ„o e a<br />
capacidade do trabalhador, condiÁıes de base para uma maior produtividade (vide figura 7).<br />
Qualidade de Vida no Trabalho VERSUS Produtividade<br />
Qualidade<br />
de Vida no<br />
Trabalho<br />
Maior<br />
CoordenaÁ„o<br />
Maior<br />
MotivaÁ„o<br />
Maior<br />
Capacidade<br />
Maior<br />
Produtividade<br />
FIGURA 7 - QVT VERSUS PRODUTI<strong>VIDA</strong><strong>DE</strong><br />
FONTE: Rodrigues (1994)<br />
42
2.2.2.6 Modelo Biopsicossocial<br />
O conceito biopsicossocial, proposto por Engel, em 1977, procura eliminar uma abordagem<br />
fragmentada e reducionista da natureza humana e trazer uma abordagem mais holÌstica, integrando<br />
os modelos explicativos da biologia molecular e a dimens„o psicolÛgica e social do indivÌduo.<br />
(FONTAINE, KULBERTUS e …TIENNE, 1998)<br />
O Modelo Biopsicossocial assenta na premissa de que todas as reacÁıes psÌquicas s„o<br />
apreendidas de forma multidimencional, tendo em conta as interaÁıes permanentes entre factores<br />
biolÛgicos, psicolÛgicos e sociais (vide figura 8) que interferem no funcionamento existencial do<br />
indivÌduo e dos seus recursos adaptativos. (FONTAINE, KULBERTUS e …TIENNE, 1998)<br />
MO<strong>DE</strong>LO BIOPSICOSSOCIAL<br />
BIOL”GICA<br />
CaracterÌsticas fÌsicas herdadas ou adquiridas ao nascer e durante<br />
toda a vida. Inclui metabolismo, resistÍncias e vulnerabilidades<br />
dos Ûrg„os ou sistemas<br />
PSICOL”GICA<br />
Processos afetivos, emocionais<br />
e de raciocÌnio, conscientes<br />
ou inconscientes, que<br />
formam a personalidade<br />
de cada pessoa e o seu modo<br />
de perceber e posicionar-se<br />
diante das pessoas e das<br />
circunst‚ncias que vivencia<br />
Dimensıes<br />
SOCIAL<br />
Revela os valores, as crenÁas, o<br />
papel na famÌlia, no trabalho e<br />
em todos os grupos e<br />
comunidades a que cada<br />
pessoa pertence e de que<br />
participa. O meio ambiente e a<br />
localizaÁ„o geogr·fica tambÈm<br />
formam a dimens„o social.<br />
FIGURA 8 - CARACTERIZA« O DAS VARI¡VEIS DO MO<strong>DE</strong>LO<br />
BIOPSICOSSOCIAL<br />
FONTE: FranÁa (1996; 2004)<br />
Este conceito e modelo foi adoptado pela OMS, passando a definiÁ„o de sa˙de humana a<br />
n„o limitar-se ‡ ausÍncia de doenÁa, mas sim a um bem-estar fÌsico, mental e social. (ROLO, s.d.;<br />
FRAN«A, 1996) Neste sentido, analisar a QVT, a partir deste modelo, possibilita uma melhor<br />
compreens„o dos factores psicossociais que interferem na sa˙de dos indivÌduos no ambiente<br />
organizacional. (FRAN«A, 1996) A este modelo foi incluÌda uma quarta dimens„o, a dimens„o<br />
43
organizacional dando origem ao que FranÁa (2003) designa por classificaÁ„o Biopsicossocial<br />
BPSO-96 que representa um conjunto de indicadores empresariais de QVT referentes ‡s<br />
dimensıes BiolÛgicas, PsicolÛgicas, Sociais e Organizacionais.<br />
O quadro 3 descreve, assim, para cada uma das dimensıes da classificaÁ„o Biopsicossocial<br />
BPSO-96, o significado de QVT, as respectivas melhorias, em termos de acÁıes de gest„o de<br />
QVT, e as dificuldades no ambiente organizacional que podem afectar a QVT dos trabalhadores.<br />
QUADRO 3<br />
VARI¡VEIS BIOPSICOSSOCIAIS QUALITATIVAS SOBRE O CONCEITO <strong>DE</strong> QVT<br />
VARI¡VEIS SIGNIFICADO <strong>DE</strong><br />
QVT<br />
Sa˙de<br />
SeguranÁa<br />
BiolÛgica<br />
AusÍncia de<br />
acidentes<br />
PsicolÛgica<br />
Social<br />
Organizacional<br />
Amor<br />
Paz<br />
RealizaÁ„o<br />
pessoal<br />
ConfianÁa<br />
Amizade<br />
Responsabilidade<br />
Investimento<br />
Humanismo<br />
Competitividade<br />
FONTE: Stefano et al. (2005)<br />
2.2.2.7 Modelo de Walton<br />
MELHORIAS DIFICULDA<strong>DE</strong>S<br />
Sistema de<br />
alimentaÁ„o<br />
Gin·stica laboral<br />
Controle de doenÁas<br />
ValorizaÁ„o do<br />
funcion·rio<br />
Desafios<br />
Sistemas de<br />
participaÁ„o<br />
EducaÁ„o para o<br />
trabalho<br />
BenefÌcios<br />
familiares<br />
Actividades<br />
culturais e<br />
esportivas<br />
Clareza nos<br />
procedimentos<br />
OrganizaÁ„o geral<br />
Contacto com o<br />
cliente<br />
ExistÍncia de tarefas<br />
perigosas<br />
AusÍncia por licenÁas<br />
mÈdicas<br />
Necessidade de<br />
alimentaÁ„o e repouso<br />
CobranÁa excessiva de<br />
resultados<br />
Relacionamento entre<br />
os empregados<br />
Falta de motivaÁ„o e<br />
interesse<br />
Falta de qualificaÁ„o<br />
de profissionais<br />
CondiÁıes culturais e<br />
econÛmicas dos<br />
trabalhadores<br />
Problemas familiares<br />
dos trabalhadores<br />
Processos de<br />
produÁ„o/tecnologia<br />
Press„o dos clientes<br />
Preparo da<br />
documentaÁ„o<br />
Outro dos modelos de QVT foi proposto, em 1973, por Richard Walton, professor da<br />
Harvard Business School, segundo o qual apresenta oito dimensıes e respectivos factores para a<br />
sua mediÁ„o, conforme se esquematiza na figura 9.<br />
44
WALTON (1973)<br />
Indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho<br />
1. CompensaÁ„o Justa e Adequada<br />
2. CondiÁıes de Trabalho<br />
3. Uso e Desenvolvimento de<br />
Capacidades<br />
4. Oportunidade de Crescimento e<br />
SeguranÁa<br />
5. IntegraÁ„o Social na OrganizaÁ„o<br />
6. Constitucionalismo<br />
7. Trabalho e EspaÁo Total de Vida<br />
8. Relev‚ncia Social da Vida no<br />
Trabalho<br />
RemuneraÁ„o Adequada, Equidade Interna<br />
e Equidade Externa<br />
Jornada e Carga de Trabalho, Ambiente FÌsico<br />
Saud·vel, Material e Equipamento e Stress<br />
Autonomia, Significado e Identidade da Tarefa,<br />
Variedade da Habilidade e RetroinformaÁ„o<br />
Possibilidade de Carreira, Crescimento Pessoal<br />
e SeguranÁa de Emprego<br />
Igualdade de Oportunidades, Relacionamento<br />
e Senso Comunit·rio<br />
Direitos Trabalhistas, Privacidade Pessoal, Liberdade de<br />
Express„o e Normas e Rotinas<br />
Papel Balanceado no Trabalho e Hor·rio de<br />
Entrada e SaÌda do Trabalho<br />
Imagem da InstituiÁ„o, Responsabilidade Social<br />
da InstituiÁ„o e Responsabilidade Social pelos<br />
ServiÁos e pelos Trabalhadores<br />
FIGURA 9 - <strong>INDICADORES</strong> <strong>DE</strong> QVT SEGUNDO O MO<strong>DE</strong>LO <strong>DE</strong> WALTON<br />
FONTE: Fernandes (1996)<br />
Fernandes (1996, p.49-52) procura apresentar a operacionalizaÁ„o das oito dimensıes<br />
propostas pelo referido modelo, nomeadamente:<br />
1. CompensaÁ„o Justa e Adequada: dimens„o que visa mensurar a QVT em relaÁ„o ‡<br />
remuneraÁ„o recebida pelo trabalho realizado, incluindo os seguintes factores:<br />
RemuneraÁ„o Adequada: RemuneraÁ„o necess·ria para o trabalhador viver<br />
dignamente dentro das necessidades pessoais e dos padrıes culturais, sociais e<br />
econÛmicos da sociedade em que vive;<br />
Equidade Interna: Equidade na remuneraÁ„o entre outros membros de uma mesma<br />
organizaÁ„o;<br />
Equidade Externa: Equidade na remuneraÁ„o em relaÁ„o a outros profissionais no<br />
mercado de trabalho.<br />
2. CondiÁıes de Trabalho: dimens„o que mede a QVT em relaÁ„o ‡s condiÁıes existentes no<br />
local de trabalho, incluindo os seguintes factores:<br />
45
Jornada de Trabalho: N˙mero de horas trabalhadas, previstas ou n„o na legislaÁ„o e<br />
sua relaÁ„o com as tarefas desempenhadas;<br />
Carga de Trabalho: Quantidade de Trabalho executado num turno de trabalho;<br />
Ambiente FÌsico: Local de trabalho e suas condiÁıes de bem-estar (conforto) e<br />
organizaÁ„o para o desempenho do trabalho;<br />
Material e Equipamento: Quantidade e qualidade de material disponÌvel para a<br />
execuÁ„o do trabalho;<br />
Ambiente Saud·vel: Local de trabalho e suas condiÁıes de seguranÁa e de sa˙de em<br />
relaÁ„o aos riscos de acidentes ou de doenÁas;<br />
Stress: Quantidade percebida de stress a que o trabalhador È submetido na sua<br />
jornada de trabalho.<br />
3. Uso e Desenvolvimento de Capacidades: dimens„o que visa mensurar a QVT em relaÁ„o ‡s<br />
oportunidades que o trabalhador tem de aplicar, no seu dia-a-dia, o seu saber e as suas<br />
aptidıes profissionais, incluindo os seguintes factores:<br />
Autonomia: Medida permitida, ao indivÌduo, de liberdade substancial,<br />
independÍncia e descriÁ„o na programaÁ„o e execuÁ„o do seu trabalho;<br />
Significado da Tarefa: Relev‚ncia da tarefa desempenhada na vida e no trabalho de<br />
outras pessoas, dentro ou fora da instituiÁ„o;<br />
Identidade da Tarefa: Medida da tarefa na sua integridade e na avaliaÁ„o do<br />
resultado;<br />
Variedade da Habilidade: Possibilidade de utilizaÁ„o de uma larga escala de<br />
capacidades e de habilidades do indivÌduo;<br />
RetroinformaÁ„o: InformaÁ„o ao indivÌduo acerca da avaliaÁ„o do seu trabalho<br />
como um todo e das suas acÁıes.<br />
4. Oportunidade de Crescimento e SeguranÁa: dimens„o que tem por finalidade medir a QVT<br />
em relaÁ„o ‡s oportunidades que a instituiÁ„o estabelece para o desenvolvimento e o<br />
crescimento pessoal dos seus trabalhadores e para a seguranÁa do emprego, incluindo os<br />
seguintes factores:<br />
Possibilidade de Carreira: Viabilidade de permitir avanÁos na instituiÁ„o e na<br />
carreira, reconhecidos por colegas, membros da famÌlia e comunidade;<br />
46
Crescimento Pessoal: Processo de educaÁ„o contÌnua para o desenvolvimento das<br />
potencialidades das pessoas e aplicaÁ„o das mesmas;<br />
SeguranÁa de emprego: Grau de seguranÁa dos trabalhadores quanto ‡ manuntenÁ„o<br />
dos seus empregos.<br />
5. IntegraÁ„o Social na OrganizaÁ„o: dimens„o que tem como objectivo medir a QVT<br />
atravÈs do grau de integraÁ„o social existente na instituiÁ„o, incluindo os seguintes<br />
factores:<br />
Igualdade de Oportunidades: Grau de ausÍncia de estratificaÁ„o na organizaÁ„o de<br />
trabalho, em termos de simbolos de ìstatusî e/ou estruturas hier·rquicas Ìngremes e<br />
de discriminaÁ„o quanto ‡ raÁa, sexo, credo, origens, estilos de vida ou aparÍncia;<br />
Relacionamento: Grau de relacionamento marcado por auxÌlio recÌproco, apoio<br />
sÛcio-emocional, abertura interpessoal e respeito ‡s individualidades;<br />
Senso Comunit·rio: Grau do senso de comunidade existente na instituiÁ„o.<br />
6. Constitucionalismo: dimens„o que tem por finalidade medir o grau em que os direitos do<br />
trabalhador s„o cumpridos na instituiÁ„o, incluindo os seguintes factores:<br />
Direitos Trabalhistas: Observ‚ncia no cumprimento dos direitos dos trabalhador,<br />
inclusive o acesso ‡ apelaÁ„o;<br />
Privacidade Pessoal: Grau de privacidade que o trabalhador possui dentro da<br />
instituiÁ„o;<br />
Liberdade de Express„o: Forma como o trabalhador pode expressar os seus pontos<br />
de vista aos superiores, sem medo de repres·lias;<br />
Normas e Rotinas: Maneira como normas e rotinas influenciam o desenvolvimento<br />
do trabalho.<br />
7. Trabalho e EspaÁo Total de Vida: dimens„o que visa mensurar o equilÌbrio entre a vida<br />
pessoal do trabalhador e a vida no trabalho, incluindo os seguintes factores:<br />
Papel balanceado no Trabalho: EquilÌbrio entre jornada de trabalho, exigÍncias de<br />
carreira, viagens e convÌvio familiar;<br />
Hor·rio de entrada e saÌda do Trabalho: EquilÌbrio entre hor·rios de entrada e saÌda<br />
do trabalho e convÌvio familiar.<br />
47
8. Relev‚ncia Social da Vida no Trabalho: dimens„o que visa mensurar a QVT atravÈs da<br />
percepÁ„o do trabalhador em relaÁ„o ‡ responsabilidade social da instituiÁ„o na<br />
comunidade, ‡ qualidade de prestaÁ„o de serviÁos e ao atendimento aos seus trabalhadores,<br />
incluindo os seguintes factores:<br />
Imagem da InstituiÁ„o: vis„o do trabalhador em relaÁ„o ‡ sua instituiÁ„o de<br />
trabalho; import‚ncia para a comunidade, orgulho e satisfaÁ„o pessoais de fazer<br />
parte da instituiÁ„o;<br />
Responsabilidade Social da InstituiÁ„o: percepÁ„o do trabalhador quanto ‡<br />
responsabilidade social da instituiÁ„o para a comunidade, reflectida na preocupaÁ„o<br />
de resolver os problemas da comunidade e tambÈm de n„o causar danos;<br />
Responsabilidade Social pelos ServiÁos: percepÁ„o do trabalhador quanto ‡<br />
responsabilidade da instituiÁ„o com a qualidade dos serviÁos postos ‡ disposiÁ„o da<br />
comunidade;<br />
Responsabilidade Social pelos Trabalhadores: percepÁ„o do trabalhador quanto ‡<br />
sua valorizaÁ„o e participaÁ„o na instituiÁ„o, a partir da polÌtica de Recursos<br />
Humanos.<br />
Comparativamente aos restantes modelos de QVT, o modelo de Walton apresenta<br />
dimensıes mais abrangentes para analisar a percepÁ„o e sentimento dos trabalhadores sobre as<br />
caracterÌsticas do seu prÛprio trabalho, do ambiente de trabalho, tanto fÌsico como social, e da<br />
interface trabalho e vida pessoal. (BOWDITCH e BUO<strong>NO</strong>, 1992) Por outro lado, s„o muitos os<br />
autores que fazem referÍncia a este modelo em diversos estudos sobre QVT como, por exemplo,<br />
Lima (1995), Ritz (2000), FranÁa (1996; 2004), Monaco e Guimar„es (2000), Vasconcelos (2001)<br />
e Di Lascio (2003).<br />
2.2.2.8 Modelo de Lippitt<br />
Tomando como base as oito dimensıes de QVT, propostas por Walton, Lippitt, em 1978,<br />
procura agrupar as diversas vari·veis do referido modelo em quatro factores-chave para a QVT e<br />
respectivos critÈrios, como se representa na figura 10.<br />
48
LIPPITT (1978)<br />
Modelo de Qualidade de Vida no Trabalho<br />
O Trabalho em si O IndivÌduo<br />
Feedback Feedback de performance;<br />
Objectivos Objectivos de trabalho claros;<br />
Controles Controles reduzidos;<br />
Maior Maior responsabilidade;<br />
Envolvimento Envolvimento do indivÌduo no<br />
processo de tomada de decisıes.<br />
FACTORES<br />
Aprimoramento Aprimoramento da autoimagem;<br />
Possibilidades Possibilidades de<br />
aprendizagem;<br />
Clima Clima propÌcio ‡ amizade;<br />
CoerÍncia CoerÍncia entre objectivos de<br />
vida e de trabalho.<br />
A ProduÁ„o do Trabalho<br />
CHAVE <strong>DE</strong><br />
QVT<br />
FunÁıes e Estrutura<br />
da OrganizaÁ„o<br />
Aumento Aumento de responsabilidades;<br />
ColaboraÁ„o ColaboraÁ„o inter-grupos;<br />
Trabalho Trabalho completo e em<br />
unidades;<br />
Recompensas Recompensas pela<br />
qualidade/inovaÁ„o;<br />
Objectivos Objectivos mensur·veis.<br />
Clima Clima propÌcio ‡ criatividade;<br />
ComunicaÁ„o ComunicaÁ„o adequada (duas<br />
vias);<br />
Respeito Respeito ao indivÌduo;<br />
Sentimento Sentimento de avanÁo e<br />
desenvolvimento<br />
organizacional.<br />
FIGURA 10 - FACTORES CHAVE <strong>DE</strong> QVT SEGUNDO O MO<strong>DE</strong>LO<br />
<strong>DE</strong> LIPPITT<br />
FONTE: Sant¥anna e Moraes (1998)<br />
Este modelo procura resgatar o atendimento das necessidades, tanto do indivÌduo, quanto<br />
da organizaÁ„o. No entanto, conforme o autor do modelo, para que as organizaÁıes atinjam os<br />
seus objectivos organizacionais de forma satisfatÛria, È necess·rio que: (SANT¥ANNA e<br />
MORAES, 1998)<br />
organizem as tarefas em funÁ„o das caracterÌsticas dos indivÌduos;<br />
criem oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento dos trabalhadores;<br />
deÍm poder aos trabalhadores para a tomada de decisıes;<br />
criem uma cultura de reconhecimento pelo trabalho efectuado;<br />
criem meios para que os trabalhadores possam relatar o que produziram<br />
O autor do modelo defende ainda que, para que as organizaÁıes alcancem o m·ximo das<br />
potencialidades das intervenÁıes no ‚mbito da QVT, devem gozar de um certo ìestado de<br />
maturidadeî, requerendo, para tal, adaptabilidade, flexibilidade, sa˙de e identidade<br />
organizacionais. Segundo Sant¥anna e Moraes (1980), para atingir tal estado de maturidade, o<br />
desenvolvimento das organizaÁıes deve passar por:<br />
um novo conceito de indivÌduo, tendo como referÍncia o conhecimento das suas reais<br />
necessidades;<br />
49
um novo conceito de poder, alicerÁado na colaboraÁ„o e entendimento;<br />
novos valores organizacionais, tendo como referÍncia os ideais humanÌsticos e<br />
democr·ticos.<br />
2.2.2.9 Modelo de Fernandes<br />
Fernandes (1996), autora brasileira, considera a QVT um factor crucial ‡ sobrevivÍncia das<br />
organizaÁıes e respectiva competitividade no mercado e propıe uma metodologia designada<br />
ìAuditoria Operacional de Recursos Humanosî, para mensurar a QVT e recolher informaÁıes,<br />
com vista a intervir a este nÌvel. Assim, no ‚mbito da implementaÁ„o de um programa de QVT,<br />
Fernandes (1996) propıe seis etapas, conforme se esquematiza na figura 11, que, a seguir, se<br />
apresenta.<br />
FERNAN<strong>DE</strong>S (1996)<br />
Fases de ImplementaÁ„o de um Programa de QVT<br />
1. PreparaÁ„o<br />
Levantamento de informaÁıes<br />
sobre organizaÁ„o e<br />
funcion·rios e selecÁ„o da<br />
metodologia de trabalho<br />
2. SensibilizaÁ„o<br />
Discuss„o da proposta pela<br />
alta gerÍncia, visando o seu<br />
comprometimento e<br />
envolvimento com o<br />
programa<br />
3. Planeamento<br />
Fase de planeamento do<br />
programa com os dirigentes<br />
Auditoria<br />
Operacional<br />
de RH<br />
(Programa de<br />
QVT)<br />
4. ExecuÁ„o<br />
DeterminaÁ„o do modelo analÌtico<br />
a utilizar, com base num<br />
referencial teÛrico e nas<br />
necessidades da empresa<br />
5. ApresentaÁ„o do RelatÛrio<br />
Apreciativo<br />
ElaboraÁ„o do roteiro da<br />
entrevista, visando a colecta de<br />
dados do desenho do cargo,<br />
seguida da an·lise e interpretaÁ„o<br />
dos resultados<br />
6. Plano de AcÁ„o<br />
Levantamento da percepÁ„o e grau<br />
de satisfaÁ„o no trabalho,<br />
possibilitando ‡ organizaÁ„o buscar<br />
melhorias contÌnuas<br />
FIGURA 11 - FASES <strong>DE</strong> IMPLEMENTA« O <strong>DE</strong> UM PROGRAMA <strong>DE</strong> QVT<br />
FONTE: Fernandes (1996)<br />
Visando medir a QVT, Fernandes (1996, p.86) elaborou um instrumento de avaliaÁ„o, a partir<br />
do modelo analÌtico da pesquisa, com base na literatura sobre o tema, o qual apresenta onze blocos<br />
e respectivas questıes:<br />
Bloco 1 - Quest„o introdutÛria: visa detectar a percepÁ„o do funcion·rio sobre a QVT.<br />
50
Bloco 2 - CondiÁıes de trabalho: visa explorar a satisfaÁ„o do funcion·rio com as<br />
condiÁıes ambientais fÌsicas em que os trabalhadores executam as suas funÁıes,<br />
abrangendo os seguintes itens: limpeza, arrumaÁ„o, seguranÁa e insalubridade.<br />
Bloco 3 - Sa˙de: visa explorar a satisfaÁ„o dos empregados quanto ‡s acÁıes da empresa<br />
no que se refere ‡ sa˙de, em termos preventivos e curativos. Os itens a serem investigados<br />
s„o: assistÍncia/funcion·rios, assistÍncia familiar, educaÁ„o/conscientizaÁ„o e sa˙de<br />
ocupacional.<br />
Bloco 4 - Moral: visa constatar a efectividade das acÁıes gerenciais referentes a aspectos<br />
psicossociais que se reflectem na motivaÁ„o e moral do profissional, tais como: identidade<br />
na tarefa, relaÁıes interpessoais, reconhecimento/feedback, orientaÁ„o para pessoas,<br />
garantia de emprego.<br />
Bloco 5 - CompensaÁ„o: visa medir o grau de satisfaÁ„o dos funcion·rios em relaÁ„o a<br />
pr·ticas de trabalho e polÌtica de remuneraÁ„o, incluindo os seguintes itens: sal·rios<br />
(equidade interna), sal·rios (equidade externa), sal·rio vari·vel (PROFIT, bÛnus,<br />
participaÁ„o nos resultados), benefÌcios (oferecidos pela empresa) e benefÌcios (em relaÁ„o<br />
a outras empresas).<br />
Bloco 6 - ParticipaÁ„o: visa explorar a percepÁ„o do entrevistado em termos de sua<br />
aceitaÁ„o e engajamento nas acÁıes empreendidas, no sentido de gerar as condiÁıes<br />
indispens·veis ‡ sua participaÁ„o efectiva, incentivadas a partir de oportunidades<br />
relacionadas com: criatividade, express„o pessoal, repercuss„o de ideias dadas, programas<br />
de participaÁ„o e capacitaÁ„o para o posto.<br />
Bloco 7 - ComunicaÁ„o: visa investigar a efic·cia das comunicaÁıes internas em todos os<br />
nÌveis, verificando-se o nÌvel de informaÁ„o sobre aspectos que lhe dizem respeito, como:<br />
conhecimento de metas, fluxo de informaÁıes (top-down) e veÌculos formais (jornal).<br />
Bloco 8 - Imagem da empresa: visa investigar a percepÁ„o dos colaboradores, tendo em<br />
vista os seguintes aspectos: identificaÁ„o com a empresa, imagem interna, imagem externa,<br />
responsabilidade comunit·ria e enfoque no cliente.<br />
Bloco 9 - RelaÁ„o chefe-funcion·rio: visa avaliar a satisfaÁ„o ou a insatisfaÁ„o, da relaÁ„o<br />
profissional ou pessoal, com o seu chefe.<br />
Bloco 10 - OrganizaÁ„o do trabalho: visa avaliar as novas formas de trabalho,<br />
considerando: inovaÁıes/mÈtodos/processos, grupos de trabalho, variedade de tarefas e<br />
ritmo de trabalho.<br />
51
Bloco 11 - Dados de identificaÁ„o: visa identificar o indivÌduo em relaÁ„o ao<br />
sector/departamento, posto, turno, idade, sexo, nÌvel de instruÁ„o e tempo de empresa.<br />
O modelo de Auditoria de Recursos Humanos, sugerido por Fernandes (1996), visa o<br />
levantamento das percepÁıes dos funcion·rios em relaÁ„o ao nÌvel de satisfaÁ„o das condiÁıes e da<br />
organizaÁ„o do trabalho na organizaÁ„o. O enfoque deste modelo possui diversos indicadores em<br />
comum com os demais modelos de Westley, Hackman e Oldham, Werther e Davis, Huse e<br />
Cummings. Em particular, observa-se que este modelo apresenta muitos aspectos em comum com<br />
o modelo de Walton, nomeadamente os aspectos relacionados com a compensaÁ„o, condiÁıes de<br />
trabalho, imagem da empresa, entre outros.<br />
2.2.3 Significado do Trabalho, SatisfaÁ„o no Trabalho e QVT<br />
Etimologicamente o termo ìtrabalhoî, do latim, tripalium, significa um instrumento de<br />
tortura. Por isso, se diz que trabalhar, em sua origem, implica puniÁ„o, esforÁo e sofrimento.<br />
(FONSECA, 2001; SOUZA et. al, 2002; BASTOS, 2004)<br />
Com o passar do tempo, sob a influÍncia do regime capitalista, o trabalho passa a ser<br />
descrito como mercadoria em que o seu principal valor consistia na sua instrumentalidade para o<br />
sucesso econÛmico. (BORGES, 1999) Assim, sob esta perspectiva, o trabalho era descrito como<br />
disciplinado, sistem·tico, padronizado, fragmentado, simplificado, duro, exigindo poucos<br />
requisitos de qualificaÁ„o por parte do trabalhador e um forte exercÌcio do poder que se justificava<br />
com base no controle de recompensas e coerÁıes. (BORGES, 1999)<br />
Segundo Bastos (2004), na dÈcada de 90, o sentido do trabalho adquire uma conotaÁ„o de<br />
prazer e È precisamente neste contexto que comeÁam a emergir as teorias de participaÁ„o e de<br />
satisfaÁ„o no trabalho. Assim, posiÁıes mais actuais e positivas sobre o significado do trabalho<br />
vÍem-no como parte integrante da vida humana; como uma forma de integrar o indivÌduo na<br />
sociedade, contribuindo para a construÁ„o da sua identidade; uma via de identificaÁ„o com o outro,<br />
facilitando a sua integraÁ„o grupal; como um meio de manifestaÁ„o das suas potencialidades,<br />
contribuindo, deste modo, para a sua realizaÁ„o profissional e desenvolvimento da sua auto-estima.<br />
(ICPQL, 1996; KILIMNIK e MORAIS, 2000; FONSECA, 2001; BASTOS, 2004; KILIMNIK e<br />
CASTILHO, s.d.).<br />
52
Contudo, o mais importante no conceito do termo ìtrabalhoî È o seu significado<br />
psicolÛgico, aquilo que representa o trabalho em si para o indivÌduo, derivado, inclusive, da sua<br />
relev‚ncia e contributo para as outras esferas da vida humana nomeadamente: biolÛgica, social,<br />
econÛmica, cultural, etc. (KILIMNIK e MORAIS, 2000; KILIMNIK e CASTILHO, s.d.) Neste<br />
sentido, o significado psicolÛgico do trabalho È uma dimens„o subjectiva e individual, na medida<br />
em que cada indivÌduo ir· percepcionar e interpretar ‡ sua maneira qual o significado do termo,<br />
podendo ter uma conotaÁ„o positiva ñ trabalho como prazer ñ ou uma conotaÁ„o negativa ñ<br />
trabalho como obrigaÁ„o, constituindo, deste modo, um determinante crucial da QVT. (BASTOS,<br />
2004)<br />
Dados de uma pesquisa realizada nos E.U.A. revelam a import‚ncia da satisfaÁ„o com o<br />
trabalho para a satisfaÁ„o com a vida, tendo fornecido subsÌdios para se afirmar que as atitudes<br />
gerais das pessoas em relaÁ„o ‡ vida e ao seu trabalho est„o intimamente ligadas. (MACHADO,<br />
2002) De acordo com Oliveira (2004a), o trabalho È de grande import‚ncia para a vida de cada<br />
indivÌduo e, quando este È aliado ‡ satisfaÁ„o pessoal, torna-se possÌvel falar em excelÍncia da<br />
qualidade de vida, pois n„o se pode diferenciar uma da outra.<br />
Para reforÁar esta posiÁ„o, Martinez, Paraguay e Latorre (2004) procuraram estudar junto<br />
de 224 trabalhadores de uma empresa privada na cidade de S„o Paulo, possÌveis relaÁıes entre<br />
satisfaÁ„o no trabalho e aspectos da sa˙de do trabalhador e verificar se estas associaÁıes s„o<br />
influenciadas por caracterÌsticas sÛcio-demogr·ficas e funcionais. Os resultados do estudo<br />
demonstraram que a satisfaÁ„o no trabalho est· associada ‡s vari·veis sÛcio-demogr·ficas: tempo<br />
na empresa e ao cargo e ‡ sa˙de dos trabalhadores nos seus aspectos ìsa˙de mentalî e ìcapacidade<br />
para o trabalhoî, mostrando a import‚ncia dos factores psicossociais em relaÁ„o ‡ sa˙de e bem-<br />
estar dos trabalhadores.<br />
SatisfaÁ„o È, segundo Kotler (1998, p.51), ì(Ö) um sentimento de prazer ou<br />
desapontamento resultante da comparaÁ„o do desempenho esperado pelo produto (ou resultado),<br />
em relaÁ„o ‡s expectativas da pessoaî. Robbins (2002, p.74) considera a satisfaÁ„o com o trabalho<br />
ì(...) a atitude geral de uma pessoa em relaÁ„o ao trabalho que realizaî. Wagner III e Hollenbeck<br />
(2002) apresentam um conceito mais preciso, ao considerarem a satisfaÁ„o no trabalho como um<br />
sentimento agrad·vel, resultante da percepÁ„o ou da realizaÁ„o de valores do indivÌduo, inerentes ‡<br />
realizaÁ„o do seu prÛprio trabalho. Por outro lado, Pereira (1999) referencia que a satisfaÁ„o no<br />
53
trabalho relaciona-se com a qualidade e tipo de relaÁıes interpessoais no seio da organizaÁ„o,<br />
como, por exemplo, a participaÁ„o ou n„o na tomada de decisıes, dispor ou n„o de uma rede de<br />
apoio social ou ainda ter oportunidade de liderar ou de ser liderado.<br />
Conforme Ferreira, Neves e Caetano (2001), È possÌvel identificar na literatura dois grupos<br />
de orientaÁıes conceptuais sobre satisfaÁ„o no trabalho: um que enfatiza a satisfaÁ„o como um<br />
atitude generalizada em relaÁ„o ao trabalho e outro que considera a satisfaÁ„o como um estado<br />
emocional ou afectivo (vide quadro 4).<br />
QUADRO 4<br />
ORIENTA«’ES CONCEPTUAIS DA SATISFA« O <strong>NO</strong> <strong>TRABALHO</strong><br />
AUTORES A<strong>NO</strong> ORIENTA«’ES CONCEPTUAIS GRUPOS<br />
Smith,<br />
Kendall e<br />
Hullin<br />
1969 Sentimentos ou respostas afectivas relativamente a aspectos<br />
especÌficos da situaÁ„o laboral<br />
Crites 1969 Estado afectivo, no sentido do gostar ou n„o, em termos gerais,<br />
de uma determinada situaÁ„o relacionada com o seu trabalho<br />
Locke 1976 Estado emocional positivo que resulta da percepÁ„o subjectiva<br />
das experiÍncias no trabalho por parte do empregado<br />
Price e<br />
Mueller<br />
1986 OrientaÁ„o afectiva positiva para o emprego<br />
Muchinsky 1993 Resposta emocional ou afectiva em relaÁ„o ao trabalho<br />
Newstron e<br />
Davis<br />
1993 Conjunto de sentimentos e emoÁıes favor·veis ou desfavor·veis,<br />
resultantes da forma como os empregados consideram o seu<br />
trabalho<br />
Beer 1964<br />
Salancik e 1977<br />
Pfeffer<br />
Atitude generalizada em relaÁ„o ao trabalho, atendendo a trÍs<br />
Harpaz<br />
PeirÛ<br />
Griffin e<br />
Bateman<br />
1983<br />
1986<br />
1986<br />
componentes: cognitiva (pensamentos ou avaliaÁ„o do objecto<br />
de acordo com o conhecimento), afectiva (sentimentos, emoÁıes<br />
positivas ou negativas), comportamental (predisposiÁıes<br />
comportamentais/de intenÁ„o em relaÁ„o ao objecto)<br />
Arnold,<br />
Robertson e<br />
Cooper<br />
1991<br />
FONTE: Ferreira, Neves e Caetano (2001)<br />
SatisfaÁ„o como<br />
estado<br />
emocional,<br />
sentimentos<br />
ou respostas<br />
afectivas<br />
em relaÁ„o ao<br />
trabalho<br />
SatisfaÁ„o como<br />
uma atitude<br />
generalizada<br />
em relaÁ„o ao<br />
trabalho<br />
A QVT, enfatizada pela promoÁ„o da satisfaÁ„o e do bem-estar no trabalho, sempre<br />
constituiu objecto de preocupaÁ„o do ser humano e muitos foram os pesquisadores que, no sÈculo<br />
XX, apresentaram valiosas teorias como contributo para o estudo da satisfaÁ„o do indivÌduo no<br />
trabalho. (RODRIGUES, 1994)<br />
Elton Mayo foi um dos referidos pesquisadores que, atravÈs das experiÍncias que realizou<br />
na f·brica da Western Eletric Company, em Chicago, com o objectivo de medir a relaÁ„o entre a<br />
54
iluminaÁ„o do ambiente de trabalho e a produtividade, concluiu que os resultados do trabalho<br />
humano n„o s„o apenas influenciados por aspectos do ambiente fÌsico, mas, tambÈm, por aspectos<br />
psicolÛgicos e pelas relaÁıes sociais que os trabalhadores estabelecem entre si (SANT¥ANNA e<br />
MORAIS, 1998; CAMARA, GUERRA e RODRIGUES, 1999; VASCONCELOS, 2001)<br />
Outro dos referidos pesquisadores foi Abraham Maslow que, em 1977, partindo do<br />
pressuposto que as necessidades internas orientam e determinam o comportamento dos indivÌduos,<br />
desenvolveu uma hierarquia de necessidades humanas composta por cinco nÌveis: necessidades<br />
fisiolÛgicas, de seguranÁa, sociais, de auto-estima e de auto-realizaÁ„o.<br />
Segundo a teoria concebida por Maslow, para que os indivÌduos se interessem pelas<br />
necessidades de nÌveis mais elevados, deveriam primeiro satisfazer as de nÌveis inferiores.<br />
(ALMEIDA, 1995) Dessa forma, somente quando as necessidades ligadas a aspectos fisiolÛgicos<br />
(por exemplo, necessidade de alimento, ·gua, etc.) estivessem sob controle, os indivÌduos<br />
passariam a preocupar-se com a seguranÁa e abrigo. Sendo essas necessidades satisfeitas, as<br />
pessoas passariam a sentir carÍncia de afiliaÁ„o e de relacionamentos interpessoais. Em seguida,<br />
necessitariam de estima pessoal, reconhecimento e prestÌgio e, por fim, seriam motivadas pela<br />
necessidade de alcanÁar a plenitude do seu potencial como seres humanos. (ALMEIDA, 1995;<br />
SANT¥ANNA e MORAIS, 1998; STONER e FREEMAN, 1999; VASCONCELOS, 2001).<br />
Herzberg, em 1968, tambÈm deu o seu contributo no estudo da satisfaÁ„o no trabalho ao<br />
defender que os indivÌduos apresentam duas categorias de necessidades, interdependentes entre si,<br />
e que influenciam o seu comportamento.<br />
A primeira categoria - factores higiÈnicos - abrangeria os aspectos extrÌnsecos ‡ tarefa, ou<br />
seja, aspectos que n„o constituem parte intrÌnseca ‡s actividades que desenvolvem no trabalho,<br />
mas que est„o relacionados com as condiÁıes sob as quais as mesmas s„o executadas, como, por<br />
exemplo: a polÌtica de administraÁ„o da empresa, a supervis„o, as relaÁıes interpessoais, as<br />
condiÁıes de trabalho, o sal·rio, o status e a seguranÁa no emprego. (MARQUES e CUNHA,<br />
1996; COWLING e MAILER, 1998) Para o autor, estes factores n„o levam ao aumento da<br />
satisfaÁ„o no trabalho, mas a ausÍncia dos mesmos È capaz de originar insatisfaÁ„o.<br />
55
A segunda categoria de necessidades - factores motivacionais - abrangeria, por sua vez, os<br />
aspectos respons·veis pela satisfaÁ„o propriamente dita e compreenderia vari·veis, como:<br />
liberdade para criar, inovar e procurar formas prÛprias e ˙nicas de atingir os resultados de uma<br />
tarefa; realizaÁ„o; reconhecimento; responsabilidade; possibilidade de crescimento;<br />
desenvolvimento, progresso e outros factores, em geral, intrÌnsecos ao prÛprio trabalho.<br />
(MARQUES e CUNHA, 1996; COWLING e MAILER, 1998)<br />
Dessa forma, para este autor, os factores que motivam as pessoas est„o estritamente ligados<br />
ao conte˙do da tarefa, relacionam-se com os sentimentos de realizaÁ„o e desafio. … neste contexto<br />
que Herzeberg propıe como estratÈgia para a motivaÁ„o no trabalho o enriquecimento das tarefas<br />
comummente designado por job enrichment. (MARQUES e CUNHA, 1996; SANT¥ANNA e<br />
MORAIS, 1998; VASCONCELOS, 2001). AlÈm disso, ao mencionar o conte˙do da tarefa como<br />
elemento motivador, Herzberg fala, de forma indirecta, em integraÁ„o, pois È atravÈs da execuÁ„o<br />
de tarefas que o indivÌduo se liga ‡ organizaÁ„o. (MARQUES e CUNHA, 1996; SANT¥ANNA e<br />
MORAIS, 1998; VASCONCELOS, 2001)<br />
J· Douglas McGregor, em 1980, procurou mapear as diversas ideias relacionadas com o<br />
binÛmio indivÌduo/trabalho e agrupou-as em duas teorias distintas: a Teoria X e a Teoria Y. Na<br />
teoria X, o autor reuniu as percepÁıes sobre a natureza humana guiadas pela crenÁa de que os<br />
indivÌduos s„o preguiÁosos, indolentes, preferem ser dirigidos, n„o se interessam em assumir<br />
responsabilidades e desejam a seguranÁa acima de tudo. Na teoria Y, ao contr·rio, McGregor<br />
agrupou as crenÁas sobre a natureza humana que apontam que o homem pode, se motivado de<br />
forma adequada, dirigir-se a si mesmo e ser criativo no seu trabalho (CAMARA, GUERRA e<br />
RODRIGUES, 1999; TEIXEIRA, 1998).<br />
Dentre as v·rias contribuiÁıes decorrentes dos estudos de McGregor para a QVT, h· que<br />
salientar aquela que indica que o trabalho em si pode ser uma fonte de satisfaÁ„o, quando criadas<br />
condiÁıes nas quais os indivÌduos possam desenvolver-se, atingindo os seus objectivos e<br />
contribuindo para o sucesso da organizaÁ„o.<br />
Destes trÍs autores - Maslow, Herzberg e McGregor - a maior colaboraÁ„o para o<br />
desenvolvimento das teorias sobre a QVT, no entanto, foi propiciada por Herzberg, ao reconhecer,<br />
por um lado, que os indivÌduos adquirem senso de auto-realizaÁ„o e sucesso atravÈs do prÛprio<br />
56
trabalho - e n„o somente a partir de factores do ambiente ñ e, por outro, ao pesquisar a satisfaÁ„o<br />
do trabalhador a partir do conte˙do do seu cargo.<br />
Portanto, foi com o surgimento do Movimento da Escola de RelaÁıes Humanas, com forte<br />
Ínfase no estudo dos aspectos psicossociais e motivacionais do trabalhador, que a preocupaÁ„o<br />
com a QVT tem a sua origem. (RODRIGUES, 1994)<br />
A necessidade de estruturaÁ„o do trabalho, por forma a humanizar o ambiente ocupacional,<br />
proporcionando satisfaÁ„o e sentimentos de auto-realizaÁ„o ao trabalhador, atendendo ‡s<br />
exigÍncias adequadas ao seu bom desempenho e preservando a sua integridade, n„o tem sido um<br />
caminho f·cil para as organizaÁıes. (SOUZA et. al, 2002) Apesar do esforÁo e avanÁos j·<br />
efectuados neste campo, È certo que nas ˙ltimas dÈcadas continua-se a observar uma tendÍncia do<br />
trabalho ser percebido como extremamente rotineiro, repetitivo ou burocr·tico por uma grande<br />
quantidade de pessoas, em diversos contextos organizacionais. (KILIMNIK e MORAIS, 2000)<br />
Segundo Fonseca (2001, p.23), o trabalho tem vindo a sofrer ìconstantes desvalorizaÁıes<br />
oriundas do poder instituÌdo, dos grupos de press„o, da situaÁ„o sÛcioeconÛmica, da recess„o, de<br />
acÁıes governamentaisî. Bastos (2004) faz menÁ„o ‡ realidade dos PaÌses em desenvolvimento em<br />
que os trabalhadores s„o expostos a longas jornadas de trabalho, sem a mÌnima condiÁ„o fÌsica,<br />
muitas vezes enfrentando condiÁıes de higiene, conforto e sa˙de adversas. Estes aspectos, tambÈm<br />
caracterÌsticos da realidade moÁambicana, em nada contribuem para a satisfaÁ„o no trabalho e a<br />
QVT.<br />
Kilimnik e Morais (2000) relatam um estudo realizado nos EUA que mostrou que o maior<br />
factor de previs„o de doenÁas cardÌacas n„o È o fumo, o colesterol ou a falta de exercÌcios, mas a<br />
insatisfaÁ„o profissional. V·rios estudos desenvolvidos tÍm revelado a insatisfaÁ„o do homem no<br />
trabalho, ocasionando desajustamentos e inadaptaÁıes, verificadas pelo Ìndice elevado de<br />
acidentes de trabalho.<br />
Birch e Paul (2003) apontam um estudo feito na Austr·lia, em 1995, em que se procurou<br />
analisar a percepÁ„o dos trabalhadores sobre a relaÁ„o com o seu trabalho. Neste estudo, os<br />
trabalhadores revelaram baixos nÌveis de satisfaÁ„o com as pr·ticas de gest„o, um sentimento de<br />
inseguranÁa no emprego, aumento de stress no trabalho e insatisfaÁ„o com a falta de equilÌbrio<br />
entre o trabalho e a vida familiar.<br />
57
De acordo com Lowe (2000), um estudo nacional realizado no Canad·, em 1997, concluiu<br />
que, embora apenas um em seis trabalhadores se tenha mostrado insatisfeito com o seu trabalho,<br />
alguns factores do ambiente ocupacional constituÌam um foco de preocupaÁ„o, quando melhor<br />
examinados. Por exemplo, dois terÁos dos trabalhadores reportaram que o seu trabalho era muito<br />
stressante, agravando a situaÁ„o as longas horas de trabalho. A falta de envolvimento, de apoio<br />
social e de reconhecimento pelo desempenho no trabalho foram outras fontes de frustraÁ„o<br />
apontadas por muitos trabalhadores, para alÈm do sentimento de que as suas habilidades e<br />
conhecimento n„o estarem a ser utilizadas pelas organizaÁıes. (LOWE, 2000)<br />
Krueger et al. (2002) desenvolveram uma pesquisa em seis organizaÁıes de sa˙de, no<br />
Canad·, com o objectivo de identificar factores preditores de satisfaÁ„o no trabalho. De um total de<br />
40 potenciais factores preditores de satisfaÁ„o no trabalho alguns dos mais mencionados foram,<br />
nomeadamente: boa comunicaÁ„o, equilÌbrio na quantidade de trabalho solicitado a executar, boa<br />
latitude de decis„o, satisfaÁ„o com o nÌvel de remuneraÁ„o, reconhecimento pelo trabalho<br />
executado, tarefas claras, bom nÌvel de informaÁ„o sobre a organizaÁ„o, trabalho em equipa,<br />
relaÁıes entre colegas, horas semanais de trabalho, oportunidades de treinamento e<br />
desenvolvimento.<br />
ArmÈnio Rego, Professor na Universidade de Aveiro, em Portugal, realizou uma<br />
investigaÁ„o sobre a QVT no perÌodo de Fevereiro de 2002 e Outubro de 2003, que abarcou 1505<br />
pessoas de 171 organizaÁıes de diferentes dimensıes, de diversos pontos geogr·ficos do PaÌs e de<br />
numerosos sectores de actividade. (Jornal UA_Online)<br />
Os resultados da referida investigaÁ„o sugerem que os trabalhadores denotam melhor sa˙de<br />
e bem-estar no trabalho, quando: (a) a organizaÁ„o se preocupa com a conciliaÁ„o do trabalho com<br />
a vida familiar dos seus trabalhadores; (b) a organizaÁ„o cria condiÁıes para que as pessoas<br />
acompanhem a educaÁ„o dos filhos; (c) h· equidade/justiÁa na organizaÁ„o; (d) os bons resultados<br />
da organizaÁ„o s„o partilhados; (e) a organizaÁ„o proporciona oportunidades de aprendizagem e<br />
desenvolvimento pessoal aos seus colaboradores; (f) os lÌderes actuam de modo justo, respeitador e<br />
digno; (g) os lÌderes s„o credÌveis e de confianÁa; (h) a atmosfera da organizaÁ„o È amistosa,<br />
factores estes com efeitos positivos para a produtividade, o desempenho e a ìsa˙deî das<br />
organizaÁıes. (Jornal UA_Online)<br />
58
Estes estudos mostram que a satisfaÁ„o no trabalho constitui uma vari·vel preditora da<br />
QVT, daÌ que a adopÁ„o de estratÈgias de fidelizaÁ„o, retenÁ„o e melhoria de qualidade, apoiadas<br />
na avaliaÁ„o da satisfaÁ„o no trabalho, resultam em valorizaÁıes mais elevadas das instituiÁıes,<br />
que realizam um conjunto de boas pr·ticas neste campo. (BOONE e KUTZ, 1998) A avaliaÁ„o do<br />
grau de satisfaÁ„o no trabalho, como um indicador de QVT, possibilita, por um lado, compreender<br />
os factores que tÍm um impacto na construÁ„o do grau de satisfaÁ„o, a partir da an·lise das<br />
expectativas dos indivÌduos e da sua percepÁ„o da QVT e, por outro, identificar os pontos fortes e<br />
fracos da instituiÁ„o e proceder ao mapeamento de eventuais problemas localizados, a partir da<br />
compreens„o da estrutura das expectativas dos indivÌduos.<br />
Deste modo, com base na avaliaÁ„o do grau de satisfaÁ„o dos trabalhadores em relaÁ„o ‡<br />
sua QVT, as acÁıes, a nÌvel do sistema de gest„o das organizaÁıes, tornam-se mais facilitadas, no<br />
sentido de possuirem indicadores permanentes do sucesso ou fracasso das decisıes tomadas,<br />
podendo, com isto, melhorar a qualidade dos produtos e serviÁos que oferecem.<br />
2.2.4 Sa˙de no Trabalho e QVT<br />
Dejours, citador por Fonseca (2001) e Heloani e Capit„o (2003), diferencia o que ele<br />
designa por sofrimento patogÈnico do sofrimento criador no contexto organizacional: o primeiro ñ<br />
sofrimento patogÈnico - surge quando todas as possibilidades de transformaÁ„o, aperfeiÁoamento e<br />
gest„o da forma de organizaÁ„o do trabalho j· foram utilizadas, ou seja, quando pressıes fixas,<br />
rÌgidas, repetitivas e frustrantes, configuram um sentimento de impotÍncia no sujeito trabalhador,<br />
de esgotamento dos seus recursos defensivos e sensaÁ„o generalizada de incapacidade, levando-o ‡<br />
descompensaÁ„o e ‡ doenÁa. O segundo ñ sofrimento criador ñ surge quando as acÁıes no trabalho<br />
s„o criativas, possibilitando a transformaÁ„o do sofrimento, contribuindo, assim, para uma<br />
estruturaÁ„o positiva da identidade, funcionando o trabalho como um importante mediador para a<br />
sa˙de e QVT.<br />
Mas parece que tem prevalecido o que Dejours designa por sofrimento patogÈnico, pois as<br />
condiÁıes actuais existentes na situaÁ„o de trabalho, de maneira geral, tÍm gerado, numa parte<br />
significativa dos trabalhadores, desajustes comportamentais, stresses, somatizaÁıes, inadequaÁıes<br />
ao trabalho e ao meio no qual os mesmos se inserem. (FONSECA, 2001) Talvez por essa raz„o,<br />
em 1979, a OMS advogou a estratÈgia da necessidade de desenvolverem-se programas especiais de<br />
59
atenÁ„o ‡ sa˙de dos trabalhadores, com vista a promover melhorias nas condiÁıes de QVT, em<br />
particular nos PaÌses em desenvolvimento. (LACAZ, 2000)<br />
Rolo (s.d.) alerta para a import‚ncia da prevenÁ„o e protecÁ„o contra as ameaÁas que<br />
afectam o sistema corporal (fÌsico), n„o esquecendo aquelas que, permanentemente, tambÈm<br />
agridem o sistema afectivo (psicolÛgico) e o sistema sÛcio-afectivo (psicossociolÛgico), dos que<br />
trabalham. O trabalho exige um estado de equilÌbrio completo (vide figura 12), sendo certo que<br />
qualquer desequilÌbrio, em qualquer sistema, pode originar situaÁıes propÌcias a doenÁas/<br />
acidentes. (ROLO, s.d.)<br />
EquilÌbrio FÌsico<br />
Sa˙de<br />
HOMEM<br />
Trabalho<br />
EquilÌbrio<br />
PsicossociolÛgico<br />
EquilÌbrio PsicolÛgico<br />
FIGURA 12 - EQUILÕBRIO ENTRE <strong>TRABALHO</strong> E SA⁄<strong>DE</strong><br />
FONTE: Rolo (s.d.)<br />
No entanto, nos ˙ltimos anos, parece ser crescente e assustador o desequilÌbrio entre sa˙de<br />
e trabalho em diversos grupos ocupacionais de distintos pontos geogr·ficos, visÌveis atravÈs de<br />
dados estatÌsticos de v·rias fontes.<br />
No Congresso Mundial sobre Sa˙de e SeguranÁa no Trabalho, que decorreu no Brasil, em<br />
1999, a OrganizaÁ„o Internacional do Trabalho (OIT), anunciou que, anualmente, h· mais de<br />
1.000.000 de mortes ligadas ao trabalho, enquanto o n˙mero de acidentes profissionais, anuais,<br />
com paragens de trabalho, se eleva a 250.000.000, o que equivale a 685.000 acidentes e cerca de<br />
3.000 mortes diariamente. (ROLO, s.d.)<br />
60
Segundo estimativas da OMS, os chamados transtornos mentais menores ocorrem em cerca<br />
de 30% dos trabalhadores ocupados e, os transtornos mentais graves, em cerca de 5 a 10%.<br />
(JACQUES, 2003; OLIVEIRA, 2003)<br />
Jacques (2003) relata que, no Brasil, segundo estatÌsticas do Instituto Nacional de<br />
SeguranÁa Social, referentes apenas aos trabalhadores com registo formal, os transtornos mentais<br />
ocupam a terceira posiÁ„o entre as causas de concess„o de benefÌcio previdenci·rio, como auxÌlio<br />
de doenÁa, afastamento do trabalho por mais de quinze dias e aposentadorias por invalidez.<br />
Recentemente, uma pesquisa feita pela organizaÁ„o Small Business Initiative, nos E.U.A.,<br />
envolvendo pequenas empresas, observou que 64% dos entrevistados tinham empregados doentes<br />
na sua forÁa de trabalho. AlÈm disso, relataram que 87% tinham, pelo menos, um fumador, 73%,<br />
pelo menos, um trabalhador com depress„o ou ansiedade e 57%, pelo menos, um trabalhador com<br />
alguma doenÁa crÛnica. (OGATA, s.d.a)<br />
De acordo com os dados resultantes da sondagem de opini„o levada a cabo pela DirecÁ„o<br />
de Sa˙de e SeguranÁa da Comiss„o das Comunidades Europeias, em 1992, ocorriam na Uni„o<br />
Europeia 10.000.000 de acidentes e doenÁas profissionais por ano, 8.000 mortes/ano por acidentes<br />
de trabalho e eram gastos anualmente cerca de 20.000.000.000 de Euros com custos de seguranÁa<br />
social referentes a acidentes e doenÁas profissionais. (ROLO, s.d.)<br />
A referida sondagem mostrou ainda que 42% dos trabalhadores pensavam que a sua sa˙de<br />
era, ou poderia ser, afectada pelo seu trabalho; 40% pensavam que corriam riscos de acidentes de<br />
trabalho; 84% achavam que os acidentes de trabalho e as doenÁas profissionais, no seu PaÌs, eram<br />
frequentes ou muito frequentes; 65% consideraram que a empresa È o principal respons·vel pela<br />
prevenÁ„o dos acidentes e das doenÁas profissionais; e 53% consideravam que melhorar a sua<br />
seguranÁa poderia aumentar a sua efic·cia no trabalho. (ROLO, s.d.)<br />
Estas estatÌsticas, que sinalizam um n˙mero crescente de transtornos mentais e desajustes<br />
comportamentais associados ao trabalho, fizeram emergir o interesse por investigaÁıes<br />
relacionadas com os vÌnculos entre trabalho e sa˙de/doenÁa mental. (JACQUES, 2003;<br />
OLIVEIRA, 2003) Dentre as diversas abordagens, no contexto da sa˙de e psicodin‚mica do<br />
trabalho, as investigaÁıes sobre o stress ocupacional tÍm recebido maior destaque, pelo facto de,<br />
61
nas ˙ltimas dÈcadas, ter adquirido proporÁıes de epidemia, com consequÍncias nefastas para a<br />
sa˙de e QVT de gestores e trabalhadores. (SILVA, 2000; TAMAYO, 2001; FONSECA, 2001;<br />
BURKE, 2002; CORR A e MENEZES, 2001; BORGES et al., 2002; BIRCH e PAUL, 2003)<br />
O stress È um fenÛmeno psicolÛgico que ocorre quando o indivÌduo, perante uma situaÁ„o<br />
que percepciona e avalia como ameaÁadora, esgota os seus recursos internos (de defesa) para<br />
confront·-la, ocorrendo uma ruptura de um estado emocional positivo para um estado emocional<br />
negativo, tipicamente associado ‡ ansiedade, ao medo e ‡ perda de controle emocional. (STORA,<br />
1990; CAMARA, GUERRA e RODRIGUES, 1999; ROSSI, 2004)<br />
O stress ocupacional ocorre quando h· percepÁ„o, por parte do trabalhador, da sua<br />
inabilidade para atender ‡s exigÍncias solicitadas pelo trabalho, causando sofrimento, mal-estar e<br />
um sentimento de incapacidade para enfrent·-las. (OLIVEIRA, 2003; FRAN«A e RODRIGUES,<br />
2002; CORR A e MENEZES, 2001).<br />
No entanto, para alÈm da percepÁ„o e avaliaÁ„o individual de potenciais agentes ou<br />
estÌmulos stressantes, no contexto organizacional, a sobrecarga de tais estÌmulos contribuem para a<br />
eclos„o do stress patolÛgico, na medida que excedem a capacidade de adaptaÁ„o dos indivÌduos.<br />
(OLIVEIRA, 2003) Os quatro principais factores que contribuem para a exigÍncia excessiva de<br />
agentes stressantes no trabalho, s„o, segundo Oliveira (2003), os seguintes: 1) urgÍncia de tempo;<br />
2) responsabilidade excessiva; 3) falta de apoio; 4) expectativas excessivas de nÛs prÛprios e<br />
daqueles que nos cercam.<br />
Com a evoluÁ„o dos estudos sobre o stress ocupacional, surgiram os estudos sobre a<br />
sÌndrome de Burnout, citados por diversos autores como, por exemplo, Silva (2000), Souza et al.<br />
(2002), Oliveira (2003), Benevides-Pereira e Moreno-JimÈnez (2003), RamÌrez (2003) e<br />
Benevides-Pereira (2003). Segundo Borges et al. (2002), esta sÌndrome foi descrita pela primeira<br />
vez, em 1974, nos E.U.A. pelo psiquiatra Herbert J. Freudenberg.<br />
O Burnout, tambÈm designado por esgotamento profissional, consiste numa sÌndrome<br />
psicolÛgica resultante de uma tens„o emocional crÛnica no trabalho, originando sentimentos e<br />
atitudes negativas no relacionamento do indivÌduo com o seu trabalho (insatisfaÁ„o, desgaste,<br />
perda do comprometimento), minando o seu desempenho profissional e trazendo consequÍncias<br />
62
indesej·veis para a organizaÁ„o tais como o absentismo, abandono do emprego e baixa<br />
produtividade. (TAMAYO e TR”CCOLI, 2002; GARCIA e BENEVI<strong>DE</strong>S-PEREIRA, 2003;<br />
BENEVI<strong>DE</strong>S-PEREIRA, 2003; BENEVI<strong>DE</strong>S-PEREIRA e MORE<strong>NO</strong>-JIM…NEZ, 2003).<br />
Oliveira (2003) e Garcia e Benevides-Pereira (2003) referem que alguns dos principais<br />
sintomas do Burnout s„o a exaust„o emocional (considerada a primeira etapa e o factor central da<br />
sÌndrome), acompanhada de intoler‚ncia, irritabilidade, comportamento rÌgido e insensibilidade, a<br />
despersonalizaÁ„o, caracterizada por distanciamento emocional e postura desumanizada, e a<br />
diminuiÁ„o do sentimento de realizaÁ„o pessoal.<br />
Conforme Tamayo e TrÛccoli (2002) e RamÌrez (2003), a exaust„o emocional que j· È<br />
reconhecida como acidente de trabalho È, primordialmente, uma resposta ‡s exigÍncias dos agentes<br />
stressantes com que se confrontam os trabalhadores, tais como a sobrecarga de trabalho, os<br />
contactos interpessoais, o papel conflituoso e os altos nÌveis de expectativas do indivÌduo com<br />
relaÁ„o a si prÛprio e ‡ sua organizaÁ„o, comprometendo a sua sa˙de mental e fÌsica e deteriorando<br />
a QVT e o funcionamento da organizaÁ„o.<br />
<strong>Um</strong>a breve vis„o sobre a situaÁ„o do stress ocupacional, em diversos PaÌses do mundo,<br />
ajuda-nos a perceber a urgÍncia de se repensar a actual forma de organizaÁ„o do trabalho, com<br />
vista ‡ preservaÁ„o da sa˙de e a QVT.<br />
<strong>Um</strong> estudo conduzido na Alemanh„, Finl‚ndia, PolÛnia, Inglaterra e E.U.A. pela OIT, em<br />
2000, sobre sa˙de mental no trabalho, revelou que um em dez trabalhadores sofre de depress„o,<br />
ansiedade e Burnout. (BIRCH e PAUL, 2003)<br />
Regis (1996) estudou a relaÁ„o entre o stress ocupacional em executivos brasileiros e o seu<br />
estado de sa˙de, fazendo uma comparaÁ„o entre executivos de empresas inseridas num contexto<br />
competitivo e os provenientes de empresas inseridas em ambientes n„o competitivos. Os resultados<br />
do estudo evidenciaram que, tanto os executivos pertencentes ao contexto competitivo, como os<br />
n„o pertencentes, apresentaram o mesmo nÌvel de stress e comprometimento da sa˙de, sendo que,<br />
quanto mais stressados, maior o comprometimento do estado de sa˙de dos executivos pesquisados.<br />
(REGIS, 1996)<br />
63
Serra (2002) encontrou elevados nÌveis de stress numa amostra de 368 estudantes de uma<br />
Universidade privada de Maputo, em MoÁambique. De acordo com esta pesquisa, verificou-se que<br />
os nÌveis mais elevados de stress foram detectados em estudantes trabalhadores, do sexo feminino,<br />
casados, com filhos, com idade superior a 35 anos e que frequentam o turno PÛs-Laboral, tendo<br />
70% dos estudantes apontado o excesso de trabalho como um dos agentes mais stressantes.<br />
Marques et al. (s.d.) apontam a existÍncia de stress numa amostra de 1152 indivÌduos,<br />
membros de uma corporaÁ„o de PolÌcia Militar, no Brasil, em decorrÍncia da elevada insatisfaÁ„o<br />
com a estrutura da InstituiÁ„o. Por outro lado, enquanto que nos E.U.A. o stress est· na origem de<br />
54% dos casos de absentismo no local de trabalho, na Austr·lia, um estudo realizado em 1997,<br />
com 10.000 trabalhadores, revelou que um em quatro trabalhadores ausentam-se do trabalho<br />
devido a elevados nÌveis de stress, causado por uma sÈrie de condiÁıes adversas no ambiente de<br />
trabalho, conforme se pode ver na tabela 1. (BIRCH e PAUL, 2003)<br />
TABELA 1<br />
CONDI«’ES ADVERSAS DO AMBIENTE <strong>DE</strong> <strong>TRABALHO</strong> PERCEPCIONADAS<br />
POR TRABALHADORES NA AUSTR¡LIA<br />
CONDI«’ES <strong>DE</strong> <strong>TRABALHO</strong> %<br />
Aumento de quantidade de trabalho 70.3<br />
ReestruturaÁ„o/mudanÁa organizacional 68.2<br />
Fracas oportunidades de carreira 46.2<br />
Temperaturas desconfort·veis 45.9<br />
InseguranÁa no emprego 42.9<br />
Insuficiente treinamento 42.6<br />
Dificuldades de comunicaÁ„o 42.4<br />
Longas horas de trabalho 38.7<br />
Fraca organizaÁ„o do trabalho 35.1<br />
Conflitos com gestores/superiores 33.1<br />
Excesso de supervis„o/monitoria 26.8<br />
Problemas de sa˙de e seguranÁa n„o resolvidos 24.5<br />
Insuficientes perÌodos de descanso 23.4<br />
Dificuldades de relacionamento com clientes 22.6<br />
Excesso de ruÌdo 19.9<br />
FONTE: Birch e Paul (2003)<br />
Motter (2001) estudou o grau de stress, depress„o e comprometimento com a QVT em 52<br />
mÈdicos militares, de diversas especialidades, do Hospital Geral de Curitiba, no Brasil. A an·lise<br />
da situaÁ„o e resultados desta pesquisa revelou 36,5% da populaÁ„o estudada com stress, 23% com<br />
diferentes nÌveis de depress„o e somente 3,9% dos mÈdicos com boa qualidade de vida, ou seja,<br />
com sucesso afectivo, social, profissional e de sa˙de.<br />
64
Na Inglaterra, trÍs em dez trabalhadores apresentam algum tipo de problema de sa˙de<br />
mental e um estudo desenvolvido neste PaÌs com 7000 trabalhadores revelou que 68% destes<br />
sofriam de stress ocupacional. (BIRCH e PAUL, 2003) Kilimnik, Moraes e Santos, citados por<br />
Dias (2001), tambÈm detectaram a existÍncia de propens„o ao stress ocupacional entre oper·rios e<br />
gestores de uma ind˙stria de autopeÁas do Estado de Minas Gerais, no Brasil.<br />
<strong>Um</strong>a pesquisa desenvolvida por Costa (2005) com 102 oper·rios e trabalhadores<br />
administrativos da F·brica Fasol Lda., em MoÁambique, concluiu que caracterÌsticas relacionadas<br />
com Requisitos de Trabalho, DiscriminaÁ„o de Tarefas, CondiÁıes de Emprego, Autoridade<br />
DecisÛria e Apoio de Chefes e Colegas constituem factores de stress ocupacional, percepcionados<br />
pelos trabalhadores da Fasol. A pesquisa tambÈm apurou que a percepÁ„o dos diversos factores de<br />
stress ocupacional por parte dos trabalhadores daquela f·brica varia em funÁ„o das vari·veis sÛcio-<br />
demogr·ficas: sexo, idade, anos de serviÁos e turno de trabalho.<br />
Tamayo (2001) investigou o impacto do gÈnero e da actividade fÌsica regular sobre o stress<br />
ocupacional numa amostra de 192 trabalhadores brasileiros. Os resultados da investigaÁ„o<br />
revelaram que a actividade fÌsica regular e o gÈnero tiveram um impacto sobre os nÌveis de stress<br />
ocupacional apresentados, sendo os Ìndices superiores para o grupo de trabalhadores sedent·rios e<br />
para as mulheres.<br />
Ainda no ‚mbito dos estudos sobre o stress, tÍm sido crescentes os dados que indicam<br />
diferenÁas entre homens e mulheres. Regis (1996) e Lipp e Tanganelli (2002) relatam estudos que<br />
demonstram a maior incidÍncia do stress no seio da populaÁ„o brasileira feminina. Outro estudo<br />
desenvolvido por Moraes et. al. (s.d.), junto a uma populaÁ„o de homens e mulheres da polÌcia<br />
militar da Cidade de Minas Gerais, no Brasil, demonstrou que os nÌveis de stress das mulheres s„o<br />
superiores aos dos homens. Lipp e Tanganelli (2002), que estudaram o stress numa populaÁ„o de<br />
juÌzes, encontraram tambÈm resultados significativos que mostravam mulheres juÌzas com maiores<br />
nÌveis de stress que os homens da mesma profiss„o. Conforme Burke (2002), os nÌveis de stress<br />
ocupacional, que as mulheres apresentam, devem-se ao facto de estas terem uma grande<br />
sobrecarga de trabalho, considerando a conciliaÁ„o entre a sua carreira profissional com a gest„o<br />
das actividades familiares.<br />
Os estudos acima mencionados reflectem a necessidade da promoÁ„o de sa˙de no local de<br />
trabalho como uma vari·vel importante do movimento de gest„o da QVT, atendendo,<br />
65
simultaneamente, aos interesses, tanto dos trabalhadores, como dos empregadores. (MACHADO,<br />
2002).<br />
2.2.5 Estudos e factores correlacionados com a QVT em diversos grupos ocupacionais<br />
A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) tem sido descrita como uma das vari·veis<br />
que influencia na QVT pelo seu foco no p˙blico interno. (BASTOS, 2004; BIZIAN, GAMA e<br />
GOMES, s.d.) Segundo Bastos (2004), algumas organizaÁıes realizam acÁıes para beneficiar a<br />
comunidade, projectos de car·cter ambiental e adoptam estratÈgias inovadoras de relacionamento<br />
com clientes, consumidores e fornecedores, no entanto, esquecem-se dos seus clientes internos,<br />
que constituem os seus stakeholders mais importantes.<br />
<strong>Um</strong> estudo, comparando a QVT em duas empresas de ·reas de actuaÁ„o diferentes ñ uma<br />
da ·rea financeira e outra farmacÍutica - com Programas de RSE diferentes, foi conduzido por<br />
Mancini et al. (2004), a partir do Modelo Biopsicossocial. Os resultados do estudo mostraram<br />
claramente a existÍncia de uma relaÁ„o positiva, ou seja, os indivÌduos que participavam de<br />
Programas de RSE apresentaram um resultado melhor nos indicadores de QVT.<br />
Em geral, v·rios estudos mostram que organizaÁıes, cujas pr·ticas de gest„o de Recursos<br />
Humanos tÍm uma forte orientaÁ„o para o bem-estar e desenvolvimento dos trabalhadores,<br />
possuem melhores Ìndices de satisfaÁ„o com a QVT. Este pressuposto pode-se confirmar a partir<br />
do estudo sobre QVT desenvolvido por Piccinini e Tolfo (1998) e Tolfo e Piccinini (2001), em<br />
trinta empresas, no Brasil, que oferecem as condiÁıes mais atraentes para os trabalhadores, nas<br />
oito dimensıes do modelo de Walton que permitem avaliar as melhores pr·ticas em Recursos<br />
Humanos.<br />
Das trinta empresas abarcadas pelo referido estudo, dez foram destacadas como as<br />
melhores para se trabalhar no Brasil, nomeadamente: Accor Brasil, Arthur Andersen, PROMON,<br />
SAMARCO, USIMINAS, Belgo Mineira, Brasmotor, Elma Chips, Goodyear e XEROX. Por<br />
outro lado, os dados das organizaÁıes, cujas pr·ticas avaliadas, de forma positiva pelos seus<br />
trabalhadores, possibilitaram apontar, em ordem decrescente: orgulho do trabalho e da empresa,<br />
adequaÁ„o na comunicaÁ„o interna, oportunidade de carreira, camaradagem no trabalho, seguranÁa<br />
66
na gest„o, treinamento e desenvolvimento, inovaÁ„o no sistema de trabalho e sal·rios e benefÌcios.<br />
(PICCININI e TOLFO, 1998; TOLFO e PICCININI, 2001)<br />
No sector da educaÁ„o, o corpo tÈcnico e auxiliar administrativo da Universidade Unisul,<br />
no Brasil, tambÈm elegeu algumas das pr·ticas que mais caracterizam a QVT: em primeiro lugar, o<br />
reconhecimento profissional; em segundo lugar, o trabalho em equipa, uma vez que que gera<br />
cumplicidade e pluralidade de ideias, facilitando o alcance dos objectivos da equipa de trabalho e<br />
da organizaÁ„o; e, em terceiro lugar, o respeito como forma a melhorar o relacionamento entre as<br />
pessoas. (BUSS, 2002)<br />
Profissionais do ramo hoteleiro mostram-se, em geral, satisfeitos com a sua QVT, conforme<br />
apurou um estudo de caso com onze gestores de um hotel da cidade de FlorianÛpolis, no Brasil,<br />
realizado por Silva e Tolfo (1999). No entanto, o estudo revelou que existem algumas dimensıes<br />
do modelo de QVT de Walton que foram avaliados de forma mais depreciativa pelos gestores,<br />
comparando aos restantes indicadores de QVT analisados, nomeadamente: oportunidades de<br />
crescimento e seguranÁa, oportunidades de aplicaÁ„o de conhecimentos e aptidıes e compensaÁ„o<br />
justa e adequada.<br />
Ainda no sector de serviÁos, J˙nior e Zimmermann (2002) relatam, de igual modo,<br />
resultados pouco animadores de um diagnÛstico da QVT por eles realizado em trabalhadores de<br />
quatro agÍncias da Empresa Brasileira de Correios e TelÈgrafos, com base no modelo teÛrico de<br />
Westley. De acordo com o estudo, todas as agÍncias apresentaram funcion·rios insatisfeitos com o<br />
indicador econÛmico, duas agÍncias apresentaram baixa insatisfaÁ„o, quanto aos indicadores<br />
polÌtico e sociolÛgico, e uma agÍncia apresentou funcion·rios insatisfeitos com todos os<br />
indicadores de QVT.<br />
No sector da sa˙de, a situaÁ„o da QVT parece ser mais prec·ria, como reportam v·rios<br />
estudos sobre stress, Burnout e sa˙de no trabalho, nesta camada de profissionais que possui uma<br />
actuaÁ„o muito directa com as pessoas. Schmidt (2004), por exemplo, estudou a relaÁ„o entre<br />
Qualidade de Vida e QVT em 105 profissionais de enfermagem de Unidades do Bloco Cir˙rgico<br />
em quatro hospitais da cidade de Londrina, no Brasil. Os resultados da pesquisa apontaram um<br />
baixo grau de satisfaÁ„o com a QVT, tendo sido a remuneraÁ„o considerada como fonte de menor<br />
67
satisfaÁ„o e, o domÌnio status profissional, o de maior satisfaÁ„o. Curiosamente, n„o foi encontrada<br />
uma correlaÁ„o entre as vari·veis Qualidade de Vida e QVT.<br />
Resultados n„o muito divergentes foram encontrados por Di Lascio (2003), onde 115<br />
profissionais de enfermagem de um hospital pedi·trico se mostraram satisfeitos com as condiÁıes<br />
fÌsicas de trabalho, com o relacionamento interpessoal e com algumas caracterÌsticas genÈricas do<br />
seu trabalho. PorÈm, revelaram baixos indÌces de satisfaÁ„o com o factor condiÁıes humanas para<br />
o trabalho, tendo-se, inclusive, identificado sinais de stress e com o factor CondiÁıes de<br />
Desenvolvimento Profissional, particularmente, no que diz respeito ao sal·rio, quantidade de<br />
trabalho di·rio, falta de oportunidades de carreira e inseguranÁa no emprego.<br />
Ara˙jo (2001) tambÈm comparou a percepÁ„o sobre a QVT de 393 trabalhadores de duas<br />
organizaÁıes de sa˙de, na cidade de Linhares, no Brasil, a partir do modelo teÛrico de Hackman e<br />
Oldham, segundo o tipo de organizaÁ„o - p˙blica ou privada - e segundo o sector em que est· o<br />
trabalhador - tÈcnico ou administrativo. A an·lise, segundo o tipo de organizaÁ„o, apresentou<br />
diferenÁas significativas em relaÁ„o ‡s vari·veis do modelo, como a Variedade de Habilidades,<br />
Feedback, Signific‚ncia Percebida em relaÁ„o ao Trabalho, SatisfaÁ„o Geral com o Trabalho,<br />
SatisfaÁ„o com a SeguranÁa no Trabalho e com o Ambiente Social. Verificou-se, tambÈm, que a<br />
Necessidade de Crescimento Interno e o Potencial Motivador apresentaram diferenÁas<br />
significativas, em que os resultados mais elevados se referem ‡ organizaÁ„o privada. Quanto ‡<br />
comparaÁ„o entre o sector de trabalho, independente do tipo de organizaÁ„o, o estudo apresentou<br />
diferenÁas significativas apenas na vari·vel Signific‚ncia da Tarefa, na qual o sector tÈcnico<br />
apresentou valores superiores ao sector administrativo.<br />
Sant¥Anna e Moraes (1998) resumem alguns dos achados semelhantes em diversos estudos<br />
sobre QVT, no Brasil: (a) a satisfaÁ„o com a compensaÁ„o cresce com a idade; (b) os ocupantes de<br />
cargos de chefia possuem uma QVT mais satisfatÛria que os seus subordinados; (c) trabalhadores<br />
com maior tempo de casa apresentam melhor ajustamento ‡ instituiÁ„o e melhor QVT que aqueles<br />
com menor tempo; (d) trabalhadores com maior escolaridade revelam-se mais satisfeitos com<br />
factores mais intrÌnsecos, ou seja, com o conte˙do do trabalho, enquanto que trabalhadores com<br />
baixa escolaridade apresentam-se mais satisfeitos com factores de contexto; (e) os homens tendem<br />
a atingir uma melhor QVT que as mulheres; (f) os homens casados apresentam melhor QVT que<br />
os solteiros e divorciados; (g) os trabalhadores d„o maior import‚ncia ao sal·rio directo que ao<br />
68
sal·rio indirecto; e (h) o incremento da automaÁ„o gera insatisfaÁ„o quanto ao ambiente social de<br />
trabalho.<br />
Estes resultados confirmam os pressupostos de Maslow, Herzberg e outros teÛricos, quanto<br />
‡ import‚ncia dos factores intrÌnsecos ao trabalho no nÌvel de satisfaÁ„o percebida pelos<br />
trabalhadores, bem como sinalizam a influÍncia de dados sÛcio-demogr·ficos sobre os nÌveis de<br />
QVT.<br />
Considine e Callus (s.d.) tambÈm reportam a influÍncia de vari·veis sÛcio-demogr·ficas, no<br />
nÌvel de satisfaÁ„o com a QVT, num estudo desenvolvido em 2001, na Austr·lia, abarcando cerca<br />
de 1000 trabalhadores a tempo inteiro. O estudo revelou que o nÌvel de satisfaÁ„o com a QVT È<br />
maior nos trabalhadores pertencentes ao sector privado e a insatisfaÁ„o com a QVT aumenta com a<br />
idade. Na tabela 2 resumem-se alguns factores de insatisfaÁ„o com a QVT, apontados por 20% dos<br />
trabalhadores envolvidos neste estudo.<br />
TABELA 2<br />
FACTORES <strong>DE</strong> INSATISFA« O COM A QVT <strong>DE</strong> TRABALHADORES NA AUSTR¡LIA<br />
% de<br />
Trabalhadores<br />
Factores de InsatisfaÁ„o com a QVT<br />
20 RemuneraÁ„o injusta comparando com outros profissionais que executam o<br />
mesmo trabalho<br />
22 Trabalho pouco interessante e satisfatÛrio<br />
20 InsatisfaÁ„o com a sua perspectiva de carreira para os prÛximos 2 anos<br />
23 Falta de confianÁa nos gestores sÈniores<br />
24 Falta de equilÌbrio entre o tempo dispendido no trabalho e o tempo dispendido<br />
com a famÌlia e amigos<br />
29 InsatisfaÁ„o com o nÌvel de stress que vivencia no trabalho<br />
FONTE: Considine e Callus (s.d.)<br />
A QVT tem sido, igualmente, considerada como uma expans„o natural da qualidade total.<br />
Desta forma, os programas de qualidade total (PQT) n„o sÛ devem melhorar os resultados das<br />
empresas, mas tambÈm a satisfaÁ„o dos trabalhadores, o seu bem-estar e as suas condiÁıes de vida<br />
no trabalho e atÈ fora dele. DaÌ que, pressupıe-se, deva existir uma forte correlaÁ„o entre a<br />
implementaÁ„o de PQT e um bom nÌvel de QVT, sendo este talvez o maior desafio que as<br />
organizaÁıes actualmente enfrentam. Este pressuposto vai ao encontro de algumas pesquisas<br />
realizadas, como, por exemplo, o estudo desenvolvido por Monaco e Guimar„es (1999; 2000)<br />
sobre a introduÁ„o do PQT e sua influÍncia na QVT na Empresa Brasileira de Correios e<br />
TelÈgrafos. O estudo apontou que quase a totalidade dos trabalhadores entrevistados reconheceu<br />
69
que houve melhorias na QVT, a partir da introduÁ„o do PQT, e que os principais avanÁos estavam<br />
relacionados com a preocupaÁ„o da direcÁ„o da empresa com a melhoria das condiÁıes fÌsicas do<br />
ambiente de trabalho. Em menor escala, foram citadas tambÈm uma maior preocupaÁ„o da<br />
empresa quanto aos aspectos relacionados com a sa˙de dos funcion·rios, que antes n„o existia;<br />
maior preocupaÁ„o em prestar serviÁos de qualidade aos clientes internos e externos; maior<br />
preocupaÁ„o com o lado humano dos funcion·rios; maior liberdade e mais reconhecimento.<br />
Juli„o (2001) realizou um estudo de caso junto a uma empresa brasileira do sector<br />
automobilÌstico, onde procurou fazer uma avaliaÁ„o dos esforÁos para a promoÁ„o da QVT, a<br />
partir da pesquisa do clima organizacional e do sistema de qualidade, baseado na especÌficaÁ„o<br />
tÈcnica ISO. O resultado da avaliaÁ„o indicou constribuiÁıes positivas e importantes das<br />
CertificaÁıes do Sistema de Qualidade para a capacitaÁ„o e satisfaÁ„o dos trabalhadores. De igual<br />
forma, a pesquisa do clima organizacional mostrou-se abrangente, explorando questıes, desde as<br />
condiÁıes de trabalho atÈ ‡ satisfaÁ„o dos trabalhadores, revelando-se um importante instrumento<br />
de mapeamento da QVT.<br />
Prada, Miguel e FranÁa (1999) tambÈm analisaram o impacto da certificaÁ„o para a<br />
Qualidade na QVT, a partir das pr·ticas de gest„o de pessoas, numa amostra de 30 empresas<br />
brasileiras. O estudo revelou que a busca por certificaÁ„o para a Qualidade pelas empresas<br />
potencializa e consolida polÌticas e acÁıes de gest„o de pessoas, em particular na funÁ„o<br />
treinamento, favorecendo, assim, a competitividade dos recursos humanos.<br />
Lima (1995) estudou os efeitos da introduÁ„o de PQT no nÌvel de satisfaÁ„o com a QVT de<br />
176 oper·rios provenientes de quatro organizaÁıes do sector de construÁ„o, no Brasil, a partir do<br />
referencial teÛrico de Walton. Os resultados obtidos demonstram que os oper·rios das<br />
construtoras que introduziram mais acÁıes de qualidade total apresentam nÌveis de satisfaÁ„o<br />
superiores aos das restantes construtoras que est„o ainda na fase inicial do processo de<br />
implementaÁ„o do PQT .<br />
FranÁa (1996) examinou a QVT de 446 trabalhadores de vinte e seis empresas de mÈdio<br />
porte sediadas na regi„o de S„o Paulo, que obtiveram certificaÁ„o ISO 9000, procurando relacionar<br />
o seu nÌvel de esforÁo e o grau de satisfaÁ„o dos trabalhadores atravÈs de indicadores da<br />
abordagem biopsicossocial. Os resultados do estudo revelam que existem prov·veis relaÁıes entre<br />
o nÌvel de esforÁo da empresa e o grau de satisfaÁ„o dos trabalhadores, quando as acÁıes e os<br />
70
programas de QVT se relacionam com critÈrios biolÛgicos e sociais. No entanto, n„o existe<br />
concord‚ncia entre o esforÁo declarado pela empresa e a satisfaÁ„o manifestada pelos<br />
trabalhadores, relativamente aos critÈrios sociais compostos por programas de actividades de lazer,<br />
atendimento a filhos, creches e financiamento de cursos externos. Por outro lado, o estudo tambÈm<br />
apurou diferenÁas de percepÁ„o do conceito de QVT entre segmentos e nÌveis hier·rquicos, ou<br />
seja, enquanto os gestores compreendem a QVT como realizaÁ„o pessoal, os trabalhadores<br />
entendem o conceito como sinÛnimo de sa˙de e seguranÁa/estabilidade no emprego e, enquanto a<br />
direcÁ„o valorizou mais a realizaÁ„o pessoal e a confianÁa e responsabilidade como conceito de<br />
QVT, as supervisıes valorizaram realizaÁ„o pessoal e seguranÁa, e o pessoal da produÁ„o sa˙de,<br />
seguranÁa e responsabilidade. (FRAN«A, 1996).<br />
No entanto, a relaÁ„o entre Qualidade Total e QVT parece n„o ser muito estreita, conforme<br />
o estudo efectuado por Scopinho (2000), no sector sucroalcooleiro de S„o Paulo, com um processo<br />
de reestruturaÁ„o produtiva em curso, assente na introduÁ„o de um conjunto de inovaÁıes tÈcnico-<br />
organizacionais, especialmente na implementaÁ„o dos programas que visam a qualidade total,<br />
como estratÈgias gerenciais, para obter aumento de produtividade, melhoria na qualidade e reduÁ„o<br />
dos custos de produÁ„o. De acordo com o estudo, Scopinho (2000) concluiu que, por um lado, a<br />
polÌtica de gest„o de recursos humanos, aparentemente humanista e participativa, n„o supera os<br />
tradicionais mÈtodos de gest„o do trabalho, n„o se traduzindo em melhorias reais na QVT,<br />
contribuindo, pelo contr·rio, para dificultar o processo organizativo dos trabalhadores. Por outro<br />
lado, as pr·ticas empresariais em sa˙de e formaÁ„o de recursos humanos objectivam o controle e a<br />
adequaÁ„o do trabalho ‡s exigÍncias de produtividade e qualidade.<br />
2.3 O <strong>TRABALHO</strong> DOCENTE E A QVT<br />
ìEnsinar È um exercÌcio de imortalidade. De alguma<br />
forma continuamos a viver naqueles cujos olhos<br />
aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O<br />
professor, assim, n„o morre jamaisî.<br />
Ruben Alves<br />
Durante muito tempo, o professor e a funÁ„o docente gozou de uma imagem prestigiada<br />
derivada de um conjunto de virtudes expressas em termos como sacrifÌcio, sabedoria, paciÍncia e<br />
abnegaÁ„o. (FONSECA, 2001) No entanto, hoje, nas entrelinhas do discurso educacional extraiem-<br />
se termos como profissionalizaÁ„o, autonomia e revalorizaÁ„o, que caracterizam a situaÁ„o<br />
71
prec·ria em que se encontram os sistemas educativos em todo o mundo e, em particular, os seus<br />
principais actores, que s„o os professores.<br />
Segundo Fonseca (2001), a situaÁ„o insatisfatÛria e a desqualificaÁ„o profissional a que os<br />
professores tÍm sido expostos actualmente È derivada, por um lado, pela progressiva deterioraÁ„o<br />
dos sal·rios e, por outro, pela diminuiÁ„o do status social e das prec·rias condiÁıes de trabalho. De<br />
modo geral, como menciona Fonseca (2001), na maioria dos PaÌses em desenvolvimento, o<br />
professor È uma pessoa de nÌvel sÛcio-econÛmico baixo, com formaÁ„o geral insuficiente (produto<br />
ele prÛprio de uma escola p˙blica de m· qualidade), formaÁ„o profissional prec·ria (ou<br />
inexistente), um fraco contacto com a produÁ„o cientÌfica, a tecnologia e os livros e,<br />
consequentemente, com o uso desses recursos.<br />
Noa (2005) usa o termo ìletargiaî para caracterizar o estado em que se encontram as<br />
funÁıes pedagÛgica e cientÌfica nas Universidades moÁambicanas. Segundo este acadÈmico, os<br />
professores, para alÈm de n„o se dedicarem ‡ investigaÁ„o cientÌfica, n„o preparam adequadamente<br />
as suas aulas, limitando-se a reproduzir os conhecimentos que adquiriram h· 20 ou 30 anos atr·s,<br />
aquando da sua formaÁ„o.<br />
A fraca capacidade de os professores universit·rios desenvolveram a pesquisa cientÌfica<br />
pode dever-se, como aponta Landsheere (s.d.), ao facto de a grande maioria destes profissionais<br />
n„o terem sido formados em instituiÁıes em que a investigaÁ„o ìanda de braÁo dadoî com o<br />
ensino e, portanto, n„o est„o em condiÁıes de manterem o contacto com as publicaÁıes de<br />
pesquisa relativas ao seu campo de actuaÁ„o.<br />
Como salienta Noa (2005, p. 4) ìuma cultura de pesquisa complementa qualidades<br />
pedagÛgicas b·sicas que ajudar„o o professor a aprender a absorver, digerir e simplificar o<br />
conhecimento...î. No entanto, a inexistÍncia desta cultura de pesquisa, em particular no contexto<br />
do Ensino Superior moÁambicano, n„o se deve apenas ‡ fraca preparaÁ„o dos docentes, mas<br />
tambÈm, por um lado, ‡s dificuldades de financiamento para o efeito, e, por outro, ao fraco<br />
interesse e valorizaÁ„o desta actividade por parte das prÛprias instituiÁıes, afastando, assim, como<br />
refere Costa (s.d.), a Universidade da sua velha miss„o de promover a busca do conhecimento,<br />
contribuindo para o desenvolvimento sÛcio-econÛmico do PaÌs.<br />
72
Landsheere (s.d.) refere a crise de identidade por que passam actualmente os professores,<br />
devido ‡ carÍncia de uma formaÁ„o profissional, produzindo um impacto negativo na qualidade do<br />
recrutamento. Em relaÁ„o ‡ formaÁ„o pedagÛgica dos professores universit·rios, Pachane e Pereira<br />
(s.d.) referem que nunca existiu uma tradiÁ„o de formaÁ„o pedagÛgica, sendo que os professores<br />
mais jovens sempre foram deixados a sÛs, excepto talvez por um breve curso de iniciaÁ„o.<br />
Costa (s.d.) tambÈm menciona que os professores universit·rios n„o tÍm preparaÁ„o<br />
pedagÛgica inicial e, mesmo ao longo da sua vida profissional, raramente tÍm a oportunidade de<br />
participar em cursos, semin·rios ou reuniıes sobre pedagogia e mÈtodos de ensino, ficando, assim,<br />
a pedagogia ao sabor de cada um, do seu instinto e dotes naturais de comunicador.<br />
Ao mesmo tempo, È crescente a exigÍncia de que os professores universit·rios obtenham os<br />
tÌtulos de mestre ou doutor. No entanto, segundo Pachane e Pereira (s.d.), È question·vel se esta<br />
titulaÁ„o, do modo como vem sendo realizada actualmente, possa contribuir efectivamente para a<br />
melhoria da qualidade did·ctica no Ensino Superior.<br />
Rosemberg (s.d.) realizou um estudo, em 1998, com 164 docentes especialistas, mestres e<br />
doutores de uma Universidade brasileira p˙blica, que lhe permitiu apurar os seguintes factores, que<br />
mais dificultam o processo de formaÁ„o contÌnua dos professores: a polÌtica salarial; as polÌticas de<br />
contenÁ„o de despesas; a polÌtica de n„o-contrataÁ„o de professores para o quadro efectivo; a<br />
polÌtica do envolvimento dos professores em cargos e/ou actividades administrativas<br />
desenvolvidas na InstituiÁ„o; e a polÌtica de actualizaÁ„o das colecÁıes das bibliotecas.<br />
Na opini„o dos professores que integraram este estudo, esta situaÁ„o revela o descaso do<br />
Governo com o ensino p˙blico superior, cujas polÌticas educacionais vigentes tÍm levado ‡<br />
desvalorizaÁ„o, ‡ precariedade, ‡ desqualificaÁ„o docente e, consequentemente, ‡ m· qualidade do<br />
ensino. Dentre os elementos institucionais de car·cter interno, os docentes destacaram,<br />
fundamentalmente, a burocracia existente na estrutura da Universidade como um dos factores que<br />
tem oferecido maior obst·culo nos seus esforÁos para participaÁ„o em encontros cientÌficos e na<br />
realizaÁ„o de est·gios e visitas tÈcnicas a instituiÁıes localizadas em outros pontos do PaÌs.<br />
(ROSEMBERG, s.d.)<br />
73
Por outro lado, os resultados do estudo tambÈm demonstraram que o processo de formaÁ„o,<br />
no que tange ‡ troca de informaÁıes no ‚mbito da prÛpria InstituiÁ„o, tende a ocorrer muito mais<br />
no plano individual do que colectivo. Tal afirmaÁ„o encontra a sua justificaÁ„o na constataÁ„o de<br />
que os canais de informaÁ„o, tais como: participaÁ„o em reuniıes cientÌficas e grupos de<br />
estudos/discussıes, conversas com colegas, eventos realizados e/ou promovidos pela<br />
Universidade, os quais, supostamente, poderiam estar a contribuir para a troca colectiva de saberes<br />
no ambiente acadÈmico, est„o, no entanto, a ser minimamente utilizados pelos professores.<br />
(ROSEMBERG, s.d.)<br />
De acordo com Landsheere (s.d.), os professores est„o conscientes de que n„o conseguem<br />
evoluir face aos avanÁos cientÌficos e tecnolÛgicos que se produzem em seu redor, criando, assim,<br />
um certo desconforto da sua posiÁ„o intelectual. Esta situaÁ„o È confirmada a partir do estudo<br />
desenvolvido por Pinto (2002), sobre o processo da formaÁ„o docente de um grupo de professores<br />
de uma IES privada brasileira proveniente do meio empresarial, sem formaÁ„o did·tico-<br />
pedagÛgica. O referido estudo discute os aspectos facilitadores e as dificuldades enfrentadas por<br />
estes profissionais, no seu processo individual de formaÁ„o docente, bem como, na transposiÁ„o<br />
profissional que os levou da experiÍncia tÈcnica para a docÍncia. Os dados do estudo fornecem<br />
subsÌdios para se chegar ‡ conclus„o de que, no presente contexto de mudanÁas sociais aceleradas<br />
e contÌnuas, que geram um volume imensur·vel de informaÁıes globais importantes, urge a<br />
necessidade de adequaÁ„o, actualizaÁ„o e acompanhamento do docente ao ritmo das mudanÁas<br />
sociais, atÈ mesmo, para a sua sobrevivÍncia na profiss„o que exerce. (PINTO, 2002)<br />
Mioch (1997) aponta uma sÈrie de factores que impedem os professores de crescer e de se<br />
aperfeiÁoar profissionalmente os quais se esquematiza no quadro 5.<br />
QUADRO 5<br />
FACTORES QUE IMPE<strong>DE</strong>M OS PROFESSORES <strong>DE</strong> PROGREDIR PROFISSIONALMENTE<br />
FACTORES ASPECTOS INTERVENIENTES<br />
Relacionados com a<br />
actividade do professor em<br />
sala de aula<br />
Relacionados com o<br />
funcionamento da equipa<br />
escolar<br />
FONTE: Mioch (1997)<br />
O professor trabalha isolado<br />
O professor n„o percebe a relaÁ„o directa entre o esforÁo que dispende e os<br />
resultados visÌveis<br />
A rotina do trabalho do professor È paralisante<br />
O professor possui insuficientes conhecimentos no campo da Did·tica e da<br />
Pedagogia<br />
DirecÁ„o e colegas n„o manifestam apreÁo ou apoio<br />
N„o h· trabalho colectivo<br />
N„o h· clima para se admitirem os prÛprios erros<br />
Director e professor tÍm o seu prÛprio domÌnio<br />
Falta de identidade da prÛpria instituiÁ„o educativa<br />
74
Segundo Rosemberg (s.d.), j· n„o existe no ambiente acadÈmico o sentimento colectivo de<br />
ser integrante do grupo, pois cada um se vÍ como um estranho e tem-se voltado para o seu ìfazerî<br />
isoladamente, enfraquecendo a sociabilidade na Universidade e dando lugar ‡ indiferenÁa e ‡<br />
passividade. In˙meros factores tÍm contribuÌdo para esta situaÁ„o com que se deparam as IES¥s e<br />
os professores universit·rios.<br />
Por um lado, Gomes (2002) realÁa que as instituiÁıes educacionais exigem e promovem<br />
uma renovaÁ„o metodolÛgica, mas n„o disponibilizam aos professores os recursos e condiÁıes<br />
necess·rios para desenvolvÍ-la, situaÁ„o esta que produz uma reacÁ„o de inibiÁ„o no professor, que<br />
se conforma com a rotina escolar, como resultado da perca de esperanÁa em ver mudanÁas na sua<br />
pr·tica docente.<br />
Por outro lado, mesmo sem adequadas condiÁıes de trabalho, a quantidade de funÁıes e<br />
papÈis atribuÌdos aos docentes universit·rios È cada vez maior. Pachane e Pereira (s.d.) apontam<br />
que as funÁıes que fazem parte do trabalho do professor universit·rio s„o, principalmente: o<br />
estudo e a pesquisa; a docÍncia, sua organizaÁ„o e o aperfeiÁoamento de ambas; a comunicaÁ„o<br />
das suas investigaÁıes; a inovaÁ„o e a comunicaÁ„o das inovaÁıes pedagÛgicas; a orientaÁ„o<br />
(tutoria) e a avaliaÁ„o dos alunos; a participaÁ„o respons·vel na selecÁ„o de outros professores; a<br />
avaliaÁ„o da docÍncia e da investigaÁ„o; a participaÁ„o na gest„o acadÈmica; o estabelecimento de<br />
relaÁıes com o mundo do trabalho, da cultura etc.; a promoÁ„o de relaÁıes e interc‚mbio<br />
departamental e inter-universit·rio; e a contribuiÁ„o para criar um clima de colaboraÁ„o entre os<br />
professores.<br />
Para alÈm da docÍncia, espera-se que os professores se envolvam na administraÁ„o e gest„o<br />
nos seus departamentos, na Universidade, tomando decisıes sobre currÌculos, polÌticas de pesquisa<br />
e financiamento, n„o apenas no seu ‚mbito, mas tambÈm no ‚mbito do SNE e das instituiÁıes<br />
cientÌficas, de polÌticas de pesquisa, de ensino e de avaliaÁ„o, aspectos que, de forma geral,<br />
segundo Pachane e Pereira (s.d.) n„o s„o contemplados num processo de formaÁ„o profissional do<br />
docente do Ensino Superior.<br />
Para Fonseca (2001), a incapacidade de cumprirem todas estas funÁıes, simultaneamente,<br />
leva a que muitos professores faÁam mal o seu trabalho e n„o por questıes de incompetÍncia. De<br />
igual forma, o aumento de responsabilidades dos professores n„o se fizeram acompanhar de uma<br />
75
melhoria efectiva dos recursos materiais e das condiÁıes de trabalho em que se exerce a docÍncia.<br />
(FONSECA, 2001)<br />
Os desafios que os professores tÍm pela frente tambÈm s„o muitos. Como referem Pachane<br />
e Pereira (s.d.), no cen·rio actual do Ensino Superior, o professor deve saber lidar com uma<br />
diversidade cultural que antes n„o existia, decorrente do ingresso de um p˙blico cada vez mais<br />
heterogÈneo. AlÈm disso, s„o obrigados a aprender a gerir turmas cada vez mais numerosas, pois a<br />
baixa correlaÁ„o do n˙mero de alunos por professor, antes considerada como Ìndice de qualidade<br />
de um curso, hoje passa a identificar a ìineficiÍncia do sistemaî. (PACHANE e PEREIRA, s.d.)<br />
Este conjunto de factores, situaÁıes desconfort·veis e desafios com que se deparam os<br />
docentes universit·rios no seu quotidiano contribuem para fragmentar a sua actividade docente,<br />
desestabilizando a sua sa˙de e, consequentemente, a sua QVT. (GOMES, 2002; LIMA, 1998)<br />
Os estudos sobre o stress em professores s„o cada vez mais frequentes na literatura e<br />
inclusive, segundo Lima (1998) e Moore (s.d.), o professor est· entre os profissionais que mais<br />
sofrem de stress. Resultados semelhantes podem ser observados nas pesquisas realizadas por<br />
Esteve, citado por Fonseca (2001), onde se constata que a frequÍncia de casos psiqui·tricos entre<br />
os professores È claramente mais elevada que a dos grupos de controle, estando estes profissionais<br />
expostos a uma ansiedade consider·vel, que produz elevados Ìndices de stress e casos de doenÁa<br />
mental.<br />
Gomes (2002) tambÈm faz referÍncia a um informe da OIT, que concluiu existir um<br />
n˙mero crescente de estudos realizados em PaÌses desenvolvidos, que mostram que os educadores<br />
correm o risco de esgotamento fÌsico ou mental, sob o efeito de dificuldades materiais e<br />
psicolÛgicas associadas ao seu trabalho, dificuldades essas que, para alÈm de produzirem um<br />
impacto negativo na sa˙de dos professores, parecem constituir uma das causas dos abandonos<br />
observados nessa profiss„o.<br />
Christophoro e Waidman (2002) detectaram elevados nÌveis de stress em trinta professores<br />
universit·rios do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Maring·, no Estado do<br />
Paran·, no Brasil, num estudo por eles conduzido em Julho de 2000. Segundo este estudo, os<br />
docentes atribuÌram como causas dos nÌveis de stress apresentados ‡s condiÁıes de trabalho, ‡<br />
76
dupla ou tripla jornada de trabalho, ‡s questıes financeiras e ‡s pressıes do trabalho como pÛs-<br />
graduaÁ„o, competitividade e relacionamento interpessoal conflituoso.<br />
Souza (2001) efectuou uma pesquisa que visava identificar o nÌvel de QVT de 200<br />
docentes da ·rea biolÛgica de uma IES no Brasil, que se encontravam a cursar o mestrado para<br />
efeitos de qualificaÁ„o profissional. A an·lise e resultados desta pesquisa revelou que 100% da<br />
populaÁ„o de docentes n„o possui uma qualidade de vida ideal, demostrando deficiÍncias em<br />
v·rios desses aspectos, deixando claro o desequilÌbrio entre as necessidades psico-fisiolÛgicas,<br />
assim como 88% apresenta nÌveis de stress elevado e 12% nÌveis de stress toler·vel. Face a estes<br />
resultados, Souza (2001) pÙde concluir que a competitividade organizacional das Universidades<br />
geram uma elevada press„o temporal, visando a qualificaÁ„o do seu corpo docente, para a<br />
obtenÁ„o da qualidade do ensino.<br />
Paiva e Saraiva (2005) encontraram indÌcios que tendem a confirmar o histÛrico de<br />
pesquisas sobre o tema, de nÌveis de stress mais elevados numa amostra de 170 professores<br />
provenientes de trÍs IES¥s (duas privadas e uma p˙blica), situadas em Belo Horizonte, Brasil.<br />
TambÈm no Brasil, Fonseca (2001) apresenta dados relativos ‡ licenÁa de sa˙de de professores, no<br />
Estado de Minas Gerais, referentes ao ano de 1999 (vide tabela 3).<br />
TABELA 3<br />
DADOS SOBRE A LICEN«A <strong>DE</strong> SA⁄<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> PROFESSORES<br />
<strong>NO</strong> ESTADO <strong>DE</strong> MINAS GERAIS, BRASIL (1999)<br />
% de Professores de um total de 171 DiagnÛsticos MÈdicos<br />
23,3 Depress„o neurÛtica<br />
8,7 ReacÁ„o depressiva prolongada<br />
3,5 ReacÁ„o aguda de Stress<br />
2,9 Estados de Ansiedade<br />
2,3 ReacÁ„o depressiva breve<br />
FONTE: Fonseca (2001)<br />
Visando contribuir para a compreens„o do stress no ambiente acadÈmico universit·rio,<br />
Ayres, Brito e Feitosa (1999) procuraram identificar os agentes avaliados como stressantes e as<br />
estratÈgias defensivas utilizadas, numa amostra de trinta e cinco docentes com cargos de chefia<br />
intermedi·ria (Directores e Directores Adjuntos de Centro; Chefes e Subchefes de Departamento; e<br />
Coordenadores e Subcoordenadores de Curso) de uma Universidade p˙blica do Nordeste do Brasil.<br />
Os resultados do estudo apontam os itens relativos ‡ rede de comunicaÁıes, ao relacionamento<br />
77
com colegas e com os alunos, como os factores de maior potencial stressante. E destacam os<br />
Directores Adjuntos de Centro como o cargo com maiores Ìndices de fontes de stress. Entre as<br />
estratÈgias defensivas, as mais utilizadas pelos docentes s„o a express„o dos sentimentos e a busca<br />
de suporte social, sendo os Directores de Centro os que mais as utilizam.<br />
Lima (1998) explica que o stress do professor, no Brasil, parece estar relacionado com o<br />
sal·rio pouco digno, com a precariedade das condiÁıes de trabalho, com o alto volume de<br />
atribuiÁıes burocr·ticas, com o elevado n˙mero de turmas assumidas e de alunos por sala, com o<br />
mau comportamento desses alunos, com a sua fraca formaÁ„o, com as pressıes de tempo e ainda<br />
com as suas preocupaÁıes pessoais extra-escola.<br />
A situaÁ„o do stress em professores no Reino Unido originou a criaÁ„o de uma rede de<br />
apoio aos professores que disponibiliza uma linha telefÛnica de apoio. (MOORE, s.d.) Segundo<br />
Moore (s.d.), no ano 2000, dois terÁos dos professores, que usaram a referida linha para obter<br />
apoio e aconselhamento, reportaram problemas relacionados com o seu trabalho (vide tabela 4).<br />
TABELA 4<br />
PROBLEMAS REPORTADOS POR PROFESSORES <strong>NO</strong> REI<strong>NO</strong> UNIDO<br />
ATRAV…S DA LINHA <strong>DE</strong> APOIO (2000)<br />
% Problemas apresentados<br />
27 Stress, ansiedade e depress„o<br />
14 Conflitos com superiores e colegas de trabalho<br />
9 Excesso de trabalho e press„o de mudanÁas<br />
9 Perca de confianÁa e ansiedade no desempenho<br />
5 Relacionamentos e problemas conjugais e familiares<br />
FONTE: Moore (s.d.)<br />
Para alÈm do stress ocupacional, Carlotto (2003) recorda que a severidade do Burnout entre<br />
os profissionais de ensino È, actualmente, superior ‡ dos profissionais de sa˙de. Pesquisas sobre<br />
esta sÌndrome em professores tÍm uma longa tradiÁ„o na AmÈrica do Norte, porÈm, em PaÌses<br />
europeus, excepto na Inglaterra, ainda est„o em fase embrion·ria. Contudo, face ‡ ocorrÍncia desta<br />
sÌndrome em professores, Moreno-Jimenez et al. (2002) desenvolveram um instrumento para<br />
medir as dimensıes que caracterizam o Burnout nesta camada de profissionais, adequado ‡s suas<br />
especificidades.<br />
Silva (2000), ao tratar da sÌndrome de Burnout em professores, relaciona o seu<br />
aparecimento com uma press„o intensa e constante no trabalho. Gomes (2002) reforÁa que o<br />
78
Burnout descreve o ciclo degenerativo da efic·cia docente, pois constitui o conjunto de<br />
consequÍncias negativas que afectam o professor, a partir da acÁ„o combinada das condiÁıes<br />
psicolÛgicas e sociais em que se exerce a docÍncia.<br />
Garcia e Benevides-Pereira (2003) reportam as dez maiores fontes de esgotamento<br />
emocional em docentes: desmotivaÁ„o dos alunos; comportamento indisciplinado dos alunos; falta<br />
de oportunidades de ascens„o na carreira profissional; baixos sal·rios; m·s condiÁıes de trabalho<br />
(falta de equipamentos e instalaÁıes adequadas); turmas excessivamente grandes; pressıes de<br />
tempo e prazos; baixo reconhecimento e pouco prestÌgio social da profiss„o; conflitos com colegas<br />
e superiores; e r·pidas mudanÁas nas exigÍncias de adaptaÁ„o dos currÌcula.<br />
Fonseca (2001) menciona, de igual modo, alguns factores que tÍm sido associados ao<br />
Burnout em professores, nomeadamente: administraÁ„o insensÌvel aos problemas do professor,<br />
burocracia que entrava o processo de trabalho, transferÍncias involunt·rias, crÌticas da opini„o<br />
p˙blica, classes superlotadas, falta de autonomia, sal·rios inadequados, falta de perspectiva de<br />
ascens„o na carreira, isolamento em relaÁ„o a outros adultos ou falta de uma rede social de apoio,<br />
alÈm de uma formaÁ„o inadequada.<br />
Garcia e Benevides-Pereira (2003), ao estudarem a SÌndrome de Burnout, em setenta e<br />
nove professores de uma IES privada no MunicÌpio de Maring·, no Brasil, encontraram diferenÁas<br />
significativas na dimens„o exaust„o emocional, que se apresentou mais elevada nos professores do<br />
sexo feminino. A pesquisa tambÈm demonstrou existir correlaÁ„o positiva e significativa entre as<br />
horas semanais de trabalho e as trÍs dimensıes de Burnout, evidenciando que, quanto mais horas<br />
dedicadas ‡ docÍncia, maior a probabilidade de aparecimento da sintomatologia associada ao<br />
Burnout. (GARCIA e BENEVI<strong>DE</strong>S-PEREIRA, 2003)<br />
Segundo o estudo, observou-se que cinquenta e oito professores (73,42%), sentiam que a<br />
profiss„o interferia negativamente na sua vida pessoal e estes apresentavam mÈdias<br />
significativamente mais elevadas que os demais em exaust„o emocional, evidenciando que o<br />
esgotamento sentido se reflectia em outras dimensıes que n„o apenas o ocupacional. Dentre os<br />
profissionais pesquisados, tambÈm se constatou que vinte e seis (32,91%) afirmaram j· se terem<br />
submetido ou ainda estarem em processo de psicoterapia, sendo que estes apresentaram nÌveis<br />
79
mais elevados em exaust„o emocional e despersonalizaÁ„o que os demais professores. (GARCIA<br />
e BENEVI<strong>DE</strong>S-PEREIRA, 2003)<br />
Fonseca (2001) tambÈm relata pesquisas nos E.U.A. que confirmam a presenÁa de maiores<br />
nÌveis de sintomas da sÌndrome de Burnout em professores do sexo feminino que atravÈs das<br />
ausÍncias ao trabalho, justificadas por doenÁa fÌsica e mental, funcionam como saÌda para a mulher<br />
professora suportar o mal-estar do trabalho pedagÛgico. Conforme Gomes (2002), a dupla jornada<br />
de trabalho das mulheres professoras, alÈm de implicar um maior n˙mero de horas, supıe uma<br />
divis„o emocional entre as exigÍncias do trabalho e das necessidades da famÌlia, gerando com<br />
frequÍncia uma dupla culpabilidade, aumentando a predisposiÁ„o a doenÁas.<br />
Torna-se, portanto, evidente que, tanto a natureza do trabalho do professor, como no<br />
contexto em que exerce as suas funÁıes, existem diversos agentes stressantes que, se persistentes,<br />
podem levar ‡ sÌndrome de Burnout, afectando o ambiente educacional e os objectivos<br />
pedagÛgicos e levando estes profissionais a um processo de alienaÁ„o, desumanizaÁ„o e apatia no<br />
trabalho, ocasionando problemas de sa˙de, absentismo e intenÁ„o de abandonar a profiss„o.<br />
(CARLOTTO, 2003)<br />
No entanto, no ‚mbito da QVT dos docentes universit·rios, alguns estudos demonstram<br />
existirem diferenÁas, tendo em conta a realidade do Ensino Superior p˙blico e do privado.<br />
Cavedon, citado por Dias (2001), ao realizar uma pesquisa com o objectivo de identificar a<br />
existÍncia de similaridades entre a cultura organizacional de duas Universidades, uma p˙blica e<br />
outra privada, salientou, como pontos importantes na Universidade p˙blica, a escassez de recursos;<br />
o renome da instituiÁ„o; a falta de controle gerencial sobre as actividades; excesso de burocracia e<br />
a liberdade de express„o. Na Universidade privada, alguns pontos importantes salientados foram: a<br />
boa infra-estrutura e recursos; incentivo a qualificaÁ„o do corpo docente; e melhorias a serem<br />
implementadas (ex. planeamento estratÈgico).<br />
Segundo Dias (2001), os professores das Universidades privadas possuem condiÁıes mais<br />
adequadas para a sua capacitaÁ„o profissional e melhores condiÁıes de trabalho, enquanto que as<br />
Universidades p˙blicas demonstram desvalorizaÁ„o salarial e social, que vem afectando a imagem<br />
destes profissionais e do prÛprio ensino.<br />
80
Silva et al. (2002) focam alguns aspectos relativamente ‡s IES¥s p˙blicas em MoÁambique:<br />
a n„o valorizaÁ„o a nÌvel nacional do trabalho de investigaÁ„o, sal·rios, remuneraÁıes e outros<br />
benefÌcios materiais pouco atractivos, que resultam numa falta de dedicaÁ„o ao trabalho, na<br />
procura de alternativas de ìsobrevivÍnciaî (com outros empregos e consultorias) e um Ìndice<br />
crescente de ìfuga de cÈrebrosî a nÌvel interno, para organizaÁıes privadas.<br />
Dias (2001) refere que a lÛgica dos sal·rios entre professores do ensino p˙blico e privado È<br />
diferente, pois, no ensino privado, mantem-se a equidade salarial, respeitando as normas de<br />
mercado, enquanto que, no ensino p˙blico, o Estado regulamenta os sal·rios, atendendo a uma<br />
sÈrie de peculiaridades nas relaÁıes sociais e de produÁ„o.<br />
Marques e Paiva (1999) realizaram um estudo junto de oitenta e cinco docentes de uma<br />
Universidade p˙blica e privada do Estado de Minas Gerais, no Brasil, com vista a identificar<br />
possÌveis diferenÁas, relativamente a vari·veis de QVT, stress e situaÁ„o de trabalho, considerando<br />
os desgastes, fÌsico e mental, ocasionados pelas exigÍncias da profiss„o. O estudo revelou que, em<br />
termos de dados demogr·ficos, as grandes diferenÁas situam-se aos nÌveis de escolaridade e de<br />
renda mensal, que os docentes da IES p˙blica apresentaram scores de QVT inferiores aos da IES<br />
privada, porÈm ambos satisfatÛrios e que o nÌvel de stress em ambos os grupos de docentes era<br />
normal e baixo. Quanto ‡ situaÁ„o de trabalho, este estudo identificou diferenÁas entre tipos de<br />
dedicaÁ„o ‡ carreira acadÈmica (exclusiva ou parcial), participaÁ„o em pesquisa, ministraÁ„o de<br />
aulas, relacionamento com sindicatos e/ou entidades de classe e com partidos polÌticos.<br />
Dias (2001) conduziu um estudo junto de docentes universit·rios do curso de<br />
AdministraÁ„o de Empresas, numa Universidade p˙blica e numa privada, ambas localizadas no<br />
Rio Grande do Sul, no Brasil. O estudo que visava identificar e analisar o nÌvel de satisfaÁ„o de<br />
QVT, segundo o modelo teÛrico de Walton, revelou que os docentes da instituiÁ„o privada<br />
apresentaram um nÌvel de satisfaÁ„o com a QVT superior aos da instituiÁ„o p˙blica, embora se<br />
tenham verificado pontos crÌticos de insatisfaÁ„o nos docentes de ambas as instituiÁıes, conforme<br />
se apresenta na tabela 5.<br />
81
TABELA 5<br />
COMPARA« O <strong>DE</strong> <strong>INDICADORES</strong> <strong>DE</strong> QVT DO MO<strong>DE</strong>LO <strong>DE</strong> WALTON<br />
ENTRE UMA IES P⁄BLICA E PRIVADA, BRASIL (2005)<br />
Indicadores de QVT<br />
MÈdia Geral MÈdia Geral<br />
(Modelo de Walton)<br />
(Univ. Privada) (Univ. P˙blica)<br />
CondiÁıes de Trabalho 3,87 3,57<br />
CompensaÁ„o Justa e Adequada 3,31 2,28<br />
Uso e Desenvolvimento de Capacidades 3,76 3,84<br />
Oportunidades de Crescimento e SeguranÁa 3,54 2,93<br />
IntegraÁ„o Social na OrganizaÁ„o 3,74 3,70<br />
Direitos e Deveres (Constitucionalismo) 4,24 4,22<br />
Trabalho e EsforÁo Total de Vida 3,08 3,29<br />
Relev‚ncia Social da Vida no Trabalho<br />
FONTE: Dias (2001)<br />
3,99 3,28<br />
<strong>NO</strong>TA: As mÈdias correspondem a uma escala de avaliÁ„o que varia de 1 (Muito insatisfeito)<br />
a 5 (Muito satisfeito)<br />
Stefano et al. (2005) compararam o grau de satisfaÁ„o com a QVT entre dezassete docentes<br />
do Curso de AdministraÁ„o de uma Universidade p˙blica do Estado do Paran· e dezassete<br />
docentes do Curso de Psicologia de uma Universidade privada do Estado de S„o Paulo, no Brasil,<br />
tendo como base indicadores Biopsicossociais e Organizacionais. A tabela 6 apresenta uma sÌntese<br />
das mÈdias do grau de satisfaÁ„o com os aspectos biopsicossociais e organizacionais apontados<br />
pelos respondentes das IESís p˙blica e privada, numa escala de avaliaÁ„o que varia de 1<br />
(insatisfaÁ„o total) a 7 (satisfaÁ„o total).<br />
Em relaÁ„o aos aspectos organizacionais, observa-se que, em termos gerais, os professores<br />
da IES p˙blica apresentaram mÈdias superiores de satisfaÁ„o comparativamente ‡ IES privada,<br />
com excepÁ„o dos aspectos de inovaÁıes de processos de trabalho, novas tecnologias, qualidade<br />
de equipamentos e biblioteca. Nos aspectos biolÛgicos, as mÈdias das escalas de avaliaÁ„o dos<br />
respondentes das duas IES¥s s„o de insatisfaÁ„o parcial, no entanto, as mÈdias na IES privada s„o<br />
levemente superiores ‡s da p˙blica. Relativamente aos aspectos psicolÛgicos, as escalas de<br />
avaliaÁ„o apresentam mÈdias superiores com relaÁ„o aos outros aspectos e, na IES privada eles s„o<br />
mais expressivos. Quanto aos aspectos sociais, apresentam as mÈdias mais prÛximas ‡ insatisfaÁ„o<br />
parcial nas duas IES¥s, dentre todos os aspectos analisados. (STEFA<strong>NO</strong> et al., 2005)<br />
De acordo com este estudo, verifica-se que, embora a mÈdia global da satisfaÁ„o dos<br />
docentes com a QVT seja maior na IES privada, ambas as instituiÁıes revelaram baixos Ìndices de<br />
satisfaÁ„o, demonstrando que ainda carecem de polÌticas e pr·ticas de gest„o da QVT junto do seu<br />
p˙blico interno. Por outro lado, o estudo tambÈm apurou que o significado de QVT, para os<br />
82
professores da IES privada e p˙blica, estaria associado ‡ RealizaÁ„o Pessoal e Sa˙de. (STEFA<strong>NO</strong><br />
et al., 2005)<br />
TABELA 6<br />
COMPARA« O <strong>DE</strong> VARI¡VEIS BIOPSICOSSOCIAIS <strong>DE</strong> QVT<br />
ENTRE UMA IES P⁄BLICA E PRIVADA, BRASIL (2005)<br />
TIPO <strong>DE</strong> VARI¡VEIS M…DIAS<br />
VARI¡VEIS <strong>DE</strong> ASPECTOS ORGANIZACIONAIS P˙blica Privada<br />
Imagem da empresa junto aos professores(as) 4,17 3,65<br />
Oportunidade de treinamento e desenvolvimento profissional 3,5 2,47<br />
Melhorias nos processos de trabalho e novas tecnologias 2,87 3,06<br />
Oportunidade de participar de comitÍs de decis„o 4,31 2,60<br />
Qualidade dos procedimentos administrativos (ausÍncia de burocracia) 2,5 2,35<br />
Atendimento ‡s rotinas de pessoal (registo, documentos,etc.) 3,71 3,71<br />
Incentivo ‡ produÁ„o cientÌfica. 4,37 2,71<br />
Qualidade dos equipamentos (retroprojector, data-show, vÌdeo, projector de slides, microfone) 3,65 4,53<br />
Quantidade dos equipamentos (retroprojector, data-show, vÌdeo, projector de slides, microfone) 3,35 3,35<br />
Biblioteca (n˙mero de livros e revistas para a sua disciplina) 3,23 4,35<br />
Sala dos Professores 4,35 3,88<br />
Salas de aula (estrutura fÌsica) 4,35 3,76<br />
Quantidade de alunos por sala 4,12 3,06<br />
NÌvel de comunicaÁ„o interna 3,88 2,94<br />
MÈdia Geral por Grupo de Vari·veis 3,74 3,32<br />
VARI¡VEIS <strong>DE</strong> ASPECTOS BIOL”GICOS P˙blica Privada<br />
Controle dos riscos ergonÛmicos e ambientais 3,00 3,00<br />
Atendimento ambulatorial 2,82 2,69<br />
Atendimento do convÈnio mÈdico 2,27 3,53<br />
Qualidade dos Prestadores de serviÁo em alimentaÁ„o 1,92 3,75<br />
Estado geral de sa˙de dos colegas e superiores 4,5 4,71<br />
Qualidade dos programas de prevenÁ„o de doenÁas 2,42 2,36<br />
MÈdia Geral por Grupo de Vari·veis 2,82 3,34<br />
VARI¡VEIS <strong>DE</strong> ASPECTOS PSICOL”GICOS P˙blica Privada<br />
ConfianÁa nos critÈrios de recrutamento e selecÁ„o de professores /lÌderes/ coordenadores 4,41 3,88<br />
Forma de avaliaÁ„o do desempenho do seu trabalho 3,25 2,73<br />
Clima de camaradagem entre as pessoas 4,06 5,12<br />
Oportunidade de carreira 4,44 3,47<br />
SatisfaÁ„o com o sal·rio 2,06 3,71<br />
MÈdia Geral por Grupo de Vari·veis 3,04 3,15<br />
VARI¡VEIS <strong>DE</strong> ASPECTOS SOCIAIS P˙blica Privada<br />
Qualidade de convÈnios (mÈdico) 2,36 4,20<br />
Oportunidade para distracÁ„o (futebol, ·rea de lazer, excursıes, etc.) 2,23 2,08<br />
Atendimento aos filhos (auxÌlio escola) 1,87 3,20<br />
Qualidade dos seguros de previdÍncia privada 2,00 1,89<br />
Financiamento para cursos externos (pÛs-graduaÁ„o, congressos, etc) 2,17 1,91<br />
MÈdia Geral por Grupo de Vari·veis 1,77 2,21<br />
M…DIA GLOBAL 2,84 3,01<br />
FONTE: Stefano et al. (2005)<br />
Sturman (s.d.), no ‚mbito de uma pesquisa feita com 764 professores do Reino Unido sobre<br />
a sua percepÁ„o da QVT, constatou que o comprometimento com o trabalho, por parte dos<br />
professores, est· a ser afectado pela insatisfaÁ„o no trabalho, elevados nÌveis de stress e nÌveis de<br />
apoio. Por outro lado, a insatisfaÁ„o no trabalho, manifestada pelos professores que participaram<br />
83
neste estudo, deve-se, essencialmente, a factores como sal·rio, impacto dos papÈis e<br />
responsabilidades na sua QVT e o n˙mero de horas de trabalho.<br />
Conforme um estudo realizado por Sanches, Gontijo e Verdinelilli (2001), com 181<br />
professores de uma Universidade privada, os professores com padrıes de comprometimento com a<br />
carreira e a instituiÁ„o apresentam um maior desempenho na perspectiva dos discentes, enquanto<br />
que os professores que apresentaram padrıes de descomprometimento com a carreira docente e a<br />
organizaÁ„o estiveram relacionados com o menor Ìndice de desempenho.<br />
Numa pesquisa realizada por FranÁa (2004) junto a 235 administradores, professores e<br />
alunos de AdministraÁ„o da Universidade de S„o Paulo, no Brasil, registou-se 93% de percepÁ„o<br />
de interferÍncia positiva de acÁıes e programas de QVT e 65% deles registaram que È possÌvel<br />
medir estes resultados. No entanto, 48% afirmaram que desconhecem ou discordam da existÍncia<br />
de modelos gerenciais para implementar estes programas. Mas um dado importante desta pesquisa<br />
È que 99% dos entrevistados concorda ou concorda plenamente que as acÁıes de qualidade de vida<br />
s„o sempre necess·rias no trabalho das organizaÁıes.<br />
No caso concreto das Universidades e, em particular, da situaÁ„o dos professores, È<br />
fundamental que sejam implementadas polÌticas e estÌmulos que favoreÁam o seu bem-estar, para<br />
que se almeje a qualidade no Ensino Superior, de que tanto se fala.<br />
Conforme Costa (s.d.), a diminuiÁ„o da carga hor·ria dos docentes, proporcionando-lhes,<br />
assim, mais tempo para a investigaÁ„o constitui um bom instrumento de estÌmulo e prÈmio aos<br />
professores cientificamente mais qualificados e produtivos. Outros estÌmulos importantes podem<br />
ser a progress„o em escalıes salariais, a abertura mais frequente de vagas das categorias superiores<br />
da carreira, a possibilidade da sua inclus„o em projectos de consultoria para complemento salarial<br />
e oportunidades de formaÁ„o, quer a nÌvel pedagÛgico, quer para fins de pÛs-graduaÁ„o. (COSTA,<br />
s.d.; OLIVEIRA, 2004b)<br />
… precisamente a falta de estÌmulos e reconhecimento do mÈrito que contribui para a fraca<br />
qualidade que caracteriza o sistema de Ensino Superior em MoÁambique e em diversos PaÌses do<br />
mundo. N„o admira, pois, que, segundo uma sondagem efectuada em FranÁa, no inÌcio do ano<br />
lectivo 1984/85, mostrava que 40% dos professores declaravam terem j· tentado mudar de<br />
84
profiss„o e que, nos E.U.A., 50% dos professores abandonam a profiss„o durante os dez primeiros<br />
anos de exercÌcio. (LANDSHEERE, s.d.)<br />
Em suma, as condiÁıes necess·rias para o salto qualitativo ainda n„o est„o reunidas.<br />
Portanto, h· todo um conjunto de factores inerentes ao trabalho docente que precisam de ser<br />
revistos e mudados, numa perspectiva de proporcionar melhor QVT a estes profissionais.<br />
85
2.4 GEST O DA QVT: ASPECTOS POSITIVOS E OBST¡CULOS<br />
2.4.1 Aspectos Positivos<br />
ìInsatisfaÁ„o com a vida laboral È um problema que afecta<br />
quase todos os trabalhadores uma vez ou outra,<br />
independentemente da sua posiÁ„o ou status. A frustraÁ„o,<br />
o aborrecimento e a raiva comum aos trabalhadores<br />
insatisfeitos com a sua QVT pode ser extremamente caro<br />
para ambos, trabalhadores e empregadoresî.<br />
Richard Walton<br />
A gest„o de programas de QVT pode gerar uma multiplicidade de aspectos positivos,<br />
n„o somente para os indivÌduos que integram as organizaÁıes, como tambÈm para a realidade<br />
das prÛprias organizaÁıes. Sem querer esgotar a quantidade de benefÌcios, procurar-se-·<br />
abordar os que poder„o ter uma maior impacto para as organizaÁıes, nomeadamente:<br />
2.4.1.1 Clima Organizacional favor·vel<br />
O clima organizacional È caracterÌstico e ˙nico de cada organizaÁ„o. Por isso, entender<br />
a sua din‚mica passa pelo conceito que pressupıe relaÁıes sociais de um grupo de indivÌduos,<br />
cuja orientaÁ„o se baseia nos princÌpios e crenÁas compartilhadas. (NEVES, 2000) Tais<br />
princÌpios e crenÁas, assim como os padrıes simbÛlicos, podem sofrer modificaÁıes com as<br />
mudanÁas organizacionais e, em decorrÍncia disso, produzem interferÍncia em determinadas<br />
dimensıes da sua estrutura.<br />
Quando falamos de clima organizacional, estamos a referir-nos ‡ atmosfera colectiva<br />
do ambiente de trabalho, tais como: atitudes, percepÁıes e din‚micas que afectam a maneira<br />
como as pessoas se comportam diariamente. Sabemos que ele È ˙nico em cada organizaÁ„o e<br />
todos devem estar envolvidos e serem respons·veis em criar o clima da sua organizaÁ„o.<br />
(NERI, s.d.)<br />
Actualmente, as organizaÁıes tÍm vivenciado mudanÁas profundas e complexas de toda<br />
a ordem. Neste contexto, as macro-tendÍncias apontam para a necessidade de se buscar o<br />
desenvolvimento de novas formas organizacionais de trabalho e com novas estruturas, capazes<br />
de torn·-las mais ·geis, flexÌveis, competitivas e preparadas para o aprendizado em conjunto.<br />
86
Neste sentido, factores relacionados com o clima organizacional s„o decisivos perante<br />
esta nova realidade e merecem ser observados com maior atenÁ„o. Sabe-se que, para o bom<br />
desempenho do trabalho, faz-se necess·rio que as pessoas estejam envolvidas e interagindo ao<br />
mesmo tempo, comprometidas e compartilhando dos interesses da organizaÁ„o. E, para isso, as<br />
pessoas devem sentir-se motivadas e como peÁas importantes do processo, livres para<br />
desenvolver as suas tarefas com habilidade e criatividade.<br />
Quanto aos resultados, o clima organizacional pode ser considerado ìbomî ou ìmauî<br />
para as pessoas e para a organizaÁ„o como um todo. Assim, o clima organizacional È favor·vel,<br />
quando possibilita a satisfaÁ„o das necessidades pessoais e, desfavor·vel, quando frustra essas<br />
necessidades. Para Luz (1996), o clima È bom quando predominam atitudes positivas que d„o<br />
ao ambiente de trabalho uma tÛnica favor·vel, como alegria, confianÁa, participaÁ„o,<br />
dedicaÁ„o, satisfaÁ„o e motivaÁ„o. No entanto, ele È considerado mau, quando as vari·veis<br />
organizacionais afectam negativamente, gerando resistÍncia, tensıes, discÛrdias, desinteresse<br />
pelo trabalho e ruÌdo nas comunicaÁıes.<br />
Portanto, o ambiente em que uma pessoa desempenha o seu trabalho diariamente, o<br />
tratamento que um chefe pode ter com os seus subordinados, a relaÁ„o entre o pessoal da<br />
empresa e, inclusive, com os provedores e clientes, constituem elementos e acÁıes de QVT que<br />
contribuem para o que denominamos clima organizacional. Este pode ser um vÌnculo ou um<br />
obst·culo para o bom desempenho da organizaÁ„o no seu conjunto ou de determinadas pessoas<br />
que se encontram dentro ou fora dela e pode ainda ser um factor de distinÁ„o e influÍncia no<br />
comportamento daqueles que a integram. Por outro lado, acÁıes educativas relacionadas com a<br />
sa˙de fÌsica e mental dos trabalhadores fazem emergir um clima favor·vel, atravÈs de<br />
sentimentos de participaÁ„o e integraÁ„o, reflectindo um bem-estar colectivo.<br />
SÛ por si, o diagnÛstico do clima organizacional j· constitui uma acÁ„o de QVT, uma<br />
vez que lhe È intrÌnseca a manifestaÁ„o da import‚ncia de se escutarem as pessoas, percebendo<br />
as suas necessidades, os aspectos que percepcionam como negativos e positivos na relaÁ„o<br />
indivÌduo-organizaÁ„o e a import‚ncia da sua contribuiÁ„o para eventuais melhorias.<br />
O compromisso com a manuntenÁ„o do clima organizacional, que constitui uma acÁ„o<br />
de QVT, requer o conhecimento da organizaÁ„o como um todo, tomando como base a sua<br />
87
estrutura, cultura, o seu modelo de gest„o, o comprometimento dos colaboradores e objectivos<br />
compartilhados entre organizaÁ„o e membros. Tudo sÛ far· sentido, se houver a consciÍncia de<br />
que um ambiente pobre em incentivos e motivaÁ„o inibe e desestimula o bom desenvolvimento<br />
das pessoas, favorecendo a criaÁ„o de um ambiente de trabalho aberto ‡s mudanÁas e<br />
preparado para acompanh·-las.<br />
2.4.1.2 Maior comprometimento organizacional<br />
V·rios autores, como Rodrigues (1994), FranÁa (2003) e Oliveira (2003), s„o un‚nimes<br />
em afirmar que acÁıes voltadas para a QVT podem fomentar um maior vÌnculo afectivo do<br />
indivÌduo com a organizaÁ„o a que, normalmente, se designa por comprometimento<br />
organizacional, na medida em que enfatizam o lado humano da relaÁ„o indivÌduo-trabalho.<br />
Mowday, Porter e Steers e (1982) definem o comprometimento organizacional a partir<br />
de uma abordagem atitudinal/afectiva resultante da identificaÁ„o e do envolvimento do<br />
trabalhador com a organizaÁ„o e compreendendo trÍs dimensıes, nomeadamente: 1) a<br />
aceitaÁ„o dos valores, normas e objectivos da organizaÁ„o; 2) a disposiÁ„o de investir esforÁos<br />
em favor da organizaÁ„o; e 3) o desejo e a vontade de se manter membro da organizaÁ„o.<br />
De acordo com Meyer, Allen e Gellatly (1990, p. 710), "trabalhadores com forte<br />
comprometimento afectivo permanecem na organizaÁ„o, porque o desejam...î(traduÁ„o nossa),<br />
daÌ que o comprometimento afectivo constitua um construto que representa mais do que a<br />
simples lealdade passiva a uma organizaÁ„o. "Ele envolve uma relaÁ„o activa, na qual o<br />
indivÌduo deseja pÙr algo de si prÛprio, para contribuir para o bem-estar da organizaÁ„o"<br />
(traduÁ„o nossa), conforme salientam Mowday, Porter e Steers e (1982, p.27).<br />
S„o muitas as vari·veis organizacionais e caracterÌsticas do trabalho que, quando<br />
geridas no ‚mbito da promoÁ„o de uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores, geram<br />
comprometimento destes para com a organizaÁ„o. Por exemplo, Fukami e Larson (1984)<br />
apontam algumas delas, nomeadamente: o car·cter inovador e n„o rotineiro do trabalho e o<br />
comprometimento, a interdependÍncia das tarefas, o estilo participativo, a comunicaÁ„o do<br />
lÌder e os comportamentos de estruturaÁ„o e consideraÁ„o do lÌder.<br />
88
Mais recentemente, Arnold e Davey (1999), mediante pesquisa longitudinal,<br />
observaram que a natureza do trabalho e o desenvolvimento da carreira s„o preditores<br />
significativos e importantes do comprometimento organizacional. O'Driscoll e Randall (1999),<br />
utilizando amostras de trabalhadores da Irlanda e da Nova Zel‚ndia, estudaram o impacto do<br />
suporte organizacional percebido e da satisfaÁ„o com as recompensas intrÌnsecas e extrÌnsecas<br />
e observaram que as duas s„o preditores importantes do comprometimento organizacional.<br />
De igual forma, estudos desenvolvidos por Bastos (1994) e Bandeira, Marques e Veiga<br />
(2000) mostram que as vari·veis ligadas ‡s oportunidades de crescimento ocupacional e ‡<br />
justiÁa organizacional aumentam o nÌvel de comprometimento organizacional. Neste sentido, È<br />
f·cil prever a relaÁ„o entre acÁıes percebidas pelos trabalhadores, como promotoras da sua<br />
qualidade de vida, e o grau de comprometimento dos mesmos para com as organizaÁıes.<br />
2.4.1.3 Maior produtividade<br />
Num ambiente de alta competitividade, onde faltam profissionais de alta qualidade e o<br />
conhecimento muda de forma r·pida, ignorar acÁıes de QVT È correr um sÈrio risco, pela<br />
simples raz„o que o conceito de sa˙de e bem-estar tornar-se-· a grande fonte para o aumento<br />
do desempenho e diferencial crÌtico entre empresas de alta e de baixa produtividade. A ideia de<br />
que a gest„o da QVT cria condiÁıes favor·veis ao aumento da produtividade nas empresas tem<br />
vindo a ser largamente difundida. Bennett, citado por FranÁa (2003), afirma que o conceito de<br />
produtividade, mais do que uma produÁ„o eficiente, implica um dinamismo humano, uma vez<br />
que se relaciona com a melhoria da qualidade de vida de cada indivÌduo no trabalho e<br />
respectivas consequÍncias fora do ambiente de trabalho.<br />
Bruce, citado por Dias (2001), salienta uma pesquisa que indicou as 100 melhores<br />
empresas para se trabalhar nos E.U.A., que possuem QVT. Esta pesquisa enfatiza a relaÁ„o<br />
entre os trabalhadores e a organizaÁ„o e salienta que as empresas que possuem maior QVT tÍm<br />
uma taxa de crescimento mais alta de recursos activos e crescimento sustent·vel. A empresa<br />
que possui QVT cria uma m„o-de-obra mais flexÌvel, leal e incentivada, que È essencial para<br />
determinar a competitividade da empresa, como tambÈm recruta pessoas mais qualificadas.<br />
Esta pesquisa confirma uma associaÁ„o positiva entre QVT e desempenho de negÛcios. (DIAS,<br />
2001)<br />
89
V·rios estudos mostram tambÈm que o aumento das doenÁas do trabalho fomentam o<br />
absentismo, a desmotivaÁ„o, problemas de comunicaÁ„o e relaÁıes interpessoais, para alÈm de<br />
poderem gerar acidentes de trabalho nas organizaÁıes, com consequÍncias graves ao nÌvel do<br />
desempenho e produtividade das mesmas. DaÌ que a implementaÁ„o de programas de QVT<br />
com foco na sa˙de, quer fÌsica, quer psicolÛgica, bem como em outras ·reas da vida humana,<br />
possibilitam ‡s organizaÁıes agir sobre o factor produtividade.<br />
2.4.2 Obst·culos<br />
Em geral, a gest„o de programas de QVT tem sempre intrÌnsica uma perspectiva<br />
positiva de promoÁ„o do bem-estar das pessoas, no ‚mbito do seu trabalho e das diferentes<br />
esferas da sua vida. No entanto, existem alguns aspectos que podem constituir obst·culos para<br />
a implementaÁ„o de programas desta natureza e que precisam de ser tomados em consideraÁ„o,<br />
conforme se passa a descrever.<br />
2.4.2.1 Impacto da MudanÁa Organizacional<br />
Actualmente, as empresas, para serem competitivas, procuram sistematicamente gerar<br />
processos de mudanÁa organizacional, para se adaptarem aos seus mercados e conseguirem<br />
posiÁıes de lideranÁa. Fusıes, privatizaÁıes, reengenharias, terceirizaÁıes, downsising entre<br />
outras, s„o algumas das mudanÁas que, cada vez mais, as organizaÁıes procuram implementar,<br />
sob pena de n„o garantirem a sua produtividade e consequente sobrevivÍncia.<br />
No entanto, os processos de mudanÁa organizacional s„o, regra geral, muito difÌceis,<br />
imprevisÌveis e arriscados, pois implicam quase sempre um certo grau de conflitualidade, na<br />
medida em que est· implÌcita a mudanÁa de qualquer status quo e, portanto, sair de uma zona<br />
de conforto para uma zona de ambiguidade, desconhecida, gerando desconfianÁa, ansiedade e<br />
stress nas pessoas envolvidas. (GALPIN, 2000)<br />
Segundo FranÁa (2003), a qualidade de vida das pessoas envolvidas em processos de<br />
mudanÁa, como È o caso das fusıes entre empresas, piora e isso È possÌvel observar atravÈs do<br />
aumento da procura por ambulatÛrios, serviÁo social e departamento de Recursos Humanos,<br />
90
aumento do Ìndice de acidentes de trabalho e doenÁas ocupacionais e do n˙mero de atestados<br />
mÈdicos e afastamentos do local de trabalho.<br />
B˙falo (2001) realizou uma pesquisa com o objectivo de avaliar os custos psicolÛgicos<br />
para os trabalhadores de trÍs hotÈis da Cidade de Maputo, em MoÁambique, como resultado<br />
dos processos de privatizaÁ„o por que os mesmos passaram. Os resultados da pesquisa<br />
apuraram elevados Ìndices de stress nos trabalhadores e sintomas de ansiedade e depress„o,<br />
derivados da ausÍncia de apoio e de treinamento, da falta de condiÁıes de trabalho e do<br />
sentimento de inseguranÁa no local de trabalho.<br />
Neste sentido, cabe ‡s organizaÁıes o desafio de conciliar mudanÁas organizacionais<br />
com programas de qualidade de vida, de forma a reduzir os sintomas e as resistÍncias que<br />
surgem por parte dos trabalhadores inseridos nesses contextos.<br />
2.4.2.2 Falta de percepÁ„o e sensibilizaÁ„o das LideranÁas<br />
A fraca percepÁ„o e sensibilizaÁ„o da import‚ncia de se apostar na gest„o da QVT, por<br />
parte dos gestores das empresas, constitui uma realidade em todo o mundo e, muito em<br />
particular, em MoÁambique. E È precisamente esta falta de sensibilizaÁ„o por parte da gest„o<br />
corporativa que constitui um obst·culo para a real viabilizaÁ„o de programas desta natureza,<br />
em particular devido ‡s estruturas de poder e ‡ cultura organizacional. Por exemplo, acÁıes de<br />
qualidade de vida com enfoque para a maior participaÁ„o dos trabalhadores significa, para<br />
alguns, a perda de poder e autonomia, ou seja, conceitos tradicionais dos papÈis hier·rquicos e<br />
as reacÁıes de autoridade-responsabilidade tornam-se ambÌguos.<br />
Enquanto n„o existir uma real sensibilizaÁ„o das lideranÁas para estas questıes de<br />
QVT, teremos sempre um obst·culo para a real viabilizaÁ„o de pr·ticas voltadas para este fim,<br />
precisamente porque as lideranÁas È que tÍm o dever de dar o exemplo, a partir de novas<br />
posturas e valores inerentes ‡ cultura organizacional. Se n„o existe um compromisso por parte<br />
da gest„o corporativa, dificilmente haver· comprometimento com estas acÁıes por parte dos<br />
trabalhadores.<br />
91
… neste sentido que as organizaÁıes, em MoÁambique, precisam de reavaliar as suas<br />
pr·ticas de gest„o e conceitos sÛcio-culturais, para que possam ent„o caminhar, no sentido de<br />
perceber a import‚ncia das pessoas na vida das organizaÁıes e, portanto, desenvolver<br />
programas que visem promover a sua QVT, com a vis„o de que, assim, est„o a criar o embri„o<br />
para o desenvolvimento sustent·vel dos seus negÛcios e sua prÛpria sobrevivÍncia.<br />
2.4.2.3 Vis„o dos programas de QVT como um custo<br />
Sem d˙vida que a percepÁ„o de que a gest„o da QVT constitui um custo e n„o um<br />
investimento È outro dos obst·culos para a viabilizaÁ„o da gest„o da QVT nas empresas.<br />
Muitas empresas em MoÁambique tÍm uma percepÁ„o distorcida sobre a real relaÁ„o custo-<br />
benefÌcio da implementaÁ„o de programas de QVT. As empresas, em particular, na realidade<br />
moÁambicana, utilizam normalmente a justificaÁ„o dos custos para a n„o implementaÁ„o de<br />
programas desta natureza, porque, como anteriormente foi referido, n„o est„o sensibilizadas<br />
para o assunto. Existe a interferÍncia do factor cultural e, ainda, porque n„o realizam estudos<br />
ou possuem informaÁ„o sobre a relaÁ„o custo-benefÌcio, que lhes permitem apoiar na tomada<br />
de decisıes sobre a implementaÁ„o deste tipo de programas.<br />
Estas acÁıes de QVT, muitas vezes, s„o de pequena dimens„o e exigem apenas vontade<br />
e criatividade das pessoas envolvidas, sem requerer muitos custos. Por exemplo, a resoluÁ„o de<br />
problemas, envolvendo membros da organizaÁ„o em todos os nÌveis (participaÁ„o, sugestıes,<br />
inovaÁıes), requer apenas canais de comunicaÁ„o bem estruturados e mÈtodos de organizaÁ„o<br />
flexÌveis. O mesmo se pode dizer para outras acÁıes, como enriquecimento de tarefas e acÁıes<br />
de sa˙de preventiva no local de trabalho. … possÌvel realiz·-las sem muitos custos. Num artigo<br />
da Revista brasileira ìVocÍ S.A.î (2002), a Professora Limongi FranÁa esclarece esta quest„o<br />
com alguns exemplos: ìo custo de um tratamento fonoaudiolÛgico pode ser de apenas dez<br />
centavos/hora por funcion·rio. Sei tambÈm de casos em que a contrataÁ„o de uma nutricionista<br />
saÌa mais barato que muitos dos equipamentos tecnolÛgicos que a empresa comprouî.<br />
Relatos americanos demonstram que È possÌvel economizar 5 dÛlares em reduÁ„o do<br />
absentismo por cada dÛlar investido em programas de promoÁ„o de sa˙de. (OGATA, s.d. b)<br />
No ano 2000, o Brasil gastou mais de 2 bilhıes de reais com doenÁas ocupacionais (OGATA,<br />
s.d. b). Por isso, investir em programas de promoÁ„o de sa˙de e qualidade de vida permite<br />
92
consider·vel economia, em termos de reduÁıes em custos de assistÍncia mÈdica, licenÁas de<br />
sa˙de e doenÁas ocupacionais. (OGATA, s.d. b).<br />
Portanto, enquanto as instituiÁıes olharem a gest„o da QVT como um custo e n„o um<br />
investimento, n„o ir„o poder beneficiar dos aspectos implÌcitos positivos resultantes deste tipo<br />
de acÁ„o estratÈgica, em particular a criaÁ„o de um ambiente de trabalho mais favor·vel ao<br />
bem-estar e ‡ satisfaÁ„o dos trabalhadores e, por conseguinte, o aumento da produtividade.<br />
93
3 METODOLOGIA<br />
ìSe desejamos saber como as pessoas se sentem - qual a sua<br />
experiÍncia anterior, o que lembram, como s„o as suas<br />
emoÁıes e os seus motivos, quais as razıes para agir e<br />
como o fazem ñ por que n„o perguntar-lhes?î.<br />
3.1 TIPO E ESTRAT…GIA <strong>DE</strong> PESQUISA<br />
G. W. Allport<br />
A pesquisa È uma actividade voltada para a soluÁ„o de problemas, possibilitando<br />
resultados mais confi·veis, se for conduzida, utilizando-se conceitos, mÈtodos, tÈcnicas e<br />
procedimentos cientÌficos bem definidos. Quanto ao tipo, as pesquisas podem ser exploratÛrias,<br />
descritivas ou explicativas. (GIL, 1996; RICHARDSON et al., 1999) No presente estudo<br />
adoptou-se a pesquisa de tipo descritiva que, segundo Gil (1996) e Oliveira (2001), possibilita,<br />
n„o sÛ descrever as caracterÌsticas de determinada populaÁ„o ou fenÛmeno, como tambÈm<br />
estabelecer relaÁıes entre vari·veis.<br />
As pesquisas descritivas permitem ao pesquisador compreender melhor o<br />
comportamento de determinada populaÁ„o e os elementos que poder„o influenciar tal<br />
comportamento. (OLIVEIRA, 2001) … precisamente este o objectivo deste estudo, entender a<br />
percepÁ„o do conceito, pr·ticas e grau de satisfaÁ„o dos Professores universit·rios em relaÁ„o ‡<br />
sua QVT, para alÈm de identificar vari·veis que poder„o influenciar no seu nÌvel de satisfaÁ„o.<br />
Kerlinger (1980) acrescenta que os estudos descritivos possibilitam estudar as caracterÌsticas,<br />
opiniıes e comportamentos de populaÁıes, por meio da obtenÁ„o e estudo das caracterÌsticas,<br />
opiniıes e comportamentos de amostras pequenas e que se presumem ser representativas de<br />
tais populaÁıes.<br />
Geralmente, as pesquisas descritivas requerem um planeamento mais rigoroso de colecta<br />
de dados e o uso de tÈcnicas padronizadas. Por isso, s„o associadas a uma estratÈgia de<br />
pesquisa de tipo quantitativa. (OLIVEIRA, 2001) Conforme o prÛprio nome indica, as<br />
estratÈgias de tipo quantitativo procuram quantificar opiniıes, atitudes e comportamentos de<br />
determinada populaÁ„o ou fenÛmeno, demonstrando, desta forma, uma grande preocupaÁ„o<br />
com a mensuraÁ„o, atravÈs do emprego de tÈcnicas estatÌsticas, como È o caso do presente<br />
estudo. (RICHARDDSON et al., 1999; OLIVEIRA, 2001; MARCONI e LAKATOS, 2002)<br />
94
Para a colecta de dados relativos ‡s principais vari·veis, que se pretendeu analisar e testar<br />
com a realizaÁ„o desta pesquisa, foi utilizado o mÈtodo de observaÁ„o directa extensiva,<br />
atravÈs da tÈcnica do question·rio, segundo a classificaÁ„o de Marconi e Lakatos (2001).<br />
Conforme Gil (1996) e Marconi e Lakatos (2001), esta tÈcnica consiste num conjunto de<br />
questıes a serem respondidas por escrito pela populaÁ„o pesquisada, sem a presenÁa do<br />
pesquisador. Richardson et al. (1999) refere algumas das vantagens da utilizaÁ„o desta tÈcnica,<br />
dentre as quais se pode destacar:<br />
Permite obter informaÁıes de um grande n˙mero de indivÌduos simultaneamente ou em<br />
tempo relativamente curto;<br />
Permite abranger uma ·rea geogr·fica ampla, sem que haja necessidade de uma<br />
formaÁ„o demorada ao pessoal que aplica o question·rio;<br />
Apresenta relativa uniformidade de uma mediÁ„o a outra, pelo facto de que o<br />
vocabul·rio, a ordem das perguntas e as instruÁıes serem iguais para todos os<br />
inquiridos;<br />
No caso do question·rio anÛnimo, as pessoas podem sentir-se com maior liberdade para<br />
expressarem as suas opiniıes;<br />
O facto de a populaÁ„o alvo ter tempo suficiente para responder ao question·rio pode<br />
proporcionar respostas mais reflectidas que as obtidas numa primeira aproximaÁ„o ao<br />
tema pesquisado;<br />
A tabulaÁ„o e posterior an·lise estatÌstica dos dados podem ser feitas com maior<br />
facilidade e rapidez que outros instrumentos (como a entrevista, por exemplo).<br />
3.2 MO<strong>DE</strong>LOS TE”RICOS <strong>DE</strong> REFER NCIA<br />
Para a an·lise da percepÁ„o dos professores universit·rios sobre o conceito e pr·ticas de<br />
QVT e nÌvel de satisfaÁ„o com a QVT, no ‚mbito desta pesquisa, foram adoptados dois<br />
modelos teÛricos de referÍncia.<br />
O primeiro foi a classificaÁ„o biopsicossocial ñ BPSO-96, apresentada por FranÁa<br />
(2003), e j· descrito no capÌtulo 2, que possibilitou agrupar as respostas dos pesquisados sobre<br />
a percepÁ„o do conceito e pr·ticas de QVT dos professores, em funÁ„o das diversas categorias:<br />
95
iolÛgica, psicolÛgica, social e organizacional. A escolha dos indicadores biopsicossociais<br />
prendeu-se com o facto de permitir uma vis„o mais ampla do conceito de QVT, a partir de uma<br />
perspectiva integrada do ser humano, que se consolida pela contÌnua e permanente influÍncia<br />
dos aspectos psicossociais, no contexto da actividade profissional.<br />
O segundo modelo teÛrico de referÍncia adoptado para o presente estudo, para analisar<br />
o nÌvel de satisfaÁ„o dos professores com a sua QVT, foi o modelo cl·ssico de Richard Walton,<br />
criado em 1973, modelo este composto por oito dimensıes e tambÈm descrito no capÌtulo 2. O<br />
referido modelo foi escolhido pelo facto de combinar uma diversidade de dimensıes de QVT,<br />
possÌveis de serem aplicadas em distintos contextos sÛcio-culturais e por oferecer uma maior<br />
validade, em termos da sua aplicabilidade em diversos estudos sobre QVT nos mais vastos<br />
sectores de actividade e grupos populacionais, conforme se apresentou no capÌtulo da revis„o<br />
da literatura desde trabalho.<br />
3.3 POPULA« O E AMOSTRA<br />
Segundo Ribeiro (1999), duas estratÈgias podem ser adoptadas, quando se pretende<br />
colectar informaÁıes acerca de uma populaÁ„o ou universo: colectar informaÁıes de toda a<br />
populaÁ„o, processo designado por censo, ou colectar informaÁ„o de uma amostra<br />
representativa dessa populaÁ„o. Na presente pesquisa, recorreu-se ao uso da segunda estratÈgia,<br />
onde se procurou selecionar uma amostra da populaÁ„o estudada que, segundo Kerlinger<br />
(1980, p.90), ìÈ uma porÁ„o de uma populaÁ„o geralmente aceite como representativa desta<br />
populaÁ„oî.<br />
O recurso ‡ amostragem para a concretizaÁ„o deste estudo deveu-se ao facto de ser uma<br />
estratÈgia que, por um lado, tem sido bastante usada em CiÍncias Sociais e Comportamentais,<br />
‚mbito em que se enquadra a presente pesquisa e, por outro, permite ao investigador reduzir<br />
custos, colectar dados em curto espaÁo de tempo e obter dados mais abrangentes. (RIBEIRO,<br />
1999) O recurso ‡s tÈcnicas de amostragem ì(...) fornecem melhores estimativas da populaÁ„o<br />
do que os censos, principalmente porque se podem controlar melhor certos tipos de errosî.<br />
(RIBEIRO, 1999, p.53)<br />
96
Desta forma, foi definida, como populaÁ„o do estudo, os professores de todas as IES¥s<br />
existentes no PaÌs que se encontravam a funcionar desde o ano de 2005 e devidamente<br />
registadas/reconhecidas pelo antigo MESCT e/ou actual MEC (total de IES¥s: 15). Ao<br />
contactarem-se as IES¥s, apresentou-se uma credencial para efeitos de autorizaÁ„o para a<br />
realizaÁ„o da pesquisa (vide anexo B).<br />
Das quinze IESís que compuseram a populaÁ„o do estudo, apenas treze foram<br />
pesquisadas, isto porque numa das instituiÁıes n„o foi autorizado o acesso para a realizaÁ„o<br />
da pesquisa e noutra instituiÁ„o impuseram-se limitaÁıes financeiras e temporais de<br />
deslocaÁ„o e acesso ‡ mesma. As treze IESís pesquisadas, incluindo respectivas delegaÁıes e<br />
extensıes, abrangeram a ProvÌncia e Cidade de Maputo e as Cidades de Quelimane e<br />
Nampula, sendo sete instituiÁıes p˙blicas e seis privadas (vide figura 13).<br />
Legenda:<br />
IES P˙blica<br />
IES Privada<br />
IESís abrangidas pela pesquisa<br />
Quelimane<br />
Maputo<br />
Nampula<br />
FIGURA 13 ñ IES¥s ABRANGIDAS PELA PESQUISA<br />
FONTE: An·lise da Autora<br />
DelegaÁ„o UP<br />
UCM<br />
UMBB<br />
AM<br />
DelegaÁ„o UP<br />
Extens„o ISPU<br />
ISCTEM<br />
UEM<br />
ISUTC<br />
ISRI<br />
ISPU<br />
UP<br />
ESCN<br />
USTM<br />
ISCISA<br />
ACIPOL<br />
Importa, no entanto, lembrar que È precisamente nas trÍs zonas geogr·ficas acima<br />
mencionadas que se concentram a maioria das IESís (correspondente a um total de 14), no<br />
conjunto de todas as instituiÁıes existentes no PaÌs (correspondente a um total de 15) e,<br />
portanto, suficientemente representativas da populaÁ„o.<br />
97
Foi definida a amostra temporal relativa ao ano de 2005, por ter sido o perÌodo em que<br />
teve inÌcio a presente pesquisa e, em particular, a colecta de dados no campo. A amostra<br />
temporal torna-se importante de justificar, pelo facto de, j· no ano de 2005, ter sido<br />
anunciada, pelos org„os de comunicaÁ„o social e pelo MEC, a abertura de novas IESís<br />
p˙blicas e privadas, facto que se consumou no inÌcio do ano de 2006 4 , podendo este aspecto<br />
interferir na definiÁ„o do universo ou populaÁ„o.<br />
No entanto, a abertura de novas IES¥s, no decurso da realizaÁ„o desta pesquisa, n„o<br />
constitui um facto relevante para os objectivos preconizados, uma vez que n„o seria possÌvel<br />
analisar a QVT em instituiÁıes que entraram recentemente em funcionamento, por razıes<br />
Ûbvias que se prendem com a impossibilidade de, em t„o curto espaÁo de tempo:<br />
estas IES¥s poderem desenvolver acÁıes em torno da QVT;<br />
os professores provenientes destas IES¥s j· terem criado uma percepÁ„o e<br />
avaliaÁ„o sobre aspectos inerentes ‡ sua QVT.<br />
Para Ribeiro (1999), a definiÁ„o do tamanho da amostra n„o constitui um factor<br />
importante, podendo esta resultar da percepÁ„o ou julgamento do investigador. Segundo este<br />
mesmo autor, amostras de 40 ou 80 indivÌduos podem apresentar caracterÌsticas tÌpicas da<br />
populaÁ„o e uma amostra constituÌda por 100 indivÌduos È suficiente para ser tomada a sÈrio.<br />
Por outro lado, diversos estudos tÍm demonstrado que a utilizaÁ„o de amostras, que variam de<br />
50 e 1000 indivÌduos, tÍm, como tamanho da amostra mais comum, a de 200 indivÌduos, sendo<br />
esta suficientemente representativa de populaÁıes regionais. (RIBEIRO, 1999)<br />
Porque o n˙mero total de professores nas treze IES¥s abrangidas pela pesquisa n„o<br />
corresponde ao somatÛrio do total de professores de cada IES¥s, devido ao elevado grau de<br />
mobilidade de docentes entre as diversas instituiÁıes, optou-se por seleccionar uma amostra<br />
que variou de 20% a 30%, a partir do total de professores de cada IES. A definiÁ„o do tamanho<br />
da amostra teve como base as propostas de Goode e Hatt (1969), que consideram 20% uma<br />
percentagem aceit·vel para a amostra e de Lakatos e Marconi (1982), que consideram 25%. A<br />
tabela 7, a seguir, apresenta os n˙meros de professores universit·rios de cada IES pesquisada e<br />
a amostra retirada dessa populaÁ„o.<br />
4 Segundo notÌcia anunciada pelo Telejornal da STV, de 31/03/06, existem actualmente no PaÌs vinte e duas (22)<br />
IESís.<br />
98
TABELA 7<br />
POPULA« O E AMOSTRA <strong>DE</strong> PROFESSORES DAS IESíS PESQUISADAS<br />
INSTITUI« O N <strong>DE</strong> PROFESSORES AMOSTRA<br />
Privadas<br />
1. ISCTEM 188 37 a)<br />
2. USTM 44 8 a)<br />
3. UMBB 60 12 a)<br />
4. ISUTC 60 12 a)<br />
5. ISPU 259 52 a)<br />
6. UCM 218 44 a)<br />
P˙blicas<br />
7. ESCN 33 10 c)<br />
8. ISCISA 54 11 a)<br />
9. ACIPOL 68 17 b)<br />
10. ISRI 57 17 c)<br />
11. AM 70 21 c)<br />
12. UP 294 59 a)<br />
13. UEM 960 192 a)<br />
Total 492<br />
LEGENDA: a) Amostra de 20%, b) Amostra de 25%, c) Amostra de 30%<br />
<strong>NO</strong>TA: Todos os dados referentes aos n˙meros de professores foram fornecidos por cada uma das IESís,<br />
com excepÁ„o do ISCTEM, UCM, UP e UEM, cujos dados foram obtidos a partir das estatÌsticas do<br />
MESCT (2004)<br />
Existem, no entanto, v·rios tipos de procedimentos de amostragem que podem variar em<br />
funÁ„o da natureza e objectivo de cada pesquisa, como È o caso da amostra intencional,<br />
aleatÛria, estratificada, entre outras. O presente estudo recorreu ‡ amostra intencional que È<br />
considerada uma estratÈgia adequada, para que o pesquisador proceda, de forma intencional, ‡<br />
escolha dos indivÌduos que compıem a amostra, presumindo que estes sejam representativos<br />
da populaÁ„o pesquisada e que, portanto, possam satisfazer as necessidades da pesquisa.<br />
(SELLTIZ et al., 1972)<br />
Embora a amostra intencional apresente como desvantagem a restriÁ„o de que<br />
determinadas caracterÌsticas dos pesquisados representam o grupo ou populaÁ„o investigada,<br />
como referem Goode e Hatt (1969) e Ribeiro (1999), constitui, no entanto, o tipo de amostra<br />
que mais se adapta ao presente estudo. Isto porque, segundo JesuÌno (1986), quando se trabalha<br />
com grupos reais, nomeadamente nos domÌnios da ciÍncia comportamental, como È o caso<br />
deste estudo, torna-se difÌcil, sen„o mesmo impossÌvel, na maior parte das situaÁıes, o recurso<br />
a procedimentos aleatÛrios.<br />
99
3.4 COLECTA <strong>DE</strong> DADOS<br />
3.4.1 Instrumento de Pesquisa<br />
O instrumento de pesquisa usado para a colecta de dados junto ‡ amostra de professores<br />
universit·rios consistiu num question·rio de auto-preenchimento e de car·cter anÛnimo,<br />
acompanhado de uma carta introdutÛria da pesquisadora (vide anexo C).<br />
O conte˙do do referido question·rio foi dividido em trÍs partes (vide anexo D). A<br />
primeira parte, que precedeu as instruÁıes gerais, destinou-se ‡ colecta de dados sÛcio-<br />
demogr·ficos, por forma a caracterizar o perfil dos professores pesquisados, tendo-se incluÌdo<br />
dezassete vari·veis.<br />
A segunda parte do question·rio visou analisar o nÌvel de satisfaÁ„o dos professores<br />
com a sua QVT, atravÈs da vers„o brasileira proposta por Fernandes (1996), de uma escala das<br />
oito dimensıes do modelo de Walton e respectivos factores, j· operacionalizados no capÌtulo 2<br />
do presente trabalho.<br />
Excepto alguns ajustes de lÌngua, n„o foram feitas quaisquer mudanÁas ‡ vers„o do<br />
modelo de indicadores de QVT de Walton, apresentada por Fernandes (1996). A escala usada<br />
para medir as dimensıes de QVT foi de 7 pontos, conforme se ilustra abaixo:<br />
Totalmente Insatisfeito Muito<br />
Insatisfeito<br />
Insatisfeito Moderadamente<br />
Insatisfeito<br />
Satisfeito Muito<br />
Satisfeito<br />
100<br />
Totalmente Satisfeito<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
A an·lise da escala de QVT, incluÌda nesta parte do question·rio, revelou uma boa<br />
consistÍncia interna, tendo os valores do coeficiente alpha (·) de Cronbach para cada dimens„o<br />
sido superiores ao valor mÌnimo de 0,6, considerado por Ribeiro (1999) como aceit·vel (vide<br />
tabela 8).
TABELA 8<br />
CONSIST NCIA INTERNA DA ESCALA <strong>DE</strong> QVT<br />
Dimensıes Factores Valor de Alpha (·)<br />
(Itens)<br />
de Cronbach<br />
CompensaÁ„o Justa e Adequada 3 0,80<br />
CondiÁıes de Trabalho 6 0,86<br />
Uso e Desenvolvimento de Capacidades 5 0,74<br />
Oportunidade de Crescimento e SeguranÁa 3 0,74<br />
IntegraÁ„o Social na OrganizaÁ„o 3 0,80<br />
Constitucionalismo 4 0,87<br />
Trabalho e EspaÁo Total de Vida 2 0,81<br />
Relev‚ncia Social da Vida no Trabalho<br />
FONTE: An·lise da autora<br />
4 0,85<br />
A terceira e ˙ltima parte do question·rio foi composta por cinco questıes, uma de<br />
resposta fechada e, as restantes quatro, de resposta aberta. Pretendeu-se com estas questıes<br />
compreender a percepÁ„o dos professores sobre o conceito de QVT e ainda a sua percepÁ„o<br />
sobre a implementaÁ„o de acÁıes e pr·ticas de QVT por parte das IES¥s. TrÍs das cinco<br />
questıes desta parte do question·rio foram analisadas com base no modelo de indicadores<br />
biopsicossociais BPSO-96, apresentados por FranÁa (2003).<br />
ApÛs a elaboraÁ„o da vers„o final do question·rio para a colecta de dados, procedeu-se<br />
ao prÈ-teste do mesmo a um total de onze docentes de diversas IES¥s, com caracterÌsticas<br />
semelhantes ao universo da pesquisa. Segundo Richardson et al. (1999) e Pereira (2004), a<br />
realizaÁ„o do prÈ-teste do instrumento faz-se necess·ria para a avaliaÁ„o da qualidade externa<br />
do mesmo, em que se procura verificar, entre outros aspectos, se:<br />
1) existe clareza na linguagem utilizada no instrumento;<br />
2) todas as questıes do instrumento s„o compreendidas pelos respondentes;<br />
3) as instruÁıes de preenchimento s„o bem compreendidas e seguidas;<br />
4) existe uniformidade na interpretaÁ„o das questıes contidas no instrumento.<br />
Os resultados do prÈ-teste revelaram n„o existir necessidade de se proceder a qualquer<br />
alteraÁ„o das questıes apresentadas no instrumento de pesquisa, relativamente ‡ sua forma e<br />
conte˙do.<br />
101
3.4.2 Procedimentos de Colecta de Dados<br />
A colecta dos dados no campo iniciou apÛs a autorizaÁ„o favor·vel por parte de cada<br />
uma das treze IESís em participar no presente estudo. O contacto posterior foi feito com a<br />
DirecÁ„o PedagÛgica ou Departamento de Recursos Humanos de cada IES, conforme a sua<br />
estrutura, em que o pesquisador procedeu ‡ entrega dos question·rios, tendo em conta a<br />
amostra definida. Posteriormente, a DirecÁ„o PedagÛgica ou Departamento de Recursos<br />
Humanos de cada IES ou Faculdade (no caso das IES¥s de maior dimens„o, como a UEM e<br />
UP), procedeu ‡ distribuiÁ„o dos question·rios internamente por cada departamento ou sector,<br />
para que, por sua vez, se responsabilizasse pela entrega dos mesmos directamente aos<br />
professores afectos aos diversos turnos de trabalho.<br />
O contacto com algumas das IESís ou faculdades dessas instituiÁıes nem sempre foi<br />
aberto e flexÌvel, tendo acarretado alguns constragimentos de tempo para a realizaÁ„o da<br />
pesquisa, devido a procedimentos burocr·ticos. Este factor, aliado ao elevado n˙mero de IESís<br />
envolvidas na pesquisa e respectiva localizaÁ„o geogr·fica, levou a que a pesquisa de campo<br />
ocorresse em dois momentos: o primeiro decorreu de Agosto a Novembro de 2005, tendo<br />
abrangido oito das treze IESís e o segundo decorreu de Fevereiro a Abril de 2006, abrangendo<br />
as restantes cinco IESís.<br />
Foi definido o prazo de 5 dias a partir da data de recepÁ„o dos question·rios, para que os<br />
professores procedessem ‡ devoluÁ„o dos mesmos ‡ DirecÁ„o PedagÛgica ou Departamento de<br />
Recursos Humanos das suas instituiÁıes. No entanto, na grande maioria das instituiÁıes, o<br />
prazo teve que ser estendido, em alguns casos para mais de trinta dias, devido ‡ demora que os<br />
professores apresentaram na entrega dos question·rios. A entrega dos question·rios ‡<br />
pesquisadora foi feita pelos Ûrg„os nas IESís que coordenaram a distribuiÁ„o e recolha dos<br />
mesmos, terminado o prazo definido para o efeito.<br />
Conforme a tabela 9, em algumas instituiÁıes, o Ìndice de devoluÁ„o foi baixo, mas, na<br />
maior parte delas, uma percentagem consider·vel de professores devolveu os question·rios<br />
preenchidos. Pode-se considerar satisfatÛrio o Ìndice de devoluÁ„o dos question·rios que, em<br />
termos globais, ultrapassou os 50%.<br />
102
TABELA 9<br />
PERCENTAGEM <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>VOLU« O DO QUESTION¡RIO <strong>DE</strong> PESQUISA POR IES<br />
INSTITUI« O<br />
AMOSTRA<br />
QUESTION¡RIOS <strong>DE</strong>VOLVIDOS<br />
N<br />
% de DevoluÁ„o<br />
Privadas<br />
1. ISCTEM 37 16 43%<br />
2. USTM 8 6 75%<br />
3. UMBB 12 10 83%<br />
4. ISUTC 12 10 83%<br />
5. ISPU 52 39 75%<br />
6. UCM 44 31 70%<br />
P˙blicas<br />
7. ESCN 10 9 90%<br />
8. ISCISA 11 4 36%<br />
9. ACIPOL 17 15 88%<br />
10. ISRI 17 15 88%<br />
11. AM 21 20 95%<br />
12. UP 59 32 54%<br />
13. UEM 192 48 25%<br />
TOTAL 492 255 52%<br />
FONTE: An·lise da autora<br />
3.5 TRATAMENTO DOS DADOS<br />
O tratamento e an·lise dos dados colectados junto da amostra de professores<br />
universit·rios foi feito utilizando-se o Statistical Package for Social Sciences (SPSS), vers„o<br />
13.0 do Sistema Operativo Microsoft Windows. O tipo de tratamento estatÌstico usado para a<br />
an·lise dos dados baseou-se na estatÌstica descritiva e indutiva, tendo-se tambÈm recorrido ‡<br />
an·lise do tipo univariada e bivariada. A an·lise exploratÛria dos dados indicou a necessidade<br />
do uso de estatÌstica n„o paramÈtrica, uma vez que a distribuiÁ„o dos dados revelou obedecer a<br />
padrıes assimÈtricos.<br />
Para a caracterizaÁ„o do perfil sÛcio-demogr·fico dos professores universit·rios, bem<br />
como a descriÁ„o da sua percepÁ„o sobre o conceito e pr·ticas de QVT, recorreu-se ao uso de<br />
tabelas de distribuiÁ„o de frequÍncias, cujos valores das vari·veis estatÌsticas, segundo Pestana<br />
e Gageiro (2003), distribuem-se em frequÍncias simples e acumuladas, que tanto podem ser<br />
absolutas, como relativas. Para alÈm das tabelas, foram utilizados gr·ficos para ilustrar o<br />
comportamento de algumas vari·veis, em termos percentuais.<br />
103
A an·lise do nÌvel de satisfaÁ„o, global e por sector, dos professores pesquisados, com a<br />
sua QVT, baseou-se, essencialmente, no c·lculo da mÈdia, como medida de tendÍncia central e<br />
do desvio padr„o, como medida de dispers„o.<br />
Recorreu-se tambÈm ao uso do teste estatÌstico n„o paramÈtrico de Mann-Whitney para<br />
efeitos de comparaÁ„o das mÈdias do nÌvel de satisfaÁ„o com a QVT, obtidas pelos professores<br />
de IES¥s p˙blicas e privadas. Segundo Pereira (2004) e Pestana e Gageiro (2003), este teste<br />
tem como objectivo analisar as diferenÁas de mÈdias entre duas vari·veis com apenas dois<br />
grupos independentes, constituindo uma alternativa ao teste t.<br />
Para comparar as mÈdias do nÌvel de satisfaÁ„o com a QVT, obtidas pelos professores,<br />
tendo em conta as vari·veis sÛcio-demogr·ficas, usou-se, para alÈm do teste de Mann-Whitney<br />
(no caso de vari·veis com apenas dois grupos independentes), o teste de Kruskal-Wallis. Este<br />
teste, de acordo com Pereira (2004) e Pestana e Gageiro (2003), permite comparar as<br />
diferenÁas de mÈdias entre duas vari·veis com mais de dois grupos independentes, sendo uma<br />
alternativa ao test One-Way Anova.<br />
104
4 APRESENTA« O DOS RESULTADOS<br />
105<br />
ìCompreender como os professores crescem e se desenvolvem<br />
ñ o que sustenta e impede o seu desenvolvimento ñ È o que<br />
importa tanto quanto procurar compreender como mudar a<br />
pr·tica.î<br />
4.1 PERFIL DOS PROFESSORES UNIVERSIT¡RIOS<br />
A. Hargreaves<br />
Participaram deste estudo 255 professores universit·rios maioritariamente (76,9%) do<br />
sexo masculino (vide tabela 1, anexo E) e com idades compreendidas entre os 23 e os 71 anos,<br />
sendo 38 anos a idade mÈdia (vide tabela 2, anexo E). Deste total de professores, 48,6% eram<br />
casados, 43% solteiros e os restantes apresentavam outro estado civil (vide tabela 3, anexo E).<br />
Na sua maioria, os professores eram de nacionalidade moÁambicana (89%), havendo uma<br />
pequena percentagem com a nacionalidade portuguesa (3,9%), cubana (1,6%), brasileira<br />
(1,2%), entre outras (vide tabela 4, anexo E).<br />
Quanto ‡ habitaÁ„o, 44,3% dos professores afirmou viver em casa prÛpria, 40,4%, em<br />
casa alugada e apenas 13,7% vive em casa de familiares (vide tabela 5, anexo E).<br />
Relativamente ao n˙mero de dependentes, 18,8% dos professores afirmou n„o possuir nenhum<br />
dependente a seu cargo, enquanto que 17,3% possui quatro dependentes, 15,3% dois<br />
dependentes, 12,2% trÍs dependentes, 10,6% possui cinco e mais do que seis dependentes,<br />
respectivamente, 8,2% seis dependentes e, os restantes 7,1%, apenas um dependente (vide<br />
tabela 6, anexo E).<br />
<strong>Um</strong>a pequena percentagem dos professores pesquisados afirmou possuir formaÁ„o ao<br />
nÌvel do bacharelato (5,1%), pÛs-graduaÁ„o (6,7%) e doutoramento (8,2%), tendo 49,4% dos<br />
professores concluÌdo a sua formaÁ„o ao nÌvel da licenciatura e 30,6% ao nÌvel do mestrado<br />
(vide tabela 7, anexo E). Grande parte dos professores possuÌa formaÁ„o ou especializaÁ„o na<br />
·rea da EducaÁ„o (23,1%), seguindo-se professores com formaÁ„o nas ·reas de CiÍncias<br />
Sociais (14,9%), Engenharias (11,8%) e Gest„o (8,2%), sendo que a restante percentagem se<br />
distribui por diversas ·reas (vide tabela 8, anexo E).
47,5% dos professores concluiu o seu ˙ltimo grau acadÈmico em MoÁambique, 11,8%<br />
em Portugal, 6,3% na Alemanha, 4,7% no Brasil e na ¡frica-do-Sul, respectivamente, tendo a<br />
restante percentagem concluÌdo a sua formaÁ„o noutros PaÌses (vide tabela 9, anexo E).<br />
Os 255 professores que integraram a amostra desta pesquisa proveio de treze IESís do<br />
PaÌs, conforme se pode observar, na tabela 10 do anexo E, a sua distribuiÁ„o em percentagem<br />
pelas diversas instituiÁıes. 56,1% dos docentes eram de IESís p˙blicas e os restantes 43,9% de<br />
IESís privadas (vide tabela 11, anexo E). Mais de metade do total de professores proveio de<br />
IESís da Cidade e ProvÌncia de Maputo (62,7%), 29% de IESís da Cidade de Nampula e, os<br />
restantes 8,2%, de IESís da Cidade de Quelimane (vide tabela 12, anexo E).<br />
37,6% dos 255 professores universit·rios afirmou estar integrado na categoria de<br />
Assistente, 21,2% na categoria de Assistente Estagi·rio e a restante percentagem de<br />
professores distribuiu-se por diversas categorias profissionais (vide tabela 13, anexo E).<br />
Relativamente ao tipo de contrato, 49,6% dos professores tinham um contrato a tempo inteiro<br />
e, os restantes 40,4%, a tempo parcial (vide tabela 14, anexo E). Do total de professores<br />
inquiridos, 43,5% afirmou estar a leccionar h· cerca de 2 anos na universidade, 27,1% entre 2 e<br />
5 anos e apenas uma pequena percentagem (7,8%) dos professores afirmou leccionar h· mais<br />
de 15 anos (vide tabela 15, anexo E).<br />
Dos 255 docentes, 24,7% revelou leccionar noutra universidade, para alÈm daquela<br />
sobre a qual responderam ao question·rio e os restantes 75,3% responderam negativamente ‡<br />
quest„o (vide tabela 16, anexo E). A tabela 17 do anexo E esquematiza a mobilidade dos<br />
docentes. O ISPU È a instituiÁ„o que apresenta maior mobilidade de docentes (7,1%), sendo<br />
que, por exemplo, 4,3% dos docentes tambÈm leccionam na UEM. Depois segue-se o<br />
ISCTEM com 3,6% de professores que leccionam em outras IES¥s e a AM com 2,4%. A ESCN<br />
È a ˙nica instituiÁ„o que apresenta 0% de mobilidade dos seus docentes, enquanto que 2% dos<br />
professores n„o responderam se leccionam em outras IESís. Pode-se observar, no entanto, que<br />
existem professores, tanto de IESís p˙blicas e privadas, que chegam a leccionar em trÍs e<br />
quatro IESís simultaneamente, como È o caso de professores do ISPU, ISCTEM, ISCISA,<br />
ACIPOL e ISRI.<br />
106
Do total de professores inquiridos, 42,4% afirmou desenvolver outra actividade<br />
profissional para alÈm da docÍncia (vide tabela 18, anexo E), na sua maioria nos<br />
ramos/sectores de AdministraÁ„o P˙blica (7,8%), Consultoria (6,7%), Sa˙de (3,9%),<br />
FormaÁ„o/EducaÁ„o (3,5%) e Banca (2%) (vide tabela 19, anexo E).<br />
Dos professores participantes desta pesquisa, 21,6% est· a frequentar um curso para a<br />
obtenÁ„o de um grau acadÈmico (vide tabela 20, anexo E), sendo 13,3% para o grau de<br />
Mestre, 7,8% para o grau de Doutorado e apenas 0,4% para o grau de Licenciado (vide tabela<br />
21, anexo E). As ·reas de especializaÁ„o dos professores que est„o no momento a frequentar<br />
cursos para obter um grau acadÈmico s„o, na sua maioria, as ·reas de EducaÁ„o (2,4%), Gest„o<br />
de Empresas (2,4%), Direito (2,4%) e Veterin·ria (2%) (vide tabela 22, anexo E).<br />
Quanto ao sal·rio, 18% dos professores inquiridos n„o responderam sobre o sal·rio que<br />
auferem como resultado da sua actividade de docÍncia, no entanto, 22,7% deles afirmou auferir<br />
um sal·rio mensal que varia entre os 10 e os 15 milhıes de meticais, 22,5% um sal·rio entre 5<br />
e 10 milhıes e uma pequena percentagem de professores recebe um sal·rio atÈ 5 milhıes<br />
(7,5%) e acima de 25 milhıes (7,4%) (vide tabela 23, anexo E).<br />
4.2 PERCEP« O DOS PROFESSORES SOBRE O CONCEITO E PR¡TICAS <strong>DE</strong><br />
QVT<br />
Compreender qual a percepÁ„o dos professores universit·rios sobre o conceito e<br />
pr·ticas de QVT foi um dos objectivos deste estudo. Para o efeito, foram incluÌdas no<br />
question·rio de pesquisa algumas questıes, na sua maioria abertas, sobre o assunto, as quais se<br />
passam a analisar.<br />
4.2.1 DefiniÁıes de QVT<br />
Questionou-se aos professores abrangidos por esta pesquisa o que representava para si<br />
o conceito de QVT. As respostas a esta quest„o foram agrupadas conforme a classificaÁ„o<br />
biopsicossocial BPSO-96. Conforme o gr·fico 1, verificou-se que a percepÁ„o do conceito de<br />
QVT para os professores apresentou um grande Ínfase para questıes organizacionais (67%),<br />
comparativamente ‡s outras dimensıes, enquanto que 3% destes n„o respondeu a esta quest„o.<br />
107
Organizacionais<br />
67%<br />
GR¡FICO 1<br />
<strong>DE</strong>FINI«’ES <strong>DE</strong> QVT<br />
N/R<br />
3%<br />
FONTE: An·lise da Autora<br />
BiolÛgicas<br />
6%<br />
Sociais<br />
13%<br />
PsicolÛgicas<br />
11%<br />
<strong>Um</strong>a leitura da tabela 1 do anexo F permite observar-se que, para a dimens„o<br />
organizacional (67%), a percepÁ„o dos professores sobre o conceito de QVT inclui<br />
maioritariamente aspectos ligados ‡ remuneraÁ„o e benefÌcios (16%), ‡ valorizaÁ„o do<br />
indivÌduo (14%) e ‡s condiÁıes e recursos de trabalho (11%). Para a dimens„o Social (13%), o<br />
foco do conceito de QVT para os professores foi o bom ambiente de trabalho (11%). Para a<br />
dimens„o psicolÛgica (11%), a satisfaÁ„o surgiu como factor crÌtico, enquanto que para a<br />
dimens„o biolÛgica (6%), questıes ligadas ‡ sa˙de (4%) foram maioritariamente apontadas<br />
pelos professores como integrantes do conceito de QVT.<br />
4.2.2 AcÁıes de QVT<br />
Quando questionados sobre se a IES onde leccionava promove acÁıes de QVT para os<br />
docentes, 57,3% dos 255 professores respondeu negativamente, 42% respondeu<br />
afirmativamente e 0,8% n„o respondeu (vide tabela 2, anexo F).<br />
Solicitou-se aos professores, que afirmaram que as IESís onde leccionavam promovem<br />
acÁıes de QVT, que indicassem a natureza das referidas acÁıes, tendo-se tambÈm agrupado as<br />
respostas a esta quest„o segundo a classificaÁ„o biopsicossocial BPSO-96. Como se ilustra no<br />
gr·fico 2, verificou-se que 80% dos professores mencionou acÁıes organizacionais, enquanto<br />
que nenhum professor mencionou acÁıes da dimens„o psicolÛgica.<br />
108
GR¡FICO 2<br />
AC«’ES <strong>DE</strong> QVT QUE AS IESíS PROMOVEM<br />
N/R<br />
7%<br />
Organizacionais<br />
80%<br />
FONTE: An·lise da Autora<br />
BiolÛgicas<br />
12%<br />
Sociais<br />
1%<br />
PsicolÛgicas<br />
0%<br />
O maior enfoque das acÁıes organizacionais mencionadas por 80% dos professores<br />
foram, nomeadamente: formaÁ„o/capacitaÁ„o (20%), lazer interno (17%), remuneraÁ„o e<br />
benefÌcios (11%) e ambiente fÌsico (11%) (vide tabela 3, do anexo E). Para a dimens„o<br />
biolÛgica (12%), os professores mencionaram mais acÁıes relacionadas com a sa˙de/doenÁas<br />
(7%) e alimentaÁ„o (5%), enquanto que, para a dimens„o social, apenas 1% dos professores<br />
mencionou acÁıes de RSE (vide tabela 3, do anexo F).<br />
As razıes que podem estar subjacentes ao facto de a gest„o das IES¥s n„o<br />
desenvolverem acÁıes de QVT, apontadas pelos professores que afirmaram que as instituiÁıes<br />
n„o desenvolvem acÁıes de QVT (57,3%), foram, maioritariamente, de natureza financeira<br />
(13,6%), da qualidade da gest„o dos RH (10,9%) e da sensibilizaÁ„o para o assunto (8,8%),<br />
entre outras razıes apresentadas, conforme se pode ver no gr·fico 1 do anexo F.<br />
Para o caso dos professores que responderam que as suas IESís n„o promovem acÁıes<br />
de QVT, solicitou-se que indicassem que acÁıes de QVT as IES deveriam desenvolver, tendo-<br />
se tambÈm agrupado as suas respostas segundo a classificaÁ„o biopsicossocial BPSO-96. ¿<br />
semelhanÁa das questıes anteriores, os professores enfatizaram mais acÁıes de QVT<br />
organizacionais (78%) que as IESís deveriam desenvolver junto aos docentes, seguindo-se<br />
acÁıes da dimens„o biolÛgica (16%) e, uma pequena percentagem (6%), acÁıes que integram<br />
as dimensıes social e psicolÛgica (vide gr·fico 3).<br />
109
GR¡FICO 3<br />
AC«’ES <strong>DE</strong> QVT QUE AS IESíS <strong>DE</strong>VERIAM PROMOVER<br />
Organizacionais<br />
78%<br />
FONTE: An·lise da Autora<br />
BiolÛgicas<br />
16%<br />
Sociais<br />
3%<br />
PsicolÛgicas<br />
3%<br />
Como se ilustra na tabela 4 do anexo F, para a dimens„o organizacional (78%), os<br />
professores propuseram o desenvolvimento de acÁıes, na sua maioria, relacionadas com<br />
remuneraÁ„o e benefÌcios (15%), formaÁ„o/capacitaÁ„o (14%) e recursos de trabalho (9%).<br />
Para a dimens„o biolÛgica (16%), a Ínfase foi para acÁıes ligadas ‡ sa˙de/doenÁas (12%), para<br />
a dimens„o psicolÛgica (3%) o enfoque das acÁıes foi para o lazer externo (3%), enquanto que,<br />
para a dimens„o social (3%), os professores propuseram mais acÁıes ligadas ‡ cidadania (2%).<br />
4.3 SATISFA« O DOS PROFESSORES COM A QVT<br />
Outro dos objectivos preconizados pelo presente estudo consistia na an·lise do grau de<br />
satisfaÁ„o dos professores com a sua QVT. Neste sentido, nos par·grafos que se seguem,<br />
apresenta-se uma an·lise descritiva geral da satisfaÁ„o dos professores com a sua QVT e,<br />
posterioremente, uma an·lise comparando a satisfaÁ„o dos professores provenientes de IESís<br />
p˙blicas com a dos professores provenientes de IESís privadas.<br />
4.3.1 An·lise Descritiva da SatisfaÁ„o geral<br />
<strong>Um</strong>a an·lise geral dos resultados referentes aos indicadores de QVT, propostos por<br />
Walton, incluÌdos no question·rio de pesquisa, indicou que os 255 professores pesquisados<br />
revelaram, em termos globais, um grau mÈdio de satisfaÁ„o moderada com a sua QVT (vide<br />
anexo G).<br />
110
Relativamente ‡s oito dimensıes de QVT, observou-se que, ‡ excess„o da dimens„o<br />
compensaÁ„o justa e adequada, com a qual os professores se mostraram, em mÈdia,<br />
insatisfeitos, estes afirmaram estar moderamente satisfeitos com todas as restantes dimensıes,<br />
nomeadamente: condiÁıes de trabalho, uso e desenvolvimento de capacidades, oportunidades<br />
de crescimento e seguranÁa, integraÁ„o social no trabalho, constitucionalismo, trabalho e<br />
espaÁo total de vida e relev‚ncia social da vida no trabalho (vide anexo G).<br />
Os professores mostraram-se, em mÈdia, insatisfeitos com todos os factores relativos ‡<br />
dimens„o compensaÁ„o justa e adequada, nomeadamente: remuneraÁ„o adequada, equidade<br />
interna e equidade externa (vide anexo G).<br />
Quanto ‡ dimens„o condiÁıes de trabalho, em mÈdia, os professores revelaram um<br />
grau de satisfaÁ„o moderada com os factores jornada de trabalho, carga de trabalho e ambiente<br />
saud·vel, no entanto, mostram-se insatisfeitos com os factores ambiente fÌsico, material e<br />
equipamento e stress (vide anexo G).<br />
Relativamente ‡ dimens„o uso e desenvolvimento de capacidades, os professores<br />
revelaram, em mÈdia, estar satisfeitos com os factores significado e identidade da tarefa,<br />
moderadamente satisfeitos com os factores autonomia e variedade da habilidade, mas<br />
insatisfeitos com o factor retroinformaÁ„o (vide anexo G).<br />
Os professores revelaram, em mÈdia, estarem insatisfeitos com o factor crescimento<br />
pessoal, mas moderadamente satisfeitos com os factores possibilidade de carreira e seguranÁa<br />
de emprego, relativos ‡ dimens„o oportunidades de crescimento e seguranÁa (vide anexo G).<br />
Igualdade de oportunidades, relacionamento e senso comunit·rio constituÌram factores<br />
da dimens„o integraÁ„o social na organizaÁ„o, com os quais os professores demonstraram<br />
estar, em mÈdia, moderadamente satisfeitos (vide anexo G).<br />
Os professores relevaram estar moderamente satisfeitos com todos os factores da<br />
dimens„o constitucionalismo, nomeadamente: direitos trabalhistas, privacidade pessoal,<br />
liberdade de express„o e normas e rotinas (vide anexo G).<br />
111
Quanto ‡ dimens„o trabalho e espaÁo total de vida, os professores apresentaram, em<br />
mÈdia, um grau de satisfaÁ„o moderada com os trÍs factores da referida dimens„o,<br />
nomeadamente: papel balanceado no trabalho e hor·rio de entrada e saÌda do trabalho (vide<br />
anexo G).<br />
Os professores pesquisados tambÈm revelaram, em mÈdia, um grau de satisfaÁ„o<br />
moderada com os factores imagem da instituiÁ„o, responsabilidade social da instituiÁ„o,<br />
responsabilidade social pelos serviÁos e responsabilidade social pelos trabalhadores, factores<br />
estes que integram a dimens„o relev‚ncia social da vida no trabalho (vide anexo G).<br />
4.3.2 An·lise Comparativa da SatisfaÁ„o ìp˙blico versus privadoî<br />
Ao proceder-se a uma an·lise comparativa entre os professores provenientes de IESís<br />
p˙blicas e privadas, verificou-se que existem diferenÁas estatisticamente significativas entre o<br />
nÌvel mÈdio da satisfaÁ„o global dos professores com a sua QVT. Este nÌvel foi maior para os<br />
professores de IESís privadas, que revelaram uma satisfaÁ„o moderada global com a sua QVT,<br />
enquanto que os professores das IES p˙blicas mostraram-se globalmente insatisfeitos com a<br />
sua QVT (vide anexo G).<br />
Relativamente ‡s oito dimensıes de QVT, observou-se que, em mÈdia, o nÌvel de<br />
satisfaÁ„o com a QVT dos professores das IESís privadas È maior que o dos professores das<br />
IESís p˙blicas para as dimensıes: compensaÁ„o justa e adequada, condiÁıes de trabalho, uso e<br />
desenvolvimento de capacidades, integraÁ„o social no trabalho, constitucionalismo, trabalho e<br />
espaÁo total de vida e relev‚ncia social da vida no trabalho (vide tabela 1, anexo G). Estas<br />
diferenÁas de mÈdias s„o estatÌsticamente significativas, aspecto este que j· n„o se verificou<br />
em relaÁ„o ‡ dimens„o oportunidades de crescimento e seguranÁa, embora os professores das<br />
IESís privadas revelarem estar moderadamente satisfeitos com esta dimens„o e, os das IES¥s<br />
p˙blicas, insatisfeitos (vide anexo G).<br />
Quanto ‡ dimens„o compensaÁ„o justa e adequada (vide anexo G), verificou-se que os<br />
professores, tanto de instituiÁıes p˙blicas como privadas, revelaram estar insatisfeitos com os<br />
factores remuneraÁ„o adequada e equidade externa. Por outro lado, enquanto que os<br />
112
professores das IES¥s p˙blicas se mostraram insatisfeitos com o factor equidade interna, os<br />
professores das IES¥s privadas revelaram, em mÈdia, estarem moderadamente satisfeitos com<br />
este factor.<br />
Em relaÁ„o ‡ dimens„o condiÁıes de trabalho (vide anexo G), observou-se que os<br />
professores de IESís, tanto p˙blicas como privadas, se mostraram moderadamente satisfeitos<br />
com os factores jornada e carga de trabalho, sendo o nÌvel de satisfaÁ„o maior para os<br />
professores das IES p˙blicas. No entanto, verificou-se que os professores das IESís p˙blicas<br />
revelaram estar insatisfeitos com os factores ambiente fÌsico, material e equipamento, ambiente<br />
saud·vel e stress, enquanto que os professores das IES¥s privadas mostram estar<br />
moderadamente satisfeitos com os referidos factores.<br />
Analisando a dimens„o uso e desenvolvimento de capacidades (vide anexo G),<br />
constatou-se que os professores das IESís p˙blicas revelaram estar moderamente satisfeitos<br />
com os factores autonomia, significado e identidade da tarefa, enquanto que os das IESís<br />
privadas demonstraram estar satisfeitos com os respectivos factores. Por outro lado, tanto os<br />
professores de IESís p˙blicas, como privadas, mostraram-se moderadamente satisfeitos com o<br />
factor variedade da habilidade. Mas observou-se que, em relaÁ„o ao factor retroinformaÁ„o, os<br />
professores das IESís p˙blicas mostraram-se insatisfeitos, enquanto que os das IESís privadas<br />
moderadamente satisfeitos.<br />
Quanto ‡ dimens„o oportunidades de crescimento e seguranÁa (vide anexo G),<br />
verificou-se que os professores das IESís p˙blicas revelaram insatisfaÁ„o com os factores<br />
possibilidade de carreira e crescimento pessoal, enquanto que os das IESís privadas se<br />
mostraram moderadamente satisfeitos com aqueles factores. Para o factor seguranÁa de<br />
emprego, os professores de IESís, tanto p˙blicas, como privadas, revelaram um nÌvel de<br />
satisfaÁ„o moderada, sendo a mÈdia dos professores das IESís p˙blicas superior, embora n„o se<br />
tenha verificado diferenÁas estatisticamente significativas (uma vez que as mÈdias deste factor<br />
foram muito prÛximas).<br />
Relativamente ‡ dimens„o integraÁ„o social na organizaÁ„o (vide anexo G), observou-<br />
se que tanto os professores de IESís p˙blicas, como privadas, afirmaram estar moderadamente<br />
satisfeitos com os factores igualdades de oportunidades e relacionamento, sendo a satisfaÁ„o<br />
maior para os professores das IESís privadas. Mas, enquanto que os professores das IESís<br />
113
p˙blicas se revelaram insatisfeitos com o factor senso comunit·rio, o mesmo n„o aconteceu<br />
com os professores das IES¥s privadas, que afirmaram estar moderamente satisfeitos com este<br />
factor.<br />
Na an·lise da dimens„o constitucionalismo (vide anexo G), verificou-se que tanto os<br />
professores de IESís p˙blicas, como privadas, afirmaram estar moderadamente satisfeitos com<br />
os factores direitos trabalhistas, privacidade pessoal e liberdade de express„o. No entanto, os<br />
professores das IESís p˙blicas revelaram-se insatisfeitos com o factor normas e rotinas,<br />
enquanto que os das IESís privadas, moderadamente satisfeitos.<br />
Quanto ‡ dimens„o trabalho e espaÁo total de vida (vide anexo G), constatou-se que os<br />
professores das IESís p˙blicas mostraram-se insatisfeitos com o factor papel balanceado no<br />
trabalho, comparativamente aos professores das IESís privadas, que se mostraram<br />
moderadamente satisfeitos. Por outro lado, observou-se que os professores provenientes, tanto<br />
de IESís p˙blicas como privadas, revelaram estar moderadamente satisfeitos com o factor<br />
hor·rio de entrada e saÌda do trabalho.<br />
Em relaÁ„o ‡ dimens„o relev‚ncia social da vida no trabalho (vide anexo G),<br />
verificou-se que os professores das IESís p˙blicas demonstraram estar moderadamente<br />
satisfeitos com o factor imagem da instituiÁ„o, enquanto que os das IESís privadas relevaram<br />
estar satisfeitos com este factor. Tanto os professores de IESís p˙blicas, como privadas,<br />
apresentaram um nÌvel de satisfaÁ„o moderada em relaÁ„o aos factores responsabilidade social<br />
da instituiÁ„o e responsabilidade social pelos serviÁos. No entanto, os professores das IESís<br />
p˙blicas mostraram-se insatisfeitos com o factor responsabilidade social pelos trabalhadores,<br />
enquanto que os das IES privadas se mostraram moderadamente satisfeitos.<br />
4.4 INFLU NCIA <strong>DE</strong> VARI¡VEIS S”CIO-<strong>DE</strong>MOGR¡FICAS NA SATISFA« O<br />
COM A QVT<br />
Com este estudo pretendeu-se, tambÈm, verificar a possÌvel existÍncia de vari·veis sÛcio-<br />
demogr·ficas que influÌssem no nÌvel de satisfaÁ„o global dos professores com a sua QVT.<br />
Para o efeito, procedeu-se ‡ comparaÁ„o das mÈdias do nÌvel de satisfaÁ„o dos professores com<br />
a QVT dos diferentes grupos das seguintes vari·veis sÛcio-demogr·ficas: sexo, estado civil,<br />
114
nÌvel de formaÁ„o, categoria profissional, tipo de contrato, tempo de trabalho, mobilidade,<br />
outra actividade profissional, frequÍncia de curso para obtenÁ„o de grau acadÈmico e sal·rio.<br />
A partir dos resultados da referida an·lise, verificou-se que n„o existem diferenÁas<br />
significativas entre o nÌvel de satisfaÁ„o mÈdia com a QVT dos diferentes grupos de<br />
professores que integram as vari·veis sexo, estado civil, nÌvel de formaÁ„o, tempo de trabalho,<br />
mobilidade, frequÍncia de curso para obtenÁ„o de grau acadÈmico e sal·rio (vide anexo H).<br />
No entanto, para a vari·vel categoria profissional, constatou-se que os professores<br />
Auxiliares e Catedr·ticos revelaram estar mais satisfeitos com a sua QVT que os professores<br />
com categoria de Assistente Estagi·rio (vide anexo H).<br />
Ao mesmo tempo, verificou-se que os professores com contrato a tempo parcial<br />
demonstraram maior satisfaÁ„o com a sua QVT que os professores com contrato a tempo<br />
inteiro (vide anexo H).<br />
Finalmente, constatou-se tambÈm que os professores, que afirmaram desenvolver outra<br />
actividade profissional para alÈm da docÍncia, mostraram-se mais satisfeitos com a sua QVT,<br />
comparativamente aos professores que afirmaram n„o exercer qualquer outra actividade<br />
profissional (vide anexo H).<br />
115
5 DISCUSS O DOS RESULTADOS<br />
116<br />
ìNa verdade, o que os professores querem e esperam dos seus<br />
superiores È que eles venham ‡ escola e conheÁam, concretamente,<br />
os seus problemas e dificuldades, oferecendo-lhes, ent„o, os<br />
recursos tÈcnicos e materiais de que necessitam. (...) desejam È<br />
maior atenÁ„o e sensibilidade para o drama que eles vivem em<br />
suas salas de aula (...) abandonados a si mesmos, entregues aos<br />
seus parcos recursos e fragilizados diante de tantas pressıes e<br />
ameaÁas.î<br />
5.1 CONCEITO E PR¡TICAS <strong>DE</strong> QVT<br />
Myrtes Alonso<br />
¿ semelhanÁa do estudo desenvolvido por FranÁa (2003) com profissionais de Recursos<br />
Humanos e, simultaneamente, estudantes do MBA-Recursos Humanos da Universidade de S„o<br />
Paulo, no Brasil, o conceito de QVT para os professores universit·rios que integraram esta<br />
pesquisa revelou um grande foco nas questıes organizacionais. Muito em particular, aspectos<br />
mais relacionados com o contexto da tarefa, como remuneraÁ„o e benefÌcios e condiÁıes e<br />
recursos de trabalho, mas tambÈm aspectos relacionados com factores intrÌnsecos ao trabalho,<br />
como a valorizaÁ„o do indivÌduo, segundo os pressupostos da teoria de Herzberg. Conforme a<br />
teoria de Herzeberg, os factores relacionados com o contexto da tarefa n„o desencadeiam<br />
satisfaÁ„o no trabalho, mas a sua ausÍncia pode resultar em insatisfaÁ„o.<br />
Esta maior Ínfase do conceito de QVT em aspectos organizacionais pode dever-se ‡<br />
natureza do trabalho de docÍncia que, por um lado, exige que um conjunto de requisitos<br />
organizacionais sejam reunidos para o bom exercÌcio das suas funÁıes e, por outro lado, requer<br />
uma capacidade de os professores estarem em permanente actualizaÁ„o dos seus saberes e<br />
pr·ticas.<br />
Por outro lado, a fraca tendÍncia de os professores associarem o conceito de QVT a<br />
aspectos biolÛgicos, psicolÛgicos e sociais pode justificar-se pela ausÍncia de uma cultura<br />
organizacional nas IESís, que valorize o bem-estar biopsicossocial dos professores atravÈs da<br />
promoÁ„o de acÁıes orientadas para estas dimensıes. Esta tendÍncia contraria a pesquisa<br />
desenvolvida por Stefano et al. (2005), tambÈm com professores universit·rios de uma IES<br />
p˙blica e privada, no Brasil, que associam o conceito de QVT ‡ RealizaÁ„o Pessoal (dimens„o<br />
psicolÛgica) e ‡ Sa˙de (dimens„o biolÛgica).
A ausÍncia de uma cultura de valorizaÁ„o do ser humano de uma forma integrante, pode<br />
estar na origem da fraca percepÁ„o da maioria dos professores pesquisados, relacionada com a<br />
promoÁ„o de acÁıes de QVT por parte das suas IES¥s. Estes resultados s„o compatÌveis com os<br />
encontrados por FranÁa (2004) junto a uma populaÁ„o de administradores, professores e alunos<br />
do Curso de AdministraÁ„o da Universidade de S„o Paulo, no Brasil, que, em percentagem<br />
consider·vel, afirmou desconhecer ou discordar da existÍncia de modelos de gest„o para<br />
implementaÁ„o de programas desta natureza.<br />
Conforme percepÁ„o da maioria dos professores pesquisados, as suas instituiÁıes n„o<br />
promovem acÁıes desta natureza, essencialmente, devido ‡ falta de recursos financeiros, pela<br />
m· gest„o dos seus recursos humanos e pela falta de sensibilizaÁ„o dos gestores para aspectos<br />
relacionados com a QVT. Esta posiÁ„o era previsÌvel, uma vez que, por um lado, como afirma<br />
Stefano et al. (2005), as IESís n„o possuem polÌticas e estratÈgias para a gest„o da QVT junto<br />
aos professores. E, por outro lado, conforme ressalta Maccoby (s.d.), a QVT sÛ poder· ser uma<br />
realidade nas IES¥s, quando estas conseguirem transitar de um modelo burocr·tico de gest„o<br />
para um modelo flexÌvel e participativo. Esta din‚mica de lideranÁa e gest„o ainda se encontra<br />
ausente nas IES¥s do PaÌs, mas, no entanto, constitui um dos factores de promoÁ„o da QVT,<br />
conforme afirma FranÁa (1997).<br />
Foi interessante constatar que os professores pesquisados percepcionaram o factor<br />
financeiro como sendo um obst·culo para as IESís desencadearem acÁıes de QVT. Esta tem<br />
sido uma atitude comum assumida pelos gestores das instituiÁıes, atitude esta errÛnea, uma vez<br />
que a pr·tica tem demonstrado precisamente o inverso. Ou seja, que o n„o investimento na<br />
QVT pode acarretar mais custos para as instituiÁıes do que o desenvolvimento de acÁıes que<br />
visem proporcionar um maior bem-estar aos trabalhadores. (FRAN«A, 2002)<br />
A falta de sensibilizaÁ„o dos gestores das IESís, apontada por grande parte dos<br />
professores que n„o percepcionam a promoÁ„o de acÁıes de QVT nas suas instituiÁıes, pode<br />
dever-se ‡ falta de vis„o da QVT como um elemento de sustentabilidade institucional, ao n„o<br />
reconhecimento do seu valor e, ainda, ‡ falta de conhecimento do verdadeiro significado e<br />
alcance do conceito, conforme sugere FranÁa (2003).<br />
117
Embora em menor percentagem, alguns professores afirmaram que as suas instituiÁıes<br />
promovem acÁıes voltadas para a preservaÁ„o da QVT, evocando, de novo, questıes,<br />
maioritariamente, associadas ‡ dimens„o organizacional, como formaÁ„o/capacitaÁ„o, lazer<br />
interno, remuneraÁ„o e benefÌcios e ambiente fÌsico. No entanto, verifica-se que, no estudo<br />
desenvolvido por FranÁa (2003), os profissionais apontaram que as empresas implementam,<br />
com maior Ínfase, actividades de QVT ligadas ‡ dimens„o biolÛgica.<br />
As divergÍncias dos achados deste estudo com a pesquisa de FranÁa (2003) podem dever-<br />
se ‡s diferenÁas da cultura organizacional e do tipo de instituiÁ„o. Isto porque, em primeiro<br />
lugar, o estudo de FranÁa (2003) apresenta acÁıes de QVT desenvolvidas por empresas do<br />
contexto brasileiro, inseridas num mercado altamente competitivo e bastante diferente da<br />
realidade de uma instituiÁ„o educativa, do contexto moÁambicano.<br />
Em segundo lugar, as empresas no contexto brasileiro apresentam uma cultura<br />
organizacional que j· reflecte uma maior valorizaÁ„o dos recursos humanos e,<br />
consequentemente, a preocupaÁ„o com a implementaÁ„o de pr·ticas voltadas para o bem-estar<br />
e QVT dos trabalhadores, comparativamente com as instituiÁıes inseridas no contexto<br />
moÁambicano. O exemplo disto s„o os estudos desenvolvidos por Piccinini e Tolfo (1998) e<br />
Tolfo e Piccinini (2001) em trinta empresas, no Brasil, que possuem as melhores pr·ticas de<br />
recursos humanos que revelam ser de maior atratividade para os trabalhadores.<br />
Mais uma vez, aspectos ligados ‡ dimens„o organizacional, como Ínfase para<br />
remuneraÁ„o e benefÌcios, formaÁ„o/capacitaÁ„o e recursos de trabalho foram sugeridos pelos<br />
professores pesquisados que fossem implementados pelas IESís, como forma de promover a<br />
sua QVT. Esta tendÍncia dos professores pode estar associada ‡s fracas condiÁıes de trabalho<br />
e ‡ falta de um conjunto de requisitos b·sicos e essenciais ‡ execuÁ„o do seu trabalho, tal como<br />
estÌmulos a nÌvel salarial e de desenvolvimento profissional, como enumeram NÛvoa (1999) e<br />
Silva et al. (2002).<br />
118
5.2 SATISFA« O GLOBAL COM A QVT<br />
Contrariando as expectativas, face ‡ situaÁ„o prec·ria em que se encontram os<br />
professores e a situaÁ„o das IESís no PaÌs, bem como os relatos do estudo de Schmidt (2004), a<br />
amostra de professores, que integrou este estudo, revelou, no global, estar moderadamente<br />
satisfeita com a sua QVT. Esta tendÍncia poder· estar associada ao facto de os professores se<br />
identificarem com a sua profiss„o e, por isso, mesmo diante de todas as adversidades,<br />
procurarem defender a sua categoria e status social.<br />
Das oito dimensıes de QVT do modelo de Walton, os professores revelaram apenas<br />
estarem insatisfeitos com todos os factores da dimens„o compensaÁ„o justa e adequada<br />
(remuneraÁ„o adequada, equidade interna e equidade externa), achado este compatÌvel com os<br />
estudos de Schmidt (2004), Silva e Tolfo (1999) e Di Lascio (2003).<br />
Apesar de terem revelado uma satisfaÁ„o mÈdia moderada em sete dimensıes do<br />
modelo de QVT de Walton, alguns factores incluÌdos em algumas dessas dimensıes<br />
contribuÌram para que os professores se mostrassem insatisfeitos.<br />
Relativamente ‡ dimens„o condiÁıes de trabalho, os factores mais criticamente<br />
avaliados pelos professores universit·rios, como n„o contribuindo para a sua QVT, foram<br />
nomeadamente: o ambiente fÌsico, material e equipamento e stress. De acordo com Rodrigues<br />
(1994), quando os trabalhadores n„o observam mudanÁas fÌsicas nas condiÁıes de trabalho,<br />
automaticamente h· implicaÁıes no seu nÌvel de satisfaÁ„o com consequÍncias negativas na<br />
sua produtividade.<br />
Por outro lado, como enfatizam Silva et al. (2002), a falta de infraestruturas,<br />
equipamentos e meios necess·rios para o trabalho de docÍncia constitui uma realidade nas<br />
IES¥s do PaÌs. De igual forma, estudos realizados junto a professores, como os de Souza (2001)<br />
e Paiva e Saraiva (2005), revelam que o stress tem sido apontado como uma das principais<br />
causas de insatisfaÁ„o no trabalho, factor este que n„o contribui para a melhoria da QVT desta<br />
camada de profissionais.<br />
119
Quanto ‡ dimens„o uso e desenvolvimento de capacidades, os professores revelaram-se<br />
insatisfeitos com o factor retroinformaÁ„o, aspecto este que tem um papel crucial para os<br />
mesmos, no sentido de facilitar o conhecimento do impacto do seu trabalho, conforme sugerem<br />
Fernandes (1996) e Ferreira, Neves e Caetano (2001).<br />
Na dimens„o oportunidades de crescimento e seguranÁa, em mÈdia, de todos os<br />
factores, os professores demonstraram insatisfaÁ„o com o factor crescimento pessoal, aspecto<br />
este bastante previsÌvel, uma vez que a maioria das IES¥s n„o possui programas estruturados de<br />
formaÁ„o contÌnua e raras s„o as ocasiıes em que as mesmas fazem uso do potencial de<br />
competÍncias que os professores detÍm, quer em seu favor, quer em favor dos prÛprios<br />
professores.<br />
5.3 P⁄BLICO VS PRIVADO E A SATISFA« O COM A QVT<br />
Este estudo demonstrou existirem diferenÁas significativas entre o nÌvel global mÈdio<br />
de satisfaÁ„o dos professores com a sua QVT, provenientes de instituiÁıes p˙blicas e privadas,<br />
conforme aponta a literatura, no ‚mbito de v·rios estudos similares. Os professores das IESís<br />
privadas revelaram estar mais satisfeitos, em termos mÈdios globais, com a sua QVT que os<br />
das IES¥s p˙blicas, resultados estes semelhantes aos estudos de Considine e Callus (s.d.),<br />
Marques e Paiva (1999), Dias (2001) e Ara˙jo (2001).<br />
Das oito dimensıes de QVT avaliadas, os professores das IESís privadas revelaram<br />
mÈdias significativamente superiores ‡s dos professores das IESís p˙blicas em sete dimensıes<br />
de QVT, nomeadamente: compensaÁ„o justa e adequada, condiÁıes de trabalho, uso e<br />
desenvolvimento de capacidades, integraÁ„o social na organizaÁ„o, constitucionalismo,<br />
trabalho e espaÁo total de vida e relev‚ncia social da vida no trabalho. A ˙nica dimens„o onde<br />
n„o se verificaram diferenÁas significativas entre professores de instituiÁıes p˙blicas e<br />
privadas foi a dimens„o oportunidades de crescimento e seguranÁa.<br />
PorÈm, tal como no estudo de Dias (2001), este estudo mostrou que, embora os<br />
professores das IES¥s privadas estejam mais satisfeitos com a sua QVT que os das IESís<br />
p˙blicas, existem factores crÌticos de insatisfaÁ„o entre os professores de ambas as instituiÁıes,<br />
mais concretamente factores relacionados com a dimens„o compensaÁ„o justa e adequada,<br />
120
como remuneraÁ„o adequada e equidade externa. No entanto, para o factor equidade interna, os<br />
professores das IESís p˙blicas mostraram-se insatisfeitos, enquanto que os das IESís revelaram<br />
satisfaÁ„o moderada, relativamente a este factor.<br />
Estes resultados eram previstos, pois, conforme pesquisa desenvolvida por Marques e<br />
Paiva (1999), no Brasil, os professores da universidade p˙blica tÍm uma remuneraÁ„o inferior<br />
aos da universidade privada. A realidade moÁambicana tambÈm n„o È diferente, uma vez que<br />
os sal·rios nas duas IES¥s mais antigas (e maiores) do PaÌs (UEM e UP), atingiram um pico de<br />
USD 750 (para docentes assistentes), em 1990, e, a partir daÌ, tÍm decrescido gradualmente atÈ<br />
USD 220, em 1997. (MESCT, 2000) Os sal·rios dos professores universit·rios das IESís<br />
p˙blicas s„o definidos em funÁ„o do sistema salarial dos funcion·rios p˙blicos pelo Governo,<br />
com base, apenas, nas qualificaÁıes acadÈmicas e n„o no seu desempenho e competÍncias.<br />
(MESCT, 2000) Portanto, È natural que os professores das IES¥s p˙blicas se mostrem muito<br />
insatisfeitos com a sua remuneraÁ„o e com a equidade externa.<br />
A insatisfaÁ„o dos professores das IES¥s p˙blicas com a equidade interna pode<br />
associar-se ao facto de os sal·rios serem definidos em funÁ„o da categorizaÁ„o profissional,<br />
incluindo qualificaÁ„o acadÈmica e anos de experiÍncia. E, se a maioria do corpo docente È<br />
ainda jovem e com baixa qualificaÁ„o acadÈmica, como espelha o PEES, naturalmente que<br />
maior È a probabilidade de se percepcionarem discrep‚ncias salariais a nÌvel interno. Isto<br />
porque, ao compararem os seus sal·rios com os dos professores Auxiliares ou Catedr·ticos, por<br />
exemplo, a diferenÁa È nÌtida, uma vez que estes possuem elevadas qualificaÁıes e longo<br />
tempo de experiÍncia de docÍncia.<br />
Nas IES's privadas a situaÁ„o È diferente, pois o sal·rio mÌnimo de um assistente est· na<br />
ordem dos USD 1.000 e, no topo da escala, sal·rios da ordem dos USD 3.000. Este valor È trÍs<br />
vezes superior ao sal·rio mais elevado que se paga em IES's p˙blicas ao professor Catedr·tico.<br />
(MESCT, 2000) Todavia, mesmo com melhores sal·rios, os professores das universidades<br />
privadas mostraram-se insatisfeitos com a sua remuneraÁ„o e com a equidade externa. A<br />
insatisfaÁ„o com a sua remuneraÁ„o pode associar-se ao elevado custo de vida existente<br />
actualmente no PaÌs, que, aliado ao elevado n˙mero de dependentes que os professores<br />
possuem, leva a que, mesmo com melhores sal·rios dos que os praticados no sector p˙blico,<br />
n„o consigam obter rendimentos suficientes para cobrir as despesas do seu agregado familiar.<br />
121
TambÈm, a insatisfaÁ„o dos professores das IES¥s privadas com a equidade externa<br />
pode associar-se ao facto de percepcionarem discrep‚ncias entre a sua remuneraÁ„o e a mÈdia<br />
da remuneraÁ„o aplicada no mercado de trabalho moÁambicano, em particular no sector<br />
empresarial privado. Este n„o valoriza tanto as qualificaÁıes acadÈmicas, tal como acontece<br />
nas IES¥s, mas, sim, as competÍncias e o desempenho dos trabalhadores, sendo os sal·rios e<br />
outras regalias, em geral, mais atraentes para os profissionais.<br />
Segundo Dias (2001), os professores das Universidades privadas possuem melhores<br />
condiÁıes de trabalho que os das Universidades p˙blicas, sendo, talvez, esta a raz„o, segundo a<br />
qual os professores das IES¥s privadas deste estudo tenham demonstrado uma satisfaÁ„o<br />
moderada em todos os factores da dimens„o condiÁıes de trabalho. No entanto, os professores<br />
das IES¥s p˙blicas revelaram insatisfaÁ„o, particularmente, com os factores ambiente fÌsico,<br />
material e equipamento, ambiente saud·vel e stress, desta dimens„o. Estes resultados eram<br />
esperados, pois s„o o produto da actual situaÁ„o em que se encontram, particularmente as IES¥s<br />
p˙blicas. Conforme revela o PEES:<br />
122<br />
A qualidade do ensino e da investigaÁ„o pressupıe a existÍncia de uma infra-estrutura<br />
fÌsica adequada ‡s necessidades da instituiÁ„o. A situaÁ„o nas IES's em MoÁambique<br />
est· longe de satisfazer esta condiÁ„o. As IES's p˙blicas sofreram muito com os efeitos<br />
do colapso econÛmico que caracterizou os quase vinte anos de instabilidade depois da<br />
independÍncia devida a uma guerra civil severa. Durante esse tempo, fez-se pouco<br />
investimento em novas construÁıes, n„o se reequiparam laboratÛrios e salas de aulas,<br />
n„o se fez nenhuma manutenÁ„o dos edifÌcios e do equipamento. Isto aplica-se tambÈm<br />
‡s bibliotecas que viram as suas colecÁıes envelhecerem, sem nenhuma reposiÁ„o.<br />
(MESCT, 2000, p.49)<br />
O facto de os professores das IES¥s p˙blicas estarem insatisfeitos com a quantidade<br />
percebida de stress pode dever-se ao tipo de contrato que tÍm com a instituiÁ„o, j· que este<br />
estudo demonstrou que mais de metade dos professores s„o a tempo inteiro. Como docentes a<br />
tempo inteiro, os professores s„o obrigados, para alÈm da docÍncia e da investigaÁ„o, a<br />
desempenharem uma sÈrie de funÁıes de car·cter administrativo, factor este que pode originar<br />
o stress negativo. Por outro lado, a insatisfaÁ„o com o stress percebido nestes professores de<br />
IES¥s p˙blicas pode estar enraizada na acÁ„o combinada das fracas condiÁıes psicolÛgicas e<br />
sociais em que exercem a docÍncia, conforme sugere Gomes (2002), dado o actual cen·rio<br />
caracterÌstico das IES¥s p˙blicas em MoÁambique. No entanto, estes resultados s„o<br />
compatÌveis com diversos estudos, tambÈm desenvolvidos com professores - por exemplo,<br />
Moore (s.d.), Silva (2000), Gomes (2002), Souza (2001) e Paiva e Saraiva (2005) - que
salientam uma tendÍncia crescente de sintomas de stress e da sÌndrome de Burnout nesta<br />
camada de profissionais.<br />
Na dimens„o uso e desenvolvimento de capacidades, professores, tanto de IES¥s<br />
p˙blicas, como privadas, mostraram-se satisfeitos com todos os factores, sendo a satisfaÁ„o<br />
maior para os das IES¥s privadas. Com a excepÁ„o do factor retroinformaÁ„o, que constituiu<br />
um ponto crÌtico de insatisfaÁ„o para os professores das IES¥s p˙blicas. Este achado est· em<br />
conson‚ncia com a pesquisa de Dias (2001), que revelou que os professores n„o discutem com<br />
os seus superiores sobre os resultados do seu trabalho, assim como n„o lhes d„o qualquer<br />
retorno. Por outro lado, poder· estar associado ao tipo de gest„o existente na maioria das IES¥s<br />
p˙blicas, que, devido ‡ excessiva centralizaÁ„o de poderes e pesada estrutura org‚nica,<br />
constitui um obst·culo ‡ criaÁ„o de canais abertos e flexÌveis de comunicaÁ„o e feedback. Por<br />
outro lado, a cultura do feedback ao trabalho dos professores n„o tem sido caracterÌstica nestas<br />
instituiÁıes, em particular, e na maioria das instituiÁıes inseridas no contexto moÁambicano,<br />
devido aos prÛprios modelos de gest„o ainda caracterizados por um grande distanciamento<br />
hier·rquico.<br />
¿ semelhanÁa do estudo desencadeado por Ara˙jo (2001), os professores pesquisados,<br />
provenientes de IES¥s privadas, mostraram-se satisfeitos com todos os factores da dimens„o<br />
oportunidades de crescimento e seguranÁa, enquanto que os das IES¥s p˙blicas demonstraram<br />
insatisfaÁ„o com relaÁ„o aos factores possibilidade de carreira e crescimento pessoal. Este<br />
resultado pode estar associado ao facto de a maioria das IES¥s, em particular as p˙blicas, n„o<br />
possuirem polÌticas e planos que satisfaÁam as necessidades de desenvolvimento do seu corpo<br />
docente. (MESCT, 2000) Conforme registado no PEES, nas IES¥s p˙blicas ìas promoÁıes na<br />
carreira s„o baseadas na diuturnidade e n„o nas publicaÁıes cientÌficas como noutros PaÌsesî<br />
(MESCT, 2000, p.53). Nas IES¥s privadas, a situaÁ„o comeÁa a apresentar algum<br />
desenvolvimento, mas carece ainda de melhorias. AlÈm dissso, os estudos de Dias (2001) e de<br />
Cavedon, citado por Dias (2001), tambÈm demonstraram que nas IES¥s privadas h· um maior<br />
esforÁo, em termos de criaÁ„o de condiÁıes e incentivo para a qualificaÁ„o do corpo docente.<br />
Os professores pesquisados provenientes de IES¥s privadas, mostraram maior satisfaÁ„o<br />
em todos os factores da dimens„o IntegraÁ„o Social na OrganizaÁ„o, comparativamente aos<br />
professores das IES¥s p˙blicas, que se revelaram insatisfeitos com o factor senso comunit·rio<br />
123
desta mesma dimens„o. No estudo de Ara˙jo (2001), o autor verificou que o ambiente social<br />
nas IES¥s privadas È mais positivo que o das p˙blicas. AlÈm disso, torna-se claro que o senso<br />
de comunidade seja posto em causa, conforme a caracterizaÁ„o apresentada no PEES:<br />
124<br />
Os docentes ficam no campus sÛ o tempo suficiente para dar aulas, o que<br />
dificulta a criaÁ„o de um ambiente acadÈmico e de uma cultura de<br />
investigaÁ„o; h· pouca tradiÁ„o de debate acadÈmico e participaÁ„o em<br />
actividades programadas. N„o existe nenhuma associaÁ„o profissional do<br />
pessoal docente, as actividades sindicais s„o muito fracas e os encontros<br />
informais sÛ ocorrem em dias festivos. (MESCT, 2000, p.48)<br />
Esta realidade tambÈm est· presente nas IES¥s privadas, j· que grande percentagem do<br />
seu corpo docente est· a tempo parcial e, portanto, est· somente nas instituiÁıes para leccionar.<br />
No entanto, os prÛprios resultados deste estudo demonstram que, ainda assim, a situaÁ„o n„o È<br />
t„o extrema, comparando com as IES¥s p˙blicas, dado que os professores do ensino privado<br />
manifestaram uma satisfaÁ„o moderada com o factor senso comunit·rio.<br />
Os professores das IES¥s privadas tambÈm revelaram maior satisfaÁ„o com todos os<br />
factores da dimens„o Constitucionalismo que os das IES¥s p˙blicas, tendo estes ˙ltimos<br />
avaliado, como ponto crÌtico de insatisfaÁ„o, o factor normas e rotinas. Este resultado tambÈm<br />
foi encontrado por Cavedon, citado por Dias (2001), ao efectuar uma an·lise comparativa entre<br />
a cultura organizacional de duas Universidades, uma p˙blica e outra privada, salientando como<br />
factor crÌtico, na universidade p˙blica, o excesso de burocracia.<br />
Quanto ‡ dimens„o trabalho e espaÁo total de vida, constatou-se que os professores das<br />
IES¥s privadas demonstraram maior satisfaÁ„o que os das p˙blicas, relativamente a todos os<br />
factores da referida dimens„o. No entanto, os professores das IES¥s p˙blicas mostraram-se<br />
insatisfeitos com o factor papel balanceado no trabalho, aspecto este que pode justificar-se pelo<br />
facto de, na sua maioria, estarem a tempo inteiro nas suas instituiÁıes, com uma sÈrie de<br />
atribuiÁıes administrativas e pedagÛgicas e, ao mesmo tempo, leccionarem em outras<br />
instituiÁıes ou desenvolverem outras actividades profissionais, n„o possibilitando que tenham<br />
muito tempo livre para a famÌlia e/ou para se dedicarem a actividades sociais.<br />
Em relaÁ„o ‡ dimens„o relev‚ncia social da vida no trabalho, verificou-se que os<br />
professores do ensino privado mostraram maior satisfaÁ„o que os do ensino p˙blico em todos<br />
os factores. No entanto, os professores das IESís p˙blicas mostraram-se insatisfeitos com o
factor responsabilidade social pelos trabalhadores, situaÁ„o esta tambÈm encontrada por Dias<br />
(2001) na sua pesquisa comparativa entre uma instituiÁ„o p˙blica e outra privada. Este<br />
resultado deve-se ‡s fraquezas do sistema de gest„o de recursos humanos que caracteriza a<br />
maioria das IES¥s p˙blicas no PaÌs, que vai desde a falta de incentivos e uma boa condiÁ„o<br />
salarial aos professores, atÈ ‡ falta de definiÁ„o de polÌticas adequadas de gest„o de carreiras e<br />
planos de formaÁ„o do corpo docente e gest„o de recursos e equipamentos necess·rios ‡ pr·tica<br />
da docÍncia.<br />
5.4 VARI¡VEIS S”CIO-<strong>DE</strong>MOGR¡FICAS E A SATISFA« O COM A QVT<br />
O presente estudo apurou a existÍncia de algumas vari·veis sÛcio-demogr·ficas que<br />
influem no nÌvel de satisfaÁ„o global dos professores com a sua QVT, nomeadamente:<br />
categoria profissional, tipo de contrato de trabalho e o desenvolvimento de outra actividade<br />
profissional, alÈm da docÍncia.<br />
Em relaÁ„o ‡ categoria profissional, constatou-se que os professores Auxiliares e<br />
Catedr·ticos revelaram estar mais satisfeitos com a sua QVT que os professores com categoria<br />
de Assistente Estagi·rio. Estes resultados s„o compatÌveis com o estudo de Dias (2001) e<br />
justificam-se, porque, enquanto os professores Assistentes Estagi·rios se deparam com uma<br />
sÈrie de constragimentos inerentes ao inÌcio das suas carreiras acadÈmicas, tal como baixa<br />
remuneraÁ„o, pouca experiÍncia profissional e qualificaÁ„o insuficiente, os professores<br />
Auxiliares e Catedr·ticos experimentam, n„o sÛ uma maior estabilidade financeira, como<br />
tambÈm uma maior experiÍncia profissional e qualificaÁ„o acadÈmica. Por outro lado, dada a<br />
sua experiÍncia, os professores com categorias mais elevadas est„o em condiÁıes de mais<br />
facilmente se adaptarem a condiÁıes adversas e gerirem eventuais constrangimentos, no<br />
‚mbito da sua profiss„o, sem deixar que isso afecte a sua satisfaÁ„o com a QVT.<br />
Quanto ao tipo de contrato, este estudo apurou que os professores com contrato a tempo<br />
parcial demonstraram maior satisfaÁ„o com a sua QVT que os professores com contrato a<br />
tempo inteiro. Este resultado pode estar relacionado com o facto de os docentes a tempo inteiro<br />
possuirem maior sobrecarga de trabalho, enquanto que os docentes a tempo parcial possuem<br />
maior autonomia para realizar as suas actividades e maiores oportunidades de obtenÁ„o de<br />
125
outras fontes de rendimento, atravÈs da realizaÁ„o de trabalhos extra-docÍncia, j· que possuem<br />
mais tempo para o efeito.<br />
Verificou-se tambÈm, atravÈs deste estudo, que os professores que desenvolvem outra<br />
actividade profissional, para alÈm da docÍncia, mostraram-se mais satisfeitos com a sua QVT,<br />
comparativamente aos professores que apenas se dedicam ‡ docÍncia. Estas diferenÁas podem<br />
dever-se ao facto de, por um lado, os professores, que desenvolvem outra actividade<br />
profissional para alÈm da docÍncia, possuirem mais fontes de rendimento, que lhes permite<br />
satisfazer as suas necessidades pessoais. Por outro, estes professores tÍm maiores<br />
oportunidades de adquirir experiÍncia e desenvolver as suas competÍncias profissionais, dado<br />
estarem em dois contextos profissionais diferentes. AlÈm disso, geralmente, os professores que<br />
est„o inseridos no mercado de trabalho, trazem ‡ sua pr·tica de docÍncia maior riqueza de<br />
conhecimentos e, portanto, maior probabilidade de obterem um bom feedback por parte dos<br />
estudantes, factor este que contribui sobremaneira para a sua satisfaÁ„o e realizaÁ„o<br />
profissional.<br />
Por outro lado, os professores, que apenas se dedicam ‡ actividade de docÍncia, correm o<br />
risco de entrar em pr·ticas rotineiras, que podem afectar o seu ritmo e qualidade de trabalho e<br />
atÈ o seu potencial de desenvolvimento, em termos pessoais e profissionais.<br />
126
6 CONCLUS’ES<br />
127<br />
Monitorar a vis„o do professor sobre a qualidade do<br />
seu trabalho e a qualidade de vida no trabalho<br />
ajuda-nos a obter um sentido das nossas fraquezas<br />
como gestores de instituiÁıes educacionais e<br />
identificar ·reas onde podem ser feitas melhorias.<br />
Adaptado de Tommy G. Thompson<br />
Com o presente trabalho de investigaÁ„o pretendeu-se analisar a QVT dos professores<br />
universit·rios do PaÌs. A partir do referencial teÛrico, dos dados colectados no campo e dos<br />
resultados analisados, com base nos objectivos especÌficos, inicialmente traÁados, foi possÌvel<br />
chegar ‡s seguintes conclusıes:<br />
A percepÁ„o do conceito de QVT para os professores universit·rios representa um<br />
conjunto de factores de Ínfase organizacional, com maior destaque para a remuneraÁ„o e<br />
benefÌcios, valorizaÁ„o do indivÌduo e condiÁıes e recursos de trabalho. Factores com Ínfase<br />
nas dimensıes biolÛgica, psicolÛgica e social s„o menos apontados pelos professores como<br />
representativos do conceito de QVT. Esta situaÁ„o È o reflexo das fracas polÌticas de<br />
remuneraÁ„o, gest„o de recursos humanos e de recursos de trabalho existentes nas instituiÁıes<br />
de Ensino Superior em MoÁambique.<br />
A ausÍncia de uma cultura de valorizaÁ„o do potencial humano, derivada da falta de<br />
sensibilidade e incapacidade de gest„o da QVT e de uma vis„o estratÈgica de qualidade no<br />
trabalho nas IES¥s de MoÁambique, origina uma fraca percepÁ„o dos professores quanto a<br />
acÁıes de QVT promovidas pelas suas instituiÁıes. Os pontos crÌticos de melhoria da QVT,<br />
apontados pelos professores, reflectem a ausÍncia de polÌticas de remuneraÁ„o e incentivos nas<br />
IES¥s, polÌticas de formaÁ„o e desenvolvimento e polÌticas e estratÈgias de criaÁ„o de melhores<br />
condiÁıes e recursos de trabalho para a eficiÍncia e efic·cia do trabalho de docÍncia.<br />
Mesmo diante de uma situaÁ„o profissional e social pouco estimulante, os professores<br />
pesquisados, em termos gerais, apresentam nÌveis de satisfaÁ„o moderada com a sua QVT,<br />
possivelmente por se identificarem com a essÍncia da pr·tica pedagÛgica e pelos resultados<br />
intrÌnsecos a ela associados. No entanto, a dimens„o compensaÁ„o justa e adequada È
evidenciada como um factor crÌtico de insatisfaÁ„o para estes profissionais, sendo uma<br />
realidade bastante conhecida no contexto moÁambicano e, muito em particular, nas IES¥s.<br />
Embora existam alguns factores crÌticos de insatisfaÁ„o com a sua QVT, tanto de<br />
professores do ensino p˙blico, como privado, os professores do ensino privado est„o, em geral,<br />
mais satisfeitos com a sua QVT que os do ensino p˙blico. De um conjunto de trinta factores<br />
integrados em oito dimensıes de QVT, os professores das IES¥s privadas apenas se mostram<br />
insatisfeitos com os factores remuneraÁ„o adequada e equidade externa, enquanto que os<br />
professores das IES¥s p˙blicas manifestam insatisfaÁ„o em relaÁ„o aos seguintes factores:<br />
remuneraÁ„o adequada, equidade interna, equidade externa, ambiente fÌsico, material e<br />
equipamento, ambiente saud·vel, stress, retroinformaÁ„o, possibilidade de carreira,<br />
crescimento pessoal, senso comunit·rio, normas e rotinas, papel balanceado no trabalho e<br />
responsabilidade social pelos trabalhadores. Por um lado, esta situaÁ„o È o produto da fraca<br />
gest„o que caracteriza actualmente as instituiÁıes p˙blicas do PaÌs, da sua pesada estrutura<br />
organizacional e de uma cultura organizacional pouco orientada para a valorizaÁ„o dos<br />
trabalhadores e seu bem-estar e ainda calcada em rotinas de trabalho excessivamente<br />
burocr·ticas e pouco flexÌveis. E, por outro lado, do nÌvel de competitividade que as IES¥s<br />
privadas tÍm estado a adoptar, devido ‡ din‚mica do mercado, que se reflectem nas suas<br />
polÌticas e estratÈgias de actuaÁ„o e no esforÁo, ainda que embrion·rio, de criar um conjunto de<br />
instrumentos que espelham maior valorizaÁ„o do potencial dos seus principais recursos<br />
humanos ñ os professores.<br />
As vari·veis sÛcio-demogr·ficas categoria profissional, tipo de contrato de trabalho e<br />
execuÁ„o de outra actividade profissional, para alÈm da docÍncia, influem no nÌvel de<br />
satisfaÁ„o com a QVT. Os professores Auxiliares e Catedr·ticos revelam maior satisfaÁ„o com<br />
a sua QVT que os Assistentes Estagi·rios, pois possuem, n„o sÛ uma melhor condiÁ„o salarial,<br />
mas qualificaÁıes e experiÍncia suficientes que servem de suporte ao sucesso do seu trabalho.<br />
Os professores a tempo parcial tambÈm est„o mais satisfeitos com a sua QVT que os a tempo<br />
inteiro, pois estes ˙ltimos possuem um conjunto de actividades e funÁıes que poder„o exceder<br />
a sua capacidade de resposta e, ao contr·rio dos professores a tempo parcial, n„o tÍm a<br />
possibilidade de obter outras fontes de rendimento realizando, em simult‚neo, outras<br />
actividades profissionais. Os professores que desenvolvem outras actividades profissionais,<br />
para alÈm da docÍncia, revelam maior satisfaÁ„o com a sua QVT, comparativamente aos<br />
128
professores que apenas se dedicam ‡ docÍncia, caindo, estes ˙ltimos, no risco de tornar a sua<br />
pr·tica de trabalho muito rotineira, afectando o seu ritmo e qualidade de trabalho, bem como o<br />
seu potencial de desenvolvimento. Por outro lado, a satisfaÁ„o dos professores com a sua QVT<br />
e que se dedicam a outras actividades profissionais, para alÈm da docÍncia, associa-se ao facto<br />
de possuirem outras fontes de rendimento e, tambÈm, a todo um conjunto de experiÍncias e<br />
conhecimentos que acumulam no mercado de trabalho, produzindo um impacto positivo na sua<br />
pr·tica docente.<br />
As conclusıes aqui apresentadas devem ser tomadas em conta pelas IES¥s do PaÌs, tanto<br />
p˙blicas como privadas, como o inÌcio de um mapeamento que dever· ser mais profundo, por<br />
forma a obterem uma vis„o mais clara da realidade de cada instituiÁ„o. Para as IES¥s p˙blicas,<br />
muito em particular, vÍ-se a urgÍncia de se desencadear mecanismos e acÁıes de melhoria dos<br />
pontos criticamente avaliados. O objectivo ˙ltimo dever· ser comum a todas as instituiÁıes ñ<br />
p˙blicas e privadas: trabalhar no sentido de criar uma cultura de valorizaÁ„o dos professores<br />
universit·rios ñ o seu capital intelectual mais valioso - investindo na sua QVT, pois o produto<br />
deste investimento traduzir-se-· num ensino de melhor qualidade, possibilitando ‡s IES¥s<br />
cumprir verdadeiramente com a sua miss„o.<br />
6.1 LIMITA«’ES DO ESTUDO<br />
ExtrapolaÁıes das conclusıes deste estudo dever„o ser feitas com algum cuidado, devido<br />
‡s limitaÁıes dos procedimentos estatÌsticos adoptados, como resultado da distribuiÁ„o da<br />
amostra de professores pesquisados. PorÈm, o n˙mero e a localizaÁ„o das IES¥s abrangidas<br />
pela pesquisa, o tamanho da amostra de professores, retirada de cada IES, e a diversidade das<br />
caracterÌsticas dos professores pesquisados, constituem indicadores que permitem espelhar<br />
opiniıes e sentimentos que n„o devem ser ignorados e que reflectem a tendÍncia do<br />
comportamento dos professores face ‡ actual realidade das IES¥s do PaÌs.<br />
Muito pelo contr·rio, se ‡ partida se considerou o fechar de algumas portas em<br />
determinadas IES¥s visitadas, para efeitos desta pesquisa, como uma limitaÁ„o, ela revelou-se<br />
ser um factor que contribuiu para validar os resultados alcanÁados.<br />
129
Deve-se reconhecer, no entanto, que a inclus„o, nesta pesquisa de professores<br />
universit·rios de IES¥s e/ou respectivas delegaÁıes na Cidade da Beira, possibilitaria trazer ao<br />
estudo uma maior contribuiÁ„o. O mesmo se aplicaria ‡ adopÁ„o de tÈcnicas qualitativas neste<br />
estudo, permitindo uma melhor an·lise deste conceito t„o rico que È a QVT e, ao mesmo<br />
tempo, t„o subjectivo.<br />
6.2 SUGEST’ES PARA FUTURAS INVESTIGA«’ES<br />
Este trabalho n„o deve ser entendido como acabado, pelo contr·rio, os seus achados<br />
demonstram que o caminho a percorrer ainda È longo e que diversas s„o as possibilidades de<br />
futuras pesquisas. Desde j·, aqui se deixam alguns desafios no ‚mbito do desenvolvimento de<br />
futuras linhas de investigaÁ„o relacionadas com o tema:<br />
Investigar o stress e a sÌndrome de Burnout em professores universit·rios do PaÌs, uma<br />
vez que o stress foi considerado um factor crÌtico de insatisfaÁ„o para os professores,<br />
no ‚mbito desta pesquisa;<br />
Estudar a percepÁ„o de QVT das direcÁıes das IES¥s do PaÌs e o seu nÌvel de esforÁo na<br />
implementaÁ„o de acÁıes e programas de promoÁ„o da QVT do seu corpo docente, j·<br />
que a sua aparente falta de sensibilizaÁ„o para este assunto foi apontada pela maioria<br />
dos professores nesta pesquisa;<br />
Estender a pesquisa de QVT nas IES¥s do PaÌs, ao pessoal tÈcnico e administrativo,<br />
uma vez que tambÈm eles s„o actores importantes no seio das IES¥s e, em particular, no<br />
apoio ao trabalho dos professores;<br />
Utilizar os indicadores de QVT do Modelo Biopsicossocial e do Modelo de Walton no<br />
contexto empresarial moÁambicano, incluindo empresas de diversos ramos de<br />
actividade e localizaÁıes geogr·ficas, para comparar e identificar diferenÁas, pois o<br />
instrumento de indicadores usado nesta pesquisa revelou ser bastante completo e eficaz;<br />
Estudar a QVT de trabalhadores inseridos em empresas moÁambicanas que<br />
desenvolvem programas de RSE, por forma a verificar possÌveis correlaÁıes positivas<br />
entre as duas vari·veis, uma vez que o movimento de RSE tem sido crescente no PaÌs.<br />
130
REFER NCIAS<br />
AR<strong>NO</strong>LD, J.; DAVEY, K.M. Graduate's work experiences as predictors of organizational<br />
commitment, intention to leave, and tournover: Which experiences really matter? Applied<br />
Psychology: An International Review, v.48, p.211-238, 1999.<br />
AYRES, K.; BRITO, S.; FEITOSA, A. Stress Ocupacional no Ambiente AcadÍmico<br />
Universit·rio: <strong>Um</strong> estudo em Professores universit·rios com Cargos de Chefia Intermedi·ria.<br />
In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIA« O <strong>DE</strong> P”S-GRADUA« O EM<br />
ADMINISTRA« O, Foz do IguaÁu, Anais ElectrÛnicos, 1999.<br />
ALMEIDA, Fernando Neves de. Psicologia para gestores - Comportamento de Sucesso nas<br />
OrganizaÁıes. Lisboa: McGraw-Hill, 1995.<br />
ARA⁄JO, EnÈas. Qualidade de Vida no Trabalho: um estudo de casos em organizaÁıes de<br />
sa˙de, p˙blica e privada, no Estado de EspÌrito Santo. 2001. Resumo de DissertaÁ„o<br />
(Mestrado) ñ Universidade de BrasÌlia, BrasÌlia. DisponÌvel em: <br />
Acesso em 14 jun. 2005.<br />
ASSOCIA« O BRASILEIRA <strong>DE</strong> QUALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>VIDA</strong>. Sa˙de Corporativa: o Capital<br />
Humano do SÈculo 21 ñ despesas ou investimento? In: GLOBAL HEALTH SEMINAR II, S„o<br />
Paulo, 16 a 20 de novembro de 2004, AssociaÁ„o Brasileira de Qualidade de Vida. DisponÌvel<br />
em: . Acesso em: 20 abr. 2005.<br />
ASSUMP« O JR. et al. Escala de AvaliaÁ„o de Qualidade de Vida: Validade e confiabilidade<br />
de uma escala para qualidade de vida em crianÁas de 4 a 12 anos. Arquivos de Neuro-<br />
Psiquiatria, v.58, n.1, p.119-127, Mar. 2000. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 25 out. 2004.<br />
BAN<strong>DE</strong>IRA, M. L.; MARQUES, A. L; VEIGA, R. T. As dimensıes m˙ltiplas do<br />
comprometimento organizacional: <strong>Um</strong> estudo na ECT/MG. Revista de AdministraÁ„o<br />
Contempor‚nea, n.4, p.133-157, 2000.<br />
BASTOS, A. V. B. Comprometimento no trabalho: a estrutura dos vÌnculos do trabalhador<br />
com a organizaÁ„o, a carreira e o sindicato. 1994. Tese (Doutoramento) - Universidade de<br />
BrasÌlia, BrasÌlia.<br />
BASTOS, J. L. Qualidade de Vida e Trabalho: relaÁıes interpessoais. 2004. Monografia<br />
(EspecializaÁ„o) - Centro Federal de Tecnologia de Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais.<br />
BENEVI<strong>DE</strong>S-PEREIRA, Ana Maria T. O Estado da Arte do Burnout no Brasil. Revista<br />
EletrÙnica InterAÁ„o Psy, Ano 1, n.1, p. 4-11, Ago. 2003. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 03 dez.<br />
2004.<br />
BENEVI<strong>DE</strong>S-PEREIRA, Ana Maria T.; MORE<strong>NO</strong>-JIM…NEZ, Bernardo. O Burnout e o<br />
Profissional de Psicologia. Revista EletrÙnica InterAÁ„o Psy, Ano 1, n.1, p.68-75, Ago.<br />
2003. DisponÌvel em: .<br />
Acesso em: 03 dez. 2004.<br />
131
BIAZIN, Celestina; GAMA, Cinthya; GOMES, Creosvaldo. AdministraÁ„o Participativa,<br />
Responsabilidade Social e Qualidade de Vida no Trabalho: Em busca da valorizaÁ„o do ser<br />
humano nas OrganizaÁıes. DisponÌvel em: . Acesso em: 25 out. 2004.<br />
BIRCH, Carles; PAUL, David. Life and Work: challenging economic man. Sydney:<br />
University of South Wales Press, 2003.<br />
BOOG, Gustavo (Coord.). Manual de Treinamento e Desenvolvimento: <strong>Um</strong> Guia de<br />
OperaÁıes. S„o Paulo: Makron Books, 2001.<br />
BOONE, L.; KURTZ, D. Marketing Contempor‚neo. 8.ed. S„o Paulo: LTC, 1998.<br />
BORGES, Livia de Oliveira. As ConcepÁıes do Trabalho: um Estudo de An·lise de Conte˙do<br />
de Dois PeriÛdicos de CirculaÁ„o Nacional. Revista de AdministraÁ„o Contempor‚nea -<br />
RAC, v.3, n.3, Set./Dez. 1999, p. 81-107. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 27 set. 2005.<br />
BORGES, Livia de Oliveira et al. A sÌndrome de Burnout e os valores organizacionais: um<br />
estudo comparativo em hospitais universit·rios. Psicologia, Reflex„o e Critica, v.15, n.1,<br />
2002, p.189-200. DisponÌvel em: . Acesso<br />
em: 11 ago. 2005.<br />
BOWDITCH, James L.; BUO<strong>NO</strong>, Anthony F. Elementos de Comportamento<br />
Organizacional. S„o Paulo: Pioneira, 1992.<br />
B⁄FALO, Isabel M. A PrivatizaÁ„o como Processo de MudanÁa Organizacional e Seus<br />
Custos PsicolÛgicos ñ Estudo de Caso: A privatizaÁ„o de trÍs hotÈis da cidade de Maputo.<br />
2001. Monografia (Licenciatura) ñ Instituto Superior PolitÈcnico e Universit·rio, Maputo.<br />
BURCKHARDT, Carol; AN<strong>DE</strong>RSON, Khathryn. The Quality of Life Scale (QOLS):<br />
Reability, Validity and Utilization. Health and Quality of Life Outcomes, 2003, p. 1-60.<br />
DisponÌvel em: . Acesso em: 29 out. 2004.<br />
BURCKHARDT, Carol et al. The Flanagan Quality of Life Scale: Evidence of Construct<br />
Validity. Health and Quality of Life Outcomes, 2003, p.1-59. Disponivel em:<br />
. Acesso em: 18 out. 2004.<br />
BURKE, Ronald J. Work Stress and Womenís Health: Occupational Status Effects. Journal of<br />
Business Ethics, n.37, p.91ñ102, 2002. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 15 out. 2003.<br />
BUSS, Vanderlei. Qualidade de Vida no Trabalho: o caso do corpo tÈcnico e auxiliar<br />
administrativo de uma instituiÁ„o de Ensino Superior. 2002. DissertaÁ„o (Mestrado) ñ<br />
Universidade Federal de Santa Catarina, FlorianÛpolis. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 26 out. 2004.<br />
132
CAETA<strong>NO</strong>, AntÛnio; VALA, Jorge. Gest„o de Recursos Humanos ñ contextos, processos e<br />
tÈcnicas. 2.ed. Lisboa: RH, 2002.<br />
CAMARA, Pedro; GUERRA, Paulo; RODRIGUES, Joaquim. Humanator: Recursos<br />
Humanos e Sucesso Empresarial. 3.ed. Lisboa: Dom Quixote, 1999.<br />
CARLOTTO, Mary Sandra. Burnout e o trabalho docente: consideraÁıes sobre a intervenÁ„o.<br />
InterAÁ„o Psy, Ano 1, n 1, p. 12-18., Ago. 2003. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 11 ago.<br />
2005.<br />
CARVALHO, Antonio; NASCIMENTO, Luiz. AdministraÁ„o de Recursos Humanos.<br />
Vol.1. 2.ed. S„o Paulo: Pioneira, 1997.<br />
CASTANHEIRA, Paulo et al. Qualidade de vida e tratamento de cancÍr ou aids com<br />
imonomodulador casanova. DisponÌvel em: . Acesso em: 23 out. 2004.<br />
CHIAVENATO, Idalberto. Gest„o de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas<br />
organizaÁıes. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999.<br />
CHIAVENATO, Idalberto. Gest„o de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas<br />
organizaÁıes. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.<br />
CHRISTOPHORO, Ros‚ngela; WAIDMAN, Maria AngÈlica. Estresse e condiÁıes de<br />
trabalho: um estudo com docentes do curso de enfermagem da UEM, Estado do Paran·. Acta<br />
Scientiarum, Maring·, v. 24, n. 3, p.757-763, 2002. DisponÌvel<br />
em:. Acesso em: 18 nov. 2005.<br />
CONSIDINE, Gillian; CALLUS, Ron. The quality of work life of Australian employees:<br />
the development of an index. University of Sydney. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 05 abr.<br />
2005.<br />
CORR A, Sebasti„o A.; MENEZES, JosÈ R. Estress e trabalho. 2001. Monografia<br />
(EspecializaÁ„o) - Universidade Est·cio de S·, Faculdade de Santa Catarina, Campo Grande,<br />
M.S. DisponÌvel em: . Acesso em: 11 ago.<br />
2005.<br />
COSTA, Jo„o Vasconcelos. A Reforma do Ensino Superior ditada pela Sociedade do<br />
Conhecimento. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 03 dez. 2004.<br />
COSTA, Mariza T. InfluÍncia de vari·veis sÛcio-demogr·ficas sobre a percepÁ„o de<br />
factores de stress ocupacional: <strong>Um</strong> estudo na populaÁ„o de trabalhadores administrativos e<br />
oper·rios da Fasol, Lda. 2005. Monografia (Licenciatura) ñ Instituto Superior PolitÈcnico e<br />
Universit·rio, Maputo.<br />
133
COWLING, Alan; MAILER, Chloe. Gerir os Recursos Humanos. Lisboa: Dom Quixote,<br />
1998.<br />
DI LASCIO, Raphael Henrique. Modelo para a an·lise da qualidade de vida no trabalho<br />
dos profissionais dos serviÁos de enfermagem em Hospital Pedi·trico. 2003. DissertaÁ„o<br />
(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, FlorianÛpolis. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 26 out. 2003.<br />
DIAS, Giselda Sallon. Qualidade de Vida no trabalho de Professores de AdministraÁ„o de<br />
Empresas: A relaÁ„o entre uma Universidade p˙blica e uma privada. 2001. DissertaÁ„o<br />
(Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em<br />
18 out. 2004.<br />
FERNAN<strong>DE</strong>S, Eda Conte. Qualidade de Vida no Trabalho: como medir para melhorar.<br />
Salvador: Casa da Qualidade, 1996.<br />
FERREIRA, J.; NEVES, J.; CAETA<strong>NO</strong>, A. Manual de Psicossociologia das OrganizaÁıes.<br />
Amadora: McGraw-Hill, 2001.<br />
FONSECA, Candida Clara de Oliveira. O Adoecer psÌquico no trabalho do professor de<br />
ensino fundamental e mÈdio da rede p˙blica no Estado de Minas Gerais. 2001.<br />
DissertaÁ„o (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, FlorianÛpolis. DisponÌvel<br />
em: . Acesso em: 17 mai. 2004.<br />
FONTAINE, Ovide; KULBERTUS, Henry; …TIENNE, Anne-Marie. Stress e Cardiologia.<br />
1.ed. Lisboa: Climepsi, 1998.<br />
FRAN«A, Ana Cristina Limongi. Indicadores Empresariais de Qualidade de Vida no<br />
Trabalho: esforÁo empresarial e satisfaÁ„o dos empregados no ambiente de manufaturas com<br />
certificaÁ„o ISO 9000. 1996. Tese (Doutoramento) - Universidade de S„o Paulo, S„o Paulo.<br />
FRAN«A, Ana Cristina Limongi. Qualidade de Vida no Trabalho: conceitos, abordagens,<br />
inovaÁıes e desafios nas empresas brasileiras. Revista Brasileira de Medicina<br />
Psicossom·tica. Rio de Janeiro, v.1, n.2, p.79-83, abr./mai./jun., 1997.<br />
FRAN«A, Ana Cristina Limongi. "Pessoal e IntransferÌvel" ñ Revista VocÍ S.A., 84-86,<br />
SecÁ„o: VocÍ em EquilÌbrio, Novembro, 2002. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 16 jun. 2005.<br />
FRAN«A, Ana Cristina Limongi. Qualidade de Vida no Trabalho: conceitos e pr·ticas nas<br />
empresas da sociedade pÛs-industrial. S„o Paulo: Atlas, 2003.<br />
FRAN«A, Ana Cristina Limongi. Qualidade de Vida no Trabalho. Valor Online, 2004.<br />
DisponÌvel em: . Acesso em: 10 nov. 2004.<br />
134
FRAN«A, Ana Cristina Limongi; RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e Trabalho:<strong>Um</strong>a<br />
Abordagem Psicossom·tica. 3.ed. (Ampliada e Revista). S„o Paulo: Atlas, 2002.<br />
FUKAMI, C.V.; LARSON, E.N. Commitment to company and union: Parallel models.<br />
Journal of Applied Psychology, v.69, p.367-371, 1984.<br />
GADOTTI, Moacir. ComunicaÁ„o Docente: Ensaio de CaracterizaÁ„o da relaÁ„o Educadora.<br />
S„o Paulo: Loyola, 1975.<br />
GALPIN, Timothy J. O Lado humano da mudanÁa: <strong>Um</strong> guia pr·tico para a mudanÁa<br />
organizacional. 1.ed. Lisboa: SÌlabo, 2000.<br />
GARCIA, Lenice Pereira; BENEVI<strong>DE</strong>S-PEREIRA, Ana Maria. Investigando o Burnout em<br />
Professores Universitarios. Revista EletrÙnica InterAÁ„o Psy, Ano 1, n.1, p.76-89, Agosto,<br />
2003. DisponÌvel em: .<br />
Acesso em: 10 ago. 2005.<br />
GIL, AntÛnio C. Como elaborar Projectos de Pesquisa.S„o Paulo: Atlas, 1996.<br />
GOMES, Luciana. Trabalho Multifacetado de Professores/as: A Sa˙de entre Limites. 2002.<br />
DissertaÁ„o (Mestrado) - MinistÈrio da Sa˙de/FIOCRUZ/ENSP/CESTEH, Rio de Janeiro.<br />
DisponÌvel em: .<br />
Acesso em: 03 dez. 2004.<br />
GOO<strong>DE</strong>, William J.; HATT, Paul K. MÈtodos em Pesquisa Social. 3.ed. S„o Paulo:<br />
Companhia Editora Nacional,1969.<br />
HELOANI, JosÈ Roberto; CAPIT O, Cl·udio Garcia. Sa˙de mental e psicologia do trabalho.<br />
S„o Paulo em Perspectiva, v.17, n.2, p.102-108, abr./jun. 2003. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 25 out. 2004.<br />
JACQUES, Maria da GraÁa. Abordagens teÛrico-metodolÛgicas em sa˙de/doenÁa mental &<br />
trabalho. Psicologia & Sociedade, v.15, n.1, p.97-116, jan./jun. 2003. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 14 ago. 2005.<br />
JESUÕ<strong>NO</strong>, J. C. MÈtodo experimental nas ciÍncias sociais, 1986. In: SILVA, A. S. (Ed.).<br />
Metodologia das ciÍncias sociais (pp. 215-249). Lisboa: Afrontamento.<br />
JULI O, PatrÌcia. Qualidade de Vida no Trabalho: AvaliaÁ„o em Empresa do Setor<br />
AutomobilÌstico a partir do Clima Organizacional e do Sistema de Qualidade baseado na<br />
especÌficaÁ„o tÈcnica ISO/TS 16.949. 2003. Monografia (Conclus„o do Curso) - Universidade<br />
de S„o Paulo, S„o Paulo. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 24 out. 2004.<br />
J⁄NIOR, Aldo AntÙnio; ZIMMERMANN, Raquel Cristina. A Qualidade de Vida no Trabalho<br />
na Empresa Brasileira de Correios e TelÈgrafos Sediada na Regi„o Operacional 08. Revista<br />
AdministraÁ„o On-Line ñ Pr·tica, Pesquisa e Ensino, v. 4, n.3,<br />
Outubro/Novembro/Dezembro, 2002. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em 25 out. 2004.<br />
135
KERLINGER, Fred. Metodologia da Pesquisa em CiÍncias Sociais: um tratamento<br />
conceitual. S„o Paulo: EDU/EDUSP,1980.<br />
KILIMNIK, ZÈlia Miranda; CASTILHO, Isolda Veloso de. TrajetÛrias de carreira e<br />
qualidade de vida no trabalho de profissionais assalariados de Recursos Humanos que<br />
passaram a trabalhar como autÙnomos. Belo Horizonte: FEAD-MG/CEPEAD-UFMG.<br />
KILIMNIK, ZÈlia Miranda; MORAIS, L˙cio Fl·vio. O conte˙do significativo do trabalho<br />
como fator de qualidade de vida organizacional. Revista da Angrad, S„o Paulo, v. 1, n. 1, p.<br />
64-74, 2000.<br />
KOTLER, P. AdministraÁ„o de Marketing: An·lise, Planejamento, ImplementaÁ„o e<br />
Controle. 5.ed. S„o Paulo: Atlas, 1998.<br />
KRUEGER, Paul et al. Organization specific predictors of job satisfaction: findings from a<br />
Canadian multi-site quality of work life cross-sectional survey. 2002. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 20<br />
fev. 2005.<br />
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia CientÌfica. S„o<br />
Paulo: Atlas,1982.<br />
LACAZ, Francisco AntÙnio de Castro. Qualidade de Vida no Trabalho e Sa˙de/DoenÁa.<br />
CiÍncia e Sa˙de Coletiva, v.5, n.1, p.151-161, 2000. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 20 nov. 2005.<br />
LANDSHEERE, G. de. O novo papel dos professores face ‡s mudanÁas sociais e<br />
econÛmicas e os consequentes desafios a empreender pelos sistemas educativos. DisponÌvel<br />
em: , Acesso em: 30 out. 2004.<br />
LIMA, IrÍ Silva. Qualidade de Vida no Trabalho na ConstruÁ„o de EdificaÁıes: AvaliaÁ„o<br />
do NÌvel de SatisfaÁ„o dos Oper·rios de Empresas de Pequeno Porte, 1995. Tese<br />
(Doutoramento) - Universidade Federal de Santa Catarina, FlorianÛpolis. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 27 ago. 2003.<br />
LIMA, Raimundo de. O Professor e o Stress. Revista Universidade e Sociedade, Ano 13,<br />
n.17, p.35-39, Junho/1998. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 11 ago. 2005.<br />
LIPP, Marilda E.; ROCHA, J. Stress, Hipertens„o e Qualidade de vida. S„o Paulo: Papirus,<br />
1996.<br />
LIPP, M. E.; TANGANELLI, M. S. Stress e qualidade de vida em Magistrados da JustiÁa do<br />
Trabalho: diferenÁas entre homens e mulheres. Psicologia: Reflex„o e Critica, v.15, n.3,<br />
p.537-548, 2002. DisponÌvel em: . Acesso<br />
em: 11 ago. 2005<br />
136
LOWE, Graham S. The Quality of Work: A People-centred Agenda. 1.ed. Toronto: Oxford<br />
University Press, 2000.<br />
LUZ, Ricardo. Clima Organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996.<br />
MACCOBY, Michael. Helping labor and management set up a quality-of-worklife program.<br />
Monthly Labor Review. DisponÌvel em: .<br />
Acesso em: 08 ago. 2005.<br />
MACHADO, Cleide L. B. MotivaÁ„o, qualidade de vida e participaÁ„o no trabalho. 2002.<br />
DissertaÁ„o (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, FlorianÛpolis. DisponÌvel<br />
em: . Acesso em: 26 out. 2003.<br />
MANCINI, SÈrgio et al. Qualidade de Vida no Trabalho e Responsabilidade Social. In: II<br />
ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIA« O NACIONAL <strong>DE</strong> P”S-GRADUA« O E<br />
PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDA<strong>DE</strong>, Abril de 2004. DisponÌvel em:<br />
. Acesso<br />
em: 25 out. 2004.<br />
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho<br />
CientÌfico. 6.ed. S„o Paulo: Atlas, 2001.<br />
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. TÈcnicas de Pesquisa. 5.ed. (rev. e<br />
amp.) S„o Paulo: Atlas, 2002.<br />
MARQUES, AntÙnio; PAIVA, Kely Martins. Publico x Privado: Qualidade de vida, Stress e<br />
situaÁ„o de trabalho de Professores de InstituiÁıes de Ensino Superior. 1999. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em 29 out.<br />
2004.<br />
MARQUES, Carlos; CUNHA, Miguel (Coord.). Comportamento Organizacional e Gest„o<br />
de Empresas. 1.ed. Lisboa: Dom Quixote, 1996.<br />
MARQUES, AntÙnio Luiz et al. Qualidade de Vida e Estresse no trabalho em uma grande<br />
CoorporaÁ„o de PolÌcia Militar. DisponÌvel em:<br />
.<br />
Acesso em: 25 out.2004.<br />
MARTINEZ, Maria C.; PARAGUAY, Ana Isabel B.; LATORRE, Maria do Ros·rio D.<br />
RelaÁ„o entre satisfaÁ„o com aspectos psicossociais e sa˙de dos trabalhadores. Revista de<br />
Sa˙de P˙blica, v.1, n.38, p.55-61, 2004. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 11 ago. 2005.<br />
MEYER, J. P.; ALLEN, N. J.; GELLATLY, I. R. Affective and continuance commitment to<br />
the organization: Evaluation of measures and analysis of concurrent and time-lagged relations.<br />
Journal of Applied Psychology, n.75, p.710-720, 1990.<br />
137
MINIST…RIO DO ENSI<strong>NO</strong> SUPERIOR, CIENCIA E TEC<strong>NO</strong>LOGIA. Plano EstratÈgico de<br />
Ensino Superior 2000-2010. Maputo: MESCT, 2000. DisponÌvel<br />
em: . Acesso em: 31 out.<br />
2004.<br />
MINIST…RIO DO ENSI<strong>NO</strong> SUPERIOR, CIENCIA E TEC<strong>NO</strong>LOGIA. Indicadores de<br />
CiÍncia e Tecnologia em MoÁambique (2002-2003). Maputo: MESCT, 2003.<br />
MINIST…RIO DO ENSI<strong>NO</strong> SUPERIOR, CI NCIA E TEC<strong>NO</strong>LOGIA. Dados EstatÌsticos do<br />
Ensino Superior e das InstituiÁıes de InvestigaÁ„o. Maputo: MESCT, 2004.<br />
MIOCH, Robert. Quando o ambiente de trabalho prejudica o desenvolvimento profissional do<br />
professor. Mudar para melhor: pequenos passos rumo ao Íxito para todos, S„o Paulo:<br />
SE/APS, p. 24-43, 1997. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 15 dez. 2005.<br />
MONACO, Filipe de Faria; GUIMAR ES, Valeska Nahas. Gest„o da Qualidade Total e<br />
Qualidade de Vida no Trabalho. In: VI ENCONTRO NACIONAL <strong>DE</strong> ESTUDOS DO<br />
<strong>TRABALHO</strong>, ABET, 1999. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 26 out. 2004.<br />
MONACO, Filipe de Faria; GUIMAR ES, Valeska Nahas. Gest„o da Qualidade Total e<br />
Qualidade de Vida no Trabalho: o Caso da GerÍncia de AdministraÁ„o dos Correios. Revista<br />
de AdministraÁ„o Contempor‚nea - RAC, v.4, n.3, p.67-88, Set./Dez. 2000. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 27 set. 2005.<br />
MOORE, Wendy. Teachers and stress: pressures of life at the chalkface. DisponÌvel em:<br />
. Acesso<br />
em: 01 mar. 2005.<br />
MORAES, L˙cio Fl·vio et al. ImplicaÁıes do GÍnero na Qualidade de Vida e Estresse no<br />
Trabalho da PolÌcia Militar do Estado de Minas Gerais. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 11 ago. 2005.<br />
MORE<strong>NO</strong>-JIMENEZ, Bernardo et al. A AvaliaÁ„o do Burnout em Professores. ComparaÁıes<br />
de Instrumentos: CBP-R e MBI-ED. Psicologia em Estudo, Maring·, v. 7, n. 1, p.11-19,<br />
jan./jun. 2002. DisponÌvel em: . Acesso em:<br />
10 ago. 2004.<br />
MOTTER, Arlete Ana. Qualidade de Vida dos MÈdidos Militares do Hospital Geral de<br />
Curitiba. 2001. DissertaÁ„o (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina,<br />
FlorianÛpolis. DisponÌvel em: . Acesso em: 21<br />
mar. 2004.<br />
MOWDAY, R.T.; PORTER, L.W.; STEERS, R.M. Employee-organizations linkages: The<br />
Psychology of commitment, absenteeism, and turnover. New York: Academic Press, 1982.<br />
NERI, A. Clima organizacional e o VÌrus Emocional. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 09 jun. 2003.<br />
138
NEVES, JosÈ GonÁalves das. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gest„o de<br />
Recursos Humanos. 1.ed. Lisboa: RH, 2000.<br />
<strong>NO</strong>A, Francisco. O papel do professor no Ensino Superior. Jornal NotÌcias, Maputo, 23 ago.<br />
2005.<br />
N”VOA, AntÛnio (Org.). Profiss„o Professor. 2.ed. Porto: Porto, 1999.<br />
O'DRISCOLL, M. P.; RANDALL, D. M. Perceived organizational support, satisfaction with<br />
rewards, and employee job involvement and organizational commitment. Applied Psychology:<br />
An International Review, n.48, 197-209, 1999.<br />
OGATA (a), Alberto. Como anda a Qualidade de Vida do pequeno empres·rio. AssociaÁ„o<br />
Brasileira de Qualidade de Vida. DisponÌvel em: .<br />
Acesso em: 20 abr. 2005.<br />
OGATA (b), Alberto. Superando os desafios para implantaÁ„o e manuntenÁ„o dos<br />
programas de qualidade de vida nas organizaÁıes. AssociaÁ„o Brasileira de Qualidade de<br />
Vida. DisponÌvel em: . Acesso em: 20 abr. 2005.<br />
OLIVEIRA, Danielle Amorim. O Estresse como factor relevante na qualidade de vida no<br />
trabalho. 2003. Monografia (Curricular) - CEFET-MG, Belo Horizonte.<br />
OLIVEIRA, Ot·vio (Org.). Gest„o da Qualidade: TÛpicos AvanÁados. S„o Paulo: Pioneira<br />
Thomson Learning, 2004a.<br />
OLIVEIRA, Paulo Murilo. Estamos avaliando bem os candidatos · docÍncia no Ensino<br />
Superior? Revista Brasileira de Ensino de FÌsica, v.26, n.3, 2004b. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 12 dez. 2005.<br />
OLIVEIRA, Silvio L. Tratado de Metodologia CientÌfica. S„o Paulo: Thomson Learning,<br />
2001.<br />
PACHANE, Graziela G.; PEREIRA, Elisabete Monteiro. A import‚ncia da formaÁ„o did·ticopedagÛgica<br />
e a construÁ„o de um novo perfil para docentes universit·rios. Revista<br />
Iberoamericana de EducaciÛn. DisponÌvel em: .<br />
Acesso em: 12 dez. 2005.<br />
PAIVA, Kely CÈsar M.; MARQUES, Antonio Luiz. Qualidade de Vida, Stress e SituaÁ„o de<br />
Trabalho de Profissionais Docentes: uma comparaÁ„o entre o P˙blico e o Privado. ANPAD,<br />
1999.<br />
PAIVA, KÈly CÈsar M.; SARAIVA, Luis Alex S. Estresse ocupacional de docentes do Ensino<br />
Superior. Revista de AdministraÁ„o, v.40, n.2, Abril/Junho, 2005, Universidade de S„o<br />
Paulo. DisponÌvel em: . Acesso<br />
em: 11 ago. 2005.<br />
139
PASCHOAL, SÈrgio M·rcio P. Qualidade de Vida do Idoso: ElaboraÁ„o de um instrumento<br />
que preveligia sua opini„o. 2000. DissertaÁ„o (Mestrado) - Universidade de S„o Paulo, S„o<br />
Paulo. DisponÌvel em:<br />
<br />
Acesso em: 17 out. 2004.<br />
PEREIRA, Alexandre. SPSS ñ Guia Pr·tico de UtilizaÁ„o: an·lise de dados para ciÍncias<br />
sociais e Psicologia. 5.ed. (rev. e aum.). Lisboa: SÌlabo, 2004.<br />
PEREIRA, Orlindo G. Fundamentos de Comportamento Organizacional. Lisboa: FundaÁ„o<br />
Calouste Gulbenkian, 1999.<br />
PESTANA, Maria H.; GAGEIRO, Jo„o N. An·lise de Dados para CiÍncias Sociais: a<br />
complementaridade do SPSS. 3.ed. (rev. e aum.). Lisboa: SÌlabo, 2003.<br />
PICCININI, ValmÌria C.; TOLFO, Suzana R. The bests companies to work in Brasil and the<br />
quality of working life: Disjunctions between theory and practise. 1998. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 25 out. 2004.<br />
PINTO, Mary Elizabeth P. DocÍncia no NÌvel Superior: uma exigÍncia de formaÁ„o<br />
permanente no contexto de mudanÁas contÌnuas. 2002. DissertaÁ„o (Mestrado) - Universidade<br />
Federal de Santa Catarina, FlorianÛpolis. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 26 out. 2004.<br />
PRADA, Denyse Fonseca; MIGUEL, Paulo Augusto; FRAN«A, Ana Cristina Limongi.<br />
Pr·ticas da Gest„o de Pessoas no contexto da Qualidade. Caderno de Pesquisas em<br />
AdministraÁ„o, S„o Paulo, v.1, n.10, 1999. DisponÌvel em: .<br />
Acesso em: 03 nov. 2004.<br />
PROFESSOR ArmÈnio Rego soma prÈmios ñ Estudo sobre a Qualidade de Vida no Trabalho<br />
distinguido com MenÁ„o Honrosa. Jornal UA_Online, Universidade de Aveiro, 30 nov. 2004.<br />
DisponÌvel em: . Acesso em: abr.<br />
2005.<br />
PROGRAMA DAS NA«’ES UNIDAS PARA O <strong>DE</strong>SENVOLVIMENTO. EducaÁ„o e<br />
desenvolvimento humano: Percurso, liÁıes e desafios para o SÈculo XXI. RelatÛrio Nacional<br />
do Desenvolvimento Humano. Maputo: PNUD, 2000.<br />
RAMÕREZ, Lydia Guevara. Tratamento do assÈdio psicolÛgico, do estresse e do Burnout<br />
como acidentes de trabalho. Havana: Sociedade Cubana de Direito do Trabalho e de<br />
Seguridade Social, 2003. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 10 jul. 2004.<br />
REGIS, Leda Maria Oliveira. O Stress ocupacional no executivo: relaÁ„o entre os causadores<br />
de stress na vida profissional e estado de sa˙de. 1996. DissertaÁ„o (Mestrado) - Universidade<br />
de S„o Paulo, S„o Paulo. DisponÌvel em:<br />
.<br />
Acesso em: 11 ago. 2005.<br />
140
RIBEIRO, JosÈ LuÌs Pais. InvestigaÁ„o e avaliaÁ„o em Psicologia e Sa˙de. Lisboa: Climepsi,<br />
1999.<br />
RICHARDSON, Roberto J. et al. Pesquisa Social: mÈtodos e tÈcnicas. 3.ed. (rev. e amp.). S„o<br />
Paulo: Atlas, 1999.<br />
RITZ, Maria Rita de C·ssia. Qualidade de Vida no Trabalho: Construindo, medindo e<br />
validando uma pesquisa. 2000. DissertaÁ„o (Mestrado) - Universidade de Campinas,<br />
Campinas. DisponÌvel em: . Acesso<br />
em: 25 out. 2004.<br />
RODRIGUES, Marcus V. C. Qualidade de Vida no Trabalho: evoluÁ„o e an·lise no nÌvel<br />
gerencial. 9.ed. PetrÛpolis: Vozes, 1994.<br />
ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 9.ed. S„o Paulo: Prentice Hall,<br />
2002.<br />
ROLO, Jo„o. Sociologia da Sa˙de e da SeguranÁa no Trabalho. In: IV CONGRESSO<br />
PORTUGU S <strong>DE</strong> SOCIOLOGIA. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 16 fev. 2004.<br />
ROSEMBERG, DulcinÈa Sarmento. O Processo de FormaÁ„o Continuada de Professores<br />
universit·rios: Do InstituÌdo ao Instituinte. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 03 dez. 2004.<br />
ROSSI, Ana Maria (Org.). Estressado, eu? Porto Alegre: RBS PublicaÁıes, 2004.<br />
SANCHES, Elizabeth N.; GONTIJO, Leila A.; VERDINELLI, Miguel A. Comprometimento<br />
dos professores universit·rios com a organizaÁ„o e a carreira docente e sua relaÁ„o com o<br />
desempenho. 2001. DisponÌvel em: .<br />
Acesso em: 08 dez. 2005.<br />
SANTíANNA, Anderson de Souza; MORAES, L˙cio Fl·vio Renault de. O movimento da<br />
qualidade de vida no trabalho: <strong>Um</strong> estudo de suas origens, evoluÁ„o e principais avanÁos no<br />
Brasil. Ensaios de AdministraÁ„o. Belo Horizonte: CEPEAD/UFMG, 1998.<br />
SANTOS, Luis Delfim; MARTINS, Isabel. A qualidade de vida urbana: o caso da cidade do<br />
Porto. Porto: Universidade do Porto, 2002. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 26 out. 2004.<br />
SANTOS, SÈrgio Ribeiro et al. Qualidade de Vida do Idoso na Comunidade: AplicaÁ„o da<br />
escala de Flanagan. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v.10, n.6, p.757-764,<br />
Nov./Dec. 2002. DisponÌvel em: . Acesso<br />
em: 03 set. 2004.<br />
141
SCHMIDT, Denise Rodrigues C. Qualidade de Vida e Qualidade de Vida no Trabalho de<br />
Profissionais de Enfermagem Atuantes no Bloco Cir˙rgico. 2004. DissertaÁ„o (Mestrado) -<br />
Universidade de S„o Paulo, Ribeir„o Preto, S„o Paulo. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 12 dez. 2005.<br />
SCOPINHO, Rosemeire Aparecida. Qualidade Total, Sa˙de e Trabalho: <strong>Um</strong>a An·lise em<br />
Empresas Sucroalcooleiras Paulistas. Revista de AdministraÁ„o Contempor‚nea, v.4, n.1,<br />
93-112, Jan./Abr. 2000. DisponÌvel em: .<br />
Acesso em: 27 set. 2005.<br />
SELLTIZ, Claire et al. MÈtodos de Pesquisa nas RelaÁıes Sociais. S„o Paulo: Herder,1972.<br />
SERRA, Andrea C. F. Factores que contribuem para elevar o stress nos Estudantes do<br />
ISPU em Maputo: Agentes stressantes e CaracterÌsticas Individuais. 2002. Monografia<br />
(Conclus„o de Licenciatura) ñ Instituto Superior PolitÈcnico e Universit·rio, Maputo.<br />
SILVA, Fl·via Piet· P. Burnot: <strong>Um</strong> desafio ‡ sa˙de do trabalhador. PSI ñRevista de<br />
Psicologia Social e Institucional, v.2, n.1, Junho, 2000. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 11 ago. 2004.<br />
SILVA, Narbal; TOLFO, Suzana. Qualidade de Vida no Trabalho e Cultura Organizacional:<br />
<strong>Um</strong> estudo no ramo Hoteleiro de FlorianÛpolis. Revista Convergencia, n.20, p.208-300, Set.-<br />
Dez.,1999. DisponÌvel em: . Acesso em: 25 out.<br />
2004.<br />
SILVA, R.; SILVA, S.; BARRETO, J.; BUNGALA, C.; MBOFANA, F. Estudo sobre os<br />
Sistemas de InvestigaÁ„o CientÌfica em MoÁambique. Maputo: MESCT, 2002. DisponÌvel<br />
em: .<br />
Acesso em 31 out. 2004.<br />
SOUZA, Alfeu Duarte et al. Estress e trabalho. 2002. Monografia (EspecializaÁ„o).<br />
Sociedade Est·cio de S·, Campo Grande. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 11 ago. 2005.<br />
SOUZA, Sandra Dias de. Qualidade de vida de Professores universit·rios em fase de<br />
Mestrado (DissertaÁ„o de Mestrado). FlorianÛpolis: Universidade Federal de Santa Catarina,<br />
2001. DisponÌvel em: , Acesso em 20 mar. 2004.<br />
STEFA<strong>NO</strong>, Silvio et al. SatisfaÁ„o da Qualidade de Vida no Trabalho com RelaÁ„o aos<br />
Fatores Biopsicossociais e Organizacionais: um estudo comparativo entre docentes de uma<br />
Universidade P˙blica e uma Universidade Privada. 2005.<br />
STONER, James; FREEMAN, Edward. AdministraÁ„o. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.<br />
STORA, Jean Benjamin. O Stress. Porto: RÈs, 1990.<br />
142
STURMAN, Linda. A survey of quality of working life amongst teachers. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 03 nov. 2004.<br />
TAMAYO, Alvaro. Prioridades AxiolÛgicas, Atividade FÌsica e Estresse Ocupacional. Revista<br />
de AdministraÁ„o Contempor‚nea, v.5, n.3, p.127-147, Set./Dez. 2001. DisponÌvel em:<br />
. Acesso em: 27 set. 2005.<br />
TAMAYO, Mauricio Robayo; TROCCOLI, Bartholomeu TÙrres. Exaust„o emocional:<br />
relaÁıes com a percepÁ„o de suporte organizacional e com as estratÈgias de coping no trabalho.<br />
Estudos de Psicologia (Natal), v.7, n.1, p.37-46, Jan. 2002. Recuperado a 2 de Setembro,<br />
2005 de <br />
TEIXEIRA, Sebasti„o. Gest„o das OrganizaÁıes. Lisboa: McGraw-Hill, 1998.<br />
THE IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NTE COMMISSION ON POPULATION AND QUALITY OF LIFE<br />
(ICPQL). Caring for the Future ñ A radical agenda for positive change. Report of the<br />
Independent Commission on Population and Quality of Life. New York: Oxford University<br />
Press, 1996.<br />
TOLFO, Suzana da Rosa e PICCININI, ValmÌria Carolina. As Melhores Empresas para<br />
Trabalhar no Brasil e a Qualidade de Vida no Trabalho: DisjunÁıes entre a Teoria e a Pr·tica.<br />
Revista de AdministraÁ„o Contempor‚nea, v.5, n.1, p.165-193, Jan./Abr. 2001. DisponÌvel<br />
em: . Acesso em: 27 set. 2005.<br />
VASCONCELOS, Anselmo Ferreira. Qualidade de Vida no Trabalho: Origem, evoluÁ„o e<br />
perspectivas. Caderno de Pesquisas em AdministraÁ„o, S„o Paulo, v.8, n.1, Jan/Mar. 2001.<br />
DisponÌvel em: . Acesso em: 03<br />
nov. 2004.<br />
WAGNER III, John A.; HOLLENBECK, John R. Comportamento Organizacional: Criando<br />
vantagem competitiva. 1.ed. S„o Paulo: Saraiva, 2002.<br />
WHOQOL GROUP. The World Health Organizacional Quality of Life Assessment<br />
(WHOQOL): Position Paper from the World Health Organizacion. Social Sciences and<br />
Medicine, v.41, n.10, p.1403-1409, 1995.<br />
143
ANEXO A ñ Dados EstatÌsticos do Ensino Superior em MoÁambique<br />
ANEXO B ñ Credencial apresentada ‡s instituiÁıes pesquisadas<br />
ANEXO C ñ Carta anexada ao question·rio de pesquisa<br />
ANEXO D ñ Instrumento de Pesquisa<br />
ANEXO E ñ Dados EstatÌsticos relativos ao Perfil dos Professores universit·rios<br />
ANEXO F ñ Dados EstatÌsticos relativos ‡ percepÁ„o dos Professores sobre o conceito e<br />
pr·ticas de QVT<br />
ANEXO G ñ Dados EstatÌsticos relativos ‡ satisfaÁ„o dos Professores com a QVT<br />
ANEXO H - Dados EstatÌsticos relativos ‡ influÍncia de vari·veis sÛcio-demogr·ficas no nÌvel<br />
de satisfaÁ„o global dos Professores com a QVT<br />
144
ANEXO A - Dados EstatÌsticos do Ensino Superior em MoÁambique<br />
N˙mero de IES¥s<br />
3 3<br />
0<br />
GR¡FICO 1<br />
EvoluÁ„o do n˙mero de IES¥s em MoÁambique<br />
(1990-2005)<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
9<br />
4<br />
5<br />
15<br />
1990 2000 2005<br />
Total de IES¥s<br />
Ano<br />
P˙blicas Privadas<br />
FONTE: An·lise da autora a partir de dados fornecidos pelo MESCT (2004)<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
2400<br />
3750<br />
GR¡FICO 2<br />
EvoluÁ„o do n˙mero de estudantes no Ensino<br />
Superior (1976-1999)<br />
5283<br />
6844<br />
7<br />
8470<br />
8<br />
11834<br />
1976 1990 1993 1995 1997 1999<br />
FONTE: Adaptado de RelatÛrio do PNUD (2000)/ PEES (MESCT, 2000)<br />
145
18000<br />
16000<br />
14000<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
100 0 0 0<br />
GR¡FICO 3<br />
Estudantes no Ensino Superior por localizaÁ„o das IES, 2002-2003<br />
Cabo Delgado<br />
Gaza<br />
Inhambane<br />
FONTE: MESCT (2003)<br />
Manica<br />
13324<br />
Maputo<br />
2111<br />
Nampula<br />
GR¡FICO 4<br />
212<br />
Niassa<br />
1363<br />
Sofala<br />
Tete<br />
0<br />
210<br />
ZambÈzia<br />
17320<br />
Estudantes no Ensino Superior por ·rea de estudo (2002-<br />
2003)<br />
10,9%<br />
13,4%<br />
7,1% 5,6%<br />
FONTE: MESCT (2003)<br />
2,2% 8,4% 9,7%<br />
42,8%<br />
ServiÁos<br />
EducaÁ„o<br />
Total<br />
Humanidades e Letras<br />
Ciencias Sociais, Economia e<br />
Gest„o, Direito<br />
CiÍncias Naturais<br />
Engenharias, Industrias e<br />
ConstruÁ„o<br />
Agricultura<br />
Sa˙de e AssistÍncia Social<br />
146
TABELA 1<br />
IES¥S EM MO«AMBIQUE, EM 2005<br />
InstitutiÁ„o CriaÁ„o Sector LocalizaÁ„o<br />
(Sede)<br />
DelegaÁıes<br />
Universidade Eduardo Mondlane 1962/renomeada em P˙blico Maputo Inhambane<br />
(UEM)<br />
1976<br />
Instituto Superior de CiÍncias<br />
TecnolÛgicas de MoÁambique<br />
(ISCTEM)<br />
1996 Privado Maputo<br />
Universidade PedagÛgica (UP) 1985/renomeada em P˙blico Maputo Sofala, Nampula e<br />
1995<br />
ZambÈzia<br />
Instituto Superior de Transportes e<br />
ComunicaÁıes (ISUTC)<br />
1999 Privado Maputo<br />
Instituto Superior de RelaÁıes<br />
Internacionais (ISRI)<br />
1986 P˙blico Maputo<br />
Instituto Superior PolitÈcnico e<br />
Universit·rio (ISPU)<br />
1995 Privado Maputo ZambÈzia<br />
Academia de CiÍncias Policiais<br />
(ACIPOL)<br />
1999 P˙blico Maputo<br />
Universidade Mussa Bin Bique (UMBB) 1998 Privado Nampula<br />
Instituto Superior de CiÍncias da Sa˙de<br />
(ISCISA)<br />
2003 P˙blico Maputo<br />
Universidade CatÛlica de MoÁambique 1995 Privado Beira Nampula, Niassa e<br />
(UCM)<br />
Cabo Delgado<br />
Academia Militar (AM) 2003 P˙blico Nampula<br />
Universidade TÈcnica de MoÁambique<br />
(UDM)<br />
2002 Privado Maputo<br />
Universidade S„o Tom·s de<br />
MoÁambique (USTM)<br />
2004 Privado Maputo<br />
Escola Superior de CiÍncias N·uticas<br />
(ESCN)<br />
1985/IES em 1991 P˙blico Maputo<br />
Universidade Jean Piaget de<br />
MoÁambique<br />
2004 Privado Beira<br />
FONTE: Website do MESCT (2005) / www.mesct.co.mz<br />
GR¡FICO 5<br />
Corpo docente nas IES¥s p˙blicas e privadas segundo o seu<br />
grau acadÈmico (2002-2003)<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Bac./Licen.<br />
465<br />
857<br />
Mestrado<br />
127<br />
222<br />
Doutoramento<br />
59<br />
181<br />
Total<br />
611<br />
1260<br />
Privadas<br />
Publicas<br />
FONTE: An·lise da autora com base nos dados do MESCT (2003)<br />
147
ANEXO B - Credencial apresentada ‡s instituiÁıes pesquisadas<br />
CRE<strong>DE</strong>NCIAL<br />
Serve a presente para que a mestranda do Curso de Gest„o EstratÈgica de Recursos Humanos<br />
desta instituiÁ„o, Andrea Serra, se apresente junto ‡ vossa instituiÁ„o com o objectivo de<br />
solicitar a colaboraÁ„o no levantamento de dados para a realizaÁ„o de uma pesquisa acadÈmica,<br />
tendo em vista a elaboraÁ„o da DissertaÁ„o de Mestrado a ser apresentada ao CEPPA/ISPU.<br />
A referida pesquisa tem com objectivo analisar a Qualidade de Vida no Trabalho do corpo<br />
docente das InstituiÁıes de Ensino Superior de MoÁambique. O levantamento de campo È<br />
composto por um question·rio que dever· ser preenchido pelo corpo docente de cada<br />
instituiÁ„o. Todas as informaÁıes de identidade, em particular dos docentes participantes na<br />
pesquisa, ser„o preservadas.<br />
Melhores cumprimentos.<br />
A Directora do CEPPA<br />
__________________________<br />
Dra. Rafica Razac<br />
Maputo, 12 de Agosto de 2005<br />
148
ANEXO C - Carta anexada ao question·rio de pesquisa<br />
Caro Docente<br />
O meu nome È Andrea Serra, sou docente universit·ria e mestranda no Curso de Gest„o<br />
EstratÈgica de Recursos Humanos no Centro de PÛs-graduaÁ„o e Pesquisa Aplicada (CEPPA)<br />
do ISPU, em Maputo. No ‚mbito do referido Mestrado, estou, neste momento, a desenvolver<br />
uma pesquisa acadÈmica que tem como objectivo analisar o grau de satisfaÁ„o dos Docentes de<br />
Ensino Superior com a sua Qualidade de Vida no Trabalho.<br />
A pesquisa abrange quase todas as instituiÁıes de Ensino Superior do PaÌs e, neste ‚mbito,<br />
venho, por este meio, solicitar a sua colaboraÁ„o no preenchimento do question·rio em anexo,<br />
seguindo as respectivas instruÁıes.<br />
Lembro, no entanto, que, devido ao elevado grau de mobilidade dos docentes nas diversas<br />
instituiÁıes de Ensino Superior, poder· dar-se o caso de, se leccionar em mais de uma<br />
instituiÁ„o, receber o question·rio em anexo mais de uma vez. Caso esta situaÁ„o ocorra,<br />
solicito que preencha o question·rio apenas uma ˙nica vez, tendo em conta a primeira vez<br />
que o receber em qualquer uma das instituiÁıes em que lecciona.<br />
Ao terminar de preencher o question·rio, volte a coloc·-lo no envelope e entregue-o no<br />
Departamento PedagÛgico da sua instituiÁ„o. Se receber o question·rio e j· o tiver preenchido<br />
e entregue em outra instituiÁ„o, onde lecciona, escreva no verso do envelope: ìJ· preenchido<br />
em outra instituiÁ„oî. Solicito que a devoluÁ„o do question·rio seja feita no prazo de 5 dias.<br />
AgradeÁo antecipadamente a sua colaboraÁ„o para o sucesso da presente pesquisa como um<br />
contributo para o desenvolvimento da investigaÁ„o cientÌfica no PaÌs.<br />
Melhores cumprimentos.<br />
Maputo, 25 de Agosto de 2005<br />
A Pesquisadora<br />
149
ANEXO D - Instrumento de Pesquisa<br />
INSTRU«’ES GERAIS:<br />
Caso j· tenha preenchido este question·rio em outra instituiÁ„o, n„o precisa de fazÍ-lo novamente.<br />
Leia cada uma das questıes e responda de forma sincera, mas n„o demore muito tempo numa quest„o.<br />
N„o salte qualquer quest„o, mesmo que ache difÌcil responder, assinale apenas a alternativa que se adapte melhor ‡ sua<br />
opini„o.<br />
Ao terminar o question·rio, verifique se n„o deixou nenhuma quest„o por responder.<br />
ApÛs verificar todas as questıes, volte a coloc·-lo no envelope e entregue-o no local da sua instituiÁ„o, mencionado na<br />
carta que acompanha este question·rio.<br />
PARTE I ñ DADOS S”CIO-<strong>DE</strong>MOGR¡FICOS<br />
Responda ‡s questıes que se seguem, preenchendo os espaÁos em branco ou colocando um X<br />
na opÁ„o que melhor caracterize a sua situaÁ„o.<br />
A. Sexo:<br />
Masculino Feminino<br />
B. Idade: ______ anos<br />
QUESTION¡RIO<br />
O presente question·rio destina-se a docentes de instituiÁıes de Ensino Superior de MoÁambique<br />
e visa a recolha de dados, no ‚mbito de um trabalho de pesquisa acadÈmica, a nÌvel de Mestrado<br />
sobre a Qualidade de Vida no Trabalho. Socilita-se a sua colaboraÁ„o no preenchimento deste<br />
instrumento, seguindo as referidas instruÁıes. Garante-se o anonimato.<br />
C. Estado Civil:<br />
Casado Solteiro Vi˙vo Divorciado Outro<br />
D. Nacionalidade:<br />
MoÁambicana Espanhola Fracesa<br />
Portuguesa Alem„ Inglesa<br />
Brasileira Americana Outra Indique: _____________________________<br />
E. Moradia:<br />
Casa prÛpria Alugada De familiares (filhos, pais, etc.)<br />
F. N˙mero de dependentes:<br />
Nenhum Dois Quatro Seis<br />
<strong>Um</strong> TrÍs Cinco Mais do que seis<br />
G. NÌvel de formaÁ„o concluÌdo:<br />
Bacharelato Licenciatura PÛs-GraduaÁ„o Mestrado Doutoramento<br />
H. ¡rea de FormaÁ„o/EspecializaÁ„o:<br />
Gest„o Contabilidade Psicologia<br />
Marketing Direito Engenharia<br />
Inform·tica Economia CiÍncias Sociais<br />
EducaÁ„o ComunicaÁ„o Outra Indique: _________________________<br />
I. PaÌs onde concluiu o seu ˙ltimo grau acadÈmico:<br />
MoÁambique Brasil FranÁa<br />
¡frica-do-Sul Reino Unido Espanha<br />
Portugal E.U.A. Outro Indique: _____________________________<br />
J. Universidade onde lecciona: (Nota: seleccione apenas uma opÁ„o, ou seja, no caso de leccionar em mais de uma<br />
Universidade, opte por aquela onde recebeu este question·rio pela primeira vez)<br />
UP ISCTEM ISPU UEM ACIPOL<br />
UDM ISUTC ISCISA UCM AM<br />
ESCN ISRI USTM UMBB<br />
150
K. Categoria profissional:<br />
Estagi·rio/Monitor Professor Auxiliar Professor Convidado<br />
Assistente Estagi·rio Professor Associado Outra Indique: _________________________<br />
Assistente Professor Catedr·tico<br />
L. Tipo de contrato:<br />
Tempo Inteiro Tempo Parcial Outro Indique: _________________________<br />
M. Tempo de Trabalho na Universidade:<br />
AtÈ 2 anos De 2 a 5 anos De 5 a 10 anos De 10 a 15 anos Mais de 15 anos<br />
N. Lecciona em alguma outra Universidade alÈm desta?<br />
Sim N„o Se sim, indique qual(is) __________________________________________<br />
O. Desenvolve alguma outra actividade profissional alÈm da docÍncia?<br />
Sim N„o<br />
Se sim, indique em que sector de actividade (p.e. TelecomunicaÁıes, Banca, etc.)<br />
_______________________________________<br />
P. Encontra-se de momento a frequentar algum curso para a obtenÁ„o de um grau acadÈmico?<br />
Sim N„o<br />
Se sim, indique qual o grau ________________________ e em que ·rea de especializaÁ„o<br />
________________________________<br />
Q. Sal·rio Mensal (em MZM): __________________________<br />
Nota: Tenha em atenÁ„o que se trata apenas do sal·rio referente ‡ sua actividade de docÍncia vigente na Universidade que<br />
assinalou na quest„o J.<br />
PARTE II ñ SATISFA« O COM A QVT<br />
Expresse a sua opini„o, em termos de grau de satisfaÁ„o, em relaÁ„o a cada um dos<br />
indicadores de qualidade de vida no trabalho, na instituiÁ„o onde lecciona, expressos nas<br />
proposiÁıes que abaixo se apresentam. FaÁa um cÌrculo no n˙mero que corresponde ‡ sua<br />
resposta, tendo em conta uma escala que varia de 1 a 7 (1- Totalmente Insatisfeito, 2- Muito<br />
Insatisfeito, 3- Insatisfeito, 4- Moderadamente Satisfeito, 5- Satisfeito, 6- Muito Satisfeito e 7-<br />
Totalmente Satisfeito).<br />
Nota: No caso de ser docente em mais de uma Universidade, deve responder ‡s questıes, tendo em consideraÁ„o a instituiÁ„o<br />
(apenas uma) onde recebeu o presente question·rio pela primeira vez (a mesma indicada na quest„o J da primeira parte deste<br />
question·rio).<br />
1. CompensaÁ„o Justa e Adequada<br />
1.1 RemuneraÁ„o Adequada: RemuneraÁ„o necess·ria para vocÍ viver dignamente dentro das suas necessidades<br />
pessoais e dos padrıes culturais, sociais e econÛmicos da sociedade em que vive.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1.2 Equidade Interna: Equidade na remuneraÁ„o entre outros membros da instituiÁ„o em que trabalha.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1.3 Equidade Externa: Equidade na remuneraÁ„o em relaÁ„o a outros profissionais no mercado de trabalho.<br />
2. CondiÁıes de Trabalho<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
2.1 Jornada de Trabalho: N˙mero de horas que vocÍ trabalha, previstas ou n„o na legislaÁ„o e sua relaÁ„o com as<br />
tarefas desempenhadas por vocÍ.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
2.2 Carga de Trabalho: Quantidade de trabalho executado por vocÍ num turno de trabalho.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
151
2.3 Ambiente FÌsico: Local de trabalho e suas condiÁıes de bem-estar (conforto) e organizaÁ„o para o desempenho do<br />
seu trabalho.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
2.4 Material e Equipamento: Quantidade e qualidade de material disponÌvel para a execuÁ„o do seu trabalho na<br />
instituiÁ„o.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
2.5 Ambiente Saud·vel: Local de trabalho e suas condiÁıes de seguranÁa e de sa˙de em relaÁ„o aos riscos de<br />
acidentes ou de doenÁas.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
2.6 Stress: Quantidade percebida de stress a que vocÍ È submetido na sua jornada de trabalho.<br />
3. Uso e Desenvolvimento de Capacidades<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3.1 Autonomia: Grau de liberdade substancial, independÍncia e descriÁ„o na programaÁ„o e execuÁ„o do seu trabalho<br />
que a instituiÁ„o lhe concede.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3.2 Significado da Tarefa: Relev‚ncia que a tarefa que vocÍ desempenha tem na vida e no trabalho de outras pessoas,<br />
dentro ou fora da instituiÁ„o.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3.3 Identidade da Tarefa: Cumprimento da tarefa que vocÍ desempenha na sua integridade e avaliaÁ„o do resultado.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3.4 Variedade da Habilidade: Uso por parte da instituiÁ„o de uma larga escala das suas capacidades e habilidades.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
3.5 RetroinformaÁ„o: InformaÁ„o acerca da avaliaÁ„o do seu trabalho como um todo e das suas acÁıes na instituiÁ„o.<br />
4. Oportunidade de Crescimento e SeguranÁa<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
4.1 Possibilidade de Carreira: Viabilidade de oportunizar avanÁos na instituiÁ„o e na carreira, reconhecidos por colegas,<br />
membros da famÌlia e comunidade.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
4.2 Crescimento Pessoal: Processo de educaÁ„o contÌnua que a instituiÁ„o adopta para o desenvolvimento das suas<br />
potencialidades e aplicaÁ„o das mesmas.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
4.3 SeguranÁa de Emprego: Sentimento de seguranÁa quanto ‡ manuntenÁ„o do seu emprego na instituiÁ„o.<br />
5. IntegraÁ„o Social na OrganizaÁ„o<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
5.1 Igualdade de Oportunidades: AusÍncia de estratificaÁ„o na organizaÁ„o do trabalho, em termos de sÌmbolos de<br />
ìstatusî e/ou estruturas hier·rquicas Ìngremes e de discriminaÁ„o, quanto ‡ raÁa, sexo, credo, origens, estilos de vida<br />
ou aparÍncia.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
5.2 Relacionamento: Relacionamento na instituiÁ„o marcado por auxÌlio recÌproco, apoio sÛcio-emocional, abertura<br />
interpessoal e respeito ‡s individualidades.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
5.3 Senso Comunit·rio: Senso de comunidade existente na instituiÁ„o.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
152
6. Constitucionalismo<br />
6.1 Direitos Trabalhistas: Observ‚ncia da instituiÁ„o no cumprimento dos direitos dos trabalhadores, inclusive o acesso ‡<br />
apelaÁ„o.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
6.2 Privacidade Pessoal: Privacidade que vocÍ possui dentro da instituiÁ„o.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
6.3 Liberdade de Express„o: Forma como vocÍ pode expressar os seus pontos de vista aos superiores, sem medo de<br />
repres·lias.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
6.4 Normas e Rotinas: Maneira como as normas e rotinas da instituiÁ„o influenciam o desenvolvimento do seu trabalho.<br />
7. Trabalho e EspaÁo Total de Vida<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
7.1 Papel Balanceado no Trabalho: EquilÌbrio entre jornada de trabalho, exigÍncias de carreira, viagens e convÌvio<br />
familiar.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
7.2 Hor·rio de Entrada e SaÌda do Trabalho: EquilÌbrio entre hor·rios de entrada e saÌda do trabalho e convÌvio familiar.<br />
8. Relev‚ncia Social da Vida no Trabalho<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8.1 Imagem da InstituiÁ„o: Import‚ncia da sua instituiÁ„o para a comunidade e orgulho e satisfaÁ„o pessoais de fazer<br />
parte da instituiÁ„o.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8.2 Responsabilidade Social da InstituiÁ„o: Responsabilidade social da instituiÁ„o para a comunidade, reflectida na<br />
preocupaÁ„o de resolver problemas da comunidade e tambÈm de n„o causar danos.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8.3 Responsabilidade Social pelos ServiÁos: Responsabilidade da instituiÁ„o com a qualidade dos serviÁos postos ‡<br />
disposiÁ„o da comunidade.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8.4 Responsabilidade Social pelos Trabalhadores: ValorizaÁ„o e participaÁ„o dos trabalhadores pela instituiÁ„o, a<br />
partir da sua polÌtica de Recursos Humanos.<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
PARTE III ñ PERCEP« O E PR¡TICAS <strong>DE</strong> QVT<br />
Responda ‡s questıes que abaixo se apresentam, tendo em conta a sua percepÁ„o. Resuma as<br />
suas respostas em pontos breves ou palavras-chave.<br />
1. O que representa para si Qualidade de Vida no Trabalho?<br />
153
2. A Universidade onde lecciona promove acÁıes de Qualidade de Vida no Trabalho para os docentes?<br />
Sim N„o<br />
3. Se respondeu afirmativamente ‡ quest„o 2, indique que acÁıes:<br />
4. Se respondeu negativamente ‡ quest„o 2, em sua opini„o, que razıes levam a gest„o da Universidade a n„o<br />
promover acÁıes de Qualidade de Vida no Trabalho?<br />
5. Se respondeu negativamente ‡ quest„o 2, em sua opini„o, que acÁıes de Qualidade de Vida no Trabalho a<br />
gest„o da Universidade deveria promover junto aos Docentes?<br />
154
ANEXO E - Dados EstatÌsticos relativos ao Perfil dos Professores universit·rios<br />
Idade<br />
Valid<br />
Valid N (listwise)<br />
Valid<br />
Valid<br />
Masculino<br />
Feminino<br />
Total<br />
Casado<br />
Solteiro<br />
Outro<br />
Total<br />
MoÁambicana<br />
Portuguesa<br />
Brasileira<br />
Espanhola<br />
Alem„<br />
Inglesa<br />
Indiana<br />
Russa<br />
Cubana<br />
Holandesa<br />
Angolana<br />
Eslovaca<br />
Total<br />
TABELA 1<br />
Sexo<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
196 76,9 76,9 76,9<br />
59 23,1 23,1 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 2<br />
Descriptive Statistics<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation<br />
255 23 71 38,21 8,691<br />
255<br />
TABELA 3<br />
Estado Civil<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
124 48,6 48,6 48,6<br />
110 43,1 43,1 91,8<br />
21 8,2 8,2 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 4<br />
Nacionalidade<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
227 89,0 89,0 89,0<br />
10 3,9 3,9 92,9<br />
3 1,2 1,2 94,1<br />
2 ,8 ,8 94,9<br />
1 ,4 ,4 95,3<br />
1 ,4 ,4 95,7<br />
1 ,4 ,4 96,1<br />
2 ,8 ,8 96,9<br />
4 1,6 1,6 98,4<br />
2 ,8 ,8 99,2<br />
1 ,4 ,4 99,6<br />
1 ,4 ,4 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
155
Valid<br />
Valid<br />
Valid<br />
Casa prÛpria<br />
Casa alugada<br />
Casa de familiares<br />
(filhos, pais, etc.)<br />
Outra<br />
N„o Respondeu<br />
Total<br />
Nenhum<br />
<strong>Um</strong><br />
Dois<br />
TrÍs<br />
Quatro<br />
Cinco<br />
Seis<br />
Mais do que seis<br />
Total<br />
Bacharelato<br />
Licenciatura<br />
PÛs-graduaÁ„o<br />
Mestrado<br />
Doutoramento<br />
Total<br />
TABELA 5<br />
Moradia<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
113 44,3 44,3 44,3<br />
103 40,4 40,4 84,7<br />
35 13,7 13,7 98,4<br />
2 ,8 ,8 99,2<br />
2 ,8 ,8 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 6<br />
N˙mero de dependentes<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
48 18,8 18,8 18,8<br />
18 7,1 7,1 25,9<br />
39 15,3 15,3 41,2<br />
31 12,2 12,2 53,3<br />
44 17,3 17,3 70,6<br />
27 10,6 10,6 81,2<br />
21 8,2 8,2 89,4<br />
27 10,6 10,6 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 7<br />
NÌvel de formaÁ„o concluÌdo<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
13 5,1 5,1 5,1<br />
126 49,4 49,4 54,5<br />
17 6,7 6,7 61,2<br />
78 30,6 30,6 91,8<br />
21 8,2 8,2 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
156
Valid<br />
Gest„o<br />
Marketing<br />
Inform·tica<br />
EducaÁ„o<br />
Contabilidade<br />
Direito<br />
Economia<br />
ComunicaÁ„o<br />
Psicologia<br />
Engenharia<br />
CiÍncias Sociais<br />
Medicina<br />
LinguÌstica<br />
CiÍncias Naturais<br />
CiÍncias N·uticas<br />
RelaÁıes Internacionais<br />
CiÍncias Militares<br />
CiÍncias Exatas<br />
Veterin·ria<br />
CiÍncias Policiais<br />
Total<br />
TABELA 8<br />
¡rea de formaÁ„o/especializaÁ„o<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
21 8,2 8,2 8,2<br />
1 ,4 ,4 8,6<br />
6 2,4 2,4 11,0<br />
59 23,1 23,1 34,1<br />
4 1,6 1,6 35,7<br />
15 5,9 5,9 41,6<br />
9 3,5 3,5 45,1<br />
3 1,2 1,2 46,3<br />
12 4,7 4,7 51,0<br />
30 11,8 11,8 62,7<br />
38 14,9 14,9 77,6<br />
7 2,7 2,7 80,4<br />
8 3,1 3,1 83,5<br />
7 2,7 2,7 86,3<br />
4 1,6 1,6 87,8<br />
2 ,8 ,8 88,6<br />
2 ,8 ,8 89,4<br />
9 3,5 3,5 92,9<br />
14 5,5 5,5 98,4<br />
4 1,6 1,6 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
157
Valid<br />
MoÁambique<br />
TABELA 9<br />
PaÌs onde concluiu o seu ˙ltimo grau acadÈmico<br />
¡frica-do-Sul<br />
Portugal<br />
Brasil<br />
Reino Unido<br />
E.U.A.<br />
FranÁa<br />
Espanha<br />
R˙ssia<br />
Õndia<br />
Alemanha<br />
Ucr‚nia<br />
Cuba<br />
Austr·lia<br />
Malta<br />
SuÈcia<br />
China<br />
Botswana<br />
Holanda<br />
Bulg·ria<br />
Sud„o<br />
Mal·sia<br />
Ar·bia Saudita<br />
Canad·<br />
Eslov·quia<br />
N„o respondeu<br />
Total<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
121 47,5 47,5 47,5<br />
12 4,7 4,7 52,2<br />
30 11,8 11,8 63,9<br />
12 4,7 4,7 68,6<br />
10 3,9 3,9 72,5<br />
2 ,8 ,8 73,3<br />
7 2,7 2,7 76,1<br />
5 2,0 2,0 78,0<br />
6 2,4 2,4 80,4<br />
1 ,4 ,4 80,8<br />
16 6,3 6,3 87,1<br />
4 1,6 1,6 88,6<br />
4 1,6 1,6 90,2<br />
3 1,2 1,2 91,4<br />
1 ,4 ,4 91,8<br />
3 1,2 1,2 92,9<br />
1 ,4 ,4 93,3<br />
1 ,4 ,4 93,7<br />
6 2,4 2,4 96,1<br />
3 1,2 1,2 97,3<br />
1 ,4 ,4 97,6<br />
1 ,4 ,4 98,0<br />
1 ,4 ,4 98,4<br />
1 ,4 ,4 98,8<br />
1 ,4 ,4 99,2<br />
2 ,8 ,8 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
158
Valid<br />
Valid<br />
Valid<br />
UP<br />
ESCN<br />
ISCTEM<br />
ISUTC<br />
ISRI<br />
ISPU<br />
ISCISA<br />
USTM<br />
UEM<br />
ACIPOL<br />
UCM<br />
AM<br />
UMBB<br />
Total<br />
P˙blico<br />
Privado<br />
Total<br />
Maputo<br />
Nampula<br />
Quelimane<br />
Total<br />
TABELA 10<br />
Universidade onde lecciona<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
32 12,5 12,5 12,5<br />
9 3,5 3,5 16,1<br />
16 6,3 6,3 22,4<br />
10 3,9 3,9 26,3<br />
15 5,9 5,9 32,2<br />
39 15,3 15,3 47,5<br />
4 1,6 1,6 49,0<br />
6 2,4 2,4 51,4<br />
48 18,8 18,8 70,2<br />
15 5,9 5,9 76,1<br />
31 12,2 12,2 88,2<br />
20 7,8 7,8 96,1<br />
10 3,9 3,9 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 11<br />
Sector<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
143 56,1 56,1 56,1<br />
112 43,9 43,9 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 12<br />
Cidade<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
160 62,7 62,7 62,7<br />
74 29,0 29,0 91,8<br />
21 8,2 8,2 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
159
Valid<br />
Valid<br />
Valid<br />
Valid<br />
Estagi·rio/Monitor<br />
Assistente Estagi·rio<br />
Assistente<br />
Professor Auxiliar<br />
Professor Associado<br />
Professor Catedr·tico<br />
Professor Convidado<br />
Outra<br />
N„o respondeu<br />
Total<br />
Tempo Inteiro<br />
Tempo Parcial<br />
Total<br />
AtÈ 2 anos<br />
2 a 5 anos<br />
5 a 10 anos<br />
10 a 15 anos<br />
Mais de 15 anos<br />
Total<br />
TABELA 13<br />
Categoria Profissional<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
22 8,6 8,6 8,6<br />
54 21,2 21,2 29,8<br />
96 37,6 37,6 67,5<br />
34 13,3 13,3 80,8<br />
13 5,1 5,1 85,9<br />
3 1,2 1,2 87,1<br />
16 6,3 6,3 93,3<br />
12 4,7 4,7 98,0<br />
5 2,0 2,0 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 14<br />
Tipo de contrato<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
152 59,6 59,6 59,6<br />
103 40,4 40,4 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 15<br />
Tempo de trabalho na Universidade<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
111 43,5 43,5 43,5<br />
69 27,1 27,1 70,6<br />
34 13,3 13,3 83,9<br />
21 8,2 8,2 92,2<br />
20 7,8 7,8 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 16<br />
Lecciona em alguma outra Universidade alÈm desta?<br />
Sim<br />
N„o<br />
Total<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
63 24,7 24,7 24,7<br />
192 75,3 75,3 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
160
TABELA 17<br />
MOBILIDA<strong>DE</strong> DOS DOCENTES ENTRE AS IES¥s<br />
Universidade<br />
Privadas<br />
Professores que tambÈm leccionam em<br />
outra(s) instituiÁ„o(s)<br />
FrequÍncia %<br />
+ UEM 6 2,4<br />
+ UEM + UP + ISCISA 1 0,4<br />
ISCTEM<br />
+ UP + ISUTC 1 0,4<br />
+ ISCISA 1 0,4<br />
Total 9 3,6<br />
ISUTC<br />
+ UDM 1 0,4<br />
Total 1 0,4<br />
+UEM 11 4,3<br />
+ UP 2 0,8<br />
ISPU<br />
+ UDM<br />
+ UDM + ISCTEM<br />
1<br />
1<br />
0,4<br />
0,4<br />
+ ISCISA 1 0,4<br />
+ ISCTEM 1 0,4<br />
+ UP + ISCTEM + USTM 1 0,4<br />
Total 18 7,1<br />
+ UDM 1 0,4<br />
USTM<br />
+UEM 1 0,4<br />
Total 2 0,8<br />
+ UMBB 1 0,4<br />
UCM<br />
+ UP 1 0,4<br />
Total 2 0,8<br />
+ AM 1 0,4<br />
+ UP 1 0,4<br />
UMBB<br />
+ ACIPOL 1 0,4<br />
Total 3 1,2<br />
Universidade<br />
P˙blicas<br />
Professores que tambÈm leccionam em<br />
outra(s) instituiÁ„o(s)<br />
FrequÍncia %<br />
+ UEM 1 0,4<br />
ISCISA<br />
+ ISPU 2 0,8<br />
+ UEM + UDM 1 0,4<br />
Total 4 1,6<br />
+ UDM 1 0,4<br />
+ UEM 1 0,4<br />
ACIPOL<br />
+ UP 1 0,4<br />
+ UP + USTM 1 0,4<br />
Total 4 1,6<br />
+ UP 1 0,4<br />
ISRI<br />
+ UP + UEM 2 0,8<br />
+ UEM + ISPU 1 0,4<br />
Total 4<br />
+ UMBB 2 0,8<br />
AM<br />
+ UP 1 0,4<br />
+ UCM 3 1,2<br />
Total 6 2,4<br />
+ ISPU 1 0,4<br />
UP<br />
+ AM 1 0,4<br />
Total 2 0,8<br />
+ ISPU 1 0,4<br />
UEM<br />
+ ISCTEM 1 0,4<br />
+ ISUTC 1 0,4<br />
Total 3 1,2<br />
ESCN<br />
- 0 0<br />
Total 0 0<br />
N/R<br />
- 5 2,0<br />
Total 5 2,0<br />
161
Valid<br />
Missing<br />
Total<br />
TABELA 18<br />
Desenvolve alguma outra actividade profissional alÈm da docÍncia?<br />
Valid<br />
Sim<br />
N„o<br />
Total<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
108 42,4 42,4 42,4<br />
147 57,6 57,6 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 19<br />
Se sim, indique em que sector/ramo de actividade<br />
FormaÁ„o/EducaÁ„o<br />
Consultoria<br />
InvestigaÁ„o<br />
Auditoria<br />
Pescas<br />
Banca<br />
ConstruÁ„o CÌvil<br />
AdministraÁ„o P˙blica<br />
Sa˙de<br />
FinanÁas<br />
Transportes<br />
Advogacia<br />
ComunicaÁ„o Social<br />
PetrolÌfero<br />
Desportivo<br />
ComÈrcio<br />
ONG<br />
Policia<br />
Inform·tica<br />
Gest„o<br />
Ambiental<br />
Ind˙strial<br />
Sa˙de Animal<br />
Agricultura<br />
ServiÁos Sociais<br />
N„o respondeu<br />
Total<br />
System<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
9 3,5 8,3 8,3<br />
17 6,7 15,7 24,1<br />
4 1,6 3,7 27,8<br />
1 ,4 ,9 28,7<br />
1 ,4 ,9 29,6<br />
5 2,0 4,6 34,3<br />
2 ,8 1,9 36,1<br />
20 7,8 18,5 54,6<br />
10 3,9 9,3 63,9<br />
2 ,8 1,9 65,7<br />
4 1,6 3,7 69,4<br />
3 1,2 2,8 72,2<br />
4 1,6 3,7 75,9<br />
1 ,4 ,9 76,9<br />
1 ,4 ,9 77,8<br />
3 1,2 2,8 80,6<br />
2 ,8 1,9 82,4<br />
4 1,6 3,7 86,1<br />
1 ,4 ,9 87,0<br />
3 1,2 2,8 89,8<br />
2 ,8 1,9 91,7<br />
1 ,4 ,9 92,6<br />
2 ,8 1,9 94,4<br />
1 ,4 ,9 95,4<br />
2 ,8 1,9 97,2<br />
3 1,2 2,8 100,0<br />
108 42,4 100,0<br />
147 57,6<br />
255 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
162
TABELA 20<br />
Encontra-se de momento a frequentar algum curso para a obtenÁ„o de<br />
um grau acadÈmico?<br />
Valid<br />
Valid<br />
Missing<br />
Total<br />
Sim<br />
N„o<br />
Total<br />
Licenciatura<br />
Mestrado<br />
Doutoramento<br />
Total<br />
System<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
55 21,6 21,6 21,6<br />
200 78,4 78,4 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
TABELA 21<br />
Se sim, indique qual o grau acadÈmico<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
1 ,4 1,8 1,8<br />
34 13,3 61,8 63,6<br />
20 7,8 36,4 100,0<br />
55 21,6 100,0<br />
200 78,4<br />
255 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
163
Valid<br />
Missing<br />
Total<br />
Valid<br />
EducaÁ„o<br />
Gest„o de Recursos Humanos<br />
Climatologia<br />
Gest„o de Empresas<br />
Economia<br />
Sociologia da Arte<br />
Contabilidade e Auditoria<br />
EducaÁ„o de Adultos<br />
Direito<br />
LinguÌstica<br />
EducaÁ„o a Dist‚ncia<br />
Marketing<br />
Desporto<br />
ComunicaÁ„o Social<br />
Gest„o Educacional<br />
Psicologia e Pedagogia<br />
EducaÁ„o Social<br />
Matem·tica<br />
Engenharia<br />
HistÛria<br />
Veterin·ria<br />
Sa˙de P˙blica<br />
Teologia<br />
…tica e PolÌtica<br />
N„o Respondeu<br />
Total<br />
System<br />
AtÈ 5 milhıes<br />
5 a 10 milhıes<br />
10 a 15 milhıes<br />
15 a 20 milhıes<br />
20 a 25 milhıes<br />
25 a 30 milhıes<br />
Acima de 30 milhıes<br />
N„o respondeu<br />
Total<br />
TABELA 22<br />
Se sim, indique qual a ·rea de especializaÁ„o<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
TABELA 23<br />
6 2,4 10,9 10,9<br />
3 1,2 5,5 16,4<br />
1 ,4 1,8 18,2<br />
6 2,4 10,9 29,1<br />
2 ,8 3,6 32,7<br />
1 ,4 1,8 34,5<br />
1 ,4 1,8 36,4<br />
1 ,4 1,8 38,2<br />
6 2,4 10,9 49,1<br />
3 1,2 5,5 54,5<br />
1 ,4 1,8 56,4<br />
1 ,4 1,8 58,2<br />
1 ,4 1,8 60,0<br />
1 ,4 1,8 61,8<br />
2 ,8 3,6 65,5<br />
1 ,4 1,8 67,3<br />
3 1,2 5,5 72,7<br />
1 ,4 1,8 74,5<br />
2 ,8 3,6 78,2<br />
3 1,2 5,5 83,6<br />
5 2,0 9,1 92,7<br />
1 ,4 1,8 94,5<br />
1 ,4 1,8 96,4<br />
1 ,4 1,8 98,2<br />
1 ,4 1,8 100,0<br />
55 21,6 100,0<br />
200 78,4<br />
255 100,0<br />
Sal·rio Mensal (em MZM)<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
19 7,5 7,5 7,5<br />
65 25,5 25,5 32,9<br />
58 22,7 22,7 55,7<br />
28 11,0 11,0 66,7<br />
20 7,8 7,8 74,5<br />
9 3,5 3,5 78,0<br />
10 3,9 3,9 82,0<br />
46 18,0 18,0 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
164
ANEXO F - Dados EstatÌsticos relativos ‡ percepÁ„o dos Professores sobre o conceito e<br />
pr·ticas de QVT<br />
Sa˙de (4%)<br />
CondiÁıes de ventilaÁ„o<br />
adequadas<br />
AusÍncia de stress laboral<br />
negativo<br />
Direito ‡ sa˙de<br />
Primeiros socorros<br />
CondiÁıes adequadas de higiene e<br />
seguranÁa no local de trabalho<br />
Trabalhadores com boa sa˙de<br />
fÌsica e mental<br />
Baixo risco de doenÁas e acidentes<br />
relacionados com o trabalho<br />
AtenÁ„o a aspectos ergonÛmicos<br />
SatisfaÁ„o (8%)<br />
Prazer no trabalho<br />
Bem-estar no trabalho<br />
RealizaÁ„o pessoal<br />
EquilÌbrio bio-psico-social na sua<br />
relaÁ„o com o trabalho<br />
SatisfaÁ„o pessoal<br />
SatisfaÁ„o das necessidades<br />
humanas<br />
Sentimento de realizaÁ„o<br />
profissional<br />
RealizaÁ„o de objectivos<br />
profissionais e pessoais<br />
Necessidades individuais do<br />
docente<br />
SatisfaÁ„o do indivÌduo enquanto<br />
membro integrante da instituiÁ„o<br />
Alegria no trabalho<br />
Bom ambiente de trabalho (11%)<br />
Ambiente organizacional saud·vel<br />
SeguranÁa no trabalho /<br />
empregabilidade<br />
Respeito entre colegas de trabalho<br />
RelaÁıes inter e intrapessoais<br />
saud·veis / harmoniosas<br />
Bom relacionamento entre colegas<br />
e com superiores<br />
CooperaÁ„o<br />
Bom relacionamento humano<br />
Sentimento de confianÁa<br />
Bom relacionamento com os<br />
estudantes<br />
TABELA 1<br />
<strong>DE</strong>FINI«’ES <strong>DE</strong> QUALIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> <strong>VIDA</strong> <strong>NO</strong> <strong>TRABALHO</strong><br />
Dimens„o BiolÛgica (6%)<br />
AlimentaÁ„o (2%)<br />
SensibilizaÁ„o para uma dieta<br />
alimentar adequada<br />
ServiÁos de alimentaÁ„o di·ria<br />
Dimens„o PsicolÛgica (11%)<br />
MotivaÁ„o (3%)<br />
Incentivo ‡ criatividade<br />
Docentes motivados<br />
ElevaÁ„o da moral dos<br />
trabalhadores<br />
MotivaÁ„o para o trabalho de<br />
docÍncia<br />
Delegar responsabilidades como<br />
forma de motivaÁ„o<br />
MotivaÁ„o para<br />
iniciativa/inovaÁ„o<br />
Colegas de trabalho como fonte<br />
de inspiraÁ„o e motivaÁ„o<br />
Dimens„o Social (13%)<br />
Actividades Sociais (2%)<br />
Actividades de lazer<br />
Encontros sociais<br />
Interc‚mbio entre docentes<br />
ConvÌvios<br />
165
ValorizaÁ„o do IndivÌduo (14%)<br />
ParticipaÁ„o dos docentes na<br />
tomada de decis„o<br />
ValorizaÁ„o do trabalho e n„o do<br />
grau acadÈmico<br />
Oportunidades de crescimento<br />
profissional<br />
Respeito pelos direitos cÌvicos dos<br />
docentes<br />
ValorizaÁ„o do indivÌduo<br />
trabalhador<br />
Respeito pelo direito de opini„o e<br />
escolha<br />
EspaÁo aberto para sugestıes<br />
Reconhecimento do desempenho<br />
Autonomia na realizaÁ„o do<br />
trabalho<br />
Liberdade acadÈmica<br />
Certificado de mÈrito a<br />
professores exemplares<br />
Respeito e dignidade pelo ser<br />
humano<br />
Comprometimento Organizacional<br />
(3%)<br />
Maior comprometimento<br />
Respeito pelas normas da<br />
instituiÁ„o<br />
Compromisso com o trabalho<br />
Lealdade para com a instituiÁ„o<br />
Leccionar apenas numa ˙nica<br />
Universidade<br />
Corresponder ‡s expectativas da<br />
instituiÁ„o<br />
Produtividade/Desempenho (3%)<br />
Tentativa de melhoria do nÌvel de<br />
resposta aos desafios no trabalho<br />
Cumprimento das tarefas<br />
Melhoria no desempenho das<br />
actividades de docÍncia<br />
Bom desempenho<br />
Dimens„o Organizacional (67%)<br />
RemuneraÁ„o e BenefÌcios (16%)<br />
RemuneraÁ„o justa e adequada<br />
Sal·rio compatÌvel com o nÌvel<br />
de vida<br />
Sal·rio em funÁ„o das<br />
competÍncias<br />
RemuneraÁ„o compatÌvel com o<br />
desempenho<br />
Regalias sociais (facilidade de<br />
crÈdito banc·rio, facilidade de<br />
estacionamento, transporte,<br />
habitaÁ„o, seguranÁa social,<br />
assistÍncia mÈdica)<br />
BÛnus para os melhores<br />
trabalhadores<br />
Hor·rio de Trabalho (5%)<br />
Hor·rio compatÌvel com a<br />
categoria docente<br />
Hor·rio que permita equilÌbrio<br />
entre trabalho e vida familiar<br />
Hor·rios de trabalho mais<br />
flexÌveis<br />
Hor·rios que favoreÁam o<br />
tempo para a investigaÁ„o<br />
cientÌfica<br />
Carga hor·ria moderada<br />
CondiÁıes e Recursos de Trabalho<br />
(11%)<br />
DisponibilizaÁ„o de meios de<br />
trabalho<br />
CondiÁıes de trabalho<br />
adequadas<br />
Equipamentos e recursos de<br />
trabalho adequados<br />
Acesso ‡ Internet, Biblioteca e<br />
Recursos Educativos<br />
InstalaÁıes fÌsicas adequadas<br />
N„o Respondeu (3%)<br />
Responsabilidade Social<br />
Empresarial (1%)<br />
Responsabilidade da<br />
instituiÁ„o pela<br />
qualidade dos serviÁos<br />
oferecidos ‡<br />
comunidade<br />
Responsabilidade da<br />
instituiÁ„o pelo bemestar<br />
dos docentes<br />
Qualidade do Trabalho<br />
(4%)<br />
Qualidade do trabalho<br />
desenvolvido<br />
Profissionalismo na<br />
realizaÁ„o do trabalho<br />
Atitudes positivas no<br />
trabalho<br />
Responsabilidade na<br />
execuÁ„o do trabalho<br />
Efic·cia e eficiÍncia<br />
no processo de<br />
trabalho<br />
Atingir as metas de<br />
trabalho da instituiÁ„o<br />
166<br />
FormaÁ„o (7%)<br />
FormaÁ„o e reciclagem<br />
do corpo docente<br />
Oportunidade de melhoria<br />
das habilidades<br />
intelectuais<br />
Aposta na qualificaÁ„o do<br />
corpo docente<br />
Troca de experiÍncias<br />
com docentes de outras<br />
instituiÁıes nacionais e<br />
internacionais<br />
ParticipaÁ„o em<br />
Semin·rios, Workshops e<br />
Congressos nacionais e<br />
internacionais<br />
ElevaÁ„o dos<br />
conhecimentos tÈcnicocientÌficos<br />
dos docentes<br />
ComunicaÁ„o Organizacional<br />
(3%)<br />
Fluxo de informaÁ„o<br />
interna adequado<br />
ComunicaÁ„o recÌproca<br />
trabalhador/instituiÁ„o<br />
Feedback sobre o<br />
trabalho realizado<br />
Meios que facilitem a<br />
comunicaÁ„o
TABELA 2<br />
A Universidade onde lecciona promove acÁıes de QVT para os docentes?<br />
Valid<br />
Sim<br />
N„o<br />
N„o respondeu<br />
Total<br />
Frequency Percent Valid Percent<br />
107 42,0 42,0 42,0<br />
146 57,3 57,3 99,2<br />
2 ,8 ,8 100,0<br />
255 100,0 100,0<br />
Cumulative<br />
Percent<br />
167
Sa˙de/DoenÁas (7%)<br />
Controle da sa˙de dos docentes<br />
Palestras sobre sa˙de e prevenÁ„o<br />
de doenÁas<br />
ServiÁos de atendimento mÈdico<br />
Palestras preventivas do<br />
HIV/SIDA<br />
DistribuiÁ„o de preservativos<br />
Responsabilidade Social (1%)<br />
Semin·rios sobre<br />
responsabilidade social<br />
ValorizaÁ„o dos RH (5%)<br />
Oportunidades de carreira<br />
Incentivo ‡s iniciativas criativas<br />
dos docentes<br />
Autonomia no processo de<br />
trabalho dos docentes<br />
AtribuiÁıes de prÈmios e outros<br />
incentivos pelo desempenho<br />
Oportunidades de<br />
desenvolvimento profissional<br />
Ambiente FÌsico (11%)<br />
Salas de aulas com condiÁıes<br />
adequadas<br />
PreocupaÁ„o com sistema de<br />
climatizaÁ„o no local de trabalho<br />
ModernizaÁ„o das instalaÁıes<br />
PreocupaÁ„o com o conforto do<br />
ambiente fÌsico<br />
ConstruÁ„o de novas<br />
infraestuturas<br />
EspaÁo para parqueamento de<br />
viaturas dos docentes<br />
PreocupaÁ„o contÌnua na<br />
melhoria das condiÁıes fÌsicas de<br />
trabalho<br />
ReabilitaÁ„o periÛdica das<br />
instalaÁıes<br />
PreocupaÁ„o com aspectos<br />
ergonÛmicos<br />
ValorizaÁ„o das condiÁıes de<br />
higiene e seguranÁa no trabalho<br />
TABELA 3<br />
AC«’ES <strong>DE</strong> QVT PROMO<strong>VIDA</strong>S PELAS IES¥s<br />
Dimens„o BiolÛgica (12%)<br />
AlimentaÁ„o (5%)<br />
DisponibilizaÁ„o de cafÈ e ch·<br />
RefeiÁıes di·rias<br />
Dimens„o Social (1%)<br />
Dimens„o Organizacional (80%)<br />
FormaÁ„o/CapacitaÁ„o (20%)<br />
Cursos e acÁıes de capacitaÁ„o<br />
do corpo docente<br />
CapacitaÁ„o dos docentes em<br />
metodologias de ensino<br />
Jornadas CientÌficas<br />
Bolsas de estudo a docentes para<br />
PÛs-GraduaÁ„o<br />
Envio de docentes para<br />
participaÁ„o em Congressos,<br />
Semin·rios, Workshops<br />
Programas de formaÁ„o contÌnua<br />
Interc‚mbios para actualizaÁ„o<br />
de conhecimentos<br />
Cursos de FormaÁ„o PedagÛgica<br />
Lazer Interno (17%)<br />
PromoÁ„o de convÌvios para<br />
celebrar datas importantes<br />
OrganizaÁ„o de convÌvios que<br />
permitem troca de experiÍncias<br />
entre docentes<br />
RealizaÁ„o de Saraus Culturais<br />
PromoÁ„o de convÌvios sociais<br />
entre docentes e corpo directivo<br />
CriaÁ„o de ambientes de<br />
convÌvio e descanso<br />
PromoÁ„o de convÌvios entre<br />
docentes e discentes<br />
RealizaÁ„o de eventos<br />
desportivos<br />
Grupos de Teatro<br />
CelebraÁıes dos anivers·rios dos<br />
docentes<br />
N„o Respondeu (7%)<br />
Recursos de Trabalho<br />
(8%)<br />
DisponibilizaÁ„o de<br />
material de qualidade<br />
para a execuÁ„o do<br />
trabalho<br />
DisponibilizaÁ„o de<br />
meios did·cticos<br />
Acesso ‡ Internet,<br />
Biblioteca, Meios<br />
Audio-visuais<br />
Carga Hor·ria de<br />
Trabalho (3%)<br />
Normas definem que a<br />
carga hor·ria n„o deve<br />
ultrapassar as 8 horas<br />
semanais<br />
DiminuiÁ„o do n˙mero<br />
de disciplinas que o<br />
docente deve leccionar<br />
Hor·rio flexÌvel<br />
168<br />
ComunicaÁ„o Organizacional<br />
(5%)<br />
IntroduÁ„o de meios de<br />
comunicaÁ„o que facilitam<br />
maior interacÁ„o entre<br />
docentes e corpo directivo<br />
ParticipaÁ„o em reuniıes de<br />
trabalho<br />
Encontros colectivos e<br />
periÛdicos entre docentes e<br />
corpo directivo<br />
EsforÁo em ouvir as<br />
preocupaÁıes dos docentes e<br />
discentes<br />
Sistemas de monitoria e<br />
feedback do trabalho dos<br />
docentes<br />
RemuneraÁ„o e BenefÌcios<br />
(11%)<br />
RemuneraÁ„o acima da<br />
mÈdia do mercado<br />
RemuneraÁ„o de acordo com<br />
o mercado<br />
SubsÌdio de renda de casa<br />
RemuneraÁ„o adequada<br />
BenefÌcios sociais<br />
(assistÍncia mÈdica,<br />
transporte, etc.)<br />
Sal·rios pagos dentro do<br />
tempo<br />
Oferta de terrenos para<br />
construÁ„o de casas
GR¡FICO 1<br />
OPINI O DOS DOCENTES SOBRE AS RAZ’ES QUE LEVAM A GEST O DAS IES¥s A N O PROMOVEREM AC«’ES <strong>DE</strong> QVT<br />
N„o sabe<br />
N„o respo ndeu<br />
Falta de iniciativa dos prÛprios do centes<br />
A usÍncia de polÌticas e legislaÁ„o que regulamente o assunto<br />
Falta de agressividade institucional/estratÈgia competitiva<br />
Po uco contacto /co municaÁ„o do cente-instituiÁ„o<br />
Gest„o das IES pouco sensibilizadas so bre o assunto<br />
Fraca percepÁ„o da relaÁ„o QVT e qualidade de Ensino<br />
InstituiÁ„o ainda em processo de conso lidaÁ„o<br />
N„o co nstitui prioridade para a InstituiÁ„o<br />
Excesso de mobilidade n„o favo rece criaÁ„o de vÌnculo s pro fundo s entre docente e instituiÁ„o<br />
Cultura organizacio nal que n„o co nsidera o indivÌduo e seu equilÌbrio bio -psico -social<br />
M · gest„o do s Recursos Humano s<br />
Recursos Financeiros Insuficientes<br />
Po uco conhecimento/info rmaÁ„o so bre o assunto<br />
Incapacidade de avaliar o valor do s Recursos Humano s<br />
0,7<br />
0,7<br />
2<br />
2,7<br />
4<br />
4,7<br />
5,4<br />
5,4<br />
6<br />
6,8<br />
7,4<br />
8,8<br />
8,8<br />
10,9<br />
12,1<br />
0 2 4 6 8 10 12 14<br />
13,6<br />
169
TABELA 4<br />
OPINI O DOS DOCENTES SOBRE AS AC«’ES <strong>DE</strong> QVT QUE AS IES <strong>DE</strong>VERIAM <strong>DE</strong>SENVOLVER<br />
Actividade FÌsica (2%)<br />
CriaÁ„o de Centros<br />
ManuntenÁ„o FÌsica<br />
Actividades<br />
desportivas<br />
Lazer Externo (3%)<br />
Excursıes<br />
Visitas a locais de<br />
interesse histÛrico,<br />
cultural e social<br />
ConvÌvios entre<br />
docentes fora da<br />
universidade<br />
Actividades extracurriculares<br />
fora da<br />
universidade<br />
Palestras de combate ‡<br />
corrupÁ„o (1%)<br />
Sa˙de/DoenÁas (12%)<br />
Programas de gest„o do stress<br />
laboral<br />
Treinamento sobre QVT<br />
ConvÈnios com ClÌnicas para<br />
assistÍncia a trabalhadores<br />
Palestras sobre sa˙de preventiva<br />
Palestras sobre gest„o do tempo<br />
como forma de evitar o stress<br />
negativo<br />
Menos sobrecarga de trabalho<br />
para evitar o stress negativo<br />
Workshops sobre gest„o e bons<br />
h·bitos de QVT<br />
Estudos/levantamentos sobre a<br />
QVT dos docentes<br />
Palestras de prevenÁ„o do<br />
HIV/SIDA<br />
Cidadania (2%)<br />
ParticipaÁ„o dos docentes em<br />
actividades ecolÛgicas e<br />
ambientais<br />
Trabalho volunt·rio junto ‡<br />
comunidade<br />
Dimens„o BiolÛgica (16%)<br />
AlimentaÁ„o (2%)<br />
Oferta de serviÁos de catering<br />
Palestras sobre alimentaÁ„o<br />
saud·vel<br />
Lanches durante as horas de<br />
trabalho<br />
Dimens„o PsicolÛgica (3%)<br />
Dimens„o Social (3%)<br />
170
Recursos de Trabalho<br />
(9%)<br />
Disponibilidade de<br />
material de trabalho<br />
DisponibilizaÁ„o de<br />
recursos e meios<br />
para actividade<br />
docente<br />
Melhoria de<br />
instrumentos de<br />
trabalho<br />
Lazer interno (4%)<br />
ConvÌvios<br />
EspaÁos de<br />
recreaÁ„o<br />
CondiÁıes de lazer e<br />
relaxamento no local<br />
de trabalho<br />
Hor·rios de Trabalho<br />
(3%)<br />
Hor·rios flexÌveis de<br />
trabalho<br />
Possibilidade de se<br />
trabalhar em casa<br />
Gest„o (8%)<br />
CriaÁ„o de um Ûrg„o para gerir a<br />
QVT<br />
Modelos de gest„o participativa<br />
FormaÁ„o dos gestores em QVT<br />
Actividades de geraÁ„o de fundos<br />
para melhorar a QVT<br />
PolÌtica de recursos humanos<br />
mais transparente<br />
DescentralizaÁ„o da distribuiÁ„o<br />
de recursos financeiros<br />
Melhor planificaÁ„o do trabalho<br />
docente<br />
ValorizaÁ„o dos RH (7%)<br />
PrÈmios/bonus por desempenho<br />
ValorizaÁ„o de competÍncias e<br />
n„o apenas de graus acadÈmicos<br />
Progress„o e desenvolvimento de<br />
carreira<br />
Pesquisar sobre as reais<br />
necessidades dos docentes<br />
Olhar para o docente de uma<br />
forma holÌstica<br />
Diplomas de mÈrito para docentes<br />
dedicados<br />
Respeito pelos direitos dos<br />
docentes<br />
FormaÁ„o/CapacitaÁ„o (14%)<br />
EducaÁ„o e formaÁ„o contÌnua<br />
dos docentes<br />
Promover actividades de pesquisa<br />
AtribuiÁ„o de Bolsas de Estudo a<br />
docentes<br />
Promover cursos de<br />
especializaÁ„o<br />
Viagens de estudo<br />
AcÁıes de reciclagem dos<br />
docentes<br />
Dimens„o Organizacional (78%)<br />
Qualidade do Trabalho (5%)<br />
N„o favorecer a mobilidade de<br />
docentes em mais do que uma IES<br />
IntroduÁ„o de ferramentas<br />
adequadas para selecÁ„o de<br />
docentes<br />
Debates sobre qualidade<br />
Melhor alocaÁ„o de tarefas extradocÍncia<br />
CriaÁ„o de ComitÈs de Qualidade<br />
do Ensino<br />
Ambiente FÌsico (8%)<br />
ValorizaÁ„o da higiene e limpeza<br />
no local de trabalho<br />
AplicaÁ„o de conceitos<br />
ergonÛmicos nos postos de trabalho<br />
Melhoria das condiÁıes fÌsicas de<br />
trabalho<br />
Gabinetes para docentes com<br />
condiÁıes para se trabalhar<br />
Salas de aula mais confort·veis<br />
171<br />
ComunicaÁ„o organizacional<br />
(5%)<br />
ComunicaÁ„o mais aberta<br />
entre direcÁ„o e docentes<br />
EspaÁo para sugestıes dos<br />
docentes<br />
Melhoria do fluxo de<br />
informaÁ„o interna<br />
EspaÁo para express„o de<br />
ideias<br />
RemuneraÁ„o e BenefÌcios<br />
(15%)<br />
Melhores sal·rios<br />
BenefÌcios (seguro de<br />
sa˙de, transporte, apoio na<br />
habitaÁ„o)<br />
CompensaÁ„o justa e<br />
adequada<br />
RemuneraÁ„o que permita<br />
elevar a qualidade de vida<br />
dos docentes<br />
Sal·rios compatÌveis com<br />
o mercado de trabalho
ANEXO G - Dados EstatÌsticos relativos ‡ satisfaÁ„o dos Professores com a QVT<br />
Amostra (N=255) IES P˙blicas (N=143) IES Privadas (N=112)<br />
Factores / Dimensıes de QVT MÈdia Desv. Padr„o MÈdia Desv. Padr„o MÈdia Desv. Padr„o<br />
RemuneraÁ„o Adequada 3,19 1,290 2,70* 1,139 3,81* 1,205<br />
Equidade Interna 3,76 1,395 3,44* 1,356 4,17* 1,341<br />
Equidade Externa 3,00 1,540 2,53* 1,418 3,60* 1,485<br />
Dimens„o CompensaÁ„o Justa e Adequada 3,31 1,172 2,89* 1,006 3,85* 1,152<br />
Jornada de Trabalho 4,24 1,418 4,06* 1,408 4,48* 1,401<br />
Carga de Trabalho 4,36 1,398 4,15* 1,350 4,62* 1,422<br />
Ambiente FÌsico 3,87 1,572 3,20* 1,334 4,72* 1,435<br />
Material e Equipamento 3,62 1,562 3,02* 1,313 4,39* 1,521<br />
Ambiente Saud·vel 4,07 1,516 3,55* 1,352 4,73* 1,458<br />
Stress 3,96 1,329 3,62* 1,204 4,39* 1,358<br />
Dimens„o CondiÁıes de Trabalho 4,01 1,120 3,59* 0,995 4,5* 1,042<br />
Autonomia 4,85 1,377 4,57* 1,366 5,21* 1,311<br />
Significado da Tarefa 5,23 1,156 4,99* 1,202 5,54* 1,022<br />
Identidade da Tarefa 5,08 1,132 4,88* 1,172 5,34* 1,027<br />
Variedade da Habilidade 4,49 1,282 4,20* 1,225 4,86* 1,265<br />
RetroinformaÁ„o 3,93 1,340 3,55* 1,249 4,43* 1,292<br />
Dimens„o Uso e Desenvolvimento de Capacidades 4,71 0,924 4,43* 0,879 5,07* 0,857<br />
Possibilidade de Carreira 4,03 1,351 3,85** 1,244 4,26** 1,450<br />
Crescimento Pessoal 3,95 1,526 3,73* 1,520 4,21* 1,497<br />
SeguranÁa de Emprego 4,36 1,571 4,38 1,500 4,35 1,664<br />
Dimens„o Oportunidades de Crescimento e<br />
SeguranÁa 4,11 1,219 3,98 1,163 4,27 1,275<br />
Igualdade de Oportunidades 4,38 1,585 4,13* 1,533 4,70* 1,599<br />
Relacionamento 4,47 1,460 4,15* 1,455 4,88* 1,370<br />
Senso Comunit·rio 4,16 1,341 3,92* 1,281 4,48* 1,356<br />
Dimens„o IntegraÁ„o Social na OrganizaÁ„o 4,33 1,220 4,06* 1,208 4,68* 1,150<br />
Direitos Trabalhistas 4,27 1,397 4,06* 1,428 4,54* 1,315<br />
Privacidade Pessoal 4,46 1,495 4,14* 1,480 4,87* 1,417<br />
Liberdade de Express„o 4,63 1,411 4,37* 1,413 4,96* 1,342<br />
Normas e Rotinas 4,20 1,287 3,93* 1,287 4,54* 1,207<br />
Dimens„o Constitucionalismo 4,38 1,193 4,12* 1,193 4,72* 1,110<br />
Papel Balanceado no Trabalho 4,01 1,301 3,80* 1,354 4,27* 1,185<br />
Hor·rio de Entrada e SaÌda do Trabalho 4,52 1,336 4,30* 1,369 4,80* 1,244<br />
Dimens„o Trabalho e EspaÁo Total de Vida 4,26 1,174 4,05* 1,201 4,53* 1,085<br />
Imagem da InstituiÁ„o 4,86 1,382 4,70** 1,434 5,06** 1,289<br />
Responsabilidade Social da InstituiÁ„o 4,67 1,466 4,45* 1,462 4,96* 1,429<br />
Responsabilidade Social pelos ServiÁos 4,40 1,388 4,07* 1,336 4,81* 1,346<br />
Responsabilidade Social pelos Trabalhadores 4,02 1,360 3,61* 1,234 4,55* 1,334<br />
Dimens„o Relev‚ncia Social da Vida no Trabalho 4,48 1,181 4,20* 1,136 4,84* 1,145<br />
SATISFA« O GLOBAL COM A QVT 4,20 0,882 3,9* 0,807 4,56* 0,843<br />
* DiferenÁas estatisticamente significativas a um nÌvel de .001 (99%) / ** DiferenÁas estatisticamente significativas a um nÌvel de .05 (95%)<br />
172
ANEXO H - Dados EstatÌsticos relativos ‡ influÍncia de vari·veis sÛcio-demogr·ficas no nÌvel de<br />
satisfaÁ„o global dos Professores com a QVT<br />
Vari·vel Grupos N % MÈdia Desvio Padr„o<br />
Sexo<br />
Masculino 196 76,9 4,18 0,878<br />
Feminino 59 23,1 4,28 0,898<br />
TOTAL 255 100<br />
Casado 124 48,6 4,31 0,838<br />
Estado Civil<br />
Solteiro 110 43,2 4,11 0,928<br />
Outro 21 8,2 4,01 0,844<br />
TOTAL 255 100<br />
Bacharelato 13 5,1 4,20 1,049<br />
Licenciatura 126 49,4 4,22 0,912<br />
NÌvel de FormaÁ„o<br />
PÛs-GraduaÁ„o 17 6,7 3,96 0,857<br />
Mestrado 78 30,6 4,18 0,879<br />
Doutoramento 21 8,2 4,34 0,882<br />
TOTAL 255 100<br />
Estagi·rio/Monitor 22 9 4,05 0,728<br />
Assistente Estagi·rio 54 21 3,87* 0,849<br />
Assistente 96 38 4,20 0,875<br />
Categoria Profissional<br />
Professor Auxiliar<br />
Professor Associado<br />
34<br />
13<br />
13<br />
5<br />
4,50*<br />
4,52<br />
0,816<br />
0,874<br />
Professor Catedr·tico 3 1 4,35* 0,448<br />
Professor Convidado 16 6 4,69 0,723<br />
Outra 12 5 4,35 1,089<br />
N/R 5 2 3,54 1,226<br />
TOTAL 255 100<br />
Tipo de Contrato<br />
Tempo Inteiro 152 59,6 4,08* 0,893<br />
Tempo Parcial 103 40,4 4,38* 0,838<br />
TOTAL 255 100<br />
AtÈ 2 anos 111 44 4,22 0,891<br />
Tempo de Trabalho De 2 a 5 anos 69 27 4,13 0,896<br />
na Universidade<br />
De 5 a 10 anos 34 13 4,36 0,990<br />
De 10 a 15 anos 21 8,2 4,28 0,800<br />
Mais de 15 anos 20 7,8 3,9 0,658<br />
TOTAL 255 100<br />
Lecciona em outra Universidade Sim 63 24,7 4,27 0,749<br />
(Mobilidade) N„o 192 75,3 4,18 0,922<br />
TOTAL 255 100<br />
Desenvolve outra actividade Sim 108 42,3 4,37* 0,820<br />
Profissional alÈm da docÍncia N„o 147 57,7 4,07* 0,907<br />
TOTAL 255 100<br />
FrequÍncia de Curso para obter um Sim 55 21,5 4,12 0,992<br />
grau acadÈmico N„o 200 78,5 4,22 0,851<br />
TOTAL 255 100<br />
AtÈ 5 milhıes 19 7,4 4,10 0,828<br />
5 a 10 milhıes 65 25,4 4,09 0,936<br />
Sal·rio<br />
10 a 15 milhıes<br />
15 a 20 milhıes<br />
58<br />
28<br />
23<br />
10,9<br />
4,15<br />
4,55<br />
0,829<br />
0,728<br />
20 a 25 milhıes 20 7,8 4,35 0,661<br />
25 a 30 milhıes 9 3,5 4,49 0,966<br />
Acima de 30 milhıes 10 4 4,21 0,947<br />
N/R 46 18 4,12 1,009<br />
TOTAL 255 100<br />
* DiferenÁas estatisticamente significativas a um nÌvel de .001 (99%)<br />
173