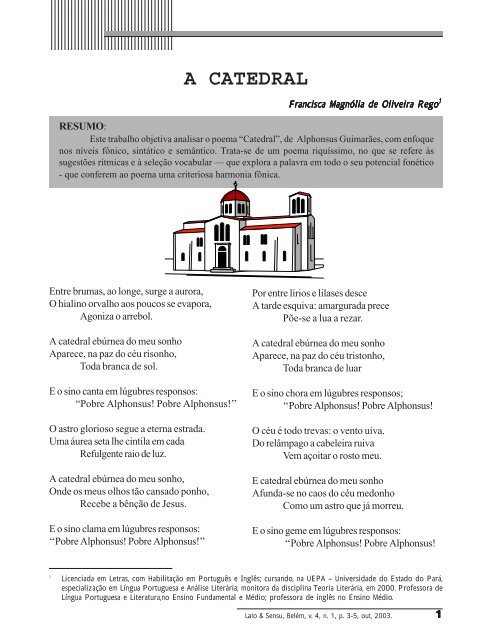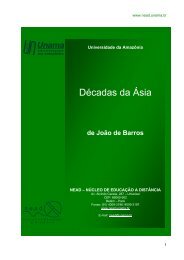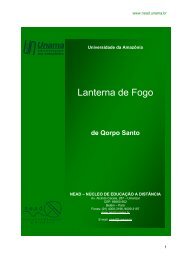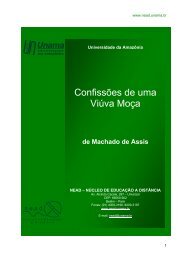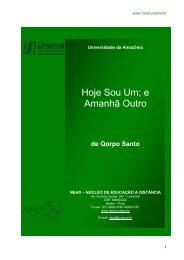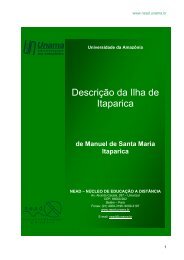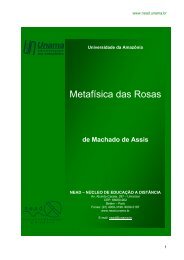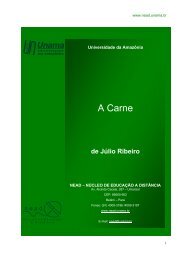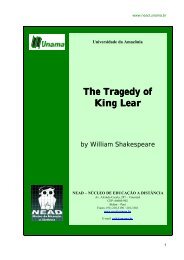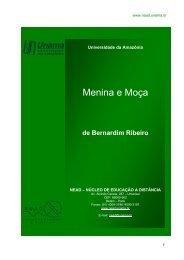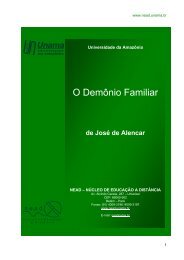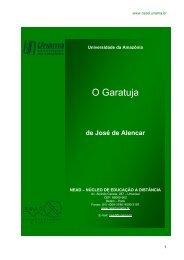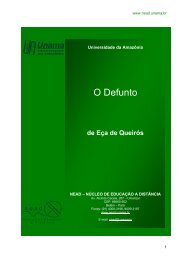Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
Francisca Francisca Francisca Francisca Francisca Magnólia Magnólia Magnólia Magnólia Magnólia de de de de de Oliveira Oliveira Oliveira Oliveira Oliveira Rego Rego Rego Rego Rego11111<br />
RESUMO:<br />
Este trabalho objetiva analisar o poema “Catedral”, de Alphonsus Guimarães, com enfoque<br />
nos níveis fônico, sintático e semântico. Trata-se de um poema riquíssimo, no que se refere às<br />
sugestões rítmicas e à seleção vocabular — que explora a palavra em todo o seu potencial fonético<br />
- que conferem ao poema uma criteriosa harmonia fônica.<br />
Entre brumas, ao longe, surge a aurora,<br />
O hialino orvalho aos poucos se evapora,<br />
Agoniza o arrebol.<br />
A catedral ebúrnea do meu sonho<br />
Aparece, na paz do céu risonho,<br />
Toda branca de sol.<br />
E o sino canta em lúgubres responsos:<br />
“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!’’<br />
O astro glorioso segue a eterna estrada.<br />
Uma áurea seta lhe cintila em cada<br />
Refulgente raio de luz.<br />
A catedral ebúrnea do meu sonho,<br />
Onde os meus olhos tão cansado ponho,<br />
Recebe a bênção de Jesus.<br />
E o sino clama em lúgubres responsos:<br />
‘‘Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!’’<br />
A <strong>CATEDRAL</strong><br />
Por entre lírios e lilases desce<br />
A tarde esquiva: amargurada prece<br />
Põe-se a lua a rezar.<br />
A catedral ebúrnea do meu sonho<br />
Aparece, na paz do céu tristonho,<br />
Toda branca de luar<br />
E o sino chora em lúgubres responsos;<br />
‘‘Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!<br />
O céu é todo trevas: o vento uiva.<br />
Do relâmpago a cabeleira ruiva<br />
Vem açoitar o rosto meu.<br />
E catedral ebúrnea do meu sonho<br />
Afunda-se no caos do céu medonho<br />
Como um astro que já morreu.<br />
E o sino geme em lúgubres responsos:<br />
‘‘Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!<br />
1 Licenciada em Letras, com Habilitação em Português e Inglês; cursando, na UEPA – Universidade do Estado do Pará,<br />
especialização em Língua Portuguesa e Análise Literária; monitora da disciplina Teoria Literária, em 2000. Professora de<br />
Língua Portuguesa e Literatura,no Ensino Fundamental e Médio; professora de inglês no Ensino Médio.<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
1
2 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
A <strong>CATEDRAL</strong> - METRIFICAÇÃO<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
1 En / tre / bru / mas, / ao/ lon / ge, / sur / ge / a au / ro / ra,<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
2 O / hia / li / no or / va / lho aos / pou / cos / se e / va / po / ra,<br />
1 2 3 4 5 6<br />
3 A / go / ni / za o / arre / bol.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
4 A / ca / te / dral / e / búr / nea / do / meu / so / nho<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
5 A / pa / re / ce, / na / paz / do / céu / ri / so / nho,<br />
1 2 3 4 5 6<br />
6 To / da / bran / ca / de / sol.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
7 E o / si / no / can / ta em / lú / gu / bres / res / pon / sos:<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 “Po / bre Al / phon / sus! / Po / bre Al / phon / sus!’’<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
9 O as / tro / glo / rio / so / se / gue a / e / ter / na es / tra / da.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
10 U / ma áu / rea / se / ta / lhe / cin / ti / la em / ca / da<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
11 Re / ful / gen / te / ra / io / de / luz.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
12 A / ca / te / dral / e / búr / nea / do / meu / so / nho,<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
13 On / de os / me / us / o / lhos / tão / can / as / do / po / nho,<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
14 Re / ce / be a / bên / ção / de / Je / sus.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
15 E o / si / no / cla / ma em / lú / gu / bres / res / pon / sos:
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
16 ‘‘Po / bre Al / phon / sus! / Po / bre Al / phon / sus!’’<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
17 Por / en / tre / lí / ri / os / e / li / la / ses / des / ce<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
18 A / tar / de es / qui / va: a / mar / gu / ra / da / pre / ce<br />
1 2 3 4 5<br />
19 Põe- / se a / lua a / re / zar.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
20 A / ca / te / dral / e / búr / nea / do / meu / so / nho<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
21 A / pa / re / ce, / na / paz / do / céu / tris / to / nho,<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
22 To / da / bran / ca / de / lu / ar<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
23 E o / si / no / cho / ra em / lú / gu / bres / res / pon / sos;<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
24 ‘‘Po / bre Al / phon / sus! / Po / bre Al / phon / sus!<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
25 O / céu é / to / do / tre / vas: / o / ven / to / ui / va.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
26 Do / re / lâm / pa / go a / ca / be / lei / ra / rui / va<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
27 Vem / a / çoi / tar / o / ros / to / meu.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
28 A / c a / te / dral / e / búr / nea / do / meu / so / nho<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
29 A / fun / da-/ se / no / ca / os / do / céu / me / do / nho<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
30 Co / mo um / as / tro / que / já / mo / rreu.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
31 E o / si / no / ge / me em / lú / gu / bres / res / pon / sos:<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
32 ‘‘Po / bre Al / phon / sus! / Po / bre Al / phon / sus!<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
3
ESTRATO FÔNICO<br />
· O RITMO<br />
O estudo da versificação<br />
deve ressaltar o ritmo da<br />
repetição, característico do texto<br />
poético em versos. Analisaremos<br />
os versos em dois níveis,<br />
procurando as equivalências<br />
posicionais (metro e acentos) e,<br />
as equivalências sonoras (rimas,<br />
aliterações, etc.), que constituem<br />
as chamadas figuras de som.<br />
A musicalidade é uma<br />
característica inerente às palavras<br />
que compõem um poema. Em<br />
“<strong>CATEDRAL</strong>”, não poderia ser<br />
diferente, haja vista que seu efeito<br />
sonoro transcende as palavras e<br />
soa aos nossos ouvidos como um<br />
doce tocar da balada de um sino.<br />
Numa simples leitura<br />
silenciosa, somos capazes de<br />
captar as profundezas da camada<br />
sonora deste texto.<br />
· PERCEBENDO O<br />
COMPASSO<br />
O título do poema indica<br />
igreja e cria-nos a expectativa de<br />
um ambiente completamente<br />
religioso. Na verdade é o que<br />
acaba acontecendo, sobretudo<br />
quando nos deparamos com as<br />
palavras CÉU, CANTA,<br />
GLORIOSO, BÊNÇÃO,<br />
JESUS, CLAMA, REZAR e,<br />
principalmente, as duas que são<br />
repetidas por 4 vezes ao longo de<br />
todo o poema: <strong>CATEDRAL</strong> e<br />
SINO.<br />
Observa-se que a<br />
temática apoiada no ritmo do texto<br />
4 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
é contagiante, curta e simples,<br />
apesar da linguagem metafórica<br />
que se faz presente.<br />
A marcação das sílabas<br />
poéticas identifica a coincidência<br />
nos versos pares evidenciandose<br />
em “A catedral ebúrnea do<br />
meu sonho”, repetindo-se nos<br />
versos 4, 12, 20 e 28; “E o sino<br />
canta em lúgubres<br />
responsos”, ocorrendo nos<br />
versos 7, 23 e 31; “Pobre<br />
Alphonsus! Pobre<br />
Alphonsus!”, nos versos 8, 16,<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
24 e 32; finalmente, nos versos 5<br />
e 21, repetindo-se “ Aparece, na<br />
paz do céu risonho”.<br />
A essa repetição<br />
devemos a fácil memorização do<br />
poema e a formação do esquema<br />
rítmico no qual ocorrem sílabas<br />
fortes e fracas alternando-se num<br />
jogo que resultará na cadência do<br />
poema. Vejamos como exemplo<br />
a primeira estrofe, na qual<br />
destacamos em negrito as sílabas<br />
fortes:<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
4 EN EN / tre / BRU BRU BRU / mas, / ao/ lon / ge, / SUR SUR / ge / a au / RO RO RO / ra,<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
5 O / hia / / LI LI / no or / VA A / lho aos / pou / cos / se e / va / / PO PO / ra,<br />
1 2 3 4 5 6<br />
6 A / go / NI NI / za o / arre / BOL BOL. BOL<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
4 A / ca / te / DRAL DRAL / EBÚR EBÚR / nea / do / meu / SO SO / nho<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
5 A / pa / RE RE / ce, / na / / PP<br />
PAZ PP<br />
AZ / do / céu / ri / SO SO / nho,<br />
1 2 3 4 5 6<br />
6 TO TO / da / / BRAN BRAN / ca / de / SOL. SOL.<br />
SOL.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
8 E o / SI SI SI / no / CAN CAN / ta em / LÚ LÚ / gu / bres / res / PON PON / sos:<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
8 “PO PO / bre Al / / PHON PHON / sus! / / PO PO / bre Al / PHON PHON / sus!’’<br />
A repetição das letras<br />
também contribui para a formação<br />
da cadência do poema. Nesse<br />
aspecto, observa-se que há a<br />
predominância das consoantes<br />
“S” e “R”, num total de 72 e 55,<br />
respetivamente. Quanto às vogais,<br />
notamos que a letra ”A”<br />
aparece 101 vezes; o “E”, 105<br />
vezes e em número maior a letra<br />
“O” ocorrendo 106 vezes, ao<br />
longo do poema.
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
No caso da aliteração,<br />
acreditamos poder afirmar que a<br />
ocorrência do “S” — consoante<br />
sibilante, portanto, por si só<br />
carrega uma musicalidade a<br />
ela inerente, que corresponde a<br />
inicial da palavra SINO, símbolo<br />
que representa a igreja; quanto<br />
ao “R”, remete-nos à rapidez<br />
com a qual se dá o transcurso de<br />
nossas vidas.<br />
· PALAVRA-CHAVE E<br />
JOGO DE SONS<br />
Neste poema, destacamos<br />
que como palavra-chave:<br />
SINO. Ela é repetida, coincidentemente<br />
na mesma posição, ao<br />
longo do poema.<br />
Levando em consideração<br />
que o título do poema nos<br />
sugere a ambientação de uma<br />
igreja, facilmente o relacionamos<br />
com essa palavra-chave, por se<br />
tratar de uma indumentária indispensável<br />
em qualquer “Casa de<br />
Deus”, por mais simples que seja.<br />
Neste caso, a palavrachave<br />
“SINO”, contagia outras<br />
com sua sonoridade:<br />
“E o sino canta em lúgubres<br />
responsos:”<br />
“E o sino clama em lúgubres<br />
responsos:”<br />
“E o sino chora em lúgubres<br />
responsos”;<br />
“E o sino geme em lúgubres<br />
responsos:”<br />
Repetindo-se sempre na<br />
mesma posição, a palavra<br />
“SINO” constitui uma anáfora,<br />
que é valorizada por ecoar no interior<br />
das palavras em que encon-<br />
tramos a predominância da vogal<br />
“E”, lembrando-nos o som do<br />
toque do sino, no alto da torre da<br />
catedral: “bem-belelém, bembelelém...”<br />
Esse jogo sonoro<br />
acentua-se na medida em que<br />
observamos que há grande incidência<br />
de sílaba forte sobre esta<br />
vogal.<br />
· O RITMO COMO CRIA-<br />
ÇÃO DO POETA.<br />
Considerando que o ritmo<br />
dos versos forma-se pela sucessão<br />
de unidades rítmicas da<br />
alternância entre sílabas acentuadas<br />
(fortes), ou entre sílabas<br />
constituídas por vogais longas e<br />
breves, faz-se necessário destacar<br />
no poema a sua disposição<br />
gráfica.<br />
Neste caso, especificamente,<br />
observamos que o poema<br />
é composto por 32 versos, distribuídos<br />
em 4 partes contendo, cada<br />
uma, dois tercetos e um refrão,<br />
criando, graças à criatividade do<br />
autor, um ritmo singular.<br />
Um olhar atento, portanto,<br />
treinado a ouvir, captará a partir<br />
de leituras e releituras do poema<br />
o ritmo e o significado como<br />
uma unidade indissolúvel.<br />
·CADA ÉPOCA TEM SEU<br />
RITMO<br />
O ritmo é um componente<br />
do poema que, certamente, tem<br />
relação com a época ou a situação<br />
em que é produzido.<br />
De autoria de Alphonsus<br />
Guimarães,“Catedral” representa<br />
o fruto do trabalho de um<br />
autor simbolista que traz consigo<br />
uma força reacionária contra toda<br />
a poesia anterior; que descobre<br />
qualquer coisa que, ou nunca se<br />
conhecera ou a que nunca até ai<br />
se dera relevo: a poesia pura –<br />
a poesia que surge do espírito<br />
irracional, não-conceptual, da linguagem,<br />
que é contrária a toda<br />
interpretação lógica. Para ele, a<br />
poesia é apenas a expressão daquelas<br />
relações e correspondências<br />
que a linguagem, deixada a<br />
si própria, cria entre o concreto e<br />
o abstrato, o material e o ideal, e<br />
entre as diferentes esferas dos<br />
sentidos.<br />
A geração simbolista<br />
teve com o Parnasianismo alguns<br />
pontos em comum. Primeiramente,<br />
ambos tiveram suas origens<br />
ligadas a um mesmo órgão literário,<br />
a revista francesa Parnasse<br />
Contemporain, da qual foram<br />
colaboradores Mallarmé e<br />
Verlaine, dois dos três principais<br />
simbolistas franceses, ao lado de<br />
Rimbaud.<br />
Além disso, os dois movimentos<br />
guardam em comum o<br />
princípio da “arte pela arte”, que<br />
se traduz numa intensa preocupação<br />
com a própria linguagem<br />
pela qual se expressam. Contudo,<br />
essa preocupação de cada<br />
um visa a objetivos diferentes. O<br />
Parnasianismo tinha uma concepção<br />
ornamental da linguagem: a<br />
seleção vocabular, o equilíbrio, a<br />
sintaxe elegante, a perfeição formal.<br />
Já o Simbolismo, mais ousado,<br />
procura ultrapassar os limites<br />
conhecidos da linguagem poética,<br />
tentando fundir a música à<br />
poesia, estreitando os limites entre<br />
o significante e o significado<br />
dos signos lingüísticos.<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
5
Ao lado dessas<br />
diferenças de linguagem, o<br />
Simbolismo também apresenta<br />
diferenças ideológicas profundas<br />
em relação aos movimentos<br />
realista, naturalista e parnasiano.<br />
Esses movimentos, em maior ou<br />
menor intensidade, foram<br />
influenciados pela onda de<br />
racionalismo, materialismo e<br />
cientificismo da metade do século<br />
XIX e, assim, se pretendiam<br />
movimentos analíticos e impessoais.<br />
O Simbolismo, reagindo<br />
contra esse cientificismo, procura<br />
restaurar certos valores românticos<br />
varridos pelo Realismo,<br />
tais como o espiritualismo, o<br />
desejo de transcendência e de<br />
integração com o universo, o<br />
mistério, a religiosidade, a morte,<br />
sem, contudo cair na afetação<br />
sentimental romântica.<br />
Essa reação antimaterialista<br />
do grupo simbolista situase<br />
num contexto mais amplo, vivido<br />
pela Europa no último quarto<br />
do século XIX. O contexto de<br />
uma forte crise espiritual a que<br />
se tem chamado o decadentismo<br />
do final do século.<br />
O poema “Catedral”,<br />
no que tange às regras métricas,<br />
apresenta-se descomprometido<br />
aos esquemas tradicionais, haja<br />
vista que foi trabalhado ainda no<br />
século XIX — época na qual os<br />
ritmos dos poemas tornam-se a<br />
cada dia mais soltos. Daí porque<br />
ocorre variação no tamanho dos<br />
versos que o compõem.<br />
Passando à acentuação<br />
das sílabas poéticas o que se pode<br />
destacar é que, alternando as sílabas<br />
fortes e fracas, Alphonsus<br />
Guimarães compôs diferentes<br />
6 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
segmentos de versos, havendo<br />
coincidência sonora entre os mesmos.<br />
Salta-nos aos olhos o ritmo<br />
destes 32 versos. As rimas<br />
acentuam essa impressão, na<br />
medida em que obedecem ao seguinte<br />
esquema:<br />
1ª ESTROFE: AAB; CCB;<br />
DD;<br />
2ª ESTROFE: EEF; CCF;<br />
DD;<br />
3ª ESTROFE: GGH; CCH;<br />
DD;<br />
4ª ESTROFE: IIJ; CCJ; DD.<br />
Os versos, na maioria,<br />
são longos e têm caráter descritivo.<br />
Dentre os 32 versos que<br />
totalizam o poema, observamos<br />
que 09 deles são decassílabos.<br />
Esses, preferidos pelos poetas<br />
clássicos do século XVI, possuem<br />
um grande efeito musical. A<br />
partir dessa época, o decassílabo<br />
passou a ser enriquecido ritmicamente,<br />
com variantes de novos<br />
acentos em relação aos dois tipos<br />
iniciais. Veja como ele aparece<br />
no primeiro verso do dístico<br />
que funciona como refrão do<br />
poema “A Catedral”:<br />
E o sino canta em lúgubres<br />
responsos:<br />
“Pobre Alphonsus! Pobre<br />
Alphonsus!’<br />
Os dois versos têm tamanhos<br />
diferentes: dez e sete sílabas,<br />
respectivamente. Examinando<br />
o maior, verificamos que à<br />
medida que o lemos e o analisamos,<br />
encontramos novas variações<br />
rítmicas possíveis para este<br />
e para os outros tipos de versos.<br />
A partir da análise acima,<br />
ratificamos a concepção de<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
que a partir dos fins do século<br />
XIX, a simetria foi abolida das<br />
artes. Em poesia, os simbolistas<br />
deram os primeiros passos que<br />
culminaram na liberação rítmica<br />
do Modernismo. Em lugar da simetria,<br />
surge a irregularidade, o<br />
contraste, a dissonância, o efeito<br />
imprevisível ou inesperado.<br />
ESTRATO GRÁFICO<br />
O primeiro contato que<br />
temos com um poema escrito é a<br />
visão de sua configuração gráfica:<br />
na sua composição tem, uma<br />
cabeça e vários membros. A cabeça<br />
é o título, que engloba espacialmente<br />
as demais partes do<br />
poema, por estar por cima e numa<br />
posição de destaque. Neste poema<br />
que analisamos, o título é um<br />
elemento de determinação temporal,<br />
haja vista que a temática<br />
denota os 4 ciclos da vida : Infância<br />
– Juventude – Velhice –<br />
Morte.<br />
Leituras e releituras feitas,<br />
observamos que é constituído<br />
de uma série de coordenações<br />
e subordinações, ligadas ao conteúdo<br />
poemático sugerido pelo título.<br />
A função do título é semelhante<br />
à da etiqueta: serve para<br />
chamar a atenção do público, fazendo<br />
do texto uma mercadoria.<br />
Dessa forma, ao nos depararmos<br />
com a divisão estrófica, supomos<br />
que a cada uma estrofe<br />
corresponderá um movimento rítmico<br />
e ideológico do poema. a<br />
pontuação é outro elemento gráfico<br />
a ser notado, uma vez que<br />
ratificam expressões significativas<br />
que contribuirão para elucidar<br />
o significado do poema.
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
· ESTROFES<br />
Conforme observamos, o<br />
poema “Catedral” possui 12 estrofes<br />
que, distribuídas no poema:<br />
têm 4 partes, cada uma delas com<br />
2 tercetos e um dístico (refrão).<br />
O refrão facilita a memorização<br />
e tem papel rítmico importante em<br />
todas as épocas.<br />
Na primeira parte do<br />
poema, observamos que os 6 versos<br />
iniciais descrevem um nascimento<br />
e, consequentemente, um<br />
período da vida (infância); na<br />
segunda,a descrição altera-se, há<br />
um clima de alegria, de brilho, de<br />
êxtase, configurando, talvez o período<br />
mais lindo e glorioso da vida<br />
(juventude); na terceira, percebese<br />
um declínio, uma amargura : é<br />
um período triste da vida (velhice)<br />
e, finalmente, na 4ª parte, sucumbe<br />
toda a alegria inicial, todo<br />
o brilho de uma época que passa<br />
pelo momento angustiante de ver<br />
chegar um período da vida que<br />
traz consigo a certeza de um fim<br />
que se aproxima (morte). Não podemos<br />
deixar de citar a importância<br />
do refrão que, entre essas<br />
partes acima descritas, além de<br />
estabelecer um elo, invoca a atenção<br />
para o apelo que se torna, progressivamente,<br />
mais denso e forte,<br />
à medida que avançamos na<br />
leitura do poema. Um leitor atento<br />
percebe que há uma penúria,<br />
uma angústia sentida pelo poeta<br />
que, tem em seu lamento a tradução<br />
da dor sentida ao perceber<br />
a efemeridade dos ciclos da<br />
vida, culminando com a estrofe<br />
final que descreve a morte e o<br />
seu lamento ainda mais acentuado.<br />
·RIMAS<br />
O parentesco fônico entre<br />
as palavras do poema ora analisado<br />
corresponde ao esquema<br />
AAB; CCB; DD; EEF; CCF;<br />
DD; GGH; CCH; DD; IIJ;<br />
CCJ; DD., conforme citado anteriormente.<br />
Mergulhando no compasso<br />
da musicalidade destas palavras<br />
podemos observar que as<br />
rimas, são do tipo “Externas”, e<br />
constituem um grande efeito musical<br />
e rítmico em “CATE-<br />
DRAL”. Numa análise mais<br />
atenta, percebe-se que há semelhança<br />
das consoantes e vogais<br />
finais dos versos. Observemos a<br />
4ª estrofe:<br />
O céu é todo trevas: o vento<br />
uiva.<br />
Do relâmpago a cabeleira ruiva<br />
vem açoitar o rosto meu.<br />
E catedral ebúrnea do meu sonho<br />
Afunda-se no caos do céu medonho<br />
Como um astro que já morreu.<br />
E o sino geme em lúgubres<br />
responsos:<br />
‘‘Pobre Alphonsus! Pobre<br />
Alphonsus!<br />
Convencionou-se, para<br />
efeito de análise, que a cada rima<br />
corresponde uma letra do alfabeto,<br />
por exemplo:<br />
Nesta 4 a parte, composta<br />
por dois tercetos e um refrão,<br />
a rima é IIJ; CCJ; DD.<br />
Quanto à distribuição das<br />
rimas, ao longo do poema, notamos<br />
que há uma simetria perfeita,<br />
pois temos: rimas consoantes<br />
nos dois versos iniciais de<br />
cada terceto que se alternam com<br />
rimas toantes entre os versos de<br />
cada terceto e nos refrões. Dessa<br />
forma, podemos concluir que,<br />
conforme o modo como estão distribuídas<br />
no poema, apresentamse<br />
emparelhadas nos dois primeiros<br />
versos de cada terceto<br />
(AA, CC, DD, GG, II) e nos<br />
refrões (EE). Por outro lado, as<br />
rimas entre os terceiros versos e<br />
cada terceto são interpoladas.<br />
Quanto à posição do<br />
acento tônico, no decorrer do<br />
poema as rimas classificam-se:<br />
graves nos versos 1(aurora) e 2<br />
(evapora) ; 4(sonho) e 5 (risonho);<br />
7(responsos) e 8<br />
(Alphonsus); 9(estrada) e 10<br />
(cada); 12 (sonho) e 13 (ponho);<br />
15(responsos) e 16(Alphonsus);<br />
17(desce) e 18(prece); 20(sonho)<br />
e 21(tristonho); 23<br />
(responsos) e 24 (Alphonsus);<br />
25(uiva) e 26 (ruiva); 28 (sonho)<br />
e 29 (medonho); 31(responsos)<br />
e 32 (Alphonsus). Havendo rimas<br />
do tipo aguda apenas nos<br />
versos 3(arrebol) e 6(sol);<br />
11(luz) e 14(Jesus); 19(rezar) e<br />
22(luar), 27(meu) e 30(morreu).<br />
Sabendo-se que vale<br />
conceituar rima rica e rima pobre,<br />
temos: no primeiro, o critério<br />
do ponto de vista gramatical. Assim,<br />
comparando os termos que<br />
rimam, percebemos que ocorrem<br />
rimas “ricas” entre os versos<br />
1(substantivo) e 2(verbo); 4(substantivo)<br />
e 5(adjetivo); 9(substan-<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
7
tivo) e 10(pronome); 12(substantivo)<br />
e 13(verbo); 17(verbo) e<br />
18(substantivo); 20(substantivo) e<br />
21(adjetivo); 25(verbo) e 26(adjetivo);<br />
27(pronome) e 30(verbo);<br />
28(substantivo) e 29(adjetivo) e,<br />
nos versos 3 e 6; 7 e 8; 11 e 14;<br />
15 e 16; 19 e 22; 23 e 24; 31 e 32,<br />
as rimas são “pobres”, uma vez<br />
que ocorrem apenas entre substantivos.<br />
Pelo critério fônico, a<br />
rima pode ser rica ou pobre conforme<br />
a extensão dos sons semelhantes.<br />
No primeiro caso, a identificação<br />
começa antes da vogal<br />
tônica e no segundo, iguala-se às<br />
letras a partir de vogal tônica.<br />
Dessa forma, voltando ao poema,<br />
chegamos à seguinte conclusão:<br />
entre os versos 4 e 5, há a semelhança<br />
a partir da consoante que<br />
antecede a vogal tônica, daí porque<br />
consideradas rimas “ricas”.<br />
Nos demais versos a coincidência<br />
ocorre somente da vogal tônica<br />
em diante. Por isso são consideradas<br />
rimas “pobres”.<br />
FIGURAS DE EFEITO SO-<br />
NORO<br />
Aliteração: entre o título do<br />
poema e texto correspondente,<br />
podemos verificar uma<br />
relação que nos leva a perceber<br />
a divisão das 4 etapas<br />
pelas quais todos os seres<br />
passam neste mundo terreno.<br />
Em função disso, buscamos<br />
a possível ligação entre<br />
a repetição de consoantes no<br />
poema e o seu respectivo<br />
efeito e, consequentemente,<br />
sua contribuição para a significação<br />
do texto.<br />
8 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
Os números mais relevantes<br />
que encontramos<br />
correspondem às consoantes<br />
“S” e “R” que aparecem,<br />
respectivamente, num total<br />
de 72 e 55 vezes.<br />
Assonância: em relação à<br />
repetição da mesma vogal no<br />
poema, observamos a ocorrência<br />
de “O”, “E” e “A”,<br />
aparecendo, respectivamente,<br />
106,105 e 101. Essas,<br />
curiosamente, sobressaem-se<br />
em relação às semivogais<br />
“U”, num total de 49 vezes<br />
e, “I” que ocorre 21 vezes<br />
ao longo de todo o poema.<br />
O que se pode concluir é que<br />
a repetição das vogais dá um significado<br />
que sugere uma atmosfera<br />
clara e luminosa, no início.<br />
Já, as semivogais podem<br />
corresponder ao tom quimérico<br />
diante da transitoriedade da vida,<br />
que se evidencia no final do poema.<br />
Diante de todos estes detalhes,<br />
é evidente que as figuras<br />
sonoras de repetição não têm um<br />
sentido por si próprias, mas somam<br />
seu efeito à significação do<br />
poema, cujo título já sugere a<br />
musicalidade que vai percorrê-lo.<br />
Há, uma associação entre a métrica<br />
e as rimas que juntamente<br />
com as repetições de letras dão<br />
musicalidade e ritmo ao poema.<br />
É nesse contexto, que observamos<br />
as correspondências sonoras<br />
reforçando a correspondência<br />
entre os diferentes ciclos da<br />
vida:<br />
Canta a infância (aurora, orvalho)<br />
Clama a juventude (glorioso,<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
áurea, cintila)<br />
Chora a velhice (desce, esquiva,<br />
amargurada)<br />
Geme a morte (trevas, uiva,<br />
afunda-se )<br />
·REPETIÇÃO DE PALA-<br />
VRAS<br />
Onomatopéia: é uma tentativa<br />
de estabelecer uma relação<br />
estrita e não convencional<br />
entre o plano de expressão<br />
e o do conteúdo. A<br />
imitação do som natural da<br />
coisa significada é dada pela<br />
escolha e pela disposição dos<br />
fonemas, de modo que o<br />
significante (a massa sonora)<br />
remeta diretamente para<br />
o significado (a imagem mental):<br />
Pobre Alphonsus! Pobre<br />
Alphonsus! lembra-nos<br />
o vai e vem do sino a badalar<br />
na torre da igreja.<br />
Anáfora: é um dos recursos<br />
muito freqüentes. A análise<br />
dos recursos sonoros enriquece<br />
os demais aspectos e<br />
torna-os mais sugestivos dentro<br />
do poema. Nesse caso, a<br />
repetição dos versos 4, 12, 20<br />
e 28 : A catedral ebúrnea<br />
do meu sonho, enfatiza e<br />
valoriza sua contribuição para<br />
a compreensão do significado<br />
do poema; Já, nos versos<br />
7 (E o sino canta em lúgubres<br />
responsos), 15 (E o<br />
sino clama em lúgubres<br />
responsos), 23(E o sino<br />
chora em lúgubres<br />
responsos), e 31 (E o sino<br />
geme em lúgubres<br />
responsos), há de observarse<br />
que estes versos não são
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
totalmente repetidos, pois<br />
sofrem alterações na ação<br />
verbal. A essa mudança relacionamos<br />
o estado d’alma<br />
do poeta, diante da transformação<br />
que sofrem os ciclos<br />
da vida.<br />
A grande habilidade poética<br />
de Alphonsus Guimarães permite,<br />
através da troca dos verbos<br />
CANTA – CLAMA – CHO-<br />
RA – GEME, sugerir um clima<br />
de efemeridade. O poeta,<br />
astuciosamente, cria uma tensão<br />
ao permutar as ações verbais, tão<br />
temporárias quanto as fases de<br />
nossas vidas, de maneira a evidenciar<br />
a transitoriedade da vida.<br />
Dessa forma, ele tenta nos passar<br />
seus momentos de angústia<br />
diante de uma situação que não<br />
pode mudar. Não podemos deixar<br />
de observar que a mesma<br />
consoante que inicia o título do<br />
poema, também inicia os verbos<br />
que acompanham o substantivo<br />
SINO e que, diante das<br />
semivogais “I” e “E” assemelham<br />
ao som de “S” que, por sua<br />
vez inicia a palavra SINO. O<br />
SINO, que está diretamente ligado<br />
à <strong>CATEDRAL</strong>, está para o<br />
CORAÇÃO, assim como CA-<br />
TEDRAL está para o CORPO.<br />
Com a troca dos verbos indiciase<br />
o lamento pelo tempo que passa.<br />
A palavra GEME<br />
corresponde à agonia dos últimos<br />
momentos de vida das pessoas.<br />
NÍVEIS DO POEMA<br />
Buscando a interpretação<br />
do poema como uma uni-<br />
dade que compreende seus aspectos<br />
estruturais, procuramos,<br />
em separado, analisá-lo de maneira<br />
a desvelar, através de um<br />
leque de possibilidades que sua<br />
linguagem nos oferece, o seu significado.<br />
·NÍVEL LEXICAL<br />
“ A poesia é feita de palavras<br />
e a literariedade<br />
de um texto reside no<br />
uso específico que delas<br />
se faz. As palavras são,<br />
para o poeta, ao mesmo<br />
tempo signos e coisas.<br />
Elas designam não apenas<br />
as coisas, mas também<br />
a ação possível dessas<br />
coisas. Isso significa<br />
que a tendência funcional<br />
da linguagem poética<br />
é falar não ao nível<br />
dos conceitos, mas ao<br />
nível de realidades,<br />
presentificando os objetos<br />
denominados e mostrando-os<br />
sob um aspecto<br />
novo e surpreendente”.<br />
(D’ONOFRIO,<br />
1995, p. 21-22)<br />
Neste nível, vale nos<br />
prendermos ao vocabulário do<br />
texto, uma vez que é revelador<br />
da linguagem utilizada para a sua<br />
construção.<br />
Ao analisarmos este<br />
aspecto nos deparamos com uma<br />
linguagem coloquial, que somada<br />
ao uso dos substantivos em<br />
detrimento dos adjetivos e verbos,<br />
revela a grande preocupação com<br />
o ser. A predominância dos<br />
substantivos abstratos ratifica a<br />
temática do poema, haja vista que<br />
esses indicam generalização.<br />
Quanto aos tempos e<br />
modos verbais, verificamos que<br />
ao longo do poema ocorrem 17<br />
verbos no presente (marcando a<br />
proximidade da temática com o<br />
sujeito da enunciação) do<br />
indicativo (revelando que a<br />
temática trata de uma realidade<br />
pela qual todos nós passamos), 1<br />
na forma infinitiva e 1 no pretérito<br />
perfeito. A maioria dos verbos<br />
de ação indica o dinamismo com<br />
o qual há a evolução dos ciclos<br />
da vida.<br />
Pressupondo que a escolha<br />
das palavras utilizadas pelo<br />
poeta muito contribuirá para a<br />
nossa análise, adentraremos na<br />
relação entre cada uma delas, a<br />
forma como são usadas e o que<br />
sugerem, quando sozinhas.<br />
Inicialmente, precede-se<br />
o levantamento das categorias<br />
gramaticais: são 30 substantivos,<br />
sendo 29 comuns e apenas 1 próprio;<br />
dentre os 30, 17 são abstratos<br />
e 13 concretos. Vale destacar<br />
a ocorrência de 20 verbos (17<br />
no presente do indicativo, 1 na<br />
forma infinitiva e 1 no pretérito<br />
perfeito. Quanto aos artigos, temos<br />
22 definidos e indefinidos. Os<br />
pronomes presentes totalizam 14,<br />
sendo 6 possessivos. Há, apenas<br />
um advérbio de intensidade e 9<br />
preposições.<br />
Em cada estrofe observa-se<br />
a relação substantivo/adjetivo,<br />
ocorrendo sempre na mesma<br />
posição:<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
9
...o hialino orvalho... ( verso 2)<br />
...a catedral ebúrnea...( verso<br />
4)<br />
...do céu risonho...(verso 5)<br />
...lúgubres responsos... (verso<br />
7)<br />
...Pobre Alphonsus! Pobre<br />
Alphonsus...(verso 8)<br />
...astro glorioso...eterna estrada...<br />
(verso 9)<br />
...áurea seta... (verso 10)<br />
...Refulgente raio... (verso 11)<br />
...a catedral ebúrnea... (verso<br />
12)<br />
Após a observação da<br />
relação substantivo/adjetivo, concluímos<br />
que, apesar da preocupação<br />
com o ser em si e da idéia<br />
de dinamismo evidenciada pelos<br />
verbos de ação, há (através do<br />
uso de adjetivos — uma caracterização<br />
ou mais em cada verso,<br />
para cada substantivo), o que nos<br />
leva a perceber a estaticidade<br />
com a qual vemos acontecer a<br />
metamorfose em nossas vidas.<br />
Concluímos este breve<br />
estudo do estrato lexical observando<br />
que a poesia coloca as palavras<br />
em liberdade, dando privilégio<br />
ao léxico à custa da sintaxe.<br />
Assim:<br />
“A palavra (poética)<br />
nega a probabilidade estatística,<br />
frustra a expectativa<br />
que essa probabilidade<br />
estatística suscita<br />
em nós, e atesta ao mesmo<br />
tempo a escolha que<br />
cada poeta faz das palavras-chave,<br />
que determinam<br />
seu mundo. É,<br />
pois, verdadeiramente o<br />
léxico que traz a informação,<br />
e a sintaxe está<br />
subordinada a ele por<br />
10<br />
10<br />
10 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
princípio”. (131, p. 55)<br />
NÍVEL SINTÁTICO<br />
Observamos que o<br />
paralelismo não atinge apenas o<br />
estrato sintático, mas é o princípio<br />
onipresente da poesia, que se<br />
caracteriza pelo ritmo da repetição.<br />
Todas as homofonias (da<br />
rima ao refrão, constituído pela<br />
repetição de versos no início ou<br />
fim de uma estrofe) são<br />
paralelismos sonoros; todas as<br />
repetições de idéias ou sentimentos,<br />
que dão origem a isotopias,<br />
podem ser consideradas<br />
paralelismos semânticos.<br />
Ao organizar os versos<br />
deste poema, Alphonsus Guimarães,<br />
o fez da seguinte forma:<br />
Na primeira estrofe, o<br />
primeiro verso termina com um<br />
ponto final, denotando uma pausa<br />
maior que a vírgula. Neste<br />
caso marca o verso introdutório<br />
do poema; o verso 2 termina com<br />
uma vírgula que assinala a interrupção<br />
de um seguimento natural<br />
das idéias e se intercala um<br />
juízo de valor ou uma reflexão<br />
subsidiária; o 3 º verso, com um<br />
ponto final conclui a oração anterior<br />
e o 1 º terceto, da 1 ª estrofe<br />
que descreve o primeiro ciclo de<br />
nossas vidas. O 4 º verso inicia<br />
uma oração, por isso não tem<br />
pontuação, ocorre apenas uma<br />
pausa, talvez para dar tempo ao<br />
poeta de organizar as idéias e<br />
conceber o próximo verso, pontuado<br />
com uma vírgula que tem<br />
a mesma função daquela que<br />
aparece no verso 2.<br />
Para concluir a 1 ª estrofe,<br />
temos um refrão com dois<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
versos: o primeiro delimitado por<br />
dois pontos indicando que será<br />
seguido de uma quebra da seqüência<br />
das idéias e de expressão<br />
seguida de um pensamento<br />
difícil que é concluído com um<br />
ponto de exclamação traduzindo<br />
um enunciado denotativo da<br />
gradação da surpresa sentida pelo<br />
poeta.<br />
A mesma pontuação é<br />
utilizada nas estrofes seguintes,<br />
apenas diferem quanto à posição<br />
dos versos, mas a intenção é a<br />
mesma no que se refere ao sentido<br />
que dão ao significado do<br />
poema.<br />
A disposição gráfica do<br />
texto distribui-se em frases que<br />
ora apresentam-se isoladas e ora<br />
formam orações e até períodos<br />
longos, como acontece com a 3ª<br />
estrofe:<br />
A catedral ebúrnea do meu<br />
sonho<br />
Aparece, na paz do céu<br />
tristonho,<br />
Toda branca de luar<br />
O paralelismo que está<br />
presente neste poema salta aos<br />
nossos olhos. Tomemos como<br />
exemplo a 1 ª e a 2ª estrofes:<br />
Entre brumas, ao longe,<br />
surge a aurora,<br />
O hialino orvalho aos poucos<br />
se evapora,<br />
Agoniza o arrebol.<br />
A catedral ebúrnea do meu<br />
sonho<br />
Aparece, na paz do céu<br />
risonho,<br />
Toda branca de sol.
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
E o sino canta em lúgubres<br />
responsos:<br />
Pobre Alphonsus !Pobre<br />
Alphonsus!’<br />
O astro glorioso segue a<br />
eterna estrada.<br />
Uma áurea seta lhe cintila<br />
em cada<br />
Refulgente raio de luz.<br />
A catedral ebúrnea do meu<br />
sonho,<br />
Onde os meus olhos tão<br />
cansado ponho,<br />
Recebe a bênção de Jesus.<br />
E o sino clama em lúgubres<br />
responsos:<br />
Pobre Alphonsus! Pobre<br />
Alphonsus!’<br />
Note que nos versos 5,<br />
21 e 29, há a mesma construção<br />
de substantivo (céu) alterando<br />
apenas a caracterização (risonho<br />
/ tristonho / medonho) — denotando<br />
a gradativa mudança de<br />
humor à medida em que os ciclos<br />
da vida vão passando de uma<br />
fase para outra; nos versos 4, 12,<br />
20 e 28, o sujeito e o predicado é<br />
o mesmo; os versos 8, 16, 24 e<br />
32, são refrões e, portanto, repetem-se<br />
completamente quanto à<br />
construção sintática; nos versos<br />
7, 15, 23 e 31, o sujeito e o<br />
predicado são os mesmos, sendo<br />
que ocorre uma variação na ação<br />
verbal. A todo esse paralelismo,<br />
atribuímos a idéia dos movimentos<br />
repetitivos da batida do sino<br />
da catedral. O sino, nada mais é<br />
do que uma metáfora de nosso<br />
coração, pulsando em nosso cor-<br />
po. As variações observadas dentro<br />
desse paralelismo nos remetem<br />
à mudança que ocorre de<br />
uma estrofe para outra, denotando<br />
e ratificando os quatro ciclos<br />
de nossas vidas.<br />
Ao observarmos o<br />
paralelismo nos refrões, facilmente<br />
percebemos a onomatopéia<br />
que o constitui e a relacionamos<br />
com o ir e vir do sino durante as<br />
batidas no alto da catedral. Nesse<br />
caso, a sinestesia apela à nossa<br />
audição e também à nossa visão.<br />
Ainda tratando do<br />
paralelismo, podemos observar e<br />
destacar as inversões sintáticas,<br />
que certamente contribuirão para<br />
nos levar ao caminho da interpretação<br />
do significado do poema.<br />
Assim, de volta ao poema, citamos:<br />
Qualquer inversão da<br />
posição natural dos sintagmas na<br />
frase chama a atenção sobre o<br />
texto e cria um efeito de<br />
estranhamento, denunciando a<br />
função poética da linguagem. A<br />
retórica clássica denominou<br />
hipérbato a figura que consiste em<br />
deslocar um elemento frásico de<br />
seu lugar habitual. Nos versos 2,<br />
10, 11 e 27, respectivamente temos:<br />
hialino orvalho, áurea<br />
seta, refulgente raio, amargurada<br />
prece. A antecipação do<br />
adjetivo em relação ao substantivo<br />
cria uma tensão na seqüência<br />
da construção desta relação, que<br />
na maioria das vezes ocorre de<br />
forma comum (substantivo +<br />
adjetivo), ao longo do poema.<br />
Neste caso, o hipérbato é provocado<br />
pela anástrofe (anteposição<br />
do determinante ao determinado).<br />
No verso 26,...Do relâmpago<br />
a cabeleira ruiva..., o<br />
objeto direto antecede o sujeito;<br />
já no verso 27, ...rosto meu...,<br />
temos a antecipação do substantivo<br />
em relação ao pronome possessivo.<br />
O hipérbato presente no<br />
verso 13 é bastante claro, pois<br />
temos...onde os meus olhos<br />
tão cansado ponho..., quando<br />
deveria ser “onde ponho os meus<br />
olhos tão cansado”.<br />
No primeiro terceto da 3ª<br />
estrofe observa-se: Por entre<br />
lírios e lilases desce / A tarde<br />
esquiva: amargurada prece /<br />
Põe-se a lua a rezar, a seqüência<br />
lógica seria “A tarde esquiva<br />
desce / por entre lírios e lilases /<br />
Põe-se a lua a rezar : amargurada<br />
prece”. Nota-se que há uma<br />
completa inversão de ordem. O<br />
poeta preferiu iniciar a estrofe<br />
com as preposições (por entre),<br />
colocando em evidência um cenário<br />
típico do crepúsculo, do<br />
entardecer. Nessa referência, a<br />
sinestesia apela à nossa visão,<br />
fazendo-nos perceber o coração<br />
angustiado do poeta.<br />
Na variação do verbo<br />
que segue a palavra sino, uma<br />
gradação: verso 7: o sino canta<br />
(cantar sugere alegria, inclusive<br />
nos remete ao ditado popular :<br />
“quem canta, seus males espanta”);<br />
verso 15 : o sino clama (<br />
clamar sugere apelo); verso 23 :<br />
o sino chora (chorar remete à<br />
tristeza); verso 31 : o sino geme<br />
(gemer lembra dor). Para cada<br />
um desses verbos há uma correspondência<br />
quanto às fases de<br />
nossas vidas:<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
11<br />
11
Cantar ............ Infância<br />
Clamar ............ Juventude<br />
Chorar ............ V elhice<br />
Gemer ............ M o r t e<br />
Unindo essas idéias, facilmente<br />
percebemos que o poema<br />
está dividido em quatro partes<br />
reveladoras da correspondência<br />
acima disposta. Curiosamente,<br />
à medida em que vamos descobrindo<br />
cada uma dessas correspondências,<br />
vamos nos dando<br />
conta de que, em “CATE-<br />
DRAL”, nada está escrito por<br />
acaso. Nas 3 primeiras estrofes,<br />
os verbos estão no presente do<br />
indicativo e, apenas na última, temos<br />
o verbo “morrer” no pretérito<br />
perfeito. Com essa tensão,<br />
provocada pela mudança brusca<br />
no tempo verbal, denota-se todo<br />
o clima angustiante e porque não<br />
dizer “medonho”, revelando o<br />
pavor que a maioria das pessoas<br />
têm da morte. Morte: a reta final<br />
de todos nós; a única certeza que<br />
temos na vida. A morte é o fim<br />
do qual gostaríamos de nos manter<br />
distantes - daí porque o<br />
distanciamento (marcado pela<br />
presença do verbo no passado)<br />
entre o texto e o presente, (marcado<br />
pelos verbos no presente do<br />
indicativo) que vivemos certos de<br />
que um dia passaremos pelos<br />
momentos angustiantes da reta<br />
final de nossas vidas. Após a tristeza<br />
e a dor do fim de tudo, o<br />
poema é encerrado com o efeito<br />
de perplexidade revelada pela exclamação<br />
dirigida ao Pobre<br />
Alphonsus! Pobre Alphonsus,<br />
que pode ser uma metonímia de<br />
todos nós, seres vivos.<br />
12<br />
12<br />
12 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
· ENCADEAMENTO OU<br />
“ENJAMBMENT”<br />
O verso, sendo um segmento<br />
do discurso poético, estabelece<br />
uma pausa fônica e semântica<br />
própria, independente<br />
das pausas fônicas e semânticas<br />
exigidas pelas normas de pontuação<br />
e de sintaxe do discurso prosaico.<br />
A palavra final de um verso<br />
é posta em ênfase e, especialmente<br />
se rimada, entra em relação<br />
de semelhanças ou<br />
dessemelhanças com as palavras<br />
terminais de outros versos.<br />
Em outras palavras, no<br />
texto poético há uma correlação<br />
intrínseca entre a estrutura da<br />
expressão e a estrutura do conteúdo,<br />
o que confere ao verso uma<br />
certa autonomia quanto às regras<br />
sintáticas e semânticas da linguagem<br />
comum. A poesia<br />
versificada, especialmente da<br />
época do Romantismo e do Simbolismo,<br />
tenta quebrar o<br />
paralelismo dono-semântico<br />
do discurso normal, em virtude do<br />
qual todo segmento de sentido<br />
coincide com uma pausa fônica,<br />
expressa graficamente pela pontuação.<br />
Esse paralelismo é rompido<br />
pela não-correspondência do<br />
corte do verso com o corte da<br />
frase, o que a linguagem retórica<br />
chama de enjambment,<br />
encavalgamento ou encadeamento:<br />
a pausa fônica final do verso<br />
separa aquilo que sintática e semanticamente<br />
é inseparável — o<br />
sujeito do verbo, o verbo do seu<br />
objeto, o adjetivo do substantivo,<br />
o artigo do nome. A unidade<br />
fônica do verso, contrariando a<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
pausa gramatical, confere à palavra<br />
destacada pelo<br />
enjambement uma nova funcionalidade<br />
sintática e um sentido<br />
conotativo: a palavra final do verso<br />
28, sonho, está separada gráfica<br />
e fonicamente de seu verbo<br />
afunda-se, enquanto se liga<br />
fonicamente, pela rima, com o<br />
substantivo medonho. Isso faz<br />
com que afunda-se enfraqueça<br />
sua função de verbo e adquira<br />
uma nuance de sujeito<br />
indeterminado, marcado pelo se<br />
— índice de indeterminação do<br />
sujeito: com isso — como é característico<br />
dos simbolistas, o<br />
poeta sugere ao invés de revelar<br />
quem afunda-se no caos do<br />
céu medonho. Ele aguça a imaginação<br />
do leitor que, por sua vez<br />
terá que tirar as próprias conclusões.<br />
Isso ocorre, graças ao<br />
enjambement, que cria uma ambigüidade<br />
de leitura no texto poético:<br />
um poema pode ser lido segundo<br />
as pausas estabelecidas<br />
pela pontuação e pelo sentido<br />
denotativo ou segundo as pausas<br />
intermediárias e finais do verso.<br />
25 O céu é todo trevas: o<br />
vento uiva.<br />
26 Do relâmpago a cabeleira<br />
ruiva<br />
27 Vem açoitar o rosto<br />
meu.<br />
28 E catedral ebúrnea do meu<br />
sonho<br />
29 Afunda-se no caos do céu<br />
medonho<br />
30 Como um astro que já<br />
morreu.
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
31 E o sino geme em lúgubres<br />
responsos:<br />
32 ‘‘Pobre Alphonsus! Pobre<br />
Alphonsus!<br />
A última estrofe apresenta<br />
uma sintaxe e uma pontuação<br />
ligando os versos: o primeiro<br />
verso introduz um pensamento<br />
concluído e por isso é pontuado<br />
com um ponto final. Entretanto,<br />
vale destacar a interessante pontuação<br />
bem no meio desse verso:<br />
O poeta afirma que o céu é todo<br />
trevas e em seguida coloca dois<br />
pontos, dando-nos indícios de<br />
que logo após fará uma<br />
complementação de sua idéia (o<br />
mesmo ocorre com o verso 18: a<br />
tarde esquiva: amargurada<br />
prece). O verso 26 termina com<br />
uma pausa pela necessidade da<br />
métrica e do ritmo. Em seguida,<br />
vem o seu complemento demarcado<br />
por um ponto final, dandolhe<br />
sentido completo.<br />
Entre os versos 28, 29 e<br />
30, há uma seqüência de idéias<br />
que se completam à medida que<br />
estes se dispõem. Por essa razão,<br />
não há pontuação entre os<br />
versos 28 e 29, apenas o verso<br />
30 é pontuado com um ponto final<br />
confirmando a complementação<br />
da idéia.<br />
Já nos versos 31 e 32 há<br />
pontuação: o primeiro aparece<br />
demarcado com dois-pontos, demonstrando<br />
a intenção de uma<br />
expressão seguinte que completará<br />
essa idéia. É o que acaba<br />
acontecendo com o verso 32 que<br />
finaliza com um ponto de exclamação.<br />
Surge, portanto, uma espécie<br />
de choque entre o som<br />
(completo), a organização sintática<br />
e o sentido (ambos incompletos).<br />
Ou seja: tensão. Geralmente<br />
o encadeamento produz<br />
uma relação bastante complexa<br />
entre esses níveis, resultando em<br />
ambigüidade de sentido. Atente<br />
para os encadeamentos na estrofe<br />
inicial do poema:<br />
28 E catedral ebúrnea do meu<br />
sonho<br />
29 Afunda-se no caos do céu<br />
medonho<br />
30 Como um astro que já<br />
morreu.<br />
Nos versos exemplificados,<br />
o termo colocado no final<br />
sofre uma espécie de redução em<br />
seu sentido, pelo “enjambement”<br />
que os liga pela sintaxe e pelo<br />
sentido do verso seguinte. No<br />
conjunto dos versos, há uma relação<br />
bastante complexa,<br />
sugerida pela ambigüidade que<br />
será ampliada pelo contraste sugerido<br />
entre as palavras SO-<br />
NHO X MEDONHO. Ora,<br />
quando ouvimos falar em sonho,<br />
rapidamente temos a idéia de<br />
momentos maravilhosos que passamos<br />
enquanto dormimos, ou<br />
enquanto acordados e nos vemos<br />
realizando ideais para nossas vidas.<br />
Por outro lado, a palavra<br />
medonho tem todo um sentido<br />
contrastante em relação à palavra<br />
sonho. Na verdade, está mais<br />
para pesadelo do que para sonho.<br />
Logo, ao rimar as duas palavras,<br />
o poeta aproxima duas idéias contrárias,<br />
criando uma situação<br />
marcada pela antítese SONHO<br />
X MEDONHO ao descrever o<br />
momento final de nossas vidas.<br />
Achamos importante res-<br />
saltar outras situações semelhantes<br />
nos versos:<br />
25 (trevas) X 26 (relâmpago)<br />
28 (ebúrnea) X 30 (astro)<br />
1 (aurora) X3 (agoniza)<br />
No conjunto, é notória<br />
uma certa ambigüidade motivada<br />
pelas relações estabelecidas<br />
entre esses versos. Mais uma vez,<br />
a antítese amplia a tensão<br />
sugerida pelos encadeamentos,<br />
instaurando duplicidade de sentido,<br />
na medida em que se associam<br />
aspectos contraditórios para<br />
descrever uma mesma paisagem.<br />
· NÍVEL SEMÂNTICO<br />
Sem dúvida, o nível mais<br />
importante da análise poemática<br />
é o semântico, haja vista que a<br />
finalidade última durante o estudo<br />
da literatura é captar a significação<br />
( ou as várias possibilidades<br />
de significações ) de um texto<br />
poético. Segundo Roland Barthes,<br />
a significação não é apreensível<br />
nem pelas formas nem pelos conteúdos,<br />
mas pelo “processo” que<br />
vai de umas a outros. Por isso,<br />
não basta ter realizado apenas o<br />
estudo dos tropos fônicos, lexicais<br />
e sintáticos, se não completá-lo<br />
com o estudo dos tropos semânticos.<br />
· FIGURAS DE LINGUA-<br />
GEM<br />
É imprescindível, neste<br />
nível, observarmos e comentarmos<br />
algumas figuras cuja presença<br />
no poema pode implicar importantes<br />
efeitos semânticos.<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
13<br />
13
1. Comparação: é uma figura<br />
que aproxima dois termos,<br />
através da locução conjuntiva<br />
“como”, “assim como”, “tal”,<br />
“qual”, e outras do mesmo<br />
tipo. Como exemplo, citamos<br />
o verso 30: como um astro<br />
que já morreu. O poeta<br />
aproxima a catedral (corpo<br />
/ terreno), dos astros (espacial),<br />
através do “como”.<br />
2. Sinestesia: é o recurso que<br />
sugere associação de diferentes<br />
impressões sensoriais,<br />
ou seja, sugestões ligadas aos<br />
cinco sentidos: visão, tato,<br />
audição, olfato, paladar. O<br />
poema <strong>CATEDRAL</strong>, como<br />
não poderia deixar de ser —<br />
haja vista que é simbolista —<br />
é repleto de idéias que aguçam<br />
os nossos sentidos. Vejamos:<br />
Logo na primeira parte<br />
temos: BRUMAS, CANTA,<br />
AURORA, ORVALHO, EVA-<br />
PORA, ARREBOL, BRAN-<br />
CA, SOL; na segunda, podemos<br />
destacar: ASTRO, ÁUREA<br />
SETA, CLAMA, REFUL-<br />
GENTE, RAIO DE LUZ,<br />
BÊNÇÃO; na terceira: LÍRIOS<br />
LILASES, TARDE, CHORA,<br />
LUA, REZAR, LUAR, e na 4 a .:<br />
TREVAS, VENTO, RELÂM-<br />
PAGO, GEME, CABELEIRA<br />
RUIVA, AÇOITAR O ROS-<br />
TO MEU. Todas essas palavras<br />
que destacamos fazem-nos sentir,<br />
ouvir, cheirar e ver toda a paisagem<br />
do cenário descrito pelo<br />
poeta: o nascer luminoso (infância),<br />
traz a sensação do perfume<br />
da natureza orvalhada e à sensa-<br />
14<br />
14<br />
14 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
ção da luz (o vigor da juventude)<br />
e do aroma se acrescenta à da<br />
cor (na terceira parte o cenário é<br />
de um crepúsculo) e do som (das<br />
badaladas de um sino que anuncia<br />
a morte de alguém, principalmente<br />
nos interiores).<br />
Dentre todos os exemplos<br />
dados, citamos em separado,<br />
o principal que configura toda<br />
a sinestesia sugerida no poema:<br />
SINO. Com o simples ouvir dessa<br />
palavra, associando-se ao refrão<br />
do poema, facilmente construímos<br />
a cena de um sino tocando<br />
no alto da torre de uma igreja.<br />
3. Metáfora: é a metáfora por<br />
excelência que contém o<br />
mais alto grau de poeticidade,<br />
utilizada especialmente pelos<br />
poetas simbolistas. Consiste<br />
numa associação de sensações<br />
numa relação subjetiva<br />
entre uma percepção e outra<br />
que pertença ao domínio<br />
de um sentido diferente. De<br />
maneira simplificada, podese<br />
compreender a metáfora<br />
como uma comparação abreviada,<br />
ou seja, da qual se retirou<br />
a expressão “como” ou<br />
similar. O poema em análise<br />
representa uma grande metáfora:<br />
o homem e as quatro<br />
etapas de sua vida. Vejamos:<br />
Catedral Corpo<br />
Aurora Nascer<br />
Sino Coração<br />
Astro glorioso O homem<br />
jovem,<br />
cheio de<br />
vitalidade<br />
Tarde esquiva Envelhecimento<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
O céu é todo<br />
trevas A escuridão<br />
da morte<br />
(desconhecida)<br />
4. Metonímia: é o emprego de<br />
um termo por outro, numa<br />
relação de ordem. Em CA-<br />
TEDRAL, percebe-se que<br />
na verdade toda a situação<br />
descrita pelo poeta, ou seja,<br />
a transitoriedade da vida,<br />
configura uma metonímia<br />
daquilo que é sentido por todos<br />
nós.<br />
5. Antítese: é a aproximação<br />
de idéias contrárias. Retomando<br />
o poema, destacamos<br />
como antítese: SONHO X<br />
MEDONHO, na qual há a<br />
aproximação de um substantivo<br />
que significa, normalmente,<br />
uma coisa boa, com<br />
um adjetivo que se opõe a<br />
essa idéia uma vez que tem<br />
em seu significado uma situação<br />
ruim, pavorosa.<br />
6. Apóstrofe: geralmente<br />
acompanhada pela exclamação<br />
(que pode ser considerada,<br />
em alguns casos, outra<br />
figura retórica), é uma interpelação<br />
direta e inopinada a<br />
elementos do mundo real ou<br />
imaginário, animados ou inanimados,<br />
ou a si próprio, para<br />
expressar uma emoção viva<br />
e profunda que de repente<br />
invade o espírito do narrador.<br />
Essa figura configura-se no<br />
poema em análise, exatamente<br />
nos refrões, quando o poeta<br />
expressa todo o seu lamento.
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
7. Prosopopéia ou personificação:<br />
consiste no fato de<br />
atribuir características de<br />
seres vivos a seres inanimados.<br />
Podemos destacar essa<br />
figura dentro do poema nos<br />
seguintes versos: (v.3) Agoniza<br />
o arrebol; (v. 5) Aparece,<br />
na paz do céu risonho;<br />
(v. 7)E o sino canta em<br />
lúgubres responsos; (v.<br />
19) Põe-se a lua a rezar;<br />
(v. 21) Aparece, na paz do<br />
céu tristonho; (v. 25) céu<br />
é todo trevas: o vento<br />
uiva; (v.26 e 27)Do relâmpago<br />
a cabeleira ruiva /<br />
Vem açoitar o rosto meu.<br />
Neste aspecto, supomos que,<br />
ao personificar seres inanimados,<br />
a idéia do poeta é<br />
enfatizar mais ainda a transitoriedade<br />
das fases de nossas<br />
vidas. É como se ele quisesse<br />
nos mostrar que a vida<br />
corre tal qual o tempo.<br />
8. Inversão: é uma alteração<br />
da ordem normal dos termos<br />
na oração ou das orações no<br />
período. Podemos verificar<br />
que ocorre inversão no verso<br />
17: Por entre lírios e lilases<br />
desce / 18; A tarde<br />
esquiva: amargurada prece<br />
/ 19: Põe-se a lua a rezar.<br />
Acreditamos poder afirmar<br />
que a essa inversão remetese<br />
a idéia do término de uma fase<br />
que coincide com o início de outra,<br />
revelando uma tensão causada<br />
pela mudança.<br />
9. Alegoria: constituída de uma<br />
metáfora ou de uma série de<br />
metáforas nas quais a<br />
imagem, mais do que uma<br />
função estética tem a<br />
finalidade de revelar um<br />
sentimento oculto. A alegoria<br />
é formada por uma cadeia<br />
simbólica, definindo-se o<br />
símbolo como um signo que,<br />
por natureza, forma ou<br />
convenção, representa e<br />
evoca, num determinado<br />
contexto, outra coisa ausente<br />
e abstrata (bandeira ><br />
símbolo da pátria; pomba ><br />
paz; cruz > cristianismo,<br />
etc.).<br />
Atentemos para a palavrachave<br />
do poema: SINO, nela<br />
percebe-se a alegoria das igrejas,<br />
uma vez que é utilizado para<br />
chamar a atenção dos fiéis.<br />
ESTABELECENDO RELA-<br />
ÇÕES<br />
<strong>CATEDRAL</strong>, de autoria de<br />
Alphonsus Guimarães tem em<br />
todos os seus aspectos estruturais<br />
características ligadas ao<br />
Simbolismo. A riqueza em sugestões<br />
rítmicas é observável logo<br />
nos seus primeiros versos, sobretudo,<br />
na seleção vocabular que<br />
enfatiza a musicalidade inerente<br />
às palavras, principalmente quando<br />
colocadas numa criteriosa harmonia<br />
fônica. Não bastando isso,<br />
podemos associar ao aspecto rítmico,<br />
todo um jogo de palavras<br />
que constitui o parentesco sonoro,<br />
o uso de figuras de linguagem,<br />
bem como o paralelismo predominante.<br />
Nesse aspecto, podemos<br />
verificar que a maior ocorrência<br />
da consoante “S”, deve-se à sua<br />
ligação com a palavra-chave do<br />
poema: SINO. O sino que, ale-<br />
goricamente corresponde a igreja,<br />
ambiente religioso — já sugerido<br />
a partir do título do poema.<br />
O simbolismo do sino está ligado,<br />
sobretudo, à percepção do som.<br />
Na Índia, por exemplo, ele simboliza<br />
ouvido, e aquilo que o ouvido<br />
percebe, o som, que é reflexo<br />
da vibração primordial. Assim<br />
a maior parte dos sons percebidos,<br />
por ocasião das experiências<br />
de ioga, são sons de sinos. No<br />
Islã, a repercussão do sino é o<br />
som sutil da revelação corânica,<br />
a repercussão do Poder Divino<br />
na existência: a percepção do<br />
ruído do sino dissolve as limitações<br />
da condição temporal. Sem<br />
dúvida, o sino simboliza o apelo<br />
divino ao estudo da lei, a obediência<br />
à palavra divina, sempre<br />
uma comunicação entre o céu e<br />
a terra. A maior incidência da sílaba<br />
forte sobre a vogal “E”,<br />
quando unida com a aliteração do<br />
“S”, sugere-nos o ecoar das batidas<br />
do sino: bem-be-lelém...<br />
bem-be-lelém.<br />
Um fator importante a destacar<br />
refere-se ao trocar progressivo<br />
dos verbos que acompanham<br />
a palavra SINO: Canta – Clama<br />
– Chora – Geme. A intenção<br />
do poeta é justamente estabelecer<br />
uma progressão que denota<br />
a transitoriedade das fases<br />
de nossas vidas: infância – juventude<br />
– velhice – morte.<br />
Observando o aspecto semântico<br />
do poema e fazendo a<br />
análise da simbologia dos elementos<br />
que a compõem temos, além<br />
dos acima citados, outros que<br />
certamente influenciarão na busca<br />
de seu significado. Vejamos:<br />
A partir da aliteração do “S”,<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
15<br />
15
surge a idéia de movimento, vivacidade.<br />
Essa palavra, ao ser<br />
repetida 72 vezes no poema e<br />
associada ao “R” que está presente<br />
55 vezes, marca a sonoridade<br />
que permeia a atmosfera que<br />
prevalece no poema: Rapidez no<br />
passar de uma fase da vida para<br />
outra.<br />
Com a presença de identidade<br />
sonora de construção, pudemos<br />
concluir que essa combinação<br />
estabelece aproximações que<br />
sugerem vários significados e associações,<br />
como na 1ª estrofe:<br />
Aurora Evapora<br />
Sonho Risonho<br />
Responsos Alphonsus<br />
Arrebol Sol<br />
A primeira parte tem<br />
como cenário um ambiente no<br />
qual ocorre um nascimento. Entre<br />
brumas, que assim como o<br />
nevoeiro é símbolo do<br />
indeterminado, de uma fase de<br />
evolução: quando as formas não<br />
se distinguem ainda, surge a aurora.<br />
Sempre jovem, caminha<br />
cumprindo seu destino e vê sucederem-se<br />
as gerações. Cada<br />
manhã, todavia, ela está ali, símbolo<br />
de todas as possibilidades,<br />
signo de todas as promessas, trazendo<br />
consigo o início da vida,<br />
uma origem: a infância. A aurora<br />
anuncia e prepara o desabrochar<br />
das colheitas, assim como a<br />
juventude anuncia e prepara o<br />
homem. Símbolo de luz e de plenitude<br />
prometida, a aurora jamais<br />
cessa de ser a esperança em<br />
cada um de nós. A relação sonora<br />
entre essa palavra e<br />
evapora(que significa emitir, exalar<br />
vapores), aguça o nosso olfa-<br />
16<br />
16<br />
16 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
to, fazendo-nos sentir o doce aroma<br />
de um amanhecer. Tudo isso<br />
nos leva a identificar, metaforicamente,<br />
o primeiro período de<br />
nossas vidas: a infância. A relação<br />
hialino orvalho, bem caracteriza<br />
esse período,haja vista que<br />
a combinação do determinante<br />
(hialino) dá a idéia de transparência,<br />
de clareza que se opõe ao<br />
tom rubro do céu ao entardecer<br />
(arrebol), caracterizando o determinado<br />
(orvalho), como a expressão<br />
da bênção celeste, que<br />
representa essencialmente a graça<br />
vivificante. Ou seja, na infância<br />
somos puros, inocentes, transparentes<br />
e vivemos tranqüilamente.<br />
Sem nenhuma malícia deixamos<br />
fluir nossos sonhos encantados<br />
sem sequer nos darmos contar<br />
de que um dia morreremos.<br />
É, talvez, o período mais iluminado<br />
de nossas vidas. A paz reina<br />
em nossos corações.<br />
Observando o aspecto semântico<br />
como um todo, vemos na<br />
comparação ( “o como”) a aproximação<br />
entre <strong>CATEDRAL</strong> e<br />
ASTRO, estabelecendo a seguinte<br />
relação: a Catedral (Igreja)<br />
é comparada a uma imagem<br />
de mulher, semelhante a uma cidade.<br />
Ostenta na cabeça uma<br />
maravilhosa coroa. De seus braços<br />
descem rios de glórias, que<br />
vêm do céu à terra. A igreja abriga<br />
em seu seio todos os justos,<br />
desde Abel até o último dos justos.<br />
Já o ASTRO, participa das<br />
qualidades de transcendência e de<br />
luz que caracterizam o céu, com<br />
um matiz de regularidade inflexível,<br />
comandada por uma razão<br />
natural e misteriosa ao mesmo<br />
tempo. São animados por um<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
movimento circular representando<br />
o sinal da perfeição. Os astros<br />
são símbolos do comportamento<br />
perfeito e regular, como<br />
também de uma inacessível e distante<br />
beleza. Assim, a catedral é<br />
para o poeta o que o astro é para<br />
o homem: a certeza de segurança,<br />
uma possibilidade de relação<br />
intrínseca com o céu. O céu, por<br />
sua vez é um símbolo pelo qual<br />
se exprime a crença em um Ser<br />
Divinamente Celestial. Pelo simples<br />
fato de ser elevado, de encontrar-se<br />
em cima, equivale a<br />
ser poderoso (no sentido da palavra<br />
religiosa). Muitas vezes, representado<br />
pelo coração do homem.<br />
O céu é universalmente, o<br />
símbolo dos poderes superiores<br />
ao homem, benevolentes ou temíveis.<br />
Emprega-se a palavra<br />
céu, com freqüência, para significar<br />
o absoluto das aspirações do<br />
homem, como a plenitude da sua<br />
busca, como o lugar possível de<br />
uma perfeição do seu espírito,<br />
como se o céu fosse o espírito<br />
do mundo.<br />
Estrada Cada<br />
Sonho Ponho<br />
Luz Jesus<br />
Responsos Alphonsus<br />
Nesta segunda estrofe,<br />
temos a relação com uma etapa<br />
de nossas vidas, na qual começamos<br />
a nos interessar por muitas<br />
coisas que não atentamos na<br />
infância. A juventude prepara<br />
para a maturidade. Com ela vem<br />
a necessidade de traçar nossos<br />
próprios caminhos, planos e objetivos<br />
de vida. É quando pomos<br />
o vigor de nossa idade em tudo<br />
quanto realizamos no intuito de
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
conseguirmos o que queremos.<br />
Como cristãos clamamos Jesus,<br />
filho de Deus, para que interceda<br />
por nós junto aos céus e Deus nos<br />
abençoe e guie segundo a sua<br />
vontade.<br />
Na expressão ...áurea<br />
seta lhe cintila em cada Refulgente<br />
raio de luz..., destacamos<br />
o raio como uma manifestação<br />
das vontades e do poder infinito<br />
do Deus supremo. A luz por<br />
ele irradiada vem em direção a<br />
nossa juventude simbolizando valores<br />
complementares ou<br />
alternantes da evolução da infância<br />
para a juventude, e caracterizando<br />
uma evidente intervenção<br />
do Deus Celestial. A luz traz consigo<br />
o calor que dá a vida. Num<br />
plano espiritual a luz da graça fecunda<br />
o coração da criatura chamada<br />
por Deus. Assim, na relação<br />
sonora estabelecida entre<br />
Jesus e Luz, temos Jesus como<br />
a luz do mundo. Ou seja, Deus o<br />
guiou para nos salvar; a luz de<br />
Deus espalha beleza e pureza<br />
sobre as mais baixas faculdades<br />
da alma humana. A luz ilumina<br />
os nossos caminhos, e para que<br />
sejamos virtuosos, clamamos as<br />
bênçãos de nosso Pai do Céu.<br />
Ainda nesta parte, ao<br />
observarmos a relação catedral<br />
ebúrnea / meu sonho / na paz<br />
do céu risonho / toda de branca<br />
de sol, concluímos que: na<br />
primeira, catedral é adjetivada<br />
pela palavra ebúrnea, revelandoa<br />
tão alva e lisa quanto o marfim.<br />
Catedral, numa relação metafórica,<br />
que está para o corpo (parte<br />
material de um homem ou de um<br />
animal), envolve as pessoas como<br />
o mundo ao poeta; para Freud, o<br />
sonho é a expressão, ou a realização<br />
de um desejo reprimido. É<br />
também considerado uma autorepresentação<br />
espontânea e simbólica<br />
da situação atual do inconsciente.<br />
No Egito antigo, acreditava-se<br />
ser um caminho indicado<br />
por Deus, para ser seguido<br />
pelo homem. Assim, o poeta se<br />
integra no sonho da mesma forma<br />
como contorna o mundo : nessa<br />
primeira etapa da vida, o sonho<br />
/ risonho denota um momento<br />
para sonhar de forma<br />
agradável e promissora, com o<br />
privilégio de usufruir uma paz que<br />
para os cristãos representa um<br />
estado de contemplação espiritual.<br />
É, portanto, um estado<br />
endênico, liberto de todas as agitações<br />
do mundo, como característico<br />
da infância. Para o poeta,<br />
a infância surge, metaforicamente,<br />
representada pela catedral/corpo.<br />
A infância nasce toda branca<br />
de sol: a cor branca ora é símbolo<br />
de ausência e ora é a soma<br />
das cores. Daí porque, às vezes<br />
coloca-se no início e, outras vezes<br />
no término da vida diurna.<br />
Nos ritos de iniciação é a cor da<br />
1ª fase, a da luta contra a morte.<br />
Essa brancura é maternal, uma<br />
fonte que deverá ser despertada<br />
por um toque de vara. E dela escorrerá<br />
o primeiro líquido nutriz,<br />
o leite, rico de um potencial de<br />
vida ainda não expressado, ainda<br />
todo cheio de sonho. E é este o<br />
leite bebido pelo lactente, antes<br />
mesmo de haver entreaberto os<br />
olhos para o mundo diurno, o leite<br />
cuja brancura é a do lírio e do<br />
lótus — ambos, imagens de<br />
devenir, de um despertar rico em<br />
promessas e virtualidades; o lei-<br />
te, luz da prata e da lua que, em<br />
sua ronda completa, é o arquétipo<br />
da mulher fecunda, plena de<br />
promessas de riquezas e de auroras.<br />
Desse modo, progressivamente,<br />
produz uma mudança; e<br />
como o dia sucede a noite, o espírito<br />
sai de sua inação para proclamar<br />
o esplendor de uma brancura<br />
que é a da luz diurna, solar,<br />
positiva, máscula. Ao cavalo branco<br />
do sonho, portador da morte,<br />
sucedem os alvos cavalos de<br />
Apolo, aqueles que o homem é<br />
incapaz de fitar sem<br />
ofuscamento. A esse clima cristalino,<br />
associamos a simbologia do<br />
sol que é a fonte da luz, do calor,<br />
da vida. Seus raios representam<br />
as influências celestes ou espirituais,<br />
recebidas pela Terra. O sol<br />
está no centro do céu como o<br />
coração no centro do ser. Se a<br />
luz irradiada pelo sol é conhecimento<br />
intelectivo, o próprio sol é<br />
a inteligência cósmica, assim<br />
como o coração é no ser, a sede<br />
da faculdade do conhecimento.<br />
Jesus aparece como o Sol que irradia<br />
a justiça, como o Sol espiritual<br />
ou o coração do mundo. O<br />
sol é utilizado em comparações<br />
ou metáforas, para caracterizar,<br />
não só o brilhante ou o luminoso,<br />
mas tudo o que é belo, amável,<br />
esplêndido. Em astrologia, o sol é<br />
símbolo de vida, calor, dia, luz,<br />
autoridade e de tudo o que brilha.<br />
Dessa forma, podemos concluir<br />
que esta parte do poema evidencia-nos<br />
um momento iluminado de<br />
nossas vidas: a juventude — período<br />
no qual centramos todas as<br />
nossas forças em busca dos sonhos<br />
que nos impulsionam a seguir<br />
a nossa estrada (via direta<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
17<br />
17
ou reta que está em oposição aos<br />
caminhos tortuosos. É uma expressão<br />
freqüentemente aplicada<br />
à ascensão da alma, assim como<br />
o sino está para o coração).<br />
Dessa forma, o poeta<br />
evidencia as palavras-chave que<br />
justificam toda a atmosfera do<br />
poema, bem como a sua linguagem.<br />
O astro vai criar múltiplas<br />
sugestões: luminosidade, mobilidade,<br />
idéia de rapidez, é tão<br />
efêmero quanto o transcurso da<br />
vida, nos despertam a sensação<br />
visual; a catedral cria uma<br />
ambientação religiosa que revela<br />
um lugar seguro vinculado ao nosso<br />
Pai Criador que está no céu; o<br />
céu, é um sustentáculo para o<br />
astro e através do qual, elevamos<br />
nossas orações e pedidos ao pai<br />
eterno que nos abençoa sempre;<br />
o sino, um símbolo associado à<br />
igreja, denota o coração — um<br />
órgão vital para nós. O sino quando<br />
tocado no alto da torre da igreja<br />
desperta e mantém vivo o sentimento<br />
religioso entre os cristãos,<br />
assim como o coração, enquanto<br />
bate, significa que há vida.<br />
Desce Prece<br />
Rezar Luar<br />
Sonho Tristonho<br />
Responsos Alphonsus<br />
A velhice, temática da 4ª<br />
estrofe, nos traz tristezas, uma<br />
vez que sabemos que estamos<br />
nos aproximando do fim. Numa<br />
18<br />
18<br />
18 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
tentativa inútil choramos e elevamos<br />
nossas preces ao Senhor, à<br />
espera de momentos de lucidez<br />
que possam derramar sobre nós,<br />
assim como o luar ilumina a noite.<br />
Com tudo isso, a nossa esperança<br />
é de que sejamos resgatados<br />
de uma etapa que só nos resta<br />
fazer um balanço de nossas<br />
vidas: se plantamos, colhemos,<br />
caso contrário, nada conseguiremos.<br />
Uiva Ruiva<br />
Meu Morreu<br />
Sonho Medonho<br />
Responsos Alphonsus<br />
A próxima etapa é a<br />
mais temida, por isso a dor é grande<br />
quando a sentimos ou pensamos<br />
na sua proximidade. É o fim<br />
de nossos sonhos que outrora invadiram<br />
nosso peito com um ímpeto<br />
jamais sentido. Podemos perceber<br />
um clima apocalíptico: o<br />
sonho começa risonho, nele pomos<br />
todas nossas forças até que<br />
ele se torna tristonho e por último<br />
medonho. Essa tensão é facilmente<br />
percebida através da variação<br />
da construção sintática: primeiramente<br />
temos um substantivo + um<br />
adjetivo, ocorrendo o mesmo na<br />
terceira e quarta etapa. Somente<br />
na segunda temos o pronome possessivo<br />
rimando com um verbo.<br />
Tudo isso revela a carga emocional<br />
que marca o período mais bri-<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
lhante de nossas vidas — a juventude.<br />
É na juventude que acreditamos<br />
sermos os “donos do<br />
mundo e das verdades”, nada nos<br />
amedronta.<br />
Na última estrofe<br />
visualizamos o estado de contemplação<br />
do poeta diante de todas<br />
as verdades por ele ditas. Verdades<br />
que se chocam com seu mundo<br />
real. Por outro lado, a alusão<br />
ao mundo real resulta em comunhão<br />
com aspectos contraditórios<br />
como SONHO / MEDO-<br />
NHO. É o desfecho das idéias<br />
que o tornam melancólico e quimérico,<br />
haja vista que seus deliciosos<br />
sonhos de outrora acabam<br />
por tornar-se medonhos diante de<br />
seu destino: a morte.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIO-<br />
GRAFICAS<br />
CHEVALIER, Jean. Dicionário<br />
de Símbolos: mitos, sonhos,<br />
costumes, gestos, formas,<br />
figuras, cores, números. 11.<br />
ed. Rio de Janeiro: José Olympio,<br />
1997.<br />
D’ONOFRIO, Salvatore.<br />
Teoria do Texto: teoria da lírica<br />
e do drama. São Paulo: Ática,<br />
1995.v.2.
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
A GLOBALIZAÇÃO NA AMAZÔNIA<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
1 Elda Rebêlo<br />
RESUMO:<br />
A globalização, em seu contexto histórico, age no lado social e econômico, tendo que ser atualizada<br />
conforme o tempo. É lógico que na globalização há contradições, pois com ela há uma integração<br />
maior da humanidade, ela também aumenta o poder econômico de empresas e regiões. Com isso,<br />
ocorrerá grandes problemas sociais, tanto nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos.<br />
Com a globalização, as barreiras comerciais entre países começam a se abrir e cabe ao governo criar<br />
políticas alternativas à ideologia neoliberal, pois no Brasil e, principalmente, na Amazônia é preciso<br />
leis fortes e sábias para que países desenvolvidos não queiram se aproveitar de nossas riquezas.<br />
PALAVRAS-CHAVE: Globalização / Mundialização na Amazônia.<br />
A globalização pode ser<br />
definida como um processo<br />
de integração mundial com<br />
repercussão nos diversos<br />
setores de comunicação,<br />
finanças e economia, que se<br />
caracteriza através da queda<br />
das barreiras alfandegárias,<br />
da formação de blocos<br />
econômicos, velocidade das<br />
comunicações, mudanças<br />
tecnológicas e intenso fluxo<br />
de capitais internacionais.<br />
Bassi (1997)<br />
BREVE COMENTÁRIO<br />
HISTÓRICO<br />
A globalização ultimamente<br />
está presente nos discursos<br />
dos homens de negócios,<br />
governantes, políticos e jornalistas,<br />
porém esse processo não é<br />
tão recente como muitos pensam.<br />
Existem algumas divergências<br />
quanto ao início da globalização<br />
no mundo. Para alguns autores,<br />
a formação da economia mundi-<br />
al se deu através de um longo<br />
processo histórico como, por<br />
exemplo na Idade Antiga: no Império<br />
Chinês a globalização aparece<br />
na sua constituição; já a Civilização<br />
Egípcia manteve o domínio<br />
de todo o continente africano,<br />
na Grécia, percebe-se que<br />
apesar das cidades-estado serem<br />
independentes havia globalização<br />
na área econômica. No Império<br />
Romano é onde se tem uma visão<br />
nítida da globalização econô-<br />
1 Acadêmica do 4º ano do Curso de Ciências Econômicas da UNAMA e Monitora da Disciplina Formação Econômica do Brasil.<br />
19<br />
19
mica em sua história, pois eles<br />
criaram leis na globalização econômica<br />
e sabe-se que foram os<br />
gregos que descobriram o direito,<br />
mas é em Roma que o direito<br />
surge como instrumento do poder<br />
para com isso controlar o<br />
Estado. Devido a expansão<br />
territorial Roma foi obrigada a<br />
construir várias estradas, possibilitando,<br />
assim, a<br />
comercialização e a comunicação<br />
com outros povos.<br />
Já, na Idade Média, os<br />
portugueses, espanhóis, ingleses,<br />
etc..., quando decidiram fazer<br />
novas descobertas de terras, não<br />
foi só para se protegerem dos<br />
Mouros espanhóis, mas para procurar<br />
novas rotas de<br />
comercialização, ou seja, rotas<br />
comerciais de globalização. Devido<br />
ao desequilíbrio da produção<br />
e do consumo europeu, verificase<br />
que a falta de alimento para o<br />
abastecimento de seus núcleos<br />
urbanos e devido não haver mercado<br />
consumidor para a produção<br />
artesanal a solução encontrada<br />
foi a exploração de novas<br />
terras. Com isso novos mercados<br />
surgem com a capacidade de fornecer<br />
alimentos e metais, e ao<br />
mesmo tempo aptos a consumir<br />
os artesanatos europeus.<br />
No século XIX, com a<br />
crise da economia européia, devido<br />
a super produção nas fábricas,<br />
os preços e os juros caíram.<br />
Na tentativa de superar a crise,<br />
países europeus, EUA e Japão<br />
buscaram outros mercados para<br />
escoar o excesso de produção e<br />
de capitais. As economias indus-<br />
20<br />
20<br />
20 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
trializadas da época buscavam<br />
cada vez mais consumidores fieis,<br />
e com isso os continentes africanos<br />
e asiáticos se tornaram um<br />
centro fornecedor de matéria-prima<br />
e consumidores de produtos<br />
industrializados, gerando assim<br />
um alto grau de exploração e dependência<br />
econômica. Isso pode<br />
ser comparado com os dias atuais,<br />
pois os países desenvolvidos<br />
jamais serão generosos com os<br />
países “emergentes” e subdesenvolvidos.<br />
Nos anos 70, os economistas<br />
começam a dizer que a<br />
globalização é usada para que o<br />
comércio entre países seja mais<br />
freqüente e com menos burocracia.<br />
O QUE É GLOBALIZAÇÃO<br />
(MUNDIALIZAÇÃO)<br />
A globalização é o crescimento<br />
da interdependência de<br />
todos os países e povos da terra,<br />
ou seja é uma forma avançada e<br />
moderna de internacionalização<br />
das trocas de produtos e conhecimento.<br />
Ela também é conhecido<br />
como “aldeia global” devido a<br />
aparência de que o planeta está<br />
com um menor tamanho e com<br />
isso todos se conhecem.<br />
Já a globalização econômica:<br />
ocorre quando há um grande fluxo<br />
internacional de bens, serviços<br />
e capitais, quando há concorrência<br />
internacional e, também,<br />
uma crescente interdependência<br />
entre agentes econômicos e sistemas<br />
econômicos nacionais.<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
A GLOBALIZAÇÃO E OS<br />
IMPACTOS ECONÔMI-<br />
COS<br />
De acordo com Santana<br />
(1999) “<br />
O processo de integração<br />
entre os países parece ser<br />
irreversível: a globalização<br />
da economia forçará os negócios,<br />
em nível local e nacional,<br />
a competirem com<br />
outros mercados muitas<br />
vezes situados em outras<br />
partes do mundo. Por isso<br />
é importante que os países<br />
adotem medidas no sentido<br />
de poderem acompanhar<br />
as transformações<br />
trazidas pelo processo de<br />
globalização dos mercados.<br />
É preciso que conheçam<br />
sua realidade e que<br />
busquem reunir forças com<br />
potenciais aliados para não<br />
ficarem de fora da competição<br />
mundial, sob pena de<br />
terem suas economias esfaceladas”.<br />
Devido a isso, ocorre o desemprego,<br />
pois sempre que há<br />
novas tecnologias, pessoas são<br />
demitidas, como por exemplo pequenos<br />
escritórios que adquirem<br />
computadores e já não precisam<br />
de datilógrafos e também fabricas<br />
robóticas que dispensam seus<br />
operários.<br />
Ocorre também o desemprego<br />
pela redução de custo e<br />
pela potencialização da produtividade,<br />
pois na globalização a<br />
competição de mercado é bem<br />
acirrada e esse problema não<br />
ocorre só nos países subdesen-
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
volvidos, mas também nos países<br />
desenvolvidos. Nestes países, o<br />
desemprego se manifesta em<br />
maior quantidade nas fábricas,<br />
que, por sua vez se deslocam para<br />
países onde o custo de produção<br />
é menor.<br />
Como, por exemplo, uma<br />
indústria de automóveis que<br />
fabrica um mesmo modelo de<br />
carro em montadoras de 3 (três)<br />
países diferentes e os vende em<br />
outros 5 países. As empresas não<br />
ficam mais restritas a um país,<br />
seja como vendedora ou produtora,<br />
devido ela saber que cada<br />
país onde está localizada tem as<br />
suas vantagens tanto na parte<br />
econômica como na mão-deobra.<br />
Com isso, as barreiras comerciais<br />
entre os países, começaram<br />
a cair, com a diminuição<br />
de impostos sobre importações,<br />
o fortalecimento de grupos internacionais<br />
(como o Mercosul ou a<br />
Comunidade Européia) e o incentivo<br />
do governo de cada país à<br />
instalação de empresas estrangeiras<br />
em seu território.<br />
A GLOBALIZAÇÃO NA<br />
AMAZÔNIA<br />
A Amazônia tem uma riqueza<br />
tão devastadora, as quais<br />
interessam aos países do primeiro<br />
mundo; e sabe-se que essa riqueza<br />
ainda não está totalmente<br />
descoberta, pois estudiosos sa-<br />
bem e também têm esperanças<br />
de poder tirar de nossa flora artigos<br />
para cura de várias doenças.<br />
Na saúde do homem<br />
sabe-se que a Amazônia nos reservas<br />
surpresas em relação a<br />
novas doenças (malária e febre<br />
hemorrágica). Na agricultura,<br />
pecuária, piscicultura, na química<br />
de produtos naturais, na<br />
microbiologia de solos e águas,<br />
nestas áreas há vários<br />
microorganismos a serem descobertos,<br />
os quais poderão ser colocados<br />
a serviços da humanidade.<br />
As empresas multinacionais<br />
têm grandes interesses na<br />
nossa flora devido aos componentes<br />
medicinais da cultura indígena,<br />
os quais são muito eficientes.<br />
Empresas que possuem melhor<br />
condição financeira e mais<br />
tecnologia entram no país de várias<br />
formas com o intuito de explorar<br />
esse material que para nós<br />
não parece ser tão precioso, porém,<br />
para eles é de grande valor,<br />
pois quando conseguem os produtos,<br />
muitas das vezes sem terem<br />
pago nada ao Brasil, eles industrializam<br />
os mesmos e em seguida<br />
revendem para nós com<br />
valores muito maiores em relação<br />
ao preço de custo. O grande<br />
problema nisso tudo é que nós<br />
estamos sendo roubados e as nossas<br />
autoridades fazem de conta<br />
que não enxergam isso, pois há<br />
queimadas, destruição, produtos<br />
de nossa fauna e flora são patenteados<br />
por os estrangeiros e nada<br />
disso é visto.<br />
A globalização, em relação<br />
ao nosso patrimônio histórico,<br />
nada mais é do que um moderno<br />
colonialismo, ocorrendo<br />
uma política neoliberal, onde países<br />
desenvolvidos se apropriam<br />
e exploram como querem as nossas<br />
riquezas naturais.<br />
Devemos nos despertar<br />
e nos conscientizar de que a<br />
globalização e a Amazônia é uma<br />
relação bem presente e que depende<br />
de nós o rumo a ser tomado,<br />
dependendo da flexibilidade,<br />
liberdade e das alternativas a serem<br />
tomadas por nossos<br />
governantes.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIO-<br />
GRÁFICAS<br />
BASSI, Eduardo. Globalização<br />
de negócios. São Paulo:<br />
Editores Associados, 1997.<br />
GONÇALVES, Reinaldo, O nó<br />
econômico. São Paulo: Record.,<br />
2003.<br />
PAIVA, Mário Antônio Lobato<br />
de.( malp@interconect.com.br).<br />
REBÊLO,, Elda Cristina dos S.<br />
21 ago. 2003.<br />
SANTANA, Cleuciliz Magalhães.<br />
Como Funciona a<br />
Globalização. Manaus: Valer,<br />
1999.<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
21<br />
21
22<br />
22<br />
22 Lato& Sensu, Belém, v.4, n.2, p. 6, out, 2003.<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
12345678901234567890123456789012123456<br />
Lato & Sensu, Belém, v. 4, n. 1, p. 3-5, out, 2003.<br />
23<br />
23