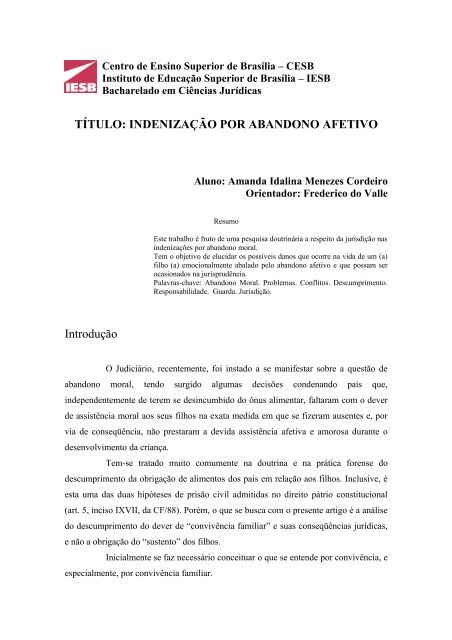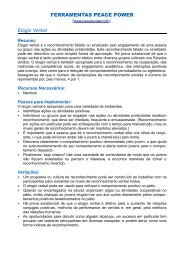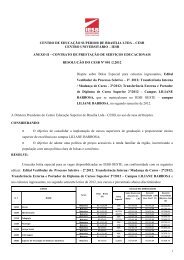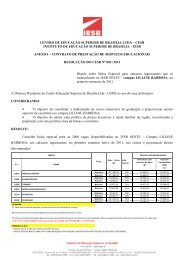TÍTULO: INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO Introdução - Iesb
TÍTULO: INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO Introdução - Iesb
TÍTULO: INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO Introdução - Iesb
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>TÍTULO</strong>: <strong>INDENIZAÇÃO</strong> <strong>POR</strong> <strong>ABANDONO</strong> <strong>AFETIVO</strong><br />
<strong>Introdução</strong><br />
Centro de Ensino Superior de Brasília – CESB<br />
Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB<br />
Bacharelado em Ciências Jurídicas<br />
Aluno: Amanda Idalina Menezes Cordeiro<br />
Orientador: Frederico do Valle<br />
Resumo<br />
Este trabalho é fruto de uma pesquisa doutrinária a respeito da jurisdição nas<br />
indenizações por abandono moral.<br />
Tem o objetivo de elucidar os possíveis danos que ocorre na vida de um (a)<br />
filho (a) emocionalmente abalado pelo abandono afetivo e que possam ser<br />
ocasionados na jurisprudência.<br />
Palavras-chave: Abandono Moral. Problemas. Conflitos. Descumprimento.<br />
Responsabilidade. Guarda. Jurisdição.<br />
O Judiciário, recentemente, foi instado a se manifestar sobre a questão de<br />
abandono moral, tendo surgido algumas decisões condenando pais que,<br />
independentemente de terem se desincumbido do ônus alimentar, faltaram com o dever<br />
de assistência moral aos seus filhos na exata medida em que se fizeram ausentes e, por<br />
via de conseqüência, não prestaram a devida assistência afetiva e amorosa durante o<br />
desenvolvimento da criança.<br />
Tem-se tratado muito comumente na doutrina e na prática forense do<br />
descumprimento da obrigação de alimentos dos pais em relação aos filhos. Inclusive, é<br />
esta uma das duas hipóteses de prisão civil admitidas no direito pátrio constitucional<br />
(art. 5, inciso IXVII, da CF/88). Porém, o que se busca com o presente artigo é a análise<br />
do descumprimento do dever de “convivência familiar” e suas conseqüências jurídicas,<br />
e não a obrigação do “sustento” dos filhos.<br />
Inicialmente se faz necessário conceituar o que se entende por convivência, e<br />
especialmente, por convivência familiar.
O dicionário Aurélio registra que convivência “é o ato ou efeito de conviver;<br />
familiaridade; relações íntimas; trato diário” 1 . Já a definição de conviver é “viver em<br />
comum; ter familiaridade, convivência” 2 .<br />
À partir daí pode-se concluir que a convivência ou o ato de conviver, na<br />
maioria das vezes, está intimamente ligada às relações e vínculos familiares. O capítulo<br />
III do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) trata do<br />
direito à convivência familiar e comunitária, composto de dispositivos que visam<br />
colocar a criança ou adolescente inserido no seio de uma família. É texto do artigo 19,<br />
in verbis:<br />
Art 19 – Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no<br />
seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a<br />
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de<br />
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.<br />
O abandono moral é uma questão polêmica e controvertida, razão pela qual é<br />
preciso cautela e prudência para se analisar cada caso concreto. Não se pode esquecer<br />
que as separações de casais, no mais das vezes, se processam em um clima de ódio e<br />
vingança. Nessas circunstâncias, a experiência cotidiana tem demonstrado que aquele<br />
que fica com a guarda isolada da criança quase sempre cria óbices e dificuldades para<br />
que o pai, ou a mãe, que não detém a guarda, não tenha acesso à criança. Comumente<br />
são transferidos à criança os sentimentos de ódio e vingança daquele que detém a sua<br />
guarda, de tal sorte que, em muitos casos, é o próprio menor que passa a não querer ver<br />
a mãe ou o pai, supostamente responsável pelas mazelas que a outra parte incute em sua<br />
cabeça.<br />
Diante dessas razões, já se recomendaria cuidado na análise de procedência<br />
de pedido de indenização por dano moral com fundamento no abandono moral,<br />
porquanto não se pode transformar o Judiciário em um instrumento tão-somente de<br />
vingança pessoal, disfarçado sob o manto da necessidade de punir a falta de assistência<br />
moral à criança.<br />
Como adverte a professora Teresa Ancona Lopez, (2004, p.14), é preciso<br />
cuidado para não transformar as relações familiares em relações argentarias, de tal sorte<br />
que dependendo de cada caso concreto, o juiz deverá ser sábio na aplicação do direito<br />
em face de postulações a esse título. Diz mais: "é preciso avaliar como a pessoa<br />
1 FERREIRA; Aurélio Buarque de Holanda. Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa. São<br />
Paulo: Civilização Brasileira, 1964, p. 325.<br />
2 Idem<br />
2
elaborou a indiferença paterna. Acredito que só quando ficar constatado em perícia<br />
judicial que o projeto de vida daquele filho foi trocado pelo abandono, configurando o<br />
dano psicológico, é que cabe indenização". Em conclusão, alerta para o fato de que "é<br />
muito comum as mães jogarem os filhos contra os pais, quando o certo seria tentar<br />
preservar a imagem paterna" 3 (Jornal do Advogado – OAB/SP – n° 289, dez/2004, p.<br />
14).<br />
O professor Álvaro Villaça Azevedo considera que "o descaso entre pais e<br />
filhos é algo que merece punição, é abandono moral grave, que precisa merecer severa<br />
atuação do Poder Judiciário, para que se preserve não o amor ou a obrigação de<br />
amar, o que seria impossível, mas a responsabilidade ante o descumprimento do dever<br />
de cuidar, que causa o trauma moral da rejeição e da indiferença" 4 (Jornal do<br />
Advogado – OAB/SP – n° 289, dez/2004, p. 14).<br />
1. Histórico da Filiação<br />
Criou-se, a distinção entre pais e mães biológicos (os que colaboraram com<br />
material genético para a geração do filho) e pais e mães por opção afetiva (aqueles que,<br />
não tendo condições genéticas de reprodução, utilizaram-se do auxílio de terceiros, mas<br />
assumiram as responsabilidades pela criação da criança assim gerada).<br />
Defini-se a filiação como um fenômeno excepcionalmente complexo, com<br />
características biológicas e fisiológicas, além de pertencer ao mundo físico e ao mundo<br />
moral, por englobar simultaneamente o fato concreto da procriação e uma relação de<br />
direito.<br />
1.1. Breve Análise de alguns Aspectos do Direito de Família Ligados à<br />
Filiação.<br />
Quando o assunto se trata de filhos menores, é dever dos pais zelar pela sua<br />
assistência, criação e educação e, inversamente, os filhos maiores têm o dever de ajudar<br />
e amparar os pais na velhice (Constituição Federal, artigo 229), obrigações essas<br />
também disciplinadas, respectivamente, pelas normas do parágrafo único do artigo 399<br />
3 LOPEZ, Teresa Ancona. Jornal do Advogado. São Paulo: OAB, n° 289, 2004, p.14.<br />
4 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Jornal do Advogado. São Paulo: OAB, n° 289, 2004, p.14.<br />
3
do Código Civil de 1917 (correspondente ao artigo 1.696 do novo Código Civil), com a<br />
redação que lhe foi dada pela Lei 8.648/93, e artigo 22 do Estatuto da Criança e do<br />
Adolescente.<br />
Estabelecida uma relação paterno-filial, aos pais também incumbe o pátrio<br />
poder sobre os filhos menores, o qual será exercido em igualdade de condições.<br />
Contudo, pode acontecer que o reconhecimento dessa relação, no que ao pai,<br />
ocorra mediante decisão judicial, contrariamente à sua vontade, pois não desejava ele<br />
assumir essa condição; em casos assim, a criança, se já estava sob pátrio poder da mãe,<br />
continua nessa situação, devendo o pai pagar-lhe alimentos e, em contrapartida, assiste-<br />
lhe o direito de ver estabelecido em horário de visita.<br />
Na maioria dos casos em que o pai ausente e desinteressado da sorte do filho<br />
que gerou, reconhece, tardiamente, essa sua condição de pai, isso se dá um intuito<br />
revanchista, em regra porque ficou sabendo que a mãe tem um novo companheiro, que<br />
está assumindo o papel de pai dessa criança.<br />
O interesse maior da criança sempre deve ser resguardado. Defende o autor<br />
Eduardo de Oliveira Leite que eventual direito de visita deve ser atribuído com grande<br />
cautela e acompanhamento psicológico, para que não se façam prevalecer os interesses<br />
egoístas desse pai ausente 5 .<br />
Outra conseqüência que o estabelecimento desse tipo de relação acarreta aos<br />
pais, correlato ao dever de guarda dos filhos menores, refere-se à responsabilidade civil<br />
pelos atos por esses praticados, nos termos do artigo 1.521, inciso I, do Código Civil de<br />
1917 (correspondente ao artigo 932, inciso I do novo Código Civil).<br />
Trata-se de uma presunção de responsabilidade estritamente vinculada ao<br />
direito de guarda exercido sobre um filho menor, na hipótese de que essa venha a<br />
acarretar danos a terceiros, agindo de forma dolosa ou culposa.<br />
Pelo menos um terço das pessoas que se casaram separaram-se e muitas<br />
constituíram até mesmo outra família. Por essa razão, a Constituição da República, em<br />
seu artigo 229 (e artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente), institui de forma<br />
incisiva o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores.<br />
5 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias monoparentais. 2ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,<br />
2003, p.237-239.<br />
4
2. Poder Familiar<br />
A expressão “poder familiar” é nova. Corresponde ao que antes era chamado<br />
de pátrio poder, termo que remonta ao direito romano: pater potestas – direito absoluto<br />
e ilimitado conferido ao chefe da organização familiar sobre a pessoa dos filhos.<br />
O poder familiar decorre tanto da paternidade natural, como da filiação legal<br />
e é irrenunciável, intransferível, inalienável e imprescritível. As obrigações que dele<br />
fluem são personalíssimas. Como os pais não podem renunciar aos filhos e, tampouco,<br />
vendê-los, os encargos que derivam da paternidade também não podem ser transferidos<br />
ou alienados. É crime entregar filho a pessoa inidônea. Nula é a renúncia ao poder<br />
familiar, sendo possível somente delegar a terceiros o seu exercício, preferencialmente,<br />
a um membro da família. O princípio da proteção integral de crianças e adolescentes<br />
acabou por emprestar uma nova configuração ao poder familiar, tanto que o<br />
inadimplemento dos deveres a ele inerentes, tutela ou guarda, configura infração<br />
susceptível à pena de multa. Todos os filhos, do zero aos 18 anos, estão sujeitos ao<br />
poder familiar, que é exercido pelos pais. Não é a verdade biológica, mas a verdade<br />
psicológica que lhes assegura a autoridade.<br />
Quando o filho está sob a guarda de somente um dos pais, restando ao outro<br />
apenas o direito de visita, permanecem intactos tanto o poder familiar, como a guarda<br />
jurídica, pois persiste o direito de fiscalizar sua manutenção e educação. A guarda<br />
absorve apenas alguns aspectos do poder familiar 6 . A falta de convivência sob o mesmo<br />
teto não limita e nem exclui o poder-dever, que permanece íntegro, exceto quanto ao<br />
direito de ter os filhos em sua companhia. Não ocorre limitação à titularidade do<br />
encargo, apenas restrição ao seu exercício, que dispõe de graduação de intensidade.<br />
Como o poder familiar é um complexo de direitos e deveres, a convivência dos pais não<br />
é requisito para a sua titularidade. Quando for deferida a guarda de um menor a<br />
terceiros, ou estiver ele em família substituta, o guardião passa a exercer algumas<br />
prerrogativas do poder familiar, o que, no entanto, não extingue o direito dos pais.<br />
6 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de família. São Paulo: Atlas, 2000, p. 371.<br />
5
2.1. A Proteção da Criança ou Adolescente quanto à Convivência<br />
Familiar.<br />
O referido artigo na primeira parte dispõe que “toda criança ou adolescente<br />
tem direito a ser criado e educado no seio de sua família”. Já o artigo 25 do ECA<br />
conceitua o que vem a ser família na natural in verbis:<br />
Art 25 – Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou<br />
qualquer deles e seus descendente.<br />
Quando se refere à comunidade não se fala em casamento, então basta que<br />
haja uma convivência entre pais e filhos, não se faz mais distinção entre família legítima<br />
e família ilegítima, apesar desta já não existir mais, pois a união estável é reconhecida<br />
como uma entidade familiar 7 . Cláudia Maria da Silva, no artigo publicado na Revista<br />
Brasileira de Direito de Família, Descumprimento do Dever de Convivência Familiar e<br />
Indenização por Danos á Personalidade do Filho, aduz que:<br />
A crucial importância do exame dos fundamentos das relações e dos<br />
vínculos familiares radica na circunstância de que é no seio deste grupo que<br />
o indivíduo nasce e se desenvolve, moldando sua personalidade ao mesmo<br />
tempo em que se integra ao meio social. Durante toda a sua vida, é na<br />
família que o individuo encontra conforto e refúgio para sua convivência 8 .<br />
Oportuna a definição de pessoa normal para a Psicologia, “pessoa normal é<br />
aquela que se relaciona satisfatoriamente consigo e com os outros” 9 .<br />
É o indivíduo equilibrado que se quer formar para o bom convívio com ele<br />
mesmo e com a sociedade, através dos ditames legais. Daí quando o ECA dispõe,<br />
expressamente, o direito à convivência, está buscando o pleno desenvolvimento da<br />
personalidade da pessoa humana. Aquela criança ou adolescente privado desse convívio<br />
familiar, muitas vezes irão apresentar desvios de personalidade gerando dificuldades de<br />
relacionamento, quando não são encontrados, muitas vezes, ocupando o banco dos réus<br />
nos tribunais.<br />
A convivência, consigo e com os outros pode ficar comprometida. Não se<br />
apresenta de forma satisfatória, onde lhe traz frustrações, das mais amenas às mais<br />
violentas, além de atitudes inadequadas no relacionamento social.<br />
7 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 3ª ed. São Paulo:<br />
Malheiros, 2000, p. 25.<br />
8 Revista Brasileira de Direito de Família. nº 03, ano I, São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 122.<br />
9 CALLUF, Emir. Psicologia da personalidade. São Paulo: Nacional, 1964, p. 17.<br />
6
É na família que se dá os primeiros passos para um desenvolvimento<br />
emocional equilibrado. A família exerce uma poderosa influência sobre os seus<br />
membros. É a fonte da qual se originam resistências emocionais como frustração e<br />
outras experiências emocionais 10 .<br />
São inúmeras as situações no seio familiar que podem levar aos distúrbios<br />
de personalidade da criança: brigas constantes entre pais, disciplina severa ou<br />
demasiadamente exigente, lares desfeitos, abandono afetivo dos pais, dentre outras.<br />
Enfim, “viver com”, “conviver”, não significa uma mera justaposição espacial ou<br />
distribuição racional de tarefas, é muito conhecido o fenômeno desumano da multidão<br />
solitária ou formigueiro de gente. Conviver, trata-se de uma presença obtida sempre que<br />
se comunica em plano pessoal, que é basicamente afetivo, enriquecido com uma<br />
convivência mútua. “Alimentar o corpo sim, mas também cuidar da alma, da moral, do<br />
psíquico. Estas são as prerrogativas do poder familiar e principalmente da delegação<br />
divina do amparo aos filhos” 11 .<br />
O artigo 4º caput do ECA assegura também o direito à convivência familiar<br />
à criança e ao adolescente, quando determina que é dever da família garantir,<br />
prioritariamente, “a efetivação dos direitos referentes à dignidade, ao respeito, á<br />
liberdade e à convivência familiar e comunitária.”<br />
Roberto João Elias in Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente,<br />
ao analisar o referido artigo, indica que a raiz dos problemas dos menores está na<br />
família e, todos devem empreender esforços para que esta família seja fortalecida 12 .<br />
Não é inoportuno lembrar que quando se fala em família não está presente<br />
obrigatoriamente aquela constituída pelo casamento, basta que exista uma comunidade<br />
onde convivem os pais ou qualquer um deles com os descendentes.<br />
Cláudia Maria da Silva cita que a eminente doutrinadora Giselda Maria<br />
Fernandes Novaes Hironaka (in Família e Casamento em Evolução), muito sabiamente<br />
escreve como deve ser esta convivência familiar quando diz que “o que importa é<br />
pertencer ao seu âmago, é estar naquele idealizado lugar onde é possível integrar<br />
10 SAWREY, James M., TELFORD, Charles W. Psicologia Educacional. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p.<br />
374.<br />
11 SILVA, Cláudia Maria. Descumprimento do dever de convivência familiar e indenização por danos à<br />
personalidade do filho. Revista Brasileira de Direito de Família. São Paulo: Abril Cultural, 2000, p. 123<br />
12<br />
ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 3ª ed. São Paulo:<br />
Malheiros, 2000, p. 6.<br />
7
sentimentos, esperanças, valores, e se sentir, por isso, a caminho da realização de seu<br />
projeto de felicidade.” 13<br />
Não restam dúvidas à respeito da importância do convívio familiar da<br />
criança ou adolescente com os pais, preferencialmente em um lar harmonioso, para o<br />
desenvolvimento de sua personalidade. Da mesma forma, também vastamente presente<br />
no ordenamento jurídico brasileiro sua garantia. Quando da inexistência desta<br />
convivência familiar causada pela constante ausência, daquele pai ou mãe que não<br />
detém a guarda do filho, no caso de separação do casal, e que se compromete além dos<br />
alimentos a também fazer visitas periódicas ao mesmo e deixa de fazê-lo. Deixar de<br />
depositar ou entregar o valor da pensão alimentícia, como dito inicialmente, é uma das<br />
duas únicas hipóteses de prisão civil, pelo preceito constitucional brasileiro. E quando<br />
aquele pai ou mãe deixa de visitar o filho, deixando de entregar afeto, carinho, o que o<br />
ordenamento jurídico prevê atualmente?<br />
A resposta a estas questões não são claramente evidenciadas na legislação<br />
brasileira. Quando o Código Penal dispõe sobre o abandono de incapaz se refere à falta<br />
de proteção a esse incapaz, expondo-o a riscos, em seu artigo 133. Este abandono é<br />
diferente daquele que quer se tratar.<br />
2.2. Descumprimento do dever de Convivência<br />
Abandono é “ato ou efeito de abandonar; desamparo; desprezo” 14 . O<br />
Dicionário Jurídico não dispõe sobre este tipo de abandono que mais se aproxima ao<br />
desprezo. Traz a definição de vários tipos de abandono como: o abandono do lar,<br />
quando se afasta sem a intenção de voltar; o abandono de incapaz, se referindo ao<br />
contido no artigo 133 do Código Penal, dentre outros 15 .<br />
O filho que é desprezado pelo genitor que não detém a sua guarda, pode ter<br />
distúrbios de personalidade irreversíveis. A convivência, mesmo que não freqüente, dos<br />
genitores com os filhos significa respeito ao seu direito de personalidade e de um<br />
desenvolvimento normal, é garantir-lhe a dignidade da pessoa humana.<br />
13 SILVA, Claúdia Maria, op. cit., p. 7.<br />
14 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. op. cit., p. 2.<br />
15 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 2-4.<br />
8
Quando ocorre normalmente a separação de um casal com filhos, é acordado<br />
um valor a ser pago à título de pensão alimentícia e a programação de visitas as quais<br />
têm direito aquele que não deteve a guarda dos mesmos.<br />
Este direito a visitas encontra-se garantido pelo disposto no artigo 1.589 do Código<br />
Civil, in verbis:<br />
Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá<br />
visita - los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro<br />
cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e<br />
educação.<br />
Ao se analizar o referido artigo, pode-se chegar à conclusão de que as visitas<br />
dos pais aos filhos, têm o intuito de suprir a necessidade dos pais, primordialmente,<br />
tanto é que a lei faculta aos pais a visita quando indica que “poderá visitá-los”, daí não<br />
existir sanções típicas aplicáveis àqueles que descumprem as condições impostas ao<br />
direito de visitas.<br />
Deveria ser um “dever” e não uma faculdade dos pais em cumprir a<br />
determinação de visitas aos filhos com conseqüente sanção àqueles que a<br />
descumprissem.<br />
O princípio da dignidade humana é preceito constitucional disposto no artigo<br />
1º, inciso III da Constituição Federal Brasileira. A palavra dignidade vem do latim<br />
dignitas que significa honra, virtude ou consideração 16 . Daí se entender que dignidade é<br />
uma qualidade moral inata e é a base do respeito que lhe é devido. De fato, conceituar<br />
dignidade da pessoa humana não é tarefa das mais fáceis, pois sempre há influência do<br />
momento histórico vivido. É necessário evitar a conceituação da dignidade da pessoa<br />
humana, levando em conta aquilo que se valoriza como bom ou ruim.<br />
Em suma, tem-se que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é de<br />
importância ímpar, pois repercute sobre todo o ordenamento jurídico. É um<br />
mandamento nuclear do sistema, que irradia efeitos sobre praticamente todas as outras<br />
normas e princípios. A tutela de direitos pressupõe que seja respeitada a dignidade do<br />
homem. Não adianta adotar um ordenamento jurídico avançado se o personagem<br />
principal é deixado à sua própria sorte. A preocupação do legislador constituinte foi a de<br />
que o Estado proporcionasse condições para que todos tivessem o direito de ter uma<br />
existência digna e respeitosa.<br />
16 SILVA, De Plácido, op. cit., p. 458.<br />
9
3. Abandono Moral – Fundamentos da Responsabilidade Civil<br />
Tem chamado bastante atenção ultimamente, a vertente da relação paterno-<br />
filial em conjugação com a responsabilidade, este viés naturalmente jurídico, mas<br />
essencialmente justo, de se buscar compensação indenizatória em face de danos que<br />
pais possam causar a seus filhos, por força de uma conduta imprópria, especialmente<br />
quando a eles é negada a convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a<br />
referência paterna ou materna concretas, acarretando a violação de direitos próprios da<br />
personalidade humana, magoando seus mais sublimes valores e garantias, como a<br />
honra, o nome, a dignidade, a moral, a reputação social, o que, por si só, é<br />
profundamente grave.<br />
3.1. A Responsabilidade Civil dos Pais<br />
A convivência saudável entre pais e filhos não se esgota com a manutenção<br />
dos filhos quanto a aspectos materiais provendo-os de alimentos, educação e guarda. É<br />
muito mais que isso para o desenvolvimento de sua personalidade.<br />
Deixou-se, na atualidade, de entender a família como uma relação apenas de<br />
poder onde os pais são responsáveis pela “criação” dos filhos. A família é entendida<br />
como uma comunidade afetiva onde o carinho, a atenção e o respeito com os filhos<br />
fazem parte importante e imprescindível deste contexto.<br />
A garantia desta convivência está determinada no artigo 227 da Constituição<br />
Federal de 1988, que além de dispor sobre o dever da família, da sociedade e do Estado<br />
em assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento da criança e do<br />
adolescente, também trata, em sua parte final, sobre o dever de colocá-las “a salvo de<br />
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e<br />
opressão” (Art. 227 da Constituição Federal).<br />
Atos ou omissões voluntárias ou negligentes ou ainda imprudentes que<br />
causem dano a alguém são passíveis de penalização do agente através de condenação ao<br />
pagamento de indenizações pecuniárias ou a reparação do dano causado. Dispõe o<br />
ordenamento jurídico brasileiro que aquele que violar direito ou causar dano a alguém,<br />
10
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, conforme disposição do artigo 186<br />
do Novo Código Civil, in verbis:<br />
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou<br />
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que<br />
exclusivamente moral, comete ato ilícito.<br />
.<br />
A análise deste artigo evidencia que quatro são os elementos essenciais da<br />
responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, violar direito ou<br />
causar prejuízo a outrem.<br />
Já o artigo 927 do mesmo diploma legal dispõe que o dano causado a alguém<br />
por cometimento de ato Ilícito deve ser reparado, in verbis:<br />
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (art, 186 e 187) causar danos a<br />
outrem,fica obrigado a repará-lo.<br />
O ato ilícito que impede desenvolvimento pleno da personalidade da pessoa<br />
humana quando causado por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,<br />
por analogia se enquadra no disposto no artigo 186 do Código Civil e deve ser reparado,<br />
ainda que esse dano seja, exclusivamente moral, por força do artigo 927 também do<br />
Código Civil.<br />
Sílvio de Salvo Venosa indica que : “Dano moral é o prejuízo que afeta o<br />
ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima” 17 . e completa: “será moral o dano que<br />
ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de<br />
comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinada a<br />
cada caso” 18 .<br />
Maria Helena Diniz define dano moral como “lesão de interesses não<br />
patrimoniais de pessoa física ou jurídica (CC, art. 52, súmula 227 do STF), provocado<br />
pelo fato lesivo” 19 .<br />
No sistema da responsabilidade subjetiva, deve haver nexo de causalidade<br />
entre o dano indenizável e o ato ilícito praticado pelo agente. Só responde, em princípio,<br />
aquele que lhe der causa, provada a culpa do agente.<br />
O pai que deixa de garantir ao filho a convivência familiar em função de sua<br />
omissão em relação às visitas ao mesmo gerando um vazio no seu desenvolvimento<br />
sócio-afetivo, moral e psicológico, direito garantido a ele pela legislação pátria, deverá,<br />
por conseqüência ser obrigado a reparar este dano ainda que seja exclusivamente moral.<br />
17 VENOSA, Silvio de Salvo, op. cit., p. 33.<br />
18 Idem , Ibidem, p. 34.<br />
19 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1995, vol. 2, p. 91<br />
11
Esta indenização pecuniária, contudo, não visa reparar o dano, que de certa<br />
forma, em muitos casos se torna irreparável, mas desestimular outros pais a cometer<br />
atos ilícitos que possam vir a causar dano a seus filhos, como o abandono afetivo.<br />
Ações requerendo indenização por dano moral aos filhos ainda são raras em<br />
nossos tribunais. Vê-se, com muito maior freqüência, o pedido de alimentos. Porém,<br />
alguns julgados desta natureza começam a aparecer:<br />
Um exemplo de julgado que retrata os argumentos trazidos no presente<br />
trabalho é o Processo n.º 141/1030012032-0, da Comarca de Capão da Canoa do Rio<br />
Grande do Sul .<br />
que:<br />
Na sentença o Juiz Mario Romano Maggioni indica com muita propriedade<br />
A educação abrange não somente a escolaridade, mas também a<br />
convivência familiar, o afeto, amor, carinho, ir ao parque, jogar futebol,<br />
brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar condições para que a<br />
criança se autoafirme. Desnecessário discorrer acerca da importância da<br />
presença do pai no desenvolvimento da criança. A ausência, o descaso e a<br />
rejeição do pai em relação ao filho recém-nascido ou em desenvolvimento<br />
violam a sua honra e a sua imagem. Basta atentar para os jovens drogados e<br />
ver-se-á que grande parte deles derivam de pais que não lhe dedicam amor e<br />
carinho; assim também em relação aos criminosos. De outra parte se a<br />
inclusão no SPC dá margem à indenização por danos morais pois viola a<br />
honra e a imagem, quanto mais a rejeição do pai 20 .<br />
E fundamenta sua decisão, no Inciso X da Constituição Federal e artigo 22<br />
da Lei n.º 8.069/90 para condenar o acusado:<br />
III – Face ao exposto, Julgo procedente a ação de indenização proposta por<br />
D.J. A. contra D. V. A., forte no art. 330, II, e no art. 269, I, do CPC, c/c<br />
com o art. 5º, X, da Constituição Federal e art. 22 da Lei nº 8.069/90 para<br />
condenar o demandado ao pagamento de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil<br />
reais), corrigidos e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.<br />
Condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários do<br />
patrono da parte adversa que arbitro em 10% sobre o valor da condenação a<br />
teor do art. 20, § 3º do Código de Processo Civil, ponderado o valor da causa<br />
e ausência de contestação 21 .<br />
Outro exemplo de julgado da mesma natureza é encontrado na Apelação<br />
Cível nº 408.550-5 de 01.04.2004 da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais: 22<br />
20 http://www.ajuris.org.br/revista/Revista%20Sentenca%2012.pdf, acesso em 14/05/2007.<br />
21 Idem, Ibidem.<br />
22<br />
http://www.ielf.com.br/webs/IELFNova/cursos/profs/tartuce/ielf_acordao_danomoral_paiefilho.pdf,<br />
acesso em 14/05/2007.<br />
12
APELAÇÃO CÍVEL Nº 408.550-5- 1.04.2004 EMENTA –<br />
<strong>INDENIZAÇÃO</strong> DANOS MORAIS – RELAÇÃO PATERNO-FILIAL –<br />
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA<br />
AFETIVIDADE. A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno,<br />
que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico,<br />
deve ser indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa<br />
humana.<br />
Como argumento para a condenação do réu o Douto Julgador expõe que:<br />
A relação paterno-filial em conjugação com a responsabilidade possui<br />
fundamento naturalmente jurídico, mas essencialmente justo, de se buscar<br />
compensação indenizatória em face de danos que pais possam causar aos<br />
seus filhos, por força de uma conduta imprópria, especialmente quando a<br />
eles é negada a convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como<br />
a referência paterna ou materna concretas, acarretando a violação de direitos<br />
próprios da personalidade humana, magoando seus mais sublimes valores e<br />
garantias, como a honra, o nome, a dignidade, a moral, a reputação social, o<br />
que, por si só, é profundamente grave 23 .<br />
Será julgada pela primeira vez no Superior Tribunal de Justiça (STJ) se a<br />
ausência de afeto dos pais para com os filhos pode ser motivo de indenização por dano<br />
moral? O Recurso Especial foi admitido pela Quarta Turma do Tribunal, que vai<br />
analisar r. decisão da Justiça Mineira retro citada. Porém, o recurso impetrado pelo pai<br />
da criança ainda está em andamento até a presente data 24 .<br />
É de São Paulo outra decisão sobre o tema. Em junho de 2004, o juiz de<br />
Direito Luís Fernando Cirillo, da 31ª Vara Cível Central, condenou um pai a pagar à<br />
filha indenização no valor de R$ 50 mil para reparação de dano moral e custeio do<br />
tratamento psicológico dela, que foi constatado por meio de uma perícia técnica, que a<br />
jovem apresentava conflitos, dentre os quais de identidade, deflagrados pela rejeição do<br />
pai. Ela deixou de conviver com ele ainda com poucos meses de vida, quando o pai<br />
separou-se da mãe. Ele constituiu nova família e teve três filhos.<br />
O juiz Cirillo, em sua sentença, afirma que "a decisão da demanda depende<br />
necessariamente do exame das circunstâncias do caso concreto, para que se verifique,<br />
primeiro, se o réu teve efetivamente condições de estabelecer relacionamento afetivo<br />
23 http://www.ielf.com.br/webs/IELFNova/cursos/profs/tartuce/ielf_acordao_danomoral_paiefilho.pdf,<br />
acesso em 24/06/2007.<br />
24 ttp://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/detalhe.asp?numreg=200401427225&pv=000000000000,<br />
acesso em 11/11/2006.<br />
13
maior do que a relação que afinal se estabeleceu e, em segundo lugar, se as vicissitudes<br />
do relacionamento entre as partes efetivamente provocaram dano relevante à autora." 25<br />
O pai já apelou da sentença ao Tribunal de Justiça de São Paulo.<br />
Nas reiteradas decisões e, agora, se aguardando o julgamento do recurso<br />
impetrado no STJ, o aspecto de extrema relevância é se garantir ao filho a convivência<br />
familiar em sentido amplo, pelo afeto, conforme preceito constitucional e legal.<br />
3.2. Jurisprudência sobre a matéria<br />
A primeira decisão sobre a matéria vem do Rio Grande do Sul, e foi<br />
proferida na Comarca de Capão de Canoas, pelo juiz Mario Romano Maggioni, que<br />
condenou um pai, por abandono moral e afetivo de sua filha, hoje com nove anos, a<br />
pagar uma indenização por danos morais, correspondente a duzentos salários mínimos,<br />
em sentença datada de agosto de 2003, transitada em julgado e, atualmente, em fase de<br />
execução. Ao fundamentar sua decisão o magistrado considerou que "aos pais incumbe<br />
o dever de sustento, guarda e educação dos filhos (art. 22, da lei nº 8.069/90).<br />
De destacar que o Ministério Público, tendo intervindo no feito por haver<br />
interesse de menor, manifestou-se contrário à concessão da indenização, conforme<br />
parecer da promotora De Carli dos Santos, cujo entendimento foi o de que a questão não<br />
poderia ser resolvida com base na reparação financeira tendo em vista que "não cabe ao<br />
Judiciário condenar alguém ao pagamento de indenização por desamor". A ilustre<br />
promotora alertou ainda para os risco do precedente:<br />
senão, os foros e tribunais estariam abarrotados de processos se, ao término<br />
de qualquer relacionamento amoroso ou mesmo se, diante de um amor<br />
platônico, a pessoa que se sentisse abalada psicologicamente e moralmente<br />
pelo desamor da outra, viesse a pleitear ação com o intuito de compensar-se,<br />
monetariamente, porque o seu parceiro ou seu amor platônico não a<br />
correspondesse (Ibidem).<br />
Esta não é a única decisão tratando da matéria. Em recente julgado, o juiz<br />
da 31 a . Vara Cível de São Paulo - Dr. Luis Fernando Cirillo, condenou um pai, por<br />
danos morais, a indenizar sua filha, no importe de 190 salários mínimos,<br />
aproximadamente, reconhecendo que a "paternidade não gera apenas deveres de<br />
assistência material, e que além da guarda, portanto independentemente dela, existe<br />
25 http://www.stj.gov.br/webstj/Noticias/detalhes_noticias.asp?seq_noticia=13495, acesso em 21/08/2007.<br />
14
um dever, a cargo do pai, de ter o filho em sua companhia". Apesar de considerar não<br />
ser razoável que um filho "pleiteie em Juízo indenização do dano moral porque não<br />
teria recebido afeto de seu pai", o ilustre magistrado sentenciante, ponderou de outro<br />
norte que:<br />
não se pode rejeitar a possibilidade de pagamento de indenização do dano<br />
decorrente da falta de afeto simplesmente pela consideração de que o<br />
verdadeiro afeto não tem preço, porque também não tem sentido sustentar<br />
que a vida de um ente querido, a honra e a imagem e a dignidade de um ser<br />
humano tenham preço, e nem por isso se nega o direito à obtenção de um<br />
benefício econômico em contraposição à ofensa praticada contra esses bens<br />
(31 a . Vara Cível Central de São Paulo – Processo n° 000.01.036747-0 – j.<br />
07.06.2004).<br />
Outra decisão que merece ser trazida à lume foi proferida pelo Tribunal de<br />
Alçada de Minas Gerais, pelo voto do relator Unias Silva, que reformou sentença de<br />
primeiro grau, acolhendo o pedido de uma rapaz contra seu pai, por abandono moral,<br />
cuja condenação também foi fixada em duzentos salários mínimos, cuja fundamentação<br />
principal foi a de que "ser pai não é só dar o dinheiro para as despesas, mas suprir as<br />
necessidades dos filhos", considerando ainda que "a responsabilidade não se pauta tão-<br />
somente no dever alimentar, mas se insere no dever de possibilitar o desenvolvimento<br />
humano dos filhos, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana". O ilustre<br />
magistrado, justificando o dever indenizatório afirmou ser "legítimo o direito de se<br />
buscar indenização por força de uma conduta imprópria, especialmente quando ao<br />
filho é negada a convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a<br />
referência paterna, magoando seus mais sublimes valores" (TAMG – Ap.Civ. n°<br />
0408550-5-B.Horizonte – 7 a . Câm.Cív. – Rel. Juiz Unias Silva – j. 01.04.2004).<br />
Vale mencionar que este caso de Minas Gerais chegou ao STJ em grau de<br />
recurso especial (REsp 757411/MG, relator originário o Ministro Fernando Gonçalves,<br />
DJ 27.3.2006). Na ocasião, o STJ, por maioria, assim decidiu:<br />
RESPONSABILIDADE CIVIL. <strong>ABANDONO</strong> MORAL. REPARAÇÃO.<br />
DANOS MORAIS.IMPOSSIBILIDADE.<br />
1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito,<br />
não rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do art. 159 do Código<br />
Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária.<br />
2. Recurso especial conhecido e provido.<br />
15
No voto do Ministro Relator está registrado que no caso de abandono ou do<br />
descumprimento injustificado do dever de sustento, guarda e educação dos filhos, a<br />
legislação prevê como punição a perda do poder familiar, antigo pátrio-poder, tanto no<br />
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 24, quanto no Código Civil, art. 1638, inciso<br />
II. Assim, o ordenamento jurídico, com a determinação da perda do poder familiar, a<br />
mais grave pena civil a ser imputada a um pai, já se encarrega da função punitiva e,<br />
principalmente, dissuasória, mostrando eficientemente aos indivíduos que o Direito e a<br />
sociedade não se compadecem com a conduta do abandono, com o que cai por terra a<br />
justificativa mais pungente dos que defendem a indenização pelo abandono moral.<br />
A matéria é polêmica e alcançar-se uma solução não prescinde do<br />
enfrentamento de um dos problemas mais instigantes da responsabilidade civil, qual<br />
seja, determinar quais danos extrapatrimoniais, dentre aqueles que ocorrem<br />
ordinariamente, são passíveis de reparação pecuniária. Isso porque a noção do que seja<br />
dano se altera com a dinâmica social, sendo ampliado a cada dia o conjunto dos eventos<br />
cuja repercussão é tirada daquilo que se considera inerente à existência humana e<br />
transferida ao autor do fato. Assim situações anteriormente tidas como "fatos da vida",<br />
hoje são tratadas como danos que merecem a atenção do Poder Judiciário, a exemplo do<br />
dano à imagem e à intimidade da pessoa.<br />
Entende-se que um litígio entre as partes reduziria drasticamente a esperança<br />
do filho de se ver acolhido, ainda que tardiamente, pelo amor paterno. O deferimento do<br />
pedido, não atenderia, ainda, o objetivo de reparação financeira, porquanto o amparo<br />
nesse sentido já é providenciado com a pensão alimentícia, nem mesmo alcançaria<br />
efeito punitivo e dissuasório, porquanto já obtidos com outros meios previstos na<br />
legislação civil, conforme acima esclarecido.<br />
Desta forma, como escapa ao arbítrio do Judiciário obrigar alguém a amar,<br />
ou a manter um relacionamento afetivo, nenhuma finalidade positiva seria alcançada<br />
com a indenização pleiteada.<br />
Diante do exposto, o Ministro Relator Fernando Gonçalves conheceu do<br />
recurso e lhe deu provimento para afastar a possibilidade de indenização nos casos de<br />
abandono moral.<br />
Esta é uma decisão muito importante sobre o tema, mas, certamente, outras<br />
discussões surgirão no âmbito do STJ, já agora com outra composição, o que poderá<br />
fazer com que o tema “abandono moral” ganhe novo fôlego.<br />
16
Há também uma decisão abordando questão similar, proferida pela 10 a .<br />
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na qual foi reconhecido o<br />
direito à indenização por danos morais, no importe de oitenta salários mínimos, a um<br />
rapaz em face de que seu padrasto lhe moveu uma ação negatória de paternidade para<br />
desconstituição do registro de nascimento o que lhe teria gerado constrangimentos.<br />
Para uma melhor compreensão do ocorrido, explicitemos: o padrasto<br />
mantinha lar convivencial com a mãe da criança, relação esta que se iniciou quando a<br />
mulher ainda estava grávida. Quando a criança nasceu o padrasto assumiu,<br />
espontaneamente, a paternidade, registrando-a em seu nome, mesmo sabendo não ser o<br />
pai biológico. Ocorre que, anos depois, ao romper a relação convivencial com a mãe do<br />
agora rapaz, o padrasto ingressou com ação negativa de paternidade com o fim de<br />
alterar o registro de nascimento. O "enteado", argumentando ter sofrido violento abalo<br />
psicológico, por ter sido exposto a situação vexatória, além de ter se submetido à<br />
realização de exame de DNA, em face da ação negatória de paternidade, ingressou com<br />
ação pedindo indenização por danos morais, julgada improcedente em primeiro grau.<br />
A sentença foi reformada pelo tribunal de justiça que, acolhendo voto da<br />
relatora, juíza-Convocada ao TJ Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira, condenou o padrasto<br />
ao pagamento de uma indenização equivalente a oitenta salários mínimos. Em seu voto<br />
a ilustre relatora reconheceu que a matéria guardava contornos de dramaticidade,<br />
porquanto "não é difícil imaginar a tortura psicológica por que passou o apelante,<br />
premido pelas sucessivas negativas de paternidade daquele a quem conheceu como<br />
pai". Apesar de ressalvar que o padrasto tinha o direito de perquirir sobre a paternidade,<br />
a magistrada considerou sua atitude "contrária aos princípios mais comezinhos da<br />
ética" na exata medida em que o mesmo deveria ter melhor avaliado a questão pois, de<br />
outro lado, o enteado tinha, constitucionalmente assegurado, o direito à dignidade e à<br />
privacidade, que restaram violados, pela propositura da indigitada ação negatória de<br />
paternidade. "Sem hesitar, digo desnecessária a situação pela qual passou o apelante.<br />
No mínimo, o apelado deveria ter sopesado as conseqüências de seus atos", afirmou a<br />
magistrada. Disse mais: "a atitude afoita, quiçá prenhe de contornos pessoais,<br />
redundou em prejuízos desmedidos ao rapaz, que perdeu o nome, a filhação, o<br />
referencial e, quem sabe, a segurança para interagir no seu convívio social" (TJRS –<br />
Ap.Civ. n° 70007104326-B.Gonçalves – rel Juíza Conv. Ana Lucia Carvalho Pinto<br />
Vieira – j. 17.06.2004).<br />
17
Esclareça-se por oportuno, que algumas das decisões referenciadas ainda<br />
estão pendentes de recurso, o que forçará o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a se<br />
manifestar, em breve, sobre a questão, como já pontuei acima.<br />
A guisa de registro, somente a decisão de Capão de Canoas/RS transitou em<br />
julgado, tendo em vista que o réu sequer contestou a ação, estando em fase de execução<br />
de sentença.<br />
3.3. Teoria do fato consumado – Aplicação?<br />
A teoria do fato consumado pressupõe uma situação ilegal consolidada no<br />
tempo, em decorrência da concessão de liminar, ou de ato administrativo praticado por<br />
autoridade competente para se reconhecer o direito sobre determinada situação que<br />
ainda não ocorreu.<br />
Hoje em dia é cada vez mais comum o operador do direito, sobretudo o<br />
advogado público, deparar-se com decisões judiciais que, invocando a Teoria do Fato<br />
Consumado, legitimam situações de fato tão-somente pelo decurso de tempo, mesmo<br />
reconhecendo a inexistência do direito.<br />
Vale destacar que não é admissível a concessão de tutelas de urgência se<br />
houver perigo de irreversibilidade da medida, pois é de sua natureza a provisoriedade e<br />
a revogabilidade.<br />
Situação de fato gerada por força de decisão liminar, que se caracteriza pelas<br />
notas da precariedade, provisoriedade, incerteza, indefinição, de situação submetida à<br />
condição resolutiva e de sua absoluta reversibilidade, não pode jamais se consolidar<br />
pelo decurso do tempo, notadamente quando seja conflitante com o ordenamento<br />
jurídico, pois não se concebe a existência de direito adquirido a mantença de uma<br />
situação de fato contrária ao direito.<br />
Portanto, carece de fundamento jurídico, violando o postulado do devido<br />
processo legal, exposto no art. 5°, LV, da CF/88, a aplicação da Teoria do Fato<br />
Consumado em questões que envolvam interesses indisponíveis, mormente em sede de<br />
Direito de Família, em virtude de provimentos judiciais de caráter meramente<br />
provisório.<br />
18
Cabe registrar que o egrégio Supremo Tribunal Federal, por ambas as<br />
turmas, não tem prestigiado a Teoria do Fato Consumado, assentando ser destituída de<br />
fundamento jurídico.<br />
3.4. Guarda Compartilhada (solução?)<br />
O novo Código Civil, em perfeita consonância com a Constituição Federal<br />
de 88, estabeleceu que a responsabilidade dos pais em relação aos filhos é conjunta,<br />
atribuindo-lhe o nome de "poder familiar", disciplinando seu exercício, suspensão e<br />
perda (arts. 1.630 a 1.638).<br />
Para melhor disciplinar a matéria, está em tramitação na Câmara Federal, um<br />
projeto de lei de autoria do ex-deputado Tilden Santiago, que trata da questão da guarda<br />
compartilhada. A importância do projeto é que, se aprovado, o juiz não mais decidirá<br />
isoladamente a guarda dos filhos. Embora a decisão final ainda deva ser pronunciada<br />
pelo juiz, esta decisão não mais será isolada, havendo a exigência de uma avaliação<br />
multidisciplinar formada por assistente sociais e psicólogos, além de valorar a opinião<br />
da própria criança, para se chegar a uma solução final, na qual a prioridade seja o bem<br />
estar do menor.<br />
É certo que quando o casal se separa, os ódios e rancores afloram e o<br />
cônjuge que fica com a guarda da criança, de forma consciente ou inconsciente, procura<br />
dificultar ou mesmo impedir o acesso do outro cônjuge à criança. Constata-se ademais<br />
que, além de dificultar o acesso ao filho, o cônjuge que permanece com a guarda<br />
procurar incutir na mente da criança conceitos depreciativos em relação ao outro<br />
cônjuge o que acaba por reforçar o distanciamento e o grau de dificuldade de acesso<br />
que, muitas vezes, conta com a cumplicidade inocente da própria criança.<br />
Há sólidas opiniões no sentido de que a guarda compartilhada poderia ser o<br />
remédio para uma melhor convivência dos filhos com os seus genitores, principalmente<br />
em face de separação do casal. Se a determinação judicial for no sentido de que ambos<br />
os pais continuam com os deveres e obrigações decorrentes da guarda, acredita-se que<br />
isso poderia contribuir para equilibrar a influência que os mesmos exercem sobre seus<br />
filhos, evitando-se que somente um deles possa influenciar a criança, principalmente no<br />
que diz respeito a despertar na mesma a rejeição pelo outro genitor.<br />
19
Por essas razões, acredita-se que a guarda compartilhada seria a melhor<br />
solução para evitar-se o distanciamento dos filhos em relação aos pais, vindo a<br />
preservar a criança, no que diz respeito à convivência com os pais, de tal sorte que não<br />
ficasse privada da atenção, carinho e amor que tem direito de receber de ambos os pais.<br />
Desta forma, conforme tão bem assinalou a psicanalista Eliana Riberti<br />
Nazareth, "o afastamento dos pais tenderia a ocorrer em muito menor grau se a guarda<br />
dos filhos fosse compartilhada e se, em lugar do direito de visita, fosse instituído o<br />
direito à convivência" (Jornal do Advogado - OAB/SP n° 289, p.14).<br />
4. Conclusão<br />
Entende-se, que de forma alguma será suficiente a convivência entre pais e<br />
filhos, que se esgota o sustento dos mesmos, mas sim em algo mais amplo, onde o afeto,<br />
o carinho e o convívio freqüente assumem papel primordial no adequado<br />
desenvolvimento da personalidade desta criança ou adolescente.<br />
A legislação que garante a convivência familiar à criança e ao adolescente é,<br />
até certo ponto, farta no ordenamento jurídico brasileiro, porém, é certo que o afeto, o<br />
carinho, a atenção negada não podem ser algo a ser exigido dos pais e, que dinheiro<br />
nenhum supre as conseqüências deste abandono.<br />
Assim, sustenta-se, que o direito de visitas não pode ser concebido como<br />
uma faculdade, mas como condição dignificante ao filho. O descumprimento do dever<br />
de convivência familiar pelos pais entendido desta forma, importa em sérios prejuízos à<br />
personalidade do filho, sendo legítima a busca da imediata efetivação de medidas<br />
previstas nestes diplomas legais. “Não se trata de dar preço ao amor, tampouco de<br />
estimular a indústria dos danos morais, mas sim de lembrar a esses pais que a<br />
responsabilidade paterna não se esgota na contribuição material” 26 .<br />
O novo Código Civil dedica o capítulo segundo (arts. 11 a 21) à proteção aos<br />
direitos da personalidade, disciplinando de forma mais clara e alargando os preceitos<br />
constitucionais contidos nos incisos V e X do art. 5° acima mencionado.<br />
Não bastasse isso, é preciso considerar também, conforme assinala Sílvio<br />
Rodrigues, que "dentro da vida familiar o cuidado com a criação e educação da prole se<br />
26 SILVA, Cláudia Maria, op. cit., p. 146.<br />
20
apresenta como a questão mais relevante, porque as crianças de hoje serão os homens de<br />
amanhã, e nas gerações futuras é que se assenta a esperança do porvir" 27 . Por isso, o<br />
Código Civil pune com a perda do poder familiar aquele que deixar o filho em<br />
abandono (art. 1.638, II), entendido o abandono não apenas como o ato de deixar o filho<br />
sem assistência material, mas o descaso intencional pela sua criação, crescimento,<br />
desenvolvimento e moralidade (Direito civil – direito de família, v. 6, p. 368-371).<br />
É importante ressaltar, que não se pode olvidar que existe em nosso<br />
ordenamento jurídico uma cláusula geral de proteção à pessoa humana, que está contida<br />
no inciso III, do artigo 1° da Constituição Federal – A DIGNIDADE HUMANA. Além<br />
disso, a Carta Magna protege os direitos à personalidade ao estabelecer que são<br />
invioláveis os direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança (art. 5°, caput),<br />
declarando, ainda mais, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a<br />
imagem (art. 5°, inciso X) e que qualquer lesão a esses direitos se assegura o direito de<br />
resposta além da eventual indenização por dano material e moral (art. 5°, inciso V). Daí<br />
porque os direitos à personalidade, enquanto atributos jurídicos, estão devidamente<br />
protegidos.<br />
Então, conclui-se que é errado classificar de anormal as decisões enunciadas<br />
que deferem o pedido, condenação por danos morais em razão do abandono afetivo,<br />
porquanto há fundamento jurídico que as embasam. Demonstra-se, ademais, que o tema<br />
em foco deixa de ser uma mera questão vinculada, exclusivamente, ao Direito de<br />
Família, para ser tratado à luz de pressupostos maiores encontrados na própria<br />
Constituição Federal.<br />
5. Referência<br />
AVILA, Marcelo Roque Anderson Maciel. Revista dos Tribunais. Ano 89, v. 780,<br />
outubro de 2000, p. 35-37.<br />
BOSCARO, Márcio Antonio. Direito de Filiação. São Paulo: Revista dos Tribunais<br />
LTDA, 2002, p. 253.<br />
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. Porto Alegre: Livraria do<br />
Advogado, 2005, p. 33.<br />
27 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil - Direito de Família. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002,<br />
vol. 6, p. 368-371.<br />
21
MELO, Nehemias Domingos de. Abandono moral. Fundamentos da Responsabilidade<br />
Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n° 583, 10 fev. 2005.<br />
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de Paternidade e seus Efeitos. 6ª<br />
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 436<br />
RIOS, José Galba Barroso. Debates em Direito Público. Revista de Direito dos<br />
Advogados da União. Ano I, n° 1, outubro/2002, p. 166-177.<br />
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Direito de Família. 28 a edição. São Paulo:<br />
Saraiva, 2004, vol. 6, p. 368-371.<br />
SILVA, Cláudia Maria da. Revista. Descumprimento do dever de convivência familiar e<br />
indenização por danos morais à personalidade do filho. Revista Brasileira do Direito de<br />
família, ano VI, n° 25 (ago/set 2004), p. 123.<br />
22