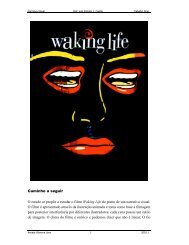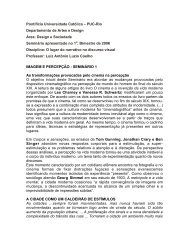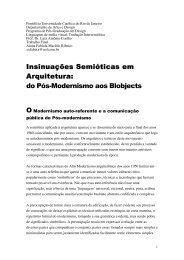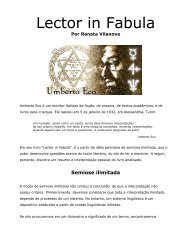Luis Antônio Vanessa Sattamini Varão Monteiro - PUC-Rio
Luis Antônio Vanessa Sattamini Varão Monteiro - PUC-Rio
Luis Antônio Vanessa Sattamini Varão Monteiro - PUC-Rio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>PUC</strong><br />
O Simbólico no discurso visual<br />
Prof: <strong>Luis</strong> <strong>Antônio</strong><br />
<strong>Vanessa</strong> <strong>Sattamini</strong> <strong>Varão</strong> <strong>Monteiro</strong><br />
Trabalho Final<br />
Imagens do sertão<br />
Na virada do século XIX para o século XX o ocidente vive uma sensação de<br />
conquista do tempo e do espaço. A locomoção é mais ágil com os carros, as locomotivas,<br />
os transatlânticos que encurtam as distâncias. Santos Dummont realiza o sonho de voar. As<br />
transformações imprimem, fundamentalmente na população dos centros urbanos, a<br />
sensação vertiginosa que Nicolau Sevcenko tão bem caracterizou com a imagem da<br />
montanha-russa, já que a aceleração das mudanças vividas, o inesperado que surpreendia a<br />
cada passo, a sensação de domínio de um horizonte cada vez mais amplo que as conquistas<br />
científicas e tecnológicas traziam e a vertigem das crises de toda ordem então vividas<br />
faziam pensar nas emoções do mais emocionante dos brinquedos de um parque de<br />
diversões. 1<br />
A passagem do século é também marcada pelo progresso tecnológico. Neste<br />
período o corpo humano é esquadrinhado pela nova ciência médica, a estrutura da rede<br />
neuronal é descoberta por Golgi e Ramón y Cajal 2 , os grupos sangüíneos são identificados,<br />
a medicina avança vencendo doenças com a descoberta da penicilina, da vacina, a luz<br />
elétrica é inventada, e também o rádio, o gramofone, o telégrafo. A Belle époque imprime<br />
uma visão solar, otimista de crença no progresso, na libertação do homem frente ao reino<br />
da natureza, da necessidade. As cidades se embelezam, os países realizam as exposições<br />
internacionais 3 onde mostram o melhor de sua capacidade criativa, de sua indústria e de sua<br />
1<br />
- Nicolau SEVCENKO. A corrida para o século XXI. No loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia<br />
das Letras, 2001.<br />
2<br />
- Margarida de SOUZA NEVES. Ciência e preconceito: uma história social da epilepsia no pensamento<br />
médico brasileiro. 1895-1906. <strong>Rio</strong> de Janeiro: <strong>PUC</strong>-<strong>Rio</strong> / CNPq, 2003. (Projeto de Pesquisa,<br />
mimeo) p. 10..<br />
3<br />
- Cf. Margarida de SOUZA NEVES. As vitrines do progresso. O Brasil nas Exposições Internacionais. <strong>Rio</strong><br />
de Janeiro: <strong>PUC</strong>-<strong>Rio</strong>/CNPq, 1986.
arte. As exposições são centros de peregrinação à mercadoria fetiche 4 . Há uma fé no<br />
progresso que se transforma numa espécie de religião leiga 5 . O progresso libertaria e levaria<br />
ao fim de todos os males. É a idéia de um aperfeiçoamento cumulativo, e expressa a<br />
concepção de um tempo histórico linear que tem como ponto de partida a barbárie e como<br />
thelos a civilização, o progresso, as luzes. Nesta perspectiva a diferença é vista como<br />
desigualdade, como ausência, uma falta, um atraso na marcha linear e contínua em direção<br />
a civilização, e que, portanto, pode ser saldada se os povos tidos como “atrasados” forem<br />
capazes de acelerar seu processo histórico, ignorando assim diferenças estruturais entre<br />
nações que demarcam lugares igualmente diferentes – e não apenas desiguais – das nações<br />
no cenário internacional, o lugar central dos países tidos como “progressistas” dependendo<br />
da permanência daqueles tidos como “atrasados” na condição de periféricos e dependentes.<br />
Por outro lado, este mesmo período pode suscitar uma interpretação lunar, soturna.<br />
As cidades podem ser vistas como lugares de degradação moral, de quebra da hierarquia<br />
social e da ordem, de mistura caótica, de padronização de comportamentos e de adoção de<br />
um tipo de vestuário que leva à indiferenciação.<br />
No Brasil,neste momento em que o espaço urbano se consagra como espaço da<br />
experiência social que pretende representar o todo do país, marcado por profundas<br />
modificações, inclusive políticas, com a abolição da escravidão e a proclamação da<br />
República, que se expressa com mais clareza o confronto entre dois mundos díspares: o<br />
mundo do litoral e o mundo do sertão. A República, ainda instável, se enfrentará com uma<br />
comunidade de sertanejos que, desterrados de qualquer atenção por parte do poder público,<br />
independentemente do regime vigente, fundou seu próprio modus vivendi. Não apenas a<br />
geografia os distanciava, mas as visões de mundo ou, nas palavras de Euclides da Cunha:<br />
“(...) mais fundo o contraste entre o nosso modo de viver e daqueles<br />
rudes patrícios mais estrangeiros nesta terra do que imigrantes da Europa.<br />
Porque não no-los separa um mar, separam-no-los três séculos. 6 ”<br />
4 - Walter BENJAMIN. Paris, Capitale du XIXeme Siècle. IN: Gesamnelte Schiften. Frankfurt, Suhrkamp<br />
Verlag, 1982. APUD. Margarida de SOUZA NEVES. Op. Cit, 1986.p.22.<br />
5 - Cf. Margarida de SOUZA NEVES. Op. Cit, 1986.<br />
6 Euclides da CUNHA. Os Sertões. <strong>Rio</strong> de Janeiro: Ediouro, 2003. p. 270.
A Guerra de Canudos durou quase um ano (1896-1897) e contou com a participação<br />
de cerca de dez mil soldados, vindos de dezessete estados brasileiros, que deram combate<br />
aos homens de <strong>Antônio</strong> Conselheiro em quatro expedições militares. O número estimado de<br />
vítimas supera vinte e cinco mil pessoas, entre elas mulheres e crianças. Quase todos os<br />
conselheiristas foram mortos depois de presos, na prática da “gravata vermelha”, como era<br />
conhecida a degola.<br />
A vitória dos militares só se deu ao cabo da quarta expedição: em 5 de outubro de<br />
1897 terminou a resistência dos últimos sertanejos. Canudos ficou completamente<br />
destruída. Cinco mil e duzentas casas foram queimadas, enquanto a elite política,<br />
acadêmica e militar congratulava-se pelo desaparecimento do arraial. O presidente da<br />
República, Prudente de Moraes, havia prometido que em Canudos não ficaria “pedra sobre<br />
pedra”. Acabada a guerra, era necessário, portanto, apagar os vestígios do que era visto<br />
pela ótica do poder como uma insurreição sertaneja. O fim deveria ser exemplar, para que<br />
outros movimentos que desafiassem a ordem republicana não se repetissem. Para as<br />
autoridades envolvidas era importante “que ali se plantasse a solidão e a morte”. 7 O arraial<br />
se converteu em um verdadeiro cemitério a céu aberto. “No dia seguinte à queda do<br />
arraial, os jornais ocupavam-se do carro automóvel e do cinematógrafo, novidades que<br />
estavam dando o que falar 8 ”.<br />
Canudos foi também a primeira guerra brasileira a ter, presentes nos campos de<br />
batalha, correspondentes dos mais importantes jornais do país, principalmente após a morte<br />
do Coronel Moreira César na terceira expedição militar. Ao local do conflito foram<br />
enviados repórteres dos principais jornais da época: Jornal do Comércio, A Notícia, O País,<br />
Gazeta de Notícias, O Jornal do Brasil, O República, O Diário de Notícias, Jornal de<br />
Notícias e O Estado de São Paulo. A imprensa havia crescido e começava a modernizar-se.<br />
Só na Bahia, entre 1811 e 1899, existiam setenta periódicos. O jornal o País do <strong>Rio</strong> de<br />
Janeiro se declara, nesta época, o jornal de maior circulação da América Latina e dedica<br />
centenas de páginas à cobertura da guerra.<br />
No entanto, o conflito se destacou também por ter contado com um suporte de<br />
memória novo no momento em que se deram os combates, a fotografia. Naquele final de<br />
7<br />
Aristides Augusto MILTON. A Campanha de Canudos. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1979<br />
APUD. Lélis PIEDADE. Op. Cit. p. 17.<br />
8<br />
Frederico Pernambucano MELLO. Que foi a guerra total de Canudos. Recife: Stahli, 1997. p.236.
século a técnica fotográfica havia se desenvolvido e a novidade já contava com<br />
profissionais no Brasil. Canudos foi a primeira guerra brasileira a ser registrada em imagens<br />
fotográficas. Três contemporâneos do conflito levaram para o campo de batalha suas<br />
máquinas fotográficas: Juan Guitierrez, Euclides da Cunha e Flávio de Barros. Guitierrez<br />
morreu no sertão e não temos nenhuma imagem produzida por ele, talvez até tenha morrido<br />
sem iniciar o trabalho. Euclides legou à posteridade sua riquíssima narrativa e os mapas que<br />
a ilustram. Dele ficaram, sobretudo as palavras, uma vez que as imagens fotográficas<br />
perderam-se.<br />
Já de Flávio de Barros, que foi para o palco do conflito como fotógrafo<br />
expedicionário contratado pelo exército, temos setenta fotos que registram a geografia da<br />
Aldeia Sagrada de Canudos, mas fundamentalmente as tropas e os oficiais. Na série de suas<br />
fotos feitas em Canudos existem apenas duas fotos de prisioneiros. Em uma delas vemos<br />
somente um jagunço preso e na outra, a imagem impressionante de quatrocentos<br />
prisioneiros de guerra. Não existem fotos de combate, talvez pelo perigo que este registro<br />
envolvia; a única foto de um grupo em movimento empunhando armas, é, na verdade, uma<br />
simulação.<br />
Registro fantasmagórico por excelência, só superado pelo cinema que colocou o<br />
passado em movimento, a fotografia permitiu congelar a imagem, uma maneira de se<br />
alcançar a imortalidade. Quando o homem vê a si mesmo em um retrato antigo, ele é capaz<br />
de perceber a marcha inevitável do tempo, o passado ganha concretude.<br />
ou, ainda, segundo o poeta:<br />
“Um retrato é um milagre, um momento de transcendência e<br />
eternidade(...) 9 ”<br />
“(...) Fotografia é o codinome da mais aguda percepção que a nós<br />
mesmos nos vai mostrando e da evanescência de tudo edifica uma<br />
permanência cristal do tempo no papel. (...) 10 .”<br />
Fotografias são tudo isso e, ainda, suportes de memória, mas, são também, como<br />
sugere em recente romance o escritor moçambicano Mia Couto, mentiras 11 . A imagem está<br />
9 Ivana BENTES. IN: Evandro TEIXEIRA. Canudos 100 anos. <strong>Rio</strong> de Janeiro, 2ªed. Textual, 1997.<br />
10 Carlos Drummond de ANDRADE. IN Paulo FONTENELLE. Evandro Teixeira. Instantâneos da<br />
Realidade. SD. DVD (120mim): Som, cor. Documentário.
geralmente associada, no senso comum, a um alto grau de fidelidade e credibilidade e por<br />
isto, a fotografia, equivocadamente, tende a ser interpretada como expressão da verdade; é<br />
preciso lembrar que enquadrar é sempre excluir.<br />
Durante o século XIX a fotografia era compreendida como realista por excelência,<br />
veículo incontestável de uma verdade empírica 12 . O pensamento dominante à época atribuía<br />
a gênese mecânica do ato fotográfico, ou seja, a técnica seu status de prova, de espelho do<br />
real. A discussão que acirra os ânimos com entusiastas de ambos os lados é se a fotografia<br />
pode ou não ser considerada arte, por sua capacidade mimética de reprodução do mundo,<br />
tanto que alguns retratistas tornam-se fotógrafos neste momento. O entendimento da<br />
imagem neste momento se dá através da semelhança.<br />
O século XX inverte este entendimento da imagem como analogia perfeita<br />
do real e traz para a discussão a capacidade da imagem de transformar o real, seja pela<br />
técnica: ângulo, enquadramento, luz, ou seja através das múltiplas interpretações que ela<br />
permite. Nos chama a atenção para o fato de uma foto não ser apenas o ato de produzir uma<br />
imagem, mas envolver código, e receptor. E códigos e receptores são múltiplos. As<br />
imagens podem provocar reações distintas. A interpretação, o impacto causado por uma<br />
imagem está ligado sempre ao campo de experiência 13 de cada um e vai depender sempre<br />
daquilo que o receptor projeta de si, em função de seu repertório cultural, de sua situação<br />
sócio-economica, de seus preconceitos, de sua ideologia, razão pela qual as imagens<br />
sempre permitirão uma leitura plural. 14 A imagem é, assim, decodificada pelo receptor a<br />
partir do repertório que este possui e apropriada por ele, abrindo, assim, espaço para<br />
leituras diversas, distintas, plurais e por que não, até díspares. Este processo de apreensão<br />
da imagem é gestáltico.<br />
Na intercessão das duas posições de análise desenvolveu-se uma terceira via de<br />
análise, que até certo ponto retoma a questão do referente do século XIX, mas agora sem<br />
encará-lo como substancialmente mimético. Dentro desta linha de interpretação a foto é<br />
11 [0]Cf. Mia COUTO. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. Lisboa: Caminho,2003.<br />
12 Philipe, DUBOIS. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP: Papirus, 1993. p.43<br />
13 Cf.Reinhart ,KOSELLECK. “Champs d´expérience et horizon d’attente. Deux catégories historiques“<br />
IN Le Futur passé. Paris:EHESC, 1990.<br />
14 Cf. Susan SONTAG. Diante da dor dos outros. São Paulo : cia das letras, 2003. p115
inseparável de seu referente, ou seja, do ato que a fundou. A foto é primordialmente índice,<br />
só depois pode tornar-se ícone e adquirir sentido tornando-se símbolo 15 .<br />
Do ponto de vista historiográfico é importante destacar que a foto é um documento<br />
e como tal, pode, inclusive, fazer perguntar sobre o que não está sendo mostrado. A<br />
fotografia é uma seleção do vivido de maneira premeditada ou não.<br />
A comunicação não-verbal ilude e confunde. Deve-se, no entanto,<br />
perceber na imagem o que está nas entrelinhas, assim como fazemos em<br />
relação aos textos (...) Precisamos aprender a esmiuçar as fotografias<br />
criticamente, interrogativamente e especulativamente (...) No que uma boa<br />
fotografia desvenda para o olho e a mente compreensiva, ela falhará em<br />
desvendar para o olhar apressado 16 .<br />
No entanto, o século XIX num esforço de colocar a história no patamar de ciência e<br />
afastá-la da tradição antiquária, legou às imagens o papel secundário de mera ilustração, ou<br />
de exemplificação da fonte escrita. Apenas em 1929 quando Lucien Febvre e March Bloch<br />
fundam a revista Annales d’Histoire Économique et Sociale, com o intuito de inaugurar um<br />
novo tipo de pesquisa histórica, é que esta perspectiva começa a ser modificada. O<br />
movimento dos Annales foi bem sucedido a ponto do historiador Peter Burke ter se referido<br />
a ele como a Revolução da historiografia francesa 17 . A história nova proposta por Febvre e<br />
Bloch voltava-se para problematizar o social, relativizava uma história que absolutizava o<br />
político e o predomínio do Estado como protagonista e a determinação do aspecto<br />
econômico. A preocupação com o estudo das mentalidades como importante objeto de<br />
pesquisa esteve presente desde o início dos Annales. No entanto, de 1959 até 1969, período<br />
em que um discípulo de Lucien Febvre, Ferdinand Braudel, esteve à frente da Revista a<br />
atenção dada pelos fundadores à história das mentalidades permaneceu em um segundo<br />
plano. Braudel trabalhou principalmente a relação tempo e história e suas interação com o<br />
meio geográfico, dando destaque aos aspectos socioeconômicos. Assim, a história das<br />
mentalidades voltou a ganhar ênfase no final dos anos 60, não só com o afastamento de<br />
15 Cf. DUBOIS. Op. Cit.<br />
16 Robert, A. WEINSTEIN & Larry BOOTH. Collection, Use and Care of Historical Photographs Nashville:<br />
American Association for State and Local History. P 11 Apud Boris KOSSOY. Fotografia e<br />
História. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 116.<br />
17 Ciro Flamarion CARDOSO ; Ronaldo VAINFAS (orgs). Domínios da história: ensaios de teoria e<br />
metodologia. <strong>Rio</strong> de Janeiro: Campus, 1997. 7ª edição. p. 131.
Braudel da direção do periódico, que veiculava a produção da Escola dos Annales, mas<br />
também pelo aparecimento no cenário intelectual francês da obra do antropólogo Claude<br />
Lévi-Strauss e do filósofo Michel Foucault, que questionam os preceitos ocidentais que<br />
levavam a conceber o conhecimento dentro de uma estrutura racionalista, de matriz<br />
iluminista. 18 Esta nova vertente da chamada história social, que foi retomada nos anos 60,<br />
trouxe um modo de fazer história de ênfase etnográfica. Foi um movimento de busca do<br />
humano, do homem atrás da história.Esta nova historiografia acentuou o interdisciplinar, ou<br />
seja, o diálogo com outras áreas do conhecimento como com a antropologia, a lingüística, a<br />
psicologia, e dentro desta renovação viabilizou o uso de fontes não escritas no trabalho do<br />
historiador, trazendo à tona o novo papel da imagem. O movimento foi deslocar o que<br />
estava nas margens para o centro da discussão e permitir pensar que “homem comum pode<br />
fazer a história ao invés de sofrê-la” 19 . Esta historiografia vem inaugurando campos de<br />
atuação e novos objetos até os dias de hoje, embora ainda seja bastante comum nos<br />
depararmos com imagens tratadas apenas como ilustrações nos trabalhos historiográficos<br />
ainda hoje, muitos trabalhos como o de Serge Gruzinski em A colonização do imaginário<br />
buscam dar centralidade à imagem igualando a sua importância com a palavra enquanto<br />
fonte documental 20 . Décadas após o trabalho de Bloch e Febvre a imagem ainda é um<br />
desafio para os historiadores.<br />
Fotografias são fragmentos da realidade, são momentos destacados, eternizados,<br />
descolados do fluxo ininterrupto da vida, mas sem a análise do contexto histórico em que<br />
foram produzidas e sem o olhar crítico do historiador continuam sendo apenas fragmentos<br />
deslocados no tempo e no espaço, ecos, sombras de outras épocas. A fotografia é um tipo<br />
de suporte de memória que permite que o passado em seu contorno mais real, o das<br />
fisionomias, do olhar, interpenetre e interpele o presente. Elas são vestígios valiosos para os<br />
historiadores, pois permitem leituras outras que aquela que a historiografia da época nos<br />
legou, uma vez que podemos estabelecer um confronto entre elas e as outras fontes<br />
disponíveis. As imagens podem nos levar além, se soubermos interrogá-las, ver além<br />
daquilo que o fotógrafo elegeu eternizar.<br />
18<br />
Cf: Ciro Flamarion CARDOSO ; Ronaldo VAINFAS (orgs). Op.Cit..<br />
19<br />
IDEM. Op. Cit. 1995. p.36.<br />
20<br />
Cf. Manoel Luiz Lima Salgado GUIMARÃES; Hilda Machado. O lugar das imagens no Campo. Mimeo.
As fotografias de Flávio de Barros são, dentro da definição de Piere Nora 21 , um<br />
lugar de memória de uma lógica excludente o Brasil do século XIX que via o sertão como<br />
atraso, o sertanejo como bárbaro e o Conselheiro como fanático. Lugar de memória de uma<br />
visão legalista que tinha no exército a instituição garantidora da ordem e do progresso<br />
nacional. Lugares de memória do projeto da primeira república, portanto. São igualmente<br />
relíquias, segundo o entendimento de Lowenthal 22 , ou seja, sobrevivências de outros<br />
tempos, fragmentos que dão tangibilidade ao passado.<br />
Segundo estudiosos como o professor Jorge Pedro Souza, o trabalho do fotógrafo<br />
em Canudos se enquadra claramente em uma missão fotodocumentarista 23 , por suas<br />
imagens, se adequarem aos propósitos do exército de justificar a guerra e o massacre. Sua<br />
coleção de fotos constrói uma memória do conflito, um lugar de memória de um exército<br />
que aparece como<br />
(...) Eficiente, organizado, em instalações sempre higiênicas,<br />
com boa disponibilidade de alimentos, assistência médica - inclusive aos<br />
rebeldes, que nas raríssimas vezes em que são retratados estão em situação<br />
inteiramente desprivilegiada 24<br />
E sabemos através do contraste das fotos com outras fontes e pelas críticas internas<br />
e externas as fotos que as condições não eram favoráveis assim. Flávio de Barros, através<br />
das imagens, pretendeu dar legitimidade à ação do exército brasileiro e minimizou os<br />
problemas existentes. A peste de varíola que assolou o sertão durante o desenrolar da<br />
guerra vitimava indiscriminadamente soldados e sertanejos; havia infestações de pulgas, e<br />
os problemas com a logística para o abastecimento das tropas levava, no mais das vezes, à<br />
fome. Segundo relatos de oficiais, como Dantas Barreto, os soldados tiveram por vezes que<br />
recorrer à caça e à coleta de plantas locais. No entanto, o fotógrafo produziu duas imagens<br />
de soldados fazendo refeições normalmente, como se estes problemas não existissem.<br />
Historicamente os fotógrafos escolheram divulgar, sobretudo imagens positivas da guerra,<br />
21 Cf. Piere, NORA.“Entre mémoire et histoire: la problématique des lieux.” IN: Les lieux de mémoire .<br />
Paris: Gallimard, 1984. Vol 1. (Tradução na Revista Projeto História. Nº 10 História & Cultura.<br />
São Paulo, <strong>PUC</strong>-SP – Programa de Pós-Graduação em História, dezembro de 1993.)<br />
22 Cf. David,LOWENTHAL, “How we know the past” IN The past is a foreign country. Cambridge/New<br />
York:Cambridge University Press, 1988. (Tradução para o português na Revista Projeto História. Nº<br />
17 Trabalhos da Memória. São Paulo, <strong>PUC</strong>-SP – Programa de Pós-Graduação em História,<br />
novembro de 1998.<br />
23 Cf. INSTITUTO MOREIRA SALLES. Cadernos de fotografia brasileira. <strong>Rio</strong> de Janeiro: IMS, 2002.p.260<br />
24 Idem. Ibidem. p.261
em defesa do sacrifício dos soldados. Foi só a partir do Vietnã que o horror e a morte<br />
começam a aparecer de maneira nua e crua nos cenários de guerra.<br />
A foto Refeição na bateria do perigo ( anexo1) é um exemplo do massacre referido<br />
acima. Nela cinco oficiais uniformizados estão sentados à mesa fazendo uma refeição. Há<br />
sobre a mesa improvisada com troncos e tábuas precárias travessas, talheres, pratos, copos e<br />
uma garrafa como mandam as regras da boa educação. As bombachas de um deles são um<br />
indício de que há oficiais gaúchos no campo de operações. Era o Brasil da ordem sentado à<br />
mesa, alimentando-se.<br />
O gesto do oficial que corta algo em seu prato parece indicar que na refeição há algo<br />
mais sólido que o arroz com farinha que é a base da comida sertaneja. As botas, os dólmans<br />
abotoados até o pescoço apesar do calor, as calças limpas e os chapéus ainda impecáveis<br />
parecem indicar que o perigo está longe da bateria. Apenas uma arma, colocada<br />
ostensivamente sobre um tamborete e apoiado contra um muro de tronco, lembra a guerra.<br />
No canto inferior direito da cena aparecem três crianças sertanejas, presença talvez<br />
imprevista na montagem da cena da refeição dos militares, mas a câmara fotográfica parece<br />
exercer um fascínio especial sobre as crianças: um menino, de pé, a cabeça raspada<br />
provavelmente para escapar à infestação de piolhos, olha diretamente para a câmera, duas<br />
meninas de vestidinhos escuros, acocoradas na posição que <strong>Monteiro</strong> Lobato eternizará<br />
como sendo a do Jeca Tatu também olham para a lente; uma mais à frente a outra quase que<br />
escondida atrás de uma das muitas redes amarradas nas traves da construção onde os<br />
soldados fazem sua refeição. As crianças não participam da refeição; estão à margem da<br />
fotografia 25 .<br />
Esta foto, isoladamente, sem termos acesso as outras fontes que narram as<br />
dificuldades encontradas, passaria a viva impressão de normalidade e organização no<br />
acampamento das tropas. As crianças estão à margem da foto, assim como estavam<br />
igualmente à margem daquela sociedade que via nos jagunçinhos a marca genética do<br />
atraso, do barbarismo a partir de uma visão determinista e cientificista que atribuía ao meio<br />
e à raça a capacidade de hierarquizar indivíduos.<br />
Outra foto já citada, a única foto de um grupo grande de prisioneiros. È uma<br />
imagem impressionante de quatrocentos prisioneiros de guerra (anexo2), na minha análise<br />
25 Cf. Margarida de Souza Neves
a imagem mais chocante de toda a série. Muitos relatos dão conta das circunstâncias em<br />
que essa fotografia foi tirada.<br />
Na manhã de 02 de outubro os soldados avistaram uma bandeira branca tremulando.<br />
Era <strong>Antônio</strong> Beatinho que pedia uma trégua. Foi levado, então, para falar com o General<br />
Artur Oscar. Queria negociar a rendição dos Canudenses. O General pretendia a rendição<br />
total e deu garantia de vida a todos e, em função desta proposta, Beatinho voltou ao que<br />
havia restado da Aldeia para conversar com os sobreviventes. Algum tempo depois trouxe<br />
ao General as cerca de 400 mulheres e crianças e 60 homens feridos que foram cercados<br />
pelo batalhão de polícia do Pará. Os demais tinham decidido lutar até o fim. De Beatinho<br />
não se teve mais notícias desde então, e também não se sabe ao certo o destino dado às<br />
mulheres, crianças e feridos. O oficial Dantas Barreto presente à rendição descreveu em<br />
palavras suas impressões daquele momento:<br />
Tinham a fisionomia calma, o olhar de quem já não havia coisa<br />
alguma no mundo que espantasse, pouco as inquietavam as multidões<br />
curiosas que viam em torno; não pediam compaixão, (...) Dessem-lhe água<br />
até saciarem a sede que lhes produzia vertigens, e matassem-nas como<br />
quisessem depois. (...) E o desfilar das infelizes continuava ainda, sem que<br />
soubessem para onde as levaria o destino, com a alma vazia de qualquer<br />
sensação que não fosse a sede devoradora e causticante. (...) Os homens<br />
inválidos, cegos, aleijados e feridos de muitos dias, começaram a passar<br />
também. As grandes misérias das humanidade não podem criar situações<br />
mais desoladoras! Todas as torturas do Inferno de Dante estavam ali<br />
resumidas. 26<br />
Na foto, em primeiro plano, estão mulheres e crianças. O sentimento que a visão da<br />
foto inspira é de desalento. Uma multidão de mulheres e crianças envoltas em panos,<br />
impotentes e cercadas por soldados armados que posam para o fotógrafo como se exibissem<br />
e montassem guarda a troféus de guerra, vitoriosos frente à fome, à sede, à tristeza daqueles<br />
que perderam tudo, inclusive o direito ao seu próprio destino. Poucas daquelas mulheres<br />
olham para a câmera, algumas parecem ter os olhos voltados para o vazio, como que<br />
perdidas, outras curvam-se sobre si mesmas, vergadas pela dor. Em meio à multidão um<br />
rosto se destaca (anexo3): uma mulher com a filha às costas parece que nos olha<br />
26 Emídio Dantas BARRETO. Última expedição a Canudos. APUD INSTITUTO MOREIRA SALLES.<br />
OpCit. p.295.
diretamente, e seu olhar resume para mim o momento marcado pela incompreensão, pela<br />
incerteza sobre o futuro, e estampa uma única certeza, a de estar diante de um fim<br />
inexorável. Esta mulher anônima que me olha do centro da imagem de mais de um século<br />
atrás é aquilo que Barthes nomeou de punctum 27 da fotografia, ou seja, o que punge o<br />
espectador. E como o próprio autor coloca normalmente “o puntum é um detalhe, um corte,<br />
um buraco, o que mortifica e fere” 28 . O que me mobiliza nesta mulher é difícil de definir<br />
com precisão, talvez o contraste, a descontinuidade entre a beleza de seu rosto e a tristeza<br />
do olhar, ou talvez quem sabe a imagem do sofrimento materno a referência simbólica tão<br />
presente na nossa cultura seja: Maria ou Pietá ou, ainda, mais recentemente, a mãe de<br />
Beslan. Seu olhar expressa o fim do sonho de Conselheiro, da Aldeia Sagrada, da vida que<br />
elas conheceram. Perda, talvez seja a palavra, perda da casa, do cotidiano, muitas vezes do<br />
marido, dos filhos, do ideal. Perda acima de tudo da esperança.<br />
Há ainda as crianças. Um menino negro com as mãos postas parece rezar, um bebê<br />
exibe as costelas descarnadas, marca da fome que assolou os últimos dias de Canudos.<br />
Outras imóveis olham sem compreender, algumas se encolhem com medo. Medo<br />
justificado naqueles dias tão terríveis onde nem mulheres nem crianças foram poupadas da<br />
violência dos representantes do litoral civilizado que acreditava no progresso. A foto ainda<br />
hoje choca, e parece ser atemporal; poderia ilustrar qualquer referência que tenhamos da<br />
fome, da guerra e do sofrimento humano. É atemporal, pois a dor é atemporal, uma espécie<br />
de núcleo de compreensão que pode ser apreendido, qualquer que seja o receptor. Ainda<br />
que esta dor seja historicamente datada sua referência espacial e temporal seja igualmente<br />
conhecida: Canudos: 02 de outubro de 1897. Foi no Brasil, na Bahia, quase divisa com<br />
Sergipe que se produziu a cena registrada pelo aparelho fotográfico de Flávio de Barros.<br />
Susan Sontag escreveu certa vez que algumas imagens são capazes, através de seu<br />
realismo intolerável, de aprisionar a história em nossas mentes. E esta realidade póstuma,<br />
muitas vezes, pode representar o sumário de acusação mais incisivo que há 29 . Esta foto com<br />
certeza, é uma delas. Sempre presente nas publicações a respeito de Canudos, virou uma<br />
referência obrigatória, converteu-se em um lugar de memória lido pelo avesso, ao invés de<br />
lugar de memória da vitória final do exercito sobre o arraial de Conselheiro, objetivo inicial<br />
27 Roland BARTHES. A Câmara Clara. <strong>Rio</strong> de Janeiro: Nova Fronteira. pp46<br />
28 Idem. Ibidem. pp46.<br />
29 Cf. SONTAG.op. cit. pp 53 e 71.
do registro de Flávio de Barros, tornou-se lugar de memória da violência empreendida pelas<br />
tropas contra um grupo de sertanejos que acreditou na possibilidade de viver dentro de uma<br />
lógica includente baseada em laços de solidariedade.<br />
A fotografia, este documento em aberto que nos permite várias leituras, é por<br />
essência contradição e ambigüidade. Documento e obra de arte, revelação e farsa, realismo<br />
e surpresa, luz e sombra, instante e eternidade. Contradição, assim como o sertão descrito<br />
por Euclides da Cunha que oscila em ritmo binário entre a seca e a chuva, assim como seu<br />
sertanejo este Hércules-Quasímodo 30 .<br />
Hoje, mais de um século depois das fotos de Flávio de Barros a fotografia ainda é<br />
para o sertanejo uma experiência que guarda uma aura de magia e apreensão. Ivana Bentes<br />
soube perceber isso com sensibilidade ao revisitar o sertão de Canudos com o fotografo<br />
Evandro Teixeira:<br />
30 Cf. Idem.Ibidem<br />
31 Ivana BENTES. Op. Cit p. 01.<br />
(...)Diante da câmera fotográfica as pessoas se imobilizam como<br />
se dependessem desse instante para qualquer redenção. Não existe sorriso<br />
nem estar á vontade diante do fotógrafo. A solenidade dos rostos, a crueza<br />
da paisagem, o excesso de luz não deixa quase nada para se imaginar ali. O<br />
sertão é um cartão-postal perverso. Tudo está lá e ao mesmo tempo parece<br />
que não vimos nada 31 .
Referências Bibliográficas<br />
BARTHES, Roland. A Câmara Clara.<br />
<strong>Rio</strong> de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.<br />
CARDOSO, Ciro Flamarion ; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da história: ensaios de<br />
teoria e metodologia.<strong>Rio</strong> de Janeiro: Campus, 1997. 7ª edição.<br />
COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra.<br />
Lisboa: Caminho,2003.<br />
CUNHA, Euclides da. Os Sertões.<br />
<strong>Rio</strong> de Janeiro: Ediouro, 2003.<br />
DUBOIS, Philipe O ato fotográfico e outros ensaios.<br />
Campinas, SP: Papirus, 1993.<br />
GUIMARÃES, Manoel Luiz Lima Salgado e MACHADO, Hilda. O lugar das imagens no<br />
Campo. Mimeo.<br />
INSTITUTO MOREIRA SALLES. Cadernos de fotografia brasileira.<br />
<strong>Rio</strong> de Janeiro: IMS, 2002.<br />
KOSELLECK, Reinhart. “Champs d´expérience et horizon d’attente. Deux catégories<br />
historiques. “ IN Le Futur passé. Paris:EHESC, 1990.<br />
KOSSOY, Boris. Fotografia e História.<br />
São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.<br />
LE GOFF, Jacques. “Memória” IN Enciclopédia Einaudi vol 1. História – Memória.<br />
Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa da Moeda, 1984.<br />
LOWENTHAL, David. “How we know the past” IN The past is a foreign country. Itálico<br />
Cambridge/New York:Cambridge University Press, 1988. (Tradução para o<br />
português na Revista Projeto História. Nº 17 Trabalhos da Memória. São Paulo,<br />
<strong>PUC</strong>-SP – Programa de Pós-Graduação em História, novembro de 1998.)<br />
MELLO, Frederico Pernambucano. Que foi a guerra total de Canudos. Recife: Stahli,<br />
1997.<br />
NEVES, Margarida de Souza. As vitrines do progresso. O Brasil nas Exposições<br />
Internacionais. <strong>Rio</strong> de Janeiro: <strong>PUC</strong>-<strong>Rio</strong>/CNPq, 1986.
NEVES, Margarida de Souza. Ciência e preconceito: uma história social da epilepsia<br />
no pensamento médico brasileiro. 1895-1906. <strong>Rio</strong> de Janeiro: <strong>PUC</strong>-<strong>Rio</strong> / CNPq,<br />
2003. (Projeto de Pesquisa, mimeo)<br />
NEVES, Margarida de Souza.Os cenários da república. O Brasil na virada do século XIX<br />
para o século XX. IN Jorge FERREIRA e Lucília de Almeida Neves DELGADO (<br />
orgs). Brasil Republicano (vol I) O tempo do liberalismo excludente. Da<br />
proclamação da república a 1930. <strong>Rio</strong> de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.<br />
NEVES, Margarida de Souza. Uma capital em trompe l’oei. O <strong>Rio</strong> de Janeiro, cidadecapital<br />
da República-Velha. IN. Ana Maria MAGALDI;Claudia ALVES e José G.<br />
GONDRA (Orgs). Educação no Brasil. História, cultura e política. Bragança<br />
Paulista: EDUSF, 2003.<br />
NORA, Pierre. “Entre mémoire et histoire: la problématique des lieux.” IN: Les lieux de<br />
mémoire. Itálico Paris: Gallimard, 1984. Vol 1. (Tradução na Revista Projeto<br />
História. Nº 10 História & Cultura. São Paulo, <strong>PUC</strong>-SP – Programa de Pós-<br />
Graduação em História, dezembro de 1993.)<br />
PIEDADE, Lelís. Histórico e Relatório do Comitê Patriótico<br />
da Bahia (1897-1901). Salvador: Portfolium, 2002<br />
SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI. No loop da montanha-russa.<br />
São Paulo: Companhia das Letras, 2001.<br />
SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros.<br />
São Paulo: Companhia das Letras, 2003.<br />
TEIXEIRA, Evandro. Canudos 100 anos.<br />
<strong>Rio</strong> de Janeiro, 2ªed. Textual, 1997.
Anexos<br />
Anexo 1 – Fotografia Bóia na Bateria do Perigo ( Flávio de Barros, 1897)
Anexo 2 – Fotografia 400 jagunços prisioneiros ( Flávio de Barros, 1897)<br />
Anexo 3 – Detalhe da fotografia 400 jagunços prisioneiros ( Flávio de Barros,<br />
1897)