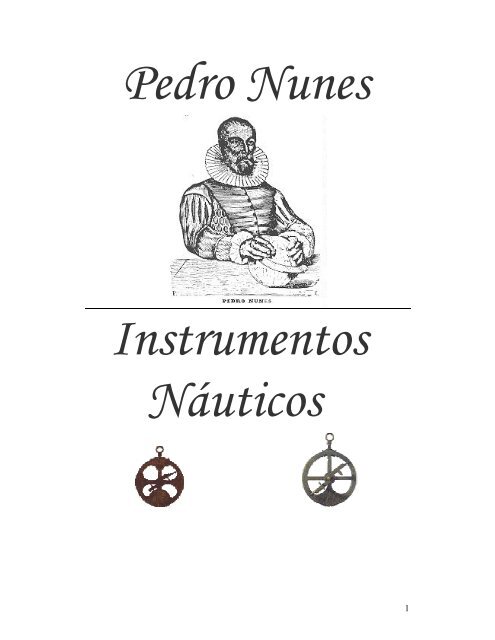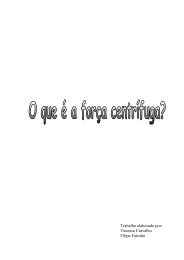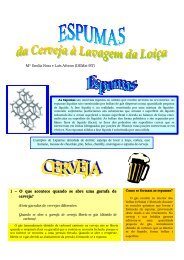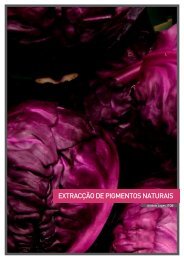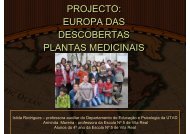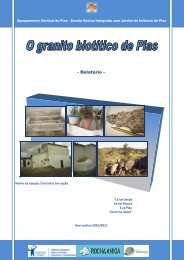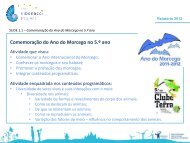Pedro Nunes Instrumentos Náuticos - Ciência Viva
Pedro Nunes Instrumentos Náuticos - Ciência Viva
Pedro Nunes Instrumentos Náuticos - Ciência Viva
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong><br />
<strong>Instrumentos</strong><br />
Náuticos<br />
1
<strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong>- Biografia<br />
(1502-1578)<br />
Nasceu em Alcácer do Sal em 1502, de ascendência judaica. Em<br />
1517, inicia os estudos universitários. Em 1523 casa com D Guiomar<br />
Áreas (Aires). Deste casamento nasceram dois rapazes (Apolónio e<br />
<strong>Pedro</strong>) e quatro raparigas ( Briolania, Francisca, Isabel e Guimoar).<br />
Seguiu os cursos de Filosofia e de Matemática na Universidade de<br />
Lisboa, onde em 1525 alcançou o grau de bacharel em medicina e foi<br />
encarregado da regência da cadeira de Filosofia Moral a 4 de Dezembro<br />
de 1529, transitando em seguida para a de Lógica e depois para a de<br />
Metafísica.<br />
Por alvará de 1529, o rei D. João III nomeou-o cosmógrafo, com a<br />
pensão de 20$00 (20 mil) réis em cada ano, cargo em que foi confirmado<br />
em 1541 com a renda duplicada. A 13 de Agosto de 1531, D. João III<br />
convida-o para professor dos seus 6 irmãos e foi para Évora como tutor<br />
dos príncipes até 1534. Em 1547 passou a cosmógafo-mor, com o<br />
vencimento de 50$000 réis. A 1 de Dezembro de 1537 é publicado o<br />
Tratado da Sphera com a Theorica do Sol e da Lua em Lisboa, por<br />
Germão Galhardo. Em Janeiro de1542 publica De corpusculis Libri<br />
unus,(16 de Outubro) uma das obras que mais reputação lhe deu nos<br />
meios científicos.<br />
Pouco tempo depois da transferência da Universidade de Coimbra,<br />
<strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong> foi aí nomeado professor, em 1544, cargo que ocupou até á<br />
sua jubilação em Julho de 1562.<br />
Na sua qualidade de cosmógrafo ausentou-se diversas vezes de<br />
Coimbra para corresponder a pedidos do rei no sentido de resolver<br />
problemas técnicos da náutica.<br />
Em 1546, é impresso o seu trabalho De erratis Orontii Finei, Regii<br />
Mathematicarum Lutetiae Professoris. Em 1548 é feito Cavaleiro do<br />
Hábito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1549, Diogo de Sá publica De<br />
navigatione Libri tres, em Paris, o livro contém críticas a <strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong>.<br />
2
Em 1555, é eleito para proceder á reforma dos Estudos Universitários,<br />
juntamente com Baltazar Faria.<br />
A 11 de Junho de 1557 morre D. João III: a rainha D. Catarina<br />
autoriza, por despacho de 21 de Outubro, <strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong> a estar ausente<br />
da regência da sua Cadeira na Universidade durante 3 ou 4 anos, para se<br />
ocupar da tarefas ligadas á ciência das navegações. A 20 de Dezembro<br />
deste mesmo ano, <strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong> apresenta ao Conselho da Universidade<br />
de Coimbra um alvará de lembrança em que a rainha determina que os 4<br />
anos que ele iria passar na corte, e os 3 anos em que foi professor na<br />
Universidade de Lisboa lhe fossem contados para efeito do cômputo de<br />
jubilação .Em Julho de 1562 é-lhe concedida a jubilação por diploma de<br />
D.Catarina, sua última interferência como Regente do Reino.<br />
Entre 1562 e 1572 afastou-se da corte e viveu em Coimbra, mas<br />
D.Sebastião voltou a chamá-lo ao serviço como cosmógrafo em 1572.<br />
Parece ter sido a partir desse momento que se ocupou de uma « aula de<br />
esfera» (astronomia e cosmografia) destinada aos pilotos, navegadores e<br />
cartógrafos.<br />
Em 1566, publica em Bâle, o volume Petri Nonii Salaciensis opera,<br />
trabalho em que são refundidos e ampliados os trabalhos que, em 1537,<br />
publicara com o título Tratado da Sphera , mas agora acrescidos de<br />
novos escritos. Aqui aparece pela primeira vez uma das suas obras mais<br />
notáveis: o tratado De Arte atque ratione navigandi em comjunto com o<br />
De corpusculis. Em 1567, publica em língua castelhana, na cidade de<br />
Antuérpia, o seu Libro de Algebra en Arithmetica y geometria.<br />
A 11 de Outubro de 1568 foi encarregado por D.Sebastião da reforma<br />
dos pesos e medidas do Reino, que foi promulgada em 1575. Em 1571, é<br />
publicado um volume contendo o De corpusculis e o De erratis Orontii<br />
Finaei por Antonio Mariz. Em 1573 a segunda edição de Petri Nonii<br />
Salaciensis Opera.<br />
Em 1576, já viúvo, deixa Lisboa para se fixar em Coimbra.<br />
Em 1577, recebe o convite do Papa Gregório XIII para se pronunciar<br />
sobre um projecto de Reforma do Calendário.<br />
A 11 de Agosto de 1578 desapareceu do número dos vivos e o seu<br />
nome continuou célebre como um dos maiores matemáticos de sempre.<br />
<strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong>- Glória da Ciência Portuguesa e Universal<br />
3
O Conceito de Nónio<br />
Estamos certos que <strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong> (1502-1577), quando se preocupou<br />
com este problema( latitude e longitude), não conhecia o trabalho de<br />
Levy, que apesar de traduzido para latim devia ter tido uma divulgação<br />
muito limitada, por se tratar de um manuscrito e, muito menos a obra de<br />
Digges que, apesar de impressa, é posterior á sua invenção. Aliás, se tal<br />
tivesse acontecido, talvez o facto desmotivasse o nosso ilustre sábio, pois<br />
o seu conceito de nónio, tem o mesmo objectivo que a escala diagonal.<br />
O nónio aparece na obra De crepusculis, publicada em 1542.<br />
Desenho segundo a gravura apresentada por <strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong>, em De Crepusculis,<br />
Descrição do nónio. Lisboa, 1542. Biblioteca Nacional, Lisboa.<br />
Na segunda parte desta obra, a proposição número três, reza assim: «<br />
Construir um instrumento que seja muito apropriado ás observações dos<br />
astros, e com o qual se possam determinar rigorosamente as respectivas<br />
alturas»<br />
Não se conhecem exemplares dotados de nónio que tenham existido<br />
em Portugal. Há informações sobre a sua utilização por parte de Tycho<br />
Brahe (1546-1601), na sua obra Astronomiae Instauratae Mechanica,<br />
cuja primeira edição é de 1598. Nesta obra, além de serem apresentadas<br />
gravuras dos quadrantes, o autor afirma que estes estão divididos com as<br />
usuais transversais, mas também utilizam o nónio do « famoso<br />
matemático espanhol<br />
4
Retrato de Tycho Brahe in Astronomiae Quadrante mural in Ticho Brahe,<br />
Istauratae Mechanica, ed. 1602, Astronomiae Instauratae Mechanica, ed. 1602.<br />
Biblioteca da Ajuda, Lisboa<br />
Biblioteca da Ajuda, Lisboa<br />
O único instrumento da época dotado de nónio e que sobrevive é o<br />
quadrante fabricado em 1595 por Kynnyn, que se encontra em Florença.<br />
Há uma réplica no Museu da Marinha, em Lisboa. O nónio de <strong>Pedro</strong><br />
<strong>Nunes</strong> é bastante diferente do instrumento posteriormente criado pelo<br />
francês Pierre Vernie para resolver o mesmo problema, e que foi chamado<br />
indistintamente «vernier» ou « nónio» em alguns países.<br />
5
Obras de <strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong><br />
Obras Impressas<br />
*Tratado da Esfera Lisboa, Simão Galhardo, 1537<br />
- Tratado da Sphera<br />
- Theorica do Sol e da Lua, de Purbachio<br />
- Livro primeiro da Geographia de Ptolomeu<br />
- Tratado em defensam da carta de Marear<br />
*Astronomi Introductorii de Sphaera Epitome (sem data)<br />
*De Crepusculis Libri Unus Lisboa, Luís Rodrigues, 1542<br />
*De Erratis Orontii Finaei Coimbra, João Barreiros e João<br />
Alvares,1546<br />
*Petri Nonii Salaciensis Opera Basileia, Ex Officina<br />
Henricpetrina,1567<br />
-Rerum astronomicum Problemata Geometrica<br />
-De Regulis et Instrumentis<br />
-In Theorica Planetarum Georgii Purbachii<br />
*Libro de Algebra en Aritmetica e Geometria Anvers, Juan<br />
Stelsio,1567<br />
*De Crepusculis Libri Unus Coimbra, António Mariz, 1571<br />
*De Erratis Orontii Finaei Conimbricae, António Mariz, 1571<br />
*De arte atque ratione navigandi, Conimbricae, António Mariz,<br />
1573<br />
Manuscritos<br />
*Defensam do Tratado de Rumacao do Globo para a Arte de<br />
Navegar( Biblioteca Nacional de Florença), publicado em: Joaquim de<br />
Carvalho<br />
6
Obras de que só há notícia<br />
*Geometria dos triangulos spheraes<br />
*De ortu et occasu signorum<br />
*De astrolabio opus demonstratiuum<br />
*De planisphaerio goemetrico<br />
*De globo delineando ad nauigandi artem<br />
*Traduçao do De Architectura, de Vitruvio<br />
Imagens<br />
in Libro de Algebra<br />
7
in Libro de Algebra<br />
8
in Libro de Algebra<br />
in De Corpusculis,1542<br />
9
Moeda de 100$00<br />
Selo de 5$00, 1978<br />
Selo comemorativo do 4º centenário da morte<br />
10
<strong>Instrumentos</strong> Náuticos e Navegação Astronómica<br />
Quando os Portugueses, no inicio do século XV começaram as<br />
navegações ao longo da costa Africana constataram que, enquanto as<br />
viagens de ida se efectuavam sem dificuldade, o mesmo não se sucedia com o<br />
regresso, devido aos ventos contrários. Recorrendo á sua experiência de mar<br />
aperceberam-se que engolfando-se no Atlântico e levando os navios a<br />
descrever uma larga volta, conseguiam fazer as viagens mais curtas em<br />
tempo e mais cómodas para a tripulação.<br />
Todavia, com tal afastamento da terra, os pilotos deixavam de saber<br />
a posição a que o navio se encontrava, dado que não podiam usar as<br />
referências que eram indispensáveis para determinar o ponto do navio.<br />
A solução encontrada foi recorrer aos astros, primeiro á Estrela Polar,<br />
depois ao Sol, pois assim conseguiam calcular, com uma certa precisão, a<br />
latitude a que o navio se encontrava, a qual, cruzada com a longitude<br />
estimada permitia fazer a navegação com alguma segurança. Para o efeito,<br />
foram desenvolvidos Métodos de Navegação e <strong>Instrumentos</strong> Náuticos.<br />
Os <strong>Instrumentos</strong> Náuticos são uma peça fundamental na arte de<br />
navegar. A sua finalidade é basicamente obter a posição da embarcação de<br />
modo a permitir uma navegação segura. Outros são apenas auxiliares ou<br />
complementares desses instrumentos não sendo por isso de desprezar.<br />
Modernamente a electrónica, pela sua facilidade e fiabilidade, impôs-se e<br />
quase nos faz esquecer o difícil percurso da descoberta e aperfeiçoamento<br />
dos instrumentos usados pelos pioneiros da arte de navegar dos quais os<br />
portugueses se podem orgulhar de também terem contribuído. Os problemas<br />
que se puseram sobre a latitude e longitude deram um grande impulso ao<br />
aperfeiçoamento e descoberta de novos instrumentos.<br />
Ainda hoje em dia há quem tenha de recorrer a essas «relíquias», não<br />
só como distracção de bordo, mas também como recurso perante as avarias e<br />
falibilidade da moderna tecnologia.<br />
11
Quadrante<br />
Usado pelos navegadores portugueses por volta do século XV, o<br />
quadrante, de origem mais remota que o astrolábio, era um instrumento de<br />
madeira ou em latão empregado para tomar alturas de astros.<br />
Tinha a forma de ¼ de círculo tendo numa das arestas rectilíneas<br />
duas pínulas por onde se enfiava o astro. Um fio de prumo era fixo ao<br />
centro do arco e interceptava o limbo graduado em graus de 0 a 90. O astro<br />
era visado pelo lado onde estavam marcados os 90º. A posição da linha de<br />
prumo indicava na graduação a altura do astro. Para facilitar a leitura<br />
rigorosa do limbo graduado no quadrante, arranjou <strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong> um<br />
dispositivo com o nome de Nónio. O problema que se punha, para a época,<br />
era a divisão das escalas num espaço tão pequeno como ao Quadrantes ou<br />
mesmo os astrolábios, o que fez com que fosse pouco usado.<br />
Assim, para se obter a medida deste ângulo hipoteticamente entre 29º<br />
e 30º, o valor era de 29,6º.<br />
12
Pricípio do Nónio- caso que indica 29.6º<br />
A figura acima indicada é um exemplo simplificado para a<br />
compreensão do princípio do Nónio, uma vez que o Nónio de <strong>Pedro</strong><br />
<strong>Nunes</strong> dividia uma escala em 44 partes.<br />
13
Astrolábio Náutico<br />
O astrolábio é um antigo instrumento para medir as alturas dos<br />
astros acima do horizonte. A sua invenção atribui-se a Hiparco, pai da<br />
astronomia e trigonometria. Ptolomeu designa por astrolábio a esfera<br />
armilar, que os Árabes combinaram com o globo celeste e aperfeiçoando-o<br />
criando assim o astrolábio esférico. Os Gregos já o conheciam mas foi<br />
através dos Árabes, que chegou á Europa.<br />
Astrolábio planisférico de Nicol Patenal 1616 (frente e verso)<br />
14
O instrumento era composto por um disco graduado, a madre, onde se<br />
achavam colocadas várias lâminas circulares, Essas lâminas eram<br />
também graduadas á superfície das suas margens, permitindo através da<br />
alidade(régua móvel que faz parte de um instrumento com que se<br />
determina a direcção dos objectos) determinar a altura de qualquer astro.<br />
A alidade girava em torno do centro comum da madre e de todas as<br />
lâminas. Cada uma das lâminas ou discos servia para uma determinada<br />
latitude. No século XI, Zarquial, um árabe da Península Ibérica,<br />
idealizou um astrolábio universal com uma só lâmina e que servia para<br />
qualquer lugar. Com o astrolábio plano resolviam-se problemas<br />
geométricos, tais como, calcular a altura de um determinado edifício ou a<br />
profundidade de um poço. Era também usado em astrologia.<br />
Inicialmente, o astrolábio, tinha a configuração da face posterior dos<br />
planisférios. No entanto, e com a experiência dos pilotos ganhou uma<br />
nova forma. Deixou de ser fabricado em chapa de metal ou madeira e<br />
passou a fundir-se em liga de cobre de modo a que o seu peso (cerca de<br />
dois quilos) o sujeitasse ao balanço do navio.<br />
A forma definitiva do astrolábio náutico fixa-se assim numa roda, de<br />
15 a 20 cm, com dois diâmetros ortogonais no centro do qual gira a<br />
mediclina no sentido ascendente até que ao meio-dia solar, e num breve<br />
momento, a mediclina conservava-se estacionária para em seguida se<br />
mover no sentido inverso. Pela maneira de como se efectuava esta<br />
operação era conhecida pelas gentes do mar como « pesar do sol». A<br />
leitura da escala, interceptada pela mediclina, indicava a altura<br />
meridiana do sol que complementada com a consulta das tabelas de<br />
declinação do sol permitia calcular a latitude do lugar.<br />
Representação da pesagem do Sol<br />
15
Nos primeiros tempos o zero da graduação encontrava-se na<br />
horizontal do quadrante mas no século XV o sentido da escala foi<br />
invertido agora com o zero na vertical do quadrante. Obtinha-se assim<br />
directamente na escala a distância zenital (complemento de altura) do<br />
astro suprimindo uma operação no cálculo da latitude, sempre<br />
complicado para os pilotos da época. Para o hemisfério norte a fórmula<br />
da latitude é lat= (90º- h) +d o que simplificado dá lat=z+d, em que h é<br />
igual á altura do astro, d a declinação e z a distância zenital.<br />
Muitos exemplares espalhados pelo mundo foram fabricados em<br />
Portugal e exibem o nome ou as marcas do fabricante. Poucos astrolábios<br />
chegaram aos nossos dias, mas com o desenvolvimento da arqueologia<br />
subaquática foi possível recuperar muitos deles. O número de astrolábios<br />
aponta para cerca de 80 e são mundialmente registados no Museu da<br />
Marinha de Greenwich. Além de um número de registo, passaram a ser<br />
conhecidos por um nome, normalmente relacionado com o local onde<br />
foram encontrados.<br />
Sacramento Santiago Atocha III Atocha IV<br />
(1650) (1575) (1605) (1616)<br />
Ericeira(1600) Aveiro(1575) S,Julião da Barra 1 S.João da Barra 2 S.Jão da Barra3(1606)<br />
16
Em Portugal existem pelo menos dez exemplares, nove dos quais no<br />
Museu da Marinha em Lisboa formando a maior exposição permanente<br />
de astrolábios náuticos. São eles Sacramento, Santiago, Atocha III,<br />
Atocha IV, Ericeira, Aveiro, São Julião da Barra 1, 2 e 3.<br />
Aquele que é conhecido por Coimbra, encontra-se no Observatório da<br />
Universidade de Coimbra, o qual, devido ás suas características,<br />
dimensões e peso, nunca foi usado a bordo dos navios.<br />
17
A Bússola<br />
A Bússola, mais conhecida pelos marinheiros como Agulha, é o<br />
instrumento de navegação mais importante a bordo ainda hoje. Baseia-se<br />
no principio que um ferro natural ou artificialmente magnetizado tem de<br />
se orientar segundo a direcção do campo magnético da terra. Os chineses<br />
conheceram-na muito antes dos europeus. Foram aqueles os primeiros a<br />
fazerem uso da propriedade da magnetite para procurarem os pontos<br />
cardeais. A Bússola chinesa era composta por um prato quadrangular<br />
representado a Terra onde uma colher de magnetite poisada no centro<br />
indicava o sul.<br />
Bússola Chinesa<br />
Foi através dos Árabes que esse princípio entra na Europa, onde se<br />
tem a notícia do seu uso no século XII. Inicialmente, era composta por<br />
uma palhinha flutuando numa vasilha cheia de água e que apontava<br />
para Norte. Levava-se a bordo pedras de magnetite para se cevar as<br />
agulhas á medida que estas iam perdendo o seu magnetismo.<br />
Pedra de cevar<br />
Os rumos ou as direcções dos ventos têm origem na Antiguidade. Na<br />
Grécia começaram com dois, quatro, oito e doze rumos. No início do<br />
século XVI surgem dezasseis e na época do Infante D.Henrique já se<br />
usavam rosas dos ventos com 32 rumos. Primeiro o rumo era associado ao<br />
vento e mais tarde aos pontos cardeais. A tradição de decorar o Norte<br />
com uma flor de Lis tem origem nas armas da família Anjou que reinava<br />
em Nápoles. Em certas rosas dos ventos, no local que indicava o Leste,<br />
18
aparecia desenhada uma cruz que indicava a direcção da Terra Santa. A<br />
rosa dos ventos era marcada com pontos cardeais e com os quadrantes<br />
divididos consoante os rumos. Aos espaços entre cada um dos 32 rumos<br />
chamavam-se quartas .<br />
Rosa dos Ventos- 1569<br />
Quanto ao desvio da agulha, ou seja, o efeito que massas de ferro<br />
próximas têm sobre uma bússola, foi descoberto por D.João de Castro por<br />
volta de 1538. Este efeito obrigou a ter cuidados com o posicionamento<br />
desta relativamente a outros objectos, tais como, peças de artilharia,<br />
âncoras entre outros. Era uma das razões para que os morteiros, caixas<br />
que protegem as bússolas, fossem primeiramente em madeira. A bússola<br />
consta de leves barras magnetizadas e paralelas que se fixam na parte<br />
inferior de um disco graduado chamado de rasa dos ventos, tem no centro<br />
um capitel com um cávado cónico com uma pedra incrustada (rubi,<br />
safira,...) onde assenta numa haste vertical, o pião, fixada no fundo do<br />
morteiro. No vidro ou na parede do morteiro existe um traço vertical<br />
chamado linha de fé que indica com rigor a direcção da proa da<br />
embarcação.<br />
19
Bússola francesa- 1690<br />
Durante o século XVI as nossas bússolas tinham, pelo menos desde<br />
1537, um sistema de balança para manter o morteiro horizontal. O morteiro<br />
estava colocado numa coluna de madeira, mais tarde de metal, a bitácula, á<br />
frente da roda do leme. A bitácula contêm um sistema dito cardan que<br />
permite que o morteiro se mantenha na horizontal apesar das oscilações do<br />
barco.<br />
Quando se começou com os cascos em ferro o desvio tinha um efeito<br />
considerável e a bússola teve que ser adaptada. A bitácula passou a incluir<br />
uns ferros para compensar esse efeito e umas esferas de ferro de modo a<br />
conduzir o fluxo magnético á volta da bússola e atenuar as influências dos<br />
ferros envolventes. De maneira a diminuir ainda mais o efeito do balanço do<br />
navio, o morteiro pode ainda ser cheio com líquido (água e álcool ou petróleo<br />
branco) e por isso feito de um metal com reduzido efeito magnético,<br />
normalmente latão. As agulhas devem ser sensíveis e estáveis.<br />
20
O Prumo<br />
Dos primeiros instrumentos de navegação conta-se concerteza o que<br />
permitiu medir a altura da água por baixo de uma embarcação.<br />
Primeiramente talvez o pau ou a vara usada para deslocar o barco. E depois<br />
disso talvez tenham utilizado uma pedra atada a uma linha.<br />
Textos da Antiguidade referem sondagens e mesmo navegação com<br />
este método o que pressupõe a utilidade deste instrumento naquela época.<br />
Usado para profundidades até cerca de 20 braças, a sonda ou prumo<br />
da mão é composto por um cone alongado de chumbo, redondo ou quadrado,<br />
de 3 a 5Kg de peso e com uma alça no vértice superior onde se fixa a linha<br />
de prumo ou sondaresa. Na base uma cavidade é cheia com sebo para trazer<br />
amostras do fundo de modo a conhecer-se a sua natureza (areia, rocha,<br />
lodo,...)<br />
Prumo de mão<br />
A sondaresa é graduada em braças ou metros com um coiro na quinta<br />
braça ou metro. Uma pinha de anel marca a décima, dois coiros a décima<br />
quinta e duas pinhas a vigésima. As unidades intermédias são marcadas com<br />
nós.<br />
O Prumo Grande, usado para grandes profundidades, tem uma<br />
chumbada de 15 a 20 Kg. Este tipo de prumo era usado nos séculos XVI e<br />
XVII para reconhecer fundos que excediam as 200 braças. O prumo é jogado<br />
pelo prumador do bordo respectivo imprimindo á chumbada um movimento<br />
de translação, de ré para vante, de modo que este caia na água<br />
suficientemente a vante, para que, com o movimento do navio em marcha<br />
lenta, toque no fundo no momento em que a linha está na vertical.<br />
21
Até meados deste século o prumo de mão era de extrema importância<br />
para a navegação. Ainda não havia sondas electrónicas ou eram demasiado<br />
dispendiosas para um uso generalizado. A sondagem realizava-se para<br />
determinar a altura da água debaixo da embarcação de modo a evitar um<br />
encalhe ou ainda para se determinar o fundo para que largasse a âncora com<br />
segurança.<br />
Este é mais um dos instrumentos a reter a bordo para remediar<br />
eventuais avarias do chamado, progresso.<br />
22
A Balestilha<br />
Há quem afirme que foram os Portugueses que terão inventado a<br />
balestilha e a origem do seu nome poderá ser balhesta, o mesmo que besta, a<br />
arma medieval, devido á sua semelhança.<br />
É constituída por uma régua de madeira, o virote, de secção quadrada<br />
e com três ou quatro palmos de comprimento, na qual se enfia a soalha que<br />
corre perpendicularmente ao virote. Para medir a altura de uma estrela<br />
visava-se por uma das extremidades do virote através de uma pínula e<br />
ajustava-se a soalha de modo que a aresta superior desta coincidisse com a<br />
estrela e a outra extremidade com o horizonte do mar. A leitura da altura do<br />
astro era feita no ponto da escala gravada no virote onde a soalha<br />
correspondente tinha ficado, isto porque a balestilha tinha três ou quatro<br />
soalhas, conforme a altura do astro a medir.<br />
Para medir o sol, a operação era feita de costas para o astro,<br />
naturalmente para não ferir a vista. O observador espreitava o horizonte<br />
pela tangente do virote deslocando a pínula, com orifício ou fenda, até que<br />
visse a sombra do extremo da soalha coincidir com a pínula. A leitura era<br />
feita na escala do virote na posição da pínula.<br />
Medindo astros com a balestilha<br />
Foi o primeiro instrumento a usar o horizonte do mar e apareceu após<br />
o astrolábio e o quadrante. Existe notícia do seu fabrico pelo menos até ao<br />
início do século XIX.<br />
23
O Nocturlábio<br />
O nocturlábio foi um instrumento usado nos primórdios da navegação<br />
que servia para se ler a hora através do movimento das estrelas. O princípio<br />
de funcionamento do nocturlábio assenta na observação e leitura do<br />
movimento das estrelas realizam em torno da estrela polar.<br />
Este movimento é, como sabemos, um movimento aparente resultante<br />
da rotação do nosso planeta. Em teoria considera-se que a polar está fixa no<br />
enfiamento do eixo de rotação da terra, a norte, apesar de um pequeno<br />
desvio que era de 3º, 5 no século XV. As estrelas giram no sentido contrário<br />
aos dos ponteiros do relógios em torno da polar (isto no hemisfério norte), e é<br />
o movimento de uma das guardas da Ursa Menor, a estrela Kochab, que é<br />
observado e usado na leitura do tempo ao longo do ano.<br />
Posição aproximada da Kochab ao longo do ano<br />
No final do século XIII, o maiorquino Raimundo Lúlio, descreveu a<br />
chamada Roda Polar a que chamou de astrolabii nocturni, ficando assim<br />
conhecida por Nocturlábio. A roda era apontada á polar, alinhando-se a<br />
data de observação a leste do orifício por onde se fazia pontaria á referida<br />
estrela. A zona onde a Kochab tangia o instrumento indicava a hora.<br />
24
Roda Polar de Raimundo Lúlio<br />
Neste exemplo da Roda Polar, no dia 15 de Abril, a Kochab indica 23<br />
horas (na coroa exterior em numeração romana), e na 3ª coroa indica ainda a<br />
duração média do dia (12 horas) nesse mês.<br />
Outro tipo de rodas foram aparecendo, como as Rodas de D.Duarte.<br />
O princípio era o mesmo, mas o método de contar o tempo diferia . Esta roda<br />
permitia ainda saber a hora aproximada do nascer do sol.<br />
Rodas de D.Duarte<br />
Com a Roda D.Duarte fazia-se na mesma, pontaria á polar através<br />
do orifício central, mas alinhava-se sempre o mês de Janeiro a leste do<br />
orifício. O alinhamento da data de observação indica a posição de Kochab á<br />
meia-noite desse mesma data. O número de intervalos na segunda coroa<br />
25
entre a data de observação e a Kochab indica o número de horas que faltam<br />
ou passam da meia-noite. Neste exemplo no dia 31 de Maio são cerca das 20<br />
horas (24- 2). Para saber a hora do nascer do sol contamos, na segunda<br />
coroa, os intervalos entre a data de observação na 1ªcoroa e a mesma data<br />
na 4ª coroa, pelo que assim o sol nasceria ás 4,5 horas.<br />
A Roda do Homem do Polo tinha um método semelhante á anterior, e<br />
a sua leitura era feita consoante o Regimento de Évora. No exemplo<br />
seguinte, podemos ver, com a data de observação em fins de Fevereiro, são<br />
cerca de duas horas depois da meia-noite.<br />
Roda do Homem do Polo<br />
Regras do Regimento de Évora<br />
*Janeiro meado, será meia-noite no braço esquerdo; e no fim do dito<br />
mês, será meia-noite uma hora acima do braço;<br />
*Fevereiro meado, será meia-noite duas horas acima do braço; no fim<br />
do mês será meia-noite na linha do ombro esquerdo;<br />
*Março meado, será meia-noite uma hora acima da linha; e no fim do<br />
mês será meia-noite duas horas acima da linha;<br />
*Abril meado, será meia-noite na cabeça, no fim do dito mês será<br />
meia-noite uma hora abaixo da cabeça;<br />
*Maio meado, será meia-noite duas horas abaixo da cabeça; e no fim<br />
do mês será meia-noite na linha do ombro direito;<br />
26
*Junho meado, será meia-noite uma hora abaixo da linha; e no fim do<br />
mês será meia-noite duas horas abaixo da linha;<br />
*Junho meado, será meia-noite no braço direito, e no fim do mês será<br />
meia-noite uma hora abaixo do braço;<br />
*Agosto meado, será meia-noite duas horas abaixo do braço; e no fim<br />
do mês será meia-noite na linha intermédia;<br />
*Setembro meado, será meia-noite uma hora abaixo da linha; no fim<br />
do mês será meia noite duas horas abaixo da linha:<br />
*Outubro meado, será meia-noite no pé; e no fim do mês será a dita<br />
meia-noite uma hora acima do pé;<br />
*Novembro meado, será meia-noite duas horas acima do pé; e no fim<br />
do mês será meia-noite na linha intermédia;<br />
*Dezembro meado, será meia-noite duas horas acima desta linha; e no<br />
fim do mês será meia-noite duas horas acima desta linha.<br />
Deo Gracias<br />
No século XVI a evolução destes instrumentos apresenta-nos o<br />
Nocturlábio da Ponteiro, mais preciso e mais fácil de usar.<br />
Nocturlábio de Ponteiro- século XVI<br />
Faz-se coincidir a data de observação com a alidade de roda menor e<br />
aponta-se, como de costume, á polar segurando o instrumento pela péga.<br />
Roda-se o ponteiro maior até este tangenciar a Kochab. A leitura da hora é<br />
directa na zona onde o ponteiro intercepta a coroa interior; neste caso<br />
aproximadamente 7h15 da noite do dia 11 de Fevereiro.<br />
27
Os exemplos descritos atrás estão todos relacionados com a Estrela<br />
Polar, mas este instrumento, o nocturlábio, também foi adaptado pelos<br />
nossos navegadores para as navegações no hemisfério sul. Nesses mares<br />
socorriam-se do Cruzeiro do Sul, já que a polar em latitudes abaixo do<br />
Equador não é visível.<br />
Nocturlábio de Ponteiro do século XVII<br />
28
O Sextante<br />
Em 1757, Campbel, um oficial da marinha inglesa alarga o arco do<br />
limbo do octante para 60º, nascendo assim o sextante. Mas foram precisos<br />
ainda mais vinte anos até que Tomaz Godfrey, um vidreiro de Filadélfia,<br />
lhe aplicasse dois espelhos dispostos de forma a coincidir as imagens de dois<br />
astros qualquer fosse a distância a que se encontrassem.<br />
Sextante<br />
Até ao aparecimento do GPS, o sextante era um instrumento<br />
primordial em navegação. Convém não perder o treino do seu uso, já que<br />
apesar de toda a tecnologia, este método é por enquanto, o único infalível de<br />
obter a posição. Desde que haja sol...<br />
29
Peças e princípio de funcionamento<br />
O sextante é formado por um suporte metálico, normalmente latão ou<br />
outro metal mais leve e rígido ou ainda mais recentemente de plástico, com a<br />
forma de um sector. Em torno do centro move-se a alidade cujo extremo se<br />
desloca sobre um limbo graduado em graus com um dispositivo de fixação.<br />
Neste extremo da alidade existe outro dispositivo que pelo princípio de<br />
Vernier que permite fazer leituras até ao segundo com grande precisão. Em<br />
concordância com a alidade move-se o espelho grande. Fixo ao sector<br />
encontra-se o espelho pequeno, que é apenas meio espelho sendo a outra<br />
metade de vidro transparente. No extremo oposto do sector encontra-se a<br />
luneta enroscada no colar. Ambos os espelhos se encontram protegidos com<br />
vidros coloridos que servem de filtro aos raios solares.<br />
O funcionamento do sextante é simples. O objectivo é medir um<br />
ângulo entre dois objectos. Pega-se firme o instrumento e visualiza-se o<br />
horizonte através da luneta e movendo a alidade temos de levar a imagem<br />
reflectida do astro a coincidir com a imagem do horizonte. Se o astro<br />
visualizado é grande, como por exemplo o sol ou a lua, a coincidência com o<br />
horizonte faz-se pelo limbo (borda) superior ou inferior do astro.<br />
30
Tábua se levar as estrelas<br />
Instrumento de observação que foi usado pelos chineses para se<br />
orientarem através das estrelas. Tal como os europeus o método era usado<br />
para efectuar a leitura da estrela polar. O instrumento era composto por um<br />
conjunto de 12 peças de diferentes tamanhos. As tábuas eram quadradas e<br />
feitas de pau preto de excelente qualidade. A peça maior, chamada de 12<br />
Zhi(medida equivalente a uma polegada chinesa, que por sua vez, é igual ao<br />
comprimento da falanginha do dedo médio da mão, era usada como medida<br />
angular com um valor próximo de 1,9º), tinha 7cun( antiga medida chinesa<br />
correspondente a 3,33 cm) e 7fen(medida chinesa equivalente a 0,1cm) de<br />
lado que equivale a 24 cm. A peça seguinte tinha 22 cm e assim<br />
sucessivamente decrescendo 2 cm até á peça menor, 1Zhi.<br />
Havia ainda uma peça que podemos considerar complementar, de<br />
marfim com 2cun de lado cortada nos cantos.<br />
Para usar a tábua, era usada a mão esquerda que a segurava a meio<br />
de um dos lados, com o braço estendido, de modo a ficar perpendicular á<br />
superfície da água. Escolhia-se uma tábua de modo a que o bordo inferior<br />
desta ficasse tangente á linha do horizonte e superior á estrela visada. O<br />
número de Zhi que estava inscrito na tábua, equivalia á altura do astro. Se<br />
por acaso a tábua não coincidisse com a tangência era escolhida outra ou<br />
combinava-se com a peça de marfim para se obter a medida angular. A<br />
combinação da peça de marfim com uma das tábuas permitia uma precisão<br />
de meio grau.<br />
31
Visualizar uma estrela com a tábua<br />
Para se fixar a distância entre a tábua e os olhos do observador,<br />
puxava-se em direcção aos olhos um fio de comprimento fixo, ligado ao<br />
centro da face interior da tábua.<br />
32
Diário de Bordo<br />
O diário de bordo é um precioso auxiliar de navegação. É o local onde<br />
se anotam e registam diversos factores que ocorrem durante uma viagem.<br />
O registo de entradas no diário de bordo deverá ser da<br />
responsabilidade de um membro da tripulação. O seu uso obedece a regras<br />
simples e metódicas, de modo a tirar alguma utilidade.<br />
Existem vários tipos de registo que se podem efectuar num diário de<br />
bordo que podem variar conforme a viagem a efectuar. Deverá existir uma<br />
primeira parte, uma espécie de introdução, onde é escrita:<br />
*porto e hora de largada<br />
*porto e hora estimada de chegada<br />
*quantidade de água e combustível a bordo<br />
*horas de motor<br />
*milhas do conta milhas<br />
*rol dos tripulantes<br />
*timoneiro/responsável<br />
Poderá ainda ser descrito as condições atmosféricas, o estado do mar,<br />
o abastecimento e a revisão efectuada ao barco, entre outras coisas que<br />
poderão ser relevantes. As outras entradas serão feitas sempre num<br />
determinado intervalo de tampo a definir, normalmente de 2,3 ou 4 horas,<br />
mas haverá alturas que o registo será obrigatório. Todos os ínicios de dia,<br />
mudanças de rumo, marcações de ponto, alterações do estado do mar ou<br />
factores meteorológicos deverão ser registados.<br />
Numa viagem oceânica, quando estabelecemos contactos com outros<br />
povos ou embarcações deveremos também anotar o local do contacto, a<br />
nacionalidade, o rumo e o tipo do outro navio. Estas entradas poderão ter<br />
os dados seguintes:<br />
*hora<br />
*posição(latitude e longitude)<br />
*rumo<br />
*milhas marcadas no conta milhas<br />
33
*velocidade do barco<br />
*vento (direcção e velocidade)<br />
*tempo(pressão, temperatura e humidade)<br />
*outros dados considerados relevantes<br />
Exemplo de entradas num diário de bordo<br />
No final da viagem, á chegada o diário de bordo é encerrado<br />
anotando:<br />
*porto e hora de chegada<br />
*horas de motor<br />
*milhas e conta milhas<br />
*horas e milhas gastas<br />
*tripulação que chegou (pode ter havido trocas nas escalas<br />
efectuadas)<br />
E porque não terminar com um registo de cada tripulante sobre a<br />
viagem? Fotos, desenhos e comentários serão sempre uma lembrança para<br />
recordar no futuro<br />
34
Bibliografia<br />
*1999, Diciopédia,<br />
*http://www.lerparaver.com/cultura/fig_pedronunes.html<br />
*http://www.e-pedro-nunes.rcts.pt/historia1.htm<br />
*http://www.instituto-camoes.pt/cvc/ciencia/p1.html<br />
*http://scientia.artenumerica.org/noniana/obras.html<br />
*http://scientia.artenumerica.org/noniana/biografia.html<br />
*http://www.cienciaviva.mct.pt/kit/nonio1.asp<br />
*http://www.cienciaviva.mct.pt/kit/nonio2.asp<br />
*http://www.edinfor.pt/anc/ancinstr.html<br />
*http://www.edinfor.pt/anc/ancinstr.html<br />
*http://www.edinfor.pt/anc/anci-quadrante.html<br />
*http:/www.edinfor.pt/anc/anci-astrolabio.html<br />
*http:/www.edinfor.pt/anc/anci-balestilha.html<br />
*http:/www.edinfor.pt/anc/anci-prumo<br />
*http:/www.edinfor.pt/anc/anci-dbordo.html<br />
*http:/www.edinfor.pt/anc/anci-nocturlabio.html<br />
*http:/www.edinfor.pt/anc/anci-sextante.html<br />
*http:/www.edinfor.pt/anc/anci-bussola<br />
*http:/www.edinfor.pt/anc/anci-tchinesas.html<br />
*Lusobrasileira- enciclopedia<br />
Trabalho realizado por:<br />
*Alice Filipa Soares Brito,<br />
*10º ano, turma N<br />
*nº2<br />
35
Índice<br />
*<strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong>- biografia...................................................2<br />
*O conceito de nónio.........................................................4<br />
*Obras de <strong>Pedro</strong> <strong>Nunes</strong>....................................................6<br />
*Imagens...........................................................................7<br />
*<strong>Instrumentos</strong> Náuticos e Navegação Astronómica........11<br />
*Quadrante............................................................12<br />
*Astrolábio Náutico..............................................14<br />
*A Bússola............................................................18<br />
*O Prumo..............................................................21<br />
*A Balestilha........................................................23<br />
*O Nocturlábio.....................................................24<br />
*O Sextante..........................................................29<br />
*Tábua de levar as estrelas....................................31<br />
*Diário de Bordo..................................................33<br />
*Bibliografia...................................................................35<br />
36