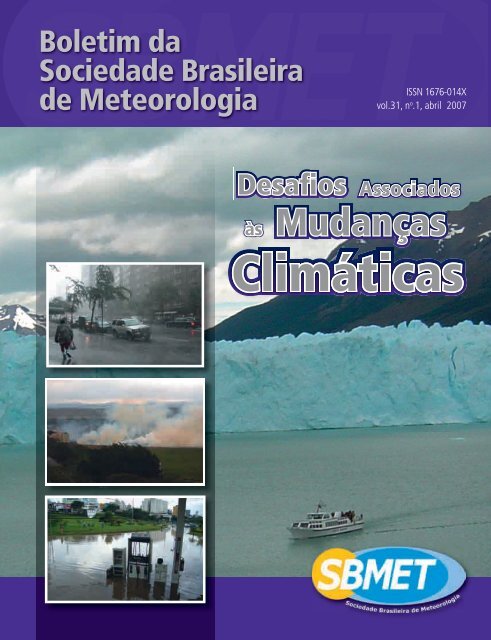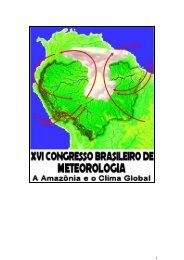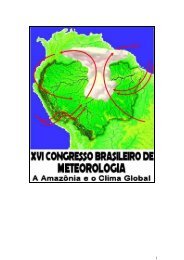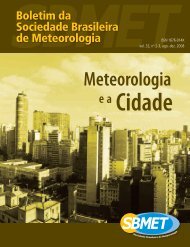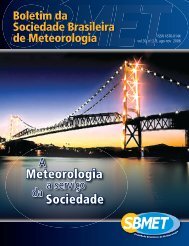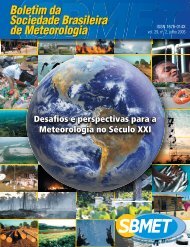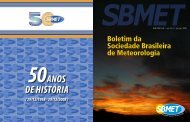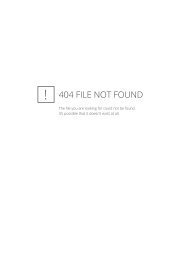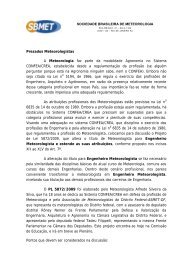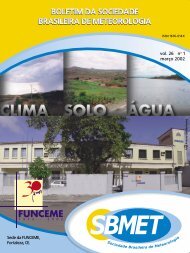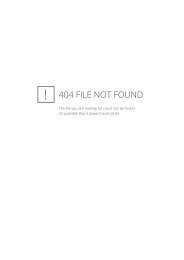1_2007___Volume_31_N.. - sbmet
1_2007___Volume_31_N.. - sbmet
1_2007___Volume_31_N.. - sbmet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Boletim da<br />
Sociedade Brasileira<br />
de Meteorologia<br />
ISSN 1676-014X<br />
vol.<strong>31</strong>, n o .1, abril <strong>2007</strong><br />
Desafios Associados<br />
às<br />
Mudanças<br />
Climáticas
O Boletim da Sociedade Brasileira de Meteorologia (BSBMET) é uma publicação quadrimestral da SBMET<br />
(www.<strong>sbmet</strong>.org.br), com tiragem de 1.000 exemplares. O BSBMET aceita colaborações, na forma de artigos<br />
originais de divulgação de assuntos técnicos, científicos ou profissionais e reproduções de matérias de interesse<br />
do Corpo Social, desde que não protegidos por direitos autorais, ou mediante autorização expressa do detentor<br />
destes direitos.<br />
DIRETORIA EXECUTIVA PARA O BIÊNIO <strong>2007</strong>/2008<br />
Presidente: Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva<br />
Diretor Financeiro: Isimar de Azevedo Santos<br />
Diretora Administrativa: Marley C. de Lima Moscati<br />
Diretor Científico: Pedro Leite da Silva Dias<br />
Diretor Profissional: Alfredo Silveira da Silva<br />
Vice-Presidente: Bernardo Barbosa da Silva<br />
Vice-Diretor Financeiro: Jonas da Costa Carvalho<br />
Vice-Diretora Administrativa: Heloisa M. T. Nunes<br />
Vice-Diretor Científico: Osvaldo Luiz Leal de Moraes<br />
Vice-Diretor Profissional: Marilene de Lima<br />
CONSELHO DELIBERATIVO<br />
Efetivos<br />
José Marques – Presidente<br />
Francisca Maria Alves Pinheiro<br />
Francisco de Assis Diniz<br />
Halley Soares Pinheiro Junior<br />
José Antonio Marengo Orcini<br />
José Carlos Figueiredo<br />
Luis Augusto Toledo Machado<br />
Marco Antonio Jusevicius<br />
Maria Luiza Poci Pinto<br />
Suplentes<br />
Adriano Marlisom Leão de Sousa Gerhard Held Rosane Rodrigues Chaves<br />
Conselho Fiscal<br />
Elza Correia Sucharov – Presidente<br />
Eugênio José Ferreira Neiva<br />
Jaci Maria Bilhalva Saraiva<br />
Suplente<br />
Mariana Palagano Ramalho Silva<br />
Editor Responsável<br />
Editor Assistente<br />
Marley Cavalcante de Lima Moscati<br />
Pedro Leite da Silva Dias<br />
INPE - Prédio da Meteorologia, Sala 26<br />
USP-IAG – Depto de Meteorologia<br />
Av. dos Astronautas, 1758, Jd. da Granja<br />
Rua do Matão, 1226, Cidade Universitária<br />
12.227-010 – São José dos Campos, SP 05508-900 – São Paulo, SP<br />
marley@cptec.inpe.br<br />
pldsdias@master.iag.usp.br<br />
Editores Colaboradores: Heloisa M. T. Nunes, Luiz Augusto T. Machado e Nelson Jesus Ferreira<br />
Setor de Normas e Legislação: Alfredo Silveira da Silva<br />
Setor de Divulgação e Marketing: Marley Cavalcante de Lima Moscati<br />
2<br />
3<br />
4<br />
1<br />
EXPEDIENTE<br />
Coordenação: Marley Cavalcante de Lima Moscati<br />
Projeto Gráfico e Prod. Gráfica: DigitalPress e Graftipo Ltda<br />
Capa: DigitalPress<br />
Impressão: Graftipo Ltda<br />
Revisão Editorial: Marley Cavalcante de Lima Moscati<br />
Fotografias: (1) - Marley Moscati, (2) - B.I. , (3) - Marley Moscati, (4) - Marcus V. Toledo<br />
ISSN 1676-014X. Distribuição dirigida e gratuita<br />
Distribuição dirigida e gratuita
EDITORIAL<br />
No início de <strong>2007</strong>, o relatório preliminar do IPCC divulgou a avaliação sobre o aquecimento global,<br />
despertando o mundo para um problema alarmante: nosso planeta está em sério risco e já começa a sentir os<br />
efeitos devastadores das mudanças climáticas, e alguns dos danos são irreversíveis. Desde então, especialistas<br />
de várias áreas do conhecimento e do mundo todo, além de setores governamentais, empresariais, entre outros,<br />
voltaram-se para uma ampla reflexão que o tema exige, tentando buscar alternativas que garantam um futuro<br />
melhor para o planeta. Como resultado dessas reflexões preliminares, constata-se que a situação atual é<br />
decorrente de escolhas, individuais ou coletivas, feitas ao longo dos anos e, principalmente, ao uso inadequado<br />
da tecnologia disponível. Com isso, patrimônios naturais inteiros estão em risco, nos próximos anos se<br />
espera eventos climáticos mais severos (secas e enchentes devastadoras, maior freqüência de furacões e com<br />
intensidade muito maior, etc), já constata-se a ocorrência de degelo em regiões nunca antes esperadas, pondo<br />
em risco cidades inteiras, a sobrevivência da fauna e da flora nativos, e da própria humanidade, ... Enfim, há<br />
uma série de sinais alertando que a saúde do planeta inspira cuidados, e urgentes! O assunto também é tema<br />
deste número do Boletim da SBMET, que foca os desafios associados às mudanças climáticas, com ênfase<br />
na América do Sul e no Brasil. A matéria do Dr. Carlos Nobre discute porque devemos nos preocupar com o<br />
aquecimento global. A matéria da Dra. Maria Assunção F. da Silva Dias e do Dr. Pedro Leite da Silva Dias trata<br />
sobre os efeitos regionais em cenários futuros, especificamente nos padrões de precipitação, considerando os<br />
modelos de previsão de tempo e de clima atuais. O assunto também é discutido em outras matérias que tratam<br />
de aspectos distintos da questão, em algumas notícias divulgadas na internet, no texto da OMM para o Dia<br />
Meteorológico Mundial em <strong>2007</strong>, entre outros, publicadas neste número do Boletim.<br />
A participaçao da comunidade científica nos congressos de meteorologia tem crescido a cada edição desde o I<br />
Congresso Brasileiro de Meteorologia (CBMET), realizado em 1980. O formato da última edição, realizada em<br />
novembro de 2006, a Programação, as atividades desenvolvidas, a lista de premiação de trabalhos, além de uma<br />
avaliação dos resultados obtidos, estão relatados no Relatório Científico e de Atividades do XIV CBMET.<br />
Duas recentes conquistas de sócios da SBMET merecem destaque: A nomeação da Dra. Maria Assunção Faus<br />
da Silva Dias para a Academia Brasileira de Ciência e o Prêmio Conrado Wessel concedido ao Dr. Carlos<br />
Afonso Nobre. Nesta edição do boletim, a SBMET homenageia outros dois sócios, o Dr. Jesus Marden dos<br />
Santos e o Dr. Fernando Pimenta Alves, sócios beneméritos da SBMET, pelas contribuições dadas à área.<br />
Também, outros sócios merecem destaque, o Dr. Tércio Ambrizzi, que conclui seu mandado de quatro anos<br />
como Editor Responsável pela RBMET, onde fez um trabalho exemplar e reconhecido por todos, e o Dr.<br />
Manoel Alonso Gan, que assume o cargo para os próximos quatro anos, a quem desejamos sucesso em sua<br />
atuação. A SBMET se sente honrada por ter em seu quadro personalidades tão ilustres, parabeniza-as pelas<br />
conquistas e as agradece pelas contribuições.<br />
A SBMET informa com pesar o falecimento do Prof. Obasi, um integrante da comunidade científica que<br />
trabalhou incansavelmente pela divulgação da meteorologia no mundo. Aqui é feita uma singela homenagem<br />
ao Prof. Obasi.<br />
Há, ainda, muitas outras notícias interessantes a serem lidas, a agenda de eventos, assuntos de interesse dos<br />
sócios da SBMET, entre outros.<br />
Desejo à todos uma boa leitura!!<br />
Marley Cavalcante de Lima Moscati<br />
Editora Responsável
SUMÁRIO<br />
Boletim da Sociedade Brasileira de Meteorologia<br />
Desafios Associados às Mudanças Climáticas<br />
vol. <strong>31</strong>, nº 1, abril <strong>2007</strong><br />
Editorial ............................................................................................................... 01<br />
Marley Cavalcante de Lima Moscati<br />
Palavra da Presidente da SBMET ................................................................................. 04<br />
Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva<br />
Mudanças climáticas globais e o Brasil: porque devemos nos preocupar? ................................ 07<br />
Carlos Afonso Nobre<br />
As incertezas regionais nos cenários de mudanças climáticas globais ..................................... 12<br />
Maria Assunção Faus da Silva Dias, Pedro Leite da Silva Dias<br />
A incerteza científi ca e a opinião pública na balança das negociações sobre mudança de clima ...... 18<br />
Luis Antonio L. Aímola, Pedro Leite da Silva Dias<br />
O Quarto Relatório do IPCC (IPCC AR4) e projeções de Mudança de Clima para o Brasil<br />
e América do Sul ..................................................................................................... 23<br />
Jose A. Marengo Orsini<br />
Projeções do clima da América do Sul segundo o cenário “B1” do IPCC adotando um modelo<br />
acoplado oceano-atmosfera-vegetação-gelo marinho ......................................................... 29<br />
Flávio Justino, Marcelo Cid de Amorim<br />
O desafi o das energias renováveis e suas implicações ambientais ......................................... 36<br />
Enio Bueno Pereira<br />
Impactos Antrópicos no clima da região metropolitana de São Paulo ...................................... 48<br />
Augusto José Pereira Filho, Paulo Marques dos Santos, Ricardo de Camargo, Mário Festa, Frederico Luiz Funari,<br />
Sérgio Torre Salum, Carlos Teixeira de Oliveira, Edvaldo Mendes dos Santos, Pety Runha Lourenço,<br />
Edvaldo Gomes da Silva, Willians Garcia, Maria Aparecida Fialho<br />
Mudanças climáticas e agricultura: um estudo de casos para as culturas do milho e do feijão<br />
em Minas Gerais ..................................................................................................... 57<br />
José Luiz C. Silva Júnior, Luiz Cláudio Costa, Marcelo Cid de Amorim, Flávio Justino Barbosa<br />
O aquecimento global e a cafeicultura brasileira ............................................................... 65<br />
Hilton S. Pinto, Jurandir Zullo Junior, Eduardo D. Assad, Balbino A. Evangelista<br />
O planeta Terra: Aquecimento global e mudanças climáticas ................................................. 73<br />
Teresinha de Maria Bezerra Sampaio Xavier, Airton Fontenele Sampaio Xavier
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
O Projeto TroCCiBras: Objetivos, resultados da Campanha 2004 e o futuro ................................ 81<br />
Gerhard Held<br />
Homenagem da SBMET aos seus sócios Beneméritos ......................................................... 90<br />
Tema da OMM para o Dia Meteorológico Mundial de <strong>2007</strong>,<br />
Meteorologia Polar: Entendendo os Impactos Globais ......................................................... 93<br />
Dimitrie Nechet<br />
Comemoração do Dia Meteorológico Mundial de <strong>2007</strong> no Brasil ............................................. 96<br />
Editor da Revista Brasileira de Meteorologia: uma experiência única ....................................... 97<br />
Tércio Ambrizzi<br />
Posse da Diretora Executiva da SBMET (<strong>2007</strong> - 2008) ........................................................101<br />
Novos valores de anuidade para <strong>2007</strong> ...........................................................................105<br />
Pagamento de anuidades com cartão de crédito ...............................................................105<br />
Designação do novo Editor da RBMET ............................................................................106<br />
Resultado da Eleição para o Conselho Fiscal da SBMET ......................................................107<br />
RBMET online ........................................................................................................107<br />
XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia:<br />
Síntese dos relatórios Científi cos e de Atividades .............................................................108<br />
XIV CBMET: Lista de premiação de trabalhos ...................................................................117<br />
Isso foi Notícia .......................................................................................................120<br />
Relatório síntese do Workshop para a definição das bases conceituadas para o Sistema<br />
Brasileiro de alerta Precoce de seca e desertificação (SAP) .................................................124<br />
Coordenadora do CPTEC/INPE é eleita acadêmica da Associação Brasileira de Ciência (ABC) ........132<br />
Carlos Nobre ganha Prêmio Conrado Wessel ...................................................................132<br />
Seção Normas e Legislação: Colégio de Entidades Nacionais ...............................................133<br />
Alfredo Silveira da Silva<br />
Agenda ................................................................................................................136<br />
Falece o Professor Obasi, Ex-Secretário Geral da OMM, grande incentivador da Meteorologia .......143<br />
Anunciantes ..........................................................................................................144<br />
Política Editorial do Boletim da SBMET ..........................................................................145<br />
3
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
MENSAGEM<br />
Prezados sócios e amigos da SBMET,<br />
Neste primeiro Boletim de <strong>2007</strong> gostaríamos de agradecer a todos os sócios a presença maciça ao<br />
XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia, em Florianópolis, e o apoio dado por ocasião da eleição<br />
da nova Diretoria Executiva da SBMET que atuará no biênio <strong>2007</strong>-2008.<br />
A nova Diretoria está motivada e com o firme propósito de caminhar na consecução dos três objetivos<br />
básicos de sua proposta de trabalho: a) aumentar a visibilidade da Meteorologia Nacional, b)<br />
participar ativamente da organização da política da Meteorologia, c) buscar uma interação construtiva<br />
com todos os segmentos da sociedade brasileira, quer ao nível de pesquisa, quer na aplicação do<br />
conhecimento desenvolvido em nossa área. Com esses objetivos em mente gostaríamos de ressaltar<br />
algumas atividades em que a SBMET atuou fortemente neste início de <strong>2007</strong>.<br />
Em termos políticos, o ano de <strong>2007</strong> começou com uma grande notícia na área de Meteorologia: o<br />
Presidente da República assinou em 21 de março o Decreto 6065 que trata da criação da Comissão<br />
de Coordenação de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CMCH). A SBMET vem liderando há<br />
anos ações que buscam uma organização do setor e considera a criação desta Comissão um passo<br />
importante neste sentido. Embora ainda não seja ideal, a composição da CMCH contempla quase<br />
todos os atores envolvidos na Meteorologia Nacional, como era desejo da SBMET. Compõem esta<br />
Comissão, além dos já tradicionais membros como o INMET, o INPE, a Aeronáutica e a Marinha,<br />
também membros novos, que consideramos atores importantes na coordenação da área, entre eles um<br />
representante dos Serviços Estaduais de Meteorologia, um representante das empresas prestadoras de<br />
serviços e um representante da indústria de partes, de equipamentos e de sistemas em Meteorologia.<br />
Também serão membros da CMCH os Presidentes da Sociedade Brasileira de Meteorologia (SBMET),<br />
da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia (SBAgro) e da Associação Brasileira de Recursos<br />
Hídricos (ABRH). Acreditamos que a partir da sua primeira reunião, provavelmente em agosto deste<br />
ano, muitas questões que têm dificultado o desenvolvimento da área serão tratadas de uma maneira<br />
organizada e objetiva e as soluções para os problemas existentes serão encontradas na forma de<br />
consenso entre todas as partes interessadas.<br />
Com a divulgação do Quarto Relatório do IPCC, que revela com uma clareza acentuada a preocupação<br />
mundial dos cientistas com as Mudanças Climáticas Globais advindas do aumento dos gases do efeito<br />
estufa na atmosfera, a SBMET promoveu vários debates e discussões sobre o tema, além de participar<br />
de Grupos de Trabalho com o objetivo de fazer frente às mudanças previstas. Após a divulgação<br />
do Sumário Técnico do Grupo I do IPCC, a SBMET organizou três importantes discussões com<br />
parceiros significativos. Foram eles: o evento “Mudanças Climáticas Globais e seus Efeitos na<br />
Agricultura, Recursos Hídricos e Saúde Pública”, organizado juntamente com o INMET, o INPE<br />
e a ANA, e realizado em Brasília em 28 de fevereiro; o Seminário “Os Resultados Recentes Sobre a<br />
Contribuição Humana á Mudança do Clima da Terra: Aspectos Físicos e Repercussões Sociais<br />
e Econômicas” realizado em conjunto com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas no Rio de<br />
Janeiro em 6 de março, e o evento “Os Impactos Regionais e Setoriais das Mudanças no Clima”,<br />
realizado em São Paulo, juntamente com o Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP em 10 de<br />
março. Todos estes encontros foram filmados e as palestras podem ser vistas nos endereços divulgados<br />
nos Informes e no Portal da SBMET.<br />
A SBMET e a SBAgro estão buscando uma aproximação maior através da troca de experiências e na<br />
4
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
realização conjunta de eventos científicos. Por ocasião da realização do XV Congresso Brasileiro de<br />
Agrometeorologia, em Aracaju, foi realizada uma reunião que contou com as presenças da Presidente<br />
da SBMET e do Presidente eleito da SBAgro. Nessa reunião, acertaram algumas iniciativas que visam<br />
uma atuação mais integrada destas associações científicas que, além de terem assento na CMCH, têm<br />
muitos objetivos e sócios em comum.<br />
Em termos de realizações para o segundo semestre, a SBMET vai realizar o Simpósio de Ensino de<br />
Meteorologia do Mercosul, nos dias 16 e 17 de agosto do corrente ano. Este evento está inserido nas<br />
atividades da 64 a Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, do Sistema CONFEA/<br />
CREA, que terá lugar no Rio Cidade Nova Convention Center, na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo<br />
deste Simpósio é o de coordenar as ações dos Cursos de Meteorologia no sentido de possibilitar uma<br />
cooperação acadêmica efetiva e que aponte direções para um Consórcio de Ensino nas Ciências<br />
Atmosféricas, no âmbito de graduação e de pós-graduação, assim como possibilitar encaminhamentos<br />
da maior credibilidade dos Cursos de Meteorologia dos países pertencentes ao Mercosul.<br />
Outra atividade que já se incorpora ao calendário de eventos da SBMET, alternando com nossos<br />
Congressos que se realizam em anos pares, é o Simpósio Internacional de Climatologia (SIC). Este<br />
ano o II SIC será em São Paulo, nos dias 2 e 3 de novembro, e terá como tema “Mudanças Climáticas:<br />
Detecção e Atribuição de Causas”.<br />
No segundo semestre de <strong>2007</strong>, a SBMET estará colaborando com a realização da “III Conferência<br />
Regional sobre Mudanças Globais: América do Sul”, que ocorrerá em São Paulo no período de 4 a 8<br />
de novembro, com o “2 0 Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais e Tecnológicos”, que acontecerá<br />
de 9 a 13 de dezembro em Santos, SP e com o “V Workshop de Micrometeorologia”, que ocorrerá em<br />
Santa Maria, RS, de 12 a 14 de dezembro.<br />
Finalizando, julgamos importante reiterar nossa posição de que é indispensável a atuação dos sócios<br />
da SBMET para que a mesma se torne uma entidade cada vez mais atuante e conseqüentemente<br />
mais reconhecida e respeitada. Estamos aqui abertos às críticas e às sugestões esperando com isso<br />
aperfeiçoar os mecanismos de atuação da nossa Sociedade Brasileira de Meteorologia.<br />
Presidente da SBMET<br />
5
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS E O BRASIL:<br />
PORQUE DEVEMOS NOS PREOCUPAR (*)<br />
Carlos Afonso Nobre<br />
Pesquisador Titular do INPE/Membro do Grupo de Trabalho II do IPCC<br />
Pres. do Comitê Científico do Programa Internacional da Geosfera-Biosfera (IGBP)<br />
nobre@cptec.inpe.br<br />
O recém lançado Quarto Relatório do Grupo<br />
de Trabalho I do Painel Intergovernamental<br />
de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU é<br />
contundente ao afirmar, com 90% de confiança,<br />
que as atividades humanas são a causa principal<br />
do aquecimento global observado nos últimos 50<br />
anos e aponta o acúmulo de gases de efeito estufa,<br />
notadamente o dióxido de carbono, o metano e o<br />
óxido nitroso, cujas concentrações atmosféricas<br />
são as mais altas em pelo menos 650 mil anos<br />
de história do planeta, como os principais<br />
responsáveis. É certo que o rápido aumento da<br />
concentração destes gases na atmosfera se deve<br />
à ação humana. Por exemplo, as emissões atuais<br />
de dióxido de carbono são 50 vezes maiores do<br />
que as emissões naturais da crosta terrestre ao<br />
longo da história geológica do planeta.<br />
O relatório destaca igualmente que é<br />
inequívoco que o planeta vem aquecendo,<br />
0,74 o C em 100 anos, e que já são discerníveis<br />
uma série de mudanças climáticas como aumento<br />
das temperaturas do ar e dos oceanos, degelo de<br />
neve e gelo e aumento global do nível médio do<br />
mar de 17 cm durante o Século XX. Onze dos<br />
últimos doze anos no período de 1995 a 2006<br />
foram os mais quentes do registro instrumental<br />
de temperaturas globais desde 1850. Associado<br />
ao aquecimento já registrado, já se observa<br />
intensificação de alguns tipos de fenômenos<br />
meteorológicos extremos, como ondas de calor,<br />
secas, chuvas intensas e ciclones tropicais. Em<br />
resumo, praticamente estão descartadas causas<br />
naturais para o aquecimento das últimas décadas,<br />
o qual se deve, em sua quase totalidade, a<br />
mudança da composição da atmosfera por ações<br />
humanas.<br />
O relatório projeta que o planeta continuará<br />
a aquecer numa taxa de 0,2 o C por década nas<br />
próximas duas décadas, taxa esta que é, até certo<br />
ponto, independente do cenário de emissões de<br />
gases de efeito estufa. Até o final do Século XXI<br />
a temperatura média global pode subir de 2 o C a<br />
mais de 4 o C, o nível médio do mar, entre 28 cm<br />
e 59 cm, com o risco de se elevar mais de 1 m se<br />
for acelerada a tendência de degelo das grandes<br />
massas de gelo da Groelândia.<br />
Algum grau de mudanças climáticas já se<br />
tornou inevitável, como enfatiza o Relatório<br />
do IPCC, pois não é mais possível reverter<br />
totalmente o aquecimento global. Os gases de<br />
efeito estufa presentes em excesso na atmosfera<br />
têm tempos de residência que variam de décadas<br />
a séculos e continuarão aquecendo a baixa<br />
atmosfera e superfície terrestre por séculos. O<br />
nível do mar continuará a subir por mais de mil<br />
anos, à medida que o aquecimento vai penetrando<br />
lentamente nas suas camadas mais profundas.<br />
Estima-se subjetivamente que poderíamos<br />
evitar as conseqüências mais perigosas<br />
das mudanças climáticas se o aumento das<br />
temperaturas globais não ultrapassasse 2 o C, em<br />
relação às temperaturas da época pré-industrial.<br />
(*) Essa matéria foi apresentada em Workshop realizado durante o XIII Simpósio Brasileiro de Sensioriamento Remoto, divulgada no Jornal da<br />
Ciência, e-mail 3250, de 25 de abril de <strong>2007</strong>. Autorizada a publicação na integra no Boletim da SBMET.<br />
7
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Para na ficar acima deste valor, as concentrações<br />
de dióxido de carbono não poderão ultrapassar<br />
550 partes por milhão em volume (ppmv) e tal<br />
concentração já atingiu 380 ppmv em 2006.<br />
As emissões atuais (queima de combustíveis<br />
fósseis e emissões advindas da mudança dos<br />
usos da terra) já chegam a quase 9 bilhões de<br />
toneladas de carbono anualmente e crescem a<br />
mais de 3% ao ano, nos últimos anos. Chegar à<br />
estabilização em 550 ppmv impõe um limite às<br />
emissões globais de CO 2<br />
. Poder-se-ia emitir um<br />
máximo de 750 bilhões de toneladas de carbono<br />
durante todo o Século XXI. Em outras palavras,<br />
as emissões teriam que reduzir-se drasticamente<br />
e não ultrapassar 3 bilhões de toneladas anuais<br />
na segunda metade do Século, significando<br />
uma radical “descarbonização” da sociedade<br />
global, notadamente dos sistemas de produção<br />
de energia. Tarefa esta que se afigura como<br />
um objetivo de difícil consecução sem uma<br />
radical transformação dos sistemas de produção<br />
e consumo em escala global. Ademais, este<br />
cálculo considera que a fração do CO 2<br />
emitido<br />
pelas atividades humanas que permanece na<br />
atmosfera, cerca de 45% durante o Século<br />
XX, continua a mesma durante este Século.<br />
Entretanto, a capacidade dos oceanos e da biota<br />
terrestre de remover 55% do CO 2<br />
em excesso<br />
na atmosfera começa a dar sinais de saturação,<br />
isto é, a fração atmosférica provavelmente será<br />
maior no futuro, o que limitará o valor permitido<br />
de emissões para se chegar à estabilização da<br />
concentração na atmosfera para um valor que<br />
pode ser substancialmente menor do que 750<br />
bilhões de toneladas.<br />
É interessante observar que os valores de<br />
incerteza das estimativas para o clima futuro<br />
constantes dos relatórios do IPCC não têm variado<br />
substancialmente nos últimos três relatórios<br />
(1995, 2001 e <strong>2007</strong>) ainda que tenha havido<br />
um gigantesco avanço científico na modelagem<br />
matemática do sistema climático, o qual envolve<br />
a atmosfera, os oceanos, a criosfera e a biosfera,<br />
incluindo o ciclo de carbono nos oceanos e<br />
na vegetação. Quando considerados todos os<br />
modelos climáticos globais utilizados e todos os<br />
cenários futuros de emissões de gases de efeito<br />
estufa, a faixa de projeções para o aumento da<br />
temperatura global média até o final do Século<br />
situa-se entre aproximadamente 1,5 C e 6 C nos<br />
três últimos relatórios. Em números redondos,<br />
metade desta incerteza se deve às diferenças<br />
entre projeções dos modelos climáticos e metade<br />
dela vem por não sabermos a trajetória futura<br />
das emissões de gases de efeito estufa.<br />
Hoje, a maioria das pessoas tem “certeza”<br />
de que este é um gravíssimo problema para a<br />
humanidade. Isto vem acontecendo de maneira<br />
rápida e, até certo ponto, independente do<br />
mais lento progresso na redução das incertezas<br />
científicas sobre o clima do futuro. Há vantagens<br />
de que assim o seja, pois incertezas científicas<br />
sobre como evoluirá o complexo sistema<br />
climático irão sempre existir, mas estas não<br />
devem servir de desculpa à inação.<br />
Esta percepção é necessária para permitir a<br />
transição dos insustentáveis padrões atuais de<br />
produção e consumo para padrões sustentáveis<br />
no futuro, se quisermos estabilizar as emissões<br />
globais ainda neste século, transição esta que<br />
não ocorrerá de maneira indolor. Mesmo no país<br />
cujo governo tem se mostrado mais reticente<br />
em assumir compromissos para a mitigação<br />
das emissões, os EUA, as pesquisas de opinião<br />
não deixam dúvida de que a população está<br />
consciente sobre o problema ambiental do<br />
aquecimento global, ainda que possa estar<br />
inadvertidamente aguardando soluções com<br />
nítido viés tecnológico, já que tem sido este o<br />
viés das políticas governamentais de Bush para<br />
a “solução” da questão.<br />
Ainda que seja imperativo mitigar as emissões<br />
como a única solução aceitável moralmente no<br />
longo prazo, a inevitabilidade de que algum grau<br />
de mudança climática acontecerá de qualquer<br />
maneira faz com que igual ênfase deve ser dada<br />
tanto à redução acelerada das emissões globais<br />
nas próximas décadas como à necessidade de<br />
8
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
adaptação às mudanças climáticas que já se<br />
tornaram inevitáveis. Poderá o Brasil atuar, com<br />
liderança, nestas duas frentes?<br />
Sem considerar as emissões provenientes das<br />
mudanças dos usos da terra, a emissão de CO 2<br />
per capita do brasileiro estaria em torno de 0,5<br />
toneladas de carbono por ano, bastante baixa em<br />
nível mundial, comparável àquelas da Índia, e<br />
bem abaixo daquelas dos países industrializados,<br />
tipicamente entre 2,5 e mais de 5 (EUA)<br />
toneladas por habitante por ano. Isto se deve à<br />
nossa matriz energética relativamente “limpa”.<br />
Porém, ao considerar que aproximadamente<br />
75% das emissões brasileiras de gás carbônico<br />
–o principal gás de efeito estufa—provém<br />
dos desmatamentos, as emissões per capita<br />
ultrapassam 1,5 toneladas por ano, algo similar à<br />
emissão per capita da China, que vem crescendo<br />
exponencialmente nos últimos anos.<br />
Decorre desta simples aritmética que a<br />
contribuição do Brasil ao esforço mundial<br />
de mitigação do aquecimento global passa<br />
obrigatoriamente por reduzir as emissões<br />
dos desmatamentos. Em princípio, é, sim,<br />
perfeitamente possível reduzir os desmatamentos<br />
da floresta Amazônica a valores próximos<br />
de zero, uma vez que existe um gigantesco<br />
estoque de áreas já desmatadas degradadas<br />
ou abandonadas em todo o país, mais de 150<br />
mil km 2 de áreas degradadas ou abandonadas<br />
somente na Amazônia, as quais, com o concurso<br />
de modernas técnicas agronômicas, devem<br />
servir ao crescimento da cadeia de produção<br />
agropecuária, da agricultura familiar ao<br />
agronegócio. Além disso, reflorestamentos em<br />
grande escala nas áreas desmatadas retiram gás<br />
carbônico da atmosfera através da fotossíntese<br />
e contribuem para a mitigação das emissões,<br />
podendo se tornar atraentes Mecanismos de<br />
Desenvolvimento Limpo (MDL) para o país.<br />
A implementação de políticas públicas<br />
favorecendo a utilização de tais áreas para<br />
diminuir a pressão da expansão da fronteira<br />
agrícola sobre a floresta permitiria se ganhar<br />
tempo para que se tentasse o desenvolvimento de<br />
um novo modelo para a Amazônia, explorando o<br />
potencial econômico e social da extraordinária<br />
biodiversidade dos ecossistemas tropicais. Não<br />
há paradigmas de desenvolvimento econômico<br />
e social baseado em recursos da biodiversidade<br />
em nenhum país tropical mega-diverso do<br />
mundo para serem copiados pelo Brasil. Mas<br />
para isso, há que se investir pesadamente em<br />
descentralização da infra-estrutura de C&T da<br />
região, expandido as atuais e criando novas<br />
unidades de pesquisa básica e aplicada e fixação<br />
maciça de pesquisadores e engenheiros nestas<br />
instituições. Esta é uma tecla na qual a própria<br />
SBPC vem batendo metódica e insistentemente<br />
nos últimos anos, mas os investimentos em C&T<br />
na Amazônia, incrementalmente crescentes, são<br />
completamente insuficientes para criar as bases<br />
para um novo modelo para a região.<br />
Por outro lado, traz preocupação a constatação<br />
de que, no tocante à adaptação às mudanças<br />
climáticas, praticamente está tudo por fazer<br />
no Brasil. Os poucos estudos brasileiros sobre<br />
os impactos das mudanças climáticas nos<br />
ecossistemas naturais e agro-ecossistemas, nas<br />
zonas costeiras e na saúde humana não deixam<br />
dúvidas de que o país não sairá incólume.<br />
Tipicamente como na maioria dos países<br />
em desenvolvimento, a sociedade com larga<br />
população vivendo abaixo da linha de pobreza<br />
e baixo IDH, a economia fortemente baseada<br />
em recursos naturais e a exuberante Natureza<br />
são vulneráveis às mudanças climáticas atuais e<br />
mais ainda àquelas que estão por vir.<br />
Aumento da temperatura de alguns graus traz<br />
embutido um palpável risco para o Nordeste, com<br />
claríssimas repercussões sociais: diminuição da<br />
disponibilidade hídrica no semi-árido, menor<br />
tempo de permanência da água no solo, isto é,<br />
aceleração de aridização, o que tornaria mais<br />
marginal a agricultura de sequeiro, meio de<br />
subsistência atual de milhões de habitantes<br />
da zona rural. Adicionalmente, aumentaria a<br />
9
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
intensidade das periódicas secas.<br />
As políticas públicas de desenvolvimento<br />
regional do Nordeste, que, além da eliminação<br />
da pobreza como principal bandeira, já procuram<br />
aumentar a convivência com a seca como fator<br />
de resiliência da sociedade rural, terão que<br />
obrigatoriamente consideração um cenário de<br />
redução da disponibilidade hídrica no semi-árido<br />
para o futuro.<br />
Para o extenso litoral brasileiro, é certo o<br />
aumento do nível do mar e da intensidade das<br />
ressacas em toda a zona costeira e há grande<br />
probabilidade de expressivo crescimento dos<br />
desastres naturais pelo aumento da ocorrência<br />
de chuvas intensas e secas, de maneira similar<br />
ao que vem acontecendo neste verão na região<br />
Sudeste. Em resumo, um quadro de mudanças<br />
climáticas preocupante para todo o país.<br />
A questão dos impactos do aquecimento<br />
global na Amazônia é complexa e preocupante.<br />
Subsistem ameaças concretas de colapso de<br />
parte da floresta amazônica, especialmente na<br />
suas porções central e oriental, com erosão da<br />
rica biodiversidade. Aumentos acima de 3 a 4<br />
graus centígrados nas temperaturas na Amazônia<br />
e no Centro-Oeste terão um impacto devastador<br />
na rica diversidade biológica da floresta e do<br />
cerrado. Estudos científicos indicam um risco de<br />
desaparecimento de mais de 50% das espécies<br />
arbóreas do cerrado e ameaças a mais de 90%<br />
das espécies arbóreas da Amazônia Oriental. Há<br />
que se considerar que aquecimento global não é<br />
a única ameaça ambiental à floresta tropical. A<br />
sinergia entre aquecimento global, desmatamento<br />
e crescente incidência de incêndios florestais<br />
ameaça entre 20 e 40% da floresta Amazônica de<br />
sério risco de desaparecimento ou substituição<br />
por um tipo de savana empobrecida.<br />
Espécies da flora e da fauna, particularmente<br />
as endêmicas, dificilmente conseguiriam<br />
adaptar-se através de migrações à velocidade<br />
espantosa de décadas, em comparação ao ritmo<br />
de mudanças naturais, com que ocorrem as<br />
alterações climáticas. Tristemente, extinção<br />
parece ser o caminho para um sem número delas.<br />
Em termos globais, no cenário mais pessimista<br />
de aquecimento, até 50% de todas as espécies de<br />
plantas e animais estarão ameaçadas até o final<br />
do século. O efeito das mudanças climáticas<br />
nos ecossistemas naturais coloca em foco que<br />
somente políticas de adaptação não resolvem.<br />
E que o esforço de mitigação das emissões tem<br />
que ser global, pois os países mega-diversos no<br />
seu conjunto contribuíram historicamente pouco<br />
para o acúmulo de gases na atmosfera, mas<br />
são os que mais perderão com a redução certa<br />
de riqueza biológica. No limite, os esforços do<br />
Brasil em reduzir desmatamentos na Amazônia<br />
e, por conseguinte, cortar suas emissões, têm<br />
sentido somente como parte de uma ação global<br />
de mitigação das emissões em todos os setores,<br />
principalmente com a descarbonização dos<br />
sistemas de geração de energia.<br />
Após mais de uma década de quase letargia,<br />
há claros sinais de que a sociedade brasileira<br />
começa perceber a gravidade do problema<br />
e, ainda que de maneira tímida, se abre para<br />
discutir o problema. Os setores governamentais,<br />
empresariais e acadêmicos e a sociedade civil<br />
organizada vêm se articulando para aumentar<br />
a consciência sobre a questão e na busca de<br />
políticas ambientais conseqüentes e a prova<br />
disto é o surgimento de fóruns de mudanças<br />
climáticas em vários estados nos últimos anos. O<br />
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas trouxe<br />
ao primeiro plano de discussão a importância<br />
da redução das emissões por desmatamentos,<br />
assunto que era considerado absoluto tabu no<br />
Governo Federal até alguns anos atrás.<br />
Acima de tudo, o aquecimento global deve ser<br />
encarado com uma questão moral e ética: aqueles<br />
que menos contribuíram para o problema são os<br />
que vão sofrer as mais graves conseqüências.<br />
Progresso tecnológico para a transição a uma<br />
nova sociedade, sustentável na utilização dos<br />
10
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
recursos naturais do planeta, é uma condição<br />
necessária para a habitabilidade a longo prazo<br />
do Homo sapiens e de todas as outras formas<br />
de vida, porém não suficiente. Há que haver<br />
conscientização sobre a gravidade da ameaça<br />
do aquecimento do planeta em escala global. De<br />
nada adiantará qualquer esforço brasileiro em<br />
reduzir emissões se elas continuarem a subir em<br />
outras partes do mundo.<br />
11
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
AS INCERTEZAS REGIONAIS NOS CENÁRIOS DE<br />
MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS<br />
Maria Assunção Faus da Silva Dias 1, 2 , Pedro Leite da Silva Dias 2<br />
(1) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE<br />
Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC<br />
(2) Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas - IAG<br />
Departamento de Ciências Atmosféricas - USP<br />
E-mails: assuncao@cptec.inpe.br , pldsdias@master.iag.usp.br<br />
Os cenários de mudanças climáticas relatados no 4 0<br />
Relatório do IPCC AR4 (<strong>2007</strong>) apontam para uma<br />
série de mudanças climáticas globais na temperatura<br />
do ar à superfície e nos padrões de precipitação. A<br />
evolução anual das médias globais, assim como<br />
mapas que indicam os padrões espaciais esperados,<br />
tanto anualmente como do ponto de vista sazonal, são<br />
apresentados como os cenários mais prováveis para os<br />
próximos 100 anos. Esses cenários são baseados numa<br />
variedade de simulações com diferentes modelos<br />
que foram validados conforme sua capacidade de<br />
representar satisfatoriamente o clima do passado e do<br />
presente. O grande avanço observado entre o IPCC<br />
AR4 e seu antecessor, o terceiro relatório (publicado<br />
em 2001), está na maior segurança proporcionada<br />
pelos diversos modelos usados permitindo conclusões<br />
com maior grau de certeza (ou menor incerteza) com<br />
relação ao efeito das atividades humanas no clima da<br />
Terra.<br />
Ao usar um conjunto de modelos de diferentes<br />
origens e com diferentes características, o IPCC AR4<br />
procurou usar a diversidade dos modelos como um<br />
fator de definição de probabilidade de ocorrência,<br />
ou de grau de confiança, principalmente quando<br />
enfocadas as diferentes regiões geográficas do globo<br />
e as diferentes estações do ano. De particular interesse<br />
é a mudança no regime de precipitação, nem sempre<br />
detectável no total anual, mas em muitos casos<br />
apresentando mudanças no comprimento da estação<br />
chuvosa. Tanto as alterações previstas na temperatura<br />
como no regime anual e sazonal da chuva podem ter<br />
impactos dramáticos na biodiversidade, nas atividades<br />
agrícolas, na sobrevivência de biomas naturais, além<br />
do efeito direto na disponibilidade da água e no<br />
degelo em altas latitudes com reflexos no nível do<br />
mar que afeta diretamente as regiões costeiras.<br />
A análise dos efeitos regionais nos cenários futuros,<br />
especificamente no caso dos padrões de chuva, tem<br />
uma incerteza básica que é a própria representação da<br />
chuva: os modelos atuais de previsão de tempo e de<br />
previsão climática sazonal ainda têm problemas nesse<br />
sentido, o que aumenta sensivelmente a incerteza dos<br />
cenários futuros nas escalas de décadas a centenas de<br />
anos. Os principais problemas na simulação de chuva<br />
ainda são:<br />
•<br />
•<br />
Resolução espacial das simulações numéricas;<br />
Interação aerossóis - radiação - microfísica de<br />
nuvens.<br />
De forma menos direta, porém ainda relevante, tem-se<br />
aspectos de acoplamento oceano-atmosfera, biosferaatmosfera<br />
e, por fim, existem as próprias limitações<br />
atuais na representação da química atmosférica e<br />
dos ciclos biogeoquímicos, que afetam simulações<br />
em todas as escalas podendo afetar os padrões de<br />
temperatura à superfície e o regime de precipitação.<br />
Levando em conta apenas os aspectos de resolução<br />
e da interação aerossóis – radiação - microfísica de<br />
nuvens, existe uma grande incerteza nos cenários<br />
de climas futuros do ponto de vista da precipitação,<br />
particularmente nas regiões tropicais onde os efeitos<br />
baroclínicos são de segunda ordem.<br />
12
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
As simulações numéricas usadas no IPCC AR4 para<br />
definir os cenários do clima futuro da Terra tem<br />
resolução típica de 100 km. O primeiro impacto<br />
da baixa resolução é na definição da condição de<br />
contorno na superfície em termos de topografia, da<br />
definição das regiões cobertas por água (oceano,<br />
lagos, rios) e da cobertura vegetal.<br />
Em regiões montanhosas a definição das encostas é<br />
bastante suavizada por essa resolução. Tanto o efeito<br />
mecânico de desvio das parcelas de ar que encontram<br />
as encostas, como o efeito térmico na produção de<br />
circulações vale-montanha são prejudicadas. Casos<br />
típicos são regiões com vales bem definidos, como<br />
o Vale do Rio São Francisco ou o Vale do Paraíba,<br />
cuja existência é praticamente eliminada com baixas<br />
resoluções.<br />
A linha costeira também perde detalhamento.<br />
Regiões costeiras perto de montanhas como, por<br />
exemplo, a Serra do Mar, tem grandes problemas<br />
de representação da intensidade das circulações<br />
locais nas simulações numéricas de baixa resolução<br />
espacial, pois dependem dos gradientes horizontais<br />
de temperatura. A velocidade da circulação simulada<br />
é inversamente proporcional à resolução e, em geral,<br />
uma descrição adequada ocorre para resoluções<br />
inferiores a 10 km. No caso de brisa marítima, por<br />
exemplo, quanto maior a velocidade da frente de<br />
brisa, maior a convergência associada e, portanto,<br />
mais intensos devem ser os movimentos verticais que,<br />
em última instância, definem a taxa de condensação<br />
de vapor d’água nas nuvens. Localmente há impactos<br />
também em regiões onde os contrastes não são bem<br />
resolvidos pela grade do modelo. Contrastes de<br />
vegetação também produzem circulações locais não<br />
convencionais como o que é observado nas regiões<br />
de interface entre floresta e pastagens (Souza et al.,<br />
2000) , regiões com agricultura e solo nu, e em volta<br />
das grandes represas, grandes rios (Silva Dias et al.,<br />
2004) ou regiões alagadas como o Pantanal.<br />
As circulações locais são o principal mecanismo<br />
produtor de chuvas nas regiões costeiras,<br />
especialmente nas baixas latitudes; no caso do Brasil,<br />
a costa do Nordeste e do Norte tem regime de chuvas<br />
tipicamente definido pela brisa marítima, conforme<br />
descrito por Kousky (1980) e por Negri et al. (2002).<br />
Além da chuva local, vários autores têm enfocado a<br />
questão de que a brisa marítima serve como gatilho<br />
para disparo de linhas de instabilidade que podem<br />
ser costeiras ou propagar-se por grandes distâncias<br />
continente adentro (Cohen et al., 1985; Rickenbach,<br />
2004).<br />
A baixa resolução também exige que os processos de<br />
formação de nuvem, que tem escala sub-grade, sejam<br />
parametrizados. A parametrização da convecção<br />
tem sabidamente suas limitações na representação<br />
do processo de precipitação, principalmente para<br />
chuvas de nuvens quentes (muito comuns em<br />
regiões marítimas e costeiras) e no caso de Sistemas<br />
Convectivos de Mesoescala (SCM) – o caso das<br />
linhas de instabilidade, por exemplo. No caso das<br />
chuvas originadas de nuvens quentes, os modelos de<br />
baixa resolução não incluem o processo de produção<br />
de chuva. No entanto, em boa parte do litoral do<br />
Nordeste do Brasil, as nuvens rasas produzem<br />
chuva, basicamente por serem nuvem marítimas<br />
formadas por gotas grandes, nucleadas ao redor de<br />
sais marinhos higroscópicos. Estas contrastam com<br />
nuvens rasas continentais formadas por um grande<br />
número de gotículas pequenas, formadas a partir<br />
de um grande número de partículas de poeira ou<br />
poluição, que permanecem em suspensão no ar sem<br />
cair como chuva.<br />
No caso dos SCM a sua reprodução em baixa<br />
resolução fica prejudicada pela impossibilidade<br />
de simular os processos dinâmicos das correntes<br />
descendentes que definem a propagação do<br />
sistema. Neste caso, um exemplo típico é a linha<br />
de instabilidade da Amazônia (Cohen et al., 1985).<br />
Essas linhas de instabilidade representam um caso<br />
crítico em simulações de baixa resolução: o início da<br />
formação da linha ocorre a partir da brisa marítima<br />
na costa norte e sua propagação como um SCM<br />
pode levá-las até milhares de quilômetros da costa,<br />
num extenso ciclo de vida com impacto em grandes<br />
áreas do leste e do centro da Amazônia. Ramos da<br />
Silva et al. (<strong>2007</strong>) mostram que as grandes linhas de<br />
instabilidade da Amazônia não são simuladas por<br />
13
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
modelos com resoluções superiores a 20 km.<br />
É plausível especular sobre o papel da resolução<br />
dos modelos na geração de furacões. O caso do<br />
Oceano Atlântico Sul merece particular atenção.<br />
Vários modelos do IPCC AR4 indicam redução da<br />
intensidade da fonte de calor do Amazonas e Brasil<br />
Central. Sabe-se que esta fonte mantém o intenso<br />
cisalhamento vertical no Oceano Atlântico Sul<br />
(Gandu e Silva Dias, 1988) que impede a formação<br />
de furacões já que as temperaturas da superfície<br />
são propícias. A fonte de calor do Amazonas e<br />
Brasil Central também é responsável pela intensa<br />
subsidência que seca a média troposfera no Atlântico,<br />
tornando o ambiente ainda mais desfavorável para<br />
a gênese das tempestades tropicais. A redução da<br />
precipitação na parte tropical do Brasil deve, em tese,<br />
diminuir o cisalhamento e a subsidência no Oceano<br />
Atlântico Sul. Portanto, é plausível esperar um<br />
aumento da probabilidade de ocorrência de furacões<br />
no Oceano Atlântico Sul, sobretudo ao se considerar<br />
o aumento da temperatura da superfície do mar.<br />
Evidentemente, podem existir outros fatores, por<br />
exemplo, relacionados com a interação entre a fonte<br />
de calor da África (Gandu e Silva Dias, 1998), que<br />
podem tornar este processo mais complexo. Somente<br />
modelos de alta resolução espacial, da ordem de<br />
poucos km, têm os mecanismos para capturar esses<br />
processos que levam à formação de furacões.<br />
Os aerossóis presentes na atmosfera têm diversos<br />
impactos na formação de nuvens e de chuva e são<br />
discutidos com bastante abrangência ao longo do IPC<br />
AR4, utilizando-se modelos de transferência radiativa<br />
desacoplados dos Modelos de Circulação Geral da<br />
atmosfera (MCG). Para incluir os aerossóis nos MCG<br />
é necessário um modelo de emissões. As emissões<br />
podem ocorrer a partir de levantamento de poeira em<br />
geral, emissões veiculares, industriais ou vegetais<br />
(compostos orgânicos voláteis com conversão gáspartícula),<br />
queimadas e erupções vulcânicas. Os<br />
MCG usados pelo IPCC somente incluem os efeitos<br />
climatológicos dos aerossóis que são estacionários.<br />
Um dos efeitos da presença de uma camada de<br />
aerossóis é a redução da incidência de radiação à<br />
superfície, identificado pelo IPCC AR4 como uma<br />
forçante radiativa negativa, isto é, de resfriamento.<br />
Um efeito esperado de uma camada de aerossóis é um<br />
aumento da estabilidade termodinâmica reduzindo os<br />
movimento verticais e diminuindo a quantidade de<br />
chuva. Conforme mostrado por Freitas et al. (2000), a<br />
pluma de aerossóis emitidos por queimadas no Brasil<br />
Central pode atingir grandes áreas da América do<br />
Sul e do Oceano Atlântico Sul, ou seja, um efeito em<br />
escala continental que ao não ser incluído nos MCG<br />
leva a um aumento da incerteza dos resultados. Esse<br />
impacto pode ser relativamente grande ao longo do<br />
chamado jato de baixos níveis (Vera et al., 2006)<br />
que leva para latitudes médias tanto a umidade da<br />
Amazônia como os produtos da queima da biomassa<br />
do Brasil Central que alcançam a região das bacias<br />
do Paraná e do Prata. A heterogeneidade espacial<br />
dos aerossóis também pode gerar circulações locais<br />
não-convencionais que podem causar significativo<br />
impacto na precipitação, eventualmente aumentandoa,<br />
apesar do efeito negativo associado ao impacto<br />
radiativo dos aerossóis (Vendrasco et al., <strong>2007</strong>).<br />
Outros efeitos dos aerossóis envolvem a interação com<br />
a microfísica das nuvens. Dentre os aerossóis há uma<br />
parcela que atua como Núcleos de Condensação de<br />
Nuvens (NCN). Para nuvens quentes é bastante claro<br />
que poucos NCN permitem a ocorrência de chuvas<br />
enquanto que muitos NCN inibem a chuva. No entanto,<br />
para nuvens frias, ou seja, aquelas em que existe a fase<br />
gelo além de gotas de água líquida, o efeito de aumento<br />
de NCN é extremamente não-linear e definido por<br />
fatores externos como o conteúdo de umidade no ar,<br />
a estabilidade atmosférica e o cisalhamento vertical do<br />
vento. Martins (2006) utilizou um modelo numérico<br />
com 1 km de resolução para analisar o efeito dos NCN<br />
na região Amazônica chegando à conclusão de que um<br />
número maior de NCN tem o efeito de tornar as chuvas<br />
mais intensas e localizadas, sem necessariamente<br />
alterar a chuva média na área. Quanto mais intensas e<br />
localizadas as chuvas, maior a probabilidade de eventos<br />
extremos associados como ventanias e inundações. E<br />
maiores os danos à vegetação e a agricultura, maior<br />
a probabilidade de deslizamentos de encostas. Estes<br />
efeitos dos aerossóis nas nuvens levam a uma grande<br />
incerteza relativa aos feitos regionais dos cenários<br />
climáticos.<br />
14
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Reconhecendo as incertezas regionais dos cenários<br />
climáticos globais, várias iniciativas têm levado à<br />
produção de cenários mais detalhados, através do<br />
processo de enfoque em menores escalas, permitido<br />
por modelos regionais que utilizam os cenários de<br />
baixa resolução como condições de contorno. No<br />
entanto, sem chegar a resoluções bem menores que<br />
10 km dificilmente esses cenários de maior resolução<br />
terão reduzido as incertezas nos resultados. E<br />
mesmo chegando a resoluções da ordem de poucos<br />
quilômetros ainda resta o problema da interação nãolinear<br />
entre escalas que existe na natureza e leva a<br />
um impacto das pequenas escalas nas maiores num<br />
processo de retro-alimentação positiva semelhante<br />
ao que explica em boa parte a sustentabilidade de<br />
furacões a partir do efeito coletivo das nuvens que<br />
os integram. Como a convecção e as circulações<br />
geradas num modelo regional reagem às condições<br />
de contorno do MCG, mas não são usadas para<br />
retroalimentar as circulações de grande escala, há<br />
novamente uma incerteza, especialmente em regiões<br />
com grandes conjuntos de nuvens como nas chamadas<br />
fontes tropicais de calor da Amazônia e da Indonésia,<br />
entre outras, e nas zonas de convergência associadas<br />
a grandes bandas de nuvens, como a Zona de<br />
Convergência Intertropical, a Zona de Convergência<br />
do Atlântico Sul, entre outras que podem ter efeitos<br />
globais (Raupp e Silva Dias, 2004).<br />
Para reduzir a incerteza associada à baixa resolução<br />
e ao desenvolvimento de nuvens e chuvas, a melhor<br />
opção é aumentar a resolução e incluir os processos<br />
microfísicos de nuvens e sua interação com aerossóis.<br />
Simulações de longo prazo como as necessárias para<br />
os cenários climáticos são proibitivas, do ponto de<br />
vista computacional sendo uma alternativa a análise<br />
detalhada de casos especiais para identificação de<br />
possíveis cenários locais associados aos sistemas<br />
sinóticos mais relevantes. Como exemplo, pode-se<br />
imaginar o caso dos complexos convectivos que afetam<br />
o norte da Argentina/Paraguai (Velasco e Fritsch,<br />
1987). Simulações regionais longas com algumas<br />
dezenas de quilômetros de resolução não descrevem<br />
a evolução desses sistemas sinóticos. Estudos de<br />
caso, por outro lado, baseados em ambientes de<br />
grande escala produzidos pelos cenários futuros, com<br />
alta resolução (da ordem de poucos km), podem dar<br />
informações relevantes sobre as alterações no ciclo<br />
de vida e nos eventos extremos associados. Técnicas<br />
de mineração de dados podem apontar para situações<br />
de maior interesse para esses estudos de caso.<br />
1. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Cohen, J.C.P., Silva Dias, M.A. F.; Nobre, C.A.<br />
Environmental conditions associated with Amazonian<br />
squall lines: a case study. Monthly Weather Review,<br />
123(11):<strong>31</strong>63-<strong>31</strong>74, 1995.<br />
Freitas, S.R.; Silva Dias, M.A. F.; Silva Dias, P.L.;<br />
Longo, K.M.; Artaxo, P.; Andreae, M.O.; Fischer,<br />
H. A convective kinematic trajectory technique for<br />
low-resolution atmospheric models. Journal of<br />
Geophysical Research, 105(D19):24375-24386,<br />
2000.<br />
Garstang, M.; Massie, Jr. H.L.; Halverson, J.; Grego,<br />
S.; Scala, J. Amazon coastal squall lines, Part I,<br />
Structure and kinematics. Monthly Weather Review,<br />
122:608-622, 1994.<br />
Gandu, A.W.; Silva Dias, P.L. Impact of Tropical<br />
Heat Sources on the South American Tropospheric<br />
Upper Circulation and Subsidence. Journal of<br />
Geophysical Research, 103:6001-6015, 1998.<br />
IPCC AR4. Intergovernamental Panel for Climate<br />
Change – Assessment Report 4, <strong>2007</strong>.<br />
Kousky, V.E. Diurnal rainfall variation in Northeast<br />
Brazil. Monthly Weather Review, 108:488-498,<br />
1980.<br />
Martins, J.A. Efeitos de aerossóis da queima de<br />
biomassa no desenvolvimento da precipitação.<br />
Tese de Doutorado, IAG/USP, 181 pp, <strong>2007</strong>.<br />
15
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Negri, A.J.; Adler, R.F.; Xu, L. A TRMM calibrated<br />
infrared rainfall algorithm applied over Brazil.<br />
Journal of Geophysical Research – Atmospheres,<br />
107(D20):16-1, 16-15, 2002.<br />
Raupp, C.A.M.; Silva Dias, P.L. Effects of nonlinear<br />
processes on the inter-hemispheric energy propagation<br />
forced by tropical heat sources. Revista Brasileira<br />
de Medteorologia, 19(2):177-188, 2004.<br />
Ramos da Silva, R.; Werth, D.; Avissar, R. The<br />
impacts of anticipated land-cover change on the wetseason<br />
in the Amazon: Part I –hydroclimatological<br />
changes. Aceito no Journal of Climate, <strong>2007</strong>.<br />
Rickenbach, T.M. Nocturnal Cloud Systems and<br />
the Diurnal Variation of Clouds and Rainfall in<br />
Southwestern Amazonia. Monthly Weather Review,<br />
132(5):1201–1219, 2004.<br />
Silva Dias, M.A.F.; Silva Dias, P.L.; Longo, M.<br />
Fitzjarrald, D.R.; Denning, A.S. River breeze<br />
circulation in eastern Amazon: observations<br />
and modeling results. Theoretical and Applied<br />
Climatology, 78(1-3):111-121, 2004.<br />
Souza, E.P.; Rennó, N.O.; Silva Dias, M.A.F.<br />
Convective circulations induced by surface<br />
heterogeneities. Journal of Atmospheric Sciences,<br />
57: 2915-2922, 2000.<br />
Vera, C.; Baez, J.; Douglas, M.; Emanuel, C.B.; Orsini,<br />
J. A M.; Meitin, J.; Nicolini, M.; NoguesPaegles, J.;<br />
Paegle, J.; Penalba, O.; Salio, P.; Saulo, C.; Silva<br />
Dias, M.A.F., Silva Dias, P.; Zipser, E. The South<br />
American Low Level Jet Experiment (SALLJEX).<br />
Bulletin of the American Meteorological Society,<br />
86, 1,63-77, 2006.<br />
Velasco, I.; Fritsch, J.M. Mesoscale convective<br />
complexes in the Americas. Journal of Geophysical<br />
Research–Atmospheres, 92(D8):9591-9613, 1987.<br />
Vendrasco, E.P.; Silva Dias, P.L.; Freitas, E.D. A Case<br />
Study of the radiative effect of biomass burning in the<br />
precipitation; the Cuiabá-Santarém (Eastern Amazon)<br />
Case. Submetido a publicação em Meteorology and<br />
Atmospheric Physics, <strong>2007</strong>.<br />
AGRADECIMENTOS<br />
As pesquisas dos autores são financiadas pela FAPESP, CNPq e FINEP.<br />
16
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Diagramações<br />
Agilidade com Qualidade<br />
̌<br />
̌<br />
̌<br />
̌<br />
̌̌<br />
Livros<br />
Revistas<br />
Catálogos<br />
Informátivos, Jornais<br />
Folders, Mala Direta<br />
Outros Impressos promocionais<br />
A Diagramação ideal<br />
para seu impresso!<br />
LIgue: (12) 3939.3399<br />
ou mande um e-mail:<br />
info@digitalpress.art.br<br />
R. Mário Valério de Camargo, 127 sl. 103<br />
Jd. Satélite - São José dos Campos - SP<br />
17
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
A INCERTEZA CIENTÍFICA E A OPINIÃO PÚBLICA NA<br />
BALANÇA DAS NEGOCIAÇÕES SOBRE MUDANÇA DE CLIMA<br />
Luis Antonio L. Aímola 1 , Pedro Leite da Silva Dias 2<br />
(1)<br />
Instituto de Estudos Avançados – Grupo de Ciências Ambientais – IEA/USP<br />
(2) Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas –IAG/USP<br />
Instituto de Estudos Avançados/ Universidade de São Paulo (IEA - USP)<br />
E-mails: aimola@usp.br, pldsdias@master.iag.usp.br<br />
A mídia mundial tem chamado o ano de<br />
<strong>2007</strong> de “o ano das mudanças climáticas”.<br />
Isso se deve, primeiramente, ao fato do Painel<br />
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (em<br />
inglês, Intergovernamental Panel on Climate Change<br />
- IPCC) estar publicando neste ano a quarta série de três<br />
relatórios de avaliação sobre o aquecimento global:<br />
o primeiro se concentra sobre as bases científicas da<br />
mudança climática e já foi publicado em Paris em<br />
fevereiro último. O segundo, trata dos impactos das<br />
mudanças climáticas e das vulnerabilidades regionais<br />
a essas mudanças, e foi divulgado em abril. A última<br />
parte avalia como podemos mitigar as emissões de<br />
Gases de Efeito Estufa (GEE) e saiu a público em<br />
maio. A principal mensagem desses relatórios é que<br />
as mudanças climáticas estão ocorrendo em uma<br />
velocidade sem precedentes na história e por isso<br />
é necessário tomar duas atitudes básicas: reduzir<br />
drasticamente as emissões globais de GEE e começar<br />
a se adaptar às mudanças que já se iniciaram.<br />
Um outro motivo é porque vários especialistas<br />
em clima têm afirmado que o efeito estufa conjugado<br />
com o fenômeno climático El Niño farão de <strong>2007</strong> o<br />
ano mais quente já registrado, com conseqüências<br />
para todo o planeta. Uma confirmação parcial dessa<br />
previsão já parece ter se realizando: o último inverno<br />
no Hemisfério Norte foi o mais quente dos últimos<br />
128 anos. A julgar pela grande cobertura dada pela<br />
mídia para a publicação do relatório em Paris, e sua<br />
ampla repercussão na sociedade, espera-se ainda<br />
muito mais discussão e mobilização de vários setores<br />
da sociedade ainda este ano sobre o problema do<br />
aquecimento global.<br />
O ano de <strong>2007</strong> também deve ser um ano de<br />
decisões políticas importantes nesta área. Logo<br />
depois da publicação do IPCC em Paris, a União<br />
Européia decidiu fixar a meta de reduzir pelo menos<br />
20% de suas emissões de GEE até 2020. Mas nem<br />
tudo neste ano pode representar avanços políticos<br />
nesta área. Discussões de bastidores para as próximas<br />
rodadas de negociações que definirão as políticas de<br />
reduções de emissões após o período de cumprimento<br />
do Protocolo de Kyoto, 2008-2012 tem indicado<br />
que, apesar de várias declarações recentes de muitos<br />
governos sobre a necessidade de ação mais vigorosa<br />
a partir de 2013, ainda existem muitas dificuldades<br />
a serem superadas até que se alcance um consenso<br />
sobre quem deve nessa próxima etapa reduzir suas<br />
emissões e de quanto.<br />
Os EUA, o maior emissor mundial de GEE,<br />
se negou a participar do acordo de Kyoto e sua<br />
participação em um acordo após 2012 será muito<br />
importante para que haja políticas eficazes de<br />
controle do aquecimento global, mas sua posição<br />
ainda é incerta. O Congresso norte americano tem<br />
há muito tempo condicionado um compromisso<br />
dos EUA em qualquer acordo global a que países<br />
em desenvolvimento tais como Índia, China e<br />
Brasil, também assumam metas obrigatórias. De<br />
outro lado, esses países ainda resistem fortemente<br />
a quaisquer obrigações de reduções de emissões,<br />
18
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
pois, argumentam, precisam crescer para resolver<br />
seus graves problemas sociais e cortar suas emissões<br />
representa um freio neste processo.<br />
O caminho até a ratificação do Protocolo de Kyoto<br />
demonstrou que o consenso entre os países, e mesmo<br />
dentro deles, é difícil de ser obtido. E não parece que<br />
as negociações para o próximo período serão mais<br />
fáceis, embora aparentemente haja um momento mais<br />
propício a um consenso mais amplo, sobretudo pela<br />
publicação dos relatórios do IPCC. Sem dúvida todos<br />
esses acontecimentos poderão ter influência na 13 a<br />
Conferência das Partes que acontecerá no final deste<br />
ano em Bali. A esperança é que o ano termine com<br />
uma perspectiva de um acordo que amplie aquele<br />
já feito em Kyoto. Na realidade ainda é impossível<br />
prever o impacto que os documentos do IPCC terão<br />
sobre essas negociações.<br />
O estado do conhecimento científico sobre as<br />
mudanças climáticas expresso nos relatórios do IPCC<br />
tem sido a plataforma a partir da qual os governos,<br />
as Organizações não-Governamentais (ONG´s) e<br />
as corporações, tomam suas decisões sobre o que<br />
fazer para lidar com o problema das mudanças<br />
climáticas. Por isso, espera-se que a cada publicação<br />
desses relatórios assistamos a mudanças cada vez<br />
mais significativas nas atitudes dos governos e no<br />
comportamento geral da sociedade em direção a<br />
uma política global eficaz de combate às mudanças<br />
climáticas. O motivo básico é a expectativa de que<br />
as incertezas científicas sobre o aquecimento global<br />
e seus efeitos diminuam sistematicamente. Dessa<br />
forma, pensa-se, as negociações tenderão cada<br />
vez mais a acordos globais mais amplos. Será que<br />
a relação entre o avanço do conhecimento sobre<br />
mudança de clima e os acordos internacionais segue<br />
essa lógica simples?<br />
Esses relatórios, embora contenham a melhor<br />
informação existente sobre o assunto, estão ainda<br />
repletos de incertezas sobre de quanto exatamente a<br />
temperatura global subiria se nada fizéssemos para<br />
evitar o aquecimento. As incertezas se ampliam<br />
significativamente quando tentamos prever essas<br />
elevações de temperatura para daqui a 20, 30, 50 ou<br />
100 anos à frente. Uma cascata de incertezas é gerada<br />
nos modelos de circulação geral oceano-biosferaatmosfera<br />
acoplados por causa das incertezas nos<br />
valores de inúmeros dos seus parâmetros, levando<br />
a um largo espectro de situações possíveis quando<br />
se tenta prever quais exatamente seriam os níveis<br />
médios de precipitação, de elevação do nível médio<br />
do mar e a distribuição de impactos nos ecossistemas<br />
através do globo.<br />
O sistema do clima é altamente complexo, envolve<br />
não-linearidades, muitas delas ainda não muito bem<br />
compreendidas, e o fenômeno do aquecimento global<br />
e as mudanças climáticas resultantes é de muito longo<br />
prazo. Quando estes modelos são usados para calibrar<br />
modelos climáticos de menor complexidade acoplados<br />
a modelos ecológicos e econômicos a situação piora,<br />
pois a cascata de incertezas se amplia ainda mais<br />
quando incorpora o elemento humano que é em<br />
muitos aspectos imprevisível. Em geral os cenários<br />
gerados por estes modelos apontam para futuros com<br />
inúmeros impactos negativos em extensas áreas do<br />
globo, caso nada seja feito. Mas a sua intensidade e<br />
época precisas em que ocorreriam são questões ainda<br />
sem resposta e não podem ser obtidas rapidamente.<br />
Para algumas questões as incertezas são intrínsecas<br />
e não simplesmente estatísticas, o que implica em<br />
nunca poderem ser reduzidas.<br />
Parece despropositado falar das incertezas em<br />
um momento como este, pós-relatórios do IPCC,<br />
em que a sociedade parece estar alcançando uma<br />
conscientização sem precendentes, cuja mobilização<br />
pode pressionar muito os governos a tomarem<br />
medidas mais severas no combate ao aquecimento<br />
global. Mas os fatos mostram que os governos<br />
do mundo todo estão avançando muito pouco nos<br />
esforços para dar seqüência ao Protocolo de Kyoto<br />
mesmo diante da crescente preocupação da opinião<br />
pública com as mudanças climáticas e os alertas da<br />
ONU, de que o problema representa uma ameaça<br />
de dimensões semelhantes às de uma guerra. O fato<br />
é que a grande amplitude das incertezas científicas<br />
sobre o tema ainda oferece muito espaço para que<br />
coexistam várias posições contrárias ao movimento<br />
de intensificação de reduções de emissões e permite<br />
que vários governos possam continuar a resistir a<br />
qualquer compromisso formal para isso.<br />
19
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Estudos têm mostrado que os países formam<br />
suas posições nas negociações internacionais sobre<br />
mudanças climáticas a partir da avaliação de sua<br />
vulnerabilidade potencial àquelas mudanças e dos<br />
custos que incorreria se viesse a reduzir suas emissões.<br />
Essa conclusão tem sido chamada de teoria do autointeresse<br />
dos países nas negociações ambientais<br />
internacionais, pois preconiza basicamente a idéia<br />
de que cada país forma suas posições visando<br />
unicamente seus interesses nacionais, em oposição a<br />
qualquer atitude altruísta que busque o bem estar de<br />
outras nações (Sprinz e Vaahatoranta, 1994).<br />
Um país, segundo esta teoria, que estimasse para<br />
seu território danos climáticos altos e custos baixos<br />
para o abatimento de suas emissões domésticas,<br />
tomaria uma atitude promovedora de políticas mais<br />
severas de reduções. Daria o exemplo aos outros<br />
países assumindo voluntariamente metas mais<br />
ambiciosas de reduções e cobraria desses países<br />
atitudes semelhantes. Esse comportamento é o que<br />
observamos, por exemplo, na União Européia, que<br />
assumiu o compromisso acima indicado.<br />
Um país que, ao contrário do primeiro tipo, estima<br />
danos climáticos baixos e custos de abatimento<br />
altos, seguiria o comportamento inverso: resistiria<br />
a qualquer acordo que o levasse a ter que assumir<br />
reduções intensas de emissões. Ele pode ser<br />
caracterizado por uma atitude procrastinadora nas<br />
negociações. O exemplo típico de um protelador<br />
é os EUA. Uma nação, por outro lado, que avalia<br />
danos climáticos altos, e custos de abatimento<br />
também altos, tem uma atitude intermediária entre<br />
os casos anteriores e sua atitude é na maior parte do<br />
tempo ambígua, procurando evitar assumir custos<br />
de abatimento, mas pressionando os outros países a<br />
reduzirem suas emissões. Este é o caso, por exemplo,<br />
da China, do Brasil e da Índia. Finalmente, o país<br />
que estima danos e custos baixos tem uma atitude<br />
expectadora, procurando se aproveitar das situações<br />
para fazer acordos que o beneficiem em outras áreas.<br />
Este é o caso, por exemplo, da Rússia nas negociações<br />
do Protocolo de Kyoto.<br />
1. UM MODELO DE NEGOCIAÇÕES SOB<br />
INCERTEZA<br />
A partir dessa tipologia de comportamentos, o que<br />
podemos esperar daqui para frente em termos das<br />
negociações sobre a mudança de clima? Para tentar<br />
responder a esta pergunta, Aímola (2006) construiu<br />
um modelo matemático que representa as economias<br />
nacionais e suas emissões de GEE, as vulnerabilidades<br />
de cada país ao aquecimento global e a maneira como<br />
as expectativas de cada um, em função das incertezas<br />
científicas, influenciam seu papel nas negociações.<br />
Aqui são discutidos alguns dos principais resultados<br />
obtidos por Aímola (2006).<br />
No modelo de Aimola (2006), cada país foi<br />
representado como um agente que tem um modelo<br />
clima-economia no qual alguns de seus parâmetroschave<br />
têm incertezas representadas por distribuições<br />
de probabilidades que mudam ao longo do tempo. O<br />
modelo é inovador, pois se baseia em um método ainda<br />
pouco utilizado para modelagem em mudanças<br />
climáticas, a Simulação de Sistemas Multiagentes.<br />
Nele, cada governo faz planos, usa uma metodologia<br />
para projetar cenários futuros de mudança de clima e<br />
de impactos econômicos, assim como um critério de<br />
decisão para escolher sua posição. Para modelar as<br />
negociações propriamente ditas, usou-se a Teoria dos<br />
Jogos, uma área da Ciência Econômica que trata do<br />
comportamento estratégico dos agentes.<br />
Foram escolhidos alguns parâmetros-chave ainda<br />
altamente incertos, sobre os quais a resolução das<br />
incertezas, ainda que gradual, é crucial para antecipar<br />
o comportamento do clima e da economia, e levar<br />
à ação mais eficaz. Para o clima, foram escolhidos<br />
como parâmetros incertos a sensibilidade climática<br />
e a inércia térmica do oceano. Para as economias, a<br />
vulnerabilidade às mudanças climáticas e os custos<br />
marginais de abatimento de emissões de GEE. A<br />
partir dessa representação, o modelo explora cenários<br />
de evolução dos conhecimentos científicos sobre<br />
o aquecimento global e sua influência no processo<br />
político internacional.<br />
20
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
O modelo permite realizar simulações variandose<br />
com diferentes velocidades as distribuições<br />
de probabilidades para representar a redução das<br />
incertezas e os possíveis ritmos de tais reduções.<br />
É impossível prever como se dará a evolução<br />
do conhecimento científico sobre o clima, a<br />
vulnerabilidade de cada país em seu território,<br />
bem como dos custos domésticos de abatimento de<br />
emissões, mas no modelo pode-se explorar diversos<br />
cenários de redução de incertezas e fazer uma análise<br />
global dos resultados de cada simulação.<br />
O modelo é capaz de reproduzir a tipologia de<br />
comportamentos dos países nas negociações sobre<br />
mudança de clima como descritos pela teoria do autointeresse<br />
para várias situações de incertezas. Com ele<br />
pode-se simular cenários em que a diminuição das<br />
incertezas se dá de forma lenta (5% por década), ou<br />
rápida (20% ou mais por década), o que significaria<br />
a resolução completa das incertezas na metade deste<br />
século, e observar a mudança de comportamento de<br />
cada país toda vez que negocia metas de reduções de<br />
emissões de GEE.<br />
Assim, por exemplo, um país que inicialmente é<br />
“protelador” nas negociações, com a diminuição das<br />
incertezas sobre sua vulnerabilidade e seus custos,<br />
pode vir a adotar uma atitude “promovedora” de<br />
reduções de emissões. Países de comportamento<br />
intermediário podem passar a ter posição mais<br />
definida, seja pelo lado da ação vigorosa, seja pela<br />
procrastinação. “Promotores” podem manter suas<br />
atitudes, ou não, e países “indiferentes” podem se<br />
tornar “promotores” ou “proteladores”, dependendo<br />
do resultado final da diminuição das incertezas dos<br />
impactos e dos custos esperados.<br />
A partir dessas mudanças de papéis, que implicam<br />
diferentes distribuições de metas de reduções de<br />
emissões negociadas entre os países, é possível<br />
avaliar o efeito da diminuição das incertezas sobre<br />
o aquecimento global e a magnitude dos danos<br />
econômicos em cada território nacional.<br />
Desenvolveu-se um programa de computador, o<br />
Proclin – Protótipo para Simular o Papel das Incertezas<br />
nas Negociações Climáticas para simular situações<br />
simples, considerando inicialmente somente dois<br />
grandes blocos de países, representando as nações<br />
industrializadas e aquelas em desenvolvimento. Isto<br />
é, um dos blocos foi calibrado com parâmetros que<br />
representam um grupo de países ricos com emissões<br />
altas, enquanto o outro representa nações com renda<br />
mais baixa e emissões ainda reduzidas, mas crescendo<br />
rapidamente (Aímola, 2006).<br />
O objetivo das simulações é saber sob que<br />
condições de diminuição das incertezas científicas, as<br />
futuras negociações podem gerar políticas que evitem<br />
impactos climáticos severos ainda neste século em<br />
pelo menos um dos blocos de países. Considerouse<br />
como dano econômico severo a situação em<br />
que o Produto Interno Bruto (PIB) de cada bloco<br />
começaria a declinar, levando à recessão econômica<br />
em virtude das perdas advindas do aquecimento<br />
global – destruição de infraestrutura, quebras de<br />
safras agrícolas, aumento drástico de doenças infecto<br />
contagiosas, etc, e os resultados obtidos são discutidos<br />
a seguir.<br />
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Os resultados das simulações preliminares obtidas<br />
com o Proclin para a condição testada mostram que<br />
somente para reduções muito rápidas das incertezas,<br />
tal como 20% por década, as negociações evitam<br />
recessão econômica em ambos os blocos de países.<br />
No modelo, isso ocorre apenas em cenários onde<br />
o aquecimento se dá de forma muito lenta. Para<br />
elevações rápidas de temperatura, a recessão é<br />
inevitável para os dois blocos mesmo que as incertezas<br />
diminuam muito rapidamente.<br />
Algumas simulações indicaram que se as<br />
incertezas não diminuíssem, ou se o fizessem muito<br />
lentamente, as recessões econômicas viriam mais<br />
rápida e intensamente. Isso mostra que a pesquisa<br />
científica tem papel relevante nas negociações, mas<br />
limitado no que se refere à eficácia das reduções<br />
negociadas. Ou seja, o clima pode reagir à quantidade<br />
de emissões mais rapidamente do que mudanças<br />
significativas de posição dos países nas negociações.<br />
No modelo, é importante lembrar, as mudanças de<br />
21
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
posições ocorrem somente após os países obterem<br />
um conhecimento científico mais seguro. As ações<br />
são tomadas a partir de nova informação.<br />
Em um cenário de incertezas diminuindo<br />
lentamente e com países possuindo elevada aversão<br />
à recessão, a seqüência de negociações simulada<br />
evitou a contração do PIB. O resultado indica que a<br />
precaução quanto ao que de pior pode ocorrer é um<br />
fator relevante no processo, mesmo que esse cenário<br />
seja considerado de baixa probabilidade. Nesse caso,<br />
abre-se a oportunidade de uma postura proativa por<br />
parte de governos e sociedades, e o conhecimento<br />
avança junto com as ações preventivas.<br />
Além da informação científica, a aversão ao risco<br />
é um fator chave para levar os governos a tratar o<br />
problema com a seriedade que ele merece e nesse<br />
sentido a percepção da sociedade com relação às<br />
ameaças das mudanças climáticas poderá ter um<br />
papel decisivo como elemento de pressão, para<br />
que se amplie o acordo de Kyoto. Na balança das<br />
negociações a mídia e o mega show Earth Live a ser<br />
realizado pelo ex-Vice-Presidente dos EUA, Al Gore,<br />
para julho deste ano, que alcançará dois bilhões de<br />
pessoas em todo o mundo pela TV e internet, poderão<br />
ser pesos decisivos.<br />
3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Aimola, L. A. L. Cascata de Incertezas,<br />
Impactos Climáticos Perigosos e Negociações<br />
Internacionais de Mudança de Clima Global<br />
– Um Modelo Exploratório. Tese de Doutorado<br />
em Ciência Ambiental. São Paulo: PROCAM-USP,<br />
2006.<br />
Sprinz, D.; Vaahatoranta. The self-interest based<br />
explanation of International Environmental Policy.<br />
International Organization, vol. 48, n 0 1, 1994.<br />
22
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
O QUARTO RELATÓRIO DO IPCC (IPCC AR4) E PROJEÇÕES<br />
DE MUDANÇA DE CLIMA PARA O BRASIL E AMÉRICA DO SUL<br />
José Antonio Marengo Orsini<br />
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE<br />
E-mail: marengo@cptec.inpe.br<br />
Desde a década de 1980, evidências científicas<br />
sobre a possibilidade de mudança de clima em nível<br />
mundial vêm despertando interesse crescente no<br />
público e na comunidade científica em geral. Em 1988,<br />
a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o<br />
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente<br />
(PNUMA) estabeleceram o Intergovernamental<br />
Panel on Climate Change (IPCC). O IPCC ficou<br />
encarregado de apoiar com trabalhos científicos<br />
as avaliações do clima e os cenários de mudanças<br />
climáticas para o futuro. Sua missão é “avaliar a<br />
informação científica, técnica e sócio-econômica<br />
relevante para entender os riscos induzidos pela<br />
mudança climática na população humana”.<br />
Esta tarefa é abordada com a participação de um<br />
grande número de pesquisadores das áreas de clima,<br />
Meteorologia, Hidrometeorologia, Biologia e ciências<br />
afins, que se reúnem regularmente a cada quatro anos<br />
e discutem as evidências científicas mais recentes<br />
e atualizadas. Assim como os resultados do estadoda-arte<br />
de vários tipos de modelos (atmosféricos,<br />
acoplados oceano-atmosfera), com a meta de chegar<br />
a um consenso sobre as tendências mais recentes em<br />
termos de mudança de clima.<br />
Os relatórios do IPCC, especialmente do GT1<br />
sobre “As Bases Científicas” fornecem uma revisão<br />
compreensiva e atualizada de todas as informações<br />
e estudos feitos na área de clima, oceanografia,<br />
ecologia, entre outras ciências relacionadas à<br />
mudanças climáticas. Esta informação é apresentada<br />
para as comunidades científicas, o público em<br />
geral e, em especial, para políticos e tomadores de<br />
decisões, que precisam receber informação de forma<br />
compreensível. Para isto, o IPCC tem a tarefa de<br />
sumariar o conhecimento atual contido nos relatórios<br />
científicos sobre as possíveis mudanças do clima no<br />
futuro para os tomadores de decisões. Este relatório<br />
é chamado de Summary for Policy Makers SPM,<br />
ou Relatório Sumário para Tomadores de Decisões<br />
(IPCC, 2001 a, b, c, d, <strong>2007</strong>).<br />
O Terceiro Relatório Científico (TAR) mostra<br />
que “existem novas e fortes evidências de que a<br />
maior parte do aquecimento observado durante os<br />
últimos 50 anos é atribuída às atividades humana”<br />
(IPCC, 2001 a), o que foi amplamente anunciado em<br />
jornais e revistas científicas da imprensa mundial.<br />
Entretanto, o TAR não trouxe conclusões sobre<br />
possíveis mudanças na freqüência e intensidade de<br />
eventos climáticos extremos.<br />
O Quarto Relatório Científico do IPCC<br />
AR4 foi liberado em fevereiro de <strong>2007</strong>, e nele<br />
apresentam-se evidencias de mudanças de clima,<br />
especialmente nos extremos climáticos que podem<br />
afetar significativamente o planeta, especialmente<br />
os paises menos desenvolvidos na região tropical.<br />
Novos modelos que incluem modelos acoplados com<br />
vegetação interativa e melhores representações de<br />
nuvens e aerossóis foram rodados, e uma maior atenção<br />
foi dada para a simulação de extremos climáticos e de<br />
variabilidade interdecadal. As principais conclusões<br />
desse relatório sugerem, com confiança acima de<br />
90%, que o aquecimento global dos últimos 50 anos<br />
é causado pelas atividades humanas. As avaliações<br />
23
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
observacionais e as projeções climáticas para o futuro<br />
e passado mostram novas evidências de tendências e<br />
processos que podem se resumir assim:<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
d)<br />
e)<br />
f)<br />
O aquecimento global tem sido agravado pela<br />
poluição humana, e a escala do problema não<br />
tem precedentes, pelo menos nos últimos 20<br />
mil anos;<br />
Há evidências esmagadoras de que o clima<br />
da Terra está sofrendo uma transformação<br />
dramática devido as atividades humanas;<br />
As temperaturas médias globais neste século<br />
subirão entre 2 0 C e 4,5 0 C como resultado da<br />
duplicação das concentrações de dióxido de<br />
carbono na atmosfera em relação aos níveis préindustriais,<br />
devido a emissões por atividades<br />
humanas (como a queima de petróleo e carvão<br />
e o desmatamento das florestas tropicais, como<br />
a Amazônia);<br />
A isso poderia se somar mais 1,5 0 C como<br />
decorrência dos processos de realimentação<br />
positivos no clima, resultantes do derretimento<br />
do gelo marinho, do permafrost (solo e subsolo<br />
permanentemente congelado) e da acidificação<br />
dos oceanos;<br />
Existem amplas evidências de aquecimento<br />
antropogênico do sistema climático no<br />
aquecimento global observado nos últimos 50<br />
anos;<br />
A mudança climática deve continuar por<br />
décadas e talvez séculos, mesmo se as emissões<br />
de gases-estufa forem cortadas.<br />
O Brasil é vulnerável às mudanças climáticas<br />
atuais e mais ainda às que se projetam para o futuro,<br />
especialmente quanto aos extremos climáticos. As<br />
áreas mais vulneráveis compreendem a Amazônia<br />
e o Nordeste do Brasil, como mostrado em estudos<br />
recentes (Marengo, 2006; Ambrizzi et al., <strong>2007</strong>;<br />
Marengo et al., <strong>2007</strong>). Estas publicações destacam<br />
os principais estudos de tendências climáticas<br />
observadas no clima do presente para América do<br />
Sul e fazem também análises dos cenários climáticos<br />
futuros previstos pelos modelos do IPCC para os<br />
cenários de altas e baixas emissões.<br />
1. CLIMA DO PRESENTE: TENDÊNCIAS<br />
CLIMÁTICAS OBSERVADAS<br />
Os mapas produzidos pelo IPCC AR4 (Figura 1)<br />
mostram para um período de 25 anos (1979-2005) a<br />
tendência de aquecimento de até 1,1 0 C/década no<br />
Sudeste da América do Sul, assim como a tendência<br />
de aquecimento no Nordeste e Amazônia. Para as<br />
chuvas, observa-se a tendência já detectada em<br />
estudos anteriores do IPCC (de aumento de até 30%/<br />
década da chuva na Bacia do Prata, e em algumas<br />
áreas isoladas do Nordeste. Para a Amazônia não<br />
aparece uma tendência clara de aumento ou redução<br />
nas chuvas, apresentando mais uma tendência<br />
de variações interdecadais contrastantes entre a<br />
Amazônia do Norte e do Sul (Marengo, 2006).<br />
Para o Brasil, a temperatura média aumentou<br />
aproximadamente 0,75 0 C até o final do Século XX<br />
(considerando a média anual de 1961-90 de 24,9 0 C),<br />
e sendo 1998 o ano mais quente no Brasil (aumento<br />
de até 0,95 0 C em relação à normal climatológica<br />
de 24,9 0 C). Ao nível regional, pode-se observar<br />
que para o período de 1951-2002, as temperaturas<br />
mínimas têm aumentado em todo o país, mostrando<br />
um aumento expressivo de até 1,4 0 C por década,<br />
enquanto as temperaturas máximas e médias têm<br />
aumentado em até 0,6 0 C e 0,4-0,6 0 C por década,<br />
respectivamente em quase todo o país (Obregon e<br />
Marengo, <strong>2007</strong>). O fato das tendências positivas nas<br />
temperaturas mínimas anuais serem mais acentuadas<br />
do que as temperaturas máximas determinam as<br />
tendências negativas na amplitude térmica do ciclo<br />
diurno de temperaturas (Tmax-Tmin). As tendências<br />
de aquecimento são detectadas ao nível anual e<br />
sazonal, com maiores aquecimentos no inverno e<br />
primavera.<br />
Em relação à precipitação, as análises<br />
observacionais no clima do presente não apontam<br />
para tendência de redução de chuvas na Amazônia<br />
(devido ao desmatamento). O que tem sido observado<br />
são variações interdecadais de períodos relativamente<br />
24
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
mais secos ou chuvosos no Brasil na Amazônia e<br />
Nordeste. Regionalmente, tem sido observado um<br />
aumento das chuvas no Sul e partes do Sul do Brasil,<br />
na Bacia do Paraná - Prata, desde 1950, consistente<br />
com tendências similares em outros países do<br />
Sudeste da América do Sul. No sudeste o total anual<br />
de precipitação parece não ter sofrido modificação<br />
perceptível nos últimos 50 anos.<br />
A)<br />
Figura 1: Tendências observadas de: a) Temperatura média anual (1979-2005),<br />
expressa em 0 C/década, b) chuva (1979-2005), expressa em % , ambas em relação a<br />
1961-90. Cores azul/vermelho indicam mais frio/mais quente e cores marrom/verde<br />
indicam mais seco/mais úmido.<br />
Fonte: IPCC AR4 (<strong>2007</strong>).<br />
Na Amazônia, observam-se as tendências<br />
positivas de chuva até +120 mm/década na maior<br />
parte do Sul e Sudeste do Brasil, assim como alguns<br />
postos pluviométricos com tendências negativas no<br />
Amazonas, na Bahia, em Minas Gerais e no Rio<br />
de Janeiro. Com respeito aos valores sazonais de<br />
precipitação, a tendência de aumento de chuva no<br />
sul do Brasil é consistente durante todo o ano, ainda<br />
que esta tendência seja mais acentuada nos meses de<br />
inverno, chegando até +40 mm/década e, em segundo<br />
lugar, durante o verão. Para o Nordeste, as chuvas<br />
não apresentam tendências de chuva significativas de<br />
aumento ou redução, e na Amazônia as tendências<br />
de chuva também não são muito claras a nível<br />
regional. O que pode se afirmar é que estas regiões<br />
experimentam variações interdecadais, com períodos<br />
B)<br />
de aproximadamente 25-30 anos, alternando épocas<br />
mais ou menos chuvosas (Marengo, 2006). Isto pode<br />
ser explicado pela variabilidade natural do clima na<br />
forma de variações decadais nos Oceanos Pacífico e<br />
Atlântico tropical.<br />
Em relação a vazões dos rios, as tendências<br />
de chuva observadas refletem bem as tendências<br />
na precipitação, com uma clara<br />
tendência de aumento nas vazões<br />
do Rio Paraná e outros rios no<br />
sudeste da América do Sul. Na<br />
Amazônia, Pantanal e Nordeste<br />
não foram observados tendências<br />
sistemáticas em longo prazo em<br />
direção a condições mais secas ou<br />
chuvosas, sendo mais importantes<br />
variações interanuais e interdecadais,<br />
associadas à variabilidade natural<br />
de clima na mesma escala temporal<br />
de variabilidade de fenômenos<br />
interdecadais dos Oceanos Pacífico<br />
e Atlântico tropical. As análises de<br />
vazões de rios na América do Sul e<br />
no Brasil (Marengo, 2006) apontam<br />
para aumentos entre 2-30% na<br />
Bacia do Rio Paraná e nas regiões<br />
vizinhas no sudeste da América do<br />
Sul, consistente com as análises<br />
de tendência de chuva na região.<br />
Não foram observadas tendências importantes nas<br />
vazões dos rios da Amazônia e da Bacia do Rio São<br />
Francisco. Na costa oeste do Peru, as tendências de<br />
chuva positivas podem ser explicadas pelos valores<br />
extremamente altos de chuvas e vazões durante os<br />
anos de El Niño de 1972, 1983, 1986 e 1998 que<br />
afetam sensivelmente as tendências. Algumas das<br />
vazões no Brasil (Amazônia, Sul do Brasil, norte<br />
do Nordeste) apresentam altas correlações com os<br />
campos de anomalias de temperatura de superfície do<br />
mar nos Oceanos Pacífico e Atlântico Tropical, o que<br />
sugere uma possível associação entre vazões extremas<br />
e El Niño, ou um aquecimento no Oceano Atlântico<br />
Norte Tropical, como foi o caso, por exemplo, de<br />
1998 com reduções nas vazões em Manaus e Óbidos<br />
e nos níveis baixos do Rio Solimões durante a recente<br />
seca de 2005 (Marengo, 2006).<br />
25
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
2. CLIMA DO FUTURO: PROJEÇÕES DO IPCC ATÉ<br />
2100<br />
A temperatura média do ar para o Brasil, em 2100<br />
pode aumentar até 28,9 o C para o cenário de altas<br />
emissões A2 e até 26,3 o C para o cenário de baixas<br />
emissões B2, considerando<br />
a média de 1961-90 de<br />
25,0 o C. Isso corresponderia<br />
a um aquecimento de 3,8 o C<br />
para o cenário de altas<br />
emissões e de 1,3 o C para o<br />
cenário de baixas emissões,<br />
com base em uma média<br />
de seis modelos climáticos<br />
globais do IPCC TAR<br />
(Marengo, 2006).<br />
do Brasil durante os meses de inverno JJA o que pode<br />
comprometer a chuva na região leste de Nordeste, que<br />
apresenta o pico da estação chuvosa nessa época do<br />
ano. A figura corresponde a uma média dos modelos<br />
de IPCC AR4 para o Cenário intermédio A1B (IPCC,<br />
<strong>2007</strong>).<br />
As projeções de<br />
mudança nos regimes e<br />
distribuição de chuva,<br />
derivadas dos modelos<br />
globais de IPCC AR4, para<br />
climas mais quentes no<br />
futuro não são conclusivas,<br />
e as incertezas ainda são<br />
grandes, pois dependem<br />
dos modelos e regiões<br />
consideradas (Marengo,<br />
2006). Na Amazônia<br />
e Nordeste, ainda que<br />
alguns modelos climáticos<br />
globais do IPCCC AR4<br />
apresentem reduções<br />
drásticas de precipitações,<br />
outros modelos apresentam<br />
aumento. A média de<br />
todos os modelos, por<br />
outro lado, é indicativa<br />
de maior probabilidade<br />
de redução de chuva em<br />
regiões como Amazônia<br />
de leste e Nordeste<br />
como conseqüência do<br />
aquecimento global. A<br />
Figura 2 mostra reduções de<br />
chuva no Norte e Nordeste<br />
26<br />
A)<br />
Cenário A1BCenário A1B, (2080-99)-(1980-99) DJF<br />
Cenário A1B, (2080-99)-(1980-99) JJA<br />
Figure 2: Projeções de anomalias de chuva para 2080-99 relativo a 1980-99 em (%), para: a) DJF,<br />
b) JJA. Cores azul/vermelho mostram anomalias negativas/positivas de chuva. Cenário e A1B<br />
(Intermediário). Fonte: IPCC (<strong>2007</strong>).<br />
Figura 3: Projeções de temperatura para os cenários de baixas emissões A2 e baixas emissões A2<br />
para 2080-99 relativo a 1980-99. Anomalias expressas em mm dia -1 .<br />
Fonte: IPCC (<strong>2007</strong>).<br />
B)
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Em latitudes mais altas, a região da Bacia do Prata<br />
apresenta projeções de possíveis aumentos na chuva<br />
e vazões até a segunda metade do Século XXI, de até<br />
20% durante os meses de verão austral (DJF). Isto<br />
sugere que para esta região o futuro apresentaria uma<br />
continuidade da variabilidade de chuvas e vazões<br />
observadas durante os últimos 50 anos, o que talvez<br />
indique maior confiança nestas projeções para esta<br />
região.<br />
As projeções para temperatura do ar (Figura 3) são<br />
mais reveladoras, e a consistência entre os modelos é<br />
maior. No cenário otimista B2 o aquecimento a nível<br />
anual pode chegar ate 3 0 C no Brasil, em tanto que<br />
no cenário pessimista A2 o aquecimento pode chegar<br />
ate 5 0 C na parte sul da Amazônia, e em todo o Brasil<br />
o aquecimento varia entre 3 0 C e 5 0 C, sendo mais<br />
intenso na região tropical (IPCC, <strong>2007</strong>).<br />
As projeções de extremos segundo o IPCC AR4<br />
sugerem para boa parte do Brasil aumentos na<br />
freqüência de extremos de chuva em todo o Brasil,<br />
principalmente na Amazônia do oeste, sul e sudeste<br />
do Brasil. Para o período de 2080-2099 em relação<br />
ao presente (1980-99), no cenário A1B, os eventos<br />
extremos de chuva intensa mostram um aumento na<br />
freqüência e na contribuição de dias muito chuvosos<br />
na Amazônia oeste, enquanto na Amazônia de leste e<br />
no nordeste a tendência é de aumento na freqüência<br />
de dias secos consecutivos, o que também se observa<br />
para o norte do Sudeste. No restante do sudeste e na<br />
região Sul do Brasil, assim como na Amazônia do<br />
Oeste as projeções de clima para o futuro mostram<br />
um aumento na precipitação intensa, o que também<br />
tem sido observado nos últimos 50 anos. Em relação<br />
a temperaturas, quase todo o País está sujeito a<br />
aumento na freqüência de ondas de calor e de noites<br />
quentes, especialmente nas regiões Sudeste e Sul do<br />
Brasil. As projeções de extremos climáticos derivados<br />
dos modelos do IPCC AR4 aparecem em Marengo<br />
(2006).<br />
3. DISCUSSÕES E RECOMENDAÇÕES<br />
O estudo das mudanças climáticas globais deve<br />
ser analisado de forma interdisciplinar em função da<br />
própria natureza do sistema climático. A integração<br />
destes estudos se faz necessária a fim de que se possam<br />
desenhar estratégias, tanto de mitigação quanto de<br />
adaptação, eficazes para enfrentar mudanças adversas<br />
do clima. A questão de vulnerabilidade e adaptação<br />
deve ser tratada de maneira pragmática, inclusive com<br />
o desenvolvimento de modelos que levem em conta<br />
as necessidades dos países em desenvolvimento.<br />
Nesse esforço, é crucial a participação de técnicos e<br />
cientistas, bem como o fortalecimento das instituições<br />
dos países em desenvolvimento.<br />
A experiência brasileira nesse domínio mostra a<br />
necessidade de se ajustar os métodos aplicáveis aos<br />
cenários de mudança do clima resultantes de modelos<br />
globais para projeções de escopo regional ou local.<br />
Esse ajuste seria útil para estudos sobre os impactos<br />
da mudança do clima em áreas como gerenciamento<br />
de recursos hídricos, ecossistemas, atividades<br />
agrícolas e mesmo a propagação de doenças. A maior<br />
resolução obtida em modelos de escopo regional<br />
ou local concorreria para uma previsão realista de<br />
alterações extremas e a uma melhoria substancial da<br />
avaliação da vulnerabilidade dos países à mudança<br />
do clima e de sua capacidade de adaptação.<br />
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Ambrizzi, T., Rocha, R., Marengo J, A. I.<br />
Pisnitchenko, L. Alves, Fernandez, J. P. <strong>2007</strong>:<br />
Cenários regionalizados de clima no Brasil para<br />
o Século XXI: Projeções de clima usando três<br />
modelos regionais. Relatório 3. MINISTÉRIO<br />
DO MEIO AMBIENTE - MMA, SECRETARIA<br />
DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS<br />
–SBF, DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO<br />
DA BIODIVERSIDADE – DCBio Mudanças<br />
Climáticas Globais e Efeitos sobre a<br />
Biodiversidade - Sub projeto: Caracterização do<br />
clima atual e definição das alterações climáticas<br />
para o território brasileiro ao longo do Século<br />
XXI. Brasília, Fevereiro <strong>2007</strong>.<br />
27
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Marengo, J, A. 2006: Mudanças climáticas globais<br />
e seus efeits sobre a biodiversidade - Caracterização<br />
do clima atual e definição das alterações climáticas<br />
para o território brasileiro ao longo do Século XXI.<br />
Ministério do Meio Ambiente MMA,Brasília., Brasil,<br />
212 p.: il. color ; 21 cm. (Série Biodiversidade, v. 26)<br />
ISBN 85-7738-038-6<br />
Marengo, J. A., Alves, L., Valverde, M., Rocha,<br />
R., Laborbe, R, <strong>2007</strong>: Eventos extremos em cenários<br />
regionalizados de clima no Brasil e América do Sul<br />
para o Século XXI: Projeções de clima futuro usando<br />
três modelos regionais. Relatório 5, MINISTÉRIO<br />
DO MEIO AMBIENTE - MMA, SECRETARIA<br />
DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS –<br />
SBF, DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DA<br />
BIODIVERSIDADE – DCBio Mudanças Climáticas<br />
Globais e Efeitos sobre a Biodiversidade - Sub<br />
projeto: Caracterização do clima atual e definição<br />
das alterações climáticas para o território brasileiro<br />
ao longo do Século XXI. Brasília, Fevereiro <strong>2007</strong><br />
Intergovernmental Panel on Climate Change<br />
IPCC. Climate Change 2001: The Scientific Basis-<br />
Contribution of Working Group 1 to the IPCC.<br />
Third Assessment Report. Cambridge Univ. Press.<br />
2001 a.<br />
Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC.<br />
Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and<br />
Vulnerability - Contribution of Working Group 2<br />
to the IPCC. Third Assessment Report. Cambridge<br />
Univ. Press. 2001 b.<br />
Intergovernmental Panel on Climate Change<br />
IPCC. Climate Change 2001: The Scientific<br />
Basis - Summary for Policymakers and Technical<br />
Summary of the Working Group I Report.<br />
Cambridge Univ. Press. 2001 c. 98 p.<br />
Intergovernmental Panel on Climate Change<br />
IPCC. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation<br />
and Vulnerability - Summary for Policymakers<br />
and Technical Summary of the Working Group II<br />
Report. Cambridge Univ. Press. 2001 d, 86 pp.<br />
Intergovernmental Panel on Climate Change<br />
- IPCC. Climate Change <strong>2007</strong>: The Physical<br />
Science Basis, Summary for Policy Makers. IPCC,<br />
Genebra, <strong>2007</strong>.<br />
AGRADECIMENTOS<br />
Este documento é derivado principalmente<br />
do resultado do projeto Caracterização do clima<br />
atual e definição das alterações climáticas<br />
para o território brasileiro ao longo do século<br />
XXI, apoiado pelo Projeto de Conservação e<br />
Utilização Sustentável da Diversidade Biológica<br />
Brasileira – PROBIO, Com o apoio do MMA/BIRD/<br />
GEF/CNPq e pelo Global Opportunity Fund-<br />
GOF do Reino Unido, através do Projeto Using<br />
Regional Climate Change Scenarios for Studies<br />
on Vulnerability and Adaptation in Brazil and<br />
South America.<br />
28
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
PROJEÇÕES DO CLIMA DA AMÉRICA DO SUL<br />
SEGUNDO O CENÁRIO “B1” DO IPCC ADOTANDO<br />
UM MODELO ACOPLADO OCEANO-ATMOSFERA-<br />
VEGETAÇÃO-GELO MARINHO<br />
Flávio Justino, Marcelo Cid de Amorim<br />
Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Engenharia Agrícola, Av. P.H. Rolfs, S/N, Viçosa, MG<br />
CEP 36570-000, Fone: (<strong>31</strong>) 3899-1870 – FAX (<strong>31</strong>) 3891-2745.<br />
E-mails: fjustino@ufv.br, mcid@vicosa.ufv.br<br />
RESUMO<br />
A caracterização do clima a partir das previsões numéricas é inteiramente dependente das condições forçantes<br />
fornecidas aos modelos. Várias destas forçantes (cenários climáticos) foram estabelecidas pelo Painel Intergovernamental<br />
sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). Neste estudo foram analisadas simulações climáticas<br />
acopladas a partir do cenário B1 do IPCC. Se comparado à média entre 1970 e 2000, os resultados apresentados<br />
mostram que a temperatura média anual na América do Sul para o período de 2070 a 2100 apresenta um padrão<br />
espacial variável, no qual a região central da América do Sul e a região Amazônica apresentam anomalias<br />
de temperatura em torno de 1 K e 0,6 K, respectivamente. Os resultados mostram ainda que a partir de 1880<br />
na América do Sul, existe uma pequena diminuição na área coberta por florestas passando estas áreas a uma<br />
predominância de gramíneas. Esta mudança na vegetação se extende até o ano de 2100.<br />
Palavras-chave: Mudanças Climáticas, IPCC, América do Sul, Modelagem Climática.<br />
ABSTRACT<br />
Earth’s climate based upon modeling simulations are tightly linked to the set up of boundary and initial<br />
conditions. Several driving forcings have been established by the Intergovernmental Panel on Climate Change<br />
(IPPC). In this study, coupled climate simulations carried out with the B1 scenario of the IPCC are analyzed.<br />
Compared with mean conditions averaged between 1970 and 2000, these results show that the annual mean<br />
surface temperature in South America for the period from 2070 to 2100 exhibits different spatial patterns. In<br />
the sense that the central region of the South America and the Amazon region, show temperature anomalies of<br />
up to 1 K e 0.6 K, respectively. The results indicate, furthermore, that accompanying the Industrial Revolution<br />
(ca.1880), there exist a small reduction in the area covered by forests in South America which is followed by a<br />
predominance of grass. This change in the vegetation patterns do not cease until the year 2100.<br />
Key words:Climate Changes, IPCC, South America, Climate Modeling.<br />
29
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
1. INTRODUÇÃO<br />
Há tempos os povos têm percebido a estreita<br />
relação entre o homem e o clima devido a influência<br />
de variações climáticas no bem-estar social. Acreditase<br />
que o desaparecimento da civilização dos Maias,<br />
que ocorreu a cerca de 800 anos, está associado a<br />
variações bruscas de precipitação em escalas de<br />
décadas (Haug et al., 2001). Especula-se também<br />
que o aumento e a redução da população nas regiões<br />
montanhosas ao longo da Cordilheira dos Andes no<br />
Peru e Equador estão associadas a períodos secos e<br />
úmidos (Thompson e co-autores, 1995). O interesse<br />
em mudanças climáticas abruptas e graduais surge,<br />
então, com a detecção a partir de testemunhos de<br />
gelo que variações acentuadas na temperatura e<br />
precipitação foram marcantes no passado (Lowell et<br />
al., 1995).<br />
Nas últimas décadas, o interesse pelos estudos das<br />
mudanças climáticas têm crescido substancialmente,<br />
sobretudo devido à associação de tais impactos na<br />
atividade humana. Os eventos climáticos extremos<br />
vêm recebendo total atenção da sociedade devido<br />
às perdas de vida humana, bem como, ao aumento<br />
exponencial crescente dos custos associados a estes<br />
eventos (Karl e Easterling, 1999). Por exemplo,<br />
enchentes e desmoronamentos associados ao furacão<br />
Mitch, em 1998, resultaram em mais de 10.000 mortes<br />
na América Central. Em 1995, as perdas econômicas<br />
nos Estados Unidos, devido aos furacões, foram<br />
orçadas em mais de cinco bilhões de dólares (Pielke<br />
e Landsea, 1998). Todavia, estes prejuízos não são<br />
características únicas do Hemisfério Norte (HN).<br />
Em 2004, o litoral de Santa Catarina foi seriamente<br />
afetado pela presença do furacão Catarina (Pezza e<br />
Simmonds, 2004), causando prejuízos materiais e<br />
ceifando vidas humanas.<br />
Recentemente com a liberação do sumário do<br />
Painel Inter-governamental de Mudanças Climáticas<br />
(do inglês, Intergovernamental Panel on Climate<br />
Change - IPCC), torna-se evidente a necessidade<br />
de estudos visando o melhor entendimento das<br />
implicações do aumento dos gases de efeito estufa<br />
para o clima da terra. Embora exista um consenso<br />
considerável com respeito às projeções climáticas<br />
provenientes dos modelos numéricos, pouco se vem<br />
discutindo sobre os cenários econômicos (B1, A1T,<br />
B2, A1B e A2) que servem como condições iniciais<br />
e forçantes para estruturar as projeções do clima.<br />
Como estes cenários estabelecem diferentes padrões<br />
no consumo de materiais fósseis, como combustíveis,<br />
para o período compreendido entre 1990 e 2100,<br />
faz-se necessário que nossas análises e discussões<br />
também tomem como premissa fundamental o<br />
cenário econômico utilizado como condição inicial<br />
e forçante. Por exemplo, projeções da temperatura<br />
média global para 2100 baseada no cenário B1, é 2 K<br />
menor que as projeções feitas se escolhido o cenário<br />
A2, um cenário mais pessimista (IPCC, <strong>2007</strong>). Notese<br />
que as diferenças na escala regional podem ser<br />
ainda mais significativas.<br />
No Brasil, a maior parte das projeções do clima<br />
futuro, têm como base o desenvolvimento econômico<br />
mais catastrófico, os cenários da família A. Diante<br />
do exposto, o objetivo deste estudo é investigar as<br />
projeções do clima na América do Sul tendo como base<br />
o cenário B1, fazendo uso de um modelo acoplado<br />
de intermediária complexidade oceano-continenteatmosfera-vegetação-gelo<br />
marinho. A nosso ver este<br />
vem a ser o primeiro estudo feito no Brasil (já que<br />
não existe registro na literatura), com o uso de um<br />
modelo acoplado que envolve os cinco componentes<br />
do sistema climáticos: atmosfera, oceano, continente,<br />
vegetação e gelo marinho.<br />
2. OS CENÁRIOS ECONÔMICOS E OS<br />
EXPERIMENTOS NUMÉRICOS<br />
2.1 - Os Cenários Econômicos<br />
Reproduzir e/ou modelar impactos futuros da<br />
atividade humana no clima é um tarefa extremamente<br />
complexa. As emissões antropogênicas de gases<br />
causadores do efeito estufa são afetadas por uma<br />
miríade de diferentes, contudo relacionadas, variáveis.<br />
As condições iniciais dos modelo climáticos devem<br />
30
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
incluir entradas socioeconômicas enfatizando, por<br />
exemplo, a taxa de crescimento populacional, o índice<br />
de desenvolvimento humano, o produto interno bruto<br />
e a escolha da forma de energia a ser usada. Estas<br />
condições iniciais são denominadas de “cenários” e<br />
serão descritas a abaixo.<br />
São notáveis o crescimento populacional e o consumo<br />
de carvão quando se assumi estas condições iniciais.<br />
Este cenário produz a maior forçante radiativa<br />
segundo o IPCC (<strong>2007</strong>).<br />
A)<br />
2.1.1 - Os cenários da família A<br />
O cenário “A1” retrata um mundo com uma<br />
taxa de crescimento econômica muito rápida, com<br />
crescimento baixo da população, e baseia-se na<br />
introdução acelerada de modernas e mais eficientes<br />
tecnologias. O cenário A2 descreve um mundo<br />
heterogêneo; o crescimento da população é elevado<br />
e o crescimento econômico e a mudança tecnológica<br />
são mais lentos do que no cenário A1. Dentro do “A1”<br />
há quatro subcategorias, a saber: A1B, A1C, A1G, e<br />
A1T. Estas subcategorias correspondem a diferentes<br />
formas no uso dos recursos naturais e ao emprego<br />
de diferentes tecnologias para a geração de energia:<br />
“A1C” é um cenário com emissões elevadas, baseadas<br />
na queima de carvão; “A1G” também apresenta<br />
emissões elevadas, porém baseadas no consumo de<br />
óleo e gás. Os demais A1B e A1T são mais moderados<br />
e se baseiam no uso de combustíveis não-fósseis.<br />
A Figura 1 mostra o crescimento populacional e o<br />
consumo de combustíveis segundo o cenário “A2”.<br />
B)<br />
Figura 1: a) Crescimento populacional, b) consumo de combustíveis<br />
segundo o cenário “A2”.<br />
Fonte: http://www.manicore.com.<br />
2.1.2 Os cenários da família B<br />
O cenário “B1” descreve um mundo com taxa<br />
de crescimento populacional mais moderada, uma<br />
rápida mudança para uma economia da informação<br />
e de serviço, atrelada a uma tecnologia mais<br />
limpa e, substancialmente, menos dependente dos<br />
recursos naturais não renováveis. O cenário “B2”<br />
descreve um mundo baseado em soluções locais<br />
aos problemas globais; o crescimento da população<br />
é moderado, existem níveis intermediários para o<br />
desenvolvimento econômico e há uma mudança<br />
tecnológica mais diversa do que nos cenários “A1” ou<br />
“B1”. A Figura 2 retrata o crescimento populacional<br />
e as mudanças no consumo de combustíveis segundo<br />
o cenário “B1”. Uma inspeção dessa figura torna<br />
evidente a redução no consumo de óleo e carvão,<br />
ao passo que fontes renováveis de energia passam a<br />
ser mais consumidas. O consumo de óleo e carvão<br />
praticamente cessa a partir de 2060.<br />
O IPCC, do ponto de vista técnico e cientifico, não<br />
acena, não valoriza ou faz menções e recomendações<br />
para qual cenário econômico seria adequado como<br />
condição inicial para projeções climáticas futuras.<br />
Assim, cabe ao pesquisador, subjetivamente,<br />
decidir que condições devem ser implementadas.<br />
Nossa investigação aqui apresentada tem como<br />
base o cenário “B1”. A etapa seguinte da pesquisa,<br />
em andamento, é reproduzir projeções a partir do<br />
cenário “A2”.<br />
<strong>31</strong>
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
A)<br />
B)<br />
ao longo das isopicnais para capturar o impacto dos<br />
eddies de mesoescala no transporte. A resolução<br />
horizontal do modelo Clio é de aproximadamente<br />
3° de latitude e longitude com 20 níveis verticais<br />
desigualmente espaçados. LOVECLIM possui um<br />
módulo de vegetação dinâmica (VECODE) que<br />
evolui de acordo com as condições de superfície (por<br />
exemplo, temperatura e precipitação). Desta forma,<br />
é possivel investigar o comportamento da floresta<br />
amazônica e outros biomas sob diferentes condições<br />
climáticas. A partir de valores médios anuais de<br />
diversas variáveis climáticas, o modelo VECODE<br />
computa a evolução da vegetação descrita como<br />
uma distribuição fracionária de deserto, florestas,<br />
e da grama em cada ponto da grade. Informações<br />
adicionais sobre o modelo podem ser obtidas no sítio<br />
http://www.knmi.nl/onderzk/CKO/ecbilt-papers.<br />
html.<br />
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
Figura 2: a) Crescimento populacional, b) consumo de combustíveis<br />
segundo o cenário “B1”. Fonte: http://www.manicore.com.<br />
2.1.3. Descrição do Modelo acoplado Oceano-<br />
Atmosfera-Vegetação-Gelo Marinho–LOVECLIM<br />
O componente atmosférico do modelo acoplado<br />
LOVECLIM (LOch-Vecode-Ecbilt-CLio-agIsm Model),<br />
a saber ECBilt (Opsteegh et al.,1998), é um modelo<br />
de 3 camadas com um núcleo adiabático quasegeostrófico<br />
atrelado a parametrizações físicas para o<br />
ciclo hidrológico, e um código simplificado para a<br />
radiação. ECBilt é um modelo spectral que funciona<br />
em um truncamento T21 triangular, o que corresponde<br />
a uma resolução horizontal aproximada de 5,6° de<br />
latitude e longitude. O componente oceânico do<br />
LOVECLIM é o modelo Clio. Este último é baseado nas<br />
equações primitivas e emprega uma superfície livre<br />
com parametrizações termodinâmicas/dinâmicas para<br />
o componente do gelo marinho. Parametrizações para<br />
difusividade vertical são empregadas, o que constitui<br />
uma simplificação do Esquema de Turbulência<br />
de Mellor e Yamada (Mellor e Yamada, 1982). O<br />
modelo oceânico também inclui processos de difusão<br />
32<br />
Os resultados para o estudo aqui apresentado são<br />
mostrados a partir das comparações entre o clima<br />
simulado pelo modelo (LOVECLIM) entre os anos<br />
1970-2000 e as projeções estruturadas para o período<br />
2070-2100. Assim, foi conduzido um experimento<br />
numérico a partir do ano “1000” finalizando no ano<br />
“2500” – forçado a partir de condições iniciais de<br />
erupções vulcânicas como proposto por Crowley<br />
(2000) e considerando as variações orbitais propostas<br />
por Berger (1978). A evolução dos gases de efeito<br />
estufa é proveniente de reconstruções a partir de<br />
testemunhos de gelo (Goosse et al., 2005). Somandose<br />
a isso, a influência dos aerossóis de sulfato devido<br />
à atividade antropogenica é implementada durante o<br />
período 1850-2000 como uma modificação do albedo<br />
de superfície (Charlson et al., 1991). As mudanças no<br />
uso do solo foi aplicada de acordo com Ramankutty<br />
e Foley (1999). Este experimento é similar a rodada<br />
numérica conduzida por Goosse et al. (2005). A<br />
Figura 3a, mostra a evolução dos gases de efeito<br />
estufa CO 2<br />
, CH 4<br />
e N 2<br />
O no último milênio. Entre o<br />
período de 1880 até 2100 as concentrações destes<br />
gases seguem observações e a tendência proposta no<br />
cenário “B1” do IPCC. Note-se que a partir de 2100<br />
os mesmos foram matidos constantes.
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
A) B)<br />
C) D)<br />
Figura 3: a) Evolução dos gases de efeito estufa [CO 2<br />
, CH 4<br />
e N 2<br />
O] no último milênio e suas projeções para 2100 segundo o cenário “B1” do<br />
IPCC. b) Evolução temporal da anomalia da temperatura [em K] média global na superfície, da temperatura média nos Hemisférios Norte e<br />
Sul , e sobre a Amazônia. c) e d) mostram a distribuição espacial das anomalias anuais de temperatura [em K] e precipitação [expressa em<br />
cm/ano], no período de 2070 a 2100 e no período de 1970 a 2000. A linha preta na Figura 3d separa os valores positivos dos negativos<br />
das anomalias.<br />
O aumento da concentração de CO 2<br />
, CH 4<br />
e N 2<br />
O na<br />
atmosfera é evidente a partir da revolução industrial,<br />
ou seja, por volta do ano 1880 (Figura 3a). De forma<br />
análoga, a Figura 3b, mostra a elevação na temperatura<br />
média global, no HN e no Hemisfério Sul (HS), e na<br />
Amazônia. É importante observar que a temperatura<br />
média areal no HS passa por um ajuste mais lento<br />
que as demais após a estabilização do CO 2<br />
em 2100.<br />
Isto se deve a substancial massa oceânica austral.<br />
Embora o modelo climático empregado seja de uma<br />
complexidade intermediária, quando comparado ao<br />
estado da arte dos AOGCMs empregados no IPCC,<br />
sua projeção de temperatura para 2100 está dentro<br />
da faixa dos resultados do IPCC. Nossos resultados,<br />
propõem um aquecimento em torno de 1 K para<br />
as temperaturas média global e do HN. Para o HS<br />
e a região Amazônica estes valores são um pouco<br />
menores, da ordem de 0,6 K e 0,5 K, respectivamente.<br />
33
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Deve-se notar que o modelo foi capaz de reproduzir<br />
a queda de temperatura global, e do HN ocorrida na<br />
“pequena idade do gelo” no período entre 1650-1750<br />
(Figura 3b).<br />
A)<br />
A distribuição espacial das anomalias de<br />
temperatura é mostrada na Figura 3c. Com excessão<br />
da região extratropical onde anomalias de temperatura<br />
superiores a 1,5 K são evidentes, as demais regiões da<br />
América do Sul são dominadas por valores menores<br />
que 1 K. No continente, o maior aquecimento é<br />
projetado para região centro-sul do Brasil e sul da<br />
Argentina (de até 1 K), anomalias menores que 0,5 K<br />
são estimadas para as demais áreas.<br />
De acordo com o IPCC (<strong>2007</strong>), as projeções para<br />
as precipitações entre os modelos exibem um alto grau<br />
de dispersão, o que leva a resultados com conclusões<br />
discutíveis. Por exemplo, para uma mesma região,<br />
alguns modelos predizem um aumento significativo na<br />
quantidade das chuvas, enquanto outros propõem um<br />
quadro completamente antagônico, ou seja, condições<br />
mais áridas. Isto leva a dificuldades na interpretação<br />
dos resultados dos modelos. Nosso estudo mostra um<br />
aumento de precipitação na região norte, nordeste e<br />
central da América do Sul, o que inclui a parte norte<br />
da Amazônia. Estes resultados, todavia, devem ser<br />
vistos com cautela devido as limitações do modelo<br />
que emprega uma dinâmica quase-geostrófica e<br />
possui baixa resolução espacial e vertical. Justino et<br />
al. (2004) mostram que apesar da limitação teórica,<br />
devido a quase-geostrofia, a resposta atmosférica<br />
associada a mudanças na temperatura da superfície do<br />
mar nos trópicos é qualitativamente bem capturada.<br />
Estas mudanças da estrutura termal da atmosfera<br />
e do balanço hidrológico, também são reproduzidas<br />
pela cobertura vegetal (Figura 4a). A partir da<br />
revolução industrial existe uma redução gradual na<br />
área coberta por árvores de grande porte na região<br />
compreendida entre 15°N e 20°S, passando a ter uma<br />
predominância de gramíneas. Vale lembrar que esta<br />
modificação se dá praticamente na fronteira sul da<br />
região amazônica, não havendo mudanças sensíveis<br />
nas demais regiões. A partir de 2100 o modelo mostra<br />
um estado que pode ser caracterizado como uma<br />
situação de equilibrio para os dois biomas.<br />
B)<br />
Figura 4: a) Evolução temporal da fração da área coberta por floresta<br />
e gramínias na região compreendida entre 15°N e 20°S, b) Área e<br />
volume do gelo marinho no HS.<br />
Um outro elemento determinante para dinâmica no<br />
clima do planeta é o gelo marinho. A Figura 4b mostra<br />
que o aumento dos gases de efeito estufa trás como<br />
conseqüência uma diminuição na área e no volume<br />
do gelo no HS, em particular após 2100. Isto se deve<br />
a um substancial aquecimento na área compreendida<br />
entre 70 °S e o pólo sul (não mostrado). Um estudo<br />
que está em fase de desenvolvimento avaliará as<br />
respostas do impacto no gelo marinho associadas as<br />
forçantes antropogênicas.<br />
34
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Baseado em experimentos numéricos conduzidos<br />
com um modelo acoplado de intermediária<br />
complexidade, LOVECLIM, foi demonstrado que<br />
variações na composição atmosférica devido as<br />
erupções vulcânicas, ao aumento dos gases de efeito<br />
estufa e mudanças no uso do solo, estão associadas a<br />
severas mudanças na estrutura térmica da atmosfera<br />
e na precipitação. Os resultados mostram que a partir<br />
de 1880 na América do Sul, existe uma pequena<br />
diminuição na área coberta por florestas, passando<br />
estas áreas a uma maior predominância de gramíneas.<br />
Isto se deve em parte ao aquecimento simulado neste<br />
período. Para a região central da América do Sul e a<br />
região Amazônica, este aquecimento é em torno de<br />
1 K e 0,6 K, respectivamente em 2100 (Figura 3c).<br />
Após 2100 com a fixação nos níveis de CO 2<br />
, CH 4<br />
e N 2<br />
O, os biomas parecem encontrar o equilibrio<br />
dinâmico. Obviamente, as análises precisam ser mais<br />
aprofundadas no sentido que a vegetação não responde<br />
de uma forma linear as variações climáticas.<br />
Os resultados têm como base o cenário “B1” do<br />
IPCC, que apresenta uma evolução da composição<br />
atmosférica mais branda se comparado aos demais<br />
cenários. Isto nos leva a concluir que todas as<br />
discussões envolvendo futuras mudanças climáticas<br />
devem ser tomadas com ressalvas e discutidas com<br />
base nas condições iniciais forçantes.<br />
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Berger, A. L. Long-term variations of daily<br />
insolation and quaternary climatic changes. J. Atm.<br />
Sci.., 35:2363– 2367, 1978.<br />
Charlson, R. J., et al. Perturbation of the Northern<br />
Hemisphere radiative balance by backscattering<br />
from anthropogenic sulfate aerosols, Tellus, Ser. AB,<br />
43:152– 163, 1991.<br />
Crowley, T. J. Causes of climate change over the<br />
past 1000 years. Science, 289:270–277, 2000.<br />
Haug, G.; Hughen, K.; Sigman, D.; Peterson, L.;<br />
Röhl, E U. Southward migration of the intertropical<br />
convergence zone through the Holocene. Science,<br />
1304–1308, 2001.<br />
Goosse, H. et al. Modelling the climate of the last<br />
millennium: What causes the differences between<br />
simulations? Geophys. Res. Lett., 32, L06710,<br />
doi:10.1029/2005GL022368, 2005.<br />
IPCC - Climate Change <strong>2007</strong>: The Physical<br />
Science Basis. Summary for Policymakers. http://<br />
www.ipcc.ch. (portal consultado em 10 de março de<br />
<strong>2007</strong>).<br />
Justino, F., Timmermann, A. Souza, E. E Merkel,<br />
U. Baroclinic reorganization of atmospheric flow<br />
during the Last Glacial Maximum. J. Climate., v.18,<br />
p.2826 - 2846, 2005.<br />
Karl, T. R., D. R. Easterling. Climate extremes:<br />
Selected review and future research directions.<br />
Climatic Change, 42, 309–325, 1999.<br />
Lowell et al. Inter-hemispheric correlation of late<br />
Pleistocene glacial events. Science, 269, 1541–1549,<br />
1995.<br />
Pezza, A. B., E Simmonds, I. The first South<br />
Atlantic hurricane: Unprecedented blocking, low<br />
shear and climate change. Geophysical Res. Letters,<br />
32, doi:10.1029/2005GL023390, 2004.<br />
Pielke JR., R. E Landsea, C. Normalized Atlantic<br />
hurricane damage: 1925–1995. Wea. Forecasting,<br />
12, 621–6<strong>31</strong>, 1998.<br />
Ramankutty, N. E Foley, J. A. Estimating historical<br />
changes in global land cover: Croplands from 1700<br />
to 1992. Global Biogeochem Cycles, 13:997– 1027,<br />
1999.<br />
Thompson et al.. Late Glacial Stage e Holocene<br />
Tropical Ice Core Records from Huascaran, Peru.<br />
Science, 269, 46–50, 1995.<br />
35
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
O DESAFIO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUAS<br />
IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS<br />
Enio Bueno Pereira<br />
Instituto Nacional de Pesquisas espaciais - INPE<br />
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC<br />
Divisão de Clima e Meio Ambiente - DMA<br />
E-mail: eniobp@cptec.inpe.br<br />
O Brasil é uma economia emergente e, como outros<br />
países nessa categoria, busca o seu desenvolvimento<br />
social e econômico. No seu segundo mandato,<br />
o Presidente Lula anunciou a nova meta 5% de<br />
crescimento econômico do país projetada no seu<br />
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC <strong>2007</strong>-<br />
2010). É sabido que o estágio de desenvolvimento<br />
de uma nação está fortemente relacionado com a<br />
sua demanda por energia (Goldemberg e Villanueva,<br />
2003). Assim, por exemplo, enquanto o homem<br />
primitivo, há mais de 2000 anos, tinha um consumo<br />
per capita de energia estimado em 12 mil kcal dia -1 , o<br />
homem moderno, ou tecnológico como é por alguns<br />
chamado, consome, em média, 230 mil kcal dia -1 , um<br />
salto gigantesco de 2000%. Na realidade, esse salto<br />
foi praticamente todo ele ocorrido no curto intervalo<br />
de tempo entre o início da revolução industrial, no<br />
Século XIX, e hoje, o que torna esse pulo na demanda<br />
por energia ainda mais descomedido. Qual o impacto<br />
que esse crescimento exerce sobre o nosso meio<br />
ambiente? Já temos fortes indicativos quanto a isso,<br />
conforme demonstra o último relatório do Painel<br />
Inter-Governamental para mudanças Climáticas (do<br />
inglês, Intergovernamental Panel on Climate Change<br />
- IPCC), divulgado em fevereiro de <strong>2007</strong>. Inicialmente<br />
toda essa demanda por fontes de energia recaiu nas<br />
formas mais facilmente disponível de energia com<br />
elevada densidade energética 1 , o carvão natural e,<br />
logo após o petróleo, ambos combustíveis fósseis e,<br />
portanto, capazes de liberar dióxido de carbono (CO 2<br />
)<br />
para a atmosfera a uma taxa muito maior do que o<br />
ambiente terrestre (atmosfera, hidrosfera, litosfera e<br />
biosfera) é capaz de armazenar.<br />
A concentração de CO 2<br />
vem aumentando<br />
gradativamente como mostra a Figura 1, gerada com<br />
dados do laboratório do vulcão Mauna Loa, no Havaí,<br />
obtidos da Administração Nacional de Oceanos e<br />
Atmosfera (NOAA).<br />
Figura 1: Crescimento (círculos vazados) e taxa de crescimento<br />
anual (linhas contínuas) da concentração de gás carbônico na<br />
atmosfera, medidos na estação da NOAA, no Havaí.<br />
Fonte: NOAA (<strong>2007</strong>).<br />
Além do CO 2<br />
, outros gases provenientes do<br />
consumo de combustíveis fósseis derivados do<br />
petróleo têm impactos significantes na qualidade do<br />
meio ambiente. O ar poluído das grandes cidades é,<br />
talvez, o exemplo mais visível do uso dos combustíveis<br />
fósseis.<br />
A preocupação com o aumento dos gases do efeito<br />
estufa desencadeou movimentos de Órgãos Não-<br />
Governamentais (ONG´s) e negociações em painéis<br />
internacionais, como aquela que resultou no Protocolo<br />
de Quioto, em vigência desde fevereiro de 2005, com<br />
a adesão de 166 países (http://pt.wikipedia.org/<br />
36
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
wiki/Lista_dos_países_membros_do_Protocolo_<br />
de_Quioto). Através desse tratado se propõe um<br />
calendário pelo qual os países desenvolvidos têm a<br />
obrigação de reduzir a quantidade de gases poluentes<br />
em, pelo menos, 5,2% até 2012, em relação aos níveis<br />
de 1990. Os países signatários terão que colocar em<br />
prática planos para reduzir a emissão desses gases<br />
entre 2008 e 2012. No entanto, um dos maiores<br />
protagonistas no cenário de emissões de gases do<br />
efeito estufa, os Estados Unidos da América (EUA),<br />
responsáveis por mais de 24% das emissões totais<br />
de CO 2<br />
para a atmosfera, parecem não ter a intenção<br />
de assinar esse tratado. Nesse país, os combustíveis<br />
consumidos por automóveis e caminhões são<br />
responsáveis pela emissão de 67% do monóxido<br />
de carbono (CO), 41% dos óxidos de nitrogênio<br />
(NOX), 51% dos gases orgânicos reativos, 23% dos<br />
materiais particulados, 5% do dióxido<br />
de enxofre (SO 2<br />
) e por quase 30% das<br />
emissões de CO 2<br />
(Lima, 2004).<br />
países tropicais, que detém os maiores mananciais de<br />
recursos renováveis (solar, biomassa e hídrico).<br />
1. ENERGIA E DESENVOLVIMENTO<br />
A Tabela 1 mostra comparativamente as taxas<br />
de emissões de CO 2<br />
para a atmosfera decorrente da<br />
produção de energia por vários países, comparadas<br />
com as do Brasil. O Brasil ostenta os menores<br />
valores de emissão, em todas as unidades medidas.<br />
Países altamente industrializados, como os EUA e<br />
o Japão mostram taxas de emissão por habitante até<br />
dez vezes maiores que as do Brasil. O Japão é o país<br />
que apresenta a maior taxa de emissão por unidade de<br />
área, destacando a enorme demanda energética desse<br />
país.<br />
Tabela 1: Emissões de CO 2<br />
devidas à produção de energia primária.<br />
Emissões de CO 2<br />
Brasil EUA Japão A. Latina Mundo<br />
O fato que causa maior desconforto<br />
a nós brasileiros é que a parte principal<br />
da conta a ser paga pelos atuais níveis<br />
dos gases do efeito estufa na atmosfera,<br />
estará agora sendo cobrada dos países<br />
em desenvolvimento, já que estes<br />
são os que deverão provocar o maior<br />
crescimento da demanda energética nos<br />
próximos anos, caso os mecanismos<br />
propostos pelo Protocolo de Quioto<br />
não se consolidem globalmente.<br />
TCO 2<br />
/hab. 1,77 19,6 9,47 1,98 3.89<br />
TCO 2<br />
/toe de SIE 1,62 2,47 2,33 1,97 2,32<br />
TCO 2<br />
/10 9 US$ do PIB 0,27 0,60 0,40 0,30 0,60<br />
TCO 2<br />
/km 2 superfície 36,3 614 <strong>31</strong>98 46 119<br />
As siglas SIE e PIB significam Suprimento Interno de Energia e Produto Interno Bruto,<br />
respectivamente.<br />
Fonte: BEN (2004).<br />
A busca por fontes renováveis de energia se<br />
tornou palavra de ordem mundialmente, sobretudo<br />
após a divulgação do Quarto Relatório do IPCC<br />
(http://ipcc-wg1.ucar.edu/). Isso deverá repercutir<br />
fortemente sobre os países em desenvolvimento, não<br />
somente sob o ponto de vista dos impactos diretos<br />
e indiretos causados pelas mudanças climáticas em<br />
si, mas também devido às implicações geopolíticas.<br />
Vasconsellos e Vidal (1998), em seu livro “Poder dos<br />
Trópicos” já alertavam para a mudança do paradigma<br />
energético com o possível deslocamento dos principais<br />
centros produtores de recursos energéticos do oriente<br />
médio, como principal produtor do petróleo, para os<br />
É instrutivo verificar a evolução temporal da razão<br />
entre oferta (consumo) interna de energia e o PIB,<br />
já que essa razão é um importante sócio-indicador.<br />
A Figura 2 mostra essa razão para dois grupos<br />
de países, um grupo representando as economias<br />
emergentes e outro de países desenvolvidos. O Brasil<br />
apresenta um consumo interno de energia per capita 2<br />
de 52 GJ/hab, abaixo da média mundial (67 GJ/hab),<br />
e muito abaixo do que aquele apresentada pelos<br />
países desenvolvidos como os EUA (361GJ/hab). Em<br />
contrapartida, as razões entre os consumos de energia<br />
e os PIBs, também conhecidas como Intensidades<br />
Elétricas para os países desenvolvidos são maiores<br />
37
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
do que aquelas mostradas para o grupo dos países em<br />
desenvolvimento, ilustrados na Figura 2 pela Rússia,<br />
China, Índia e Brasil. Isso revela que cada incremento<br />
unitário no PIB desses países irá demandar uma oferta<br />
interna de energia maior do que no grupo dos países<br />
desenvolvidos.<br />
O Brasil juntamente com os outros países<br />
em desenvolvimento, como a Índia e a China,<br />
caracteriza-se por valores relativamente elevados<br />
para esse indicador sócio-econômico e é conhecido<br />
com eletrointensivo, o que quer dizer que está<br />
incluído entre os que irão demandar, no futuro,<br />
investimentos maiores no setor de energia. Assim, o<br />
foco das preocupações mundiais sobre cenários de<br />
emissões de gases do efeito estufa tem recaído em<br />
boa parte sobre os países em desenvolvimento já<br />
que, segundo o raciocínio acima, estes apresentam<br />
uma ameaça adicional caso adotem o mesmo modelo<br />
de desenvolvimento empregado no passado pelos<br />
países desenvolvidos, baseado nas reservas fósseis<br />
de hidrocarbonetos.<br />
recursos hídricos, mas também por algumas decisões<br />
governamentais acertadas no passado, como a criação<br />
do Proálcool, por exemplo. A Tabela 2 mostra quais<br />
as principais fontes de energia primária do país<br />
em valores de toneladas equivalentes de petróleo.<br />
O petróleo e seus derivados continuam sendo as<br />
principais fontes de energia nesse país, com uma<br />
parcela superior a 38% do total de energia.<br />
Tabela 2: Estrutura da oferta de energia primária no Brasil em 10 6<br />
toneladas equivalentes de petróleo (TOE).<br />
FONTES<br />
X 10 6 TOE<br />
NÃO RENOVÁVEIS 120.953<br />
PETRÓLEO E DERIVADOS 84.020<br />
GÁS NATURAL 20.393<br />
CARVÃO MINERAL 13.940<br />
URÂNIO 2.600<br />
RENOVÁVEIS 97.695<br />
HIDROELETRICIDADE 32.691<br />
LENHA E CARVÃO VEGETAL 28.560<br />
ÁLCOOL 30.441<br />
Figura 2: Consumo per capita em Joules (colunas) e<br />
Intensidade Elétrica em Joules/dólar (linha sólida).<br />
Fonte: International Energy Annual (2004).<br />
2. MATRIZES ENERGÉTICAS<br />
Praticamente metade da oferta de energia interna<br />
primária 3 no Brasil é oriunda de recursos renováveis.<br />
Isso foi possível por características climáticoambientais<br />
que nos conferem uma abundância de<br />
OUTROS (EÓLICO, SOLAR, ETC.) 6.002<br />
Fonte: Relatório SWERA (<strong>2007</strong>).<br />
TOTAL 218.648<br />
Para a geração de energia elétrica, as renováveis<br />
atingem cerca de 88% da oferta interna, contra os<br />
19% em média para o restante do mundo. A energia<br />
hidráulica representa a maior parte dessa oferta. A<br />
Figura 3 mostra como se distribui as diversas fontes<br />
de energia no Brasil e no mundo.<br />
38
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
3. CENÁRIOS DAS ENERGIAS SOLAR, EÓLICA E<br />
BIODIESEL<br />
Energia eólica<br />
Figura 3: Matrizes de energia elétrica do Brasil e do resto do<br />
mundo.<br />
Fonte: BEN (2004).<br />
A evolução do uso dos recursos renováveis no<br />
Brasil é bastante variável, como pode se notar na<br />
Figura 4. A despeito de sermos um dos países com<br />
a maior parcela de recursos renováveis na sua matriz<br />
energética, a evolução temporal desse padrão tem<br />
mostrado um ligeiro declínio desde a década de<br />
70. Comparando com a evolução havida nos países<br />
mais desenvolvidos da OECD 4 , o Brasil sofreu uma<br />
redução na fração de renováveis de cerca de <strong>31</strong>%,<br />
enquanto os países da OECD aumentaram sua<br />
dependência nos renováveis em mais de 23%. Isso<br />
significa que nosso crescimento econômico tem sido<br />
baseado principalmente na intensificação do emprego<br />
das fontes não renováveis de energia, como o gás<br />
natural e a nuclear.<br />
O Brasil apresenta diversas opções energéticas<br />
para impulsionar seu desenvolvimento, entre elas<br />
está a energia eólica. Segundo o Atlas do Potencial<br />
Eólico Brasileiro (Camargo et al., 2002), mais de<br />
71.000 km 2 do território nacional possui velocidades<br />
de vento ao nível de 50 m, que é a altura típica dos<br />
aerogeradores 5 , superior a 7 ms -1 , o que propicia<br />
um potencial eólico da ordem de 272 TWh ano -1<br />
de energia elétrica. Essa é uma cifra bastante<br />
significativa considerando que o consumo nacional<br />
de energia elétrica é de 424 TWh ano -1 . A maior<br />
parte desse potencial está na costa dos estados<br />
nordestinos, como conseqüência dos ventos alísios<br />
(Amarante et al., 2002). Além disso, o vento que<br />
sopra no Brasil possui característica excelente para<br />
a geração de energia, medida através de parâmetros<br />
estatísticos relacionados a sua estabilidade. A Figura<br />
5a ilustra a distribuição das velocidades do vento a<br />
50 m, para a região Nordeste. A Figura 5b mostra a<br />
distribuição do parâmetro de forma k da Distribuição<br />
de Weibull, que está relacionado à estabilidade do<br />
vento. Normalmente, valores de k acima de três são<br />
considerados excelentes para efeitos de geração de<br />
energia eólica.<br />
a) b)<br />
Figura 4: Variação temporal das frações de oferta de energia<br />
primária no Brasil.<br />
Fonte: Relatório SWERA (<strong>2007</strong>).<br />
Figura 5: a) Velocidades médias anual dos ventos a 50m; b) fatores<br />
de escala k, obtidos pelo Modelo Eta rodado no CPTEC/INPE,<br />
configurado para resolução de 10 km, com 38 camadas verticais e<br />
adaptado para entrada de dados topográficos e de cobertura vegetal<br />
em grade de 1 km e condições iniciais de reanalise do National<br />
Centers for Environmental Prediction (NCEP) atualizadas a cada 6<br />
horas.<br />
Fonte: Projeto SONDA, desenvolvido no CPTEC/INPE (http://<br />
www.cptec.inpe.br/sonda/).<br />
39
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Estudos encomendados por<br />
concessionárias de energia dos estados<br />
do Nordeste e do sul brasileiro (Amarante<br />
et al., 2001), mostram que nos períodos<br />
em que os reservatórios normalmente<br />
atingem os níveis mais críticos, entre<br />
julho e outubro, são os que apresentam<br />
as maiores potenciais eólicos. Essa<br />
complementaridade é particularmente<br />
importante no mercado de energia, pois,<br />
propicia uma garantia de estabilização do<br />
preço e do fornecimento da energia pela<br />
diversificação da matriz de geração.<br />
O governo, ciente desse fato, lançou<br />
em dezembro de 2006 a primeira fase do<br />
programa conhecido como PROINFA, de<br />
incentivo as energias de origem eólica,<br />
de biomassa e de pequenas centrais<br />
hidroelétricas. Nessa primeira fase, 1400<br />
MW em projetos da iniciativa privada<br />
de geração eólica já foram previamente<br />
selecionados pela ELETROBRÁS para<br />
implantação, com garantia de compra<br />
da energia gerada por 20 anos apreços<br />
competitivos de mercado. Embora o programa já<br />
tenha incrementado a capacidade de geração eólica<br />
nacional em cerca de dez vezes (de 29MW para 208<br />
MW), o alvo de 1400 MW está encontrando alguns<br />
obstáculos comerciais para ser atingido no prazo<br />
esperado.<br />
40<br />
Energia Solar<br />
A despeito do enorme potencial energético solar<br />
do Brasil, com níveis de insolação entre 4 a 7 kWh/<br />
m 2 /dia contra 2,5 a 3,7 kWh m 2 dia -1 na Alemanha,<br />
um dos países que mais tem investido em projetos<br />
e programas governamentais de inserção da energia<br />
solar na sua matriz de energia. A Figura 6 mostra as<br />
medias anuais por estação do ano da radiação solar<br />
global incidente sobre o território brasileiro obtidas<br />
do Atlas de Energia Solar do Brasil, realizado pelo<br />
INPE em <strong>2007</strong>, com base no Modelo de Transferência<br />
Radiativa BRASIL-SR, alimentado com 10 anos de<br />
dados de satélite fornecidos pela Divisão de Satélites<br />
Ambientais (DSA) do CPTEC.<br />
Figura 6: Radiação solar global incidente na superfície com base em 10 anos de<br />
dados de satélites da série GOES.<br />
Fonte: Pereira et al. (<strong>2007</strong>).<br />
O potencial solar nacional é enorme. Para se ter<br />
uma idéia, a energia solar que poderia ser gerada por<br />
uma área equivalente a área inundada do reservatório<br />
da Usina de Balbina, com 2360 km 2 , localizada no<br />
estado do Amazonas, seria suficiente para suprir toda<br />
a demanda anual de energia elétrica nacional com<br />
enorme excedente. A Figura 7 ilustra uma projeção<br />
de produção de energia fotovoltaica 6 pelas áreas<br />
equivalentes de inundação dos principais reservatórios<br />
de produção de hidroeletricidade nacionais.<br />
Figura 7: Produção equivalente de energia solar fotovoltaica pelas<br />
áreas inundadas dos principais reservatórios de produção de<br />
hidroeletricidade.
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
A energia fotovoltaica, ainda é pouco competitiva<br />
comercialmente, já que seu custo final ao consumidor<br />
é cerca de 10 vezes superior ao da energia convencional<br />
hidroelétrica. Mas em regiões não supridas pela rede<br />
nacional de distribuição elétrica (Figura 8), gerenciada<br />
pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), que inclui<br />
a maior parte da região norte do país, essa opção<br />
torna-se economicamente viável, seja como fonte<br />
primária de energia em sistemas isolados (pequenas<br />
comunidades, escolas, hospitais e residências), seja<br />
com forma de geração elétrica híbrida em conjunto<br />
com geradores diesel, com conseqüente economia<br />
de combustível e redução nas emissões de gases do<br />
efeito-estufa.<br />
No que concerne as ações governamentais de<br />
incentivo a expansão da geração elétrica de origem<br />
solar, ainda não existe atualmente um endereçamento<br />
direto. Contudo, o programa do governo conhecido<br />
como “Luz Para Todos” e gerenciado pela<br />
ELETROBRÁS deverá permitir, de forma indireta,<br />
essa expansão. Segundo o último censo, 5,5%<br />
da população brasileira ainda não tem acesso à<br />
eletricidade, a maior parte na região rural e menos<br />
desenvolvidas economicamente. Ademais, cerca de<br />
17% das famílias brasileiras com renda abaixo de um<br />
salário mínimo não estão servidas pela rede nacional<br />
de distribuição de eletricidade. O papel do Programa<br />
“Luz Para Todos” é viabilizar o acesso à energia<br />
elétrica a toda a população brasileira. Exatamente<br />
nessas regiões mais remotas e distantes da rede<br />
nacional de distribuição elétrica é que a energia de<br />
origem solar, de forma isolada ou híbrida, torna-se<br />
economicamente viável.<br />
Figura 8: Sistema nacional interligado de distribuição de energia elétrica.<br />
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica, MME (2004). http://mme.gov.br<br />
Já a energia solar térmica 7 , geralmente empregada<br />
para aquecimento de residências e outras edificações, é<br />
uma realidade econômica em crescimento modesto no<br />
país. No Brasil, o aquecimento da água nas residências,<br />
hotéis, hospitais, piscinas e outras instalações onde<br />
água aquecida é necessária, é realizado por gás natural<br />
ou, pior ainda, por aquecedores elétricos. Ambos, de<br />
forma direta ou indireta, são potenciais contribuintes<br />
para a emissão de CO 2<br />
. Os chuveiros elétricos, por<br />
exemplo, embora possuam um custo unitário muito<br />
baixo e acessível a toda população nacional de baixa<br />
renda, podem representar a metade dos gastos na<br />
41
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
conta de eletricidade dessas famílias. No entanto,<br />
um sistema compacto residencial de aquecimento de<br />
água, embora possua um custo inicial elevado, pode<br />
ser amortizado rapidamente pela economia mensal<br />
de eletricidade que propicia. Mas ainda existe grande<br />
resistência cultural para a adoção em massa desses<br />
sistemas pela população, seja por desconhecimento,<br />
seja por desconfiança.<br />
A Figura 9, obtida a partir dos dados de irradiação<br />
do Atlas Brasileiro de Energia Solar, dados de<br />
temperatura do ar e dados sócio-econômicos (Pereira<br />
et al., <strong>2007</strong>; http://www.ibge.gov.br/home/), permite<br />
delimitar as regiões brasileiras onde a combinação<br />
dessas variáveis propiciam o mais rápido retorno<br />
do investimento inicial na instalação de um sistema<br />
compacto de aquecimento de água solar para uma<br />
família brasileira de quatro pessoas. Nota-se que uma<br />
enorme porção do território nacional, particularmente<br />
nas regiões Sudeste e Sul, onde se concentra a parcela<br />
de maior poder aquisitivo e as maiores densidades<br />
populacionais, o retorno do investimento é da ordem<br />
de três anos. Isso representa um enorme mercado<br />
para essa tecnologia limpa, ainda pouco explorado.<br />
O ganho em termos de redução das emissões do CO 2<br />
pela substituição completa dos chuveiros elétricos<br />
nessas regiões ainda não foi calculado, mas deve ser<br />
significativo.<br />
Figura 9: Tempo de retorno do investimento (PB – payback time) de<br />
um sistema coletor termo-solar compacto em anos.<br />
Fonte: SWERA (<strong>2007</strong>).<br />
42<br />
Biodiesel<br />
O Brasil é um dos países no mundo que mais se<br />
destaca no uso de biocombustíveis. O ponto inicial foi<br />
em 1970 quando se implantou o Programa Nacional<br />
do Álcool (PROALCOOL). Este Programa surgiu<br />
em meio às crises do petróleo daquela década, e teve<br />
como objetivos garantir o suprimento de combustíveis<br />
para o país, substituir a gasolina por um combustível<br />
renovável e encorajar o desenvolvimento tecnológico<br />
da indústria de cana-de-açúcar e do álcool. Neste<br />
trabalho, não será abordado o uso do álcool combustível<br />
já que existe um grande número de publicações sobre<br />
esse tema, seja nos seus aspectos tecnológicos como<br />
nos seus impactos ambientais (Vasconsellos e Vidal,<br />
1998; Goldemberg e Villanueva, 2003). O enfoque<br />
será dado ao biodiesel, já que se trata de um assunto<br />
ainda relativamente novo no contexto de sua inserção<br />
na matriz energética do pais.<br />
O biodiesel é um combustível que recebeu essa<br />
denominação genérica devido a sua produção ser<br />
derivada de fontes biológicas renováveis tais como<br />
óleos vegetais (dendê, babaçu, soja, palma, mamona,<br />
entre outros) e gordura animal. É biodegradável e<br />
não tóxico, tem perfil de baixa emissão de poluentes,<br />
tornando-o ambientalmente benéfico (Ma e Hanna,<br />
1999). As pesquisas com o biodiesel no Brasil<br />
tiveram seu início no ano de 1980 com os trabalhos do<br />
Professor Expedito Parente, da Universidade Federal<br />
do Ceará, que é autor da primeira patente mundial de<br />
biodiesel e de querosene vegetal de aviação.<br />
Em termos de Brasil, o biodiesel pode se tornar<br />
um importante produto para exportação e para a<br />
independência energética nacional, associada à<br />
geração de emprego e renda nas regiões mais carentes<br />
do País (Lima, 2004). Em julho de 2003 o governo<br />
federal instituiu um Grupo de Trabalho Interministerial<br />
encarregado de realizar um estudo sobre a viabilidade<br />
do uso de biodiesel como fonte energética alternativa.<br />
Este grupo gerou um relatório que serviu como base<br />
para o governo estabelecer o Programa Nacional de<br />
Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) como ação<br />
estratégica e prioritária para o Brasil. O Programa tem<br />
como objetivo a implementação, de forma sustentável,
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
tanto técnica, como economicamente, a produção e<br />
uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no<br />
desenvolvimento regional, via geração de emprego e<br />
renda. Com o programa estabelecido foi promulgada<br />
uma lei em janeiro de 2005, que até 2008, obriga a<br />
adição percentual mínima de 2% de biodiesel ao óleo<br />
diesel comercializado ao consumidor; este percentual<br />
será aumentado para 5% até 2013.<br />
Para atender os percentuais de mistura do biodiesel<br />
ao óleo diesel o PNPB estima que será necessário uma<br />
ampliação na área destinada ao plantio de oleaginosas.<br />
Para a mistura de 2% de biodiesel ao diesel de<br />
petróleo serão necessários cerca de 1,5 milhão de<br />
hectares, o que equivale a 1% dos 150 milhões de<br />
hectares plantados e disponíveis para agricultura no<br />
Brasil. Este número não inclui as regiões ocupadas<br />
por pastagens e florestas.<br />
Alguns fatos aconteceram para revitalizar o<br />
biodiesel no Brasil, entre eles, a busca do governo em<br />
reduzir a importação do óleo diesel, com os preços<br />
em elevação no mercado internacional. Uma atitude<br />
do governo foi a criação do Programa Brasileiro<br />
de Desenvolvimento Tecnológico do Biodiesel<br />
(PROBIODIESEL) em outubro de 2002, por meio<br />
do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),<br />
que tem como principais objetivos desenvolver<br />
tecnologias de produção e estabelecer uma Rede<br />
Brasileira de Biodiesel que congregue e harmonize<br />
o desenvolvimento desse combustível. Um outro<br />
Programa, lançado por meio do Ministério de Minas<br />
e Energia, é o Programa Combustível Verde –<br />
Biodiesel, que teve seu início em julho de 2003 e tem<br />
como objetivo diversificar a bolsa de combustíveis,<br />
diminuir a importação de óleo diesel e ainda criar<br />
emprego e renda no campo.<br />
Um item preocupante para a indústria<br />
automobilística no Brasil é que a especificação para o<br />
biodiesel não tem características bem determinadas.<br />
Esse fato é alegado devido o Brasil possuir uma grande<br />
diversidade em oleaginosas podendo apresentar<br />
variações elevadas em suas características físicas e<br />
químicas.<br />
O Ministério da Agricultura estabeleceu a<br />
agroenergia como prioridade, e assim elaborou<br />
um Plano Nacional de Agroenergia, com base na<br />
perspectiva da matriz energética mundial, que tem<br />
como objetivo organizar uma proposta de pesquisa,<br />
desenvolvimento, inovação e transferência de<br />
tecnologia com vistas a conferir sustentabilidade.<br />
Dentro desse plano o biodiesel é uma das principais<br />
cadeias produtivas que contemplará os estudos sócioeconômicos,<br />
capacitação de corpo técnico-científico<br />
no âmbito de mecanismos de desenvolvimento<br />
limpo, incorporação na cultura dos programas de<br />
desenvolvimento científico e tecnológico, elaboração<br />
dos balanços energéticos dos ciclos de vida das<br />
cadeias produtivas do agronegócio brasileiro e efetuar<br />
o zoneamento agroecológico de espécies vegetais<br />
importantes para agricultura de energia.<br />
O biodiesel pode ser obtido por processos<br />
alternativos tais como o craqueamento térmico<br />
(pirólise) e transesterificação, que pode ser etílica,<br />
mediante o uso do álcool comum (etanol) ou metílica,<br />
com o emprego do metanol. A opção que parece ser<br />
estrategicamente mais vantajosa para o Brasil é o<br />
processo de transesterificação usando o etanol, o qual<br />
é produzido em larga escala a baixos custos O metanol,<br />
a opção alternativa, além de ser altamente tóxico,<br />
necessita ser importado ou produzido a partir de gás<br />
natural. A opção pela rota etílica de transesterificação<br />
pode ser considerada a mais benéfica para o meio<br />
ambiente, pois a emissão de dióxido de carbono<br />
decorrente da combustão do biodiesel pode ser<br />
reabsorvida pela fotossíntese, durante o crescimento<br />
das próximas safras da matéria-prima das quais se<br />
produz o óleo e o álcool. Na rota metílica, apenas<br />
parte das emissões de CO 2<br />
produzidos pela combustão<br />
do biodiesel é reabsorvida (PNA, 2006).<br />
A atual produção nacional de biodiesel ainda é<br />
incipiente, resultando em uma produção em torno de<br />
176 milhões de litros anuais. Esse nível de produção<br />
estimado constitui um grande desafio para que sejam<br />
cumpridas as metas estabelecidas pelo PNPB, que<br />
necessita de, aproximadamente, 750 milhões de litros<br />
em sua fase inicial.<br />
43
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
O biodiesel deverá ser também um importante<br />
instrumento de inclusão social no Brasil, pois<br />
promoverá geração de emprego e renda no campo,<br />
além de permitir o suprimento de energia elétrica<br />
para comunidades isoladas, mediante o uso de<br />
geradores estacionários com ou sem o emprego<br />
das energias solar ou eólica de forma híbrida. Uma<br />
outra potencialidade do biodiesel é a redução das<br />
importações de petróleo e de óleo diesel, refletindose<br />
na diversificação da matriz energética brasileira, na<br />
redução do dispêndio de divisas, na auto-suficiência,<br />
na questão geopolítica e também no adensamento<br />
de cadeias do agronegócio, permitindo à agricultura<br />
familiar atuar como produtora de matérias-primas, de<br />
óleos vegetais e de biodiesel.<br />
O biodiesel está sendo considerado um combustível<br />
alternativo limpo que poderá reduzir as emissões de<br />
gases prejudiciais à atmosfera. Mas para se fazer<br />
uma avaliação completa e precisa dos benefícios<br />
ambientais é necessário analisar todo o ciclo de vida<br />
do biodiesel, que envolve a produção de sementes,<br />
fertilizantes, agrotóxicos, preparo do solo, plantio,<br />
processo produtivo, colheita, armazenamento,<br />
transporte e o seu consumo. Quanto aos impactos<br />
causados à atmosfera, deve-se avaliar a quantidade de<br />
gases emitidos em todas as fases desse ciclo e deduzila<br />
do volume capturado na fotossíntese da biomassa<br />
que é servida como matéria-prima.<br />
Hidrogênio<br />
O hidrogênio é o combustível renovável por<br />
excelência, já que sua combustão gera somente água.<br />
É conhecido pela sua alta densidade energética, 120<br />
MJ kg -1 contra 46.9 MJ kg -1 da gasolina e 26,8 MJ<br />
kg -1 do etanol. Não obstante seu custo de produção,<br />
armazenamento e distribuição sejam ainda elevados,<br />
entre US$ 0,8 e US$ 3,4 por quilograma (http://www.<br />
solartoday.org/2004/may_june04/h2_afford_<br />
it.htm), esses valores podem ser competitivos com<br />
o preço da gasolina em termos energéticos, (Miller<br />
e Duffey, 2005). Hoje, a maior parte do hidrogênio<br />
é produzido a partir de combustíveis fósseis (96%),<br />
principalmente a partir da reforma do gás natural e<br />
sua produção vem aumentando mundialmente em<br />
cerca de 10% ao ano. A crescente demanda e preços,<br />
alem da preocupação mundial com mecanismos<br />
de desenvolvimento limpo empregando fontes<br />
alternativas de energia, abrem novas perspectivas<br />
e cenários para esse combustível no futuro,<br />
principalmente em associação com as fontes de<br />
recursos renováveis solar e eólica.<br />
Devido ao caráter intrinsecamente intermitente<br />
das fontes de energia solar e eólica, onde não se<br />
pode controlar a oferta primária, é importante buscar<br />
um mecanismo para seu armazenamento de forma<br />
a propiciar um balanço entre a oferta de fonte e a<br />
demanda. O hidrogênio tem sido apontado como<br />
uma das possíveis soluções para isso, por ser um<br />
vetor energético de amplo espectro de utilização.<br />
Uma vez armazenado, este hidrogênio viabiliza além<br />
da ampliação da sua oferta à indústria petroquímica e<br />
de fertilizantes, a viabilização do seu uso automotivo,<br />
além da geração de eletricidade, principalmente<br />
empregando-se células a combustível 8 . Com uma<br />
grande capacidade hidráulica e sucro-alcooleira, o<br />
Brasil poderá produzir hidrogênio suficiente para<br />
utilizar em suas próprias células a combustível e<br />
exportar o excedente.<br />
As células a combustível terão uma grande<br />
importância principalmente na área automobilística<br />
- tradicionalmente uma grande consumidora de<br />
combustíveis fósseis, e uma das responsáveis, como<br />
vimos, pela emissão de grandes quantidades de CO 2<br />
.<br />
Alem disso, conjuntamente com as energias solar<br />
e eólica, poderá servir para reduzir investimentos<br />
onerosos em linhas de transmissão para atingir<br />
localidades remotas e evitar o emprego de geradores<br />
movidos a combustível fóssil nesses locais.<br />
O Programa Brasileiro de Sistemas de Células<br />
a Combustível, lançado pelo MCT em 2002 (www.<br />
mct.gov.br/index.php/content/view/5118.html)<br />
irá demandar uma atuação conjunta e articulada de<br />
diversos setores. No Programa, constam os primeiros<br />
subsídios para questões referentes a normas sobre<br />
propriedade intelectual, ética e de segurança dos<br />
experimentos a serem realizados nesta área.<br />
44
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Efi ciência Energética<br />
Uma das preocupações mundiais na direção<br />
de minimizar os impactos do desenvolvimento<br />
econômico de uma nação sobre o meio ambiente se<br />
refere a otimização dos processo energéticos ligados<br />
seu desenvolvimento. Essa eficiência já tem sido<br />
um marco na indústria automobilística nacional, por<br />
exemplo, com o desenvolvimento de motores mais<br />
eficientes e multi-combustíveis (fl ex-power). Também<br />
na indústria do álcool, os índices de eficiência estão<br />
sendo buscados, agora com o reaproveitamento do<br />
bagaço da cana para aumentar a produção (Ereno e<br />
Cesar, <strong>2007</strong>) e com o uso desse resíduo de bagaço<br />
no processo térmico de obtenção do álcool a partir<br />
do mosto (sumo de qualquer fruta que contenha<br />
açucar).<br />
Na área de produção e consumo de energia,<br />
algumas aplicações imediatas dos recursos de<br />
energia solar abundantes no Brasil poderão levar<br />
a resultados importantes na redução do consumo<br />
de energia elétrica. Um desses exemplos já foi<br />
mencionado anteriormente, é através do emprego do<br />
aquecimento da água pela radiação solar. Embora o<br />
custo de um sistema de aquecimento solar seja da<br />
ordem de trinta vezes o custo de um chuveiro elétrico<br />
– amplamente usado em todo o país pelo seu baixo<br />
custo e alta confiabilidade – o custo pago pela empresa<br />
distribuidora de energia para atender a demanda<br />
de energia no pico causado pelo uso dos chuveiros<br />
elétricos no final da tarde é repassado ao consumidor.<br />
Sob o ponto de vista ambiental, a economia na energia<br />
gerada terá, certamente um paralelo na redução das<br />
emissões dos gases do efeito estufa.<br />
A iluminação pública é outra área que pode<br />
propiciar enorme oportunidade de redução no<br />
consumo energia elétrica, em decorrência disso,<br />
redução nas emissões desses gases.<br />
Os limites para o acionamento e desligamento da<br />
iluminação pública são estabelecidos por normas da<br />
ABTN (Associação Brasileira de Normas Técnicas -<br />
NBR – 5123, 1998) com base nos níveis de iluminância<br />
dos crepúsculos matutinos (80 Lux) e vespertino (20<br />
Lux). Tais limites foram definidos em função dos<br />
limites de sensibilidade do olho humano. No entanto,<br />
esses limites tem sido questionados e, muitas vezes,<br />
não obedecidos. Alem disso, devem servir apenas<br />
como valores de referência, já que os índices de<br />
iluminância mudam também por conta da época do<br />
ano e de variáveis ambientais como nebulosidade,<br />
topografia e até mesmo ocultações em áreas de<br />
alta densidade de edificações. Aparte do problema<br />
da segurança pública e do conforto ambiental, em<br />
grandes metrópoles, apenas alguns minutos a mais<br />
no tempo de acionamento da iluminação pública<br />
podem refletir em um enorme desperdício de energia,<br />
ou em termos econômicos, milhões de reais a mais<br />
nas contas das prefeituras dessas metrópoles. Por<br />
exemplo, um estudo realizado pelo autor desse artigo<br />
para a área de concessão de uma grande empresa de<br />
distribuição elétrica de São Paulo apontam valores<br />
da ordem de R$ 6.000.000,00 de perdas financeiras<br />
anuais, para um desvio de apenas 30 minutos diários<br />
a mais no período de acionamento/desligamento do<br />
sistema de iluminação pública, caso tais variáveis<br />
ambientais e climáticas não sejam levadas em<br />
consideração. Certamente, desvios dessa ordem de<br />
magnitude podem também ser traduzidas em termos<br />
de emissões equivalente de CO 2<br />
para a atmosfera, nos<br />
casos de sistemas de geração termoelétrica.<br />
A eficiência energética é, talvez, o único caminho<br />
a ser buscado como solução remediadora de curto<br />
prazo para redução das emissões dos gases do efeito<br />
estufa, já que não há uma outra forma conhecida<br />
de se prover o desenvolvimento econômico de uma<br />
nação sem um aumento equivalente na sua demanda<br />
por energia.<br />
45
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Amarante, O.C.; Schultz, D.; Bittencourt, R.;<br />
Rocha, N. Wind-Hydro Complementary Seasonal<br />
Regimes in Brazil. DEWI Magazin, n. 19, August<br />
2001.<br />
BEN Brazilian Energy Balance., Ministério<br />
de Minas e Energia, Brasília, ISS 0101-6636, 2004,<br />
169p.<br />
Amarante, O. C., Brower, M.; Zack, J. ; Sá, A.<br />
Atlas do Potencial Eólico Brasileiro. CEPEL/<br />
ELETROBRÁS, MME - Brasília, 2002.<br />
EAA Engenharia Automotiva e Aeroespacial, Uso<br />
do biodiesel avaliado em mesa-redonda. Engenharia<br />
Automotiva e Aeroespacial, ano 6, n 0 28, SAE<br />
Brasil, 2006.<br />
Ereno, D.; César, E. Álcool de Celulose. Revista<br />
FAPESP, 133, p9. 29-<strong>31</strong>, março <strong>2007</strong>.<br />
Goldemberg, J.; Villanueva, L.D. Energia,<br />
Meio Ambiente & Desenvolvimento. Editora<br />
Universidade de São Paulo, 2 a . Edição, 2003, 226 p.<br />
International Energy Annual 2004. Disponível<br />
em < http://www.eia.doe.gov/iea/>. Acessado em<br />
mar. <strong>2007</strong>.<br />
Lima, P.C.R. Biodiesel e a Inclusão Social,<br />
Consultoria Legislativa. Relatório, 2004. Disponível<br />
em . Acessado em 01 jan.<br />
<strong>2007</strong>.<br />
NBR 5123 Relé Fotoelétrico e Tomada para<br />
Iluminação – especificação de Método de ensaio.<br />
ABNT, abril 1998.<br />
NOAA, Earth System Reasearch Laboratory.<br />
Disponível em: < http://www.esrl.noaa.gov/gmd/<br />
ccgg/trends/>. Acessado em 26 mar. <strong>2007</strong>.<br />
Pereira, E.B.; Martins, F. R. ; Abreu, S. L.; Ruther,<br />
R. Atlas Brasileiro de Energia Solar. ISBN 978-<br />
85-17-00030-0, INPE, <strong>2007</strong>, 60 p.<br />
PNA-2006 Ministério da Agricultura, Plano<br />
Nacional de Agroenergia. Disponível em: . Acesso em 05 jan. <strong>2007</strong>.<br />
SWERA Relatório brasileiro do Projeto<br />
SWERA/PNUMA/GEF. São José dos Campos,<br />
INPE/CPTEC, <strong>2007</strong>. (no prelo)<br />
Vasconsellos, G. F.; Bautista Vidal, J.W. O Poder<br />
dos Trópicos. Editora Casa Amarela, 1998. 303p.<br />
AGRADECIMENTOS<br />
O autor agradece a toda sua equipe de trabalho<br />
no CPTEC/INPE, em particular aos Drs. Fernando<br />
R. Martins, Márcio Augusto Ernesto de Moraes e a<br />
Sra. Silvia V. Pereira por importantes contribuições a<br />
redação, diagramação e edição desse trabalho.<br />
Ma, F.; Hanna, M. A. Biodiesel production: a<br />
review. Bioresouce Technology, 70: 1-15, 1999.<br />
Miller, A.I.; Duffey, R.B. Sustainable and<br />
economic hydrogen cogeneration from nuclear<br />
energy in competitive power markets, Energy,<br />
30(14): 2690-2702, 2005.<br />
46
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
NOTAS DE RODAPÉ<br />
1.<br />
2.<br />
Densidade energética é a quantidade de energia<br />
armazenada em um sistema por unidade de<br />
massa ou de volume.<br />
Fonte: International Energy Annual, 2004.<br />
6.<br />
Energia gerada pelo efeito fotoelétrico pela<br />
incidência dos raios solares em painéis<br />
recobertos por material fotoelétrico,<br />
normalmente o silício monocristalino.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
Composição de todas as fontes de energia<br />
nacionais.<br />
Organização internacional dos países<br />
desenvolvidos e industrializados com os<br />
príncípios da democracia representativa e da<br />
economia de livre mercado.<br />
Também conhecidos por turbinas eólicas,<br />
compostos por pás aerodinâmicas acopladas<br />
através de um eixo a um gerador elétrico.<br />
7.<br />
8.<br />
Energia gerada diretamente na forma de calor<br />
por painéis, normalmente empregada para<br />
aquecimento de água.<br />
Célula a combustível (Fuel Cell) é uma<br />
tecnologia que utiliza a combinação química<br />
entre oxigênio e hidrogênio para gerar energia<br />
elétrica, energia térmica e água.<br />
47
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
IMPACTOS ANTRÓPICOS NO CLIMA DA<br />
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO<br />
Augusto José Pereira Filho, Paulo Marques dos Santos, Ricardo de Camargo,<br />
Mário Festa, Frederico Luiz Funari, Sérgio Torre Salum, Carlos Teixeira de Oliveira,<br />
Edvaldo Mendes dos Santos, Pety Runha Lourenço, Edvaldo Gomes da Silva,<br />
Willians Garcia e Maria Aparecida Fialho<br />
Universidade de São Paulo/Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (USP/IAG)<br />
Departamento de Ciências Atmosféricas, Rua do Matão, 1226, São Paulo, SP, 05508-090<br />
E-mails: apereira@model.iag.usp.br, pmsantos@usp.br, ricamarg@model.iag.usp.br, mfesta@model.iag.usp.<br />
br, ffunari@model.iag.usp.br, ssalum@model.iag.usp.br, cartol@model.iag.usp.br, edmendes@model.iag.<br />
usp.br, pety@model.iag.usp.br, edigomes@usp.br, willians@usp.br, estacao@model.iag.usp.br<br />
RESUMO<br />
Este trabalho analisa a evolução do clima na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) por meio de séries<br />
temporais de temperatura do ar, umidade relativa, insolação, precipitação, pressão atmosférica e vento medidos<br />
pela Estação Meteorológico (EM) do IAG/USP, no período de 1936 a 2005. Os resultados desta pesquisa foram<br />
publicados nos anais do XIV CBMET e revelam que neste período de 70 anos houve aumento da temperatura<br />
do ar em 2,1 o C, aumento da precipitação em 395 mm, aumento do vento zonal (u) em 0,5 m s -1 , decréscimo<br />
do vento meridional (v) em 1,0 m s -1 e decréscimo da umidade relativa em 7%. Sugere-se que as mudanças<br />
climáticas sejam de origem antrópica regional e global. A primeira seria causada pela diminuição de áreas<br />
vegetadas, expansão horizontal e vertical da área urbana, aumento da poluição do ar e, a segunda, menos<br />
significativa, devida aos impactos globais dos gases do efeito estufa. A maioria dos eventos de enchente na<br />
RMSP está relacionada com a ilha de calor e circulação de brisa marítima no período chuvoso. Esses eventos<br />
têm grande impacto sobre a população de São Paulo, de mais de 18 milhões de habitantes.<br />
Palavras-chave: Clima urbano, climatologia urbana, estação meteorológica do IAG-USP.<br />
48<br />
ABSTRACT<br />
This work presents a climate analysis of the Metropolitan Area of São Paulo (RMSP) through time series of<br />
air temperature, relative humidity, sunshine hours, rainfall, air pressure and winds measured by the weather<br />
stations at IAG/USP between 1936 and 2005. These results were published in the proceedings of the XIV<br />
Brazilian Meteorological Conference and reveal that in this period of 70 years the air temperature increased by<br />
2.1 o C, the precipitation increased by 395 mm and the zonal wind (u) increased by 0.5 m s -1 , the meridional wind<br />
(v) decreased by 1,0 m s -1 and the relative humidity decreased by and 7% in the past 70 years. It is suggested<br />
that theses climate changes are due to regional and global antropic sources. The first is related to chances in<br />
the microclimate due to a reduction in vegetation cover, an increase in urbanization and air pollution, and, the<br />
other, less significant, is related to global greenhouse effects. Most flood events in RMSP are related to the<br />
urban heat island and the sea breeze during the rainy season. These events have a great impact over the local<br />
population of more than 18 million people.<br />
Key-words: Urban climate, urban climatology, weather station of IAG-USP.
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
1. INTRODUÇÃO<br />
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências<br />
Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo<br />
(USP) faz medições de variáveis meteorológicas no<br />
Parque Estadual e Fontes do Ipiranga (PEFI) há quase<br />
75 anos. Até 1930, a sede do Serviço Meteorológico do<br />
Estado de São Paulo era o Observatório Astronômico<br />
e Meteorológico da Capital, situado na Avenida<br />
Paulista, onde também funcionava sua Estação<br />
Meteorológica Central (Figura 1). Com o crescimento<br />
da cidade em volta da sede, procurou-se proceder<br />
a transferência da mesma para o Parque do Estado,<br />
Bairro da Água Funda na Capital Paulista, inclusive<br />
da Estação Central de modo que foi necessária a<br />
instalação de uma outra para substituí-la.<br />
Essa nova Estação central foi instalada no<br />
local onde já havia iniciada a construção do novo<br />
Observatório, no centro do citado parque que por ser<br />
de propriedade do Estado, era uma garantia de que as<br />
condições locais poderiam ser preservadas por tempo<br />
indeterminado, bastando apenas que se conservasse<br />
esse patrimônio para a finalidade com que fosse<br />
destinado. A nova Estação Central foi inaugurada<br />
no dia 22 de novembro de 1932, com início das<br />
operações regulares no dia 1 0 de janeiro de 1933.<br />
A conservação da reserva florestal do hoje<br />
PEFI (Figura 1) permitiu que no decorrer dos anos<br />
as condições físicas ambientais permanecessem<br />
praticamente constantes, propiciando uma boa<br />
consistência dos dados da longa série climatológica<br />
temporal ali medida a partir de 1933, de modo<br />
que quaisquer variações observadas serão devidas<br />
certamente às variações no clima da RMSP. A<br />
manutenção das atividades na área de Meteorologia<br />
no IAG/USP ao longo dos anos permitiu não somente<br />
a composição da série temporal climatológica como<br />
também para que mais tarde quando o IAG foi<br />
incorporado na USP em 1946 e se tornou Unidade de<br />
Ensino da mesma em 1972, fosse possível à criação do<br />
Departamento de Meteorologia, hoje Departamento<br />
de Ciências Atmosféricas.<br />
Essa longa série temporal climatológica vem<br />
sendo utilizada em trabalhos de pesquisa, tanto do<br />
lado aplicado no sentido de prestação de serviço<br />
à comunidade, quanto do lado acadêmico na<br />
elaboração de dissertações e teses da USP e de outras<br />
Universidades.<br />
Este artigo apresenta as principais características<br />
da evolução do clima num ambiente urbano em<br />
expansão com degradação ambiental devido ao<br />
crescimento populacional e atividades humanas por<br />
meio desta série climatológica temporal no período<br />
de 1936 a 2005.<br />
2. METODOLOGIA<br />
A EM do IAG/USP, registrada na Organização<br />
Meteorológica Mundial (OMM) sob número 83004,<br />
tem posição geográfica de 23º39’S, 46º37’W e<br />
altitude de 799,22 m. A posicão geográfica da EM<br />
esta mostrada na Figura 1 pelo ponto vermelho<br />
com a sigla PEFI (Parque Estadual e Fontes<br />
do Ipiranga). Praticamente todas as variáveis<br />
meteorológicas são medidas à superfície com<br />
instrumentos clássicos convencionais. As medições e<br />
observações meteorológicas são, desde o início das<br />
mesmas, realizadas diariamente por observadores<br />
meteorológicos, das 0700h as 2400h, a cada hora. No<br />
período da madrugada os dados são medidos apenas<br />
pelos instrumentos registradores de cujos diagramas<br />
são extraídos os dados horários da madrugada para<br />
completar o período de 24 horas. A metodologia das<br />
medições e observações vem sendo mantida, com<br />
pequenas modificações que se fizeram necessárias, de<br />
modo que a confiabilidade dos dados foi conservada<br />
dentro do possível. Adicionalmente, são registradas<br />
as observações de fenômenos meteorológicos (e.g.,<br />
trovoada e granizo) observações. Os diagramas dos<br />
sensores de temperatura, pressão, umidade, vento,<br />
precipitação, e radiação solar registros originais das<br />
variáveis são arquivados e compreende cerca de<br />
250.000 diagramas dos instrumentos registradores.<br />
As médias diárias de temperatura do ar, umidade<br />
relativa, intensidade e direção do vento, pressão<br />
49
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
atmosférica, insolação e precipitação diária da EM do IAG/USP<br />
foram utilizados nas análises climáticas para a RMSP, no período<br />
de 1936 a 2005, aqui apresentadas.<br />
Figura 1: Imagem MODIS/ACQUA da RMSP de 20 de julho de 2003. Pontos vermelhos<br />
mostram as localizações da EM do IAG/USP na Av. Paulista até 1932 (EC) e, depois,<br />
no Parque do Estado e Fontes do Ipiranga (PEFI). Cores marrons, verde escuro e claro<br />
indicam áreas urbanas, vegetadas e represas, respectivamente.<br />
Fonte: (http://visibleearth.nasa.gov).<br />
Obtiveram-se destas médias<br />
diárias e totais diários de precipitação<br />
as médias anuais de cada variável e<br />
totais anuais de precipitação, bem<br />
com as respectivas séries de anomalias<br />
definidas como a diferença entre a<br />
média (total no caso da precipitação)<br />
anual e a média de 70 anos de cada<br />
variável. Elaboraram-se análises da<br />
evolução temporal de cada variável<br />
por meio de gráficos 3D com o mês e<br />
ano no plano horizontal e a variável no<br />
eixo vertical. As curvas de nível destas<br />
foram obtidas a partir da interpolação<br />
bi-linear cúbica. Realizaram-se<br />
também análises espectrais a partir<br />
das séries temporais de dados de<br />
médias diárias e anuais das variáveis<br />
acima cujos resultados são apenas<br />
citados neste trabalho. Realizou-se<br />
também uma análise de agrupamento<br />
das variáveis por meio do método<br />
de distâncias Euclidianas simples<br />
(Johnson e Wichen, 1988), com o<br />
objetivo de avaliar o agrupamento<br />
entre as variáveis meteorológicas<br />
diariamente e anualmente.<br />
Estimativas de chuva acumulada<br />
foram obtidas na área de abrangência<br />
do radar meteorológico de São Paulo<br />
(Figura 2). A precipitação acumulada é<br />
obtida da integração temporal das taxas<br />
de precipitação. A chuva acumulada<br />
total foi estimada apenas para os<br />
eventos de enchente associados com<br />
brisa marítima e ilha de calor entre<br />
2002 e 2004 (Pereira Filho et al., 2004)<br />
conforme mostrado na Tabela 1.<br />
Figura 2: Imagem IR do satélite GOES-12 às 1540 UTC de 29 de março de <strong>2007</strong>. Escala<br />
de cores indica temperatura ( o C) estimada. Circunferência mostra área de cobertura do<br />
radar meteorológico de São Paulo num raio de 240 km.<br />
Fonte: Imagem IR adaptada do Laboratório Master, IAG-USP (http://www.master.<br />
iag.usp.br).<br />
50
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Tabela 1: Eventos de enchentes na Cidade de São Paulo. Levantamento parcial realizado por meio de reportagens do Jornal Folha de<br />
São Paulo (FSP), dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de Município de São Paulo (PMSP), do radar<br />
meteorológico de São Paulo e da estação meteorológica do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo.<br />
Data FSP VF PA RVF PCR DT TAI<br />
P<br />
max<br />
Norte Sul Centro Leste Oeste RADAR BM T<br />
max<br />
20020324 SIM 21 SIM SIM SIM SIM FF 24.3 20.7<br />
20020708 SIM SIM FF 18.1 10.0<br />
20020920 SIM 23 SIM 198 39.5 SIM SIM SIM SIM SIM FF 25.8 18.2<br />
20021029 SIM 8 80 33.5 SIM SIM SIM 32.4 21.2<br />
20021128 SIM 51 SIM 154 SIM 81.0 SIM SIM SIM SIM 32.8 22.9<br />
20021201 SIM 17 SIM SIM SIM SIM 33.5 20.4<br />
20021217 SIM 2 41 93 SIM SIM SIM SIM SIM 29.2 21.1<br />
20030102 SIM 23 SIM SIM SIM 32.3 21.6<br />
20030103 SIM 37 SIM 15 SIM 113.0 SIM SIM SIM 28.6 21.1<br />
20030116 SIM 30 SIM 66 SIM SIM SIM SIM 28.7 19.1<br />
20030121 SIM 9 SIM SIM SIM 29.7 22.7<br />
20030127 SIM 8 SIM SIM SIM FF 24.4 19.7<br />
20030128 SIM 69 SIM SIM SIM FF 23.5 20.4<br />
20030217 SIM SIM SIM FF 25.2 20.0<br />
20030303 SIM 29 SIM SIM SIM 33.7 23.2<br />
20030305 SIM 24 60 SIM 73.0 SIM SIM SIM 29.7 21.8<br />
20030307 SIM 36 SIM 129 SIM SIM SIM 30.2 21.4<br />
200<strong>31</strong>009 SIM 19 SIM 162 SIM SIM SIM 30.4 18.9<br />
200<strong>31</strong>117 SIM SIM 89 SIM JJ 28.1 19.4<br />
200<strong>31</strong>223 SIM 11 128 SIM SIM SI M FF 27.5 19.8<br />
20040112 SIM SIM 98 SIM SIM SIM SIM 27.9 19.5<br />
20040123 SIM 3 20 SIM 147 SIM SIM SIM SIM 27.8 20.1<br />
20040130 SIM 33 SIM 151 SIM 62.4 SIM SIM SIM SIM <strong>31</strong>.3 20.1<br />
200401<strong>31</strong> SIM 19 32.7 SIM SIM SIM 30.8 19.1<br />
20040202 SIM 47 SIM 85 65.0 SIM SIM SIM SIM 32.3 22.7<br />
20040204 SIM 32 SIM 73.3 SIM SIM SIM 32.6 21.0<br />
20040219 SIM 14 SIM 106 SIM 43.7 SIM SIM SIM 32.6 18.3<br />
20040222 SIM 26 SIM SIM FF 23.4 20.2<br />
20040404 SIM 15 SIM SIM SIM SIM JJ 25.8 18.4<br />
20040406 SIM 29 142 SIM 79.5 SIM SIM SIM SIM 26.3 20.6<br />
20040421 SIM 1 13 SIM SIM SIM SIM SIM 25.2 19.8<br />
Td<br />
max<br />
A legenda, da esquerda para a direta, indica a data do evento (ano, mês, dia), disponibilidade de registro jornalístico da FSP, número de<br />
vítimas fatais (VF), pontos de alagamento (PA), ocorrência de rajadas de vento forte (RFV), pico de congestionamento registrado (PCR)<br />
em km, ocorrência de deslizamento de terra (DT), de descargas elétricas atmosféricas (DEA), de transporte aéreo interrompido (TAI),<br />
precipitação máxima (P max) em mm, regiões da PMSP atingidas (Norte, Sul, Centro, Leste e Oeste), disponibilidade de dados de radar<br />
(RADAR), ocorrência de brisa marítima (BM), temperatura do ar máxima (T max<br />
) e temperatura de ponto de orvalho máxima (T d max<br />
) em o C. Os<br />
símbolos JJ e FF se referem a eventos de jato de altos níveis e frente fria, respectivamente.<br />
Fonte: Pereira Filho et al. (2004).<br />
51
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
3. RESULTADOS<br />
A Figura 3 mostra a evolução temporal 3D das<br />
médias mensais de temperatura do ar, umidade<br />
relativa, insolação, pressão atmosférica mínima,<br />
precipitação e rosa dos ventos. Estas variáveis<br />
foram arbitrariamente selecionadas para sintetizar os<br />
resultados obtidos. Notam-se mudanças significativas<br />
no ciclo anual das variáveis ao longo das últimas sete<br />
décadas com aumento da temperatura, precipitação,<br />
insolação e diminuição da umidade relativa do ar<br />
conforme indicado pela mudança nas escalas de cores<br />
de cada variável. Nota-se uma marcante mudança na<br />
pressão mínima diária ocorrida na década de setenta<br />
quando ocorreu uma mudança sazonal, com mínimas<br />
relativas no período de inverno e máximas relativas na<br />
primavera e verão. Nota-se uma queda na insolação<br />
diária média no mesmo período. A precipitação média<br />
diária mensal também aumentou significativamente<br />
principalmente no período chuvoso. As magnitudes<br />
das mudanças de longo período são apresentadas<br />
adiante.<br />
Estudos recentes (Pereira Filho et al., 2004;<br />
Xavier et al., 1994) mostram que as chuvas de verão<br />
são mais intensas na RMSP devido aos efeitos de ilha<br />
de calor e circulação de brisa marítima. A Figura 2<br />
mostra uma imagem no canal infravermelho (IR) do<br />
dia 29 de março de <strong>2007</strong> onde se observa a ilha de<br />
calor da RMSP, que apresenta temperaturas acima de<br />
30º C no início da tarde. As temperaturas nas bordas<br />
da RMSP são pelo menos 5º C menor em relação ao<br />
centro da ilha de calor urbano.<br />
A Figura 4 mostra a composição da distribuição<br />
de chuva acumulada de 18 eventos de enchente<br />
relacionados com a ilha de calor e brisa marítima.<br />
Nota-se um núcleo de precipitação de até 650 mm<br />
sobre a RMSP com valores na periferia da RMSP<br />
da ordem de 300 mm. Nestes casos de enchente, a<br />
ilha de calor tende a produzir uma baixa térmica e<br />
convergência sobre a RMSP. Os resultados acima<br />
indicam que houve mudanças climáticas na RMSP<br />
com aumento da temperatura e precipitação e<br />
diminuição da umidade relativa (Figura 3). Sugere-se<br />
que essas mudanças sejam em parte devidas a fatores<br />
locais como o aumento da área urbana horizontal e<br />
vertical. O primeiro tem efeito direto sobre o balanço<br />
energético superficial e, o segundo, sobre a rugosidade<br />
superficial e dinâmica da camada limite. Houve<br />
também aumento da poluição do ar e do material<br />
particulado que podem contribuir para mudanças<br />
na microfísica, eletricidade e termodinâmica de<br />
nuvens frias. Embora a EM esteja num ambiente<br />
rural preservado, as condições no entorno resultaram<br />
em mudanças locais significativas. Estas mudanças<br />
têm um impacto negativo nas atividades sócioeconômicas<br />
da RMSP com dias mais quentes, secos e<br />
poluídos no outono e inverno e, recorrentes enchentes<br />
na primavera e verão. Resultados de Shein (2006)<br />
indicam um aumento da temperatura global de 0,5 o C<br />
a partir da década de 70. Ele estima um aumento de<br />
até 0,5 o C na região da RMSP, entre 1961 e 1990.<br />
A Figura 5 apresenta a evolução temporal das<br />
anomalias de temperatura, umidade relativa, pressão<br />
atmosférica média, vento zonal e meridional,<br />
precipitação e insolação. A rápida expansão horizontal<br />
da Região Metropolitana de São Paulo até a década<br />
de 60 resultou num aumento da temperatura do ar,<br />
sem necessariamente um aumento concomitante da<br />
quantidade de vapor de água próxima à superfície ou,<br />
como se sugere, houve uma diminuição da quantidade<br />
de vapor de água em virtude da redução das áreas<br />
vegetadas. Desta forma, o aumento da temperatura<br />
do ar e manutenção ou diminuição da quantidade de<br />
vapor de água tem resultado num contínuo decréscimo<br />
da umidade relativa do ar mais significativamente a<br />
partir da década de 60. Por outro lado, as anomalias<br />
de vento que eram de Sudoeste até a década de 70<br />
mudaram para Nordeste. Sugere-se que essa mudança<br />
esteja relacionada com circulações térmicas induzidas<br />
pela ilha de calor. De qualquer forma, as anomalias<br />
de vento até a década de 70 traziam ar relativamente<br />
seco e frio e, depois da década de 70, ar relativamente<br />
quente e úmido. O aumento de temperatura do ar<br />
na RMSP no período de 1961 a 1991 medido pela<br />
EM do IAG/USP foi maior do que 1,0 o C, acima da<br />
estimativa global em Shein (2006) de cerca de 0,5º<br />
C. Isto sugere que, somado ao aumento global da<br />
52
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
a) b) c)<br />
d) e) f)<br />
Figura 3: Evolução mensal e anual da média diária, no período de 1936 a 2005, da: A) temperatura do ar ( o C); B) umidade relativa do ar (%),<br />
C) insolação (hora); D) pressão mínima (mb) e E) precipitação (mm). Rosa dos ventos (F) com freqüências de intensidades. Escala de cores<br />
indica respectivos valores das médias das variáveis.<br />
Fonte: Santos et al. (2006).<br />
Figura 4: Composição da distribuição espacial de chuva acumulada<br />
estimada com o radar meteorológico de São Paulo, para 18 eventos<br />
de enchentes associados com brisa marítima e ilha de calor na<br />
RMSP, ocorridos no período de 2002 a 2004. Escala de cores indica<br />
total de chuva (mm). Estão indicados os contornos geográficos de<br />
São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Circunferência<br />
indica o raio de abrangência do radar meteorológico de 240 km.<br />
Latitudes e longitudes estão também indicadas.<br />
Fonte: Pereira Filho at al. (2004).<br />
temperatura, houve um aumento local da temperatura<br />
(mais significativo), que contribuíram para as<br />
mudanças climáticas observadas na RMSP. As análises<br />
espectrais realizadas (não mostradas) com as séries<br />
de dados de temperatura do ar, pressão do ar, ventos<br />
zonal e meridional, umidade relativa, precipitação,<br />
e insolação da EM IAG/USP evidenciam, além dos<br />
ciclos insolação anual e sazonal intensos, ciclos de<br />
2 a 11 anos com ciclos menos significativos de mais<br />
longo prazo, maiores do que 30 anos, exceto para a<br />
temperatura média do ar que apresentou apenas ciclos<br />
mais curtos de 2 à 7 anos, possivelmente associados<br />
ao fenômeno El Niño/Oscilação do Sul (ENOS). Ou<br />
seja, há fatores de mudanças associadas a sistemas<br />
transientes globais e outros associados com mudanças<br />
locais de origem antrópica.<br />
53
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
2<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
Figura 5: Evolução temporal das anomalias de temperatura do ar, umidade relativa, componentes zonal e meridional do vento,<br />
pressão, precipitação e insolação, defi nidas a partir das médias anuais do período de 1936 a 2005 estimadas com os dados<br />
da Estação Meteorológica do IAG USP.<br />
A análise de agrupamento das variáveis médias<br />
anuais (Figura 6) indica que o vento é altamente<br />
correlacionado com a temperatura média. Estas duas<br />
variáveis se relacionam com a umidade relativa e,<br />
estas, com a insolação. Agrupam-se a precipitação<br />
e pressão com as demais variáveis. Desta forma,<br />
os resultados sugerem que embora a volume de<br />
precipitação dependa da umidade e da temperatura,<br />
a pressão atmosférica determina o volume total<br />
convertido em precipitação.<br />
54
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Figura 6: Diagrama de árvore de distâncias Euclidianas simples entre pressão média do<br />
ar (mb), precipitação (mm) e insolação (h), Temperatura média do ar ( 0 C), vento zonal<br />
e meridional (m s -1 ) e umidade relativa (%) medidas pela EM do IAG/USP, no período<br />
de 1936 a 2005.<br />
4. CONCLUSÕES<br />
Os resultados aqui apresentados<br />
sugerem que talvez as grandes<br />
cidades tropicais do planeta sofram<br />
mais por causa da mudança do<br />
balanço energético na CLP, devido ao<br />
aumento das temperaturas mínimas em<br />
particular, decorrente da urbanização<br />
e, menos, por causa das mudanças<br />
globais devidas ao aumento dos gases<br />
do efeito estufa. Num cenário de<br />
aumento do gradiente de temperatura<br />
entre o centro geométrico da área<br />
urbana e sua periferia tenderia a<br />
concentrar mais sistemas convectivos<br />
isolados sobre ela. Menos precipitação<br />
haveria sobre as bacias de mananciais,<br />
que no caso da RMSP estão exatamente<br />
nas bordas da região metropolitana.<br />
Ainda, enchentes, rajadas de vento<br />
e descargas elétricas seriam mais<br />
intensas, com o agravamento dos<br />
conhecidos impactos negativos sobre<br />
a população da RMSP.<br />
Análises espectrais das séries temporais de dados<br />
(não apresentadas) indicam a existência de ciclos de<br />
2 a 11 anos e outros de 21 anos ou mais longos na<br />
pressão do ar, ventos, umidade relativa e insolação<br />
e precipitação. Por outro lado, a temperatura do ar<br />
possui ciclos mais significativos entre 2 e 7 anos<br />
apenas. Estes resultados sugerem um significativo<br />
impacto dos eventos de El Niño, La Niña e Oscilação<br />
do Sul na RMSP. Por exemplo, as fortes anomalias<br />
positivas de 1976 e 1983 estão associadas com<br />
episódios de El Niño (Xavier, 2001). Os resultados<br />
sugerem ainda que a intensidade do anticiclone<br />
subtropical do Atlântico Sul influencie o total anual<br />
de precipitação. O deslocamento deste para oeste<br />
(leste) deve reduzir (aumentar) as chuvas.<br />
Eventos intensos de precipitação, rajadas<br />
de vento, descargas elétricas e granizo sobre a<br />
RMSP no período de verão e os eventos de intensa<br />
poluição e baixas umidades no outono e inverno<br />
têm impacto significativo na população (Pereira<br />
Filho et al., 2004). O Programa Sistema Integrado<br />
de Hidrometeorologia do Estado de São Paulo da<br />
FAPESP está implementando novas plataformas<br />
observacionais e computacionais, por exemplo, a<br />
implantação de uma rede de estações meteorológicas<br />
automáticas na RMSP para o monitoramento e a<br />
previsão hidrometeorológica de modo a mitigar os<br />
impactos das mudanças antrópicas naquela região<br />
(Pereira Filho et al., 2005).<br />
55
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
DCA. Medições e observações de superfície<br />
efetuadas na Estação Meteorológica do IAG<br />
USP. Seção Técnica de Serviços Meteorológicos.<br />
Publicação IAG USP. ISSN 1415-4374, 2005, 34p.<br />
Johnson, R. A. and D. W. Wichern, 1988: Applied<br />
Multivariate statistical analysis. Prentice Hall, 607p.<br />
Occhipinti, A.G. Marques dos Santos, P. Análise<br />
das máximas intensidades de chuva na cidade de<br />
São Paulo. IAG/USP, 1965, 41p.<br />
Pereira Filho, A. J., Barros, M. T. L.; Hallak, R.;<br />
Gandu, A.W. Enchentes na Região Metropolitana de São<br />
Paulo: aspectos de mesoescala e avaliação de impactos.<br />
XIII CBMET. Anais. Fortaleza, CE. 2004. CDROM.<br />
Pereira Filho, A. J., Massambani, O.; Hallak, R.;<br />
Karam, H. A hydrometeorological forecast system for<br />
the Metropolitan Área of São Paulo. WWRP Workshop<br />
on Nowcasting and Very Short Term Forecasting.<br />
Toulouse, France. Proceedings on CDROM, 2005.<br />
Santos, P.M.; Pereira Filho, A.J. ; Camargo, R. ;<br />
Festa, M. ; Funari, F. L. ; Salum, S. T. ; Oliveira, C.<br />
T. ; Santos, E. M. ; Lourenço, P. R. ; Silva, E. G.;<br />
Garcia, W.; Fialho, M. A. Evolução climática na<br />
Região Metropolitana de São Paulo. XIV CBMET,<br />
Anais. CDROM. Florianópolis, SC, 2006.<br />
Shein, K.A. State of the climate in 2005. Special<br />
Supplement to the Bulletin of the American<br />
Meteorological Society, 87(6), 2006.<br />
Xavier, T. M. B. S., Tempo de Chuva - Estudos<br />
Climáticos e de Previsão para o Ceará e Nordeste<br />
Setentrional. ABC Editora, Fortaleza - CE, 478 p.<br />
2001.<br />
Xavier, T. M. B. S., Xavier, A F. S.; Silva Dias, M.<br />
A.F. Evolução da precipitação diária num ambiente<br />
urbano: o caso da Cida de São Paulo. RBMET,<br />
9(1):44-53, 1994.<br />
AGRADECIMENTOS<br />
Os autores agradecem aos revisores anônimos<br />
deste artigo, que o melhoram muito com as suas<br />
correções, sugestões e comentários. O primeiro<br />
autor agradece ao CNPq e à FAPESP (Processos N o<br />
300456/2005-0 e N o 01/13952-2, respectivamente)<br />
pelo suporte no desenvolvimento da pesquisa da qual<br />
faz parte este artigo.<br />
56
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGRICULTURA:<br />
UM ESTUDO DE CASOS PARA AS CULTURAS DO<br />
MILHO E DO FEIJÃO EM MINAS GERAIS<br />
José Luiz C. Silva Júnior, Luiz Cláudio Costa, Marcelo Cid de Amorim, Flávio Justino Barbosa<br />
Universidade Federal de Viçosa - Av. P.H Rolfs s/n - Viçosa, MG, 36.571 – 000, Brasil<br />
Tel: +55 (<strong>31</strong>) 3899-1903 /Fax: +55 (<strong>31</strong>) 3899-2735<br />
E-mails: jlcabral_jr@yahoo.com.br, l.costa@ufv.br, mcid@vicosa.ufv.br, fjustino@ufv.br<br />
RESUMO<br />
O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar os impactos das mudanças climáticas nas culturas<br />
do milho e do feijão, a partir da simulação dos processos físico-biológicos utilizando os modelos CROPGRO<br />
Dry-bean e CERES-MAIZE. Os resultados obtidos mostram que, tendo como base as projeções dos cenários<br />
de mudanças climáticas do IPCC, existe uma redução da produtividade da cultura do milho de até 15% para<br />
o cenário A2 e 10% para o B2. Para a cultura do feijão, o modelo apresenta um aumento de produtividade<br />
superior a 57% para o cenário B2 e de 45% para o A2.<br />
Palavras-chave: Mudanças climáticas, modelos, impactos.<br />
ABSTRACT<br />
The aim of this work is to assess the impacts of climate changes for maize and bean for the State of Minas<br />
Gerais, using the CROPGRO Dry-bean and CERES-MAIZE models. These experiments allow investigating<br />
modifications of the physical and biological processes in the crop. The results show that the A2 and B2<br />
projections of the IPCC lead to a reduction of the productivity of the culture of maize of up to 15% for A2 and<br />
10% for B2. Turning to beans, the model predicted an increase of production of up to 57 % for the scenario B2<br />
and 45% in the A2.<br />
Key words: Climate change, models, impacts.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
O último relatório do International Panel on<br />
Climate Change (IPCC) mostra que as mudanças<br />
climáticas decorrentes da atividade humana já estão<br />
ocorrendo em uma escala global e que as previsões<br />
para o Século XXI são preocupantes. Apesar da<br />
certeza dos graves efeitos das mudanças climáticas<br />
na agricultura, muitas incertezas ainda existem na<br />
quantificação dos mesmos. Diversos estudos mostram<br />
que culturas como feijão, soja, arroz e trigo, respondem<br />
de forma positiva a um aumento da concentração de<br />
CO 2<br />
na atmosfera, contrabalançando assim os efeitos<br />
negativos do aumento de temperatura, que reduz o<br />
período vegetativo e aumenta a taxa de respiração de<br />
manutenção na maioria das culturas, causando assim<br />
um impacto negativo na produtividade (Long et al.,<br />
2005; Slingo, et al., 2005). Vários estudos realizados<br />
em ambientes controlados mostram um aumento<br />
de 23% a 43% na produtividade das culturas C 3<br />
em<br />
57
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
resposta ao aumento do CO 2<br />
(Trnka et al., 2004).<br />
Tal efeito é conhecido na literatura como efeito<br />
fertilização do CO2 (Dhakhwa et al., 1997). Por<br />
outro lado, outros estudos indicam que o beneficio<br />
do aumento de CO 2<br />
pode ser bem menores, entre<br />
8% e 15%, quando consideradas outras condições<br />
ambientais como, por exemplo, o estresse hídrico e<br />
a disponibilidade de fertilizante (Trnka et al., 2004,<br />
Long et al. 2005).<br />
Na busca do entendimento e na quantificação da<br />
complexa interação entre clima e cultura, têm-se<br />
observado nos últimos anos, um crescente aumento<br />
na utilização de modelos de simulação na agricultura.<br />
Tais modelos têm-se mostrado extremamente<br />
eficientes na análise das flutuações espaço-temporal<br />
e de cenários futuros na produtividade agrícola<br />
de diferentes culturas em respostas as mudanças<br />
climáticas (Betts et al., 2004; Hansen e Indeje, 2004;<br />
Popova e Kercheva, 2004; Trnka et al., 2004, Costa<br />
e Barros, 2001).<br />
No entanto, poucos estudos foram realizados<br />
no Brasil utilizando modelos de simulação de<br />
crescimento de culturas para analisar os impactos<br />
das mudanças climáticas na produtividade das<br />
culturas. Assad e Luchiari Jr. (1989) e Siqueira et<br />
al. (1994, 2000) avaliaram as possíveis alterações<br />
de produtividade para as culturas de soja e milho em<br />
função dos cenários das mudanças climáticas, através<br />
do aumento de CO 2<br />
e da temperatura para algumas<br />
regiões do Brasil. Pinto et al. (1989 e 2001) avaliaram<br />
o impacto das mudanças do clima na produção<br />
regional, onde foi considerado o efeito das elevações<br />
das temperaturas e das chuvas no zoneamento do café<br />
para os estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás.<br />
Considerando as relações lineares entre elementos<br />
climáticos, principalmente temperatura, e cultura,<br />
os resultados indicaram uma drástica redução nas<br />
áreas com aptidão agroclimática (Pinto et al., 2002).<br />
Todavia, espera-se que a utilização de modelos de<br />
crescimento de culturas, que consideram as interações<br />
lineares e não-lineares entre a cultura e os elementos<br />
climáticos, permita uma análise mais detalhada dos<br />
possíveis impactos das mudanças climáticas na<br />
produtividade das culturas.<br />
As culturas do milho (C 4<br />
) e do feijão (C 3<br />
)<br />
apresentam respostas diferenciadas de crescimento<br />
a variações de elementos climáticos como radiação,<br />
concentração de O 2<br />
e CO 2,<br />
temperatura e umidade, o<br />
que permite a avaliação e quantificação da resposta<br />
fotossintética ao efeito do aumento na absorção do<br />
CO 2<br />
e da temperatura na produtividade. A cultura C 3<br />
é menos eficiente do que a C 4<br />
devido a perda do CO 2<br />
pela fotorespiração (Rosemberg et al., 1990; Taiz e<br />
Zeiger, 1991, citados por Streck, 2005).<br />
As culturas do milho e do feijão têm uma grande<br />
importância econômica para o Brasil, e em particular<br />
para Minas Gerais, o maior produtor de feijão e o<br />
segundo maior produtor de milho do país. Além da<br />
importância econômica, existe também o caráter social<br />
dessas culturas, consideradas de extrema importância<br />
para a população menos favorecida, sendo assim<br />
fundamentais para a segurança alimentar, uma das<br />
maiores preocupações mundial devido o crescimento<br />
populacional e a necessidade de se aumentar a<br />
produção de alimentos para suprir a demanda (Parry<br />
et al., 2004; FAO, 2005). Diante disto, o objetivo<br />
desse trabalho é estimar os impactos dos cenários das<br />
mudanças climáticas na produtividade das culturas<br />
do milho e do feijão para os anos de 2020, 2050 e<br />
2080, de acordo com os Cenários A2 e B2 (IPCC,<br />
2001).<br />
2. DADOS E METODOLOGIA<br />
A área de estudo considerada foi o Estado de<br />
Minas Gerias (Figura 1), localizada no sudeste do<br />
Brasil, entre 14º 13’57’’S e 22º 55’ 47’’S e entre<br />
39º 51’ 27’’W e 51º 02’56’’W, com uma área total<br />
de 588.383 km 2 . O estado de Minas Gerais encontrase<br />
numa zona de transição climática, com influência<br />
de vários elementos climáticos, principalmente a<br />
distribuição irregular da precipitação na região, com<br />
período chuvoso no verão e seco no inverno (Grimm<br />
e Ferraz, 1998). Os dados de temperaturas diárias<br />
máximas e mínimas (em ºC), precipitação (em mm) e<br />
radiação solar (em MJ.m -2 .dia -1 ), são provenientes da<br />
série temporal do Instituo Nacional de Meteorologia<br />
(INMET), para o período de 1975 a 2004. Os dados<br />
58
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
diários da radiação solar foram calculados usando<br />
horas de brilho solar, a partir da Equação de Modelo<br />
de Angstrom-Prescott (Vianello e Alves, 1991).<br />
carbono, balanço de nitrogênio no solo e balanço<br />
de água (Boote et al., 1998; Jones e Kiniry, 1986).<br />
Os modelos foram previamente calibrados para as<br />
diferentes regiões de Minas Gerais com<br />
dados climáticos e de produtividade para<br />
o período de 1975 a 2004. As simulações<br />
foram realizadas considerando a data de<br />
plantio para 01 de outubro.<br />
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
Figura 1: Localização das estações e das mesoregiões estudadas.<br />
Devido a grande variabilidade na classificação<br />
dos tipos de solos e pela dimensão do Estado de<br />
Minas Gerias, foi utilizada neste estudo o solo<br />
tipo 3. A avaliação dos impactos das mudanças<br />
climáticas nas culturas do milho e do feijão foi<br />
realizada através dos cenários pessimista e otimista<br />
(A2 e B2, respectivamente) para os anos 2020,<br />
2050 e 2080 a partir dos modelos CROPGRO Drybean<br />
e CERES-MAIZE (Jones e Kiniry, 1986). O<br />
cenário A2 descreve um mundo heterogêneo, com<br />
crescimento da população elevado, e crescimento<br />
econômico e mudança tecnológica mais lentos.<br />
O cenário B2 descreve um mundo baseado em<br />
soluções locais aos problemas globais, com<br />
crescimento da população moderado, existindo níveis<br />
intermediários para o desenvolvimento econômico<br />
e uma mudança tecnológica mais diversa. Estes<br />
modelos determinísticos e baseados em processos<br />
que simulam os processos físicos, químicos e<br />
biológicos da cultura em resposta a variações do<br />
ambiente, estão incluídos no Sistema de Suporte para<br />
Transferência de Agrotecnologia (DSSAT v.4.0).<br />
Esses modelos consideram em seus resultados os<br />
parâmetros agronômicos e os processos fisiológicos<br />
em função do clima, solo e as condições de manejo.<br />
Os processos do modelo são orientados a considerar<br />
o desenvolvimento da cultura com o balanço de<br />
Os resultados obtidos para a cultura do<br />
milho (Figuras 2 a, c, e) dentro do cenário<br />
B2 indicam no ano de 2020 um ganho de<br />
até 5% da produtividade nas regiões do<br />
Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri,<br />
Triângulo Mineiro e a região Sul/Sudeste.<br />
Na região Central mineira destaca-se com<br />
uma redução variando de 5 a 10%, e nas<br />
outras regiões reduções de até 5%. Para os<br />
anos de 2050 e 2080 o aumento da redução<br />
das regiões mais centrais do estado abrangendo a<br />
Campos dos Vertentes até a Zona da Mata e o restante<br />
do Estado com reduções de até 5%. Os resultados<br />
estão de acordo com os resultados encontrados por<br />
Siqueira et al. (2000), que indicaram reduções de<br />
até 10% na produtividade da cultura do milho para<br />
algumas regiões do Brasil.<br />
Para a cultura do feijão (Figuras 2 b, d, f) os<br />
resultados mostram um aumento significativo de<br />
produtividade, indicando um efeito benéfico do<br />
aumento da concentração de CO 2<br />
na produtividade da<br />
cultura. Tais resultados são coerentes com a hipótese<br />
do efeito fertilizante do CO 2<br />
que parte do princípio<br />
que a concentração atual de CO 2<br />
na atmosfera é<br />
limitante a capacidade fotossintética máxima das<br />
plantas C 3<br />
, devido aos níveis atuais serem insuficiente<br />
para saturar a enzima Rubisco (Bowes, 1991; Taiz<br />
e Zeiger, 1991; Vu et al., 1997, citado por Streck<br />
(2005)). Os aumentos mais significativos são obtidos<br />
na região do Vale do Jequitinhonha, descendo até<br />
a Zona da Mata Mineira. Na região do Triângulo<br />
Mineiro verifica-se um comportamento muito similar<br />
ou com pouca variação nas projeções dos anos 2020,<br />
2050 e 2080. Poucas variações são obtidas na parte<br />
mais central do Estado.<br />
59
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
CULTURA DO MILHO<br />
CULTURA DO FEIJÃO<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(d)<br />
(e)<br />
(f)<br />
Figura 2: Estimativas da redução de produtividade no Estado de Minas Gerias para as culturas do milho e do feijão, para os cenários B2,<br />
para os anos: a, b) 2020; c, d) 2050; e, f)2080<br />
60
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Para o CenárioA2, os resultados indicam uma<br />
acentuada redução da produtividade da cultura do<br />
milho nos anos de 2020, 2050 e 2080 em todas as<br />
regiões estudas (Figuras 3 a, c, e). Esta redução<br />
se intensifica da parte mais central até a região do<br />
Triângulo Mineiro, onde alcança reduções superiores<br />
a 15%.<br />
Os resultados para a cultura do feijão (Figuras<br />
3 b, d, f) indicam que para o Cenário A2, o efeito<br />
de fertilização do CO 2<br />
já não consegue manter o<br />
mesmo aumento de produtividade previsto para o<br />
Cenário B2, indicando que existe uma minimização<br />
do efeito positivo do aumento de CO 2<br />
devido ao<br />
aumento acentuado da temperatura. É importante<br />
salientar que os resultados encontrados para a cultura<br />
do feijão devem ser vistos com cautela e mostram<br />
a necessidade de estudos mais específicos, uma vez<br />
não leva em consideração a interferência de possíveis<br />
eventos climáticos extremos, que irão ocorrer<br />
com mais freqüência em condições de mudanças<br />
climáticas, nem os fatores de condições de uso do<br />
solo, disponibilidade de nutrientes, doenças, pragas,<br />
competição de ervas daninha fatores que devem<br />
reduzir o efeito fertilização do aumento do CO 2<br />
.<br />
Supomos que os resultados do aumento da<br />
produtividade simulada da cultura do feijão para os<br />
dois cenários (A2 e B2) não tenham obtidos muita<br />
diferença entre eles, se devam principalmente pela<br />
pouca representatividade espaço-temporal de fatores<br />
como: a disponibilidade de nutrientes, doenças e<br />
pragas, e que o efeito fertilização do CO 2<br />
tenha<br />
prevalecido nos processos físico-biológicos de<br />
crescimento e desenvolvimento. Na cultura do milho,<br />
apesar da pouca diferença dos resultados nos distintos<br />
cenários, foi observado que o aumento da temperatura<br />
se evidenciou como o principal limitante na redução<br />
da produtividade simulada, pelas suas características<br />
fisiológicas e bem como os fatores anteriormente já<br />
mencionados.<br />
Estudos considerando tais fatores e também os<br />
possíveis mecanismos de adaptação das culturas<br />
às mudanças climáticas estão sendo desenvolvidos<br />
pelo grupo de pesquisa em mudanças climáticas<br />
e seus impactos na agricultura da Universidade<br />
Federal de Viçosa em parceria com outros órgãos de<br />
pesquisa nacionais e internacionais. Os resultados<br />
desses estudos serão divulgados através de artigos<br />
publicados em revistas nacionais/internacionais a<br />
serem submetidos em breve.<br />
61
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
CULTURA DO MILHO<br />
CULTURA DO FEIJÃO<br />
(a)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(d)<br />
(e)<br />
(f)<br />
Figura 3: Estimativa da redução da produtividade no Estado de Minas Gerias, das culturas do milho e do feijão, para os cenários A2, para<br />
os anos: a, b) 2020; c, d) 2050; e, f)2080.<br />
62
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
4. CONCLUSÕES<br />
Em condições ótimas de manejo e nutrientes os<br />
resultados preliminares encontrados no presente<br />
trabalho indicam um efeito positivo do aumento<br />
de CO 2<br />
na produtividade da cultura do feijão em<br />
ambos os cenários A2 e B2. Para a cultura do<br />
milho os cenários A2 e B2 indicam uma redução na<br />
produtividade que pode alcançar até 15% dos valores<br />
atuais. Mais estudos, tanto observacionais como de<br />
modelagem numérica e experimentos de campo,<br />
precisam ser realizados para o pleno entendimento<br />
dos mecanismos envoltos nas respostas das culturas<br />
às mudanças climáticas.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Assad, E. D., Sano, E. E. Sistemas de informações<br />
geográficas: Aplicações na Agricultura. Brasília :<br />
SPI/EMBRAPA, v.1. p.434, 1998.<br />
Betts, R.A., et al. The role of ecosystem–<br />
atmosphere interactions in simulated Amazonian<br />
precipitation decrease and forest dieback under global<br />
climate warming. Theor. Appl. Climatol., 78(1–3),<br />
157–175, 2004.<br />
Boote, K.J.; Jones, J.W. Hoogenboom,G.<br />
Simulation of crop growth: CROPGRO. In: Peart,<br />
RM., CURRY, r.b. (Eds) Agricultural Systems<br />
Modeling and Simulations. Marcel Dekker, New<br />
York, p. 651-692, 1998.<br />
Costa, L. C., Barros, A.H.C. Desenvolvimento e<br />
teste de um modelo de simulação de crescimento,<br />
desenvolvimento e rendimento da cultura do milho.<br />
Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa<br />
Maria, 9(1): 75-82, 2001.<br />
Dhakhwa, G.B., Campbell, C.L., Leduc, S.K.,<br />
Cooter, E.J. Maize growth: assessing the effects<br />
of global warming and CO, fertilization with crop<br />
models. Agricultural and Forest Meteorology 87:<br />
253-272, 1997.<br />
FAO. Special event on impact of climate<br />
change, pests and diseases on food security and<br />
poverty reduction. <strong>31</strong> st Session of the Committee on<br />
World Food Security. Rome, 2005.<br />
Hansen, J.W.; Indeje, M. 2004. Linking dynamic<br />
seasonal climate forecasts with crop simulation<br />
for maize yield prediction in semi-arid Kenya.<br />
Agricultural and Forest Meteorology, 125: 143–<br />
157, 2004.<br />
IPCC. Third Assessment Report (TAR)<br />
Climate Change 2001: The Scientific Basis.<br />
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001.<br />
Jones, J.W.; Kiniry, J.R. Ceres-Maize. A simulation<br />
model of maize growth and development. College<br />
Station: Texas A&M University Press, 1986. 56p.<br />
Long, S.P., Ainsworth, E.A., Leakey, A.D.B.,<br />
Morgan, P.B. Global food insecurity. Treatment of<br />
major food crops with elevated carbon dioxide or<br />
ozone under large-scale fully open air conditions<br />
suggests recent models may have overestimated<br />
future yields. Phil. Trans. R. Soc., B 360: 2011-<br />
2020, 2005.<br />
Parry, M.L., Rosenzweig, C., Iglesias, A.,<br />
Livermore, M. & Fischer, G. Effects of climate<br />
change on global food production under SRES<br />
emissions and socio-economic scenarios. Global<br />
Envirom. Change-Hum. Policy Dimensions, 14:<br />
53-67, 2004.<br />
Pinto, H. S., Assad, E.D., Jurandir, Z. J.<br />
Brunini, O. O aquecimento global e a agricultura.<br />
Revista Eletrônica do Jornalismo Científico.<br />
COMCIENCIA - SBPC, 35:1 - 6, 2002.<br />
63
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Popova, Z., Kercheva, M. Integrated strategies for<br />
maize irrigation and fertilisation under water scarcity<br />
and environmental pressure in Bulgaria. J. Irrigation<br />
and Drainage 53:105–113, 2004.<br />
Semenov, M.A., Porter, J.R. Climatic variabilitiy<br />
and the modeling of crop yields. Agricultural and<br />
forest meteorology. 73:265-283, 1995.<br />
Siqueira, O.J.F. de, Farias, J.R.B. de, Sans, L.M.A.<br />
Efeitos potenciais de mudanças climáticas globais na<br />
agricultura e estudos de adaptação para trigo, milho<br />
e soja. Revista Brasileira de Agrometeorologia,<br />
Santa Maria, 2:115-129, 1994.<br />
Siqueira, O.J.W. de; Salles, L.A. B. de; Fernandes,<br />
J.M. Efeitos potenciais das mudanças climáticas<br />
na agricultura brasileira e estratégias adaptativas<br />
para algumas culturas. In: Lima, M.A. de; Cabral,<br />
O.M.R.; Miguez, J.D.G. (Ed.) Mudanças climáticas<br />
globais e a agropecuária brasileira. Jaguariúna:<br />
Embrapa Meio Ambiente, p.33-63, 2001.<br />
Siqueira, O.J.W. de; Seteinmetz, S.; Ferreira, M.F.,<br />
Costa, A.C. e Wozniak, M.A. Mudanças climáticas<br />
projetadas através dos modelos GISS e reflexos na<br />
produção agrícola brasileira. Revista Brasileira de<br />
Agrometeorologia, 8(2):<strong>31</strong>1-320, 2000.<br />
Slingo, J.M., Challinor, A.J., Hoskins, B.J. and<br />
Wheeler, T.R. Introduction: food crops in a changing<br />
climate. Phil. Trans. R. Soc., B 360, 1983-1989,<br />
2005.<br />
Streck, N.A. Climate change and agroecosystems:<br />
the factor of elevated atmospheric CO 2<br />
and<br />
temperature on crop growth, development, and yield.<br />
Ciência Rural, 35(3):730-740, 2005.<br />
Thornley, J.H.M., Johnson, I.R. Plant and Crop<br />
Modelling. A Mathematical Approach to plant and<br />
crop physiology. Claredon Press, Oxford. 1990. 669<br />
p.<br />
Trnka, M., Dubrovsky, M., Sererádová, S. and<br />
Zalud, Z. Projections of uncertainties in climate<br />
change scenarios into expected winter wheat yields.<br />
Theoretical and Applied Climatology, 77:229-249,<br />
2004.<br />
Vianello, R. L., Alves, A. R. Meteorologia básica<br />
e aplicações. Viçosa, Minas Gerais: Universidade<br />
Federal de Viçosa, 1991, 449 p.<br />
64
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
O AQUECIMENTO GLOBAL E A CAFEICULTURA BRASILEIRA<br />
Hilton S. Pinto¹, Jurandir Zullo Junior¹, Eduardo D. Assad², Balbino A. Evangelista³<br />
¹Cepagri/Unicamp. CNPq; ²Embrapa Informática Agropecuária. CNPq; ³Agroconsult Ltda.<br />
E-mails: hilton@cpa.unicamp.br, jurandir@cpa.unicamp.br, assad@cnptia.embrapa.br,<br />
balbino@agroconsult.agr.br<br />
RESUMO<br />
A cultura do café no Brasil é caracterizada por plantas da espécie arábica (Coffea arabica L.), predominantes nas<br />
áreas com temperaturas médias anuais entre 18°C e 22°C, e por plantas da espécie robusta (Coffea canephora<br />
Pierre), cultivadas nas áreas com temperaturas médias anuais entre 22°C e 26°C. Temperaturas fora desses<br />
limites causam danos ao cultivo do café devido ao abortamento floral por ondas de calor ou por morte de<br />
tecidos devido a geadas. Considerando as perspectivas de aumento das temperaturas globais anunciadas pelo<br />
IPCC, o presente trabalho avalia, com base no comportamento eco-fisiológico das plantas, a adaptabilidade<br />
climática de ambas as espécies de café às novas condições de temperatura que poderão predominar no país, em<br />
especial entre as regiões Sudeste e Sul.<br />
Palavras-chave: Café arábica, café robusta, mudança climática.<br />
ABSTRACT<br />
According to the reports of the Intergovernmental Panel of Climatic Change – IPCC 2001 and <strong>2007</strong> - the<br />
global extreme temperature is supposed to increase to the end of the century from 1.2°C to 6,4°C and the total<br />
rainfall can increase about 15% in the tropical area. Using these parameters numerical models of productivity<br />
based on water balance and on physiological properties of the crops were developed for two species of coffee<br />
- Coffea Arabica L. and Coffea robusta Pierre. Therefore scenarios of the Brazilian coffee cultivation were<br />
established as simulated by three different levels of temperature (+1,0°C, +3,0°C and +5,8°C) and an increase<br />
of 15% of rainfall. The results showed a migration of coffee arabica from Southeast to South of the country<br />
and a possibility of robusta coffee cultivation in the Southeast.<br />
Keywords: Arabica coffee, robusta coffee, climate change.<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
O relatório do Intergovernmental Panel on<br />
Climate Change (IPCC, <strong>2007</strong>) confirmou e<br />
atualizou os resultados anteriores (IPCC 2001a,<br />
b), indicando uma situação inquietante quanto ao<br />
aumento da temperatura no planeta e seus efeitos na<br />
produção agrícola. Considerando as causas naturais<br />
e antropogênicas, a previsão é que a temperatura<br />
global deverá aumentar, até o final do século vinte<br />
e um, entre 1,4°C e 5,8°C, tendo a média de 1961-<br />
1990 como referência, com valores extremos da<br />
ordem de 1,2°C e 6,4°C, dependendo da localização<br />
do país considerado. Esses cenários complementam<br />
os estudos feitos anteriormente pelo próprio IPCC<br />
(IPCC, 1997) que estimou um incremento na<br />
temperatura de 0,05°C por década e observou um<br />
aumento de chuvas entre 0,5 a 1,0% por década,<br />
até o final do século vinte, no Hemisfério Norte. No<br />
setor da região tropical compreendida entre 10 o N e<br />
65
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
10 o S, o incremento na precipitação detectado nos<br />
estudos do IPCC (IPCC, 1997) foi de 0,2 a 0,3%.<br />
Independentemente das críticas e sugestões aos<br />
relatórios do IPCC (Gray, 1997; Reilly et al., 2001;<br />
Webster et al., 2001; Wingley e Raper, 2001),<br />
qualquer aumento das temperaturas, nas diferentes<br />
regiões do globo terrestre, levará a alterações do<br />
comportamento agrícola, provocando uma mudança<br />
das fronteiras de exploração econômica ou de<br />
subsistência. O objetivo deste artigo é avaliar, com<br />
base no comportamento eco-fisiológico das plantas<br />
de café, a aptidão das espécies arábica e robusta às<br />
novas condições climáticas que poderão predominar<br />
nas regiões Sudeste e Sul do Brasil.<br />
2. CLIMA E COMPORTAMENTO VEGETAL<br />
No Brasil, até o ano 2001, foram poucos os<br />
estudos desenvolvidos sobre o efeito das mudanças<br />
climáticas e seus impactos na agricultura. Assad e<br />
Luchiari Jr. (1989) avaliaram as possíveis alterações<br />
de produtividade para as culturas de soja e milho<br />
em função de cenários de aumento e redução das<br />
temperaturas. Siqueira et al. (1994) apresentaram,<br />
para algumas regiões do Brasil, os efeitos das<br />
mudanças globais na produção de trigo, milho e<br />
soja. Uma primeira tentativa de identificar o impacto<br />
das mudanças do clima na produção regional foi<br />
feita por Pinto et al. (1989 e 2001), que simularam<br />
os efeitos da elevação da temperatura do ar e da<br />
chuva no zoneamento do café para os Estados de<br />
São Paulo e Goiás. Novos trabalhos elaborados nos<br />
últimos cinco anos, no entanto, analisaram com<br />
detalhe o comportamento da agricultura nos cenários<br />
prognosticados pelo IPCC. Desses, podem ser<br />
citados os trabalhos desenvolvidos por Assad et al.<br />
(2004), Pinto et al. (2005) e Zullo et al. (2006), que<br />
tratam da alteração dos cultivos no Brasil em função<br />
dos cenários de aumento das temperaturas em 1,4°C,<br />
3,0°C e 5,8°C.<br />
O principal aspecto que condiciona a adaptabilidade<br />
biológica das culturas ao clima refere-se ao efeito<br />
direto nas plantas, do aumento da temperatura e<br />
da concentração de dióxido de carbono (CO 2<br />
) na<br />
atmosfera, que alteram, de forma significativa, o<br />
66<br />
comportamento dos estômatos e, conseqüentemente,<br />
da fotossíntese. A concentração do CO 2<br />
, sendo<br />
próxima de 300ppm, está bem abaixo da saturação<br />
para a maioria da plantas. Níveis excessivos, próximos<br />
de 1.000ppm passam a causar fitotoxidade. Nesse<br />
intervalo, de modo geral, o aumento do CO 2<br />
promove<br />
maior produtividade biológica nas plantas, conforme<br />
demonstraram Assad e Luchiari (1989). Da mesma<br />
forma, o aumento da temperatura do ar condiciona um<br />
comportamento biológico cada vez menos eficiente à<br />
medida que as temperaturas se aproximam de 34°C,<br />
principalmente durante a fase de florescimento, como<br />
no caso da planta de café arábica (Figura 1), que<br />
causa o abortamento das flores, transformando-as no<br />
que são comumente chamadas de “estrelinhas” (Iaffe<br />
et al., 2003 a).<br />
Figura 1: a) Botões florais normais; b) Botões abortados ou<br />
“estrelinhas”, devido à ocorrência de temperaturas elevadas<br />
observadas.<br />
Fonte: Iaffe et al. (2003 a).<br />
(a)<br />
(b)
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Temperaturas próximas a 40°C nas folhas tendem<br />
a causar uma diminuição gradual da fotossíntese nas<br />
plantas do tipo C 3<br />
, conforme mostrado na Figura 2.<br />
A denominação C3 advém do fato da maioria das<br />
plantas verdes formarem como primeiro produto<br />
estável da cadeia bioquímica da fotossíntese o ácido<br />
3-fosfoglicérico (3-PGA), uma molécula com três<br />
carbonos. As plantas C4 são assim chamadas por<br />
formarem como primeiro produto da fotossíntese<br />
o ácido oxalacético (4C), o qual é rapidamente<br />
reduzido a ácido málico e ácido aspártico, ambos<br />
com 4C, porém mais estáveis. Estruturalmente, outra<br />
diferença entre as plantas C3 e C4 é a presença, nestas<br />
últimas, de uma camada proeminente de células<br />
clorofiladas envolvendo os feixes condutores da<br />
folha (“Anatomia Kranz” ou “Síndrome de Kranz”)<br />
(HERBÁRIO, <strong>2007</strong>).<br />
e Abastecimento (MAPA), com base no Zoneamento<br />
de Riscos Climáticos. Os cálculos das deficiências<br />
hídricas mensais e anual foram feitos pelo método de<br />
Thornthwaite e Mather (1955), para armazenamento<br />
de água no solo igual a 125mm.<br />
Tabela 1: Valores limites da deficiência hídrica e da temperatura<br />
determinantes da aptidão climática dos cafés arábica e robusta no Brasil.<br />
Espécie<br />
DHA<br />
(mm)<br />
DHSet<br />
(mm)<br />
DH<br />
Out-Mar<br />
(mm)<br />
TMAno<br />
(°C)<br />
TMNov<br />
(°C)<br />
Arábica 18
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
aumento nesse período, coincidente com a curva<br />
da precipitação pluviométrica de Campinas, o que<br />
permitiu inferir que o comportamento hidrológico<br />
da região de Campinas poderia ser representativo do<br />
Estado.<br />
ocorrência de pelo menos dois dias com temperaturas<br />
máximas iguais ou superiores a 34°C. Campinas, por<br />
exemplo, tem cerca de 3% de probabilidade para esse<br />
tipo de ocorrência.<br />
A Figura 3, elaborada com dados termométricos<br />
observados entre 1890 e 2006 no Centro Experimental<br />
do Instituto Agronômico de Campinas (IAC),<br />
exemplifica um acréscimo significativo de cerca<br />
de 0,0225ºC/ano na temperatura média mínima<br />
anual, ou seja, um aumento de 2,6ºC nos últimos<br />
116 anos. Outras análises efetuadas com séries<br />
climáticas de localidades no Sudeste e Sul do país<br />
mostraram tendências semelhantes para aumento das<br />
temperaturas da ordem de 0,02/ano em Sete Lagoas<br />
(MG) ou 0,008C/ano em Pelotas (RS). Em todos os<br />
casos citados, as maiores tendências de crescimento<br />
foram observadas nas temperaturas mínimas.<br />
Figura 3: Variação das temperaturas mínimas médias anuais entre 1890 e<br />
2006 na região de Campinas, SP. Dados do IAC/SAA.<br />
Considerando que a cultura do café é extremamente<br />
sensível a temperaturas elevadas na época do<br />
florescimento, o que acarreta o abortamento floral<br />
com conseqüente queda da produção, pode-se ter uma<br />
avaliação do comportamento regional da cultura em<br />
função principalmente das chamadas ondas de calor.<br />
Iaffe et al. (2003b) analisaram condições contrastantes<br />
de incidências de dias seqüenciais com temperaturas<br />
acima de 34°C e mostraram que a região noroeste de<br />
São Paulo tem uma probabilidade próxima a 25% de<br />
68<br />
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
Trabalhos desenvolvidos por Assad et al. (2004),<br />
Pinto et al. (2005) e Zullo et al. (2006) mostram que<br />
o Brasil poderá perder cerca de 23% de sua área<br />
potencialmente apta ao cultivo do café arábica devido<br />
ao aumento de apenas 1,0°C na temperatura. A perda<br />
será de 58% caso a temperatura global aumente 3,0°C<br />
e o país perderá, aproximadamente, 92% da produção<br />
potencial de café arábica caso o prognóstico do<br />
IPCC de aumento de 5,8°C seja confirmado para o<br />
final do século. Observa-se, nos resultados obtidos<br />
por esses autores, que as áreas de inaptidão para a<br />
cultura cafeeira em função das temperaturas<br />
máximas suportadas pelas plantas – 23ºC de<br />
média anual - aumentam significativamente<br />
até o final do século, deslocando a cultura<br />
progressivamente para o Sul do país e para<br />
áreas mais elevadas no Sudeste, em busca<br />
de clima mais ameno, assumindo a hipótese<br />
de redução da incidência de geadas com a<br />
elevação da temperatura global. No entanto,<br />
simulações preliminares para os cenários<br />
futuros de aumento das temperaturas no Sul<br />
do país mostram que essa alteração climática<br />
poderá beneficiar o cultivo do café arábica em<br />
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul onde<br />
serão encontrados padrões de temperatura<br />
e chuva compatíveis com a biologia do<br />
cafeeiro.<br />
Por outro lado, os Estados de São Paulo e Minas<br />
Gerais, embora perdendo grande parte da área com<br />
potencial ao cultivo do café arábica, deverão sofrer<br />
modificações que beneficiarão o cultivo do café<br />
robusta, menos susceptível às altas temperaturas,<br />
conforme mostra a Tabela 2. Com exceção das<br />
condições atuais, as chuvas foram consideradas com<br />
15% de aumento. Os cenários futuros são mostrados<br />
nas Figuras 4 e 5.
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
(a)<br />
(a)<br />
(b)<br />
(b)<br />
(c)<br />
(c)<br />
(d)<br />
(d)<br />
Figura 4: Mapas representativos das áreas com potencial ao cultivo<br />
do café robusta no Estado de São Paulo na condição climática atual<br />
(a) e cenários correspondentes a aumentos de 15% na chuva e<br />
1,0°C (b), 3,0°C (c) e 5,8°C (d) na temperatura.<br />
Figura 5: Mapas representativos das áreas com potencial ao cultivo<br />
do café robusta no Estado de Minas Gerais na condição climática<br />
atual (a) e cenários correspondentes a aumentos de 15% na chuva<br />
e 1,0°C (b), 3,0°C (c) e 5,8°C (d) na temperatura.<br />
69
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Tabela 2: Porcentagem de áreas climaticamente aptas ao plantio<br />
de café robusta nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, nas<br />
condições de temperatura atual e simulada para aumentos de<br />
temperatura de 1ºC, 3ºC e 5,8ºC e 15% na chuva.<br />
Estado<br />
Área Potencial<br />
Atual +1,0°C +3,0°C +5,8°C<br />
SP <strong>31</strong>,1% 38,8% 29,6% 6,2%<br />
MG 12,2% 20,5% 28,1% 0,0%<br />
Segundo os dados do IBGE, disponíveis em<br />
http://www.ibge.gov.br, tem-se que, entre 1990<br />
e 2005, o Estado de São Paulo perdeu cerca de<br />
61% das áreas com cultivo de café arábica. Uma<br />
avaliação mais detalhada desses dados mostra que as<br />
regiões com temperaturas mais elevadas, próximas<br />
ao limite de maior susceptibilidade do cafeeiro,<br />
perderam mais áreas com cultivo do que outras<br />
regiões onde as temperaturas são normalmente<br />
mais baixas, sugerindo que um ligeiro aumento das<br />
temperaturas observado nesses anos pode ter sido<br />
suficiente para afetar negativamente a produtividade,<br />
levando os cafeicultores a mudarem de cultura.<br />
Coincidentemente, nesse mesmo período, a área<br />
com cultivo de seringueira no Estado, uma planta<br />
resistente ao calor, cresceu cerca de 10 vezes, de 3.700<br />
ha para 37.000 ha, estabelecendo-se, principalmente,<br />
nas áreas anteriormente ocupadas pela cafeicultura.<br />
Por outro lado, o estado de Minas Gerais possuía, em<br />
1990, uma área plantada com café arábica da ordem<br />
de 984 mil hectares e passou para 1,04 milhões<br />
em 2005. Nesse caso, o Triângulo Mineiro, região<br />
limítrofe de temperatura potencial para o cafeeiro,<br />
passou de 156 mil hectares para 146 mil hectares,<br />
enquanto que o Sul e o Sudeste do Estado, com áreas<br />
mais frias, passou de 413 mil hectares para 443 mil<br />
hectares. Não há uma indicação efetiva de que a<br />
causa dessas migrações da cultura tenha sido uma<br />
ligeira alteração climática, mas pode ter havido uma<br />
opção dos agricultores por uma cultura mais rentável<br />
devido à diminuição de produtividade do café.<br />
6. CONCLUSÕES<br />
Resultados obtidos anteriormente por Assad et<br />
al. (2004), Pinto et al. (2005) e Zullo et al. (2006)<br />
mostraram uma clara tendência de diminuição<br />
das áreas aptas para o cultivo do café arábica no<br />
Sudeste do país, considerando os cenários futuros<br />
apresentados pelo IPCC e que o acréscimo das<br />
temperaturas seja homogêneo nessas áreas. O<br />
presente trabalho demonstra que a perda de áreas<br />
aptas para o café arábica no Sudeste do país poderá<br />
ser compensada pelo aparecimento de áreas com<br />
aptidão ao desenvolvimento do café robusta, hoje<br />
encontrado nas áreas baixas do Espírito Santo.<br />
Além disso, avaliações preliminares indicam que,<br />
considerando os padrões utilizados no Zoneamento<br />
de Riscos Climáticos do Brasil, o café arábica poderá<br />
encontrar condições de potencial climático para seu<br />
desenvolvimento econômico nos estados de Santa<br />
Catarina e Rio Grande do Sul.<br />
Considerando o cenário de aumento das<br />
temperaturas, pode-se admitir que, nas regiões<br />
climaticamente limítrofes àquelas de delimitação de<br />
cultivo adequado das plantas agrícolas, a anomalia<br />
positiva de temperatura que venha a ocorrer será<br />
desfavorável ao desenvolvimento vegetal. Quanto<br />
maior a anomalia, menos apta se tornará a região,<br />
até o limite máximo de tolerância biológica ao calor.<br />
Por outro lado, culturas mais resistentes a altas<br />
temperaturas, provavelmente, serão beneficiadas,<br />
até o seu limite próprio de tolerância ao estresse<br />
térmico. No caso de baixas temperaturas, regiões que<br />
atualmente sejam limitantes ao desenvolvimento de<br />
culturas susceptíveis a geadas, com o aumento do<br />
nível térmico devido ao aquecimento global, passarão<br />
a exibir condições favoráveis ao desenvolvimento da<br />
planta. Um caso típico seria o da cultura cafeeira que<br />
poderá ser deslocada futuramente do Sudeste para o<br />
Sul do país.<br />
70
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Assad, E.D.; Luchiari Jr, A. A future scenario and<br />
agricultural strategies against climatic changes: the<br />
case of tropical savannas. In: Mudanças Climáticas e<br />
Estratégias Futuras. USP. São Paulo, out. 1989.<br />
Assad, E. D.; Pinto, H. S.; Zullo Jr, J.; Ávila,<br />
A. M. H. de. Impacto das Mudanças Climáticas<br />
no Zoneamento Agroclimático do Café no Brasil.<br />
Pesquisa Agropecuária Brasileira. Brasília,<br />
39(11):1057-1064, 2004.<br />
Gray, V. Climate Change 95: An Appraisal. The<br />
Heartland Institute, September 10, p: 7-10, 1997.<br />
HERBÁRIO. A Fixação do Carbono: a Fase<br />
Escura. [online] Disponível na Internet via WWW.<br />
URL: http://www.herbario.com.br/cie/universi/<br />
teoriacont/1003fot04.htm. Acessado em 26 de junho<br />
de <strong>2007</strong>.<br />
Iaffe, A.; Pinto, H. S.; Mazzafera, P.; Zullo Jr, J.;<br />
Assad, E. D. Avaliação da Ocorrência de Florescimento<br />
Anormal e Formação de Flores Estrelas Associadas<br />
à Deficiência Hídrica e Recuperação do Potencial<br />
Hídrico Foliar em Cafeeiros em Garça, SP. Brazilian<br />
Journal of Plant Physiology, 15 (Suplemento),<br />
p. 325, 2003a.<br />
Iaffe, A.; Pinto, H. S.; Zullo Jr, J.; Assad, E. D. e<br />
Mazzafera, P. Temperaturas Elevadas no Florescimento<br />
de Cafeeiros III. Primeira e última data de ocorrência<br />
de períodos com 4 dias seguidos com temperaturas<br />
máximas superiores a 34°C. In: XIII Congresso<br />
Brasileiro de Agrometeorologia, Santa Maria, RS.<br />
Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, Anais, v.<br />
1, p. 491-492, 2003b.<br />
IPCC An introduction to simple climate models<br />
used in the IPCC second assessment report. ISBN<br />
92-9169-101-1. 47 pg. OMM/WMO – PNUE/UNEP,<br />
February, 1997, 47p .<br />
IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change.<br />
Working Group I. Third Assessment Report.<br />
Summary for Policymakers. WMO. 17 p. http://<br />
www.meto.gov.uk/sec5/CR_div/ipcc/wg1/WG1-<br />
SPM.pdf, 2001a.<br />
IPCC. Intergovernmental Panel on Climate<br />
Change. Climate Change 2001: Impacts,<br />
Adaptation and Vulnerability. Working Group<br />
II. TAR: Summary for Policymakers. http://www.<br />
meto.gov.uk/sec5/CR_div/ipcc/wg1/WG1-SPM.pdf,<br />
2001b.<br />
IPCC. Intergovernmental Panel on Climate<br />
Change. Climate Change <strong>2007</strong>: The Physical<br />
Science Basis. Summary for Policymakers.<br />
Contribution of the Working Group I to the<br />
Fourth Assessment Report. World Meteorological<br />
Organization. Geneva. 21 p. <strong>2007</strong>.<br />
Pinto, H. S.; Zullo JR., J.; Zullo, S. A. Oscilações<br />
Pluviométricas Temporais no E.S.Paulo. VI Congresso<br />
Brasileiro de Agrometeorologia. Maceió, AL. Anais.<br />
Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, p. 29-33.<br />
1989.<br />
Pinto, H. S.; Assad, E. D.; Zullo Jr., J.; Brunini,<br />
O., Evangelista, B.A. Impacto do Aumento da<br />
Temperatura no Zoneamento Climático do Café<br />
nos Estados de São Paulo e Goiás. Avaliação dos<br />
cenários do IPCC. XII Congresso Brasileiro de<br />
Agrometeorologia, Fortaleza, Anais. p. 605-606.<br />
2001.<br />
Pinto, H. S.; Zullo Jr., J.; Assad, E. D.; Ávila,<br />
A. M. H. de. Global Warming and Future Brazilian<br />
Agriculture Scenarios. 17th International Congress<br />
of Biometeorology. Analen der Meteorologie. v. 1,<br />
41. p. 223-226. Deutscher Wetterdienst. Munich. Dl,<br />
2005.<br />
Reilly, J.; Stone, P. H.; Forest, C. E.; Webster,<br />
M. D.; Jacoby, H. D.; Prinn, R. G. Uncertainty and<br />
Climate Change Assessments. Science Magazine.<br />
Joint Program on the Science and Policy of<br />
Global Change. MIT. Vol: 293 (5529), p. 430-433.<br />
Cambridge, MA, USA, 2001.<br />
71
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Siqueira, O. J. F.; Farias, J. R. B.; Sans, L. M.<br />
A. Potential effects of global climate change for<br />
brazilian agriculture and adaptative strategies for<br />
wheat, maize and soybean. Revista Brasileira de<br />
Agrometeorologia, 2:115-129, 1994.<br />
Webster, M. D.; Forest,C. E.; Reilly, J. M.;<br />
Sokolov, A. P.; Stone, P. H.; Jacoby, H. D.; Prinn, R.<br />
G. Uncertainty Analysis of Global Climate Change<br />
Projections. Joint Program on the Science and<br />
Policy of Global Change. MIT. Cambridge, MA,<br />
USA. http://web.mit.edu/globalchange/www/rtp73.<br />
html. 3 p. 2001.<br />
Wigley, T. M. L.; Raper, S. C. B. Interpretation of<br />
High Projections for Global-Mean Warming. Science<br />
Magazine. 10.1126/science.1061604. http://www.<br />
sciencemag.org/cgi/content/full/293/5529/451. 10 p.<br />
2001.<br />
Zullo Jr. J.; Pinto, H. S.; Assad, E. D. Impact<br />
Assessment Study of Climate Change According to<br />
IPCC Prognostics on Brazilian Agricultural Zoning.<br />
Meteorological Applications, 1:69-80, 2006.<br />
72
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
O PLANETA TERRA: AQUECIMENTO GLOBAL<br />
E MUDANÇAS CLIMÁTICAS<br />
Teresinha de Maria Bezerra Sampaio Xavier<br />
Diretora Científica da Academia Cearense de Ciências (ACECI)/<br />
Profa. da Universidade Federal do Ceará/Engenharia Hidráulica e Ambiental<br />
Airton Fontenele Sampaio Xavier<br />
ACECI, Prof. do Mestrado em Computação Profissionalizante - UECE/CEFET-CE<br />
(sem vínculo empregatício)<br />
Rua Oswaldo Cruz 176 Ap. 400, Fortaleza-CE - CEP 60.125-150<br />
E-mails: txavier@secrel.com.br, axavier@secrel.com.br<br />
Há cerca de um século, ou mais, vem ocorrendo<br />
aumento gradativo das temperaturas no planeta<br />
Terra, nitidamente a partir do início do século XX,<br />
porém de forma mais exacerbada no decorrer dos<br />
últimos trinta anos. Este aumento, detectável quanto<br />
às temperaturas do ar nos dois hemisférios, embora<br />
com predominância do Hemisfério Norte (HN), como<br />
ainda em função de aumento nítido e progressivo<br />
das temperaturas das águas oceânicas, tudo isto<br />
envolvendo em seu conjunto o fenômeno designado<br />
como aquecimento global.<br />
Conforme foi confirmado no último relatório do<br />
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas -<br />
IPCC/UNEP/WMO (<strong>2007</strong>), recentemente aprovado,<br />
este aumento de temperaturas pode atribuir-se,<br />
primordialmente, ao “efeito estufa” devido ao<br />
acúmulo de gases poluentes, na atmosfera, como<br />
ozônio (O 3<br />
), dióxido de carbono (CO 2<br />
ou gás<br />
carbônico excessivo), monóxido de carbono (CO),<br />
metano (CH 4<br />
), óxido nitroso (N 2<br />
O), e outros. Com<br />
efeito, estes gases, cujos teores na atmosfera tendem<br />
a crescer, vão constituir camada progressivamente<br />
“impermeável” à radiação que, de ordinário, seria<br />
devolvida ao espaço exterior sob a forma de radiação<br />
infra-vermelha. Daí, resultando o “aprisionamento”<br />
de calor e, em conseqüência, o aludido aumento das<br />
temperaturas no planeta.<br />
À parte desses gases responsáveis pelo efeito<br />
estufa, deve-se ainda levar em conta o acúmulo de<br />
poeira e aerossóis na atmosfera. Quanto à poeira, cabe<br />
considerar a que é mobilizada pelo vento e originada<br />
de regiões desérticas e outras áreas degradadas.<br />
Principalmente, na Ásia e África, afetando centros<br />
urbanos populosos, como na China. Em menor escala,<br />
o problema detecta-se nas demais áreas continentais.<br />
A queima de combustíveis fósseis e as queimadas<br />
também contribuem para o aumento da concentração<br />
de aerossóis na atmosfera devido à condensação de<br />
compostos orgânicos voláteis emitidos no processo<br />
de combustão. Esses aerossóis em geral exercem<br />
um papel de resfriamento na atmosfera pois tendem<br />
a refletir mais energia solar de volta para o espaço<br />
que absorvê-la. Entretanto, alguns aerossóis de<br />
queimadas podem conduzir ao aquecimento pelo seu<br />
aspecto escuro que favorece a absorção.<br />
Outro mecanismo, somado ao primeiro (gases e<br />
aerossóis na atmosfera), refere-se à “ilha de calor”<br />
em áreas urbanas. Ora, a “junção” destas “ilhas” de<br />
temperaturas mais elevadas também contribuiria para<br />
o aumento progressivo das temperaturas na superfície<br />
da Terra. Trata-se de mecanismo que tem sido pouco<br />
explicitado, decerto pela circunstância de referir-se a<br />
uma origem local. Por outro lado, como ao nível das<br />
cidades são igualmente produzidos gases e aerossóis<br />
poluentes, em última análise os habitantes dos centros<br />
73
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
urbanos acabam partícipes, para não dizer grandes<br />
responsáveis pelo aquecimento global.<br />
Enfim o desmatamento, seguido da substituição por<br />
vegetação rasteira e de pequeno porte também pode<br />
levar a um aquecimento localizado. A construção de<br />
grandes reservatórios de água, por outro lado, pode<br />
levar a resfriamento, também localizado.<br />
Lembremos que por ilha de calor entende-se<br />
a cúpula de ar aquecido sobre as cidades, mesmo<br />
as de menor talhe, em função do calor advindo da<br />
pavimentação (asfáltica, pedras, concreto, etc) e ainda<br />
das edificações ali existentes. O aquecimento em<br />
centros urbanos também provém de fontes de calor<br />
móveis, como os próprios veículos, e estacionárias,<br />
como no caso de aparelhos de ar condicionado e outras<br />
fontes de energia, principalmente industriais. Por<br />
outro lado, em urbes litorâneas, como Fortaleza, no<br />
Ceará, e outras cidades à beira-mar, a ilha de calor (e<br />
o desconforto térmico resultante) pode intensificar-se<br />
pela verticalização urbana, máxime na orla marítima,<br />
decorrência da especulação imobiliária que conduz<br />
à construção de edifícios elevados e territorialmente<br />
adensados, ou seja, falésias artificiais servindo<br />
de barreira à penetração da brisa. Obviamente, a<br />
rarefação da cobertura vegetal nas áreas urbanas<br />
constitui outro fator concorrente.<br />
Neste artigo, tratamos de apenas algumas questões<br />
ligadas ao aquecimento global e mudanças climáticas<br />
daí resultantes, com ênfase no aquecimento do<br />
Oceano Atlântico intertropical, capaz de afetar mais<br />
diretamente o clima brasileiro e, em especial, conduzir<br />
a impactos no Nordeste semi-árido; neste tocante,<br />
com referência a trabalhos prévios dos autores e<br />
colaboradores. Por motivo da pouca disponibilidade<br />
de espaço, omite-se a questão do papel das mudanças<br />
climáticas locais já mencionadas, características<br />
do meio urbano, remetendo-se a Xavier (2001),<br />
no Cap. 12. Por outro lado, discute-se brevemente<br />
sobre prognósticos e/ou previsões, bem como, sobre<br />
conseqüências do aquecimento global, entre as quais<br />
a possibilidade de expansão das áreas endêmicas das<br />
doenças tropicais.<br />
1. PAPÉIS DOS DOIS HEMISFÉRIOS PARA O<br />
AQUECIMENTO GLOBAL<br />
O aquecimento devido ao “efeito estufa” e aquele<br />
originado pelo somatório das ilhas de calor é sentido<br />
de maneira nítida no HN. Com efeito, este hemisfério é<br />
bem mais continental do que o Hemisfério Sul (HS). Por<br />
outro lado, a contribuição para a poluição atmosférica<br />
é muito mais importante nos países industriais daquele<br />
hemisfério, em vista dos altos níveis da poluição<br />
originada das fábricas e outras plantas industriais e,<br />
também, a partir da circulação automotora, etc. Em<br />
última análise, processos que se ligam à queima de<br />
combustíveis fósseis, como o carvão, o gás natural e o<br />
petróleo. Além disso, o somatório das ilhas de calor seria<br />
ainda maior, no referido hemisfério. Note-se que uma<br />
constatação do maior adensamento de centros urbanos,<br />
ao norte, pode ainda ser obtida da simples inspeção<br />
de imagens de satélite, trazendo uma distribuição dos<br />
pontos brilhantes correspondentes a sua iluminação<br />
artificial, noturna.<br />
Numa imagem recente divulgada pela NASA, fica<br />
demonstrado que o aquecimento resulta realmente<br />
bem maior, no Hemisfério Norte. Veja-se, a respeito, a<br />
Figura 1. Com efeito, na maior parte do HN, em 2006, as<br />
anomalias (diferenças acima da média), na Figura 1, vão<br />
de 1 0 C até 4 0 C, aproximadamente. No HS, em geral, de<br />
0,2 0 C a 1 0 C. Portanto, ao sul, detectam-se anomalias<br />
quatro a cinco vezes menores, em termos aproximados,<br />
comparando àquelas observadas ao norte do equador.<br />
A partir da Figura 1, observa-se um aquecimento no<br />
extremo norte (e Ártico) mais intenso e generalizado<br />
que no extremo sul (e Antártida). Tais resultados são<br />
significativos, pois não constituem meras simulações,<br />
mas observações reais a partir de imagens de satélites,<br />
a menos de mínimas distorções comuns em medidas<br />
indiretas.<br />
74
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
2. AUMENTOS DRAMÁTICOS DA TEMPERATURA<br />
NO ATLÂNTICO<br />
Figura 1: Anomalias das temperaturas em 2006.<br />
Fonte: NASA/Earth Observatory.<br />
Estas constatações tornam-se importantes<br />
porque constituem indício claro de que a maior<br />
responsabilidade caberia ao HN, quando são<br />
comparadas suas anomalias para as temperaturas,<br />
em 2006, àquelas do HS. Não obstante, cabe lembrar<br />
que as pessoas habitando ao sul da linha equatorial<br />
são igualmente responsáveis pelo que venha a<br />
ocorrer no futuro, em termos de mudanças climáticas<br />
indesejáveis e limitantes à vida e/ou à sobrevivência<br />
humana, pois os mesmos mecanismos “predatórios”<br />
são também por elas exercidos, embora em menor<br />
escala, à parte de parâmetros já expressivos no<br />
tocante a uma agressão à cobertura vegetal (bosques<br />
e florestas), inclusive para fins agrícolas e pastoreio.<br />
Outros argumentos e/ou contra-argumentos<br />
sobre estas mesmas questões são aqui omitidas. Em<br />
particular, quando se leva em conta outros fatores,<br />
como: (i) a eficiência do processo de mistura do CO 2<br />
atmosférico dos dois hemisférios, de que resultam<br />
pequenas diferenças nos respectivos teores deste gás;<br />
(ii) o papel do albedo do gelo, no Ártico; e (iii) idem,<br />
da circulação oceânica vertical. Todos esses fatores,<br />
de certa forma, intervindo na assimetria entre os dois<br />
hemisférios.<br />
Mudanças climáticas no Atlântico intertropical<br />
norte e sul foram detectadas por Xavier, Xavier e Alves<br />
(2000), quanto à Temperatura da Superfície do Mar<br />
(TSM) e à Pseudo-Tensão do Vento de Superfície<br />
(PTVS). Foram indicadas influências também nítidas<br />
dos eventos El Niño-Oscilação do Sul (ENOS)/El<br />
Nino-Southern Oscillation (ENSO), em especial<br />
sobre a bacia do Atlântico norte. Por outro lado, o<br />
papel da Oscilação Decadal do Pacífico (ODP)/<br />
Pacific Decadal Oscillation (PDO) para a TSM no<br />
Atlântico intertropical mostra-se pouco significativa;<br />
veja-se Xavier e Xavier (2004). Ademais, sua possível<br />
influência nas chuvas no Nordeste setentrional<br />
(Ceará) inicia-se tardiamente, em março/abril de<br />
cada ano, a par de comportar sinal sempre bem mais<br />
fraco que o exercido pelo ENOS. Posteriormente,<br />
Xavier e Xavier (2005) re-analisaram as alterações<br />
da TSM no Atlântico, por sua vez conduzindo a<br />
outras comunicações, especialmente em Xavier et al.<br />
(2006 a).<br />
A ênfase destes últimos trabalhos foi sobre<br />
alterações da TSM nas adjacências da costa africana:<br />
a) no HN, entre o equador e 20 o N, área que comporta<br />
a MDR (Main Development Region), ainda incluindo<br />
o Golfo da Guiné; b) e no HS, do equador até 10 o S,<br />
principalmente. Com relação às mudanças da TSM<br />
junto à costa da África foram referidos aumentos<br />
“dramáticos” da TSM nas últimas décadas, podendo<br />
inclusive explicar a maior atividade ciclônica no HN,<br />
em função de ondas de leste que se deslocam para o<br />
Caribe. No HS, também ondas de leste são responsáveis<br />
por episódios de chuvas intensas no litoral leste do<br />
Nordeste brasileiro (zona da mata), que em alguns<br />
anos implicam em chuvas intensas de pós-estação no<br />
semi-árido nordestino e, em particular, no Ceará; veja<br />
Xavier (2001), Cap. 11, p. 365-383.<br />
Tem-se na Figura 2 um “box-plot” para a variação<br />
da TSM no Golfo de Guiné, em dezembro, com<br />
respeito a três sub-períodos consecutivos de treze<br />
anos cada, em 1964-2004 (à época eram disponíveis<br />
os dados somente até ao 1º semestre/2004). De fato,<br />
75
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
a análise de variância da TSM no Golfo de Guiné, em<br />
dezembro, alcançou elevada significância estatística,<br />
com erro p=0,0000 apx. Por outro lado, o gráfico<br />
mostra como variaram o quartil inferior, a mediana e<br />
o quartil superior, ao longo do período, permitindo<br />
melhor caracterizar os aumentos consecutivos das<br />
temperaturas. Em geral, ainda no Golfo da Guiné,<br />
ocorreram “aumentos dramáticos” da TSM de<br />
setembro a dezembro (2º semestre), que corresponde<br />
ao auge da estação dos furacões no HN; porém,<br />
também em março (2 0 semestre).<br />
Figura 3: Áreas selecionadas para cálculos de temperatura no<br />
Atlântico intertropical (médias, medianas, etc).<br />
Fonte: Xavier (2001).<br />
Figura 2: “Box-Plot” para o comportamento da TSM no Golfo de<br />
Guiné, em dezembro, para três classes (sub-períodos) de 1964-<br />
2004.<br />
Fonte: Xavier e Xavier (2005).<br />
Lembremos que em cada “caixa” ou “box”<br />
daquela modalidade de gráfico (Figura 2), a “base” e<br />
sua “tampa” representam os quartis inferior e superior,<br />
respectivamente. O segmento “intermédio” dentro de<br />
cada “caixa” representa sua mediana, desenhada em<br />
cinza mais claro. Por outro lado, os prolongamentos<br />
para cima ou para baixo referem-se às variações dos<br />
restantes valores numéricos. Note-se que do primeiro<br />
para o terceiro (e último) sub-período a mediana passou<br />
de um valor algo inferior a 27,6 °C para um valor acima<br />
de 28,4 °C, ou seja, com variação para as medianas<br />
da ordem de 1 0 C. Para as várias áreas no Atlântico<br />
intertropical interessadas na análise de variações da<br />
TSM no Atlântico, veja-se a Figura 3.<br />
Na Figura 4 exibe-se o gráfico de dispersão das<br />
observações (x=ano, y=tsmg12) para as TSM médias<br />
no Golfo da Guiné, para todos os dezembros, desde<br />
1964. Através desta figura percebe-se que na primeira<br />
metade do período as médias da TSM em dezembro<br />
na área G são todas inferiores a 28,4 0 C, ao passo<br />
que na segunda metade, a partir de 1985, de vinte<br />
observações, onze delas (52,4%) ultrapassaram aquele<br />
limiar; mais, desde 1993 dez dentre doze médias de<br />
temperaturas (83,3%) superaram os 28,4 0 C.<br />
Figura 4: Variação da TSM média na área G (Golfo da Guiné) nos<br />
meses de dezembro, desde 1964 até 2004.<br />
Fonte: Xavier e Xavier (2005).<br />
76
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Sobre as tendências de aumento da TSM nas<br />
áreas C1, C2 e B1, são aqui omitidos os resultados,<br />
de certa forma análogos. Note-se que aumentos<br />
da TSM em D1, D2 e A1, na costa das Américas,<br />
possuem caráter menos dramático do que ocorre na<br />
costa africana. Ainda na mesma linha, dois artigos<br />
foram apresentados no XIV Congresso Brasileiro de<br />
Meteorologia, explorando recursos da “Linguagem R”;<br />
ou seja, por Xavier et al. (2006 b). Nestes dois artigos,<br />
os resultados foram bastante significativos, porém<br />
se referem a uma análise exploratória das variações<br />
no Atlântico intertropical ao longo do período 1964-<br />
2005, agora utilizando de quatro e seis sub-períodos,<br />
mediante a aplicação da “linguagem R” (um dialeto da<br />
“linguagem S”).<br />
Os resultados expostos referem-se às variações de<br />
temperaturas médias. Porém, foram também examinadas as<br />
variações para medianas e para quantis extremos, ao longo<br />
destes períodos; além do que se refere a extremos<br />
expressados como valores máximos, resultados esses<br />
aqui omitidos (veja-se a Figura 5, para a área C1).<br />
Figura 5: Variação das médias nos sub-períodos consecutivos<br />
1,2,3,4, para 1964-2005, nos meses junho a dezembro, na Área<br />
C1.<br />
Fonte: Xavier et al. (2006 b).<br />
3. IMPACTOS SOBRE A SAÚDE HUMANA<br />
Espera-se, no tocante a mudanças climáticas<br />
originadas do aquecimento global, uma extensão da<br />
zona de ocorrência das chamadas doenças tropicais,<br />
que em geral ficam hoje adstritas à faixa intertropical,<br />
ou seja, entre o Trópico de Câncer (ao norte da linha<br />
equatorial) e o Trópico do Capricórnio (no HS).<br />
Este último, passando alguns quilômetros ao sul da<br />
cidade de São Paulo. De fato, no caso do dengue,<br />
focos da doença podem também ser detectados em<br />
localidades extratropicais, como tem ocorrido em<br />
Buenos Aires-Argentina. Contudo, é de esperar que<br />
as áreas endêmicas para muitas doenças tropicais,<br />
como o dengue, a malária, a melioidose e outras,<br />
sejam francamente expandidas para fora desta faixa<br />
intertropical. Aliás, no México, casos de malária<br />
foram detectados a altitudes onde antes o vetor<br />
não se encontrava, agora em função de aumentos<br />
progressivos e locais, das temperaturas. Muitas<br />
doenças infecciosas causadas por vírus (como no<br />
dengue) ou por outros patógenos (protozoários<br />
como na malária) exibem um comportamento sazonal<br />
característico em vista de seus vetores, os mosquitos,<br />
serem sensíveis a variações meteorológico-climáticas,<br />
em especial em função da chuva, da umidade e<br />
temperatura do ar; em alguns casos, ao vento. Não<br />
obstante, podendo apresentar variações interanuais<br />
que não se explicam, exclusivamente, pelas últimas<br />
condições citadas.<br />
Na Figura 6 mostra-se de maneira indubitável<br />
como a curva porcentual da chuva costuma preceder<br />
de forma nítida a curva porcentual dos casos humanos<br />
de dengue. Apresenta-se o gráfico para 2002, porém<br />
dispõe-se de todas as curvas a partir de 1998 até<br />
2006, para a Região Metropolitana de Fortaleza-<br />
Ceará. Conforme mostraram Xavier et al. (<strong>2007</strong>).<br />
De fato (esta outra figura está omitida) pode-se ainda<br />
demonstrar que, em geral, as curvas porcentuais<br />
da chuva, dos focos do vetor e dos casos humanos<br />
também costumam preceder uma após a outra, o mais<br />
das vezes exatamente nesta ordem; ou seja: chuva <br />
focos do vetor casos humanos de dengue.<br />
77
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
4. DISCUSSÃO<br />
Evidências a respeito de mudanças climáticas<br />
em curso, em função do aquecimento global, são<br />
fornecidas por várias fontes, no que se refere a<br />
aumentos das temperaturas do ar e dos oceanos, a par<br />
dos aumentos progressivos da emissão e o acúmulo<br />
de gases poluentes na atmosfera, etc. Consulte-se,<br />
a respeito: Oak Ridge (2003), IPCC/UNEP/WMO<br />
(2001), Hadley Center/Met Offi ce (2004). Remete-se,<br />
mais uma vez, a IPCC/UNEP/WMO (<strong>2007</strong>). Outros<br />
materiais de fontes autorizadas e confiáveis podem<br />
ser resgatadas da Internet e de periódicos científicos.<br />
Veja-se, ainda, Xavier (2003).<br />
Sobre mudanças climáticas na perspectiva do<br />
meio urbano, remete-se em particular a: Columbia<br />
Earth Institute (2001). Bem como, para mudanças<br />
climáticas em São Paulo e em Fortaleza-Ceará, a<br />
Xavier et al. (1994), Xavier et al. (1996), Xavier<br />
(2001). A respeito de mudanças climáticas nos<br />
oceanos, especialmente no Atlântico, consultemse<br />
ainda as bibliografias em Xavier et al. (2000),<br />
Xavier et al. (2006), Xavier et al. (2006 b). Trata-se,<br />
aí, também da questão da intensificação dos eventos<br />
ciclônicos e tempestades no Atlântico norte, inclusive<br />
com o aumento do número anual de furações, nas<br />
últimas décadas.<br />
78<br />
1<br />
Figura 6: Chuva (1) e casos de dengue (2) em Fortaleza-CE, em 2002:<br />
curvas acumuladas das respectivas ordens porcentílicas.<br />
Fonte: Xavier et al. (<strong>2007</strong>).<br />
2<br />
Um aspecto a considerar, que tem<br />
freqüentado a mídia, refere-se a algum<br />
exagero no que concerne a perspectivas<br />
sobre o aquecimento global e às<br />
conseqüências que daí podem advir.<br />
Sem dúvida, devido à gravidade da<br />
situação, um pouco de exagero é<br />
preferível à acomodação, ou ainda, à<br />
minimização dos possíveis perigos.<br />
Tal postura pode ser encontrada,<br />
inclusive, em meios científicos sérios.<br />
Contudo, ainda pairam dúvidas em<br />
termos de ampla incerteza, quanto<br />
aos cenários para o futuro. Conforme<br />
especialistas, e esta é também nossa<br />
posição, seria necessário melhor<br />
selecionar os modelos de previsão que<br />
entram no IPCC. Assim, deveriam em<br />
princípio ser excluídos os que fossem incapazes de<br />
reproduzir adequadamente o clima presente, a partir<br />
de cenários passados. Não estando bem claro se<br />
tais ressalvas foram, realmente, levadas em conta.<br />
De fato, a “calibração” cuidadosa de modelos de<br />
previsão evita conclusões precipitadas. A rigor, a<br />
“calibração” de modelos, hidrológicos, demográficos,<br />
epidemiológicos e em sistemas de apoio à decisão,<br />
etc., envolve um princípio universalmente aceito;<br />
donde valeria à pena aplicá-lo, seriamente, no que<br />
concerne ao clima.<br />
Assim, as previsões sobre os aumentos progressivos<br />
de temperatura do ar e oceanos, como sobre alterações<br />
em termos das condições pluviométricas das áreas<br />
tropicais e sua produtividade agrícola, poderão estar<br />
super-dimensionadas, em especial que os modelos<br />
numéricos empregados são apenas indicativos, além<br />
de sujeitos a erros não suficientemente conhecidos.<br />
A par da circunstância de que os prognósticos são<br />
de caráter muito geral em termos geográficos, donde<br />
incapazes de considerar peculiaridades locais. Por<br />
exemplo, sobre a possível diminuição de chuvas e<br />
aumento das temperaturas no Nordeste semi-árido,<br />
cabe lembrar que o aumento das temperaturas<br />
no Atlântico inter-tropical poderá representar a<br />
intensificação de chuvas, pelo menos no litoral da<br />
região. Por outro lado, os aumentos de temperaturas
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
na costa da África, ao sul da linha equatorial, com a<br />
intensificação das ondas de leste, poderá representar<br />
tendência de chuvas intensas na zona da mata e,<br />
nos anos de maior força deste sistema, com chuvas<br />
copiosas no Nordeste setentrional semi-árido, de<br />
“pré-“ e “pós-estação”. Com efeito, torna-se muito<br />
difícil de prever, com exatidão, o que poderá ocorrer<br />
em áreas mais limitadas, até o fim do século XXI, ou<br />
mesmo nos seus meados.<br />
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Columbia Earth Institute Climate Change and<br />
a Global City – The Potential Consequence of<br />
Climate Variability and Change. A Report of the<br />
Columbia Earth Institute/Climate Impact Group,<br />
Columbia Univ. & Metro East Coast Assess, New<br />
York, 2001.<br />
Hadley Centre/Met Office, UK Uncertainty,<br />
Risk and Dangerous Climate Change (recent<br />
research on climate change science from the<br />
Hadley Centre). Dec. 2004, 16 p.<br />
IPCC/UNEP/WMO Climate Change 2001:<br />
Impact, Adaptation and Vulnerability. 3d<br />
Assessment Report of the Intergovernamental Panel<br />
on Climate Change, McCarthy, J.J. et al. (editors),<br />
2001.<br />
IPCC/UNEP/WMO Climate Change <strong>2007</strong>, The<br />
Physical Basis – Summary for Policemakers.<br />
Approved at the 10 th session of Working Group I of<br />
the IPCC, Paris, February <strong>2007</strong>, IPCC-Secretariat c/o<br />
WMO, Geneva, <strong>2007</strong>, 21 p.<br />
IPCC/UNEP/WMO Climate Change <strong>2007</strong>. 4<br />
volumes + 1, <strong>2007</strong>a. Report no prelo.<br />
Oak Ridge Trends Online: A Compendium<br />
of Data on Global Change. Carbon Dioxide<br />
Information Analysis Center/Oak Ridge Nat. Lab.,<br />
U.S. Department of Energy, 2003.<br />
Xavier, T. de Ma. B. S.; Xavier, A.F.S.; Silva-Dias,<br />
Ma. F. Evolução da Precipitação Diária num Ambiente<br />
Urbano: O Caso da Cidade de São Paulo. Revista<br />
Brasileira de Meteorologia, 9:44-53, 1994.<br />
Xavier, T. de Ma. B. S.; Xavier, A.F.S; Silva-Dias,<br />
P.L. Temperature Changes at São Paulo. (Conference<br />
of Environmetrics on Brazil) 7th International<br />
Conference on Quantitative Methods on Environmental<br />
Sciences, Institute of Mathematics and Statistics –<br />
University of São Paulo, São Paulo-Brazil, July 22-26,<br />
p. C6-C7, 1996.<br />
Xavier, T. de Ma. B. S.; Xavier, A.F.S. Alterações<br />
Climáticas Urbanas em Fortaleza-Ceará (1974-95).<br />
Congresso Brasileiro de Meteorologia. Anais. 1996.<br />
Xavier, A.F.S.; Xavier, T.de Ma.B. S.; Alves, B.da<br />
S. Evidências de Variações Climáticas no Atlântico<br />
Intertropical no período 1964-1999, XI Congresso<br />
Brasileiro de Meteorologia, Rio de Janeiro. Anais. CD-<br />
ROM, 2000.<br />
Xavier, T.de Ma.B. S. TEMPO DE CHUVA:<br />
Estudos Climáticos e de Previsão para o Ceará<br />
e Nordeste Setentrional. ABC Editora, Fortaleza-<br />
Ceará, 2001, 478 p.<br />
Xavier, T. de Ma. B.S. O Dia Meteorológico<br />
Mundial 2003 e os Temas: O Nosso Clima Futuro e o<br />
Clima e a Fome. Boletim da Sociedade Brasileira de<br />
Meteorologia, 27(2):39-47, 2003.<br />
Xavier, T. de Ma. B.S.; Xavier, A.F.S. A ODP-<br />
“Oscilação Decadal do Pacífico” (PDO-“Pacific<br />
Decadal Oscillation”) e Eventos no Atlântico Inter-<br />
Tropical e no Nordeste Setentrional do Brasil.<br />
Cadernos Atena, n 0 28, março de 2005, Fortaleza-<br />
Ceará, 2004, 12 p.<br />
79
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Xavier, T. de Ma. B. S.; Xavier, A.F.S. Aumentos<br />
Dramáticos da TSM/SST em Áreas e Sub-Áreas do<br />
Atlântico Inter-tropical Leste: 1950/1964-2005. XII<br />
CBMET. Anais. CDROM, 2005, 8 p.<br />
Xavier, T. de Ma. B. S., Xavier, A.F.S., Silva-Dias,<br />
P.L.; Silva-Dias, Ma. A. F. Aumentos Dramáticos da<br />
TSM na Costa Africana do Atlântico Inter-Tropical<br />
1950/1964-2005 e Implicações sobre Eventos<br />
Climáticos nas Américas, 1ª CONFERÊNCIA<br />
LUSÓFONA SOBRE O SISTEMA TERRA, Lisboa,<br />
22-24 de março de 2006 a. Anais. IGPB-Portugal.<br />
Xavier, A.F.S.; Xavier, T. de Ma. B. S.; Alves, B. da<br />
S. Mudanças Climáticas no Atlântico e sua Análise<br />
Exploratória pela ´Linguagem´ R: 1. TSM nas<br />
Adjacências da Costa Africana 1964-2005; 2. TSM<br />
nas Proximidades das Américas 1964-2005. XIV<br />
Congresso Brasileiro de Meteorologia, Florianópolis.<br />
Anais. nov. 2006, CD-ROM. 2006 b.<br />
Xavier, A,F.S.; Gomes, M.J. Negreiros, Lima,<br />
J.W.de O.; Pontes, R.J.S.; Xavier, T.de Ma.B.S.;<br />
Freire, L.A.de M. Interferência Climatológica<br />
na Ocorrência de Focos e Casos de Dengue<br />
em Fortaleza-Ceará-Nordeste do Brasil, 1.<br />
Pluviometria. Em fase de submissão, <strong>2007</strong>.<br />
6. AGRADECIMENTOS<br />
Os autores agradecem ao Prof. Dr. Pedro Leite da<br />
Silva Dias do DCA/IAG/USP e a Academia Brasileira<br />
de Ciências, pela revisão deste artigo e preciosas<br />
sugestões.<br />
80
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
O PROJETO TroCCiBras:<br />
OBJETIVOS, RESULTADOS DA CAMPANHA 2004 E O FUTURO<br />
Gerhard Held 1 , Roberto Vicente Calheiros 2 , Ana Maria Gomes e TroCCiBras Team<br />
Instituto de Pesquisas Meteorológicas, Caixa Postal 281, Bauru, São Paulo - 17033-360<br />
E-mails: gerhard@ipmet.unesp.br, calheiros@ipmet.unesp.br, ana@ipmet.unesp.br<br />
1<br />
Coordenador Geral; 2 Coordenador Científico<br />
RESUMO<br />
O projeto TroCCiBras (Experimento sobre Cirros e Convecção Tropical no Brasil) foi concebido pelo<br />
IPMet com o propósito de conciliar dois projetos da União Européia, denominados TROCCINOX e<br />
HIBISCUS, com as necessidades dos grupos brasileiros de pesquisas, durante a campanha de campo<br />
conjunta realizada em 2004. Outrossim, o TroCCiBras objetivava regulamentar a troca entre os<br />
pesquisadores participantes de dados atmosféricos inéditos sobre a atmosfera no Brasil. Esses dados estão<br />
contidos em três bases separadas. O propósito deste artigo é o de apresentar alguns dos resultados obtidos,<br />
especialmente os das pesquisas em meteorologia com radar e descargas elétricas, e ao mesmo tempo,<br />
destacar os dados já publicados, sobre a investigação dos mecanismos de transporte entre a alta troposfera<br />
e a baixa estratosfera (UT-LS) e a importância da convecção para o balanço hídrico na baixa estratosfera.<br />
Palavras-chave: Convecção profunda, observações de radar Doppler, medidas na troposfera, Lidar.<br />
ABSTRACT<br />
The project TroCCiBras (Tropical Convection and Cirrus Brasil) was created by IPMet to coordinate the two<br />
European Union projects TROCCINOX and HIBISCUS with the needs of Brazilian research groups during a<br />
joint field campaign in 2004, as well as to regulate the exchange of these unique data on the Brazilian atmosphere,<br />
residing in the three separate Data Bases, between the participating researchers. The purpose of this paper is to<br />
present some selected recent results, especially in the field of radar meteorology and lightning research, while,<br />
at the same time, drawing attention to already published material on topics like transport mechanisms between<br />
the Upper Troposphere and Lower Stratosphere (UT-LS) and the importance of overshooting convection to the<br />
LS water budget.<br />
Key Words: Deep convection, Doppler radar observations, tropospheric measurements, lidar.<br />
81
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
1. INTRODUÇÃO<br />
2. OBJETIVOS<br />
Em fevereiro de 2003 foi realizado um Workshop<br />
Internacional, em Bauru/SP, organizado pelo Instituto<br />
de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Estadual<br />
Paulista (IPMet/UNESP) e os coordenadores dos<br />
projetos europeus TROCCINOX (Experimento sobre<br />
Convecção Tropical, Cirros e Óxidos de Nitrogênio)<br />
e HIBISCUS (Impacto da convecção tropical sobre<br />
a alta troposfera e a baixa estratosfera), que contou<br />
com a participação de cerca de 35 delegados, e nele<br />
fez-se representar a maioria dos grupos de pesquisa<br />
brasileiros especializados em ciências atmosféricas.<br />
Durante esse Workshop foi verificado o interesse de<br />
grupos de pesquisa do país na participação em um<br />
projeto de pesquisa multidisciplinar, que explorasse<br />
os dados de natureza única providos pelas Campanhas<br />
dos Projetos TROCCINOX e HIBISCUS. Propôsse<br />
que todas as organizações e departamentos de<br />
Universidades com trabalhos relevantes nessa área<br />
fossem convidados a submeter uma breve proposta,<br />
indicando atividades pretendidas durante a campanha<br />
conjunta prevista para janeiro e fevereiro de 2004.<br />
A instituição líder, o IPMet/UNESP, coordenaria<br />
essas curtas propostas e subseqüentemente faria um<br />
convite para a submissão de propostas completas. Tais<br />
proposições foram então organizadas na denominada<br />
Proposta do TroCCiBras (Experimento sobre Cirros e<br />
Convecção Tropical no Brasil) para apresentação ao<br />
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico<br />
e Tecnológico (CNPq)<br />
objetivando obter a<br />
respectiva autorização<br />
para a realização<br />
de uma “Expedição<br />
Científica” (Portaria<br />
N 0 625, Presidência<br />
da República, 22 de<br />
dezembro de 2003,<br />
publicado no Diário<br />
Oficial da União N 0 253,<br />
em 30 de dezembro de<br />
2003), que era essencial<br />
para a concessão da<br />
necessária permissão do<br />
Governo Brasileiro para<br />
a operação no espaço<br />
aéreo nacional de<br />
aeronaves laboratório do<br />
projeto TROCCINOX.<br />
82<br />
ÁREAS DO<br />
SUB-PROJETO<br />
Meteorologia, Física<br />
Atmosférica e Previsão<br />
O objetivo geral do Projeto TroCCiBras é obter<br />
um conjunto único de medidas especiais através<br />
de toda a extensão da troposfera, chegando à baixa<br />
estratosfera, para atender necessidades específicas de<br />
pesquisa de instituições brasileiras de investigação,<br />
através da execução do projeto TROCCINOX da<br />
União Européia e do projeto conjunto brasileiroeuropeu<br />
HIBISCUS no Brasil. Os objetivos dos<br />
projetos TROCCINOX e HIBISCUS estão detalhados<br />
em Held et al. (2004 a, b).<br />
Os diferentes sub-projetos de pesquisa, embora<br />
agrupados em três tópicos principais, a saber,<br />
“Meteorologia, Física Atmosférica e Previsão”,<br />
“Química Atmosférica” e “Validação de Sensores<br />
Remotos em Satélites e no Solo” constituem, de fato,<br />
um conjunto compreensivo. A Tabela 1 lista os vários<br />
sub-projetos e instituições responsáveis. A proposta<br />
completa do projeto TroCCiBras, como submetido à<br />
FAPESP em outubro de 2003 e outros documentos<br />
relevantes podem ser obtidos no endereço www.ipmet.<br />
unesp.br/troccibras/. Em que pese o investimento<br />
europeu (cerca de 11,6 milhões de euros) nos projetos<br />
TROCCINOX e HIBISCUS, os quais foram ainda<br />
complementados por contribuições individuais de<br />
Instituições participantes, não se logrou êxito quanto<br />
ao suporte solicitado à FAPESP (um valor de R$<br />
500.000,00) para execução do TroCCiBras.<br />
Tabela 1: Projetos no âmbito do TroCCiBras com os sub-projetos específicos.<br />
TÍTULO DO SUB-PROJETO<br />
Integração das observações de radar, descargas<br />
elétricas, modelos numéricos e Nowcasting<br />
Validação de modelos numéricos com<br />
componente de química da atmosfera<br />
Acoplamento entre camada limite e o início e<br />
intensificação da convecção úmida<br />
Estudos de física de nuvens<br />
Estudos de eletricidade atmosférica e sprites<br />
Poluição do ar, nuvens e interações climáticas<br />
Química Atmosférica<br />
Distribuição vertical de aerosóis e gases traço<br />
entre o solo e a média troposfera<br />
Medidas combinadas de diferentes sensores<br />
Validação de Sensores<br />
Detecção em ar claro e nuvens<br />
Embarcados e Terrestres<br />
Quantificação de precipitação usando canais de<br />
microondas<br />
INSTITUIÇÃO<br />
RESPONSÁVEL<br />
IPMet/UNESP<br />
CPTEC/INPE<br />
CTA e<br />
CPTEC/INPE<br />
UECE<br />
ELAT/INPE<br />
IAG/USP<br />
IF/USP e MPIC<br />
IPMet/UNESP<br />
IPMet/UNESP<br />
IPMet/UNESP<br />
Obs.: Os tópicos em itálico não puderam ser executados devido a uma limitação de fundos.
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
3. RESULTADOS<br />
Todos os dados coletados no contexto do projeto<br />
TroCCiBras (21 de janeiro a 11 de março de 2004)<br />
foram agrupados em um banco de dados (Held et<br />
al., 2004 a), protegido por senha, cujo acesso aos<br />
pesquisadores participantes atende aos requisitos<br />
normalmente adotados para projetos da espécie.<br />
Mais um Workshop Internacional foi realizado<br />
em Bauru/SP, em novembro de 2004, pelo IPMet e a<br />
coordenação dos projetos TROCCINOX e HIBISCUS.<br />
Este Workshop contou com a participação de 35<br />
cientistas principais, sendo 16 da União Européia<br />
(França, Reino Unido, Itália, Alemanha, bem como<br />
da Suiça) e 19 do Brasil. Neste, foram apresentados<br />
40 apresentações no total, com enfoques gerais sobre<br />
os Projetos TroCCiBras, HIBISCUS e TROCCINOX,<br />
estudos básicos relevantes para o Brasil e os primeiros<br />
resultados da Campanha (Held, 2004).<br />
Radares do IPMet<br />
As observações contínuas dos radares do IPMet,<br />
em Bauru e Presidente Prudente (Figura 1) compôs a<br />
espinha dorsal da campanha do TroCCiBras e resultou<br />
numa contribuição importante para os projetos<br />
internacionais, não só para o planejamento das<br />
atividades diárias do projeto, tais como lançamentos<br />
de balões e rotas das aeronaves, mas também para<br />
estudos de casos específicos do TROCCINOX (Fehr<br />
et al., 2004), bem como complemento aos estudos<br />
de lidar, vapor d´agua, medidas com sondas-deretroespalhamento<br />
e estudos de modelagem de<br />
nuvens do HIBISCUS (Donfrancesco et al., 2004;<br />
Pommereau et al., <strong>2007</strong>; Durry et al., 2006; Nielsen<br />
et al., <strong>2007</strong>; Grosvenor et al., 2005, 2006, <strong>2007</strong>).<br />
Climatologia das tempestades durante o período<br />
do TroCCiBras<br />
Uma análise climatológica para as tempestades<br />
ocorridas durante a campanha do TroCCiBras foi<br />
iniciada por Gomes e Held (2004). Este estudo<br />
está sendo expandido, usando o sistema TITAN<br />
(Thunderstorm Identifi cation Tracking Analysis and<br />
Nowcasting) (Dixon and Wiener, 1993), que provê<br />
uma variedade de parâmetros relativos às tempestades<br />
durante um dado período. A Figura 2 mostra a<br />
freqüência de dias em que as tempestades penetraram<br />
através da tropopausa durante o mês de fevereiro para<br />
um período de 7 anos (1996-2002), em cotejo com o<br />
mês de fevereiro de 2004. O número de dias em que os<br />
topos das tempestades atingiram a baixa estratosfera<br />
durante o experimento ficou entre os máximos,<br />
considerando os oito anos de observações, ou seja,<br />
em torno de 58,6% para o mês de fevereiro. Estudos<br />
detalhados enfocando topos dos ecos, variando os<br />
limiares de refletividades (10-40 dBZ) e de volume<br />
(16 e 50 km 3 ) revelaram ocorrências de máximos<br />
secundários para ambos os limiares de 10 e 35 dBZ<br />
e de volume 50 km 3 (Figura 3). Os resultados destas<br />
informações estão sendo utilizados para determinar a<br />
freqüência de penetrações das torres de nuvens e sua<br />
contribuição para o conteúdo de água e gelo na baixa<br />
estratosfera, bem como os mecanismos associados<br />
ao transporte vertical (Pommereau and Held, 2006;<br />
Pommereau e Held, <strong>2007</strong>).<br />
Figura 1: Rede de radares do IPMet (BRU = Bauru; PPR = Presidente<br />
Prudente), mostrando os anéis de 240 km e 450 km, assim como o<br />
Aeroporto de Gavião Peixoto (GPX), onde as aeronaves laboratório<br />
fi caram alocadas.<br />
Figura 2: Freqüência de dias em fevereiro quando uma ou mais torres<br />
de tempestades penetraram através da tropopausa (radar banda-S<br />
do IPMet/UNESP em Bauru, 240 km de raio; sem informação para<br />
estatística em 2003).<br />
83
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
e também para comparação com novos instrumentos<br />
de alta-resolução (Durry et al., 2006). Essas pesquisas<br />
mostram a importância das células convectivas, que<br />
penetram a tropopausa e contribuem para o balanço<br />
hídrico na baixa estratosfera.<br />
Estudos de Física de Nuvens<br />
Figura 3: Freqüência de topos médios e máximos (limiares de 10<br />
dBZ e 35 dBZ, volume 50 km 3 ; Bauru, 240 km de raio).<br />
Validação de Modelos Numéricos com<br />
Componente de Química da Atmosfera<br />
Este sub-projeto, sob a coordenação do CPTEC/<br />
INPE, foi concebido como um projeto de análise<br />
pós-facto do TroCCiBras, mas até o presente ainda<br />
não se materializou, à exceção de alguns estudos<br />
colaborativos com cientistas do HIBISCUS (Huret et<br />
al., 2006).<br />
Acoplamento entre Camada Limite e o Início e<br />
Intensificação da Convecção Úmida<br />
Este sub-projeto foi proposto por pesquisadores<br />
(PIs) do CTA e do CPTEC/INPE. Não foi possível,<br />
à época, dispor-se da instrumentação prevista pelos<br />
pesquisadores proponentes (sodar, sistema de balão<br />
cativo, anemômetro sônico, bem como um sistema<br />
adicional de radiosonda), ficando prejudicada a sua<br />
participação no experimento de campo. No entanto,<br />
durante o período do experimento foram realizadas<br />
um número de até seis radiossondagens por dia, sendo<br />
algumas delas com sensor de ozônio, resultando num<br />
total de 105 perfis coletados. Estes dados estão sendo<br />
exaustivamente utilizados pelos grupos de cientistas<br />
do HIBISCUS e do IPMet/UNESP, para investigar os<br />
mecanismos de transporte entre a troposfera superior<br />
e a estratosfera inferior (UT-LS; Pommereau et al.,<br />
<strong>2007</strong>; Pommereau e Held, <strong>2007</strong>; Nielsen et al., <strong>2007</strong>),<br />
84<br />
Este sub-projeto, empregando uma aeronave<br />
Bandeirante, da UECE, especialmente instrumentada<br />
para pesquisas em física de nuvens, teria sido de<br />
grande valia para a verificação das medidas tridimensionais<br />
de radar (refletividade e escoamento<br />
radial), bem como para estudos de topos de nuvens<br />
versus topo dos ecos de radar. No entanto, face à<br />
indisponibilidade dos respectivos recursos, constantes<br />
da solicitação à FAPESP como anteriormente<br />
mencionado, a participação do avião da UECE não<br />
pôde se concretizar nessa oportunidade.<br />
Estudos de Eletricidade Atmosférica e Sprites<br />
Dados da Rede Brasileira de Detecção de Descargas<br />
Elétricas (RINDAT) foram disponibilizados pelo<br />
ELAT/INPE para todo o período de coleta de dados<br />
do TroCCiBras. Algumas destas observações já<br />
foram utilizadas para estudos de casos específicos<br />
(Fehr et al., 2004). Um estudo climatológico feito<br />
por Naccarato et al. (2004) dentro do raio de alcance<br />
de 450 km do radar de Bauru, o radar indicou que a<br />
atividade elétrica durante o período do TroCCiBras<br />
foi significativamente abaixo da média dos cinco<br />
anos (1999-2003), ou seja, 37%, 58% e 75% menor<br />
que as médias durante os meses de janeiro, fevereiro<br />
e março, respectivamente.<br />
Os estudos sobre Sprite não puderam ser conduzidos<br />
devido à insuficiência de fundos. O Grupo LRGOU<br />
da Universidade de Osaka operou dois sistemas de<br />
banda larga DITF (Digital Interferometer) no período<br />
de 13 de fevereiro a 25 de maio de 2004, sendo um<br />
próximo ao radar de BRU e outro ao longo de uma<br />
linha de base de 28,6 km a sudeste do radar, de forma<br />
a detectar descargas em modo tridimensional (Held
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
et al., 2005). Quanto às análises em relação aos ecos<br />
de radar, face ao considerável tempo requerido para<br />
tal, foi trabalhada até o momento parte de um dia.<br />
As Figuras 4a-d mostram as observações usando uma<br />
única estação de coleta e a Figura 5 uma apresentação<br />
tridimensional, demonstrando claramente a<br />
origem das descargas elétricas na região de baixas<br />
refletividades acima dos topos dos ecos observados<br />
pelo radar. Portanto, observações tridimensionais de<br />
descargas elétricas são extremamente importantes<br />
para nowcasting, por serem indicadores de regiões<br />
de nuvens não-detectadas ainda pelo radar, onde a<br />
intensificação das células convectivas deverá ocorrer.<br />
As análises estão em andamento para outros dias.<br />
a) b)<br />
c) d)<br />
Figura 4: Exemplos do sistema 3-D DITF em 20 de fevereiro de 2004, com observações com uma única estação de flashes relativos aos ecos<br />
de radar (5 dBZ): a) CG (nuvem-terra), b, c) IC (entre-nuvens), d) CC (nuvem-nuvem).<br />
Fonte: Held et al. (2004b).<br />
85
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
concentrações de óxido de nitrogênio (NO) dentro da<br />
camada limite (até 2,4 km) durante um vôo efetuado<br />
no início da manhã e outro à tarde, para mapear as<br />
concentrações antes e depois do estabelecimento da<br />
convecção (e a atividade elétrica associada). Durante<br />
a manhã as concentrações são mais altas próximo do<br />
solo que no topo da camada limite, mas à tarde são<br />
baixas e a atmosfera está bem misturada. Estão em<br />
andamento estudos enfocando como estes poluentes<br />
da camada limite planetária são transportados para<br />
dentro de células convectivas e sua contribuição para<br />
a configuração de mistura e transporte da UTLS.<br />
Figura 5: Representação 3-D de dois eventos de descargas de umsegundo<br />
relativos à varredura volumétrica do radar (10 dBZ).<br />
Fonte: Held et al. (2005).<br />
Poluição do Ar, Nuvens e Interações<br />
Climáticas<br />
Este sub-projeto, proposto por pesquisadores (PIs)<br />
do IAG/USP foi planejado como um projeto de análise<br />
pós-facto, essencialmente para projetos de estudantes,<br />
mas até o presente ainda não se materializou.<br />
Química Atmosférica:<br />
Distribuição Vertical de Aerossóis e Gases Traço<br />
entre o Solo e a Média-Troposfera<br />
Este sub-projeto, proposto em conjunto pelo<br />
IPMet/UNESP e por pesquisadores (PIs) do IF/<br />
USP e MPIC, teve apenas sete missões de vôo<br />
com a aeronave laboratório Bandeirante, devido à<br />
escassez de recursos e sem o suporte financeiro da<br />
FAPESP. Alguns destes vôos foram coordenados<br />
com a aeronave Falcon do TROCCINOX e com aos<br />
lançamentos de balões do HIBISCUS. Resultados<br />
preliminares das medidas de gases e aerossóis foram<br />
apresentados por Thielman et al. (2004) e Artaxo et<br />
al. (2004), respectivamente. A Figura 6 mostra as<br />
A operação do sistema de Lidar de Aerosol do<br />
IPEN, instalado no IPMet/UNESP, também faz parte<br />
deste sub-projeto. Este Lidar monitorou a atmosfera<br />
até os 30 km ao nível médio do mar em diferentes<br />
períodos do dia e da noite, sempre que as condições<br />
atmosféricas permitiram. Alguns resultados<br />
preliminares foram publicados por Landulfo et al.<br />
(2004). O perfil na Figura 7 é visualizado de 855 m<br />
até 21,5 km e mostra uma camada claramente visível<br />
de nuvens em torno de 4,5 km de altitude, assim<br />
como uma camada de aerossóis em torno de 3 km e<br />
5 km. O topo da camada limite está acerca de 1850<br />
m; todas as camadas mencionadas são discerníveis<br />
em níveis de verde e azul-claro. As análises estão em<br />
andamento para outros dias.<br />
Validação de Sensores Embarcados e Terrestres<br />
Os três sub-projetos: Medidas Combinadas de<br />
Diferentes Sensores, Detecção em Ar Claro e Nuvens<br />
e Quantificação de Precipitação Usando Canais de<br />
Microondas, foram propostos por PIs do IPMet/<br />
UNESP e as pesquisas estão em andamento. Alguns<br />
resultados preliminares, comparando perfis de<br />
umidade determinados de sensores a bordo de satélite<br />
e do lidar DIAL H 2<br />
O, embarcado na aeronave Falcon<br />
do TROCCINOX, foram apresentados por Calheiros<br />
et al. (2004). Adicionalmente, uma proposta de<br />
validação, para o Brasil, usando GPS e baseado<br />
nas medidas realizadas durante as campanhas do<br />
TroCCiBras e TROCCINOX também já foi publicada<br />
em Calheiros et al. (2005).<br />
86
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
(a)<br />
(b)<br />
Figura 6: Concentrações de NO no dia 27 de fevereiro de 2004<br />
durante a manhã (a) e à tarde (b) entre o solo e 2,4 km anmm<br />
(Thielman et al., 2004); tempos de amostragem são aproximados,<br />
hora local). A imagem do radar de Bauru mostra a atividade<br />
convectiva durante o vôo da tarde.<br />
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Em suma, pode-se dizer que o TroCCiBras atingiu<br />
seus objetivos, a despeito do fato de que o avião<br />
laboratório de vôo estratosférico, o M-55 Geophysica,<br />
não pode chegar a tempo para a campanha de janeiro<br />
a março de 2004. No entanto, durante fevereiro<br />
de 2005, uma segunda fase do TROCCINOX foi<br />
conduzida com a participação da aeronave M-<br />
55, tendo ocorrido fora do projeto original do<br />
TroCCiBras. No total, seis instituições brasileiras de<br />
pesquisa participaram ativamente no experimento de<br />
campo sob a coordenação do IPMet/UNESP, quais<br />
sejam, CPTEC/INPE, CLA/IPEN, IF/USP, INMET,<br />
ELAT/INPE, IAC, assim como o MPIC Alemãs e a<br />
Universidade de Osaka, Japão. Uma base única de<br />
dados foi estabelecida para o período experimental<br />
(21 de janeiro a 11 de março de 2004), a qual nunca<br />
esteve antes disponível no Estado de São Paulo.<br />
Esta base de dados se tornará pública em janeiro<br />
de 2008, um ano após o encerramento do projeto.<br />
A coordenação do TroCCiBras com os projetos da<br />
Comissão Européia, TROCCINOX e HIBISCUS,<br />
resultou em um conjunto geral de dados de valor<br />
extraordinário para o Brasil. As demais publicações<br />
podem ser encontradas no website do TroCCiBras<br />
(http://www.ipmet.unesp.br/troccibras/publicacoes.<br />
htm).<br />
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
ARTAXO, P.; LARA, L.;NISHIOKA, G.;<br />
RIBEIRO, A.C. Aerosol measurements with the INPE<br />
Bandeirante during the TroCCiBras / TROCCONOX<br />
Experiment 2004. Proceedings, HIBOSCUS /<br />
TroCCiBras / TROCINOX Workshop, Bauru, SP,<br />
p.11, www.ipmet.unesp.br/troccibras/,2004<br />
Figura 7: Perfi l de Lidar obtido no IPMet, Bauru, em 04 de março de<br />
2004 entre 19:51 HL e 20:57 HL (Landulfo et al., 2004).<br />
CALHEIROS, R.V.; MACHADO, R; FLENTJE,<br />
H.; THOMPSON LEITE, C.A.F. Humidity profiles<br />
from satelite sensors and Lidar. Proceedings,<br />
HIBISCUS / TroCCiBras / TROCINOX /<br />
Workshop, Bauru, SP, p. 24, www.ipmet.unesp.br/<br />
troccibras/, 2004.<br />
87
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
CALHEIROS, R.V.; HELD, G.; MITEV, V.;<br />
ANTONIO, C.A.A.; MARTUCCI, G.; MATTHEY,<br />
R. Ground and Airborne Validation Plans for GPM in<br />
the Central State of São Paulo, Brazil (Paper P6R.8).<br />
Preprints, 32nd Conf. on Radar Meteorology,<br />
AMS, Albuquerque, USA, 8p, 2005.<br />
DIXON, M.; WIENER, G. TITAN Thunderstorm<br />
Identification, Tracking, Analysis and Nowcasting<br />
- A radar-based methodology. J. Atmos. Ocean.<br />
Technol., 10:785-797, 1993.<br />
DONFRANCESCO, G.D.; CAIRO, F.; HELD,<br />
G.; FIERLI, F. Contemporary Measurements of a<br />
Ground-Based Weather Radar and Balloon-Borne<br />
Lidar at Bauru during the HIBISCUS Campaigns:<br />
A Powerful Synergy in Cloud Physics Studies<br />
(Paper P6R.10). Preprints, 32 nd Conf. on Radar<br />
Meteorology, AMS, Albuquerque, USA, 4p, 2005.<br />
DURRY, G.; HURET, N.; HAUCHECORNE, A.;<br />
MARECAL, V.; POMMEREAU, J.-P.; JONES, R.L.;<br />
HELD, G.; LARSEN, N.; RENARD, J.-B. Isentropic<br />
advection and convective lifting of water vapor in the<br />
UT-LS as observed over Brazil (22ºS) in February<br />
2004 by in situ high-resolution measurements of<br />
H 2<br />
O, CH 4<br />
, O 3<br />
and temperature. Atmos. Chem. Phys.<br />
Discuss., v. 6 (Special HIBISCUS issue), p.12469-<br />
12501, 2006.<br />
FEHR, T.; GOMES, A.M.; HÖLLER, H.;<br />
SCHLAGER, H.; PINTO, O.; KAWASAKI, Z.;<br />
HUNTRIESER, H.; GATZEN, C.; HELD, G.;<br />
SCHUMANN, U. Lightning activity and cloud<br />
properties of the convective storm system on 3 March<br />
2004 observed during TROCCINOX / TroCCiBras<br />
and implications for lightning NOx production.<br />
Transactions, American Geophysical Union, 2004<br />
Fall Meeting, San Francisco, USA, 2004.<br />
GROSVENOR, D.P.; CHOULARTON, T.W.;<br />
COE, H.; HELD, G.; HANSFORD, G.M. Cloud<br />
Resolving Model studies of tropical deep convection<br />
observed during HIBISCUS 2004. Geophysical<br />
Research Abstracts, v. 7, EGU General Assembly<br />
2005, Vienna, Austria, p.8324, 2005.<br />
GROSVENOR, D.P.; CHOULARTON, T.W.;<br />
COE, H.; HELD, G. Cloud Resolving Model studies<br />
of upper tropospheric dehydration due to tropical<br />
deep convection observed during HIBISCUS 2004.<br />
Geophysical Research Abstracts, v. 8, EGU General<br />
Assembly 2006, Vienna, Austria, p.7466, 2006.<br />
GROSVENOR, D.P.; CHOULARTON, T.W.;<br />
COE, H.; HELD, G. A study of the effect of<br />
overshooting deep convection on the water content of<br />
the TTL and lower stratosphere from Cloud Resolving<br />
Model simulations. Atmos. Chem. Phys. Discuss.,<br />
v. 7 (Special HIBISCUS issue), 7277-7346, <strong>2007</strong>.<br />
GOMES, A.M.; HELD, G. Determinação e<br />
avaliação do parâmetro densidade VIL para alerta<br />
de tempestades. XIII Congresso Brasileiro de<br />
Meteorologia. Fortaleza, SBMET, Anais (CD ROM),<br />
12 p, 2004.<br />
HELD, G. (ed.). Proceedings, HIBISCUS /<br />
TroCCiBras / TROCINOX Workshop, Bauru, SP,<br />
32 p, 2004. (www.ipmet.unesp.br/troccibras/)<br />
HELD G.; CALHEIROS, R.V.; POMMEREAU,<br />
J-P.; GOMES, A.M. A preview of preliminary results<br />
from the TroCCiBras, TROCCINOX and HIBISCUS<br />
campaign 2004. XIII Congresso Brasileiro de<br />
Meteorologia, Fortaleza, SBMET, Anais (CD ROM),<br />
15 p, 2004 a.<br />
HELD, G.; CALHEIROS, R.V.; SCHLAGER, H.;<br />
POMMEREAU, J.-P.; MORIMOTO, T. TroCCiBras<br />
and its Partner Projects TROCCINOX and HIBISCUS:<br />
Monitoring the Atmosphere from Ground-level to<br />
the Lower Stratosphere. Proceedings, International<br />
Conference on Grounding and Earthing<br />
(GROUND’2004) & 1st International Conference<br />
on Lightning Physics and Effects. Belo Horizonte,<br />
p. 17-23, 2004 b.<br />
HELD, G.; GOMES, A.M.; PINTO, O. Jr.;<br />
NACCARATO, K.P.; KAWASAKI. Z.; MORIMOTO,<br />
T. The Integrated Use of a Lightning Network and<br />
Doppler Radars in the State of São Paulo to Identify and<br />
Forecast Severe Storms and its Application to Power<br />
88
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Electric Utilities. Proceedings VIII International<br />
Symposium on Lightning Protection. São Paulo, p.<br />
429-434, 2005.<br />
LANDULFO, E.; FREITAS, A.Z.; PAPAYANNIS,<br />
A.; SOUZA, R.F.;POZZETTI, L.M.V.; LIMA, E.;<br />
BIRAL, A.R.P.; TORRES, A.S.; MATOS, C.A.;<br />
SAWAMURA, P.; ZEFERINO, J. Lidar measurements<br />
with IPEN’s Aerosol Lidar during the troCCiBras 2004<br />
Campaign. Proceedings, HIBISCUS / TroCCiBras<br />
/ TROCINOX Workshop, Bauru, SP, p. 10, www.<br />
ipmet.unesp.br/troccibras/, 2004.<br />
NACCARATO, K.P.; PINTO Jr., O.; HELD, G.<br />
Lightning climatology in the State of São Paulo in<br />
comparison to the TroCCiBras experimental period<br />
in 2004. Proceedings, HIBISCUS / TroCCiBras /<br />
TROCINOX Workshop, Bauru, SP, p. 10, www.<br />
ipmet.unesp.br/troccibras/, 2004.<br />
NIELSEN, J.K.; LARSEN, N.; CAIRO, F.; Di<br />
DONFRANCESCO, G.; ROSEN, J.M.; DURRY,<br />
G.; HELD, G. Solid particles in the tropical lowest<br />
stratosphere. Atmos. Chem. Phys., v. 7 (Special<br />
HIBISCUS issue), p. 685-695, <strong>2007</strong>.<br />
POMMEREAU, J.P.; HELD, G. How deep<br />
convective overshooting over land can penetrate<br />
the stratosphere? Abstract A13G-04. Transactions,<br />
American Geophysical Union, 2006 Fall Meeting,<br />
San Francisco, USA, 2006.<br />
POMMEREAU, J.P.; GARNIER, A.; HELD, G.;<br />
GOMES, A.M.; GOUTAIL, F.; et. al. An overview<br />
of the HIBISCUS campaign. Atmos. Chem. Phys.<br />
Discuss., v. 7 (Special HIBISCUS issue), p. 2389-<br />
2475, <strong>2007</strong>.<br />
POMMEREAU, J.P.; HELD, G.; Is there a<br />
strotospheric fountain? Atmos. Chem. Phys. Discuss.,<br />
v.7 (Spetial HIBISCUS issue), 8933-8950, <strong>2007</strong>.<br />
THIELMANN, A.; WELLING, M.; ANDREAE,<br />
M.O. Trace gas measurements during TroCCiBras<br />
/ TROCCINOX 2004. Proceedings, HIBISCUS /<br />
TroCCiBras / TROCINOX Workshop, Bauru, SP,<br />
p. 11, www.ipmet.unesp.br/troccibras/, 2004.<br />
5. AGRADECIMENTOS<br />
Agradece-se à UNESP e à Fundunesp pelo seu<br />
suporte financeiro, permitindo que alguns subprojetos<br />
e atividades do projeto TroCCiBras fossem<br />
executadas conjuntamente com o TROCCINOX<br />
e o HIBISCUS durante a campanha experimental,<br />
conforme proposto inicialmente. O CTA forneceu<br />
incalculável apoio logístico para obter as permissões<br />
necessárias do governo central em conexão com a<br />
admissão temporária do avião estrangeiro, enquanto<br />
destina-se à Embraer elevado reconhecimento e<br />
especiais agradecimentos por disponibilizar suas<br />
instalações em Gavião Peixoto, para serem usadas<br />
como uma base para as aeronaves do TroCCiBras<br />
e do TROCCINOX, sem custos para o projeto.<br />
Agradece-se, outrossim, a Açucareira Zillo-Lorenzetti<br />
e a equipe da Usina São José, assim como a UNIP,<br />
Campus de Bauru, pela permissão de instalação das<br />
estações de descargas elétricas do LRGOU em suas<br />
dependências. O apoio do Ministério da Defesa e<br />
do Ministério de Ciência e Tecnologia (incluindo<br />
o CNPq) foram fundamentais para que o projeto<br />
pudesse se concretizar.<br />
89
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
HOMENAGEM DA SBMET AOS SEUS<br />
SÓCIOS BENEMÉRITOS<br />
No encerramento da Assembléia Geral do V<br />
Congresso Brasileiro de Meteorologia, realizado<br />
no Rio de Janeiro, no período de 7 a 11 de novembro<br />
de 1988, a Diretoria Executiva (DE) e o Conselho<br />
Deliberativo (CD) da SBMET conferiram o<br />
título na categoria Sócio Benemérito às seguintes<br />
personalidades, por terem contribuído de forma<br />
invulgar para o desenvolvimento da SBMET ou para<br />
a salvaguarda dos seus interesses: Jesus Marden<br />
dos Santos, Yomar Morada de Souza, Everaldo<br />
Cavalcanti Bechara, Fábio de Alcântara e Fernando<br />
Pimenta Alves.<br />
Passado-se quase vinte anos, a SBMET presta<br />
uma singela homenagem a essas personalidades em<br />
reconhecimento ao trabalho prestado e, que alguns<br />
deles ainda vem prestando á sociedade. Desta vez, na<br />
forma de uma matéria curta publicada nesse número<br />
do Boletim da SBMET, destacando os principais<br />
aspectos de suas vidas profissionais em prol da<br />
Meteorologia.<br />
Atualmente temos no quadro de associados<br />
na categoria Sócio Benemérito apenas três dessas<br />
personalidades mencionadas. São eles: Jesus Marden<br />
dos Santos, Everaldo Cavalcanti Bechara e Fernando<br />
Pimenta Alves. Os demais, infelizmente, já são<br />
falecidos, e a homenagem será in memorian. Apesar<br />
dos esforços empreendidos pela DE e pelo CD em<br />
contata-lo, só foi possível saber que o Sr. Bechara<br />
está residindo em Recife. Assim, devido à falta de<br />
informações mais atualizadas sobre a vida profissional<br />
desse sócio, sua homenagem será publicada em um<br />
próximo número do Boletim.<br />
JESUS MARDEN DOS SANTOS<br />
Nosso homenageado, Jesus Marden dos Santos,<br />
para os amigos e alunos que tiveram o privilégio<br />
de tê-lo como professor, Dr. Marden, é filho de<br />
Piracicaba, aprazível cidade do interior de São<br />
Paulo, cortada pelo rio de mesmo nome. Em 1952 foi<br />
diplomado como Engenheiro Agrônomo pela Escola<br />
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ)/<br />
USP; neste mesmo ano iniciou sua carreira docente<br />
junto ao seu Departamento de Física e Meteorologia<br />
(atualmente Departamento de Ciências Exatas). Por<br />
várias vezes exerceu a Chefia deste Departamento.<br />
Quatro anos após, realizava o seu Mestrado em<br />
Climatologia Agrícola na Iowa State University nos<br />
EUA, e em 1957 obteve seu doutorado na ESALQ/<br />
USP. Entre 1963 e 1964, sob a supervisão de Tanner<br />
e Suomi realizou Estágio de Especialização na<br />
Universidade de Wisconsin/EUA e, usufruindo uma<br />
bolsa do Conselho Britânico, obteve o pós-doutorado<br />
trabalhando com Penman e Monteith. Quem já<br />
90<br />
“transitou” pelos domínios agrometeorológico e<br />
biometeorológico ficou fascinado ao ler os trabalhos<br />
destes renomados pesquisadores. Cremos que somente<br />
os talentos privilegiados foram contemplados com<br />
a oportunidade única de sorverem os ensinamentos<br />
destes quatro luminares. E o Dr Marden foi um destes<br />
talentos.<br />
O Dr. Marden obteve a Livre Docência em 1978 e<br />
passou a Prof. Adjunto em 1979. No âmbito específico<br />
da Meteorologia foi Diretor do então Departamento<br />
Nacional de Meteorologia (DNMET), atual Instituto<br />
Nacional de Meteorologia (INMET), no período de<br />
1964 a 1967, o qual tinha sua sede no Rio de Janeiro.<br />
Foi nesta ocasião que, seguindo seu perfil inovador<br />
e idealista, sedimentou as bases do primeiro Curso<br />
de Meteorologia do Brasil, instalado provisoriamente<br />
no Departamento de Física da Faculdade Nacional de<br />
Filosofia (FNFi) da Universidade do Brasil (UB),<br />
conhecida hoje como Universidade Federal do Rio
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
de Janeiro (UFRJ). Da primeira turma do Curso<br />
somos seu feliz componente e nos alegramos de<br />
lembrar aqueles momentos, ainda presentes na nossa<br />
memória, embora já passados 42 anos. Fazemos votos<br />
que, daqui a 42 anos, os calouros de Meteorologia<br />
de hoje tenham a oportunidade de comemorar com a<br />
mesma alegria esta fase de suas vidas profissionais,<br />
da mesma forma com que nós da primeira turma o<br />
fazemos.<br />
Nossas atividades como alunos eram divididas<br />
entre as aulas na FNFi e no INMET na Praça XV.<br />
Como atividade integradora tivemos oportunidade<br />
de vivenciar um Serviço de Meteorologia, num<br />
ambiente onde se respirava a ciência meteorológica<br />
e do qual partilhávamos do esforço do Dr. Marden<br />
pela modernização do Órgão. Além de sala de aula,<br />
de um Laboratório de Análise e Previsão do Tempo<br />
e sala para as práticas da disciplina “Instrumentos<br />
Meteorológicos”, dispunhamos de cabines individuais<br />
com ar condicionado para realizarmos nossos estudos,<br />
rever as aulas, fazer nossos exercícios. Na ocasião o<br />
Dr. Marden nos lecionava as disciplinas “Instrumentos<br />
e Métodos de Observação” e “Climatologia”.<br />
Desta forma, o Dr. Marden, com sua visão<br />
anos à frente, fez com que o INMET da época se<br />
transformasse, também, no nosso ponto de agradável<br />
convívio diário inclusive com os seus funcionários.<br />
Uma verdadeira revolução no conceito de ensino e<br />
treinamento em Meteorologia, na época.<br />
Lembramos com satisfação quando, ainda<br />
estudantes, fomos instalados pelo Dr. Marden para<br />
participar da organização da Biblioteca do DNMET.<br />
Num trabalho de garimpagem e supervisionados pela<br />
bibliotecária Dulce Cardoso, de saudosa memória,<br />
ajudamos na seleção, catalogação e organização dos<br />
milhares de documentos, publicações as mais variadas<br />
de Meteorologia e até cartas sinóticas da Rússia, que se<br />
encontravam amontoados na Biblioteca. Gostaríamos<br />
de continuar contando aqui, principalmente para os<br />
jovens alunos da Meteorologia, os muitos “causos”<br />
por nós vividos. Seriam muitas páginas a serem<br />
escritas, mas o espaço é curto e, assim, não será<br />
possível.<br />
Ao longo dos anos e já profissionais, fomos<br />
testemunhas de sua atuação como Diretor (de<br />
1967 a 1972), na modernização e consolidação<br />
da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias<br />
do Campus de Jaboticabal, SP, hoje reconhecida<br />
internacionalmente.<br />
Em seu invejável curriculum vitae, destacase<br />
sua dedicação à formação acadêmica de novos<br />
meteorologistas. Além da criação de novas escolas,<br />
novos cursos, orientou dezenas de pesquisadores. Foi<br />
meu orientador no mestrado e doutorado na ESALQ/<br />
USP.<br />
Para finalizar, tomamos a liberdade de pinçar<br />
trecho de uma menção feita ao Dr. Marden<br />
pela Sociedade Brasileira de Agrometeorologia<br />
(SBAgro), em seu Boletim, por ocasião da outorga<br />
do merecido título de Agrometeorolista Emérito: “Os<br />
seus trabalhos e esforços com certeza contribuíram<br />
decisivamente para modernizar os estudos e técnicas<br />
na Meteorologia, Agronomia, Meio Ambiente e<br />
Agrometeorologia, entre outros, e na formação de<br />
recursos humanos, criando o primeiro Curso de Pós-<br />
Graduação em Agrometeorologia no Brasil, junto a<br />
ESALQ, em 1972.”<br />
Escrito por José Marques,<br />
Presidente do CD da SBMET.<br />
91
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
FERNANDO PIMENTA ALVES<br />
Fernando Pimenta Alves nasceu no Rio de<br />
Janeiro em 03 de dezembro de 1921, cidade que<br />
reside atualmente. Em 1940, interrompeu o Curso<br />
de Química Industrial, na Universidade do Brasil,<br />
para fazer o Curso Superior em Meteorologia na<br />
Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA-<br />
EUA). Para tal, conseguiu uma bolsa de estudos do<br />
United States Weather Bureau-EUA (de 1941 a 1944),<br />
e obteve os títulos de Meteorologista Profissional<br />
(Bacharel) e Mestrado em Meteorologia. Após<br />
concluir seu curso, fez estágio por seis meses no<br />
United States Weather Bureau, como Meteorologistajúnior<br />
no Aeroporto Internacional de Kansas City-<br />
EUA. Em 1945 ocupou o cargo de Meteorologista<br />
Sênior na Panair do Brasil S. A., sediada no Rio<br />
de Janeiro. Desde 1945 é Membro Profisional da<br />
Sociedade Americana de Meteorologia. No período<br />
de 1946 até 1954, organizou e chefiou a Seção de<br />
Meteorologia da Empresa de Transportes Aerovias<br />
Brasil S. A.<br />
Foi nomeado Meteorologista Classe I do Serviço<br />
de Meteorologia do Ministério da Agricultura<br />
(INEMET) em 1951, com sede no Rio de Janeiro,<br />
sendo efetivado no cargo em 1953 após aprovado em<br />
concurso público. No INEMET exerceu vária funções<br />
no período de 1951 a 1990, podendo-se destacar<br />
a de Chefe da Seção de Meteorologia Sinótica e<br />
Marítima, Chefe da Seção de Rádio-Comunicação,<br />
Chefe da Divisão de Meteorologia Aplicada,<br />
Assessor do Diretor do INEMET, Coordenador do<br />
Programa Mundial do Clima e Diretor do 6 0 Distrito<br />
de Meteorologia, tendo sido dispensado dessa última<br />
função em março de 1990.<br />
Enquanto estava no INEMET, foi posto à<br />
disposição da Organização Meteorológica Mundial<br />
(OMM), em resposta a convite do Secretário Geral<br />
da OMM. Assim, serviu à OMM de 13 de outubro<br />
de 1964 até 17 de janeiro de 1982, onde ocupou<br />
inicialmente o cargo de Oficial Técnico, passando em<br />
1969 a Chefe da Divisão de Sistemas de Observação<br />
do Departamento de vigilância Meteorológica<br />
Mundial, permanecendo no cargo por 10 anos.<br />
Exerceu esse cargo até completar 60 anos, idade limite<br />
dos funcionários da OMM, conforme regulamento<br />
da Organização. Durante todo o período de seu<br />
trabalho no Secretariado da OMM, executou suas<br />
funções e responsabilidades com grande eficiência<br />
e conhecimento profissional. Suas relações dentro<br />
e fora do Secretariado foram excelentes, fazendo<br />
muitos amigos no mundo inteiro. Retornou ao Brasil<br />
em 21 de janeiro de 1982, reassumindo a função de<br />
Meteorologista do INEMET em 5 de fevereiro de<br />
1982.<br />
Também exerceu outras atividades profissionais,<br />
tais como Professor da disciplina Meteorologia<br />
Geral ministrada no curso regular de Técnico de<br />
Meteorologia, na Escola Técnica Nacional (em<br />
1962), Professor de Inglês Técnico do curso avulso<br />
de Meteorologista do Curso de aperfeiçoamento,<br />
Especialização e Extensão do Ministério da Agricultura<br />
(em 1962), e Professor da disciplina Meteorologia,<br />
ministrada aos oficiais da DHN, em seu Curso de<br />
Especialização, em 1964. Foi Secretário do Comitê<br />
de Meteorologia na “ICAO South Atlantic Regional<br />
Session”, em 1947; Delegado do Brasil na Segunda<br />
Reunião da Associação Regional III (América do Sul)<br />
da OMM realizada em Caracas, em 1957; Presidente<br />
do Grupo de Trabalho de Telecomunicações da<br />
Associação Regional III (América do Sul), de 1957 até<br />
1964; e Delegado do Brasil na Reunião da Comissão<br />
de Meteorologia Sinótica da OMM, realizada em<br />
Washington, em 1962.<br />
Foi o primeiro Presidente eleito da Sociedade<br />
Brasileira de Meteorologia - SBMET (1960-1962),<br />
sendo reconduzido ao cargo por mais três biênios, a<br />
saber: 1983-1984, 1989-1990 e 1994-1996. Ocupou o<br />
cargo de Membro Suplente do Conselho Deliberativo<br />
no biênio 1987-1988. Também foi Membro Efetivo<br />
do Conselho Deliberativo em 1991 e nos biênios<br />
1993-1994, 1996-1998 e 1998-2000. Exerceu o<br />
cargo de Presidente da Comissão Organizadora do<br />
VI Congresso Brasileiro de Meteorologia, realizado<br />
em Salvador, no período de 19 a 23 de novembro de<br />
1990. Fernando Pimenta Alves realizou um trabalho<br />
exemplar na SBMET, com seu talento inovador e<br />
dedicação, o qual é reconhecido amplamente por<br />
toda a comunidade.<br />
92
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
TEMA DA OMM PARA O<br />
DIA METEOROLÓGICO MUNDIAL DE <strong>2007</strong><br />
“METEOROLOGIA POLAR: ENTENDENDO OS IMPACTOS GLOBAIS”<br />
Mensagem do Sr. M. Jarraud,<br />
Secretário geral da OMM<br />
Tradução de Dimitrie Nechet<br />
Professor da UFPa<br />
Todos os anos, no dia 23 março, a Organização<br />
Meteorológica Mundial (OMM), os seus 187 países<br />
membros e a comunidade meteorológica mundial<br />
celebram o Dia Meteorológico Mundial. Este<br />
Dia comemora a entrada, oficialmente, em 1950,<br />
da Convenção da OMM, criando a Organização.<br />
Subseqüentemente, em 1951, a OMM foi designada<br />
como uma agência especializada do Sistema das<br />
Nações Unidas.<br />
Em 2005, por ocasião de sua sessão de número<br />
57, o Conselho Executivo da OMM decidiu que<br />
o tema para o ano de <strong>2007</strong> seria “Meteorologia<br />
Polar: Entendendo os Impactos Globais”,<br />
em reconhecimento à importância do Ano Polar<br />
Internacional de <strong>2007</strong>-2008, e como uma contribuição<br />
para esse ano, que está sendo patrocinado pela<br />
OMM e pelo Conselho Internacional para a Ciência<br />
(ICSU). Para assegurar que os pesquisadores possam<br />
trabalhar em ambas as regiões polares durante os<br />
meses de Verão e de Inverno, o evento na verdade,<br />
será mantido de março de <strong>2007</strong> a março de 2009.<br />
O objetivo fundamental do Ano Polar Internacional<br />
é um intenso trabalho de coordenação internacional,<br />
pesquisa científica interdisciplinar e observações<br />
focalizadas nas regiões polares da Terra e os seus<br />
efeitos globais de longo alcance.<br />
Em recentes anos, houve interesse renovado no<br />
clima e as nas condições ambientais das regiões polares<br />
que têm alguns antecedentes históricos importantes,<br />
já que essas regiões desempenharam um papel<br />
decisivo, tradicionalmente, nas atividades da OMM<br />
e nas atividades da Organização que a antecedeu, a<br />
Organização Meteorológico Internacional (OMI).<br />
Em 1879, o Segundo Congresso Meteorológico<br />
aprovou o objetivo de um Ano Polar Internacional,<br />
que foi mantido em 1882-1883. O segundo Ano<br />
Polar Internacional que também foi iniciado pela<br />
Organização Meteorológica Internacional aconteceu<br />
em 1932-1933. O sucesso do primeiro e do segundo<br />
Ano Polar Internacional conduziu ao desenvolvimento<br />
de um Ano Geofísico Internacional mais amplo,<br />
estendendo-se para englobar as latitudes mais baixas,<br />
em lugar de, simplesmente, um novo Ano Polar<br />
Internacional. Esse Ano Geofísico Internacional, que<br />
durou de 1 de julho de 1957 a <strong>31</strong> de dezembro de<br />
1958 teve como conseqüências de longo alcance, em<br />
termos de pesquisas científicas, pelo envolvimento<br />
de 80.000 cientistas de 67 países.<br />
Através dos Serviços Nacionais de Meteorologia<br />
e Hidrologia e de outras instituições de seus países<br />
membros, a OMM estará fazendo contribuições<br />
significativas ao novo Ano Polar Internacional<br />
nas áreas de, meteorologia polar, oceanografia,<br />
glaciologia e hidrologia, em termos de pesquisa<br />
científica e de observações. Outra contribuição<br />
essencial para o Ano Polar Internacional será<br />
fornecido pelo programa espacial da OMM. Afinal<br />
de contas, os resultados científicos e operacionais<br />
do Ano Polar Internacional oferecerão benefícios<br />
a vários programas da OMM, gerando conjuntos<br />
completos de dados e conhecimento científico de<br />
órgãos oficiais, para assegurar desenvolvimento<br />
adicional de monitoramento ambiental e previsão<br />
de sistemas, incluindo a previsão de tempo severo.<br />
Além disso, fornecerá valiosas contribuições na<br />
93
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
avaliação de mudança de clima e de seus impactos,<br />
em particular, se as redes de observação forem<br />
estabelecidas ou melhoradas durante o período do<br />
Ano Polar Internacional, para poderem ser mantidas,<br />
por muitos anos, de modo operacional.<br />
Até agora as observações meteorológicas locais<br />
envolvidas nas regiões, polares são áreas menos densas<br />
de cobertura na Terra. Assim, a meteorologia polar<br />
tem confiado extensivamente nos satélites de órbita<br />
polar. Dados anteriores de satélite meteorológicos<br />
obtidos destas regiões consistiram, principalmente, de<br />
imagem visível e de infravermelha, mas, em recentes<br />
anos, uma gama muito mais ampla de produtos ficou<br />
disponível de instrumentos com microonda ativos e<br />
passivos, permitindo, em particular, a determinação<br />
de perfis de temperatura e de umidade, até mesmo<br />
durante condições atmosféricas nubladas, bem como<br />
de ventos, da extensão e da concentração de gelo<br />
de mar e vários outros parâmetros. Além disso, esta<br />
falta relativa de observações no local, também foi<br />
compensado, parcialmente, pelo desenvolvimento de<br />
estações meteorológicas automáticas e de bóias fixas<br />
e à deriva no gelo.<br />
Embora as regiões polares sejam, geralmente,<br />
distantes de zonas amplamente povoadas, há uma<br />
grande necessidade por previsões seguras do tempo<br />
nessas áreas. Ao redor do Ártico, são necessárias as<br />
previsões para a proteção de comunidades indígenas<br />
e em defesa de operações marítimas, como também<br />
para a exploração e produção de óleo e gás. Na<br />
Antártica, são necessárias previsões seguras para<br />
as operações complexas de logística marítimas e<br />
aéreas, como também em defesa de programas de<br />
pesquisa científica e pela expansão da indústria de<br />
turismo. A previsão do tempo, em todas as partes do<br />
mundo, apresenta alguns desafios sem igual, quando<br />
comparado às regiões extra-polares, mas os avanços<br />
notáveis fizeram durante os recentes anos observações<br />
de sistemas para a previsão numérica do tempo, que<br />
tem levado à melhoria considerável na habilidade de<br />
previsões do tempo, incluindo essas regiões polares.<br />
Durante as últimas décadas, foram descobertas<br />
mudanças significativas no ambiente polar, como uma<br />
diminuição no gelo perene do mar, o derretimento de<br />
algumas geleiras e das geadas permanentes e uma<br />
diminuição de gelo de rio e de lago. Estas mudanças<br />
que são até mesmo mais evidentes no Ártico do<br />
que na Antártica, estiveram sujeitas a consideráveis<br />
estudos. O Terceiro Relatório de Avaliação da<br />
OMM, em 2001 com o patrocínio do Painel<br />
Intergovernamental em Mudança de Clima (IPCC)<br />
indica que a temperatura de superfície global da Terra<br />
aumentou, por aproximadamente, 0.6°C durante o<br />
século 20. O Relatório, além disso, fez estimativas<br />
adicionais calculando, globalmente, a média de<br />
temperaturas de superfície, que estariam subindo<br />
de 1,4 a 5,8 o C, no período de 1990-2100. No total,<br />
o IPCC calculou que, pelo ano de 2100, o nível do<br />
mar terá aumentado entre 9 cm e 88 cm que causaria<br />
um problema muito significativo para muitos Estados<br />
em Desenvolvimento de Pequenas Ilhas e, em geral,<br />
para áreas de baixadas do mundo. Atualmente, o<br />
IPCC está no processo de preparação do seu Quarto<br />
Relatório de Avaliação, que será libertado durante o<br />
ano de <strong>2007</strong>.<br />
A diminuição do gelo do mar poderia induzir à<br />
mudanças sérias em ecossistemas marinhos, afetando<br />
mamíferos marinhos e as vastas populações de krill,<br />
que alimentam o grande número de aves marinhas,<br />
focas e baleias. A geada permanente também é<br />
sensível ao aquecimento atmosférico a longo prazo,<br />
e, assim, é provável ter um descongelamento<br />
progressivo nas superfícies congeladas, ao redor do<br />
Ártico, acompanhado pela expansão de superfícies<br />
molhadas e o potencial para o dano considerável para<br />
o suporte de edificações e da infra-estrutura. Este<br />
derretimento também teria implicações para o ciclo<br />
de carbono, através da liberação de um dos gases de<br />
estufa mais importantes, o metano, que é mantido<br />
dentro da geada permanente.<br />
Ozônio é um gás estratosférico, extremamente,<br />
importante já que ele protege a biosfera absorvendo<br />
radiação solar ultravioleta. O ozônio atmosférico<br />
foi primeiro medido na Antártica através de<br />
instrumentos baseados na superfície durante o Ano<br />
Polar Internacional de 1957-1958. Desde meados<br />
de1970, um padrão diferente foi descoberto ao<br />
término de invernos do Hemisfério Sul, já que o<br />
94
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
aumento de valores mais baixos de ozônio foi,<br />
consecutivamente, medido a cada ano até o início<br />
de aquecimento da primavera da estratosfera. De<br />
acordo com a descoberta do buraco de Ozônio da<br />
Antártica foi uma conseqüência importante do Ano<br />
Polar Internacional. Foi finalmente determinado que<br />
o “buraco” desenvolveu-se em grande parte, como<br />
resultado de emissões de alguns gases industriais<br />
extensivamente usados. Contudo, seguindo as<br />
medidas adotadas como resposta, parece estar<br />
estabilizando agora. Se as providências do Protocolo<br />
de 1987 nas substâncias que destruem a Camada<br />
de Ozônio forem adotadas, calcula-se que a camada<br />
de ozônio, em médias latitudes, estará recuperando<br />
seus valores normais, em meados do atual século e<br />
que, a recuperação da Antártica, exigirá uns 15 anos<br />
adicionais.<br />
Contudo a importância do estudo da meteorologia<br />
polar pode, por si só, estar impossibilitada, como um<br />
todo, enfatizar os impactos fundamentais das regiões<br />
polares, no sistema de clima global. As mudanças nas<br />
latitudes mais altas podem ter impactos significativos,<br />
em todos os ecossistemas e em todas as sociedades<br />
humanas, independente da latitude geográfica.<br />
Assim, os impactos de meteorologia polar devem ser<br />
considerados dentro de um contexto mais amplo.<br />
Realmente, há numerosos exemplos de influências<br />
globais das consequências polares. Por exemplo,<br />
gelo polar constitui a cobertura térmica efetiva, que<br />
desempenha um papel crítico na manutenção da<br />
circulação oceânica global. Além disso, as regiões<br />
polares têm um papel primordial na determinação do<br />
sistema de clima global, que é dirigido pela energia<br />
recebido do Sol, principalmente nas latitudes mais<br />
baixas. Como um todo, o Equador recebe durante<br />
o ano, aproximadamente, cinco vezes mais energia<br />
calorífica do que os Polos, e a atmosfera e os<br />
oceanos respondem a esse grande gradiente térmico<br />
transportando esse calor para os Polos. Assim, as<br />
duas regiões polares são unidas ao resto do sistema<br />
de clima da Terra por caminhos bastante complexos,<br />
baseado em escoamento atmosférico combinado e na<br />
circulação oceânica.<br />
O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é a maior<br />
massa de flutuação do Oceano Pacífico tropical,<br />
que está associado com as variações periódicas nas<br />
temperaturas da superfície do mar do Este do Oceano<br />
Pacífico. O ENOS é na realidade um grande ciclo<br />
climático e tem sido mostrado que afeta outras<br />
regiões, mesmo distantes da bacia do Pacífico. Por<br />
exemplo, evidências estatísticas mostram que, em<br />
certas partes de África, o ENOS pode contribuir na<br />
discrepância das chuvas interanuais e até mesmo<br />
para a seca, como na realidade ocorreu, com o evento<br />
do Niño em 1991-1992, quando um episódio de<br />
seca devastadora ameaçou, em torno de 18 milhões<br />
de pessoas com a fome. As “Teleconexões” são<br />
definidas como interações atmosféricas entre regiões,<br />
grandemente, separadas e agora os pesquisadores<br />
estão investigando tais relações entre as condições de<br />
tempo polares e outros evento de tempo e clima.<br />
O Ano Polar Internacional de <strong>2007</strong>-2008, assim,<br />
está endereçado a uma gama extensa de assuntos<br />
físicos, biológicos e sociais, direta ou indiretamente<br />
relacionados às regiões polares. A urgência e a<br />
complexidade das mudanças observadas nas regiões<br />
polares exigirão uma aproximação científica mais<br />
ampla e mais integrada. A colaboração internacional<br />
aumentada e as sociedades abertas são o resultado<br />
desse marco e do esforço científico, sem nenhuma<br />
dúvida, estimulam e facilitam o acesso de dados<br />
irrestritos e iniciativas de pesquisas entrelaçadas.<br />
Através de um amplo esforço, o Ano Polar<br />
Internacional representará, também, um passo<br />
adiante na disponibilidade de conhecimento científico<br />
com acesso ao público geral. Ao mesmo tempo,<br />
em relação à geada permanente, será o fato que os<br />
impactos derivados das regiões polares são, também,<br />
importantes para o sistema climático global, como<br />
um todo, de modo que muitas mudanças detectadas,<br />
nas latitudes mais altas serão achadas terem impactos<br />
significativos no desempenho sustentável de todas as<br />
sociedades, independente da latitude geográfica.<br />
A Meteorologia sempre foi reconhecida como<br />
um paradigma de uma ciência sem fronteiras e a<br />
meteorologia polar é, talvez, o último exemplo deste<br />
princípio. Assim,, quando a comunidade meteorológica<br />
95
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
internacional celebra o Dia Meteorológico Mundial,<br />
em <strong>2007</strong>, é meu desejo que todos os países membros<br />
da Organização Meteorológica Mundial reconheçam a<br />
importância da meteorologia polar e de seus impactos<br />
globais potenciais nas suas vidas, nas suas seguranças<br />
e nas suas prosperidades. Além disso, também é<br />
minha expectativa que os resultados desse esforço<br />
possam contribuir para um melhor entendimento da<br />
variabilidade e da mudança de clima, como também,<br />
para o desenvolvimento e disponibilidade de muitas<br />
aplicações necessárias do clima, um dos maiores<br />
desafios do século 21.<br />
ACONTECEU<br />
COMEMORAÇÃO DO DIA METEOROLÓGICO<br />
MUNDIAL DE <strong>2007</strong> NO BRASIL<br />
Em 23 de março de <strong>2007</strong> foi comemorado o Dia<br />
Meteorológico Mundial, com o tema “Meteorologia<br />
Polar: Entendendo os Impactos Globais”. No Brasil,<br />
muitas instituições realizaram eventos conjuntos e<br />
enviaram à Secretaria da SBMET sua Programação<br />
de atividades em comemoração pela data. Essas<br />
Programações foram amplamente divulgada pela<br />
SBMET no Informe e no Portal (www.<strong>sbmet</strong>.org.<br />
br). Os membros da Diretoria Executiva da SBMET<br />
se fizeram presentes em vários desses eventos. As<br />
instituições que organizaram um evento específico<br />
em comemoração ao Dia, e que suas programações<br />
foram divulgadas pela SBMET, foram:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
CEPAGRI/UNICAMP e a EMBRAPA Informática<br />
CPTEC/INPE<br />
Curso de graduação em Meteorologia e o Centro Estadual de Meteorologia e Hidrologia da Universidade<br />
do Estado do Amazonas (UEA)<br />
EPAGRI/CIRAM<br />
Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA)/Núcleo de Hidrometeorologia<br />
e Energias Renováveis (NHMET)<br />
INMET-2 0 DISME, SIPAM, SECTAM, UFPA e INFRAERO<br />
INMET – 5 0 DISME-MG<br />
INMET – 10 0 DISME-GO<br />
IPMET/UNESP - Bauru<br />
UFPEL, UFSM e INMET-8º DISME<br />
UFCG<br />
UFAL<br />
USP e ATECH<br />
SIPAM-Porto Velho<br />
SIPAM, UFPA e INMET<br />
96
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
EDITOR DA REVISTA BRASILEIRA DE METEOROLOGIA:<br />
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA<br />
Tércio Ambrizzi<br />
DCA - IAG/USP<br />
Editor Responsável da RBMET (2003-2006)<br />
ambrizzi@model.iag.usp.br<br />
Em <strong>2007</strong> a Revista Brasileira de Meteorologia<br />
(RBMET) completa 21 anos de existência. Dentro da<br />
sociedade civil, esta idade indica a maioridade plena<br />
e ao olhar a evolução da revista desde o lançamento<br />
do primeiro número em 1986, creio ser este o caso.<br />
Nos anos iniciais, a revista apresentou um número de<br />
edições não periódicas e poucos artigos por fascículo,<br />
acompanhando de certa forma o desenvolvimento<br />
da própria área de ciências atmosféricas no país.<br />
No entanto, aliado ao próprio desenvolvimento da<br />
Meteorologia brasileira e com o auxílio de algumas<br />
agências de fomento à pesquisa (CNPq, FAPESP,<br />
CAPES), nos últimos anos a RBMET conseguiu<br />
recuperar e atualizar sua publicação, tendo agora<br />
periodicidade quadrimestral. Atualmente, a RBMET<br />
apresenta um fluxo contínuo de recebimento de artigos<br />
e já conta com trabalhos revisados para publicação<br />
em suas próximas edições.<br />
Missão da Revista<br />
A Revista Brasileira de Meteorologia, editada e<br />
publicada pela Sociedade Brasileira de Meteorologia<br />
(SBMET), é o órgão de divulgação das pesquisas<br />
em andamento pela Comunidade Meteorológica.<br />
As pesquisas divulgadas são resultados de trabalhos<br />
dos pesquisadores e professores da área de<br />
meteorologia e suas sub-áreas como climatologia,<br />
sinótica, hidrometeorologia, sensoriamento remoto,<br />
modelagem atmosférica e climática; abrangendo<br />
resultados novos de pesquisa e muitas vezes trabalhos<br />
oriundos da área acadêmica (dissertações de mestrado<br />
e teses de doutorado). Os trabalhos abordam as<br />
características da atmosfera na região brasileira e de<br />
outras regiões do globo, onde além dos resultados de<br />
pesquisadores brasileiros, são publicados também<br />
artigos elaborados por colegas da comunidade latina<br />
americana e internacional de forma geral. Todos os<br />
artigos são revisados por profissionais especializados<br />
( peer review process ) e mantidos no anonimato. Há<br />
também espaço para publicação de artigos científicos<br />
de revisão, apresentando o estado da arte em um<br />
determinado assunto. Neste ultimo caso a revisão<br />
científica é normalmente solicitada a pesquisadores<br />
altamente qualificados ou então pesquisadores<br />
estrangeiros, uma vez que os artigos podem ser<br />
submetidos em língua inglesa, espanhola ou<br />
portuguesa, sendo que necessariamente os resumos e<br />
títulos devem aparecer em português e inglês.<br />
Atualmente, em torno de 70% dos artigos são<br />
oriundos de trabalhos de pesquisa inéditos. Os outros<br />
20% fazem parte de estudos desenvolvidos através de<br />
pesquisas advindas da área acadêmica, ou seja, são<br />
trabalhos de mestrado e parte de teses de doutorado.<br />
Aproximadamente 5% dos artigos, mostram estudos<br />
de caso de eventos particulares e que se destacaram<br />
dentro de uma determinada estação do ano. Conforme<br />
explicitado acima, trabalho de revisão do estado<br />
da arte de um tópico específico e atual também são<br />
aceitos, mas são pouco freqüentes, representando<br />
menos de 5% correspondente as quatro últimas<br />
edições da revista.<br />
97
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Ser Editor da RBMET<br />
No XII Congresso Brasileiro de Meteorologia<br />
realizado na cidade de Foz do Iguaçu em 2002, a<br />
assembléia geral da SBMET votou uma mudança<br />
nas normas de administração da Revista Brasileira<br />
de Meteorologia, onde o mandato do Editor<br />
Responsável pela RBMET passaria de 2 para 4 anos,<br />
podendo inclusive ter uma recondução pelo mesmo<br />
período. Ficou determinado também que o Editor<br />
não poderia estar vinculado a Diretoria Executiva<br />
(DE). Estas modificações foram propostas com o<br />
intuito de fortalecer a revista e dar continuidade de<br />
trabalho independente dos diretores da SBMET.<br />
Sendo assim, através da indicação de meu nome,<br />
votação na Assembléia Geral e aceite, tornei-me<br />
responsável pela publicação da principal revista<br />
brasileira de divulgação de pesquisa na área de<br />
Ciências Atmosféricas.<br />
Dando continuidade ao excelente trabalho que<br />
vinha sendo realizado pelos Editores Responsáveis<br />
de períodos anteriores, várias metas e ações foram<br />
atingidas ao longo do mandato de 2003 a 2006.<br />
Primeiramente, um time de pesquisadores doutores<br />
de alto nível e de diferentes instituições brasileiras<br />
foi convidado a fazer parte da RBMET, são eles: José<br />
Antonio Marengo Orsini (INPE/CPTEC – Editor<br />
Assistente); Enio Pereira de Sousa (UFCG); Gilberto<br />
Fisch (CTA/IAE); Osvaldo L. L. de Moraes (UFSM)<br />
e posteriormente Augusto José Pereira<br />
Filho (USP/IAG), como Editores<br />
Associados.<br />
Com o intuito de tornar a RBMET<br />
conhecida internacionalmente, além<br />
dos editores responsáveis pela<br />
qualidade da revista dentro do Brasil,<br />
alguns outros pesquisadores renomados<br />
de instituições latino-americanas,<br />
dos Estados Unidos e Inglaterra,<br />
aceitaram participar do Corpo Editorial<br />
Internacional da revista como os Drs.<br />
Carolina S. Vera (UBA, Argentina), René D. Garreau<br />
(UCh, Chile); Victor Magaña (UNAM, México),<br />
Brant Liebmann (CIRES, Estados Unidos) e David<br />
98<br />
Stephenson (UR, Inglaterra). Estas primeiras ações<br />
tinham por objetivo estimular a qualidade e quantidade<br />
de artigos submetidos, onde a freqüência anual<br />
de publicação e seu reconhecimento internacional<br />
pudessem ser atingidos.<br />
Apesar de todos os planos e metas, da motivação<br />
e suporte de toda a equipe de editores, uma das<br />
dificuldades encontradas ao longo do período foi<br />
quanto ao financiamento da própria revista. Nas<br />
duas gestões da DE, ou seja, nos biênios 2002-<br />
2004 e 2004-2006, o suporte a RBMET foi amplo e<br />
irrestrito. Através de pedidos de auxílio à editoração<br />
ao CNPq e contribuição de alguns pesquisadores<br />
através de projetos de pesquisa, as edições da revista<br />
continuaram a ser publicadas dentro do período<br />
esperado. Conforme podemos ver pela Tabela 1,<br />
ao longo dos anos, o volume de artigos recebidos<br />
cresceu de forma significante e, desta forma, a partir<br />
do ano de 2005, a RBMET começou a contar com<br />
três edições anuais. Recebendo artigos não somente<br />
de pesquisadores brasileiros, mas também de outros<br />
países latino-americanos, a qualidade dos mesmos<br />
também melhorou de forma excepcional, sendo<br />
que há vários anos a revista é considerada como<br />
Qualis Nível A Nacional da CAPES, ou seja, dentro<br />
do ranking das revistas em que a CAPES qualifica<br />
como importante e considera em suas avaliações de<br />
produção científica dos cursos de pós-graduação,<br />
particularmente na área de Meteorologia.<br />
Tabela 1: Resumo geral dos artigos recebidos, aceitos, recusados, cancelados pelo<br />
autor e em processo de revisão ao longo do quadriênio 2003-2006<br />
Descrição 2003 2004 2005 2006<br />
Artigos Recebidos 24 32 56 87 *<br />
Artigos Aceitos 21 22 36 11<br />
Artigos Recusados 3 06 13 08<br />
Artigos Cancelados pelo Autor - 04 02 -<br />
Artigos em Processo de Revisão - - 05 24<br />
(*)<br />
O total de artigos recebidos em 2006 contém também a soma daqueles enviados<br />
para a edição especial do LBA (ver texto para detalhes).<br />
Ao longo do ultimo quadriênio, a RBMET se<br />
consolidou como uma revista de divulgação de
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
pesquisa altamente qualificada e de referencia nos<br />
meios acadêmicos. Com o aumento dos artigos<br />
submetidos e posteriormente aceitos, foi necessário<br />
não somente aumentar o número de edições por ano,<br />
fato este que se concretizou a partir de 2004, com<br />
edições em junho, agosto (durante o XIII Congresso<br />
Brasileiro de Meteorologia em Fortaleza, Ceará)<br />
e dezembro; mas também aumentar o número de<br />
artigos por edição, passando de 10 para 12 a partir da<br />
edição de dezembro de 2004 (Tabela 2).<br />
A evolução do número de artigos ao longo da<br />
história da RBMET, bem como os principais editores<br />
responsáveis pela mesma podem ser apreciados<br />
através da Tabela 2. É interessante notar que o<br />
primeiro número publicado em 1986 continha apenas<br />
4 artigos e o volume 21, números 3a e 3b, publicado<br />
em dezembro de 2006, contém no total 37. Na verdade,<br />
em relação a esta última edição, a confiança alcançada<br />
pela RBMET, seja em sua comprovada qualidade<br />
como em sua freqüência, culminou com uma edição<br />
especial de trabalhos ligados ao projeto Large-scale<br />
Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazônia<br />
(LBA), o qual teve como editores especiais os Drs.<br />
Osvaldo L. L. de Moraes da Universidade Federal de<br />
Santa Maria e Antonio O. Manzi, do INPA.<br />
Apesar da Tabela 2 conter apenas os nomes<br />
dos editores responsáveis pela RBMET ao longo<br />
destes últimos 20 anos, deve ser ressaltada a grande<br />
contribuição dos editores assistentes e associados em<br />
cada uma de suas fases. Destaque também é dado aos<br />
inúmeros revisores que tem contribuído diretamente<br />
para o aumento progressivo da qualidade dos artigos<br />
publicados. Neste caso, os autores estão de parabéns<br />
por submeterem seus artigos a nossa revista, por<br />
acreditarem em sua qualidade e capacidade de<br />
divulgação científica.<br />
Tabela 2: Descrição do volume, número, data de publicação, número de artigos por número e nome do Editor responsável pela<br />
RBMET ao longo dos últimos 20 anos de sua existência.<br />
<strong>Volume</strong> Número Data Public. N o artigo Editor Responsável<br />
1 1-2 Junho/Dez/86 4-7 Antonio Divino Moura<br />
2 1-2 Jun/Dez/87 8 Antonio Divino Moura<br />
3 1 Jun/88 4 Antonio Divino Moura<br />
3 2 Dez/88 4 Silvio de Oliveira<br />
4 1-2 Jun/Dez/89 6 Silvio de Oliveira<br />
5 1-2 Jun/Dez/90 6 Silvio de Oliveira<br />
6 1-2 Jun/Dez/91 8 Maria Assunção F.S. Dias<br />
7 1-2 Jun/Dez/92 8 Maria Assunção F.S. Dias<br />
8/9 1-1 93/94 9 Maria Assunção F.S. Dias<br />
10 1-2 Jun/Dez/95 8 Romisio G. B. André<br />
11 1-2 Jun/Dez/96 10 Romisio G. B. André<br />
12 1-2 Jun/Dez/97 6 Romisio G. B. André<br />
13 1-2 Jun/Dez/98 7 Romisio G. B. André<br />
14 1-2 Jun/Dez/99 7-8 Romisio G. B. André<br />
15 1-2 Jun/Dez/00 11-10 Romisio G. B. André<br />
16 1-2 Jun/Dez/01 10 Gilberto F. Fisch<br />
17 1-2 Jun/Dez/02 10 Gilberto F. Fisch<br />
18 1-2 Jun/Dez/03 10 Tércio Ambrizzi<br />
19 1-3 Jun/Ago/Dez/04 10-10-12 Tércio Ambrizzi<br />
99
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
( continuação )<br />
<strong>Volume</strong> Número Data Public. N o artigo Editor Responsável<br />
20 1-3 Abril/Ago/Dez/05 12 Tércio Ambrizzi<br />
21 1-2 Abril/Ago/06 12 Tércio Ambrizzi<br />
21 3a-3b Dez/06 17-20<br />
Tércio Ambrizzi;Osvaldo L.L. Moraes;<br />
e Antonio O. Manzi<br />
Comentários Finais<br />
Após a reflexão feita acima, onde de forma breve<br />
descrevi o histórico da RBMET, sua evolução ao longo<br />
do tempo e seu impacto em nossa sociedade, creio<br />
que o título do presente artigo não poderia estar mais<br />
correto, ou seja, ser editor da Revista Brasileira de<br />
Meteorologia é sem duvida alguma uma experiência<br />
única. Ao longo de meus quatro anos, pude criar<br />
laços não somente profissionais, mas também de<br />
amizade com os Editores que me acompanharam e<br />
ajudaram. Juntos tornamos a revista da Sociedade<br />
Brasileira de Meteorologia uma referência nacional<br />
e internacional. Erros foram cometidos e corrigidos<br />
o mais rápido possível, no entanto os acertos foram<br />
muito maiores. Neste período pude conhecer também<br />
vários membros de nossa comunidade científica que<br />
estavam sempre dispostos a colaborar com as revisões<br />
dos artigos. A eles meu muito obrigado.<br />
Por fim, de modo a continuar a modernizar a<br />
RBMET, tornando-a mais ágil e rápida em termos<br />
de tempo de publicação e para facilitar a transmissão<br />
dos conhecimentos para os futuros editores, o Portal<br />
da RBMET encontra-se pronto para acesso a todos<br />
os membros da comunidade científica. Através<br />
do esforço do DE no biênio 2005-2006 e da nova<br />
diretoria (biênio <strong>2007</strong>-2008), o site www.rbmet.org.<br />
br encontra-se totalmente implementado. Através<br />
deste portal é possível acessar os números antigos<br />
da RBMET, além de submeter e acompanhar o<br />
andamento de artigos pelos autores. Os editores da<br />
revista, bem como os revisores por eles escolhidos<br />
terão acesso especial e poderão fazer todo o processo<br />
de acompanhamento on line.<br />
Concluo meu mandato com um misto de alegria<br />
e tristeza. Alegria porque pude acompanhar toda<br />
a evolução de nossa revista e o desenvolvimento<br />
científico de nosso país na área de ciências<br />
atmosféricas, além de conviver com pesquisadores de<br />
altíssimo nível. Triste porque existem muitas outras<br />
coisas que poderia ter feito e não fiz. No entanto,<br />
estou certo de que o próximo Editor Responsável<br />
pela RBMET vai poder fazer muito mais do que fiz e<br />
a ele felicito por aceitar este importante e prazeroso<br />
desafio de comandar a principal revista em Ciências<br />
Atmosféricas do Brasil ligada à Sociedade Brasileira<br />
de Meteorologia.<br />
100
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA<br />
DA SBMET (<strong>2007</strong>-2008)<br />
A Diretoria Executiva da SBMET para o biênio<br />
<strong>2007</strong>-2008 foi empossada em 26 de janeiro pp., em<br />
cerimônia realizada na sede do CREA-RJ, durante<br />
Assembléia Geral Extraordinária convocada para<br />
esse fim. Estiveram presentes em torno de setenta<br />
participantes, incluindo sócios, representantes de<br />
instituições públicas e privadas, participantes do<br />
CREA, familiares e amigos, além do público em<br />
geral.<br />
O encerramento da cerimônia foi coroado com um<br />
Coquetel oferecido aos presentes e patrocinado pela<br />
Empresa Hobeco Sudamericana Ltda., do sócio da<br />
SBMET Sr. Gilson Feitosa, que também prestigiou o<br />
evento de posse.<br />
Também informamos que no dia 25 de janeiro pp.<br />
a Diretoria Executiva (DE) da SBMET para o biênio<br />
<strong>2007</strong>-2008 e membros do Conselho Deliberativo<br />
(CD) da SBMET estiveram reunidos em um Jantar de<br />
Confraternização na Churrascaria PORCÃO, no Rio<br />
de Janeiro, patrocinado pela Empresa SIMTECH<br />
Representações. Na ocasião, os membros da DE e<br />
do CD foram recepcionados pelo Representante da<br />
SIMTECH, o Sócio Corporativo da SBMET, Sr.<br />
César Lynch.<br />
A DE externa seus agradecimentos à HOBECO e<br />
à SIMTECH pela presença na cerimônia de posse dos<br />
novos membros da DE e do CD, e pelo patrocínio em<br />
ambas as confraternizações já mencionadas.<br />
REGISTRO DA CERIMÔNIA DE POSSE<br />
(fotos cedidas por Marley Moscati)<br />
Público presente durante a cerimônia de Posse.<br />
101
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Assinatura do Termo de Posse, dos membros da nova<br />
Diretoria Executiva da SBMET<br />
(a) (b) (c)<br />
(d) (e) (f)<br />
(g) (h) (i)<br />
a) Isimar de Azevedo Santos (Dir. Financeiro)<br />
b) Jonas da Costa Carvalho (Vice-Dir. Financ.)<br />
c) Marley C. L. Moscati (Dir. Administrativa)<br />
d) Heloisa M. T. Nunes (Vice-Dir. Admin.)<br />
e) Alfredo Silveira da Silva (Dir. Profissional)<br />
f) Marilene de Lima (Vice-Dir. Profissional)<br />
g) Pedro Leite da Silva Dias (Dir. Científico)<br />
h) Osvaldo L. L. de Moraes ( Vice-Dir. Científico)<br />
i) Bernardo Barbosa da Silva (Vice-Presidente)<br />
j) Maria Gertrudes A. Justi da Silva (Presidente)<br />
(j)<br />
102
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Durante a cerimônia foi apresentada a Palestra “Um desafio para a Meteorologia moderna: a<br />
interdisciplinaridade”, proferida pelo Dr. Pedro Leite da Silva Dias (foto 1). A platéia foi muito participativa<br />
(foto 2 em destaque Dr. Fernando Pimenta Alves), com uma ampla discussão sobre os assuntos apresentados<br />
pelo Dr. Pedro Dias.<br />
(1) (2)<br />
Nova DE da SBMET (<strong>2007</strong>-2008)<br />
COQUETEL OFERECIDO PELA HOBECO<br />
(fotos cedidas por Marley Moscati)<br />
Justi (ao centro), com o anfi trião da Hobeco, Gilson Feitosa<br />
(à esquerda)<br />
103
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
Alguns convidados presentes ao coquetel oferecido pela Hobeco:<br />
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO OFERECIDO PELA SIMTECH<br />
(Fotos cedidas por Marley Moscati)<br />
Presidente da SBMET com anfi trião, Cesar Lynch<br />
104
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
NOVOS VALORES DE ANUIDADE PARA <strong>2007</strong><br />
O Conselho Deliberativo da SBMET em reunião<br />
realizada na Sede da SBMET, no Rio de Janeiro, em<br />
26 de janeiro de <strong>2007</strong>, aprovou os seguintes valores<br />
para as anuidades de <strong>2007</strong>, atualizados a cada trimestre:<br />
TRIMESTRES<br />
CLASSES DE SÓCIOS/VALORES (em R$)<br />
ESTUDANTE COLABORADOR EFETIVO CORPORATIVO<br />
Jan-Fev-Mar 23,00 45,00 90,00 180,00<br />
Abr-Mai-Jun 25,00 48,00 95,00 190,00<br />
Jul-Ago-Set 28,00 55,00 110,00 220,00<br />
Out-Nov-Dez 30,00 60,00 120,00 240,00<br />
Encontra-se disponível no Portal da SBMET<br />
(www.<strong>sbmet</strong>.org.br) o link para pagamento online<br />
da anuidade de <strong>2007</strong>. O pagamento da anuidade deve<br />
ser feito exclusivamente via boleto bancário. Isso<br />
ajudará no controle dos depósitos feitos em nome<br />
da SBMET, pois, muitos depósitos bancários entram<br />
sem identificação do depositante (o sócio não faz<br />
depósito identificado).<br />
Para a geração do boleto bancário acesse o link<br />
reservado aos sócios e informe seu e-mail e senha.<br />
Qualquer dúvida na geração do boleto bancário, favor<br />
contatar o Setor de Suporte do Portal, com Rogério<br />
Torres (rogerio@thecubestudios.com).<br />
PAGAMENTO DE ANUIDADES COM CARTÃO DE CRÉDITO<br />
Já está disponível no Portal da SBMET o pgamento de anuidades com cartão de crédito Américan<br />
Express (AMEX). É só acessar e conferir!<br />
105
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
DESIGNAÇÃO DO NOVO EDITOR DA RBMET<br />
Devido ao fim do mandato do Editor Responsável<br />
da Revista Brasileira de Meteorologia (RBMET), Dr.<br />
Tércio Ambrizzi, a SBMET abriu inscrições para o<br />
cargo mencionado. O sócio efetivo Manoel Alonso<br />
Gan, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas<br />
Espaciais/Centro de Previsão de Tempo e Estudos<br />
Climáticos (INPE/CPTEC), foi candidato único ao<br />
cargo supramencionado.<br />
Em Reunião do Conselho Deliberativo (CD)<br />
realizada em 27 de abril de <strong>2007</strong>, na Sede da SBMET,<br />
foi aprovada por unanimidade a designação do sócio<br />
Manoel Alonso Gan, como o novo Editor Responsável<br />
da RBMET, para o quadriênio <strong>2007</strong>-2010.<br />
O nome do novo Editor da RBMET foi submetido<br />
à aprovação dos sócios efetivos quites com a anuidade<br />
durante a Assembléia Geral Extraordinária, ocorrida<br />
em 27 de abril de <strong>2007</strong> na Sede do CREA-RJ,<br />
tendo sido aprovado por unanimidade pelos sócios<br />
presentes.<br />
A SBMET agradece ao Dr. Tércio Ambrizzi pelo<br />
trabalho realizado como Editor da RBMET até essa<br />
data e dá as boas vindas ao Dr. Manoel Alonso Gan,<br />
desejando-lhe muito sucesso e um ótimo trabalho em<br />
seu mandato.<br />
Curriculum Vitae Resumido do novo Editor da RBMET, MANOEL ALONSO GAN<br />
Pesquisador Titular do Centro de Previsão de<br />
Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)/Instituto<br />
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Vem<br />
trabalhando no INPE na área de Meteorologia<br />
Sinótica e Climatologia Dinâmica desde março<br />
de 1982. Obteve o seu bacharelado em Física na<br />
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/<br />
SP), o mestrado e o doutorado em Meteorologia no<br />
INPE, e o Pós-Doutorado no International Research<br />
Institute for Climate and Society (IRI).<br />
Publicou artigos em revistas de circulação<br />
internacional sobre Ciclogênese, Vórtices Ciclônicos<br />
em Altos Níveis e Circulação da Monção na América<br />
do Sul. Recentemente foi Vice-Diretor Científico<br />
da SBMET e atualmente é membro do Comitê<br />
Regional para o Hemisfério Sul do Programa<br />
THORPEX (THe Observing system Research and<br />
Predictability Experiment), da Organização Mundial<br />
de Meteorologia.<br />
Como proposta inicial de trabalho na RBMET,<br />
pretende:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Renovar o atual quadro de editores associados,<br />
se possível incluir alguns estrangeiros de<br />
renome internacional;<br />
Manter e, se possível, melhorar o atual nível<br />
da revista;<br />
Agilizar o processo de aceitação dos artigos;<br />
Procurar corrigir possíveis falhas que por<br />
ventura surjam no software de submissão online<br />
dos artigos (neste caso, conta com o apoio<br />
de todos para que seja informado de problemas<br />
encontrados).<br />
Assim que outras melhorias que estão sendo<br />
discutidas, principalmente com o Dr. Nelson Jesus<br />
Ferreira (que será o Editor Assistente) forem definidas,<br />
estas serão comunicadas aos sócios da SBMET.<br />
106
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA O CONSELHO FISCAL da SBMET<br />
O resultado da eleição para o Conselho Fiscal (CF)<br />
para a conclusão do mandato do ano fiscal de <strong>2007</strong>,<br />
realizada durante a Assembléia Geral Extraordinária<br />
ocorrida em 27 de abril de <strong>2007</strong>, na Sede do CREA-<br />
RJ, no Rio de Janeiro, segue abaixo:<br />
Candidatos<br />
Número de Votos<br />
Elza Correia Sucharov 43<br />
Eugênio José Ferreira Neiva 34<br />
Fernando Pimenta Alves 21<br />
Jaci Maria Bilhalva Saraiva <strong>31</strong><br />
Mariana Palagano Ramalho Silva 26<br />
Houve 06 votos nulos e 02 votos em branco. Assim, foram eleitos os seguintes sócios da SBMET, como<br />
membros do CF:<br />
Titulares:<br />
Elza Correia Sucharov - Presidente<br />
Eugênio José Ferreira Neiva<br />
Jaci Maria Bilhalva saraiva<br />
Suplente:<br />
Mariana Palagano Ramalho Silva<br />
RBMET ONLINE<br />
Desde a abertura do XIV CBMET em<br />
Florianópolis, SC, está em funcionamento o Portal<br />
da RBMET (www.rbmet.org.br). Neste, todos os<br />
artigos publicados nas RBMET anteriores e atual<br />
(volumes 18 (2003) até o último número de <strong>2007</strong> ),<br />
estão com acesso livre para download. Também está<br />
disponível o link para submissão online de artigos<br />
científicos.<br />
107
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA<br />
Síntese dos Relatórios Científi co e de Atividades<br />
1. INTRODUÇÃO<br />
Os Congressos Brasileiros de Meteorologia são eventos<br />
bianuais que vêm sendo promovidos, sistemática<br />
e ininterruptamente pela Sociedade Brasileira de<br />
Meteorologia (SBMET) desde 1980. Tais congressos<br />
têm tido grande êxito em promover o entendimento dos<br />
processos do meio ambiente atmosférico. Detalhes sobre<br />
estes encontros podem ser obtidos em seus respectivos<br />
anais publicados pela SBMET.<br />
A Sociedade Brasileira de Meteorologia entendeu<br />
que era o momento oportuno de enfocar e priorizar as<br />
questões de aplicação e dedicou este XIV Congresso<br />
Brasileiro de Meteorologia (XIV CBMET) a este<br />
objetivo primordial, definindo como tema do evento “A<br />
Meteorologia a Serviço da Sociedade”.<br />
No XIV CBMET foram destacadas as seguintes<br />
aplicações:<br />
Energia<br />
Esporte, Turismo, Lazer e Cultura<br />
Agricultura e Pesca<br />
Saúde e Meio Ambiente<br />
Economia, Indústria, Comércio, Transporte e<br />
Comunicações<br />
Defesas Civil e Militar<br />
O objetivo do XIV CBMET, seguindo os passos<br />
das edições anteriores, foi o de reunir a comunidade<br />
científica para apresentar e discutir os resultados das<br />
novas descobertas na área de Meteorologia e áreas<br />
108
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
correlatas, enfocando os benefícios que esses resultados<br />
e descobertas podem trazer para a sociedade como<br />
um todo. Este XIV Congresso especificamente se<br />
propôs a trazer visibilidade às diversas aplicações da<br />
Meteorologia, através da interação e do debate com os<br />
segmentos envolvidos.<br />
Além de pesquisadores, professores e estudantes de<br />
meteorologia, agronomia, oceanografia, geografia<br />
e ecologia, entre outros, participaram efetivamente<br />
do evento, tomadores de decisão, engenheiros e<br />
responsáveis por instituições de defesa civil e de<br />
planejamento gerencial.<br />
Os Congressos de Meteorologia no Brasil têm crescido<br />
a cada edição em dimensão e qualidade, inclusive<br />
atraindo grande interesse por parte de pesquisadores de<br />
países da América Latina e da Península Ibérica. Além<br />
disso, a participação maciça dos estudantes sinaliza para<br />
o progresso da área, por envolver as novas gerações nas<br />
questões da pesquisa e desenvolvimento. Na presente<br />
edição do Congresso, contou-se com 1010 trabalhos<br />
e 1563 participantes inscritos. Participaram do evento<br />
357 estudantes de pós-graduação, 550 estudantes<br />
dos cursos de Técnico e de graduação, além de 16<br />
participantes especiais (avaliadores dos trabalhos), e os<br />
demais inscritos, profissionais da área de Meteorologia<br />
e afins. Houve participantes de todas as instituições<br />
ligadas à Meteorologia e Climatologia do Brasil, tais<br />
como universidades, órgãos de Meteorologia Estaduais<br />
e Federais, empresas de Meteorologia e Ministérios.<br />
O evento também contou com a participação de<br />
representantes e convidados internacionais.<br />
2. EQUIPE ORGANIZACIONAL DO EVENTO<br />
2.1 - DIRETORIA EXECUTIVA DA SBMET<br />
Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva – Presidente<br />
Augusto José Pereira Filho – Vice-Presidente<br />
Marley Cavalcante de Lima Moscati – Diretora<br />
Administrativa<br />
Nelson Jesus Ferreira – Vice-Diretor Administrativo<br />
Isimar de Azevedo Santos – Diretor Financeiro<br />
Anne Moraes – Vice-Diretora Financeira<br />
Teresinha de Maria Bezerra Sampaio Xavier –<br />
Diretora Científica<br />
Manoel Alonso Gan – Vice-Diretor Científico<br />
Alfredo Silveira da Silva – Diretor Profissional<br />
Ana Lúcia Frony de Macedo – Vice-Diretora<br />
Profissional<br />
2.2 – PRESIDENTE DO XIV CBMET<br />
Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva – UFRJ<br />
2.3 – COMITÊ DE INFRA-ESTRUTURA<br />
Alfredo Silveira da Silva – UFRJ<br />
Anne Moraes - UFRJ<br />
Claudine Pereira Dereczynski - UFRJ<br />
Marley Cavalcante de Lima Moscati – CPTEC/INPE<br />
2.4 – COMITÊ DE FINANÇAS<br />
Isimar de Azevedo Santos - UFRJ<br />
Heloisa Moreira Torres Nunes - IGAM/SIMGE<br />
Elza Correa Sucharov – SIMERJ<br />
Francisco de Assis Diniz - INMET<br />
2.5 – COMITÊ LOCAL<br />
Henrique de Melo Lisboa – UFSC (Coordenador)<br />
Reinaldo Haas – UFSC<br />
Mário Francisco Leal Quadro – CEFET/SC<br />
Marcia Vetromilla Fuentes – CEFET/SC<br />
Marilene de Lima – CIRAM/EPAGRI<br />
Rita Alvez – CIRAM/EPAGRI<br />
Marcelo Moraes – CIRAM/EPAGRI<br />
Helio dos Santos Silva – FURB<br />
Sylvio Mantelli – INPE<br />
2.6 – COMITÊ CIENTÍFICO<br />
Augusto José Pereira Filho – USP<br />
Luis Augusto Toledo Machado – CPTEC/INPE<br />
Manoel Alonso Gan – CPTEC/INPE<br />
Nelson de Jesus Pereira – CPTEC/INPE<br />
Regina Célia dos Santos Alvalá – CPTEC/INPE<br />
Teresinha de Maria Bezerra Sampaio Xavier – UFC<br />
e ACECI<br />
2.7 – COMITÊ DE MINICURSOS<br />
Teresinha de Maria Bezerra Sampaio Xavier – UFC<br />
e ACECI (Coordenadora)<br />
Regina Célia dos Santos Alvalá – CPTEC/INPE<br />
Henrique de Melo Lisboa – UFSC<br />
Viviane Regina Algarve – CPTEC/INPE<br />
109
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
2.8 – COMITÊ ORGANIZADOR DAS ÁREAS DE<br />
APLICAÇÃO<br />
ENERGIA<br />
Eduardo Alvim Leite – SIMEPAR<br />
Ênio Bueno Pereira – INPE<br />
ESPORTE, TURISMO, LAZER E CULTURA<br />
Maria Assunção Faus da Silva Dias – CPTEC/INPE<br />
Hélio dos Santos Silva – FURB<br />
AGRICULTURA E PESCA<br />
Antônio Divino Moura – INMET<br />
José Antonio Lorenzzetti – INPE<br />
SAÚDE E AMBIENTE<br />
Carlos Afonso Nobre – INPE<br />
Fábio Luiz Teixeira Gonçalves – USP<br />
ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO,<br />
TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES<br />
Oswaldo Massambani – USP<br />
Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins<br />
– FUNCEME<br />
DEFESAS CIVIL E MILITAR<br />
Ricardo Sarmento Tenório – UFAL<br />
Márcio Luiz Alves – DCSC<br />
2.9 – COMITÊ DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS<br />
– ÁREAS TEMÁTICAS<br />
CLIMA: DESCRIÇÃO, MODELAGEM,<br />
VARIABILIDADE E PREVISÃO<br />
Alice Marlene Grimm – UFPR<br />
Luiz Carlos Baldicero Molion – UFAL<br />
Guillermo Obregon Párraga<br />
Edmilson Dias de Freitas<br />
Silvio Nilo Figueroa<br />
Clóvis Angeli Sansigolo<br />
HIDROMETEOROLOGIA<br />
Alexandre Güeter – SIMEPAR<br />
Francisco de Assis Salviano de Souza – UFCG<br />
POLUIÇÃO E QUÍMICA DA ATMOSFERA<br />
Maria de Fátima Andrade – USP<br />
Jonas Carvalho – ULBRA<br />
INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA<br />
Ricardo de Camargo – USP<br />
Manoel Gomes Filho – UFCG<br />
AGROMETEOROLOGIA E PROCESSOS DE<br />
TROCA ENTRE SOLO-PLANTA-ATMOSFERA<br />
Romísio Geraldo Bouhid André – UENF<br />
Roberto da Fonseca Lyra – UFAL<br />
RADIAÇÃO E SENSORIAMENTO DA<br />
ATMOSFERA<br />
José Ricardo de Almeida França – UFRJ<br />
Galdino Viana Mota – UFPA<br />
SISTEMAS METEOROLÓGICOS E PREVISÃO DE<br />
TEMPO<br />
Reinaldo Bonfim Silveira – INMET<br />
Marcelo Seluchi – INPE<br />
MODELAGEM ATMOSFÉRICA<br />
Clemente Augusto Souza Tanajura – LNCC/RJ<br />
José Paulo Bonatti – INPE<br />
3. FONTES DE APOIO AO EVENTO<br />
3.1 - ENTIDADES PROMOTORAS E<br />
CO-PARTICIPANTES<br />
SBMET – (Organizadora)<br />
UFSC – (Co-participante)<br />
INPE/CPTEC - (Co-participante)<br />
UFRJ – (Co-participante)<br />
USP – (Co-participante)<br />
3.2 - APOIO INSTITUCIONAL<br />
EPAGRI/CIRAM<br />
CEFET-SC<br />
INMET<br />
FURB<br />
110
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
3.3 - PATROCINADORES<br />
CAPES<br />
CNPq<br />
CREA-SC<br />
FAPERJ<br />
FAPESP<br />
PETROBRÁS<br />
FINEP<br />
CONFEA<br />
ANA<br />
OMM<br />
ONS<br />
3.4 - EXPOSITORES<br />
AGROSYSTEM<br />
CAMPBELL SCIENTIFIC<br />
EPAGRI/CIRAM<br />
FUNCEME<br />
HOBECO<br />
INMET<br />
INPE/CPTEC<br />
PETROBRÁS<br />
SELLEX<br />
SIMEPAR<br />
SIMTECH<br />
SQUITTER DO BRASIL<br />
4. PROGRAMAÇÃO<br />
4.1 - ATIVIDADES DE ABERTURA<br />
Inscrições e entrega do material do Congresso<br />
– Hall de Exposições<br />
Abertura do Congresso com as autoridades<br />
presentes – Auditório Garapuvu<br />
Entrega dos Prêmios “Sampaio Ferraz” e<br />
“Adalberto Serra”<br />
Conferência Magna: A Meteorologia a Serviço<br />
da Sociedade<br />
Conferencista: Dr a . Maria Assunção Faus da<br />
Silva Dias (Coordenadora Geral do CPTEC/<br />
INPE)<br />
Momento de Confraternização no Hall de<br />
Exposições<br />
4.2 - DISCUSSÕES SOBRE POLÍTCAS E<br />
ESTRATÉGIAS PARA A METEOROLOGIA<br />
Debate: Ensino de Meteorologia no Brasil<br />
Motivadores: Adilson José de Lara (CONFEA)<br />
Mário Francisco Leal de Quadro (CEFET-SC)<br />
Bernardo Barbosa da Silva (UFCG)<br />
Amauri Pereira de Oliveira (USP)<br />
Discussão sobre Salário Mínimo Profissional<br />
Palestra proferida pelo Dr. Fernando Elias Vieira<br />
Jogaid – Federação Interestadual de Sindicatos de<br />
Engenheiros (FISENGE).<br />
Encontro dos Estudantes de Meteorologia<br />
Coordenação: Prof Ms. Mario Francisco Leal Quadro<br />
(CEFET-SC)<br />
Assembléias da Sociedade Brasileira de<br />
Meteorologia<br />
4.3 - CICLOS DE PALESTRAS DE CONVIDADOS<br />
INTERNACIONAIS<br />
Palestras com tradução simultânea:<br />
Stefan L. Hastenrath (University of Wisconsin)<br />
Título: Mecanismos de circulação e de teleconexão<br />
das secas do Nordeste.<br />
John J. Bates (NOAA/NESDIS)<br />
Título: Climate Data Records for Climate Studies<br />
from Existing and New Instruments Aboard NOAA<br />
Satellites.<br />
Thomas M. Whittaker (Space Science and<br />
Engineering Center, Un. Wisconsin)<br />
Título: Using VISITview for Remote Collaborations<br />
and Training.<br />
Palestras sem tradução simultânea:<br />
Bart Kruit (Wageningen University & Research<br />
Centre, Wegeningen, Holanda)<br />
Título: Processos de Troca Solo-Planta-Atmosfera.<br />
111
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
Fedor Messinger (Earth System Science<br />
Interdisciplinary Center, Universidade de<br />
Maryland)<br />
Título: Modelagem de Mesoescala.<br />
Patrício Aceituno (Universidade do Chile)<br />
Título: Anomalias Climáticas na América do Sul<br />
durante o El Niño 1987-1988.<br />
Aleksis Kajava (Vaisala)<br />
Titulo: Novas Tecnologias para Projetos de<br />
Mesoescala – A Experiência do Teste BED.<br />
Ed Bardo (Vaisala)<br />
Titulo: Monitoramento de Descargas Totais com<br />
Aplicacao em Previsao de Tempestades Severas.<br />
4.4 - MINICURSOS<br />
Foram oferecidos cinco mini-cursos (Tabela 1),<br />
com 141 inscritos e destes, 109 participaram<br />
efetivamente. Várias universidades se inscreveram,<br />
podendo-se citar USP, UFCG, UECE, UFJF,<br />
UFSC, CEFET - RJ, CEFET-BA, CEFET-SC, UnB,<br />
UFRJ, UFSM, UFPA, UFRGS, UENF, UFPE,<br />
UNISUL, UNICAMP, UFAL, UNISC, entre outras.<br />
Também participaram dos mini-cursos as seguintes<br />
instituições: EMBRAPA, CETREL, INFRAERO,<br />
FURNAS, ONS, COMAER, INPA, INPE, INMET,<br />
UNIVERDADE DA ALEMANHA, ESCOLA<br />
DE APRENDIZES-MARINHEIRO, UNESCO,<br />
DEFESA CIVIL-SP, além de interessados em<br />
meteorologia.<br />
Tabela 1: Mini-cursos ministrados durante o XIV CBMET.<br />
N 0 MINI-CURSOS INSCRITOS (Participantes)<br />
1<br />
Quantis e Eventos Extremos – Aplicações em Ciências da Terra e<br />
Ambientais<br />
Instrutor: Teresinha M. B. Sampaio Xavier (UFCE e ACECI)<br />
13 (13)<br />
2<br />
Desastres Naturais – Inundação e Deslizamentos e Previsão<br />
Meteorológica para Mitigação<br />
Instrutores: Augusto José Pereira Filho (USP) e Massato Kobyama<br />
(ENS-UFSC)<br />
17 (15)<br />
3<br />
Interpretação de Imagens de Satélites<br />
Instrutores: Nelson Jesus Ferreira e<br />
Manoel Alonso Gan, do CPTEC/INPE<br />
33 (26)<br />
4<br />
Mudanças Climáticas Globais<br />
Instrutores: José Antônio Marengo Orsini (CPTEC/INPE), Pedro<br />
Leite da Silva Dias (USP), Tércio Ambrizzi (USP)<br />
63 (43)<br />
5<br />
Meteorologia Geral para Formação Profissional de Ensino Médio<br />
Instrutores: Ana Catarina Farah Perrella (UNIVAP) e Mário Francisco<br />
Leal de Quadros (CEFETSC)<br />
15 (12)<br />
112
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
4.5 - SESSOES PLENÁRIAS<br />
PLENÁRIA 1 – Energia<br />
Coordenador: Enio B. Pereira - CPTEC/INPE<br />
Relator: Eduardo Alvim Leite – SIMEPAR<br />
Palestra: “ Contribuição das energias renováveis<br />
na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas”<br />
Apresentadora: Laura Cristina Fonseca Porto,<br />
Diretora do Departamento de Desenvolvimento<br />
Energético, Secretaria de Planejamento e<br />
Desenvolvimento Energético, Ministério de Minas<br />
e Energia (MME)<br />
PLENÁRIA 2 - Esporte, Turismo, Lazer e Cultura<br />
Coordenador: Dr. Hélio dos Santos Silva FURB<br />
Relator: Dra. Maria Assunção F. S. Dias INPE/CPTEC<br />
Palestra: “A necessidade de informações<br />
meteorológicas adequadas para o Turismo, Esportes<br />
e Lazer”.<br />
Apresentadora: Dra. Ana Cristina P. C de Almeida<br />
– UFPA<br />
Palestra - “Os principais eventos turísticos de Santa<br />
Catarina e suas vulnerabilidades às informações<br />
meteorológicas”.<br />
Apresentador: Dr. Guilberto Chaplin Savedra /<br />
Secretário Estadual de Cultura, Turismo e Esportes<br />
– Santa Catarina (SC).<br />
PLENÁRIA 3 - Agricultura e Pesca<br />
Coordenadores: Dr. Antonio Divino Moura - INMET e<br />
Dr. João Antonio Lorenzzetti - INPE<br />
Relator: Dr. Lauro Tadeu G. Fortes - Coordenação de<br />
Desenvolvimento e Pesquisa, INMET<br />
Palestra - “ Comportamento Fenológico de culturas<br />
agrícolas e aquecimento global”<br />
Apresentador: Prof. Hilton Silveira Pinto- Cepagri/<br />
Unicamp<br />
Palestra – Meteorologia e pesca: conceitos, aplicações<br />
e incertezas.<br />
Apresentadora: Profa. Patrícia Sunye - EPAGRI/<br />
CIRAM<br />
PLENÁRIA 4 - Saúde e Ambiente<br />
Coordenador e Relator: Dr. Fábio Luiz Teixeira<br />
Gonçalves - USP/IAG<br />
Palestra: “Malária e Mudanças Climáticas”<br />
Apresentador: Dr. Ulisses Confalonieri (Fiocruz)<br />
PLENÁRIA 5 - Economia, Indústria, Comércio,<br />
Transporte e Comunicações<br />
Coordenador e Relator: Dr. Eduardo Sávio Passos<br />
Rodrigues Martins – FUNCEME<br />
Palestra: “Impactos sócio-econômicos da<br />
variabilidade climática”<br />
Apresentador: Francisco de Assis de Souza Filho,<br />
IRI/Columbia University<br />
PLENÁRIA 6 - Defesa Civil<br />
Coordenador: Dr. Ricardo Sarmento Tenório – UFAL<br />
Relator: Márcio Luiz Alves – Capitão da Polícia Militar<br />
- Defesa Civil/SC<br />
Palestra: “A Defesa civil e a importância da<br />
meteorologia nas suas ações“<br />
Apresentador: Coronel Pimentel – Secretário<br />
Nacional da Defesa Civil – Ministério da Integração<br />
Nacional.<br />
4.6 - MESAS REDONDAS<br />
MESA REDONDA 1: Projetos cooperativos entre<br />
o setor energético e a área de meteorologia – Temas<br />
prioritários e mecanismos de promoção<br />
Coordenador: Eduardo Alvim Leite, SIMEPAR<br />
Relator: Enio B. Pereira, CPTEC/INPE<br />
Participantes:<br />
Hemes Chipp - Diretor Geral do ONS<br />
Ildo Sauer - Diretor de Gás e Energia da Petrobrás<br />
Laura Cristina Fonseca Porto (MME)<br />
Pedro Leite da Silva Dias, Professor Titular do<br />
IAG/ USP.<br />
113
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
MESA REDONDA 2: Como fornecer informações<br />
meteorológicas adequadas ao setor de Cultura, Turismo,<br />
Lazer e Esportes, para tomadas de decisão?<br />
Coordenador: Dra. Maria Assunção F. S. Dias INPE/<br />
CPTEC<br />
Relator: Dr. Hélio dos Santos Silva FURB<br />
Participantes:<br />
Dra. Ana Cristina P. C de Almeida - UFPA<br />
Dr. Guilberto Chaplin Savedra - Secretaria de Estado<br />
da Cultura, Turismo e Esportes – SC.<br />
Dr. Marcelo Enrique Seluchi - CPTEC-INPE<br />
Sr. Luiz Cavalcanti - INMET/DF<br />
MESA REDONDA 3: Agricultura e Pesca: A<br />
Meteorologia na Produção de Alimentos<br />
Coordenadores: Dr. Antonio Divino Moura – INMET e<br />
Dr. João Antonio Lorenzzetti - INPE<br />
Relator: Dr. Lauro Tadeu G. Fortes, Coordenação de<br />
Desenvolvimento e Pesquisa - INMET<br />
Participantes:<br />
Prof. Hilton Silveira Pinto - UNICAMP<br />
Dra. Patricia Sunye - EPAGRI/CIRAM<br />
Dr. João Antonio Lorenzzetti - INPE<br />
Dr. Antônio Divino Moura – INMET<br />
MESA REDONDA 4: Saúde e Ambiente<br />
Coordenador e Relator: Dr. Fábio Luiz Teixeira<br />
Gonçalves - USP/IAG<br />
Participantes:<br />
Palestra - Doenças respiratórias e mudanças<br />
climáticas<br />
Apresentadora: Regina Cardoso Alves (USP/FSP)<br />
Palestra - Estudos sobre Radiação UV no Brasil: Uma<br />
amostra da necessidade imediata da conscientização<br />
da população quanto à proteção solar.<br />
Apresentador: Marcelo Correa (UNIFEI)<br />
MESA REDONDA 5: Economia, Indústria, Comércio,<br />
Transporte e Comunicações<br />
Coordenador e Relator: Dr. Eduardo Sávio Passos<br />
Rodrigues Martins – FUNCEME<br />
Participantes:<br />
Palestra: Transporte Aéreo e Meteorologia<br />
Apresentadores: Capitão Robson Ressurreição e<br />
Capitão Adilson Cleomenes Rocha - DECEA<br />
Palestra:Comunicação entre o gerador da informação<br />
climática/de tempo e o usuário final: a relação<br />
meteorologia e sociedade<br />
Apresentador: Renzo Tadei, Yale University/IRI,<br />
Columbia University<br />
MESA REDONDA 6: Defesa Civil<br />
Coordenadorç Dr. Ricardo Sarmento Tenório – Sistema<br />
de Radar Meteorológico de Alagoas – SIRMAL/Instituto<br />
de Ciências Atmosféricas – ICAT/ Universidade Federal<br />
de Alagoas – UFAL<br />
Relator: Márcio Luiz Alves – Capitão da Polícia Militar<br />
- Defesa Civil/SC<br />
Participantes:<br />
Renato Igor – Repórter da CBN / RBS TV<br />
Dr. Luiz Augusto Toledo Machado - Centro de<br />
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos CPTEC/<br />
Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais<br />
Dr. Adriano Augusto de Araújo Jorge - Coordenadoria<br />
Municipal de Defesa Civil - COMDEC MACEIÓ<br />
MESA REDONDA 7: A Meteorologia no Programa<br />
Espacial Brasileiro<br />
Participantes:<br />
Palestra: “A Agencia Espacial Brasileira e a<br />
Meteorologia no Brasil”<br />
Apresentador: Dr. Raimundo Nonato Mussi<br />
Palestra: “Programa do Satélite Geoestacionário<br />
Brasileiro”<br />
Apresentador: Dr. Osvaldo Catsumi Iamamura:<br />
MESA REDONDA 8: Padrões para as Estações<br />
Automáticas Hidrometeorológicas<br />
Coordenador: Mário Francisco Leal de Quadro<br />
(CEFET–SC)<br />
Participantes:<br />
Renato Bréa Victoria<br />
Mauro Silvio Rodrigues<br />
114
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
4.7 - OUTRAS ATIVIDADES<br />
Palestra: Cenários Regionais de Mudanças<br />
Climáticas no Brasil – Auditório Garapuvu<br />
Apresentador: Dr. José Antonio Marengo Orsini<br />
Reunião do GPM-Brasil – Sala Petúnia<br />
4.8 - TRABALHOS CIENTIFICOS APRESENTADOS<br />
Trabalhos Científi cos por Áreas Temáticas<br />
Áreas Temáticas Oral Poster Total<br />
Clima: descrição, modelagem, variabilidade e previsão 32 288 320<br />
Hidrometeorologia 8 56 64<br />
Poluição e química da atmosfera 8 54 62<br />
Interação oceano-atmosfera 4 34 38<br />
Agrometeorologia e processos de troca entre solo-planta-atmosfera 16 122 138<br />
Radiação e sensoriamento da atmosfera 16 96 112<br />
Sistemas meteorológicos e previsão de tempo 24 149 173<br />
Modelagem atmosférica 16 87 103<br />
Total 124 886 1010<br />
Trabalhos Científi cos por Áreas de Aplicação<br />
Áreas Temáticas<br />
Total<br />
Energia 175<br />
Esporte, Turismo, Lazer e Cultura 12<br />
Agricultura e Pesca 229<br />
Saúde e Meio Ambiente 354<br />
Economia, Indústria, Comércio, Transporte e Comunicações 109<br />
Defesas Civil e Militar 1<strong>31</strong><br />
Total 1010<br />
5. CONCLUSÕES<br />
As demandas pelas aplicações da Meteorologia têm sido<br />
crescentes, inclusive porque o país como um todo tem se<br />
desenvolvido, exigindo cada vez mais proteção e garantia<br />
de que os recursos alocados nos empreendimentos não<br />
sejam perdidos em função das adversidades do tempo<br />
e do clima. Neste Congresso foi possível compilar as<br />
questões que afligem o setor produtivo, trazendo-as<br />
aos especialistas das diversas áreas de aplicação da<br />
Meteorologia. A comunidade científica pôde demonstrar<br />
suas habilidades em transformar as pesquisas em<br />
115
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
respostas práticas, adequadas à solução de problemas<br />
concretos, aumentando a visibilidade da Meteorologia<br />
brasileira pela interação com o setor produtivo.<br />
Um dos avanços que se destacou no XIV CBMET foi<br />
o aumento significativo do número de instituições que<br />
estão utilizando a modelagem numérica na pesquisa e<br />
na operação, elevando o nível da Meteorologia brasileira<br />
aos padrões internacionais. Estes avanços, evidenciados<br />
no Congresso, vão desde a modelagem atmosférica e dos<br />
oceanos até os modelos acoplados oceano-atmosfera,<br />
solo-planta-atmosfera, modelos hidrometeorológicos e<br />
modelos de química e dispersão de poluentes.<br />
Outro avanço marcante observado neste Congresso foi a<br />
percepção de que os dados meteorológicos no Brasil têm<br />
se tornado mais disponíveis aos que deles necessitam.<br />
Observou-se que as demandas por dados oficiais foram<br />
mais facilmente atendidas e que grande empenho foi<br />
envidado para que dados nacionais e internacionais de<br />
interesse no Brasil pudessem ser disponibilizados com<br />
mais facilidade para uso em pesquisa e ensino. Percebeuse<br />
também um significativo aumento na quantidade<br />
e qualidade de dados gerados por parte dos Centros<br />
Estaduais de Meteorologia e por projetos específicos,<br />
tais como o LBA e o PIRATA.<br />
Nos últimos anos observou-se, e ficou bastante<br />
evidente nas apresentações durante do Congresso, que<br />
a Meteorologia Brasileira cresceu no entendimento<br />
da física intrínseca dos processos atmosféricos em<br />
nossa região, resultando na melhoria dos diagnósticos<br />
climáticos e das previsões do tempo. Este avanço se<br />
deve certamente a uma mais adequada integração entre<br />
a teoria, a modelagem e a experimentação como ficou<br />
evidenciado nos resultados dos experimentos LBA<br />
e SALLJEX, por exemplo. Ficou claro ainda que a<br />
Meteorologia brasileira vem adquirindo know-how na<br />
aplicação de cenários regionais de mudanças climáticas,<br />
com perspectivas de aplicação na prevenção de crises<br />
ambientais e no planejamento da produção de alimentos,<br />
bens e energia.<br />
Dentre os principais fatores intrínsecos da área que têm<br />
favorecido seu desenvolvimento conforme detectado<br />
durante o Congresso, pode-se ressaltar a visibilidade<br />
que a Meteorologia tem obtido através da imprensa, a<br />
percepção crescente por parte de órgãos governamentais<br />
e empresas da importância de se estudar o tempo e o<br />
clima para o entendimento das mudanças climáticas e<br />
seus efeitos sobre a vida.<br />
Dentre os fatores que dificultam o desenvolvimento da<br />
Meteorologia, evidenciou-se durante o Congresso que os<br />
investimentos na área ainda são insuficientes (conforme<br />
relatado em várias Mesas Redondas e Plenárias do<br />
Congresso), são poucos os profissionais formados (Mesa<br />
Redonda: “Ensino de Meteorologia no Brasil”) e são<br />
ainda aviltados os salários pagos a estes profissionais<br />
(Mesa Redonda: “Ensino de Meteorologia no Brasil” e<br />
na Discussão Sobre Salário Mínimo Profissional).<br />
Concluindo, este Congresso reuniu centenas de<br />
pesquisadores, profissionais da área operacional,<br />
professores e estudantes, atuantes em todas as regiões do<br />
país, tendo sido uma grande oportunidade para a troca<br />
de conhecimentos, equalização do conhecimento a nível<br />
nacional e internacional e congraçamento. O evento<br />
serviu ainda para a definição de políticas e estratégias<br />
que possam resultar no desenvolvimento da própria<br />
Meteorologia e na sua efetiva aplicação em favor da<br />
sociedade.<br />
116
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
XIV CBMET: LISTA DE PREMIAÇÃO DE TRABALHOS<br />
(1) RADIAÇÃO. ATMOSFÉRICA E<br />
SENSORIAMENTO REMOTO<br />
POSTER SÊNIOR<br />
Autores: Alexandre Correia e Carlos Pires.<br />
Título: Validation of aerossol optical depth retrievals by<br />
remoto sensing over Brazil and South América.<br />
POSTER JUNIOR<br />
Autores: Eduardo Wilde Bárbaro, Amauri Pereira<br />
de Oliveira, Jacyra Ramos Soares e João Francisco<br />
Escobedo<br />
Título: Observational study of downward atmospheric<br />
longwave radiation at the surface in the city of São<br />
Paulo.<br />
ORAL<br />
Autores: Leonardo de Faria Peres, Renata Libonati dos<br />
Santos e Carlos do Carmo de Portugal e Castro<br />
Título: Land surface emissivity estimation in<br />
METEOSAT-8/SEVIRI TIR bands using MODIS data.<br />
(2) INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA<br />
POSTER SÊNIOR<br />
Autores: Tânia Ocimoto Oda<br />
Título: Distribuição espaço-temporal dos campos<br />
de temperatura da supercície do mar e vorticidade<br />
geostrófica no Atlântico Sul.<br />
POSTER JUNIOR<br />
Autores: Ricardo Martins Campos e Ricardo de<br />
Camargo<br />
Título: Caracterização das condições sinóticas sobre o<br />
Atlântico Sudoeste associadas a marés meteorológicas<br />
no Porto de Santos.<br />
ORAL<br />
Autores: Alice Marlene Grimm e Angela Akie Natori<br />
Título: Mudanças climáticas e o impacto de episódios<br />
El Nino e La Nina sobre a América do Sul.<br />
(3) SISTEMAS METEOROLÓGICOS E<br />
PREVISÃO DO TEMPO<br />
POSTER SÊNIOR<br />
Autores: Micheline de Sousa Coelho<br />
Título: Análise de informações por doenças respiratórias<br />
em função de condições meteotrópicas na cidade de São<br />
Paulo.<br />
POSTER JUNIOR<br />
Autores: Clara Miho Narukawa Iwabe e Rosmeri<br />
Porfirio da Rocha<br />
Título: Contribuição da Dobra da Tropopausa na<br />
Intensificação de um Ciclone a Leste do Sul do Brasil.<br />
ORAL<br />
Autores: Marcelo Enrique Seluchi<br />
Título: Padrões sinóticos associados a situações de<br />
deslizamentos de encostas na Serra do Mar.<br />
(4) CLIMA: DESCRIÇÃO, MODELAGEM,<br />
VARIABILIDADE E PREVISÃO<br />
POSTER SÊNIOR<br />
Autores: Paulo Sérgio Lucio, Fábio Cunha Conde,<br />
Andréa Malheiros Ramos, Andréa de Oliveira Cardoso<br />
e Iracema Cavalcanti.<br />
Título: Reconstrução de séries meteorológicos via redes<br />
neurais artificiais.<br />
POSTER JUNIOR<br />
Autores: Michelle Simões Reboita<br />
Título: Monitoramento dos ciclones extratropicais no<br />
hemisfério sul.<br />
ORAL (DOIS TRABALHOS PREMIADOS)<br />
Autores: Rubens Leite Vianello<br />
Título: Cenários de mudanças climáticas e seus efeitos<br />
na ocorrência dos mosquitos da dengue em Belo<br />
Horizonte.<br />
117
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
EXPEDIENTE<br />
da SBMET<br />
Autores: Ieda Pscheidt e Alice Marlene Grimm<br />
Título: Impactos da variabilidade interanual e<br />
interdecadal na freqüência de eventos extremos sobre<br />
o sul do Brasil.<br />
(5) POLUIÇÃO E QUÍMICA DA ATMOSFERA<br />
POSTER SENIOR<br />
Autores: Marcio Gledson Lopes Oliveira, Rosiberto<br />
Junior, Maria de Fátima Andrade, Edmilson Freitas,<br />
Eduardo Landulfo e Sandro Toshio Uehara.<br />
Título: Transporte de material particulado de queimadas<br />
para região metropolitana de São Paulo: um estudo de<br />
caso.<br />
POSTER JUNIOR<br />
Autores: Caroline Bertagnolli, Damaris Kirsch Pinheiro<br />
e Nelson Jesus Ferreira, Nelson Jorge Schuch<br />
Título: Aplicação de Ondeleta na Caracterização das<br />
Escalas de Variabilidade do Conteúdo Total de Ozônio<br />
no Sul do Brasil: 1997-2005.<br />
ORAL<br />
Autores: José Eduardo Gonçalves, André Luciano<br />
Malheiros, Ernani de Lima Nascimento, Selma Regina<br />
Maggiotto e Nelson Luis da Costa Dias.<br />
Título: Veículo aéreo não tripulado para perfilamento<br />
atmosférico em alta resolução.<br />
(6) MODELAGEM NUMÉRICA DA ATMOSFERA<br />
POSTER SENIOR<br />
Autores: Maria Cristina Lemos da Silva, Antonio Marcos<br />
Mendonça, José Paulo Bonatti e Maria Assunção Faus<br />
da Silva Dias<br />
Título: Previsão das Temperaturas Mínimas para o<br />
Centro-Sul do Brasil Utilizando a Previsão de tempo<br />
por ENSENBLE do CPTEC<br />
POSTER JUNIOR<br />
Autores: Otacilio Leandro de Menezes Neto, Juliana<br />
Lima Oliveira, Alexandre Araújo Costa e Sérgio Sousa<br />
Sombra<br />
Título: Impactos da Circulação Geral em Casos de<br />
El Niño e La Nina no Potencial Eólico no Nordeste<br />
Brasileiro<br />
ORAL<br />
Autores: Rodrigo Gevaerd, Saulo Freitas e Karla<br />
Longo<br />
Título: Simulação numérica da emissão do transporte de<br />
biomassa de queimada durante o incêndio de Roraima<br />
de 1998.<br />
(7) AGROMETEOROLOGIA E PROCESSOS DE<br />
TROCA ENTRE SOLO-PLANTA-ATMOSFERA<br />
POSTER SENIOR<br />
Autores: Cláudio de Castro Pellegrini<br />
Título: A review perturbation technique applied to the<br />
study of stratified atmospheric boundary layer.<br />
POSTER JUNIOR<br />
Autores: Alessandro Augusto dos Santos Michilis e Ralf<br />
Gielow<br />
Título: Armazenamento e Balanço de Energia em<br />
Superfície para uma Área de Floresta no Sudoeste da<br />
Amazônia.<br />
ORAL<br />
Autores: Alessandro Lechinoski e Leonardo Deane de<br />
Abreu Sá<br />
Título: Aspecto da Variabilidade Temporal das Trocas de<br />
CO2 e de Vapor d’água Acima da Floresta de Caxiuanã,<br />
PA.<br />
(8) HIDROMETEOROLOGIA<br />
POSTER SENIOR<br />
Autores: Eduardo Alvin Leite e Otto Correa Rotunno<br />
Filho<br />
Título: Análise de sensibilidade da previsão hidrológica<br />
em relação à informatividade da previsão de<br />
precipitação.<br />
POSTER JUNIOR.<br />
Autores: Ana Claudia Fernandes Medeiros Braga, Carlos<br />
de Oliveira Galvão, Enio Pereira de Souza, Renato de<br />
Oliveira Fernandes, Enilson Palmeira Cavalcanti, Klecia<br />
Forte de Oliveira<br />
Título: Previsão de Escoamento em uma Bacia<br />
Hidrográfica Através Acoplamento do Modelo BRAMS<br />
e de um Modelo Hidrológico.<br />
118
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
ORAL<br />
Autores: Autores Raquel Chinaglia Pereira dos Santos,<br />
Francisco Martins Fadiga Junior, Mario Tadeu Leme de<br />
Barros, João Eduardo Gonçalves Lopes e José Rodolfo<br />
Scarati Martins.<br />
Título: Modelos de Previsão de vazões para a bacia<br />
incremental à Uheitaipu utilizando previsão de<br />
precipitação de curto prazo.<br />
119
ISSO FOI<br />
NOTÍCIA<br />
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
CRESCE O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA A NEUTRALIZAÇÃO<br />
DE GASES POLUENTES, SEGUNDO EMPRESA CERTIFICADORA<br />
Os projetos mais desenvolvidos são relacionados à<br />
energia renovável como co-geração (aproveitamento<br />
local do calor residual originado) do bagaço de canade-açúcar,<br />
pequenas centrais hidroelétricas. Projetos<br />
de aterro sanitário (captação e queima do gás metano)<br />
e projetos de troca de combustível.<br />
A preocupação com o superaquecimento global<br />
está cada vez mais em pauta em todo o mundo. As<br />
mudanças climáticas ocorridas nos últimos anos foram<br />
tão intensas que forçaram até o irredutível Presidente<br />
americano, George W. Bush, a admitir a necessidade<br />
de mudança na política climática dos Estados Unidos.<br />
Segundo a conselheira jurídica do Banco Mundial,<br />
Flávia Rosembuj, o fundo de créditos de carbono<br />
arrecadou em 2006 o dobro do valor alcançado em<br />
2005, totalizando US$ 22 bilhões, frente aos US$ 11<br />
bilhões de 2005. Cada tonelada de crédito de carbono<br />
custa em torno de US$ 10. A multa por tonelada<br />
excedida é de cerca de US$ 119.<br />
De acordo com os dados do Ministério da Ciência<br />
e Tecnologia, há 1.597 projetos de Mecanismo de<br />
Desenvolvimento Limpo (MDL) sendo estruturados<br />
em todo o mundo. O Brasil mantém a terceira posição<br />
em números de projetos, com 210. À frente estão a<br />
China, com 299 projetos, e a Índia, líder com 557.<br />
Em termos de reduções de emissões projetadas,<br />
a terceira posição também é brasileira “ responsável<br />
pela redução de 195 milhões de toneladas de dióxido<br />
de carbono (CO 2<br />
) e gases equivalentes ao CO 2<br />
, o que<br />
corresponde a 8% do total mundial, para o primeiro<br />
período de obtenção de créditos. A China ocupa o<br />
primeiro lugar, com 1.056 milhões de toneladas de<br />
CO 2<br />
e a serem reduzidas (43%), seguida da Índia,<br />
com 548 milhões de toneladas, o que equivale a 22%.<br />
A SGS do Brasil, multinacional suíça líder em<br />
testes, inspeções e certificações, foi designada pelos<br />
órgãos mundiais para validar e verificar projetos.<br />
Como uma das principais empresas que presta esse<br />
serviço, a procura pela validação da SGS serve como<br />
termômetro de como está a evolução do mercado de<br />
carbono. E a procura, que tem crescido nos últimos<br />
tempos, demonstra que o mercado de carbono já<br />
começa a se tornar realidade.<br />
De 2005 até agora, a empresa já validou 58<br />
projetos e verificou 28. Devido à importância<br />
das discussões sobre o assunto e as solicitações<br />
de empresas interessadas nesse mercado, a<br />
empresa passou a atuar este ano em projetos CCX<br />
(Chicago Climate Exchange), na área florestal. “O<br />
investimento nesse setor é uma mina de ouro para<br />
o Brasil. Acompanhando a valorização dos créditos<br />
de carbono na Bolsa de Valores, a expectativa é que<br />
as demandas na SGS aumentem este ano em torno<br />
de 25% em relação a 2006”, diz o gerente da SGS,<br />
Fabian Gonçalves. Segundo estatísticas do Banco<br />
Mundial, entre 2005 e 2006, a Ásia foi responsável<br />
por 32% das negociações de créditos, e a América<br />
Latina respondeu por cerca de 28%. O potencial para<br />
a oferta de créditos está concentrado na Ásia (China,<br />
Índia e Coréia do Sul) e América Latina (Brasil e<br />
México).<br />
FONTE: Ecopress com informações da Assessoria SGS-<br />
07/03/07, às 12h01. Extraído do Website: http://www.<br />
jornaldomeioambiente.com.br, acessado em 8/3/<strong>2007</strong>.<br />
120
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
RELATÓRIO BRASILEIRO SOBRE DESERTIFICAÇÃO<br />
SERVIRÁ DE MODELO A OUTROS PAÍSES<br />
Um relatório do governo brasileiro sobre<br />
desertificação deverá servir de modelo para outros<br />
países adotarem ações no combate a esse fenômeno<br />
que provoca miséria e distúrbios climáticos, como a<br />
falta de água e o aquecimento global.<br />
Relatório<br />
Trata-se do Relatório de Implementação de<br />
Combate à Desertificação, documento elaborado<br />
durante três anos sob coordenação do Ministério do<br />
Meio Ambiente (MMA). Sua apresentação oficial<br />
ocorrerá em Buenos Aires, neste mês de março,<br />
durante a 5ª Sessão do CRIC (Comitê de Revisão da<br />
Implementação da Convenção das Nações Unidas de<br />
Combate à Desertificação).<br />
Modelo Inovador<br />
Segundo o Coordenador-técnico do Programa de<br />
Combate à Desertificação do MMA, José Roberto<br />
Lima, o relatório brasileiro é inovador por reunir<br />
estratégias do governo federal, de estados e da<br />
sociedade civil de uma forma inédita entre os países<br />
signatários da convenção. “O Brasil está realmente<br />
envolvido com o tema. O relatório não é meramente<br />
técnico, é um compromisso nacional que une o poder<br />
público e toda a sociedade”, diz José Roberto.Um dos<br />
consultores do relatório, Silvio Santana, da Fundação<br />
Grupo Esquel Brasil, afirma que a política social do<br />
atual governo coincide com as metas de combate<br />
à desertificação, como, por exemplo, redução da<br />
pobreza, da fome e da desigualdade social, além<br />
de manter as populações em seus locais de origem.<br />
Segundo ele, o programa coincide quase literalmente<br />
com o texto da convenção. De acordo com Silvio<br />
Santana, os esforços pela elaboração do relatório<br />
reuniu ministérios, governos estaduais, organizações<br />
não-governamentais, universidades e empresas.<br />
“Não adianta trabalhar de forma setorizada. Precisa<br />
haver uma plataforma de integração entre o governo<br />
e a sociedade. Somente o Grupo de Trabalho da<br />
Articulação do Semi-árido possui mais de mil<br />
entidades, inclusive igrejas e sindicatos”, afirma.<br />
“Nenhum outro país constituiu um grupo de trabalho<br />
parlamentar de combate à desertificação. O Brasil<br />
está dando um exemplo”.<br />
Desertificação no Brasil<br />
No Brasil, as áreas suscetíveis à desertificação<br />
abrangem 1.488 municípios dos nove estados<br />
do Nordeste. Também foram incluídos nesta<br />
classificação cidades do norte de Minas Gerais<br />
e noroeste do Espírito Santo. No total, ocupam<br />
uma área de 1.338.076 quilômetros quadrados,<br />
equivalentes a 15,7% do território nacional, onde<br />
vivem 32 milhões de pessoas, ou 18,6% da população<br />
brasileira. Metade desses municípios detêm os piores<br />
índices de desenvolvimento humano do País. No<br />
mundo, as regiões áridas, semi-áridas e subúmidas<br />
secas representam quase um terço da superfície<br />
terrestre, abrigam mais de 1 bilhão de seres humanos<br />
e são responsáveis por 22% da produção mundial de<br />
alimentos.<br />
A ampliação dessas áreas, tanto no Brasil quanto<br />
no resto do planeta, é conseqüência do aquecimento<br />
global e da exploração inadequada dos recursos<br />
naturais, entre outros motivos. Os resultados são<br />
eventos climáticos extremos mais freqüentes, como<br />
inundações, ondas de calor, menor volume de chuva<br />
em regiões secas e incidência de furacões, tufões e<br />
ciclones.<br />
FONTE: Ministério do meio Ambiente/ASCOM/<br />
texto de Rafael Imolene. Website: http://www.<br />
institutoventuri.com.br/noticias1.htm, acessado<br />
em 08/03/<strong>2007</strong>.<br />
121
ISSO FOI<br />
NOTÍCIA<br />
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
BRASIL APRESENTA NA ARGENTINA ATLAS<br />
SOBRE ÁREAS SUSCETÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO<br />
O Brasil apresenta nesta quinta-feira (15/03),<br />
na 5ª Sessão do CRIC - Comitê de Revisão da<br />
Implementação da Convenção das Nações Unidas<br />
de Combate à Desertificação, um atlas das áreas<br />
suscetíveis à desertificação no Brasil e um relatório<br />
de implementação do Programa de Ação Nacional<br />
de Combate à Desertificação (PAN). A informação<br />
é do Secretário de Recursos Hídricos do Ministério<br />
do Meio Ambiente, João Bosco Senra, que participa<br />
do evento. A reunião, que acontece em Buenos Aires,<br />
na Argentina, encerra dia 21/03. No encontro, o<br />
governo brasileiro também anunciará oficialmente a<br />
candidatura do economista Antonio Rocha Magalhães<br />
para comandar a Convenção das Nações Unidas de<br />
Combate à Desertificação (UNCCD, na sigla em<br />
inglês). O CRIC foi criado pela quinta Conferência<br />
das Partes da UNCCD como órgão subsidiário para<br />
ajudar na revisão da implementação da convenção.<br />
(MMA)<br />
FONTE: Matéria publicada no Boletim eletrônico<br />
Ambiente Brasil, em 14/03/07. (http://www.<br />
ambientebrasil.com.br/noticias/)<br />
INSTALADA COMISSÃO MISTA SOBRE<br />
MUDANÇAS CLIMÁTICAS<br />
No dia 13 de março, o Presidente da Câmara<br />
dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT), instalou a<br />
comissão mista especial destinada a acompanhar,<br />
monitorar e fiscalizar as ações referentes às mudanças<br />
climáticas no Brasil. A instância será presidida pelo<br />
deputado Eduardo Gomes (PSDB-TO). A vicepresidência<br />
ficará a cargo do senador Fernando Collor<br />
de Mello (PTB-AL) e a relatoria, com o senador Renato<br />
Casagrande (PSB-ES). O primeiro requerimento<br />
aprovado no âmbito do colegiado é de autoria do<br />
Senador Fernando Collor, sugerindo ao governo<br />
federal a realização, em 2012, da 3ª Conferência<br />
Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio<br />
+20), nos mesmos moldes da realizada na capital<br />
carioca em 1992, que ficou conhecida como Eco-92.<br />
Outra sugestão aprovada é de autoria do deputado<br />
federal Sebastião Bala Rocha (PDT-AP). Em seu<br />
requerimento, o parlamentar solicita que a comissão<br />
seja integrada por 11 deputados e 11 senadores, em<br />
vez de sete deputados e sete senadores. Segundo<br />
ele, o aumento do número de integrantes objetiva<br />
incluir, no quadro da instância, mais deputados<br />
122<br />
da região amazônica e também mais senadoras ou<br />
deputadas. Até o momento foram indicados para<br />
compor a comissão os seguintes deputados: Iran<br />
Barbosa (PT-SE), João Pizzolatti (PP-SC), Rose de<br />
Freitas (PMDB-ES), Eduardo Gomes (PSDB-TO),<br />
Luiz Carreira (PFL-BA), Rodrigo Rollemberg (PSB-<br />
DF) e Sarney Filho (PV-MA). Já os senadores são os<br />
seguintes: Fernando Collor de Mello (PTB-AL), João<br />
Ribeiro (PFL-MT), Romeu Tuma (PFL-SP), Inácio<br />
Arruda (PCdoB-CE), Renato Casagrande (PSB-ES),<br />
Jefferson Péres (PDT-AM) e Delcídio Amaral (PT-<br />
MS).<br />
Em breve, os novos membros serão escolhidos<br />
pelos presidentes da Câmara e do Senado. De acordo<br />
com a Agência Câmara, na próxima terça-feira (20),<br />
às 14h, a comissão definirá sua agenda de trabalho, a<br />
partir da proposta do relator Renato Casagrande.<br />
(Gestão C&T, nº 582)<br />
FONTE: Boletim eletrônico do Jornal da Ciência,<br />
E-mail 3224, de 16 de março de <strong>2007</strong>.
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
DECRETO N 0 6.065, DE 21 DE MARÇO DE <strong>2007</strong> CRIA COMISSÃO<br />
DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE METEOROLOGIA,<br />
CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA (CMCH)<br />
A Edição N 0 56 de 22/03/<strong>2007</strong> do Diário Oficial<br />
traz o Decreto N 0 6.065, de 21 de março de <strong>2007</strong><br />
criando a Comissão de Coordenação das Atividades<br />
de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CMCH).<br />
O Decreto pode ser encontrado no website:<br />
http://www.in.gov.br/materias/xml/do/<br />
secao1/2618251.xml.<br />
FONTE: Divulgação feita no Informe da SBMET,<br />
em 30/03/07.<br />
SÃO PAULO GANHA ESTAÇÃO PARA MEDIÇÃO<br />
DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS<br />
Com a inauguração de uma nova estação para<br />
medição de ozônio, nesta quinta-feira (29/3), em<br />
São Paulo, o Instituto de Pesquisas Energéticas e<br />
Nucleares (IPEN) passou a integrar oficialmente a<br />
rede de monitoramento da Companhia de Tecnologia<br />
de Saneamento Ambiental (CETESB). Resultado de<br />
um convênio de cooperação científica entre as duas<br />
entidades, a estação, que irá monitorar a qualidade<br />
do ar para estudar os gases precursores do ozônio e<br />
do monóxido de carbono, está localizada no campus<br />
da USP, em local considerado favorável aos estudos<br />
de formação do gás, por localizar-se distante do fluxo<br />
de veículos.<br />
Diariamente, as amostras de ar coletadas serão<br />
analisadas, identificadas e quantificadas no laboratório<br />
do Centro de Química e Meio Ambiente do IPEN.<br />
Segundo o instituto, além de fazer parte da rede de<br />
monitoramento da CETESB, a estação fornecerá à<br />
comunidade científica um ponto privilegiado para os<br />
experimentos sobre a atmosfera. O ozônio é o poluente<br />
que mais ultrapassa os parâmetros de qualidade do<br />
ar estabelecidos nas legislações federal e estadual,<br />
chegando a atingir níveis de concentrações elevadas<br />
que levam à má qualidade do ar na capital paulista.<br />
A CETESB mantém 29 estações automáticas<br />
de monitoramento da qualidade do ar na região<br />
metropolitana de São Paulo, a maioria delas localizada<br />
em áreas de grande fluxo de veículos. Os dados<br />
coletados pela nova estação já estão disponíveis no<br />
boletim da qualidade do ar da companhia, em www.<br />
cetesb.sp.gov.br. A nova estação para medição de<br />
ozônio se chamará IPEN-USP e estará disponível<br />
à comunidade científica para desenvolvimento de<br />
trabalhos conjuntos. Os pesquisadores interessados<br />
devem entrar em contato pelo e-mail lvgatti@ipen.<br />
br.<br />
FONTE: Boletim eletrônico Agência FAPESP, de<br />
30/03/<strong>2007</strong>.<br />
123
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
Relatório Síntese do<br />
WORKSHOP PARA DEFINIÇÃO DAS BASES CONCEITUAIS<br />
DO SISTEMA BRASILEIRO DE ALERTA PRECOCE DE<br />
SECA E DESERTIFICAÇÃO (SAP)<br />
Coordenação Técnica de Combate à Desertifi cação – CTC<br />
SGAN 601, L 1, Ed. CODEVASF – Brasilia, DF<br />
Fone: (61) 40091861/1295<br />
Em 8 e 9 de fevereiro de <strong>2007</strong>, o Instituto Nacional<br />
de Pesquisas Espaciais (INPE) - órgão do Ministério<br />
da Ciência e Tecnologia (MCT), promoveu em<br />
parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA)<br />
um workshop com o objetivo discutir a elaboração<br />
de um Sistema capaz de prever períodos de seca no<br />
semiárido brasileiro e desenhar cenários atuais de<br />
vulnerabilidade resultantes do uso da terra - com<br />
ênfase nas questões de desertificação e cenários<br />
futuros em decorrência das mudanças climáticas.<br />
Para levantar as condições de antecipar eventos<br />
críticos nas áreas suscetíveis à desertificação,<br />
estiveram presentes especialistas de entidades como<br />
defesa civil, climatologia, hidrologia, agricultura,<br />
recursos hídricos, demografia, entre outras ligadas ao<br />
tema, levantando informações para um futuro sistema<br />
integrado de alerta para beneficiar a sociedade.<br />
Durante o Workshop elaborou-se um conjunto de<br />
recomendações para orientar o desenvolvimento de<br />
um Sistema Brasileiro de Alerta Precoce de Secas e<br />
Desertificação (SAP) e discutiram-se as restrições<br />
técnicas, científicas, políticas e institucionais para a<br />
implantação do sistema.<br />
Ao longo das discussões, ficou claro que os<br />
sistemas de alerta contra as periódicas secas -<br />
extremos climáticos - encontram-se em um estágio<br />
mais avançado de desenvolvimento se comparados<br />
às diferentes iniciativas na área de diagnóstico e<br />
prevenção ao processo de desertificação.<br />
124<br />
A recomendação dos participantes foi no sentido de<br />
fazer uso sinérgico de programas de monitoramento,<br />
previsão, extensão e disseminação já existentes e em<br />
operação na região.<br />
Sendo assim, o grupo recomendou que o futuro<br />
sistema de alerta precoce utilize como cerne os<br />
sistemas já operacionais na área de monitoramento<br />
e previsão de secas, exercitando e resgatando a<br />
rede de parcerias já existentes. Em relação ao<br />
futuro Sistema de Alerta Precoce, a sugestão foi<br />
de implementar inicialmente um programa piloto<br />
que servirá de experiência e ajudará a nortear o seu<br />
desenho definitivo. Indicadores de degradação serão<br />
gradualmente incorporados ao Sistema.<br />
Paralelamente, sugeriu-se nomear um grupo<br />
de trabalho que irá definir, em detalhes, todas as<br />
necessidades, sob os pontos de vista institucional,<br />
financeiro e de recursos humanos, para que o Sistema<br />
Brasileiro de Alerta Precoce de Secas e Desertificação<br />
seja plenamente implementado.<br />
Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho<br />
(GT)<br />
Para nortear as discussões, os três GT receberam<br />
um roteiro básico. A seguir, apresentam-se as<br />
recomendações consolidadas resultantes das<br />
atividades dos grupos.
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
• Por que precisamos de um sistema de alerta<br />
precoce?<br />
- Minimizar impactos de agentes naturais<br />
capazes de causar danos às atividades<br />
socioeconômicas e aos recursos naturais;<br />
- Embasar a tomada de decisões e para<br />
planejamento de políticas públicas.<br />
• Que tipo de problema precisamos resolver?<br />
- Arranjo e articulação institucional;<br />
- Promoção de transversalidade;<br />
- Financiamento;<br />
- Estabelecimento de parcerias;<br />
- Coleta, disseminação e uso de dados;<br />
- Conciliação de interesses institucionais;<br />
- Capacitação profissional;<br />
- Conscientização dos diversos segmentos da<br />
sociedade;<br />
- Decisão e motivação política;<br />
- Organização e mobilização social;<br />
• Quais os objetivos específi cos do sistema?<br />
- O SAP deve estar orientado para eventos<br />
climáticos extremos (multi-riscos) e<br />
acompanhamento e projeção do processo<br />
de evolução (espacial e temporal) da<br />
desertificação nas ASD (Áreas Susceptíveis à<br />
Desertificação);<br />
- O SAP deverá gerar dados e informações e<br />
produzir cenários e seus respectivos riscos<br />
e vulnerabilidades, das situações presente e<br />
futura (por exemplo, mudanças climáticas),<br />
para tomada de decisões, visando prevenir ou<br />
mitigar impactos de fenômenos adversos;<br />
- O sistema tem por objetivo prevenir e<br />
minimizar os impactos de eventos críticos nas<br />
ASD, por meio do conhecimento prévio dos<br />
riscos e das vulnerabilidades, monitoramento<br />
e alerta, disseminação inteligível deste alerta e<br />
preparação para agir;<br />
- Expressar as informações do SAP em linguagem<br />
apropriada aos usuários e interessados, em seus<br />
diversos níveis.<br />
• Alerta precoce de quê? (tempo, clima, secas,<br />
fatores causadores de desertificação, segurança<br />
alimentar etc)<br />
Os indicadores devem responder a aspectos<br />
físico-químico, biológicos e sócio-econômicos. Por<br />
exemplo, sugere-se:<br />
* Indicadores físicos e biológicos<br />
- Precipitação pluviométrica;<br />
- Alteração do regime hidrológico;<br />
- Caracterização do solo e sua susceptibilidade<br />
ao processo de degradação<br />
- Temperatura;<br />
- Umidade atmosférica;<br />
- Evapotranspiração;<br />
- Segurança hídrica;<br />
- Eventos extremos (secas, cheias e<br />
inundações, granizo,veranicos);<br />
- Cobertura vegetal e uso da terra.<br />
* Indicadores antropogênicos<br />
- Saúde;<br />
- Doenças de veiculação hídrica;<br />
- Doenças veiculadas por vetores;<br />
- Segurança alimentar;<br />
- Perda de biodiversidade<br />
(desmatamento, queimadas);<br />
- Degradação do solo e assoreamento<br />
dos cursos d’água;<br />
- Sobrepastoreio;<br />
- Atividades depredadoras;<br />
- Monitoramento sistemático dessas<br />
variáveis, por meio de implementação<br />
de redes e observações.<br />
125
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
• Quais seriam os usuários e benefi ciários de um<br />
SAP?<br />
- Instituições de pesquisa e acadêmicas;<br />
- Agências e órgãos governamentais nos diversos<br />
níveis;<br />
- Agências de fomento;<br />
- Organizações da sociedade civil;<br />
- Agentes econômicos de vários setores<br />
(agricultura, mineradoras, serviços em geral);<br />
• Quais os componentes de um sistema de alerta<br />
precoce para secas, especialmente para ASD?<br />
A) Conhecimento dos riscos<br />
- Avaliar os indicadores de desertificação<br />
existentes e definir aqueles que se adequem às<br />
particularidades das ASD;<br />
- Redefinição das ASD, através de critérios mais<br />
adequados à realidade local e aos indicadores<br />
nacionais dos que aqueles preconizados pela<br />
UNCCD;<br />
- Mapeamento das áreas sujeitas à inundação,<br />
seca, queimadas, etc;<br />
- Caracterização e mapeamento das<br />
vulnerabilidades e potencialidades (ZEE) nas<br />
ASD.<br />
B) Monitoramento e sistema de alerta<br />
- Monitorar os indicadores de desertificação<br />
definidos;<br />
- Ampliar a densidade e melhorar a distribuição<br />
espacial da rede de obtenção de dados básicos<br />
(climáticos, meteorológicos, hidrológicos,<br />
etc);<br />
- Melhora a capacidade de previsão de eventos<br />
climáticos extremos bem como reduzir as<br />
margens de incertezas no que se refere a<br />
cenários de mudanças climáticas;<br />
- Melhorar a rede de comunicação entre<br />
instituições.<br />
C) Disseminação dos alertas<br />
- Defesa Civil como elo entre o SAP e a população<br />
e, no caso na sua inexistência, articulação<br />
com outras representatividades municipais<br />
(prefeitura, conselhos, cooperativas, igrejas,<br />
polícia, bombeiros, rádios comunitárias,<br />
sindicatos, etc).<br />
D) Preparação para resposta<br />
- Fortalecimento institucional do Sistema<br />
Nacional de Defesa Civil e capacitação para os<br />
seus técnicos;<br />
- Programa de educação da população da ASD<br />
para enfrentamento das situações de alerta.<br />
• Quais são os sistemas existentes que são relevantes<br />
para o SAP?<br />
- Defesa Civil;<br />
- Ministério da Integração;<br />
- Vigilâncias Sanitárias animal e vegetal;<br />
- Sistemas de Observação de Dados (por<br />
exemplo, meteorológicos, hidrológicos). Há<br />
a necessidade de se contar com um sistema<br />
de aquisição de dados em tempo real de<br />
informações reconhecidas com relevantes ao<br />
processo (tais como imagens de satélites no<br />
mapeamento de vegetação). Com relação aos<br />
dados históricos, é necessário tornar públicos<br />
os bancos de dados existentes;<br />
- Sistemas de previsão sazonal; incluindo<br />
indicadores de variabilidade intrasazonal na<br />
esfera de monitoramento e previsão (Estados,<br />
INMET, INPE);<br />
- SINIMA;<br />
- SINDEC;<br />
- Sistema de Monitoramento de Água no<br />
Solo – FUNCEME e PROCLIMA - INPE,<br />
EMBRAPA;<br />
126
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
- Sistemas de monitoramento de incêndios<br />
florestais e de campos (FUNCEME/IBAMA,<br />
Estados, INPE/IBAMA e INMET);<br />
- Sistema de Geotecnologia do INPE;<br />
- SIGA/ ASA, Sistema Articulação do Semi-<br />
Árido – SAS;<br />
- Sistema de monitoramento de safras;<br />
- SNIRH/ ANA incluindo sistemas operacionais<br />
da sala de situação;<br />
- SIAGAS - CPRM e SIDRA - IBGE, bem como<br />
outros bancos de dados de interesse;<br />
- Dados coletados pelas Universidades de<br />
interesse ao SAP;<br />
- Dados coletados pelas ONGs e organizações<br />
civis em geral;<br />
• Aperfeiçoamento / fortalecimento de sistemas<br />
existentes ou novo sistema?<br />
- Aperfeiçoar e fortalecer os sistemas de<br />
previsão e alerta meteorológico, hidrológico,<br />
de monitoramento de queimadas, e de defesa<br />
civil existentes. O SAP será concebido de<br />
uma maneira compartilhada com os sistemas<br />
relevantes existentes;<br />
- Ampliar os sistemas existentes de maneira a<br />
incluir ferramentas de alerta precoce contra o<br />
problema da desertificação, criando sistemas<br />
complementares que venham a incorporar<br />
as questões relevantes no problema da<br />
desertificação (por exemplo, sistemas de<br />
previsão e detecção de colapso de safra, alerta<br />
sobre desmatamento de todos os biomas, a<br />
partir do mapeamento da vegetação);<br />
- Garantir a interoperabilidade entre todos os<br />
sistemas;<br />
- Nos problemas de desertificação, construir o<br />
sistema implica a necessidade de se atingir o<br />
consenso sobre os indicadores do processo.<br />
Sugere-se utilizar indicadores preliminares<br />
entre os grupos de estudo de desertificação da<br />
América do Sul. Há a necessidade de propor<br />
vários indicadores, considerando que o alerta<br />
se baseia na convergência de fatores;<br />
- Sistematizar os bancos de dados de maneira<br />
a adequá-los a esses indicadores. Numa fase<br />
inicial, sugere-se concentrar em um aspecto<br />
do processo (por exemplo, quebra de safra, ou<br />
ferramentas de diagnósticos já existentes de<br />
desertificação) para dar início ao sistema;<br />
- Correção das bases de dados existentes<br />
de maneira a aumentar a consistência da<br />
informação;<br />
- Há a necessidade de implantar algumas<br />
áreas pilotos para testar os indicadores em<br />
áreas pouco estudadas da região, bem como<br />
compatibilizar os critérios entre os estados no<br />
mapeamento já existentes das áreas sujeitas à<br />
desertificação. Sugere-se utilizar indicadores<br />
indiretos do problema, tais como o estudo de<br />
séries históricas de dados meteorológicos como<br />
indicativos das velocidades de mudanças;<br />
- Apropriar-se de experiências já existentes<br />
na região sobre a recuperação de áreas<br />
degradadas.<br />
• População (e suas instituições) como “parceira”<br />
(agente, usuária e beneficiária) do SAP (Exemplo:<br />
experiência da Defesa Civil)<br />
- Estimular o envolvimento de comitês, conselhos,<br />
comissões já existentes com atribuições sobre<br />
a temática de desertificação (por exemplo,<br />
Comitês de Bacias Hidrográficas);<br />
- Promover uma maior inserção nos setores do<br />
governo com a idéia de compatibilizar políticas<br />
públicas;<br />
- Sensibilizar, articular e mobilizar todos os<br />
segmentos da sociedade;<br />
- Promover educação ambiental de forma<br />
participativa, principalmente em questões<br />
relativas à desertificação;<br />
- Promover e discutir, junto à sociedade,<br />
alternativas econômicas para minimizar os<br />
problemas de degradação;<br />
127
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
- Assegurar a participação da comunidade na<br />
gestão do SAP;<br />
- Incorporar no sistema educacional ações<br />
de interesse para o sistema de alerta (por<br />
exemplo, envolver as escolas em coleta de<br />
informações básicas, palestras, treinamento)<br />
visando promover um maior nível de inserção<br />
da informação na educação formal;<br />
- Promover a participação da mídia em diferentes<br />
estágios do SAP, inclusive em atividades de<br />
treinamento;<br />
- Fomentar treinamentos entre os usuários da<br />
informação, e programas de transferência<br />
de tecnologia, com a finalidade de facilitar a<br />
apropriação da informação pelos usuários;<br />
- É necessário criar mecanismos de respostas<br />
mais rápidas e efetivas. O sistema deve ser<br />
propositivo, e deve ser capaz de indicar que<br />
certos mecanismos colocados em práticas<br />
durante os eventos críticos trazem danos<br />
maiores no longo prazo. E essencial o<br />
desenvolvimento de planos de preparação,<br />
mitigação e contingência para todos os<br />
cenários;<br />
- Preparar folhetos informativos, técnicos e<br />
científicos sobre os índices de desertificação,<br />
como combatê-la e minimizar o processo.<br />
• Como capturar e comunicar as informações de<br />
alerta precoce junto:<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
aos tomadores de decisão;<br />
aos grupos sociais mais diretamente<br />
afetados; e<br />
à sociedade em geral.<br />
- Transmitir a informação aos respectivos<br />
usuários em linguagem adequada, expressando<br />
de forma apropriada a magnitude e intensidade<br />
dos eventos;<br />
- Sugere-se a criação de quadro normativo<br />
responsável por iniciar as ações EFETIVAS<br />
DE MITIGAÇÃO E PREVENÇÃO a partir<br />
das recomendações técnicas do SAP, caso<br />
contrário o sistema terá alcance restrito;<br />
- Sugerir ações que facilitem e fomentem<br />
a apropriação dos usuários e das próprias<br />
instituições públicas estaduais e federais<br />
(tomadores de decisão) das informações<br />
geradas pelo SAP;<br />
- Utilizar de todos os meios de comunicação para<br />
divulgação e disseminação.<br />
• Como organizar a população para “estar<br />
preparada” e poder responder ao SAP com<br />
mínimo desgaste e maior efi cácia?<br />
- Valendo-se de associações comunitárias<br />
(comitês de bacia, comissões de meio<br />
ambiente,...), motivar e incentivar a promoção<br />
e aceitação de temas relativos ao combate à<br />
desertificação;<br />
- Comunicação em linguagem adequada,<br />
utilizando meios disponíveis da mídia;<br />
- Incluir tema em programas de educação<br />
ambiental;<br />
- Capacitar, inclusive à distância, grupos meta<br />
específicos e de forma continuada em temas<br />
com enfoque no controle à desertificação.<br />
• Quais são os atores que têm um papel relevante<br />
no SAP?<br />
- MMA, MS, MI, MAPA, MCT, órgãos de<br />
desenvolvimento regional (ADENE/SUDENE,<br />
DNOCS, CODEVASF...);<br />
- Ministério Público;<br />
- Associações comunitárias;<br />
- Iniciativa privada;<br />
- Órgãos estaduais e municipais;<br />
- Órgãos de defesa civil;<br />
- Instituições de ensino e pesquisa;<br />
- ONGs, redes da sociedade civil;<br />
128
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
- INPE, INMET, INSA, EMBRAPA;<br />
- Organismos de cooperação internacional;<br />
- Agentes financeiros e fundos setoriais.<br />
• Quais são os papéis do Governo Federal, dos<br />
Estados, dos Municípios e como articulá-los?<br />
- Entendemos que as ações de coordenação em<br />
nível federal devam ficar no MMA. Cabe ao<br />
MMA definir, de forma participativa, o melhor<br />
arranjo institucional e a arquitetura do SAP e<br />
coordenar nacionalmente o sistema;<br />
- Sugere-se uma Comissão de Coordenação do<br />
SAP: esfera federal (MMA/SRH, MI/ DNOCS<br />
e SEDEC, MCT/ INPE);<br />
- A Comissão gestora federal deverá se articular<br />
com órgãos de atuação estaduais (Secretarias<br />
Estaduais de Recursos Hídricos e Meio<br />
Ambiente e Núcleos Regionais nas ASD do<br />
PMTCRH – CPTEC/ INPE). Recomendase<br />
resgatar o papel catalisador do MCT, com<br />
financiamento para ações do diversos atores;<br />
- Fortalecimento Institucional do MMA, através<br />
da elaboração da Política Nacional de Combate<br />
à Desertificação e criação do Conselho Nacional<br />
de Combate à Desertificação, já definidos<br />
no PAN. Como sugestão, tem-se a criação<br />
de uma Secretaria Nacional de Combate à<br />
Desertificação;<br />
- Cabe aos governos estaduais identificar as<br />
secretarias responsáveis pela coordenação do<br />
programa no estado e co-financiar o sistema<br />
para maximizar seus benefícios;<br />
- É papel dos municípios adaptar o SAP à<br />
realidade local, desenvolvendo a necessária<br />
articulação nesse nível;<br />
- Em nível municipal, o órgão articulador<br />
seria a Defesa Civil, onde existir, e outros<br />
órgãos de representatividade local. Além da<br />
Defesa Civil, entendemos que é conveniente<br />
o envolvimento de órgãos tais como: Emater,<br />
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.<br />
• Quais são os papéis das universidades, instituições<br />
de pesquisa, entidades do setor privado, sociedade<br />
civil organizada, meios de comunicação?<br />
- Universidades, Instituições de pesquisa e<br />
Centros Estaduais: pesquisa aplicada, dados<br />
sobre estudos de casos e novas metodologias.<br />
Capacitação técnica, disseminação das<br />
informações e ações de extensão junto às<br />
comunidades locais;<br />
- Órgãos operacionais federais e estaduais: coleta<br />
de informações básicas e sua disponibilização,<br />
operacionalização e implantação de processos.<br />
Capacitação e difusão das informações;<br />
- Entidades e organizações do setor privado:<br />
Informações, experiências, dados, avaliações.<br />
O setor privado tem um papel fundamental a<br />
desenvolver no co-financiamento do sistema e<br />
na forma de apoio operacional. Cabe também ao<br />
setor privado a disseminação e apropriação das<br />
informações, e deve se envolver em atividades<br />
como treinamento, extensão e conscientização.<br />
No caso de organizações tais como as ONG,<br />
elas deveriam atuar em ações de mobilização,<br />
divulgação, implementação de iniciativas<br />
específicas, e na adequação das informações às<br />
realidades locais. Fortalecimento da sociedade<br />
civil, especialmente das organizações<br />
comunitárias de base;<br />
- Meios de comunicação: disseminação,<br />
conscientização e mobilização.<br />
• Qual o papel da Cooperação Internacional?<br />
- WMO, IICA, FAO, UNESCO, WHO, UNICEF,<br />
GTZ, JICA, Banco Mundial, BID, União<br />
Européia, Cooperações Bilaterais, NOAA,<br />
USGS;<br />
- Cooperação técnica (expertise, intercâmbio);<br />
- Financiamento;<br />
- Apoio ao dimensionamento do SAP.<br />
129
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
• Quais são as alternativas de arranjos institucionais<br />
para o funcionamento de um eficiente sistema de<br />
alerta precoce?<br />
- RESGATAR E FORTALECER os arranjos<br />
institucionais já existentes;<br />
- Explorar a incorporação de novos parceiros,<br />
particularmente os não-convencionais;<br />
- No que se refere ao combate à desertificação,<br />
destinar ao MMA o papel de catalisador e<br />
articulador para identificação e definição das<br />
instituições que participarão da implementação<br />
do SAP;<br />
- Estabelecer comissões de gestão integrada;<br />
- Adequar o arranjo institucional do PAN-Brasil<br />
ao SAP (???);<br />
• Que recursos são necessários para o<br />
desenvolvimento, implementação e funcionamento<br />
de um efi ciente sistema de alerta precoce de<br />
secas, especialmente para as Áreas Susceptíveis<br />
à Desertifi cação?<br />
o Institucionais;<br />
o Tecnológicos e Científicos;<br />
o Financeiros;<br />
o Humanos;<br />
- Os recursos iniciais do sistema devem ser<br />
suficientes para construir um protótipo do SAP.<br />
Se este protótipo for bem sucedido, irá criar<br />
novas demandas que conduzirão à ampliação<br />
do sistema;<br />
- Este protótipo será construído a partir do<br />
conjunto de ferramentas já existentes para<br />
o monitoramento e previsão das secas<br />
periódicas. Esta sugestão se baseia no<br />
fato que já existe, sistemas operacionais,<br />
experiência e metodologias consolidadas<br />
sobre esse fenômeno. O protópo irá incluir<br />
alguns indicadores do processo de degradação<br />
ambiental, que será o cerne do SAP para a<br />
questão da desertificação;<br />
- O sistema deve incluir cenários climáticos em<br />
formato tal que possam ser incorporados em<br />
ações tais como os ZEEs;<br />
- Como ponto de partida, utilizar a infra-estrutura<br />
e os conhecimentos científicos e tecnológicos<br />
existentes (estabelecimento/ fortalecimento<br />
de rede de instituições), complementandoos<br />
segundo as necessidades do SAP. Ao<br />
mesmo tempo, recomenda-se valorizar os<br />
conhecimentos tradicionais disponíveis;<br />
- Inicialmente, utilizar os recursos humanos<br />
disponíveis. Entretanto, e mesmo no<br />
desenvolvimento deste protótipo, há a<br />
necessidade de contar com recursos humanos<br />
dedicados no SAP.<br />
Para dimensionar o SAP em nível de detalhe,<br />
sugere-se:<br />
- A criação de um Grupo de Trabalho sob a<br />
coordenação do MMA, quem irá definir uma<br />
instituição líder e estabelecer um arranjo<br />
institucional que contemple todas as áreas de<br />
atuação do SAP;<br />
- Neste Grupo de Trabalho, deverá haver definição<br />
clara das atribuições e responsabilidades de<br />
cada instituição participante;<br />
- Identificar possíveis fontes financeiras, internas<br />
e externas. Identificar/mobilizar recursos<br />
em programas já existentes (por exemplo,<br />
ProÁgua, PCPR, Fundos Setoriais);<br />
- Os recursos humanos serão complementando<br />
segundo as necessidades do SAP, a serem<br />
definidas pelo GT;<br />
- Induzir a formação e fixação de recursos<br />
humanos adequados às necessidade do SAP<br />
(fomento de bolsas CNPq, IICA, FAPs<br />
estaduais), inclusive pesquisas aplicadas,<br />
ressaltando que não apenas é suficiente formar<br />
esses recursos humanos mas também fixá-los.<br />
130
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
• Como viabilizar a decisão política e os recursos<br />
para a implantação ou adaptação do SAP?<br />
- Compensação ambiental de empresas atuantes<br />
nas ASD – articulação com Conselho Nacional<br />
de Meio Ambiente (recurso poderá ir para o<br />
fundo específico vinculado ao SAP);<br />
- Apresentar sua concepção à Ministra de Meio<br />
Ambiente, sugerindo que, em articulação<br />
com o MI e MCT, seja levado à Casa Civil<br />
para constituição de um Grupo de Trabalho<br />
Interministerial para seu desenvolvimento<br />
e implementação. Destacar sua viabilidade<br />
técnicoeconômica e os prejuízos sociais,<br />
econômicos e ambientais decorrentes de sua<br />
não implementação (custo da desertificação);<br />
- Incluí-lo no Orçamento Geral da União e dos<br />
Estados: previsão no PPA dos órgãos federais<br />
coordenadores e dos estados onde se localizam<br />
as ASD (para garantir contrapartida no caso de<br />
convênios);<br />
- Criação de fundo setorial (exemplo: CT Petro,<br />
CT Hidro), já proposto anteriormente no PAN,<br />
bem como a busca de recursos nos fundos<br />
estaduais de recursos hídricos;<br />
- Cabe ao CNPQ a elaboração de editais<br />
específicos;<br />
- Imposto de renda de empresas;<br />
- Recurso do Proágua contra a desertificação<br />
– MI;<br />
- Submeter a proposta à Comissão de Meio<br />
Ambiente do Congresso Nacional, visando<br />
o apoio político e financeiro para sua<br />
implementação.<br />
• Estabelecimento de agenda de implementação da<br />
proposta SAP<br />
- Apresentação do conceito à Ministra de Meio<br />
Ambiente;<br />
- Constituição do GTI;<br />
- Preparação da proposta preliminar do SAP<br />
pelo GTI;<br />
- Apresentação da proposta aos principais atores<br />
envolvidos, para efeito de validação;<br />
- Implantação.<br />
1<strong>31</strong>
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
COORDENADORA DO CPTEC/INPE É ELEITA ACADÊMICA<br />
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA (ABC)<br />
Na última eleição da Academia Brasileira de<br />
Ciências (ABC), realizada em 30 de março, além<br />
da renovação da Diretoria para o período de <strong>2007</strong> a<br />
2010, também foram eleitos 25 novos membros para<br />
a entidade. Entre estes, a Coordenadora do Centro de<br />
Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC),<br />
do INPE, Maria Assunção Faus da Silva Dias, que irá<br />
ocupar uma das duas cadeiras destinadas a cientistas<br />
da área de Ciências da Terra.<br />
Na renovação da Diretoria da ABC, o matemático<br />
Jacob Palis passou a ocupar a Presidência da entidade<br />
no lugar do Professor Eduardo Krieger. Os 25 novos<br />
acadêmicos eleitos à parte irão integrar 11 áreas<br />
científicas. Para validar a candidatura a acadêmico<br />
da ABC, o nome do cientista deve ser indicado por<br />
membros da entidade.<br />
A área de Ciências da Terra possui atualmente 72<br />
membros, entre os quais o pesquisador Carlos Nobre,<br />
do INPE, eleito em 2003. No total, a ABC conta com<br />
mais de 600 membros. Entre os temas considerados<br />
prioritários pela nova Diretoria e que deverão ser<br />
foco de grandes estudos estão: Amazônia, mudanças<br />
climáticas e impactos ambientais.<br />
FONTE: Boletim eletrônico do Jornal da Ciência<br />
3235, de 02/04/<strong>2007</strong>.<br />
CARLOS NOBRE GANHA PRÊMIO Conrado Wessel<br />
A Fundação Conrado Wessel (website: www.fcw.<br />
org.br) anunciou nesta quarta-feira (18/4/<strong>2007</strong>) os<br />
nomes dos ganhadores do Prêmio FCW de Ciência<br />
e Cultura 2006, concedido a personalidades de<br />
reconhecimento nacional em seis categorias.<br />
Os vencedores foram: Sérgio Mascarenhas<br />
Oliveira (Ciência geral), Ricardo Renzo Brentani<br />
(Medicina), Ruth Rocha (Literatura), Magno Antonio<br />
Patto Ramalho (Ciência aplicada ao campo), Carlos<br />
Afonso Nobre (Ciência aplicada ao meio ambiente)<br />
e Aldo Cunha Rebouças (Ciência aplicada à água). A<br />
cerimônia de entrega será realizada no dia 4 de junho,<br />
na Sala São Paulo, a partir das 19h30. Os perfis dos<br />
escolhidos, de acordo com a FCW, revela “qualidades<br />
de talento inovador, liderança, abrangência social,<br />
trabalho incansável, integridade e ética”. O prêmio<br />
concedido a cada ganhador foi de R$ 100 mil isentos<br />
de impostos.<br />
Leia a matéria na íntegra em: http://www.agencia.<br />
fapesp.br/boletim_dentro.php?id=7024.<br />
FONTE: Boletim eletrônico Agencia FAPESP, de<br />
19/4/<strong>2007</strong>.<br />
132
NORMAS e<br />
LEGISLAÇÃO<br />
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
COLÉGIO DE ENTIDADES NACIONAIS<br />
Alfredo Silveira da Silva<br />
Diretor Profissional da SBMET/Conselheiro do CREA-RJ<br />
E-mail: alfredo@meteoro.ufrj.br<br />
O Colégio de Entidades Nacionais (CDEN) teve<br />
como marco inicial a Decisão do CONFEA n°CR-<br />
006/83, que aprovou o processo de discussão para a<br />
reformulação da legislação profissional, constituindo<br />
a Comissão Diretora das Entidades Nacionais.<br />
A primeira reunião do Colegiado foi realizada<br />
em 28 de maio de 1983, na sede do CONFEA, em<br />
Brasília, contando com a participação do Presidente<br />
do CONFEA e dos representantes das Entidades<br />
Nacionais FNE (Federação Nacional de Engenheiros),<br />
FNA (Federação Nacional de Arquitetos e<br />
Urbanistas), IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil),<br />
FEBRAE (Federação Brasileira de Associações de<br />
Engenheiros), CONAGE (Coordenação Nacional de<br />
Geologia), AGB (Associação de Geógrafos do Brasil),<br />
CONATI (Conselho Nacional de Técnicos), FENATA<br />
(Federação Nacional de Técnicos Agrícolas), que<br />
elaboram o documento “Estratégica do Processo de<br />
Discussão da Legislação Profissional pela Comissão”,<br />
servindo de subsídios para o processo de discussão<br />
da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, na pauta<br />
do CONFEA. Em seguida, o Plenário do CONFEA<br />
aprovou, em outubro de 1983, o referido documento<br />
e no ano de 1984 foram realizados sete encontros<br />
nacionais, vinte e cinco regionais e cinco reuniões da<br />
Comissão Diretora.<br />
Em março de 1986 foi realizada reunião do CDEN<br />
com participação de dezoito entidades Nacionais:<br />
ABEAS (Associação Brasileira de Educação<br />
Agrícola Superior), ABEA (Associação de Brasileira<br />
de Engenheiros de Alimentos), ABEE (Associação<br />
Brasileira de Engenheiros Eletricistas), ABENC<br />
(Associação Brasileira de Engenheiros Civis),<br />
ABEMEC (Associação Brasileira de Engenharia<br />
Mecânica e Industrial), AGB, CONAGE, CONTAE<br />
(Conselho Nacional das Associações de Técnicos<br />
Industriais), FAEAB (Federação das Associações<br />
de Engenheiros Agrônomos do Brasil), FEBRAE,<br />
FAEMI (Federação das Associações de Engenheiros<br />
de Minas do Brasil), FNA, FNE, FENATA, IAB,<br />
SBMET (Sociedade Brasileira de Meteorologia),<br />
SBEF (Sociedade Brasileira de Engenheiros<br />
Florestais). No encontro, discutiu-se a Minuta de<br />
Anteprojeto de Alteração da Lei n° 5.194, de 24 de<br />
dezembro de 1966, numa tentativa de consolidar<br />
os documentos gerados pelos grupos Arquitetura,<br />
Agronomia, Engenharia e Geociências.<br />
Durante o Processo Constituinte 1991/1992,<br />
o CDEN teve papel fundamental na proposta de<br />
reorganização do Sistema e na revisão de sua<br />
legislação, culminando em 1994, com a Resolução<br />
n° 386, de 27 de julho de 1994, que criou o Colégio<br />
de Entidades Nacionais, regulamentando-o como<br />
Fórum Consultivo do Sistema/CONFEA.<br />
Em 2005, o Plenário do CONFEA aprovou a<br />
Resolução n° 1011, de 24 de agosto de 2005, que<br />
fixa os critérios para credenciamento das Entidades<br />
Nacionais no CONFEA, revogando a Resolução<br />
386, de 27 de julho de 1994. A referida resolução<br />
estabelece o prazo de três anos, a contar da data de<br />
publicação, para que o CONFEA inicie a revisão do<br />
credenciamento das Entidades Nacionais.<br />
Constituíram pauta do CDEN questões<br />
relacionadas ao funcionamento do Sistema, à<br />
uniformização de procedimentos, visando à<br />
133
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
NORMAS e<br />
LEGISLAÇÃO<br />
maximização da eficiência e eficácia do Sistema,<br />
posicionando-se diante de temas relacionados<br />
às profissões fiscalizadas, além da integração e<br />
desenvolvimento do Sistema CONFEA/CREA.<br />
O Colégio de Entidades Nacionais é composto<br />
pelos Presidentes de Entidades Nacionais e, na sua<br />
ausência, pelos seus representantes credenciados,<br />
devendo a Coordenação do CDEN ser exercida,<br />
em caráter executivo, por um Coordenador<br />
e um Coordenador Adjunto eleitos por seus<br />
membros durante sua primeira reunião realizada<br />
obrigatoriamente, na sede do CONFEA, com um<br />
mandato de um ano, permitida uma única reeleição<br />
para quaisquer dos cargos. Sendo elegíveis para os<br />
cargos de Coordenado e Coordenador Adjunto, os<br />
Presidentes de Entidades Nacionais nos limites de<br />
vigência de seus respectivos mandatos nas Entidades<br />
de origem.<br />
O CDEN reúne-se ordinariamente duas vezes por<br />
ano, sendo a primeira anual na sede do CONFEA e<br />
a segunda incorporada à programação da Semana<br />
Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia<br />
(SOEAA). A primeira reunião anual é instalada<br />
pelo Presidente do CONFEA e pelo Coordenador<br />
da Comissão de Assuntos Nacionais (CAN), ou<br />
seus representantes, que convocam o Coordenador<br />
em exercício para proceder ao relato das atividades<br />
desenvolvidas no período de seu mandato. Em<br />
seguida, procede à eleição dos Coordenadores.<br />
O Presidente do CONFEA e o Coordenador<br />
da CAN ou seus representantes darão posse aos<br />
Coordenadores eleitos, passando a presidir os<br />
trabalhos o Coordenador eleito, dando seqüência<br />
à pauta da qual devem constar obrigatoriamente à<br />
definição do programa de trabalho e discussão de<br />
assuntos de interesse do CDEN.<br />
O CDEN poderá convocar reuniões<br />
extraordinárias, com a definição prévia da pauta, a<br />
pedido do Coordenador, com prévia autorização do<br />
CONFEA; por iniciativa de 2/3 dos membros, com<br />
informação prévia de, no mínimo, quinze dias ao<br />
CONFEA; ou por iniciativa do CONFEA.<br />
134<br />
Compete ao Coordenador do CDEN: encaminhar<br />
ao CONFEA, para homologação, programação anual<br />
de trabalho, após sua aprovação na 1ª Reunião;<br />
organizar, dirigir e coordenar Reuniões Ordinárias<br />
e Extraordinárias; incentivar e apoiar as Entidades<br />
Nacionais nas ações que visem ao aprimoramento<br />
do CDEN e do Sistema CONFEA/CREA; tomar<br />
providências para a tramitação dos assuntos nos<br />
termos do seu Regimento; e apresentar ao CONFEA e<br />
às Entidades Nacionais relatórios contendo sugestões<br />
e recomendações emanadas das reuniões do CDEN<br />
para as providencias cabíveis.<br />
A ordem dos trabalhos das reuniões consiste<br />
em: verificação do quorum; abertura da reunião,<br />
apreciação e aprovação da sú mula da reunião anterior,<br />
informes, leitura e aprovação da pauta e apreciação<br />
dos assuntos pautados.<br />
Os serviços de secretaria e assessoria do Colegiado<br />
são desempenhados pela Gerência de Relações<br />
Institucionais (GRI), unidade de estrutura auxiliar<br />
do CONFEA que é responsável por sistematizar as<br />
sugestões de assuntos a serem incluídos na pauta das<br />
reuniões; encaminhar a convocação aos membros do<br />
CDEN; encaminhar a pauta das reuniões; formatar<br />
propostas apresentadas pelo CDEN; encaminhar as<br />
propostas geradas nas reuniões à comissão permanente<br />
responsável pela condução de assuntos nacionais<br />
para analisar, visando à consecução dos objetivos<br />
aos quais se destinam; acompanhar a tramitação<br />
dos documentos oriundos das reuniões; assessorar<br />
tecnicamente as reuniões; elaborar sumula das<br />
reuniões; e manter organizado o acervo documental.<br />
Os posicionamentos do CDEN possuem<br />
instrumentos e numeração próprios, devidamente<br />
fundamentados, recomendando estudos e medidas<br />
por parte do CONFEA, relatando a situação existente,<br />
proposição, justificativa, fundamentação legal e<br />
sugestão de mecanismos para implementação.<br />
As informações sobre o Colegiado, tais como<br />
Histórico, Estrutura, Funcionamento, Propostas,<br />
Deliberações, Calendário de Reuniões e Entidades<br />
Filiadas podem ser obtidas no site www.confea.org.<br />
br/cden.
Boletim SBMET abril <strong>2007</strong><br />
A Coordenação do CDEN é exercida em caráter<br />
executivo, por um Coordenador e um Adjunto, eleitos<br />
por seus membros. No ano de 1995 o Arquiteto<br />
Itamar Kalil, Presidente da ABEA, exerceu o cargo<br />
de Coordenador junto com o Eng. Agrônomo Carlos<br />
Pieta Filho da CONFAEAB, Coordenador Adjunto.<br />
Em 1996 a Coordenação manteve-se com o Arquiteto<br />
Itamar Kalil e o Coordenador Adjunto foi o Eng.<br />
Agrimensor Miguel Prieto, da FENEA. Nos anos de<br />
1997 e 1998, a Coordenação ficou com o Presidente<br />
da ABEAS, Eng. Agrônomo Helmut Forte Daltro, e a<br />
Coordenação Adjunta com o Presidente da FENEA,<br />
Eng. Agrimensor Ziocélito José Bardini. Em 1999, a<br />
Coordenação do CDEN veio a ser exercida pelo Eng.<br />
Florestal Fernando A. S. Bemerguy, Presidente da<br />
ABEAS, e o Presidente da FEBRAE, Eng. Civil José<br />
Ramalho Ortigão Jr., passou a ser o Coordenador<br />
Adjunto. No ano de 2000, o Colégio continuou<br />
sendo comandado pelo Eng. Florestal Fernando<br />
Bemerguy, Presidente da ABEAS e o Eng. Civil<br />
Pedro Lopes de Queiroz, Presidente da ABENGE,<br />
como Coordenador Adjunto. Durante o ano de<br />
2001, o CDEN foi coordenado pelo Presidente da<br />
FISENGE, Eng. Eletricista Paulo Bubach, tendo com<br />
Coordenado Adjunto o Eng. Eletricista Reynaldo<br />
Rocha Barros. Em 2002, a coordenação ficou com o<br />
Presidente da FNA, Arquiteto e Urbanista Eduardo<br />
Bimbi, e a Coordenação Adjunta com a Eng. de<br />
Alimentos Márcia Ângela Nori. No ano de 2003, o<br />
Colégio continuou sendo comandado pelo mesmo<br />
arquiteto e tendo como Coordenador Adjunto o<br />
Presidente da SBEF, Eng. Florestal Carlos Adolfo<br />
Bantel. Em 2004, o CDEN foi coordenado pelo<br />
Presidente da CONFAEB, Eng. Agrônomo Antonio<br />
de Pádua Angelim e o Presidente da FAEP-BR, Eng.<br />
de Pesca Augusto José Nogueira. Em 2005, o CDEN<br />
foi coordenado pelo Presidente da CONFAEB e como<br />
Coordenador Adjunto o Presidente da CONTAE,<br />
Técnico Industrial Eletrônico Ricardo do Nascimento<br />
Alves. Em 2006, o Colégio foi Coordenado pelo<br />
Presidente da ANEST, Eng. Mec. Francisco Machado<br />
da Silva e como Coordenador Adjunto o Presidente<br />
da CONTAE, Técnico Industrial Eletrônico Ricardo<br />
do Nascimento Alves. Atualmente a Coordenação do<br />
CDEN continua com o mesmo Presidente da ANEST,<br />
tendo como Coordenador Adjunto o Eng. Agrônomo,<br />
Presidente da ABEAS José Geraldo Vasconcelos<br />
Bracuhy.<br />
135
AGENDA<br />
Boletim SBMET ago-nov 2006<br />
ABRIL <strong>2007</strong><br />
• Special Session at the EGU General Assembly<br />
AS1.15: Aerosol-Precipitation Interactions<br />
Período: 15 a 20 de abril de <strong>2007</strong><br />
Local: Vienna, Austria<br />
Website: www.cosis.net/members/meetings/<br />
programme/overview_db.php?m_id=40<br />
• Congresso Ibero-americano sobre desenvolvimento<br />
sustentável (SUSTENTÁVEL <strong>2007</strong>)<br />
Período: 24 a 26 de abril de <strong>2007</strong><br />
Local: Auditório Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares<br />
Cabral, s/nº, Parque do Ibirapuera - São Paulo - SP<br />
Website: www.sustentavel.org.br/local-do-evento.asp<br />
• Fórum de Agronegócio - Biocombustível no Brasil<br />
Período: 26 de abril de <strong>2007</strong><br />
Local: Campinas, SP<br />
Website: www.cori.unicamp.br/foruns/agro/foruns_<br />
agro.php<br />
• Workshop de Monitoramento Ambiental<br />
Período: 27 a 28 de abril de <strong>2007</strong><br />
Local: São Paulo, SP<br />
Website: www.edutechambiental.com.br/cursos_<br />
workshops/index.asp<br />
MAIO <strong>2007</strong><br />
• Fórum sobre Aquecimento Global<br />
Período: 03 de maio a 28 junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Campinas, SP<br />
Website: www.canalenergia.com.br/zpublisher<br />
materias/Meio_Ambiente.asp?id=59023<br />
• Seminário “Mitigação das Mudanças Climáticas<br />
- Contribuições do Grupo de Trabalho III ao<br />
4º Relatório do Painel Intergovernamental de<br />
Mudança Climática - IPCC”<br />
Período: 08 de maio de <strong>2007</strong><br />
Local: Auditório do Programa de Planejamento<br />
Energético do Instituto Alberto Luiz Coimbra de<br />
Pós-Graduação COPPE-UFRJ/UFRJ, Centro de<br />
Tecnologia, Bloco C, Sala C-208, Ilha do Fundão<br />
- Rio de Janeiro - RJ<br />
Horário: 10 horas<br />
• 7th IEEE International Symposium on Cluster<br />
Computing and the Grid – CCGrid<strong>2007</strong><br />
Período: 14 a 17 de maio de <strong>2007</strong><br />
Local: Rio de Janeiro, RJ<br />
Website: ccgrid07.lncc.br<br />
• 1º Workshop de Interação Universidade-Empresa<br />
Período: 18 de maio de <strong>2007</strong><br />
Local: Itatiba, SP<br />
Website: www.saofrancisco.edu.br<br />
• Palestra “Domínios Geoambientais da região de<br />
influência da barragem do Tijuco Alto, alto Vale<br />
do Ribeira: adequabilidades e limitações frente ao<br />
uso e ocupação”<br />
Período: 19 de maio <strong>2007</strong><br />
Local: Campinas, SP<br />
Website: www.sbe.com.br/aberta.asp<br />
136
Boletim SBMET ago-nov 2006<br />
• III Encontro da Associação de Órgãos Municipais<br />
de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro<br />
(ANAMMA-RJ)<br />
Período: 22 a 24 de maio <strong>2007</strong><br />
Local: Niterói, RJ<br />
Website: www.anamma.com.br/contVisualizar.<br />
asp?id=960<br />
• Workshop Internacional sobre Qualidade da Água<br />
e Boas Práticas de Manejo para a Aqüicultura<br />
Período: 22 a 25 de maio de <strong>2007</strong><br />
Local: Auditório da Reitoria da Universidade do Estado<br />
do Amazonas (UEA), Manaus.<br />
Contato por e-mail: alzira@inpa.gov.br ou leem@inpa.<br />
gov.br.<br />
Mais Informações pelo telefone (92) 3643-<strong>31</strong>91.<br />
Website: www.inpa.gov.br<br />
Promoção: INPA, EMBRAPA, FAPEAM<br />
• AGU-SBGf Joint Meeting<br />
Período: 22 a 25 de maio <strong>2007</strong><br />
Local: Acapulco, México<br />
Website: www.agu.org/meetings/ja07/<br />
• Seminário sobre Manejo Integrado de bacias<br />
hidrográfi cas em Florestas plantadas<br />
Período: 23 e 24 de maio <strong>2007</strong><br />
Local: Viçosa, MG<br />
Website: www.sif.org.br<br />
• 4º Congresso Nacional de Meio Ambiente –<br />
Perspectivas de Sobrevivência do Planeta neste<br />
Milênio<br />
Período: 24 a 26 de maio <strong>2007</strong><br />
Local: Poços de Caldas, MG<br />
Website: www.meioambientepocos.com.br<br />
• Conferência “Agroenergia e Biocombustível”<br />
Período: 25 de maio <strong>2007</strong><br />
Local: Botucatu, SP<br />
Website: www.iea.usp.br/iea/contato/contato98.html<br />
• II Workshop em Modelagem de Tempo e Clima<br />
utilizando o Modelo Eta: Aspectos Físicos e<br />
Numéricos<br />
workshop: 29 de maio – 02 de junho de <strong>2007</strong>, de terça<br />
a sábado<br />
mini-cursos: 28 de maio de <strong>2007</strong>, segunda-feira<br />
Local: INPE - Cachoeira Paulista - SP<br />
Organização: INPE e APLBA<br />
Website: worketa@cptec.inpe.br e www.cptec.inpe.br/<br />
worketa/evento.shtml<br />
• Simpósio sobre “Aquecimento Global e<br />
Responsabilidade Social”<br />
Período: 29 a <strong>31</strong> de maio de <strong>2007</strong><br />
Local: Auditório Central - Campus I - Universidade<br />
Católica de Brasília, Brasília, DF<br />
Website: www.ucb.br/simposio<br />
JUNHO <strong>2007</strong><br />
• Workshop Passivo Ambiental<br />
Período: 01 e 02 de junho de <strong>2007</strong><br />
• Summer School on Multiscale Modeling and<br />
Simulation in Science<br />
Local: Rua Cubatão 1088/90, Paraíso, São Paulo, SP<br />
Período: 04 a 15 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Bosön, Stockholm<br />
Website: www.edutechambiental.com.br/<br />
Website: http://user.it.uu.se/~ngssc/ngssc_home//S2M2S2/<br />
http://www.atm.helsinki.fi /ILEAPS<br />
Email: ileaps-ipo@helsinki.fi<br />
137
AGENDA<br />
Boletim SBMET ago-nov 2006<br />
• Seminário “Impactos das Mudanças Climáticas e<br />
Cenários no Estado de São Paulo”<br />
Período: 06 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: São Paulo, SP<br />
Website: www.iea.usp.br/contato<br />
• Comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente/<br />
Evento Planeta Terra no Século XXI - Avanços e<br />
Conseqüências<br />
Período: 05 e 06 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Florianópolis, SC<br />
Website: ciram.epagri.sc.gov.br<br />
• Congresso Internacional de Agroenergia e<br />
Biocombustíveis<br />
Período: 11 a 15 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Teresina, PI<br />
Website:<br />
www.agendapromocoes.com.br/<br />
agrobioenergia/<br />
• IV Workshop on Lidar Measurements in Latin<br />
America<br />
Período: 17 a 23 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Ilhabela, SP, Brazil<br />
Website: www.cea.inpe.br/cea/lws/index.htm<br />
• Workshop em Assimilação de dados em Modelos<br />
Atmosféricos Aplicações Meteorológicas e<br />
Hidrológicas<br />
Período: 21 a 22 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Fortaleza, CE<br />
Website: www.funceme.br/<br />
• I Seminário Internacional sobre Mudanças<br />
Climáticas e seus Impactos na Agricultura<br />
Período: 21 a 23 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Auditório da Biblioteca Central da UFV – Viçosa,<br />
MG<br />
Website: www.cpd.ufv.br/intranet/eventos/climaticas<br />
• II International Workshop on Climate Change and<br />
its impact on agriculture “linking regional climate<br />
model with crop growth model to analyze climate<br />
chance impacts on agriculture in Brazil”<br />
Período: 21 a 23 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Viçosa, MG<br />
Website: www.cpd.ufv.br/intranet/eventos/climaticas<br />
Contato por email: Marcos Costa (mh.costa@ufv.br)<br />
• The <strong>2007</strong> World Congress in Computer Science,<br />
Computer Engineering, and Applied Computing<br />
(WORLDCOMP’07) (composto de 24 Conferências)<br />
Período: 25 a 28 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Monte Carlo Resort Hotel, Las Vegas, Nevada,<br />
EUA<br />
Contato por e-mail: H. R. Arabnia - hra@cs.uga.edu.<br />
Website: www.worldacademyofscience.org/<br />
worldcomp07<br />
www.world-academy-of-science.org<br />
• II Encontro Sul-Brasileiro de Meteorologia/<br />
IV Jornada de Palestras dos Estudantes de<br />
Meteorologia - UFPel<br />
Período: 25 a 29 de junho de <strong>2007</strong><br />
Local: Florianópolis, SC<br />
Website: www.cefetsc.edu.br/~meteoro/esbm/<br />
138
Boletim SBMET ago-nov 2006<br />
JULHO <strong>2007</strong><br />
• XV Congresso Brasileiro de Agrometeorologia<br />
Tema: “A AGROMETEOROLOGIA NO SÉCULO XXI”<br />
Período: 02 a 05 de julho de <strong>2007</strong><br />
Local: Centro de Convenções do Hotel Parque dos<br />
Coqueiros, situado à Rua Francisco Rabelo Leite, nº<br />
1075, Bairro Atalaia, Aracaju, SE<br />
Website: www.cbagro<strong>2007</strong>.com.br<br />
• Conferência Internacional de Educação a Distância<br />
com Apoio Computacional em Meteorologia e<br />
Hidrologia (CALMet) <strong>2007</strong><br />
Período: 02 a 07 de julho de <strong>2007</strong><br />
Local: Beijing, China<br />
Website: calmet.comet.ucar.edu/<br />
Informações: Patrick Parrish (pparrish@comet.ucar.<br />
edu), Vesa Nietosvaara (vesa.nietosvaara@fmi.fi), Fan<br />
Hong (fanh@cma.gov.cn), Dr. Ednaldo Oliveira dos<br />
Santos (ednaldo@ppe.ufrj.br).<br />
• Joint conference of the International Association of<br />
Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS)<br />
and the International Union of Geodesy and<br />
Geophysics (IUGG)<br />
Período: 02 a 13 de julho de <strong>2007</strong><br />
Local: University of Perugia, Itália<br />
Contato por E-mail: secretary@iugg<strong>2007</strong>perugia.it<br />
Website: www.iugg<strong>2007</strong>perugia.it<br />
• 59ª Reunião Anual da SBPC<br />
Período: de 08 a 13 de julho de <strong>2007</strong><br />
Local: campus da Universidade Federal do Pará<br />
(UFPA), em Belém do Pará<br />
Tema central: Amazônia: desafi o nacional .<br />
Website: www.sbpcnet.org.br/eventos/59ra.<br />
As inscrições para os minicursos serão abertas a partir<br />
de abril do próximo ano.<br />
• 11th World Multi-conference on Systemics,<br />
Cybernetics and Informatics: WMSCI <strong>2007</strong><br />
Período: 08 a 11 de julho de <strong>2007</strong><br />
Local: Orlando, Florida, EUA<br />
Website: www.iiis-cyber.org/wmsci<strong>2007</strong><br />
• 6 0 Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de<br />
Água de chuva<br />
Período: 09 a 12 de julho de <strong>2007</strong><br />
Local: UFMG, Belo Horiznte, MG<br />
Website: www.abcmac.org.br<br />
• Session "IWG02" - 4rd AOGS Annual Meeting:<br />
"Modelling and Simulation of<br />
Dangerous Phenomena for Hazard Mapping"<br />
Período: 30 de julho a 4 de agosto de <strong>2007</strong><br />
Local: Bangkok, Thailandia<br />
Website: www.asiaoceania.org/aogs<strong>2007</strong>/<br />
Contato por e-mail: Giulio Iovine: iovine@irpi.cnr.it;<br />
g.iovine@irpi.cnr.it; giovine64@katamail.com<br />
139
AGENDA<br />
Boletim SBMET ago-nov 2006<br />
AGOSTO <strong>2007</strong><br />
• 33rd International Conference on Radar<br />
Meteorology<br />
Período: 06 a 10 de agosto de <strong>2007</strong><br />
Local: Cairns Convention Centre, Cairns, Austrália<br />
Informações: http://www.ametsoc.org/meet/index.<br />
html<br />
Website: www.tropicalaustralia.com.au/<br />
• Workshop Internacional de Satélites Meteorológicos<br />
para Usuários Sul-Americanos<br />
Período: 20 a 24 de agosto <strong>2007</strong><br />
Local: Maceió, Alagoas<br />
Data de inscrição: até 10 de maio <strong>2007</strong><br />
Website: www.evento.ufal.br/eumetsat/<br />
• Curso de Verão: “Land Surface - Atmosphere<br />
Interactions in a Changing Climate”<br />
Período: 26 a <strong>31</strong> de agosto de <strong>2007</strong><br />
Local: Grindelwald, Switzerland<br />
Data limite para submissão: 20 de dezembro de 2006<br />
(notifi cacção de aceite em janeiro <strong>2007</strong>)<br />
Website: www.nccr-climate.unibe.ch/summer_<br />
school/<strong>2007</strong>/<br />
• Second International Conference on Earth System<br />
Modeling Max Planck Institute for Meteorology<br />
Período: 27 a <strong>31</strong> de agosto de <strong>2007</strong><br />
Inscrições online: outubro de 2006<br />
Website: www.mpimet.mpg.de/icesm<br />
SETEMBRO <strong>2007</strong><br />
• 14th IUAPPA World Congress<br />
Período: 09 a 13 de setembro de <strong>2007</strong><br />
Local: Brisbane, Austrália<br />
Website: www.icms<br />
• The United Nations/Austria/European Space<br />
Agency Symposium on “Space Tools and Solutions<br />
for Monitoring the Atmosphere in Support of<br />
Sustainable Development ”<br />
Período: 11 a 14 de setembro de <strong>2007</strong><br />
Local: Graz, Austria<br />
Website: www.unoosa.org/oosa/SAP/act<strong>2007</strong>/graz/<br />
index.html<br />
• Workshop Internacional sobre Clima, Recursos<br />
Naturais e Aplicações na CPLP<br />
Período: 11 a 15 de setembro de <strong>2007</strong><br />
Local: CABO VERDE, Ilha do Sal<br />
Contato com Secretaria do Evento: secretariado.<br />
cra@gmail.com ou Dr. Sérgio Ferreira (Portugal)<br />
(sfconsultoria@gmail.com)<br />
Centro Empresarial de Carnaxide, Avenida Tomás<br />
Ribeiro, 47 – 3 - 2790-463 Carnaxide, Portugal<br />
Tel.: (+351) 93 373 4391 (Dr. Sérgio Ferreira)<br />
Fax: (+351) 21 418 3819<br />
• Congresso Internacional "A Global Vision of<br />
Forestry in the 21st Century"<br />
Período: 30 de setembro a 03 de outubro de <strong>2007</strong><br />
Local: Toronto, Canadá<br />
Website: www.forestry.utoronto.ca/centennial/int_<br />
congress.htm<br />
140
Boletim SBMET ago-nov 2006<br />
OUTUBRO <strong>2007</strong><br />
• Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – <strong>2007</strong><br />
Foi escolhido como lema para a Semana de <strong>2007</strong>,<br />
Terra.<br />
Período: 01 a 07 de outubro de <strong>2007</strong><br />
• VIII Congresso Brasileiro de Redes Neurais<br />
Período: 07 a 11 de outubro de <strong>2007</strong><br />
Local: Florianópolis, SC<br />
Website: http://www.ieb.ufsc.br/CBRN/<br />
• I Simpósio Brasileiro de Inteligência<br />
Computacional<br />
Período: 07 a 11 de outubro de <strong>2007</strong><br />
Local: Universidade Federal de Santa Catarina,<br />
Florianópolis, SC<br />
Website: www.ieb.ufsc.br/SBIC<br />
NOVEMBRO <strong>2007</strong><br />
• II Simpósio Internacional de Climatologia (SIC)/ III<br />
Conferência Regional sobre Mudanças Climáticas<br />
- “A detecção das mudanças climáticas e a<br />
atribuição de causas”<br />
Período: 02 e 03 de novembro de <strong>2007</strong><br />
Local: São Paulo, SP<br />
• III Conferência Regional sobre Mudanças Globais<br />
Período: 04 a 08 de novembro de <strong>2007</strong><br />
Local: São Paulo, SP<br />
• II Simpósio Internacional de Climatologia: “A<br />
detecção das mudanças climáticas e a atribuição<br />
de causas”<br />
Período: 08 a 10 de novembro de <strong>2007</strong><br />
Local: São Paulo, SP<br />
• IX Simpósio Internacional de Proteção contra<br />
Descargas Atmosféricas (IX SIPDA)<br />
Período: 26 a 30 de novembro de <strong>2007</strong><br />
Local: Foz do Iguaçu - PR<br />
Website: www.iee.usp.br/sipda<br />
E-mail para contato com Secretaria: sipda@iee.usp.br)<br />
•<br />
DEZEMBRO <strong>2007</strong><br />
IV Congresso Cubano de Meteorologia<br />
Período: 04 a 08 de dezembro de <strong>2007</strong><br />
Local: Ciudad de La Habana<br />
Recebimento de abstract: ate <strong>31</strong> de maio de <strong>2007</strong><br />
Envio cartas de aceite: à medida que for sendo recebido<br />
os resumos até <strong>31</strong> de julho <strong>2007</strong><br />
Envio do trabalho completo: até <strong>31</strong> de agosto de <strong>2007</strong><br />
O recebimento de abstracts e trabalhos deve ser feito<br />
por e-mail: resumenes@insmet.cu<br />
Website: www.insmet.cu/sometcuba/default.htm<br />
E-mail: sometcuba@insmet.cu<br />
• V Workshop de Micrometeorologia<br />
Período: 12 a 14 de dezembro de <strong>2007</strong><br />
Local: UFSM, Santa Maria<br />
Contato: Otavio Acevedo (otavio@smail.ufsm.br)<br />
141
AGENDA<br />
Boletim SBMET ago-nov 2006<br />
MARÇO 2008 AGOSTO 2008<br />
• International Symposium on “Weather Radar and<br />
Hydrology”<br />
Período: 10 a 15 de março de 2008<br />
Local: Grenoble, France<br />
Website: www.wrah-2008.com<br />
• XV Congresso Brasileiro de Meteorologia<br />
Período: 18 a 23 de agosto de 2008<br />
Local: A defi nir<br />
Tema: a defi nir<br />
Organização: SBMET<br />
142
OBITUÁRIO<br />
Boletim SBMET ago-nov 2006<br />
FALECE O NOTÁVEL PROFESSOR OBASI, EX-SECRETÁRIO<br />
GERAL DA OMM, GRANDE INCENTIVADOR DA METEOROLOGIA<br />
Godwin Patrick Olu Obasi (1933 - <strong>2007</strong>)<br />
O Professor Godwin Patrick Olu Obasi, Secretário<br />
Geral da Organização Meteorológica Mundial entre<br />
01 de janeiro de 1984 e <strong>31</strong> de dezembro de 2003,<br />
faleceu em 03 de março de <strong>2007</strong>, em Abuja, Nigéria.<br />
O Professor Obasi nasceu em 24 de dezembro de<br />
1933 em Ogori, Estado de Kogi, Nigéria. Recebeu<br />
os títulos de Bacharel em Ciências em Matemática<br />
e Física (1959, com honras) na Universidade de<br />
McGill, Montreal, Canadá; de Mestre em Ciências<br />
(1960) e de Doutor em Meteorologia (1963) no<br />
Massachusets Institute of Technology, EUA, tendo<br />
recebido o Prêmio Carl Rossby pela melhor Tese de<br />
Doutorado.<br />
Após sua graduação, foi trabalhar no Serviço<br />
Meteorológico Nacional da Nigéria. Quatro anos<br />
depois, entrou no Corpo Docente da Universidade de<br />
Nairobi, onde posteriormente foi nomeado Chefe do<br />
Departamento de Meteorologia e Diretor da Faculdade<br />
de Ciências. Em 1978, mudou-se para Genebra para<br />
integrar o Secretariado da OMM como Diretor do<br />
Departamento de Educação e Treinamento. Em maio<br />
de 1983 foi eleito Secretário Geral da OMM pelo<br />
Congresso Meteorológico Mundial, com um mandato<br />
de quatro anos a partir de 01 de janeiro de 1984.<br />
Subseqüentemente foi re-eleito por mais quatro vezes<br />
(em 1987, 1991, 1995 e 1999). Completado o seu<br />
quinto mandato, tornou-se Secretário Geral Emérito,<br />
conforme decisão do 14 o Congresso Meteorológico<br />
Mundial.<br />
Durante seus mandatos, o Professor Obasi foi<br />
ativo na procura de soluções globais para problemas<br />
ambientais, com especial atenção para a atmosfera,<br />
a água doce e os oceanos. Ele esteve na vanguarda<br />
para chamar a atenção do mundo para o problema<br />
das mudanças globais, especialmente ao reunir a<br />
Segunda Conferência Mundial do Clima em Genebra,<br />
em 1990. Teve um papel importante nas negociações<br />
que levaram aos estabelecimentos da Convenção<br />
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, da<br />
Convenção das Nações Unidas para Combater a<br />
Desertificação, do Painel Intergovernamental sobre<br />
Mudanças Climáticas (IPCC), do Programa Mundial<br />
de Pesquisas Climáticas, do Sistema Global de<br />
Observação Climática, e da Convenção de Viena para<br />
a Proteção da Camada de Ozônio e seu Protocolo de<br />
Montreal.<br />
O nome do Professor Obasi está intimamente<br />
associado a sucessos científicos altamente relevantes<br />
em seu campo de especialização, a dinâmica da<br />
atmosfera, incluindo experimentos relacionados à<br />
pesquisa das Monções Oeste Africanas e da Atmosfera<br />
Global.<br />
O Professor Obasi foi agraciado com honras por<br />
muitas sociedades profissionais de Meteorologia e de<br />
Hidrologia, academias de ciências e universidades<br />
em todo o mundo.<br />
Nota da OMM, traduzida pelo Dr. Ralf Gielow,<br />
INPE/CPTEC.<br />
Foto tirada durante conferência em Évora, Portugal, em 2002.<br />
Da esquerda para a direita, Antonio Divino Moura (INMET), Prof.<br />
Obasi, Luiz Carlos Baldicero Molion (UFAL).<br />
143
Boletim SBMET ago-nov 2006<br />
ANUNCIANTES<br />
Pág 6<br />
www.hobeco.net<br />
E-mail: info@hobeco.net<br />
Contra-capa<br />
www.simtech.com.br<br />
E-mail: simtech@simtech.com.br<br />
ATENDIMENTO DA SBMET<br />
Secretaria da SBMET<br />
E-mail Geral: <strong>sbmet</strong>@<strong>sbmet</strong>.org.br<br />
Diretora Administrativa: Marley C. L. Moscati<br />
<strong>sbmet</strong>@<strong>sbmet</strong>.org.br<br />
Assistente de Secretária: Angela Harada<br />
angela@cptec.inpe.br<br />
Fone: (0xx12) 3945-6653<br />
Fax: (0xx12) 3945-6666<br />
Home-page:<br />
www.<strong>sbmet</strong>.org.br<br />
Sobre Boletim da SBMET<br />
Informações Gerais:<br />
<strong>sbmet</strong>@<strong>sbmet</strong>.org.br<br />
Envio de artigos e matérias:<br />
marley@cptec.inpe.br<br />
Fone: (+5512) 3945-6653<br />
Fax: (+5512) 3945-6666<br />
Sobre Revista Brasileira de Meteorologia<br />
(RBMET)<br />
InformaçõesGerais:<br />
rbmet@model.iag.usp.br<br />
Envio de artigos e matérias:<br />
Tércio Ambrizzi – rbmet@model.iag.usp.br<br />
Fone: (+ 55 - 11) 3091-47<strong>31</strong><br />
Fax: (+55 - 11) 3091-4714<br />
144
Política Editorial do Boletim da Sociedade Brasileira de Meteorologia<br />
Instruções aos Autores:<br />
1) Serão aceitos para publicação no BSBMET, artigos originais na área de meteorologia e áreas correlatas,<br />
não publicados anteriormente, versando sobre conclusões e andamentos de Projetos, opiniões sobre pontos<br />
de relevância na meteorologia e problemas atuais da meteorologia e do clima, além de matérias técnicas e<br />
profissionais de interesse.<br />
2) Os manuscritos submetidos deverão ser enviados ao Editor Responsável do BSBMET via e-mail.<br />
3) Os trabalhos devem ser organizados com a seguinte estrutura: TÍTULO, nome completo dos autores, as<br />
Instituições a que pertencem e o endereço postal, RESUMO/palavras chaves, ABSTRACT/Key words, 1.<br />
INTRODUÇÃO, 2. RESULTADOS E DISCUSSÃO, 3. CONCLUSÕES (ou CONSIDERAÇÕES FINAIS),<br />
4. AGRADECIMENTOS, 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. As figuras e tabelas deverão estar<br />
posicionadas dentro do texto conforme estipulados pelos autores. As referências bibliográficas, as equações e as<br />
unidades devem seguir as normas adotadas pela Revista Brasileira de Meteorologia.<br />
4) O texto deve ter, no máximo, dez (10) páginas e ser escrito em formato A4 (297 x 210 mm), usando-se<br />
o Editor Word 6.0 ou posterior, fonte Times New Roman 12, espaço 1,5 cm, todas as margens de 2,5 cm e<br />
espaçamento duplo entre parágrafos.<br />
Padrões para confecção e envio de arquivos eletrônicos dos anúncios:<br />
1. Especificação de formatos:<br />
1.1 Anúncio ¼ de página, 8x12 cm sem sangria.<br />
1.2 Anúncio 1/2 página, 20 x13,25 cm sem sangria.<br />
1.3 Anúncio de página inteira, 17,5 x 24 cm com 4 mm de sangria.<br />
2. Programas disponíveis para recepção de arquivos:<br />
2.1 CorelDraw 10 ou inferior, nas plataformas PC.<br />
2.2 PDF 5.0 (em alta resolução) ou inferior, nas plataformas PC.<br />
3. Mídias para envio:<br />
3.1 CDR ou CDRW<br />
3.2 E-mail para arquivos menores que 5MB<br />
Obs: (1) Para enviar arquivos, favor gravar todos os links e fontes utilizadas na mesma mídia, lembrando que<br />
a qualidade de imagens e calibração de cores é de inteira responsabilidade do anunciante. É imprescindível o<br />
acompanhamento de uma impressão colorida que possa demonstrar a expectativa de reprodução de arquivo. (2)<br />
Todas as imagens (figuras, tabelas e fotos) devem ser enviadas em arquivos à parte, em JPG ou PDF, em alta<br />
resolução.<br />
Endereço para envio: A/c Marley C. L. Moscati, INPE/CPTEC – Dept. Meteorologia, Sala 26, Av. dos<br />
Astronautas, 1758, Jd. Granja, São José dos Campos/ SP – 12227-010<br />
E-mail: marcus@digitalpress.art.br, com cópia para marley@cptec.inpe.br.