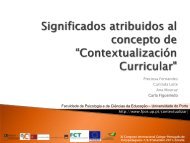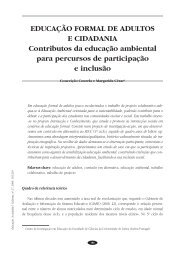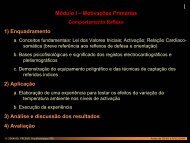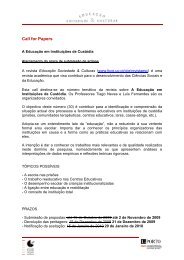A construção da autonomia num contexto de dependências
A construção da autonomia num contexto de dependências
A construção da autonomia num contexto de dependências
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIANUM CONTEXTO DE DEPENDÊNCIASLimitações e possibili<strong>da</strong><strong>de</strong>s nos processos<strong>de</strong> (in)<strong>de</strong>cisão na escola públicaLeonor Lima Torres*Educação, Socie<strong>da</strong><strong>de</strong> & Culturas, nº 32, 2011, 91-109O texto que se apresenta** explora a problemática <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong>, tal qual ela é experiencia<strong>da</strong>quotidianamente nas escolas, mobilizando para o efeito alguns episódios significativos <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>escolar extraídos <strong>de</strong> algumas pesquisas empíricas em curso. A análise <strong>de</strong>stes <strong>da</strong>dos permitiureflectir sobre os diferentes usos que os actores escolares dão às suas margens relativas <strong>de</strong> <strong>autonomia</strong>,fortalecendo ou limitando o processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong>mocrática. Quatro interrogações--chave orientaram esta abor<strong>da</strong>gem: i) Até que ponto a avaliação externa está a funcionarcomo um mol<strong>de</strong> cultural na vi<strong>da</strong> <strong>da</strong>s escolas?; ii) De que forma as organizações escolares re<strong>de</strong>finemlocalmente a sua missão estratégica?; iii) Que tipos <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança estão a ser <strong>de</strong>senvolvidosnas organizações?; iv) Em que mol<strong>de</strong>s as organizações escolares têm organizado os processospe<strong>da</strong>gógicos (turmas, controlo <strong>da</strong> disciplina)?. Reflectir criticamente sobre a forma como asescolas se apropriam dos processos políticos e os transformam em práticas concretas <strong>de</strong> intervenção<strong>de</strong>mocrática constitui também uma forma (pe<strong>da</strong>gógica) <strong>de</strong> reconhecer e <strong>de</strong>volver aosprofissionais <strong>da</strong> educação um papel activo e comprometido com o processo <strong>de</strong> <strong>construção</strong> <strong>da</strong><strong>autonomia</strong> <strong>de</strong>mocrática <strong>da</strong>s suas escolas.Palavras-chave: <strong>autonomia</strong> <strong>da</strong>s escolas, <strong>de</strong>mocracia e participação, cultura escolar e culturaorganizacional escolar*Instituto <strong>de</strong> Educação, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> do Minho (Braga/Portugal).**Este texto resulta do aprofun<strong>da</strong>mento <strong>de</strong> uma versão preliminar apresenta<strong>da</strong> em dois eventos científicos, o primeiro emBarcelona (Seminário Internacional <strong>de</strong> Políticas Educativas Iberoamericanas: tendências, <strong>de</strong>safíos y compromisos, realizadoa 17 e 18 <strong>de</strong> Maio <strong>de</strong> 2010), o segundo no Funchal (I Seminário Globalização, Políticas <strong>da</strong> Educação e Avaliação:dilemas e <strong>de</strong>safios para a escola pública, realizado a 8 e 9 <strong>de</strong> Julho <strong>de</strong> 2010).91
1. IntroduçãoO tema <strong>autonomia</strong> <strong>da</strong> escola remete-nos <strong>de</strong> imediato para duas constatações <strong>de</strong> sentido contraditório:uma primeira, assente no reconhecimento <strong>da</strong> sua centrali<strong>da</strong><strong>de</strong> no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>mocrático<strong>da</strong> instituição escolar; uma segun<strong>da</strong>, ancora<strong>da</strong> na vulgarização <strong>da</strong> sua utilização enquantoinstrumento político promotor <strong>de</strong> múltiplas reformas educativas. A existência <strong>de</strong> um consensosocial alargado em relação à relevância <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong> no melhoramento do funcionamento <strong>da</strong>sorganizações ten<strong>de</strong> a exercer um efeito <strong>de</strong> ocultação dos diferentes sentidos atribuídos a esta categoria,bem como <strong>da</strong>s diversas apropriações que ela suscita nos <strong>contexto</strong>s político, organizacional eprofissional. Objecto <strong>de</strong> estudo privilegiado no campo <strong>da</strong> administração educacional, a problemática<strong>da</strong> <strong>autonomia</strong> <strong>da</strong>s escolas inspirou, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cedo, inúmeras investigações, relatórios e recomen<strong>da</strong>çõesque procuraram <strong>de</strong>monstrar as várias cambiantes do fenómeno e suas implicações ao níveldo <strong>de</strong>senvolvimento do sistema educativo. Contudo, o elevado número <strong>de</strong> estudos produzidos eamplamente divulgados, alguns <strong>de</strong>les sob a chancela do Ministério <strong>da</strong> Educação, só muito timi<strong>da</strong>menteconseguiu instituir-se como «parceiro» na negociação <strong>da</strong> agen<strong>da</strong> política para a educação.Assim, a um certo inebriamento político e social, expresso por uma a<strong>de</strong>são a uma concepção instrumental<strong>de</strong> <strong>autonomia</strong>, correspon<strong>de</strong>u um longo e sinuoso processo <strong>de</strong> experimentação <strong>de</strong> programase medi<strong>da</strong>s reformadoras <strong>da</strong> escola. A produção <strong>de</strong> sucessivos normativos <strong>de</strong> carácter avulso eo ensaio <strong>de</strong> fórmulas <strong>de</strong> engenharia organizacional supostamente mais indutoras <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong>parecem ter esvaziado o potencial <strong>de</strong>mocratizador <strong>da</strong> escola pública, ca<strong>da</strong> vez mais circunscrito àsesferas <strong>da</strong> execução <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisões formula<strong>da</strong>s fora e para além <strong>da</strong> uni<strong>da</strong><strong>de</strong> periférica Escola. A intensificação<strong>da</strong> retórica política em torno <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong>, tantas vezes redun<strong>da</strong>nte e remeti<strong>da</strong> parameros arranjos morfológicos e <strong>de</strong> expressão periférica, mais do que «acen<strong>de</strong>r» o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> construiruma escola autonómica, «apagou» a iniciativa <strong>de</strong> a concretizar, divorciando-a ca<strong>da</strong> vez mais do sentidocívico e <strong>de</strong>mocrático. E, neste sentido, po<strong>de</strong>r-se-á questionar se este cenário <strong>de</strong> <strong>de</strong>sgaste socialnão será ele próprio funcional à reprodução do sistema centralizador <strong>da</strong> educação?Vários têm sido os autores a sustentar a tese <strong>de</strong> que em Portugal existe uma discrepância importanteentre o nível dos discursos e reflexões sobre o processo <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong> <strong>de</strong>mocrática e o plano<strong>da</strong>s práticas <strong>de</strong>senvolvi<strong>da</strong>s nas escolas. Em finais <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 1990, Almerindo Afonso escrevia quea <strong>autonomia</strong> não passava <strong>de</strong> «tópico discursivo na história recente dos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> administração <strong>da</strong>sescolas» (1999: 122). Já no início <strong>de</strong>ste século, os estudos que vínhamos <strong>de</strong>senvolvendo sobre o processo<strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratização <strong>da</strong> escola <strong>de</strong>nunciavam a existência <strong>de</strong> um superavit <strong>de</strong> reflexão e <strong>de</strong> umdéfice <strong>de</strong> acção <strong>de</strong>mocrática e participativa nos vários espaços escolares (Torres, 2005). Mais recentemente,António Nóvoa, referindo-se às questões <strong>da</strong> profissionali<strong>da</strong><strong>de</strong> docente, alertava queo excesso dos discursos escon<strong>de</strong> uma gran<strong>de</strong> pobreza <strong>da</strong>s práticas. Dito <strong>de</strong> outro modo: temos um discursocoerente, em muitos aspectos consensual, estamos <strong>de</strong> acordo quanto ao que é preciso fazer, mas raramentetemos conseguido fazer aquilo que dizemos que é preciso fazer. (2007: 23)92
Após três déca<strong>da</strong>s e meia <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong> gestão <strong>de</strong>mocrática nas escolas portuguesas,que mu<strong>da</strong>nças significativas ocorreram nas práticas participativas dos actores escolares, sobretudoao nível do processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão?O presente texto procura reflectir sobre o impacto que o actual mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> administração dosistema educativo exerce sobre o funcionamento <strong>da</strong>s escolas públicas, com <strong>de</strong>staque para osmodos como estas organizações li<strong>da</strong>m quotidianamente com os constrangimentos estruturais, sejapara sucumbirem às suas <strong>de</strong>terminações, seja para lhes resistirem activamente por via <strong>da</strong> exploração<strong>de</strong> outras possibili<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> acção, em benefício <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão mais <strong>de</strong>mocráticos,no quadro <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong> relativa <strong>de</strong> que dispõem. Apesar <strong>de</strong> apoia<strong>da</strong> em resultados <strong>de</strong> investigaçãoempírica reunidos no âmbito <strong>de</strong> vários projectos <strong>de</strong> pesquisa, a nossa abor<strong>da</strong>gem assumiráum registo essencialmente reflexivo, voltado para a compreensão dos processos <strong>de</strong> <strong>de</strong>finição local<strong>da</strong> missão <strong>da</strong> escola, do exercício <strong>da</strong> li<strong>de</strong>rança e do modo <strong>de</strong> organização pe<strong>da</strong>gógica assumi<strong>da</strong> eoperacionaliza<strong>da</strong> nos estabelecimentos <strong>de</strong> ensino.2. O que sabemos nós sobre a <strong>autonomia</strong> vivi<strong>da</strong> nas escolas?A intensificação dos trabalhos produzidos nas últimas duas déca<strong>da</strong>s sobre a <strong>autonomia</strong> <strong>da</strong>sescolas traduz, por um lado, o condicionamento natural <strong>da</strong>s agen<strong>da</strong>s investigativas às priori<strong>da</strong><strong>de</strong>spolíticas – seja para as legitimar, seja para as questionar –, e, por outro, o interesse crescente emconhecer as implicações que os «novos» mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> governação trazem às dinâmicas organizacionais<strong>da</strong> escola. Mas o que <strong>de</strong> novo, em termos <strong>de</strong> conhecimento, trouxeram estes estudos? A primeiraimagem que sobressai por entre uma gran<strong>de</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> abor<strong>da</strong>gens é a <strong>de</strong> clara hegemonia<strong>de</strong> um enfoque macroanalítico, centrado na análise sociológica e organizacional <strong>da</strong> políticaeducativa e <strong>da</strong>s suas formas mais instrumentais <strong>de</strong> operacionalização (Torres & Palhares, 2010).Tem-se investido, fun<strong>da</strong>mentalmente, no estudo <strong>da</strong>s dimensões históricas, administrativas e políticas<strong>da</strong> <strong>autonomia</strong> <strong>da</strong>s escolas. Contextualizando a emergência do fenómeno no quadro mais globaldo <strong>de</strong>senvolvimento do paradigma <strong>da</strong> nova gestão pública, discorre-se sobre o <strong>de</strong>senvolvimento<strong>de</strong> novos modos <strong>de</strong> regulação escolar (Barroso, 2003b, 2005), sobre a natureza e o grau <strong>de</strong><strong>de</strong>mocratici<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> organização escolar (Lima, 1998, 2000; Estêvão, 2002; Barroso, 2000; Afonso,2000; Formosinho & Machado, 1998), sobre o figurino organizacional dos agrupamentos <strong>de</strong> escolas(Lima, 2004; Simões, 2005; Flores, 2005), sobre as vivências e dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s experiencia<strong>da</strong>s noexercício <strong>da</strong> profissão docente (Correia & Matos, 2001), ou, ain<strong>da</strong>, sobre a centrali<strong>da</strong><strong>de</strong> do espaçolocal na reconfiguração <strong>da</strong>s dinâmicas <strong>da</strong> organização escolar (Alves, Cabrito, Canário & Gomes,1996; Formosinho, Fernan<strong>de</strong>s, Sarmento & Ferreira, 1999; Formosinho, Fernan<strong>de</strong>s, Machado &Ferreira, 2005; Ferreira, 2005; Amiguinho, 2008).Muito embora a diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> e a extensão dos trabalhos produzidos sobre esta temática seja93
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o ano lectivo <strong>de</strong> 2003-04, com o propósito <strong>de</strong> explorar o percurso e a experiência <strong>de</strong> excelênciaescolar, construí<strong>da</strong> na escola e para além <strong>de</strong>la, mobilizando para o efeito o capital teórico<strong>da</strong> sociologia <strong>da</strong> educação e os contributos <strong>da</strong>s abor<strong>da</strong>gens culturais <strong>da</strong> escola.Por último, a análise <strong>de</strong> conteúdo efectua<strong>da</strong> a cerca <strong>de</strong> 30 projectos <strong>de</strong> intervenção <strong>de</strong> directores<strong>de</strong> diversos estabelecimentos <strong>de</strong> ensino, bem como a leitura crítica dos discursos <strong>de</strong> 13 equipasdirectivas <strong>de</strong> escolas secundárias veiculados na aludi<strong>da</strong> revista, possibilitou sinalizar as priori<strong>da</strong><strong>de</strong>sestratégicas <strong>de</strong>stas organizações em articulação com o sentido <strong>de</strong> missão <strong>da</strong> escola pública.De forma a melhor ilustrar as diferentes apropriações do espaço <strong>de</strong>mocrático <strong>de</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>niapropiciado pela escola, seleccionámos do nosso díspar corpus empírico alguns «inci<strong>de</strong>ntes críticos»,isto é, certos episódios significativos <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> escolar, que nos permitem reflectir sobre o processo<strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratização <strong>da</strong> escola. Mais do que avaliar os resultados ou o produto final alcançadopelas escolas (taxas <strong>de</strong> sucesso, abandono, indisciplina, entre outros), interessa-nos ace<strong>de</strong>raos processos que orientam o trabalho escolar, apreen<strong>de</strong>r a constituição <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong><strong>de</strong>,<strong>de</strong> resistência e <strong>de</strong> conflituali<strong>da</strong><strong>de</strong> estabeleci<strong>da</strong>s entre os actores e discernir a matriz i<strong>de</strong>ntitáriaque confere sentido às dinâmicas participativas e <strong>de</strong>mocráticas.4. Mol<strong>da</strong>ndo a organização e a li<strong>de</strong>rança: injunções <strong>da</strong> avaliação externa <strong>da</strong>s escolasDe entre as diversas formas <strong>de</strong> regulação <strong>da</strong>s escolas públicas (cf. Barroso, 2003b, 2005), osdispositivos <strong>de</strong> avaliação externa instituíram-se nos últimos quatro anos <strong>num</strong> po<strong>de</strong>roso mecanismo<strong>de</strong> controlo sobre os resultados escolares. Da análise que efectuámos aos relatórios <strong>de</strong> avaliaçãoexterna <strong>da</strong>s escolas não agrupa<strong>da</strong>s (cf. Torres & Palhares, 2009) foi possível extrair um mo<strong>de</strong>loi<strong>de</strong>al-típico <strong>de</strong> organização escolar, claramente alicerçado <strong>num</strong> referencial para acção, em funçãodo qual se proce<strong>de</strong> à classificação <strong>da</strong>s instituições. Esta matriz uniformizadora, ao funcionar comouma espécie <strong>de</strong> «mol<strong>de</strong>» norteador <strong>da</strong> acção, ten<strong>de</strong> a diluir as especifici<strong>da</strong><strong>de</strong>s organizacionais eculturais <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> escola, induzindo nestas organizações uma aproximação, nalguns casos ummimetismo, aos parâmetros <strong>de</strong> funcionamento consi<strong>de</strong>rados i<strong>de</strong>ais. Este movimento regulador <strong>de</strong>natureza centrípeta comporta valores, princípios e práticas que entram naturalmente em colisãocom as especifici<strong>da</strong><strong>de</strong>s instituí<strong>da</strong>s em ca<strong>da</strong> escola. Ilustrativamente, os resultados dos relatórios <strong>de</strong>avaliação externa apontam para um perfil i<strong>de</strong>al-tipo <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança caracterizado pelas dimensões <strong>da</strong>unipessoali<strong>da</strong><strong>de</strong>, tecnicismo e eficácia.A focalização na figura do presi<strong>de</strong>nte do Conselho Executivo (agora director) como referênciapara avaliar a li<strong>de</strong>rança <strong>da</strong> escola subenten<strong>de</strong> claramente uma imagem <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança individual,contrariando a tradição <strong>da</strong>s práticas <strong>de</strong> colegiali<strong>da</strong><strong>de</strong> culturalmente instituí<strong>da</strong>s nas organizaçõesescolares. À semelhança do sucedido em Inglaterra e no País <strong>de</strong> Gales (cf. estudos recentes <strong>de</strong>Ozga, 2008; Perryman, 2006, 2009), também na reali<strong>da</strong><strong>de</strong> portuguesa fica evi<strong>de</strong>nte a valorização96
do domínio <strong>de</strong> ferramentas <strong>de</strong> gestão que permitam a concretização <strong>da</strong>s metas nas esferas do mercado(angariação <strong>de</strong> verbas, projectos e parcerias; inovação tecnológica; oferta educativa; indicadores<strong>de</strong> procura), do estado (eficiência dos processos e eficácia dos resultados, com monitorizaçãoe avaliação; quali<strong>da</strong><strong>de</strong> e excelência) e <strong>da</strong> escola (cultura organizacional <strong>da</strong> escola).Transparece um perfil <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança <strong>de</strong> tipo gestionário, reverencial e receptivo, orientado mais poruma lógica <strong>de</strong> prestação <strong>de</strong> contas (ao estado e ao mercado) do que por princípios <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia <strong>de</strong>mocrática. Nesta lógica, as dimensões culturais <strong>da</strong> escola assumem-se comotécnicas <strong>de</strong> gestão facilitadoras <strong>da</strong> concretização dos resultados, reforçando-se a crença culturalista<strong>de</strong> que o empenhamento, o comprometimento e as tradições culturais promovem a eficácia e aexcelência escolar. Alguns registos retirados dos relatórios ilustram bem a importância conferi<strong>da</strong> àsculturas integradoras e sua relação com a excelência:Evi<strong>de</strong>ncia-se uma cultura muito própria, alicerça<strong>da</strong> <strong>num</strong> corpo docente <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> estabili<strong>da</strong><strong>de</strong> e <strong>num</strong> empenhosistemático <strong>de</strong> manutenção <strong>da</strong>s tradições culturais que <strong>de</strong>finem o perfil e a i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> escola.(Relatório nº 24: 10)A autori<strong>da</strong><strong>de</strong> assenta na experiência e no culto <strong>da</strong> memória <strong>da</strong> escola, bem como na pressão <strong>de</strong> uma imagemexterna e interna muito positiva, que coloca a escola no topo <strong>da</strong>s instituições escolares do concelho.(Relatório nº 29: 11)Os diversos agentes <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> escolar revelam-se bastante motivados e empenhados, <strong>de</strong>vido a um clima<strong>de</strong> bem-estar e i<strong>de</strong>ntificação com a escola, enraizado na cultura <strong>da</strong> instituição. (Relatório nº 109: 11)O processo <strong>de</strong> individualização <strong>da</strong> li<strong>de</strong>rança, marcado por um perfil simultaneamente «forte» e«<strong>de</strong>mocrático», parece, <strong>num</strong>a primeira leitura, sugerir uma conciliação entre os valores <strong>da</strong> competitivi<strong>da</strong><strong>de</strong>e eficácia, que exigem uma gestão <strong>de</strong> tipo «cerebral e sinóptica» e os valores <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia<strong>de</strong>mocrática mais voltados para uma gestão «cultural e retroactiva» (Levacic, Glover, Bennett &Crawford, 1999). To<strong>da</strong>via, os significados atribuídos pelos avaliadores à participação dos actores eà articulação <strong>de</strong>sejável entre os vários órgãos <strong>da</strong> escola <strong>de</strong>nuncia uma visão <strong>de</strong> participação convergentee formal, enquadra<strong>da</strong> mais <strong>num</strong>a lógica <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconcentração <strong>de</strong> po<strong>de</strong>res e menos nanegociação política dos processos educativos.Intérprete-chave <strong>da</strong>s exigências do Estado e do mercado, o lí<strong>de</strong>r <strong>da</strong> escola ten<strong>de</strong> a assumirfunções instrumentais e mecanicistas, ca<strong>da</strong> vez mais distantes <strong>de</strong> uma li<strong>de</strong>rança como objecto <strong>da</strong>acção pe<strong>da</strong>gógica, ou, nas palavras <strong>de</strong> Sergiovanni (2004), li<strong>de</strong>rança como pe<strong>da</strong>gogia.Embora culturalmente constrangidos e politicamente cerceados, os órgãos <strong>de</strong> governação <strong>da</strong>escola auferem <strong>de</strong> um estatuto central no aprofun<strong>da</strong>mento dos valores <strong>de</strong>mocráticos, cabendo--lhes a difícil missão <strong>de</strong> reinventarem fórmulas <strong>de</strong> mobilização local dos actores e <strong>de</strong> reposiçãoquotidiana do sentido cívico e <strong>de</strong>mocrático inerente à escola pública.97
5. Missão estratégica <strong>da</strong> escola públicaObjecto <strong>de</strong> várias análises e discussões teóricas, a missão <strong>da</strong> escola pública permanece naactuali<strong>da</strong><strong>de</strong> pouco clara, controversa e dilemática. Éric Maurin, na sua última obra publica<strong>da</strong> em2007, La Nouvelle Question Scolaire: Les Bénéfices <strong>de</strong> la Démocratisation, discute aprofun<strong>da</strong>menteesta problemática por referência às políticas e práticas adopta<strong>da</strong>s pelos sistemas educativos <strong>de</strong>diferentes países, oferecendo-nos uma panorâmica ampla sobre esta questão, acompanha<strong>da</strong> poruma pertinente reflexão sobre o movimento <strong>de</strong> reelitização <strong>da</strong> escola pública, verificado commaior expressão em Inglaterra.No <strong>contexto</strong> <strong>da</strong> socie<strong>da</strong><strong>de</strong> portuguesa, on<strong>de</strong> se assiste à simultanei<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> crise e consoli<strong>da</strong>ção<strong>da</strong> escola <strong>de</strong> massas (Stoer & Araújo, 2000), a missão <strong>da</strong> escola pública tem sido objecto <strong>de</strong>uma retórica política <strong>de</strong>mocratizadora que contrasta claramente com a adopção <strong>de</strong> medi<strong>da</strong>s reformadoras<strong>de</strong> pendor neoliberal, como é o caso do regresso dos exames nacionais, do reforço <strong>da</strong>inspecção e controlo dos resultados, <strong>da</strong> opção por li<strong>de</strong>ranças unipessoais, <strong>da</strong> multiplicação <strong>de</strong>mecanismos <strong>de</strong> avaliação e <strong>de</strong> prestação <strong>de</strong> contas e <strong>da</strong> emergência <strong>de</strong> uma nova narrativa elitistaque <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> a excelência académica como valor supremo (Magalhães & Stoer, 2002). To<strong>da</strong>via,mesmo subordina<strong>da</strong> a um conjunto <strong>de</strong> orientações centrais <strong>de</strong> natureza ambígua e contraditória, a<strong>de</strong>finição operacional <strong>da</strong> missão estratégica <strong>da</strong> escola po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>duzi<strong>da</strong> <strong>da</strong>s priori<strong>da</strong><strong>de</strong>s efectivamenteassumi<strong>da</strong>s pelos seus órgãos <strong>de</strong> governação. Tendo como quadro <strong>de</strong> fundo o paradigma <strong>de</strong>gestão dominante, interessa saber como é que ca<strong>da</strong> escola em concreto <strong>de</strong>fine e prioriza a suamissão estratégica: como resolve a tensão entre a dimensão <strong>de</strong>mocrática <strong>da</strong> instituição e a pressãopara a produção <strong>de</strong> resultados? Como concilia e articula no quotidiano a matriz i<strong>de</strong>ntitária <strong>da</strong>escola com a matriz cultural do sistema?Decidimos explorar um conjunto <strong>de</strong> entrevistas realiza<strong>da</strong>s a cerca <strong>de</strong> duas <strong>de</strong>zenas <strong>de</strong> equipasdirectivas <strong>de</strong> escolas secundárias, publica<strong>da</strong>s em Agosto <strong>de</strong> 2009 e em Junho <strong>de</strong> 2010 na revistaPaís Positivo. De forma complementar analisamos cerca <strong>de</strong> duas <strong>de</strong>zenas <strong>de</strong> projectos <strong>de</strong> intervençãodos directores para efeito <strong>de</strong> candi<strong>da</strong>tura a director <strong>da</strong> escola. Em ambos os materiais se constataa importância atribuí<strong>da</strong> pelos directores às especifici<strong>da</strong><strong>de</strong>s culturais <strong>da</strong> escola, expressas sobrea forma <strong>de</strong> «tradições», «costumes», «rotinas» e «valores» historicamente instituídos e conferidores <strong>de</strong>uma <strong>da</strong><strong>da</strong> i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> organizacional. Também fica claro que, do ponto <strong>de</strong> vista cultural, este conjunto<strong>de</strong> organizações apresenta características muito distintas, em alguns casos opostas, sendoentendi<strong>da</strong>s pelos seus lí<strong>de</strong>res como o ponto <strong>de</strong> parti<strong>da</strong> para a <strong>de</strong>finição <strong>da</strong> missão estratégica <strong>da</strong>escola. De forma expressiva, os directores referem que as priori<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>da</strong> escola não <strong>de</strong>vem romper,antes fortalecer, a i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> organização culturalmente construí<strong>da</strong>. Porém, quando nos<strong>de</strong>bruçamos mais <strong>de</strong>talha<strong>da</strong>mente sobre as opções estratégicas conti<strong>da</strong>s nos projectos <strong>de</strong> intervenção,<strong>de</strong>pressa nos apercebemos <strong>da</strong> sua similitu<strong>de</strong> em termos <strong>de</strong> objectivos e metas a cumprir, bemcomo dos processos a mobilizar para a sua concretização. Mais ain<strong>da</strong>, <strong>de</strong>preen<strong>de</strong>-se, na globali-98
<strong>da</strong><strong>de</strong> dos casos analisados, um maior condicionamento <strong>da</strong>s opções estratégicas à agen<strong>da</strong> políticadominante do que às especifici<strong>da</strong><strong>de</strong>s culturais <strong>da</strong> escola. Estaremos nós em presença <strong>de</strong> uma conformi<strong>da</strong><strong>de</strong>burocrática dos professores ou, na perspectiva <strong>de</strong> Formosinho (1987), <strong>de</strong> uma socializaçãopara a passivi<strong>da</strong><strong>de</strong>, expressa pela incapaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> imaginar e reinventar outras alternativas?Ao alargarmos a amostra inicial <strong>de</strong> casos a outras escolas secundárias, foi possível i<strong>de</strong>ntificarcom maior evidência outros «reportórios interpretativos» a propósito <strong>da</strong> missão <strong>da</strong> escola. Situados<strong>num</strong>a espécie <strong>de</strong> continuum, estes reportórios enunciados pelas equipas directivas <strong>da</strong>s escolasconfiguram distintas visões <strong>da</strong> função social <strong>da</strong> instituição escolar, elas próprias <strong>de</strong>nunciadoras dolugar e do estatuto atribuído aos valores <strong>de</strong>mocráticos e participativos (cf. Figura 1). Para efeitos<strong>de</strong> ilustração, circunscrevemos a nossa reflexão apenas a dois posicionamentos (cenários 1 e 2),não só por se revelarem mais representativos <strong>da</strong> globali<strong>da</strong><strong>de</strong> dos casos, mas igualmente por representaremas duas visões que mais se opõem e distanciam em termos <strong>de</strong> concepção <strong>de</strong> escola. Oprimeiro caso <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> <strong>de</strong> forma veemente a função selectiva e meritocrática <strong>da</strong> escola, centrandoto<strong>da</strong>s as priori<strong>da</strong><strong>de</strong>s na <strong>construção</strong> <strong>da</strong> excelência académica como via mais eficaz para garantir oprosseguimento dos estudos superiores; um segundo, mais voltado para as dimensões igualizadorase <strong>de</strong>mocratizadoras <strong>da</strong> educação, privilegia como princípios fun<strong>da</strong>mentais a igual<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>acesso e sucesso, a diversificação <strong>da</strong> oferta formativa e a promoção <strong>da</strong> participação <strong>de</strong>mocrática.FIGURA 1Variantes <strong>da</strong> missão <strong>da</strong> escolaCenário 1Escola elitistaCenário 2Escola <strong>de</strong>mocráticaFunção selectivaExcelência, méritoFunção igualizadoraIgual<strong>da</strong><strong>de</strong>, participaçãoEstes dois perfis <strong>de</strong> escola, assentes em distintas visões <strong>da</strong> sua missão estratégica, ten<strong>de</strong>m areflectir os traços culturais <strong>de</strong>stas instituições: o primeiro, mais conectado com os traços <strong>da</strong> culturaliceal ain<strong>da</strong> reminiscente <strong>de</strong> certas tradições historicamente enraiza<strong>da</strong>s e refém <strong>de</strong> uma imagemsocial que ten<strong>de</strong> a perpetuar-se; o segundo, her<strong>de</strong>iro <strong>da</strong> escola industrial e comercial, culturalmentevocaciona<strong>da</strong> para aten<strong>de</strong>r às necessi<strong>da</strong><strong>de</strong>s sociais e económicas <strong>da</strong> região. Estas duas formas<strong>de</strong> conceber a escola e <strong>de</strong> nortear a sua missão estratégica traduzem diferentes níveis <strong>de</strong>apropriação dos processos políticos, indutores também <strong>de</strong> distintas práticas <strong>de</strong> intervenção <strong>de</strong>mocráticae <strong>de</strong> <strong>construção</strong> <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong>. E a interrogação que se impõe no imediato é a <strong>de</strong> saber <strong>de</strong>que forma a missão <strong>da</strong> escola e as suas linhas <strong>de</strong> rumo condicionam, potenciando ou limitando, a<strong>construção</strong> <strong>de</strong> práticas <strong>de</strong>mocráticas. Até que ponto as organizações escolares têm conseguidoultrapassar as fortes tradições individualistas inerentes à profissão docente e as rígi<strong>da</strong>s regulações99
externas, colocando as suas margens <strong>de</strong> liber<strong>da</strong><strong>de</strong> e <strong>de</strong> in<strong>de</strong>pendência ao serviço <strong>da</strong> participação<strong>de</strong>mocrática e <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong>?O mérito e a excelência escolar, quando assumidos pela instituição como valores-chave a promover(cenário 1), ten<strong>de</strong>m a generalizar um <strong>de</strong>terminado ethos, sustentado por uma forma <strong>de</strong>scomprometi<strong>da</strong><strong>de</strong> enten<strong>de</strong>r o papel <strong>da</strong> escola na regulação <strong>da</strong>s <strong>de</strong>sigual<strong>da</strong><strong>de</strong>s sociais e culturaisdos alunos e dos seus efeitos prováveis ao nível dos <strong>de</strong>stinos escolares e profissionais. As priori<strong>da</strong><strong>de</strong>scentram-se mais na produção <strong>de</strong> resultados, em função dos quais será necessário mobilizaros meios mais eficientes para garantir os fins mais eficazes. Frequentemente, a organização dosprocessos conducentes à fabricação <strong>da</strong> excelência induz dinâmicas organizacionais pouco participativas,assentes <strong>num</strong>a lógica <strong>de</strong> perpetuação <strong>de</strong> soluções e <strong>de</strong> fórmulas ti<strong>da</strong>s como eficazes. Porexemplo, neste tipo <strong>de</strong> escolas, os contratos <strong>de</strong> <strong>autonomia</strong> estabelecidos com a administração central(quando já assinados) focam o alvo precisamente no melhoramento <strong>da</strong>s dimensões consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong>sestratégicas para o reforço e consoli<strong>da</strong>ção <strong>da</strong> excelência escolar. Feito o diagnóstico, resultantedo dispositivo <strong>de</strong> avaliação externa, insiste-se na adopção <strong>de</strong> medi<strong>da</strong>s correctivas (complementope<strong>da</strong>gógico e apoio educativo, cursos livres, auto-avaliação...), procurando aperfeiçoaralgumas práticas já instituí<strong>da</strong>s sem colocar em causa a missão elitista <strong>da</strong> escola, tampouco o próprioprocesso já instituído para a sua consoli<strong>da</strong>ção. E, neste sentido, o contrato <strong>de</strong> <strong>autonomia</strong> ten<strong>de</strong> aassemelhar-se em muito a um contrato <strong>de</strong> performativi<strong>da</strong><strong>de</strong>.Mais próximas do extremo direito do continuum (cenário 2), as escolas <strong>de</strong> perfil mais <strong>de</strong>mocráticofocam a sua missão na igual<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> oportuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> acesso e <strong>de</strong> sucesso, direccionando orumo <strong>da</strong> instituição para a diversificação <strong>da</strong> oferta educativa e a sua a<strong>da</strong>ptação às necessi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>da</strong>região. O registo discursivo plasmado nos vários documentos oficiais traduz <strong>de</strong> forma clara a a<strong>de</strong>são<strong>da</strong> escola aos valores <strong>de</strong>mocráticos e participativos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo ao assumir como <strong>de</strong>safio a transformação<strong>da</strong>s <strong>de</strong>sigual<strong>da</strong><strong>de</strong>s sociais dos seus públicos em igual<strong>da</strong><strong>de</strong>s escolares <strong>de</strong> sucesso. Mais centra<strong>da</strong>sna <strong>construção</strong> <strong>de</strong> processos educativos partilhados e cooperativos, privilegia-se a diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> orientaçõespara a acção e a flexibili<strong>da</strong><strong>de</strong> organizativa, no pressuposto <strong>de</strong> que a participação <strong>de</strong>mocráticana vi<strong>da</strong> <strong>da</strong> escola é ela própria uma condição à <strong>construção</strong> <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong>. Nestes casos, os contratos<strong>de</strong> <strong>autonomia</strong> são percepcionados pelos actores como uma oportuni<strong>da</strong><strong>de</strong> estratégica para reforçar a<strong>de</strong>mocratici<strong>da</strong><strong>de</strong> dos processos pe<strong>da</strong>gógicos, mas igualmente para os transformar quando os mesmosse distanciam ou contrariam os princípios <strong>de</strong> uma educação para a ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia mais reflexiva e crítica.Torna-se claro que as organizações escolares dispõem <strong>de</strong> alguma latitu<strong>de</strong> para <strong>de</strong>finir as linhas<strong>de</strong> rumo, em consonância com as suas especifici<strong>da</strong><strong>de</strong>s culturais e com o sentido <strong>de</strong> pertença partilhadopela comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> educativa mais alarga<strong>da</strong>. Também nos parece evi<strong>de</strong>nte que as estratégias<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong> escola po<strong>de</strong>m ampliar e/ou limitar os seus espaços <strong>de</strong> participação e <strong>autonomia</strong>.Veremos, <strong>de</strong> segui<strong>da</strong>, algumas situações críticas, <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong>sta <strong>de</strong>finição primeira <strong>da</strong>missão <strong>da</strong> escola: os estilos <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança, os processos <strong>de</strong> organização <strong>de</strong> turmas, os mecanismos<strong>de</strong> regulação <strong>da</strong> disciplina e as mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> organização dos tempos lectivos.100
6. Li<strong>de</strong>ranças colegiais ou li<strong>de</strong>rança individual?Da análise efectua<strong>da</strong> aos planos <strong>de</strong> intervenção dos directores e <strong>de</strong> outros <strong>da</strong>dos complementares(entrevistas, discursos oficiais) foi possível <strong>de</strong>duzir pelos menos dois estilos <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança: umestilo <strong>de</strong> carácter mais implementativo, <strong>de</strong>calcado do espírito do diploma legal (Decreto-Leinº 75/2008), associado à missão elitista <strong>de</strong> escola; e um perfil mais próximo do colegial, perspectivandoa participação e a co-responsabilização como dimensões <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> colectiva, relacionado coma missão mais <strong>de</strong>mocratizadora <strong>de</strong> escola. Em ambas as situações <strong>de</strong>preen<strong>de</strong>-se que os processos<strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança em acção se inscrevem na matriz cultural instituí<strong>da</strong> na escola, procurando-se agoraoperar recontextualizações à luz dos novos imperativos legais. Assalta-nos novamente a imagem <strong>de</strong>entreposto cultural (Torres, 2004, 2008) para ilustrar a forma como o gestor escolar ten<strong>de</strong> a norteara sua acção quotidiana, mediando permanentemente forças <strong>de</strong> sinal contrário: as pressões externaspara a uniformização burocrática e as dinâmicas internas para a diversificação cultural e i<strong>de</strong>ntitária.A li<strong>de</strong>rança <strong>de</strong> tipo implementativo ten<strong>de</strong> a valorizar a produção <strong>de</strong> resultados escolares,criando mecanismos <strong>de</strong> monitorização dos mesmos, seja para elevar os níveis <strong>de</strong> excelência,aumentar o número <strong>de</strong> parcerias e <strong>de</strong> iniciativas culturais, seja para diminuir o grau <strong>de</strong> expressão<strong>de</strong> abandono, <strong>de</strong> retenção e <strong>de</strong> indisciplina. Na sen<strong>da</strong> <strong>da</strong> excelência escolar! Assim resumiríamos amissão prioritária, o lema <strong>de</strong> um conjunto <strong>de</strong> escolas públicas, sobretudo <strong>de</strong> nível secundário. Àsemelhança do que aconteceu no panorama empresarial internacional no início <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> <strong>de</strong>1980, a produção <strong>da</strong> excelência escolar aparece associa<strong>da</strong> a um estilo <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança unipessoal e auma cultura organizacional coesa, integradora e vigorosa. Investe-se no reforço <strong>de</strong> rituais e cerimóniashá muito abandonados pelos estabelecimentos públicos <strong>de</strong> ensino, como, por exemplo, aabertura solene do ano lectivo, as homenagens a professores antigos, o culto <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadosheróis e <strong>de</strong> certas simbologias a eles associados e, <strong>de</strong> forma especialmente expressiva, o regressoaos quadros <strong>de</strong> excelência e a recuperação <strong>da</strong> tradição dos anuários <strong>da</strong>s escolas, outrora umdocumento obrigatório <strong>de</strong> prestação <strong>de</strong> contas do reitor do liceu à administração central, agorauma sedutora brochura que relata epicamente as dinâmicas escolares ocorri<strong>da</strong>s durante o ano lectivo.Movi<strong>da</strong> por este espírito, a li<strong>de</strong>rança <strong>da</strong> escola afirma-se como uma dimensão central <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>organizacional, ten<strong>de</strong>ndo a concentrar os po<strong>de</strong>res <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão, bem visíveis ao nível <strong>da</strong> constituição<strong>da</strong>s equipas <strong>de</strong> gestão e coor<strong>de</strong>nação, na maioria dos casos alvo <strong>de</strong> uma nomeação directapor parte do director <strong>da</strong> escola.Face a este cenário, interessa problematizar o sentido particular <strong>de</strong> <strong>autonomia</strong> aqui expresso:se, por um lado, este perfil <strong>de</strong> escola e <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança <strong>de</strong>nuncia o carácter <strong>de</strong>sigualitário <strong>da</strong> instituição<strong>de</strong> ensino, uma vez que restringe a sua vocação primordial apenas a um <strong>de</strong>terminado público(<strong>de</strong> alunos e <strong>de</strong> famílias), promovendo <strong>de</strong>sse modo o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma certa aristocraciaescolar, por outro lado, esta faceta elitista não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> representar uma opção <strong>da</strong> organização,legitima<strong>da</strong> politicamente pela latitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> acção que a <strong>autonomia</strong> lhe permite, sobretudo se essa101
estratégia se sustentar <strong>num</strong>a vonta<strong>de</strong> colectivamente partilha<strong>da</strong> pela comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> escolar e alarga<strong>da</strong>à comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> local. Efectivamente, o que ressalta <strong>de</strong>ste cenário é o quanto o passado <strong>da</strong>instituição está inscrito na experiência actual <strong>de</strong> gestão e li<strong>de</strong>rança e o quanto o futuro se adivinhano fluir do próprio presente. Estamos em presença <strong>de</strong> formas <strong>de</strong> governação escolar <strong>de</strong>mocraticamentelimita<strong>da</strong>s, ou mesmo empobreci<strong>da</strong>s, restringindo a margem <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão e <strong>de</strong> participaçãodos actores às esferas <strong>da</strong> produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong> escolar.A li<strong>de</strong>rança colegial, ao contrário <strong>da</strong> anterior, ten<strong>de</strong> a focar-se nos processos, no pressuposto<strong>de</strong> que os mesmos se revestem <strong>de</strong> uma dimensão pe<strong>da</strong>gógica, formativa e transformadora.Inspira<strong>da</strong> <strong>num</strong>a visão regeneradora <strong>de</strong> escola, acredita-se nas potenciali<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong>sta para repararou compensar as <strong>de</strong>sigual<strong>da</strong><strong>de</strong>s sociais, alargando a sua missão educativa a todos os públicosescolares. A diversificação <strong>da</strong>s ofertas formativas e dos seus respectivos públicos impeliu naturalmenteo <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um estilo <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança mais sustentado nos interesses <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>escolar, mais comprometido com as diversas racionali<strong>da</strong><strong>de</strong>s e lógicas <strong>de</strong> trabalho coexistentesna organização. Valores como a flexibili<strong>da</strong><strong>de</strong> organizacional, o trabalho colaborativo e a inovaçãope<strong>da</strong>gógica emergem como os suportes <strong>de</strong> uma matriz i<strong>de</strong>ntitária que interessa reforçar tantoao nível <strong>da</strong> li<strong>de</strong>rança <strong>de</strong> topo como ao nível <strong>da</strong>s li<strong>de</strong>ranças intermédias. Ao apreen<strong>de</strong>rmos o pulsardiário <strong>de</strong> uma escola secundária <strong>de</strong>ste tipo, pu<strong>de</strong>mos confirmar, por exemplo, a recusa porparte <strong>da</strong> direcção em nomear os coor<strong>de</strong>nadores <strong>de</strong> <strong>de</strong>partamento (conforme previsto no Decreto--Lei nº 75/2008), optando por manter os anteriores processos <strong>de</strong> eleição intactos, <strong>num</strong>a tentativa<strong>de</strong> não amputar ao processo político e pe<strong>da</strong>gógico a sua legítima <strong>de</strong>mocratici<strong>da</strong><strong>de</strong>. Contrariando oespírito legal, que procura concentrar o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão no rosto do director, algumas direcçõesoptaram por reforçar os po<strong>de</strong>res dos seus adjuntos e assessores, fortalecendo o trabalho cooperativoe o sentido <strong>de</strong> responsabilização colectiva.As organizações escolares cujo modo <strong>de</strong> funcionamento se aproxima <strong>de</strong>ste perfil mais <strong>de</strong>mocráticonão <strong>de</strong>ixam, to<strong>da</strong>via, <strong>de</strong> suscitar algumas incertezas na forma como procuram conciliaruma «escola <strong>de</strong> sucesso para todos» com uma «escola <strong>de</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong>». Até que ponto a missão sociale assistencialista <strong>da</strong> escola, quando entendi<strong>da</strong> como primordial e não como um imperativo ético,não <strong>de</strong>svia esta instituição <strong>da</strong>s tarefas do ensino e <strong>da</strong> aprendizagem? Qual o perigo <strong>de</strong> a diversificação<strong>da</strong> oferta formativa po<strong>de</strong>r gerar uma certa tribalização <strong>da</strong>s ofertas, induzi<strong>da</strong> por cursos avárias veloci<strong>da</strong><strong>de</strong>s no interior <strong>da</strong> mesma instituição? De que modo uma «escola transbor<strong>da</strong>nte»,como lhe <strong>de</strong>signou recentemente Nóvoa (2009), po<strong>de</strong>rá funcionar como instância reguladora etransformadora <strong>da</strong>s <strong>de</strong>sigual<strong>da</strong><strong>de</strong>s sociais, quando simultaneamente é pressiona<strong>da</strong> para a produçãoeficaz <strong>de</strong> resultados?Continuaremos a explorar a forma como as escolas têm li<strong>da</strong>do com estes dilemas e impasses,incidindo agora a nossa atenção nos processos <strong>de</strong> organização pe<strong>da</strong>gógica.102
7. Na sen<strong>da</strong> <strong>da</strong> excelência ou <strong>construção</strong> <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia <strong>de</strong>mocrática?De que forma a missão <strong>da</strong> escola e o seu estilo <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança interferem com os modos <strong>de</strong>organização pe<strong>da</strong>gógica? Apesar <strong>de</strong> a relação não ser sempre directa nem <strong>de</strong>terminista, foi possível,mesmo assim, encontrar alguns indicadores pertinentes. Nas escolas <strong>de</strong> perfil elitista, a preocupaçãocom a produção <strong>da</strong> excelência académica concentra o olhar do gestor para soluçõespe<strong>da</strong>gógicas consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong>s indutoras <strong>da</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong> do ensino: a constituição <strong>da</strong>s turmas, a instituição<strong>de</strong> prémios escolares, o controlo <strong>da</strong> indisciplina, o reforço <strong>da</strong> componente formal do ensino,entre outros aspectos. Os tempos e os espaços escolares são pensados e organizados em função<strong>da</strong> sua optimização em termos <strong>de</strong> resultados, sendo consi<strong>de</strong>rado critério pe<strong>da</strong>gógico aquele quemelhor servir o <strong>de</strong>sempenho escolar. Por exemplo, quando a procura <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados cursos ésuperior à oferta formativa <strong>da</strong> escola, proce<strong>de</strong>-se ao recrutamento social e cultural dos alunos, <strong>de</strong>forma a proteger a manutenção <strong>de</strong> uma certa aristocracia escolar. A introdução <strong>de</strong> factores <strong>de</strong><strong>de</strong>sigual<strong>da</strong><strong>de</strong> e <strong>de</strong> discriminação no acesso ao serviço público <strong>de</strong> educação, ao mesmo tempo quereforça a imagem pública <strong>da</strong> «la bonne école» (Ballion, 1991), contribui para o fortalecimento <strong>de</strong>um ethos meritocrático e <strong>de</strong> uma «nova cultura <strong>de</strong> ensino-aprendizagem» (Magalhães & Stoer, 2002:149). No processo <strong>de</strong> constituição <strong>de</strong> turmas, o núcleo <strong>da</strong> turma, assim como a possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>efectuar diversos «arranjos» propostos pelas famílias, são consi<strong>de</strong>rados critérios <strong>de</strong> natureza pe<strong>da</strong>gógica,na medi<strong>da</strong> em que incitam os bons resultados. De igual modo, os valores <strong>da</strong> disciplina, dorigor e <strong>da</strong> autori<strong>da</strong><strong>de</strong>, consi<strong>de</strong>rados indissociáveis <strong>de</strong> um mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> ensino-aprendizagem <strong>de</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong>,são objecto <strong>de</strong> regulamentação específica, cabendo à escola o papel <strong>de</strong> zelar pelo seuescrupuloso cumprimento. Destaque ain<strong>da</strong> para a importância dos espaços e tempos não curriculares,transformados nestas instituições em relevantes momentos <strong>de</strong> reforço e <strong>de</strong> apoio às aprendizagensformais.A afirmação <strong>de</strong>stes traços pe<strong>da</strong>gógicos em muitas <strong>da</strong>s escolas públicas não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> reflectiruma tendência para uma certa reelitização escolar, não só induzi<strong>da</strong> pela actual agen<strong>da</strong> políticapara a educação, mas igualmente intensifica<strong>da</strong> pelos órgãos <strong>de</strong> governação <strong>de</strong> algumas escolasque, no uso quotidiano <strong>da</strong>s suas margens <strong>de</strong> <strong>autonomia</strong> relativa, não conseguiram contrariar oumesmo resistir a estas pressões. Ao <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>rem o templo <strong>da</strong> excelência, os estabelecimentos <strong>de</strong>ensino focalizam a sua acção no produto e no <strong>de</strong>sempenho proporcionado pelo processo pe<strong>da</strong>gógico,secun<strong>da</strong>rizando o próprio processo enquanto estratégia <strong>de</strong> educação e formação do sujeito.Consequentemente, as soluções encontra<strong>da</strong>s para organizar o tempo e o espaço escolar (acompanhamentope<strong>da</strong>gógico, aulas <strong>de</strong> apoio, clubes e oficinas diversas) obe<strong>de</strong>cem ao pressuposto meritocrático<strong>de</strong> que «o processo educativo ten<strong>de</strong> a ser a reduzido quer à “performance” transmissivado professor, quer à “performance” reprodutiva do aluno» (Magalhães & Stoer, 2002: 54; aspas nooriginal). À luz <strong>de</strong>sta nova narrativa elitista, restará algum espaço, na organização escolar, para o<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma educação emancipatória dos sujeitos basea<strong>da</strong> na aprendizagem <strong>da</strong> ci<strong>da</strong>-103
<strong>da</strong>nia <strong>de</strong>mocrática? Como conciliar, em termos <strong>de</strong> organização pe<strong>da</strong>gógica, o tempo sincrónico<strong>da</strong> aprendizagem útil dos conhecimentos com o tempo diacrónico <strong>da</strong> aprendizagem continua<strong>da</strong>dos valores <strong>de</strong>mocráticos, sem o transformar <strong>num</strong>a espécie <strong>de</strong> campo <strong>de</strong> treino intensivo paraa performance?Num outro extremo, as escolas <strong>de</strong> perfil mais <strong>de</strong>mocrático ten<strong>de</strong>m a organizar o campo pe<strong>da</strong>gógicopor referência à heterogenei<strong>da</strong><strong>de</strong> do seu público e <strong>da</strong> sua oferta, criando diversas mo<strong>da</strong>li<strong>da</strong><strong>de</strong>s<strong>de</strong> agrupamentos <strong>de</strong> alunos, ensaiando várias estratégias <strong>de</strong> controlo <strong>da</strong> indisciplina e multiplicandoas vias <strong>de</strong> ocupação dos tempos não curriculares. Numa tentativa <strong>de</strong> promover o sucessopara todos, procura-se diversificar as opções formativas e pe<strong>da</strong>gógicas, sendo notória uma maiorpreocupação com os processos <strong>de</strong> ensino-aprendizagem, arriscando novas estratégias pe<strong>da</strong>gógicas,experimentando dispositivos avaliativos alternativos, ou, ain<strong>da</strong>, introduzindo algumas inovaçõesnos currículos oficiais. Reflectindo um ethos mais flexível em relação aos assuntos disciplinares,algumas escolas colocam a tónica no processo formativo e pe<strong>da</strong>gógico inerente a certo tipo<strong>de</strong> comportamentos, privilegiando soluções que impliquem o envolvimento e a co-responsabilização<strong>da</strong>s respectivas famílias. Ain<strong>da</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>ste espírito <strong>de</strong> mútua colaboração, incita-se a participação<strong>da</strong>s famílias na operacionalização <strong>de</strong> projectos vários, frequentemente <strong>de</strong> natureza não-curricular,<strong>num</strong>a tentativa <strong>de</strong> aproximação <strong>da</strong> escola aos seus públicos mais diversos. Por exemplo,os espaços e tempos não curriculares assumem uma função menos compensatória ou complementar<strong>da</strong> componente formal do currículo, fazendo-se uso <strong>de</strong> outros dispositivos pe<strong>da</strong>gógicos <strong>de</strong>natureza não-formal e informal.To<strong>da</strong>via, o uso <strong>da</strong>s margens limita<strong>da</strong>s <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong> com vista à ampliação <strong>da</strong> vivência <strong>de</strong>mocrática<strong>da</strong> escola esbarra com as lógicas gerencialistas impostas a nível central, gerando no quotidiano<strong>de</strong>stas organizações algumas tensões difíceis <strong>de</strong> superar: <strong>de</strong> um lado, a tentativa <strong>de</strong> correspon<strong>de</strong>rà diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> dos públicos, criando uma varie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> soluções formativas e educativas, e,do outro, a necessi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> consoli<strong>da</strong>r a quali<strong>da</strong><strong>de</strong> do ensino, garantindo níveis elevados <strong>de</strong>sucesso. O difícil equilíbrio entre mais escola e melhor escola nem sempre é conseguido, revelandofrequentemente situações conflituais. Por exemplo, as lógicas que prevalecem à constituição<strong>de</strong> turmas procuram combinar o «princípio <strong>da</strong> diversi<strong>da</strong><strong>de</strong>» dos grupos – turmas <strong>de</strong> ensino regular,turmas <strong>de</strong> ensino profissional, turmas <strong>de</strong> ensino recorrente, cursos <strong>de</strong> educação e formação(CEF)... – com o «princípio <strong>da</strong> homogenei<strong>da</strong><strong>de</strong>» <strong>da</strong> classe (turmas <strong>de</strong> nível), <strong>num</strong>a tentativa <strong>de</strong>garantir a simultanei<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> uma escola para todos e <strong>de</strong> uma escola <strong>de</strong> excelência. Porém, a a<strong>de</strong>são<strong>da</strong> escola ao i<strong>de</strong>al multicultural não é suficiente para gerar um acréscimo <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratizaçãoescolar, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo porque o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> funcionamento <strong>da</strong> organização se mantém inalterado,replicando as mesmas fórmulas <strong>de</strong>sigualitárias <strong>de</strong> configuração <strong>da</strong>s turmas prevalecentes na escolaelitista. No fundo, alunos e professores são distribuídos pelos vários grupos/turmas, eles própriossocial e culturalmente hierarquizados, não se vislumbrando nas dinâmicas organizacionais <strong>da</strong>escola a existência <strong>de</strong> mecanismos que visem contrariar este tipo <strong>de</strong> segmentação e selectivi<strong>da</strong><strong>de</strong>104
social e escolar. A este propósito, Barroso (2003a: 31) sustenta a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> que a inclusão <strong>de</strong> todosos alunos <strong>num</strong>a mesma «matriz» pe<strong>da</strong>gógica, <strong>num</strong>a espécie <strong>de</strong> «padrão» organizativo, é responsávelpor muitos fenómenos <strong>de</strong> exclusão, sendo necessáriodiversificar as estruturas e modos <strong>de</strong> organização, tendo em conta não só as várias funções que a escola realiza(tempo e lugar <strong>de</strong> aprendizagem formal, espaço <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> e convívio <strong>de</strong> crianças e adolescentes, instância<strong>de</strong> integração normativa, equipamento sociocultural local, etc.), mas também a varie<strong>da</strong><strong>de</strong> dos seus membros edos <strong>de</strong>stinatários do serviço público que ela presta. (ibi<strong>de</strong>m: 36)A coexistência <strong>de</strong> múltiplas culturas juvenis acaba por sucumbir à imposição <strong>da</strong> própria culturaorganizacional escolar, pouco ou na<strong>da</strong> permeável ao exercício do diálogo, <strong>da</strong> cooperação e<strong>da</strong> participação colectiva. Mesmo reconhecendo os avanços notáveis em algumas escolas nosdomínios pe<strong>da</strong>gógico e organizacional, persistem ain<strong>da</strong> dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s, ao nível dos professores, em<strong>de</strong>senvolver um trabalho colaborativo, em alterar as rotinas pe<strong>da</strong>gógicas instituí<strong>da</strong>s, em pensar etrabalhar a escola como agência multicultural. Torna-se ca<strong>da</strong> vez mais evi<strong>de</strong>nte que as escolasprocuram gerir as <strong>de</strong>sigual<strong>da</strong><strong>de</strong>s e a exclusão <strong>de</strong>ntro dos constrangimentos impostos pelo sistemaque as produz. E, neste sentido, é importante compreen<strong>de</strong>r o sentido e o alcance <strong>da</strong> aposta nadiversificação <strong>da</strong> oferta, tão expressivamente problematiza<strong>da</strong> por Magalhães e Stoer:De facto, quando hoje em dia a muito apregoa<strong>da</strong> diversificação entra em jogo no sistema educativo é sobretudono sentido <strong>de</strong> diversificar saí<strong>da</strong>s para a estrutura ocupacional. Por outras palavras, o ensino para o aluno--padrão do sistema não se altera. O que mu<strong>da</strong> é o canal, a via pela qual ca<strong>da</strong> aluno é dimensionado para achama<strong>da</strong> vi<strong>da</strong> activa. (2002: 41; itálico no original)Põe-se então a questão <strong>de</strong> saber até que ponto se consegue evitar que a diversificação formativafuncione como um mero canal <strong>de</strong> passagem selectiva <strong>de</strong> alunos, seja directamente para aestrutura ocupacional, seja para o ensino superior. De que forma a escola po<strong>de</strong>rá transformarestes canais em <strong>contexto</strong>s significativos <strong>de</strong> aprendizagens susceptíveis <strong>de</strong> inverterem os <strong>de</strong>stinossocialmente traçados? Até que ponto as instituições têm sabido li<strong>da</strong>r com o dilema inerente aobinómio <strong>de</strong>mocracia versus excelência?De forma muito breve, o caso <strong>da</strong> indisciplina escolar ilustra bem a dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> em conciliar osmeios (os valores <strong>da</strong> <strong>de</strong>mocracia) com os fins (os resultados <strong>de</strong> excelência). A abor<strong>da</strong>gem <strong>da</strong>indisciplina em termos pe<strong>da</strong>gógicos e formativos tem gerado soluções polémicas: a tendência paraevitar a aplicação <strong>de</strong> punições e <strong>de</strong> outras medi<strong>da</strong>s <strong>de</strong> carácter formal, optando antes por estratégias<strong>de</strong> co-responsabilização <strong>da</strong>s famílias no processo educativo dos seus filhos – <strong>da</strong>ndo assimexpressão aos valores <strong>de</strong> uma educação <strong>de</strong>mocrática e participativa –, tem produzido efeitosmenos claros ao nível do processo <strong>de</strong> ensino-aprendizagem, pondo mesmo em causa o nível do<strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> <strong>de</strong>termina<strong>da</strong>s turmas. A falta <strong>de</strong> eficácia <strong>de</strong>ste processo, lento e <strong>de</strong> efeitos perversos,leva-nos a interrogar se esta aparente tolerância e partilha do processo educativo com as105
famílias não constituirá também uma estratégia <strong>de</strong> a escola evitar o registo formal <strong>de</strong> ocorrências<strong>de</strong> indisciplina, dimensão tão valoriza<strong>da</strong> pela avaliação externa. Ou ain<strong>da</strong>, uma forma <strong>de</strong> a organizaçãoescolar se <strong>de</strong>mitir <strong>da</strong>s suas funções socializadoras, <strong>de</strong>scartando-se <strong>de</strong> encontrar soluçõespe<strong>da</strong>gogicamente mais váli<strong>da</strong>s para ca<strong>da</strong> situação em concreto. O sentido <strong>de</strong>stas e <strong>de</strong> outras interrogaçõespossíveis remete-nos para o diagnóstico feito por Nóvoa (2009) a propósito dos perigos<strong>da</strong> «escola transbor<strong>da</strong>nte», que, atravanca<strong>da</strong> entre missões <strong>de</strong> sentido inverso, acaba por per<strong>de</strong>r anoção <strong>de</strong> priori<strong>da</strong><strong>de</strong>.8. Conclusão: o lugar dos professores no processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong>mocráticaVárias são as vozes que se têm pronunciado sobre a importância <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong> <strong>da</strong>s escolas: osinvestigadores/académicos, os agentes políticos <strong>de</strong> âmbito nacional e internacional, os meios <strong>de</strong>comunicação social, as associações profissionais e sindicais, as famílias e o po<strong>de</strong>r local e, <strong>de</strong> umaforma relativamente difusa, os professores/gestores escolares. Sendo relativamente conhecidos osargumentos <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> lado, fica porém na sombra o posicionamento <strong>de</strong>stes últimos, por sinal osactores centrais ao processo <strong>de</strong> toma<strong>da</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão nos <strong>contexto</strong>s escolares. Difun<strong>de</strong>-se a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong>que os professores reivindicam mais <strong>autonomia</strong> para as suas escolas, mas persiste a dúvi<strong>da</strong> sobrequal o seu entendimento dominante <strong>de</strong> <strong>autonomia</strong>. Mais <strong>autonomia</strong> para executar o que já está<strong>de</strong>cidido ou mais <strong>autonomia</strong> para <strong>de</strong>cidir as melhores vias <strong>de</strong> execução? Voltando novamente aoponto <strong>de</strong> parti<strong>da</strong> enunciado no início <strong>de</strong>ste texto, acrescentaríamos, agora, que o consenso emtorno <strong>da</strong> centrali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong> se vai esvaindo à medi<strong>da</strong> que o <strong>de</strong>bate se vai focando na suaconcretização em <strong>contexto</strong> escolar: 1) estamos totalmente <strong>de</strong> acordo em relação à centrali<strong>da</strong><strong>de</strong> erelevância <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong> escolar; ii) estamos parcialmente <strong>de</strong> acordo quanto à forma como elatem sido operacionaliza<strong>da</strong> em termos políticos; iii) não estamos na<strong>da</strong> <strong>de</strong> acordo com a formacomo a mesma <strong>de</strong>ve ser reforça<strong>da</strong> nas escolas; iv) pouco ou na<strong>da</strong> sabemos acerca <strong>da</strong> forma comoesta tem sido realiza<strong>da</strong> pelos actores, sobretudo professores, em <strong>contexto</strong> escolar.Resta-nos pois reflectir criticamente sobre qual o posicionamento mais provável <strong>de</strong>stes actores,arriscando, na esteira <strong>de</strong> várias pesquisas avulsas sobre o assunto, uma latitu<strong>de</strong> situa<strong>da</strong> alguresentre uma concepção <strong>de</strong> <strong>autonomia</strong> mais <strong>de</strong>mocrática <strong>de</strong>fendi<strong>da</strong> por alguns sectores académicos eum entendimento mais gerencialista assumido pela agen<strong>da</strong> política (cf. Figura 2). A i<strong>de</strong>ntificaçãomais precisa <strong>da</strong>s disposições, atitu<strong>de</strong>s ou postura <strong>de</strong>stes actores exigirá sempre a sua contextualizaçãonas dinâmicas <strong>da</strong> escola-organização, no pressuposto <strong>de</strong> que a instituição exerce umainfluência significativa na configuração <strong>da</strong>s culturas profissionais docentes. Nesta óptica, será <strong>de</strong>esperar que o corpo docente que habita uma escola <strong>de</strong> perfil <strong>de</strong>mocrático ten<strong>da</strong> a incorporar umethos mais participativo e cooperativo, enquanto os professores integrados em escolas <strong>de</strong> tipo elitistase i<strong>de</strong>ntifiquem mais com uma ética <strong>de</strong> trabalho essencialmente individualista, centra<strong>da</strong> nos106
esultados. Apesar <strong>de</strong> a <strong>de</strong>mocratização política <strong>da</strong>s escolas ser uma condição necessária à própria<strong>de</strong>mocratização do sistema educativo, ela não é contudo suficiente para tornar as organizaçõesver<strong>da</strong><strong>de</strong>iramente <strong>de</strong>mocráticas e participativas. O aprofun<strong>da</strong>mento <strong>da</strong> sua <strong>de</strong>mocratici<strong>da</strong><strong>de</strong> estarásempre condicionado às especifici<strong>da</strong><strong>de</strong>s culturais dos seus <strong>contexto</strong>s <strong>de</strong> acção, à matriz axiológicaque orienta e dá sentido às práticas dos actores, <strong>de</strong>signa<strong>da</strong>mente dos professores e gestores. Acondição socioprofissional dos professores torna-os naturalmente nos principais veículos do processo<strong>de</strong>mocrático nas escolas, com mais ou menos <strong>autonomia</strong> <strong>de</strong>mocrática. Por isso, o sentido<strong>da</strong>s suas práticas (sociais, políticas, educativas, pe<strong>da</strong>gógicas), ou seja, a forma como utilizam osespaços limitados <strong>de</strong> <strong>autonomia</strong> e como recontextualizam as próprias imposições centrais, acabapor ser <strong>de</strong>terminante no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia <strong>de</strong>mocrática <strong>da</strong> instituição escolar.Efectivamente, entre as configurações legais concebi<strong>da</strong>s nos espaços ministeriais e as reali<strong>da</strong><strong>de</strong>svivencia<strong>da</strong>s nas escolas concretas e nas salas <strong>de</strong> aula reais, i<strong>de</strong>ntificamos um fosso enorme, ca<strong>da</strong>vez mais profundo. Mas este enorme <strong>de</strong>sajustamento, mesmo sob a aperta<strong>da</strong> vigilância informática,avaliativa e inspectiva que pressiona para a uniformi<strong>da</strong><strong>de</strong>, po<strong>de</strong> também ser explorado pelosactores locais no sentido <strong>de</strong> reforçar as suas agen<strong>da</strong>s <strong>de</strong>mocráticas e participativas, valorizando erepondo, assim, a dimensão pública <strong>da</strong> educação.FIGURA 2Concepções, variantes e latitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>autonomia</strong> escolarFORMALDemocracia representativaAgen<strong>da</strong> política(nacional einternacional)Autonomia técnicaFORAProfessoresGestoresDENTROAutonomia <strong>de</strong>mocráticaAgen<strong>da</strong> política(nacional einternacional)INFORMALDemocracia PARTICIPATIVA107
Motores do <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>mocrático nas escolas, os professores constituem o gruposocial e profissional menos auscultado e ain<strong>da</strong> menos envolvido nos processos <strong>de</strong> concepção <strong>da</strong>spolíticas educativas. Estranhamente, mesmo sob a égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> um discurso apologético <strong>da</strong> <strong>autonomia</strong>,ca<strong>da</strong> vez mais redun<strong>da</strong>nte, insiste-se na negação <strong>da</strong> própria <strong>autonomia</strong> dos actores escolarespara po<strong>de</strong>rem, colectivamente, <strong>de</strong>cidir sobre os aspectos substantivos <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> <strong>da</strong>s suas escolas. A<strong>autonomia</strong> <strong>da</strong>s organizações só fará sentido se implicar o respeito pela <strong>autonomia</strong> dos actores quenelas habitam. Não será esta uma <strong>da</strong>s contradições que melhor caracteriza os traços <strong>da</strong> nossa culturapolítica, social e organizacional?Contacto: Instituto <strong>de</strong> Educação, Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> do Minho, Campus <strong>de</strong> Gualtar, 4710-057 Braga – PortugalE-mail: leonort@ie.uminho.ptReferências bibliográficasAfonso, Almerindo J. (1999). A(s) <strong>autonomia</strong>(s) <strong>da</strong> escola na encruzilha<strong>da</strong> entre o velho e o novo espaço público.Inovação, 12, 121-137.Afonso, Natércio (2000). Autonomia, avaliação e gestão estratégica <strong>da</strong>s escolas públicas. In Jorge A. Costa, AntónioNeto-Men<strong>de</strong>s & Alexandre Ventura (Orgs.), Li<strong>de</strong>rança e estratégia nas organizações escolares (pp. 201-216).Aveiro: Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Aveiro.Alves, Natália, Cabrito, Belmiro, Canário, Rui, & Gomes, Rui (1996). A escola e o espaço local: Políticas e actores.Lisboa: Instituto <strong>de</strong> Inovação Educacional.Amiguinho, Abílio (2008). A escola e o futuro do mundo rural. Lisboa: Fun<strong>da</strong>ção Calouste Gulbenkian.Ballion, Robert (1991). La bonne école: Évaluation et choix du collège et du lycée. Paris: Hatier.Barroso, João (2000). Autonomia <strong>da</strong>s escolas: Da mo<strong>de</strong>rnização <strong>da</strong> gestão ao aprofun<strong>da</strong>mento <strong>da</strong> <strong>de</strong>mocracia. InJorge A. Costa, António Neto-Men<strong>de</strong>s & Alexandre Ventura (Orgs.), Li<strong>de</strong>rança e estratégia nas organizaçõesescolares (pp. 165-183). Aveiro: Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Aveiro.Barroso, João (2003a). Factores organizacionais <strong>da</strong> exclusão escolar: A inclusão exclusiva. In David Rodrigues(Org.), Perspectivas sobre a inclusão: Da educação à socie<strong>da</strong><strong>de</strong> (pp. 25-36). Porto: Porto Editora.Barroso, João (2005). Políticas educativas e organização escolar. Lisboa: Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> Aberta.Barroso, João (Org.) (2003b). A escola pública: Regulação, <strong>de</strong>sregulação, privatização. Porto: Edições ASA.Correia, José A., & Matos, Manuel (2001). Solidões e soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong><strong>de</strong>s nos quotidianos dos professores. Porto: Edições ASA.Estêvão, Carlos V. (2002). Globalização, metáforas organizacionais e mu<strong>da</strong>nça educacional: Dilemas e <strong>de</strong>safios.Porto: Edições ASA.Ferreira, Fernando I. (2005). O local em educação: Animação, gestão e parceria. Lisboa: Fun<strong>da</strong>ção CalousteGulbenkian.Flores, Manuel (2005). Agrupamento <strong>de</strong> escolas: Introdução política e participação. Coimbra: Almedina.Formosinho, João (1987). Educating for passivity: A study of portuguese education (1926-1968). Tese <strong>de</strong> doutoramentonão publica<strong>da</strong>, University of London, Reino Unido.Formosinho, João, & Machado, Joaquim (1998). A administração <strong>da</strong>s escolas no Portugal <strong>de</strong>mocrático. In André B.Lafond, Elena M. Ortega, Gérard Marineau, Jorn Skovsgaard, João Formosinho & Joaquim Machado,Autonomia, gestão e avaliação <strong>da</strong>s escolas (pp. 99-124). Porto: Edições ASA.108
Formosinho, João, Fernan<strong>de</strong>s, A. Sousa, Machado, Joaquim, & Ferreira, Fernando I. (2005). Administração <strong>da</strong> educação:Lógicas burocráticas e lógicas <strong>de</strong> mediação. Porto: Edições ASA.Formosinho, João, Fernan<strong>de</strong>s, A. Sousa, Sarmento, Manuel, & Ferreira, Fernando I. (1999). Comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s educativas.Braga: Livraria Minho.Levacic, Rosalind, Glover, Derek, Bennett, Nigel, & Crawford, Megan (1999). Mo<strong>de</strong>rn headship for the rationallymanaged school: Combining cerebral and insightful approaches. In Tony Bush, Les Bell, Ray Bolam, RonGlatter & Peter Ribbins (Eds.), Educational managemet: Redifining theory, policy and practice (pp. 15-28).London: Paul Chapman Publishing.Lima, Licínio C. (1998). A administração do sistema educativo <strong>da</strong>s escolas, 1986/1996. In AA.VV., A evolução do sistemaeducativo e o PRODEP (Vol. I, pp. 36-55). Lisboa: Ministério <strong>da</strong> Educação.Lima, Licínio C. (2000). Organização escolar e <strong>de</strong>mocracia radical: Paulo Freire e a governação <strong>de</strong>mocrática <strong>da</strong>escola pública. São Paulo: Cortez Editora.Lima, Licínio C. (2004). O agrupamento <strong>de</strong> escolas como novo escalão <strong>da</strong> administração <strong>de</strong>sconcentra<strong>da</strong>. RevistaPortuguesa <strong>de</strong> Educação, 17(2), 7- 47.Magalhães, António M., & Stoer, Stephen R. (2002). A escola para todos e a excelência académica. Porto: Profedições.Maurin, Éric (2007). La nouvelle question scolaire: Les bénéfices <strong>de</strong> la démocratisation. Paris: Edition du Seuil.Nóvoa, António (2007). Percursos profissionais e aprendizagem ao longo <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>. In Direcção-Geral dos RecursosHumanos <strong>da</strong> Educação do Ministério <strong>da</strong> Educação, Portugal 2007: Presidência portuguesa do Conselho <strong>da</strong>União Europeia: Conferência Desenvolvimento profissional <strong>de</strong> professores para a quali<strong>da</strong><strong>de</strong> e para a equi<strong>da</strong><strong>de</strong><strong>da</strong> aprendizagem ao longo <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> (pp. 21-28). Lisboa: Ministério <strong>da</strong> Educação.Nóvoa, António (2009). Educação 2021: Para uma história do futuro. Revista Iberoamericana <strong>de</strong> Educación, 49, 1-18.Ozga, Jenny (2009). Governing education through <strong>da</strong>ta in England: From regulation to self-evaluation. Journal ofEducation Policy, 24(2), 149-162.Perryman, Jane (2006). Panoptic performativity and school inspection regimes: Disciplinary mechanisms and lifeun<strong>de</strong>r special measures. Journal of Education Policy, 21(2), 147-161.Perryman, Jane (2009). Inspection and the fabrication of professional and performative processes. Journal ofEducation Policy, 24(5), 611-631.Sergiovanni, Thomas (2004). O mundo <strong>da</strong> li<strong>de</strong>rança: Desenvolver culturas, práticas e responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong> pessoal nasescolas. Porto: Edições ASA.Simões, Graça M. (2005). Organização e gestão do agrupamento vertical <strong>de</strong> escolas: A teia <strong>da</strong>s lógicas <strong>de</strong> acção.Porto: Edições ASA.Stoer, Stephen R., & Araújo, Helena C. (2000). Escola e aprendizagem para o trabalho <strong>num</strong> país <strong>da</strong> (semi)periferiaeuropeia. Lisboa: Instituto <strong>de</strong> Inovação Educacional.Torres, Leonor L. (2004). Cultura organizacional em <strong>contexto</strong> educativo: Sedimentos culturais e processos <strong>de</strong> <strong>construção</strong>do simbólico <strong>num</strong>a escola secundária. Braga: Centro <strong>de</strong> Investigação em Educação <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong><strong>de</strong> doMinho.Torres, Leonor L. (2005). Autonomia e <strong>de</strong>mocracia em <strong>contexto</strong> escolar: Uma leitura crítica a partir <strong>de</strong> quatro trabalhos<strong>de</strong> investigação. Gestão em Ação (Salvador/BA, Brasil), 8(1), 37-51.Torres, Leonor L. (2008). A escola como entreposto cultural: O cultural e o simbólico no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>mocrático<strong>da</strong> escola. Revista Portuguesa <strong>de</strong> Educação, 21(1), 59-81.Torres, Leonor L., & Palhares, José A. (2009). Estilos <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança e escola <strong>de</strong>mocrática. Revista Lusófona <strong>de</strong>Educação, 14, 77-90.Torres, Leonor L., & Palhares, José A. (2010). As organizações escolares: Um croqui sociológico sobre a investigaçãoportuguesa. In Pedro Abrantes (Org.), Tendências e controvérsias em sociologia <strong>da</strong> educação (pp. 133--158). Lisboa: Mundos Sociais.109