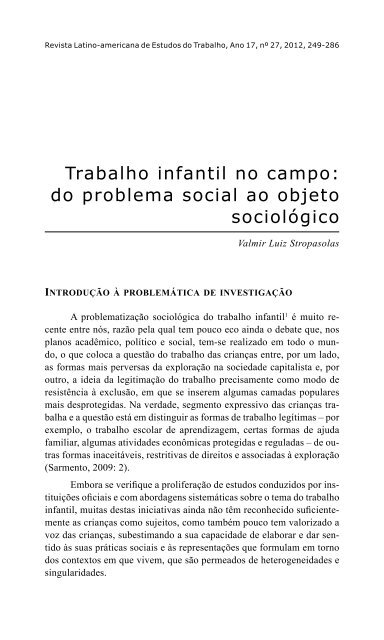Trabalho infantil no campo: do problema social ao objeto ... - RELET
Trabalho infantil no campo: do problema social ao objeto ... - RELET
Trabalho infantil no campo: do problema social ao objeto ... - RELET
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>, A<strong>no</strong> 17, nº 27, 2012, 249-286<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>:<strong>do</strong> <strong>problema</strong> <strong>social</strong> <strong>ao</strong> <strong>objeto</strong>sociológicoValmir Luiz StropasolasIntrodução à problemática de investigaçãoA <strong>problema</strong>tização sociológica <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> 1 é muito recenteentre nós, razão pela qual tem pouco eco ainda o debate que, <strong>no</strong>spla<strong>no</strong>s acadêmico, político e <strong>social</strong>, tem-se realiza<strong>do</strong> em to<strong>do</strong> o mun<strong>do</strong>,o que coloca a questão <strong>do</strong> trabalho das crianças entre, por um la<strong>do</strong>,as formas mais perversas da exploração na sociedade capitalista e, poroutro, a ideia da legitimação <strong>do</strong> trabalho precisamente como mo<strong>do</strong> deresistência à exclusão, em que se inserem algumas camadas popularesmais desprotegidas. Na verdade, segmento expressivo das crianças trabalhae a questão está em distinguir as formas de trabalho legítimas – porexemplo, o trabalho escolar de aprendizagem, certas formas de ajudafamiliar, algumas atividades econômicas protegidas e reguladas – de outrasformas inaceitáveis, restritivas de direitos e associadas à exploração(Sarmento, 2009: 2).Embora se verifique a proliferação de estu<strong>do</strong>s conduzi<strong>do</strong>s por instituiçõesoficiais e com abordagens sistemáticas sobre o tema <strong>do</strong> trabalho<strong>infantil</strong>, muitas destas iniciativas ainda não têm reconheci<strong>do</strong> suficientementeas crianças como sujeitos, como também pouco tem valoriza<strong>do</strong> avoz das crianças, subestiman<strong>do</strong> a sua capacidade de elaborar e dar senti<strong>do</strong>às suas práticas sociais e às representações que formulam em tor<strong>no</strong><strong>do</strong>s contextos em que vivem, que são permea<strong>do</strong>s de heterogeneidades esingularidades.
250 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>Nesse senti<strong>do</strong>, o entendimento <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> de vida das crianças, ainterpretação das suas visões de mun<strong>do</strong> e a compreensão <strong>do</strong>s senti<strong>do</strong>s<strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> não podem ser realiza<strong>do</strong>s <strong>no</strong> vazio <strong>social</strong> e cultural,necessitan<strong>do</strong> se sustentar nas análises das condições sociais em que ascrianças vivem, interagem e dão senti<strong>do</strong> <strong>ao</strong> que fazem (Sarmento; Pinto,1997: 20-22). Ainda se verificam lacunas importantes na compreensãodas maneiras em que as crianças interagem <strong>social</strong> e culturalmente <strong>no</strong>cotidia<strong>no</strong> <strong>do</strong>s espaços sociais, sobretu<strong>do</strong> nas comunidades rurais. A negligênciateórica-meto<strong>do</strong>lógica acaba reproduzin<strong>do</strong> a exclusão da falae das próprias crianças na construção <strong>do</strong>s pressupostos e objetivos dasinvestigações.As concepções teóricas clássicas na sociologia e os méto<strong>do</strong>s etécnicas convencionais de investigação não instrumentalizam suficientementeos pesquisa<strong>do</strong>res para abordar os espaços específicos <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>das crianças, suas visões de mun<strong>do</strong> e expectativas. Verifica-se certaincompatibilidade entre esse público, que demonstra pouca disposiçãoe interesse em responder a questionários fecha<strong>do</strong>s, assim como estu<strong>do</strong>sbasea<strong>do</strong>s <strong>no</strong>s cálculos estatísticos dificilmente captam as representações,a sociabilidade e as culturas heterogêneas que compõem os universosinfantis.No entanto, as técnicas quantitativas, como o questionário, nãodeixam de ser importantes para abordar variáveis em que se necessitagarantir a representatividade <strong>do</strong> público investiga<strong>do</strong>. Para colocar emrelevo os significa<strong>do</strong>s atribuí<strong>do</strong>s pelas crianças <strong>ao</strong> que fazem, pensame analisam sobre os diversos elementos componentes <strong>do</strong> seu cotidia<strong>no</strong>,torna-se muito importante ajustar as ferramentas meto<strong>do</strong>lógicas supostamenteaplicáveis a sujeitos tão peculiares. Focalizar a vida cotidiana(Juan, 1991), a<strong>do</strong>tar a prática <strong>do</strong> “olhar distancia<strong>do</strong>” proposta por ClaudeLévi-Strauss, a empatia, a aceitação e a disposição em compreender a“alma de criança”, combinam-se nessa complexa interação entre os sujeitosenvolvi<strong>do</strong>s na investigação, na abordagem <strong>do</strong> cotidia<strong>no</strong> das criançasna família, na escola, <strong>no</strong> trabalho, na comunidade em que vivem, <strong>no</strong>sespaços em que se manifestam os jogos e as brincadeiras, <strong>no</strong>s ambientesem que se realizam as práticas, os ritos e os saberes vincula<strong>do</strong>s especificamenteàs unidades familiares de produção agrícola.Há outra perspectiva de análise e abordagem da infância, sobretu<strong>do</strong>quan<strong>do</strong> <strong>no</strong>s referimos às crianças rurais e sua interação <strong>no</strong> mun<strong>do</strong><strong>do</strong> trabalho. O que se preconiza aqui é uma mudança de perspectiva <strong>no</strong>
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...251<strong>campo</strong> interdisciplinar <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s da criança, em especial, <strong>no</strong> <strong>campo</strong>sociológico. Mais precisamente, a investigação das crianças com base nainfância como categoria geracional própria, o reconhecimento crítico daalteridade da infância com o devi<strong>do</strong> esclarecimento <strong>do</strong>s diversos senti<strong>do</strong>sem que essa alteridade se exprime, consideran<strong>do</strong> a variedade de condiçõessociais, bem como o balanço crítico das perspectivas teóricas queconstruíram o <strong>objeto</strong> infância (sobretu<strong>do</strong> aquelas que fazem a projeçãoda criança como o adulto em miniatura ou como o adulto imperfeito emdevir), conformam uma mudança de perspectiva – ou, se preferirmos,uma “mudança paradigmática” (James et al., 1998) – constitui o esforçoteórico principal da sociologia da infância (Sarmento, 2005).Cabe ressalvar que, embora a categoria geração apresente algumasespecificidades quan<strong>do</strong> <strong>no</strong>s referimos <strong>ao</strong>s contextos rurais, ela nãoé restrita <strong>ao</strong> mun<strong>do</strong> rural, e a <strong>no</strong>ção de trabalho <strong>infantil</strong> não deve serentendida apenas como uma “questão rural”, ten<strong>do</strong> em vista as diversasformas em que se manifestam essas categorias <strong>no</strong>s diferentes contextossocietários. Entendemos que o desafio de redefinir o <strong>no</strong>sso olharinterpretativo em tor<strong>no</strong> da infância, <strong>no</strong> caso, das crianças rurais, deveser compartilha<strong>do</strong> por outras ciências sociais – <strong>no</strong>meadamente a antropologia,as ciências da educação e mesmo a psicologia que vem <strong>ao</strong>spoucos reformulan<strong>do</strong> suas interpretações e abordagens sobre a infância(Sarmento, 2005: 373) –, em razão de sua importância nas temáticas queenvolvem a infância <strong>no</strong> <strong>campo</strong>.O conceito de alteridade que a<strong>do</strong>tamos nesse artigo se alicerça n<strong>ao</strong>bra de Walter Benjamin, e tem como objetivo colocar em relevo a heterogeneidadee a diversidade de condições sociais e econômicas vivenciadaspelas crianças na sociedade contemporânea. Consideran<strong>do</strong> que opreconceito, a discriminação e a desigualdade marcam indelevelmentea trajetória <strong>social</strong> das crianças, resgatamos a <strong>no</strong>ção de alteridade paraenfatizar a necessidade de, como investiga<strong>do</strong>res ou <strong>do</strong>centes, desenvolvermosa capacidade de “<strong>no</strong>s colocar <strong>no</strong> lugar <strong>do</strong> outro”, e compreenderas especificidades que caracterizam as diferentes infâncias, entre asquais as crianças rurais. Enfim, para reconhecer, afirmar e valorizar asparticularidades de gênero, geração, raça, etnia e classe <strong>social</strong>, presentesnas relações interpessoais que se estabelecem <strong>no</strong>s contextos sociais emque se inserem as crianças.Se, <strong>no</strong>s contextos urba<strong>no</strong>s, as crianças adquirem uma importânciarelativa em estu<strong>do</strong>s, políticas, intervenções de instituições oficiais, entre
252 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>outros, o que se verifica, antes de tu<strong>do</strong>, na constituição de um merca<strong>do</strong>global de produtos para a infância de importância econômica estratégic<strong>ao</strong>u mesmo porque elas mobilizam atualmente um número crescente deadultos que trabalham com crianças, entre os quais professores, funcionáriospúblicos etc. (Sarmento, 2008), para os territórios rurais ainda severifica um conjunto de fatores que envolve e determina a exclusão e ainvisibilidade da infância rural, seja na academia, nas políticas públicasou mesmo <strong>no</strong>s espaços públicos, fato que não deixa de contribuir decisivamentepara o aumento da importância singular dessas crianças nasociedade contemporânea.Como veremos em seguida, as crianças rurais são percentualmentecada vez me<strong>no</strong>s na sociedade contemporânea e a significativa redução<strong>do</strong> número dessas crianças, por comparação com outros grupos etários,torna particularmente sensível a sua presença/ausência <strong>no</strong>s equilíbriosdemográficos, nas relações de afeto, na sociabilidade comunitária, naaprendizagem e sucessão patrimonial entre as gerações, na divisão <strong>social</strong><strong>do</strong> trabalho agrícola familiar e até na própria formação de rendimentosda família. Que as crianças se tornem cada vez mais importantes àmedida que são cada vez me<strong>no</strong>s, esse é apenas um <strong>do</strong>s muitos para<strong>do</strong>xosda infância (Qvortrup, 1991).O artigo coloca em relevo a inadiável tarefa de se buscar a sociologização<strong>do</strong> conceito de trabalho <strong>infantil</strong>, procuran<strong>do</strong> enfrentar osdesafios, superar as dicotomias e buscar compreender os significa<strong>do</strong>s eas singularidades presentes nesse fenôme<strong>no</strong> <strong>social</strong>. Discute as principaisinterpretações em tor<strong>no</strong> <strong>do</strong> senti<strong>do</strong> <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>, com suas especificidades<strong>no</strong>s contextos rurais, a partir da análise das práticas e relaçõessociais em que se inscreve o trabalho das crianças <strong>no</strong>s processos produtivosrurais. Focaliza, sobretu<strong>do</strong>, os fatores motiva<strong>do</strong>res da inserção dascrianças <strong>no</strong> trabalho agrícola familiar, verifica<strong>do</strong>s nas regiões coloniais<strong>do</strong> Sul <strong>do</strong> Brasil, especificamente, na região Oeste <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> de SantaCatarina, onde realizamos pesquisas junto a crianças e jovens rurais.O que dizem os estu<strong>do</strong>s sobre o número de criançasSegun<strong>do</strong> os da<strong>do</strong>s <strong>do</strong> Censo Demográfico 2010, divulga<strong>do</strong>s <strong>no</strong>Brasil pelo IBGE, diminui a quantidade de crianças e aumentou o númerode i<strong>do</strong>sos; consequência <strong>do</strong>s declínios <strong>no</strong>s níveis de fecundidade enas taxas de mortalidade nessas últimas décadas, alia<strong>do</strong> <strong>ao</strong> aumento da
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...253longevidade da população. Hoje, 7,6% da população são crianças comidade até cinco a<strong>no</strong>s, número me<strong>no</strong>r que o registra<strong>do</strong> pelo levantamentoem 2000 (9,8%) e em 1991 (11,5%). Na outra ponta, a população dei<strong>do</strong>sos, acima de sessenta e cinco a<strong>no</strong>s, cresceu. Em 1991, os i<strong>do</strong>sosrepresentavam 4,8% da população, em 2000, 5,8%, e agora chegam a7,4%. Do total de 190.755.799 da população brasileira, 14.081.480 têmsessenta e cinco a<strong>no</strong>s ou mais.A Taxa de Fecundidade Total (TFT), definida como o número totalde filhos que uma mulher teria <strong>ao</strong> final <strong>do</strong> perío<strong>do</strong> reprodutivo, varioude 6,3 filhos por mulher, em 1960, para 2,9, em 1991, e diminuiupara 2,3, em 2000 (Rios-Neto, 2005). Os resulta<strong>do</strong>s da PNAD de 2003e 2008 apontam uma taxa de fecundidade total de 2,1 e 1,8 filhos pormulher, respectivamente, o que compromete o chama<strong>do</strong> nível de reposição.De acor<strong>do</strong> com análises feitas pelo Instituto de Pesquisa EconômicaAplicada, em 2009, essa queda iniciou-se <strong>no</strong> final <strong>do</strong>s a<strong>no</strong>s 1960 e estáimplican<strong>do</strong> uma desaceleração <strong>do</strong> ritmo de crescimento da populaçãobrasileira e provocan<strong>do</strong> importantes mudanças na estrutura etária destapopulação. Esta poderá diminuir a partir de 2030 e apresentar uma populaçãosuperenvelhecida, reproduzin<strong>do</strong> a experiência de vários paísesda Europa Ocidental, da Rússia, <strong>do</strong> Japão, entre outros.A alta velocidade da queda da fecundidade e da mortalidade acarretamudanças rápidas <strong>no</strong> ritmo de crescimento da população e, também,na distribuição etária e na oferta de força de trabalho, dentre outras. Amudança mais importante ocorrida <strong>no</strong>s últimos a<strong>no</strong>s foi o envelhecimentopopulacional, ou seja, uma mudança <strong>no</strong>s pesos da população. Pode-seobservar <strong>no</strong>s da<strong>do</strong>s da PNAD que a população me<strong>no</strong>r de quinze a<strong>no</strong>s,responsável por 33,8% da população total em 1992, passou a constituir24,5% desta população, em 2008. Por outro la<strong>do</strong>, a população i<strong>do</strong>saque respondia por 7,9% da população brasileira passou a responder por11,1%. Por população i<strong>do</strong>sa, considerou-se a população de sessenta a<strong>no</strong>se mais, tal como estabeleci<strong>do</strong> pelo Estatuto <strong>do</strong> I<strong>do</strong>so.Para as populações rurais, embora a média de filhos por mulherseja maior que <strong>no</strong> meio urba<strong>no</strong>, verificou-se, também, uma queda acentuadanas taxas de fecundidade, traduzin<strong>do</strong> um drástico recuo <strong>do</strong>s padrõesdemográficos tradicionais das comunidades rurais em geral, consideran<strong>do</strong>que, para as populações desse espaço societário, ter um eleva<strong>do</strong>número de filhos representava um patrimônio huma<strong>no</strong> a ser mobiliza<strong>do</strong><strong>no</strong> trabalho agrícola familiar.
254 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>No Brasil rural, a fecundidade era de 4,3, em 1991, contrastan<strong>do</strong>com aquela de 2,3, correspondente às áreas urbanas (Berquó; Cavenaghi,2004: 4). Com um declínio de 19,2%, chegou a 3,4, em 2000, enquantonas cidades, foi reduzida em apenas 5,2%, atingin<strong>do</strong> 2,2. Os resulta<strong>do</strong>sda Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher,PNDS-2006, mostraram que as maiores reduções na Taxa de FecundidadeTotal (TFT) para o Brasil ocorreram onde os níveis eram mais altos,ou seja, nas áreas rurais, de 3,4 em 1996 para 2,0 em 2006; e, na regiãoNorte, de 3,7 para 2,3 filhos por mulher, respectivamente.Isto é, o declínio da fecundidade na última década vai apontan<strong>do</strong>para uma homogeneização das taxas de fecundidade. No entanto,existem diferenciais grandes <strong>no</strong>s níveis de fecundidade, principalmente,para mulheres em diferentes categorias de instrução e rendimento médiomensal. De acor<strong>do</strong> com Berquó e Cavenaghi (2004), o Norte e o Nordeste,por apresentarem maiores proporções de populações rurais, commédias mais baixas de instrução e com médias me<strong>no</strong>res de rendimento,apresentaram também as maiores taxas de fecundidades. Em 1991, erada ordem de 4,2 e 3,7, respectivamente, as quais foram reduzidas pel<strong>ao</strong>rdem, em 23,2% e 26,0%, <strong>no</strong> perío<strong>do</strong> 1991-2000, chegan<strong>do</strong> a 3,2 e 2,7filhos por mulher, respectivamente nestas regiões.A região Oeste de Santa Catarina é a maior em superfície territoriale em quantidade de municípios <strong>do</strong> esta<strong>do</strong>, abrangen<strong>do</strong> 118 de um totalde 293. Além disso, é a principal região de produção agrícola, localizan<strong>do</strong>-seaí grandes complexos agroindustriais e segmentos cooperativos degrande porte produtores de carnes de suí<strong>no</strong>s e aves, com expressão nacional,cuja base de produção está assentada na integração e/ou parceriacom agricultores familiares. No entanto, esta região enfrenta <strong>problema</strong>ssociais e redefinições demográficas de grande amplitude, sobretu<strong>do</strong> amigração expressiva de jovens, a diminuição acentuada da quantidadede filhos(as) por família, a masculinização e o envelhecimento da populaçãorural, o que vem comprometen<strong>do</strong> a disponibilidade de mão deobra familiar e a sucessão rural em segmento importante de unidadesprodutivas familiares. Os resulta<strong>do</strong>s <strong>do</strong> Levantamento Agropecuário Catarinense,realiza<strong>do</strong> em 2003 pela Secretaria de Esta<strong>do</strong> da Agricultura eDesenvolvimento Rural de Santa Catarina, já indicavam a presença de28,5% de propriedades familiares sem sucessores. Os da<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s censos<strong>do</strong> IBGE sistematiza<strong>do</strong>s para uma pesquisa que realizamos nessa regiãoilustram essas problemáticas (Stropasolas, 2010).
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...255Essas informações comprovam a reduzida quantidade de jovensresidentes nas comunidades rurais. De acor<strong>do</strong> com os da<strong>do</strong>s <strong>do</strong> últimoCenso <strong>do</strong> IBGE, constata-se que a partir <strong>do</strong>s quinze a<strong>no</strong>s de idade atéa faixa etária entre trinta e trinta e quatro a<strong>no</strong>s ocorre um “vazio” demográfico,consequência da migração desse público para a cidade, compre<strong>do</strong>minância de saída das filhas <strong>do</strong>s agricultores familiares. Conformeresulta<strong>do</strong>s de pesquisas que realizamos nessa região (Stropasolas, 2006;2010; Aguiar; Stropasolas, 2010), constatou-se a recusa de parcela expressivadas filhas de agricultores familiares em permanecer <strong>no</strong> <strong>campo</strong>e reproduzir a condição <strong>social</strong> vivida pelas mulheres rurais, migran<strong>do</strong>para as cidades em busca de uma profissão alternativa à agricultura. Osda<strong>do</strong>s indicam também uma diminuição acentuada da fecundidade entreas mulheres rurais dessa mesma região, além <strong>do</strong> processo de envelhecimentodas populações rurais masculina e feminina.O caráter seletivo <strong>do</strong>s processos migratórios recentes nas regiõesde pre<strong>do</strong>mínio da agricultura familiar <strong>no</strong> Sul <strong>do</strong> Brasil, e que tem resulta<strong>do</strong>na “masculinização” <strong>do</strong> meio rural, vem instigan<strong>do</strong> a realização deestu<strong>do</strong>s especializa<strong>do</strong>s para a compreensão em profundidade <strong>do</strong>s fatoresmotiva<strong>do</strong>res desse processo. Mais recentemente, os <strong>do</strong>cumentos dasorganizações internacionais de desenvolvimento como o IICA, a FAOe a Cepal internalizam essas problemáticas nas suas análises sobre astransformações sociodemográficas <strong>do</strong>s territórios rurais. Embora a migraçãoseletiva não seja um fenôme<strong>no</strong> <strong>no</strong>vo, o que impressiona é não sóa ausência de estu<strong>do</strong>s sistemáticos e recentes a respeito, mas, sobretu<strong>do</strong>a magnitude que ela parece estar assumin<strong>do</strong> nas áreas de pre<strong>do</strong>mínio daagricultura familiar <strong>do</strong> Sul <strong>do</strong> país.No que se refere à América Latina, especificamente, estu<strong>do</strong> daCEPAL (1995: 8) já indicava a existência de 5,2 milhões de homensa mais que mulheres na zona rural lati<strong>no</strong>-americana. Nos grupos entrequinze e vinte e <strong>no</strong>ve a<strong>no</strong>s, esta diferença chegava a 1,8 milhão – haven<strong>do</strong>12% a mais de jovens homens. Estu<strong>do</strong>s mais recentes realiza<strong>do</strong>s emcontextos específicos de <strong>no</strong>sso país feitos por Camara<strong>no</strong> e Abramovay(1999) e Froehlich et al. (2011) confirmam a ocorrência desse fenôme<strong>no</strong>.De acor<strong>do</strong> com os da<strong>do</strong>s <strong>do</strong> Censo 2006 <strong>do</strong> IBGE, cerca de 80% <strong>do</strong>smunicípios <strong>no</strong> Brasil com me<strong>no</strong>s de 5 mil habitantes têm mais homens<strong>do</strong> que mulheres. Nos municípios com até 2 mil habitantes, há centoe cinco homens para cada cem mulheres. Os homens são maioria naszonas rurais, e as mulheres nas zonas urbanas, consideran<strong>do</strong> que, <strong>no</strong>país, a maioria da população rural vive nas zonas rurais <strong>do</strong>s peque<strong>no</strong>s
256 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>municípios e, que, pelo me<strong>no</strong>s em algumas regiões, esta população émajoritária <strong>no</strong>s municípios com até 20 mil habitantes.No entanto, embora a masculinização <strong>do</strong> <strong>campo</strong> possa se constituirnuma tendência geral, importa ressaltar que não é possível generalizar <strong>ao</strong>corrência desse fenôme<strong>no</strong> para todas as regiões <strong>do</strong> país, sobretu<strong>do</strong>, paramicrorregiões <strong>do</strong> Nordeste brasileiro, ou mesmo para o Vale <strong>do</strong> Jequitinhonhamineiro, onde se verificam particularidades como a migração seletivade jovens rapazes para trabalhar na agroindústria sucroalcooleira euma presença expressiva de mulheres chefian<strong>do</strong> as unidades familiares.Somente estu<strong>do</strong>s específicos nesses contextos podem <strong>no</strong>s indicar as redefiniçõesdemográficas em curso nesses territórios rurais.Por outro la<strong>do</strong>, as pequenas cidades, consideradas urbanas peloIBGE, conhecem uma experiência urbana, que é, frequentemente, frágile precária (Wanderley, 2001). Nos quadros da modernização <strong>do</strong>s contextoslocais, privilegiou-se a concentração de bens e serviços indispensáveis<strong>ao</strong> conjunto da população nas aglomerações urbanas consideradaspólos regionais. Este fato acabou transforman<strong>do</strong> as comunidades rurais eas pequenas localidades em espaços de precariedade e de desigualdade,dificultan<strong>do</strong> o acesso <strong>do</strong>s grupos sociais a bens e serviços necessários.Naqueles peque<strong>no</strong>s municípios cuja população rural é majoritária e cujaatividade principal é a agropecuária, tanto a trama espacial e <strong>social</strong> comoas trajetórias de desenvolvimento são preponderantemente rurais.O trabalho de Veiga (2002) questiona critérios oficiais comumenteutiliza<strong>do</strong>s para quantificar as populações rurais e urbanas <strong>no</strong> Brasil emque se considera urbana toda sede de município (cidade) e de distrito(vila), sejam quais forem suas características. O autor demonstra, nassuas análises, que o Brasil é me<strong>no</strong>s urba<strong>no</strong> <strong>do</strong> que se calcula, desde quese utilizem, mais comumente, os critérios a<strong>do</strong>ta<strong>do</strong>s internacionalmente.Todavia, mais <strong>do</strong> que uma preocupação meramente contábil, o autorressalta a necessidade de uma re<strong>no</strong>vação <strong>do</strong> pensamento brasileiro sobreas tendências de urbanização e de suas implicações sobre as políticasde desenvolvimento que o Brasil deve a<strong>do</strong>tar. Para efeitos analíticos, oautor afirma que não se deveriam considerar como urba<strong>no</strong>s os habitantesde municípios peque<strong>no</strong>s demais, com me<strong>no</strong>s de 20 mil habitantes. Portal convenção, “que vem sen<strong>do</strong> usada desde 1950, seria rural a população<strong>do</strong>s 4.024 municípios que tinham me<strong>no</strong>s de 20 mil habitantes em2000, o que por si só já derrubaria o grau de urbanização <strong>do</strong> Brasil para70%.” (Veiga, 2002: 31-2).
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...257Assim, consideramos de fundamental importância inserir nasanálises sobre a inserção <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong> e, especificamente,para explicar as especificidades <strong>do</strong> envolvimento das crianças<strong>no</strong> trabalho agrícola familiar, as implicações decorrentes das mudançasdemográficas que vêm ocorren<strong>do</strong> nas comunidades rurais, que trazemconsequências para o perfil <strong>social</strong> das pessoas que permanecem <strong>no</strong> <strong>campo</strong>,e para a disponibilidade de mão de obra nas unidades produtivasfamiliares.O que mostram os números sobre o trabalho <strong>infantil</strong>A legislação brasileira referente <strong>ao</strong> trabalho <strong>infantil</strong> orienta-sepelos princípios estabeleci<strong>do</strong>s na Constituição Federal de 1988 2 . Os artigos60 a 69 <strong>do</strong> Estatuto da Criança e <strong>do</strong> A<strong>do</strong>lescente (Lei 8.069, de13 de julho de 1990) tratam da proteção <strong>ao</strong> a<strong>do</strong>lescente trabalha<strong>do</strong>r. OECA prevê também a implementação de um Sistema de Garantia de Direitos(SGD). Por outro la<strong>do</strong>, cabe <strong>ao</strong>s conselhos de direitos – de âmbitonacional, estadual e municipal – a responsabilidade pela elaboraçãodas políticas de combate <strong>ao</strong> trabalho <strong>infantil</strong>, proteção <strong>ao</strong> a<strong>do</strong>lescentetrabalha<strong>do</strong>r e pelo controle <strong>social</strong>. Os conselhos tutelares são corresponsáveisnas atividades de combate <strong>ao</strong> trabalho <strong>infantil</strong>, caben<strong>do</strong> a eleszelar pelos direitos das crianças e <strong>do</strong>s a<strong>do</strong>lescentes em geral, por meiode ações articuladas com o Ministério Público e o Juiza<strong>do</strong> da Infância eda A<strong>do</strong>lescência. Finalmente, o tema <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> está presentena Consolidação das Leis <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong> (CLT), em seu Título III, CapítuloIV, “Da Proteção <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong> <strong>do</strong> Me<strong>no</strong>r”, altera<strong>do</strong> pela Lei da Aprendizagem(Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000).De maneira geral, esse conjunto de leis busca sintonizar-se comas atuais disposições da Convenção <strong>do</strong>s Direitos da Criança, da Organizaçãodas Nações Unidas (ONU), e das Convenções 138 e 182, daOrganização Internacional <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong> (OIT). O Brasil ratificou em 2de fevereiro de 2000 a Convenção 182 da OIT, que estabelece que osEsta<strong>do</strong>s-Membros devem tomar medidas imediatas e eficazes para aboliras piores formas de trabalho infanto-juvenil 3 .Segun<strong>do</strong> o relatório da OIT, publica<strong>do</strong> em 2006, diminuiu em 11%o número de crianças trabalha<strong>do</strong>ras em nível mundial, <strong>no</strong> intervalo detempo de 2000 a 2004, mais precisamente, baixou de 246 para 218 milhõeso número de crianças envolvidas <strong>no</strong> trabalho <strong>infantil</strong>. Um da<strong>do</strong>
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...259A maior parte das crianças que trabalham são <strong>do</strong> sexo masculi<strong>no</strong>,mas as meninas são maioria quan<strong>do</strong> se observa o trabalho <strong>do</strong>méstico. Ofato de os rapazes aparecerem com maior frequência a desempenhar trabalhosna agricultura, sobretu<strong>do</strong> aqueles considera<strong>do</strong>s perigosos e maispesa<strong>do</strong>s, não significa dizer que trabalhem mais que as meninas e asa<strong>do</strong>lescentes. As moças apresentam ritmos de trabalho mais regulares<strong>ao</strong> longo da semana e <strong>ao</strong> longo <strong>do</strong> a<strong>no</strong>. Os seus horários de trabalhomantêm-se muito extensos e preenchi<strong>do</strong>s, mercê da sua constante intervençãonas rotinas inerentes à manutenção da casa e da família. Concentran<strong>do</strong>as suas atividades <strong>no</strong> <strong>do</strong>mínio agrícola, os rapazes são maisinfluencia<strong>do</strong>s pela sazonalidade desse trabalho. Por isso, embora possamapresentar índices de participação <strong>no</strong> trabalho mais eleva<strong>do</strong>s, <strong>no</strong>s momentoscríticos da atividade agrícola, têm, na época de baixa atividade,horários e conteú<strong>do</strong>s laborais muito mais suaviza<strong>do</strong>s que elas. O queproporciona <strong>ao</strong> público masculi<strong>no</strong> <strong>infantil</strong> e juvenil mais tempo para olazer e maior flexibilidade e auto<strong>no</strong>mia para participar das atividadesvinculadas <strong>ao</strong> espaço público.Dentre os fatores envolvi<strong>do</strong>s na problemática <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>,que contribuem para a complexidade desse fenôme<strong>no</strong>, a temática da educaçãose reveste de grande importância, ten<strong>do</strong> em vista as redefiniçõesocorridas recentemente <strong>no</strong> papel e lugar ocupa<strong>do</strong> pela instituição escol<strong>ao</strong>u mesmo pela valorização <strong>do</strong> estu<strong>do</strong> verificada entre as famílias deagricultores. Novamente, os da<strong>do</strong>s da PNAD/2006 são revela<strong>do</strong>res dessefato, na medida em que a jornada de trabalho das crianças, muitas vezesacentuada (segun<strong>do</strong> o PNAD, 6,6% delas tinham uma jornada de 40horas semanais), não as impediram de estudar, pois 94,7% delas além detrabalharem (em diferentes intensidades) também foram à escola. Cifraesta muito semelhante às crianças que não trabalhavam, isto é, 95,7%.A partir de informações divulgadas em 2009 pela PNAD e em2007 pelo SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica,que mede o rendimento <strong>do</strong>s estudantes em matemática e português),pode-se fazer uma correlação, para determina<strong>do</strong>s contextos regionais,entre os índices de trabalho <strong>infantil</strong> e os Índices de Desenvolvimento daEducação Básica (Ideb). De maneira geral, os da<strong>do</strong>s indicam que quantomaior a incidência de trabalho <strong>infantil</strong> me<strong>no</strong>res são os valores <strong>do</strong> Ideb.Os índices mais altos de trabalho <strong>infantil</strong> foram registra<strong>do</strong>s <strong>no</strong>s esta<strong>do</strong>s<strong>do</strong> Nordeste (1.588.387) e <strong>do</strong> Norte (405.287), regiões que também possuemo Ideb mais baixo, inferior a 4,0. O Ideb é calcula<strong>do</strong> com base emuma escala de 0 a 10.
260 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>Contu<strong>do</strong>, além da necessidade de realizar estu<strong>do</strong>s aprofunda<strong>do</strong>spara qualificar esta relação entre trabalho e rendimento escolar, outrosaspectos também interferem <strong>no</strong>s índices desse rendimento. Entre esses,cabe destacar a precariedade na infraestrutura escolar, a débil formação<strong>do</strong>s professores, as e<strong>no</strong>rmes dificuldades vivenciadas pelas crianças dascomunidades rurais mais distantes para se deslocar até as escolas etc.Conforme pode ser observa<strong>do</strong> <strong>no</strong>s resulta<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s Censos da EducaçãoSuperior, realiza<strong>do</strong> anualmente pelo Instituto Nacional de Estu<strong>do</strong>s e PesquisasEducacionais Anísio Teixeira (Inep), as crianças que nascem <strong>no</strong><strong>campo</strong> têm muito mais chance de não frequentar (ou frequentar me<strong>no</strong>s)a escola que uma criança nascida na cidade. Os números aponta<strong>do</strong>s <strong>no</strong>sestu<strong>do</strong>s indicam o difícil quadro da educação rural <strong>no</strong> Brasil. É justamenteentre crianças e a<strong>do</strong>lescentes que vivem em territórios rurais queencontramos os maiores índices de crianças não alfabetizadas.Por outro la<strong>do</strong>, é preocupante também a baixa qualidade <strong>do</strong> ensi<strong>no</strong>,decorrente da precariedade na infraestrutura de ensi<strong>no</strong> e da baixaremuneração <strong>do</strong>s professores. Geralmente, o conteú<strong>do</strong> ensina<strong>do</strong> nascidades é leva<strong>do</strong> para o <strong>campo</strong> sem <strong>problema</strong>tização, desconsideran<strong>do</strong>as realidades locais. Para Soares et al. (2009), os projetos pedagógicosdesenvolvi<strong>do</strong>s na área urbana <strong>do</strong>s municípios, em que frequentam ascrianças <strong>do</strong> <strong>campo</strong>, nem sempre reconhecem as especificidades constitutivasda diversidade <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> rural, desprezan<strong>do</strong> tradições, valorese identidades individuais e coletivas em favor de um mun<strong>do</strong> “único”,“civiliza<strong>do</strong>” e “educa<strong>do</strong>” <strong>ao</strong> qual to<strong>do</strong>s devem ser submeti<strong>do</strong>s.Se, por um la<strong>do</strong>, os indica<strong>do</strong>res numéricos divulga<strong>do</strong>s por instituiçõesde pesquisa são de grande valia para mostrar a presença e adimensão <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> Brasil; por outro, é necessário fazer aressalva de que os da<strong>do</strong>s isola<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s seus contextos não são suficientespara se analisar a complexidade <strong>do</strong> <strong>problema</strong>, sobretu<strong>do</strong> <strong>no</strong> que diz respeito<strong>ao</strong>s contextos rurais, haven<strong>do</strong> particularidades não contempladasnesses estu<strong>do</strong>s.Ao se abordar a inserção de crianças e a<strong>do</strong>lescentes nas atividadesagrícolas é fundamental que se diferenciem as atividades inerentes àagricultura familiar daquelas restritas <strong>ao</strong> trabalho assalaria<strong>do</strong>, que possuioutras implicações e significa<strong>do</strong>s. Como veremos posteriormente, <strong>ao</strong> seexplicitar a lógica de inserção das crianças <strong>no</strong> trabalho agrícola familiar,que se constitui <strong>no</strong> principal objetivo dessa reflexão, é ressalta<strong>do</strong> pelosautores o senti<strong>do</strong> de aprendizagem e <strong>social</strong>ização das crianças, além da
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...261sucessão geracional como elementos que explicam o envolvimento dascrianças com o trabalho familiar. Antes de explicitarmos esta lógica familiar,colocaremos em relevo alguns aspectos gerais que distinguem ainserção das crianças <strong>no</strong>s processos produtivos rurais.A inserção das crianças <strong>no</strong>s processos produtivosrurais e suas implicações <strong>no</strong> debate sobre o trabalho<strong>infantil</strong>As crianças rurais não formam um grupo <strong>social</strong> homogêneo, assimcomo são diferencia<strong>do</strong>s as realidades e os contextos sociais, econômicose culturais em que se inserem. Nessa mesma lógica, se inscreve a problemática<strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> que possui variações e diferentes manifestações,condicionantes e razões para explicar a sua existência. Entre outrosfatores, a pobreza, a escolaridade <strong>do</strong>s pais, o tamanho e a estruturada família, o sexo <strong>do</strong> chefe de família, idade em que os pais começarama trabalhar, local de residência, tipos de atividades econômicas, são osdeterminantes mais analisa<strong>do</strong>s e <strong>do</strong>s mais importantes para explicar aalocação <strong>do</strong> tempo da criança para o trabalho (Kassouf, 2007).Não é objetivo deste artigo fazer uma análise exaustiva sobre ascategorias trabalho e infância, consideran<strong>do</strong> a vasta literatura existentesobre esses conceitos. Não é <strong>no</strong>ssa intenção, também, elaborar um quadroabrangente sobre os diferentes contextos e as diferentes formas emque se insere o trabalho <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> Brasil, o que certamente demandariaestu<strong>do</strong>s aprofunda<strong>do</strong>s sobre este tema. Objetiva-se neste artigo analisaras caraterísticas distintas e os fatores motiva<strong>do</strong>res da inserção dascrianças na divisão <strong>social</strong> <strong>do</strong> trabalho agrícola familiar, especificamente,nas regiões coloniais <strong>do</strong> esta<strong>do</strong> de Santa Catarina, onde temos realiza<strong>do</strong>pesquisas envolven<strong>do</strong> a infância e a juventude rural.Para analisar a inserção das crianças <strong>no</strong> trabalho agrícola familiar,que será <strong>objeto</strong> <strong>do</strong> próximo tópico desse artigo, cabe preliminarmentediferenciar o trabalho <strong>infantil</strong> vincula<strong>do</strong> às atividades de subsistênciafamiliar implicadas na reprodução <strong>social</strong> e na sucessão geracional <strong>do</strong> patrimôniofamiliar, daquilo que é considera<strong>do</strong> degradante e que acarreta aexploração <strong>do</strong> trabalho das crianças. Nesse processo, há uma diferençafundamental apontada por Schneider (2005) entre as atividades voltadasà produção para uso próprio, autoconsumo etc., e os trabalhos queimplicam ocupação formal e sistemática da força de trabalho fora <strong>do</strong>s
262 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>estabelecimentos, na maioria das vezes, destina<strong>do</strong>s à produção de bens,produtos e serviços de terceiros com a finalidade de obter remuneraçãopelo trabalho realiza<strong>do</strong>. Isto não significa, necessariamente, que estasformas de trabalho impliquem a observância da legislação <strong>do</strong> trabalhoou que as formas de pagamento sejam em dinheiro ou que não haja o uso<strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>.Nesta última situação, insere-se um conjunto diverso de sistemasprodutivos em que se verifica uma presença marcante <strong>do</strong> agronegócioexporta<strong>do</strong>r de alimentos e matérias-primas e <strong>do</strong> trabalho assalaria<strong>do</strong> <strong>no</strong><strong>campo</strong>, demandan<strong>do</strong> análises diferenciadas <strong>ao</strong> se enfocar o conceito detrabalho <strong>infantil</strong>, consideran<strong>do</strong> a ocorrência nesse contexto de formasmais agudas de exploração <strong>do</strong> trabalho das crianças. Ten<strong>do</strong> em vista quediversos autores já analisaram com profundidade as características e os<strong>problema</strong>s envolvi<strong>do</strong>s <strong>no</strong> trabalho <strong>infantil</strong> das crianças nesses contextos– entre os quais cabe citar Martins (1993), Marin (2006; 2010), Neves(1999; 2001), Silva (2000), entre outros – destacaremos apenas os aspectosprincipais aponta<strong>do</strong>s pelos autores.O estu<strong>do</strong> <strong>no</strong> Brasil que possivelmente mais colocou em relevoas profundas contradições e desigualdades de condições sociais vivenciadaspelas crianças rurais <strong>no</strong> Brasil foi feito por Martins (1993), quevaloriza <strong>no</strong> seu trabalho as representações e a voz das crianças pesquisadasnas regiões de fronteira entre o Centro-Oeste e o Norte <strong>do</strong> Brasil,contexto em que se verificou uma expansão muito grande <strong>do</strong> agronegócioexporta<strong>do</strong>r. Além de explicitar a profunda precariedade vivida poressas crianças de origem rural na sua (não) infância, explicita os <strong>problema</strong>sestruturais de uma realidade <strong>social</strong> afetada pelas políticas macroeconômicasnacionais e internacionais que, a longo tempo, tem gera<strong>do</strong>exclusão <strong>social</strong>, empobrecimento e condições desiguais de desenvolvimentoentre as regiões. Constata, enfim, que, <strong>no</strong> cotidia<strong>no</strong> das crianças,o tempo dedica<strong>do</strong> <strong>ao</strong> trabalho aparece em primeiro lugar, aparecen<strong>do</strong>posteriormente e com uma série de dificuldades o perío<strong>do</strong> da escola e,de forma circunstancial, como uma exceção, as brincadeiras; enfim, umafragmentação da sociabilidade na infância dessas crianças.Como refere Quinteiro (2003), o alerta desse sociólogo adquirena atualidade maior relevância diante de diagnósticos que apontam asprecárias condições sociais da criança e de suas famílias e, ainda, a ausênciade trabalhos que enfoquem tais <strong>problema</strong>s como um fenôme<strong>no</strong>sociológico. O estu<strong>do</strong> feito por Neves (1999) <strong>no</strong> Nordeste brasileiro, que
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...263analisa as lógicas sociais em tor<strong>no</strong> da exploração <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> eas alternativas de prevenção, é uma exceção importante e uma referênciana literatura que aborda a infância <strong>no</strong> espaço rural.Segun<strong>do</strong> Marin (2010), os empresários das cadeias produtivas <strong>do</strong>agronegócio brasileiro inseriram, nesses últimos a<strong>no</strong>s, cláusulas sociaisem seus contratos comerciais, bem como assinaram pactos de erradicação<strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> e aderiram <strong>ao</strong>s propósitos <strong>do</strong>s selos sociais, emvirtude <strong>do</strong> crescimento da pressão internacional, expresso nas contínuasameaças de boicotes às merca<strong>do</strong>rias produzidas com exploração <strong>do</strong>trabalho de crianças e a<strong>do</strong>lescentes. Segun<strong>do</strong> o autor, essas iniciativasconferem legitimidade às empresas ligadas <strong>ao</strong> agronegócio <strong>no</strong>s merca<strong>do</strong>sglobaliza<strong>do</strong>s, além de constituírem-se em valiosos investimentos emmarketing <strong>social</strong>.A inserção laborativa prematura <strong>do</strong>s filhos exprime a divisão familiar<strong>do</strong> trabalho e o sistema de valores morais que organiza a interdependênciade seus membros. Ao analisar os efeitos intergeracionais <strong>do</strong>trabalho <strong>infantil</strong> entre trabalha<strong>do</strong>res rurais da agroindústria sucroalcooleira<strong>no</strong> Nordeste brasileiro, Neves (2001) constata que to<strong>do</strong>s os membrosda família, desde ce<strong>do</strong>, assumem responsabilidades na constituição<strong>do</strong>s bens fundamentais <strong>ao</strong> consumo. A ética expressa na aceitação <strong>do</strong>sacrifício é assim constitutiva <strong>do</strong> ethos desta categoria de trabalha<strong>do</strong>res,também sintetiza<strong>do</strong>ra de diversos valores de referência comportamental.Segun<strong>do</strong> a autora, a ausência de instituições que ofereçam apoio <strong>ao</strong>s paisna tarefa de <strong>social</strong>ização <strong>do</strong>s filhos facilita a dependência <strong>do</strong> trabalho ea aceitação de condições adversas, portanto, mais facilmente impostas.O trabalho aparece então como recurso de enquadramento moral <strong>do</strong>s pobrese os emprega<strong>do</strong>res como os agentes mais próximos e viabiliza<strong>do</strong>resda sobrevivência, <strong>do</strong> crédito e <strong>do</strong> apoio diante <strong>do</strong> inespera<strong>do</strong>.Já Silva (2000) constata, em sua pesquisa feita com crianças trabalha<strong>do</strong>rasna cultura da cana-de-açúcar <strong>no</strong> Nordeste brasileiro, que, <strong>ao</strong>pensar sobre o próprio corpo durante o trabalho, a grande maioria delassofria com as extensivas jornadas de trabalho <strong>no</strong> corte da cana, que asobrigavam a acordar muito ce<strong>do</strong> e renunciar ou diminuir o tempo destina<strong>do</strong>às brincadeiras; “o tempo para que o corpo pudesse com plenitudee sem pressão entregar-se às conjecturas lúdicas. A maioria referia-sesempre <strong>ao</strong> trabalho na infância como detona<strong>do</strong>r de sofrimento, <strong>do</strong>r efadiga, nunca de ludicidade e relaxamento” (Silva, 2000: 256). Além dacana-de-açúcar, existem outros sistemas produtivos de base empresarial
264 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong><strong>no</strong> <strong>campo</strong> brasileiro em que se verifica a presença <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>(entre os quais, o sisal, o carvão vegetal, a fruticultura comercial, oleagi<strong>no</strong>sasetc.), cujas particularidades foram ou vêm sen<strong>do</strong> abordadas naliteratura (Kassouf, 2007, indica os principais estu<strong>do</strong>s empíricos sobretrabalho <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> Brasil).Estu<strong>do</strong>s realiza<strong>do</strong>s pela PNAD e pela OIT estabelecem uma analogiaquestionável entre o trabalho realiza<strong>do</strong> nas unidades de agricultoresfamiliares na forma de “ajuda”, que possui um caráter pedagógico-<strong>social</strong>iza<strong>do</strong>r,e aquele executa<strong>do</strong> por contratação (assalariamento ou outraforma de pagamento) e submeti<strong>do</strong> <strong>ao</strong>s rigores <strong>do</strong> controle e <strong>do</strong> disciplinamentoe, em muitos casos, com exploração da mão de obra <strong>infantil</strong>.Segun<strong>do</strong> Schneider (2005), em determinadas circunstâncias, o senso comume mesmo a legislação corrente acabam perceben<strong>do</strong> a intensificaçãodas jornadas de trabalho e o recurso <strong>ao</strong> emprego <strong>do</strong>s filhos meramentecomo formas de aviltamento ou promoção da auto ou (super)exploraçãoda força de trabalho, esquecen<strong>do</strong>-se que, para eles, o trabalho pode assumirsenti<strong>do</strong> produtivo e dignificante. Cabe salientar, <strong>no</strong> entanto, queestas considerações não podem servir para justificar ou legitimar o uso<strong>do</strong> trabalho de crianças em atividades agrícolas, sobretu<strong>do</strong> em atividadespe<strong>no</strong>sas ou que oferecem riscos.Para o autor, o exercício <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> nas unidades de agriculturafamiliar não possui o senti<strong>do</strong> de uma ocupação tout court e queas crianças que exercem atividades não remuneradas e/ou destinadas àprodução para o próprio consumo não podem ser equiparadas a indivíduoseco<strong>no</strong>micamente ativos e tão pouco ser contabilizadas como pessoasocupadas pelas estatísticas oficiais. Mais precisamente:Os trabalhos realiza<strong>do</strong>s pelas crianças dentro das unidades de agricultoresfamiliares são complementares <strong>ao</strong>s processos produtivos, não sedestinam a obter remuneração e possuem um senti<strong>do</strong> pedagógico e de<strong>social</strong>ização. Contu<strong>do</strong>, não se pode dizer o mesmo daquelas situaçõesem que o trabalho <strong>infantil</strong> é realiza<strong>do</strong> fora da unidade produtiva, ondeentão assume o caráter de uma ocupação, mesmo que não formalizada<strong>do</strong> ponto de vista jurídico legal, visan<strong>do</strong> a venda da força de trabalho ea obtenção de remuneração por esta (Schneider, 2005: 23).Levantamentos feitos pela PNAD, nesses últimos a<strong>no</strong>s, mostramque a parcela hegemônica das crianças na faixa etária entre cinco e quinzea<strong>no</strong>s que trabalham <strong>no</strong> ramo agrícola <strong>do</strong> Brasil enquadram-se na categoria<strong>do</strong>s trabalha<strong>do</strong>res que oferecem ajudas e auxílios dentro <strong>do</strong> <strong>do</strong>micílio,sen<strong>do</strong> por isso classifica<strong>do</strong>s pela PNAD como não remunera<strong>do</strong>s e
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...265para o próprio consumo. Nas duas regiões brasileiras em que se verificaa presença pre<strong>do</strong>minante da agricultura familiar na estrutura fundiária,também, constata-se um eleva<strong>do</strong> percentual de crianças com idades entrecinco e quinze a<strong>no</strong>s que trabalham em atividades que, provavelmente,são tarefas de apoio e ajuda <strong>ao</strong>s pais dentro <strong>do</strong> estabelecimento agropecuárioou até mesmo <strong>no</strong>s afazeres <strong>do</strong> <strong>do</strong>micílio.Como se refere Schneider (2005), trata-se, em essência, de trabalhosauxiliares que não implicam trocas mercantis, remuneração e,tampouco, geração de vínculos empregatícios formais. Se resgatarmosChaya<strong>no</strong>v (1974), veremos que, nas unidades familiares, o trabalho e aprodução possuem um caráter coletivo e indivisível, pois to<strong>do</strong>s trabalhamcom a finalidade de viabilizar o empreendimento. Muitas vezes,esta diferença assenta-se, fundamentalmente, em uma construção simbólica,que se constitui em uma representação <strong>do</strong> significa<strong>do</strong> e <strong>do</strong> senti<strong>do</strong><strong>do</strong> trabalho que orienta os valores e a visão de mun<strong>do</strong> de indivíduose <strong>do</strong>s grupos sociais.O que pretendemos enfatizar nesta reflexão é que a divisão <strong>social</strong><strong>do</strong> trabalho agrícola familiar é uma estratégia para viabilizar sua reprodução<strong>social</strong>, constituin<strong>do</strong>-se num traço essencial de sua identidade<strong>social</strong>. Nesse senti<strong>do</strong>, mobilizar o trabalho das crianças e <strong>do</strong>s jovenspossui razões que não se explicam apenas por motivações econômicas e,dificilmente abarcaremos toda a sua dimensão fundamentan<strong>do</strong>-se apenasem indica<strong>do</strong>res estatísticos ou quantitativos. No <strong>no</strong>sso ponto de vista,não podemos apontar – sem uma devida <strong>problema</strong>tização – essa lógicainerente à agricultura familiar como um ato de exploração <strong>do</strong> trabalhodas crianças por parte <strong>do</strong>s pais. Visan<strong>do</strong> contribuir com esse debate,apresentamos a seguir alguns elementos que configuram esta lógica nasunidades familiares de produção na agricultura.A lógica <strong>campo</strong>nesa e a inserção das crianças <strong>no</strong>trabalho agrícola familiarA utilização <strong>no</strong>s estu<strong>do</strong>s rurais, <strong>no</strong> Brasil, <strong>do</strong>s conceitos de <strong>campo</strong>nêse, mais recentemente, de agricultura familiar nunca foi consensualnem mesmo harmônica entre os diversos interlocutores. Pelo contráriosempre foi marcada por divergências de cunho teórico, ambiguidadese, polêmicas entre aqueles que a<strong>do</strong>tam estas <strong>no</strong>ções. Camponeses ouagricultores familiares, a<strong>do</strong>tamos estes termos para designar as famíliasde agricultores que – mais ou me<strong>no</strong>s modernizadas ou tecnificadas – em-
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...267lho “pesa<strong>do</strong>” feito pelos homens e trabalho “leve” feito pelas mulheresnão se devia à qualidade <strong>do</strong> esforço despendi<strong>do</strong>, mas <strong>ao</strong> sexo de quemo executava, de tal mo<strong>do</strong> que qualquer trabalho era considera<strong>do</strong> levese feito por mulheres, por mais exaustivo, desgastante ou prejudicial àsaúde que fosse. A autora vê o mesmo fenôme<strong>no</strong> se repetir quan<strong>do</strong> dadivisão entre trabalho <strong>do</strong>méstico e trabalho produtivo.Embora com especificidades, a de<strong>no</strong>minação de “ajuda” <strong>ao</strong>s esforçosrealiza<strong>do</strong>s por crianças, sobretu<strong>do</strong> meninas, <strong>no</strong> trabalho agrícolafamiliar traz implicitamente esta co<strong>no</strong>tação ideológica que reproduzdesigualdades e descontentamentos entre os integrantes <strong>do</strong>s estabelecimentosfamiliares. Isto não significa dizer que esta “ajuda”, estes trabalhosenquadra<strong>do</strong>s nessa <strong>no</strong>ção sejam de me<strong>no</strong>r importância ou quenão possam ser prejudiciais à saúde. De maneira geral, são atividadeslaborais que não são remuneradas porque destinam-se a auxiliar ou complementaras diversas tarefas e serviços que são executa<strong>do</strong>s na unidadeprodutiva familiar.O trabalho é uma categoria polissêmica construída <strong>social</strong>mentee (re)produzida historicamente pelos descendentes de imigrantes europeus,que colonizaram o Sul <strong>do</strong> Brasil <strong>no</strong>s séculos XIX e XX, comoum elemento fundamental <strong>do</strong> ethos desses <strong>campo</strong>neses, um referencialsimbólico de uma identidade étnica, cujas “virtudes” e particularidadesprocuram ser repassadas através de um processo de aprendizagem <strong>no</strong>próprio grupo <strong>do</strong>méstico, em que a geração ascendente transmite os valorese saberes práticos às gerações subsequentes, num processo quenem sempre é homogêneo, muito me<strong>no</strong>s harmônico.Obviamente que, se considerarmos outras realidades com presençada agricultura familiar <strong>no</strong> Brasil ou mesmo outras categorias sociaisde base familiar presentes nas comunidades rurais da região Sul, encontraremosoutras visões de mun<strong>do</strong>, valores e racionalidades <strong>no</strong> quese refere à categoria trabalho, que se expressam nas diferentes formasde organização e de finalidades <strong>do</strong>s processos produtivos, nas diversasmaneiras de inserir as crianças nas atividades produtivas, bem como nastrajetórias sociais formuladas pelos membros desses grupos <strong>do</strong>mésticosespecíficos.Renk (2000) entende ser necessário relativizar a assertiva de Mendras(1984), segun<strong>do</strong> a qual o indivíduo nasce <strong>campo</strong>nês e não se torna<strong>campo</strong>nês. Para a autora, o indivíduo nasce na condição <strong>campo</strong>nesa,<strong>no</strong> entanto, este fato não prescinde da construção <strong>social</strong> dessa condi-
268 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>ção, ou seja, da necessidade de produção <strong>social</strong> <strong>do</strong> que significa “seragricultor(a)”, visan<strong>do</strong> a sua reprodução enquanto tal. Aqui se insereo papel desempenha<strong>do</strong> pela transmissão <strong>do</strong> saber agrário, agronômico,telúrico, <strong>do</strong> saber prático, transmiti<strong>do</strong> de pai para filho, como práticapura sem teoria (Bourdieu, 1989: 22). Embora os avanços da ciência eda tec<strong>no</strong>logia <strong>no</strong> <strong>campo</strong> das ciências agrárias, bem como a disponibilidadeatual de um leque bastante amplo de oportunidades de capacitaçãoformal ou informal, ainda o principal mecanismo para se formar e reproduzira profissão de agricultor(a) familiar continua sen<strong>do</strong> o aprendiza<strong>do</strong>prático através <strong>do</strong> saber-fazer transmiti<strong>do</strong> de geração em geração.No Brasil, não se tem referências precisas acerca <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> comosurgem <strong>no</strong>vos profissionais da agricultura, mas é possível estimar queparcela significativa aprende e inicia-se na atividade agrícola através dasrelações familiares, sen<strong>do</strong> a profissão transmitida de pai para filho. Nestesenti<strong>do</strong>, a iniciação das crianças <strong>no</strong> trabalho agrícola acaba adquirin<strong>do</strong>um senti<strong>do</strong> pedagógico e constitui-se <strong>no</strong> aprendiza<strong>do</strong> fundamental paraformar um <strong>no</strong>vo profissional <strong>do</strong> ramo agrícola (Schneider, 2005). Para oautor, além <strong>do</strong> papel de <strong>social</strong>ização das crianças, o processo de aprendizagemda profissão é também um ritual de seleção <strong>do</strong> futuro herdeiro daunidade familiar, pois é justamente na hora da escolha <strong>do</strong> herdeiro queos pais podem levar em conta aspectos observa<strong>do</strong>s <strong>ao</strong> longo da trajetóriaindividual e profissional <strong>do</strong> filho escolhi<strong>do</strong>, consideran<strong>do</strong>, obviamente,as habilidades para o trabalho aprendidas desde a infância.No que se refere, especificamente, <strong>ao</strong>s processos de <strong>social</strong>ização,<strong>no</strong>s contextos rurais, a sociabilidade das crianças se realiza principalmenteem tor<strong>no</strong> das redes familiares e de vizinhança. No entanto, cadavez mais as relações sociais e de afeto desse público se complexificam,consideran<strong>do</strong> o estreitamento das relações <strong>campo</strong>-cidade, possibilitada,além de outros fatores, pela mobilidade <strong>social</strong> <strong>do</strong> público infanto-juvenile pelo aumento <strong>no</strong> fluxo de informações geradas pelas redes de comunicaçãoe pela inclusão digital. Nesse senti<strong>do</strong>, redefinições <strong>no</strong>s processosde sociabilidade passam a ocorrer a partir <strong>do</strong> momento em que as criançasde me<strong>no</strong>r idade começam a passar grande parte <strong>do</strong> seu tempo fora <strong>do</strong>contexto familiar – na escola, em diversas atividades extracurricularesou em centros infantis de dia. Os lugares da infância podem ser vistos àluz <strong>do</strong>s fluxos que os atravessam, as escolas estão associadas a outras escolas,a agrega<strong>do</strong>s familiares, centros de atividades extracurriculares etc.(Schueler; Delga<strong>do</strong>; Muller, 2005).
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...269Nas comunidades rurais e, sobretu<strong>do</strong>, na agricultura familiar, ascrianças aprendem a conviver desde ce<strong>do</strong> com a realidade das atividadesprodutivas realizadas pelos membros <strong>do</strong> grupo <strong>do</strong>méstico, num cotidia<strong>no</strong>que associa a sua participação e o aprendiza<strong>do</strong> na divisão <strong>social</strong> <strong>do</strong>trabalho, nas relações de sociabilidade, manifestações lúdicas e a vidaescolar. São estimuladas a incorporar uma ética em que o trabalho temum valor relevante como base da subsistência, como meio privilegia<strong>do</strong>de ganhar a vida e de honrar seus compromissos. As crianças e os a<strong>do</strong>lescentes,em geral, aprendem desde muito ce<strong>do</strong> um conjunto diferencia<strong>do</strong>– por gênero e geração – de papéis sociais <strong>no</strong>s espaços público epriva<strong>do</strong>, em que se conformam regras, hierarquias e poderes expressosna divisão <strong>social</strong> <strong>do</strong> trabalho agrícola familiar e implica<strong>do</strong>s na reprodução<strong>do</strong> patrimônio fundiário entre as gerações.Nessa forma singular de divisão <strong>social</strong> <strong>do</strong> trabalho familiar, a organização<strong>do</strong> processo de aprendizagem não se realiza separadamentedas atividades produtivas, nem ocorre em lugares diferencia<strong>do</strong>s <strong>do</strong> ambientecotidia<strong>no</strong> de trabalho que sejam destina<strong>do</strong>s exclusivamente <strong>ao</strong>saprendizes, particularmente, às crianças. Aprender e ensinar fazem parte<strong>do</strong> mesmo contexto <strong>social</strong> de ação em que ocorrem as atividades da vidacotidiana da comunidade e da unidade produtiva familiar, e <strong>no</strong> qual ossujeitos se inserem de forma diferenciada em função das suas possibilidadesde participação e <strong>do</strong>s seus objetivos.De acor<strong>do</strong> com Gomes (2008), nesse tipo peculiar de organização<strong>social</strong>, são as próprias crianças que, muitas vezes, se propõem a participarde alguma atividade e são acolhidas na sua tentativa. Tais formas departicipação funcionam como situações de aprendizagem in loco. Mesmoque seja somente para uma atenta observação, a criança toma parte da situação,sen<strong>do</strong> que seu grau de participação vai depender em grande parteda sua direta solicitação. Já segun<strong>do</strong> Brandão (1986: 128), as situações,as redes e os processos através <strong>do</strong>s quais o saber flui de uma geração <strong>ao</strong>utra não são tão espontâneos e não tão impessoalmente dissolvi<strong>do</strong>s emoutras práticas sociais como parece. Para o autor, embora não existammecanismos formais institucionaliza<strong>do</strong>s para a transmissão de saberesna agricultura de base <strong>campo</strong>nesa, há um conjunto de relações sociais<strong>no</strong> âmbito da divisão sexual e geracional <strong>do</strong> trabalho familiar, em que seconfigura um ambiente de aprendizagem <strong>no</strong> qual se reproduzem de paispara filhos(as) os conhecimentos, as técnicas e as práticas a<strong>do</strong>tadas <strong>no</strong>sprocessos produtivos.
270 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>É interessante ressaltar que, <strong>do</strong> ponto de vista <strong>do</strong>s adultos (ou<strong>do</strong>s maiores), este convívio continua<strong>do</strong> com as crianças requer habilidades,pois ele pressupõe que não se interrompam as atividades – quefrequentemente não devem e nem podem ser interrompidas –, mas quese possa levar em conta a presença das crianças. Em outras palavras,reitera Gomes (2008), a presença de “potenciais aprendizes” não implicaa suspensão da ação de quem executa alguma tarefa ou atividade,que continua seu curso, permitin<strong>do</strong>, porém níveis diferencia<strong>do</strong>s de interação.Tais habilidades de convívio são aprendidas e desenvolvidas;assim como podem ser “desaprendidas” quan<strong>do</strong> não se faz nenhum usodelas.Na pesquisa que realizamos em determinadas localidades ruraisda região Oeste de Santa Catarina (Stropasolas, 2010), fundamentada <strong>no</strong>estu<strong>do</strong> de casos múltiplos, abor<strong>do</strong>u-se, entre outros objetivos, a inserçãoe a intensidade de participação das crianças na divisão <strong>social</strong> <strong>do</strong> trabalhoagrícola familiar e a presença <strong>do</strong> lúdico e <strong>do</strong> lazer <strong>no</strong> mun<strong>do</strong> da infância.A meto<strong>do</strong>logia utilizada contemplou a aplicação de um questionário, entrevistassemi-estruturadas e dinâmica de grupo de discussão, incluin<strong>do</strong>prioritariamente as crianças e, de forma complementar, algumas entrevistascom os pais e familiares. O questionário abrangeu setenta e duascrianças de escolas públicas estaduais e municipais de Lacerdópolis eCoronel Martins, situa<strong>do</strong>s na região Oeste catarinense. Sen<strong>do</strong> que, <strong>do</strong>sentrevista<strong>do</strong>s(as), trinta e seis foram <strong>do</strong> sexo femini<strong>no</strong> e trinta e seis<strong>do</strong> sexo masculi<strong>no</strong>, abrangen<strong>do</strong> as faixas etárias de cinco a <strong>no</strong>ve a<strong>no</strong>s,dez a <strong>do</strong>ze a<strong>no</strong>s, e treze a quatorze a<strong>no</strong>s de idade. Para cada faixa etáriareferida, foram aplica<strong>do</strong>s vinte e quatro questionários (<strong>do</strong>ze meni<strong>no</strong>s e<strong>do</strong>ze meninas).Com o objetivo de abordar as representações e <strong>no</strong>ções construídaspelas próprias crianças, particularmente, em tor<strong>no</strong> <strong>do</strong>s principais conceitose questões aborda<strong>do</strong>s na pesquisa, foram organiza<strong>do</strong>s grupos dediscussão nas escolas através de dinâmicas que reuniram as crianças emcírculos e com a mediação <strong>do</strong> pesquisa<strong>do</strong>r, que teve o papel de levantarquestões para estimular o debate. As crianças participantes foram selecionadascom a ajuda da direção das escolas, consideran<strong>do</strong> as diferentesfaixas etárias, dividin<strong>do</strong>-se proporcionalmente as crianças por sexo,envolven<strong>do</strong> várias comunidades rurais <strong>do</strong>s municípios e com filhos(as)de agricultores familiares representativos da realidade local. Com ascrianças, foram apresenta<strong>do</strong>s e debati<strong>do</strong>s os objetivos da realização <strong>do</strong>sgrupos de discussão.
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...271A intensidade e as características que configuravam/configuramo ambiente de trabalho na infância e a<strong>do</strong>lescência, <strong>no</strong> espaço rural pesquisa<strong>do</strong>,dependem das condições objetivas e subjetivas de cada família,que se apresentam bastante diversificada nas localidades. Emboraa ausência das crianças <strong>no</strong> ambiente <strong>do</strong> trabalho não seja a regra <strong>no</strong>conjunto das famílias de agricultores, a frequência e a intensidade desua participação oscilam, dependen<strong>do</strong> <strong>do</strong> caso considera<strong>do</strong>, afloran<strong>do</strong>aqui algumas variações <strong>no</strong> seio desta categoria <strong>social</strong>, sen<strong>do</strong> as condiçõeseconômicas e produtivas, a disponibilidade de terra e de mãode obra alguns fatores determinantes desta variação. Importa salientar,também, que estes “afazeres” realiza<strong>do</strong>s na infância aparecem internaliza<strong>do</strong>snas representações <strong>do</strong>s pais e das próprias crianças como “ajuda”e não como trabalho em si.Percebe-se, a influência de uma <strong>no</strong>rma cultural perpassan<strong>do</strong> ascondutas <strong>do</strong> grupo <strong>do</strong>méstico, pois são estimula<strong>do</strong>s, na prática, a compreendera importância <strong>do</strong> envolvimento de to<strong>do</strong>s <strong>no</strong> trabalho agrícolafamiliar, assumin<strong>do</strong> algumas tarefas desde peque<strong>no</strong>s, como forma deassumir os compromissos e a responsabilidade de quem é treina<strong>do</strong> paraexecutar atividades que, por envolverem uma quantia significativa derecursos financeiros (cujo mau gerenciamento, muitas vezes, pode comprometero patrimônio da propriedade), bem como riscos e incertezasmuito grandes, não se pode falhar. Assim, nesta eco<strong>no</strong>mia peculiar, característicada agricultura familiar, em que os mesmos agentes que planejamsão os que decidem e executam, a transmissão <strong>do</strong> conhecimento edas atribuições é feita, para as crianças, <strong>no</strong> âmbito <strong>do</strong> trabalho.Nos casos estuda<strong>do</strong>s, há uma clara divisão de tarefas entre ascrianças, sobretu<strong>do</strong> em função <strong>do</strong>s sexos. O trabalho da casa, de maneirageral, é atribuí<strong>do</strong> como sen<strong>do</strong> de responsabilidade feminina, embora,mais recentemente, verificou-se uma participação significativa de meni<strong>no</strong>sdesempenhan<strong>do</strong> esse papel. Cabe salientar que a partir da faixaetária de seis a oito a<strong>no</strong>s, a mãe começa a fazer a iniciação das meninasnas atividades <strong>do</strong>mésticas. Assim como suas mães, as meninas além detrabalhar na casa, não deixam de realizar alguns afazeres na roça. Noentanto, nesse ambiente verifica-se uma presença mais marcante <strong>do</strong>s homens,os quais costumam iniciar os meni<strong>no</strong>s desde ce<strong>do</strong> nas atividadesaí desenvolvidas, mesmo que isto represente apenas uma “ajuda” e semexigir esforços físicos mais acentua<strong>do</strong>s por parte <strong>do</strong>s filhos. Começan<strong>do</strong>desde muito ce<strong>do</strong> a tirar leite, em tor<strong>no</strong> de <strong>no</strong>ve a<strong>no</strong>s, as meninas sãoestimuladas a internalizar um padrão cultural que atribui, sobretu<strong>do</strong>, à
272 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>esfera feminina a realização <strong>do</strong>s trabalhos e <strong>do</strong>s cuida<strong>do</strong>s vincula<strong>do</strong>s aesta atividade. Embora o nível de dedicação <strong>ao</strong> trabalho esteja na dependênciada idade, não há muita distinção entre as tarefas executadas porjovens e adultos, sejam homens ou mulheres (Silva, 2001: 140).Das propriedades visitadas, parcela expressiva possui integraçãocom as agroindústrias. Coletamos informações referentes à participaçãodas crianças nas atividades vinculadas a avicultura, bovi<strong>no</strong>cultura deleite e sui<strong>no</strong>cultura. De maneira geral, verificou-se que é significativaa presença das crianças <strong>no</strong> cotidia<strong>no</strong> dessas atividades, acompanhan<strong>do</strong>os demais membros da família <strong>no</strong>s afazeres diários. A sui<strong>no</strong>cultura é aatividade entre as três relacionadas em que se verifica a me<strong>no</strong>r participaçãodas crianças, por outro la<strong>do</strong>, a bovi<strong>no</strong>cultura de leite se destacacomo a atividade com maior presença das crianças junto <strong>ao</strong>s seus pais,principalmente as meninas.Outro aspecto que deve ser considera<strong>do</strong> quan<strong>do</strong> se pretende darconta da complexidade embutida na problemática <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>diz respeito às modificações recentes <strong>no</strong>s sistemas produtivos agrícolase pecuários vigentes <strong>no</strong>s territórios rurais. Com a modernização <strong>do</strong>s processosprodutivos constituintes <strong>do</strong>s sistemas agroindustriais, decorrentesda inserção das empresas produtoras e exporta<strong>do</strong>ras de alimentos e matérias-primas,como é o caso de grandes conglomera<strong>do</strong>s agroindustriais<strong>no</strong> Sul <strong>do</strong> Brasil, acentuam-se as exigências (decorrentes <strong>do</strong>s merca<strong>do</strong>sglobaliza<strong>do</strong>s) de aumento na escala, na produtividade e na qualidadedas merca<strong>do</strong>rias produzidas em série nessas cadeias produtivas, entre asquais podemos citar a avicultura, a sui<strong>no</strong>cultura, a fumicultura, a fruticultura,entre outros.Como consequência desse processo, re<strong>no</strong>vam-se as regras e asexigências dessas empresas com as famílias de agricultores integra<strong>do</strong>se/ou parceiros dessa relação contratual, acarretan<strong>do</strong> cada vez mais adifusão e a exigência de a<strong>do</strong>ção de <strong>no</strong>vas tec<strong>no</strong>logias, maquinários eequipamentos nas propriedades <strong>do</strong>s agricultores que, para manterem-senesses circuitos produtivos e <strong>no</strong> merca<strong>do</strong>, devem necessariamente adequarem-seàs exigências impostas por tais segmentos produtivos. Percebe-se,assim, uma sobrecarga das pessoas que permanecem nas unidadesprodutivas familiares, inclusive entre os mais <strong>no</strong>vos, ten<strong>do</strong> em vista aredução da mão de obra na família com a diminuição da taxa de natalidadee a migração acentuada <strong>do</strong>s filhos(as), sobretu<strong>do</strong> a partir <strong>do</strong>s quinzea<strong>no</strong>s de idade.
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...273Nas situações em que as famílias possuem um patrimônio material(máquinas e equipamentos), fundiário e financeiro mais eleva<strong>do</strong>,constata-se, também, a exigência de mobilização da mão de obra de to<strong>do</strong>sos integrantes <strong>do</strong> grupo <strong>do</strong>méstico que permanecem na propriedade,com influências <strong>no</strong> trabalho <strong>infantil</strong> (em muitos casos, demandan<strong>do</strong> otrabalho das crianças mais <strong>no</strong>vas) ou mesmo em outras dimensões <strong>do</strong>processo de <strong>social</strong>ização dessas crianças, consideran<strong>do</strong> a excessiva jornadacotidiana de trabalho (muitas vezes sem descanso semanal) <strong>do</strong>sadultos e <strong>do</strong>s filhos(as) maiores residentes nesses estabelecimentos. ParaSchneider (2005), o uso bem-sucedi<strong>do</strong> e adequa<strong>do</strong> da força de trabalho<strong>do</strong>s membros que compõem a unidade <strong>do</strong>méstica é determinante parasua viabilidade econômica e, portanto, sua reprodução como grupo <strong>social</strong>que trabalha e produz. Isto explica porque os agricultores familiaresoperam com uma racionalidade que acaba levan<strong>do</strong> à intensificação desuas jornadas de trabalho e, na maioria das vezes, colocan<strong>do</strong> em atividadeo máximo de membros disponíveis na família, inclusive as crianças,os jovens, os i<strong>do</strong>sos e, eventualmente, as esposas encarregadas da prole.Na pesquisa que realizamos <strong>no</strong> Oeste catarinense (Stropasolas,2010), <strong>ao</strong> indagarmos às crianças se gostam ou não de trabalhar nas atividadesem que estão envolvidas, elas afirmam, em sua grande maioria,que sim, destacan<strong>do</strong> positivamente os afazeres na atividade leiteira. Noentanto, em relação à “ajuda” que prestam nas atividades vinculadasà avicultura e à sui<strong>no</strong>cultura percebemos que, embora seja verificadauma proporção semelhante entre os que gostam e os que não gostam detrabalhar nessas atividades, há uma maior rejeição das crianças a determina<strong>do</strong>safazeres que realizam nestes sistemas produtivos.Em relação à dimensão <strong>do</strong> lúdico e das atividades de lazer realizadaspelas crianças entrevistadas, verificamos que, na maioria <strong>do</strong>s casos,os depoimentos indicam que as crianças brincam o suficiente e, praticamentetodas as crianças envolvidas na pesquisa, praticam esportesregularmente, seja na comunidade, em casa ou na escola (maior frequência).Cabe salientar, <strong>no</strong> entanto, que os jogos coletivos na comunidade serestringem <strong>ao</strong>s finais de semana, enquanto, na escola, são mais presentes<strong>no</strong> cotidia<strong>no</strong>. Por outro la<strong>do</strong>, entre os meni<strong>no</strong>s a resposta “quase to<strong>do</strong>sos dias” apresenta uma maior frequência, sobretu<strong>do</strong> na faixa etária dedez a quatorze a<strong>no</strong>s, enquanto é entre as meninas que se verifica umamaior recorrência na resposta “de vez em quan<strong>do</strong>”. Os esportes pratica<strong>do</strong>ssão futebol (maior frequência), futebol de salão, vôlei, basquete ehandebol.
274 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>Atualmente, ainda que as crianças não deixem de brincar <strong>no</strong> ambientelúdico da propriedade ou da comunidade de origem, como outrascrianças integrantes das <strong>no</strong>vas gerações elas vivenciam modificaçõesimportantes <strong>no</strong> cenário em que se desenrola o lúdico <strong>no</strong> seu cotidia<strong>no</strong>,entre as quais a diminuição progressiva das brincadeiras realizadas <strong>no</strong>ambiente natural (rio, terra, “potreiros” e/ou pastagens naturais, matasetc.), o ambiente escolar passa a adquirir uma grande importância na frequênciacotidiana das brincadeiras na infância, a presença da tec<strong>no</strong>logiamoderna, as redes de informação e a televisão aceleram o ritmo <strong>do</strong> cotidia<strong>no</strong>,encurtam distâncias e fazem parte <strong>do</strong> seu brincar. Cabe salientartambém, a diminuição <strong>do</strong> número de crianças nas comunidades rurais e,consequentemente, das “turmas”.As iniciativas em busca de resolução da problemática<strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>O trabalho <strong>infantil</strong> é um fenôme<strong>no</strong> <strong>social</strong> persistente, com raízesna estrutura socioeconômica da sociedade, que se sustenta simbolicamentede uma cultura favorável à utilização <strong>do</strong> trabalho de me<strong>no</strong>res, associa<strong>do</strong><strong>no</strong>rmalmente às esferas informais da atividade econômica e comuma causalidade multifatorial (Sarmento, 2009). Nessa conformidade, otrabalho <strong>infantil</strong> deve ser analisa<strong>do</strong> ten<strong>do</strong> em conta as múltiplas relaçõesem que ele se insere e as suas determinações sociais, <strong>no</strong>meadamente, omodelo econômico de desenvolvimento, as concepções <strong>do</strong>minantes e oestatuto <strong>social</strong> atribuí<strong>do</strong> às crianças, como grupo geracional específico,o desempenho das políticas sociais e a sua incidência nas situações deexclusão <strong>social</strong>. Embora haja especificidades, dependen<strong>do</strong> <strong>do</strong> contexto<strong>social</strong> rural, inclusive casos de famílias consolidadas eco<strong>no</strong>micamentemobilizan<strong>do</strong> o trabalho das crianças, a exploração <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>possui uma correlação forte com a exclusão <strong>social</strong>, e em especial, coma pobreza <strong>do</strong>s agrega<strong>do</strong>s familiares. Isto implica que o combate à exploração<strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> se integre, em simultâneo, na vertente daluta contra a pobreza e <strong>no</strong> esforço pela promoção efetiva <strong>do</strong>s direitosda criança e pela inclusão <strong>social</strong>. (Sarmento, 2009; Sarmento, Tomás,Melro, Fernandes, 2005).De maneira geral, verifica-se, nesses últimos a<strong>no</strong>s, uma reduçãoda exploração <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>, decorrente, sobretu<strong>do</strong>, das iniciativasdesencadeadas por programas governamentais em parceria com organismosda sociedade civil, particularmente a OIT, a Unicef e a ONU.
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...275Para isso, contribuíram as medidas i<strong>no</strong>va<strong>do</strong>ras recentes proporcionadaspor esses programas de intervenção, como é o caso <strong>do</strong> PETI 5 <strong>no</strong> Brasil,disponibilizan<strong>do</strong> recursos, articulan<strong>do</strong> uma rede de instituições públicase privadas, o que permitiu maior agilidade e amplitude nas atividadesdesenvolvidas, bem como obtiveram alcances em termos de melhor qualificação<strong>do</strong> corpo de profissionais envolvi<strong>do</strong>s, a partir da realização decapacitações e estu<strong>do</strong>s específicos sobre o público de crianças afetadaspelo trabalho <strong>infantil</strong>.Contu<strong>do</strong>, ainda há uma distância expressiva entre os alcances <strong>do</strong>sprogramas e a realidade <strong>do</strong>s números de crianças afetadas e/ou exploradaspelo trabalho <strong>infantil</strong>, seja <strong>no</strong> Brasil ou mesmo em boa parte <strong>do</strong>spaíses <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. Entre os diagnósticos, a constatação <strong>do</strong>s números, adefinição <strong>do</strong> público a ser inseri<strong>do</strong> nas ações das instituições, a intervençãona realidade, a realização efetiva <strong>do</strong>s direitos das crianças e a suainclusão <strong>social</strong> há um longo e complexo caminho a ser percorri<strong>do</strong>.Por outro la<strong>do</strong>, diante das constatações cada vez mais crescentesde que existem características específicas distinguin<strong>do</strong> o trabalho dascrianças na agricultura familiar, evidencia<strong>do</strong> particularmente nas pesquisasque realizamos na região Oeste de Santa Catarina, caberia umaanálise mais porme<strong>no</strong>rizada nesse contexto em tor<strong>no</strong> da eficácia <strong>do</strong>sresulta<strong>do</strong>s alcança<strong>do</strong>s e as implicações decorrentes das iniciativas quevisam à erradicação <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>, desencadeadas através de açõese recursos governamentais (com participação da sociedade civil), comoé o caso <strong>do</strong> PETI, <strong>no</strong> intuito de se averiguar em que medida ocorre efetivamenteuma adequação entre a problemática <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> naagricultura de base familiar e os conceitos e estratégias mobiliza<strong>do</strong>s econduzi<strong>do</strong>s <strong>no</strong> âmbito desse programa ou mesmo em outros com objetivossimilares.Como aponta Carvalho (2004: 59), as ações <strong>do</strong> PETI focalizamprioritariamente as “piores formas” de ocupações precoces o que, por sisó, já delimita claramente um segmento <strong>do</strong> público <strong>infantil</strong> <strong>do</strong> <strong>campo</strong> euma perspectiva distinta daquilo que é verifica<strong>do</strong>, de forma recorrente,<strong>no</strong>s espaços ocupa<strong>do</strong>s pela agricultura familiar em Santa Catarina, sobretu<strong>do</strong><strong>no</strong> contexto de <strong>no</strong>ssas pesquisas. Consideran<strong>do</strong> a relevância e aemergência <strong>no</strong> tratamento analítico desta questão instigante e, ten<strong>do</strong> emvista que ela não estava prevista <strong>no</strong> escopo deste artigo, sugere-se umestu<strong>do</strong> à parte para a abordagem qualificada deste <strong>campo</strong> de pesquisaemergente <strong>no</strong>s territórios típicos da agricultura familiar, como é o caso
276 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>das regiões coloniais <strong>do</strong> Sul <strong>do</strong> Brasil.Outras abordagens e interpretações em tor<strong>no</strong> <strong>do</strong>s significa<strong>do</strong>s<strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> colocam em relevo as perspectivas de análise e asiniciativas das próprias crianças, a partir de formas coletivas de intervençãodestacan<strong>do</strong> o exercício da cidadania ativa na busca por direitosvincula<strong>do</strong>s à problemática <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>. Em nível de América Latina,cabe ressaltar o papel exerci<strong>do</strong> pelo Movimiento de A<strong>do</strong>lescentes yNiños Trabaja<strong>do</strong>res Hijos de Obreros Cristia<strong>no</strong>s (MANTHOC), que nasceuem Lima, <strong>no</strong> Peru, em 1976, o primeiro movimento de meni<strong>no</strong>s, meninase a<strong>do</strong>lescentes trabalha<strong>do</strong>res na América Latina. Atualmente, existeum amplo movimento nacional de crianças trabalha<strong>do</strong>ras organizadas<strong>no</strong> Peru, que agrupa mais de trinta e quatro organizações, envolven<strong>do</strong>em tor<strong>no</strong> de 15 mil integrantes desse público. Segun<strong>do</strong> Muñoz (2008),seus integrantes entendem a infância como sujeito para a mudança <strong>social</strong>e as crianças e a<strong>do</strong>lescentes como sujeitos econômicos e políticos comum papel a cumprir. Afirma que a corrente de pensamento abolicionista,frequentemente, não percebe a realidade <strong>do</strong> contexto de aguda pobreza eexclusão em que vive a maioria das crianças.Segun<strong>do</strong> o entendimento <strong>do</strong>s interlocutores desse movimento, aintervenção visan<strong>do</strong> à erradicação <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> sem medidas alternativaspode precarizar ainda mais a situação de pobreza das famílias.Suas lideranças defendem que o trabalho não pode ser concebi<strong>do</strong> comoum mal em si mesmo, deven<strong>do</strong> ser compreendidas as condições em queele se desenvolve. Reclamam proteção jurídica para que possam realizarsuas atividades laborais em condições dignas, embora esta visão nãodeixe de trazer polêmicas.Esses movimentos de NATs integram e são dirigi<strong>do</strong>s por criançase a<strong>do</strong>lescentes entre dez e dezoito a<strong>no</strong>s, que vivem em esta<strong>do</strong> de pobrezae trabalham principalmente na eco<strong>no</strong>mia informal urbana, estan<strong>do</strong> organiza<strong>do</strong>sem nível local, nacional e internacional. Suas ações na esferapública são diversas, estão dirigidas à promoção <strong>do</strong>s direitos da infânciae contra as condições de exploração <strong>do</strong> trabalho, a discriminação e a violaçãode seus direitos. Segun<strong>do</strong> Muñoz (2008), as ações <strong>do</strong> movimentorepresentam uma postura alternativa e incômoda para a realidade <strong>social</strong>,pois possuem a capacidade de provocar conflito na medida em que questionama visão e as <strong>no</strong>rmas politicamente corretas. Enfim, representa apostura de valoração crítica que resulta inconveniente para os gruposconserva<strong>do</strong>res e para os organismos internacionais.
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...277Para a autora, a visão majoritária <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> segue alicerçadaem concepções próprias da cultura ocidental, existin<strong>do</strong> uma grandeconfusão em tor<strong>no</strong> da diferenciação entre trabalho e exploração <strong>infantil</strong>.A atual visão hegemônica está representada pela OIT que, <strong>ao</strong> longo<strong>do</strong>s a<strong>no</strong>s, tem passa<strong>do</strong> de uma ação <strong>no</strong>rmativa (convênios internacionais<strong>do</strong> trabalho) a uma ação programática (Programa IPEC). Nesse organismo,tem pre<strong>do</strong>mina<strong>do</strong> a visão <strong>do</strong> trabalho exclusivamente como um<strong>problema</strong> <strong>social</strong> e da<strong>no</strong>so para as crianças. Por outro la<strong>do</strong>, a maioria <strong>do</strong>sestu<strong>do</strong>s têm se concentra<strong>do</strong> em destacar a função negativa <strong>do</strong> trabalho<strong>infantil</strong> para a reprodução e o desenvolvimento da sociedade, em que ascrianças são vistas unicamente como vítimas e <strong>objeto</strong> de proteção.Assim, compreender a diversidade e a complexidade <strong>do</strong>s significa<strong>do</strong>s<strong>do</strong> trabalho para as crianças exige que se contemplem as diversasdimensões que interagem nesse fenôme<strong>no</strong> <strong>social</strong>. Ao mesmo tempo emque se busca diag<strong>no</strong>sticar as condições em que se realiza o trabalho, éimportante ouvir das próprias crianças e de suas famílias as razões quejustificam esse trabalho. Embora, em grande parte <strong>do</strong>s casos, as explicaçõesrepousem nas razões econômicas, nem sempre o fenôme<strong>no</strong> se reduza isso. Em síntese, para uma maior compreensão da <strong>no</strong>ção de trabalho<strong>infantil</strong>, torna-se indispensável se conhecer as condições de vida, as relaçõesde parentesco, interconhecimento e de vizinhança, os processosde <strong>social</strong>ização em que interagem as crianças rurais e os contextos sociaisem que se inscreve a cultura <strong>do</strong> trabalho familiar.Considerações finaisAs ações que visam a eliminação das piores formas de trabalho <strong>infantil</strong>serão infrutíferas se não tocarem <strong>no</strong>s efeitos perversos <strong>do</strong> merca<strong>do</strong>de trabalho, sobretu<strong>do</strong> <strong>no</strong>s diversos elos que integram as cadeias produtivasvinculadas a determina<strong>do</strong>s setores <strong>do</strong> agronegócio, em que se reproduzemainda níveis inaceitáveis de exploração das condições de trabalho,com baixos salários, controle e dependência <strong>do</strong>s trabalha<strong>do</strong>res(as)<strong>ao</strong>s patrões, subjugan<strong>do</strong>, nas mais diversas formas, os membros das famíliasde agricultores, e afetan<strong>do</strong> diretamente as crianças, que, em muitoscasos, são incorporadas precocemente <strong>ao</strong> trabalho.Nesse senti<strong>do</strong>, se a solução <strong>do</strong> <strong>problema</strong> da exploração <strong>do</strong> trabalho<strong>infantil</strong> deve obrigatoriamente colocar as necessidades e as demandasdesse público em primeiro pla<strong>no</strong>, o conjunto de medidas não deve serestringir exclusivamente às crianças, pois elas integram grupos <strong>do</strong>més-
278 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>ticos que são cotidianamente prejudica<strong>do</strong>s e afeta<strong>do</strong>s pelos mecanismosexcludentes de merca<strong>do</strong>, por condições precárias de trabalho, renda esalário, pela migração de jovens, pelo aban<strong>do</strong><strong>no</strong> institucional, isolamento<strong>social</strong> e precariedade de acesso às políticas públicas.Diversas iniciativas e ações concretas orientadas à eliminação <strong>do</strong>trabalho <strong>infantil</strong> vêm sen<strong>do</strong> implementadas em nível de sociedade, Esta<strong>do</strong>,organizações internacionais, ONGs etc., fundamentadas <strong>no</strong> aparatolegal de proibição <strong>do</strong> trabalho de crianças, e <strong>no</strong> alicerce simbólico e valorativoconstruí<strong>do</strong> por instituições internacionais (OIT, ONU etc.), como apoio <strong>do</strong>s gover<strong>no</strong>s, que deslegitimam a sua prática <strong>social</strong>. Em decorrência,as avaliações de programas e projetos públicos ou priva<strong>do</strong>s vêmindican<strong>do</strong> a redução significativa das piores formas de trabalho <strong>infantil</strong>.Contu<strong>do</strong>, análises mais qualitativas indicam, também, uma tendência deestabilização <strong>no</strong>s índices <strong>do</strong>s resulta<strong>do</strong>s alcança<strong>do</strong>s, sobretu<strong>do</strong> para a realidadebrasileira, com indica<strong>do</strong>res ainda preocupantes desse fenôme<strong>no</strong><strong>social</strong>. Enfim, certo esgotamento das estratégias e medidas realizadaspara a solução desse <strong>problema</strong>, que se reveste de difícil solução, de grandecomplexidade e multidimensionalidade.Esta problemática torna-se ainda mais complexa quan<strong>do</strong> <strong>no</strong>s referimosàs peculiaridades <strong>do</strong> trabalho precoce <strong>no</strong> âmbito da agriculturafamiliar. Singularidades estas nem sempre contempladas e <strong>problema</strong>tizadassuficientemente por determina<strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s realiza<strong>do</strong>s por instituiçõesnacionais e internacionais ou mesmo nas intervenções de programasde organizações oficiais nesse contexto, como é o caso da PNAD,OIT, PETI. Muitas vezes, concebe-se o tema da exploração <strong>do</strong> trabalho<strong>infantil</strong> de forma homogênea e generalizante, equiparan<strong>do</strong>-se o trabalhode “ajuda” ou a contribuição das crianças na divisão <strong>social</strong> <strong>do</strong> trabalhoagrícola familiar (que, de maneira geral, insere-se em processos deaprendizagem, <strong>social</strong>ização e sucessão familiar) àqueles realiza<strong>do</strong>s pelopúblico <strong>infantil</strong> em sistemas produtivos agrícolas de base empresarial,que são executa<strong>do</strong>s sob forma de contratação (assalariamento ou outraforma de pagamento da mão de obra).No que se refere, especificamente, <strong>ao</strong>s contextos sociais e econômicos<strong>no</strong> <strong>campo</strong> brasileiro em que se verifica um processo estrutural deempobrecimento <strong>do</strong>s agrupamentos familiares, os programas de alívio àpobreza ou mesmo os que compõem a de<strong>no</strong>minada rede básica de proteção<strong>social</strong> deveriam ser articula<strong>do</strong>s a estratégias e medidas estruturantesorientadas para a superação da pobreza, da exclusão e das desigualda-
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...279des sociais. Para isso, torna-se fundamental a viabilização de políticasmultidimensionais, amplas, dura<strong>do</strong>uras e que considerem a necessidadede se superar também os mecanismos excludentes <strong>do</strong>s merca<strong>do</strong>s, bemcomo a concentração da propriedade da terra, a desigualdade de rendae de oportunidades, fatores que acabam afetan<strong>do</strong>, sobremaneira, a condição<strong>social</strong> das crianças rurais e suas famílias, com implicações na suainserção precoce <strong>no</strong> trabalho (assalaria<strong>do</strong> ou familiar), na reproduçãoda exploração <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> em determina<strong>do</strong>s setores produtivosagropecuários.Cabe salientar, também, a importância e a urgência de se implementarpolíticas governamentais orientadas para uma transformação emelhoria <strong>do</strong> ensi<strong>no</strong> público, fundamenta<strong>do</strong> <strong>no</strong>s princípios da Educação<strong>do</strong> Campo, que vem sen<strong>do</strong> proposto por movimentos sociais rurais, entidadesrepresentativas <strong>do</strong>s trabalha<strong>do</strong>res rurais e da agricultura familiar,além de intelectuais, pesquisa<strong>do</strong>res, <strong>do</strong>centes etc. Para isso, ressalta-sea relevância da participação da sociedade civil <strong>no</strong> desenvolvimento e <strong>no</strong>controle das políticas sociais implementadas <strong>no</strong>s territórios rurais.Com relação <strong>ao</strong> tema <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong> brasileiro,antes mesmo de se constituir como problemática sociológica, o trabalho<strong>infantil</strong> caracterizou-se por ser um <strong>problema</strong> <strong>social</strong> com visibilidade erepercussão pública. A <strong>no</strong>ção de “trabalho <strong>infantil</strong>” vem sen<strong>do</strong> muitasvezes abordada de forma a-problemática, isto é, como um conceito <strong>no</strong>rmativo,sem complexidade nem ambiguidade, mais precisamente, umaatividade ilegal das crianças, praticada clandestinamente e <strong>social</strong>mentecondenável. No entanto, esta concepção vem sen<strong>do</strong> questionada, deforma recorrente, por uma opinião pública comumente orientada para aaceitação da atividade econômica das crianças em <strong>no</strong>me da <strong>social</strong>ização,contra a “ociosidade”, e <strong>do</strong>s valores educativos <strong>do</strong> “trabalho”.Seja a visão não <strong>problema</strong>tizada <strong>do</strong> “trabalho <strong>infantil</strong>” como um“mal <strong>social</strong>”, seja a visão muitas vezes conserva<strong>do</strong>ra embutida nas representaçõesque enfatizam o caráter educativo <strong>do</strong> trabalho precoce nainfância, o que prevalece na <strong>no</strong>ção de “trabalho <strong>infantil</strong>” é uma concepçãonão sociológica deste fenôme<strong>no</strong> <strong>social</strong>. Enfim, a sociologização <strong>do</strong>conceito de trabalho <strong>infantil</strong> – ou seja, a compreensão <strong>do</strong>s significa<strong>do</strong>sdas diversas e heterogêneas formas de inserção laboral <strong>do</strong> público <strong>infantil</strong><strong>no</strong>s processos produtivos agrícolas, explicitan<strong>do</strong>-se as motivaçõessociais e culturais e os fatores estruturais que fundamentam o trabalhoprecoce <strong>no</strong> <strong>campo</strong>, constitui-se, assim, como uma tarefa inadiável, indis-
280 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>pensável e extremamente relevante.(Recebi<strong>do</strong> para publicação em dezembro de 2011)(Ressubmeti<strong>do</strong> em março e <strong>no</strong>vamente em abril de 2012)(Aprova<strong>do</strong> em maio de 2012)
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...281BibliografiaAguiar, Vilênia Venancio P.; Stropasolas, Valmir L. (2010), “As problemáticasde gênero e geração nas comunidades rurais de Santa Catarina”, inP. Scott; R. Cordeiro; M. Menezes. (orgs.), Gênero e geração em contextosrurais. Florianópolis: Editora Mulheres, Vol. 1, pp. 159-183.Berquó, Elza; Cavenhaghi, Suzana. (2004), Mapeamento sócio-econômicoe demográfico <strong>do</strong>s regimes de fecundidade <strong>no</strong> Brasil e sua variação entre1991 e 2000. Anais <strong>do</strong> Encontro Nacional de Estu<strong>do</strong>s Populacionais,Caxambu, MG, p. 14.Bourdieu, Pierre. (1989), O poder simbólico. Rio de Janeiro: Difel.Brandão, Carlos R. (1986), “A criança que cria: conhecer o seu mun<strong>do</strong>”, in, A educação como cultura. 2. ed. São Paulo: Brasiliense.Camara<strong>no</strong>, Ana Amélia; Abramovay, Ricar<strong>do</strong>. (1999), Êxo<strong>do</strong> rural, envelhecimentoe masculinização <strong>no</strong> Brasil: pa<strong>no</strong>rama <strong>do</strong>s últimos 50 a<strong>no</strong>s.Rio de Janeiro: IPEA, 28p. Em: . Consultada: 31 mar. 2012.Carvalho, Inaiá Maria M. (2004), Algumas lições <strong>do</strong> Programa deErradicação <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong> Infantil. São Paulo em Perspectiva, Vol. 18,No. 4, pp. 50-61.CEPAL. (1995), Desarollo rural sin jóvenes? Santiago <strong>do</strong> Chile: (Cepal.LC/R, 1599). mimeo.Chaya<strong>no</strong>v, Alexander. (1974), La organización de la unidad económicacampesina. Bue<strong>no</strong>s Aires: Ediciones Nueva Visión.Froehlich, José Marcos; Rauber, Cassiane da Costa; Carpes, Ricar<strong>do</strong>Howes; Toebe, Marcos. (2011), Êxo<strong>do</strong> seletivo, masculinização eenvelhecimento da população rural na região central <strong>do</strong> RS. SantaMaria: Ciência Rural, Vol. 41, No. 9, pp. 1674-1680.Gomes, Ana Maria R. (2008), Outras crianças, outras infâncias?, in M.Sarmento; M. C. S. de. Gouvea. (orgs.), Estu<strong>do</strong>s da infância: educaçãoe práticas sociais. Petrópolis: Editora Vozes, pp. 82-96.IBGE. (2006), Em: . Instituto Brasileiro de Geografiae Estatística. Consultada: 20 jun. 2011.James, Allison; Jenks, Chris; Prout, Alan. (1998), Theorizing childhood.Cambridge: Polity Press.
282 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>Juan, Salva<strong>do</strong>r. (1991), Sociologie des genres de vie. Paris: PUF, Coll.Le sociologue.Kassouf, Ana Lúcia. (2007), O que conhecemos sobre o trabalho <strong>infantil</strong>?Belo Horizonte: Nova Eco<strong>no</strong>mia, Vol. 17, No. 2, mai/ago.Marin, Joel Orlan<strong>do</strong> B. (2006), <strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong>: necessidade, valor eexclusão <strong>social</strong>. Brasília/Goiânia: Pla<strong>no</strong> Editora e Editora UFG._____. (2010), O agronegócio e o <strong>problema</strong> <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>. Revista deSociologia e Política, Curitiba, Vol. 18, No. 35.Martins, José de Souza (org.). (1993), O Massacre <strong>do</strong>s i<strong>no</strong>centes: a criançasem infância <strong>no</strong> Brasil. São Paulo: Hucitec.Mendras, Henri. (1984), La fin des paysans; suivi d’une réflexion sur la findes paysans vingt ans aprés. Paris: Actes Sud.Muñoz, Marta M. (2008), Los movimientos de niños y a<strong>do</strong>lescentestrabaja<strong>do</strong>res: expressión de nuevos paradigmas de infância. Peru, NATs,Revista Internacional, No. 16, a<strong>no</strong> VIII.Neves, Delma P. (1999), A perversão <strong>do</strong> trabalho <strong>infantil</strong>: lógicas sociais ealternativas de prevenção. Niterói: Intertexto._____. (2001), A Pobreza como lega<strong>do</strong>. Revista de História Regional,Ponta Grossa,Vol. 6, No. 2, pp. 149-173.Paulilo, Maria Ignez S. (2004), <strong>Trabalho</strong> familiar: uma categoria esquecidade análise, Estu<strong>do</strong>s feministas, Florianópolis, Vol. 12, No. 1, pp. 229-252.Quinteiro, Jucirema. (2003), A emergência de uma sociologia da infância<strong>no</strong> Brasil, Anais da vigésima sexta Reunião Anual da ANPED, Poçosde Caldas/MG.Qvortrup, Jens. (1991), Childhood as a <strong>social</strong> phe<strong>no</strong>me<strong>no</strong>n: an introductionto a series of national reports. Vienne: European Centre.Renk, Arlene A. (2000), Sociodicéia às avessas. Chapecó: Grifos, 438 p.Rios-Neto, Eduar<strong>do</strong> Luiz G. (2005), Questões emergentes na demografiabrasileira, Revista Brasileira de Estu<strong>do</strong>s de População – REBEP/EdiçãoEspecial, São Paulo, Vol. 22, No. 2, julho a dezembro.Sarmento, Manuel J.; Pinto, Manuel. (1997), As crianças e a infância: definin<strong>do</strong>conceitos, delimitan<strong>do</strong> o <strong>campo</strong>. As crianças, contextos e identidades.Braga, Portugal: Universidade <strong>do</strong> Minho. Centro de Estu<strong>do</strong>s daCriança, Ed. Bezerra.
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...283Sarmento, Manuel J. (2005), Gerações e alteridade: interrogações a partir dasociologia da infância. Educação & Sociedade - Sociologia da Infância:Pesquisas com crianças, Campinas, Vol. 26, No. 91, pp. 361-378.Sarmento, Manuel J. (2008), Sociologia da infância: correntes econfluências, in M. J. Sarmento; M. C. S. de Govea. (orgs.), Estu<strong>do</strong>s daInfância: educação e práticas sociais. Petrópolis/RJ: Editora Vozes.Sarmento, Manuel J. (2009), O <strong>Trabalho</strong> Infantil em Portugal – darealidade <strong>social</strong> <strong>ao</strong> objecto sociológico, in M. Lisboa. (coord.), InfânciaInterrompida. Caracterização das Actividades Desenvolvidas porCrianças e Jovens em Portugal. Lisboa: Colibri (13-32).Sarmento, Manuel J. (Coord.); Tomás, Catarina Almeida; Melro, Ana Luísa;Fernandes, Sônia Patrícia. (2005), Avaliação externa <strong>do</strong> Pla<strong>no</strong> paraEliminação da Exploração <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong> Infantil (PEETI) – DinâmicaInstitucional e Acção Sócio-Educativa. Braga. Universidade <strong>do</strong> Minho(policopia<strong>do</strong>).Schneider, Sérgio. (2005), O <strong>Trabalho</strong> Infantil <strong>no</strong> Ramo Agrícola Brasileiro:uma apreciação <strong>do</strong> estu<strong>do</strong> da OIT. Porto Alegre: Instituto de FormaçãoSindical Irmão Miguel, Fetag-RS, Série Documentos No. 01.Schueler, Alessandra F.; Delga<strong>do</strong>, Ana Cristina C.; Muller, Fernanda.(2005), Para além <strong>do</strong>s ofícios de crianças e alu<strong>no</strong>s: o caso <strong>do</strong> Brasil.São Paulo: Cader<strong>no</strong>s de Pesquisa.Silva, Marilda Checcuci G. (2001), Imigração italiana e vocações religiosas<strong>no</strong> Vale <strong>do</strong> Itajaí. Blumenau: Editora da FURB; Campinas: Editora daUNICAMP.Silva, Mauricio R. (2000), O assalto à infância <strong>no</strong> mun<strong>do</strong> amargo dacana-de-açúcar: onde está o lazer/lúdico? O gato comeu? Campinas:FE-Unicamp. Tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong>.Soares, Edla; Albuquerque, Mabel; Wanderley, Maria de Nazareth B.(2009), Educação <strong>do</strong> <strong>campo</strong>: a escola <strong>do</strong> <strong>campo</strong> e a cultura <strong>do</strong> trabalho<strong>no</strong> mun<strong>do</strong> da infância e da a<strong>do</strong>lescência em Pernambuco. Recife:Undime, Conselho Estadual de Educação e UFPE.Stropasolas, Valmir L. (2006), O mun<strong>do</strong> rural <strong>no</strong> horizonte <strong>do</strong>s jovens.Florianópolis: Editora da UFSC.Stropasolas, Valmir L. (2010), A condição <strong>social</strong> da infância nas comunidadesrurais. Florianópolis, Relatório de pesquisa <strong>do</strong> CNPq.
284 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>Veiga, José Eli da. (2002), Cidades Imaginárias: o Brasil é me<strong>no</strong>s urba<strong>no</strong><strong>do</strong> que se calcula. Campinas: Editora Autores Associa<strong>do</strong>s.Wanderley, Maria de Nazareth B. (2001), Urbanização e ruralidade:relações entre a pequena cidade e o mun<strong>do</strong> rural e estu<strong>do</strong> preliminarsobre os peque<strong>no</strong>s municípios em Pernambuco. Recife: UFPE.
<strong>Trabalho</strong> <strong>infantil</strong> <strong>no</strong> <strong>campo</strong>...285Notas1. A <strong>no</strong>ção de “trabalho <strong>infantil</strong>” que a<strong>do</strong>tamos neste artigo diz respeito às atividadeseconômicas, atividades de sobrevivência e/ou subsistência, que possuemou não finalidade de gerar lucros, remuneradas ou não, realizadas porcrianças ou a<strong>do</strong>lescentes com idade inferior a dezesseis a<strong>no</strong>s, com a ressalvada condição de aprendiz, independentemente da sua condição ocupacional, apartir <strong>do</strong>s quatorze a<strong>no</strong>s de idade.2. O art. 227 determina que são deveres da família, da sociedade e <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>:“Assegurar à criança e <strong>ao</strong> a<strong>do</strong>lescente, com absoluta prioridade, o direitoà vida, à saúde, à alimentação, à educação, <strong>ao</strong> lazer, à profissionalização,à cultura, à dignidade, <strong>ao</strong> respeito, à liberdade e à convivência familiar ecomunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,exploração, violência, crueldade e opressão.”3. As piores formas de trabalho <strong>infantil</strong> estão classificadas pela OIT em quatrocategorias: a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão,como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida e servidão, trabalhoforça<strong>do</strong> ou compulsório, inclusive recrutamento força<strong>do</strong> ou compulsóriode crianças para serem utilizadas em conflitos arma<strong>do</strong>s; b) utilização, procurae oferta de criança para fins de prostituição, de produção de materialpor<strong>no</strong>gráfico ou espetáculos por<strong>no</strong>gráficos; c) utilização, procura e oferta decrianças para atividades ilícitas, particularmente, para produção e tráfico dedrogas, conforme defini<strong>do</strong>s <strong>no</strong>s trata<strong>do</strong>s internacionais pertinentes; d) trabalhosque, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executa<strong>do</strong>s,são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança.4. O PETI é um programa <strong>do</strong> Gover<strong>no</strong> Federal implanta<strong>do</strong> na década de 1990que visa erradicar todas as formas de trabalho de crianças e a<strong>do</strong>lescentesme<strong>no</strong>res de dezesseis a<strong>no</strong>s e garantir que frequentem a escola e atividadessocioeducativas. Esse programa, geri<strong>do</strong> pelo Ministério <strong>do</strong> DesenvolvimentoSocial e Combate à Fome, é desenvolvi<strong>do</strong> em parceria com os diversossetores <strong>do</strong>s gover<strong>no</strong>s estaduais, municipais e da sociedade civil. O gover<strong>no</strong>vem trabalhan<strong>do</strong> para integrar o PETI <strong>ao</strong> Bolsa Família. Dessa forma, pretende-seque o PETI chegue a todas as crianças que trabalham. Além <strong>do</strong>sbenefícios financeiros, o programa oferece ainda: apoio às famílias beneficiadaspor meio de atividades de capacitação e geração de renda; incentivosà ampliação <strong>do</strong> universo de conhecimentos da criança e <strong>do</strong> a<strong>do</strong>lescente, porintermédio de atividades culturais, desportivas e de lazer, <strong>no</strong> perío<strong>do</strong> complementar<strong>ao</strong> <strong>do</strong> ensi<strong>no</strong> regular (Jornada Ampliada).
286 Revista Lati<strong>no</strong>-americana de Estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong> <strong>Trabalho</strong>ResumoNos contextos urba<strong>no</strong>s brasileiros, as crianças vêm adquirin<strong>do</strong>alguma importância <strong>no</strong>s estu<strong>do</strong>s, <strong>no</strong>s programas e nas intervenções deinstituições oficiais. No entanto, para os espaços sociais rurais ainda severifica a invisibilidade da infância. O artigo inscreve-se na inadiáveltarefa de se buscar a sociologização <strong>do</strong> conceito de trabalho <strong>infantil</strong>,procuran<strong>do</strong> enfrentar os desafios, superar as dicotomias e buscar compreenderos significa<strong>do</strong>s e as singularidades presentes nesse fenôme<strong>no</strong><strong>social</strong>. Discute as diversas interpretações em tor<strong>no</strong> <strong>do</strong> senti<strong>do</strong> <strong>do</strong> trabalho<strong>infantil</strong>, com suas especificidades <strong>no</strong>s contextos rurais, a partir daanálise das práticas e relações sociais em que se inscreve o trabalho dascrianças <strong>no</strong>s processos produtivos rurais, particularmente, a lógica <strong>campo</strong>nesae a inserção das crianças <strong>no</strong> trabalho agrícola familiar.Palavras-chave: Infância, trabalho <strong>infantil</strong>, ruralidade, agriculturafamiliar.AbstractIn the Brazilian urban context, children are subjects of studies,programs and institutional intervention by official institutions. However,<strong>social</strong> opportunities for children living in rural areas remain invisible.This article is part of the urgent task of building a sociologicalapproach to the concept of child labor, facing challenges, overcomingdichotomies and understanding meanings and singularities of this <strong>social</strong>phe<strong>no</strong>me<strong>no</strong>n. It discusses competing interpretations of the meaning ofchild labor and its specificities in rural contexts, based on the analysis of<strong>social</strong> practices and relationships related to child labor in rural productionprocesses, particularly the peasant rationale and the use of childrenin family-based agricultural systems.Keywords: Childhood, child labor, family-based agriculture.