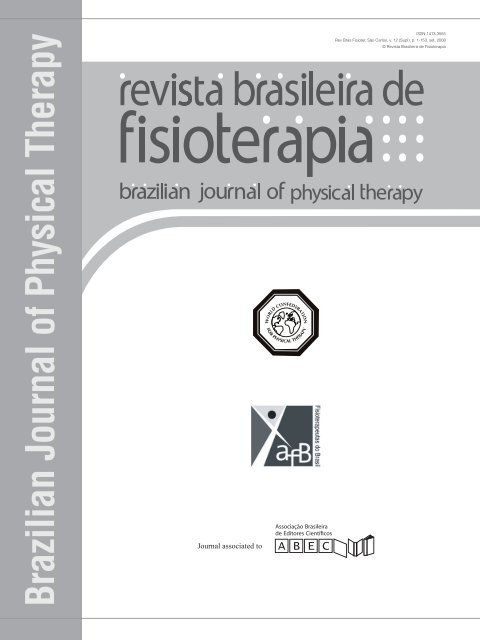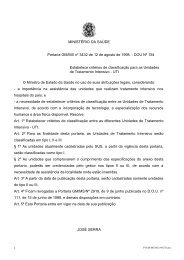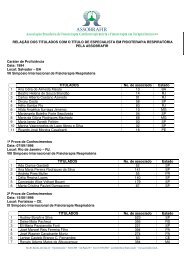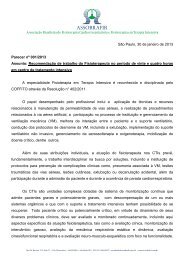fisioterapia em cardiologia - Assobrafir
fisioterapia em cardiologia - Assobrafir
fisioterapia em cardiologia - Assobrafir
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SumárioISSN 1413-3555Rev Bras Fisioter, São Carlos, v. 12 (Supl), p. 1-153, set. 2008© Revista Brasileira de FisioterapiaEDITORIALviEditorialAPRESENTAÇÕES ORAIS1 Fisioterapia cardiorrespiratória na saúde pública2 Fisioterapia <strong>em</strong> <strong>cardiologia</strong>3 Fisioterapia <strong>em</strong> neotatologia e pediatria6 Fisioterapia <strong>em</strong> terapia intensiva12 Fisioterapia respiratória ambulatorial e hospitalar25 Pesquisa experimental <strong>em</strong> fi sioterapia respiratóriaAPRESENTAÇÕES POSTERES28 Docência <strong>em</strong> fi sioterapia cardiorrespiratória29 Fisioterapia cardiorrespiratória na saúde pública39 Fisioterapia <strong>em</strong> <strong>cardiologia</strong>49 Fisioterapia <strong>em</strong> neonatologia e pediatria64 Fisioterapia <strong>em</strong> terapia intensiva78 Fisioterapia respiratória ambulatorial e hospitalar126 Fisioterapia respiratória no Home-Care127 Pesquisa experimental <strong>em</strong> fi sioterapia respiratóriaÍNDICE DE AUTORES137 Índice de autoresv
ISSN 1413-3555Rev Bras Fisioter, São Carlos, v. 12 (Supl), p. vi-vii, set. 2008Revista Brasileira de Fisioterapia ©EDITORIALPrezados colegas,Chegou a hora de celebrarmos o maior evento de nossa especialidade: o XIV Simpósio Internacional de FisioterapiaRespiratória (XIV SIFR). Este ano, o evento será realizado na cidade pernambucana de Recife, entre 10e 13 de set<strong>em</strong>bro, e é uma atividade promovida e realizada pela Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratóriae Fisioterapia <strong>em</strong> Terapia Intensiva (<strong>Assobrafir</strong>), <strong>em</strong> conjunto com a Unidade Regional de Pernambuco.O principal objetivo é reunir, científica e culturalmente, fisioterapeutas e acadêmicos atuantes nas áreas da FisioterapiaCardiorrespiratória e Fisioterapia <strong>em</strong> Terapia Intensiva. O evento também t<strong>em</strong> o objetivo de congregar osprofissionais que atuam na área clínica, ambulatorial, nos centros de saúde, indústrias, escolas e <strong>em</strong> todo local <strong>em</strong>que o fisioterapeuta aplica seus conhecimentos na área cardiorrespiratória e terapia intensiva.A <strong>Assobrafir</strong> foi idealizada por um grupo de profissionais durante os primeiros Simpósios Internacionais, realizadosna área da Fisioterapia Respiratória, nos anos de 1983, 1984 e 1986, nos quais houveram os encontrosde pesquisadores e profissionais interessados no desenvolvimento e fortalecimento da especialidade no Brasil.Destes encontros nasceu a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia <strong>em</strong> Terapia Intensiva(Sobrafir), mais especificamente durante o III Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória, que foi umevento realizado na cidade de Recife, Pernambuco, no ano de 1986.No ano de 2008 o Simpósio Internacional retorna a Recife, e novamente t<strong>em</strong>os a oportunidade de congregardiversos profissionais e acadêmicos para discutir e desenvolver novos avanços profissionais na áreacardiorrespiratória.Este é o primeiro evento realizado após a sociedade modificar sua nomenclatura, pois no ano de 2007, a entãodenominada Sobrafir, passou a se chamar <strong>Assobrafir</strong>. Atualmente, nossa Associação possui nove unidades regionais,que são <strong>em</strong>: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco,Bahia e Goiás.A <strong>Assobrafir</strong> busca, através de cursos, congressos, simpósios, atividades de ensino a distância (EAD), e d<strong>em</strong>aiseventos dessa natureza, promover o desenvolvimento técnico-científico dos fisioterapeutas, visando impl<strong>em</strong>entara qualidade dos procedimentos e rotinas operacionais no âmbito da Fisioterapia Cardiorrespiratória e da Fisioterapia<strong>em</strong> Terapia Intensiva, <strong>em</strong> todo o território nacional. Recent<strong>em</strong>ente, contamos com mais um veículo paradivulgar a produção científica de nossos profissionais e acadêmicos, que é a Revista Brasileira de FisioterapiaCardiorrespiratória e Fisioterapia <strong>em</strong> Terapia <strong>em</strong> Intensiva – uma conquista que há anos a associação buscavarealizar e agora se tornou realidade.A associação entende ainda que a reciclag<strong>em</strong> e o constante debate científico são formas de manter seus m<strong>em</strong>bros<strong>em</strong> sintonia com as atualidades existentes na área, capacitando, desta maneira, o profissional que atua diretamenteno atendimento dos pacientes com alterações do sist<strong>em</strong>a cardiorrespiratório.Neste XIV Simpósio Internacional foram selecionados 600 trabalhos científicos (116 serão apresentadosna forma oral e 484 no formato de poster), os quais foram divididos nas áreas da Docência <strong>em</strong> FisioterapiaviRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):vi-vii.
Cardiorrespiratória, Fisioterapia Cardiorrespiratória na Saúde Pública, Fisioterapia <strong>em</strong> Cardiologia, Fisioterapia <strong>em</strong> Neonatologiae Pediatria, Fisioterapia <strong>em</strong> Terapia Intensiva, Fisioterapia Respiratória Ambulatorial e Hospitalar, Fisioterapia Respiratória noHome-Care e Pesquisa Experimental <strong>em</strong> Fisioterapia Respiratória.Este crescimento na apresentação dos trabalhos científicos d<strong>em</strong>onstra que a especialidade está se firmando cada vez maiscomo um alicerce para a profissão e o crescimento científico será o norteador desta evolução. Destacamos também o apoio quetiv<strong>em</strong>os por parte da Revista Brasileira de Fisioterapia, pois, por meio deste veículo, a produção científica apresentada no eventoatingirá diversos profissionais e acadêmicos no âmbito nacional e internacional.Em nome da comissão organizadora, agradeço a todos que participaram da elaboração e da realização deste evento, destacando,principalmente, o trabalho desenvolvido pela comissão organizadora local, pela diretoria da <strong>Assobrafir</strong> e, especialmente,pela participação dos diversos colegas e acadêmicos dos mais distantes locais do território nacional, que inscreveram seus trabalhoscientíficos no evento. É por meio destas atividades que fortalecer<strong>em</strong>os cada vez mais nossa associação e nossa profissão.Desejo a todos um excelente Simpósio e, que além da qualidade científica dos trabalhos apresentados, também desfrut<strong>em</strong> dahospitalidade pernambucana.Um abraço a todos,Dr. Alexandre Simões DiasM<strong>em</strong>bro da Comissão Organizadora do XIV SIFRDiretor Científico Geral da <strong>Assobrafir</strong> (Gestão 2007-2009)Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):vi-vii.vii
viii
Apresentações OraisISSN 1413-3555Rev Bras Fisioter, São Carlos, v. 12 (Supl), p. 1-27, set. 2008Revista Brasileira de Fisioterapia ©FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA NA SAÚDE PÚBLICA001 Grau de dependência à nicotina <strong>em</strong> detentosda agência prisional do municípiode Rio Verde-GO $Email: thaisfi sio@hotmail.comThais Olimpo Fagundes, Renato Canevari Dutra da Silva, Fernanda Silvana Pereira,Adriana Vieira Macedo, Cristiane Carneiro Teixeira, Marcy Mônica Fernandes Magalhães,Maria de Fátima Rodrigues da SilvaIntrodução: O tabagismo é um grande probl<strong>em</strong>a de saúde pública e a luta antitabágicav<strong>em</strong> se alastrando cada vez mais com o decorrer do t<strong>em</strong>po, tornando necessário odesenvolvimento de estudos e publicações com abordag<strong>em</strong> multidisciplinar, envolvendoa dependência física e psíquica, para efetividade de mudanças compl<strong>em</strong>entares. A fim deestimar o grau de dependência nicotínica é utilizado mundialmente como ferramenta deavaliação, o Questionário de Tolerância de Fagerström <strong>em</strong> substituição a outros testes decustos mais elevados que consom<strong>em</strong> mais t<strong>em</strong>po ou são invasivos, que t<strong>em</strong> por objetivoa identificação e a medida da dependência nicotínica com finalidade de aproveitar oresultado como um el<strong>em</strong>ento de ajuda na decisão do tratamento do tabagismo. No Brasil,são inúmeros os estudos que avaliam o tabagismo na população e suas conseqüências,mas raros são os que concentram suas análises no hábito de fumar <strong>em</strong> detentos. Objetivos:Avaliar o grau de dependência à nicotina dos detentos da agência prisional do município deRio Verde, GO, b<strong>em</strong> como verificar se existe relação entre o grau de dependência à nicotinae os anos de detenção. Materiais e métodos: Foi aplicado o Questionário de Tolerânciade Fagerström <strong>em</strong> detentos, fumantes regulares há mais de um ano. Foram preenchidos41 questionários válidos, sendo todos do sexo masculino, com média de idade de 27,97anos, sendo idade mínima de 19 e máxima de 60 anos. Conforme a pontuação obtida como questionário, foi classificada a dependência nicotínica, possibilitando verificar a relaçãoentre o grau de dependência e os anos de detenção. Análise estatística: Os dados obtidosforam apresentados por estatística descritiva, utilizou-se o teste t Student, o qual verificoua relação entre o grau de dependência à nicotina e os anos de detenção, com nível designificância inferior a 5%. Resultados: O Questionário Tolerância de Fagerström mostrouser de aplicação simples e rápida, permitindo identificar o grau de dependência à nicotina,apresentando um percentual de 51,6% grau elevado, 36,6% grau muito elevado, 7,3%grau baixo, 2,4% grau médio e muito baixo; existindo uma correlação estatisticamentesignificativa entre o grau de dependência à nicotina e os anos de detenção. Conclusões:Houve um alto grau de dependência à nicotina nos detentos da agência prisional domunicípio de Rio Verde, GO, sendo que quanto maior o t<strong>em</strong>po de detenção maior o graude dependência à nicotina.002 Regression equations of six-minute walking testin brazilian healthy children and adolescents $Email: adrianco@bol.com.brAdriana Costa-Oliveira, Marco Antônio Duarte, Maria da Glória Rodrigues-MachadoIntroduction: The six minute walk test (6MWT) is used to evaluate the physical function inclinical practice and research. The reference equation used to predict the walked distancehas been suggested for healthy children and adults. However, regression equations havenot yet to be established for healthy brazilians. Objectives: 1) To establish a referenceequation of the 6MWT to evaluate functional status of children and adolescents and 2)to estimate the physiological cost index during the 6MWT. Materials and methods: Onehundred two healthy children and adolescents were studied (41 boys) between the agesof seven and 17 years that are involved in physical activities proposed by the school and/or practiced less than twice a week, out of the school. Two 6MWT were conducted, withan interval of 15 minutes between tests. The farthest distance walked was consideredfor that study. Intervening variables considered in the observational study the were:gender (G), age, weight, height, BMI (body mass index), body surface area, length of legs,thigh circumference, metabolism, thin mass, fat mass, peak flow, maximal inspiratoryand expiratory pressures and ratio of the index finger/ring finger of the right hand. Thephysiological cost index was estimated from the relation between variation in the initialand final HR and average speed achieved on the 6MWT [(HRf-HRi)/average speed,bpm/m/min]. The results were analyzed by a linear regression model to determine thecorrelates with a six minute walk distance (6MWD). The factors that were significantlyindependently associated enter into a model using a multivariable analysis. Results: Inthe multivariable analysis the significant intervening variables were: age (months), weigh,height, body surface area, length of legs, thigh circumference, metabolism and peak flow.The multivariable analysis showed the explanatory of 24% by the reference equation:6MWDmeter = 640,7+ (0,86 x amonths) - (5,41 x BMI) - (20,07 x G*). *To male G=0; tof<strong>em</strong>ale G=1. The physiological cost indexes were 0.56± and 0.52± bpm/m in the first andsecond test, respectively. Conclusions: This is the first study that established a referenceequation to predict the walked distance in the 6MWT to healthy children and adolescents,aged seven to17 years. The intervening variables age, BMI and gender better explained thewalked distance with R2 of 24%.003 Comparison of maximal respiratory pressureand predictive values in 20-89 yearshealthy individuals $Email: paulapld@ig.com.brAna Paula Lima de Deus, Rodrigo Polaquini Simões, Carlos Alberto Ferreira,Marco Antonio Auad, Jadiane Dionísio, Marisa Mazzonetto, Luciana Malosá Sampaio,Audrey Borghi-SilvaIntroduction: Respiratory muscle strength (RMS) have been related as important indexof evaluation of fitness, morbidity and mortality in different populations. In this context,some studies have showed predicted values of normality to respiratory muscle strengthin many populations, because of great clinical importance. However, in Brazil, because oftheir cultural, ethnic and environmental diversity, we believe there is a need to evaluatedspecific population in São Paulo State. Objectives: To compare the values obtained withmaximal respiratory pressure (MRP) predicted values and correlate to age, weight, heightand body mass index (BMI) in healthy sedentary nonsmoking subjects of both sexes.Materials and methods: Participants were 70 males (M) (54.82±20.52 years) and 70f<strong>em</strong>ales (F) (54.74±20.83 years), with 10M/10F in each age group. MRP was obtained byan aneroid manovacuometer (±300cmH20). Maximal inspiratory pressure (MIP) valueswere obtained from residual volume and maximal expiratory pressure (MEP) values wereobtained from the total pulmonary capacity. Statistical analysis: Student t-test was appliedto verify differences between the values obtained with the predicted for all subgroups.For comparison of RMS values between males and f<strong>em</strong>ales in the same age group, theStudent t-test for independent samples was used. ANOVA with post-hoc of Tukey-Kramerwas used to determine differences among groups. Analysis of the correlation of maximalrespiratory pressures to age, weight, and height of the individuals studied was done usingthe Pearson Correlation. Significant was accepted when p
2(1,60±0,06m), IMC (27,41±5,64Kg/m2), circunferência abdominal (89,13±13,50cm), PAS122x72mmHg, no SF-36 observamos os domínios capacidade funcional (83,68±18,81),limitação funcional (76,75±27,89), dor (68,85±22,22), estado geral de saúde (76,78±20,82),vitalidade (72,10±16,68), aspectos sociais (80,43±21,56), aspectos <strong>em</strong>ocionais (79,52±32,58)e saúde mental (74,31±16,38).Observamos correlação entre gênero e o domínio capacidadefuncional (r=- 0,331; p=0,012). Conclusões: Com base nesses resultados, considera-seque os níveis pressóricos da população estudada encontram-se dentro dos parâmetrosda normalidade, apresentando apenas alteração entre o gênero e o domínio capacidadefuncional na qualidade de vida, mostrando a importância da <strong>fisioterapia</strong> nas campanhasde detecção, prevenção, orientação e detecção da HAS na saúde da população.005 Infl uência da idade e estado nutricional sobrea atividade física habitual $Email: dayse.fi sio@yahoo.com.brDayse Costa Urtiga, Eveline de Almeida Silva, Marcelle Gouveia de Mesquita,Zênia Trindade de AraújoIntrodução: A atividade física t<strong>em</strong> sido considerada uma forma de preservar e melhorar asaúde, sendo reconhecida por seus efeitos positivos, promovendo melhoria do b<strong>em</strong> estar,redução da morbidade e mortalidade, sendo importante avaliar e conhecer a atividadefísica habitual (AFH) e seu benefício à saúde. Os questionários são os meios mais práticose utilizados para aferir este nível de atividade <strong>em</strong> uma população. Objetivos: Identificaro nível de atividade física habitual <strong>em</strong> função da idade e estado nutricional. Materiais <strong>em</strong>étodos: Trata-se de uma pesquisa observacional descritiva, com amostra de 55 sujeitos,sendo analisados idade, sexo, peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e classificaçãonutricional. Utilizamos o questionário de Baecke (QAFH), validado no Brasil (2003), paraavaliar o nível de atividade física habitual, com aplicação de entrevista referente aos 12meses anterior e expressa <strong>em</strong> escores de escala numeral contínua incluindo as atividadesrelacionadas aos exercícios físicos no lazer e as atividades físicas de lazer e locomoção.Análise estatística: As análises descritiva e inferencial foram realizadas por meio doprograma SPSS 15.0. Aplicamos o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (K-S), eo coeficiente de Correlação Pearson, ANOVA e pos-hoc Tukey, atribuindo um nível designificância de 5%. Resultados: Dos indivíduos estudados 32,7% eram do sexo masculinoe 67,3% f<strong>em</strong>inino, com idade (41,29±17,82) anos; peso (65,39±14,24Kg); altura (1,56±0,10metros); IMC (26,47±5,56Kg/m2); <strong>em</strong> relação à classificação nutricional 34,5% eutrófico,34,5% sobrepeso, 27,3% obesidade e 3,6% subnutrição; a média do escore total da AFH(5,15 ± 1,69). Em relação à idade houve diferença entre os indivíduos eutróficos e obesos(p=0,007), subnutridos e obesos (p=0,043). No tocante ao QAFH encontramos diferençaentre o grupo de sobrepeso e a obesidade (p=0,001). Não encontramos associação entreas variáveis estudadas. Conclusões: Este estudo sugere que o estado nutricional e a idadeinterfer<strong>em</strong> no nível de atividade física habitual dos indivíduos, sendo necessárias açõesde saúde que promovam o incentivo a atividade física e orientações nutricionais paramelhoria geral da qualidade de vida da população.FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA006 Eletroestimulação aumenta a concentraçãode GLUT-4 <strong>em</strong> ratos submetidos a infartodo miocárdio $Email: pdallago@pq.cnpq.brElisa Brosina de Leon, Andressa Bortoluzzi, Ananda Rucatti, Ramiro Barcos Nunes,Ubirajara Oliveira, Ana Barbara Alves, Ubiratan F. Machado, Beatriz Schaan, Pedro Dall’AgoIntrodução: A intolerância ao exercício físico é considerada um marcador clássicoda insuficiência cardíaca (IC). A limitação funcional nesta situação está fort<strong>em</strong>enterelacionada a alterações musculares periféricas após o infarto do miocárdio. A escolhade uma modalidade de exercício para esses pacientes deve considerar a gravidade dadoença, a tolerância ao exercício e a motivação <strong>em</strong> praticá-lo. A estimulação elétrica dosmúsculos esqueléticos apresenta-se como uma alternativa de treinamento, pois é capazde promover adaptações musculares que irão beneficiar a função muscular. Objetivos:Avaliar a concentração de GLUT-4 no músculo tibial anterior (TA) de ratos infartadosapós a aplicação de um protocolo de estimulação elétrica. Materiais e métodos: Foramutilizados ratos Wistar machos (230-280g) divididos <strong>em</strong> quatro grupos: controle (C, n=6);controle submetido à estimulação elétrica (C+EE, n=6); infarto do miocárdio (IM, n=6);infarto do miocárdio submetido à estimulação elétrica (IM+EE, n=6). Para a indução doinfarto do miocárdio foi utilizado o modelo de ligadura da artéria coronária esquerda. Osgrupos controles foram submetidos aos mesmos procedimentos, contudo s<strong>em</strong> a ligaçãoda artéria coronária. Após três s<strong>em</strong>anas, os animais foram submetidos ao procedimentode implantação de eletrodos adjacentes ao nervo fibular da pata esquerda. Os animais dosgrupos C+EE e IM+EE foram estimulados (30Hz) durante 20 dias por 30 minutos ao dia. Aanálise da concentração de GLUT4 foi realizada por meio da técnica de Western Blotting.Análise estatística: Para análise dos resultados foi utilizada ANOVA de duas vias compost-hoc Student-Neuwman-Keulls. Resultados: A concentração de GLUT-4 no músculoTA da pata esquerda no grupo IM foi significativamente menor quando comparada aogrupo C+EE (5,895±2,198 versus 11,090±3,011UA/g de tecido, p=0,02). Após o períodode estimulação, no grupo IAM+ES, a concentração de GLUT-4 na pata esquerda, nãoRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):1-27.mostrou diferença significativa quando comparada ao grupo controle, d<strong>em</strong>onstrando arecuperação da concentração de GLUT-4 (7,819±2,967 versus 8,314±2,156UA/g de tecido).Quando comparamos a pata direita não estimulada com a pata esquerda estimulada,no grupo controle, a pata estimulada apresentou valores significativamente maiores(12,750±5,028 versus 10,420±4,207; p=0,03). Conclusões: Os resultados do presentetrabalho d<strong>em</strong>onstram o efeito benéfico da aplicação do protocolo de estimulação elétricano aumento da expressão de GLUT-4 no músculo periférico de ratos infartados. Aeletroestimulação da musculatura periférica promove melhora do transporte de glicosepela m<strong>em</strong>brana celular, amenizando uma das complicações metabólicas associadas à IC.007 Eletroestimulação aumenta a densidade vascularde ratos submetidos a infarto do miocárdio $Email: pdallago@pq.cnpq.brElisa B. de Leon, Andressa Bortoluzzi, Ananda Rucatti, Ramiro B. Nunes, Lisiane Saur,Mariana Rodrigues, Léder L. Xavier, Pedro Dall’AgoIntrodução: Diferentes estratégias têm sido utilizadas para atenuar a intolerância aoexercício, diminuição da capilarização e da perfusão tecidual periférica e perda de massamuscular esquelética na insuficiência cardíaca (IC), entre estas se destaca a estimulaçãoelétrica, que é capaz de treinar pacientes não aptos à realização de um programa dereabilitação convencional. Objetivos: Avaliar os efeitos da estimulação elétrica sobre aárea da secção transversa do músculo (ASTM), área da secção transversa da fibra muscular(ASTF) e a densidade de vasos (número de vasos/mm2) no músculo tibial anterior (TA)de ratos com IC. Materiais e métodos: Foram utilizados ratos Wistar machos (230-280g)divididos <strong>em</strong> quatro grupos: controle (C, n=11); controle submetido à estimulação elétrica(C+EE, n=10); infarto do miocárdio (IM, n=11); infarto do miocárdio submetido à estimulaçãoelétrica (IM+EE, n=10). Para a indução do infarto do miocárdio foi utilizado o modelo deligadura da artéria coronária esquerda. Após três s<strong>em</strong>anas, os animais foram submetidos aoprocedimento de implantação de eletrodos na pata esquerda posicionados nas proximidadesdo nervo fibular. Os animais dos grupos C+EE e IM+EE foram estimulados durante 20dias ( freqüência de 30Hz) durante 30 minutos. Para análise morfométrica muscular, omúsculo tibial anterior esquerdo de cada animal foi r<strong>em</strong>ovido, <strong>em</strong>blocado <strong>em</strong> parafina,seccionado <strong>em</strong> micrótomo e corado com h<strong>em</strong>atoxilina e eosina. Análise estatística: Umavez que não é possível se estimar de forma precisa o coeficiente de encolhimento geradopelo processamento tecidual, os dados são expressos <strong>em</strong> porcentag<strong>em</strong> do tibial anteriordireito (controle= 00%), quando comparados lados esquerdo e direito do mesmo animal.A análise comparativa entre o músculo tibial anterior esquerdo e direito foi realizada porum teste t pareado. Resultados: A ASTM apresentou valores significativamente menoresna pata esquerda quando comparada a pata direita nos animais não estimulados (C=34%;p=0,006 e IM=20%; p=0,045). Essa diferença não foi observada nos animais estimulados.Analisando a ASTF, observou-se o mesmo padrão de resultados (C=29%; p= 0,01; IM=18%;p=0,04). A densidade vascular aumentou no tibial anterior esquerdo dos animais S+ESquando comparado ao lado direito (p
de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis com post-hoc de Dunn, com nível de significância <strong>em</strong>5%. Resultados: Pacientes com ICC apresentaram menores valores dos índices RMSSDe SDNN que o grupo controle. Durante a caminhada foi observado aumento da BFun eBF/AF e redução AF somente no grupo controle, b<strong>em</strong> como um retorno dessas variáveisna recuperação (p
versus 21,01±4,4g, p
10,3 (7,3-14,3), p=0,28. Curva ROC: área 0,36, sensibilidade 63% e especificidade 20% para oponto de corte da RCF <strong>em</strong> 6 como fator de risco para FE. Conclusões: Neste estudo pilotoobservou-se que o ponto de corte da RCF <strong>em</strong> 6 apresentou-se com moderada sensibilidade ebaixa especificidade para de risco para a FE. Entretanto, este resultado pode estar associadoao pequeno número e a heterogeneidade da amostra, sendo necessária a avaliação desteíndice <strong>em</strong> outros estudos.017 Estudo comparativo da relação entre fl uxoe pressão expiratória fi nal positiva <strong>em</strong> trêssist<strong>em</strong>as de geração de pressão positivacontínua nas vias aérea $Email: fabianneassis@gmail.comFabianne Maisa de Novaes Assis, Leopoldino Gomes dos Santos, Arlan Lins de Araújo,Ana Lúcia de Gusmão FreireIntrodução: Pod<strong>em</strong>os inferir na existência de três sist<strong>em</strong>as de geração de ContinuosPositive Airway Pressure (CPAP) nasal: um fornecido inteiramente pelo ventilador mecânicoprogramado para a forma CPAP de ventilação mecânica (CPAP do Inter 3®), outro artesanalque utiliza o fluxo fornecido por fluxômetro de parede e PEEP por selo d’água (CPAPselo d’água) e outro que utilizaria o fluxo fornecido pelo ventilador mecânico e PEEP porselo d’água (CPAP Inter 3® versus selo d’água). Apesar dos três sist<strong>em</strong>as basear<strong>em</strong>-se nasmesmas condições mecânicas, pod<strong>em</strong> existir diferenças nas características funcionaise comportamentais dos equipamentos com valores idênticos de fluxo e PEEP. Objetivos:Estudar as variações de PEEP nos três sist<strong>em</strong>as de geração de CPAP propostos. Materiaise métodos: Foram desenvolvidos protótipos dos três sist<strong>em</strong>as de geração do CPAP nasalpropostos que simulass<strong>em</strong> condições s<strong>em</strong>elhantes àquelas encontradas no recém-nascido.Para comparação dos sist<strong>em</strong>as foram utilizados fluxos de 5, 6 e 7L/min combinados comPEEP de 3, 4 e 5cmH2O e realizados registros contínuos do comportamento gráfico da pressãono circuito do CPAP com análise <strong>em</strong> t<strong>em</strong>po real dos valores das pressões média, mínima <strong>em</strong>áxima geradas pelos sist<strong>em</strong>as. Foram obtidos dez registros de cada combinação PEEP efluxo <strong>em</strong> cada tipo de CPAP proposto. Análise estatística: O tratamento estatístico utilizouo teste de Kruskal-Wallis e o teste de Dunnet`s para análise de variância. Resultados: NoCPAP Inter 3® as pressões permaneceram estáveis quando os fluxos variaram, mantendo-sepróxima aos valores ajustados. No CPAP selo d’água as pressões sofreram grandes variaçõese estas foram proporcionais às elevações nos fluxos, produzindo PEEP s<strong>em</strong>pre acima dosvalores previamente ajustados. O mesmo aconteceu com o CPAP Inter 3® versus selo d’água,<strong>em</strong> que as pressões variaram <strong>em</strong> menores proporções. Conclusões: Os resultados mostraramque os três sist<strong>em</strong>as comportam-se de maneiras diferentes <strong>em</strong> condições idênticas de fluxoe PEEP. A CPAP do Inter 3® comportou-se de forma mais estável e linear que o CPAP <strong>em</strong> selod’água e o CPAP do Inter 3® versus selo d’água, os quais apresentaram grandes variações naspressões, sendo que o último <strong>em</strong> menores proporções.018 Comparação dos dispositivos para a realizaçãode CPAP <strong>em</strong> recém-nascidos pré-termo $Email: carla.nicolau@icr.usp.brJuliana Della Croce Pigo, Edi Toma, Eliane Regina Coelho Berti, Patrícia Ponce de Camargo,Carla Marques NicolauIntrodução: O CPAP nasal é amplamente utilizado <strong>em</strong> unidade neonatal, porém sãoescassos os estudos que avaliam e comparam os diferentes tipos de prongs disponíveiscomercialmente. Objetivos: Avaliar as complicações tópicas das prongs nasais enasofaríngeas <strong>em</strong> recém-nascidos pré-termo (RNPT) que necessit<strong>em</strong> de assistênciaventilatória por meio de Continuos Positive Airway Pressure (CPAP) nasal. Materiais <strong>em</strong>étodos: Estudo prospectivo randomizado, realizado entre nov<strong>em</strong>bro de 2005 e junhode 2007 sendo os RNPT divididos <strong>em</strong> quatro grupos: grupo A composto por RN queutilizaram a prong nasal Argyle, grupo B composto por RN que utilizaram a prong nasalInca, grupo C composto por RN que utilizaram a prong nasal Hudson e grupo D compostopor RN que utilizaram a prong nasofaríngea Vygon. As prongs foram fixadas seguindo asrecomendações dos fabricantes. Para a avaliação das complicações tópicas, verificou-sea incidência de hiper<strong>em</strong>ia, sangramento e necrose nasais e calculou-se o t<strong>em</strong>po médiopara o aparecimento das complicações. Análise estatística: Para as comparações entreas médias foi realizado o teste t-Student com p
6país. Objetivos: Caracterizar a ocorrência de asma e seus fatores de risco <strong>em</strong> escolaresde 5ª a 8ª séries <strong>em</strong> uma escola pública do município de Barueri no estado de SãoPaulo. Materiais e métodos: Estudo transversal descritivo com fontes de informaçõesindiretas. Após consentimento livre e esclarecido, foi aplicado um questionário a todosos estudantes. Foram excluídos os questionários com falhas nas informações e realizadaa análise descritiva com aplicação dos testes t Student e qui-quadrado de Pearson.Resultados: Foram aplicados 816 questionários, 96 foram excluídos, restando 716questionários para nossa amostra. A ocorrência de asma foi de 16% (116/716). A médiade idade dos asmáticos foi menor 12,4±1,6 versus 12,7±1,4 anos (p=0,032). Os fatoresque foram relacionados com asma foram: busca de pronto atendimento no último ano,número de internações por distúrbios respiratórios, presença de sibilos no passado,crises no último ano, prejuízo do sono, prejuízo da fala, diagnóstico médico de asma,sibilância após exercício, tosse seca noturna, período do ano, exercícios, alérgenos,asma na família, todos com valor de p
8Marcos David Parada Godoy, Ivo Roberto Lobo de Soeiro, Arthur Evangelista da Silva Neto,Roberta Souza de Mello Azeredo, Vitor Savino, Leonardo Cordeiro de SouzaIntrodução: Nos últimos anos o número de pacientes com hipertensão intracraniana(HIC), admitidos nas unidades de terapia instensiva (UTI) t<strong>em</strong> crescido significativamente.Fato este que d<strong>em</strong>anda da parte dos fisioterapeutas, maior conhecimento fisiopatológico.As correlações entre as repercussões pressóricas cerebrais e o aumento da PositiveEnd Expiratory Pressure (PEEP), necessitam de maior entendimento, porquanto, nãoestão muito b<strong>em</strong> definidas na literatura científica mundial. Objetivos: O objetivo desteestudo foi descrever as repercussões pressóricas cerebrais e sistêmicas e sua correlaçãocom o aumento da PEEP, observada por meio das medidas da pressão intracraniana(PIC), pressão arterial média (PAM), pressão de perfusão cerebral (PPC), pressão médiaintratorácica (PIT) e pressão intra-abdominal (PIA), <strong>em</strong> pacientes com hipertensãointracraniana <strong>em</strong> ventilação mecânica. Materiais e métodos: Foram admitidos cincopacientes do sexo f<strong>em</strong>inino, com idade média de 63,8 (±3,11) anos e seis pacientes, dosexo masculino, com idade media de 72,3 (±6,47) anos e com t<strong>em</strong>po médio de ventilaçãomecânica de 2,27 (±0,46) dias. Foram selecionados os pacientes com escala de comade Glasgow 0,05). Os resultadosforam considerados significativos quando p
Os dados foram analisados descritivamente <strong>em</strong> termos de freqüência, proporções deobservações, média e desvio-padrão. Para comparação das variáveis foram utilizados ostestes qui-quadrado de Pearson e teste exato de Fisher, com significância estatística parap≤0,05. Resultados: Em 85% das respostas, a AET é realizada s<strong>em</strong> um intervalo de t<strong>em</strong>podefinido, conforme a avaliação clínica do paciente. A duração e o número de inserções dasonda de aspiração depend<strong>em</strong> da quantidade de secreção (51,4% e 83%, respectivamente).O aspecto da secreção e tamanho da via aérea artificial de forma associada foramconsiderados critérios para seleção da sonda (39,6%). A instilação de cloreto de sódio a0,9% (84,2%) <strong>em</strong> quantidade inferior a 5mL (50,4%) é realizada dependendo do aspectoda secreção (79,1%). O teste do vácuo pré-aspiração é executado conforme 66% dosquestionários, com conhecimento sobre a pressão recomendada para a AET <strong>em</strong> adultos(81%), no entanto apenas 5,4% descreveram o valor correto. Foram obtidos p
10respectivamente. As variáveis intragrupo foram analisadas através do teste t-Studentpareado e para as variáveis intergrupo foi utilizado o teste t-Student para amostrasindependentes. Os resultados foram expressos como média e desvio padrão, utilizandoseo software estatístico SPSS 15.0, considerando-se o intervalo de confiança 95%.Resultados: Foram observados aumentos na relação PaO2/FiO2 de 18% (p=0,00) no grupoMSI e de 21% (p=0,00) no grupo MSE que se manteve até duas horas. A Cst aumentou 25%(p=0,00) no grupo MSI, mantendo a melhora por até 30 minutos e 26% (p= 0,00) no grupoMSE. Houve queda de 17% (p=0,01) no G(A-a)O2 somente no grupo MSI. Não ocorreualteração h<strong>em</strong>odinâmica significativa <strong>em</strong> ambos os grupos. Conclusões: Tanto a MSIquanto a MSE geram incr<strong>em</strong>ento PaO2/FiO2 e na Cst dos pacientes, como também nãoacarretaram prejuízo h<strong>em</strong>odinâmico. Porém, percebeu-se manutenção da melhora da Cstpor mais t<strong>em</strong>po e queda do G(A-a)O2 somente no grupo MSI, podendo sugerir que essamanobra seja capaz de gerar benefícios por um t<strong>em</strong>po mais prolongado.039 Efeitos da aplicação do dispositivo Shakersobre as variáveis cardiopulmonaresde pacientes sob AVM $Email: pgoncalves.ft@gmail.comMarco Aurélio de Valois Júnior, Eduardo Ériko Tenório de França, Flávio Maciel Dias de Andrade,Cláudio Gonçalves Albuquerque, Felipe José Mucarbel Soares, Patrícia Rodrigues Araújo Neves,Ricardo César Espinhara Tenório, Tiago Pacheco de Moura, Vitória Maria de LimaIntrodução: Os dispositivos geradores de oscilação de alta freqüência (OAF) são utilizadosna terapia de higiene brônquica (THB), objetivando a melhora do clearance mucociliar,sendo alvo de diversos estudos, s<strong>em</strong> definição quanto ao seu papel <strong>em</strong> pacientes sobassistência ventilatória mecânica (AVM). Objetivos: Analisar os efeitos da OAF como dispositivo Shaker® sobre os parâmetros cardiopulmonares de pacientes sob AVM.Materiais e métodos: Participaram do estudo 16 pacientes divididos <strong>em</strong> dois grupos:grupo controle (GC) (n=9), os quais recebiam apenas nebulização (NBZ) por dez minutos,seguida de aspiração endotraqueal aberta e grupo intervenção (GI) (n=7), onde alémda NBZ os pacientes faziam uso do Shaker® acoplado a válvula exalatória do ventilador,seguido de aspiração endotraqueal aberta. As variáveis cardiopulmonares foram avaliadasantes de iniciar o estudo, cinco minutos após o início do estudo, ao término da manobra,imediatamente após a aspiração, 10, 20 e 30 minutos após a aspiração. Análise estatística:Foi utilizado o teste t-Student para amostras pareadas na análise intragrupos das variáveisnos diversos momentos estudados e o teste t-Student para amostras independentes naanálise intergrupos. O valor de p
Introdução: A hiperinsuflação manual (HM) é uma técnica que simula a tosse, comumente usadapor fisioterapeutas <strong>em</strong> pacientes sob ventilação mecânica e como benefícios apresenta a melhorada complacência pulmonar e torácica, rápida resolução de atelectasias lobares e principalmenter<strong>em</strong>oção de secreção das vias aéreas. A técnica de HM é realizada por meio de um ressuscitadormanual, descrita como uma inspiração lenta, pausa inspiratória e uma expiração rápida.Objetivos: Avaliar o efeito da HM associada à PEEP <strong>em</strong> pacientes sob ventilação invasiva comotécnica de reexpansão pulmonar. Materiais e métodos: O estudo é tido como quase experimental.Inicialmente os pacientes foram submetidos a nebulização com NaCl 0,9% e aspiração traquealpor sist<strong>em</strong>a fechado, e logo após dez minutos randomicamente divididos <strong>em</strong> três grupos (n=9/cada): grupo G0 (submetido a HM com ZEEP), G5 (submetido a HM com PEEP=5cmH20) eG10 (submetido a HM com PEEP=10cmH20). Parâmentros como complacência estática (Cst),resistência do sist<strong>em</strong>a respiratório (Rsr), saturação periférica de oxigênio (SpO2) e pressãoarterial média (PAM) foram avaliados antes e após a aspiração, e após a HM, 30 minutos e umahora após as manobras. Análise estatística: Para normalidade e homogeneidade da amostrafoi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov e Levene. Para as variáveis intragrupo a análise devariância (ANOVA) e o teste t-Student para amostras independentes. Resultados: Houve quedana Cst de 16,1% e 2,6% nos grupos G0 e G5 respectivamente, e aumento de 11,5% no grupo G10após HM. Quando comparados intergrupo houve diferença estatisticamente significativa apósa HM, mantidas até uma hora após as manobras entre G0 e G5 (p=0,035), e G0 e G10 (p=0,002),ocorrendo apenas impacto t<strong>em</strong>porário na SpO2 quando relacionado o grupo G10 com os outrosgrupos após a aspiração traqueal (p=0,035), s<strong>em</strong> ocorrência de impactos h<strong>em</strong>odinâmicossignificativos <strong>em</strong> nenhum dos grupos. Conclusões: Observou-se que a adição da PEEP a HM ébenéfica quando objetiva-se a reexpansão pulmonar, apresentando incr<strong>em</strong>ento da Cst.044 Impacto do diâmetro do tubo orotraquealdurante o teste de respiração espontânea $Email: juafsouza@yahoo.com.brLílian Izumi Hatori, Eduardo Ériko Tenório de França, Flávio Maciel Dias de Andrade, ClarissaTorres Leal, Eduardo Augusto P. Rodrigues, Helga Cecília Muniz de Souza, Luís HenriqueSarmento Tenório, Romero Marques B. de MeloIntrodução: Após a reversão do quadro de insuficiência respiratória torna-se primordial asuspensão precoce da ventilação mecânica dos pacientes internados <strong>em</strong> unidades de terapiaintensiva. O teste de respiração espontânea (TRE) t<strong>em</strong> sido descrito como o método mais efetivode desmame da assistência ventilatória mecânica. A presença do tubo endotraqueal impõe aopaciente uma resistência adicional, a qual varia dependendo do seu diâmetro interno, podendolevar o paciente à fadiga muscular e ao insucesso no processo de desmame. Objetivos: Analisaro impacto do diâmetro do tubo endotraqueal sobre as variáveis cardiopulmonares ( freqüênciacardíaca, pressão arterial média, volume minuto, volume corrente, freqüência respiratória,saturação periférica de oxigênio), a pressão inspiratória máxima (PImax) e o índice de respiraçãorápida e superficial (IRRS) durante o TRE realizado com tubo-T e com ventilação com pressãode suporte (PSV). Materiais e métodos: Pacientes ventilados com cânulas de diâmetro 7,5 (n=4)e 8mm (n=8) foram distribuídos de forma aleatória <strong>em</strong> dois grupos: grupo tubo-T (n=6) - TREpor 30 minutos realizado <strong>em</strong> tubo “T”, e grupo PSV (n=6) - TRE por 30 minutos realizado <strong>em</strong>PSV de 7cmH2O e pressão positiva expiratória final de 5cmH2O, sendo submetidos à avaliaçãoantes e após o TRE. Resultados: Os valores de pressão inspiratória máxima (PImax), volumecorrente (VC) e volume minuto (VM) foram significativamente maiores após o TRE realizado<strong>em</strong> tubo -“T” ou PSV nos pacientes com cânula traqueal de 8mm de diâmetro (p=0,0032, p=0,010e p=0,0013, respectivamente). Conclusões: Pacientes com cânula traqueal de diâmetro 8mmapresentam aumento da PImax, VC e VM quando submetidos às duas formas de TRE. Nãoforam observadas diferenças significativas nos parâmetros avaliados nos pacientes com cânulatraqueal de diâmetro 7,5mm, fato este devido provavelmente ao pequeno tamanho da amostra.045 Pressão inspiratória máxima <strong>em</strong> pacientesneurológicos <strong>em</strong> diferentes posiçõescorporais $Email: alitanovaes@gmail.comThalita Rejane Maia Wanderley, Cibele Andrade Lima, Livany de Mattos Alecrim, DenesRodrigo Florêncio de Andrade, Marco Aurélio de Valois Correia Júnior, Cláudio Gonçalves deAlbuquerque, Francimar Ferrari Ramos, José Ribeiro Uchoa Júnior, Alita Paula Lopes de NovaesIntrodução: A pressão inspiratória máxima (PIM) t<strong>em</strong> sido rotineiramente <strong>em</strong>pregada paraavaliar o des<strong>em</strong>penho muscular inspiratório <strong>em</strong> pacientes críticos, sendo o método maisutilizado para determinar, de forma não invasiva, reprodutível e rápida a força dos músculosrespiratórios. Dentre os fatores que pod<strong>em</strong> interferir nos valores da PIM pod<strong>em</strong>os apontaro posicionamento corporal (PC). Entretanto, são escassos os relatos na literatura no queconcerne a influência do PC sobre os valores da PIM. Objetivos: Avaliar a influência de trêsdecúbitos específicos sobre o valor da PIM <strong>em</strong> pacientes neurológicos críticos submetidos aouso de uma via aérea artificial (VAA). Materiais e métodos: Estudo prospectivo e randomizado,composto por 23 pacientes neurológicos críticos <strong>em</strong> desmame da AVM ou <strong>em</strong> respiraçãoespontânea, com idade média de 63,09±18,98 anos. Os pacientes foram randomizados quanto àord<strong>em</strong> da mensuração da PIM <strong>em</strong> três diferentes decúbitos (0 o , 30º e 60º), sendo duas manobrasrealizadas <strong>em</strong> cada angulação com intervalo de repouso de cinco minutos entre cada aferição.Foi adicionada uma traquéia à VAA associada a uma válvula unidirecional, a qual era ocluídacom um t<strong>em</strong>po de 20 segundos de sustentação. Considerou-se a média das duas medidastomadas <strong>em</strong> cada posicionamento adotado. Foram monitorados os valores de pressão arterialmédia (PAM), freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (FR) e saturação periférica deoxigênio (SpO2) antes e depois das manobras. Análise estatística: Inicialmente utilizou-seo teste de Kolmogorov-Smirnov para testar a distribuição de normalidade das variáveis. Emseguida aplicou-se o teste t-Student pareado na comparação dos parâmetros cardiopulmonaresobtidos antes e depois das manobras e nos valores da PIM utilizando o software estatísticoSPSS 15.0, considerando-se como intervalo de confiança 95% (p
12048 Estudo da variabilidade dos índices preditivosde desmame durante o teste de respiraçãoespontânea $Email: juafsouza@yahoo.com.brSandra Fluhr Souto Barros, Ana Maria Guedes do Nascimento, Flávio Maciel Dias de Andrade,Patrícia Rodrigues Araújo Neves, Silano Souto Mendes Barros, Wildberg Alencar LimaIntrodução: A utilização do tubo <strong>em</strong> “T” é considerada um método eficaz para realizaçãodo teste de respiração espontânea (TRE) <strong>em</strong> pacientes submetidos à assistência ventilatóriamecânica (AVM). Os índices preditivos de sucesso no desmame da AVM, obtidos duranteo TRE, pod<strong>em</strong> ajudar a avaliar a capacidade do paciente de ser desconectado da próteseventilatória. Objetivos: Analisar o comportamento dos índices preditivos de sucesso nodesmame da AVM, obtidos no terceiro e trigésimo minutos do TRE com tubo “T”, entre ospacientes que apresentaram sucesso e falha pós-retirada do suporte ventilatório. Materiaise métodos: Foram avaliados 20 indivíduos submetidos à AVM por mais de 24 horas, aptos arealizar o processo de desmame da ventilação mecânica por meio do TRE, utilizando o tubo“T” por 30 minutos. A freqüência cardíaca, freqüência respiratória, saturação periférica deoxigênio (SpO2), pressão arterial média (PAM), pressão inspiratória máxima (PImax), volum<strong>em</strong>inuto, volume corrente e índice de respiração rápida e superficial foram avaliados no 3º e30º minutos do TRE. Análise estatística: Para análise comparativa das variáveis intragruposfoi utilizado o teste não-paramétrico de Wilcoxon e para análise intergrupos foi aplicadoo teste não-paramétrico de Mann-Whitney, sendo todas as conclusões tomadas ao nível designificância de 5%. Resultados: Dezessete pacientes apresentaram sucesso no desmame daAVM. A PImax medida no 30º minuto foi significativamente maior <strong>em</strong> módulo que àquelamedida no 3º minuto (p
Email: ferracinicabral@yahoo.com.brLeandro Ferracini Cabral, Tatiana da Cunha D`Elia, Leandro de Oliveira Molina Débora deSouza Marins, Walter Araújo Zin, Fernando Silva GuimarãesIntrodução: T<strong>em</strong> sido relatado que a respiração com freno-labial (RFL) melhora a eficáciaventilatória e alivia a dispnéia <strong>em</strong> pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica(DPOC). Embora a RFL seja uma estratégia que potencialmente reduz a limitação de fluxoexpiratório, exist<strong>em</strong> poucos estudos avaliando seu efeito na hiperinsuflação dinâmica (HD) eno padrão respiratório durante o exercício. Objetivos: Investigar os efeitos da RFL na HD e nopadrão respiratório durante repouso e exercício de alta intensidade nos pacientes com DPOC.Materiais e métodos: Em estudo cruzado e randomizado, foram avaliados dez pacientes comDPOC estável [VEF1 médio (% do predito) =40,7±3,4%]. Todos os pacientes realizaram a RFLe a respiração controle (RC) durante o repouso e durante o exercício com carga constantede 75% da carga máxima de exercício obtida no teste incr<strong>em</strong>ental realizado <strong>em</strong> bicicletaergométrica. A RC foi considerada a respiração normal do paciente, s<strong>em</strong> a interferência denenhuma estratégia ventilatória. Houve uma hora de intervalo entre as séries de exercício. Asvariáveis: volume corrente (VC), freqüência respiratória (FR), e a porcentag<strong>em</strong> de contribuiçãoabdominal (%AB) e da caixa torácica (%CT) para o VC foram obtidas com a pletismografiarespiratória por indutância (PRI). A HD foi avaliada pela capacidade inspiratória (CI) antese imediatamente após o exercício. Para análise estatística, foi utilizado o teste two-wayANOVA para medidas repetidas com utilização do teste de Tukey post-hoc para comparaçõesmúltiplas. As diferenças foram consideradas significativas quando p
1418 e 35 anos, hígidos, de ambos os sexos e não tabagistas. Excluídas gestantes e estudantesde <strong>fisioterapia</strong> que já cursaram a disciplina de Fisioterapia Respiratória. Foram utilizadoscomo EIV o Voldyne® e como EIF o Triflo II®. Os aparelhos foram acoplados a um monitorrespiratório (Tracer-5, Intermed), no qual obtiv<strong>em</strong>os os valores de fluxo (FI), volumeinspiratório (VI) e t<strong>em</strong>po inspiratório (TI) dos voluntários. Foram realizadas duas séries de15 repetições com intervalo de dois minutos de descanso com cada aparelho e mensuradoa cada respiração os valores de FI, VI e TI. Análise estatística: Foi utilizada a análisede variância (ANOVA) que é uma técnica para investigar a relação entre uma variáveldependente e uma ou mais variáveis independentes; como índice de significância p
asal e também apresentava associação com a queda percentual do PFT (65%, r=0,85,p
16065 Avaliação objetiva e subjetiva do nível de atividadefísica na vida diária <strong>em</strong> pacientes com DoençaPulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) $Email: m_m_guimaraes@yahoo.com.brMônica Martins Guimarães, Renato de Lima Vitorasso, Andréa D. Fontana, Ana Lúcia Colange,Danielle Barzon, Cinthia H. S. C. Nascimento, Vanessa Suziane Probst, Antonio FernandoBrunetto, Fábio PittaIntrodução: Recent<strong>em</strong>ente, o desenvolvimento de monitores portáteis t<strong>em</strong> tornadoacessível a mensuração objetiva do nível de atividade física na vida diária (AFVD) <strong>em</strong>pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), <strong>em</strong>bora a avaliação subjetivapor meio de questionários ainda seja o método mais comumente utilizado. No entanto,a relação entre medidas objetivas e subjetivas que reflet<strong>em</strong> o nível de atividade físicana vida diária ainda é pouco conhecida. Objetivos: Verificar a relação entre medidasobjetivas e subjetivas que reflet<strong>em</strong> o nível de atividade física na vida diária <strong>em</strong> pacientescom DPOC. Materiais e métodos: Trinta e quatro pacientes com DPOC (15 homens, 66±8anos, VEF1 46±16% predito) tiveram seu nível de AFVD avaliado objetivamente na vidareal utilizando-se dois monitores portáteis de atividade física (DynaPort, McRoberts,Holanda e SenseWear Armband, BodyMedia, Estados Unidos) durante 12 horas por dia.A avaliação subjetiva foi realizada utilizando-se a escala London Chest Activity of DailyLiving (LCADL), que contém quatro domínios (cuidado pessoal, doméstico, atividadefísica e lazer), além de uma pontuação total. Além disso, a amostra foi dividida <strong>em</strong>grupos de pacientes com pontuação acima e abaixo da média geral da pontuação totale do domínio atividade física da escala LCADL. Análise estatística: Para o estudo decorrelações foi utilizado o coeficiente de Spearman, e para verificar as diferenças entregrupos divididos de acordo com a pontuação da escala LCADL foi utilizado o teste deMann-Whitney. Resultados: A pontuação total e o domínio cuidado pessoal da escalaLCADL se correlacionaram com o t<strong>em</strong>po gasto ativamente por dia e o gasto energéticototal (-0,43>r>-0,31; p16Kg/m2 parahomens; n=21) e IMMC baixo (pacientes com valores abaixo desses limites; n=13). Análiseestatística: Os coeficientes de Correlação de Pearson e Spearman, assim como os testest não pareado e de Mann-Whitney, foram utilizados dependendo da normalidade nadistribuição dos dados (avaliada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov). Resultados:O ΔMMC (2,4±3,8Kg) correlacionou-se significativamente com GCT, GCAS e GCA>3MET(r=0,59; 0,67 e 0,52 respectivamente; p≤0,002 para todas). O IMMC médio no grupoIMMC normal foi 18,1±2,7Kg/m2 e no grupo IMMC baixo foi 13,9±1,8Kg/m2. Os gruposapresentaram diferença estatisticamente significante nas variáveis GCT e GCAS (p=0,01 ep=0,003, respectivamente). Conclusões: O gasto calórico na vida diária <strong>em</strong> pacientes comDPOC guarda estreita relação com a massa magra corpórea. Isso indica que, ao se realizarprogramas de treinamento que objetiv<strong>em</strong> o aumento do nível de atividade física na vidadiária e envolvam aumento do gasto calórico, é imperativo que se acompanhe também osefeitos desse treinamento sobre a massa magra corpórea.
069 Comportamento da força muscular respiratóriano pós-operatório de laparotomias altase toracotomias eletivas $Email: aline_longo@yahoo.com.brAline Felipe Longo, Cristiane Golias Gonçalves, Daniela Hayashi, Fernanda Stringuetta,Thabatta Alana S<strong>em</strong>enzim, Isabel Cristina Hilgert Genz, Erickson Borges Santos,Laryssa Milenkovich Bellinetti, João Carlos ThomsonIntrodução: As toracotomias e as laparotomias altas são consideradas cirurgias de risco pelaalta prevalência de complicações respiratórias pós-operatórias. Essas complicações pod<strong>em</strong>ser ocasionadas pela disfunção diafragmática persistente, porém está pouco elucidado sehá diferença no período de restituição da força muscular respiratória entre as duas cirurgias.Objetivos: Comparar a evolução da função muscular respiratória no pós-operatório detoracotomias e laparotomias altas eletivas. Materiais e métodos: O estudo realizado foidescritivo longitudinal. Foram avaliados 16 pacientes, sendo oito submetidos a toracotomiase oito a laparotomias. As cirurgias eram previamente agendadas, a céu aberto e com anestesiageral. Os pacientes foram avaliados no pré-operatório, no 2º, 3º e 10º pós-operatório quanto àfunção muscular respiratória (PImax e PEmax). Foram utilizadas como variáveis de controleidade, gênero, índice de massa corpórea (IMC), sintomas respiratórios e doença pulmonarprévios às cirurgias. Análise estatística: Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov paraavaliar as distribuições. Como estas se apresentaram normais, optou-se por utilizar o testet de Student não pareado e ANOVA de medidas repetidas. Quando houve necessidade derealizar o pós-teste, o teste de escolha foi o de Tukey. Para a comparação dos grupos quanto àsvariáveis nominais utilizou-se o qui-quadrado ou exato de Fisher, e para as variáveis contínuas,o teste t de Student. Resultados: Os grupos foram comparáveis <strong>em</strong> todas as variáveis excetono IMC (p=0,016). Nos pacientes que foram submetidos às toracotomias os valores de PImaxapresentaram diferença estatisticamente significante quando se comparou o pré-operatóriocom cada dia de pós-operatório (p
18quais fatores melhor se correlacionam com o des<strong>em</strong>penho de pacientes com DPOC noteste de caminhada de seis minutos. Materiais e métodos: Cinqüenta e dois pacientes(24 homens; 67+9 anos; volume expiratório forçado no primeiro segundo [VEFı] 48+16 %predito; índice de massa corpórea [IMC] 27+5kg/m-2) realizaram prova de função pulmonar(espirometria), testes de uma repetição máxima (1RM) para bíceps, tríceps e quadríceps,e avaliação da capacidade de exercício (TC6, teste de endurance e teste cardio-pulmonarmáximo de esforço - TCPE) de acordo com orientações da American Thoracic Society e/ou da literatura corrente. A composição corporal também foi estudada nesses pacientespor meio da técnica de bioimpedância. Análise estatística: Correlações entre variáveisnormalmente distribuídas foram analisadas pelo coeficiente de Pearson, enquantopara variáveis não-normalmente distribuídas foi utilizado o coeficiente de Spearman. Asignificância estatística foi determinada como p≤0,05. Resultados: O TC6 correlacionou-secom a ventilação voluntária máxima (VVM), VEF1, força de quadríceps, bíceps e tríceps,além do t<strong>em</strong>po atingido no teste de endurance e da carga <strong>em</strong> watts, freqüência cardíacamáxima e consumo máximo de oxigênio (pico VO2) obtidos de forma direta no TCPE(0,27≤r≤0,40; p≤0,05 para todas). As correlações mais significativas foram do TC6 com a forçamuscular de tríceps (r=0,37; p=0,008) e com a frequência cardíaca máxima (r=0,40; p=0,003).Não foram encontradas correlações significativas do TC6 com o IMC, índice de massamagra corpórea (IMMC) e idade. Conclusões: Em pacientes com DPOC, o des<strong>em</strong>penho noTC6 correlacionou-se significativamente (porém, fracamente) com a capacidade máxima esub-máxima de esforço, com a limitação ventilatória e com a força muscular de m<strong>em</strong>brosinferiores e superiores. Esses resultados confirmam a natureza integrada (ou global) do TC6,que não reflete especificamente apenas um aspecto da doença, mas sim a combinação dosseus fatores limitantes. Adicionalmente, na presente amostra, o TC6 não se correlacionoucom a composição corporal n<strong>em</strong> com a idade dos pacientes.074 Comparação do nível de atividade física diária<strong>em</strong> pacientes com DPOC da América do Sule Europa Central $Email: fabiopitta@uol.com.brFábio Pitta, Marie-Kathrin Breyer, Nídia A. Hernandes, Denílson Teixeira, Thaís J. P. Sant’Anna,Andréa D. Fontana, Vanessa S. Probst, Antonio F. Brunetto, Martijn A. Spruit,Emiel F. M. Wouters, Otto C. Burghuber, Sylvia HartlIntrodução: Em adultos e idosos saudáveis, um nível mais baixo de atividade física navida diária t<strong>em</strong> sido associado à raça não-caucasiana, baixo nível sócio-econômico et<strong>em</strong>peraturas acima de 17 graus Celsius (°C). No entanto, a literatura científica internacionalnão traz qualquer descrição da influência da etnia, nível sócio-econômico e fatoresambientais sobre o nível de atividade física na vida diária de pacientes portadores de doençapulmonar obstrutiva crônica (DPOC), uma população reconhecidamente marcada pelosedentarismo. Objetivos: Comparar o nível de atividade física na vida diária <strong>em</strong> pacientesportadores de DPOC de dois países com diferentes realidades étnicas, sócio-econômicase ambientais: Brasil e Áustria. Materiais e métodos: A atividade física na vida diária foiquantificada objetivamente <strong>em</strong> 40 pacientes com DPOC brasileiros e 40 austríacos durantedois dias (12 horas por dia) utilizando-se um monitor portátil de atividade física (DynaPortactivity monitor, McRoberts, Holanda). Os grupos foram pareados para idade, sexo, índice d<strong>em</strong>assa corpórea, gravidade da doença, história de tabagismo, presença de doença cardíacaconcomitante, função pulmonar, capacidade funcional de exercício e dispnéia na vidadiária. Análise estatística: O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para a avaliaçãoda normalidade na distribuição dos dados. Para a comparação entre os grupos, foi utilizadoo teste t de Student não-pareado. Resultados: Em comparação aos pacientes austríacos, ospacientes brasileiros apresentaram maior t<strong>em</strong>po gasto caminhando por dia (56+-32min/diaversus 40+-36min/dia; p=0,04), maior intensidade de movimento na vida diária (1,9+-0,4m/s2 versus 1,5+-0,4m/s2; p=0,0001) e menor t<strong>em</strong>po gasto sentado por dia (296+-109min/diaversus 388+-208min/dia; p=0,02). A proporção de pacientes que não atingiram a média de 30minutos andando por dia (o mínimo recomendado pelo American College of Sports Medicine)foi de 23% no grupo brasileiro e 48% no grupo austríaco. Conclusões: Pacientes brasileiroscom DPOC apresentam um nível de atividade física na vida diária significativamente maisalto <strong>em</strong> comparação a pacientes austríacos. Portanto, fatores étnicos, sócio-econômicos e/ou ambientais parec<strong>em</strong> influenciar pacientes com DPOC diferent<strong>em</strong>ente do descrito <strong>em</strong>estudos prévios <strong>em</strong> adultos e idosos saudáveis.075 Relação entre função pulmonar, dispnéia nasatividades da vida diária e agilidade <strong>em</strong> pacientes comDoença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) $Email: naty_fi sio2005@hotmail.comNatália H. de Oliveira, Melina Y. Takaki, Viviane C. de Moraes, Andréa Daiane Fontana,Thaís Jordão Perez Sant’anna, Nicoli O. Segretti, Ana Lúcia Colange,Vanessa Suziane Probst, Antônio Fernando Brunetto, Fábio PittaIntrodução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por reduçãoprogressiva na função pulmonar, dispnéia e piora na performance nas atividades da vidadiária (AVDs). Além disso, sabe-se que pacientes com DPOC também apresentam diminuiçãoda agilidade traduzida por uma baixa intensidade de movimento na vida diária (IM). Noentanto pouco se sabe sobre a relação entre a IM e a função pulmonar, sensação de dispnéiae consequente limitação nas AVDs. Objetivos: Verificar a correlação da IM na vida diária comdiferentes variáveis espirométricas e com o grau de dispnéia nas AVDs <strong>em</strong> pacientes portadoresRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):1-27.de DPOC. Materiais e métodos: Foram incluídos 33 pacientes com DPOC (15H/18M; idade66±8 anos; VEF1 46±15% pred; IMC 24±7Kg/m2). A função pulmonar foi avaliada por meiode espirometria (Pony®, Cosmed, Itália) de acordo com as normas da American ThoracicSociety. Os valores de referência utilizados foram os de Knudson et al. (1983). A avaliaçãoda dispnéia nas AVDs foi realizada utilizando dois instrumentos: a escala de dispnéia doMedical Research Council (MRC) e a escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL).A IM na vida diária corresponde à velocidade média com que os pacientes se deslocavam <strong>em</strong>suas atividades cotidianas, e foi mensurada objetivamente por meio do monitor de atividadeDynaPort (McRoberts, Holanda). A monitorização ocorreu durante dois dias durante 12horas/dia, e a média dos dois dias foi utilizada para análise. Análise estatística: Para análiseda normalidade na distribuição dos dados foi usado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Como osdados apresentaram distribuição normal, utilizou-se o coeficiente de Correlação de Pearsonpara estudo de correlações. O nível de significância foi determinado como p
078 Efeitos respiratórios do breath-stackinge da inspirometria <strong>em</strong> cirurgia cardíaca $Email: crismdias@gmail.comCristina Márcia Dias, Raquel de Oliveira Vieira, Paulo Victor Baker, Cristina Luzia Peixoto,Fernando Silva Guimarães, Sara Lúcia SilveiraIntrodução: A redução do volume pulmonar é um fator determinante para uma maiorincidência de complicações respiratórias no pós-operatório de cirurgias torácicas. Váriastécnicas fisioterapêuticas vêm sendo utilizadas para auxiliar na recuperação dos volumespulmonares, reduzindo essas complicações. No entanto, as evidências acerca da eficáciadestas técnicas são escassas. Objetivos: Comparar o volume inspiratório mobilizado durantea realização do breath-stacking com os observados por meio da inspirometria de incentivo<strong>em</strong> pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Materiais e métodos: Dezesseis pacientes, noperíodo pré-operatório de cirurgia cardíaca, foram recrutados e, de acordo com a randomização<strong>em</strong> blocos, foram divididos <strong>em</strong> dois grupos [breath-stacking (BS); inspirometria de incentivo(IS)]. Neste período, todos os pacientes foram orientados sobre os procedimentos. O grupoBS realizou pequenos e sucessivos esforços inspiratórios durante 20 segundos através de umamáscara facial adaptada a uma válvula unidirecional que permitia apenas a inspiração. Ogrupo IS realizou inspirações profundas utilizando o equipamento VoldyneTM. Todos ospacientes realizaram prova espirométrica no pré-operatório, sendo determinado o riscocirúrgico por meio da escala de Torrington. Um ventilômetro de Wright® permitiu o registroda capacidade inspiratória. Em cada técnica foram realizadas três séries de cinco repetições,duas vezes ao dia, ao longo dos cinco primeiros dias de pós-operatório. Análise estatística:Foi utilizado o teste one-way ANOVA e as diferenças foram consideradas significativasquando p
20Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é progressiva e caracterizada porlimitação crônica ao fluxo aéreo e conseqüente dispnéia. Indivíduos com DPOC comumenteapresentam também diminuição da força muscular respiratória e periférica. Essa fraquezada musculatura periférica e respiratória representa um fator adicional na intolerância aosesforços físicos presente nessa população. Porém, a relação entre as pressões respiratórias ea força muscular periférica ainda não foi investigada <strong>em</strong> profundidade.Objetivos: Investigara relação da força muscular respiratória (pressão inspiratória máxima [PImax] e pressãoexpiratória máxima [PEmax]) com a força muscular periférica de m<strong>em</strong>bros superiores <strong>em</strong><strong>em</strong>bros inferiores <strong>em</strong> pacientes com DPOC. Materiais e métodos: Foram estudados 36pacientes com DPOC (18 homens; VEF1 48±16 %predito; idade 64±8 anos; IMC 25±5Kg.m-2).As pressões respiratórias máximas foram mensuradas segundo a técnica descrita porBlack e Hyatt et al. (1969), com os valores de referência descritos por Neder et al. (1999).A PImax e a PEmax foram utilizadas como indicadores da força muscular inspiratória eexpiratória, respectivamente. Para avaliar a força muscular periférica foi realizado o testede uma repetição máxima (1RM) dos músculos extensores de joelho, flexores e extensoresde cotovelo. Análise estatística: Para análise da normalidade na distribuição dos dados foiusado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Como os dados apresentaram distribuição normal,utilizou-se o coeficiente de Correlação de Pearson para estudo de correlações. O nível designificância foi determinado como p0,05),porém, após seis meses o TTS foi estatisticamente significante <strong>em</strong> relação aos dados deTTS anteriores ao tratamento (4mim e 10mim [mediana], respectivamente; p=0,039).Conclusões: Nos voluntários estudados, a cinesioterapia foi eficaz na melhora dotransporte mucociliar após seis meses de tratamento.085 Efeito do aparelho Flutter-VRP1 realizadonas pressões expiratórias de 15 e 25cmH2O $Email: danimizu@hotmail.comDaniela Mizusaki Iyomasa, Kátia Cristina Teixeira Melegati, Rafaela Bonfi m,Graciane Laender Moreira, Luciana Cristina Fosco, Dionei Ramos, Luiz Carlos Marques Vanderlei,José Roberto Jardim, Ercy Mara Cipulo RamosIntrodução: Apesar de amplamente utilizado na prática clínica para r<strong>em</strong>oção das secreçõesbrônquicas, nenhum estudo in vivo analisou o efeito do Flutter-VRP1 <strong>em</strong> diferentespressões expiratórias. Objetivos: Verificar a efetividade do Flutter-VRP1 realizado naspressões expiratórias de 15 e 25cmH2O sobre a viscosidade e transportabilidade domuco brônquico expectorado, além de variáveis cardiorrespiratórias de bronquiectásicos.Materiais e métodos: Participaram do estudo 15 bronquiectásicos estáveis, oito mulherese sete homens, idade 53±16 anos [média±DP]. Foram submetidos aleatoriamente àintervenção <strong>em</strong> dois dias de experimento, um com Flutter 15cmH2O (FLUT 15) eoutro a 25cmH2O (FLUT 25), com intervalo de 24 horas entre eles. Previamente a cadaintervenção, os indivíduos realizaram tosse técnica e, 20 minutos após, realizaram novaexpectoração (T0). Após repouso de dez minutos realizaram duas séries de dez minutos(T1 e T2) de Flutter-VRP1 com pressão determinada, com intervalo de dez minutosentre as séries. As pressões foram mantidas a cada expiração no aparelho por meiode visualização <strong>em</strong> manovacuômetro acoplado ao Flutter-VRP1 durante T1 e T2. Paraavaliar a viscosidade e transportabilidade do muco brônquico coletado antes e apóscada série foram: viscosimetria, velocidade relativa de transporte do muco no palatode rã, deslocamento do muco na máquina simuladora de tosse, e medida do ângulo deadesão. As variáveis cardiorrespiratórias analisadas foram: escala de percepção de esforço(BORG), saturação de oxigênio, freqüência respiratória, freqüência cardíaca, variabilidadeda freqüência cardíaca e pressão arterial antes e após cada dia de experimento. Análiseestatística: Os dados foram analisados por teste t paramétrico, por técnica de análisede variância não paramétrica para medidas repetidas de Friedman e Mann-Whitman.Resultados: Não houve diferenças significantes <strong>em</strong> relação à transportabilidade domuco brônquico com o Flutter-VRP1 realizado nas pressões estudadas. Com relação àviscosidade do muco brônquico r<strong>em</strong>ovido, houve menor medida após T1 de FLUT 15. Dasvariáveis cardiorrespiratórias analisadas não foram encontradas diferenças significantesantes e após o uso do aparelho nos dois dias de experimento com valores dentro danormalidade. Conclusões: O Flutter-VRP1 realizado nas pressões estudadas não mostroudiferença na transportabilidade do muco e nas variáveis cardiorrespiratórias, desta forma,o equipamento mostrou ser seguro mesmo com maior pressão expiratória. Quandoo equipamento foi realizado com pressão a 15cmH2O foi observado r<strong>em</strong>oção de mucocom melhor perfil reológico, sugerindo que nesta pressão as amostras de muco foramfluidificadas logo após dez minutos de intervenção.086 Mudanças na capacidade de exercício sãorefl etidas subjetivamente por pacientescom DPOC? $Email: camy_higa@hotmail.comCamila Harumi Nassu Higa, Fábio Pitta, Bruno Roberto Kajimoto Dellarosa,Doris Naoko Suzumura, Fernanda Kazmierski Morakami, Gianna Kelren Waldrich Bisca,Igor Lopes de Brito, Letícia Moretti Ortega, Vanessa Suziane Probst, Antônio Fernando BrunettoIntrodução: Pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)apresentam redução na capacidade de exercício (CE), na qualidade de vida (QV) e no estadofuncional. No entanto, não está completamente elucidada a relação entre mudanças na CE
e mudanças no estado funcional e na QV reportadas subjetivamente pelos pacientes apósum programa de treinamento físico. Objetivos: Estudar a relação entre possíveis mudançasna capacidade de exercício com mudanças na qualidade de vida e no estado funcionalreportadas por meio de questionários <strong>em</strong> pacientes com DPOC submetidos a treinamento dealta intensidade (TAI) e baixa intensidade (TBI). Materiais e métodos: Trinta e um pacientescom DPOC (14 homens; VEF1 36 [32-57] %predito; 65 [62-70] anos) foram aleatoriamentedivididos <strong>em</strong> dois grupos: TAI (treinamento de endurance <strong>em</strong> cicloergômetro, esteira efortalecimento muscular) e TBI (exercícios respiratórios e calistênicos). A CE foi avaliadapor meio do teste da caminhada de 6 minutos (TC6), teste de endurance e teste cardiopulmonarmáximo de esforço (TCPE). A avaliação do estado funcional foi feita por meioda escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL), enquanto que para a avaliaçãoda qualidade de vida foi utilizado o Saint Georges Respiratory Questionnaire (SGRQ).Análise estatística: Correlações foram analisadas por meio do coeficiente de Spearman.A significância estatística foi determinada como p
22Objetivos: Avaliar uma adaptação da válvula Threshold IMT® como mola dupla. Materiais <strong>em</strong>étodos: Foi realizado um estudo experimental <strong>em</strong> que a válvula Threshold IMT® foi adaptadacom duas molas e acoplada <strong>em</strong> um sist<strong>em</strong>a avaliador de pressão e fluxo respiratório. Utilizamosuma bomba de ar com pressão negativa para simular o fluxo inspiratório. O fluxo da bomba dear foi ajustado na pressão necessária para abrir a válvula <strong>em</strong> 34 níveis (de 7 a 41cmH2O). Emcada nível de pressão foram feitas dez medidas, sendo a média de cada utilizada para análiseestatística. Análise estatística: Realizamos uma regressão linear simples para predizer a carga daválvula Threshold IMT® com mola dupla, baseado nos valores pré-fixados da válvula. Resultados:Os valores encontrados na válvula de dupla mola variaram de 13,9±0,73 a 85,6±0,69cmH2O, quecorrespond<strong>em</strong> a valores de 7 a 41cmH2O na válvula convencional Threshold IMT®. Encontramosna regressão linear uma relação Threshold IMT com mola dupla predito pela carga fixa doThreshold IMT® de y= –1,275+2,.089*X, (R2=99,5 e p
O grupo DPOC (VEF1%prev =41±12, idade=64±10 anos, IMC=24±5Kg/m2) apresentou piordes<strong>em</strong>penho no TC6min (435±105 versus 593±87, p
24Cláudio Gonçalves Albuquerque, Flávio Maciel Dias de Andrade, Marcus Aurélio de AlmeidaRocha, Marcelo de Moraes Valença, Wald<strong>em</strong>ar LadoskyIntrodução: A obesidade é considerada uma doença crônica, representando um grandeprobl<strong>em</strong>a de saúde pública. Estudos d<strong>em</strong>onstram que a resistência das vias aéreas (Rva)pode estar aumentada <strong>em</strong> pacientes obesos. A oscilometria de impulso (OI) t<strong>em</strong> sidoproposta como método não-invasivo para cálculo da Rva. Objetivos: Avaliar a Rva centraise periféricas de indivíduos obesos por meio da OI. Materiais e métodos: Avaliou-se acapacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo - (VEF1),relação VEF1/CVF, fluxo expiratório forçado <strong>em</strong> 25%, 50% e 75% da CVF (FEF25%, FEF50% eFEF75%), pico de fluxo expiratório (PFE), resistência central (RCENT), resistência periférica(RPERIF), resistência a 5Hz (R5Hz) e resistência a 20Hz (R20Hz), utilizando-se o espirômetroJaeger Pneumotach® e o sist<strong>em</strong>a de OI Jaeger®, de 116 indivíduos, divididos de acordo com oíndice de massa corpórea (IMC) <strong>em</strong> seis grupos: peso normal (IMC=18,5 a 24,9Kg/m2, n=13),sobrepeso (IMC=25 a 29,9Kg/m2, n=19), obeso (IMC=30 a 39,9Kg/m2, n=12), obesidad<strong>em</strong>órbida leve (IMC=40 a 49,9Kg/m2, n=45), obesidade mórbida moderada (IMC=50 a59,9Kg/m2, n=22) e super-obeso (IMC≥60Kg/m2, n=5). Análise estatística: A suposição denormalidade dos dados foi realizada utilizando-se o teste Kolmogorov-Smirnov, a análiseintergrupos das variáveis estudadas foi realizada utilizando-se o método ANOVA, o pós-testede comparação múltipla de Tukey e de Dunns, enquanto que as possíveis correlações entreIMC, mecânica respiratória e volumes pulmonares foram analisadas por meio do métodode regressão linear. A significância estatística foi considerada quando obtido um valor dep
<strong>fisioterapia</strong> apenas 14% fizeram uso de recurso mecânico de <strong>fisioterapia</strong> sendo que o únicoutilizado foi o incentivador inspiratório a fluxo. Apenas 3% evoluíram com complicaçãopulmonar pós-operatória. Conclusões: As técnicas manuais de <strong>fisioterapia</strong> respiratóriacomo, PVR, reexpansão pulmonar, suspiros inspiratórios, lapena, aerossolterapia,exercício diafragmático, foram alguns dos exercícios utilizados durante as práticasfisioterapêuticas, sendo que os recursos mecânicos de <strong>fisioterapia</strong> respiratória foram osmenos utilizados nesses atendimentos de pós-operatório de hernioplastia umbilical egastroplastia, concluindo-se que há uma grande deficiência nos recursos mecânicos de<strong>fisioterapia</strong> respiratória.104 Papel do dispositivo EPAP sobre a funçãopulmonar de pacientes submetidosà cirúrgia bariátrica $Email: juafsouza@yahoo.com.brEduardo Ériko Tenório de França, Flávio Maciel Dias de Andrade, Andrezza L<strong>em</strong>os Bezerra,Indianara Araújo, Lílian Izumi Hatori, Luís Henrique Sarmento Tenório,Romero Marques B. de MeloIntrodução: A <strong>fisioterapia</strong> respiratória está indicada para recuperação da função pulmonare prevenção de complicações respiratórias no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Osdispositivos geradores de pressão positiva expiratória <strong>em</strong> vias aéreas aplicados durantea respiração espontânea (EPAP) têm sido utilizados na terapia de expansão pulmonar<strong>em</strong> pacientes submetidos às cirurgias tóraco-abdominais. Objetivos: Avaliar a funçãopulmonar de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica após a utilização do dispositivoEPAP. Materiais e métodos: Os pacientes foram distribuídos de forma aleatória <strong>em</strong> doisgrupos: Grupo recondicionamento físico (GRF; n=5; pacientes realizavam duas séries dedez repetições de cinesioterapia para m<strong>em</strong>bros superiores ( flexão e adução horizontal deombro) e m<strong>em</strong>bros inferiores ( flexão de quadril e joelho, flexão plantar e dorsiflexão dotornozelo), além de deambulação com distância inicial de cinqüenta e seis metros, duplicadaa cada dia, até a alta hospitalar e grupo EPAP (GEPAP; n=5; pacientes realizavam três sériesde quinze repetições com EPAP ajustado <strong>em</strong> 15cmH2O associado ao mesmo protocolo derecondicionamento físico. A função pulmonar (volume corrente - VC, volume minuto - VM,capacidade inspiratória - CI, capacidade vital lenta - CVL, índice de respiração rápida esuperficial - IRRS, pressão inspiratória máxima - PImax e pressão expiratória máxima -PEmax) foi avaliada no pré-operatório, 1°, 2°, 3°, 4°, 15° e 30° dia de pós-operatório. Análiseestatística: Para testar a suposição de normalidade das variáveis envolvidas no estudo foiaplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov, para análise comparativa das variáveis entre gruposfoi utilizado o teste t de Student para amostras independentes e para a análise intragruposfoi utilizado o teste t de Student pareado e Wilcoxon, utilizando-se os softwares SPSS 13.0para Windows e o Excel 2003. Todas as conclusões foram tomadas ao nível de significânciade 5%. Resultados: O índice de massa corpórea (IMC) reduziu significativamente <strong>em</strong> ambosos grupos apenas no 15° e 30° dia pós-operatório (p
26Email: francielenunes@yahoo.com.brFranciele Nunes, Camila Oliveira Hammes, Priscila Raquel Zingler, Dulciane Nunes Paiva,Dannuey Machado Cardoso, Isabella Martins de AlbuquerqueIntrodução: O teste de caminhada de seis minutos (TC6m) t<strong>em</strong> sido um teste amplamenteutilizado para avaliação do des<strong>em</strong>penho funcional de portadores de diversas pneumopatias,amputados protetizados e outros. O desenvolvimento do teste de caminhada de doisminutos (TC2m) serviu para reduzir o t<strong>em</strong>po de aplicação do referido teste que é classificadocomo de esforço sub-máximo. Objetivos: Verificar a eficácia do teste de caminhada dedois minutos na avaliação da capacidade funcional de idosas ativas e hígidas fazendosepara tal, uma correlação com o clássico teste de caminhada de seis minutos (TC6m).Materiais e métodos: Trata-se de um estudo transversal, do tipo observacional descritivo,composto por idosas hígidas (n=64; idade de 69,44±5,42anos e IMC de 26,00±6,03Kg/m2).Realizou-se espirometria a fim de comprovar função pulmonar normal. Tais indivíduosforam submetidos ao TC6m e posteriormente ao TC2m, sendo utilizado o protocolo daAmerican Thoracic Society (2002) adaptado para ambos os testes. Análise estatística:Foi utilizado o teste de Correlação de Pearson (p
variância e entre os grupos pelo teste t-Student independente. O nível de significânciaadotado foi de 5%, sendo os dados analisados por meio do programa estatístico SPSS paraWindows versão 15.0. Resultados: Ao compararmos a PImax entre os grupos, verificamosque houve significância estatística, na AV1 e na AV3. Em relação à PEmax houve diferençaestatística <strong>em</strong> todas as avaliações. Quanto ao PF não houve significância <strong>em</strong> nenhumadas avaliações. Conclusões: Os resultados obtidos suger<strong>em</strong> que a VNI está indicada parapacientes com distrofia muscular, uma vez que esta foi capaz de manter o quadro clínicopulmonar no que diz respeito às pressões inspiratória e expiratória e no peak flow.113 Efi cácia da fi sioterapia na capacidade vitalforçada e saturação de oxigênio <strong>em</strong> pacientescom distrofi a muscular $Email: marinho_rodrigo@yahoo.com.brDanielle Ferreira do Nascimento Morais, Cínthia Rodrigues de Vasconcelos Câmara, Daysede Amorim Lins e Silva, Renata Estela de Melo Rodrigues, Joanna Raphaela Leite Bonfím,Luise Pereira Dreyer Dinu, Cibelle Andrade LimaIntrodução: As distrofias musculares (DMs) envolv<strong>em</strong> um grande número de condiçõesraras com características s<strong>em</strong>elhantes, levando à fraqueza muscular, podendo ter na suamaioria, etiologia genética ou adquirida. Objetivos: Analisar a eficácia da ventilação nãoinvasiva (VNI) e da <strong>fisioterapia</strong> aquática por meio da análise da capacidade vital forçada(CVF) e saturação de oxigênio da h<strong>em</strong>oglobina (SaO2). Materiais e métodos: Para aseleção dos voluntários realizou-se uma análise de prontuários, obtendo-se 17 pacientes,mas, apenas nove pacientes participaram deste estudo, por conta dos critérios de inclusãoe de exclusão pré-determinados. Todos os participantes eram portadores de distrofiamuscular com faixa etária entre sete e 19 anos. Os pacientes foram divididos <strong>em</strong> doisgrupos distintos: o grupo 1 constava de seis pacientes com CVF1,200mL. Esses pacientes foram submetidos a umaavaliação inicial, devendo ser reavaliados após a 10ª e 20ª sessão. Quanto ao protocolo deatendimento, todos os voluntários foram submetidos ao tratamento de VNI e <strong>fisioterapia</strong>aquática duas vezes por s<strong>em</strong>ana, totalizando 20 sessões. Análise estatística: Os resultadosdesta pesquisa são apresentados sob a forma de média±desvio padrão (DP) para as variáveiscom distribuição normal. A normalidade e a homogeneidade dos valores mensuradosforam determinadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente.Posteriormente, a estatística descritiva foi utilizada com o intuito de descrição dos dados.A comparação entre as avaliações no mesmo grupo foi realizada por meio da análise devariância e entre os grupos pelo teste t-Student independente. O nível de significânciaadotado foi de 5%, sendo os dados analisados por meio do programa estatístico SPSS paraWindows versão 15.0. Resultados: Nos resultados obtidos, pud<strong>em</strong>os verificar que o grupo1 e 2 apresentaram redução tanto na CVF quanto na SaO2 durante todo o tratamento, s<strong>em</strong>apresentar significância. Porém, ao compararmos o comportamento da CVF e SaO2 entreos grupos, pud<strong>em</strong>os observar significância da CVF <strong>em</strong> todas as avaliações e na SaO2 atéa 10ª sessão. Conclusões: Apesar de ter havido tendência à queda nos valores de funçãopulmonar, as mesmas não apresentaram significância, comprovando os efeitos benéficosdo tratamento fisioterapêutico na manutenção do quadro clínico pulmonar dos pacientesestudados.114 A influência do t<strong>em</strong>po de congelamento sobreo transporte e ângulo de adesãodo muco humano $Email: rachelfabreu@ig.com.brRachel de Faria Abreu, Ada Clarice Gastaldi, Rogério ContatoIntrodução: O congelamento t<strong>em</strong> sido utilizado quando há necessidade dearmazenamento de muco. Foi d<strong>em</strong>onstrado que a t<strong>em</strong>peratura de congelamento eo t<strong>em</strong>po de armazenamento não influenciam nas propriedades do muco de aspectopurulento por um período superior a dez dias, mas isto ainda não está claro para períodosmais longos dez e 30 dias (Zanchet, 1999). Objetivos: O objetivo do presente estudofoi analisar o muco brônquico de aspecto purulento de pacientes com bronquiectasiae bronquite crônica para analisar o transporte no palato de rã, máquina simuladorade tosse, b<strong>em</strong> como medida de ângulo de adesão nos dias 10, 15, 20, 25 e 30 dias apóscongelamento a -20ºC. Materiais e métodos: Amostras de muco de aspecto purulentode 18 pacientes com bronquiectasia e 15 com bronquite crônica, diagnosticados portomografia computadorizada de tórax e espirometria, foram coletadas, divididas <strong>em</strong> seisporções e analisadas imediatamente (dia 0) e após ser<strong>em</strong> congelados a -20ºC. O mucofoi coletado no Ambulatório de Pneumologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ) e no Ambulatório de Pneumologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) eClínica Escola do Centro Universitário do Triângulo (UNITRI). O projeto foi submetido aoComitê de Ética <strong>em</strong> Pesquisa da UNITRI, conforme resolução 196 do Conselho Nacionalde Saúde. Análise estatística: Foi utilizado um teste de normalidade ou aderência paraverificar se os dados tinham distribuição normal. Para compararmos os diferentesmétodos de análise foi utilizada a análise de variância (ANOVA) para dados pareados,seguido do teste de Tukey aplicado à média. O coeficiente de Correlação por Postosde Sperman foi utilizado para verificar a correlação entre os resultados das amostraspurulentas de pacientes com bronquite crônica com os resultados das provas de funçãopulmonar. O nível de significância foi de 5% (p0,4) a fiabilidade dos RATC, RAFC e os RAMF namesofase expiratória. Este estudo sugere que a AP <strong>em</strong> lactentes pode ser útil no processode tomada de decisões/avaliação de resultados, mas deverá ser compl<strong>em</strong>entada comoutros meios.116 Efi cácia de duas técnicas de tosse assistidamanualmente <strong>em</strong> sujeitos comlesão vertebro-medular alta (LVMA) $Email: s<strong>em</strong><strong>em</strong>ail@s<strong>em</strong><strong>em</strong>ail.com.brPedro Miguel Seixas, Paulo Jorge Abreu, Miguel R. GonçalvesIntrodução: As complicações respiratórias, causadas sobretudo pela acumulação desecreções brônquicas, são a principal causa de morbilidade e mortalidade nos indivíduoscom lesão vertebro-medular alta (LVMA). Sendo a tosse um dos principais mecanismosde limpeza pulmonar, torna-se relevante perceber qual das técnicas/posição permite umaassistência mais eficaz à tosse nese tipo de doentes. Objetivos: Verificar para a posiçãode sentado (S) e decúbito dorsal (DD), qual das duas técnicas de tosse assistida - thrustabdominal (TA) e compressão torácica (CT) - é mais eficaz <strong>em</strong> relação à tosse voluntária(TV), <strong>em</strong> sujeitos com LVMA (C3-C6). Materiais e métodos: Amostra de dez sujeitoscom LVMA, sete homens e três mulheres, com idades entre 20 e 48 anos, com nível delesão entre C3-C6 e t<strong>em</strong>po duração superior a 11 meses. Todos os sujeitos apresentavamsíndrome ventilatória restritiva confirmada por espirometria. A eficácia da tosse foimedida pelo peak cough flow (PCF), obtido por meio de um standard peak flow meter.Cada manobra (TV, TA e CT) foi realizada cinco vezes nas duas posições, sendo utilizadapara o estudo a média dos três valores mais elevados. Análise estatística: Para análisedas diferenças entre os valores de PCF obtidos pelas diferentes técnicas e nas diferentesposições utilizou-se o t test para amostras <strong>em</strong>parelhadas, com nível de significânciade p
ISSN 1413-3555Rev Bras Fisioter, São Carlos, v. 12 (Supl), p. 28-136, set. 2008Revista Brasileira de Fisioterapia ©Apresentações Posteres28DOCÊNCIA EM FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA001 Análise do VO 2máx <strong>em</strong> renais crônicos apósexercícios físicos durante a h<strong>em</strong>odiálise $Email: cperes@certto.com.brCeleide Pinto Aguiar Peres, Vinícius Daher Alvares Delfi no, Antonio Fernando BrunettoIntrodução: A capacidade de exercício é reduzida <strong>em</strong> pacientes com doença renalcrônica, podendo ser determinada por testes de exercício cardiopulmonar e refletida nopico de consumo de oxigênio (VO 2). Estudos têm d<strong>em</strong>onstrado que o VO 2é um preditorna sobrevida desses pacientes. Objetivos: Comparar os valores do VO 2máx <strong>em</strong> pacientescom doença renal crônica (DRC) <strong>em</strong> programa de h<strong>em</strong>odiálise (HD) antes e após umprograma de exercícios físicos, obtidos indiretamente no Shuttle Walk test (SWT).Materiais e métodos: Cinqüenta e oito pacientes <strong>em</strong> HD participaram de um programade exercícios físicos (1hora/3x s<strong>em</strong>ana) durante as sessões de HD. Eles foram avaliadosdois meses antes (AV I), imediatamente antes (AV II) e oito s<strong>em</strong>anas após o programa deexercícios (AV III), pela análise do consumo máximo de oxigênio (VO 2máx) pelo ShuttleWalk test (SWT). Análise estatística: Os resultados foram expressos <strong>em</strong> médias e desviospadrão.Para comparação das medidas repetidas, utilizou-se a análise de variância(ANOVA one-way) seguida do teste post hoc de Bonferroni. A significância estatística foiestabelecida para α=5% (p< 0,05). Resultados: Houve aumento na distância percorrida noSWT (p
Email: josianefelcar@sercomtel.com.brJosiane Marques Felcar, Ana Paula Platz, Márcia Carine de SouzaIntrodução: A asma é uma doença pulmonar obstrutiva que pode causar alterações namusculatura respiratória do paciente. O treino da musculatura inspiratória exerce umimportante papel na terapia de reeducação funcional respiratória. Objetivos: Verificar ofortalecimento da musculatura respiratória, a capacidade de exercício e a qualidade de vida<strong>em</strong> pacientes asmáticos adultos, após treino muscular respiratório. Materiais e métodos:Estudo prospectivo com 12 pacientes asmáticos adultos. Pacientes com exacerbaçãoaguda da doença e <strong>em</strong> vigência de infecção pulmonar foram excluídos. A avaliação foicomposta de pressão inspiratória máxima (PImax) e pressão expiratória máxima (PEmax),Questionário de Qualidade de Vida Saint George (QQV) e teste da distância percorrida<strong>em</strong> seis minutos (Dp6). As medidas das PImax/PEmax foram realizadas por três vezese escolhido o melhor resultado. O Dp6 foi realizado de acordo com a American ThoracicSociety (ATS). O treinamento muscular respiratório foi realizado com threshold ® durante15 minutos, iniciando com 30% da PImax e aumento gradativo de 5% a cada duas s<strong>em</strong>anasda mesma carga. Após os três meses de treinamento os pacientes foram reavaliados. Otrabalho foi aprovado pelo Comitê de Bioética da instituição. Análise estátistica: Osresultados foram analisados no programa SPSS, utilizado o t-Student para os dados comdistribuição normal e Wilcoxon nos s<strong>em</strong> distribuição normal. A significância estatísticafoi estipulada <strong>em</strong> 5%. Resultados: A idade média dos pacientes foi de 47,17 anos (±16,93),sendo 91,7% do gênero f<strong>em</strong>inino e 8,3% do masculino. Após o período de treinamentomuscular respiratório houve uma melhora estatisticamente significativa na PImax(p=0,005) e no QQV (p=0,012), sendo que o mesmo não ocorreu na PEmax (p=0,475) n<strong>em</strong>no Dp6 (p=0,60). Conclusões: Após treino muscular inspiratório houve melhora na PImaxe na qualidade de vida dos pacientes, o que não ocorreu com a PEmax e a capacidade deexercício mensurada pelo Dp6 <strong>em</strong> pacientes asmáticos adultos.006 A relação ensino-aprendizag<strong>em</strong> das disciplinasde fi sioterapia respiratória <strong>em</strong> umafaculdade privada $Email: dayse.fi sio@yahoo.com.brDayse Costa Urtiga, Zênia Trindade de Souto AraújoIntrodução: O processo de ensino-aprendizag<strong>em</strong> é um conjunto de ações e estratégiasque o discente, individual ou coletivamente realiza, contando com a gestão facilitadorae orientadora do docente, para atingir os objetivos propostos pelo plano de formaçãoprofissional. O processo centra-se no educando com ênfase no método e no conteúdo,compreendendo a organização do ambiente educativo, a motivação dos participantes, adefinição do plano de formação, o desenvolvimento das atividades de aprendizag<strong>em</strong> e aavaliação do processo e do produto. Objetivos: Verificar a relação do processo ensinoaprendizag<strong>em</strong>na perspectiva dos discentes que vivenciam as disciplinas de PráticaClínica Fisioterapêutica <strong>em</strong> Pneumologia e Fisioterapia <strong>em</strong> Pneumologia na Faculdadede Ciências Médicas da Paraíba. Materiais e métodos: Trata-se de uma pesquisaobservacional, descritiva, <strong>em</strong> que os dados foram coletados por meio de um questionáriocom perguntadas estruturadas, contendo dados pessoais, formação acadêmica e ointeresse dos discentes por estas disciplinas. Análise estatística: As análises descritivae inferencial foram realizadas por meio do programa SPSS 15.0. Empregamos os testesde normalidade Kolmogorov-Smirnov (K-S), sendo analisada a diferença entre as médiasatravés do teste t de Student, Mann-Whitney e o coeficiente de Correlação de Pearsone Spearman, atribuindo um nível de significância de 5%. Resultados: A amostra contoucom 80 indivíduos, destes, 70% do gênero masculino, com faixa etária de 20 a 42 anos.Os dados obtidos d<strong>em</strong>onstram que as disciplinas de <strong>fisioterapia</strong> respiratória (teórica/prática) influenciam de forma bastante positiva na formação generalista do profissionalfisioterapeuta. Sendo o docente (45%), considerado como el<strong>em</strong>ento do aparelho formador,que mais contribui para facilitar o processo ensino-aprendizag<strong>em</strong>, reforçando a enormeresponsabilidade deste, na qualidade do processo educativo. Constatamos também, que odiscente é visto como agente ativo no processo de construção de seu próprio conhecimentoe não apenas sujeito passivo-receptor de informações transmitidas, desenvolvendosuas habilidades e competências na disciplina objeto de estudo. Conclusões: Pod<strong>em</strong>osconcluir que o presente estudo d<strong>em</strong>onstrou uma avaliação significativamente favorávelao processo de aprendizag<strong>em</strong>, que é a partir dela que se avalia o discente, o docente e osist<strong>em</strong>a. Os resultados apresentados suger<strong>em</strong> modificações para a melhoria da qualidadede ensino.FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIANA SAÚDE PÚBLICA007 Aplicabilidade da escala de risco de Torringtone Henderson de forma modifi cada $Eliane Regina Ferreira Sernache de Freitas, Aline Maria Tonin LeoniIntrodução: Torrington e Henderson elaboraram uma escala associando vários fatoresde risco conhecidos pela ocorrência de complicações pulmonares pós-operatória (CPP),determinando um valor para estes fatores, apoiado <strong>em</strong> observação clínica e dadosespirométricos, cuja somatória final permite graduar o risco de desenvolvimento dasmesmas <strong>em</strong> alto (AR), moderado (MR) e baixo (BR). Objetivos: Avaliar a aplicabilidadeda escala de Torrington e Henderson com a substituição dos dados espirométrico pelosdados da manovacuometria (PImax e PEmax) e do pico de fluxo expiratório (PFE) naestratificação do risco de ocorrência de CPP e de óbito, fornecendo a quantificaçãodo mesmo. Materiais e métodos: O estudo foi observacional, longitudinal, de coorteprospectivo, no qual 75 pacientes acima de 18 anos e internados para cirurgia torácica,abdominal - não assistidas por vídeo - e periférica, foram acompanhados no HospitalSanta Casa de Londrina. As avaliações foram realizadas durante internação pré-operatóriae monitoradas até a alta hospitalar ou óbito por um único pesquisador. Os pacientesforam atendidos normalmente pela equipe de <strong>fisioterapia</strong> da ISCAL. Análise estatística:Realizou-se análise descritiva das variáveis do estudo pelo cálculo das médias e desviospadrão.Estabeleceu-se para nível de significância estatística o valor de 5% (p
30prevenção, constituindo-se assim num dos principais probl<strong>em</strong>as de saúde ocupacional.Já a segurança do trabalho é definida como uma série de medidas técnicas e psicológicas,destinados a prevenir os acidentes profissionais, educando as pessoas nos meios de evitálos.Portanto, a prática da promoção da saúde e a prevenção de doenças vêm ganhandogrande popularidade, impulsionadas pelo interesse na qualidade de vida das pessoas.Objetivos: Realizar um levantamento sobre a saúde do trabalhador, as sintomatologiasrespiratórias ocupacionais, a análise da qualidade de vida e as medidas de biossegurançautilizadas pelos artesãos de redes da Feira da Pedra, do Município de São Bento, noEstado da Paraíba. Matérias e métodos: O mesmo caracterizou-se como um estudoqualitativo e quantitativo de caráter descritivo por observação não participante diretaextensiva; <strong>em</strong> que foram aplicados dois questionários de 1a 20 de outubro de 2007, <strong>em</strong>41 indivíduos, de ambos os sexos, com maior predominância de homens, entre faixasetárias de 19 a 58 anos e t<strong>em</strong>po de trabalho entre 1 e 15 anos, que estavam presentes naFeira da Pedra e trabalhavam na produção de redes, tendo como critérios de exclusão,os vendedores e compradores que não trabalhavam diretamente na produção de redes.Análise estatística: Os dados foram organizados <strong>em</strong> uma planilha Excel e processadosno programa Statistica. Resultados e conclusões: Assim, obteve-se os seguintes sintomasrespiratórios mais freqüentes antes e após a jornada de trabalho: espirro, falta de ar,tosse seca, tosse produtiva, pigarro, dor torácica e náuseas. Portanto, concluímos queesses sintomas estão relacionados diretamente com o t<strong>em</strong>po e ambiente de trabalho,exposição direta a poeiras, fumaças, ausência de ventilação, clima predominant<strong>em</strong>entequente, manipulação direta de produtos derivados do algodão, e ausência de medidasde biossegurança, das quais ets aúltima poderá contribuir com medidas e ações paraprevenção das doenças respiratórias ocupacionais.010 IMC e circunferência abdominal: associaçãocom fatores de risco cardiovascular $Email: eveline_fi sio@hotmail.comDayse Costa Urtiga, Eveline de Almeida Silva, Marcelle Gouveia de Mesquita, ZêniaTrindade de AraújoIntrodução: O índice de massa corporal (IMC) e a circunferência abdominal (CA)têm sido utilizados para avaliar a associação entre excesso de peso e morbidadecardiovascular, o risco relativo de diabetes tipo 2, cardiopatia coronariana e hipertensãomostra relação quase linear com o aumento do IMC entre valores de 21 e 30. Objetivos:Avaliar <strong>em</strong> uma população de adultos a associação dos fatores de risco cardiovascularcom o IMC e a circunferência abdominal. Materiais e métodos: Trata-se de uma pesquisaobservacional, descritiva, de uma população participante das atividades de extensão doPrograma Fisioterapia Cardiovascular-metabólica e Pulmonar, <strong>em</strong> que foram coletadosos dados de 175 indivíduos referentes ao sexo, idade, peso, altura, IMC, circunferênciaabdominal e pressão arterial sistêmica (PAS). Análise estatística: As análises descritivae inferencial foram realizadas por meio do programa SPSS 15.0. Aplicamos o teste denormalidade Kolmogorov-Smirnov (K-S), e o coeficiente de Correlação Spearman paraavaliar as correlações entre a cirtometria abdominal e o IMC, e o teste de Mann-Whitneypara verificar a diferença entre as variáveis estudadas e o gênero, atribuindo um nível designificância de 5%. Resultados: Dos indivíduos estudados, 60,6% eram do sexo f<strong>em</strong>ininoe 39,4% do sexo masculino. Destes 33,1% eram eutróficos, 41,7% sobrepeso, 15,4%obesidade grau I, obesidade grau II 7,4%, obesidade grau III 2,3%. A média de idade varioude 45,02±14,13 anos, o peso 69,11±15,80, altura 1,59±0,08, IMC 27,11±5,62, circunferênciaabdominal 88,70±13,39 e a pressão arterial sistêmica foi de 122,79. Houve correlaçãopositiva, forte e muito significante entre o IMC e a CA (r=0,887; p=0,000). Encontramosdiferenças significativas quando comparamos os gêneros com a CA (p=0,000), com o IMC(p=0,04) e a PAS (p=0,003). Conclusões: Os resultados da pesquisa confirmam dados daliteratura que apontam elevado poder explicativo tanto para o IMC quanto para a CA nadeterminação de fator risco cardiovascular, sugerindo que o incr<strong>em</strong>ento dos depósitos degordura aumente o risco da doença. Além disso, a combinação do IMC e da CA aumentouo poder explicativo dos índices isolados.011 Avaliação do pico de fl uxo expiratório dosagricultores de uma fazenda de fruticultura $Email: prisindianara@hotmail.comPriscilla Indianara Di Paula Pinto, Yldry Souza Ramos, João Marcelo Medeiros FernandesIntrodução: O consumo de agrotóxicos é bastante elevado, afetando consideravelmentea saúde da população, independent<strong>em</strong>ente desta estar sob exposição direta ou indireta.Anualmente, são cerca de 25 milhões de intoxicações <strong>em</strong> todo o mundo. Os sintomas sãob<strong>em</strong> variados, cujas principais manifestações repercut<strong>em</strong> sobre o sist<strong>em</strong>a respiratório,evidenciando a seriedade do probl<strong>em</strong>a. Objetivos: A partir dos dados da literatura eda observação dos efeitos à saúde dos seres humanos, teve-se o interesse <strong>em</strong> realizaresta pesquisa, objetivando-se avaliar o pico de fluxo expiratório (PFE) de agricultoresde uma fazenda de fruticultura. Materiais e métodos: Para tal, realizou-se estudo dedelineamento experimental, exploratório e transversal, com abordag<strong>em</strong> quantitativa. Paraseu desenvolvimento foram formados dois grupos para avaliação: grupo I de trabalhadoresrurais submetidos à exposição direta aos agrotóxicos e grupo II de exposição indireta,ambos definidos por amostrag<strong>em</strong> intencional adotando-se o critério de acessibilidade.Os dados foram coletados com uma amostra de 12,2% do universo de pesquisa, <strong>em</strong>borase tenha trabalho com 100% dos agricultores <strong>em</strong> exposição direta. A coleta dos dadosocorreu através dos seguintes instrumentos: questionário sócio-d<strong>em</strong>ográfico e protocoloRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.de avaliação para mensuração do PFE, tendo sido respeitados todos os aspectos éticosreferentes a pesquisas envolvendo seres humanos. Análise estatística: Para análise eprocessamento dos dados recorr<strong>em</strong>os à estatística descritiva, por meio de medidaspercentuais e medidas de posição/dispersão (média e desvio padrão) e os resultadosforam apresentados <strong>em</strong> forma de gráficos, tabelas e/ou figuras através do programa Excel.Resultados: Os achados desta investigação suger<strong>em</strong> que a exposição a agrotóxicos podeter como conseqüência o acometimento dos padrões respiratórios considerados normais,pois a maioria, 80% (16 sujeitos) dos pesquisados gerais (90% do grupo I e 70% do grupoII) apresentaram, segundo o PFE, obstrução leve, que dependendo do grau de exposição<strong>em</strong> anos posteriores pode desencadear uma patologia respiratória crônica. Ainda <strong>em</strong>relação aos parâmetros obstrutivos, 15% no geral apresentaram ausência de obstrução(10% do grupo I e 20% do grupo II) e 5% apresentou obstrução moderada (10% do grupoII). Conclusões: Concluiu-se que tanto a exposição direta quanto a indireta a agrotóxicosprejudicaram o sist<strong>em</strong>a respiratório dos agricultores, considerando os dois gruposestudados. Fato também comprovado ao verificar as médias do t<strong>em</strong>po de exposição aosagrotóxicos de ambos os grupos e a relação com o tabagismo, hábito existente para amaioria dos sujeitos.012 Transporte mucociliar <strong>em</strong> indivíduos fumantes:efeito imediato e após intervalo de cessação $Email: ercy@fct.unesp.brRafaella Fagundes Xavier, Carolina Bagnariolli Dias Rocha, Alexandre L<strong>em</strong>os Salomão,Alessandra Choqueta, Beatriz Martins Manzano, Daniela Mizusaki Iyomasa, Rafaela Bonfi m,Graciane Laender Moreira, Luciana Cristina Fosco, Luiz Carlos Marques Vanderlei, DioneiRamos, Ercy Mara Cipulo RamosIntrodução: É importante observar as modificações decorrentes da intoxicação pelo fumono transporte mucociliar nasal (TMN). Objetivos: Avaliar os efeitos imediatos do fumoativo e após oito horas s<strong>em</strong> fumar sobre o TMN. Materiais e métodos: Foram analisadosdados de 14 voluntários participantes do Programa de Orientação e ConscientizaçãoAnti-Tabagismo da FCT/UNESP de Presidente Prudente, oito mulheres e seis homens,com idade média de 46±17,93 anos e média de 38,7±29,32 anos/maço. A velocidadedo TMN foi mensurada por meio do teste do t<strong>em</strong>po de transporte da sacarina (TTS),imediatamente após o ato de fumar e após abstinência de oito horas. Para realização doteste os voluntários foram posicionados sentados com a cabeça lev<strong>em</strong>ente estendidae foram introduzidos cinco microgrãos de sacarina sódica granulada a dois cm paradentro da narina direita. O registro da velocidade de transporte foi realizado por meiode um cronômetro, disparado no momento da colocação da sacarina na narina de cadavoluntário e interrompido no instante do relato da sensação adocicada <strong>em</strong> sua boca. Osvoluntários foram orientados a não andar, falar, tossir, espirrar, coçar ou assoar o narize a engolir poucas vezes por minuto. As coletas de dados foram realizadas no mesmoperíodo do dia (entre 17-19 horas). Análise estatística: Teste t para dados pareados ecoeficiente de Correlação de Pearson, com p-valor
elato da sensação adocicada <strong>em</strong> sua boca. Os indivíduos foram orientados a não andar,falar, tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz, além de ser<strong>em</strong> instruídos a engolir poucasvezes por minuto. As coletas de dados foram realizadas no mesmo período do dia (entre17-19 horas). Análise estatística: Foi utilizado para análise dos dados teste t para dadospareados e coeficiente de Correlação de Pearson, com p-valor
32agravos à saúde no Brasil, apresentando elevado custo médico-social principalmente porsuas complicações ao sist<strong>em</strong>a cardiovascular. Objetivos: O objetivo do presente estudo foiavaliar <strong>em</strong> uma população de adultos brasileiros a importância relativa da circunferênciaabdominal para a ocorrência de hipertensão arterial. Materiais e métodos: Trata-se deuma pesquisa observacional, descritiva, com uma amostra composta por 116 sujeitosparticipantes do Programa Vida Saudável promovido pelo SESI, <strong>em</strong> que foram analisadasas variáveis: idade, altura, índice de massa corporal (IMC), peso, circunferência abdominal(CA), pressão arterial sistêmica (PAS) e classificação nutricional. Análise estatística:As análises descritiva e inferencial foram realizadas por meio do programa SPSS 15.0.Aplicamos o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (K-S), e o coeficiente de correlaçãoSpearman para avaliar as correlações entre a cirtometria abdominal e a pressão arterial,atribuindo um nível de significância de 5%. Resultados: A amostra foi constituída por116 sujeitos, sendo 61,2% do gênero f<strong>em</strong>inino e 38,8% do gênero masculino; com faixaetária (44,12±15,29) anos, peso entre 42,50 e 129,50 (67,97±15,05)Kg, altura (1,59±0,09)m,IMC (26,79±5,36)Kg/m2, circunferência abdominal entre 64 e 129 (88,06±12,98)cm, PAS122x79mmHg. Destes, 35,3% eram eutróficos, 39,7% sobrepeso, 16,4% obesidade grau I,6,0% obesidade grau II e 2,6% obesidade grau III. Observamos correlação moderada <strong>em</strong>uito significante entre a cirtometria abdominal e a pressão arterial sistêmica (r=0,554;p=0,000). Conclusões: Com base nesses resultados, considera-se que o aumento dacircunferência abdominal é um fator de risco para a hipertensão arterial sistêmica econstitui-se um probl<strong>em</strong>a de saúde pública. Este estudo aponta para a importânciada inclusão da mensuração da CA na rotina dos serviços de saúde. A aferição de CA,independente das medidas tradicionalmente já realizadas (massa corporal e estatura),poderá contribuir para a identificação precoce ou suspeição de hipertensão arterial.019 Analysis of glyc<strong>em</strong>ic behavior in elderly diabeticsduring the self paced step test $Email: marlus70@gmail.comMarlus Karsten, Daniela Bassi, Lidiane Veloso Teixeira, Diogo Thomaz Pereira, Karen MurielSimonIntroduction: Capillary blood glucose (CBG) is a simple fast and accurate method toassess and monitor glucose availability in the blood, making it an essential analysis tosecure safe physical activities for diabetics individuals. During physical efforts the CBGtends to decrease, which could lead the individual into a hypoglyc<strong>em</strong>ia state that couldcompromise their safety. The assessment of tolerance to exercise in diabetic individualshas not been well explored. Objectives: Analyzing the behavior of CBG during the<strong>em</strong>ployment of the self paced step test (SPST) which aims for determining its applicabilityin elderly non-insulin-dependent diabetics. Materials and methods: The sample wascomposed of nineteen elderly diabetic patients, composed of six men and 13 women, allclinically stable. The SPST was applied twice (S1 and S2), with a minimal interval of 30minutes between th<strong>em</strong>. The patients were encouraged verbally by the examiner everyminute of the test. The CGB was measured at three different periods: when in rest (pretest),at the end of the test (test) and 15 minutes after the end of the test (post-test).The t-Student test was used for the comparison between tests and the ANOVA for thecomparison of different moments of each test, both with significance level of 95%. Results:The 19 elderly (66.1±5 years old) completed the tests with out difficulty. There was nosignificant difference between the CBG values in the pre-test, test and post-test, in the tworepetitions of the SPST. Nevertheless a difference between S1 and S2 was observed, p
esponderam que achavam importante a presença da Fisioterapia na Unidade Básica deSaúde (UBS) para prestar uma assistência mais qualificada à população. Foi verificadatambém a carência de esclarecimentos sobre os efeitos nocivos do tabagismo para estapopulação e o quanto é necessária a intervenção assistencial para melhorar a qualidadede vida desses fumantes e ex-fumantes. Conclusões: O ato de fumar, independent<strong>em</strong>enteda faixa etária, predispõe o indivíduo às complicações que afetam toda a sua saúde, e quepor esta razão há a necessidade da participação ativa da <strong>fisioterapia</strong> na UBS no processo depromoção e recuperação da saúde da população.023 Prevalência da síndrome metabólica <strong>em</strong>funcionários públicos de João Pessoa (PB) $Email: giselebrasileiro@ig.com.brDayse Costa Urtiga, Eveline de Almeida Silva, Gisele Barros Soares, Marcelle Mesquita,Veruschka Ramalho ArarunaIntrodução: A síndrome metabólica (SM) é um transtorno complexo caracterizado porum conjunto de fatores de risco que se manifestam por meio de alterações fenotípicascomo: obesidade abdominal, hiperinsulin<strong>em</strong>ia, dislipid<strong>em</strong>ia e hipertensão. O diagnósticoda SM é dado quando três ou mais fatores estiver<strong>em</strong> presentes numa mesma pessoa,sendo a obesidade abdominal um fator essencial para o diagnóstico. Objetivos: Analisara prevalência da SM <strong>em</strong> um grupo de funcionários públicos. Materiais e métodos: Foramavaliados aleatoriamente 49 voluntários, de ambos os sexos, de uma <strong>em</strong>presa pública dacidade de João Pessoa, por meio da coleta dos seguintes dados: sexo, idade, circunferênciaabdominal ( fita métrica graduada <strong>em</strong> milímetros), pressão arterial (tensiômetro da marcaTycos), glic<strong>em</strong>ia de jejum (glicosímetro digital), sendo analisados por meio da IV DiretrizBrasileira sobre Dislipid<strong>em</strong>ias e Prevenção de Aterosclerose da Sociedade Brasileira deCardiologia 2001. Análise estatística: Os dados foram organizados e aplicou-se o testede uma proporção considerado significativo quando p
34Introdução: O fumo tornou-se um grande probl<strong>em</strong>a de saúde pública na história dahumanidade e estima-se que no ano de 2030, ele deverá ser a maior causa isolada d<strong>em</strong>orte, podendo ser responsável por 10 milhões de óbitos por ano. Entre os componentesdo cigarro, a nicotina é considerada uma droga psicoativa que exerce efeito estimulanteno sist<strong>em</strong>a nervoso central. Ela é responsável pela dependência física, que torna ofumante escravo do tabaco. A fim de estimar o grau de dependência nicotínica éutilizado mundialmente como ferramenta de avaliação, o Questionário de Tolerânciade Fagerström (QTF) <strong>em</strong> substituição a outros testes de custos mais elevados queconsom<strong>em</strong> mais t<strong>em</strong>po ou são invasivos. A espirometria é a forma mais simples d<strong>em</strong>ensuração da função respiratória, e do ponto de vista fisiopatológico, é consideradocomo um exame primordial, pois permite assegurar a existência de limitação do fluxoaéreo. Objetivos: Avaliar o grau de dependência à nicotina dos acadêmicos dos cursosde Ciências Agrárias (Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária) da Universidade deRio Verde, GO, correlacionar a relação VEF1/CVF com o grau de dependência à nicotinae com o t<strong>em</strong>po que os acadêmicos fumam. Materiais e métodos: Foi aplicado o QTFnos acadêmicos das faculdades de Ciências Agrárias da Universidade de Rio Verde,fumantes regulares há mais de um ano, e <strong>em</strong> seguida realizada a espirometria, por meiode um espirômetro portátil, <strong>em</strong> que foram coletados os resultados de VEF1 e CVF. Foramavaliados 38 acadêmicos de ambos os sexos, com média de idade de 26,32 anos (±10,62),foram classificados a dependência nicotínica e realizada a relação VEF1/CVF. Análiseestatística: Utilizou-se a estatística descritiva para cada questão do questionário, ANOVAseguida do teste de Tukey HSD para verificar a relação do grau de dependência à nicotinacom a relação VEF1/CVF e com o t<strong>em</strong>po que fuma, sendo considerado como nível designificância p
era
36e Educação Física, tiveram os maiores índices de tabagistas e ambos totalizaram 22,2%,entretanto, no curso de Direito apenas cinco universitários aderiram à pesquisa, o queimpossibilita sua comparação com os d<strong>em</strong>ais. A prevalência de tabagismo encontradana literatura é superior à encontrada <strong>em</strong> nosso estudo, entretanto, este panorama s<strong>em</strong>odifica quando eles relatam que, dentre os universitários tabagistas, 64,7% pertenc<strong>em</strong>ao sexo masculino, número inferior ao que encontramos. Conclusões: Merec<strong>em</strong> nossaatenção os indivíduos do sexo masculino adulto jov<strong>em</strong>, cuja porcentag<strong>em</strong> de tabagistasmostrou-se mais prevalente. Mesmo com o baixo índice de tabagismo encontrado, faz-senecessários estudos futuros que identifiqu<strong>em</strong> a incidência do vício nesta população e queelucid<strong>em</strong> os fatores que determinam seu envolvimento com o tabaco.036 Comparação da qualidade de vida de cuidadoresde crianças com e s<strong>em</strong> fi brose cística $Email: betalinsfi sio@yahoo.com.brIsabella Albuquerque, Letícia Braga Ribeiro Zocrato, Roberta Lins GonçalvesIntrodução: Qualidade de vida (QV) é um conceito bastante discutido atualmente. É umtermo subjetivo, que leva <strong>em</strong> conta não só a ausência de doença, mas também um b<strong>em</strong>estar físico-psíquico-social, podendo diferir não apenas individualmente, mas também <strong>em</strong>diferentes níveis sócio-econômico-culturais e <strong>em</strong> diferentes estágios da vida. Muita ênfaset<strong>em</strong> sido dada a QV de indivíduos com doenças crônicas, mas pouca ou nenhuma atençãot<strong>em</strong> sido dada a QV dos cuidadores destes indivíduos. A Organização Mundial de Saúdepropõe a avaliação da QV das pessoas que conviv<strong>em</strong> e/ou cuidam de doentes crônicos,apontando a vivência de pessoas <strong>em</strong> situações de estresse como situação prioritária paraa diminuição da QV. A fibrose cística (FC) é uma doença crônica, caracterizada por umaextensa disfunção genética das glândulas exócrinas, a qual resulta <strong>em</strong> um vasto conjuntode manifestações e complicações. Dessa forma, os cuidadores de crianças portadoras deFC estão expostos a um estresse prolongado, já que os indivíduos com FC exig<strong>em</strong> atençãoconstante e tratamento intensivo. Objetivos: Comparar a QV de cuidadores de crianças come s<strong>em</strong> FC. Materiais e métodos: Estudo descritivo, do tipo coorte transversal, aprovado peloComitê de Ética <strong>em</strong> pesquisa. A amostra foi composta por 120 cuidadores de crianças, sendo65 cuidadores de crianças com FC (grupo experimental - GE) e 55 cuidadores de criançass<strong>em</strong> FC (grupo controle - GC). Os indivíduos do GE foram selecionados aleatoriamenteno Centro Geral de Pediatria (CGP-MG), referência <strong>em</strong> FC, constituindo 41% das criançascadastradas com FC. Os indivíduos do GC foram selecionados por conveniência entrecuidadores de crianças dos profissionais do hospital CGP e conhecidos dos pesquisadores.Para a mensuração da QV dos cuidadores foi utilizado o questionário WHOQOL-Brev. Paraa análise do questionário foram utilizados os critérios propostos pela equipe australiana doWHOQOL. Os escores foram pontuados utilizando-se o software estatístico SPSS, versão 11.5e para se analisar diferenças entre os grupos foi utilizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney, sendo considerada a diferença significativa quando p
ambientes fechados. Conclusões: Diante dos resultados encontrados, o número deentrevistados tabagistas, ou que tinham algum contato com o tabaco, ainda é relevante,d<strong>em</strong>onstrando assim que é de suma importância profissionais capacitados que favoreçama discussão desse t<strong>em</strong>a com a população, <strong>em</strong> nível primário.041 Comparação da função pulmonar <strong>em</strong> idososacamados, sedentários e que realizamatividade física regular $Email: julianalc@gmail.comEdberto Yamato, Juliana Loprete CuryIntrodução: O envelhecimento caracteriza-se por modificações fisiológicas que afetamtodos os sist<strong>em</strong>as orgânicos do indivíduo de caráter estrutural e comportamental. Osist<strong>em</strong>a respiratório sofre grandes prejuízos com as mudanças de vários aspectos anátomofuncionaisfundamentais como a estrutura osteoarticular, muscular, de tecido pulmonar etambém comportamental como o sedentarismo. Objetivos: Comparar a função pulmonarde idosos acamados, não acamados sedentários e que realizam atividade física regular.Materiais e métodos: Foram avaliados 36 idosos entre 60 e 80 anos, por meio de entrevistae mini exame do estado mental. Após esta etapa foram divididos <strong>em</strong> três grupos segundoprotocolo de gasto energético diário, <strong>em</strong>: grupo acamado (Gac: 8 sujeitos - 71,25±10,28anos, 66,13± 8,15Kg e 164,50± 8,96cm), grupo sedentário (Gsd: 14 sujeitos - 71,50±5,68anos, 69,29±15,60Kg e 162,64±10,03cm) e grupo ativo (GAt: 14 sujeitos - 66,21±12,60 anos,62,39±12,60Kg e 155,86±8,44cm). A avaliação da função pulmonar constou de medida daforça muscular respiratória (PImax e PEmax segundo Black e Hyat, 1969), medida dosvolumes e capacidades pulmonares (Ventilômetro Ferraris) e medida da mobilidadetorácica (técnica utilizada por Kakisaki, 1999). Análise estatística: Todos os valores estãodescritos <strong>em</strong> méia±desvio padrão. Para significância estatística foi utilizado teste ANOVAcom post hoc de Bonferroni considerando p
38a prevalência do tabagismo <strong>em</strong> uma escola pública e privada, como medida profiláticada <strong>fisioterapia</strong> cardiorrespiratória na atenção a saúde do adolescente. Materiais <strong>em</strong>étodos: Pesquisa de campo, observacional, transversal, com estudantes adolescentesde uma escola pública e privada na cidade de Niterói, RJ, no período de março a abril de2008. Para coleta de dados foi aplicado um questionário s<strong>em</strong>i-estruturado, padronizado,auto-aplicável, contendo questões abertas e fechadas. Foram pesquisados estudantesadolescentes, na faixa etária de 13 a 18 anos, de ambos os sexos, cursando do 9º ano ensinofundamental ao 3º ano do ensino médio. Resultados: A prevalência geral foi de 8,6%. Aprevalência na escola pública foi de 17,7% e privada de 5,3%. A idade média de iniciaçãodo tabaco foi aos 15 anos, o sexo predominante o masculino (13%), não havendo diferençaentre os sexos na escola privada (masculino 2,4% e f<strong>em</strong>inino 2,9%). A experimentação, <strong>em</strong>ambas as escolas, foi de 18%. Os alunos que não fumam relataram maior percentual de pai(14%) e mãe (15%) fumantes, <strong>em</strong> relação à resposta dos alunos fumantes: pai (1%) e mãe(2%), porém, ambos, relataram ter amigos fumantes, 65% e 100%, respectivamente. Osalunos da escola pública (94%) e da escola privada (96%) responderam não se sentir maisvalorizados por fumar. Conclusões: Embora a experimentação tenha sido igualmenteelevada <strong>em</strong> ambas as escolas, houve maior prevalência do tabagismo na escola públicae nos estudantes do sexo masculino. A maior influência na iniciação foi por parte dosamigos, além de pequena correlação entre tabagismo e auto-estima, <strong>em</strong> ambos os grupos.Todos os adolescentes que fumam, relataram conhecer os malefícios do tabagismo nasaúde, porém <strong>em</strong> menor grau na população estudada pertencente à escola pública.046 A estrutura das representações sociaisdos fi sioterapeutas acerca da autonomiaprofi ssional $Email: marthasuellen@yahoo.com.brMartha Suellen de Lacerda Miranda, Natasha Teixeira MedeirosIntrodução: Com a evolução da Fisioterapia e a construção de uma atuação cada vezmais importante na saúde pública, a autonomia profissional t<strong>em</strong> sido t<strong>em</strong>a relevanteà compreensão da profissão, tanto na definição de seus desafios e objetivos, comona maneira que esses profissionais se relacionam e se apresentam para a equipe desaúde e para a sociedade <strong>em</strong> geral. Objetivos: Assim, esta pesquisa teve como objetivocaracterizar as representações sociais de fisioterapeutas atuantes <strong>em</strong> unidades de terapiaintensiva do município de Fortaleza, CE acerca da autonomia profissional. Materiais <strong>em</strong>étodos: Adotou-se como referencial a teoria das representações sociais de acordo coma abordag<strong>em</strong> estrutural. Análise estatística: Os dados foram analisados por meio daconstrução do quadro de quatro casas do programa EVOC 2000. Resultados: A coleta dedados foi realizada por meio da técnica de evocação livre do termo autonomia profissionalcom 30 fisioterapeutas, sendo 83,3% mulheres, 73,3% atuantes <strong>em</strong> instituições privadas,73,3% com idade entre 21 e 31 anos, 66,6% com menos de cinco anos de formação e53,3% somente graduados. Os resultados indicaram como possíveis el<strong>em</strong>entos centraisda representação, os termos liberdade e responsabilidade e como el<strong>em</strong>entos periféricoscompromisso, independência e segurança. Conclusões: Conclui-se que o estudo permitiuidentificar poucas contradições entre os el<strong>em</strong>entos de uma mesma representação,d<strong>em</strong>onstrando um grau de homogeneidade de expressões positivas <strong>em</strong> função dascaracterísticas sociais profissionais do grupo estudado. Além disso, o resultado tambémsinaliza para suas limitações, voltadas para a necessidade de compl<strong>em</strong>entações utilizandoabordagens multimetodológicas, assim como análises comparativas entre as diversasáreas de atuação do fisioterapeuta.047 Tabagismo entre estudantes de um cursode graduação <strong>em</strong> Educação Física $Email: leo_fi sioterapia@hotmail.comLeonardo Capello Filho, Patrícia Lira Bizerra, Sandro Lacerda Silva Pinho, Letícia Alves Paiva,Rafaela Echeverria Souza, Cean Nabadi Casa Granda Silva, Arthur de Almeida Medeiros,Mara Lisiane de Moraes dos Santos, Adriane Pires BatistonIntrodução: O tabagismo é considerado a maior causa evitável isolada de morbimortalidade,causando a morte de três milhões de pessoas por ano <strong>em</strong> todo o mundo,sendo o Brasil um grande mercado consumidor, envolvendo 32,6% da população maiorde 15 anos. Hábitos como o tabagismo, tend<strong>em</strong> a iniciar-se na adolescência, sendopertinente a investigação epid<strong>em</strong>iológica do tabagismo para planejamento de ações paraa prevenção e cessação do fumo. Objetivos: Determinar a freqüência do tabagismo entreestudantes do curso de Educação Física do período noturno da Universidade CatólicaDom Bosco, b<strong>em</strong> como fatores associados ao hábito de fumar e sua cessação. Materiaise métodos: Foram entrevistados todos os 143 estudantes do curso de Educação Física doperíodo noturno presentes no dia da pesquisa. Utilizou-se um questionário estruturadoauto-aplicado, investigando-se variáveis sócio-d<strong>em</strong>ográficas e hábitos de vida. Análiseestatística: Os resultados foram analisados pelo programa Epi-Info 3.3.2, com nível designificância de 5%. Resultados: Foram entrevistados 62 mulheres (43%) e 81 homens(56%). Em relação ao hábito tabágico, encontrou-se 13,3% de fumantes, 83,9% de nãofumantese 2,8% de ex-fumantes, não havendo diferença na freqüência do fumo <strong>em</strong>relação ao sexo (p=0,20). Os fumantes apresentaram <strong>em</strong> média 24,1±4,81 anos, (médiae desvio padrão da média) os ex-fumantes 31±11,75 anos e os não-fumantes 22,91±4,82anos (p=0,006). Os motivos relacionados ao início do fumo não diferiram entre os sexos(p=0,22), sendo mais citados a curiosidade (57,9%) e a influência de amigos (21,1%). 52,6%Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.consideram o cigarro relaxante e prazeroso e 57,9% dos fumantes desejam parar de fumar,mas encontram dificuldades. Conclusões: Embora conheçam seus malefícios, estudantesda área da saúde ainda são consumidores de cigarro. O fumo desencadeia diversosmalefícios, seu abandono é considerado difícil e penoso por seus usuários e requer umaatenção interdisciplinar, priorizando-se a prevenção do início do hábito.048 Análise da mortalidade por doenças doaparelho respiratório no estado do ceará:2005 a 2007 $Email: marthasuellen@yahoo.com.brMartha Suellen de Lacerda Miranda, Ingrid Correia Nogueira, Natasha Teixeira MedeirosIntrodução: A análise da situação de saúde das populações, por meio da quantificaçãodas variáveis, contribui efetivamente para mensurar o estado de saúde e b<strong>em</strong> estar dascoletividades, a fim de que sejam feitos diagnósticos, realizadas intervenções e avaliadosseus impactos. Estudar esta situação, assim como seu enfrentamento, apresentasepara os trabalhadores da área da saúde como um desafio de grande complexidade.Objetivos: O objetivo deste estudo foi analisar a mortalidade por doenças do aparelhorespiratório no estado do Ceará, no período de 2005 a 2007. Materiais e métodos: Tratasede um estudo retrospectivo, quantitativo e descritivo. Análise estatística: Os dadosforam analisados no programa Excel e apresentados <strong>em</strong> forma de gráficos. Os dadossecundários foram obtidos a partir do Sist<strong>em</strong>a de Informações sobre Mortalidade (Sim/Datasus). Consideram-se como as mais importantes doenças do aparelho respiratório asdoenças relacionadas com infecções respiratórias das vias aéreas superiores, pneumoniase doenças respiratórias crônicas. Utilizou-se a cálculo da taxa de mortalidade porcausas específicas, sendo o numerador relacionado ao número de óbitos pela causa e odenominador à população exposta no ano equivalente, multiplicada pela potência de 10.Resultados: Em 2005, foi encontrada a taxa de 18,21%, 20,49% <strong>em</strong> 2006 e 17,37% <strong>em</strong> 2007.Em termos de mortalidade por causas específicas proporcionais, t<strong>em</strong>-se 9,40 <strong>em</strong> 2005,10,03 <strong>em</strong> 2006 e 7,95 <strong>em</strong> 2007. Diante destes resultados, percebeu-se que a taxa aumentouno primeiro intervalo e diminuiu no segundo. Entretanto, quando comparados os valoresabsolutos de óbitos dos três anos, observou-se uma elevação, enquanto que a populaçãoexposta aumentou no primeiro intervalo, <strong>em</strong> seguida decrescendo. Conclusões: Estesdados sinalizam para o fato de que não se deve perder de vista que as ações voltadas àassistência fisioterapêutica dev<strong>em</strong> ultrapassar a melhoria da assistência e chegar a umcontexto mais amplo de abrangência da saúde pública. Essa ferramenta é indispensávele representa importante subsídio para futuros estudos e impl<strong>em</strong>entações de políticas desaúde focalizadas. Especificamente, para esta categoria profissional estreitamente ligadaàs afecções respiratórias, favorece à ampliação de uma abordag<strong>em</strong> integral nas respostasaos probl<strong>em</strong>as de saúde, relacionadas à promoção, prevenção de doenças, tratamento ereabilitação <strong>em</strong> todas as esferas de atenção.049 Avaliação do nível de atividade física<strong>em</strong> indivíduos portadoresde hipertensão arterial sistêmica $Email: nopagani@hotmail.comNoeli Pagani, Aline Pereira Mendes, Adriana Vieira Macedo, Renato Canevari Dutra da Silva,Rayslla Souza Silva, Thaís Olimpio Fagundes, Hernane Sousa Carvalho, Maria de FátimaRodrigues da SilvaIntrodução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma síndrome multifatorial, cujaprevalência no Brasil atinge de 22% a 44% da população urbana adulta. A importânciadessa doença, do ponto de vista de saúde pública, reside no fato <strong>em</strong> que ela apresentagrande prevalência na população e conseqüentes complicações cardiovasculares,coronarianas e renais, causando uma alta taxa de morbi-mortalidade. Apesar da grandenocividade, essa patologia pode ser facilmente controlada, devido à existência detratamentos farmacológicos com alta eficiência e poucos efeitos colaterais e medidasnão farmacológicas de baixo custo e alta eficácia que pod<strong>em</strong> ser realizadas isoladamenteou associadas ao tratamento. Uma dessas medidas não-farmacológicas é o aumentoda prática regular de atividade física. Estudos epid<strong>em</strong>iológicos têm d<strong>em</strong>onstrado que aprática regular da atividade física apresenta efeitos benéficos na prevenção e tratamentoda HAS e de suas complicações. Objetivos: Avaliar o nível de atividade física <strong>em</strong>indivíduos portadores de hipertensão arterial sistêmica no município de Rio Verde, GO eidentificar possíveis diferenças no nível de atividade física entre os sexos e idades dessesindivíduos. Materiais e métodos: O presente trabalho foi realizado por meio da aplicaçãodo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) <strong>em</strong> 109 indivíduos portadoresde HAS devidamente cadastrados no Centro de Assistência Integral à Saúde (CAIS) de RioVerde,GO, sendo 42 indivíduos do sexo masculino e 67 do sexo f<strong>em</strong>inino, com média deidade de 60,95(±10,86), anos que faziam uso de medicação anti-hipertensiva regularmentepor mais de um ano, com verificação e confirmação de dados pessoais e clínicos por meioda consulta dos prontuários dos mesmos. Análise estatística: Os dados colhidos foramanalisados por meio da análise descritiva, sendo possível avaliar o nível de atividade físicados sujeitos de pesquisa, correlacionando com o sexo e as idades, observando a diferençado nível de atividade física entre os sexos e as faixas etárias através do teste t Student.Resultados: Verificou-se que 44,03% destes indivíduos foram classificados como ativos e55,97% como insuficient<strong>em</strong>ente ativos. O nível de atividade física teve valores maiores nosexo f<strong>em</strong>inino e na faixa etária de 61 a 70 anos. O sexo f<strong>em</strong>inino apresentou-se com maiores
percentuais de ativos (50,75%) e para o sexo masculino apenas 28,57% foram classificadoscomo ativos. Conclusões: Os indivíduos portadores de HAS cadastrados no CAIS de RioVerde, GO, 55,97% não atenderam aos critérios mínimos de atividade física recomendadospelo CDC (2000), entretanto, 44,03% são ativos. Houve diferença percentual entre o nívelde atividade física <strong>em</strong> relação aos sexos, sendo as mulheres classificadas como mais ativasque homens.050 Função pulmonar <strong>em</strong> trabalhadores da pintura naindustria do mobiliário $Email: alezano@terra.com.brAlessandra Zanovelli-Publio, Cláudia Ferreira de Queiroz, Elidiana Ferreira NascimentoIntrodução: Dentre as doenças ocupacionais pulmonares, descritas como maisprevalentes na indústria do mobiliário estão: a asma ocupacional, rinite alérgica, úlcerade septo nasal, bronquite crônica e enfis<strong>em</strong>a pulmonar. Sendo assim, a avaliação dafunção pulmonar é parte integrante de um instrumento de monitorização ocupacionalimportante e obrigatório pela NR7 que determina, aos trabalhadores expostos a agentesagressores, realizar além do raio X de tórax, exames laboratoriais e espirometria.Objetivos: Observar se houve alteração da função pulmonar <strong>em</strong> trabalhadores daindústria de móveis, acompanhados por um período de dois anos, <strong>em</strong> um programa dehigiene ocupacional. Materiais e métodos: Foi realizado um estudo prospectivo queanalisou os exames espirométricos de 44 trabalhadores de ambos os sexos, que passarampor avaliações admissionais e periódicas <strong>em</strong> um programa de higiene ocupacionalentre o período de 2002 a 2006. Dentro dos critérios de inclusão, foram estabelecidos:trabalhadores não-fumantes, na faixa etária dos 16 a 45 anos de idade que realizavamfunção no setor de pintura há mais de dois anos e que tivess<strong>em</strong> realizado dois examesde função pulmonar entre o período de 2002 a 2006, com diferença de pelo menos umano entre eles, além de preencher todos os critérios de aceitabilidade e reprodutibilidadepara espirometria. Como critérios de exclusão: trabalhadores que referiram doençaspulmonares associadas, fumantes e ex-fumantes. Antes da realização dos testes, cadatrabalhador preencheu um questionário, ATS/78, de avaliação de sintomas e históriaocupacional. Foi realizada análise descritiva do grupo estudado, para a verificaçãode associação entre t<strong>em</strong>po de ocupação e VEF1 e t<strong>em</strong>po de ocupação e FEF25-75%.Foram realizados testes de Correlação de Person e o teste t-Student para comparaçãoentre as variáveis dos exames admissionais e periódicos. Resultados: 94% eram do sexomasculino e 6% do sexo f<strong>em</strong>inino; a média de idade e do t<strong>em</strong>po de ocupação no exameperiódico foi 27,6±5,83, e de 10,15±6,20 anos no exame periódico; 15% referiram sintomasrespiratórios. As médias de CVF, VEF1,VEF1/CVFe FEF25-75% do primeiro exame, foramrespectivamente de 3,83±0,38; 3,37±0,37, 77,69±11,07 e 3,19±0,74 e do exame periódicoforam 4,72±0,74; 4,04±0,69 ;86,03±4,20 e 7,15±1,56. Não houve diferença significativa dosvalores de VEF1 e FEF25-75% entre o exame admissional e o periódico. Conclusões: Nãoforam observadas alterações significativas entre valores espirométricos nos períodos deacompanhamento periódico destes indivíduos, podendo-se atribuir esses resultados aoprograma de higiene ocupacional e ao efeito do trabalhador saudável.FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA051 Correlação entre força muscular respiratóriano pré e complicações <strong>em</strong> pós operatóriosde cirurgia cardíaca $Aline Maria Tonin Leoni, Eliane Ferrreira Sernache de FreitasIntrodução: A cirurgia cardíaca é uma intervenção de grande porte, que,independent<strong>em</strong>ente do tipo de procedimento, cursa com alterações fisiopatológicasque predispõ<strong>em</strong> as complicações pós-operatórias. As complicações respiratórias pósoperatórias(CRP) são as mais comuns e estão relacionadas a fatores de risco presentes nopré-operatório. Os principais fatores de risco estudados são: idade, doenças pulmonaresprévias, tabagismo, mal estado nutricional, função pulmonar alterada. Fatores estes,que levam à alteração na integridade do sist<strong>em</strong>a respiratório, podendo comprometer amecânica e as trocas gasosas. Objetivos: Verificar se a função muscular respiratória, abaixodos valores preditos no pré-operatório, pode ser considerada como fator de risco de CRPe/ou óbito, <strong>em</strong> pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva. Materiais e métodos:Estudo de coorte prospectivo, <strong>em</strong> que 50 pacientes acima de 18 anos submetidos àcirurgia cardíaca eletiva foram avaliados <strong>em</strong> relação à força muscular respiratória (PImaxe PEmax), ventilação voluntária máxima (VVM) e pico de fluxo expiratório (PFE), dadosde identificação e história clínica também foram colhidos. No pós-operatório, o avaliadorpesquisou e acompanhou diariamente os registros realizados pela equipe cirúrgica, paraverificar os dados sobre o t<strong>em</strong>po de cirurgia, circulação extra-corpórea (CEC), t<strong>em</strong>pode internação e a identificação da ocorrência de CRP e/ou óbito. Os pacientes foramdivididos <strong>em</strong> dois grupos: G1=vulneráveis - PImax e/ou PE Max 60% do predito (n=26). Análise estatística: Adistribuição dos dados foi analisada com o teste de qui-quadrado (X2); os dados comdistribuição normal foram apresentados como média±desvio-padrão para os dadoscontínuos e freqüência absoluta e relativa para os dados categóricos. Para a comparaçãodos dois grupos, utilizou-se o teste t Student para amostras independentes. Resultados:A população estudada foi de 50 pacientes, <strong>em</strong> que 28 eram homens (56%), a idad<strong>em</strong>édia do grupo foi de 60,4±11,2anos, IMC 25,2±3,5KGm2, 28% apresentavam sintomasrespiratórios e 18% eram portadores de doença pulmonar prévia, 32% eram tabagistas e24% ex-tabagistas. O percentual geral de CRP e/ou óbito foi de 34%. Em relação à PImax,as CRP ocorreram <strong>em</strong> 62,5% dos vulneráveis, e <strong>em</strong> 7,7% dos não-vulneráveis (p
40(60%) no GE (p=0,3). A síndrome do baixo débito e o sangramento excessivo foram ascomplicações mais freqüentes. Apenas um paciente (5,26%) apresentou complicaçãoneurológica (agitação psicomotora), este encontrava-se no GE (p=0,4). Conclusões:Diante dos resultados contatou-se que os pacientes do GE apresentaram maior incidênciade complicações pulmonares e cardiovasculares, b<strong>em</strong> como, o único caso de complicaçãoneurológica pertencia a este grupo. Sugere-se que tais resultados sejam <strong>em</strong> decorrênciado maior t<strong>em</strong>po de CEC a que foram submetidos tais pacientes.054 Perfil de pacientes revascularizados admitidos pela<strong>fisioterapia</strong> <strong>em</strong> uma unidade de pós-operatório $Email: fi sioenf@hotmail.comMauricio de Sant’Anna Júnior, Cláudio Vieira Catharina, Fernanda de Moraes Brum,Naira Valéria Bastos Lopes, Rachel de Faria Abreu, Leonardo Coelho Eboli, AdalgizaMafra MorenoIntrodução: A cirurgia é uma alternativa para muitas doenças cardiovasculares, sendo umadelas a revascularização do miocárdio (RVM). A ventilação mecânica, doenças respiratóriasprévias, circulação extracorpórea (CEC), idade avançada pod<strong>em</strong> acarretar <strong>em</strong> efeitosdeletérios. Objetivos: Descrever o perfil dos pacientes submetidos à RVM admitidos pela<strong>fisioterapia</strong> <strong>em</strong> unidade de pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca <strong>em</strong> um hospital dereferência do município de Niterói, RJ. Materiais e métodos: Estudo retrospectivo realizadopor meio de análise descritiva de dados coletados <strong>em</strong> prontuários de pacientes submetidosà RVM no hospital de <strong>cardiologia</strong> Procordis. As informações coletadas foram: idade, sexo,diagnósticos associados, número de pontes realizadas, artérias acometidas, t<strong>em</strong>po de CEC,t<strong>em</strong>po de tubo orotraqueal (TOT) e intercorrências no PO. Análise estatística: Análisedescritiva dos dados por meio de média, desvio padrão e porcentag<strong>em</strong>. Resultados: Foramverificados 120 prontuários dos quais 37 foram excluídos por não apresentar<strong>em</strong> todas asinformações. Nos 83 prontuários analisados encontramos média de idade 65,6±9,4 anos.Quanto ao sexo 63% eram do sexo masculino e 37% f<strong>em</strong>inino. A obstrução biarterialfoi mais freqüência, sendo a artéria descendente anterior a mais acometida com 46%,seguido de marginal 27% e diagonal 15%. O enxerto mais freqüente foi de mamária com62%. As patologias prévias freqüentes foram hipertensão arterial (HAS) 40%, infarto agudodo miocárdio prévio e diabetes 18%, ed<strong>em</strong>a agudo de pulmão 9%, artrite reumatóide 6%,dislipid<strong>em</strong>ia, hipotireoidismo, asma e polimiosite 3%. O t<strong>em</strong>po de CEC obteve média de86,5±25,3 minutos com 260,1±283,1 minutos de TOT. A HAS foi a intercorrência maisfreqüente no PO imediato, com 64% seguida de derrame pleural 18%, bloqueio átrioventriculartotal e extra-sístole 9%. Foi observado 0,8% de necessidade de reintubação.Verificados 3,7% de óbitos e 1,8% de cirurgias <strong>em</strong>ergenciais. Conclusões: Admitimospacientes idosos, <strong>em</strong> que as cirurgias eletivas são mais presentes. Apesar das co-morbidadesassociadas, o t<strong>em</strong>po de CEC e TOT são satisfatórios e mesmo com intercorrências, os óbitossão pouco freqüentes.055 Qualidade de vida após infarto agudo miocárdio:avaliação com os questionários Mac New QLMIe SF-36 $Email: eriksonalcantara@hotmail.comErikson Custódio Alcântara, Elmiro Santos Resende, Elizabeth Rodrigues de Morais, CristianeLeal Morais e Silva Ferraz, Patrícia Resende Nogueira, Leonardo Lopes NascimentoIntrodução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma doença que resulta quase s<strong>em</strong>preda aterosclerose coronariana. A qualidade de vida (QV) ligada à saúde diz respeito aograu de limitação e desconforto que a doença ou tratamento relacionado a ela acarretamao paciente e à sua vida. Trata-se de um conceito que traz consigo uma elevada carga desubjetividade. Objetivos: Correlacionar a QV, avaliada <strong>em</strong> pacientes após IAM por meiodos questionários Mac New QLMI e SF-36, associando os escores dos domínios físico,<strong>em</strong>ocional e social com o tratamento instituído e fatores de risco. Materiais e métodos:Foram estudados 96 pacientes, sendo 25 do sexo f<strong>em</strong>inino e 71 do sexo masculino,com idade média de 54,3±5,9, que apresentaram episódio de IAM. Os pacientes foramselecionados no período de dez<strong>em</strong>bro de 2003 a janeiro de 2004 via serviço de arquivomédico do Hospital de Clínicas de Uberlândia (UFU). Foram utilizados os questionáriosde QV Mac New QLMI, um instrumento específico, e o SF-36, um instrumento genérico.Análise estatística: Os dados foram analisados por técnicas descritivas e a correlaçãodos escores de cada domínio dos questionários foi avaliada no grupo aplicando-se análisede variância. Resultados: Os resultados d<strong>em</strong>onstram que: a) os escores dos domíniosfísico e social têm alta correlação entre os questionários; b) a realização do cateterismocardíaco é o único procedimento instituído que se correlaciona com todos os domíniosdo questionário específico; c) a correlação entre a presença dos fatores de risco, diabetesmellitus e dislipid<strong>em</strong>ia, com a QV são os que se destacam significant<strong>em</strong>ente (p
Introdução: O limiar de anaerobiose (LA) é considerado um marcador de transição dometabolismo aeróbico/anaeróbico e t<strong>em</strong> sido <strong>em</strong>pregado na avaliação da capacidadefuncional <strong>em</strong> níveis submáximos de exercícios. Esse importante parâmetro fisiológicov<strong>em</strong> sendo amplamente utilizado na prescrição de treinamento físico de forma segurae eficaz. Porém, o padrão ouro para detecção do LA é o teste de esforço cardiopulmonar,o qual necessita de equipamentos caros, restritos a poucos serviços de reabilitaçãocardiorrespiratória. Desta maneira seria interessante a disponibilização de umaferramenta de menor custo para este fim. Objetivos: Desenvolver uma ferramenta baseadana modelag<strong>em</strong> autoregressiva (AR) aplicada à freqüência cardíaca (FC) para detecção doLA que possa posteriomente ser desenvolvida <strong>em</strong> um software e disponibilizada parautilização <strong>em</strong> serviços de reabilitação. Materiais e métodos: Catorze adultos jovens (20-29 anos, média 24,46±4,05), sedentários, do sexo masculino foram avaliados por meio daergoespirometria <strong>em</strong> esteira ergométrica, segundo um protocolo de rampa. A FC foi obtidaa partir da análise dos intervalos RR registrados utilizando o cardiofrequencímetro PolarS810. O LA foi obtido pelo método ventilatório (visual gráfico - padrão ouro) realizadopor três especialistas e pelo modelo mat<strong>em</strong>ático AR aplicado aos dados de FC. O estudofoi aprovado pelo Comitê de Ética <strong>em</strong> Pesquisa da instituição. Análise estatística: Testesde comparação usando a Correlação de Pearson e teste t pareado foram realizados comnível de significância de 0,05. Resultados: Foi observada correlação positiva e significativa(r=0,65; p=0,01) entre o padrão ouro e o LA obtido pela FC. Por outro lado, o teste t pareadod<strong>em</strong>onstra (p=0,004) que as médias do t<strong>em</strong>po de identificação do LA no padrão ouro(464,64±63,20s) e FC (545,50±113,70s) são diferentes. Conclusões: Os resultados indicaramque a ferramenta desenvolvida pode ser utilizada na determinação do LA por meio de ummétodo não invasivo e de baixo custo. No entanto, o des<strong>em</strong>penho da ferramenta deve seraperfeiçoado para identificação de valores mais próximos dos obtidos pelo padrão ouro.059 É possível predizer a melhora na variabilidadeda frequência cardíaca após treinamentona DPOC ? $Email: vivianelaburu@hotmail.comViviane de Moraes Laburú, Carlos Augusto Camillo, Fernanda Priore Tomasi, VanessaSuziane Probst, Fábio Pitta, Antônio Fernando BrunettoIntrodução: Em idosos saudáveis, o treinamento físico melhora a função autonômicacardíaca observada por meio de um aumento na variabilidade da freqüência cardíaca(VFC). Hipotetiza-se que isso também se aplica a pacientes com doença pulmonarobstrutiva crônica (DPOC), pois programas de exercício também melhoram a capacidadede exercício nessa população. Sabe-se que pacientes com DPOC que apresentam menorlimitação ao fluxo aéreo apresentam melhor resposta a programas de treinamento. Porém,não há estudos que descrevam se algum índice avaliado antes do treinamento podepredizer quais pacientes apresentarão melhora na VFC após um programa de exercíciosna DPOC. Objetivos: Verificar se o sexo, IMC, limitação ao fluxo aéreo e capacidadede exercício pod<strong>em</strong> predizer melhora da VFC após um programa de exercícios de altaintensidade. Materiais e métodos: Catorze indivíduos portadores de DPOC (9 mulheres;65±5anos; VEF1 46±16%predito) foram estudados antes e após um programa de exercíciosde três meses (três sessões s<strong>em</strong>anais de treinamento de endurance <strong>em</strong> bicicleta e esteirae fortalecimento muscular). Todos os pacientes foram submetidos à espirometria e àavaliação da capacidade funcional (teste de caminhada de seis minutos-TC6) e máxima deexercício (teste cardiopulmonar máximo de esforço - TCPE). Foram utilizados os índicesdistância percorrida no TC6 (<strong>em</strong> porcentag<strong>em</strong> do predito - TC6%pred) e pico de consumode oxigênio medido de forma direta durante o TCPE (pico VO2). A avaliação da VFC foirealizada por meio do head-up tilt test, e as variáveis utilizadas foram a diferença pós-prédo índice SDNN (ΔSDNN) e da média dos intervalos R-R (ΔR-R) do domínio do t<strong>em</strong>po.Análise estatística: A correlação das mudanças na VFC com as diferentes variáveisfoi feita por meio do coeficiente de Correlação de Pearson. Para comparar a diferençada modulação autonômica cardíaca após o treinamento entre homens e mulheres foiutilizado o teste t não-pareado. O nível de significância foi determinado como p≤0,05.Resultados: Houve correlação do ΔSDNN com VEF1 (r=0,68; p=0,007), pico VO2 (r=0,61;p=0,02) e TC6pred% (r=0,52; p=0,05). Não houve correlação entre o ΔR-R com nenhumavariável estudada. Não houve diferença nas mudanças na VFC entre homens e mulheresapós treinamento. Conclusões: A melhora na variabilidade da freqüência cardíaca apóstreinamento de alta intensidade <strong>em</strong> pacientes com DPOC se correlacionou com umamaior capacidade de exercício e uma menor limitação ao fluxo aéreo antes do início dotreinamento. Por outro lado, a melhora da VFC após treinamento físico foi independentedo sexo e do IMC.060 Fatores associados à utilizaçãode ventilação não-invasivano pós-operatório cardiovascular $Email: vel_aju@hotmail.comAdriana Cássia de Meneses, Fabíola Santos Zambon Robertoni, Veronica Maria de SouzaXavier, Vanessa Marques Ferreira Méndez, Gustavo Barbosa Perondini, Irac<strong>em</strong>a IocoKikuchi UmedaIntrodução: A ventilação não-invasiva (VNI) é freqüent<strong>em</strong>ente citada na literaturacientífica, como terapia coadjuvante no pós-operatório de cirurgia cardiovascular, porproporcionar benefícios como melhora da oxigenação e diminuição do trabalho damusculatura respiratória. Objetivos: Identificar os fatores que apresentam correlaçãopositiva com o uso da VNI na terapêutica pós-extubação de pacientes submetidos àcirurgia cardiovascular. Materiais e métodos: Foi elaborada ficha para coleta dos dadosrelacionados aos fatores de risco pré, intra e pós-operatórios e aplicada num total de 414pacientes. Foram incluídos todos aqueles submetidos à cirurgia de revascularização domiocárdio, a intervenções valvares (plastias, comissurotomias e implantes), à correçãode aneurisma de aorta torácico e os submetidos a mais de uma intervenção simultâneano período de maio a set<strong>em</strong>bro de 2006. Análise estatística: Para verificar associaçãoentre as variáveis foram utilizados o teste não-paramétrico de Mann-Whitney e oteste qui-quadrado de Pearson (p
42anestesia geral associada a peridural; 20 necessitaram de circulação extracorpórea e comrelação a quantidade de drenos torácicos, 21 pacientes possuíram 1 dreno e 50 dois drenostorácicos. Conclusões: Percebeu-se que o perfil dos pacientes atendidos pela <strong>fisioterapia</strong>,são na sua maioria do sexo masculino, raça branca, com comorbidade mais frequente dediabetes mellitus, com diagnóstico de insuficiência coronariana, características estas quet<strong>em</strong> influência direta na evolução dos pacientes no pós-operatório.063 Testes de capacidade funcional nainsufi ciência cardíaca $Email: idpa02@yahoo.com.brDenise Maria Servantes, Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira, Ivan Daniel BezerraNogueira, Amália Pelcerman, Ana Fátima Salles, Xiomara Miranda Salvetti, Dirceu Rodriguesde Almeida, Marco Túlio de Mello, Japy Angelini Oliveira FilhoIntrodução: O teste da caminhada de seis minutos (TC6M) t<strong>em</strong> sido associado a esforçossubmáximos; a distância percorrida é preditora de sobrevivência, se correlacionando coma classe NYHA e a qualidade de vida. O teste cardiopulmonar (TCP) permite determinara capacidade funcional e avaliar a gravidade e a eficácia do tratamento na insuficiênciacardíaca (IC). Objetivos: Comparar o comportamento das variáveis cardiovascularesno TC6M e TCP, e correlacionar à distância percorrida no TC6M com o consumode oxigênio no pico (VO2 pico) e no limiar anaeróbio (LA). Materiais e métodos: Emestudo piloto, avaliou-se 13 pacientes (54% homens), 49,7±7,7 anos, <strong>em</strong> classe II NYHA.O TC6M foi realizado <strong>em</strong> corredor de 30 metros, com monitorização da pressão arterial(método auscultatório), freqüência cardíaca ( freqüencímetro de pulso Polar), freqüênciarespiratória, saturação de oxigênio (oxímetro de pulso) e percepção de esforço (escalade Borg 6-20), e o TCP <strong>em</strong> esteira (protocolo de Weber). Na estatística, utilizou-se oteste t-Student (p
Email: renatinha_ferrari@yahoo.com.brRenata Salatti Ferrari, Fábio Cangeri Di Naso, Juliana Saraiva Pereira, Renata GiovanaBianchi, Simone Zani Beatricci, Alexandre Simões Dias, Mariane Borba MonteiroIntrodução: Na insuficiência cardíaca (IC), os músculos inspiratórios, a função pulmonare a condição funcional pod<strong>em</strong> estar comprometidas de maneira progressiva, conforme ograu de severidade da doença. Objetivos: Avaliar e comparar entre as classes funcionaisa força muscular inspiratória máxima, a função pulmonar e a condição funcional <strong>em</strong>pacientes com IC. Materiais e métodos: Estudo transversal incluindo 60 pacientes com ICCrônica (40 homens), que não possuíam doença pulmonar prévia. A amostra foi selecionadade forma não probabilística e intencional com pacientes que pertenciam às classesfuncionais I, II e III segundo a NYHA (New York Heart Association). A função pulmonar(volume expiratório forçado no primeiro segundo – VEF1 – e capacidade vital forçada– CVF) foi avaliada por meio do microespirômetro One Flow (Cl<strong>em</strong>ent Clark ® , EstadosUnidos) e a força muscular inspiratória máxima (PImax), por meio do manovacuômetrodigital MVD-300 (GlobalMed ® , Brasil). A condição funcional foi avaliada pela distânciapercorrida no teste da caminhada dos seis minutos (TC6M). Análise estatística: Foramutilizados os testes de ANOVA e Bonferroni com nível de significância adotado de 5%(p
44072 Teste de força de uma repetição máximae prescrição de exercícios resistidos nainsufi ciência cardíaca $Email: idpa02@yahoo.com.brDenise Maria Servantes, Ivan Daniel Bezerra Nogueira, Patrícia Angélica de Miranda SilvaNogueira, Amália Pelcerman, Ana Fátima Salles, Xiomara Miranda Salvetti, Dirceu Rodriguesde Almeida, Marco Túlio de Mello, Japy Angelini Oliveira FilhoIntrodução: O teste de força de uma repetição máxima (T-1RM) é realizado para prescriçãode exercícios resistidos <strong>em</strong> programas de treinamento na insuficiência cardíaca (IC). Nãoexiste consenso sobre padronização e segurança do T-1RM na IC. Objetivos: Analisaro comportamento de variáveis cardiorrespiratórias, logo após o T-1RM, e avaliar aaplicabilidade da carga 30-40% de 1RM para treinamento na IC. Materiais e métodos: Emestudo piloto, avaliaram-se 13 pacientes (54% homens), 49,7±7,7anos, classe II NYHA. Foirealizado T-1RM com pesos livres para m<strong>em</strong>bros superiores ( flexo-extensão de cotovelo)e inferiores ( flexo-extensão de joelho), com monitorização da pressão arterial (PA, métodoauscultatório), freqüência cardíaca (FC, freqüencímetro de pulso Polar), freqüênciarespiratória, saturação de oxigênio (SaO2, oxímetro de pulso) e percepção de esforço (Borg6-20), <strong>em</strong> repouso e pós-teste imediato. A carga inicial foi 5Kg, progredindo ou regredindo 1Kgpelo aparecimento de movimentos compensatórios (critério de interrupção) e percepçãodo esforço. A seguir, aplicaram-se exercícios <strong>em</strong> 30-40% de 1RM. Análise estatística: Testet-Student (p
Introdução: As complicações pulmonares pós-operatórias (CPPs) comumente observadas<strong>em</strong> pacientes submetidos à cirurgia cardíaca apresentam significativa morbidade <strong>em</strong>ortalidade. A literatura d<strong>em</strong>onstra que indivíduos que possu<strong>em</strong> valores baixos daspressões respiratórias máximas (PRM) no período pré-operatório possu<strong>em</strong> maior risco dedesenvolver CPPs. O treinamento muscular inspiratório (TMI) t<strong>em</strong> sido bastante utilizado<strong>em</strong> diversas desordens, apontando melhoras na resistência e na força dos músculosinspiratórios. Objetivos: Avaliar um protocolo pré-operatório de TMI, a curto prazo,para indivíduos que irão submeter-se a revascularização miocárdica eletiva. Materiaise métodos: Estudo piloto experimental de coorte longitudinal, do tipo caso controle,realizado <strong>em</strong> dois hospitais da cidade de Natal. Doze pacientes compuseram a amostra, osquais foram divididos <strong>em</strong> dois grupos. O grupo de treinamento, após uma avaliação inicial,foi submetido à TMI domiciliar por 15 minutos, duas vezes ao dia, durante duas s<strong>em</strong>anas.A carga utilizada foi equivalente a 30% da pressão inspiratória máxima (PImax), reajustadaapós as reavaliações a cada três dias. O grupo controle realizou uma avaliação inicial dasPRM e não recebeu TMI. Análise estatística: Utilizou-se o programa SPSS 15.0 atribuindonível de significância de 5%. Inicialmente foi realizada uma estatística descritiva paracaracterização da amostra. Após o teste de normalidade, foi utilizado o teste de t-Studentnão pareado para verificar diferenças na PImax e PEmax antes e após a intervenção.Diferentes comparações foram realizadas entre a PImax e PEmax da avaliação inicial comcada uma das cinco reavaliações, através do teste t-Student pareado. Foi aplicado o teste deCorrelação de Pearson para analisar associações entre as medidas de PImax e PEmax comas diferentes cargas utilizadas. Resultados: Constatou-se um ganho significativo nas PRMquando comparado os valores antes e após o treinamento (36,67cmH2O para a PImax e33,33cmH2O para a PEmax). Foi observado um significativo incr<strong>em</strong>ento nas PRM quandofoi comparada a média de cada reavaliação com a da avaliação inicial, sendo constatadoque a partir do terceiro dia de treinamento esse ganho foi significativo (p=0,017 para PImaxe p=0,042 para PEmax). Constatou-se ainda uma correlação positiva entre os níveis de cargautilizada e a PImax. Conclusões: O protocolo de TMI testado neste estudo apresentouadequada eficácia para o ganho de força muscular pré-operatória a partir do terceiro dia detreinamento domiciliar. Este poderá ser uma ferramenta útil para beneficiar, a curto prazo,pacientes que são submetidos a revascularização miocárdica.077 Infl uência do uso de contraceptivos orais namodulação autonômica da frequência cardíaca,na capacidade aeróbia e nos níveis lipídicos d<strong>em</strong>ulheres jovens sedentárias $Email: marciocl<strong>em</strong>entino@ig.com.brMarcio Cl<strong>em</strong>entino de Souza Santos, Ana Cristina Silva Rebelo, Roberta Silva Zuttin,Marcelo de Castro César, Marlene Aparecida Moreno, Aparecida Maria Catai, Luis EduardoBarrto Martins, Ester da SilvaIntrodução: Os contraceptivos orais figuram entre as causas que pod<strong>em</strong> contribuir paradoenças cardiovasculares, assim faz-se necessário a identificação precoce dos fatoresde risco por intermédio de métodos de avaliação da integridade cardíaca. Objetivos: Opropósito deste estudo foi analisar e comparar a influência dos contraceptivos orais (CO)na capacidade aeróbia, durante o teste de esforço físico dinâmico contínuo do tipo rampa(TEFDC-R) no pico do exercício e no limiar de anaerobiose (LA), na modulação autonômicada freqüência cardíaca (FC) <strong>em</strong> repouso, assim como os níveis lipídicos de colesteroltotal e triglicérides <strong>em</strong> mulheres jovens sedentárias. Materiais e métodos: O trabalho foiaprovado pelo Comitê de Ética da instituição. Foram estudadas 20 voluntárias, saudáveiscom 23,55±1,88 anos, divididas <strong>em</strong> dois grupos de dez, considerando as que utilizam (GT)e as que não utilizam (GC) contraceptivos orais. Protocolos experimentais: a) TEFDC-Rergoespirométrico, com incr<strong>em</strong>entos de potência de 15Watts/min (W/min), e captaçãodas variáveis ventilatórias e metabólicas, respiração a respiração; b) captação da FC e dosintervalos R-R a partir do registro do eletrocardiograma (ECG) <strong>em</strong> repouso na posiçãosupina; e c) análise bioquímica de sangue. A captação da FC foi realizada na fase foliculardo ciclo menstrual no GC, e na fase ativa (GT-FA) e inativa (GT-FI) do uso dos CO no GT.Análise estatística: Teste não paramétrico de Wilcoxon para amostras pareadas e testede Mann-Whitney para amostras não pareadas. Resultados: As variáveis ventilatóriase metabólicas obtidas a partir do TEFDC-R (potência (W), consumo de oxigênio (VO2) <strong>em</strong> mL.Kg.min-1 e L/min, produção de dióxido de carbono (VCO2) <strong>em</strong> L/min, razãoVO2 / VCO2 (RER), ventilação minuto (VE) <strong>em</strong> L/min e FC <strong>em</strong> bpm) apresentaram-ses<strong>em</strong>elhantes (p>0,05) entre os GC e GT.) no pico e no LA, respectivamente. Na comparaçãoentre os grupos nenhum índice do domino do t<strong>em</strong>po (DT) e domino da freqüência (DF)da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) apresentaram significância estatística(p>0,05) na condição supina. Conclusões: O uso de CO não influenciou na capacidadeaeróbia e na modulação autonômica da FC, contudo, o GT apresentou valores limítrofesde colesterol total e triglicérides, figurando os CO como fatores de risco importante parao desenvolvimento da doença arterial coronariana.Introdução: Índices significativos de morbidade e mortalidade estão ligados àscomplicações pulmonares decorrentes da cirurgia cardíaca. Vários são os fatores de riscojá consolidados na literatura, e <strong>em</strong> associação a estes o uso de circulação extracorpórea(CEC), além do comprometimento da função muscular respiratória decorrente doprocesso cirúrgico estão diretamente associados às complicações pós-operatórias (CPPs).Ainda, a fraqueza dos músculos respiratórios está associada direta ou indiretamenteao prejuízo desta musculatura durante o ato cirúrgico o que pode acarretar desdedisfunção até falência dos músculos respiratórios. Portanto, a avaliação e a interpretaçãodas pressões respiratórias máximas permit<strong>em</strong> diagnosticar a ocorrência de fraquezamuscular respiratória ainda no pré-operatório. Objetivos: Avaliar se os valores para aspressões respiratórias máximas abaixo do previsto pod<strong>em</strong> ser preditores de complicaçãopulmonar pós-operatória e/ou maior permanência hospitalar <strong>em</strong> pacientes submetidosà cirurgia cardíaca com CEC. Materiais e métodos: Estudo observacional, longitudinalde coorte prospectivo no qual participaram 14 sujeitos, maiores de 18 anos, submetidos àcirurgia cardíaca eletiva com uso de CEC. Os pacientes foram avaliados no pré-operatórioe divididos <strong>em</strong> dois grupos: não expostos (NE) e expostos (E). Neste último grupoencontravam-se os pacientes cuja PImax e/ou PEmax fosse ≤75% dos valores previstos.Todos os pacientes foram acompanhados no pós-operatório até a alta hospitalar a fim deverificar a ocorrência de complicações pulmonares. Análise estatística: Os dados foramanalisados através do programa SPSS 15.0 atribuindo-se o nível de significância de 5%.Para avaliar diferenças entre os grupos expostos e não-expostos quanto a PImax e PEmaxfoi aplicado o teste t-Student não pareado e quanto às variáveis categóricas foi utilizado oteste de Fisher (usando a mediana). Com relação às variáveis contínuas (t<strong>em</strong>po de dreno,UTI e internação), foi utilizado o teste de Mann-Whitney (através da mediana) paracomparar a diferença entre os grupos. As d<strong>em</strong>ais variáveis foram descritas por meio d<strong>em</strong>édia e desvio padrão. Resultados: Verificou-se diferença estatisticamente significativa,tanto para PImax (p valor=0,001) como PEmax (p valor=0,004), entre os grupos NE e E. Osresultados revelaram também diferença estatisticamente significativa entre os grupos nonúmero total de dias de internação (p=0,027). A incidência de CPPs foi de 20%. Conclusões:Os resultados suger<strong>em</strong> que pacientes submetidos a cirurgia cardíaca que apresentam nopré-operatório as pressões respiratórias máximas abaixo dos valores previstos tend<strong>em</strong> aapresentar maior incidência de CPPs e maior permanência hospitalar.079 Comportamento da freqüência cardíaca de alunasde fi siotarapia durante estágio <strong>em</strong> UTI $Email: lucianamanhaes@hotmail.comLuciana Ferreira Manhães, Luiz Guilherme Grossi Porto, Valéria Sovat de Freitas CostaIntrodução: O aparelho cardiovascular t<strong>em</strong> por função fornecer fluxo sanguíneoadequado à d<strong>em</strong>anda. Diferentes estímulos como estresse <strong>em</strong>ocional e o esforço físico,pod<strong>em</strong> evocar ajustes cardiovasculares, que frequent<strong>em</strong>ente implicam <strong>em</strong> alteraçõesna freqüência cardíaca (FC). O ambiente de unidade de terapia intensiva (UTI) éreconhecidamente estressante, além de comumente exigir esforço físico do fisioterapeuta.Objetivos: Analisar o comportamento da freqüência cardíaca (FC) de alunas concluintesdo curso de Fisioterapia durante o período de estágio <strong>em</strong> UTI. Materiais e métodos: Opresente estudo foi realizado com nove alunas voluntárias do curso de <strong>fisioterapia</strong> doCentro Universitário de Brasília (UniCeub), selecionadas por conveniência, com médiade idade±DP de 23,8±3,6 anos, que realizaram o estágio <strong>em</strong> UTI no primeiro s<strong>em</strong>estrede 2008. A FC monitorada durante a segunda e a terceira s<strong>em</strong>ana de estágio, por meiode freqüencímetro Polar, modelo Advantage NV ® . Os registros eram armazenados nomonitor Polar e posteriormente transferidos para o computador por meio do programaPolar Precision Performance 2.1, do próprio fabricante. Cada voluntária teve dois períodosde permanência na UTI monitorados. Avaliou-se comparativamente as médias dosmenores e dos maiores valores da FC dentro da UTI. Calculou-se as variações absolutase relativas dessas duas circunstâncias. Foram avaliadas também as intensidades relativasde FC atingida dentro da UTI com base na FC máxima prevista para a idade, com base nafórmula 220-idade (FCmax). Análise estatística: Em virtude da distribuição não-normal dealgumas variáveis (teste de Kolmogorov-Sirnov), <strong>em</strong>pregou-se estatística não-paramétrica,utilizando-se teste de Mann-Whitney ao nível de significância de 5% para avaliação dasdiferenças observadas. Resultados: A mediana (extr<strong>em</strong>os) dos menores valores de FC(observados enquanto as alunas faziam evolução dos pacientes) foi significativament<strong>em</strong>enor: 78,5 (60,0-98,0) que os maiores valores (observado <strong>em</strong> procedimento de aspiraçãodos pacientes) 131,5 (110,0-150,0) (p=0,004). A FC elevou-se <strong>em</strong> 54,5bpm (35,5-60,0 bpm),o que representou uma elevação percentual mediana de 69,3% (45,8-92,0%). A intensidaderelativa mediana foi de 66,4% da Fcmax, com percentil 75% igual a 72,6% da FCmax,valores esses compatíveis com um exercício de moderada intensidade. Conclusões: Osdados observados indicaram que houve significativa elevação da FC de alunas concluintesdo curso de <strong>fisioterapia</strong> durante estágio <strong>em</strong> UTI. Nas fases ativas do atendimentoobservou-se mudança funcional importante, com elevação da FC a intensidades relativascompatíveis com exercícios físicos de leve a moderada intensidade.078 Pressões respiratórias máximas e prediçãode risco pós-operatório <strong>em</strong> cirurgia cardíacacom CEC $Email: raissa_borja@yahoo.com.brKarilin Tereza Santiago de Oliveira, Talita Pascalle Macêdo Diógenes, Raíssa de OliveiraBorja, Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça080 Funcionalidade e qualidade de vida apósprograma de exercício físico <strong>em</strong> pacientesrenais crônicos $Email: regimarcia@yahoo.com.brRegina Márcia Faria de Moura, Renata Cristina Magalhães Lima, Andréia Albina Sousa Lima,Geisa Oliveira Melgaço, Wellington Cássio Ribeiro PedrosaRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.45
46Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é caracterizada por perda lenta, progressivae irreversível da função renal. O tratamento h<strong>em</strong>odialítico é responsável por um cotidianomonótono e restrito favorecendo o sedentarismo. As principais alterações observadassão baixa capacidade aeróbica, perda de força muscular e conseqüent<strong>em</strong>ente limitaçãofuncional e pior qualidade de vida. Em virtude dessas alterações t<strong>em</strong> sido proposto comoparte do tratamento desses indivíduos programas de exercício físico. Objetivos: Avaliara capacidade funcional e QV de indivíduos com IRC <strong>em</strong> tratamento h<strong>em</strong>odialítico apósseis s<strong>em</strong>anas de execução de um programa de exercícios físicos realizados <strong>em</strong> domicílio.Materiais e métodos: Foram recrutados indivíduos com IRC no setor de Nefrologia doHospital São Francisco de Assis (HSFA), Belo Horizonte, MG que estivess<strong>em</strong> aptos aparticipar do programa. A capacidade funcional foi avaliada pelos testes de habilidade parasubir e descer escadas, velocidade de marcha, sentado para de pé. A QV foi avaliada peloquestionário específico para doença renal crônica Kidney Disease and Quality of Life-ShortForm (KDQOL-SF). Os testes e o questionário foram aplicados antes e após o programa.O programa teve duração de seis s<strong>em</strong>anas sendo quatro vezes por s<strong>em</strong>ana <strong>em</strong> domicílioe uma vez por s<strong>em</strong>ana no HSFA. Nos encontros os participantes eram questionados sobrea prática ou não dos exercícios. O programa foi composto de exercícios de aquecimento,fortalecimento global, 20 minutos de caminhada seguido de resfriamento com duração totalde aproximadamente 60 minutos. As cargas foram aumentadas gradativamente de acordocom a tolerância de cada participante. Foram confeccionadas caneleiras, agenda para queos participantes anotass<strong>em</strong> os dias que realizaram as atividades e folder explicativo sobre oprograma de exercícios. Análise estatística: A análise foi realizada por meio de estatísticadescritiva, freqüência e teste t de Student para amostras pareadas (p
Objetivos: Descrever o nível de atividade física (ATF) e de QV <strong>em</strong> pacientes submetidos àfase ambulatorial da RC. Materiais e métodos: Realizou-se estudo transversal descritivo,com amostra selecionada por conveniência <strong>em</strong> sete clínicas/centros de condicionamentofísico de Brasília, DF, especializados <strong>em</strong> RC. Avaliou-se 52 voluntários, 44 homens (84,6%)e 8 mulheres (15,4%), com média de idade de 66,2±10,8 anos. Empregou-se ficha decaracterização da história clínica, o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)para avaliação do nível de ATF e o Medical Outcome Study 36-itens Short-form (SF-36)para avaliação da QV. Análise estatística: Calculou-se as medianas (extr<strong>em</strong>os) dos oitodomínios do SF-36 e a proporção de indivíduos por nível de ATF. Comparou-se o t<strong>em</strong>pode RC com os domínios do SF-36, por meio do teste de Krusskal-Wallis. Calculou-se acorrelação de Spearman entre valores do SF-36 <strong>em</strong> cada domínio e o t<strong>em</strong>po de RC, s<strong>em</strong>preao nível de 5% de significância. Resultados: 69,2% dos voluntários estavam ativos e 30,8%insuficient<strong>em</strong>ente ativos. Observou-se elevados valores medianos (extr<strong>em</strong>os) nos oitodomínios do SF-36, a saber: capacidade funcional: 80 (0-100); limitação por aspecto físico:100 (0-100); dor: 84 (10-100); estado geral de saúde: 74,5 (22-100); vitalidade: 80 (25-100);aspectos sociais: 87,5 (25-100); aspectos <strong>em</strong>ocionais: 100 (0-100) e saúde mental: 82 (40-100). Em 75% dos casos os valores de todos os domínios do SF-36 foram ≥61,0. Observousecorrelação positiva entre t<strong>em</strong>po de RC e os domínios limitação por aspectos físicos(rs=0,46; p=0,0006) e vitalidade (rs=0,35; p=0,01). Em aspectos <strong>em</strong>ocionais e limitaçõespor aspectos físicos, observou-se valores de QV superiores entre aqueles com mais de 12meses de RC (n=26), comparativamente àqueles com menos de 6 meses (n=16) (p< 0,01).Conclusões: Observou-se elevado nível de QV nos oito domínios do SF-36 na maioria(75%) dos participantes inseridos <strong>em</strong> sete programas de RC. Observou-se importantequantitativo de pacientes que, mesmo aderindo a programa de RC, ainda não atingiram omínimo de ATF preconizada pela OMS.085 Capacidade funcional <strong>em</strong> insufi ciência cardíaca:ergoespirometria e perfi lde atividade humana $Email: d.fi sio@ig.com.brDanielle Aparecida Gomes Pereira, Raquel Rodrigues Britto, Danielle Soares Rocha Vieira,Maria Clara Noman de Alencar, Susan Martins Lage, Giane Amorim Ribeiro Samora, CamilaCamargos Zampa, Verônica Franco ParreiraIntrodução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome crônica caracterizada porintolerância ao exercício associada a dispnéia e fadiga. A forma mais acurada de avaliaçãoda capacidade de realizar exercício físico é a mensuração direta do consumo de oxigêniode pico ou VO2pico. Porém, outras formas de avaliação são utilizadas na tentativa dequantificar a gravidade da incapacidade funcional nestes indivíduos. A classificação da NewYork Heart Association é uma delas, mas apresenta a limitação inerente da interpretaçãosubjetiva do avaliador. Mais recent<strong>em</strong>ente, questionários têm sido considerados paraavaliar capacidade funcional <strong>em</strong> indivíduos com IC. O Perfil de Atividade Humana (PAH),recent<strong>em</strong>ente adaptado para população brasileira, avalia habilidade funcional e deatividade física podendo ser aplicado <strong>em</strong> indivíduos com diferentes níveis funcionais ediferentes condições de saúde. Objetivos: Avaliar a associação entre medidas de escoredo PAH e VO2pico medido por padrão-ouro (ergospirometria) <strong>em</strong> indivíduos com IC.Materiais e métodos: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética <strong>em</strong> Pesquisa dainstituição. Foram avaliados indivíduos com IC diagnosticada por ecocardiograma queapresentass<strong>em</strong> sintomatologia e limitação ao esforço. O VO2pico foi determinado a partirde um teste de esforço máximo com protocolo de rampa <strong>em</strong> esteira ergométrica comanálise de gases expirados (Medical Graphics ® CPX/D). Foi aplicado o PAH sob a forma deentrevista e calculados escore máximo de atividade (EMA) e escore ajustado de atividade(EAA). Análise estatística: Teste de Shapiro-Wilk foi feito para análise de distribuição dosdados. Para verificar associação entre variáveis foi utilizado coeficiente de Correlação dePearson. Nível de significância considerado foi p
48esforço. Foi observada correlação significativa do PAH com o VO2 (r=0,52), mas não coma idade (p=0,212). Conclusões: O avançar da idade está associado ao declínio de diversosparâmetros cardiorrespiratórios e metabólicos, incluindo o VO2. O PAH é instrumentoque permite a identificação de diferentes níveis de atividades físicas <strong>em</strong> idosos. A ausênciade relação do PAH com a idade pode estar relacionada a outros fatores comumenteobservados <strong>em</strong> geriatria e que pod<strong>em</strong> interferir no escore do questionário, como, porex<strong>em</strong>plo, a depressão.089 Avaliação da qualidade de vida após infartoagudo do miocárdio e sua correlação com o fatorde risco da hipertensão arterial $Email: lucianacsilveira@yahoo.com.brLuciana Carvalho Silveira, Erikson Custódio Alcântara, Elmiro Santos Resende, Lilian KhellenGomes de Paula, Elizabeth Rodrigues de Moraes, Patrícia Resende NogueiraIntrodução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um fator de risco importante parao desenvolvimento de IAM, levando à pior prognóstico após este, tanto quanto a longoprazo e sua prevalência varia de 22% a 35%. Qualidade de vida relativa à saúde é definidacomo a mensuração de percepção do estado funcional, impacto, limitação, condições detratamento e perspectiva que os pacientes com doenças crônicas e doenças do coraçãotêm num contexto cultural e sist<strong>em</strong>a de valores. Os questionários de qualidade de vida MacNew QLMI e SF-36 foram desenvolvidos para avaliar mudanças de qualidade de vida depacientes após IAM ou portadores de outras doenças crônicas, inclusive graus variados deinsuficiência cardíaca congestiva segu<strong>em</strong> após IAM. Objetivos: O objetivo deste estudo foidetectar alterações na qualidade de vida de pacientes após IAM por meio dos questionáriosMac New QLMI e SF-36 e correlacionar com o fator de risco hipertensão arterial.Materiais e métodos: Trata-se de um estudo descritivo e transversal, com abordag<strong>em</strong>quatitativa, realizado no ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade Federal deUberlândia (UFU), com 96 pacientes todos com história prévia de IAM. Foram incluídospacientes de ambos os gêneros, com idade média de 54,3 anos com história clínica dedor precordial com duração superior a 20 minutos, eletrocardiograma convencional comsupradesnivelamento de ST e elevação enzimática. Resultados: Avaliação da qualidade devida por meio da correlação dos domínios entre os questionários Mac New QLMI e SF-36. Odomínio físico do questionário Mac New QLMI t<strong>em</strong> correlação significativa com o mesmodomínio do questionário SF-36. O domínio <strong>em</strong>ocional do questionário Mac New QLMInão apresentou correlação significativa com o domínio <strong>em</strong>ocional do SF-36, enquantoque o domínio social do questionário Mac New QLMI teve correlação significativa como domínio social do questionário SF-36. Segundo os resultados do questionário Mac NewQLMI o fator de risco hipertensão arterial não apresentou correlação significativa comnenhum dos escores. Os resultados do questionário SF-36 mostraram que o fator de riscohipertensão arterial apresentou alta correlação significativa com o escore <strong>em</strong>ocional.Conclusões: O domínio físico e social dos questionários Mac New QLMI e SF-36d<strong>em</strong>onstrou correlação significativa ao medir<strong>em</strong> a qualidade de vida; o questionário SF-36apresentou alta correlação significativa do domínio <strong>em</strong>ocional com a hipertensão arterial;o SF-36 apresentou piores índices de qualidade de vida, nos domínios físico e total, quandocorrelacionado com a hipertensão arterial.090 Reabilitação cardiorrespiratória e hipertensãoarterial leve a moderada $Email: jacrfvianna@uol.com.brEliana Izabel da Silva, Miléa Mara Lourenço da Silva, Antônio Marcos, Jacqueline R F ViannaIntrodução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença multifatorial eassintomática, que se caracteriza por elevação dos níveis pressóricos arteriais e estádestacadamente associada ao sedentarismo, contribuindo para o desenvolvimentode numerosas doenças cardiovasculares. Objetivos: Avaliar as condiçõescardiorrespiratórias e o ganho de capacidade funcional após um programa dereabilitação cardíaca <strong>em</strong> pacientes com hipertensão arterial sistêmica leve e moderada,através do teste de caminhada de seis minutos (TC6). Materiais e métodos: Estudoprospectivo e longitudinal, com amostra aleatória de sete pacientes portadores dehipertensão arterial sistêmica de grau leve a moderada, sexo f<strong>em</strong>inino, com idadeentre 48 e 58 anos, com média 53,14±2,9 anos. As variáveis analisadas foram: idade,índice de percepção de esforço (IPE), índice de massa corpórea (IMC), frequênciacardíaca (FC) e respiratória (FR), pressão arterial sitólica (PAS) e diastólica (PAD) e adistância percorrida no teste de caminhada de seis minutos TC6. O TC6 foi realizadocom monitorização no repouso e após seis minutos, <strong>em</strong> um corredor plano de 80mde ambiente fechado com acompanhamento e estímulo verbal a andar<strong>em</strong> o maisrápido possível. A distância percorrida foi correlacionada com os valores previstospela equação de Enright e Sherril. Resultados: Observou-se aumento da distânciapercorrida de 43,6 metros pós-treinamento, s<strong>em</strong> significância estatística (p=0,262);porém a distância era significativamente maior que o valor previsto pela equação deEnright e Sherril (p=0,010). Os parâmetros medidos antes e após o l°TC6 (PAS, PAD, FC,FR e Borg), apresentaram valores significativamente maiores após seis minutos (p=0,01;p=0,044; p=0,000; p=0,000 e p=0,001 respectivamente) e no 2°TC6 , todos os parâmetrostambém variaram significativamente, com excessão da PAD (p=0,111). Após os doismeses de treinamento houve redução significativa da PAS e FC (p=0,028 e p=0,024) eredução da PAD e FR porém s<strong>em</strong> significância estatística (p=0,723 e 0,640). Conclusões:Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.Na amostra estudada verificou-se ganho na capacidade funcional, respostas adaptativase redução significativa de valores tensionais de PAS após programa de reabilitaçãocardiorrespiratória com duração de oito s<strong>em</strong>anas.091 Estudo das alterações posturais, equilíbrio <strong>em</strong>archa <strong>em</strong> idosos com fi brilação arterial $Email: fi s.silvia@uol.com.brSilvia Gaspar, Maurício Wajngarten, Aparecida Yoshiko Eto, Ângela Cristina Silva dos Santos,Maria Ignêz Zanetti FeltrimIntrodução: Os efeitos do envelhecimento sobre o sist<strong>em</strong>a sensório-motor pod<strong>em</strong>promover instabilidades corporais, aumentando o risco de quedas. A queda no idoso éum fenômeno sentinela, podendo causar sérias conseqüências como limitação funcional,dependência progressiva, institucionalização e, inclusive, morte. A fibrilação atrial (FA)é a arritmia sustentada mais comum no idoso e este grupo é o que mais se beneficiado uso de anticoagulante, porém as quedas restring<strong>em</strong> seu uso. Objetivos: Estudar asalterações posturais, equilíbrio e marcha <strong>em</strong> idosos com FA e sua correlação com orisco de queda. Materiais e métodos: No período de set<strong>em</strong>bro de 2006 a março de 2007,foram avaliados 107 pacientes com FA, de ambos os sexos, com idade ≥ 60 anos, comou s<strong>em</strong> história de queda,vivendo <strong>em</strong> comunidade. Os pacientes foram submetidos atestes de marcha, testes de equilíbrio utilizando escala de Berg, Tinetti e Timed Up & Go(Podsialdlo e Richardson), com compl<strong>em</strong>entação de avaliação da força muscular, usandoa escala de Kendall e avaliação postural. Na análise estatística foram utilizados o testequi-quadrado ,o teste t-Student e Correlação de Pearson para os dados de distribuiçãonormal para nível de significância de p
Introdução: A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) com a utilização decirculação extracorpórea (CEC) pode acarretar comprometimento da função pulmonar,com alterações dos movimentos da caixa torácica e, conseqüent<strong>em</strong>ente, do padrãorespiratório dos pacientes no pós-operatório. A reabilitação cardiorrespiratória na faseI (RCRF1) t<strong>em</strong> por objetivo, dentre outros, reduzir as alterações do padrão ventilatório eseus efeitos sobre pacientes submetidos à cirurgia têm sido pouco enfatizados. Objetivos:Avaliar o padrão ventilatório por meio da pletismografia respiratória por indutância(PRI) <strong>em</strong> pacientes submetidos a CRM com CEC antes e após um programa de RCRF1.Materiais e métodos: Catorze pacientes submetidos à CRM com CEC foram incluídos noestudo. O padrão ventilatório foi avaliado por meio da PRI, <strong>em</strong> repouso sentado durantedez minutos, no pré-operatório (PreOp), no 2º dia pós-operatório (PO) e no dia anterior àalta hospitalar (PreA). Foram coletados os índices de ventilação (Vent-L/min); freqüênciarespiratória (FR-rpm); t<strong>em</strong>po inspiratório/t<strong>em</strong>po total (Ti/Tt); volume corrente/t<strong>em</strong>poinspiratório (Vt/Ti); porcentag<strong>em</strong> de contribuição inspiratória da caixa torácica parao volume corrente (%RCi) e saturação periférica de oxigênio (SpO2-%). A <strong>fisioterapia</strong>iniciou-se 24 horas pós extubação, com protocolo progressivo de exercícios físicos,incluindo exercícios de extr<strong>em</strong>idades, ativo-assistidos, ativos, ortostatismo, deambulação,e exercícios respiratórios. Análise estatística: Foi utilizado o teste paramétrico ANOVApara medidas repetidas para análise entre as situações estudadas. Resultados: Ospacientes apresentaram maiores valores de Vent (8,3±3,4 versus 16±8,8L/min); de FR(18±3 versus 26±4rpm); de Vt/Ti (346±134,9 versus 642,1±307,6) e menores valores deSpO2 (95±2 versus 83±8%) do PreOp para o PO. Ainda, a Vent (13,8±6,4 versus 8,3±3,4L/min), a FR (27±6 versus 18±3rpm), e o Ti/Tt (0,43±0,04 versus 0,4±0,03) foram maiores naPreA quando comparados ao do PreOp. Somente a SpO2 (83±8 versus 91±5%) aumentouseus valores na PreA, comparados aos valores de PO. Conclusões: A <strong>fisioterapia</strong> na RCRF1auxiliou na melhora da oxigenação arterial. No entanto, o período de tratamento não foisuficiente para acarretar adicional melhora do padrão ventilatório destes pacientes.094 Efeitos dos exercícios físicos progressivos naVFC após a revascularização do miocárdio $Email: lucianadt@gmail.comLuciana Di Thommazo, Renata Gonçalves Mendes, Camila Bianca Falasco Pantoni,Fernando de Souza Melo Costa, Rodrigo Polaquini Simões, Sérgio Luzzi, Othon AmaralNeto, Aparecida Maria Catai, Audrey Borghi-SilvaIntrodução: A inclusão de exercícios físicos progressivos na reabilitação cardíacafase I (RCFI) t<strong>em</strong> o objetivo de reduzir os efeitos deletérios do repouso prolongado noleito sobre o sist<strong>em</strong>a cardiovascular <strong>em</strong> pacientes submetidos à cirurgia cardíaca derevascularização do miocárdio (CRM); no entanto, sua influência sobre a modulaçãoautonômica por meio da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) na RCF1 t<strong>em</strong> sidopouco estudada. Objetivos: Avaliar o efeito do exercício físico sobre a atividade do sist<strong>em</strong>anervoso autônomo por meio da VFC <strong>em</strong> pacientes submetidos à CRM e intervençãofisioterápica. Materiais e métodos: Foram avaliados 17 pacientes (58±10 anos) com fraçãode ejeção do ventrículo esquerdo normal (FEVN) e 17 (56±8 anos) com fração de ejeçãodo ventrículo esquerdo reduzida (FEVR). A freqüência cardíaca e os intervalos RR (iR-R)foram registrados durante protocolo progressivo de exercícios, incluindo exercícios deextr<strong>em</strong>idades, ativo-assistidos, ativos, ortostatismo e deambulação. A VFC foi avaliada noprimeiro dia pós-operatório e no dia anterior à alta hospitalar no domínio do t<strong>em</strong>po pelamédia dos iR-R e índices RMSSD e RMSM, e no domínio da freqüência (DF) pelas bandasde alta freqüência (AF) e baixa freqüência (BF). Análise estatística: Foram utilizadostestes paramétricos (teste t pareado e não pareado) para análises intra e intergrupos, comp
50Foram analisados 64 recém-nascidos pr<strong>em</strong>aturos com diagnóstico de síndrome dodesconforto respiratório. A pesquisa foi realizada na unidade de terapia intensiva (UTI)neonatal do Hospital Regional de Franca, com análise de prontuários. Foram analisados:idade gestacional, peso, apgar, sexo, período <strong>em</strong> ventilação mecânica, parâmetrosutilizados e complicações pulmonares. O grupo foi dividido <strong>em</strong> lesão pulmonar, agudae crônica. As lesões agudas ocorridas na primeira s<strong>em</strong>ana de internação e a crônica, apartir das s<strong>em</strong>anas seguintes. Análise estatística: Foi utilizado para a análise os testeKruskal-Wallis, pos hoc de Dunn e o qui-quadrado com valor de significância de p
102 Impacto h<strong>em</strong>odinâmico e respiratório da técnicade torácica manual <strong>em</strong> crianças sob ventilaçãomecânica $Email: maristela.cunha@icr.usp.brMaristela Trevisan Cunha, Luciana da Corte, Nathália Lima Videira, Regina Cristianini, SilviaRegina MartinsIntrodução: A manobra de hiperinsuflação manual (HM) também conhecida como bagsqueezing é frequent<strong>em</strong>ente utilizada pelo fisioterapeuta no centro de terapia intensiva<strong>em</strong> pacientes sob ventilação mecânica, tanto para prevenção do colapso pulmonar eretenção de secreções, como no tratamento de atelectasias e infecções broncopulmonares.Objetivos: Avaliar os efeitos da manobra de bag squeezing <strong>em</strong> pacientes com insuficiênciarespiratória. Materiais e métodos: Estudo prospectivo e descritivo durante quatro meses<strong>em</strong> uma unidade de terapia intensiva pediátrica universitária. Foram selecionadas 23crianças com idade entre um mês e 13 anos (média de 96,5 meses) com diagnóstico deinsuficiência respiratória submetidas a ventilação mecânica por 12 horas ou mais. Foramexcluídos os casos de choque, sangramento maciço e arritmia cardíaca. Foi constituído umsubgrupo <strong>em</strong> relação à faixa etária com lactentes abaixo de um ano (n=7). A manobra foirealizada por um único fisioterapeuta, utilizando um ambú com hiperinsuflador manualcom reservatório. Foram monitoradas e comparadas: a freqüência cardíaca (FC), freqüênciarespiratória (FR), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), pressãoarterial média (PAM) e saturação de oxigênio no pulso (SpO2) antes da execução damanobra e após a mesma, no 1° e 5° minutos. Análise estatística: Foram calculados amédia e desvio padrão das variáveis contínuas (FC, FR, PAS, PAD, PAM, SpO2). Os dadosnominais foram descritos <strong>em</strong> termos de porcentagens e proporções. A comparação dasvariáveis foi feita pelo teste ANOVA para análise de variância, considerando p
52107 Análise dos fatores preditivos do sucessoe insucesso do desmame ventilatório<strong>em</strong> neonato $Email: kz_ksr@hotmail.comSoraya Zacharias Calixto, Samira Said Lançoni, Larissa Talamini, Loreci Alves, KarineSchnaider Ramos, Ana Clara de Albuquerque Botura, Fabrício HinterlangIntrodução: A iniciativa de retirar um paciente da prótese ventilatória torna-se tãoimportante quanto à decisão de instruí-la, pois seu uso prolongado pode acarretarcomplicações adicionais a sua doença de base. Entretanto não exist<strong>em</strong> critérios objetivosque garantam o sucesso na extubação <strong>em</strong> recém nascido comparado ao adulto. Objetivo:Analisar os fatores preditivos do sucesso e insucesso da retirada do neonato da próteseventilatória. Materiais e Métodos: Este estudo é do tipo observacional e descritivo naqual consta-se de um protocolo elaborado pelo autor, utilizando-se técnica de pesquisa edocumentação direta.Foram estudados 11 neonatos selecionados de forma não aleatória,com base nos critérios de inclusão previamente determinados. O estudo passou pelo comitêde ética e pesquisa do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba HUEC. Assim que osrecém natos obtiveram o consentimento da equipe médica para extubar, foram avaliados porapenas um fisioterapeuta antes da extubação, a mecânica ventilatória através do Boletim deSilverman e Andersen (BSA) e escala de Downes (ED), verificação da frequência respiratóriatotal (FRT) e frequência cardíaca (FC) durante um minuto e saturação de oxigênio pelaoximetria de pulso e os dados do ventilador, frequência (FR), pressão inspiratória (PI),pressão expiratória (PEEP), fração inspirada de oxigênio (FiO2). Após extubação os recémnascidos são reavaliados pelo mesmo protocolo, cinco minutos após e até completar<strong>em</strong>48 horas pós-extubação. Análise Estatística: O teste aplicado foi o T- Student, o nível designificância foi verificado pelo p-valor que indica diferença significativa quando inferior a5% estipulado. Resultados: Dos 11 neonatos analisados, 6 obtiveram sucesso após 48 horaspós extubação, enquanto 5 retornaram à ventilação.A análise univariada dos grupos pelasvariáveis FR, FRT, PEEP, SatO2, não obtiveram significância estatística, obtendo p >0,05.Emrelação a PI, obteve p 0,05; FiO2 p 0,031; BSA p 0,001 e ED p 0,001.O processo de retiradado suporte ventilatório é iniciado logo após a normalização do estado clinico da patologia,autores traz<strong>em</strong> um nível mínimo de suporte de ventilação e oxigenação como PEEP< 5,FIO2< 0,4 e SatO2 >90%, porém nesse trabalho esses dados não foram relevantes, os recémnatos que retornaram para ventilação obtiveram esses parâmetros dentro da normalidade.Entretanto não apresentaram uma mecânica satisfatória apesar de ser<strong>em</strong> avaliados poruma forma cinesiológica observacional e não mensurável. Conclusão: A avaliação rigorosada mecânica ventilatória pré-extubação é necessária para determinar se o neonato está aptopara o desmame ventilatório, evitando complicações adicionais e a reentubação.108 Análise comparativa de modos de ventilaçãonão-invasiva pós-extubação <strong>em</strong> recém-nascidospré-termos $Email: kz_ksr@hotmail.comAna Clara de Albuquerque Botura, Samira Said Lançoni, Soraya Zacharias Calixto, LarissaTalamini, Karine Schnaider Ramos, Loreci AlvesIntrodução: A evolução dos recém-nascidos pré-termo (RNPT) internados <strong>em</strong> unidades deterapia intensiva (UTIN) t<strong>em</strong> se modificado com avanços da assistência multiprofissional,de pesquisas farmacológicas e da assistência ventilatória invasiva e não-invasiva (VNI)pós-extubação (Postiaux, 2004). Após as extubações, muitos RNPT encontram dificuldadefuncional para garantir sua estabilização devido às suas debilidades musculares efisiológicas relacionadas muitas vezes ao longo t<strong>em</strong>po de ventilação mecânica invasiva,logo, ainda precisam de um devido suporte pressórico para a estabilização de sua mecânicaventilatória (Motta, 2005). Muito se discute a respeito da eficácia das modalidades de VNIa fim de se evitar a reintubação. Objetivos: O objeto deste estudo foi comparar a eficáciados métodos de VNI (CPAP e SIMV-nasal) pós-extubação <strong>em</strong> RNPT. Materiais e métodos:Foi realizado um estudo clínico prospectivo não-randomizado com 27 RNPT, entre 26 e 33s<strong>em</strong>anas, com peso de até 1800g, de ambos os sexos, que foram submetidos à ventilaçãomecânica logo após o nascimento. O estudo transcorreu nos RNPT admitidos na UTIN doHospital Universitário Evangélico de Curitiba, no Paraná. Foram aferidos sinais por meiodo Boletim de Silverman e Andersen (BSA), saturação de oxigênio, freqüência cardíaca erespiratória prévia e posteriormente a extubação. Os RNPT foram extubados e de formaaleatória foram colocados <strong>em</strong> suportes ventilatórios não-invasivos, CPAP ou SIMV-nasal; aescolha do primeiro suporte não-invasivo utilizado ocorreu por espécime de sorteio. Paraavaliação de variáveis dicotômicas considerou-se o teste exato de Fisher, para a comparaçãodos modos <strong>em</strong> relação a variáveis quantitativas, considerou-se o teste t de Student paraamostras independentes. Valores de p
programa consistiu de seis s<strong>em</strong>anas de treinamento, três vezes por s<strong>em</strong>ana. Cada sessãode formação consistiu <strong>em</strong> caminhar ou correr na esteira por 30 minutos à velocidade quepermitiu a criança atingir 70% da freqüência cardíaca máxima obtida durante o teste portrês s<strong>em</strong>anas e 80% nas últimas três s<strong>em</strong>anas, sob estrita supervisão médica. A freqüênciacardíaca foi continuamente monitorada. Os pacientes foram submetidos ao step teste de3 min (ST3), pré e pós-intervenção. Análise estatística: Para análise dos resultados foiutilizado o teste de Wilcoxon com nível de significância de 5% (p=0,05). Resultados: FCpacientes apresentaram aumento no número degraus (78,33+/-11 a 89,67+/-6,6 degraus;p
54increase in the final Borg scores when compared to the ctrl groups. Conclusions: Incontrast with asthma-F, dyspnea of effort and impairment of lung function did not affectfunctional capacity of asthma-M patients evaluated during the 6MWT. However, baselinelevels and the behavior of HR and BP in patients with asthma during effort suggestautonomic dysfunction of heart rate and blood pressure control.116 Comparison of strength and endurance ofrespiratory muscles in healthyand asthmatic children $Email: betania08@yahoo.com.brBetânia Luiza Alexandre, Maria Jussara Fernandes Fontes, Marco Antônio Duarte, Maria daGlória Rodrigues MachadoIntroduction: There is no clear consensus regarding the strength and endurance ofinspiratory muscles in asthma patients, but it is accepted that bronchoconstriction-inducedhyperinflation is associated with a funcional deficit in these muscles. Objectives: Assess andcompare the strength and endurance of the respiratory muscles in healthy and asthmaticchildren. Methods: Ninety-five male and f<strong>em</strong>ale children (six to 14years) considered tobe healthy (ctrl-M and ctrl -F) and 100 children diagnosed with asthma (asthma-M andasthma-F) participated in the study. The parameters evaluated by spirometry were forcedvital capacity (FVC), forced expiratory volume (FEV1), ratio between FEV1 and FVC andforced expiratory flow between 25% and 75% of FVC (FEF25-75%) and maximum voluntaryventilation (MVV). We evaluated the maximum inspiratory (PImax) and expiratory (PEmax)pressure and endurance of muscles inspiratory from 30 and 70% of PImax (Tlim 30% and 70%,respectively). To assess inspiratory muscle endurance, an alternative device was developedwhich was capable of carrying out pressure measur<strong>em</strong>ents above those on the instrumentcurrently available for clinical practice. Statistical analysis: Comparisons were made byStudent paired I test or one-way ANOVA with Bonferroni post-test or KrusKal Wallis whenappropriate. Pearsons correlation coefficient was used to determine how walked distancecorrelated between tests. Results: FVC was normal in the control and asthma groups.FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75% were significantly lower in the asthma-M (73.42±13.07;72.84±11.93; 67.64±18.39%) and asthma-F (68.64±15.39; 72.34±13.68; 71.03±22.01%) groupscompared to ctrl-M (89.96±8.12; 90.96±3.66; 89.00±23.14%) and control-F (87.47±6.02;91.34±3.08; 86.30±18.12%) groups. MVV was significantly lower in asthma-F (56.29±16.98L)group compared to the other groups (ctrl-M=75.10±16.22L, ctrl-F=70.83±16.83L, asthma-M=66.70±20.28L). MIP in the asthma-M (-79.69±14.61cmH2O) group was significantly lowercompared to ctrl-M (-91.94±36.72cmH2O). MEP was significantly lower in the asthma-M(69.14±12.74cmH2O) group compared to the ctrl-M (79.63±15.38cmH2O) and ctrl-F(78.37±13.31cmH2O) groups. Tlim30% (ctrl-M=206.4±112.9; ctrl-F=212.2±76.68; asthma-M=87.40±24.80; asthma-F=86.09±18.92s) was significantly higher than Tlim70% (ctrl-M=74.04±44.80; ctrl-F=79.72±41.77; asthma-M=35.17±29.92; asthma-F=27.61±9.41s) in allgroups evaluated. The asthma-M and asthma-F groups exhibited a significant reduction inTlim30% and Tlim70% in relation to the ctrl-M and ctrl-F groups. PEmax/PImax ratio (ctrl-M=0.91±0.21; ctrl-F=0.93±0.19; asthma-M=0.88±0.15; asthma-F=0.88±0.08cmH2O) was notdifferent among groups. Conclusions: The strength of inspiratory muscle was significantlylower in asma-M than ctrl-M, while the strength of expiratory muscle was significantly lowerin asma-M than in control groups. Endurance of inspiratory muscles was significantly lowerin asthma groups than control groups suggesting that pulmonary dysfunction can affectrespiratory muscle performance.117 Casuística dos pacientes submetidos à cirurgiade correção de cardiopatia congênita na UTIpediátrica $Email: celize@directnet.com.brPricila Mara Novais de Oliveira, Priscila Antonichelli de Held, Rosângela Alves Grande,Celize Cruz Bresciani AlmeidaIntrodução: As cardiopatias congênitas (CC) são malformações cardíacas que ocorr<strong>em</strong> noperíodo <strong>em</strong>brionário e, <strong>em</strong> grande parte, necessitam de tratamento cirúrgico já no períodoneonatal ou na criança maior, conforme a necessidade. Objetivos: Descrever o perfilepid<strong>em</strong>iológico e as características referentes ao pós-operatório (PO) de crianças submetidasà cirurgia de correção de CC. Materiais e métodos: Realizou-se análise retrospectiva pormeio de prontuários de crianças de 0 a 14 anos submetidas à cirurgia de correção de CC noHC-UNICAMP, no período de nov<strong>em</strong>bro de 2006 a set<strong>em</strong>bro de 2007. Análise estatística:Utilizou-se o Software SPSS versão 7.0 para Windows. As variáveis de massa corpórea,idade, t<strong>em</strong>po de circulação extra-corpórea (CEC), t<strong>em</strong>po de ventilação mecânica (VM) e deinternação foram caracterizados por estatística descritiva, e utilizada a mediana, devido adistribuição anormal. Para outras variáveis foi utilizada a análise de freqüências. Resultados:Nesse período, 58 cirurgias foram realizadas, a mediana de idade foi de 37,5 meses, sendoque 49% pertenciam ao sexo masculino. Destas crianças, 47% não apresentavam nenhumaco-morbidade, 20% apresentavam doenças respiratórias, 20% distúrbios neurológicos, 5%doenças esofágicas e 8% eram pr<strong>em</strong>aturas e/ou desnutridas. Observou-se maior incidênciada associação de três ou mais tipos de cardiopatias (29,1%), seguida de comunicação interatrial(16,4%), tetralogia de Fallot (16,4%) e persistência do canal arterial (12,7%). O t<strong>em</strong>pomediano de CEC foi de 34 minutos, de VM de dez horas e de internação hospitalar de 120horas. A sobrevida foi de 89%. Quanto às complicações no PO, 47% não apresentaramnenhum tipo. Dentre as complicações respiratórias, <strong>em</strong> 31% observou-se atelectasiaRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.e/ou derrame pleural e 5,5% apresentaram laringite, pneumomediastino ou injúriapulmonar. As complicações não-respiratórias foram verificadas <strong>em</strong> 24% dos pacientes e14% sofreram parada cardiorrespiratória. Necessitaram de <strong>fisioterapia</strong> respiratória no PO72,7% das crianças. Conclusões: A partir do conhecimento deste perfil faz-se necessáriauma abordag<strong>em</strong> diferenciada da <strong>fisioterapia</strong> nesses pacientes. A ampla variedade de CCdificultou avaliações uniformes dos pacientes e dos dados obtidos. Protocolos padronizadosde <strong>fisioterapia</strong> para cada tipo de cardiopatia pod<strong>em</strong> auxiliar na prevenção ou diminuiçãodas complicações pós-operatórias.118 Síndrome do desconforto respiratório <strong>em</strong> recémnascidossubmetidos à ventilação mecânica $Email: isabelleferreira9@hotmail.comIsabelle Ferreira Da Silva, Dominique Babini Lapa de AlbuquerqueIntrodução: A síndrome do desconforto respiratório (SDR) é a principal causa d<strong>em</strong>ortalidade neonatal e resulta da imaturidade do sist<strong>em</strong>a respiratório por deficiênciae inativação do surfactante pulmonar, afetando principalmente os recém-nascidospré-termo. O tratamento dos recém-nascidos com SDR inclui a aplicação de suporteventilatório mecânico, visando reduzir as alterações de ventilação/perfusão, melhorar aventilação alveolar, diminuir o trabalho respiratório e prevenir ou reverter atelectasias.Objetivos: O presente estudo objetivou traçar o perfil dos recém-nascidos com SDRsubmetidos à ventilação mecânica, relacionando com o t<strong>em</strong>po de gestação. Materiaise métodos: O estudo foi realizado com 100 prontuários arquivados de recém-nascidosda maternidade de um Hospital Universitário do Recife, no período de junho de 2005 ajunho de 2007. Foram coletados dados referentes a: t<strong>em</strong>po de gestação, idade gestacional,peso ao nascer, registro de hipóxia perinatal, classificação da SDR, t<strong>em</strong>po de ventilaçãomecânica, t<strong>em</strong>po de internamento e registro de óbitos. Análise estatística: Para análiseestatística foi utilizado o programa Statistical Package for Social Science versão 10, pormeio dos testes qui-Quadrado e t de Student. O Microsoft Excel 2000 foi utilizado parad<strong>em</strong>onstrar os dados por meio da distribuição tabular e gráfica de freqüência, média edesvio padrão. Foi considerado p
120 Efeitos da ventilação invasiva e não invasiva<strong>em</strong> recém-nascidos pr<strong>em</strong>aturos $Email: josianefelcar@sercomtel.com.brGizéli dos Santos Daniel, Janaína Reche Serenato, Josiane Marques FelcarIntrodução: Nas últimas décadas houve aumento significativo da sobrevida de pr<strong>em</strong>aturosdevido ao desenvolvimento de cuidados intensivos neonatais. Esses bebês, muitas vezes,necessitam ser internados <strong>em</strong> unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) e utilizam suporteventilatório por períodos prolongados. Estudos d<strong>em</strong>onstram que a utilização da ventilaçãomecânica <strong>em</strong> pr<strong>em</strong>aturos aumenta significativamente as taxas de morbidade respiratória.Objetivos: Verificar os efeitos e alterações da ventilação invasiva (VI) e não invasiva (VNI) <strong>em</strong>pr<strong>em</strong>aturos, a partir do nascimento até a alta hospitalar. Materiais e métodos: Participaramda pesquisa todas as crianças pr<strong>em</strong>aturas internadas na UTIN do Hospital Infantil de Londrinano período de janeiro a maio de 2008, de ambos os sexos e que utilizaram ventilação mecânica.Critérios de exclusão: presença de doenças neurológicas e/ou cardiopatias congênitas. Osdados foram obtidos do prontuário das crianças que seguiram acompanhadas até a altahospitalar. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Bioética da instituição. Análise estatística:Os dados foram analisados no programa SPSS 13.0 e a significância estatística estipulada <strong>em</strong>5%. As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de freqüência absoluta e relativa.resultados: Os bebês eram 23(63,5%) do gênero masculino e 15(39,5%) do f<strong>em</strong>inino. Erampr<strong>em</strong>aturos extr<strong>em</strong>os 6(15,8%), moderados 27(71,1%) e limítrofes 5(13,2%). Nasceram com pesoinferior a 1Kg 6 crianças (15,8%), entre 1 e 2Kg 26(68,4%) e com mais de 2Kg 6(15,8%). Quantoao parto, 17(44,7%) foram de parto normal e 21(55,3%) cesárea. O diagnóstico mais comumfoi desconforto respiratório 13(34,2%), seguido por anóxia neonatal 10(23,6%) e insuficiênciarespiratória aguda 9(23,7%) e 6(15,8%) apresentaram associações. Houve necessidade de VI <strong>em</strong>33(86,8%), quanto ao t<strong>em</strong>po de permanência na mesma, 9(23,7%) ficaram de um a cinco dias,12(31,6%) de seis a 15 dias e 12(31,6%) por mais de 15 dias. Metade das crianças (50%) precisoude reintubação. VNI foi utilizada <strong>em</strong> 16(42,1%) pr<strong>em</strong>aturos por um a quatro dias e <strong>em</strong> 11(28,9%)por mais de quatro dias e houve recidiva <strong>em</strong> 14(36,8%). A maioria 17(44,7%) permaneceu de 11a 20 dias na UTI, seguida por 11(28,9%) de um a dez dias, 1(2,6%) de 21 a 40 dias, 5(13,2%) de 41a 60 dias e 4(10,5%) mais de 60 dias. Surfactante foi necessário <strong>em</strong> 10(26,3%) bebês. Dezessete(44,5%) não apresentaram nenhuma complicação, 4(10,5%) tiveram pneumonia, 1(2,6%)atelectasia, 4(10,5%) sepse precoce e 12(31,6%) associação de mais de uma complicação, sendoa associação mais freqüente pneumonia e atelectasia. Conclusões: A maioria dos pr<strong>em</strong>aturosapresentou complicações sendo mais comum a associação de pneumonia e atelectasia.121 Avaliação da dor durante a execução da técnicade aumento do fl uxo expiratório <strong>em</strong> recémnascidospr<strong>em</strong>aturos $Email:vi_martinss@yahoo.com.brViviane Martins Santos, Alisson Rihl Leontino, Antonia Mariela Aguirre Guedes, Mara LílianSoares NasralaIntrodução: Os recém-nascidos pr<strong>em</strong>aturos (RNPT) apresentam imaturidade dos sist<strong>em</strong>as,incluindo respiratório e neurológico. Assim, estes apresentam maior sensibilidade à dor, pois onúmero de fibras nervosas nociceptivas na pele do neonato é similar e até possivelmente maiordo que os números encontrados <strong>em</strong> adultos. Dentre as técnicas fisioterapêuticas utilizadas<strong>em</strong> os neonatos, o aumento do fluxo expiratório (AFE) é uma técnica não convencional dedesobstrução brônquica que pode ser aplicada desde o nascimento, inclusive no RNPT, quandoexiste doença respiratória com obstrução das vias aéreas. Objetivos: Avaliar se a técnica AFEdesencadeia dor no RN, segundo a escala PIPP. Materiais e métodos: Foi realizado um estudocorte transversal, com 18 RNPT internados na UTI neonatal do Hospital Júlio Muller. A técnicarealizada foi AFE lento por 10 minutos. Os bebês foram avaliados antes da intervenção (M0),5 minutos (M1), ao final (M2) e 30 minutos após (M3). Para tanto, utilizou-se a escala PIPP(Pr<strong>em</strong>ature Infant Pain Profile). Análise estatística: Para a análise estatística foram utilizadosos testes Friedman e Wilcoxon. Resultados: A média de idade gestacional foi 31,64+±2,3s<strong>em</strong>anas e média de peso, 1683,8±±390g. As médias dos escores da escala PIPP foram 4,73±2,4;5,85±2,91; 6,11±2,94; 4,73±2,59 (M0, M1, M2 e M3, respectivamente). Observou-se que houveum aumento significante da sensação dolorosa comparando os M1 e M2 <strong>em</strong> relação ao M0(p
56dia com a FiO2 ofertada n<strong>em</strong> com os níveis de SpO2 mensurados. A menor incidência deRP foi associada a não dependência de suporte ventilatório no 7º dia de vida.Conclusões:Observou-se que apesar das orientações a respeito de se evitar a hiperóxia <strong>em</strong> RNPT esteestudo d<strong>em</strong>onstrou que é alta a freqüência de administração de O2 acima de 40% comníveis de SpO2 na grande maioria acima de 95% .125 Assistência de fi sioterapia respiratória<strong>em</strong> crianças oncológicas e plaquetopênicas $Email: regina.juliani@icr.usp.brBianca Azoubel de Andrade, Fabiani Conceição de Cerqueira, Samira Alencar Yasukawa,Regina Célia Turola Passos JulianiIntrodução: O tratamento oncológico, na maioria das vezes, leva a queda donúmero de plaquetas e ao prejuízo da imunidade favorecendo o desenvolvimento decomplicações respiratórias. A literatura contra indica a assistência de <strong>fisioterapia</strong><strong>em</strong> crianças plaquetopênicas, mas o valor numérico de plaquetas para contra indicaro atendimento é controverso. Objetivos: Identificar as possíveis complicaçõesrelacionadas à plaquetopenia após a assistência de <strong>fisioterapia</strong> respiratória <strong>em</strong>crianças com câncer. Materiais e métodos: Foram analisados retrospectivamente osprontuários de dez crianças que realizaram <strong>fisioterapia</strong> respiratória e apresentavamcontag<strong>em</strong> sanguínea de plaquetas abaixo de 50.000. Foram identificados o número deplaquetas, as técnicas utilizadas e a presença de sangramento de cavidade oral, nasal,h<strong>em</strong>atomas ou petéquias <strong>em</strong> região de tórax ou tosse com expectoração de sangue até12 horas após o atendimento. Análise estatística: Os dados nominais foram descritos<strong>em</strong> termos de porcentagens e proporções. Resultados: Na análise dos 40 atendimentosdas dez crianças (média de idade 84,4 meses, seis meninas e quatro meninos) omenor número na contag<strong>em</strong> de plaquetas foi de 11.000 e o maior foi de 49.000 (média25,375). Em relação às técnicas, <strong>em</strong> 87,5% (35) dos atendimentos foram realizadasas manobras de vibrocompressão e drenag<strong>em</strong> postural, <strong>em</strong> 12,5% (5) manobras dereexpansão pulmonar, <strong>em</strong> 12,5% (5) exercícios respiratórios, <strong>em</strong> 12,5% (5) utilização deincentivadores respiratórios, <strong>em</strong> 2,5% (1) RPPI. Em 85% (34) dos atendimentos a tossefoi o método para eliminação das secreções e <strong>em</strong> 15% (6) foi realizada aspiração devias aéreas superiores. Nenhuma das crianças apresentou sangramento de cavidadeoral, nasal, h<strong>em</strong>atomas ou petéquias <strong>em</strong> região de tórax ou tosse com expectoração desangue até 12 horas após o atendimento fisioterapêutico. Conclusões: As técnicas de<strong>fisioterapia</strong> respiratória não causaram complicações do tipo sangramento de cavidadeoral e nasal n<strong>em</strong> h<strong>em</strong>atomas ou petéquias, sugerindo que é possível atender criançasplaquetopênicas com cautela.126 Efeitos da TEF e da OOAF <strong>em</strong> criançascom enfermidades pulmonares crônicas $Email: cacaiss@yahoo.com.brEster Piacentini Correa, Juliana Thais Silva Reis, Camila Isabel da Silva Santos, Patricia BlauMargosian Conti, Milena Antonelli, Maria Angela Gonçalves de Oliveira RibeiroIntrodução: Pneumopatias crônicas (PC) de orig<strong>em</strong> obstrutiva são doenças pulmonarescaracterizadas por aumento de secreções, broncoespasmo, inflamação e destruição dasparedes brônquicas. O efeito das técnicas de <strong>fisioterapia</strong> respiratória (TFR) nessas afecçõest<strong>em</strong> sido discutido na literatura, b<strong>em</strong> como a técnica mais eficiente nessa condição.Objetivos: Avaliar o efeito da técnica de expiração forçada (TEF) e da oscilação oral de altafreqüência (OOAF) <strong>em</strong> parâmetros cardiorrespiratórios (FR, FC e SpO2), força muscularrespiratória (PImax, PEmax e pico de fluxo expiratório) e aspecto da secreção expectoradade crianças com PC <strong>em</strong> acompanhamento ambulatorial. Materiais e métodos: Foirealizado um estudo do tipo intervenção, transversal e randomizado, com crianças doambulatório de <strong>fisioterapia</strong> pediátrica de hospital universitário. Foram selecionados ospacientes com PC, colaborativos, fora de quadros de exacerbação pulmonar. A escolhada OOAF e da TEF foi aleatória, e a coleta das variáveis foi feita antes e imediatamenteapós aplicação de cada técnica. Análise estatística: Para análise dos dados, aplicou-se oteste de Wilcoxon e adotou-se um nível de significância de 0,05. Resultados: Participaram11 pacientes (seis f<strong>em</strong>ininos), de cinco a 14 anos, sendo cinco com fibrose cística, umcom pneumonia de repetição, três com asma e dois com outras doenças (síndrome deKartagener e bronquiectasia). Não houve diferença significativa na FC, FR, SpO2, PImax,PEmax, Pico de fluxo expiratório e expectoração de muco após a aplicação de cadatécnica. Houve aumento significante da Pimax após aplicação da TEF, <strong>em</strong> comparaçãoa OOAF (p=0,037). Conclusões: A TEF pareceu ativar os músculos inspiratórios durantesua execução <strong>em</strong> pacientes com PC. Esse efeito merece ser investigado <strong>em</strong> estudos comdesenho metodológico e tamanho amostral adequados.127 Efetividade da fi sioterapia respiratória nascomplicações pulmonares de crianças comparalisia cerebral $Email: natashatmedeiros@yahoo.com.brNatasha Teixeira Medeiros, Ingrid Correia Nogueira, Clarissa Bentes de Araujo Magalhães,Adélia Barros, Martha Suellen de Lacerda Miranda, Fabiane Elpídio de SáRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.Introdução: A paralisia cerebral é uma seqüela de agressão encefálica, cujo quadroclínico é caracterizado por disfunção sensório-motora, com alterações do tônusmuscular, da postura e da movimentação voluntária, além de comprometimento namecânica respiratória pela espasticidade. Objetivos: Este trabalho objetivou investigaras mudanças relacionadas às complicações respiratórias de crianças com paralisiacerebral, submetidas à intervenção fisioterapêutica. Materiais e métodos: Trata-sede um estudo quantitativo, intervencionista, realizado com 22 crianças, avaliadas noprimeiro e no último dia, após dez atendimentos. O protocolo foi composto de manobrasde r<strong>em</strong>oção de secreção como aumento de fluxo expiratório (AFE), vibrocompressão, ede expansão pulmonar, como compressão/descompressão, estabilização diafragmática,e aspiração de secreções pulmonares e de vias aéreas superiores, caso fosse necessário.Análise estatística: Os dados foram analisados na forma de gráficos e tabelas, utilizandoo programa SPSS, versão 15.0. Resultados: No que se refere à freqüência respiratória,houve a variação do valor inicial, <strong>em</strong> média, de 39,18 incursões respiratórias por minuto(irpm), para 27,77irpm depois. Em relação ao número de crianças que apresentavamgrande quantidade de secreção traqueobrônquica, o valor passou de 90,9% na primeiraavaliação para 27,3% ao final. Foram encontradas diversas outras diferenças estatísticasrelacionadas ao comprometimento respiratório, como diminuição do grau de dispnéia ede retrações torácicas, o que permite menor trabalho para os músculos respiratórios. Alémde diminuição dos ruídos adventícios, favorecendo a uma mais apropriada ventilação/perfusão e trocas gasosas. Assim como, prevenindo possíveis complicações pulmonaresque poderiam facilmente acometer a criança. Conclusão: Apesar de a paralisia cerebralser um assunto abundant<strong>em</strong>ente discutido, ao relacioná-lo às complicações respiratóriase à aplicação de um protocolo de atendimento fisioterapêutico adequado, observou-seescassez de referências. Por conseguinte, faz<strong>em</strong>-se necessários maiores estudos acerca dasseqüelas incapacitantes inerentes à lesão cerebral e a ocorrência de agravos ao sist<strong>em</strong>arespiratório destas crianças, a fim de contribuir para promoção de medidas preventivasvisando qualidade de vida.128 Avaliação da função pulmonar <strong>em</strong> crianças comsíndrome de Down entre 8 e 11 anos $Email: julianalc@gmail.comMileide Edialin Mossman, Juliana Loprete CuryIntrodução: A síndrome de Down (SD) aparece durante a formação do feto por anomaliagenética ligada ao ligada ao cromossomo 21. Dentre as complicações geradas há fatoresque contribu<strong>em</strong> para a disfunção pulmonar como a hipotonia, imunodeficiência,obesidade, hipoplasia pulmonar e alteração de desenvolvimento motor. Objetivos:Analisar a função pulmonar de crianças com SD com idade entre 8 e 11 anos. Materiaise métodos: Foram avaliadas 18 crianças, sendo nove portadoras da SD (GSD) e novecrianças s<strong>em</strong> a SD para o grupo controle (GC), pareadas pela idade. Todas as criançasforma avaliadas utilizando: escala de desenvolvimento motor (EDM) descrita por RosaNeto, 2002; avaliação respiratória contendo teste das pressões respiratórias máximas(PImax e PEmax conforme Black e Hyat, 1969), pico de fluxo expiratório (PFE medidoutilizando Peak Flow meter), volumes e capacidades pulmonares (utilizando ventilômetroFerraris). Análise estatística: Todos os dados estão descritos <strong>em</strong> média±desvio padrão.Foi considerada significância estatística para p
dos músculos respiratórios é importante para o prognóstico destes pacientes. O métodoconvencional de avaliação da pressão inspiratória máxima (PImax) e expiratória máxima(PEmax) exige cooperação do paciente. Alternativamente, avaliação da PImax pode serrealizada pelo método de oclusão, s<strong>em</strong> cooperação dos pacientes. Objetivos: Avaliar a PI,PImsx e relação PI/PImsx <strong>em</strong> crianças PC a 0°e 90°. Materiais e métodos: Foram avaliadasdez crianças, grupo PC (GPC) atendidas na Clínica-escola do UNI-BH e dez normais, gruponormal (GN). As crianças passaram por uma avaliação s<strong>em</strong>iológica e pela avaliação da PI ePImax, nas posições de 0 e 90º. A relação PI/PImax foi calculada pela divisão mat<strong>em</strong>áticados valores absolutos de PI e PImax. A técnica de avaliação consiste <strong>em</strong> acoplar ao rosto,uma máscara associada à válvula unidirecional do manovacuômetro sendo o ramoinspiratório ocluído ao final de uma expiração convencional e mantido por 20. A primeiradeflexão negativa traduz a PI e a pressão, ao final do t<strong>em</strong>po de oclusão a PImax. Análiseestatística: Foi realizada pelos testes não paramétricos de Wilcoxon e Mann-Whitney,com p< 0,05. Resultados: Os grupos avaliados foram comparáveis quanto a idade e índicede massa corpórea (IMC). Não houve diferença significativa quanto à comparação de PI ePImax entre o GPC e GN a 0 ou 90º. Já a PI e a PImax no GPC a 90º foram significativament<strong>em</strong>ais negativas que a 0º (PI 0º=-22,20±11,33; PI 90º=-26,40±13,62cmH2O p=0,009 e PImax0º=-70,00±28,10; PImax 90º=88,60±17,08cmH2O p=0,014). No GN a PImax também foisignificativamente maior a 90º (PImax 0º=-66,40±25,33 e 90º=-100,80±21,50cmH2Op=0,009). Entretanto a PI no GN não mostrou diferença significativa nas posições 0º e90º. A relação PI/PImax foi maior no GPC e a 0º. Conclusões: A avaliação das pressõesinspiratórias não foi diferente entre os GPC e GN, mas foram significativamente maisnegativas a 90º que a 0º, provavelmente devido a ativação da musculatura acessória darespiração que apresenta também função postural no tronco superior.130 Avaliação da endurance muscular inspiratória<strong>em</strong> crianças com mucopolissacaridoses $Email: fabi.s.lopes@terra.com.brFabiana Silva Lopes, Gabriela dos Reis Vieira, Ingrid de Castro Bolina Faria, Ivana Mara deOliveira Rezende, Cristiane Cenachi CoelhoIntrodução: As mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo de doenças genéticas,caracterizadas pela deficiência de enzimas responsáveis pela degradação deglicosaminoglicanos (GAG’s) presentes <strong>em</strong> células orgânicas. A falha nessa degradação leva aum acúmulo dos mesmos, acarretando complicações <strong>em</strong> todo o organismo, principalmenteno que se refere ao sist<strong>em</strong>a respiratório. Objetivos: Avaliar a endurance muscular inspiratória<strong>em</strong> crianças com mucopolissacaridoses, comparada a um grupo controle. Materiais <strong>em</strong>étodos: A amostra coletada neste estudo consta de cinco crianças credenciadas naAssociação Mineira de MPS que fizeram parte do grupo MPS e cinco crianças do grupocontrole estudantes de escola pública de Belo Horizonte. Foram realizadas medidas de PA,FC, FR, avaliação do sist<strong>em</strong>a respiratório e posteriormente avaliação da endurance muscularinspiratória por meio do Threshold ® IMT para ambos os grupos, de acordo com protocolode Johnson et al., 1987. A carga inicial foi de 7cmH2O e a cada dois minutos sofria acréscimode 5cmH2O, a carga máxima atingida foi aquela que a criança conseguia sustentar porpelo menos um minuto. Análise estatística: Foi feita comparação de médias para os doisgrupos <strong>em</strong> relação à carga máxima atingida e o t<strong>em</strong>po total no teste de endurance muscularinspiratória, por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney. O nível de significânciafoi fixado <strong>em</strong> p
inspiração) e EPAP (pressão positiva expiratória). Foram realizadas três sessões diárias de<strong>fisioterapia</strong> respiratória por meio do inspirômetro de incentivo ou do dispositivo de EPAPsendo três séries de dez repetições. Os grupos foram submetidos à avaliação da funçãopulmonar pré-operatória, e do primeiro ao quinto dia de pós-operatório s<strong>em</strong>pre pelomesmo avaliador. A postura adotada para a avaliação foi na posição sentada no próprioleito na posição de fowler a 45º. A sedação e analgesia do período pós-operatório foram àmesma para todos os pacientes, segundo o protocolo do serviço. Os parâmetros avaliadosforam: pico de fluxo expiratório (PFE), volume minuto (VM), capacidade inspiratória (CI),volume corrente (VC), capacidade vital (CV). Análise estatística: Utilizou-se o teste denormalidade de Kolmogorov-Smirnov às variáveis quantitativas. Para caracterização daamostra e para análise comparativa das variáveis mensuradas do primeiro ao quinto DPOcom o pré-operatório, foi utilizado o teste t Student pareado, para análise das médias dasvariáveis quantitativas dos grupos utilizou-se ANOVA. Os testes foram aplicados comsignificância de 5%. Resultados: Os grupos foram homogêneos quanto às característicasd<strong>em</strong>ográficas, exceto à idade. A CV e CI foram s<strong>em</strong>elhantes nos grupos tratados. Nogrupo EPAP houve recuperação mais rápida do VC (1º DPO), VM (2º DPO) e PFE (4ºDPO) <strong>em</strong> relação aos valores pré-operatórios. No grupo SMI, apenas o PFE retornou aosvalores basais no 5°DPO. Conclusões: No grupo EPAP observou-se melhor resposta narecuperação dos valores de função pulmonar nas crianças submetidas à cirurgia cardíaca,entretanto, serão necessários novos estudos com amostras maiores que comprov<strong>em</strong> essaterapêutica na recuperação de volumes pulmonares.caráter longitudinal, onde se avaliou a intensidade da dor pós-operatória e a CV prée do 1º ao 5º dia de pós-operatório (DPO). Foram incluídas 11 crianças de ambos ossexos, de seis a 17 anos, submetidas à cirurgia cardíaca por esternotomia mediana.As crianças foram divididas <strong>em</strong> dois grupos: controle (n=6), s<strong>em</strong> tratamento e tratado(n=5), submetido a inspirometria de incentivo (três sessões diárias, sendo três séries dedez inspirações). A CV foi avaliada no pré-operatório e do 1º ao 5º DPO, por meio deum ventilômetro digital e a quantificação da dor por meio de escala visual analógicaapenas no pós-operatório s<strong>em</strong>pre pelo mesmo avaliador. Análise estatística: Após oteste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, para caracterização da amostra e análisecomparativa da CV utilizou-se o teste t-Student pareado (distribuição normal). Na análisecomparativa da dor, mensurada do 1º ao 5º DPO utilizou-se teste t-Student pareado(distribuição normal) e Wilcoxon (s<strong>em</strong> distribuição normal), sendo este último utilizadono apenas no 5º DPO. Na análise das variáveis entre os grupos foi utilizado o testet-Student (distribuição normal). Para correlacionar a dor e a CV utilizou-se a correlaçãonão-paramétrica de Spearman. Todos os testes foram aplicados com significância de 5%.Resultados: No grupo tratado, a dor diminuía a partir do 2º DPO, enquanto no controlediminuiu a partir do 3º DPO. Comparados entre si, houve diferença significativa noterceiro dia, com maior queda da dor no grupo tratado (p
da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. A análise estatística utilizada inclui os cálculosde média, desvio padrão e teste exato de Fisher. Resultados: Verificamos que 58% (35/60)das admissões na UTIN são provenientes de CP de causa primária, destas a síndromedo desconforto respiratório (SDR) representou 52% (31/60) dos casos e a síndrome daaspiração de mecônio 7% (4/60). A Pneumonia descrita como CP de causa secundáriarepresentou 7% (4/60) das complicações. A pr<strong>em</strong>aturidade esteve presente <strong>em</strong> 63% doscasos, anóxia compreendeu 12% e sífilis congênita 10% dos RN’s. Destes, 57% (34/60)eram do sexo masculino, dos quais 45% apresentaram baixo peso ao nascimento compeso médio de 2,3kg±0,9. O apgar ao 1º minuto obteve média de 7 e ao 5º minuto média 8.Os fatores de risco associados as condições maternas revelam-se <strong>em</strong> 18% como diabetes,12% diabetes gestacional, 8% infecção do trato urinário, 5% HAS e 3% tabagismo e usode drogas ilícitas. A realização de pré-natal se fez presente <strong>em</strong> 87% dos casos. Ao realizaranálise univariada para buscar associação destes fatores com o desenvolvimento de CPverificamos que apenas a existência de infecção do trato urinário comportou-se comofator de risco (p=0,03). A reanimação e suporte ventilatório foi necessária <strong>em</strong> 70% doscasos. Observamos que 3% (2/60) dos RN’s evoluíram a óbito. Em relação ao atendimentofisioterapêutico, este se fez presente <strong>em</strong> 47% dos bebês. O tratamento fisioterapêutico <strong>em</strong>100% dos RN’s constou de técnicas de reequilíbrio tóracoabdominal (RTA), baby bobath,estímulo de sucção e posicionamento terapêutico. Outras técnicas como alongamento damusculatura respiratória acessória, redirecionamento de fluxo, ginga torácica, reexpansãopulmonar, aspiração e AFE também foram praticadas, porém representaram uma pequenaparcela das condutas realizadas. Conclusões: Esses dados permit<strong>em</strong> afirmar que a SDRé a principal causa de complicação pulmonar apresentada nos RN’s, representada por52% dos casos, e que as técnicas de <strong>fisioterapia</strong> mais utilizadas foram RTA, baby bobath,estímulo de sucção e posicionamento terapêutico.138 Índices de oxigenação e de ventilação associadosao t<strong>em</strong>po de ventilação mecânica <strong>em</strong> UTIpediátrica $Email: celize@directnet.com.brCelize Cruz Bresciani Almeida, Angélica Góes Oliveira, Janially Richiardi, Rosângela AlvesGrande, Armando Augusto Almeida JúniorIntrodução: Estudos recentes d<strong>em</strong>onstram a importância de analisarmos os índices deoxigenação (IO) e de ventilação (IV) para análise da gravidade do paciente e do t<strong>em</strong>pode ventilação mecânica (VM). Porém poucos trabalhos avaliam seu uso <strong>em</strong> pacientespediátricos. Objetivos: Correlacionar o IO e o IV com t<strong>em</strong>po total de VM e compará-los <strong>em</strong>dois grupos de pacientes: t<strong>em</strong>po de VM menor que sete dias e igual ou maior que sete dias.Materiais e métodos: Realizou-se um estudo prospectivo <strong>em</strong> UTI Pediátrica, nos mesesde abril de 2007 a janeiro de 2008. Os índices foram diariamente calculados nos primeirossete dias <strong>em</strong> VM, por meio das equações: IO: (FiO2 x pressão médias de vias aéreas)/PaO2; IV: (PaCO2 x pico de pressão x freqüência respiratória mecânica)/1000. Foramincluídos no estudo pacientes entre 28 dias de vida e 14 anos de idade, e excluídos os quepermaneceram <strong>em</strong> VM por menos de 24 horas. Os pacientes foram então divididos <strong>em</strong>duas categorias: necessidade de VM
60and height can not be assessed.142 Tolerância ao exercício e força muscularrespiratória <strong>em</strong> respiradores bucais $Email: re_okuro@yahoo.com.brRenata Ti<strong>em</strong>i Okuro, Ester Piacentini Côrrea, Patrícia Blau Margosian Conti, Camila Isabel daSilva Santos, Maria Ângela Gonçalves de Oliveira RibeiroIntrodução: As compensações posturais adotadas pelo respirador bucal pod<strong>em</strong> desenvolveruma disfunção respiratória importante com variadas complicações, dentre eles diminuiçãoda tolerância ao exercício e força muscular respiratória. Objetivos: Avaliar tolerância aoexercício físico <strong>em</strong> respiradores bucais por meio do teste de caminhada de seis minutos(T6) e comparar os grupos respirador bucal (grupo RB) e nasal (grupo RN) de acordocom a distância percorrida (DP), valores de pressão inspiratória máxima (PImax), PressãoExpiratória máxima (PEmax) e pico de fluxo expiratório (PFE). Materiais e métodos: Foirealizado um estudo transversal, analítico e descritivo, realizado <strong>em</strong> uma escola municipalde ensino fundamental. Foram incluídas oito crianças de nove a 12 anos, avaliados pelaotorrinolaringologia para ser<strong>em</strong> triados entre RB e RN. Os critérios de exclusão foram:obesidade, cardiopatias, asma, doenças neurológicas e ortopédicas. As medidas da PIMax,PEmax, PFE e o T6 foram realizadas por profissionais treinados e cegos, sendo verificadasantes da triag<strong>em</strong> médica. A amostra constou de quatro crianças no grupo RB e quatro nogrupo RN, pareados de acordo com a idade, sexo e índice de massa corporal (IMC). Análiseestatística: Foi realizada por meio do software SPSS 7.5, utilizou-se o teste de Wilcoxonpara comparação dos dados, com valores de significância para p
nível ambulatorial, <strong>em</strong> crianças com MPS submetidos a ventilação não invasiva compressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) com níveis pressóricos de 6cmH2O e10cmH2O e comparar as respostas cárdio-pulmonares e cirtométricas antes, durantee após a utilização da CPAP. Matérias e métodos: Foram avaliadas cinco crianças comMPS, sendo as mesmas expostas a CPAP durante 20 minutos, com dois níveis de PEEP(6 e 10cmH2O). Medidas de freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (FR),saturação de oxigênio (SpO2), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica(PAD), cirtometria axilar (CAx) e cirtometria abdominal (CAb), foram realizadas <strong>em</strong>três momentos diferentes (repouso, 10 e 20 minutos de CPAP). Análise estatística: Paracomparação entre as provas com nível de PEEP 6cmH2O e 10cmH2O, para variáveis comdistribuição normal foi utilizado o teste t de Student para amostras independentes e oteste de Mann-Whitney para variáveis que não apresentaram distribuição normal. Paracomparações das situações de repouso 10 e 20 minutos, dentro de um mesmo nível dePEEP foi utilizada a análise de variância (ANOVA) e o teste de Fredman para variáveiscom e s<strong>em</strong> distribuição normal respectivamente. O nível de significância foi previamentefixado <strong>em</strong> p=0,05. Resultados: Ao analisarmos a FC e FR, observamos que não houvediferenças significativas nas situações de repouso e com CPAP de 6 e 10cmH2O. A SpO2não apresentou variação significativa. Entretanto, com 10 minutos de CPAP com PEEP de6cmH2O, ocorreu um aumento absoluto expressivo dos valores de SpO2 . Os valores dePAS e PAD, nos três momentos e com os dois níveis de PEEP, não apresentaram diferençasestatisticamente significativas, <strong>em</strong> nenhuma situação e com nenhum nível de PEEP, assimcomo CAx e CAb. Conclusões: Como o número de indivíduos avaliados é pequeno, nossosresultados suger<strong>em</strong> que há benefícios da CPAP <strong>em</strong> crianças com MPS e, nessas crianças,os valores de PEEP utilizados não induz<strong>em</strong> alterações h<strong>em</strong>odinâmicas significativas.147 Avaliação da força e endurance dos músculosinspiratórios <strong>em</strong> criançascom paralisia cerebral $Email: ingridcbfaria@hotmail.comIngrid de Castro Bolina Faria, Simone Magalhães da Mata, Ivana Mara de Oliveira Rezende,Vivian Sant`Anna Miranda, Ana Karina de Oliveira AbateIntrodução: A paralisia cerebral (PC) é uma encefalopatia crônica infantil não-progressiva.Em conseqüência da lesão cerebral, poderão ocorrer distúrbios de motricidade, tônus epostura, gerando prejuízos à função e ao des<strong>em</strong>penho da criança, incluindo o sist<strong>em</strong>apulmonar. Objetivos: Avaliar a força e endurance dos músculos inspiratórios através depressão inspiratória basal (PI) e pressão inspiratória máxima (PImax) <strong>em</strong> crianças com PCquadriplégica espástica <strong>em</strong> comparação a um grupo de crianças saudáveis, e correlacionara PImax e endurance muscular inspiratória (PI/PImax) com as variáveis grupo (PC econtrole), sexo, peso e altura. Materiais e métodos: Foram avaliadas 22 crianças, sendo11 com PC pertencentes ao grupo teste e 11 crianças saudáveis pertencentes ao grupocontrole. Em todas as crianças foram avaliadas PI e PImax por meio da técnica propostapor Kacmarek et al., 1989, para pacientes não cooperativos. Em seguida foi realizada aanálise de PI/PImax visando avaliar a endurance dos músculos inspiratórios. Além disso,foi mensurado peso e altura a fim de correlacionar esses fatores às variáveis PImax ePI/ PImax. Análise estatística: Para verificação da diferença de PI, PImax e PI/PImaxfoi utilizado o teste de Mann-withney, e para correlacionar os fatores grupo (PC versuscontrole), sexo, peso e altura, foram realizadas análises de regressão linear e logística. Onível de significância foi fixado <strong>em</strong> p=0,05. Resultados: Avaliadas PI, PImax e PI/PImax,,observou-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre os gruposestudados para as três variáveis (p=0,945, p=0,62 e p=0,55 respectivamente). A análise deregressão linear d<strong>em</strong>onstrou haver correlação apenas do fator grupo com a variável PImax(p=0,05) além de indicar que crianças com PC possu<strong>em</strong> maior PImax quando comparadasàs crianças saudáveis (coeficiente de correlação=40,7). Já a análise de regressão logísticad<strong>em</strong>onstrou haver correlação de todos os fatores (grupo, sexo, peso e altura) com PI/PImax, além de d<strong>em</strong>onstrar que crianças com PC possu<strong>em</strong> índice de sobrecarga menor quecrianças saudáveis (OR=1,72). Conclusões: Nossos resultados suger<strong>em</strong> que as variáveis PI,PImax e PI/PImax apresentam valores s<strong>em</strong>elhantes entre um grupo de crianças com PCcomparadas às crianças saudáveis s<strong>em</strong> comprometimento neuromuscular.148 Efeito do posicionamento postural frenteà estabilização do gradil costal de recémnascidos $Email: brunherotti@uol.com.brMarisa Afonso Andrade Brunherotti, Francisco Eulógio MartinezIntrodução: O decúbito postural v<strong>em</strong> acrescentar aos cuidados dos pr<strong>em</strong>aturos,d<strong>em</strong>onstrando a interferência do posicionamento postural no índice de oxigenação. Aliteratura científica descreve o posicionamento postural como provedor de benefíciosna mecânica pulmonar. A resposta do diafragma recorrente à influência do decúbitopostural é afirmada através da resposta dos pontos fixos e móveis que o músculo sofre,o diafragma divide-se <strong>em</strong> uma ação vertebral, uma porção costal e uma porção esternal,conseqüent<strong>em</strong>ente, o posicionamento cérvico-toraco-abdominal do recém-nascidogera modificação na resposta da contração muscular e no seu resultado final. Objetivos:Determinar o comportamento de recém-nascido pr<strong>em</strong>aturo frente à estabilização dogradil costal <strong>em</strong> dois posicionamentos postural. Materiais e métodos: Delineamentofoi ensaio clínico controlado randomizado, estudo de intervenção, prospectivo e tipocrossover, no ano de 2008 na Santa Casa de Franca. Foram acompanhados dez recémnascidospr<strong>em</strong>aturos com média de peso de 1.800g, idade gestacional de 33 s<strong>em</strong>anase ambos os gêneros. Os pr<strong>em</strong>aturos se encontravam estáveis, s<strong>em</strong> uso de suporteventilatório e/ou oxigênio supl<strong>em</strong>entar, estando-os na primeira s<strong>em</strong>ana de vida. Osrecém-nascidos avaliados foram submetidos à seqüência de decúbitos posturais, ventral eo dorsal, os quais encontravam com e s<strong>em</strong> faixa estabilizadora do gradil costal, seguindoa seqüência selecionada com quatro posição observadas. As variáveis analisadas foram:freqüência respiratória, freqüência cardíaca e boletim Silverman & Anderson, no intervalode 10 minutos totalizando 60 minutos, <strong>em</strong> cada posição. Análise estatística: Os dados sãoapresentados na forma de média, desvio padrão e porcentag<strong>em</strong> de forma comparativa.Resultados: Os indicadores analisados responderam com média na posição desupinação, s<strong>em</strong> estabilizador, Fr 48,5ciclos/min, Fc 137bat/min, Sat 94%, BSA 0.69 e comestabilizador, obteve, Fr 47ciclos/min, Fc 135bat/min, Sat 95,5, BSA 0.20. Já na posição depronação s<strong>em</strong> estabilizador, encontramos, Fr 47,5ciclos/min, Fc 139bat/min, Sat 96%, BSA0.30 e pronação com estabilizador, Fr 47ciclos/min, Fc 134bat/min, Sat 96,5%, BSA 0.13 .Conclusões: O sist<strong>em</strong>a respiratório do recém-nascido pr<strong>em</strong>aturo responde a estabilizaçãodo gradil costal, o qual d<strong>em</strong>onstrou redução do assincronismo ventilatório através do BSAe os indicadores foram representados com o melhor valor no uso do estabilizador costal.149 Fisioterapia 24 horas <strong>em</strong> UTI neonatal: impactosobre os indicadores de des<strong>em</strong>penho $Email: carla.nicolau@icr.usp.brJuliana Della Croce Pigo, Tatiana Liziero Razuck, Ana Claúdia Modena Garcia, LucianaGiachetta, Karen Pastre Fercondini, Carla Marques NicolauIntrodução: Embora a <strong>fisioterapia</strong> respiratória seja considerada parte integrante daequipe que presta assistência aos recém-nascidos (RN) sob cuidados intensivos, a suareal necessidade <strong>em</strong> período integral ainda é questionada. Objetivos: Avaliar, antes eapós a impl<strong>em</strong>entação da <strong>fisioterapia</strong> 24 horas, o impacto sobre os t<strong>em</strong>pos de ventilaçãomecânica e de hospitalização e o índice de extubação acidental. Materiais e métodos:Estudo transversal realizado entre agosto de 2007 e maio de 2008 com recém-nascidospré-termo (RNPT) com peso de nascimento menor que 1.500 gramas e <strong>em</strong> ventilaçãomecânica. Foram excluídos os portadores de malformações congênitas graves e síndromesgenéticas. Os RN foram divididos <strong>em</strong> dois grupos: grupo A - composto por RN quereceberam <strong>fisioterapia</strong> 12h/dia e, grupo B - composto por RN que receberam <strong>fisioterapia</strong>24h/dia. Os indicadores de des<strong>em</strong>penho estudados foram os t<strong>em</strong>pos de ventilaçãomecânica e de hospitalização e o índice de extubação acidental (EA). Análise estatística:Os dados descritivos foram descritos <strong>em</strong> termos de porcentag<strong>em</strong> e proporções; para acomparação dos dados utilizou-se o teste t-Student com p
manômetro, quando comparada com a prescrição foi maior <strong>em</strong> 18% dos pacientes, igualà prescrita <strong>em</strong> 58% e menor <strong>em</strong> 24% dos pacientes. A FiO2 coincidiu com a prescrita<strong>em</strong> 73,9% dos RN. Conclusões: A técnica de instalação e manutenção dos sist<strong>em</strong>as deCPAP nasal dista muita do ideal preconizado pela literatura internacional. Essas falhaspod<strong>em</strong> ser facilmente corrigidas com <strong>em</strong>penho, treinamento e conscientização da equip<strong>em</strong>ultidisciplinar.30,51) e peso ao nascer mais baixos (949,21gramas versus 1258,74), com significânciaestatística (p
esses dados, e que no GA, <strong>em</strong> todos os momentos o escore NFCS foi inferior <strong>em</strong> relação aoGC, recomenda-se a prática da sucção não-nutritiva com AD durante a FR <strong>em</strong> RNPT.155 Sucção não nutritiva com glicose 25% eocorrência de dor durante a fi sioterapiarespiratória <strong>em</strong> pr<strong>em</strong>aturos $Email: arthur_medeiros85@hotmail.comMaciyle Cristofoli Cavalli, Bruna Benitez Soares, Hugo Augusto Jara, Adriane Pires Batiston,Arthur de Almeida Medeiros, Mara Lisiane de Moraes dos SantosIntrodução: O recém-nascido é capaz de sentir dor. As exposições à dor prolongadas erepetidas pod<strong>em</strong> alterar o desenvolvimento, o sist<strong>em</strong>a cognitivo, sensorial e pod<strong>em</strong> aindacausar dificuldade no aprendizado durante a infância, e alterações nas respostas aoestresse do recém-nascido. Objetivos: Identificar a ocorrência da dor <strong>em</strong> recém-nascidospr<strong>em</strong>aturos (RNPT) submetidos à <strong>fisioterapia</strong> respiratória (FR), e verificar se o métodonão farmacológico de controle da dor por meio da sucção não nutritiva com glicose 25%é eficaz na redução da dor durante as diferentes etapas da intervenção da FR. Materiaise métodos: Foram avaliados 20 RNPT <strong>em</strong> tratamento <strong>em</strong> UTI neonatal, divididos <strong>em</strong>grupo controle (GC) e grupo glicose (GG). Dez RNPT foram alocados aleatoriamenteno GC, e 10 no GG. Os dois grupos foram submetidos ao tratamento de FR padronizado(drenag<strong>em</strong> postural+manobras de desobstrução+aspiração). Os RNPT do GG, durante otratamento, foram submetidos à sucção não nutritiva com gaze <strong>em</strong>bebida <strong>em</strong> glicose 25%.A dor foi quantificada através da Escala NFCS dois minutos antes da sessão (pré), duranteas manobras da <strong>fisioterapia</strong> (T0), durante o procedimento de aspiração (Tasp) e um(T1) e cinco (T5) minutos após o término do procedimento. Nessa escala é consideradaocorrência de dor com escore de três ou mais pontos. Análise estatística: Os dados obtidosda NFCS entre os momentos <strong>em</strong> cada grupo foram comparados pelo teste de Friedman,seguido pelo pós-teste de múltiplas comparações de Dunn; e entre os dois grupos peloteste Mann-Whitney, com p0,05). No momento T0 houve uma tendência de que oescore para o GG fosse menor do que aquele para o GC (p=0,05). Nos momentos Tasp eT1 o escore na escala NFCS do GG foi significativamente menor do que no GC (p
64de base. Materiais e métodos: Estudo retrospectivo, com análise descritiva de dados dosprontuários de crianças com alterações no sist<strong>em</strong>a respiratório e que utilizaram VNI. Elasforam atendidas entre junho e set<strong>em</strong>bro de 2007 na unidade de retaguarda da <strong>em</strong>ergênciapediátrica de um hospital universitário. Esta unidade t<strong>em</strong> 12 leitos e a VNI é indicada einstituída por uma equipe multiprofissional (médicos, fisioterapeutas e enfermeiras) queaplica o seguinte protocolo de parâmetros iniciais para o uso da VNI: modo ventilatóriocom pressão <strong>em</strong> dois níveis (bi level – BiPAP); pressão positiva inspiratória (IPAP) de8-12cmH2O; pressão positiva expiratória (EPAP) de 4-6cmH2O; freqüência respiratóriade backup 6-16cpm; t<strong>em</strong>po inspiratório 0,6 a 1,0segundo; fração inspirada de oxigênio(FiO2) de acordo com os valores prévios utilizados no sist<strong>em</strong>a de fornecimento de O2;modo de aplicação: intermitente de uma a três horas, três vezes ao dia ou de acordo coma insuficiência ventilatória da criança. Principais interfaces utilizadas: prongas nasais,máscaras faciais e nasais, de acordo com a faixa etária da criança. Aparelho utilizado:BiPAP Synchrony II ® , Respironics. Resultados: Neste período foram atendidas 390crianças,195 (50%) delas com diagnóstico de doenças respiratórias (42% broncoespasmo,25% pneumonias e broncopneumonias, 10% bronquiolite, 10% asma, 7% obstrução alta,6% infecção de vias aéreas superiores), com idade entre zero e cincos anos. Destas,41(21%) crianças utilizaram VNI, com seguintes diagnósticos clínicos: broncoespasmo(29,2%), pneumonia ou broncopneumonia (43,9%), bronquiolite (4,8%), asma (13,4%),outros (8,8%). Da amostra total, 21% das crianças tiveram diagnóstico concomitantede atelectasia pulmonar. Conclusões: A prevalência de utilização da VNI <strong>em</strong> casos deinsuficiência respiratória aguda é relevante (50%) no setor de <strong>em</strong>ergência pediátrica, coma distribuição variável de acordo com a doença de base. Desta forma, a sua utilizaçãodeve ser s<strong>em</strong>pre considerada como suporte ventilatório para a insuficiência respiratóriaaguda no setor de <strong>em</strong>ergências pediátricas.FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA160 Impacto da bicicleta ergométrica sobre odesmame da ventilação mecânica $Email: manoel@inspirar.com.brManoel Luiz de Cerqueira Neto, Esperidião Elias Aquim, Gabriela Girotto, Maria CristinaSchneider Noura MansourIntrodução: O desmame da ventilação mecânica é considerado o ponto mais críticona reabilitação de um paciente de unidade de terapia intensiva (UTI), uma vez que oretardo neste processo pode acarretar diversas complicações principalmente dosist<strong>em</strong>a cardiorrespiratório. Nesse contexto a prática de exercícios pode apresentarresultados benéficos. Objetivos: Avaliar o impacto da bicicleta ergométrica sobre odesmame do paciente <strong>em</strong> ventilação mecânica <strong>em</strong> UTI. Materiais e métodos: Forammontados dois grupos de estudo, onde ambos os grupos receberam o atendimentofisioterapêutico de rotina da UTI, realizado três vezes ao dia. O G1(protocolo) realizou,além do tratamento convencional, bicicleta ergométrica s<strong>em</strong> carga, que foi adaptadaà poltrona do paciente. Já o G2 (controle), que foi formado aleatoriamente a partir dedados históricos, coletados no banco de dados de uma das UTI’s, recebeu o tratamentode rotina, ou seja os três atendimento diários de <strong>fisioterapia</strong>. Análise estatística: Para acomparação de médias onde uma mesma amostra foi utilizada <strong>em</strong> momentos diferentesutilizou-se o teste t de Student para amostras pareadas, já a comparação de médias entreos grupos independentes foi realizada por meio do teste t de Student para amostrasindependentes, para medir a associação entre duas variáveis de um mesmo grupo foiutilizado o coeficiente de correlação linear de Pearson e para testar a significância dedois grupos independentes com variáveis qualitativas utilizou-se o teste Exato de Fisher.O nível de significância utilizado foi de 5%. Todos os cálculos estatísticos realizadosforam efetuados utilizando-se os softwares estatísticos Statistical Package for theSocial Sciences (SPSS versão 10.0) e também o sotware estatístico R (2.6.2). Resultados:A amostra conteve oito pacientes no grupo G1, com idade média de 64,88, apache de15, o G2 foi constituído de oito pacientes com média de idade de 62,63 e apache de 15,sendo observada correlação entre o t<strong>em</strong>po de desmame e t<strong>em</strong>po de internação na UTI.Verificou-se que não houve diferença estatística significativa entre os grupos G1 e G2<strong>em</strong> relação ao t<strong>em</strong>po de desmame da ventilação mecânica. Não foi encontrada diferençaestatística significativa entre a medida da coxa antes e depois da bicicleta. As d<strong>em</strong>aisvariáveis: freqüência cardíaca, freqüência respiratória, volume corrente expirado evolume minuto foram mantidas inalteradas. Conclusões: O recurso utilizado é seguro,uma vez que manteve a estabilidade h<strong>em</strong>odinâmica do paciente. Porém o mesmo nãod<strong>em</strong>onstrou superioridade quando comparado à <strong>fisioterapia</strong> convencional.161 Impacto do ortostatismo na mecânica ventilatóriae nas variáveis h<strong>em</strong>odinâmicas $Email: manoel@inspirar.com.brVanessa Fogaça, Esperidião Elias Aquim, Graziele Sávio, Leandro Leoni Paes Maira J.Maturana, Manoel Luiz de Cerqueira NetoIntrodução: O paciente internado <strong>em</strong> UTI pode sofrer várias complicações, as quaispod<strong>em</strong> variar de acordo com a patologia que o levou ao internamento, b<strong>em</strong> comoao repouso prolongado no leito e sua inatividade. Objetivos: O presente estudo t<strong>em</strong>como objetivo avaliar a mecânica ventilatória e as variações h<strong>em</strong>odinâmicas com oRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.uso da prancha ortostática <strong>em</strong> pacientes ventilados mecanicamente nas unidadesde tratamento intensivo. Materiais e métodos: Realizado de forma descritiva,longitudinal, prospectiva e quantitativa. A amostra foi composta por 12 pacientes, osquais receberam <strong>fisioterapia</strong> motora e respiratória antes do inicio do protocolo, sendoentão os pacientes transferidos da cama para prancha ortostática, onde, foi coletadae calculada a mecânica ventilatória (resistência, complacência estática e dinâmica),pressão de pico, pressão de platô, volume corrente expirado, volume minuto e variaçõesh<strong>em</strong>odinâmicas (freqüência cardíaca, saturação de oxigênio e pressão arterial media)nas angulações de 0º, 30º, 60º e 90º, permanecendo cinco minutos <strong>em</strong> cada angulaçãoprecedentes a coleta de dados. Análise Estatística: Analisado através do TesteWilcoxon, e a diferença foi considerada estatisticamente significativa se p-valor
pública da cidade do Recife, perceb<strong>em</strong>-se com maior autonomia para realização desuas atribuições, o que pode ser decorrente do t<strong>em</strong>po de formado, de experiência naárea e do tipo de vínculo <strong>em</strong>pregatício estabelecido com a instituição, diferent<strong>em</strong>entedos profissionais da rede hospitalar privada. Faz-se necessários mais estudos paraaveriguar os fatores que possam determinar essas diferenças.164 Avaliação das pressões de cuff do tubooro-traqueal e cânula de traqueostomia <strong>em</strong>pacientes submetidos a ventilação mecânica $Email: maranasrala@yahoo.com.brIara Silva de Moraes, Juliana Auxiliadora da Costa, Viviane Martins Santos, Mara Lílian SoaresNasralaIntrodução: Pacientes submetidos à ventilação mecânica estão expostos a lesõesda mucosa traqueal decorrentes de altas pressões de cuff dos tubo orotraqueais ecânulas de traqueostomias. Objetivos: O objetivo desse estudo foi avaliar as pressõesde cuff do tubo oro-traqueal e cânula de traqueostomia <strong>em</strong> pacientes submetidosà ventilação mecânica da UTI adulto do Hospital Universitário Júlio Müller <strong>em</strong>Cuiabá, MT. Materiais e métodos: Foi realizado um estudo observacional de cortetransversal, com uma amostra composta de 30 pacientes internados na UTI adultodo Hospital Universitário Júlio Müller com mais de 12 horas de ventilação mecânica.As mensurações das pressões de cuff foram realizadas duas vezes ao dia, períodomatutino e noturno, durante três dias consecutivos <strong>em</strong> cada paciente. Foi utilizadoum cuffômetro analógico da marca Posey Quality. Durante a avaliação das pressõescaso os valores encontrados estivess<strong>em</strong> acima de 30cmH20 os mesmos eram ajustadoscom a menor pressão que evitasse escape de ar. Resultados: A média de idade dos30 pacientes avaliados foi de 49,9±20,2 anos sendo que 21(70%) pertenciam ao sexomasculino. Com relação ao tipo de prótese ventilatória utilizado durante o períodode estudo 25 (83,3%) utilizavam TOT e 5 (16,7%) faziam uso de TQT, com uma médiade 9,0±21,6 dias de intubação. Observou um aumento significante nas médias daspressões de cuff tanto aqueles que utilizavam TOT quanto os que utilizavam TQT.Foi verificada diferença estatisticamente significante entre as médias das pressõesencontradas nos três dias com p
66métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordag<strong>em</strong> qualitativae quantitativa, realizada com base nas informações colhidas a partir do Livro deAdmissão pertencente ao serviço de <strong>fisioterapia</strong> da UTI de um hospital público na cidadede João Pessoa, PB, durante o ano de 2007. Foram estudados 400 pacientes, destes, 32%não participaram do estudo por ter<strong>em</strong> evoluído a óbito. Análise estatística: As variáveisquantitativas foram tratadas de acordo com a estatística descritiva, com o cálculo d<strong>em</strong>édias e porcentagens, por meio do Microsoft Office Excel. Resultados e conclusões: Apartir dos resultados obtidos observou-se que os cinco maiores motivos de internaçãoforam respectivamente: traumatismo crânio-encefálico (26,7%), com t<strong>em</strong>po médio deinternação de 13,8 dias; acidente vascular encefálico (17,7%), obtendo t<strong>em</strong>po médio deinternação de 14,9 dias; politraumatismo (7,5%), com t<strong>em</strong>po médio de internação de 5,7dias; neurocirurgias (7,5%) apresentando t<strong>em</strong>po médio de internação de 8,1 dias. Já osferimentos por armas de fogo (5,7%) passaram <strong>em</strong> média 4,6 dias internados. Pode-seconcluir que o maior t<strong>em</strong>po médio de internação foi atribuído aos acidentes vascularesencefálicos. Por outro lado os pacientes acometidos por politraumatismo foram os queobtiveram o menor t<strong>em</strong>po médio de internação.169 Analise do t<strong>em</strong>po de ventilação mecânica<strong>em</strong> pacientes vítimas de TCE $Email: lucianacarvalho8@hotmail.comAndré Chaves Miranda Campos, Cenela Martha Volumnia Ramos de Morais, Luciana KarlaMelo Carvalho, Pablo Ribeiro de AlbuquerqueIntrodução: A unidade de terapia intensiva (UTI) aglomera profissionais qualificados egrande aparato tecnológico a fim de potencializar a melhora de pacientes consideradoscríticos. Os motivos de internação <strong>em</strong> uma UTI são os mais diversos, no entantodestacamos aqui o traumatismo crânio-encefálico (TCE) e a relação existente entreo t<strong>em</strong>po de uso da ventilação mecânica. Objetivos: O objetivo do presente estudo foiverificar o t<strong>em</strong>po médio de ventilação mecânica imposta à pacientes com diagnósticode TCE e internos na UTI de um hospital público na cidade de João Pessoa do Estadoda Paraíba. Materiais e métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritivacom abordag<strong>em</strong> quantitativa e qualitativa, realizada com base nas informaçõescolhidas a partir do Livro de Ocorrência pertencente ao serviço de <strong>fisioterapia</strong> de umaUTI na cidade de João Pessoa, PB, durante o ano de 2007. Participaram do estudo asinformações referentes a 104 pacientes internos <strong>em</strong> 2007 com diagnóstico de TCE nareferida UTI. Destes 23,1% evoluíram a óbito ou não fizeram uso da ventilação mecânica,portanto não participaram do estudo. Análise estatística: As variáveis quantitativasforam tratadas de acordo com a estatística descritiva, com o cálculo de médias eporcentagens, através do Microsoft Office Excel. Resultados e conclusões: A partirdos resultados obtidos foi possível observar que o t<strong>em</strong>po médio no qual os pacientespermaneceram sob ventilação mecânica foi de 8,45 dias. Verificou-se também queaproximadamente 23% dos internos por TCE permaneceram <strong>em</strong> ventilação mecânicapor um período compreendido entre sete e nove dias. Além disso, constatou-se que amenor parcela dos pacientes (13) permaneceu <strong>em</strong> ventilação mecânica por um períodocompreendido entre um e três dias. Concluímos, portanto que a ventilação artificial foiimposta aos pacientes, internos na UTI estudada, por um período médio de 8,45 diasdurante o ano de 2007.170 Dor <strong>em</strong> unidade de terapia intensiva pediátrica:uma visão da equipe multidisciplinar $Email: ana.lahoz@icr.usp.brAlessandra da Silva, Ana Lucia Capelari Lahóz, Daniela Mara dos Santos, Luciana AparecidaDomingos Nascimento de Deus, Mariana Sumire Shiraiwa, Simone IvanoffIntrodução: A dor t<strong>em</strong> sido um t<strong>em</strong>a muito estudado nos últimos anos, porém aindahá vários pontos duvidosos <strong>em</strong> relação a sua avaliação e ao tratamento da dor <strong>em</strong>pediatria. Objetivos: Caracterizar o profissional médico e não médico da unidade deterapia intensiva pediátrica (UTI) e conhecer a opinião destes sobre os procedimentosdolorosos e o tipo de tratamento rotineiramente realizado. Materiais e métodos:O estudo foi do tipo descritivo, prospectivo realizado com os profissionais da áreamédica e não médica que trabalham na UTI pediátrica, por meio de questionáriocomposto por 61 questões fechadas. Análise estatística: Os dados nominais foramdescritos <strong>em</strong> termos de porcentagens e proporções e a análise estatística foi realizadaatravés do programa Excel. Resultados: Responderam ao questionário 47 profissionaisdos quais sete eram médicos (PM) e 40 não médicos (PNM), dentre eles, a média deidade foi de 35,28±12,49 meses e de 33,97±9,8 meses respectivamente com predomíniodo sexo f<strong>em</strong>inino, com t<strong>em</strong>po médio de experiência profissional de 100,28±65,65 (PM)e 127,59±52,43 meses (PNM).Os profissionais médicos e não médicos consideraram apunção venosa, a passag<strong>em</strong> das sondas vesical, nasogástrica e nasoenteral como osprocedimentos mais dolorosos. A equipe multidisciplinar considerou os procedimentosfisioterapêuticos como a cinesioterapia respiratória e motora, a tapotag<strong>em</strong> e asmudanças de decúbito como não dolorosos. Sobre a indicação de analgésicos, aopinião médica e não médica foi indicá-los <strong>em</strong> procedimentos invasivos como aintubação orotraqueal, a paracentese, o mielograma e a toracocentese. O tratamentonão farmacológico foi mais indicado pelos profissionais médicos e não médicos paraos procedimentos fisioterapêuticos. Conclusões: O profissional médico e não médicoda unidade de terapia intensiva pediátrica sabe a importância de avaliar a dor, porémo evento doloroso ainda não é tratado adequadamente.Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.171 Correlação entre PImáx e CVL e seu papel comopreditor do sucesso na descontinuação da AVM $Email: gfds@hotlink.com.brGabriela Félix de Souza, Maria Cecília Cedrim Costa, Priscilla Gonçalves de Melo, RaquelW. Pimentel de Araújo, Thiago de Novaes Ferreira, Fabianne Maisa de Novaes Assis, FlávioMaciel Dias de Andrade, Eduardo Ériko Tenório de FrançaIntrodução: A assistência ventilatória mecânica (AVM) é oferecida aos pacientes queapresentam aumento do trabalho respiratório ou incapacidade de manter as trocas gasosas,porém, muitas complicações estão associadas a esse procedimento, devendo a mesma serinterrompida o mais breve quanto possível. Considera-se sucesso no desmame da AVM amanutenção da ventilação espontânea por pelo menos 48 horas após a interrupção da AVM.A pressão inspiratória máxima (PImax)≤-30cmH2O e a capacidade vital lenta (CVL)>10 a15mL/Kg são considerados prováveis índices preditivos de sucesso no desmame. Objetivos:Analisar a correlação entre PImax e CVL e o papel desses índices como preditivos dosucesso na descontinuação da AVM. Materiais e métodos: Foram avaliados pacientesaptos à descontinuação da AVM, divididos <strong>em</strong> dois grupos, clínico (n=10) e <strong>em</strong> pósoperatórioimediato (POI) (n=20), os quais foram posicionados com a cabeceira elevada à45º e submetidos à avaliação da PImax e CVL. Análise estatística: Para testar a suposição denormalidade das variáveis envolvidas no estudo foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov.Para análise comparativa das variáveis qualitativas foi aplicado o teste qui-quadrado ou testeexato de Fisher quando necessário. Para análise comparativa das variáveis quantitativas foiutilizado o teste t-Student para amostras independentes e para a análise de correlação foiutilizado o coeficiente de correlação linear de Pearson. Todas as conclusões foram tomadasao nível de significância de 5%. Os softwares utilizados foram o Excel 2000 e o SPSS v 8.0.Resultados: Os dois grupos eram homogêneos quanto à idade, o sexo e peso. Não houvediferença significativa entre os grupos quanto ao sucesso da descontinuação da AVM(clínico- 80%/POI - 100%; p10 a 15mL/Kg foram índices preditivos confiáveis de sucesso no desmameda AVM, observando-se uma associação positiva entre PImax e CVL.172 Acurácia da oximetria de pulso <strong>em</strong> uma unidadede terapia intensiva geral $Email: giselediniz@superig.com.brGisele do Carmo Leite Machado Diniz, Vinícius Carvalho Andrade, Renata Martins deFreitas, Paloma Taisa Diniz Vasconcelos, Joseph Fabiano SantosIntrodução: A acurácia da oximetria de pulso é de extr<strong>em</strong>a importância para o fisioterapeutae pode ser influenciada por diversos fatores, devendo os mesmos ser considerados para seevitar erros nas decisões clínicas. Objetivos: Avaliar a acurácia da oximetria de pulso <strong>em</strong> umaUTI geral. Materiais e métodos: Estudo prospectivo, observacional. A SaO2 (gasometriaarterial) e a SpO2 (oximetria de pulso) foram coletadas simultaneamente <strong>em</strong> pacientes comdiversas condições clínicas (inclusive pacientes instáveis h<strong>em</strong>odinamicamente), durante nov<strong>em</strong>eses. Os valores foram comparados, considerando-se a SaO2 como padrão ouro. O métodode Bland e Altman foi utilizado para avaliar a precisão e o viés. O teste t-Student foi utilizadopara comparar os dados que foram analisados no SPSS.15, e um p
gasometria arterial como os principais procedimentos utilizados para a titulação da fraçãoinspirada de oxigênio e da pressão positiva expiratória final ideal. Com relação aos valoresnuméricos mais utilizados na prática clínica, cerca de 80% dos profissionais responderam que,durante a admissão do paciente, ajustam a pressão positiva expiratória final <strong>em</strong> 5cmH2O e afração inspirada de oxigênio <strong>em</strong> 100%. Cerca de 80% dos profissionais relataram a utilizaçãode uma fração inspirada de oxigênio mínima de 40%, sendo que a principal justificativa parao ajuste de tais valores foi a rotina do serviço. Somente 19% desses profissionais responderamque utilizam a curva pressão-volume para calcular a pressão positiva expiratória final ideal.Conclusões: Observou-se a utilização predominante de valores de pressão positiva expiratóriafinal de 5cmH2O durante a admissão e de uma fração inspirada de oxigênio mínima de 40%,não havendo padronização para os d<strong>em</strong>ais procedimentos investigados.174 Efeito das manobras de vibrocompressão <strong>em</strong>pacientes submetidos à ventilação mecânica nosmodos VCV versus Ventilação com pressão desuporte (PSV) $Email: vandersonassis@yahoo.com.brVanderson Assis Romualdo, Luciana de Almeida Ramos, Priscila Luiza da Silva Abdon, ThiagoAugusto Campos ViveirosIntrodução: As manobras de vibrocompressão são amplamente utilizadas <strong>em</strong> pacientes sobventilação mecânica (VM), com intuito de reexpansão pulmonar. Como resultado espera-seaumento da pressão transpulmonar, gerando maiores volume corrente (VC), fluxo inspiratório(FI) e t<strong>em</strong>po inspiratório (TI). É importante ressaltar que, se o paciente estiver <strong>em</strong> VMcontrolada a volume (VCV) a manobra de reexpansão pulmonar não deverá gerar aumentodestas variáveis, pois estas são fixas e pré-determinadas. Apesar deste princípio mecânico asmanobras com o paciente <strong>em</strong> VCV continuam sendo utilizadas <strong>em</strong> nosso meio. Objetivos:Avaliar se existe superioridade entre os modos VCV e PSV na geração de maiores VC, FI eTI durante a realização das manobras de vibrocompressão. Materiais e métodos: Estudorealizado na Unidade de Cuidados Progressivos do Hospital João XXIII. Foram incluídospacientes ventilados no modo VCV ou PSV com baixos parâmetros. Foram coletados dadosantropométricos, VC, FI e TI. Foi calculado o peso ideal do paciente no intuito de proporcionarum volume corrente de 8mL/Kg de peso ideal. O paciente foi posicionado <strong>em</strong> decúbito laterale submetido a duas séries de dez manobras no modo VCV ou PSV aleatoriamente e durantecada manobra foi registrado o VC, FI e TI. Após dois minutos de intervalo o procedimento foirepetido, porém mudando-se o modo ventilatório. Passados cinco minutos, o procedimentorepetiu-se integralmente e após dois minutos, retornamos o paciente para a modalidade<strong>em</strong> que foram registrados os primeiros dados, realizando outra série de manobras. Análiseestatística: Foi utilizada a análise de variância (ANOVA), com nível de significância de 5%.Resultados: Participaram do estudo 16 pacientes. Com relação as variáveis mensuradaspod<strong>em</strong>os observar que o VC, FI e TI foram maiores quando as manobras foram realizadasno modo PSV do que no modo VCV [VC(mL/Kg): VCV 7,7±0,8/PSV 10,1±2,6 (p
68Juliana Librelato, Samara Damin, Vanessa Zwetsch, Amanda Texeira Guiera, Esperidião EliasAquim, Manoel Luiz de Cerqueira NetoIntrodução: A pressão intra-abdominal (PIA) aumentada <strong>em</strong> pacientes submetidos acirurgias abdominais pode causar grandes efeitos deletérios sistêmicos. A <strong>fisioterapia</strong> atuana reabilitação dos pacientes internados <strong>em</strong> unidades de terapia intensiva (UTI) e podeinterferir nos valores da PIA. Objetivos: Avaliar a repercussão da <strong>fisioterapia</strong> motora naPIA, b<strong>em</strong> como o impacto desta na ventilação mecânica (VM) por meio das variáveis PIA,complacência pulmonar e resistência de vias aéreas. Materiais e métodos: Este estudo foirealizado <strong>em</strong> UTI’s de Curitiba, PR, com um número de pacientes de 44 com indicação d<strong>em</strong>onitorização de PIA. Esta pesquisa é caracterizada como um estudo clínico, longitudinal,controlado, experimental, cont<strong>em</strong>porâneo e individual. Quatro protocolos foramelaborados para avaliar os pacientes quanto às variáveis PIA e as de VM nos períodos pré epós aplicação dos protocolos. A estatística utilizada foi o ANOVA para as variáveis de PIA e oteste t de Student para as de VM. Resultados: De todos os protocolos utilizados, apenas doisapresentaram alterações significativas quanto a PIA. Quanto às variáveis de VM, apenas umprotocolo gerou um aumento significativo da resistência. Conclusões: Foi possível concluirque se deve ter cautela quanto à <strong>fisioterapia</strong> motora de m<strong>em</strong>bros inferiores <strong>em</strong> pacientescom monitorização de PIA, uma vez que o posicionamento pode acarretar no aumentosignificativo da mesma assim como a flexão do quadril, mostrado nos protocolos. Com isso,viu-se também que com o aumento da PIA nos pacientes submetidos a estes protocolos, sóhouve alteração da resistência de vias aéreas na flexão de quadril.179 Análise digital do comportamento pressóricoinspiratório com intervalo de t<strong>em</strong>po de 60segundos, como índice preditivo de desmamede pacientes <strong>em</strong> ventilação mecânica $Email:leonardofi siocor@superig.com.brLeonardo Cordeiro de Souza, Marcos David Parada Godoy, Arthur Evangelista da SilvaNeto, Roberta Souza de Mello Azeredo, Vitor Savino Campos, André Luiz Serejo, JosuéFelipe Rodrigues Campos, Carlos Manuel Furtado Mieiro, Bernardo Lopes SertãResumo: Introdução: A incapacidade da musculatura respiratória <strong>em</strong> sustentar a ventilaçãoespontânea é a indicação primária para o uso da ventilação mecânica, sendo assim, aanálise da função muscular respiratória possui uma grande importância no manejo dopaciente crítico, especialmente durante o processo de desmame deste suporte, ondea medida da PImáx é utilizada como índice preditivo de sucesso. Objetivos: O objetivodeste estudo é analisar o comportamento dos pacientes com critérios de desmame daventilação mecânica, através da medida digital da força muscular inspiratória (PImáx),com a utilização do manovacuômetro MVD 300 da Globalmed, no intuito de comparar ocomportamento de dois grupos distintos de pacientes, os pacientes traqueostomizadoscom mais de 14 dias de VM e os pacientes com até 7 dias de ventilação mecânica. Materiaise métodos: Foram avaliados 24 pacientes sendo 13homens com idade média de 56±15,3 e12 mulheres com idade média de 57±12,6. Grupo 1: composto por 10 pacientes com médiade t<strong>em</strong>po de ventilação mecânica de 5,3±1,2 e o grupo 2: composto por 14 pacientes commédia de t<strong>em</strong>po de ventilação mecânica de 19,8±8,7. Os pacientes foram submetidos aoexame, através da conexão do equipamento à Via Aérea Artificial do paciente, utilizandouma válvula expiratória com o objetivo de realizar uma contração ao nível do volumeresidual para a obtenção de melhores resultados de medida. O método <strong>em</strong>pregado consistena oclusão da via aérea por 60 segundos, e o registro da pressão inspirada correspondentea cada instante da tensão gerada pelo paciente. Todos os pacientes seguiam de umapreparação prévia, além da monitorização dos sinais vitais com o intuito de interrompero exame caso houvesse algum risco ao paciente. Análise estatistica: Os resultados foramconsiderados significativos quando p < 0,05. Os cálculos estatísticos foram obtidos peloprograma Origin v. 6.0. Resultados: No grupo 1, seis pacientes obtiveram sucesso nodesmame, onde a partir de 10 s de medida alcançaram valores superiores a 25 cmH2O,mantendo de forma linear e crescente os valores mensurados (r=0,99 e p
assistência ventilatória (tipo de máscara, complicações, t<strong>em</strong>po de uso e taxa de sucesso einsucesso da VNI), dados do t<strong>em</strong>po de internação na terapia intensiva e de hospitalização.Análise estatística: Os dados foram analisados por meio do banco de dados SigmaStat, e os dados nominais foram descritos <strong>em</strong> termos de porcentagens e proporções.Resultados: Fizeram uso de VNI 46 pacientes com idade de 65,15±54,96 meses; dentreeles, 45,6% eram do sexo masculino e 54,4% do sexo f<strong>em</strong>inino, tendo como principaisdiagnósticos a pneumonia (41,3%), a atelectasia (19,6%), o broncoespasmo (19,6%) e abronquiolite obliterante (13%). As principais indicações da VNI foram a obstrução de viasaéreas superiores pós extubação (23,9%), a atelectasia (34,8%) e a hipoventilação (30,4%).A principal máscara utilizada para a VNI foi a facial <strong>em</strong> 33 (71,7%) pacientes com umaincidência de complicações <strong>em</strong> apenas seis crianças (13%), sendo que a úlcera nasal foia maior complicação encontrada (83,3%). Obtiv<strong>em</strong>os uma taxa de sucesso <strong>em</strong> 69,5%das crianças que fizeram uso da VNI, com um t<strong>em</strong>po médio de VNI <strong>em</strong> 3,19 dias, com15,45 dias <strong>em</strong> média de t<strong>em</strong>po de internação na unidade de terapia intensiva pediátricacom t<strong>em</strong>po médio de hospitalização de 38,97 dias. Conclusões: Os resultados suger<strong>em</strong>que a VNI parece ser um bom método na insuficiência respiratória aguda e crônica <strong>em</strong>pacientes pediátricos como forma de evitar a intubação orotraqueal e as complicaçõesassociadas a ela.183 Expansão pulmonar: constatando a prática $Email: vivi_fi sio_jp@hotmail.comCleber Carneiro de Melo, Vivianne Moreira Pereira, Pablo Ribeiro de AlbuquerqueIntrodução: A ventilação mecânica representa um dos mais importantes meios parao suporte de pacientes críticos, oferecendo uma série de parâmetros que pod<strong>em</strong>ser convenient<strong>em</strong>ente controlados e ajustados. A presença da injúria pulmonarassociada a ventilação mecânica é determinada pela interação dinâmica e contínuaentre as características mecânicas do pulmão e os ajustes do ventilador. Noentanto a monotonia ventilatória potencializa a formação de áreas hipoventiladasfavorecendo o acúmulo de secreções. A necessidade de ações que vis<strong>em</strong> minimizaras conseqüências danosas da ventilação mecânica justifica a realização deste estudo.Objetivos: Verificar o uso do procedimento da expansão pulmonar terapêutica <strong>em</strong>pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva. Materiais e métodos: O estudoé classificado como descritivo de características qualitativas e quantitativas. Paraobtenção dos dados, foi desenvolvido um instrumento de pesquisa que avaliou o usoda expansão pulmonar como medida terapêutica. Além disso, obteve informaçõessobre o protocolo utilizado para a realização do procedimento. Os questionários foramrespondidos por fisioterapeutas atuantes com pacientes submetidos à ventilaçãomecânica invasiva. Análise estatística: Os dados coletados foram analisadosestatisticamente a partir de uma planilha construída com base no Microsoft Excel2003 e formatada de maneira a fornecer porcentagens, desvio padrão e variância.Resultados: Participaram do estudo 30 profissionais fisioterapeutas, destes 93,3% dosprofissionais responderam que já fizeram uso de expansão pulmonar <strong>em</strong> pacientessubmetidos à ventilação mecânica. A ocasião mais l<strong>em</strong>brada para o uso da expansãopulmonar foi a síndrome da angustia respiratória aguda (SARA), pois foi relatadapor mais de 93% dos entrevistados. Em relação à pressão inspiratória, 36,7% dosprofissionais relataram utilizar a pressão máxima compreendida entre 25 e 30cmH2O.A maior pressão expiratória final utilizada (PEEP) foi de 25 a 30cmH2O, relatadapor 13,3% dos pesquisados, já o delta mais verificado ficou compreendido entre 20 e25cmH2O. Conclusões: A partir dos resultados ficou constatado que não existe umprotocolo padrão para expansão pulmonar, no entanto é presente a tendência do usode determinados valores, a ex<strong>em</strong>plo da pressão inspiratória configurada entre 20 e40cmH2O e da PEEP compreendida entre 5 e 30cmH2O.184 Análise da correlação entre a escala de Ramsay eo desmame da ventilação mecânica $Email: esperidiao@inspirar.com.brÁlvaro Lopes Quintas Neto, Eduardo Eberhardt, Luciano Alves Leandro, RaphaelaRodriguesBarbosa, Ana Paula O. Rodrigues, Esperidião Elias Aquim, Manoel Luiz deCerqueira NetoIntrodução: A sedação faz parte integral da rotina nas unidades de terapia intensivapor reduzir o desconforto e a ansiedade associados a esse ambiente, e a resposta aoestresse, promove amnésia de eventos desagradáveis aumentando a tolerância ao suporteventilatório. Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi analisar a correlação entre escalade Ramsey e t<strong>em</strong>po de desmame da ventilação mecânica. Materiais e métodos: Foramavaliados pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, sob sedação <strong>em</strong> ventilaçãomecânica por mais de 24 horas, por meio de ficha de coleta de dados de 12 <strong>em</strong> 12 horasjuntamente com a ficha de parâmetros da ventilação mecânica. Foram avaliados: início dasedação; tipo, t<strong>em</strong>po e nível de sedação através da escala de Ramsay e t<strong>em</strong>po de desmameda ventilação mecânica. Análise estatística: foi utilizado o coeficiente de correlaçãolinear de Pearson, já a comparação entre os grupos independentes foi realizada por meiodo teste t de Student para amostras independentes, nas duas metodologias estatísticasutilizadas neste estudo o nível de significância utilizado foi de 5%. Resultados: A amostraconteve 57 pacientes, dentre os quais 75% eram do sexo masculino, com idade média de46 anos, o nível de sedação encontrado independente do t<strong>em</strong>po de sedação foi igual a5, não possuindo significância estatística e o t<strong>em</strong>po de desmame aumentava de acordocom o aumento t<strong>em</strong>po de sedação. Conclusões: Concluímos que o nível de sedação nãointerfere no desmame da assistência ventilatória mecânica, porém outros fatores sãosugestivos como: t<strong>em</strong>po de sedação, idade, diagnóstico de base e/ou hipotrofia musculardiafragmática.185 Análise da concordância da ausculta pulmonar<strong>em</strong> pacientes submetidos a ventilaçãomecânica $Email: pauloeugeniofi sio@yahoo.com.brPaulo Eugênio Silva, Antônio Carlos Magalhães Duarte, Palmireno Pinheiro Ferreira,Alessandro de Moura, Andrei Pinheiro, Flaviane RibeiroIntrodução: A ausculta pulmonar é um método de avaliação comumente utilizado<strong>em</strong> cuidados respiratórios para definir a conduta e avaliar a eficácia do tratamento<strong>em</strong>pregado. Tornar este método diagnóstico eficiente é importante para a prática clínicade tais condutas. Objetivos: Avaliar a influência de estratégias ventilatórias somada aocontrole de variáveis confundidoras sobre o nível de concordância da ausculta pulmonare o impacto sobre a detecção dos sons, <strong>em</strong> pacientes submetidos à ventilação mecânica.Materiais e métodos: Consistiu <strong>em</strong> um estudo observacional onde foram avaliados 23pacientes submetidos à ventilação mecânica internados <strong>em</strong> unidade de terapia intensiva.A ausculta foi realizada, com estetoscópio acústico, por três fisioterapeutas especialistas<strong>em</strong> cuidados respiratórios <strong>em</strong> três momentos distintos com relação aos ajustes (A) doventilador: volume corrente (Vt) e taxa de fluxo (TF). A ausculta foi realizada seguidamentes<strong>em</strong> intervalo de t<strong>em</strong>po entre os examinadores e entre cada ajuste. A1: Vt=8mL/Kg e TFmédia=40,6±0,6L/min; A2, Vt=20mL/Kg e TF média=40,6±0,6L/min; M3, Vt=20mL/Kge TF média=81±8,7L/min. Análise estatística: Foi utilizado o teste Kappa para análiseda concordância. Resultados: A concordância interobservador no melhor momento deajuste da ventilação mecânica apresentou Kappa=0,65 para roncos, 0,59 para crepitaçõesfinas, 0,57 para crepitações grossas e 0,36 para som brônquico. A análise da detecçãoevidenciou que os roncos foram mais percebidos no A3, crepitações finas e grossas no A2 esom brônquico <strong>em</strong> A3. Conclusões: Foi d<strong>em</strong>onstrado que ajustes adequados no ventiladorsomado ao controle de variáveis confundidoras aumentam a taxa de detecção e o nível deconcordância da ausculta pulmonar com valores estatisticamente significantes.186 A visão dos pacientes internados na unidadede terapia intensiva a respeito da fi sioterapia $Email: ciribas@terra.com.brAdriana Órfão, Luiz Carlos Neves, Ana Luiza D. Geloneze, Marcos Miadara, ConceiçãoAlice Volkart Boueri, Alexandre LuqueIntrodução: O fisioterapeuta atuante na UTI é um profissional que se dedica aoatendimento do paciente crítico, efetuando diagnósticos e terapias cinesio-funcionais.Embora a população esteja familiarizada com a Fisioterapia, é sabido que na maioria dasvezes as pessoas a observam como área de atuação única, sendo incapazes de distinguirsuas várias áreas de atuação. Objetivos: Avaliar o tipo de informação que t<strong>em</strong> o pacienteinternado na UTI, a respeito da atuação do profissional fisioterapeuta. Materiais <strong>em</strong>étodos: Estudo transversal, utilizando como instrumento de avaliação questionárioauto-explicativo nas unidades de terapia intensiva de três hospitais privados da cidadede São Paulo. Análise estatística: Teste exato de Fisher, nível de significância de 95%.Resultados: Entre fevereiro e abril de 2008, 51 pacientes (20 mulheres e 31 homens), comidade média de 56,15±16,11 anos responderam o questionário. 39 pacientes (76,46%)assinalaram que nunca ouviram, leram ou vivenciaram sobre a atuação da <strong>fisioterapia</strong>dentro de uma UTI (questão 1), a maioria dos pacientes concluiu o 2° grau (17 pacientes,33%) e o 3° grau (17 pacientes, 33%), porém, o nível de escolaridade não interferiu nestesresultados (p=0,42, RR:0,41; (0,06-2,81) IC), 15 (29%) dos pacientes responderam que jáforam atendidos por um fisioterapeuta dentro do hospital <strong>em</strong> hospitalização prévia,no entanto, somente cinco destes pacientes responderam sim na questão 1 (p=0,30RR:1,71 (0,64-4,55) IC). Os 12 pacientes que responderam sim na questão 1, dos 9 (75%)responderam <strong>em</strong> questão aberta sobre qual seria a atuação do fisioterapeuta na UTI, seisresponderam que não consegu<strong>em</strong> explicar qual seria atuação. A correção para variáveiscomo, já recebeu algum atendimento de um fisioterapeuta fora do ambiente hospitalar?Algum m<strong>em</strong>bro de sua família ou pessoa próxima já necessitou de <strong>fisioterapia</strong>? Possuialgum fisioterapeuta na família? E o diagnóstico de internação não interferiu nosresultados apresentados. Conclusões: A maioria dos pacientes internados na UTI e <strong>em</strong>condições de resposta desconhece o significado deste profissional na UTI.187 Protocolo de desmame da ventilação mecânicaimpl<strong>em</strong>entado por fi sioterapeutas: implicaçõespráticas $Email: ciribas@terra.com.brAlexandre Luque, Karina Dias Guedes Machado, Conceição Alice Volkart Boueri, DanielaFernandes LimaIntrodução: A utilização de um protocolo de desmame é uma estratégia efetiva paraaprimorar o manejo da ventilação mecânica, no entanto, poucos relatos de como transferireste potencial protocolo para a prática t<strong>em</strong> sido descritos. Protocolos pod<strong>em</strong> provocarRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.69
70ressentimentos e frustrações entre os profissionais de saúde envolvidos, o procedimentopode ser percebido como r<strong>em</strong>oção do julgamento clínico s<strong>em</strong> considerar todos osaspectos relacionados ao paciente. Objetivos: Analisar um modelo de impl<strong>em</strong>entação deprotocolo de desmame pela equipe de fisioterapeutas de um hospital privado. Materiaise métodos: Estudo de coorte prospectivo. Análise estatística: ANOVA one-way, análisede risco relativo, sensibilidade e especificidade, nível de significância de 95%. Resultados:Durante 18 meses, 6 meses antes (período controle - PC) e 12 meses após o protocolo dedesmame ser impl<strong>em</strong>entado divididos <strong>em</strong> dois períodos (período intervenção A (6 meses– re-treinamento), B (12 meses – apresentação parcial dos dados e re-treinamento – PA,PB), 203 pacientes consecutivos com mais de 48 horas de VM foram avaliados (50 no PC,68 no PA, 85 no PB), s<strong>em</strong> diferenças significativas quanto à idade (70,66±21,16; 71,87±14,98;64,7±20,62, p=0,69), score de gravidade fisiológica SAPS III (57±12,12; 53,29±8,08, 52±11,77,p=0,61) e causa da intubação, respectivamente. A taxa de insucesso da desintubação noPC, PA-B foi de (33±5,1; 27,75±5,5 e 14±11%), respectivamente, p=0,048 PB <strong>em</strong> relação aoPC. A aderência ao protocolo no PA foi de 64,16±24,91 e no PB foi de 90,6±10,4 p=0,02).Analisando o protocolo como instrumento prognóstico para o sucesso do desmame, oinstrumento desenvolvido apresentou sensibilidade de 0,87 e especificidade de 0,76(LH ratio: 3,7 VPP: 0,93 e VPN 0,61), avaliando o protocolo como fator de proteção, RR:2,44 (IC 95% 1,41-4,24) p
192 Estudo de dois métodos de desmameda ventilação <strong>em</strong> pacientes cominsufi ciência cardíaca $Email: amprs@<strong>em</strong>ail.itAna Maria Pereira Rodrigues da Silva, Daniela Lago Miranda, Gabriela Br<strong>em</strong>enkamp Vicente,Helder Felipe dos Santos Pinheiro,Marcelo Ramos dos Santos, Maria Ignez Zanetti FeltrimIntrodução: Pacientes com insuficiência cardíaca (IC), pod<strong>em</strong> falhar no desmame daventilação mecânica devido à inabilidade do sist<strong>em</strong>a cardiovascular <strong>em</strong> responder aoaumento da d<strong>em</strong>anda metabólica, o que torna primordial o estudo da influência dométodo de desmame sobre a readaptação h<strong>em</strong>odinâmica. Objetivos: Avaliar os efeitosde dois protocolos de desmame, pressão de suporte (PSV) e tubo T, nas variáveish<strong>em</strong>odinâmicas, respiratórias e de troca gasosa <strong>em</strong> pacientes com IC sob ventilaçãomecânica prolongada. Secundariamente, verificar a taxa de sucesso de extubação.Materiais e métodos: Cardiopatas com FEVE48 horas,ambos os sexos, idade entre 30 e 75 anos, estáveis, comando neural preservado, s<strong>em</strong>sinais de infecção ou com infecção controlada. Os pacientes foram randomizados paradesmame gradual <strong>em</strong> PSV até o valor de 5cmH2O acima da PEEP (grupo PS) ou tubo Tno qual permaneceram acoplados por 30 minutos (grupo T). Foi considerado sucessomanter-se extubado após 48 horas com ou s<strong>em</strong> uso de Ventilação não Invasiva (VNI).Os pacientes foram avaliados no início do desmame, pré extubação, imediatamenteapós a extubação, 30 minutos, 24 horas e 48 horas após extubação, quanto aoestado h<strong>em</strong>odinâmico, condições ventilatórias e de troca gasosa. Os resultados sãoapresentados por média e desvio padrão. Resultados: Estudamos 13 pacientes, dosquais seis eram do grupo PS (4 homens, 51±11 anos de idade, índice de massa corpórea(IMC)=25±5Kg/m2) e 7 do grupo T (5 homens, 62±5 anos de idade, IMC=25±1,5Kg/m2).Os valores médios para os grupos PS e T foram respectivamente: freqüência cardíacainício do desmame 83 e 91, pré-extubação 86 e 97, após 48 horas 98 e 107bpm; pressãoarterial média no inicio do desmame 93 e 86, pré-extubação 93 e 96, após 48 horas 88 e78mmHg; freqüência respiratória início do desmame 17 e 22, pré-extubação 20 e 23, após48 horas 24 e 24rpm, saturação parcial O2 início do desmame 98 e 99, pré-extubação 98e 100, após 48 horas 99 e 98%. A taxa de sucesso do grupo PS foi 67% e do grupo Tde 71%. Conclusões: Até o momento o comportamento das variáveis h<strong>em</strong>odinâmicas,respiratórias e de troca gasosa, assim como a taxa de sucesso foi s<strong>em</strong>elhante para osdois métodos estudados.193 VNIPP e terapia padrão: impacto sobre aintubação endotraqueal <strong>em</strong> pacientes idosos $Email: cristianovian@gmail.comSandra Lisboa, Cristiano Viana, Manoel Márcio dos Reis Monteiro, Gláucia Maria Moraes deOliveira, Estélio Henrique Martin DantasIntrodução: A ventilação não-invasiva por pressão positiva (VNIPP) parece ser eficazna prevenção de intubação endotraqueal (IET) <strong>em</strong> pacientes com falência respiratóriaaguda. Entretanto, é importante destacar que exist<strong>em</strong> poucas evidências que comprov<strong>em</strong>os benefícios da utilização da VNIPP <strong>em</strong> pacientes idosos. Objetivos: O presente estudovisou avaliar a eficiência da VNIPP <strong>em</strong> pacientes idosos com insuficiência respiratóriaaguda (IRpA) por meio da melhora clinica, na prevenção da IET. Materiais e métodos:Foram incluídos no estudo 58 idosos com falência respiratória aguda, internados<strong>em</strong> dois hospitais (média de idade e desvio padrão 79,50+8,66 anos e uma média depontuação apache II de 19,71+9,48). Esses pacientes foram alocados <strong>em</strong> dois grupos:VNIPP com máscara orofacial n=32) e terapia padrão (TP) ( folwer 45°, nebulizaçãocom broncodilatadores e aspiração traqueal quando necessário n=26). Os dados(quadro clínico) foram analisados na pré-aplicação e após uma hora de terapêutica.Foram excluídos quatro pacientes (dois por não tolerar<strong>em</strong> a máscara, um por excessode secreção e outro por queda importante da pressão arterial). Dos 58 pacientesavaliados, foi considerado sucesso, os pacientes que apresentaram melhora clínica ede independência do suporte ventilatório. Resultados: No grupo VNIPP, 29 pacientes(72,5%) apresentaram melhora do perfil clínico constituindo sucesso terapêutico <strong>em</strong>prevenir a IET e no grupo TP, 11 pacientes (27,5%). Foram considerados insucesso ospacientes que evoluíram para ventilação mecânica invasiva (três pacientes no grupoVNIPP- 16,7%) e (15 pacientes no grupoTP - 83,3%). Conclusões: A VNIPP apresentousecomo importante recurso terapêutico na prevenção de IET <strong>em</strong> pacientes idososcom doenças distintas quando comparadas à TP. Evidências estão surgindo visandoesclarecer os benefícios da VNIPP como recurso terapêutico <strong>em</strong> diversas situaçõesclínicas.194 Avaliação do risco de readmissão <strong>em</strong> unidadede terapia intensiva $Email: iti77@hotmail.comDaiane Oakes, Fernanda Kutchak, Ingrid Krás Borges, Luciana Dalla Valle, Marcela Dias,Marcelo de Mello Rieder, Tatiane Gomes de AraújoIntrodução: A alta da unidade de terapia intensiva (UTI) é baseada na avaliação clínica,geralmente individual e subjetiva, para determinar as melhores condições para saída daUTI. Um importante indicativo da alta precoce da UTI é a readmissão do paciente <strong>em</strong>período inferior a 48 horas pós-alta. A <strong>fisioterapia</strong> des<strong>em</strong>penha um papel importante naidentificação dos fatores de risco para alta precoce. O objetivo deste estudo foi identificaros fatores de risco para as readmissões não planejadas na UTI através de uma escala deavaliação de risco. Objetivos: Avaliar o risco para readmissão não planejada na UTI, pormeio de uma escala de avaliação de risco de readmissão na UTI (Stability and WorkloadIndex for Transfer Score Predicts Unplanned ICU Patient Readmission – SWIFT).Materiais e métodos: Coorte prospectiva. Foram incluídos pacientes com mais de 24horas de internação na UTI e excluídos os pacientes que foram a óbito ou transferidos.Foram avaliados 36 pacientes internados na UTI Central da Santa Casa de Porto Alegrequanto ao t<strong>em</strong>po de internação na UTI, intervalo para readmissão, realização deatendimento fisioterapêutico, escala de apache e risco de readmissão na UTI. A coletade dados foi realizada por meio da avaliação do prontuário do paciente e preenchimentoda escala de avaliação de risco de readmissão na UTI. Resultados: O apache médio foi18±6,4. A <strong>em</strong>ergência foi o setor que mais encaminhou pacientes para a UTI (48%). Ot<strong>em</strong>po médio de internação na UTI foi 2,09±1,22 dias. A PaCO2 mais freqüente foi menorque 45mmHg (90%). O Glasgow mais freqüente foi maior que 14 (58%). A maioria dospacientes realizava <strong>fisioterapia</strong> (53 %). Não houve nenhuma readmissão na UTI <strong>em</strong>período inferior a 48 horas. O Escore médio SWIFT obtido no momento da alta da UTIfoi abaixo de 6, indicando baixo risco de readmissão. Conclusões: Os resultados suger<strong>em</strong>que a avaliação de risco de retorno a UTI, através da PaCO2, escala de Glasgow, t<strong>em</strong>pode permanência e local de orig<strong>em</strong> do paciente, pod<strong>em</strong> fornecer um escore seguro paraavaliação de risco de readmissão não planejada na UTI.195 Variação da força muscular respiratória durantedesmame prolongado com tubo T $Email: goliascris@yahoo.com.brDanielle Batista Chianca de Morais, Cristiane Golias Gonçalves, Daniela Hayashi, ClaudianePedro Rodrigues, Rafael Henrique Conceição Verona, Cíntia Juliana Janaína Harue TamiyaIntrodução: O processo de suspensão ou retirada da ventilação mecânica é umaimportante questão clínica. A retirada do suporte mecânico invasivo e a extubaçãodev<strong>em</strong> ser considerados como objetivos primários na evolução terapêutica do paciente.A razão para adoção e utilização de protocolo de desmame reside no fato de incluír<strong>em</strong>os mais recentes avanços da pesquisa na área, promovendo uma significativa melhorana qualidade de condução do processo de desmame. A não utilização de protocolosaumenta os riscos para falha da retirada da ventilação mecânica, sendo a fraqueza damusculatura respiratória um fator determinante para o insucesso. Objetivos: Avaliara variação da força muscular respiratória durante o desmame prolongado com tubo Tconduzido <strong>em</strong>piricamente. Materiais e métodos: Foram avaliados 15 pacientes, sendo12 homens, com média de idade de 54±21anos, clinicamente estáveis com critérios paradesmame da ventilação mecânica internados na unidade de terapia intensiva do HospitalProvidência de Apucarana. Mensurou-se a força muscular respiratória (PImax) usandomanovacuômetro analógico no inicio da colocação do paciente <strong>em</strong> ventilação espontâneacom tubo T, 24 e 48 horas após a permanência nesse método de desmame. Nesse serviço odesmame é conduzido <strong>em</strong>piricamente, permanecendo o paciente por t<strong>em</strong>po prolongado<strong>em</strong> tubo T. Análise estatística: Para verificar a correlação entre as variáveis foi utilizadoo teste de Spearman e para analisar a variação entre os períodos (inicial, 24 horas e 48horas) o teste de Friedman. No post hoc foi aplicado o teste de Wilcoxon. Adotou-se comonível de significância p
72(n=11) que recebeu IPAP de 15cmH2O e EPAP de 5cmH2O. Ambos os grupos receberam asaplicações três vezes ao dia com duração de 30 minutos. Os seguintes parâmetros foramanalisados: capacidade vital (CV), freqüência respiratória (FR), volume corrente (VC),pressão inspiratória máxima (PImax), índice de oxigenação (IO) e o score radiológico deatelectasia. As avaliações foram realizadas desde o pré-operatório até a alta da hospitalar.Análise estatística: Na análise intragrupos foi aplicado o teste não-paramétrico deWilcoxon e para análise entre os grupos foi aplicado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Para a análise das variáveis qualitativas utilizamos o teste qui-quadrado ouexato de Fisher, considerando-se como nível de significância 5%. Resultados: A CVapresentou queda significativa desde o pós-operatório imediato (POI) até a alta da UTI<strong>em</strong> ambos os grupos (p= 0,01). S<strong>em</strong>elhant<strong>em</strong>ente ao comportamento da CV, houveredução da PImax até a alta da UTI (p=0,01), mas s<strong>em</strong> diferença significativa entre osgrupos. Quanto a oxigenação, observou-se menor valor de SpO2 no grupo 2 medido no3ºDPO (p= 0,01) e o IO também obteve menor valor neste grupo no 1ºDPO (p=0,05) eno 2ºDPO (p=0,01). Conclusões: De acordo com nossos resultados, pod<strong>em</strong>os observarque o regime de pressão positiva aplicada com IPAP de 20 cmH2O e EPAP de 10 cm H2Opromoveu melhores resultados na troca gasosa e oxigenação nos pacientes submetidos aCRVM. Entretanto, sugerimos a necessidade de realização de outros estudos que possamabranger uma maior amostra de indivíduos.197 Comparação do nível de atelectasia e funçãocardiorrespiratória pelo escore radiológicode Richter $Email: nessinhavieso@yahoo.com.brAndrea Alves de Sousa, Renata de Oliveira Cardoso, João Gabriel Lucas, EmmanuelleMendes, Daniella Almeida, Francimar Ferrari Ramos, Indianara Maria Araújo, Valdecir CastorGalindo FilhoIntrodução: A cirurgia de revascularização miocárdica (CRVM) é realizada utilizando umvaso sangüíneo de outra parte do corpo enxertado no local ocluído, de modo que o sangueirrigue novamente a área isquêmica, apesar de ser um procedimento seguro, modificaçõesna função pulmonar pod<strong>em</strong> ocorrer causando atelectasias e alterações nas radiografiasdestes pacientes. Objetivos: Avaliar o nível de atelectasia por meio do escore radiológicode Richter, comparando com a função pulmonar e parâmetros h<strong>em</strong>odinâmicos, dopré-operatório ao 2ºdia de pós-operatório. Materiais E métodos: Estudo prospectivo,envolvendo 20 pacientes de ambos os sexos e idade média de 60,26±14,42 anos. Osparâmetros avaliados foram: capacidade vital lenta (CVL), volume minuto (VM), volumecorrente (VC), pressão inspiratória máxima (PImax), saturação periférica de oxigênio(SpO2), freqüência respiratória (FR), pressão arterial média (PAM), freqüência cardíaca(FC) e escore radiológico de Richter. Todos os pacientes foram avaliados uma vez ao diano pré-operatório (Pré-op), pós-operatório imediato (POI), 1º dia pós-operatório(1ºDPO) e2º dia pós-operatório(2ºDPO) sendo este último o dia da alta da UCO. A função pulmonare os parâmetros h<strong>em</strong>odinâmicos foram coletados pelo mesmo examinador e o escoreradiológico foi avaliado pelo médico diarista responsável pelas visitas na UCO. Análiseestatística: Utilizou-se o teste de Wilcoxon o teste t de Student pareado, por meio dosoftware SPSS 13.0. Os resultados foram expressos <strong>em</strong> média e desvio padrão, sendoanalisados ao nível de 95% de confiança (p
suporte ventilatório terapêutico. A VNI foi definida como modalidade de desmame <strong>em</strong> 21pacientes, onde apresentavam patologias variadas. Foram considerados aptos ao processode desmame os pacientes que apresentavam estabilidade clínica e h<strong>em</strong>odinâmica, trocagasosa satisfatória, reversão ou estabilização do quadro que o levou a utilizar a VMI eausência de sinais de infecção. Considerou-se insucesso do método pacientes que eramreintubados <strong>em</strong> período menor que 48 horas. Os pacientes após a extubação eramadaptados a VNI, sendo s<strong>em</strong>pre optado pela modalidade de BiLevel (Aparelho Synchrony,Respironics) por interface do tipo total face (Total Face Mask, Respironics) e full face(Adult Fece Mask, Vital Signs) e permaneciam <strong>em</strong> VNI de maneira intermitente de acordocom critérios clínicos. Resultados: Dos 21 pacientes analisados, o índice de apach<strong>em</strong>édio foi de 17,2 (±4,5) com risco de mortalidade médio de 62,3%. Obteve-se sucesso<strong>em</strong> 19 pacientes (90,4%), sendo que dos insucessos, um paciente evoluiu a óbito (4,8%).Conclusões: A utilização da VNI como modalidade de desmame sugere ser efetiva, umavez que otimiza o t<strong>em</strong>po de desmame, nos mostrando um elevado índice de sucesso, oque acarreta <strong>em</strong> diminuição das infecções e complicações relacionadas a VMI.201 Análise bacteriológica entre os sist<strong>em</strong>as deumidifi cação durante a ventilação mecânica $Email: daniela_spaiva@yahoo.com.brDaniela Souza de Paiva, Luciana Alcoforado, Érica Travassos, Rodrigo Arruda, JudithAdvíncula, Patrícia Érika Marinho, Armèle Dornelas de AndradeIntrodução: Não há evidências suficientes que comprov<strong>em</strong> a superioridade do filtrotrocador de calor e umidade (FTCU) sobre o umidificador aquoso e aquecido (UAA) naprevenção de pneumonia associada ao ventilador (PAV), responsável por 30% dos índicesde mortalidade hospitalares.Objetivos: Realizar análise bacteriológica comparativa entreos sist<strong>em</strong>as de umidificação <strong>em</strong> pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva everificar a incidência de infecção respiratória por meio dos achados clínicos. Materiais <strong>em</strong>étodos: Estudo controlado e randomizado cuja amostra foi constituída por 15 pacientescom até três dias de entubação orotraqueal admitidos na UTI Geral, distribuídosrandomicamente <strong>em</strong> dois grupos: UAA (n=7) ou FTCU Hygrobac DAR (n=8). Calculouseescores de gravidade da patologia para cada paciente, utilizando os escores apachee SOFA. Foi coletada secreção traqueal <strong>em</strong> ambos os grupos, condensada do circuito nogrupo UAA e o FTCU no grupo FTCU no 1º, 2º e 4º dias após inclusão no estudo. Todasas coletas foram analisadas quantitativamente (unidades formadoras de colônia - UFC) es<strong>em</strong>i-qualitativamente. O condensado e secreção traqueal são d<strong>em</strong>onstrados <strong>em</strong> (UFC)x103/μL, e no grupo FTCU <strong>em</strong> (UFC)/29cm2 (correspondente à área da superfície dasm<strong>em</strong>branas). Análise estatística: O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado paraverificar normalidade das amostras e o teste t-Student para comparação entre médias,considerando um nível de significância de 95% (p
74saturação e ausculta pulmonar. Análise estatistica: Para a análise do comportamento dasvariáveis da mecânica pulmonar e h<strong>em</strong>odinâmica foi realizado o teste one-way ANOVAe na sua impossibilidade, o Freidman. Resultados parciais: Foi observado o aumento dapressão de pico e pressão resistiva após a ativação do reflexo com seguinte diminuiçãoapós a aspiração, não foram evidenciadas alterações na pressão de platô e complacênciaestática, e por meio do aumento do pico de fluxo expiratório e volume corrente expiradofoi verificada a íntima relação com o deslocamento de secreção. Conclusões: A ativaçãodo reflexo de Hering-Breuer promoveu alteração na mecânica do sist<strong>em</strong>a respiratório,aumentando as forças resistivas por meio do deslocamento de secreção, s<strong>em</strong> promoverinstabilidade h<strong>em</strong>odinâmica.205 Análise da pressão do balonete <strong>em</strong> pacientesintubados no pós-operatório de cirurgiacardíaca $Email: jln_@hotmail.comRenata de Oliveira Cardoso, João Luis Ferreira Neto, Andrea Alves de Souza, AndréiaAragão Pinto, Adriana Pereira da Costa Lima, Dayse de Amorim Lins e Silva,Valdecir CastorGalindo FilhoIntrodução: A manutenção adequada de uma via aérea artificial (VAA) deve ser preconizadanos pacientes ventilados artificialmente. Desta forma, as lesões traqueais oriundas doselevados valores de pressão intracuff (Pic) poderão ocasionar lesões traqueais mesmo quandoo uso deste dispositivo é feito <strong>em</strong> um curto intervalo de t<strong>em</strong>po.Objetivos: Mensurar a Pic depacientes ventilados artificialmente durante o período pós-operatório imediato de cirurgiacardíaca. Materiais e métodos: Estudo prospectivo envolvendo 21 pacientes submetidos àcirurgia cardíaca (reconstrutivas e substitutivas) no UNICORDIS – Hospital do Coração, sendo12 do sexo masculino (idade média de 61,50±7,70 anos) e nove do sexo f<strong>em</strong>inino (63,44±18,21anos). A intubação foi realizada pelo médico através do uso de um tubo orotraqueal (TOT).A pressurização inicial do balonete foi feita pelo anestesista na sala cirúrgica, de acordo comcritérios pessoais dos quais não tiv<strong>em</strong>os conhecimento. Foram registrados dados como: idade,sexo, tipo de cirurgia, diâmetro interno das cânulas, nível de fixação do TOT e t<strong>em</strong>po totalde intubação. A mensuração foi realizada com o auxílio de um cuffômetro graduado de 0 a120cmH2O, s<strong>em</strong>pre pelo mesmo examinador, após aproximadamente uma hora da chegada dopaciente na UTI, sendo o paciente posicionado <strong>em</strong> decúbito dorsal com a cabeça <strong>em</strong> posiçãoneutra. Após a verificação da Pic, o valor obtido foi anotado e <strong>em</strong> seguida a pressão foi ajustadapara 25cmH2O quando necessário. Análise estatística: Utilizou-se o teste de normalidadede Kolmogorov-Smirnov, teste t-Student para as variáveis paramétricas (idade, diâmetro dotubo e Pic) e Mann-Whitney para as variáveis não-paramétricas (nível de fixação e t<strong>em</strong>po deintubação). Todos os testes foram aplicados com 95% de confiança (p
Email: jln_@hotmail.comAntônio Francisco de Andrade Ferreira Filho, João Luís Ferreira Neto, Diogo Fabricio Aprigiode Andrade, Fabricio Olinda Mesquita, Jarbas Ramos de Araujo Filho, Patrícia Erika de MeloMarinho, Armèle Dornelas de Andrade, Tayse Neves SilvaIntrodução: A <strong>fisioterapia</strong> respiratória desenvolvida nas unidades de terapia intensiva(UTI) não têm claramente definidos seus limites de atuação, o que é de competência deseu campo de conhecimento e de como perceb<strong>em</strong> o exercício profissional <strong>em</strong> termos deautonomia. Objetivos: Avaliar a atuação profissional e a percepção da autonomia dosfisioterapeutas respiratórios que trabalham <strong>em</strong> UTI de hospitais públicos e privadosda cidade de Recife. Materiais e métodos: Participaram do estudo 44 fisioterapeutasrespiratórios, com média de idade 32,05±6,86 anos e com mais de um ano de experiência<strong>em</strong> UTI. Foi utilizado um questionário s<strong>em</strong>i-estruturado contendo 11 questões referentesao exercício profissional nas UTI’s. Resultados: Na comparação entre os hospitais aquestão referente a autonomia apresentou 72,73% dos fisioterapeutas da rede públicae 27,27% da rede privada se percebendo autônomos, p=0,001; os fisioterapeutas darede hospitalar pública apresentaram maior média de idade, t<strong>em</strong>po de formado e deexperiência profissional (p=0,04, p=0,01 e p=0,04 respectivamente). Na questão referenteao perfil das competências, observou-se variabilidade entre as respostas nas redes públicae privada e homogeneidade nas formas de tratamento fisioterapêuticos para ambos.Conclusões: Os fisioterapeutas respiratórios das UTIs da rede hospitalar pública dacidade do Recife, perceb<strong>em</strong>-se com maior autonomia para realização de suas atribuições,o que pode ser decorrente do t<strong>em</strong>po de formado, de experiência na área e do tipo devínculo <strong>em</strong>pregatício estabelecido com a instituição, diferent<strong>em</strong>ente dos profissionaisda rede hospitalar privada. São necessários mais estudos para averiguar os fatores quepossam estar determinando essas diferenças.210 Fração inspirada de oxigênio <strong>em</strong> pacientes sobdesmame ventilatório: até quando? $Email: giselediniz@superig.com.brGisele do Carmo Leite Machado Diniz, Ald<strong>em</strong>ar Vilela de Castro, Maria da Glória RodriguesMachadoIntrodução: Apesar de muitos profissionais utilizar<strong>em</strong> uma FIO2 suficiente para atender asd<strong>em</strong>andas metabólicas dos pacientes, outros utilizam rotineiramente uma fração inspiradade oxigênio (FIO2) mínima de 40%, mesmo <strong>em</strong> pacientes estáveis e com pressão arterial deoxigênio (PaO2) acima de valores considerados adequados. Objetivos: Comparar as variáveiscardiorrespiratórias durante a utilização de FIO2 suficiente para manter a saturaçãoperiférica de oxigênio ≥92% (FIO2 ideal) com aquelas durante a utilização de uma FIO2 de40% (FIO2 basal) Materiais e métodos: Estudo prospectivo de intervenção, <strong>em</strong> pacientesestáveis sob ventilação com pressão de suporte. As variáveis cardiorespiratórias (FR, Vt,Vmin, pressão de oclusão, relação Ti/Ttot, PA e FC) foram registradas, seqüencialmente,aos 30 e aos 60 minutos sob FIO2 basal e, <strong>em</strong> seguida sob FIO2 ideal. Essas variáveis foramcomparadas pelo modelo linear generalizado para medidas repetidas. Para comparar osvalores basal e ideal da FIO2 e da PaO2 foi utilizado o teste t-Student pareado. Resultados: AFIO2 ideal (24,9±2,5%) foi significativamente menor que a basal (40%). A relação PaO2/FIO2não apresentou diferença significativa entre a FIO2 basal (269±53) e a FIO2 ideal (268±47). Ovolume corrente (p=0,003) e a pressão arterial (p=0,041) apresentaram valores normais, masforam significativamente menores durante a utilização da FIO2 ideal. As d<strong>em</strong>ais variáveisnão foram afetadas pela redução da FIO2. Conclusões: Esses resultados d<strong>em</strong>onstraram quea utilização de valores de FIO2 inferiores àqueles utilizados <strong>em</strong> muitas unidades de terapiaintensiva não desencadearam manifestações clínicas e/ou alterações do padrão respiratóriorelacionadas à hipóxia <strong>em</strong> pacientes sob desmame do ventilador.211 Correlação dos índices de oxigenação e deventilação com o t<strong>em</strong>po de ventilação mecânicana UTI pediátrica $Email: celize@directnet.com.brJanially Richiardi, Angélica Góes Oliveira, Celize Cruz Bresciani Almeida, Rosângela AlvesGrande, Armando Augusto Almeida-JúniorIntrodução: Recentes estudos d<strong>em</strong>onstram a importância de analisarmos os índicesde oxigenação (IO) e de ventilação (IV), precoc<strong>em</strong>ente medidos à beira do leito, paraentendermos melhor a gravidade do paciente e o t<strong>em</strong>po de ventilação mecânica (VM).Porém poucos trabalhos analisam sua utilização <strong>em</strong> pacientes pediátricos. Objetivos:Correlacionar o IO e o IV com t<strong>em</strong>po total de VM e comparar esses índices <strong>em</strong> dois gruposde pacientes pediátricos: que permaneceram t<strong>em</strong>po menor que sete dias <strong>em</strong> VM comos que necessitaram de sete dias ou mais de suporte ventilatório. Materiais e métodos:Realizou-se um estudo prospectivo, observacional, <strong>em</strong> pacientes na UTI Pediátrica doHC-Unicamp nos meses de abril de 2007 a janeiro de 2008. Os índices foram diariamentecalculados nos primeiros sete dias <strong>em</strong> VM, por meio das seguintes equações: IO: (FiO2x pressão médias de vias aéreas)/PaO2; IV: (PaCO2 x pico de pressão x freqüênciarespiratória mecânica)/1000. Foram incluídos no estudo pacientes entre 28 dias de vida e14 anos de idade, e foram excluídos os que permaneceram <strong>em</strong> VM por menos de 24 horas.Os pacientes foram, então, divididos <strong>em</strong> duas categorias: necessidade de VM
76214 Insufl ação de gás traqueal (TGI) como recursoterapêutico <strong>em</strong> unidade de terapia intensiva $Email: cafi sio20@hotmail.comErica A. Giovanetti, Carolina S. A. de Azevedo, Karina T. Timenetsky, Corinne Taniguchi,Raquel C. EidIntrodução: A técnica de insuflação traqueal de gás (TGI) provoca um fluxo turbulentode gás na extr<strong>em</strong>idade distal da traquéia durante todo o ciclo respiratório promovendo aredução do espaço morto funcional, melhorando a troca gasosa e facilitando a r<strong>em</strong>oçãode dióxido de carbono (CO2). Este recurso esta indicado <strong>em</strong> casos de hipercapnia (ph80mmHg) podendo estar associado ou não à síndrome do desconfortorespiratório agudo (ARDS). Normalmente é administrada <strong>em</strong> coadjuvante a ventilaçãomecânica utilizando um fluxo contínuo por meio do fluxômetro de oxigênio podendovariar de 3 a 12L/min. A retirada da TGI é feita quando o paciente apresenta parâmetrosgasométricos de ph>7,20 e PaCO2
máxima(PImax) e PI/PImax) de forma satisfatória, permaneceram <strong>em</strong> respiração espontânea(RE). Após 30 minutos, <strong>em</strong> TRE, foi realizada a segunda mensuração das mesmas variáveis,além das variáveis h<strong>em</strong>odinâmicas. O paciente era mantido <strong>em</strong> respiração espontânea,mesmo que apresentasse um IRRS>105ipm/L, quando com estabilidade h<strong>em</strong>odinâmica,s<strong>em</strong> aumento do trabalho respiratório e queda da SpO2. Foi considerado sucesso aquelesque se mantiveram <strong>em</strong> respiração espontânea por mais de 24 horas. Análise estatística:Os dados foram organizados <strong>em</strong> um banco de dados e submetidos à análise estatística pormeio do Excel 2000. Resultados: Não foi observada alteração estatisticamente significativano IRRS mensurado nos 5 e 30 minutos, p=0,41. Também não foi observada alteraçãoestatísticamente significativa na pressão inspiratória (PiI) aos 5 e 30 minutos, p=0,76, etambém na pressão inspiratória máxima (PImax) aos 5 e 30 minutos p=0,44. Conclusões:Os nossos resultados suger<strong>em</strong> que na população estudada não há comportamento diferentedos dois índices preditivos de desmame, para os pacientes neurológicos, quando comparadocom os valores preditivos para outras patologias. O IRRS observado neste estudo parasucesso no desmame foi correspondente à literatura, que aborda um valor
espectivamente. Análise estatística: Foi aplicado o teste paramétrico one-way ANOVA,com nível de significância de 5% (p=0,05), para comparar a média dos dados entre os trêsgrupos. O teste de comparação múltipla de médias DHS de Tukey foi utilizado para análisede variância por postos. Resultados: Os dados obtidos, apesar do número reduzido devoluntários, mostraram diferença estatisticamente significante no des<strong>em</strong>penho, duranteo teste de caminhada de 6 minutos, entre os três grupos (p
80Ivana Mara de Oliveira Rezende, Raquel R. Britto, Raquel Borges, Tatiana O. Antunes,Luciano S. Prado, Verônica F. ParreiraIntrodução: Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresentamconsiderável limitação à realização de exercícios. Objetivos: Avaliar os efeitos agudos daventilação não invasiva (VNI) nas respostas cardiorrespiratórias e metabólicas durantea realização de exercícios. Materiais e métodos: Dezessete pacientes (68,00±6,00 anos)portadores de DPOC moderado a grave (34,82±14,66%predito) foram submetidos a doistestes de exercícios, um incr<strong>em</strong>ental (TI) e outro com carga constante (TC). Em cadaum dos testes foi realizada aleatoriamente uma prova s<strong>em</strong> VNI e outra com VNI. Foramavaliadas a pressão arterial média (PAM), freqüência cardíaca (FC), saturação de oxigênio(SpO2), níveis de dispnéia e concentrações plasmáticas de lactato. Foi determinado olimiar anaeróbio (LA) pelo modelo de Hinkley baseado na variabilidade da freqüênciacardíaca. Para análise estatística dos dados foram utilizados os testes t de Student e oteste de Mann-Whitney e ANOVA com pós-hoc de Bonferroni. Resultados: No TI,durante a prova s<strong>em</strong> VNI verificou-se aumento dos níveis de lactato no pico de exercíciocomparado ao repouso (4,68±1,05 versus 3,55±0,92mmol/L; p
utilização do espirômetro Micro Quark, da marca Cosmed ® para a obtenção dos valoresde CVF, VEF1, FEF 25-75%, índice de Tiffeneau e PFE. Durante o mesmo período, comexceção do pré-operatório, foi realizado aplicação de VMNI três vezes ao dia por trintaminutos com intervalos de duas horas. Análise estatística: Foi revelada alta significânciana alteração dos valores da função pulmonar analisados (p
82DPOC independent<strong>em</strong>ente de condições socioeconômicas e culturais. AVD presentes <strong>em</strong>questionários de outros países sofreram influência do gênero e idade dos pacientes comDPOC brasileiros, além disso, algumas AVD presentes <strong>em</strong> questionários de outros paísesnão são realizadas por 50% ou mais desses pacientes.241 Os efeitos da sepse a curto prazo sobrea capacidade funcional e a força muscular $Email: rodrigounopar@yahoo.com.brRodrigo Cerqueira Borges, Ronaldo Batista dos Santos, Silvana Caravaggio, Juliana Baroni,Ériton de Souza Teixeira, Tales Vilela Rocha, Alexandra Siqueira ColomboIntrodução: Os pacientes que sobreviveram a sepse pod<strong>em</strong> ser severamentecomprometidos a curto e longo prazo por disfunções orgânicas persistentes. Objetivos:Avaliar a capacidade funcional e a força muscular periférica e respiratória <strong>em</strong> pacientessobreviventes de sepse grave e de choque séptico. Materiais e métodos: Foi realizadoum estudo prospectivo, transversal com 13 pacientes encaminhados consecutivamentea UTI por sepse grave e choque séptico e que sobreviveram entre o período de junho de2007 a março de 2008. Os dados referentes às primeiras 24 horas de internação na UTIforam colhidos por meio do prontuário eletrônico para determinação da gravidade e donúmero de lesões orgânicas. No dia da alta hospitalar os pacientes foram submetidos aoteste de distância percorrida <strong>em</strong> 6 minutos, a avaliação da força muscular respiratória,da força de quadríceps e de preensão palmar. Além disso, foi quantificado durante todaa sua internação o uso de corticosteróides, o t<strong>em</strong>po de ventilação mecânica e o t<strong>em</strong>pode internação hospitalar para identificar a influência destes fatores na perda de forçamuscular e da capacidade funcional. Análise estatística: Os dados serão apresentadossob a forma de média, desvio padrão e porcentag<strong>em</strong> do predito. Foi utilizado o teste tpareado e os resultados foram considerados significativos quando o p
inicial e após três anos incluiu: espirometria pré e pós-broncodilatador, estadonutricional, sensação da dispnéia por meio da escala modificada do Medical ResearchCouncil (MMRC), estado de saúde por meio do Questionário do Hospital Saint Georgena Doença Respiratória (SGRQ) e tolerância ao exercício (distância percorrida <strong>em</strong> seisminutos-DP6). O índice BODE foi calculado de acordo com os pontos de corte do volumeexpiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), do índice de massa do corpo, do MMRCe da DP6 estabelecido por Celli et al. Análise estatística: A análise dos dados para verificara evolução das variáveis foi realizada por meio do teste t pareado. Resultados: Foramavaliados cinco pacientes com DPOC leve, 16 com DPOC moderada, nove com DPOCgrave e dez com DPOC muito grave. Não foi observada diferença estatística nas variáveisque compõe o índice BODE no período de três anos. Verificamos aumento significativo nodomínio atividade do SGRQ (58±18% versus 61±22%; p=0,04) o que indica piora do estadode saúde no período. Conclusões: Pacientes com DPOC apresentaram piora do estado desaúde no período de três anos s<strong>em</strong> modificações significativas no índice BODE.246 Infl uência do gênero no estado de saúde<strong>em</strong> pacientes com DPOC $Email: renataferrarifi sio@gmail.comRenata Ferrari, Suzana Erico Tanni, Paulo Adolfo Lucheta, Márcia Maria Faganello, FernandaFigueirôa Sanchez, Nilva Regina Gelamo Pelegrino, Irma de GodoyIntrodução: Estudos recentes mostram aumento da prevalência e do número dehospitalizações por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) entre as mulheres. Emconseqüência, t<strong>em</strong> sido estudado o impacto da doença na qualidade de vida entre osgêneros. Objetivos: Comparar o estado de saúde e analisar os fatores preditores <strong>em</strong> homense mulheres com DPOC. Materiais e métodos: Foram avaliados 99 pacientes com DPOC, noperíodo de julho de 2004 a janeiro de 2006. A avaliação incluiu: espirometria, composiçãocorporal (antropometria e bioimpedância), distância percorrida <strong>em</strong> seis minutos (DP6),sensação da dispnéia por meio da escala modificada Medical Research Council (MMRC)e do índice de dispnéia basal (BDI) e a qualidade de vida por meio do Questionário doHospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ). Análise estatística: A comparaçãoentre os gêneros foi feita pelo teste t para variáveis com distribuição normal e o teste deMann-Whitney Rank Sum Test foi utilizado para variáveis com distribuição não normal.Foi realizada análise de regressão linear múltipla para identificar os preditores do escoretotal do SGRQ <strong>em</strong> ambos os gêneros. Resultados: Foram avaliados 69 homens (69,7%) e30 mulheres (30,3%), as mulheres eram significativamente mais jovens (59±8 versus 66±9anos). A relação VEF1/CVF foi menor nos homens; entretanto, os valores de VEF1 (% doprevisto) não foram significant<strong>em</strong>ente diferentes entre os gêneros. A massa magra (35±6versus 44±5Kg) e a DP6, <strong>em</strong> metros e <strong>em</strong> % dos valores previstos (79±16 versus 94±16metros), foram significativamente menores nas mulheres. As mulheres apresentarammaior comprometimento do estado de saúde <strong>em</strong> todos os domínios do SGRQ (total:46 versus 38, p=0,047; sintomas: 62 versus 49, p=0,041; atividade: 58 versus 48, p=0,039;impacto: 35 versus 27, p=0,042). A análise de regressão linear mostrou associação dadispnéia com o escore total do SGRQ para homens com r2 de 0,42 e para mulheres com r2de 0,81. Conclusões: O estudo mostrou que entre pacientes com DPOC leve a muito grave,as mulheres apresentaram maior comprometimento do estado de saúde e a dispnéia tev<strong>em</strong>aior influência no estado de saúde das mulheres quando comparadas aos homens.247 Reabilitação pulmonar: análise da marchade portadores de doença pulmonarobstrutiva crônica $Email: mmmariza@gmail.comMariza Montanha Machado, José Henrique Wayhs, Paula Regina. Beckenkamp, TaniaCristina Malezan Fleig, Andréa Lúcia Gonçalves da Silva, André RibeiroIntrodução: O conhecimento funcional da marcha nos portadores de doença pulmonarobstrutiva crônica (DPOC), e a identificação das variáveis associadas às suas característicaspod<strong>em</strong> promover o desenvolvimento de estratégias específicas de reabilitação, com vistaà manutenção da autonomia e preservação de sua independência. Objetivos: Avaliar opadrão de marcha adotado pelo portador de DPOC, a partir da análise bidimensionalcom o software Simi Motion. Materiais e métodos: Estudo transversal, do tipo estudode casos, realizado <strong>em</strong> seis portadores de DPOC, sexo masculino, idade de 64,00±8,07anos, índice de massa corporal (IMC) 22,28±2,46Kg/m2, volume expiratório forçado no1º segundo (VEF1) 35,17±25,79% predito, capacidade vital forçada (CVF) 64,83±17,84%.Análise estatística: Os dados serão expressos <strong>em</strong> média e desvio padrão, sendo que,com exceção da variável cin<strong>em</strong>ática, as variáveis são pertencentes ao banco de dadosdo Grupo de Pesquisa Reabilitação <strong>em</strong> Saúde e suas Interfaces. Utilizou-se o coeficientede Correlação de Pearson para verificar a associação das variáveis, aceitando comosignificância p≤0,05, realizada por meio do programa SPSS ® versão 12.5. Resultados:Os dados cin<strong>em</strong>áticos da locomoção encontraram-se variados, visto que cada indivíduoapresentou peculiaridades sobrepostas aos padrões básicos propostos de locomoção.Observou-se uma forte correlação negativa entre cadência e PImax (p=0,002 e r=-0,96),entre comprimento de passo e PEmax (p=0,007 e r=-0,93), entre percentual da fasede apoio e velocidade da marcha (p=0,05 e r=-0,81). Para a qualidade de vida (SGQR),associações diretas foram encontradas: qualidade de vida total (QVT) e percentual da fasede apoio (p=0,086 e r=0,750); qualidade de vida impacto (QVI) e percentual da fase deapoio (p=0,09 e r=0,744). Conclusões: Para este estudo, observou-se que quanto maior fora disfunção muscular respiratória, mais acelerada e com maior apoio será a marcha dopaciente. O treinamento das técnicas de conservação de energia torna-se fundamentalpara realização das atividades de vida diária, que dev<strong>em</strong> ser realizadas vagarosamente,minimizando assim o impacto da doença sobre a qualidade de vida.248 Avaliação de um programa de reabilitação parapacientes portadores de doença pulmonarobstrutiva crônica (DPOC) $Email: cccoelho@terra.com.brIsabela Maria Braga Sclauser Pessoa, Cleveson Moreira Santos, Jânia Flávia G. Brito, RúbiaMendes Perdigão, Cristiane Cenachi CoelhoIntrodução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidaderespiratória progressiva, caracterizada pela limitação ao fluxo aéreo. Alteraçõesna ventilação pulmonar e na troca gasosa, associadas à disfunção dos músculosesqueléticos periféricos desencadeiam uma resposta metabólica anaeróbica precocecom conseqüente aumento do ácido lático e uma intolerância ao exercício. Otreinamento aeróbico da musculatura periférica de m<strong>em</strong>bros inferiores condiciona opaciente, gerando diminuição da fadiga respiratória, da dispnéia, e dos níveis sanguíneosde lactato. Objetivos: Verificar a eficácia de um programa de treinamento aeróbico dosm<strong>em</strong>bros inferiores (MMII) para reduzir os níveis de lactato sangüíneo e melhorar atolerância ao exercício <strong>em</strong> indivíduos com DPOC. Materiais e métodos: Participaram doestudo oito pacientes com idade <strong>em</strong> média de 66,00±7,92 anos, de ambos os sexos comdiagnóstico clínico e funcional da DPOC, confirmado pela espirometria. Todos foramsubmetidos ao treinamento aeróbico de m<strong>em</strong>bros inferiores na esteira por 30 minutoscom velocidade estabelecida de acordo com o teste de caminhada de 6 minutos (TCM6)durante quatro s<strong>em</strong>anas, com três sessões s<strong>em</strong>anais de 60 minutos de duração. Análiseestatística: As variáveis analisadas foram expressas <strong>em</strong> média±desvio-padrão. Para acomparação da distância caminhada, nível de lactato, sensação de dispnéia e fadigados MMII (Borg), foi utilizado o teste t de student não pareado. O nível de significânciaadotado foi de 95% (p
84Nelson Francisco Serrão Júnior, Maria Leliane Ligabo, Roberta Kelly Monteiro, Cíntia TókioReis Gonçalves, Rina MagnaniIntrodução: A função pulmonar aumente exponencialmente dos seis aos 14 anos deidade, sendo nesta faixa etária grand<strong>em</strong>ente influenciada pela estatura. Ela atinge valoresmáximos aos 20 anos no sexo f<strong>em</strong>inino e aos 25 anos no masculino. Após o máximo, afunção pulmonar permanece estável até os 35 anos de idade quando começa a decairgradualmente ao longo da vida. Objetivos: d<strong>em</strong>onstrar a relação do tabagismo comofator de indução de processo inflamatório <strong>em</strong> pequenas vias aéreas <strong>em</strong> jovens tabagistas.Materiais e métodos: Foram analisadas 12 mulheres de 20 a 25 anos, sendo no grupo 1, seistabagistas há quatro anos com média de quatro cigarros/dia e grupo 2, seis mulheres nãotabagistas. Os critérios de exclusão foram doenças respiratórias prévias ou atuais, idadeabaixo de 20 anos ou acima de 25 anos, e queixas respiratórias. Para a realização do examecontou-se com o espirômetro marca Masterescope Jaeger, clipe nasal e bocais. Todas asprovas foram realizadas no mínimo três vezes nas quais foram escolhidos os maioresvalores. Análise estatística: Para análise deste estudo, foi realizado o teste independentet-Student (p-value
estabilização de seu quadro, estes pacientes são condicionados a pratica da <strong>fisioterapia</strong>que objetiva melhorar sua relação ventilação perfusão, convencionalmente com ajudada cinesioterapia respiratória. Objetivos: Avaliar o efeito da cinesioterapia respiratória<strong>em</strong> pacientes portadores de insuficiência cardíaca compensada. Materiais e métodos:Sujeitos: Foram submetidos ao protocolo, dez pacientes idades média de 60 anos, sexomasculino, internados no Hospital Luiza de Pinho Melo, portadores de insuficiênciacardíaca compensada. Foi critério de exclusão instabilização h<strong>em</strong>odinâmica grave edoenças pulmonares associadas. Materiais: esfigmomanômetro (BD), estetoscópio(Litman) e cronômetro (Cássio). Procedimento: Em todos os pacientes foram avaliadasfreqüência cardíaca, freqüência respiratória e pressão arterial, pré e pós a aplicaçãodo protocolo. O protocolo consistiu na aplicação de cinco séries de dez repetiçõesintervaladas dos seguintes exercícios: inspiração máxima sustentada seis segundos,inspiração fracionada, freno labial e expiração fracionada. Os resultados foram analisadosestatisticamente por meio do teste t Student. Resultados e discussão: Durante a realizaçãodos exercícios nenhum paciente apresentou desaturação, instabilização h<strong>em</strong>odinâmicaou disritmias. A freqüência respiratória após o protocolo apresentou queda significativade 18,8%, (19,6±1,2 para 15,9±1,5rpm) (p0,05), apressão arterial sistolica apresentou aumento não significativo de 1,15% (130,5±8,7 para132±9,8mmHg) (p>0,05) e a pressão arterial diastólica apresentou diminuição de seusvalores de forma não significativa de 3,2% (de 76,5±2,7 para 74±2,6mmHg) (p>0,05). Essesresultados confirmam a hipótese de que a cinesioterapia respiratória é um ótimo recursofisioterapêutico que adequa de forma fisiológica os padrões respiratórios do indivíduo,mesmo este sendo cardiopata.255 Efeito da cinesioterapia respiratória sobre ossinais vitais e pico de fl uxo expiratório <strong>em</strong>adultos jovens saudáveis $Email: jufi sioduarte@bol.com.brJuliana Duarte Tiaki Maki, Renata Firpo R. Medeiros, Telma Lisandra de Pietro Carneiro,Eloisa Rita Navarro Negrão, Alexandre QueirozIntrodução: A <strong>fisioterapia</strong> respiratória pode atuar tanto na prevenção quanto notratamento das pneumopatias com o objetivo de estabelecer ou restabelecer um padrãorespiratório funcional, capacitando o indivíduo a realizar as mais diferentes atividadesde vida diária s<strong>em</strong> promover grandes transtornos e repercussões negativas <strong>em</strong> seuorganismo. Este objetivo muitas vezes é alcançado fazendo uso da cinesioterapiarespiratória, que consiste na aplicação de exercícios ativos respiratórios direcionadosa diversos grupos musculares. Todos estes exercícios necessitam da cooperação dopaciente, onde exige se única e exclusivamente esforço funcional do individuo, portantoestabelecendo interferência <strong>em</strong> seus sinais vitais de base e pico de fluxo expiratório,que é definido como o fluxo mais elevado que o indivíduo consegue gerar durante umesforço expiratório. Objetivos: Quantificar o efeito da cinesioterapia respiratória sobreos sinais vitais e pico de fluxo expiratório <strong>em</strong> adultos jovens saudáveis. Materiais <strong>em</strong>étodos: Foram avaliados um total de 48 indivíduos, adultos jovens com idade entre20-25 anos, do sexo f<strong>em</strong>inino, com peso entre 50 a 65Kg e altura entre 1,60 a 1,70 metros.Foram critérios de exclusão atletas, indivíduos que apresentavam doenças pulmonares ecardíacas prévias. Os pacientes foram divididos <strong>em</strong> grupos de acordo com o exercício decinesioterapia que realizaram: grupo A: inspiração máxima sustentada; grupo B: frenolabial; grupo C: soluço inspiratório; grupo D: expiração abreviada; grupo E: inspiraçãofracionada; grupo F: padrão diafragmático. O protocolo consistiu <strong>em</strong> aplicar o exercíciopré-estabelecido para cada grupo <strong>em</strong> uma freqüência de três séries intervaladas de15 repetições. Foram avaliados pré e pós-aplicação do protocolo dos seguintes dados:freqüência cardíaca e freqüência respiratória <strong>em</strong> 1 e 5 minutos após; pressão arterial;pico de fluxo expiratório com a utilização do peak flow (Standard peak Flow ATS 94).Os dados foram plotados <strong>em</strong> tabelas e análise estatística foi realizada com ajuda dosoftware GraphPad, utilizando o teste t de Student. Resultados: Houve diminuição dafreqüência respiratória somente após a realização da inspiração máxima sustentadae padrão diafragmático, houve diminuição da pressão diastólica após a realização dofreno labial e soluços inpiratórios e houve diminuição do pico de fluxo expiratóriosomente após a realização da inspiração máxima sustentada, as d<strong>em</strong>ais variáveisnão sofreram alterações estatisticamente significantes. Conclusões: A cinesioterapiarespiratória t<strong>em</strong> uma baixa influência no pico de fluxo expiratório de um indivíduosaudável. O padrão diafragmático e inspiração máxima sustentada, somente dois dosseis exercícios avaliados, são responsáveis <strong>em</strong> diminuir a freqüência respiratória dosindivíduos, trazendo-as b<strong>em</strong> próximo do considerado fisiológico.256 Tolerância ao teste de caminhada de seis minutos<strong>em</strong> jovens tabagistas $Email: jufi sioduarte@bol.com.brJuliana Duarte Tiaki Maki, Alexandre Queiroz, Renata Firpo R. Medeiros, Telma Lisandra dePietro Carneiro, Eloisa Rita Navarro NegrãoIntrodução: O sist<strong>em</strong>a cardiopulmonar sofre sérias lesões quando submetido ao tabagismopor diversos anos, e este fato é facilmente percebido quando se exige de uma pessoafumante atividade que requer sua capacidade física pulmonar íntegra. Além deste fato esegundo o Centro para o Controle e a Prevenção das Doenças, estima-se que, quanto maisse fuma maior será o risco de doenças coronarianas e pulmonares, reforçando a idéia deque o tabagismo é responsável pelo aumento de quase duas vezes a probabilidade de mortepor uma doença cardíaca. Objetivos: Verificar alterações dos sinais vitais e capacidadepercorrida após teste de caminhada de 6 minutos <strong>em</strong> indivíduos fumantes. Materiais <strong>em</strong>étodos: Foram utilizados 60 voluntários com idade média de 30 anos do sexo masculino,divididos <strong>em</strong> grupo A controle: 30 homens não fumantes, grupo B: 30 homens fumantes.Foram critérios de exclusão pessoas que apresentavam doenças respiratórias prévias econdições que impediam a realização do teste de caminhada de seis minutos. Para o testede caminhada foi utilizado um corredor de 25 metros de comprimento, marcada comfita zebrada no solo, cronômetro e relógio. Foram mensuradas pressão arterial, freqüênciacardíaca, freqüência respiratória, distância percorrida <strong>em</strong> 6 minutos e escala de Borg <strong>em</strong>ambos os grupos, pré e pós realização do teste. Resultados: Não foram observadas nogrupo controle alterações estatisticamente significantes dos sinais vitais obtidos pré epós-teste. No grupo dos fumantes foi observado aumento estatisticamente significantede todas as variáveis estudadas (p
86Student (p
Introduction: A standardized unsupported upper limb exercise test that mimics dailyactivities is essential for evaluating the effects of pulmonary rehabilitation. Objectives: Tocompare the cardiorespiratory responses during the performance of four unsupported upperlimb exercise tests (UULEX) in sedentary normal individuals. To study the relationship ofpulmonary function and UULEX performance. Methods: Thirty-five normal and sedentaryadults, mean age 24.4±33 years, completed the study. They underwent assessment of lungfunction, maximal respiratory pressures and inspiratory endurance. All the subjects had fourUULEX in agre<strong>em</strong>ent with the protocols: modified of Normandin (A), Lebzelter (B), Takahashi(C) and Normandin (D). Each subject performed the UULEX on four occasions separated bya minimum of two days and maximum of four days, and the order of the tests was allocatedramdomly. Results: A significant increase of the values of the cardiorespiratory variables wasobserved at the end of the test A, except for the oxygen saturation that presented significantreduction. The test C obtained similar results to the test B. The maximum inspiratoryload presented significant correlation (r=0.455) with the test A. The FEV1and FEF 25-75%d<strong>em</strong>onstrated correlation (r=0.491 and r=0.404 respectively) with the number of repetitionsof the test B. The test C presented correlation (r=0.403) with the forced vital capacity.Conclusions: The findings suggest that the test A is a simple method to evaluate upper limbendurance. This test provokes significant increases of the values of the cardiorespiratoryvariables and it is correlated with the endurance of the inspiratory muscles.264 Efeitos agudos do breath stacking na melhorada ventilação e oxigenação <strong>em</strong> pacientes vítimasde TCE $Email: vandersonassis@yahoo.com.brVanderson Assis Romualdo, Bruna Carolina Jorge Bedetti Santos, Lidiane Cristina RibeiroIntrodução: Complicações respiratórias, como atelectasia e pneumonia, estão comumenteassociadas a quadros de traumatismo crânio-encefálico (TCE), porém as opçõesfisioterapêuticas utilizadas <strong>em</strong> pacientes com baixo nível de consciência são escassas.O breath stacking (BS) é uma técnica que se baseia <strong>em</strong> uma inspiração convencional,seguida da oclusão da expiração. O BS possui uma válvula com circuito de três vias,sendo um ramo inspiratório que possui uma válvula unidirecional, um ramo expiratóriopreviamente ocluído e o último ramo que é conectado ao paciente por meio de máscara ouna traqueostomia (TQT). Essa técnica pode-se mostrar útil para estes pacientes, pois nãonecessita de cooperação. Objetivos: Verificar os efeitos agudos do BS <strong>em</strong> relação à melhorada saturação periférica de oxigênio (SpO2), freqüência respiratória (FR), freqüência cardíaca(FC), aumento do volume minuto (VM) e do volume corrente (VC) <strong>em</strong> pacientes comatososvítimas de TCE, e, se estes efeitos são mantidos por até duas horas após sua utilização.Materiais e métodos: Este trabalho foi realizado na Unidade de Cuidados Progressivos doHospital João XXIII. Participaram do estudo 12 pacientes com diagnóstico de TCE com escalade coma de Glasgow≤8 e traqueostomizados. Os pacientes recebiam atendimento de rotinae logo após foram mensurados o VC, VM, FR, FC e SpO2. O BS era então realizado <strong>em</strong> duasséries de dez repetições, sendo cada repetição composta por três oclusões. Imediatamenteapós o término da segunda série foram coletados novamente o VC, VM, FR, FC e SpO2.As mesmas medidas foram coletadas após 5, 15, 30, 60 e 120 minutos da utilização doBS. Análise estatística: Foi utilizada a análise de variância (ANOVA) para comparaçõesmúltiplas, seguido do teste de Bonferroni para identificação das diferenças entre os diversosmomentos da coleta. Resultados: O VC, VM, FR, FC e SpO2 não apresentaram diferençasestatisticamente significativas <strong>em</strong> nenhum dos t<strong>em</strong>pos estudados. Conclusões: Como protocolo utilizado nesta pesquisa, a técnica breath stacking não se mostrou eficaz namelhora das variáveis estudadas <strong>em</strong> pacientes comatosos.265 Fisioterapia respiratória no pré-operatóriodo câncer de boca, faringe e laringe $Email: silviaranna@hotmail.comSilvia Maria Rodrigues Ranna, André Lopes Carvalho, Luiz Paulo Kowalski, Silvia de CesareDenari, Celena Freire Friedrish, Paula Angélica Lorenzon Silveira, Julia Mariko ToyotaIntrodução: Pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço geralmente são fumantese pod<strong>em</strong> apresentar doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), entre outras afecçõespulmonares, que predispõ<strong>em</strong> a possíveis complicações respiratórias no pós-operatório.Estas pod<strong>em</strong> ser minimizadas por adequada avaliação e manejo pré-operatório pormeio da <strong>fisioterapia</strong> respiratória. Objetivos: Investigar a eficácia de um protocolo deintervenções pré-operatórias relativas a <strong>fisioterapia</strong> respiratória, na prevenção de possíveiscomplicações pulmonares <strong>em</strong> pacientes que serão submetidos à cirurgia de cabeça epescoço. Materiais e métodos: Estudo prospectivo randomizado; população do estudo:pacientes atendidos no serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital A.C.Camargo. Inclusão:ambos os sexos, idade igual ou superior a 18 anos, indicação cirúrgica para ressecção detumor primário de boca, laringe, faringe, t<strong>em</strong>po de procedimento cirúrgico de 4 horasou mais; exclusão: pacientes com dificuldades físicas, orgânicas, cognitivas, cardiopatas epneumopatas graves definidos pelo anestesiologista; intervenção fisioterapêutica: todosos pacientes elegíveis são avaliados no período pré-operatório e posteriormente alocados<strong>em</strong> dois grupos, um grupo de intervenção que recebe os procedimentos da <strong>fisioterapia</strong>respiratória e orientação quanto à cessação do fumo e álcool e de condicionamento físicoe o grupo controle que recebe apenas a orientação. No período pós-operatório ambosos grupos receb<strong>em</strong> o atendimento padrão da instituição e são coletadas informaçõesreferentes ao t<strong>em</strong>po de internação, complicações respiratórias e reinternações. Tamanhoda amostra: 80 pacientes por grupo. Análise estatística: Foi utilizada a média, desviopadrão, mediana, teste de qui-quadrado ou exato do Fischer para variáveis discretas econtínuas. Teste t de Student e teste de Mann-Whitney para comparação entre variáveiscontínuas com distribuição normal e diferente e o programa SPSS 15 para os cálculos.Resultados: Até a presente data 21 pacientes foram randomizados, estando 11 no grupoA e dez no grupo B. A idade média foi 65,09 anos, 71,4% eram do sexo masculino e 28,57%do sexo f<strong>em</strong>inino, 66% dos pacientes foram diagnosticados com DPOC, dentre os 15tabagistas a média de t<strong>em</strong>po de consumo do cigarro foi 39,06 anos. Principais complicaçõespulmonares desenvolvidas pós-cirurgia foram oito pacientes com derrame pleural,oito com pneumonia, um insuficiência respiratória grave. Conclusões: Complicaçõespulmonares <strong>em</strong> pós-operatório de cirurgia de cabeça e pescoço são freqüentes (17,6%).Espera-se ao final deste estudo conhecer a real importância da intervenção da <strong>fisioterapia</strong>respiratória pré-operatória na prevenção destas complicações.266 A relação entre o trabalho desenvolvido no Testeda Caminhada dos Seis Minutos (TC6) e dispnéia<strong>em</strong> pacientes pneumopatas crônicos $Email: pessoabh2@yahoo.com.brPedro Henrique Scheidt Figueiredo, Denílson Otavio da Costa, Thiago Diniz Afeitos,Wagner Júnio Oliveiras Reis, Bruno Porto Pessoa, Isabela Maria Braga Sclauser PessoaIntrodução: A intolerância ao exercício é um dos principais fatores que levam a limitações nacapacidade de realização de atividades de vida diária <strong>em</strong> pacientes com doença respiratóriacrônica. Desta forma, a avaliação da capacidade funcional torna-se um ponto importante naavaliação fisioterapêutica. O teste de caminhada de seis minutos (TC6) é um teste simples,b<strong>em</strong> tolerado e de fácil execução, utilizado para avaliar a capacidade aeróbica de pacientes comdoença respiratória. Porém, a avaliação do trabalho desenvolvido durante o TC6 (TC6W) t<strong>em</strong> sidoproposto como um método mais sensível de estimar a capacidade de realizar exercício, quandocomparado a forma clássica do teste (distância percorrida). Objetivos: Comparar a relaçãoentre a distância percorrida e o trabalho desenvolvido no TC6, com a dispnéia <strong>em</strong> pacientescom pneumopatias crônicas. Materiais e métodos: Foram avaliados 16 pacientes pneumopatascrônicos <strong>em</strong> tratamento no ambulatório de Fisioterapia Respiratória da PUCMinas, Betim. Ospacientes realizaram duas visitas ao ambulatório, com intervalo de uma s<strong>em</strong>ana, para avaliaçãoda dispnéia e da capacidade funcional, pela escala Modified Medical Research Council (MMRC)e TC6, respectivamente. Em cada visita, o trabalho desenvolvido durante o TC6 foi estimadopor meio da multiplicação da distância percorrida pela massa corporal (Kg) do paciente. Paraanálise, foram utilizados os valores de dispnéia, distância caminhada e trabalho, referentes ao dia<strong>em</strong> que o paciente apresentou o melhor des<strong>em</strong>penho no TC6. Análise estatística: O coeficientede Correlação de Pearson foi utilizado para correlacionar os valores da distância percorrida e dotrabalho desenvolvido no TC6 (potência), com a magnitude da dispnéia (MMRC). Resultados: Aforma clássica do TC6 (distância percorrida) apresentou uma fraca correlação, s<strong>em</strong> significânciaestatística com a dispnéia (r=45%, p=0,07). Não foi encontrada relação entre TC6W e dispnéia(r=9%; p=0,73). Conclusões: Comparada ao TC6W, a utilização da distância percorrida no TC6apresenta maior relação com a sensação da dispnéia, sendo a forma preferencial para avaliar acapacidade funcional de pneumopatas crônicos.267 A potência no Teste da Caminhada dosSeis Minutos (TC6) como estimativa docondicionamento aeróbico de pneumopatas $Email: pessoabh2@yahoo.com.brPedro Henrique Scheidt Figueiredo, Denílson Otavio da Costa, Thiago Diniz Afeitos,Wagner Júnio Oliveiras Reis, Bruno Porto Pessoa, Isabela Maria Braga Sclauser PessoaIntrodução: As alterações fisiopatológicas desencadeadas pelas doenças respiratóriascrônicas ocasionam dispnéia e redução da capacidade aeróbica. O teste de caminhadade seis minutos (TC6) é um teste simples e de fácil execução, utilizado para estimar acapacidade funcional de pacientes com pneumopatias. Porém, a avaliação da potência doTC6 (TC6W) t<strong>em</strong> sido proposta como um método mais sensível de estimar a capacidadede realizar exercício, quando comparada à forma clássica do teste (distância percorrida).Objetivos: Avaliar a relação das duas formas de utilização do TC6 (distância percorridae potência), com a taxa metabólica de repouso de pacientes com pneumpatias crônicas.Materiais e métodos: Foram avaliados 16 pacientes pneumopatas crônicos <strong>em</strong> tratamentono ambulatório de Fisioterapia Respiratória da PUCMinas Betim. A taxa metabólica derepouso foi avaliada por meio da concentração de lactato sanguíneo. Esta medida foirealizada pela coleta de uma gota de sangue (aproximadamente 0,25 microlitros), com umcapilar heparinizado. Após esta etapa, os voluntários realizaram o TC6, sendo a potênciadespendida durante o teste (trabalho) estimado pela multiplicação da distância percorridae a massa corporal (Kg) do paciente. A distância percorrida e a potência desenvolvidano TC6 foram correlacionadas ao nível de lactato sanguíneo. Análise estatística: Ocoeficiente de Correlação de Pearson foi utilizado para correlacionar os valores dadistância percorrida e da potência desenvolvida no TC6 com o nível de lactato sanguíneo<strong>em</strong> repouso. Resultados: O TC6W apresentou maior correlação com o lactato sanguíneode repouso, quando comparado à distância percorrida pelo TC6 (r=-63%, p
88268 Análise dos efeitos da fi sioterapia respiratóriaatravés de um programa de exercícios <strong>em</strong>pacientes submetidos à h<strong>em</strong>odiálise $Email: prisindianara@hotmail.comPriscilla Indianara Di Paula Pinto, Giselda Félix CoutinhoIntrodução: A insuficiência renal crônica (IRC) é considerada na atualidade um importanteprobl<strong>em</strong>a de saúde pública por desencadear sinais e sintomas clínicos sérios que tend<strong>em</strong> aafetar todas as funções orgânicas, como a respiratória, levando a limitações na mecânica ena força muscular respiratória. Objetivos: Diante deste quadro, muitas vezes irreversível, oestudo objetivou analisar os efeitos da <strong>fisioterapia</strong> respiratória por meio de um programade exercícios de cinesioterapia respiratória <strong>em</strong> pacientes com insuficiência renal crônicasubmetidos à h<strong>em</strong>odiálise. Materiais e métodos: Realizou-se estudo de delineamentoexperimental, exploratório e transversal, com abordag<strong>em</strong> quantitativa. A população foicomposta pelos indivíduos com IRC submetidos à h<strong>em</strong>odiálise no Hospital da FAP nomunicípio de Campina Grande-PB e a amostra, selecionada por acessibilidade, compreendeu20 (vinte) portadores de IRC, divididos aleatoriamente <strong>em</strong> dois grupos: experimental (GE)e controle (GC), cada um com dez indivíduos. O GE foi submetido, durante dois meses, aum programa de exercícios composto de 15 sessões Fisioterapia Respiratória que incluíaa reeducação funcional tespiratória (RFR) e cinesioterapia respiratória (CR), enquanto oGC não realizou os exercícios, sendo avaliado para efeito de comparação. Os instrumentosutilizados para a avaliação dos efeitos do programa de exercícios na amostra foram:manovacuometria e cirtometria torácica. O estudo foi desenvolvido <strong>em</strong> adequação àResolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, seguindo todas as diretrizes éticas para apesquisa com seres humanos. Análise estatística: Para análise e processamento dos dadosrecorr<strong>em</strong>os a estatística descritiva, por meio de medidas percentuais e medidas de posição/dispersão (média e desvio padrão) e os resultados foram apresentados <strong>em</strong> forma de gráficose tabelas através do programa Excel. Resultados: A análise dos dados permitiu constatarque o GE, após o programa de exercícios, obteve um aumento na PImax e PEmax, quecorresponde a um aumento de força dos músculos respiratórios. Foi observada também umamelhora na expansibilidade torácica principalmente no que diz respeito aos níveis xifoidianoe basal, <strong>em</strong> decorrência da RFR que enfatizou o padrão diafragmático de respiração. No GCforam observadas PImax e PEmax dentro dos parâmetros de fraqueza e fadiga respiratória.Conclusões: Os resultados suger<strong>em</strong> que a RFR e a CR ocasionaram um aumento na forçamuscular respiratória e nas amplitudes torácicas dos indivíduos submetidos à h<strong>em</strong>odiálise,o que pode se refletir numa melhora da mecânica respiratória e na funcionalidade dosist<strong>em</strong>a respiratório, e consequent<strong>em</strong>ente, na qualidade de vida destes.269 Adesão ao CPAP dos pacientes com síndromeda apnéia e hipopnéia obstrutivado sono (SAHOS) $Email: cladegas@yahoo.com.brCláudia Adegas Roese, Ricardo Beidacki, Moisés HoffmannIntrodução: Adesão ao CPAP é definida quando o indivíduo dorme por um períodomínimo de quatro horas diariamente. Apesar da comprovada eficácia do CPAP nareversão da obstrução da via aérea superior e conseqüent<strong>em</strong>ente nos sinais e sintomas daSAHOS, <strong>em</strong> torno de 29 a 83% dos pacientes relatam uso do CPAP inferior a quatro horas.Objetivos: Avaliar a adesão de indivíduos com diagnóstico de SAHOS que procuram à<strong>em</strong>presa Globalmed para iniciar<strong>em</strong> o uso do CPAP. Materiais e métodos: Foi enviado umquestionário padronizado da <strong>em</strong>presa para todos os indivíduos que adquiriram aparelhosde CPAP no período de 2004 a 2007. Os questionários foram acompanhados de uma cartarespostapara que os pacientes enviass<strong>em</strong> o questionário respondido. Análise estatística:Os dados foram colocados <strong>em</strong> planilha no programa Excel e os resultados foram analisadospor meio de estatística descritiva com média, desvio padrão e porcentag<strong>em</strong>. Resultados:Foram enviados 320 questionários. Desses, 69 pacientes responderam. A média de idadedos que responderam o questionário foi de 58±10 anos. Os homens representaram 75%dos questionários respondidos. A média de t<strong>em</strong>po de uso de CPAP foi de três anos. Cincoindivíduos não utilizam o CPAP atualmente. Quando questionados sobre a freqüênciade uso, 59 (92%) utilizam diariamente, 4 (6%) utilizam alguns dias da s<strong>em</strong>ana e 1 (2%)utiliza apenas alguns dias do mês. Com relação a horas de uso, 28 (43%) dorm<strong>em</strong> dequatro a seis horas com o CPAP, 30 (46%) dorm<strong>em</strong> mais de seis horas e 6 (10%) dorm<strong>em</strong>menos que quatro horas. Com relação à satisfação no uso do CPAP, 43 (67%) relatam estarmuito satisfeitos, 19 (29%) moderadamente satisfeitos e 2 (3%) se consideraram poucosatisfeitos. Conclusões: Do total de 69 indivíduos que responderam o questionário,pod<strong>em</strong>os concluir que 12 (17%) não aderiram ao tratamento com CPAP. Desses, cinco nãoutilizam mais e sete utilizam, porém por um t<strong>em</strong>po inferior a quatro horas.270 Melhora da força muscular e sua correlaçãocom a atividade física diária <strong>em</strong> pacientes comDPOC $Email: anaelisapc@hotmail.comAna Elisa Pialarissi Cavalaro, Karina Couto Furlanetto, Vanessa S. Probst, Antonio FernandoBrunetto, Fábio PittaRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.Introdução: Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são caracterizadospor redução da força muscular periférica e sedentarismo crônico. Tendo <strong>em</strong> vista que afraqueza muscular contribui para a intolerância ao exercício, o que também reflete naredução da atividade física na vida diária (AFVD), o treinamento de força t<strong>em</strong> se mostradouma modalidade importante nos programas de treinamento <strong>em</strong> pacientes com DPOC.Estudos mostraram que o treinamento de força ocasiona redução de sintomas e aumentoda tolerância ao exercício, melhora da função músculo-esquelética e da qualidade de vida.Porém pouco se sabe sobre a relação entre a melhora da força muscular e da AFVD apósum programa de treinamento físico nessa população. Objetivos: Identificar se a melhorada força muscular se correlaciona com o aumento no nível de atividade física da vidadiária após treinamento físico <strong>em</strong> pacientes com DPOC. Matérias e métodos: Dezesseispacientes com DPOC (7 homens; 65,5 [62-70,5] anos; volume expiratório forçado noprimeiro segundo (VEF1) 35 [27-53]% predito) realizaram treinamento de alta intensidade(incluindo treinamento de força) <strong>em</strong> três sessões s<strong>em</strong>anais durante 12 s<strong>em</strong>anas. Antese após o treinamento físico foi realizado o teste de uma repetição máxima (1RM) paraavaliar a força dos músculos extensores de joelho, flexores e extensores de cotovelo. O nívelde AFVD foi avaliado objetivamente na vida real utilizando-se dois monitores portáteis deatividade física (DynaPort e SenseWear) durante 12 horas por dia. Análise estatística:Para análise da distribuição dos dados foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov.Para comparar os resultados pré e pós-treinamento foi utilizado o teste de Wilcoxon.Correlações foram avaliadas com o coeficiente de Spearman. A significância estatísticafoi determinada como p
foram estudadas <strong>em</strong> profundidade. Objetivos: Investigar a relação entre a força muscularperiférica e o índice BODE <strong>em</strong> pacientes com DPOC. Materiais e métodos: Foram avaliados40 pacientes com DPOC (21 homens); 66±8 anos; VEF1 41±14 %predito; IMC 26±6Kg/m2.As avaliações incluíram espirometria, sensação subjetiva do grau de dispnéia (MRC), TC6e teste de força muscular periférica (teste de uma repetição máxima [1RM] dos músculosextensores de joelho, flexores e extensores de cotovelo). Análise estatística: Correlaçõesforam avaliadas por meio do coeficiente de Pearson, além da análise por meio de modelode regressão linear múltipla incluindo as variáveis <strong>em</strong> questão. A significância estatística foideterminada como p
90obtidos revelaram significativa limitação de movimentos, para direita (D) e esquerda(E), de inclinação lateral (p=0,0015 e 0,00018) e rotação cervical para a direita (p=0,035).Observou-se também discrepância no teste entre peitoral maior e menor, onde este seapresentou encurtado <strong>em</strong> sua totalidade, ao contrário do primeiro, onde apenas 14,29%das fibras esternais à D e 28,57% à E mostraram-se encurtadas. Conclusões: Conclui-seque é necessária uma avaliação muscular para o planejamento da reabilitação pulmonardesses pacientes, uma vez que o esforço respiratório não afeta todos os músculosacessórios.277 Avaliação da capacidade inspiratória nos alunosdo curso de fi sioterapia do UNI-BH pela técnicade espirômetro de incentivo $Email: lekaqgomes@yahoo.com.brAlessandra Quaresma Gomes, Ivana Mara de Oliveira Rezende, Ingrid de Castro BolinaFaria, Cristiane Cenachi Coelho, Alessandro Roberto Silveira Moreira, Andréia Paula Araújode Moura, Daniela Árias Rios, Débora Maria Guimarães da Silva, Juliana Batista Antunes,Lúdio Felipe Barbosa, Maicon O. Silva, Natália Stefani Franco, Thales Leônidas S.Fidelis,Simone Borges de Barros, Suellen Izabel Castro de PaulaIntrodução: A capacidade inspiratória (CI) é a capacidade máxima de expansãopulmonar após uma expiração normal A avaliação da CI pode ser um meio simples paraacompanhar a função pulmonar à beira do leito e alertar para possíveis complicaçõespulmonares 12 a 24 horas antes do aparecimento clínico de uma doença pulmonar. Atécnica de incentivo inspiratório, classicamente realizada pelo recurso denominadoEspirômetro de Incentivo (EI) pode ser utilizado para medir a CI, sendo um meio simples eseguro para essa mensuração. Entretanto, valores padronizados para os volumes atingidosna avaliação da CI não estão disponíveis para a população brasileira. Objetivos: Avaliara CI de indivíduos saudáveis para padronização de equações de regressão. Materiais <strong>em</strong>étodos: Foram selecionados aleatoriamente 60 voluntários do curso de Fisioterapiado UNI-BH dos primeiros oito períodos do curso. Deveriam ter entre 18 a 40 anos e nãoapresentar<strong>em</strong> qualquer probl<strong>em</strong>a de saúde relacionado ao sist<strong>em</strong>a cardiorrespiratório.Todos foram avaliados na clínica-escola do UNI-BH onde realizaram a medida de CIpor meio do equipamento de medida Voldyne ® . Os indivíduos foram orientados arealizar<strong>em</strong> uma inspiração máxima, a partir da respiração basal. Foram coletadas trêsmedidas de cada indivíduo sendo a maior delas considerada para análise. Os voluntáriosderam seu consentimento livre e esclarecido para participação no estudo e o trabalhofoi aprovado pelo Comitê de Ética institucional. Responderam também um questionáriopara possibilitar a caracterização da amostra e foram questionados quanto ao nível decondicionamento físico. Neste primeiro momento foi realizada apenas uma análisedescritiva dos dados. Resultados: Dos 60 voluntários selecionados apenas 43 realizaramo estudo. Eram oito homens e 35 mulheres com idade média de 22,59±2,99 anos, altura164,02±6,90cm, peso de 63,02±14,12Kg. O volume médio alcançado pelo espirômetro deincentivo foi de 3116,19±1043,45mL. Conclusões: os dados coletados foram reproduzíveis.Análises estatísticas específicas não foram concluídas até o momento.278 Efeitos de um programa de treinamentode exercícios para crianças asmáticas $Email: lekaqgomes@yahoo.com.brAlessandra Quaresma Gomes, Ivana Mara Oliveira Rezende, Carlos H Calixto, Cristiano J MGomes, Michele A Gomide, Ingrid de Castro Bolina Faria, Cristiane C CoelhoIntrodução: A asma infantil é uma doença importante com prejuízos respiratóriosespecíficos, além de redução da capacidade inspiratória e prejuízos na qualidade de vida.Objetivos: Avaliar os efeitos de um programa de treinamento de exercícios na capacidadefuncional, no pico de fluxo expiatório (PF), nas pressões máximas respiratórias, e nasensação de dispnéia de crianças com asma. Materiais e métodos: Foram avaliadasseis crianças (8,16±1,83 anos), sexo masculino com diagnóstico clínico de asma. Foramsubmetidos à avaliação de função pulmonar, PF, pressões respiratórias máximas, nível dedispnéia e capacidade funcional pelo teste de caminhada de seis minutos (TC6) ao início efinal de 24 sessões de treinamento de exercícios, enfatizando o condicionamento aeróbico.Resultados: Houve melhora significativa da distância percorrida ao final do treinamento(distância inicial=465,50±62,31m; final=579,50±51,99m; p=0,02). O PF de repousotambém apresentou melhora significativa na 24ª sessão (PF inicial=170,00±54,31L/min;final=252,00±60,58L/min; p=0,04). Os níveis de dispnéia apresentaram-se reduzidosapós o treinamento de exercícios, apesar de não ter ocorrido significância estatística(sessão inicial=13,33±2,06; sessão final=12,66±1,36; p=0,59). Conclusões: O programade reabilitação pulmonar proposto para crianças asmáticas proporcionou melhorasignificativa da capacidade funcional, dos níveis de obstrução ao fluxo aéreo de repouso esugeriu melhora clínica das pressões respiratórias máximas e nos níveis de dispnéia.279 Contribuição dos músculos respiratórios paraacidose láctica <strong>em</strong> pacientes com doençapulmonar obstrutiva crônica (DPOC) $Email: lidia.mb@terra.com.brRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.Lídia Miranda Barreto, Ivana Mara de Oliveira Rezende, Mariana Dolabela Roseli Peluzo,Ingrid de Castro Bolina FariaIntrodução: Exist<strong>em</strong> poucas informações na literatura sobre a contribuição dos músculosrespiratórios para a acidose lática observada nos pacientes com doença pulmonarobstrutiva crônica (DPOC). Objetivos: Determinar se a imposição de sobrecargaespecífica aos músculos respiratórios altera os níveis de lactato sanguíneo <strong>em</strong> pacientescom DPOC. Materiais e métodos: Foi estudado um paciente DPOC grave (VEF1=31%previsto), sexo masculino, 77 anos, um indivíduo do mesmo sexo, 64 anos, e um indivíduojov<strong>em</strong> s<strong>em</strong> alteração pulmonar, ambos com espirometria normal (VEF1 superior a 80%previsto). Foram submetidos á avaliação da pressão inspiratória máxima (PImax) e naseqüência ao treinamento inspiratório específico (TIE), com treinador Threshold IMT@,com sobrecargas de 30 e 50% da PImax. As sessões de TIE foram realizadas <strong>em</strong> diasalternados e tiveram duração de 15 minutos. Foram realizadas medidas de lactato <strong>em</strong>repouso e a cada três minutos de treinamento. Foi realizada análise descritiva dos dados.As cinco medidas de lactato durante o treinamento foram expressas <strong>em</strong> média±desviopadrão. Resultados: O paciente DPOC apresentou níveis de lactato <strong>em</strong> repouso maioresque os indivíduos controle. Durante o TIE (com 30 e 50% da PImax), todos os voluntáriosapresentaram discreto aumento das concentrações de lactato, comparando-se com osníveis basais. Conclusões: Concluiu-se, a partir destes dados, que provavelmente asobrecarga respiratória específica imposta aos músculos respiratórios influenciou osníveis de lactato sanguíneo, porém não deve ser a musculatura respiratória a responsávelpela acidose lática <strong>em</strong> indivíduos com DPOC.280 Avaliação da capacidade física atravésdo teste de caminhada de seis minutos <strong>em</strong>portadores de DPOC antes e após intervençãofi sioterapêutica $Email: thaisfi sio@hotmail.comThaís Olimpo Fagundes, Jéferson Nunes da Silva, Cristianne Carneiro Teixeira, FernandaSilvana Pereira, Renato Canevari Dutra da Silva, Adriana Veira Macedo, Marcelo GomesJudice, Maria de Fátima Rodrigues da SilvaIntrodução: Pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)apresentam alteração da função pulmonar, dispnéia e disfunção dos músculos esqueléticosperiféricos, que os levam à incapacidade física, desencadeando limitações físicas esociais que acarretam deterioração da qualidade de vida. Na avaliação da capacidadefísica, os testes de caminhada de seis minutos (TC6’) também avaliam a capacidadefuncional ou a habilidade de <strong>em</strong>preender atividades na vida diária. Essa aferição t<strong>em</strong>se mostrado importante na avaliação dinâmica e no manejo clínico de indivíduos comdoenças cardiopulmonares crônicas graves, que não apresentam condições clínicas paraa realização de provas físicas com esforço máximo, além disso, pode ser aplicado comfacilidade, e possui boa s<strong>em</strong>elhança com as situações vividas nas atividades de vida diária.Objetivos: Avaliar a capacidade física através da distância percorrida no TC6’ antes e apósintervenção fisioterapêutica, correlacionar o grau de obstrução da via aérea à distânciapercorrida no TC6’, evidenciar possíveis alterações na capacidade física do portadorde DPOC após a intervenção fisioterapêutica por meio do TC6’ e do teste incr<strong>em</strong>entalsub-máximo no cicloergômetro. Materiais e métodos: A amostra foi constituída porsete pacientes portadores de DPOC com média de idade de 64,29 anos (+10,29), osquais foram submetidos ao TC6’ e ao teste incr<strong>em</strong>ental teste incr<strong>em</strong>ental sub-máximo<strong>em</strong> cicloergômetro. Posteriormente, foram submetidos a um programa de intervençãofisioterapêutica de oito s<strong>em</strong>anas, com freqüência de três vezes s<strong>em</strong>anais, com duração de50 minutos. Após o treinamento foi realizado novamente o TC6’ e ao teste incr<strong>em</strong>ental testeincr<strong>em</strong>ental <strong>em</strong> cicloergômetro. Análise estatística: Foi utilizado estatística descritivade média e desvio padrão, teste t Student, para comparação das médias de freqüênciacardíaca (FC) e distância percorrida, sendo fixado o nível de significância com p
DPOC a uma vida mais sedentária modificando assim sua qualidade de vida. A reabilitaçaopulmonar se constitui como principal alternativa para pacientes com DPOC pois consegu<strong>em</strong>odificar toda a sintomatologia presente, principalmente a dispnéia , melhorar a tolerânciaao exercício e melhorar a qualidade de vida (QV) deste pacientes. O treinamento fisicot<strong>em</strong> sido usado como melhor alternativa para se conseguir modificar todo esse quadrode sedentarismo e intolerância ao exercício. A melhor forma de se avaliar os benefíciosda intervenção fisioterapêutica <strong>em</strong> pacientes portadores de DPOC é a utilizaçao dequestionários de QV. Objetivos: Comparar a QV dos pacientes portadores de DPOC antese após intervenção fisioterapêutica por meio de dois questionários sendo um específico(SOLDQ) e o outro genérico (SF-36); evidenciar possíveis alterações na capacidade físicado portador de DPOC. Materiais e métodos: Compuseram a amostra sete pacientes comdiagnóstico de DPOC moderado a grave com média de idade de 64,28 anos (±10,29), querealizaram o teste incr<strong>em</strong>ental teste incr<strong>em</strong>ental sub-máximo <strong>em</strong> bicicleta ergométrica e<strong>em</strong> seguida responderam os questionários de qualidade de vida SOLDQ e o SF-36, tantoantes, quanto após intervenção fisioterapêutica <strong>em</strong> bicicleta ergométrica por um períodode oito s<strong>em</strong>anas, com freqüência s<strong>em</strong>anal de duas vezes com duração de 50 minutos.Análise estatística: O coeficiente de Correlação de Person foi utilizado para comparar osescores dos questionários SF-36 e SOLDQ, o teste t de Student para comparar os valoresde freqüência cardíaca (FC) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) obtidos por meiodo teste incr<strong>em</strong>ental sub-máximo para MMII <strong>em</strong> cicloergômetro durante a avaliação ereavaliação, sendo fixado nível de significância de p
92da clínica Reabilitar de Campina Grande, PB, no período de nov<strong>em</strong>bro de 2007 a maiode 2008. Os dados foram processados e analisados por meio de estatística descritiva.Resultados: A amostra apresentou idade média de 52,78 anos, peso de 71,36Kg, alturade 1,62m e IMC média de 26,2Kg/m2, sendo que 55% eram do sexo f<strong>em</strong>inino e 45% dosexo masculino; o grau de apnéia variou entre leve/moderado (5%), leve (16%), moderado(16%), grave (37%) e severo (26%), <strong>em</strong> que 37% mostraram IMC30Kg/m2 (obesos). Conclusões: A literatura abordaque a obesidade é um fator predisponente a SAOS. De fato, alterações no diâmetro dopescoço causadas pelo aumento do peso t<strong>em</strong> forte contribuição no desenvolvimento daSAOS, mas isso não implica dizer que a mesma prevaleça ou se restrinja a pessoas obesas,podendo inclusive, manifestar-se <strong>em</strong> pessoas com IMC.286 Função pulmonar <strong>em</strong> pacientesmastectomizadas $Email: leiladonaria@yahoo.com.brLeila Donária Oliveira, Jeanne Marielle Rissas, Josiane Marques Felcar, Adriana Paula FontanaCarvalhoIntrodução: A neoplasia mamária é um grave probl<strong>em</strong>a de saúde por sua alta incidência,morbidade e mortalidade, sendo os tratamentos disponíveis a cirurgia, radioterapia (RT),quimioterapia (QT) e hormonioterapia (HT). Complicações físicas imediatas e tardiascomo dispnéia, alterações da mecânica respiratória, da função e perfusão pulmonarpod<strong>em</strong> ocorrer advindas desses tratamentos. Objetivos: Descrever a função pulmonarde pacientes mastectomizadas. Materiais e métodos: Estudo transversal descritivo,aprovado pelo Comitê de Bioética da Unopar, com amostra de 36 mulheres. Foi aplicadoquestionário estruturado para coleta de dados sobre identificação e tratamento. Afunção pulmonar foi analisada segundo as Diretrizes para Testes de Função Pulmonar(2002) por meio do espirômetro Spirocard da Medgraphcs ® , avaliando capacidade vitalforçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), relação VEF1/CVF, fluxo expiratório médio forçado (FEF25-75) e ventilação voluntária máxima (VVM).E as medidas das pressões inspiratória e expiratória máximas (PImax e PEmax) por meiodo manovacuômetro analógico Gerar ® . Análise estatística: Os dados foram analisadosno programa SPSS e a significância estatística estipulada <strong>em</strong> 5% (p-30cmH2O. Neste estudo preliminar, a medida de pressãoexpiratória máxima e pressão inspiratória máxima tiveram seus valores corrigidos pelafórmula e não se mostraram medidas efetivas na análise dos dados como preditores desucesso. Conclusões: Nosso estudo revelou que o processo de desmame e decanulaçãodos pacientes traqueostomizados se torna mais eficaz e seguro quando a participação éinterdisciplinar e que nossos dados ainda são preliminares e apontam para a necessidadede novos estudos <strong>em</strong> uma maior população.
290 Estudo comparativo da determinação da pressãoinspirada máxima utilizando bocal e máscarafacial $Email: leonardofi siocor@superig.com.brLeonardo Cordeiro de Souza, Gabriel Gomes MaiaIntrodução: A avaliação sist<strong>em</strong>ática da força dos músculos inspiratórios é uma práticafreqüente nos programas de reabilitação pulmonar, porém muitos pacientes apontamdificuldades na utilização do método tradicional de medida com o auxílio do bocalpara realização do exame. Objetivos: Este estudo teve como objetivo d<strong>em</strong>onstraruma nova possibilidade metodológica para a aferição da pressão inspirada máximapor meio do vacuômetro (PImax), utilizando uma máscara facial siliconizada, <strong>em</strong>comparação ao método tradicional com a utilização de um bocal e clipe nasal eapontar a preferência entre os métodos. Materiais e métodos: Foram selecionados28 indivíduos saudáveis, sendo 13 do sexo masculino (idade= 29,92±7,42) e 15 dosexo f<strong>em</strong>inino (idade 32,4±11,78). Os indivíduos foram instruídos a realizar<strong>em</strong> umamanobra expiratória para alcançar<strong>em</strong> o nível do volume residual (VR), <strong>em</strong> segidadeveriam inspirar profundamente sustentando o ato por mais de um segundo, a fimde se obter a PImax. Cada indivíduo realizou três manobras intercaladas com cadamétodo (bocal e máscara facial), onde eram selecionados os maiores valores de PImax.Foi utilizado para esta pesquisa o manovacuômetro digital MVD 300 da Globalmed.Análise estatística: Os valores obtidos foram submetidos à análise estatística paramédia, desvio padrão, teste t não-pareado e correlação linear de Pearson por meiodo softwear Origin 6.0. Resultados: Os resultados obtidos mostraram que não houvediferença significativa entre os métodos de aferição da PImax, quando realizadascom o bocal ou máscara facial <strong>em</strong> homens (p=0,89968) e mulheres (p=0,54522), comforte correlação linear de Pearson <strong>em</strong> homens (r=0,92) e <strong>em</strong> mulheres (r=0,85). Alémdesses resultados os indivíduos avaliados relataram preferir a utilização da máscarafacial para a realização do exame (73%). Conclusões: Diante dos resultados obtidos,a utilização da máscara facial para a realização da vacuômetria pode ser mais umapossibilidade metodológica para alcançar os diferentes grupos de pacientes <strong>em</strong>reabilitação pulmonar, porém, ressalvamos a importância de novos estudos comoutros grupos de indivíduos.291 Efeito de diferentes manobras pré-inspiratóriassobre a pressão expiratória máxima <strong>em</strong>indivíduos s<strong>em</strong> e com doença pulmonarobstrutiva crônica $Email: leonardofi siocor@superig.com.brGabriel Gomes Maia, Filipe Damasceno, Rodrigo Azeredo Stowinski, Leonardo Cordeirode SouzaIntrodução: As medidas expiratórias forçadas são úteis para avaliar obstrução ao fluxoaéreo e força dos músculos respiratórios. A maneira pela qual as manobras inspiratóriasprecedentes a medidas de expiração forçada são realizadas pode influenciar noresultado dos valores obtidos e pode interferir na conclusão do processo de avaliaçãoclínica da função pulmonar. Embora as medidas de peak flow, avaliando as manobrasinspiratórias precedentes tenham sido mostradas <strong>em</strong> indivíduos s<strong>em</strong> e com distúrbiospulmonares, nós desconhec<strong>em</strong>os na literatura, relatos que objetivass<strong>em</strong> mostrarmedidas de PEmax com procedimentos similares <strong>em</strong> portadores de disfunção pulmonarcrônica. Objetivos: Este estudo visa avaliar a confiabilidade do manovacuômetrona aferição da PEmax <strong>em</strong> ambiente ambulatorial e comparar a sua variação da <strong>em</strong>indivíduos com e s<strong>em</strong> distúrbio pulmonar obstrutivo crônico. Materiais e métodos:Foram selecionados 14 indivíduos (idade 52-69 anos), sendo sete portadores dedoença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e sete s<strong>em</strong> nenhum comprometimentopulmonar. Praticou-se durante três meses a realização de diferentes tipos de manobrasinspiratórias a partir da capacidade residual funcional (CRF) até a capacidadepulmonar total (CPT), realizando ao final destas uma expiração forçada com o objetivode obter a pressão expiratória máxima (PEmáx). Na manobra inspiratória rápida s<strong>em</strong>pausa (MIRSP) e na manobra inspiratória lenta com pausa (MILSP) foi solicitado aopaciente que inspirasse rapidamente e imediatamente após, executasse uma expiraçãoforçada com máxima intensidade; a manobra inspiratória rápida com pausa (MIRCP)e a manobra inspiratória lenta com pausa (MILCP) foram realizadas da mesma forma,apenas sendo solicitado que o paciente realizasse uma pausa inspiratória de cincosegundos. Realizaram tais manobras na posição sentada, com o tronco ereto e tiveramsuas bochechas comprimidas de forma manual pelos examinadores, O instrumentoutilizado foi o manuvacuômetro de ±300cmH2O (modelo Gerar, Série B) acoplado aum inspirômetro de incentivo (modelo Air- Eze) de forma que permitisse ao pacientea um maior controle das velocidades solicitadas para a inspiração. Análise estatística:Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística pelo teste t pareado por meiodo softwear Oring 6.0. Resultados: Os resultados d<strong>em</strong>ostraram que <strong>em</strong> indivíduos s<strong>em</strong>patologia obstrutiva, a MIRSP versus MILCP obteve um p
94294 Estudo eletromiográfi co sobre atividadedo músculo esternocleidomastoideo utilizandoresistência linear pressórica $Email: patriciarsantos@hotmail.comPatricia Roberta dos Santos, Sérgio L.D.CravoIntrodução: A atividade inspiratória do músculo esternocleidomastoideo (ECOM)relaciona-se com a desvantag<strong>em</strong> mecânica dos músculos primários da respiração,comumente associada a doenças respiratórias, nestas condições o ECOM torna-seo mais importante músculo acessório da inspiração e passa a ser progressivament<strong>em</strong>ais ativo à medida que aumenta a d<strong>em</strong>anda ventilatória. Objetivos: Este trabalhovisou avaliar as características eletromiográficas associadas à ativação do músculo(ECOM) <strong>em</strong> voluntários saudáveis utilizando resistência linear pressórica. Materiais <strong>em</strong>étodos: Foram selecionados 20 voluntários saudáveis de ambos os sexos e o registroeletromiográfico do músculo ECOM foi realizado por meio de eletrodos fixados 4cm abaixoda inserção mastóidea sendo a pressão inspiratória máxima (PImax) mensurada a partirdo volume residual. Para determinação do limiar de ativação do ECOM os voluntáriosforam orientados a inspirar contra um resistor de carga linear pressórica (treshold ® ),por quatro ciclos consecutivos com cargas correspondentes a 15, 20, 25, 30, 35, 40% daPImax. Análise estatística: Foram comparados os valores de RMS para as diferentescargas por meio de análise de variância (ANOVA) seguida, quando apropriado peloteste de Bonferroni e o nível de significância estabelecido foi 0,05. Resultados: Quandoanalisados os valores de RMS bruto e normalizado para as cargas de 15, 20, 25, 30, 35 e40% da PImax no grupo f<strong>em</strong>inino, observamos que neste grupo os valores de RMS brutoe normalizado para a carga de 40% da PImax é significativamente maior que nas cargasmenores. No grupo masculino, tais resultados não mostraram significância. Conclusões:Para o grupo f<strong>em</strong>inino 40% da PImax é suficiente para aumentar o número de unidadesmotoras ativadas e para o grupo masculino são necessárias cargas superiores. Osresultados suger<strong>em</strong> que novos estudos eletromiográficos sejam realizados, com o intuitode confirmar os resultados aqui encontrados e contribuir para elucidação da orig<strong>em</strong> daativação do músculo ECOM durante a respiração resistida.295 Estudo eletromiográfi co sobre a fadigado músculo esternocleidomastoideo utilizandoresistência linear pressórica $Email: patriciarsantos@hotmail.comPatricia Roberta dos Santos, Sérgio L.D. CravoIntrodução: Em condições de desvantag<strong>em</strong> mecânica dos músculos primários darespiração o músculo esternocleidomastoideo (ECOM) torna-se o mais important<strong>em</strong>úsculo acessório da inspiração e passa a ser progressivamente mais ativo à medida queaumenta a d<strong>em</strong>anda ventilatória. Objetivos: Este trabalho visou avaliar as característicaseletromiográficas associadas à fadiga do músculo (ECOM) <strong>em</strong> voluntários saudáveisutilizando resistência linear pressórica. Materiais e métodos: Foram selecionados 20voluntários saudáveis de ambos os sexos e o registro eletromiográfico do músculo ECOMfoi realizado por meio de eletrodos fixados 4cm abaixo da inserção mastóidea sendo apressão inspiratória máxima (PImax) mensurada a partir do volume residual. O teste deendurance foi realizado com os voluntários inspirando no treshold ® com 70% da PImaxe com relação t<strong>em</strong>po de inspiração/t<strong>em</strong>po total (Ti/Ttot) de 0,6 pelo maior t<strong>em</strong>popossível. Analise estatística: As comparações entre os t<strong>em</strong>pos de fadiga dos gruposmasculinos e f<strong>em</strong>ininos foram realizadas pelo teste t de Student e as comparações entreos valores de duração, RMS e freqüência mediana do primeiro e último ciclo na fadiga foirealizada pelo teste t de Student (pareado). O nível de significância estabelecido foi 0,05.Resultados: Foram analisadas: a) a duração da atividade eletromiográfica do ECOM noprimeiro e último ciclo respiratório da fadiga; b) a freqüência mediana do primeiro e doultimo ciclo durante a endurance. As análises d<strong>em</strong>onstram que: a) não existe diferençasignificativa entre o t<strong>em</strong>po de duração do primeiro e último ciclo no grupo masculino,porém no grupo f<strong>em</strong>inino o último ciclo é significativamente menor que o primeiro; b) aanálise da freqüência mediana d<strong>em</strong>onstra que os valores do primeiro ciclo são maioresque os valores de segundo ciclo <strong>em</strong> ambos os grupos. Os resultados obtidos suger<strong>em</strong>que no ECOM a fadiga pode ser detectada por uma diminuição da freqüência medianano sinal eletromiográfico deste músculo. Os resultados suger<strong>em</strong> que novos estudoseletromiográficos sejam realizados, com o intuito de confirmar os resultados aquiencontrados e contribuir para elucidação da orig<strong>em</strong> da fadiga do músculo ECOM durantea respiração resistida.296 Estudo da qualidade de vida e funcionalidade <strong>em</strong>pacientes <strong>em</strong> lista de transplante pulmonar $Email: mi.feltrim@incor.usp.brMaria Ignêz Zanetti Feltrim, Roberta Veronezi Francisco, Cristian Custódio Coutinho,Vinícius Carvalho Andrade, Wellington Hiroto Ide, Daniela Cristina IervolinoIntrodução: O transplante pulmonar é uma importante alternativa de tratamento parapacientes <strong>em</strong> estágio final de doença pulmonar. Esses pacientes apresentam diversaslimitações <strong>em</strong> suas AVD’S, que interfer<strong>em</strong> na sua qualidade de vida (QV). Objetivos: AvaliarRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.a QV <strong>em</strong> pacientes <strong>em</strong> lista de espera do transplante pulmonar (TxP), identificando osdomínios que sofr<strong>em</strong> maior impacto causado pela doença. Correlacionar os escores dosquestionários de qualidade de vida com a funcionalidade, identificando o grupo de doençaque apresenta maior comprometimento. Materiais e métodos: Estudamos 56 pacientescom indicação de TxP, dividicos <strong>em</strong> três grupos de doenças: enfis<strong>em</strong>a (EP=22), fibrose cística(FC=17), e bronquiectasia (BQ=17). A QV foi avaliada pelos questionários Short-Form 36(SF-36) e Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), <strong>em</strong> entrevistas individuais, nomomento <strong>em</strong> que esses pacientes entraram <strong>em</strong> lista de espera. Todos realizaram teste decaminhada dos seis minutos (T6M) e espirometria. Os escores obtidos foram avaliados entreos grupos por meio do ANOVA one-way e a correlação dos escores com distância percorridae VEF1 foi obtida pelo teste de Pearson. Resultados: No SF-36 o grupo EP obteve escoressignificant<strong>em</strong>ente mais baixos <strong>em</strong> aspectos sociais do que FC e BQ (42,5 versus 68,3 e 57,6)e capacidade funcional (14,2 versus 45,5 e 34,5) p
ecográfico para visualização da movimentação diafragmática. Os eletrodos periféricosforam posicionados <strong>em</strong> pontos motores. O aparelho de VMNI utilizado da marca BIPAP ®plus com pressões (IxE) 15x7 com máscara nasal. Foi realizada espirometria antes e apóso treinamento. Foram analisadas freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória ( fr),saturação periférica de oxigênio (SpO2) e sensação de esforço percebido para dispnéiae m<strong>em</strong>bros inferiores (Borg). Resultados e conclusões: As variáveis clínicas estudadasantes e ao final do protocolo de eletroestimulação foram respectivamente: (média±DP):FC,95±12,7 versus 80±10,6bpm; FR, 23±1,4 versus 23±1,4irpm; SpO2, 92±3,5 versus 94±2,8%;Borg para dispnéia, 2±2,12 versus 1±0,70; Borg para m<strong>em</strong>bros inferiores, 0,5±0,7 versus1±1,4. Variáveis espirométricas pré e pós-eletroestimulação: observou-se melhora naspressões: PImax: 43% versus 51,9%; PEmax: 24,7% versus 27,9%. Com relação aos volumesventilatórios, não foi observada melhora, <strong>em</strong>bora tenha havido incr<strong>em</strong>ento das pressõesexpiratórias e inspiratórias máximas que reflet<strong>em</strong> aumento de força. Neste pacientea eletroestimulação transcutânea de diafragama associada à VNI como treinamentomuscular permitiu observar melhora das pressões pulmonares estáticas máximas e deparâmetros clínicos como SpO2 e sensação de dispnéia.299 Perfi l clínico dos pacientes bronquiectásicosda Clínica-Escola Santa Edwiges - APAE $Email: naty_gaspar@hotmail.comAna Beatriz Cavalcante Reis, Fernando Ricardo Serejo de Castro, Gustavo de Jesus Pires daSilva, Jôyce Araújo Ribeiro, Natália Gaspar Sousa, Olga Lorena Maluf Guará, Renata KarissaPessoa SantanaIntrodução: A bronquiectasia é uma doença caracterizada pela dilatação anormale irreversível de brônquios e bronquíolos representada pelo estado final de diversosprocessos patológicos, levando o paciente a um quadro de tosse crônica, febre,expectoração volumosa e purulenta. Justifica-se a realização do presente estudo pelaexistência de grande d<strong>em</strong>anda de pacientes bronquiectásicos que procuram o setor de<strong>fisioterapia</strong> respiratória da Clínica-Escola Santa Edwiges – APAE. Objetivos: Verificaro perfil dos pacientes bronquiectásicos submetidos ao tratamento fisioterapêuticona APAE de São Luis, MA no período de agosto 2003 a março de 2008. Materiais <strong>em</strong>étodos: Estudo descritivo retrospectivo, desenvolvido entre o período de janeiro amarço de 2008, através da coleta de dados presentes nas fichas de avaliação do setor de<strong>fisioterapia</strong> respiratória, utilizando-se uma Ficha do Perfil Clínico dos Pacientes do Setorde Fisioterapia Respiratória elaborada pelos autores. A pesquisa <strong>em</strong> pauta foi aprovadapela Comissão Científica da Clínica-Escola. Inclui-se no estudo somente os pacientes como diagnóstico de bronquiectasia submetidos a tratamento no período de agosto de 2003a março de 2008 que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A amostrafoi composta por 32 pacientes bronquiectásicos e a tabulação dos dados realizada noMicrosoft Office Excel 2007. Análise estatística e resultados: Os resultados obtidosquanto à predominância foram respectivamente: sexo f<strong>em</strong>inino (56%); faixa etária entre50 e 60 anos (22%); maioria residente na capital (78%); t<strong>em</strong>po de diagnóstico da doença de0 a 10 anos (44%); causa aparente da doença - tuberculose (44%); queixa principal - tosse(44%); maior comprometimento pulmonar <strong>em</strong> h<strong>em</strong>itórax direito (33%); ruídos adventíciosmais encontrados - estertores crepitantes (33%); tosse caracterizada como cheia (63%);expectoração não continha dados suficientes <strong>em</strong> 67% das fichas e reologia do mucopredominant<strong>em</strong>ente purulento (47%). Conclusões: Verificou-se que a bronquiectasiafoi predominante <strong>em</strong> mulheres, entre 50 e 60 anos de idade, residentes na capital, queapresentavam t<strong>em</strong>po de diagnóstico igual ou inferior a dez anos, sendo a tuberculose acausa mais expressiva da doença. Constatou-se, ainda, que a queixa principal relatadacom maior freqüência foi tosse cheia de caráter purulento, sendo o h<strong>em</strong>itórax direito maiscomprometido e, estertores crepitantes os ruídos adventícios mais evidenciados.300 Causas das internações hospitalares dos idosos<strong>em</strong> um hospital regional do noroeste do estadodo RGS $Email: aspasqualoto@terra.com.brAdriane Schmidt Pasqualoto, Regina Marta Hein de Souza, Daiane Guma, SimoneStrassbuguer, Iara BatisttiIntrodução: Com o crescente aumento da população idosa no Brasil apontada nocenso de 2000, estima-se que o Brasil <strong>em</strong> 2025 seja o sexto país <strong>em</strong> população na faixaetária de 60 anos ou mais. A internação hospitalar de um idoso representa risco maiorde morbidade e mortalidade. Estudos apontam que a pneumonia é dez vezes maisfreqüente nesta população quando comparada ao adulto jov<strong>em</strong> e é a quinta causa d<strong>em</strong>orte <strong>em</strong> idosos, com mortalidade de 15 a 20% maior nos indivíduos acima de 60 anos.Objetivos: Analisar as causas de internação hospitalar <strong>em</strong> indivíduos com 60 anos oumais, no Hospital Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande de Sul. Materiais <strong>em</strong>étodos: Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, analítico e documental. Asinformações foram coletas a partir do registro informatizado dos prontuários dos idososque internaram no período de janeiro a dez<strong>em</strong>bro de 2007. Os critérios de inclusãoforam idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os gêneros, internados,pelo mínimo, de 24 horas, na clínica médica, cirúrgica, geral ou na unidade de terapiaintensiva. Foram excluídas as internações que não atenderam os critérios de inclusão.As variáveis analisadas foram o t<strong>em</strong>po de permanência, as causas e a freqüência dasinternações nas unidades, as re-internações e as solicitações de <strong>fisioterapia</strong>. Análiseestatística: Foi realizada no programa SPSS. As diferenças foram consideradassignificativas para p
96303 Características das secreções relacionadas coma espirometria e força muscular<strong>em</strong> bronquiectasia $Email: ada@fmrp.usp.brJoana Tambascio, Roberta Marques Lisboa, Rita de Cássia Vianna Passarelli, Ana Paula Manfi oPereira, Ada Clarice GastaldiIntrodução: A bronquiectasia caracteriza-se por produção excessiva de escarropurulento, que associado às alterações dos brônquios pod<strong>em</strong> interferir na força muscularrespiratória e função pulmonar. O índice de purulência (IP) e adesividade são métodossimples e rápidos de avaliação da secreção, que pod<strong>em</strong> refletir parcialmente o perfilreológico da amostra, pois apresentam correlação positiva com a viscosidade. Objetivos:Verificar se exist<strong>em</strong> diferenças entre os grupos com expectoração com aspecto normale purulento nas variáveis adesividade, força muscular e função pulmonar. Materiais <strong>em</strong>étodos: Foram avaliados 15 pacientes divididos <strong>em</strong> dois grupos de acordo com o IPproposto por Denueville (1997) de 1 (mucóide) a 5 (amarelo/verde/espesso) sendo grupo 1(sete pacientes ) com valores 1,2,3 (normal) e grupo 2 (oito pacientes) com 4 e 5 (alterado)e a adesividade avaliada pela escala de Lopez-Vidriero (1973) de 1 (totalmente aderido)a 4 ( fácil movimentação). A força muscular foi avaliada por meio da pressão inspiratóriamáxima (PImax) e pressão expiratória máxima (PEmax) com o manovacuômetro digital(modelo MVD300, Globalmed, Porto Alegre, Brasil), com escala até 300cmH2O utilizandoa equação proposta por Neder (1999). As medidas de CVF, VEF1 e FEF25-75% foramavaliadas pelo espirômetro Koko PFtesting, nSpire Health de acordo com a ATS. Análiseestatística: Foi utilizado o teste de Wilcoxon para a verificação das diferenças entregrupos, com nível de significância de 5%. Resultados: Houve diferença entre a adesividadedos grupos (p
aplicados a escala de dispnéia de Borg, o índice de dispnéia basal (BDI) e o questionáriodo Hospital Saint George na doença respiratória (SGRQ). Análise estatística: Os dadosforam analisados pelo programa Sigma Stat 2.03 e foram apresentados como média±desviopadrão ou mediana (percentil 25 e percentil 75). A comparação entre os gêneros foi feitapelo teste t para variáveis com distribuição normal e o teste de Mann-Whitney foi utilizadopara variáveis com distribuição não normal. Resultados: Foram avaliados 86 homens(55%) e 69 mulheres (45%). As mulheres eram mais jovens (64±10 anos versus 67±9 anos;p=0,03) e apresentaram menor carga tabágica [50 (20-60) anos/maço versus 54 (40-88) anos/maço; p=0,007] quando comparadas aos homens. Em relação à composição corporal, nãohouve diferença significativa entre os gêneros. Os valores de VEF1 (<strong>em</strong> L) foram menoresnas mulheres (0,8±6L versus 0,9±6L; p=0,01) e a relação VEF1/ CVF foi menor nos homens(45±11% versus 51±11%; p
98Email: nencyjp@hotmail.comGlaucia Nency Takara, Maurício Jamami, Gualberto Ruas, Luciana Kawakami Jamami, ValériaAmorim Pires Di LorenzoIntrodução: T<strong>em</strong> sido recomendada a utilização de medidores de pico de fluxoexpiratório (PFE) no acompanhamento de patologias respiratórias obstrutivas edestaca-se a importância da mensuração do PFE no âmbito hospitalar, ambulatorial edomiciliar. Entretanto, estudos têm questionado a acurácia desses “peak flow meters”porque suas imprecisões pod<strong>em</strong> levar a diagnósticos e tratamentos errôneos da asma.Objetivos: Averiguar se exist<strong>em</strong> diferenças significantes nas leituras obtidas de cincotipos de medidores por meio da comparação destas com os valores de referência de PFEestabelecidos por Gregg e Nunn, os quais constam na maioria dos manuais dos medidoresa venda no mercado nacional. Materiais e métodos: Setenta voluntários sedentáriosentre 19 a 40 anos realizaram as medidas de PFE utilizando os Peak Flow Meter Assess ® ,Vitalograph ® , Personal Best ® , Air Zone ® e Gal<strong>em</strong>ed ® , aleatoriamente. Um avaliadorhabilitado executou as medidas, repetindo-as três vezes para cada um dos cinco medidoresintercalando-os num intervalo de 30 segundos. Foram excluídos os indivíduos fumantes,ex-fumantes, com probl<strong>em</strong>as respiratórios, neurológicos e têmporo-mandibulares,e indivíduos submetidos à medicação que pudesse influenciar no des<strong>em</strong>penho damecânica respiratória. Análise estatística: O maior valor obtido de cada indivíduo, paracada medidor, foi comparado com os valores previstos correspondentes, por meio do testede Friedman com post hoc de Dunn (p
Activity Questionnare (IPAQ), Espirometria (VEF1), teste de caminhada de seis minutos(TC6), Medical Research Concil (MRC). A amostra constituiu-se de 15 pacientes comDPOC, de diferentes idades e ambos os sexos, divididas <strong>em</strong> dois grupos, de três meses comnove pacientes, e seis meses com seis pacientes, após o termino do PRP respectivamente.Análise estatística: Os resultados foram analisados por meio do programa SPSS 12.0 com oteste t de Student e Correlação de Pearson. Resultados: Nos três e seis meses nas seguintesvariáveis: TC6 ( final: 429,13m versus três meses: 381,69m, p=0,03) e ( final: 365,93m versusseis meses: 430,33m, p>0,05); BODE ( final: 2,22 versus três meses: 3, p>0,05) e ( final: 3,17versus seis meses: 3, p>0,05); IPAQ (três meses: 2,89 versus seis meses: 2,67, p>0,05). Sendoas correlações nos três e seis meses respectivamente entre TC6 e IPAQ (três meses: -0,09versus seis meses: -0,03); BODE e IPAC (três meses: 0,29 versus seis meses: 0,19); BODE eTC6 (três meses: -0,70 versus seis meses: -0,88). Conclusões: Os resultados das variáveisestudadas d<strong>em</strong>onstram que a manutenção da capacidade de exercício foi maior nos seismeses. A correlação entre os três e seis meses dos escores de sobrevida com a capacidadede exercício foi mais forte nos seis meses.317 A reabilitação pulmonar <strong>em</strong> curto prazo e o nívelde atividade física na DPOC $Email: daversom@feevale.brPaulo Roberto Krippa Júnior, Dáversom Bordin Canterle, Cássia Cinara da Costa, JulianaResende, Sergio Telles Cruz Jr., Maria Lúcia LangoneIntrodução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidaderespiratória que se caracteriza por alterações estruturais no parênquima pulmonar,cursando com manifestações sistêmicas. Apresentando como um dos sintomas adiminuição do nível de atividade física (NAF). Objetivos: Comparar o nível de atividadefísica antes e depois do programa de reabilitação pulmonar (PRP) e correlacionar o NAFcom escores de sobrevida, escala de dispnéia e capacidade de realizar exercícios. Materiaise métodos: O estudo foi comparativo e prospectivo, do tipo antes e depois. Para coleta dosdados foram realizados os seguintes testes: Internacional Phisycal Activity Questionnare(IPAQ), teste de caminhada de seis minutos (TC6), Medical Research Concil (MRC) ebody mass index, airway obstruction, dyspnea, and exercise capacity (BODE). Os testesforam realizados antes e depois de um mês de ter início o PRP. Análise estatística: Foiutilizado o programa SPSS 12.0 com o teste t de Student e teste de Correlação de Pearson.Resultados: Participaram do estudo sete colaboradores, 100% eram do sexo f<strong>em</strong>inino,com idade média de 64±8,12 anos e com índice de massa corpórea média de 24,67±1,78.Quanto ao nível de atividade física antes e depois do PRP, 43% aumentaram o nível deatividade física (p=0,04). No TC6 <strong>em</strong> metros, antes e depois foi (antes: 381,42±59,62 versusdepois: 431,85±51,02, Δ= 50,43, p=0,01). Na escala de dispnéia MRC, 57% dos colaboradoresmelhoraram (p=0,03). A correlação entre o NAF com capacidade de realizar exercícios,escore de sobrevida e escala de dispnéia foram respectivamente (r=0,27; p=0,01), (r=0,64;p=0,40) e (r=0,42; p=0,25). Conclusões: Por meio dos resultados pode-se confirmar que osPRP ajudam a incr<strong>em</strong>entar o nível de atividade física de pacientes portadores de DPOC<strong>em</strong> curto prazo.318 Alterações da força muscular respiratóriae da qualidade de vida apósgastroplastia redutora $Email: goliascris@yahoo.com.brCristiane Golias Gonçalves, Fernanda Stringuetta, Thabatta Alana S<strong>em</strong>enzim, DanielaHayashi, Aline Felipe Longo, Isabel Cristina Hilgert Genz, Erickson Borges Santos, LaryssaMilenkovich Bellinetti, João Carlos ThomsonIntrodução: A obesidade relaciona-se com alterações na mecânica respiratória decorrentes,entre outros fatores, do excesso de tecido adiposo na região torácica e abdominal. Estudostêm mostrado alterações da força muscular respiratória, da função pulmonar e reduçãoda capacidade de exercício. Dessa forma, ao ser<strong>em</strong> submetidos a cirurgia abdominal alta,acredita-se que pacientes obesos serão mais suscetíveis às repercussões pulmonaresocasionadas pela anestesia e pelo próprio procedimento cirúrgico. Objetivos: Avaliar ocomportamento da força muscular respiratória e a qualidade de vida no pós-operatóriode gastroplastia redutora. Materiais e métodos: Dezenove pacientes, sendo 12 mulherese sete homens com média de idade de 44±11 anos, média de índice de massa corpóreade 47±5Kg/m2, submetidos à gastroplastia redutora. Foram avaliados no pré-operatório,2º dia do pós-operatório (PO), 10º PO e 30º PO, sendo submetidos às mensurações daspressões máximas inspiratórias (PImax) e expiratórias (PEmax) e avaliados conforme oquestionário de qualidade de vida, SF-36. Análise estatística: Foram avaliadas as médiase desvios-padrão, a normalidade, a variância dos dados e as comparações múltiplasmediante aplicação dos testes Kolmogorov Smirnov, ANOVA, Tukey e Wilcoxon.Resultados: Os pacientes recuperaram os valores pré-operatórios de PImax entre o 2º POe o 10º PO (p
100encontrados estudos avaliando a influencia deste treinamento sobre o MTA de pacientescom DPOC. Objetivos: Analisar as repercussões do treinamento de endurance dos MMIIsobre o MTA, durante o exercício, <strong>em</strong> pacientes com DPOC, assim como comparar oMTA durante repouso e exercício. Materiais e métodos: Foi conduzido um single-subjectexperimental design com avaliações periódicas, durante teste incr<strong>em</strong>ental máximo, <strong>em</strong>duas fases: A-baseline, s<strong>em</strong> treinamento, por seis s<strong>em</strong>anas; B-treinamento de endurancedos MMII (três vezes/s<strong>em</strong>ana) por 12 s<strong>em</strong>anas. Utilizou-se a pletismografia respiratóriapor indutância para avaliar: relação de fase inspiratória (PhRIB), relação de fase expiratória(PhREB) e função correlação cruzada (CCF). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Éticada instituição. Análise estatística: Para comparações do MTA entre as fases de baseline etreinamento <strong>em</strong> dois níveis de exercício (isocarga e carga pico) foram consideradas respostasao treinamento os resultados com concordância entre a análise visual e no mínimo um testeestatístico (Two Standard Deviation Band test e Celeration Line), considerando significativop
gravidade da DPOC avaliada pelo ponto de vista global (representada pelo índice BODE)está diretamente relacionada à capacidade máxima de esforço. Isso indica um potencialbenefício na realização de programas de treinamento que objetiv<strong>em</strong> o aumento dacapacidade máxima de exercício <strong>em</strong> indivíduos nas fases iniciais da doença na tentativade retardar o seu avanço sistêmico.326 Pressão positiva expiratória e parâmetrosda função pulmonar <strong>em</strong> pacientescom fi brose cística $Email: danisrvieira@yahoo.com.brSandra Ribeiro Pires, Verônica Franco Parreira, Danielle Soares Rocha Vieira, NaraSulmonett, Paulo Augusto Moreira Camargos, João Paulo Haddad, Raquel Rodrigues BrittoIntrodução: Recursos instrumentais com pressão positiva expiratória, como Flutter ® eEPAP (do inglês, expiratory positive airway pressure), têm sido utilizados para a r<strong>em</strong>oçãode secreções e aumento da ventilação pulmonar <strong>em</strong> pacientes com fibrose cística (FC).Entretanto, há poucos estudos referentes ao efeito imediato sobre a função pulmonar coma utilização da EPAP, recurso que apresenta vantagens tais como a não dependência daposição do aparelho para a geração da pressão positiva, a possibilidade de fornecer um valorpré-determinado de pressão nas vias aéreas e o menor custo do equipamento. Objetivos:Avaliar parâmetros da função pulmonar após o uso de dois tipos de pressão positivaexpiratória (EPAP e Flutter ® ) <strong>em</strong> pacientes com FC. Materiais e métodos: Participaramdeste estudo 13 pacientes com diagnóstico de FC (oito homens e cinco mulheres) commédia de idade de 18,54 (3,23) anos e índice de massa corporal de 20,13 (3,15)Kg/m2, comespirometria variando de normal a distúrbio moderado. Os pacientes utilizaram a EPAP,com 15cmH2O e o Flutter ® , de forma randomizada, durante 15 minutos, com intervalode uma s<strong>em</strong>ana. O teste de diluição de hélio <strong>em</strong> circuito fechado (Collins PulmonaryTesting Syst<strong>em</strong>, USA) foi utilizado para mensuração da capacidade residual funcional,volume residual (VR), capacidade pulmonar total (CPT) e para o cálculo da relação VR/CPT. A espirometria foi realizada para medir a capacidade vital forçada (CVF), o volumeexpiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), o fluxo expiratório forçado entre 25-75%da CVF e a relação VEF1/CVF. Os testes de função pulmonar foram realizados antes e 15minutos após a utilização dos recursos. Foram registrados também o número de acessosde tosse e o recurso de preferência do paciente. Este estudo foi aprovado pelo Comitê deÉtica <strong>em</strong> Pesquisa da instituição. Análise estatística: Foi realizada ANOVA para medidasrepetidas, considerando significativo p
102sintomas sugestivos de SAOS nessa população, incluindo sonolência diurna excessiva,ronco alto, pausas respiratórias observadas por familiares. Objetivos: Avaliar o padrão desono <strong>em</strong> pacientes portadores de DPOC. Materiais e métodos: Trata-se de uma pesquisaobservacional descritiva, com uma amostra composta por dez sujeitos com diagnósticoclínico DPOC (segundo Gold), submetidos às avaliações da função pulmonar, índicesantropométricos e o sono através da escala de sonolência de Epworth. Análise estatística:As análises descritiva e inferencial foram realizadas por meio do programa SPSS 15.0.Aplicamos o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (K-S), e a associação entre osono e as d<strong>em</strong>ais variáveis do estudo através do coeficiente de Correlação de Pearson,atribuindo um nível de significância de 5%. Resultados: Dos indivíduos estudados, 70%eram do sexo masculino e 30% do sexo f<strong>em</strong>inino. Destes, 11% eram estágio leve, 56%moderado, 11% grave e 22% muito grave da doença. Observamos uma média de idade(63,70±10,45) anos; peso (84±18,47)Kg, altura (1,62±0,12) metros, IMC (32,67±10,60)Kg/m2; VEF1 (59,10±26,62)%; CVF (62,73±21,67)%; Tiffenau (88,65±23,64)%; avaliação dosono (10,10±4,28). Não houve correlação entre a avaliação do sono e as d<strong>em</strong>ais variáveisestudadas, porém observamos um índice de 60% de sonolência diurna excessiva nestapopulação. Conclusões: No grupo de pacientes estudados, a avaliação do padrão de sonomostrou sonolência diurna excessiva, sendo este importante sintoma de distúrbio dosono que precisa ser investigado por exames mais específicos.331 O índice de BODE correlaciona-se com a forçamuscular respiratória na DPOC? $Email: zeniatsa@uol.com.brGardenia Maria Holanda Ferreira, Zênia Trindade de Souto AraújoIntrodução: O índice BODE é uma escala multidimensional, utilizado como um preditorindireto do risco de morte para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica(DPOC). Quatro fatores são utilizados para o cálculo do BODE: índice de massa corporal(IMC=BMI=body mass index=B), grau de obstrução das vias aéreas com VEF1 <strong>em</strong> % dosvalores preditos (airflow obstruction=O), dispnéia por meio da escala MRC (dyspnea=D)e capacidade ao exercício (exercise capacity=E) medida através do teste de caminhada deseis minutos. Altos índices estão associados a um maior risco de morte. Os portadores deDPOC caracterizam-se pela presença de obstrução ao fluxo aéreo e alteração mecânicados músculos respiratórios, apresentando graus variados de dispnéia e deterioração dacapacidade de realizar exercícios físicos <strong>em</strong> associação com a função pulmonar prejudicada.Objetivos: Correlacionar o índice BODE com a força muscular respiratória dos portadoresde DPOC <strong>em</strong> diversos níveis de gravidade da patologia. Materiais e métodos: Trata-se deuma pesquisa observacional descritiva, com uma amostra composta por 15 sujeitos comdiagnóstico clínico DPOC (segundo Gold), submetidos às avaliações da função pulmonar,capacidade funcional de exercícios por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6),dispnéia por meio do índice modificado do MRC (Medical Research Council), índice massacorporal (IMC), força muscular respiratória (PImax e PEmax) por meio do manovacuômetro(marca GeRar ® - Escala ±300cmH2O). Análise estatística: As análises descritiva e inferencialforam realizadas por meio do programa SPSS 15.0. Aplicamos o teste de normalidadeKolmogorov-Smirnov (K-S), e a associação entre o BODE e a força muscular respiratóriapor meio do coeficiente de Correlação de Pearson, atribuindo um nível de significância de5%. Resultados: Destes 20% eram estágio leve, 54% moderado, 20% grave e 7% muito grave.Observamos uma média de idade (62,2±11,4) anos; IMC (29,8±9,6)Kg/m2; VEF1 (63,6±22,8)%;TC6 (417±60,28) metros; BODE (2±1,55); PImax (75±32)cmH2O; PEmax (91±37)cmH2O. Nãohouve correlação entre o índice de BODE e a PImax (p= 0,294) e PEmax. Conclusões: Nossosdados suger<strong>em</strong> que o prejuízo na força muscular respiratória nos portadores de DPOC éproporcional à gravidade da doença e sobrevida destes indivíduos.332 Perfi l dos pacientes aderentes a um programade reabilitação pulmonar $Email: mmmariza@gmail.comMariza Montanha Machado, Andréia Rosane de Moura Valim, Antônio Marcos Vargas Silva,Tania Cristina Malezan Fleig, Andréa Lúcia Gonçalves da SilvaIntrodução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é progressiva e debilitante,portanto recomenda-se atividade aeróbica (30 minutos/dia) para manutenção do estadofísico e prevenção de exacerbação dos sintomas. Objetivos: Comparar o perfil de umgrupo de pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica aderentes enão aderentes à um programa de reabilitação pulmonar. Material e métodos: Estudotransversal realizado <strong>em</strong> Santa Cruz do Sul onde foram avaliados 24 pacientes comDPOC moderada e grave, de ambos os sexos, divididos <strong>em</strong> dois grupos, denominados:grupo aderente (GA; n=14) e grupo não-aderente (GN; n=10). Análise estatística:Foram realizadas utilizando-se o programa SPSS ® versão 12.5 (SPSS Inc., Chicago, IL,USA) para análise de distribuição de freqüências e para o cálculo do teste t de Studentbicaudal para amostras independentes. Os valores estão expressos <strong>em</strong> média, desviopadrão(DP) e <strong>em</strong> mediana, mínimo e máximo [med (mín-máx)], sendo considerado umnível de significância de p
Email: renata.fi rpo@terra.com.brRenata Firpo R. Medeiros, Juliana Duarte, Telma Lisandra de Pietro, Eloisa Rita NavarroNegrãoIntrodução: Os músculos respiratórios são músculos esqueléticos e, como tal, sãomorfologicamente e funcionalmente s<strong>em</strong>elhantes a outros músculos esqueléticos docorpo, portanto, pod<strong>em</strong> sofrer deficiências e alterações s<strong>em</strong>elhantes a qualquer músculoesquelético enfraquecido, o que pode ocorre devido à má nutrição, fadiga de treinamentoou mediante certas patologias que infer<strong>em</strong> na força do diafragma. A PImáx e a PEmáx t<strong>em</strong>sido consideradas, desde a década de 60 e 70, como um método simples pratico e precisona avaliação da força dos músculos respiratórios, tanto <strong>em</strong> indivíduos sadios como <strong>em</strong>pacientes com disfunção respiratória ou neurológica. Objetivos: Este estudo teve comoobjetivo avaliar os el<strong>em</strong>entos da mecânica respiratória, no que se refere à força muscularinspiratória e expiratória por meio de medidas da PImáx e da PEmáx. Associando-se a estasmedidas a doença do paciente e o t<strong>em</strong>po de internação. Materiais e métodos: A amostrafoi constituída de 36 sujeitos, de ambos os sexos, sendo 26 do sexo masculino e dez do sexof<strong>em</strong>inino, com idade que variou de 25 a 50 anos; com idade média de 32,4 anos de idade,com doenças que foram agrupadas <strong>em</strong> quatro classes: sendo neurológicas, ortopédicas,pulmonares e cardíacas. O t<strong>em</strong>po de internação foi subdividido <strong>em</strong> s<strong>em</strong>anas de internaçãoonde foram coletados os dados nos indivíduos que estavam de uma a seis s<strong>em</strong>anasinternados. Como critérios de inclusão os sujeitos deveriam apresentar os requisitosacima, além de ser<strong>em</strong> colaborativos e não apresentares déficit cognitivo. As medidas foramcoletadas por meio da utilização de um manuovacuômetro aferido da marca GeRar, bocaldescartável e prendedor nasal. A princípio os participantes foram orientados quanto àutilização correta do aparelho, onde foram colhidas três medidas da PImáx e da PEmáx,escolhendo-se o maior valor. Todas as medidas foram colhidas com os participantes <strong>em</strong>sedestação. Resultados: Com relação a doença prévia, 11 pacientes da classe de doençaspulmonares, 14 doenças neurológicas, nove doenças ortopédicas e duas doenças cardíacas.Destes, a classe de doenças pulmonares nove apresentaram PImáx
104risco das complicações está o tabagismo. Porém, sua influência sobre a função respiratóriapós-operatória não está estabelecida. Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar ainfluência do tabagismo na evolução da força muscular respiratória e da função pulmonarno pós-operatório das cirurgias de risco. Materiais e métodos: O estudo conduzido foidescritivo longitudinal prospectivo. Foram avaliados 43 pacientes divididos <strong>em</strong> trêsgrupos, 24 pacientes não-tabagistas, oito tabagistas e 11 ex-tabagistas. Os pacientes foramavaliados no pré-operatório, no 2º, 15º, 30º e 60º dias de pós-operatório (PO) quanto à forçamuscular respiratória (Pimax e P<strong>em</strong>ax) e função pulmonar (CVF e VEF1). Foram utilizadascomo variáveis de controle idade, gênero, índice de massa corpórea (IMC), sintomasrespiratórios e doença pulmonar prévia. Análise estatística: Para avaliar as distribuiçõesutilizou-se o Kolmogorov-Smirnov, como estas se apresentaram normais optou-se pelaANOVA de medidas repetidas com o pós-teste de Tukey. Para a comparação dos gruposquanto às variáveis nominais utilizou-se o qui-quadrado ou exato de Fisher e quanto àsvariáveis contínuas, o teste de Kruskal-Wallis. Resultados: Os grupos foram comparáveis<strong>em</strong> todas as variáveis exceto na idade e no gênero. No grupo dos não-tabagistas não houvediferença estaticamente significante quando se comparou a CVF entre o pré e 30ºPO(p>0,05); com relação ao VEF1, PImax e PEmax não houve diferença estatisticamentesignificante entre o pré e o 15ºPO (p>0,05). Já no grupo dos tabagistas tanto a CVF quantoa VEF1 e a PImax não apresentaram diferença estaticamente significante entre o pré e o15ºPO (p>0,05). Não houve diferença estatisticamente significante quando se comparou aPEmax entre o pré e o 30ºPO (p>0,05). Com relação aos ex-tabagistas a CVF não apresentoudiferença estatisticamente significante entre os valores do pré e do 30ºPO (p>0,05). Entreo pré e o 15ºPO da VEF1, da PImax e da PEmax não houve diferença estatisticamentesignificante (p>0,05). Conclusões: O grupo dos não tabagistas recuperou os valores deCVF no 30ºPO enquanto que os valores de VEF1, PImax e PEmax retornaram no 15ºPO.Já no grupo dos tabagistas a CVF, a VEF1 e a PImax retornaram seus valores no 15ºPO;a PEmax retornou no 30ºPO. O grupo dos ex-tabagistas recuperou a CVF no 30ºPO e oVEF1, a PIimax e a PEmax no15ºPO.340 Correlação da abdução escapular com a funçãopulmonar e pressões respiratórias máximas<strong>em</strong> portadores de DPOC $Email: robertablopes@pucminas.brCarolina Gusmão Barreto, Júlia Carolina de Carvalho Morais, Márcia Regina BarbosaMorandi, Renata Meira Isensee, Roberta Berbert LopesIntrodução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada pelaobstrução progressiva ao fluxo aéreo, gerando modificações na geometria da paredetorácica, na eficiência diafragmática e uso excessivo dos músculos acessórios darespiração. Diante desta fisiopatologia, a postura do portador de DPOC pode estaralterada, principalmente <strong>em</strong> relação à cintura escapular. Objetivos: Correlacionar aabdução escapular com as medidas da espirometria e com as pressões respiratóriasmáximas (PRM) nos portadores de DPOC e comparar os resultados com um grupo deidosos saudáveis. Materiais e métodos: Dez indivíduos com idade entre 60 e 79 anosforam selecionados para cada grupo, sendo o experimental composto por portadores deDPOC grau moderado e o grupo controle por idosos saudáveis. Todos foram submetidosà avaliação da posição escapular por meio do Software para Avaliação Postural (SAPO),à espirometria e às medidas das PRM. Análise estatística: Utilizou-se o teste t-Studentpara grupos independentes a fim de verificar diferenças na CVF, VEF1, PImax, PEmax,distância direita (DD) e distância esquerda entre os grupos. A Correlação de Pearson foiusada para a verificação da correlação entre as variáveis. Foram consideradas diferençasestatisticamente significativas p
a capacidade funcional por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6) realizadade acordo com as Diretrizes da ATS (2002), utilizando, para cálculo do valor previsto, asfórmulas de Enright e Sherril (1998); a função pulmonar, por meio da espirometria deacordo com o II Consenso de Espirometria (2002); e a QV, por meio do questionário Short-Form Health Survey (SF-36). Análise estatística: Foi realizada análise descritiva e teste decorrelação de Spearmam, com p
106Os dados mostraram correlação entre PImax e idade r=-0,25 (p=0,05) e entre a PImax e alturar=-0,41 (p=0,00). Conclusões: Os distúrbios do sono <strong>em</strong> pacientes hipertensas não influenciamna força da musculatura respiratória e, como já b<strong>em</strong> documentado na literatura, a PImax éalterada <strong>em</strong> função da idade e da altura do sujeito.348 Atividade física na vida diária <strong>em</strong> portadoresde DPOC com e s<strong>em</strong> atividade profi ssional $Email: thaisjps@yahoo.com.brThaís J. P. Sant’Anna, Andréa D. Fontana, Leandro Mantoani, Natália Dal´Ava de Souza,Raquel Hirata, Maria José de Carvalho, Nayara Medina, Vanessa S. Probst, Antonio F.Brunetto, Fábio PittaIntrodução: Estudos suger<strong>em</strong> que portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)apresentam sintomas que pod<strong>em</strong> limitar a capacidade de trabalhar. A literatura internacionalsugere que o vínculo <strong>em</strong>pregatício está relacionado com o nível de atividade física e a qualidadede vida destes pacientes, evidenciando o fato de que a aposentadoria leva à redução destasvariáveis. Porém, esses estudos foram realizados <strong>em</strong> populações internacionais e não se sabese seus resultados se aplicam aos pacientes brasileiros, que apresentam características sócioeconômicasdiferentes de populações européias e americanas. Objetivos: Comparar o nível deatividade física na vida diária (AFVD) <strong>em</strong> portadores de DPOC brasileiros com e s<strong>em</strong> atividadeprofissional e avaliar o impacto desta atividade <strong>em</strong> vários aspectos da doença. Materiais <strong>em</strong>étodos: Neste estudo transversal, 35 pacientes com DPOC (12 homens, 67±8 anos, VEF146±16%predito) tiveram o nível de AFVD avaliado objetivamente por dois monitores portáteisde atividade física: DynaPort (McRoberts, Holanda) e Sensewear Armband (BodyMedia, EstadosUnidos). Também foram realizados espirometria, teste da caminhada de seis minutos (TC6),avaliação da composição corporal, força muscular e qualidade de vida, além de uma entrevistacomposta por questões sobre grau de escolaridade, status socioeconômico, co-morbidades,histórico de trabalho, entre outras. Baseado nos dados da entrevista, os pacientes foramdivididos <strong>em</strong> dois grupos: com e s<strong>em</strong> atividade profissional (n=14 e n=21, respectivamente).Análise estatística: A normalidade dos dados foi avaliada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. Como as variáveis mostraram distribuição normal, estas foram relatadas utilizandosea média±desvio padrão. A comparação entre os dois grupos foi feita por meio do teste tnão pareado e o nível de significância foi determinado como p≤0,05. Resultados: Não houvediferença no nível de AFVD entre os grupos (p>0,05 para todas as variáveis dos monitores).O grupo com atividade profissional apresentou maior TC6, força de bíceps braquial, trícepsbraquial e preensão palmar (p≤0,05 para todos), além de uma tendência a apresentar maiorforça de quadríceps (p=0,09). Conclusões: Pacientes brasileiros com DPOC que mantêmatividade profissional não são mais ativos na vida diária do que pacientes que não trabalham,apesar de apresentar<strong>em</strong> melhor condicionamento físico.349 Programa de reabilitação pulmonar:pré-operatório <strong>em</strong> pacientes compneumopatia crônica $Email: jusilveira22@hotmail.comJuliana Monteiro Silveira, Maria Tereza Aguiar Pessoa Morano, Juliana Freire Chagas,TasiaPeixoto de Andrade,Tânia Reis de PaivaIntrodução: Algumas patologias pulmonares têm como terapêutica procedimentoscirúrgicos como ressecções pulmonares. A abordag<strong>em</strong> do paciente cirúrgico no programa dereabilitação pulmonar envolve uma equipe multiprofissional. Objetivos: Avaliar o programade reabilitação pulmonar no pré-operatório <strong>em</strong> pacientes portadores de penumopatiacrônica na melhoria da funcionalidade nos valores de pico de fluxo expiratório, pressãoinspiratória máxima e pressão expiratória máxima, teste da caminhada de seis minutos,Questionário de Qualidade de Vida SF-36 antes e após concluír<strong>em</strong> o programa. Materiaise métodos: Foi realizada uma pesquisa quantitativa intervencionista no período dez<strong>em</strong>brode 2006 a maio de 2008, no Hospital do coração de Messejana <strong>em</strong> Fortaleza, CE. A pesquisafoi aprovada com o número 369/06 no Comitê de Ética do referido hospital. As variáveis doestudo foram os valores de pico de fluxo expiratório através do Peak Flow, as medidas dePressão inspiratória e expiratória máxima (Pimax e P<strong>em</strong>ax) por meio do manovacuômetro,distância percorrida do teste da caminhada de seis minutos (TC6´), capacidade física <strong>em</strong>ental total (questionário SF-36) na qual foram avaliados antes de iniciar e após concluír<strong>em</strong>o programa de reabilitação pulmonar. Os pacientes que entraram no programa com aindicação de cirurgia realizaram o programa durante três meses juntamente com o usodo Treshold na qual o treinamento era realizado três vezes na s<strong>em</strong>ana. Analise estatística:Os resultados foram analisadospor meio do Microsoft Excel com resultados <strong>em</strong> média,desvio padrão e teste t para p0,05). Resultados: Diminuição significativada CI e da FI após a simulação da AVD com e s<strong>em</strong> o BiPAP ® . Constatamos uma altamagnitude de correlação e significância entre a CI e a FI antes de iniciar a AVD (r=0,78;p=0,00) e após (r=0,85; p=0,00) como, também, na AVD associada à VNI na condiçãobasal (r=0,79; p=0,00) e após (r=0,81; p=0,00). A dispnéia aumentou após a AVD com es<strong>em</strong> a VNI. Conclusões: A elevação dos MMSS resulta <strong>em</strong> aumento da HD e da dispnéiasendo as variáveis CI e FI sensíveis na detecção da HD. A VNI ofertada com pressões préestabelecidasnão evitou a HD e a dispnéia durante a elevação dos MMSS.351 Análise de diferentes valores de normalidadepara o teste de caminhada de seis minutos $Email: leticia_moretti@hotmail.comLetícia Moretti Ortega, Fábio Pitta, Bruno Roberto Kajimoto Dellarosa, Camila HarumiNassu Higa, Doris Naoko Suzumura, Fernanda Kazmierski Morakami, Gianna KelrenWaldrich Bisca, Igor Lopes de Brito, Vanessa Suziane Probst, Antônio Fernando BrunettoIntrodução: O teste de caminhada de seis minutos (TC6) é uma forma prática, de baixocusto e b<strong>em</strong> tolerada para avaliar a capacidade física <strong>em</strong> indivíduos com limitaçãofuncional, e v<strong>em</strong> ganhando importância crescente nos últimos anos. As equaçõesmultifatoriais utilizadas para calcular a distância predita para cada indivíduo no testeainda são principalmente baseadas <strong>em</strong> populações européias, como no caso do estudode Troosters et al. (1999). Apesar de muito utilizado no Brasil, ainda não há equaçõesnacionais multifatoriais. Recent<strong>em</strong>ente, Pires et al. (2007) publicaram estudo sobre ainfluência da idade e da massa corpórea no cálculo dos valores de normalidade do TC6numa população brasileira. Esse estudo não traz uma equação única multifatorial, massugere valores de acordo com a influência isolada desses dois fatores no resultado do teste.Objetivos: Analisar <strong>em</strong> um grupo de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica(DPOC) a diferença entre os valores de normalidade do TC6 propostos por Troosters etal. e os valores publicados por Pires et al. que levam <strong>em</strong> consideração isoladamente ainfluência da idade e a massa corpórea sobre o teste. Materiais e métodos: Cinqüentae dois pacientes com DPOC (24 homens; 67±9 anos; VEFı 48±16%predito; IMC 27±5Kg/m-2); realizaram o TC6 de acordo com as diretrizes da American Thoracic Society. Foramcalculadas as distâncias preditas por meio da fórmula proposta por Troosters et al. (T) edos valores publicados por Pires et al. que levam <strong>em</strong> consideração a influência isoladada idade (PI) e da massa corpórea (PMC). Foi então calculada a % que os valores de TC6obtidos no grupo estudado representa com relação aos valores preditos de acordo comesses três métodos. Análise estatística: A comparação foi realizada por meio de ANOVAmedidas repetidas, e o pós-teste utilizado foi o de Tukey. A significância estatística foideterminada como p
Introdução: A fibrose cística é uma doença hereditária autossômica recessiva, comincidência no Brasil entre 1/2.000 a 1/10.000 nascidos vivos. Apesar da descoberta do geneda fibrose cística <strong>em</strong> 1989, nenhum tratamento curativo foi desenvolvido. Mesmo assim aexpectativa de vida t<strong>em</strong> aumentado para 30 anos no final da década de 90. Esse aumentoda expectativa de vida deve-se ao diagnóstico precoce, ao manejo multiprofissional <strong>em</strong>centros adequados, à adoção da terapêutica apropriada e aos avanços no controle dainfecção respiratória, sendo esta última responsável por grande parte das internações.Objetivos: Averiguar o número total de internações hospitalares de uma população defibrocísticos da região do Vale dos Sinos, assim como, investigar o motivo pelo qual osmesmos foram internados e t<strong>em</strong>po de internação. Materiais e métodos: A metodologiacaracteriza-se como estudo descritivo, de paradigma quantitativo, com amostra deconveniência. Todos os participantes ou responsáveis pelos mesmos assinaram o termode consentimento livre e esclarecido. O estudo foi realizado <strong>em</strong> uma clínica escola de<strong>fisioterapia</strong> durante os meses de abril e junho de 2007, envolvendo sete voluntários. Oinstrumento utilizado para a coleta de dados foi uma entrevista s<strong>em</strong>i-estruturada.A amostra foi caracterizada por uma maioria (quatro) de gênero masculino e idadeque variou entre dois e 18 anos, tendo uma idade média de dez anos. Resultados: Osresultados apresentaram uma média de duas internações por paciente, com variávelde zero a quatro internações. Os motivos das internações variaram entre diagnóstico eantibioticoterapia e o t<strong>em</strong>po de internação permaneceu <strong>em</strong> duas s<strong>em</strong>anas para a maioriados pacientes, sendo que apenas um paciente apresentou t<strong>em</strong>po de internação máximode oito s<strong>em</strong>anas. Conclusões: Vale salientar que o levantamento do número, motivose t<strong>em</strong>po de internação são aspectos relevantes para o direcionamento e adequação dotratamento fisioterapêutico.353 Inspirometria de incentivo e Threshold naendurance muscular após cirurgia cardíaca $Email: jusilveira22@hotmail.comMax Martin, Sitter Helmut, Jackeline Xenofonte de Sousa, Juliana Monteiro Silveira, JulianaFreire ChagasIntrodução: Apesar do desenvolvimento de modernas técnicas cirúrgicas que objetivama redução da morbidade e/ou mortalidade, freqüent<strong>em</strong>ente observa-se, após a cirúrgiacardíaca, uma redução dos parâmetros ventilatórios, b<strong>em</strong> como uma disfunção damecânica ventilatória. A redução do endurance (Tlim) muscular respiratório, no póscirúrgicocardíaco, pode ser minimizado através de tratamento fisioterápico pré e póscirúrgico.Objetivos: O presente estudo visou comparar os efeitos proporcionados pelotratamento fisioterápico realizado através da inspirometria de incentivo (IS) e o dotreinamento muscular (IMT), sobre o endurance (Tlim) muscular inspiratório <strong>em</strong> pacientepós-cirurgia cardíaca. Materiais e métodos: Tratou-se de um estudo experimental,controlado e randomizado, realizado num hospital universitário da Al<strong>em</strong>anha, no anode 2006. Para o levantamento dos parâmetros de endurance (Tlim), foram incluídos 43pacientes com indicação cirúrgica de revascularização do miocárdio e/ou reparaçãoou substituição da válvula aórtica. O grupo controle (IS) foi submetido ao tratamentofisioterápico com o aparelho de inspirometria de incentivo orientado a fluxo, realizando-oduas vezes ao dia, durante seis dias. Já o grupo teste (IMT) recebeu tratamento por meiodo treinador muscular inpiratório Threshold, duas vezes ao dia durante um períodode seis dias. Análise estatística: Teste t pareado para valores do mesmo grupo, testeWilcoxon e teste U Mann-Whitney, com auxílio do SPSS versão 12.00. Foram consideradasestatisticamente significativas as diferenças com p
108357 O perfi l do atendimento fi sioterapêutico no setorde transplante de medula óssea da Santa Casa deSão Paulo $Email: marianacsousa@yahoo.com.brMariana Sousa Carvalho, Camila. Máximo Dias, Juliana Seraphin Piera, Rogério Serafi m,Nilza Almeida CarvalhoIntrodução: O transplante de medula óssea (TMO) é um tratamento realizado <strong>em</strong>doenças oncológicas e não oncológicas. As incidências de complicações pulmonares,como infecções respiratórias e as microatelectasias, estão entre 40-60% dos pacientespós TMO. Essas complicações são decorrentes dos efeitos da imunossupressão prévia ouimediatamente após a infusão do enxerto. A fadiga muscular e o descondicionamentofísico são conseqüências comuns à quimioterapia e à radioterapia, <strong>em</strong> razão do longoperíodo de isolamento protetor necessário para o tratamento. Essas alterações muscularesacomet<strong>em</strong> 70% destes pacientes. O tratamento da fadiga muscular e o descondicionamentofísico são indicações da intervenção fisioterapêutica, sendo o objetivo a melhora daperformance física e redução da fadiga muscular <strong>em</strong> pacientes com câncer. Objetivos:Estudar os procedimentos fisioterapêuticos realizados no paciente transplantado eanalisar os procedimentos respiratório, músculo-esquelético e neurológico na formação doatendimento fisioterapêutico. Materiais e métodos: A pesquisa foi realizada no período d<strong>em</strong>arço a maio de 2008, por meio de pesquisa direta com nove fisioterapeutas entrevistadosque relataram informações sobre 13 pacientes (seis mulheres), com idade média de 45 anos(±17,34). O mieloma múltiplo foi a doença de maior predominância (38%), seguido pelasdoenças de Hodgkin (23,07%), leuc<strong>em</strong>ias (23,07%) e os çinfomas não Hodgkin (15,38%).Para a anotação dos dados foi elaborada uma ficha de coleta específica preenchida pelopesquisador durante entrevista com o fisioterapeuta do setor de transplante de medulaóssea. O conteúdo perguntado era sobre o quadro clínico e os procedimentos realizadosno paciente h<strong>em</strong>atológico para formar a sessão da <strong>fisioterapia</strong>. Resultados: A <strong>fisioterapia</strong>teve necessidade de realização de técnicas de r<strong>em</strong>oção de secreções <strong>em</strong> 13% dos casos,4% técnicas de reexpansão pulmonar e de 7% de aspiração nasotraqueal e exercícioscom pressão positiva contínua <strong>em</strong> vias aéreas. A tosse foi eficaz e improdutiva <strong>em</strong> 86%dos pacientes (±27,87). Com relação aos alongamentos, os mais realizados foram os deMMSS (51%), seguidos dos de MMII (45%) e os de tronco (37%). A <strong>fisioterapia</strong> músculoesqueléticateve predomínio de atividades aeróbicas por meio de caminhada <strong>em</strong> 100% doscasos; cicloergômetro <strong>em</strong> 61,5%; exercícios de MMSS <strong>em</strong> 62%; e exercícios de MMII <strong>em</strong> 59%<strong>em</strong> relação aos exercícios resistidos. Conclusões: Concluiu-se que o perfil do atendimentofisioterapêutico foi músculo-esquelético, com predomínio de atividades aeróbicas.358 Fibrose cística <strong>em</strong> exacerbação pulmonar aguda:efeitos da antibioticoterapia e da TEF $Email: cacaiss@yahoo.com.brCamila Isabel Silva Santos, Maria Ângela Gonçalves Ribeiro, Antônio Fernando Ribeiro,André Morcillo Moreno, José Dirceu RibeiroIntrodução: O efeito da antibioticoterapia intravenosa (AI) <strong>em</strong> pacientes com fibrosecística com infecção crônica <strong>em</strong> exacerbação pulmonar aguda por Pseudomonas aeruginosa(ICEPA) está b<strong>em</strong> estabelecido na literatura. No entanto, a repercussão de técnicas de<strong>fisioterapia</strong> respiratória intensivas (TFR) nessa condição ainda exige investigação. Objetivos:avaliar o efeito da AI e de TFR <strong>em</strong> parâmetros da função pulmonar, aspectos nutricionais eescores clínicos de pacientes com fibrose cística com ICEPA, antes e após a desinfecção,e o efeito isolado da técnica de expiração forçada (TEF) no momento da internação e naalta. Materiais e métodos: Tratou-se de um estudo clínico de corte transversal, realizado noAmbulatório de Fibrose Cística de um centro de referência. Os pacientes foram submetidosà avaliação nutricional, aos escores de gravidade (ES) e de exacerbação (CFCS e CFFS) nosperíodos pré e pós-internação hospitalar de 14 dias, onde receber<strong>em</strong> AI+TFR. No momentoda internação e na alta foram avaliados pela espirometria, saturação de oxigênio (SaO2),freqüências respiratória e cardíaca (FR e FC), antes e após a TEF. Análise estatística: Paraanálise dos dados, aplicou-se o teste de Wilcoxon e adotou-se um nível de significância de0,05. Resultados: Participaram 18 pacientes (dez f<strong>em</strong>ininos) entre sete e 28 anos (16,1+6,3); 14com gravidade média ou moderada pelo ES. Na internação, o CFCS e o CFFS foram 32,4+7,2e 6,4+1,7, respectivamente, e reduziram significativamente na alta, para 18,9+3,3 e 0,3+0,5(p
Introdução: A postura adotada interfere na distribuição dos gases e conseqüent<strong>em</strong>entenas trocas gasosas. Levando-se <strong>em</strong> consideração decúbitos adotados por um período det<strong>em</strong>po prolongado devido à hospitalização e/ou restrição ao leito, não dev<strong>em</strong>os ignorar asalterações dos volumes e capacidades pulmonares causados principalmente por restriçõesmecânicas na complacência da caixa torácica <strong>em</strong> virtude do posicionamento do paciente.Acentua-se, portanto, a importância de um correto posicionamento <strong>em</strong> conjunto comas técnicas fisioterapêuticas para minimizar a ação das restrições mecânicas junto àexpansibilidade torácica. Objetivos: A proposta deste trabalho visou identificar alteraçõesdo volume minuto <strong>em</strong> diferentes posições corporais. Materiais e métodos: A amostra foiconstituída por 50 indivíduos do sexo f<strong>em</strong>inino com idade entre 20 e 30 anos; idade média24,3 anos; peso entre 55 e 68 quilos, peso médio de 58,4 quilos; s<strong>em</strong> história de doençapulmonar prévia ou restrição ao leito. Foi utilizado para a mensuração do volume minutoum ventilômetro portátil e uma maca. Inicialmente os participantes foram orientadosquanto aos posicionamentos e quanto à utilização correta do ventilômetro. Todos osdados foram coletados na presença mínima de dois pesquisadores que além de monitoraro volume minuto fizeram a contag<strong>em</strong> da freqüência respiratória. Análise estatística: Osresultados foram submetidos ao tratamento estatístico por meio do teste de variância(software GraphPad instant). Resultados: Para a posição ortostática foi obtido umvolume minuto (Vm) de 13,1±4 litros e fr=16rpm (p>0,05); sedestação Vm=11,5±4 litrose fr=15rpm (p>0,05); decúbito dorsal Vm=9,5±5 e fr=14rpm (p< 0,05); decúbito ventralVm=12,0±5 e fr=6 (p>0,05); decúbito lateral direito Vm=13,8±4 e fr=15 (p>0,05); decúbitolateral esquerdo Vm=13,0±3 e fr=14 (p>0,05). Conclusões: Em relação ao volume minutoo decúbito dorsal mostrou-se estatisticamente significante quando comparado com osd<strong>em</strong>ais posicionamentos. Quanto à freqüência respiratória não houve significância entreas posições adotadas. Pud<strong>em</strong>os observar por meio destes dados que o decúbito dorsal éo que mais oferece restrições à expansibilidade da caixa torácica e conseqüent<strong>em</strong>entelevando a uma diminuição do volume minuto. Vale salientar que <strong>em</strong>bora seja o decúbitoque mais ofereça restrições a uma boa expansibilidade é a postura mais comumenteadotada pelo paciente no leito.362 Avaliação do TC6M <strong>em</strong> obesos considerando adistribuição de gordura corporal $Email: laizecastro@ig.com.brLaize Pessoa Leite de Brito Castro, Sheyla Thatiane Santos do Lago, Marize JácomeGonçalves, Guilherme Augusto Freire Fregonezzi, Selma Sousa BrunoIntrodução: A obesidade é mundialmente considerada um importante probl<strong>em</strong>a desaúde publica, levando a baixa capacidade cardiovascular, sendo este um forte preditorde mortalidade. Estudos apontam que, do ponto de vista cardiovascular, a caminhada por“prazer” é uma atividade condicionante para essa população, porém, é prejudicada peloexcesso de peso a ser carregado e pela presença de fatores como osteoartitres, artralgias eveias varicosas. Entretanto, pouco se sabe sobre a influência das variáveis antropométricasna capacidade de caminhar desses sujeitos. Objetivos: Avaliar a capacidade cardiovasculardos obesos por meio de esforço submáximo, <strong>em</strong> pré-operatório da cirurgia bariátrica,considerando as variáveis antropométricas. Materiais e métodos: Dezenove obesos, deambos os sexos, adultos, s<strong>em</strong> doença cardiorrespiratória, participaram do projeto no períodode janeiro a maio de 2008. Foi feita avaliação antropométrica, aplicado questionário paranível de atividade habitual (Baecke) e realizado teste de caminhada de seis minutos (TC6M),seguindo padronização da ATS, com utilização de frequencímetro Polar F6 ® e tensiômetroONROM ® . As medidas foram tomadas minuto a minuto (FC) e antes e depois (PAS) teste.Análise estatística: Utilizando SPSS 15.0, estabelecendo-se um nível de significância de 5%,realizou-se: 1)teste de normalidade (K-S) das variáveis; 2) ANOVA de medidas repetidasentre os t<strong>em</strong>pos T0, T1-T6 e TR (t<strong>em</strong>po de recuperação) para avaliar as diferenças de FC,velocidade e distância caminhada a cada minuto e a PA antes e após o TC6M, considerandoIMC e WHR. Resultados: Tiv<strong>em</strong>os amostra de seis homens e 13 mulheres, apresentandomédia de idade 34,58+12,15 anos, sendo a maioria de obesos grau IV (84,1%); nove comadiposidade abdominal e dez, periférica. Obesos grau IV caminharam menos (409+35m)que grau III (452+58m) com diferença estatística (p=0,001) Com o decorrer dos seis minutos,a velocidade de caminhada iniciou elevada no 1º minuto (1,20m/s), onde estabilizou-seporém reduziu do 3º minuto (1,14m/s) até o 6º minuto (1,11m/s), com diferença estatística(p=0,000). A distribuição de gordura abdominal interfere na FC (p=0,001) sendo esta maiselevada (134+23bpm) que com gordura periférica (123+19bpm), fato que não acontececom o IMC (p=0,89). Apenas a PAS apresentou diferença significativa entre o início e o fimdo teste. Notou-se correlação positiva entre WHR e FC (r=0,464, p=0,046) e Borg (r=0,480,p=0,037); negativa para IMC e velocidade (r=0,569, p=0,011) e entre idade e FC (r=0,476,p=0,040). Conclusões: Em obesos deve ser considerada, principalmente, a distribuiçãode adiposidade durante realização do TC6M, uma vez que para esses pacientes, a FC t<strong>em</strong>maiores elevações que os com gordura inferior.363 Comportamento da FCmáx durante o TC6M <strong>em</strong>obesos grau III e IV $Email: laizecastro@ig.com.brLaize Pessoa Leite de Brito Castro, Sheyla Thatiane Santos do Lago, Marize JácomeGonçalves, Guilherme Augusto Freire Fregonezzi, Selma Sousa BrunoIntrodução: Estudos afirmam que a população obesa possui baixo condicionamentofísico, agravando o prognóstico das doenças cardiovasculares. A adiposidade abdominalaumenta o risco de co-morbidades, dentre elas a hipertensão arterial, e prejudica aexecução de exercícios. As respostas cardiovasculares ao esforço são proporcionaisà freqüência cardíaca (FC), a qual aumenta progressivamente com o esforço. O testede caminhada de seis minutos (TC6M) é considerado submáximo para normopesos,entretanto pouco se sabe sobre o comportamento do percentual da freqüência cardíacamáxima (%FCmáx) <strong>em</strong> obesos. Espera-se que o deslocamento de grande peso corporalcause maiores aumentos na FC transformando o TC6M <strong>em</strong> teste máximo. OBJETIVO:Avaliar o comportamento do %FCmáx e pressão arterial sistêmica (PAS) <strong>em</strong> obesosdurante o TC6M. Materiais e métodos: Dezenove obesos, grau III e IV, de ambos os sexos,adultos, s<strong>em</strong> doença cardiorespiratória, participaram do estudo entre janeiro e maio de2008. Foi feita avaliação antropométrica; aplicado questionário para nível de atividadehabitual (Beacke); realizado TC6M, seguindo normas da ATS, verificando FC (PolarF6 ® ) e PAS (ONROM ® ). A FCmáx foi obtida pela equação 208-0,7(idade). As medidasforam tomadas minuto a minuto (FC) e antes e depois (PAS) teste. Análise estatística:Utilizando-se o SPSS 15.0, estabelecendo-se um nível de significância de 5%, realizouse:1) teste de normalidade (K-S) das variáveis; 2) ANOVA de medidas repetidas entreos t<strong>em</strong>pos T0, T1 ao T6 e TR (t<strong>em</strong>po de recuperação), sendo também considerados osfatores IMC e WHR. Resultados: Durante o TC6M, a FC aumentou rapidamente até o 3ºminuto (132,15+16,3bpm), mantendo-se estável até o 5º minuto (135,26+17bpm), pontomáximo, apresentando diferença estatística (p=0,000) entre os minutos. No entanto,todos os obesos ao 1º minuto atingiram a faixa de condicionamento cardiovascular(acima de 60% da FCmáx). Obesos grau III caminharam entre 68,3-81,4% da FCmáx e osgrau IV entre 56,3–88,5%, os quais adotaram uma velocidade menor (1,135m/s) que osobesos grau III (1,256m/s), não havendo diferença significativa. Quanto à distribuição degordura, pacientes com adiposidade abdominal realizaram o teste num %FCmáx (60,6-88,4%) maior que na gordura periférica (56,1+83,9), apresentando diferença estatística(p=0,000) entre esses grupos. Estes caminharam mais lentamente (1,125m/s) que ossujeitos com adiposidade periférica (1,165m/s), não apresentando diferença significativadas velocidades de caminhada entre o WRH. Conclusões: Obesos com adiposidadeabdominal realizam o TC6M s<strong>em</strong>pre acima de 80% da FCmáx, devendo esta distribuiçãode gordura ser considerada na prescrição de exercícios.364 Estudo sobre a função respiratóriae t<strong>em</strong>po de internação hospitalar nastoracotomias eletivas $Email: erick_borges@hotmail.comErickson Borges Santos, Isabel Cristina Hilgert Genz, Cristiane Gonçalves, Daniela Hayashi,Aline Longo, Fernanda Stringuetta, Thabatta S<strong>em</strong>enzin, Laryssa Milenkovich Bellinetti, JoãoCarlos ThomsonIntrodução: No pós-operatório das toracotomias é esperada uma redução na funçãopulmonar e na força muscular respiratória (FMR) que concorre para piora no quadrofuncional do paciente e provável aumento no t<strong>em</strong>po de internação hospitalar. Objetivos:Avaliar a evolução da função pulmonar e da força muscular respiratória e verificar se existecorrelação entre os valores pré-operatórios da FMR e o t<strong>em</strong>po de internação hospitalar, nopós-operatório de pacientes submetidos às toracotomias eletivas. Materiais e métodos:Estudo descritivo prospectivo, no qual 17 pacientes submetidos a toracotomias foramacompanhados. A função pulmonar foi mensurada pela espirometria (CVF e VEF1) e aFMR foi avaliada pelas pressões respiratórias máximas (PImax e PEmax). As variáveisCVF, VEF1, PImax e PEmax foram mensuradas no pré-operatório e 2º, 10°, 15°, 30° e 60° diado pós-operatório (PO) e o t<strong>em</strong>po de internação analisado foi o período pós-operatório.Análise estatística: Foram feitas análises de normalidade dos dados, análise descritiva,análise de variância, comparações múltiplas, e teste de correlação, utilizando-se teste deShapiro-Wilk, média, desvio-padrão, mediana, intervalo, ANOVA, Friedman com os póstestesde Tukey e Dunns e teste de correlação de Spearman, com valor fixado de p0,05. Foi encontrada correlação moderada entreos valores de PImax e PEmax obtidos no pré-operatório e o t<strong>em</strong>po de internação pósoperatório(r=-0,31 e r=-0,35, respectivamente). Conclusões: Função pulmonar e FMRdiminuíram significativamente no PO, retornando até o 30º e o 15ºPO, respectivamente.Houve correlação inversa moderada entre a FMR pré-operatória e o t<strong>em</strong>po de internaçãopós-operatório nas toracotomias eletivas.365 Estudo sobre dor e qualidade de vida nopós-operatório das toracotomias eletivas $Email: erick_borges@hotmail.comErickson Borges Santos, Isabel Cristina Hilgert Genz, Cristiane Golias Gonçalves, DanielaHayashi, Aline Longo; Fernanda Stringuetta, Thabatta S<strong>em</strong>enzin, Laryssa MilenkovichBellinetti, João Carlos ThomsonIntrodução: Nas toracotomias há um impacto negativo decorrente do procedimentocirúrgico na percepção da qualidade de vida (QV), que pode ser influenciado por diversosfatores físicos e <strong>em</strong>ocionais. A dor pós-operatória constitui-se um fator limitante associadoa um declínio no estado funcional, que pode estar associado à piora da qualidade de vida.Objetivos: Verificar se existe correlação entre a dor e qualidade de vida no pós-operatóriodas toracotomias eletivas. Materiais e métodos: Estudo descritivo prospectivo <strong>em</strong> que ospacientes foram divididos, de acordo com a técnica analgésica <strong>em</strong>pregada, <strong>em</strong> dois grupos.O primeiro, constituído por 12 pacientes sendo nove homens, com média de idade deRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.109
11043±20anos, recebeu analgesia via cateter epidural (CC), considerado o método analgésicomais efetivo. O segundo, constituído por seis pacientes, sendo dois homens, com média deidade de 39±16 anos, recebeu analgesia pelas vias tradicionais (SC). A dor foi mensurada2º PO mediante aplicação da Escala Visual Análoga de Dor (EVA) e a Qualidade de Vidafoi avaliada mediante aplicação do questionário SF-36 no pré-operatório, 30º e 60º pósoperatório(PO). Análise estatística: Foram feitas análises de normalidade dos dados, análisedescritiva e teste de correlação; utilizando-se média, desvio-padrão, mediana, intervalo,testes de Shapiro-Wilk e teste de correlação de Spearman com valor fixado de p
EQM=0,054 para o conjunto de variáveis 1 e 0,029 para o conjunto 2. Para o modelo 3, amelhor taxa de acerto foi de 92,73% e EQM=0,1713 para o conjunto de variáveis 1 e 90,91%com EQM=0,1762 para o conjunto de variáveis 2. Assim, o modelo 2 de RNA obteve amelhor taxa de acerto b<strong>em</strong> como o menor EQM, sendo o modelo mais apropriado paraesta tarefa. Conclusões: Os resultados confirmam a habilidade da RNA para diagnosticara doença. O uso de diferentes conjuntos de variáveis não teve influência significativa nodes<strong>em</strong>penho das RNA. Esta pesquisa motiva a realização de novos experimentos paraoutros tipos de classificação e predição de exacerbação de doenças crônicas.370 Lactacid<strong>em</strong>ia, reserva metabólica e ventilatórianas atividades de vida diária <strong>em</strong> indivíduos comDPOC $Email: renata.fi sio@gmail.comRenata Pedrolongo Basso, Eloisa M. G. Regueiro, Renata P. Basso, Bruna V. Pessoa, MauricioJamami, Dirceu Costa, Valéria A. Pires Di LorenzoIntrodução: Nos indivíduos DPOC as alterações fisiopatológicas tend<strong>em</strong> a agravar-se coma progressão da mesma levando a diminuição da capacidade funcional; comprometendo odes<strong>em</strong>penho na realização das atividades da vida diária (AVDs) relacionada a fatores como aredução da força muscular periférica dos m<strong>em</strong>bros superiores (MMSS) e m<strong>em</strong>bros inferiores(MMII) desencadeando comprometimento metabólico e ventilatório. Objetivo: investigar ocomportamento da lactacid<strong>em</strong>ia e das reservas metabólica (RO2), de freqüência cardíaca(RFC) e ventilatória (RE) durante AVDs <strong>em</strong> indivíduos com DPOC e s<strong>em</strong> comprometimentorespiratório. Materiais e métodos: Foram avaliados inicialmente 21 homens de 58 a 80anos; 12 portadores de DPOC com obstrução moderada a muito grave compondo o grupoDPOC (GDPOC) e nove s<strong>em</strong> comprometimento respiratório compondo o grupo controle.A coleta de lactato foi realizada na região do lóbulo da orelha no repouso e 30 segundosantes do término de cada AVD. As RO2, RFC e RE foram calculadas a partir dos valoresabsolutos captados por um sist<strong>em</strong>a metabólico no repouso e durante a simulação das AVDstomar banho, elevar potes acima dos ombros nas quais o indivíduo foi orientado apenasa completá-las s<strong>em</strong> t<strong>em</strong>po pré-determinado; e sentar-se e levantar-se da cadeira por doisminutos. Análise estatística: Normalidade: Shapiro Wilk’s. Intergrupos: ANOVA one-waye intragrupo: ANOVA medidas repetidas; p
112Email: natashatmedeiros@yahoo.com.brNatasha Teixeira Medeiros, Rebeca Parente Souza Sabóia, Juliana Maria de Sousa PintoIntrodução: O programa de reabilitação pulmonar (PRP) é indicado a pacientesportadores de doenças pulmonares crônicas e a seus familiares, proporcionando-lhesum tratamento individualizado, visando otimizar a performance física e promovendo-lhea autonomia funcional e social. A doença pulmonar obstrutiva clássica (DPOC) é umadas principais causas de mortalidade e morbidade mundial e acarreta um considerávelimpacto econômico e social, mortes pr<strong>em</strong>aturas, aposentadorias precoces e alto custocom o tratamento e com internações freqüentes. Objetivos: O objetivo desta pesquisafoi analisar a incidência de procura hospitalar e de reinternações por pacientes queparticiparam do PRP do Hospital Carlos Alberto Studart Gomes. Análise estatística:A pesquisa foi de natureza quantitativa e retrospectiva e realizada por meio da análisedo cadastro PRP e de consulta telefônica, obedecendo à Resolução 196/96 do ConselhoNacional de Saúde e sendo submetido à aprovação do Comitê de Ética <strong>em</strong> Pesquisa dohospital. Após a coleta dos dados, os resultados foram analisados no programa Excelversão 2002 e expressos sob a forma de tabelas. Resultados: O presente estudo comprovouque este programa interdisciplinar, de caráter terapêutico e educacional, proporcionou aredução no número de procura hospitalar e de internações, assim como diminuiu o t<strong>em</strong>podessas internações. Dos 20 entrevistados, 19 (95%) procuraram o serviço hospitalar. Dentreeles, 14 (73,68%) necessitaram de internações, antes de ingressar<strong>em</strong> no programa. Já de 13pacientes (65%) que buscaram esses serviços, após alta, apenas 5 (38,46%) precisaramnovamente internar-se. Conclusões: Portanto o PRP traz, comprovadamente, benefíciospara os pneumopatas crônicos, inclusive no tocante às hospitalizações.375 Impl<strong>em</strong>entação de um modelo de educaçãocontinuada para fi sioterapeutas $Email: ciribas@terra.com.brThatiane Colombo, Karina Dias Guedes Machado, Conceição Alice Volkart Boueri, DanielaZamboni, Ana Lucia das Graças, Alexandre LuqueIntrodução: A educação continuada (EC) dos profissionais atuantes é parte indispensáveldo aprimoramento da qualidade prestada aos pacientes, o planejamento adequado podeimplicar <strong>em</strong> melhores resultados aos pacientes. Objetivos: Desenvolvimento de ummodelo de educação continuada para fisioterapeutas <strong>em</strong> dois hospitais privados. Materiaise métodos: Perfil descritivo prospectivo dos pacientes atendidos e aplicação do modelodesenvolvido de EC. Análise estatística: Teste t não pareado, nível de significância de95%. Resultados: Entre agosto de 2006 e abril de 2007, 2087 pacientes consecutivos foramatendidos pelo serviço de <strong>fisioterapia</strong>, sendo 918 pacientes no hospital A (433 do gêneromasculino e 485 do f<strong>em</strong>inino) e 1169 pacientes no hospital B (514 do gênero masculino e655 do f<strong>em</strong>inino), <strong>em</strong> ambos os hospitais as mulheres apresentaram idade superior a doshomens, 61,81±19,61 e 57,73±18,27 respectivamente para o hospital A (p
p=0,003, respectivamente). Conclusões: O gasto calórico na vida diária <strong>em</strong> pacientes comDPOC guarda estreita relação com a massa magra corpórea. Isso indica que, ao se realizarprogramas de treinamento que objetiv<strong>em</strong> o aumento do nível de atividade física na vidadiária e envolvam aumento do gasto calórico, é imperativo que se acompanhe também osefeitos desse treinamento sobre a massa magra corpórea.379 Titulação de CPAP na SAHOS: correlação entreequação preditiva e auto-cpap:dados preliminares $Email: cladegas@yahoo.com.brCláudia Adegas Roese, Ricardo Beidacki, Moisés Hoffmann, Eduardo Walker Zettler, FábioMaraschin HaggstranIntrodução: O tratamento da apnéia obstrutiva do sono (SAHOS) com CPAP objetivamanter a via aérea pérvia, eliminando assim, os eventos obstrutivos durante o sono.Entretanto a definição da pressão terapêutica pode ser feita desde a aplicação de equaçõespreditivas (EP) até titulação de pressão <strong>em</strong> laboratório. Por ser um método prático ede baixo custo, a titulação com aparelhos de CPAP automáticos têm sido largamente<strong>em</strong>pregados e amplamente validados. Objetivos: Correlacionar a titulação de pressãoterapêutica utilizando uma fórmula preditiva (0,193 x IMC+0,077 x circunferência dopescoço + 0,02 x AHI) com a titulação de pressão realizada por meio do uso de CPAPautomático. Materiais e métodos: Os pacientes com diagnóstico polissonográfico comindicação de CPAP foram avaliados na <strong>em</strong>presa Globalmed e submetidos à titulação comCPAP automático. Dados d<strong>em</strong>ográficos e antropométricos foram coletados e os dados doauto-CPAP foram analisados no software Auto Scan 5.7 específico do equipamento (Auto-Set Spirit, Resmed, Austrália). Análise estatística: Os dados foram colocados <strong>em</strong> planilhano programa Excel e os resultados foram analisados através de estatística descritiva commédia e desvio padrão. Foi utilizado o teste de correlação de Pearson para as variáveisde titulação de pressão e a significância estatística foi considerada se o p fosse menorque 0,05. Resultados: Vinte indivíduos foram avaliados totalizando treze homens e set<strong>em</strong>ulheres. A idade média foi de 57,2±11 anos. O índice de apnéia e hipopnéia por horaficou <strong>em</strong> 41±18 caracterizando SAHOS grave. A EP contendo dados antropométricose de circunferência do pescoço teve uma pressão média predita de 10±1cmH2O. Já apressão predita utilizando o auto-CPAP definido como percentil 95% ficou <strong>em</strong> média de11±1cmH2O. A correlação entre as duas variáveis foi moderada com um r de 0,47 (p=0,03).Conclusões: Nossos resultados preliminares mostram uma correlação estatisticamentesignificativa entre a EP e a avaliação com auto-CPAP, porém o aumento da amostra se faznecessário para novas conclusões sobre o uso da EP na titulação de pressão terapêutica,nos pacientes com SAHOS.380 Adaptação do manuvacuômetro digital MVD300 ®para a manobra de pressão inspiratória nasal $Email: ingridgazevedo@hotmail.comVanessa Resqueti, Ingrid Guerra Azevedo, Rudolfo Hummel Gurgel, Selma Bruno,Guilherme FregoneziIntrodução: A pressão inspiratória nasal de fungada ou Sniff teste foi desenvolvida comoum novo teste de força muscular inspiratória, que é de fácil realização e não invasiva.Objetivos: Testar a viabilidade da adaptação do manuvacuômetro digital (MVD300 ® ) pararealização da manobra de pressão inspiratória nasal (Sniff teste) <strong>em</strong> indivíduos saudáveis.Materiais e métodos: Foram avaliados 20 indivíduos saudáveis, sendo que somente 18participaram do estudo. Os valores antropométricos da amostra foram: idade 21,4±2,8anos, IMC 23,4±2,5Kg/m2, CVF 102,17±10,3 %predito, VEF1 98,4±10%predito. Nenhumdos indivíduos apresentou alterações de desvio de septo nasal e/ou patologia respiratóriaassociada. Realizamos três medidas de SNIP <strong>em</strong> dois equipamentos diferentes: MicroRPM ® Micromedical (modos: SNIP-RPM ® e SNIP MIP-RPM ® ) e MVD300 ® Globalmed.Todos os indivíduos realizaram a manobra no mesmo horário do dia, <strong>em</strong> três diasdiferentes, sendo a ord<strong>em</strong> determinada por meio de aleatorização. Análise estatística: Foiutilizado o teste de ANOVA de um fator para análise das três medidas de pressões nasaisinspiratórias. O coeficiente de correlação inter-classe foi usado apenas para estabeleceras relações entre SNIP-RPM ® e SNIP-MVD300 ® . Resultados: As médias encontradasdurante as três medidas das pressões nasais foram de 124,72±42,46cmH20 para oSNIP-RPM ® , 127,88±35,18cmH20 para o SNIP MIP-RPM ® e de 131,72±28,72cmH20 paraSNIP-MVD300 ® . Os valores não apresentaram diferenças significativas (p>0,05). O ICCencontrado foi de 0,97, indicando que as medidas são intercambiáveis. Conclusões: Osresultados encontrados suger<strong>em</strong> que o manuvacuômetro digital MVD300 ® Globalmed éviável para realização da manobra de pressão inspiratória nasal (Sniff teste) <strong>em</strong> indivíduossaudáveis.381 Força muscular respiratória e qualidade de vidana distrofi a de Steinert $Email: thaiselucena_fi sio@yahoo.com.brThaise Lucena Araújo, Ingrid Guerra Azevedo, Vanessa Resqueti, Selma Bruno, GuilhermeFregoneziIntrodução: A distrofia de Steinert é uma doença neuromuscular multissistêmica quepode afetar a musculatura respiratória e possivelmente ocasionar prejuízos na qualidadede vida. Embora a presença de fraqueza muscular respiratória tenha sido estabelecida,estudos sobre a qualidade de vida são escassos, e sua relação com a força dos músculosrespiratórios ainda não foi determinada. Objetivos: Avaliar a qualidade de vida einvestigar a relação com a força muscular respiratória <strong>em</strong> pacientes com distrofia deSteinert. Materiais e métodos: Avaliamos 19 pacientes, sendo incluídos 17 (nove homense oito mulheres) com média de idade 39±17,3 anos, IMC 23±6Kg/m2, VEF1 75±21%pred erelação VEF1/CVF 84±10,4%. Em todos os pacientes avaliamos as pressões respiratóriasmáximas, pressão inspiratória nasal (SNIP), espirometria e qualidade de vida relacionadaà saúde (SF-36). Definimos força muscular global (RMS%) como média da PImax%pred ePEmax%pred .Análise estatística: Utilizamos o teste t para amostras independentes paracomparar os resultados do SF-36 dos pacientes com valores de referência de indivíduossaudáveis. A análise das relações entre as medidas de força muscular respiratória e osdomínios do SF-36 foi realizada através do coeficiente de Correlação de Pearson eregressão linear simples. Atribuímos o nível de significância p
11439±17,3 anos, IMC 23±6Kg/m2, VEF1 75±21%predito e relação VEF1/CVF 84±10,4%.Foram avaliadas as pressões respiratórias máximas, pressão inspiratória nasal Sniff teste,e padrão respiratório e espirometria segundo procedimentos pré-estabelecidos. Análiseestatística: A análise das relações entre as medidas de força muscular respiratória, padrãorespiratório e a idade foi realizada através do coeficiente de correlação de Spearman.Para todos os testes, foi atribuído o nível de significância p
equação de Enright & Sherril. Observou-se que o padrão respiratório costo-diafragmáticofoi o tipo predominante na maioria dos individuos e prejuízo na qualidade de vida <strong>em</strong>comparação com indivíduos normais. Conclusões: Os resultados permit<strong>em</strong> pontuar queindivíduos com FM apresentam fraqueza dos músculos respiratórios e deteriorização naqualidade de vida.388 Diminuição da sobrecarga cardiovascular <strong>em</strong>pacientes portadores de doença pulmonarobstrutiva crônica submetidos a um programa deexercícios $Email: luisfelipe@unisuam.edu.brAna Paula Ferraz, Monique Teixeira Coelho, Raquel de Oliveira Vieira, Silvia Jayme, TúlioGalvão Ventura, Luis Felipe da Fonseca ReisIntrodução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por limitaçãocrônica ao fluxo aéreo, não reversível com o uso de broncodilatadores, associada àlimitação progressiva ao exercício, resultando <strong>em</strong> piora significativa da qualidade devida. A sobrecarga cardiovascular oriunda do aumento dos espaços aéreos distais e depotenciais fatores para co-morbidades parece contruibuir para o aumento da limitação datolerância ao exercício, com conseqüente piora da qualidade de vida. Objetivos: Analisaros efeitos de um programa supervisionado de exercícios sobre o sist<strong>em</strong>a cardiovasculare sua possível relação com o perfil lipídico e glicêmico, <strong>em</strong> pacientes pneumopatascrônicos. Materiais e métodos: Foram analisados 26 pacientes, de ambos os sexos, comdiagnóstico clínico-funcional de DPOC de moderado a grave (VEF1
116Email: jacrfvianna@uol.com.brCamila Alves Lara, Patrícia Carla de Paula Miranda, Aline Santana Rodrigues Oliveira, JoyceAlves Nicula Cintra, Paola Ribeiro de Paula Liberatori, Karen Valdrighi, Jacqueline Rodriguesde Freitas ViannaIntrodução: A manobra de tapotag<strong>em</strong> é definida como uma técnica aplicada com asmãos <strong>em</strong> forma côncava nos lados ventral, lateral e dorsal do tórax, a uma freqüênciaaproximada de 3-6Hz, promovendo ondas de energia cinética transmitidas por meio dasvias respiratórias, deslocando secreções da arvore brônquica e mobilizando-as das regiõesperiféricas para as centrais. Objetivos: Mensurar o pico de fluxo expiratório máximo(PFEM) e verificar as alterações da FC, FR, PA antes e após a manobra de tapotag<strong>em</strong><strong>em</strong> indivíduos sadios. Materiais e métodos: Estudo prospectivo do tipo transversal, comamostra de 121 indivíduos escolhidos aleatoriamente, sendo 94 mulheres e 27 homens,com média de idade de 23,14±6,45 anos, escolhidos aleatoriamente e encaminhados àClínica-Escola do Centro Universitário Claretiano de Batatais, SP. Os sujeitos foramsubmetidos a percussão torácica por meio da tapotag<strong>em</strong> por um período de 20 minutos,sendo o tórax protegido por um tecido de algodão, na posição Fowler inclinado para frente.Os materiais utilizados foram o Peak-Flow Meter Assess®, Esfignomanômetro Missouri®e estetoscópio BD®. As medidas do PFEM foram feitas com os voluntários sentados,segurando o aparelho <strong>em</strong> posição horizontalizada, por meio de uma expiração forçada erápida s<strong>em</strong> tossir, realizando-se cinco medidas, sendo considerado o maior valor medido.A FC foi mensurada contando-se o pulso radial durante o t<strong>em</strong>po de um minuto; a FR foiregistrada inspecionando os movimentos do tórax durante um minuto; e a PA medidapelo esfignomanômetro, determinando-se os valores da pressão sistólica e diastólica. Osdados obtidos antes e após a manobra de tapotag<strong>em</strong> foram comparados estatisticamentepelo programa Minitabe por meio do teste t de Student com nível de significância de 5%.Os indivíduos foram informados quanto ao objetivo e conduta desta pesquisa, permitindoa sua realização através da assinatura de um termo de compromisso livre e esclarecido.Resultados: Verificamos não ter<strong>em</strong> ocorrido diferenças estatisticamente significativas dasvariáveis estudadas antes e após manobra de percussão torácica por meio da tapotag<strong>em</strong>. OPFE e a FC tenderam a um aumento enquanto a FR e a PA a uma diminuição. Conclusões:A partir da metodologia aplicada, verificou-se na amostra estudada, que a tapotag<strong>em</strong>não alterou a resistência das vias aéreas proximais. Há aparente necessidade de futurosestudos relacionando a tapotag<strong>em</strong> <strong>em</strong> indivíduos sadios e com doenças obstrutivas, commaior detalhamento da amostra, avaliando o processo broncobstrutivo nas vias aéreasproximais e distais.393 Atividade eletromiográfi ca e mobilizaçãode volumes pulmonares durante testesrespiratórios $Email: thnss@bol.com.brThayse Neves Santos da Silva, Milton Marcelino, Valdecir Castor Galindo Filho, PatríciaÉrika Marinho, Filipe Souza, Jarbas Filho, Glívia Barros Delmondes, Diogo Andrade, ArmèleDornelas de AndradeIntrodução: Os padrões ventilatórios adotados durante testes de resistência musculartêm sido alvos de vários estudos. No entanto, até o momento, os trabalhos comparando acontratilidade muscular e sua eficiência mecânica no sist<strong>em</strong>a respiratório de pacientes comdoença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são escassos. Objetivos: Avaliar a influênciada obstrução e hiperinsuflação pulmonares na atividade dos músculos respiratórios <strong>em</strong>obilização de volumes pulmonares durante testes respiratórios. Materiais e métodos:Foram avaliados 22 indivíduos de ambos os sexos sendo 14 pacientes portadores de DPOC(VEF1=54,1±15,9 % predito) e oito voluntários (controle, VEF1= 98,5±17,6 % predito) ede idades 63,2±11,3 (DPOC) e 56,5±7,9 (controle). Os voluntários foram submetidos aoteste de força (pressão inspiratória máxima - PImax) e de resistência (teste com cargaincr<strong>em</strong>ental), sendo mensurada a atividade eletromiográfica (EMG) do músculo escaleno,esternocleidomastoideo e diafragma, sendo também avaliada a estratégia ventilatóriadurante o teste incr<strong>em</strong>ental. Os dados foram obtidos após a aprovação do Comitê deÉtica <strong>em</strong> Pesquisa da UFPE, estando de acordo com a resolução 196/96 do ConselhoNacional de Saúde. Análise estatística: Os resultados foram expressos <strong>em</strong> MD±DP. O testede Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a normalidade das variáveis. Os dadosforam analisados utilizando-se: teste t Student ou Mann-Whitney, ANOVA seguido peloteste de Tukey. Correlação de Spearman foi utilizada para identificar associações entrevariáveis espirométricas, atividade eletromiográfica e volumes expirados durante testecom carga incr<strong>em</strong>ental. Resultados: a PImax foi menor no grupo DPOC comparado aocontrole (62,1±24,2 versus 93,7±25,5; p=0,015), s<strong>em</strong> diferenças na EMG durante a manobra. APImax(cmH2O) correlacionou-se com a CI(%predito) (r=0,482; p=0,023) e com o VEF1/FCV(%predito) (r=0,428; p=0,047). Em relação ao teste incr<strong>em</strong>ental a EMG no grupo controlenão diferiu com a progressão das cargas. A EMG do escaleno aumentou com a carga de 30%(RMS%=11,32±0,63; p=0,001), 45% (RMS%=11,47±0,53; p=0,001) e 60% (RMS%=13,3±0,6;p
miocutâneo, através de espirometria e de manovacuometria, no período de março a maiode 2007, no Ambulatório de Fisioterapia do Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON).Análise estatística: Foi realizada a estatística descritiva com associação de variáveis,com análise de médias e desvio padrão. Resultados: O grupo estudado apresentouas seguintes características: mulheres com idade média de 49,7 anos (±3,2), casadas,com t<strong>em</strong>po médio de pós-operatório de 3,1 anos (±1,7) de reconstrução imediata damama com retalho miocutâneo do músculo reto abdominal <strong>em</strong> sua maioria (60%). Namanovacuometria, separadas as mulheres <strong>em</strong> dois grupos, o primeiro, reconstruídascom músculo reto abdominal e outro reconstrução com grande dorsal observou-se que oprimeiro obteve média de -95cmH2O (±5,2) para a PImax e de 107,33cmH2O (±7,45) paraa PEmax alcançando 108,23% e 122,75% dos valores preditos respectivamente, enquantoo segundo grupo obteve média de PImax de -105,75cmH2O (±9,28) e média de PEmax de101,75cmH2O (±7,75) alcançando 126,83% e 124,15% dos valores preditos. Na espirometriaobservou-se médias da CVF de 3,01L (±0,34) e 3,2L (±0,12) respectivamente para os doisgrupos, correspondendo a 113,58% e 135,59% dos valores preditos. No VEF1 a médiapara o primeiro grupo foi de 2,52L (±0,42L) enquanto que o segundo grupo obteve médiade 2,63L (±0,17L), o que corresponde respectivamente a 108,15% e 122,89% dos valorespreditos. No PFE, a reconstrução mamária utilizando retalho miocutâneo do músculo retoabdominal apresentou média de 386L/min (±18,02), enquanto a com retalho miocutâneodo músculo grande dorsal apresentou média de 384,5 L/min (±4,06), correspondendorespectivamente 92,82% e 95,70% dos valores preditos. Finalmente para a razão VEF1/CVF(%) obteve-se médias de 83,67% (±7,59%) e 82,25% (±0,93%) respectivamente para asreconstruções realizadas com reto abdominal e grande dorsal. Conclusões: Com base nosresultados obtidos, considerou-se que ambos os grupos alcançaram médias preditas paracada parâmetro da avaliação respiratória, caracterizando ausência de distúrbio funcionalrespiratório <strong>em</strong> decorrência do procedimento de reconstrução mamária com retalhomiocutâneo.397 Perfi l de fi brocísticos diagnosticados pelatriag<strong>em</strong> neonatal <strong>em</strong> Santa Catarina $Email: d2dlm@terra.com.brFernanda Carolina de Amorim, Darlan Laurício MatteIntrodução: Fibrose cística (FC) é uma doença hereditária letal que acomete asglândulas exócrinas do organismo e cuja principal causa de morbi-mortalidade é deorig<strong>em</strong> respiratória. Objetivos: Analisar o perfil de crianças diagnosticadas com FC pelatriag<strong>em</strong> neonatal, acompanhadas pelo ambulatório de FC do Hospital Infantil Joana deGusmão, de Florianópolis. Materiais e métodos: Para descrever o perfil foram analisadosos prontuários de pacientes fibrocísticos com diagnóstico positivo a partir da triag<strong>em</strong>neonatal, observando-se as seguintes variáveis: sexo, idade, idade de diagnóstico, culturade escarro, presença de sintomas respiratórios, presença da mutação DF508 e participação<strong>em</strong> tratamento fisioterapêutico. Resultados: No período do estudo 76 crianças foramdiagnosticadas e 46 prontuários com as informações foram localizados e fizeram partedo estudo. 55% dos participantes foram do sexo f<strong>em</strong>inino, a média de idade foi de 2,5±1,5anos. A idade de diagnóstico variou de 8 dias a 7,5 meses, com média de 2,2±1,5 meses.93% dos pacientes realizavam tratamento fisioterapêutico. 36 crianças realizaram apesquisa genética e destas, 20 possuíam a mutação DF508, sendo 12 heterozigotos e 8homozigotos. Os sintomas respiratórios ocorreram <strong>em</strong> 36 pacientes. A cultura de escarrofoi negativa para 22 pacientes. Dos 24 pacientes colonizados o germe Staphylococcusaureus estava presente <strong>em</strong> 96% dos casos. Conclusões: O perfil das crianças fibrocísticasdiagnosticadas <strong>em</strong> Santa Catarina, a partir da triag<strong>em</strong> neonatal iniciada no ano 2000,aproxima-se daquele encontrado <strong>em</strong> países de primeiro mundo. O diagnóstico da doençaé precoce e isto permite o oferecimento de tratamento especializado e uma conseqüent<strong>em</strong>elhor condição de vida para os portadores da doença e seus familiares.398 Infl uência do ortostatismo e deambulaçãona SpO 2e FC <strong>em</strong> pacientes no POde cirurgia cardíaca $Email: fi scerize@yahoo.com.brMaria Aparecida Cerize, Maria Ignêz Zanetti Feltrim, Alberto Ponzo Neto, Ligia GomesRodrigues, Karine Uriol Aguiar, Mariana Sacchi PittaIntrodução: A oximetria de pulso é um método de monitorização não invasiva que fornecea saturação parcial de oxigênio do sangue arterial (SpO 2) e freqüência cardíaca (FC), sendoutilizada na prática clínica pelos profissionais da saúde. Objetivos: Analisar a influênciado ortotastismo e deambulação na SpO 2e FC <strong>em</strong> grupos com níveis de oxigenaçãotecidual distintos no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Materiais e métodos: Pacientesno 6°PO divididos <strong>em</strong> dois grupos conforme a SpO 2obtida após um minuto <strong>em</strong> dorsal: G1(SpO 2≤94%) e G2 (SpO 2≥95). Os valores foram coletados após um minuto <strong>em</strong> ortostatismoe deambulação utilizando o oxímetro de pulso Ohmeda ® BIOX 3740. A análise estatísticafoi ANOVA para medidas repetidas e teste t pareado (p0,05). Em dorsal, ortostatismo e deambulação as médias da SpO 2forams<strong>em</strong>elhantes entre os grupos, não evidenciando diferenças significantes entre os dígitos(SpO 2: 95%, 95% e 94% respectivamente). A FC apresentou diferença significante entrededos indicador e médio na posição ortostática (97 versus 86). Conclusão: A diferençaencontrada na FC pode ser atribuída a vasculatura do dedo indicador que pode interferirna captação do pulso pelo oxímetro.400 Análise do movimento diafragmático <strong>em</strong> obesosgrau I e II através da ultrassonografi a $Email: fi siocarepa@hotmail.comSergio Soares Carepa, Flavio Tavares Freire da Silva, Natália da Silva Monteiro, VictorMonteiro Tachy, Anny Caroline Santos da Silva, Augusto Cezar Ferraz da Costa, MárcioCl<strong>em</strong>entino dos Santos, Antonio Rafael Wong RamosIntrodução: A obesidade afeta um número estimado de 300 milhões de pessoas no mundolevando a importantes alterações na mecânica respiratória, podendo determinar, hipertoniados músculos do abdômen e assim comprometer a função respiratória dependente da açãodiafragmática. O diafragma é um músculo essencialmente inspiratório, sendo consideradoo principal músculo da respiração e responsável por 60% do volume corrente. A estabilidadefuncional respiratória está diretamente ligada à mecânica da musculatura esquelética. Arestauração do padrão respiratório normal, controle da respiração com o mínimo de esforço ereexpansão do tecido pulmonar colapsado são alguns benefícios dos exercícios respiratórios.A espirometria de incentivo é um recurso visual usado para informar se o fluxo ou volumedesejado foi alcançado. Contudo há poucos estudos acerca do deslocamento diafragmáticodurante esses recursos. Nos últimos anos, a ultra-sonografia passou a ser utilizada naavaliação da mobilidade do diafragma por apresentar vantagens como a portabilidade e nãouso de radiação ionizante. Objetivos: Verificar as variações no deslocamento diafragmático<strong>em</strong> indivíduos obesos grau I e II durante a realização de incentivadores respiratórios,exercícios respiratórios espontâneos do tipo diafragmático e inspiração <strong>em</strong> t<strong>em</strong>pos.Materiais e métodos: Foram avaliados 15 voluntários com obesidade grau I e II. A ultrasonografiado diafragma foi realizada durante o uso dos exercícios respiratórios seguidodos incentivadores orientados por um dos pesquisadores. A técnica de ultra-sonografiadiafragmática utilizou uma sonda convexa de 3,5MHz (via transabdominal) e sonda linearde 7,5MHz (via transtorácica). O estudo foi realizado na Ortoclínica do Pará, no período d<strong>em</strong>arço a maio de 2008. Foi aplicada análise estatística descritiva, pela análise de variânciaANOVA 1 com valor de p fixado <strong>em</strong> 0,05. Resultados: Não foi observada alteração significativana análise estatística entre os exercícios respiratórios e os incentivadores. O exercício <strong>em</strong>t<strong>em</strong>pos apresentou maior média (53,06667+-21,0695), seguido do exercício diafragmático ecoach, respectivamente; 53,33333+-22,78366; 52,8+-32,89203 .O menor valor foi encontradona inspiração profunda (37,38+-15,64226). Conclusões: O movimento diafragmático <strong>em</strong>indivíduos obesos foi maior durante a realização de exercícios respiratórios do que durantea espirometria de incentivo. O Exercício <strong>em</strong> t<strong>em</strong>pos e o diafragmático apresentaram maiordeslocamento seguido do coach. E os indivíduos com obesidade grau II apresentarammenor mobilidade o diafragma.401 Atividade muscular e força muscular respiratória<strong>em</strong> pacientes com seqüela de acidente vascularencefálico $Email: tventura@unisuam.edu.brTúlio Galvão Ventura, Monique Teixeira Coelho, Érika de Carvalho Rodrigues, Luis Felipe daFonseca Reis, Monique Maron Menezes, Mônica Cena de Sousa, Mônica Medeiros da Silva,Rafaela Moreira de Souza, Fernando Silva GuimarãesRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.117
118Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) representa uma importante causana instalação de diversas incapacidades. Exist<strong>em</strong> evidências de que, além do sist<strong>em</strong>alocomotor, o AVE afeta a função respiratória pelo comprometimento dos músculosrespiratórios no dimídio plégico/parético. Entretanto, a <strong>fisioterapia</strong> preconiza aotimização das funções motoras dos m<strong>em</strong>bros e tronco, negligenciando muitas vezesa abordag<strong>em</strong> da função respiratória. Objetivos: O objetivo desse trabalho foi avaliara força muscular respiratória e o perfil de ativação dos músculos escaleno, trapézio(fibras superiores) e esternocleidomastoideo durante a respiração basal e inspiraçãoprofunda de pacientes com seqüela de AVE. Materiais e métodos: O estudo foi realizadono ambulatório do hospital Eduardo Rabelo (Campo Grande, RJ). Foram selecionadosdez pacientes com diagnóstico clínico e radiológico de AVE e cinco pacientes s<strong>em</strong>comprometimento neurológico (controle). A atividade mioelétrica foi obtida por meio deeletromiografia de superfície (EMG Syst<strong>em</strong> do Brasil) sendo calculado o valor de RMS doenvelope do sinal. Foram avaliados os músculos escaleno, trapézio ( fibras superiores) eesternocleidomastoideo (ECOM) no dimídio comprometido (DC) e dimídio normal (DN)dos pacientes, e no dimídio esquerdo de indivíduos normais (N) durante a respiraçãobasal e profunda, calculando-se o percentual de aumento do RMS durante a respiraçãoprofunda <strong>em</strong> relação a basal (%RMS). Foram realizadas cinco manobras para medição dapressão inspiratória máxima (PImax) com um manovacuômetro analógico graduado entre+120/-120cmH2O (Instrumentation Industries), utilizando-se o maior valor sustentado<strong>em</strong> um segundo. Análise estatística: Para comparação entre as situações experimentaisfoi utilizado Kruskal-Wallis. As correlações entre atividade mioelétrica dos diferentesmúsculos e PImax foram avaliadas com o coeficiente de correlação de Spearman. O nívelde significância foi estabelecido <strong>em</strong> 5%. Resultados: Para o músculo ECOM o %RMS foimenor no DC quando comparado ao DN e N, porém s<strong>em</strong> significância estatística (489,3versus 1175 versus 1103; p=0,05). O mesmo resultado foi observado com relação ao músculotrapézio (103,2 versus 558,4 versus 225; p=0,06). Não houve correlação significativa entre o%RMS e as medidas da PImax <strong>em</strong> nenhum dos grupos analisados. Conclusões: Emboranão tenha sido alcançada significância estatística, a redução no percentual de aumentodo RMS entre a respiração basal e a inspiração profunda dos músculos ECOM e trapéziono dimídio comprometido sugere que há déficit no recrutamento da musculaturaacessória da respiração <strong>em</strong> uma condição de maior d<strong>em</strong>anda ventilatória. Por outro lado,o comprometimento dessa musculatura não foi suficiente para alterar a força muscularinspiratória global.402 Análise do movimento diafragmático como uso da ultrassonografi a $Email: fi siocarepa@hotmail.comSergio Soares Carepa, Flavio Tavares Freire da Silva, Anny Caroline Santos da Silva,Augusto Cezar Ferraz da Costa, Natália da Silva Monteiro, Victor Monteiro Tachy, MárcioCl<strong>em</strong>entino dos Santos, Antonio Rafael Wong RamosIntrodução: O diafragma é um músculo essencialmente inspiratório, sendo consideradoo principal músculo da respiração e responsável por 60% do volume corrente. Aestabilidade funcional respiratória está diretamente ligada à mecânica da musculaturaesquelética. A restauração do padrão respiratório normal, controle da respiraçãocom o mínimo de esforço e reexpansão do tecido pulmonar colapsado são algunsbenefícios dos exercícios respiratórios. A espirometria de incentivo é um recurso visualusado para informar se o fluxo ou volume desejado foi alcançado. Contudo há poucosestudos acerca do deslocamento diafragmático durante estes recursos. Nos últimosanos, a ultrassonografia passou a ser utilizada na avaliação da mobilidade do diafragmapor apresentar vantagens como a portabilidade e não uso de radiação ionizante.Objetivos: Analisar o movimento diafragmático durante a respiração normal, exercíciosrespiratórios, respiron e coach por meio da ultrassonografia. Materiais e métodos: Foramavaliados 20 voluntários. A ultrassonografia do diafragma foi realizada durante o uso dosexercícios respiratórios seguido dos incentivadores orientados por um dos pesquisadores.A técnica de ultrassonografia diafragmática utilizou uma sonda convexa de 3,5MHz (viatransabdominal) e sonda linear de 7,5MHz (via transtorácica). O estudo foi realizado naOrtoclínica do Pará, no período de março a maio de 2008. Foi aplicada análise estatísticadescritiva, pela análise de variância ANOVA 1 com valor de p fixado <strong>em</strong> 0,05. Resultados:Não foi observada alteração significativa na análise estatística entre os exercíciosrespiratórios e os incentivadores. O coach apresentou maior média (55,04762+-23,95929),seguido do exercício diafragmático e inspiração <strong>em</strong> t<strong>em</strong>pos, respectivamente; 52,57143+-22,44231; 50,85714+-20,32556. O menor valor foi encontrado no respiron (46,42857+-22,79599). Conclusões: O movimento diafragmático <strong>em</strong> indivíduos saudáveis foi maiordurante a realização do coach do que durante os exercícios respiratórios.403 Níveis de pressão arterial <strong>em</strong> idosos hipertensossedentários e praticantes de atividade física $Email: danilondrina@yahoo.com.brAna Carolina E. Pirone, Amanda C. Teixeira, Débora R. Alcântara, Leonardo R.Nascimento, Marília Soares, Jacqueline R. F. ViannaIntrodução: O sedentarismo e a hipertensão arterial sistêmica têm sido relacionados comoos principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença arterial coronariana. Levaruma vida sedentária aumenta isoladamente o risco relativo de morte, enquanto que naHAS esse risco é ainda maior. Em estudos anteriores observa-se que o risco de desenvolverhipertensão arterial é consideravelmente maior <strong>em</strong> indivíduos sedentários. Objetivos:Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.Analisar a diferença dos níveis pressóricos de indivíduos hipertensos sedentários eativos. Materiais e métodos: Estudo prospectivo transversal com amostra de 60 idososhipertensos com idade igual ou superior a 65 anos, divididos <strong>em</strong> dois grupos, sendo 30hipertensos sedentários (grupo I) e 30 hipertensos praticantes de atividade física (grupoII). As variáveis estudadas foram: idade, fatores de risco, uso de medicamentos, dietaadequada, sinais e sintomas apresentados, pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterialdiastólica (PAD), freqüência cardíaca (FC) e freqüência respiratória (FR) dos indivíduos<strong>em</strong> repouso. Após a aplicação do questionário s<strong>em</strong>i-estruturado, mensurou-se a PAS, PAD,FC e FR dos indivíduos <strong>em</strong> posição sentada relaxada, por meio de um esfignomanômetro eestetoscópio (BIC®), <strong>em</strong> três dias consecutivos. Resultados: O grupo I apresentou médiade PAS de 137,65±13,75 e o grupo II de 131,67±1,47, s<strong>em</strong> diferença significativa (p=0,05).Com relação a PAD o grupo I apresentou média de 83,67±12,45 e o grupo II de 81,33±5,71s<strong>em</strong> diferença significativa (p=0,16). Na análise da FC o grupo I apresentou valor médio de72,57±10,21 e o grupo II de 70,1±8,43, também s<strong>em</strong> diferença significativa (p=0,15) e paraa FR o grupo I apresentou um valor de 21,67±4,01 e o grupo II de 20,23±2,50 mostrandodiferença significativa (p=0,03). Todos os idosos estudados <strong>em</strong> ambos os grupos faziamuso regular de medicamentos anti-hipertensivos. Conclusões: Na amostra estudada osníveis de pressão arterial dos idosos ativos não diferiram dos idosos sedentários. Esteresultado pode ser atribuído ao fato das atividades realizadas não atingir<strong>em</strong> a intensidadee a duração adequada para que o exercício beneficiasse significativamente a redução dosníveis de pressão arterial.404 Rotina de profi ssionais de saúde na utilizaçãoda aerossolterapia $Email: andre.sboliveira@gmail.comAndré Oliveira, João Luís Ferreira Neto, Luciana Alcoforado, Daniella Brandão, Patrícia ÉricaMarinho, Thayse Silva, Valdecir Galindo Filho, Armèle Dornelas de AndradeIntrodução: A terapia inalatória t<strong>em</strong> sido utilizada na prática clínica de forma rotineiranos pacientes portadores de afecções do trato respiratório, envolvendo diversosprofissionais de saúde responsáveis pela sua administração, manutenção e limpeza.Objetivos: O objetivo desse trabalho foi verificar a rotina de fisioterapeutas, enfermeirose técnicos de enfermag<strong>em</strong>, na administração da aerossolterapia nos hospitais públicose privados da cidade de Recife, PE. Materiais e métodos: Participaram do estudo 42fisioterapeutas respiratórios, 48 enfermeiros e 50 técnicos de enfermag<strong>em</strong> de UTI´s eenfermarias de hospitais públicos e privados do Recife. Foi utilizado um questionários<strong>em</strong>i-estruturado contendo questões referentes à utilização da aerossolterapia, abordandoos seguintes aspectos: tipo de nebulização, acessórios utilizados (máscara, boquilha eespaçadores), fluxo de oxigênio, volume da solução, t<strong>em</strong>po de nebulização, orientaçãodada ao paciente no momento da nebulização, manutenção e limpeza dos dispositivos.O questionário se referia a pacientes adultos, conscientes e orientados, que estivess<strong>em</strong><strong>em</strong> respiração espontânea e s<strong>em</strong> uso de uma via aérea artificial. Cada profissional foientrevistado aleatoriamente uma única vez <strong>em</strong> seu local de trabalho, evitando-se queo mesmo profissional participasse mais de uma vez da enquete. Análise estatística: Osdados provenientes dos questionários foram digitalizados e a análise estatística descritivafoi feita utilizando-se o software SPSS 13.0. Para comparação entre os profissionais,foram utilizados o qui-quadrado de Pearson e o teste exato de Fisher, sendo o nível designificância de 95% (p< 0,05). Resultados: Os fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos deenfermag<strong>em</strong> utilizam quase exclusivamente os nebulizadores de jato (88,1%, 95,8% e 92%,respectivamente). Todos os três profissionais avaliados usam máscara para a aplicação dainalação. Entretanto, os fisioterapeutas parec<strong>em</strong> ter um maior domínio <strong>em</strong> relação a qualfluxo deve ser utilizado (p=0,00) e qual padrão ventilatório a ser adotado pelo pacientedurante a nebulização (p=0,00). Em relação ao processo de desinfecção de nebulizadores,os fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermag<strong>em</strong> costumam utilizar soluçãodesinfectante (55,9%, 80% e 90,9%, respectivamente), trocam os nebulizadores num períodomaior que 12 horas, realizando diariamente o procedimento de desinfecção. Conclusões:Apesar das informações reportadas na literatura, observamos uma grande divergênciaquanto à utilização dos princípios estabelecidos para a prática da aerossolterapia. Acriação de protocolos e a supervisão e educação dos profissionais avaliados dev<strong>em</strong> seconstituir <strong>em</strong> um importante instrumento para a aplicação correta da aerossolterapia.405 Efeito do aumento do índice de massa corpóreasobre a força muscular e o drive respiratório $Email: clatleal@yahoo.com.brMarcus Aurélio de Almeida Rocha, Cláudio Gonçalves de Albuquerque, Flávio Maciel Diasde Andrade, Marcelo de Moraes Valença, Wald<strong>em</strong>ar LadoskyIntrodução: A obesidade afeta diretamente o sist<strong>em</strong>a respiratório. O aumento da gorduratoracoabdominal associa-se à redução dos volumes pulmonares, podendo alterar a forçamuscular e o drive respiratório. Objetivos: Avaliar o efeito do aumento do índice d<strong>em</strong>assa corpórea (IMC) sobre a força dos músculos respiratórios (pressão inspiratória eexpiratória máxima – PImax e PEmax) e o drive respiratório (pressão inspiratória medidanos primeiros 100ms - P0,1). Materiais e métodos: Avaliou-se a capacidade vital lenta(CVL), volume corrente (VC), volume de reserva expiratório (VRE), capacidade vitalforçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), pico de fluxoexpiratório (PFE), fluxo expiratório forçado <strong>em</strong> 25% da CVF (FEF25%), PImax, PEmax,relação t<strong>em</strong>po inspiratório/t<strong>em</strong>po total (Ti/Ttot) e P0,1 de 65 indivíduos de ambosos sexos, com idade entre 19 e 56 anos, sedentários, s<strong>em</strong> história de doença pulmonar,
divididos de acordo com o IMC <strong>em</strong> cinco grupos: grupo sobrepeso (IMC=25 a 29,9Kg/m2,n=14), grupo obeso (IMC=30 a 39,9Kg/m2, n=9), grupo obesidade mórbida leve (IMC=40a 49,9Kg/m2, n=24), grupo obesidade mórbida moderada (IMC=50 a 59,9Kg/m2, n=14)e grupo super-obeso (IMC>60Kg/m2, n=4), utilizando-se o sist<strong>em</strong>a PFT Jaeger ® . Análiseestatística: A suposição de normalidade dos dados foi realizada utilizando-se o testeKolmogorov-Smirnov, a análise intergrupos foi realizada utilizando-se o método ANOVA,o pós-teste de comparação múltipla de Tukey e de Dunns e as possíveis correlaçõesentre IMC, volumes pulmonares, força muscular e drive respiratório foram analisadasatravés do método de regressão linear. A significância estatística foi considerada quandoobtido um valor de p
120operatórios; no grupo que desenvolveu CPP a redução média foi de 2,17L(±1,11) (p=0,07).No 3º PO a redução média de CVF no grupo s<strong>em</strong> CPP foi de 1,13L(±0,73) e no grupo CPPfoi de 2,12L(±1,30) (p=0,005). No 5ºPO a média de redução da CVF no grupo s<strong>em</strong> CPP foide 0,78L(±0,63) e no grupo CPP foi de 1,91L(±0,97) (p=0,0009). Conclusões: Pacientes quedesenvolv<strong>em</strong> CPP apresentam queda mais acentuada da CVF nos primeiros dias de pósoperatório.Este resultado sugere a necessidade de novos estudos para avaliar se a reduçãoacentuada do volume pulmonar favorece o desenvolvimento de CPP.410 Fisioterapia na unidade de <strong>em</strong>ergência daIrmandade da Santa Casa de Misericórdiade São Paulo $Email: camilamolinari@hotmail.comCamila Vitelli Molinari, Claudia Tozato, Claudia Santana Zerbinatti, Juliana Gamo StorniO presente estudo teve como objetivo descrever as atividades que hoje são des<strong>em</strong>penhadaspelos fisioterapeutas na Unidade de Emergência (UE) da ISCMSP, fundamentandoas mesmas <strong>em</strong> estudos específicos de cada intervenção. Para isso, realizou-se umlevantamento das atividades des<strong>em</strong>penhadas pelos fisioterapeutas dentro UE da ISCMSPe uma revisão bibliográfica nas data bases Bir<strong>em</strong>e, Ovid, Medline, e Lilacs. Dentre asatividades pode-se citar a parada cardiorrespiratória cerebral, ventilação mecânicainvasiva e não invasiva, atendimento motor, entre outras. Apesar da não existência dereferências cientificas específicas para este tipo de assistência, pode-se enumerar múltiplasatividades relacionadas a este tipo de atendimento, auxiliando na fundamentação literáriapara esta revisão. Assim, mostram-se necessários maiores estudos sobre a atuação dofisioterapeuta na UE.411 Análise do movimento diafragmático com o usoda ultrassonografi a $Email: fi siocarepa@hotmail.comSergio Soares Carepa, Flavio Tavares Freire da Silva, Anny Caroline Santos da Silva,Augusto Cezar Ferraz da Costa, Natália da Silva Monteiro, Victor Monteiro Tachy, MárcioCl<strong>em</strong>entino dos Santos, Antonio Rafael Wong RamosIntrodução: O diafragma é um músculo essencialmente inspiratório, sendo considerado oprincipal músculo da respiração e responsável por 60% do volume corrente. A estabilidadefuncional respiratória está diretamente ligada à mecânica da musculatura esquelética.A restauração do padrão respiratório normal, controle da respiração com o mínimo deesforço e reexpansão do tecido pulmonar colapsado são alguns benefícios dos exercíciosrespiratórios. A espirometria de incentivo é um recurso visual usado para informarse o fluxo ou volume desejado foi alcançado. Contudo há poucos estudos acerca dodeslocamento diafragmático durante estes recursos. Nos últimos anos, a ultrassonografiapassou a ser utilizada na avaliação da mobilidade do diafragma por apresentar vantagenscomo a portabilidade e não uso de radiação ionizante. Objetivos: Analisar o movimentodiafragmático durante a respiração normal, exercícios respiratórios, respiron e coach pormeio da ultrassonografia. Materiais e métodos: Foram avaliados vinte voluntários. Aultrassonografia do diafragma foi realizada durante o uso dos exercícios respiratórios seguidodos incentivadores orientados por um dos pesquisadores. A técnica de ultrassonografiadiafragmática utilizou uma sonda convexa de 3,5MHz (Via transabdominal) e sondalinear de 7,5MHz (Via transtorácica). O estudo foi realizado na Ortoclínica do Pará, noperíodo de março a maio de 2008. Foi aplicada análise estatistica descritiva, pela análise devariância ANOVA 1 com valor de p fixado <strong>em</strong> 0,05. Resultados: Não foi observada alteraçãosignificativa na análise estatística entre os exercícios respiratórios e os incentivadores. Oexercício <strong>em</strong> t<strong>em</strong>pos apresentou maior média (53,06667+-21,0695), seguido do exercíciodiafragmático e coach, respectivamente; 53,33333+-22,78366; 52,8+-32,89203 .O menorvalor foi encontrado na inspiração profunda (37,38+-15,64226). Conclusões: O movimentodiafragmático <strong>em</strong> indivíduos saudáveis foi maior durante a realização de exercíciosrespiratórios do que durante a espirometria de incentivo. O exercício <strong>em</strong> t<strong>em</strong>pos e odiafragmático apresentaram maior deslocamento, seguido do coach.412 Inspirometria de incentivo e Threshold na forçamuscular de pacientes pós-cirurgia cardíaca $Email: rafaelfi sioterapia@yahoo.com.brMax Martin, Sitter Helmut, Jackeline Xenofonte de Sousa, Rafael Barreto de Mesquita,Juliana Maria de Sousa PintoIntrodução: Estudos científicos comprovam o comprometimento do funcionamentomuscular respiratório e da redução dos parâmetros ventilatórios após cirurgias cardíacas.A redução da força muscular inspiratória (PImax) no pós-cirúrgico cardíaco, podeser atenuada por meio do tratamento fisioterápico pré e pós-operatório.Objetivos:O presente estudo observou e comparou os efeitos proporcionados pelo tratamentofisioterápico realizado por meio da inspirometria de incentivo (IS) e do treinamentoda musculatura inspiratória por Threshold (IMT), sobre a força muscular inspiratória(PImax) de pacientes <strong>em</strong> pós-operatório de cirurgia cardíaca. Materiais e métodos: Esseestudo trata-se de uma pesquisa experimental, controlada e randomizada, realizadanum hospital universitário da Al<strong>em</strong>anha, no ano de 2006. Para o levantamento dosRev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):28-136.parâmetros de força (PImax) foram incluídos 43 pacientes com indicação cirúrgica derevascularização do miocárdio e/ou reparação ou substituição da válvula aórtica. Ogrupo controle (IS) foi submetido ao tratamento fisioterápico com o uso do aparelhode inspirometria de incentivo orientado a fluxo, enquanto o grupo teste (IMT) realizouo tratamento com o treinador muscular inpiratório Threshold. A força muscular foiavaliada por meio de manuvacuometria. Análise estatística: Teste t para variáveis domesmo grupo e para variáveis de grupos diferentes, com auxílio do SPSS versão 12.00.Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças com p
(IMC) foi calculado. Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), a capacidadevital forçada (CVF), VEF1/CVF e ventilação voluntária máxima <strong>em</strong> 12 segundos (VVM)foram determinados. Avaliou-se o índice de atividade física (IAF) e dois TC6 (30 minutosde intervalo). Pressão arterial, freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória e dispnéia efadiga dos m<strong>em</strong>bros inferiores (Borg) foram mensurados antes e depois do TC6. O trabalhorealizado durante a caminhada (TC6m x peso Kg) foi calculado. Resultados: Os indivíduosapresentaram valores espirométricos normais. Houve correlações significativas (p
122respiratória, apresentaram diminuição estatisticamente significativa ao longo da fase deintervenção, enquanto o volume corrente e a saturação periférica da h<strong>em</strong>oglobina <strong>em</strong>oxigênio aumentaram durante esta fase. Conclusões: O participante apresentou melhorada tolerância ao exercício após treinamento consistente com os resultados de estudos daárea. As modificações observadas <strong>em</strong> variáveis importantes relacionadas à capacidade deexercício se iniciaram após quatro s<strong>em</strong>anas de intervenção e mostraram-se progressivas,s<strong>em</strong> estabilização das mesmas, até o final do programa de treinamento.419 Complacência do sist<strong>em</strong>a respiratório de obesosmedida pela oscilometria de impulso $Email: ftfl aviomaciel@yahoo.com.brFlávio Maciel Dias de Andrade, Cláudio Gonçalves Albuquerque, Marcus Aurélio de AlmeidaRocha, Marcelo de Moraes Valença, Wald<strong>em</strong>ar LadoskyIntrodução: Obesos pod<strong>em</strong> apresentar redução da complacência pulmonar e diminuiçãodos volumes pulmonares, cuja magnitude pode ser influenciada pelo grau de obesidade. Atécnica de oscilações forçadas, também chamada de oscilometria de impulso (OI), permitea avaliação da impedância, resistência e reatância do sist<strong>em</strong>a respiratório. A reatância dosist<strong>em</strong>a respiratório incorpora a inertância e a elastância (inverso da complacência) dosist<strong>em</strong>a respiratório. Objetivos: Analisar a complacência do sist<strong>em</strong>a respiratório e as variáveisespirométricas de indivíduos obesos com diferentes níveis de índice de massa corpórea(IMC) por meio da OI. Materiais e métodos: Foram realizadas espirometrias (capacidadevital lenta - CVL, capacidade inspiratória - CI, volume corrente - VC e volume de reservaexpiratório - VRE) e OI (reatância medida com 5Hz–X5Hz e freqüência de ressonância -FRES), utilizando-se o espirômetro Jaeger Pneumotach ® e o sist<strong>em</strong>a de OI Jaeger ® , de 106indivíduos, divididos de acordo com o IMC <strong>em</strong> seis grupos: controle (IMC=18,5 a 24,9Kg/m2, n=15), sobrepeso (IMC=25,0 a 29,9Kg/m2 n=19), obeso (IMC=30,0 a 39,9Kg/m2, n=10),obesidade mórbida leve (IMC=40,0 a 49,9Kg/m2, n=35), obesidade mórbida moderada(IMC=50,0 a 59,9Kg/m2, n=21) e obesidade mórbida grave – super-obeso (IMC≥60,0Kg/m2,n=6). Análise estatística: A suposição de normalidade dos dados foi realizada utilizandoseo teste Kolmogorov-Smirnov, a análise intergrupos das variáveis estudadas foi realizadautilizando-se o método ANOVA, o pós-teste de comparação múltipla de Tukey e deDunns, enquanto que as possíveis correlações entre IMC, mecânica respiratória e volumespulmonares foram analisadas por meio do método de regressão linear. A significânciaestatística foi considerada quando obtido um valor de p
Email: pdallago@pq.cnpq.brGlória Menz Ferreira, Mauren Porto Haefner, Sérgio Saldanha Menna Barreto, PedroDall’AgoIntrodução: Os pacientes que são submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio(CRM) apresentam risco relativamente alto de desenvolver complicações pulmonares(CPs) o que contribui para piora da capacidade funcional. A avaliação do nível de atividadefísica t<strong>em</strong> recebido grande notoriedade no campo da saúde <strong>em</strong> diferentes circunstâncias,incluindo pacientes pós-cirurgicos. Dentre as técnicas da <strong>fisioterapia</strong> respiratória, ouso acoplado de inspirômetro de incentivo (II) com pressão positiva expiratória na viaaérea (EPAP) parece ser uma alternativa para evitar estas complicações. Objetivos:Testar a hipótese de que o uso de II+EPAP <strong>em</strong> pacientes que foram submetidos a CRMassocia-se a um melhor nível de atividade física a longo prazo. Materiais e métodos:Foram estudados 17 pacientes com história prévia de CRM, randomizados <strong>em</strong> grupocontrole (n=8) e grupo II+EPAP (n=9). O protocolo de II+EPAP foi realizado no períodopós-operatório imediato e durante mais três s<strong>em</strong>anas no domicílio do paciente. Após18 meses da realização do protocolo, foi avaliada a força da musculatura respiratória, acapacidade funcional, a função pulmonar e o nível de atividade física. Análise estatística:Os grupos foram comparados pelo teste t de Student para variáveis contínuas. Resultados:As variáveis espirométricas, a força muscular inspiratória e expiratória b<strong>em</strong> como adistância percorrida durante o teste de caminhada de seis minutos foram s<strong>em</strong>elhantesentre os grupos. No entanto, após o teste de caminhada de seis minutos, o valor referido àdispnéia foi menor no grupo II+EPAP, quando comparado com o grupo controle (0,6±0,3versus 1,6±0,6, p
124que 72,2% sentiram tontura após o uso do incentivador respiratório. Conclusões:Concluímos que houve um incr<strong>em</strong>ento da capacidade vital forçada após a realizaçãoda máscara de EPAP e que não houve diferença estatisticamente significante entre osrecursos quando aplicados <strong>em</strong> indivíduos s<strong>em</strong> alterações pulmonares.428 Avaliação da cifose torácica <strong>em</strong> pacientes comDPOC, utilizando a régua fl exível $Email: nopagani@hotmail.comNoeli Pagani, Adriana Vieira Macedo, Renato Canevari Dutra da Silva, Fernanda AndradeCardoso, Rayslla Souza Silva, Thaís Olimpio Fagundes, Hernane Sousa Carvalho, Maria deFátima Rodrigues da SilvaIntrodução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença de evoluçãolenta e progressiva, que resulta <strong>em</strong> uma grande limitação da tolerância e capacidadede exercício e <strong>em</strong> prejuízos na qualidade de vida dos portadores. A cifose torácica é umaconvexidade fisiológica da coluna vertebral, podendo encontrar-se aumentada devido aalterações musculoesqueléticas. A respiração se relaciona com a cifose torácica, no sentidode que quanto maior a cifose torácica, mais o diafragma se torna oblíquo e s<strong>em</strong> cúpula,maior é o desequilíbrio corporal, mais oxigênio é solicitado, maior o ritmo respiratório,e menor é o movimento de elevação e depressão das costelas. Exist<strong>em</strong> na literaturainúmeros métodos de avaliação da cifose torácica, sendo um deles a régua flexível sendoum instrumento de mensuração das curvaturas da coluna vertebral de forma não invasiva.Objetivos: Avaliar a cifose torácica <strong>em</strong> pacientes com DPOC, usando a régua flexível,dos pacientes <strong>em</strong> atendimento na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade de RioVerde (FESURV); verificar e quantificar a cifose torácica <strong>em</strong> pacientes com DPOC, usandoa régua flexível; comparar o aumento da cifose torácica com o tipo de tosse; comparar oaumento de cifose torácica com o tipo de tórax; comparar o aumento da cifose torácicacom a presença ou não de dispnéia; comparar o aumento de cifose torácica com padrãorespiratório; comparar o aumento de cifose torácica com ritmo respiratório. Materiais <strong>em</strong>étodos: O estudo envolveu 18 pacientes com diagnóstico clínico de DPOC. Foi avaliadaa cifose torácica utilizando a régua flexível, moldando as curvaturas vértebras de C7 a S1e posteriormente foi realizada uma avaliação fisioterapêutica, com relato das queixas dospacientes e avaliação do exame físico. Análise estatística: Foi realizada a análise descritivaapresentada na forma de média, desvio padrão, valores mínimos e máximos para asvariáveis numéricas representada por figuras. A comparação foi realizada utilizando o testet de Student, e ANOVA todos com nível de significância de 5%. Resultados: Foi observado de55,6% dos pacientes apresentaram aumento da cifose torácica. Destes, 30% eram homense 70% eram mulheres, 50% apresentaram tosse eficaz e produtiva, 60% apresentaram tóraxassimétrico do tipo hiperinsuflado, 60% eram dispnéicos, 50% tinham padrão respiratóriomisto predominant<strong>em</strong>ente apical e 50% padrão respiratório predominant<strong>em</strong>ente abdominale, apenas <strong>em</strong> 20% foi observado ritmo respiratório irregular. Conclusões: Ao avaliar a cifosetorácica <strong>em</strong> pacientes DPOC, constatou-se, um percentual de 55,6% de pacientes portadoresde DPOC com aumento da cifose torácica, não havendo diferença estatística significativaentre grupo com o instrumento de medida utilizado nesta pesquisa.429 Prova de função pulmonar de mulheres<strong>em</strong> tratamento radioterápico por câncerde mama $Email: arthur_medeiros85@hotmail.comArthur de Almeida Medeiros Ângela Galeano Fernandes Alvarenga Francine Casarin CorrêaLílian Lobo Viana de Resende Adriane Pires Batiston Leonardo Capello Filho Mara Lisiane deMoraes dos SantosIntrodução: O câncer de mama t<strong>em</strong> sido descrito como a maior aflição entre as mulherestanto nos países <strong>em</strong> desenvolvimento quanto nos países desenvolvidos, sendo a principalcausa de morte <strong>em</strong> mulheres entre 35 e 50 anos. Alterações na função pulmonar têm sidoreportadas após o tratamento radioterápico por câncer de mama. Objetivos: Verificar a osefeitos da radioterapia sobre a função pulmonar de mulheres <strong>em</strong> tratamento por câncerde mama. Materiais e métodos: Foi realizado um estudo de coorte prospectivo com aparticipação de 19 mulheres mastectomizadas submetidas a tratamento radioterápico noHospital do Câncer de Mato Grosso do Sul. A espirometria foi realizada antes da primeirasessão de radioterapia (RT) e imediatamente após o término do tratamento. A análise dosresultados foi realizada segundo a American Thoracic Society utilizando os dois melhoresvalores da capacidade vital forçada (CVF), do pico de fluxo expiratório (PFE), da relaçãoVEF1/CVF (volume expiratório forçado no primeiro segundo/capacidade vital forçada) e FEF25,75% ( fluxo expiratório forçado entre os 25% e 75% da capacidade vital forçada). Análiseestatística: Os resultados da espirometria antes e após o tratamento foram comparados pormeio do teste t pareado, utilizando o software Graphpad Instat 3, considerando significativop
após mastectomia devido ao câncer de mama. Materiais e métodos: Foi realizado um estudode coorte prospectivo com a participação de 19 mulheres mastectomizadas submetidas atratamento radioterápico. As medidas no Hospital do Câncer de Mato Grosso do Sul. A força dosmúsculos respiratórios foi avaliada antes da primeira sessão de radioterapia e imediatamenteapós a última sessão, por meio da mensuração das pressões respiratórias máximas – pressãoinspiratória máxima (PImax) e pressão expiratória máxima (PEmax) por meio de ummanovacuômetro anaeróide acoplado a um bucal com orifício de 5mm na face superior, de usoindividual. Foram tomadas pelo menos cinco medidas de cada indivíduo, com intervalo de pelomenos um minuto entre cada medida, sendo registrada os melhores valores após o primeirosegundo de esforço. Análise estatística: Os resultados de PImax e PEmax foram comparadospor meio do teste t pareado, utilizando o software Graphpad Instat 3, considerando significativop
internação foi de 5,08 dias, e a cirurgia que mais se associou a complicações pulmonarespós-operatória (CPP) foi a laparotomia exploradora. O tipo de incisão que mais acarretouaumento no t<strong>em</strong>po de internação foi a mediana infra-umbilical e transversa umbilical.Conclusões: Ainda não exist<strong>em</strong> estudos epid<strong>em</strong>iológicos a respeito das cirurgiasabdominais, principalmente no que tange a caracterização deste tipo de população,necessitando-se, portanto de mais estudos para que se possa inferir a melhor assistênciafisioterapêutica a impl<strong>em</strong>entar, evitando-se a ocorrência de CPP.438 Estudo retrospectivo da utilização de técnicasmanuais de fi sioterapia respiratória no pósoperatóriode colecistectomia e laparotomiaexploradora $Email: dmsmdiniz@uol.com.brMárcia de Oliveira Belém, Denise Maria Sá Machado Diniz, Michelly Dos Santos Camelo, FelypeRégis Teixeira Gomes, Naiara Laurentios, Lara Cidrao Pinto, Elaine Cristina Marreiro AbreuIntrodução: A colecistectomia é um procedimento cirúrgico realizado através de umaincisão lateral, comprometendo a h<strong>em</strong>icúpula diafragmática direita. A laparotomiaexploradora é a abertura cirúrgica da cavidade peritoneal com finalidade fornecer umavia de acesso a órgãos infra-abdominais <strong>em</strong> operações eletivas, via de drenag<strong>em</strong> decoleções liquidas e como método diagnóstico. Objetivos: Analisar a utilização de técnicasmanuais de <strong>fisioterapia</strong> respiratória para pacientes no pós-operatório de colecistectomiae laparotomia exploradora. Materiais e métodos: Realizou-se um estudo retrospectivo, noServiço de Arquivo Medico Estatístico (SAME) de um hospital municipal de Fortaleza, Ce,no período de abril de 2008. A população foi composta por 3.154 prontuários de pacientesinternados no hospital no período de 01 de janeiro a 31 de dez<strong>em</strong>bro de 2006. A amostrafoi composta de 312 prontuários dos pacientes que realizaram cirurgia de colecistectomiae laparotomia exploradora, observando-se a realização de <strong>fisioterapia</strong> respiratória, dosquais 17 foram excluídos por apresentar patologia pulmonar prévia ao procedimentocirúrgico. Para a coleta de dados utilizou-se um formulário para registro dos dados.Análise estatística: Para análise estatística utilizou-se o Excel e apresentado <strong>em</strong> formade gráficos. Resultados: Quanto à faixa etária a média de idade foi 34,5 ± 13,5, o sexomasculino teve maior índice (68%). A principal CPP foi o derrame pleural (32%). A cirurgiamais realizada foi a laparotomia exploradora (86%). Com relação à <strong>fisioterapia</strong> apenas 40%dos pacientes realizaram, tendo como padrão respiratório <strong>em</strong> t<strong>em</strong>pos, vibro-compressão,AFE e deambulação (24%) a conduta mais realizada. Conclusões: Nas cirurgias delaparotomia exploradora e colecistectomia as técnicas utilizadas são exclusivament<strong>em</strong>anuais, podendo-se concluir a importância da utilização e do estudo mais aprofundadodas mesmas para que se possa promover uma melhor assistência fisioterapêutica, mesmo<strong>em</strong> instituições que apresent<strong>em</strong> pouca disponibilidade de recursos mecânicos.439 Análise das complicações pulmonares no pósoperatóriode colecistectomia <strong>em</strong> um hospitalmunicipal de Fortaleza $Email: dmsmdiniz@uol.com.brMárcia de Oliveira Belém, Denise Maria Sá Machado Diniz, Michelly Dos Santos Camelo,Felype Régis Teixeira Gomes, Naiara Laurentios, Lara Cidrao Pinto, Elaine Cristina MarreiroAbreu, Renata Santos Almeidaintrodução: A colecistectomia é um procedimento cirúrgico realizado através de umaincisão lateral comprometendo a h<strong>em</strong>icúpula diafragmática direita. Essa cirurgia t<strong>em</strong>como indicação a calculose biliar, colecistite aguda, colecistite crônica, malformação davesícula biliar, fístula pós-colecistostomia, peritonite biliar, ruptura traumática da vesículabiliar ou ducto cístico e neoplasia de vesícula biliar. Objetivos: Analisar as complicaçõespulmonares no pós-operatório de colecistectomia. Materiais e métodos: Realizou-se umestudo documental, no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de um hospital municipal deFortaleza, CE, no período de março a maio de 2007. Foram analisados 100% dos prontuárioscirúrgicos de pacientes que realizaram cirurgia abdominal no período de janeiro a dez<strong>em</strong>brode 2006. Utilizou-se um formulário para registro das CPP. Análise estatística: Os dadosobtidos foram classificados e submetidos à análise estatística por meio do Microsoft Excele <strong>em</strong> seguida apresentados <strong>em</strong> forma de média±desvio padrão e gráficos. Resultados: Acirurgia mais realizada foi a apendicectomia (54,02%) e a colecistectomia (13,39%), comum baixo índice de CPP. Conclusões: O índice de CPP para a colecistectomia não foiestatisticamente significativo, porém ainda existe uma grande negligência <strong>em</strong> relação aevolução da <strong>fisioterapia</strong> nos prontuários estudados, fazendo-se necessário o dispêndiode maior atenção dos profissionais para este it<strong>em</strong>, facilitando a realização de estudosepid<strong>em</strong>iológicos relativos aos efeitos das técnicas fisioterapêuticas nos pós-operatório decirurgias abdominais.Valdecir Castor Galindo Filho, Thayse Silva, Daniella Brandão, Vitória Lima, Patrícia ÉricaMarinho, Maria da Glória Rodrigues Machado, Verônica Franco Parreira Armèle Dornelasde AndradeIntrodução: A associação da nebulização com a ventilação não-invasiva (VNI) t<strong>em</strong> sidouma das possibilidades terapêuticas no tratamento da crise de asma. Entretanto, apesardos benefícios clínicos obtidos, são poucos e controversos os estudos publicados naliteratura. Objetivos: Avaliar o efeito da nebulização associada à VNI durante a crise deasma na deposição do radioaerossol, parâmetros cardiopulmonares e correlacionar osdados da função pulmonar com o índice de deposição pulmonar (IDP), índice de penetraçãodo radioaerossol (IPR) e o clareamento pulmonar (CP). Materiais e métodos: Estudoprospectivo, controlado e randomizado realizado no setor de <strong>em</strong>ergência, envolvendo21 pacientes asmáticos randomizados <strong>em</strong>: grupo controle (NEB -11 pacientes) e grupoexperimental (VNI+NEB -10 pacientes). Os pacientes realizaram espirometria e forammensurados os parâmetros cardiopulmonares: freqüência respiratória (FR), saturaçãoperiférica de oxigênio (SpO2), volume corrente (VC), volume minuto (VM), freqüênciacardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e capacidadeinspiratória (CI), antes e depois do experimento. Utilizou-se o radioaerossol DTPA-Tc99madicionado a solução de nebulização com fluxo de oxigênio <strong>em</strong> 7/Lpm durante nov<strong>em</strong>inutos. A VNI foi aplicada por meio do BIPAP (Synchrony, Respironics ® , IPAP=12cmH2O eEPAP=5cmH2O). Após a inalação foi realizada a contag<strong>em</strong> das partículas na gama câmarae obtidas imagens para análise das regiões de interesse (ROIs) e CP durante os intervalos de0, 15, 30,45 e 60 minutos. Análise estatística: Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnove Levene. Na análise das variáveis intragrupo o teste t pareado e o teste t para amostrasindependentes na comparação intergrupos. O teste de MANOVA no CP e a Correlaçãode Pearson para análise entre os dados da função pulmonar com o IDP, IRP e CP. Osresultados foram expressos como média±DP, dispondo-se do software estatístico SPSS15.0 e considerou-se como intervalo de confiança 95% (p
Leonardo Augusto Fogaça Tavares, Flávio Godoy Domingues, Eliana Míriam Lara, ElianaCavacami, Viviane Silva, Tomaz de Oliveira, Vera Lúcia Aparecida, Anastácio Helena,Franscisca Valadares MacielIntrodução: As finalidades dos programas de internação domiciliar (PIDs) encerramsena desospitalização precoce, liberação de leitos hospitalares, racionalização doscustos, otimização do tratamento e qualidade de vida de pacientes pediátrico comhipox<strong>em</strong>ia crônica. Indicadores apontam o sucesso dessa modalidade de assistênciaaos doentes pediátricos dependentes de oxigênio (O2) como o t<strong>em</strong>po de utilização deO2 na internação hospitalar e domiciliar. Assistência interdisciplinar da <strong>fisioterapia</strong>respiratória (FR) pode determinar menor necessidade de O2 e evitar re-internaçõeshospitalares. Objetivos: Descrever os resultados da oxigenoterapia prolongada decrianças do PID do Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), submetidas a sessões deFR domiciliar regularmente. Materiais e métodos: Estudo descritivo, retrospectivo.Período entre fevereiro de 2004 e março de 2008. Vinte e três pacientes, 11 (47,9%)do sexo f<strong>em</strong>inino e 12 (52,1%) do masculino do PID/HIJPII. Idade média das criançasà admissão no PID foi de 36 meses. Coleta de dados a partir do prontuário. Após, foirealizada a análise das informações. Resultados: Catorze (60,9%) crianças residiam<strong>em</strong> BH e 9 (39,1%) na região metropolitana da capital; 65,2% tinham seqüelasneurológicas com crises convulvivas <strong>em</strong> tratamento e pneumopatias crônicas comhipox<strong>em</strong>ia <strong>em</strong> ar ambiente a esclarecer; 21,7% bronquiolite obliterante; 8,7% displasiabroncopulmonar e 4,4% acidose tubular renal descompensada; 12 (52,1%) possuíamhistória pregressa de múltiplas internações por eventos respiratórios agudos comnecessidade imediata de instituição de O2 a admissão hospitalar. A partir da amostra,o t<strong>em</strong>po total de utilização de O2 na unidade de internação do HIJPII pré-admissãono PID foi de 2.836 dias (média 123,3+92,8; mediana 51,5) e domicílio foi de 3.230dias (média 127,0+117,5; mediana 99,5); 23 (100%) pacientes foram submetidos a FRe utilizaram O2 por concentrador, 10 (43,4%) via catéter nasal, 8 (34,7%) via pronganasal, 4 (13,3%) por traqueostomia e 1 (4,4%) por máscara com reservatório; 22 (95,6%)crianças utilizaram dose de O2 até 3L/min e apenas 1 (4,4%) usou 5L/min (caso deóbito no PID por aspiração de conteúdo gástrico para árvore traqueobrônquica comparada cardiorespiratória no domicílio); 100% dos cuidadores (que eram mães) foramtreinados para ações e ajustes do O2 durante intercorrências respiratórias agudas;8,7% re-internaram devido a pneumonia com necessidade de antibioticoterapiaendovenosa, 4,4% por hipox<strong>em</strong>ia aguda, 8,7% por aumento da frequência de crisesconvulsivas e 13% por piora do padrão respiratório e broncoespasmo intenso aesclarecer. Das re-internações, 17,4% eram residentes <strong>em</strong> BH e outros 17,4% naregião metropolitana. Catorze (60,8%) pacientes receberam alta do PID após aindependência com sucesso do O2. Conclusões: A FR interdisciplinar proporcionou adesospitalização precoce de crianças dependentes de O2, o que permitiu a liberaçãode leitos no hospital e re-inseriu estas no convívio familiar.443 Redução das internações hospitalares apósinstituição de programa de atendimentodomiciliar $Email: crikamagalhaes@yahoo.com.brCristiana Mendonça Magalhães, Isabel Cristina Gomes SáIntrodução: A transição epid<strong>em</strong>iológica e d<strong>em</strong>ográfica caracterizadas por diferentesentidades envolvidas no processo de adoecimento da população e expectativa devida aumentada com o passar dos anos e controle adequado das doenças infectocontagiosasfaz com que o sist<strong>em</strong>a de saúde organize-se de forma diferenciada paraprestar atendimento à população de uma maneira geral. Baseando-se nesses aspectos,no Brasil tanto o sist<strong>em</strong>a público quanto o sist<strong>em</strong>a privado de assistência à saúdeperceb<strong>em</strong> uma crescente necessidade na re-orientação de modelos assistenciaisà saúde da população. Uma das alternativas encontradas e que está cada vez maispróxima para as pessoas portadoras de doenças crônico-degenerativas é a vertentedo atendimento domiciliar. Sendo importante destacar que esse pode ocorrer pormeio da visita domiciliar, da internação domiciliar ou do atendimento domiciliarpropriamente dito, onde práticas profissionais são executadas s<strong>em</strong> necessidade deaparato tecnológico de cuidados intensivos e monitorização contínua. Esse tipo deatenção proporciona a reinserção do paciente no contexto familiar, traz proximidadee maior participação no processo de cura, prevenção de agravos e promoção dasaúde tanto por parte do paciente quanto do cuidador e da família, evita internaçõesfreqüentes e, <strong>em</strong> última instância, reduz gastos na assistência à saúde. Objetivos:Analisar a prevalência de internações hospitalares antes e após a instituição deum programa de atendimento domiciliar. Materiais e métodos: Trata-se de umestudo retrospectivo e descritivo. Participaram do estudo 24 pacientes com idadeacima de 55 anos, que fizeram parte do programa de atendimento interprofissionale integral da saúde dos pacientes portadores de doenças crônicas da <strong>em</strong>presa deatendimento domiciliar Rede de Saúde <strong>em</strong> Belo Horizonte, MG. Faz<strong>em</strong> parte daequipe multiprofissional médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermag<strong>em</strong>,fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional. Foi descrito o número deinternação hospitalar desses pacientes antes (2001 a 2002) e após (2002 a 2004) oprograma de atendimento domiciliar. Resultados: Os 24 pacientes participantesobtiveram um total de 47 internações no período de 2001 a 2002 antes do início doprograma e 16 internações hospitalares no período de 2002 a 2004, após o programade atendimento domiciliar. Conclusões: O programa de atendimento domiciliarinstituído mostrou-se eficaz na redução de necessidade de internação hospitalarno período de 2002 a 2004, contribuindo diretamente para redução de gastos com aassistência à saúde da referida população.444 Análise dos pacientes atendidos pelafi sioterapia <strong>em</strong> home care que necessitaramde reinternação $Email: danilondrina@yahoo.com.brFernanda Pimenta de Souza, Daniela Morales, Gisele Cristina Lima Francé, Patrícia BelliniArantes, Valéria PapaIntrodução: Dentre os propósitos dos serviços de home care está a redução nas taxas deinternação hospitalar. Entretanto, uma parcela de pacientes que receb<strong>em</strong> tal assistênciaacabam necessitando de re-internação, sendo a maioria delas decorrentes de doençasrespiratórias. Objetivos: Analisar a amostra de pacientes re-internados atendidos peloserviço de Fisioterapia de home care de um hospital privado. Materiais e métodos: A coletade dados foi realizada de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008. Foram incluídos no estudo 84pacientes com idade superior a 14 anos, de ambos os sexos. A título de estudo, esses pacientesforam divididos <strong>em</strong> dois grupos: grupo A com 14 pacientes re-internados por pneumonia egrupo B com 70 pacientes re-internados por outros motivos, entre eles: infecção do tratourinário, quimioterapia, descompensação respiratória, tratamento cirúrgico, etc. Todos ospacientes foram submetidos a avaliação por intermédio da escala de Barthel e da escala decomplexidade de cuidados da ABEMID (Associação Brasileira das Empresas de MedicinaDomiciliar). Foram analisados também os prontuários médicos. Análise estatística: Foiutilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney com α=5%. Resultados: Expressos <strong>em</strong>média, número e porcentag<strong>em</strong>. Não houve diferença estatisticamente significante entre osdois grupos com relação à idade (p>0,05). Grupo A: 16% (14) re-internações por pneumonia;grupo B: 84% (70) pacientes, sendo as re-internações por: 5% (4) neurologia, 16% (14)pneumologia, 17% (14) gastroenterologia, 11% (9) <strong>cardiologia</strong>, 15% (13) nefrologia e 19% (16)outras clínicas. Foram observadas diferenças significantes (p
128446 Treinamento muscular inspiratório <strong>em</strong> pacientescom leuc<strong>em</strong>ia aguda: um estudo piloto $Email: raissa_borja@yahoo.com.brKarla Morganna Pereira Pinto de Mendonça, Harina Alves de Oliveira, Anne Carollinede Morais, Raíssa de Oliveira Borja, Wilson Cleto de Medeiros Filho, Thalita MedeirosFernandes de MacedoIntrodução: Pacientes com leuc<strong>em</strong>ia aguda pod<strong>em</strong> apresentar fadiga e fraqueza dosmúsculos respiratórios devido à quimioterapia e à imobilidade após o tratamento. Aimobilidade, por sua vez, pode afetar vários órgãos e sist<strong>em</strong>as, incluindo o respiratório,podendo ocorrer distúrbio na ventilação. Considerando os resultados potenciais dotreinamento muscular respiratório, o objetivo deste estudo foi avaliar uma metodologiaproposta para treinamento muscular inspiratório para essa população. Materiais <strong>em</strong>étodos: Trata-se de um estudo piloto experimental, do tipo quase experimental antesdepoiss<strong>em</strong> grupo controle. Três pacientes ambulatoriais com diagnóstico de leuc<strong>em</strong>iaaguda (linfóide ou mielóide) na fase de manutenção do tratamento quimioterápico eidade entre cinco e 15 anos participaram deste estudo. Após a avaliação da força muscularrespiratória os pacientes realizaram um período de cinco s<strong>em</strong>anas de treinamentomuscular inspiratório (TMI) domiciliar, diariamente, respirando por 15 minutos por meiodo aparelho Threshold ® , com uma carga de 30% da pressão inspiratória máxima, duasvezes por dia, num total de 70 sessões. Análise estatística: Os dados foram analisadospor meio do programa estatístico SPSS 14.0 (Statistical Package for the Social Science).Segundo a prova de Kolmogorov-Smirnov, os dados do estudo apresentaram distribuiçãonormal e, sendo assim, para verificar as diferenças da PImax e PEmax de acordo coma carga pressórica imposta, com o t<strong>em</strong>po de treinamento e com a carga e o t<strong>em</strong>po detreinamento simultaneamente, foi utilizada a ANOVA two-way (teste de Turkey naanálise post hoc). Resultados: Ao término das cinco s<strong>em</strong>anas de treinamento, tanto aPImax como a PEmax de todos os indivíduos aumentaram. Os resultados mostraramque o ganho de força muscular inspiratória foi estatisticamente significativo <strong>em</strong> relaçãoà carga pressórica imposta, principalmente quando os pacientes treinaram com cargaigual ou superior a 39cmH2O, mas não houve significância estatística quando as pressõesrespiratórias foram comparadas ao t<strong>em</strong>po de treinamento ou a esse t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> interaçãocom a carga. Conclusões: Nosso estudo indica que o TMI pode ser eficaz para ganhode força muscular inspiratória na população estudada, especialmente utilizando cargasiguais ou superiores a 39cmH2O. Porém, considerar <strong>em</strong> estudos posteriores um t<strong>em</strong>po detreinamento mais prolongado, a avaliação de outras variáveis e a comparação com outrosgrupos, utilizando uma amostra maior seria adequado para o alcance de resultados quenos permitiriam realizar inferências mais consistentes.447 Treino muscular respiratório com thresholdou voldyne: qual o mais efetivo? $Email:vivischmidt86@hotmail.comViviane Schmidt, Laise Deisi Bender, Franciele Nunes, Ana Cláudia Heinen, Isabella Martinsde Albuquerque, Dulciane Nunes PaivaIntrodução: Os músculos respiratórios pod<strong>em</strong> aumentar sua força e resistência atravésde um programa de treinamento com carga adequada, podendo assim evitar a fadigamuscular respiratória, melhorando a função ventilatória e a qualidade de vida dosindivíduos. Objetivos: Avaliar e analisar o incr<strong>em</strong>ento da força muscular respiratóriapor meio das medidas de pressões respiratórias máximas (PImax e PEmax), a partir dotreinamento muscular respiratório produzido pelo Threshold e pelo Voldyne <strong>em</strong> adultosjovens hígidos e sedentários. Materiais e métodos: Foi realizado um estudo experimentaldo tipo ensaio clínico, randomizado e de caráter prospectivo, onde 40 indivíduos dosexo f<strong>em</strong>inino foram submetidos a 30 dias de treino muscular respiratório. A amostrafoi randomizada <strong>em</strong> três grupos (grupo controle n =14; grupo Threshold n=13 e grupoVoldyne n=13), sendo que o grupo controle foi submetido a exercícios respiratórios.Foram incluídas mulheres com idades entre 18 e 31 anos, sendo excluídas tabagistas epraticantes de atividade física. Foram realizados exames espirométricos para atestar acapacidade pulmonar normal no início do treinamento e a manovacuometria pré-treino,15 dias e 30 dias após a intervenção. Análise estatística: Utilizou-se a análise de variânciaANOVA (SPSS 12.0) para comparação intragrupo e intergrupo (p
houve redução progressiva do PFE de acordo com o aumento dos níveis de PEEP até15cmH2O, d<strong>em</strong>onstrando o recrutamento progressivo do sist<strong>em</strong>a.451 Treinamento muscular periférico (TMP) durantea h<strong>em</strong>odiálise (HD) <strong>em</strong> pacientes com doençarenal crônica (DRC) $Email: laura.severo@hmv.org.brLaura Severo da Cunha, Luciana Correa Rejane Neves, Francine CantarelliIntrodução: A terapia dialítica é capaz de prolongar a vida de pacientes com doençarenal crônica (DRC), entretanto, não evita prejuízos determinados pela patologia de basee pelo próprio tratamento. O treinamento muscular periférico (TMP) pode promover aredução dos sintomas relacionados e a melhora funcional. Objetivo: Avaliar os efeitosdo TMP na capacidade funcional e na qualidade de vida desses pacientes. Materiais <strong>em</strong>étodos: Ensaio clínico pareado. Estudou-se sete indivíduos com idades entre 29 e84 anos, portadores de DRC. Os sujeitos foram avaliados antes e após o protocolo pormeio do teste da caminhada dos seis minutos (TC6), Questionário de Qualidade de VidaSF36(QQVSF36) e pelo teste de 1RM para extensores de joelho, a cada 12 sessões. T<strong>em</strong>pode aplicação protocolo: quatro meses, na freqüência de duas vezes por s<strong>em</strong>ana, após 45minutos de início e antes dos últimos 45 minutos finais da sessão de h<strong>em</strong>odiálise (HD),<strong>em</strong> função da instabilidade clínica decorrente da rápida perda de volume. Pacientes commaior volume a perder foram atendidos logo no início da sessão. A carga utilizada foi de50% da obtida no teste de 1RM; <strong>em</strong> três séries de dez repetições; para resistência utilizouse30% da carga obtida no teste, no grupo de extensores de joelho. Foram trabalhadostodos os grupos musculares de m<strong>em</strong>bros inferiores (MI), além dos abdominais e glúteos,com exercícios isométricos e isotônicos livres de carga. Análise estatística: Teste t deStudent e de Wilcoxon Signed Ranks. Resultados e conclusões: Dos pacientes, 70% eramdo sexo masculino, com média de idade de 54 anos. Antes e após as 30 sessões, foramobservadas as seguintes medidas (média±DP): carga tolerada por MID, 4,7±3,03 versus6,1±2,54Kg; por MIE 4,8±3,13 versus 6,2±2,75Kg, p
130Email: fi siocardiopulmonar@metrocamp.com.brAlice Bella Lisbôa, Carolina Sançana Rocha, Caroline Pereira Ramos, Rafael Cofi ño de SáIntrodução: A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma infecção do trato respiratórioinferior que acomete crianças preferencialmente nos primeiros dez meses de vida.Causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, é considerada a maior causa deinternações hospitalares no inverno, consumindo grande parte dos recursos destinadosà saúde. Apesar das evidências clínicas ainda <strong>em</strong>píricas de sucesso há a necessidade decomprovar a eficácia da <strong>fisioterapia</strong> respiratória na BVA. Objetivos: Este estudo objetivoucomparar a eficácia das manobras de <strong>fisioterapia</strong> respiratória atuais e convencionais notratamento ambulatorial de lactentes com BVA, para identificar as técnicas desobstrutivasmais eficientes. Materiais e métodos: Nove pacientes com idade média de oito mesesdiagnosticados com BVA foram encaminhados para <strong>fisioterapia</strong> respiratória e divididosrandomicamente <strong>em</strong> dois grupos. Após avaliação inicial, realizaram inalação com sorofisiológico 0,9% antes da terapia. O primeiro grupo recebeu manobras convencionais(Tapotag<strong>em</strong>, Vibração, Drenag<strong>em</strong> Postural) e outro grupo as atuais (ELPr, TosseProvocada). Foram avaliadas as seguintes variáveis antes e após as sessões: Score Clínico deWang (1992), que quantifica a dificuldade respiratória do paciente; a SatO2 e a freqüênciacardíaca (FC). Para o tratamento estatístico dos dados foram utilizados o teste de ANOVAe teste t de Student. Resultados: O Score Clínico de Wang para o grupo tratado commanobras convencionais foi de 2,68±1,4 antes da terapia e de 1,84±0,91 depois (p
<strong>em</strong> solo como tratamento na DPOC, por meio da avaliação da qualidade de vida, dacapacidade de exercício e das pressões respiratórias. Materiais e métodos: Foramselecionados pacientes DPOCs, acima de 40 anos, de ambos os sexos e clinicamenteestáveis. Na avaliação realizou-se anamnese, teste de caminhada <strong>em</strong> seis minutos (Dp6) deacordo com a American Thoracic Society, espirometria segundo as Diretrizes para Testesde Função Pulmonar (2002), Questionário de Qualidade de Vida Saint George (QQV),escala de Borg, pressão inspiratória máxima (PImax) e expiratória máxima (PEmax). Asmedidas das PImax/PEmax foram realizadas por três vezes e utilizado o melhor resultado.Durante quatro meses os pacientes fizeram duas sessões s<strong>em</strong>anais de <strong>fisioterapia</strong>, uma<strong>em</strong> solo e outra na piscina, com uma hora de duração cada, constando de aquecimento,alongamento, condicionamento, exercícios respiratórios, fortalecimento e relaxamento.Após esse período foram reavaliados. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Bioéticada instituição. Análise estatística: As variáveis numéricas foram avaliadas quanto àdistribuição de normalidade (teste de Shapiro-Wilk); quando atingiram seus pressupostosforam apresentadas <strong>em</strong> média e desvio padrão. Para compará-las foi utilizado o testet quando a distribuição foi normal ou Wilcoxon quando a distribuição foi não normal.As análises foram feitas no programa SPSS e a significância estatística foi estipulada<strong>em</strong> 5% (p
132apesar de não apresentar sepse (152,9±10,1 versus144,6±11,5mmHg). A FC não foi afetadapela indução da hipertensão ou sepse. A relação peso úmido/peso seco não apresentoudiferença entre os grupos. Conclusões: A hipertensão arterial não modulou o quadro desepse, avaliado pela PAM, FC e ed<strong>em</strong>a pulmonar.464 Efeitos imediatos da ventilação nãoinvasiva <strong>em</strong> doentes com insufi ciênciarespiratória crônica $Email: vaniasantossilva@hotmail.comVânia S. Silva, Tiago Pinto, Miguel R. Gonçalves, João C WinckIntrodução: A ventilação mecânica não invasiva (VNI) é uma terapêutica estabelecida notratamento de pacientes crônicos com patologia restritiva. Na doença pulmonar obstrutivacrônica (DPOC) estável, o seu uso é controverso, <strong>em</strong>bora haja evidência da sua eficácia <strong>em</strong> umgrupo selecionado de doentes. Objetivo: Descrever e analisar os diversos efeitos fisiológicosde um pequeno período de VNI <strong>em</strong> pacientes estáveis com insuficiência respiratóriacrônica. Materiais e métodos: Duzentos e trinta e nove pacientes (100 mulheres) foramincluídos no estudo. Todos os pacientes tinham critérios específicos de VNI domiciliária,avaliados pela gasometria arterial, oximetria noturna e provas funcionais respiratórias. Cadapaciente foi submetido a um período de uma hora de VNI (IPAP=17,5±3,2; EPAP=7,9±2,6).Oxigênio supl<strong>em</strong>entar foi utilizado para manter o valor mínimo de saturação acima de93%. Durante a VNI o paciente foi monitorizado pela oximetria (SatO2), CO2 transcutâneo(TcCO2) e a cada 15 minutos o valor de SatO2, TcCO2, freqüência respiratória (Fr), volumecorrente (Vt) e fugas ( f) foram registrados. Análise estatística: Foi utilizado o SPSS 14.0 paraanálise estatística descritiva e testes não paramétricos com nível de significância de p
468 Electromyography in Chronical ObstructivePulmonary Disease patients duringspirometry $Email: nelson_fst@hotmail.comNelson Francisco Serrão Júnior, Thaís Helena Abrahão, Thomaz Queluz, Hugo Hyung BokYoo, Maria Cristina Chavantes, César Ferreira Amorim, Alessandra Oliveira Campos, ThaísHelena de Freitas, Flávia LadeiraIntroduction: The electromyography has been studied in order to become a methodof evaluation of the respiratory muscles, being of bigger comfort to the patient,preventing bigger overloads to the organism of each individual, imposed by thespirometry and pulmonary diseases (than chronic obstructive pulmonary disease).Objectives: To compare the electromyographic activity of the rectus abdominal upperand lower muscles in individuals with COPD and without COPD during slow vitalcapacity maneuver; and to evaluate the real effectiveness of the studied muscles.Materials and methods: In this work, ten individuals have been analyzed, withfactors of intrinsic risk for COPD, and divided in two groups: group 1 (volunteerswith COPD) and group 2 (volunteers without COPD). It has been used in the presentstudy, an electromyograph EMG syst<strong>em</strong> of Brazil and a computerized SpirometerMasterScope Jaeger. The collection of the electromyographic signal was carriedthrough simultaneously the LVC maneuver. The LVC maneuver was guided accordingto I Brazilian Consensus of Espirometry (1996). The electromyographic signal wascollected from the moment where the volunteer placed the spirometric nipple in th<strong>em</strong>outh, being finished to the end of the LVC maneuver. Statistic analysis: For analysisof this study, p-value was carried through the independent test t-Student (
Introdução: A técnica de vídeo-laparoscópica significa um grande salto para odesenvolvimento do tratamento cirúrgico das afecções abdominais. Porém, a fisiopatologiado pneumoperitônio, indispensável ao ato laparoscópico, indica possíveis limitaçõeselásticas da musculatura diafragmática, fazendo com que o pulmão e o coração, commenores resistências, cedam à força motriz imposta. Objetivos: Avaliar a mobilidadediafragmática durante a cirurgia vídeo-laparoscópica. Materiais <strong>em</strong>étodos: A pesquisa, dotipo experimental, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Joãode Barros Barreto, de acordo com os princípios do COBEA foi desenvolvida no Laboratório deCirurgia Experimental na Universidade do Estado do Pará. A amostra de 14 suínos machos daraça Landrace foi subdividida igualitariamente <strong>em</strong> subgrupos “10” com 10mmHg e “15” com15mmHg de pressão abdominal, permanecendo nesses níveis por 60 minutos. Para análise damobilidade diafragmática foi realizada, nas fases de pré, trans e pós-insuflação, a monitoraçãopor imagens de ultra-sonografia tóraco-abdominal, utilizando-se o ultra-som (SDU350da marca Shimadzu). Análise estatística: A análise estatística da significância se deu pormeio do teste t de Student, sendo na primeira etapa para dados pareados e na segunda etapapara amostras independentes. O nível de significância dotado foi α=0,05 ou 5%. Resultados:Amplitude diafragmática média <strong>em</strong> suínos do grupo “10” (n=7 e PIA=10mmHg) para as fasespré-insuflação, cinco minutos pós-insuflação (5´PI), 30 minutos pós-insuflação (30´PI), 60minutos pós insuflação (60´PI) apresentaram resultados significativos, com p=0,00001 e, noperíodo de cinco minutos após a desinsuflação, p=0,0470. Amplitude diafragmática média<strong>em</strong> suínos do grupo “15” (n=7 e PIA=15mmHg) para as fases pré-insuflação, cinco minutospós-insuflação (5´PI), 30 minutos pós-insuflação (30´PI), 60 minutos pós insuflação (60´PI)apresentaram resultados significativos, com p=0,00001, porém, o período de cinco minutosapós a desinsuflação, não obteve resultados significantes, com p=0,2408. Entretanto, quandocomparados os dois níveis de pressão, não houve diferença estatisticamente significante,enfatizando que os níveis de pressão adotados não interferiram no grau de mobilidade domúsculo diafragma. Conclusões: Ocorreu restrição da mobilidade diafragmática durante ainsuflação da cavidade peritoneal <strong>em</strong> suínos. A restrição da mobilidade diafragmática, nãoestá relacionada ao nível pressórico correspondente a faixa de 10 a 15mmHg, que pode serconsiderada segura para a utilização do pneumoperitônio.473 Atenuação da lesão pulmonar aguda induzidapor sepse <strong>em</strong> camundongoscom alergia alimentar $Email: gi.fi sio.magalhaes@hotmail.comGiselle Santos-Magalhães, Graziela Silva, Ana Paula Araújo, Bruna Horta Vilela Guadagnin,Leonardo Silva Augusto, Denise Cara, Daniela Longo Gargiulo, José Carlos Serufo, MarceloVidigal Caliari, Marcus Vinícius Melo Andrade, Maria da Glória Rodrigues-MachadoIntrodução: Estudos experimentais d<strong>em</strong>onstram que a infecção bacteriana modulaas respostas alérgicas. Objetivos: Avaliar os efeitos da lesão pulmonar aguda (LPA)induzida por sepse <strong>em</strong> camundongos com alergia alimentar mediada por IgE. Materiaise métodos: Foram utilizados 50 camundongos BALB/c machos (seis s<strong>em</strong>anas), divididosaleatoriamente <strong>em</strong> quatro grupos: 1) controle (ctrl, n=10); 2) lesão pulmonar aguda(sepse, n=15), 3); alérgico (AL, n=10) e 4); alérgico com indução de LPA (AL-sepse, n=15).A indução da alergia alimentar foi realizada pela injeção de ovalbumina (OVA, 10μg)adsorvida <strong>em</strong> hidróxido de alumínio Al(OH)3 (1mg) via sub-cutânea. Após 14 dias osanimais receberam a segunda sensibilização. Aos 21 dias da primeira sensibilização atéo final do experimento, os animais tiveram como única fonte líquida, a solução de águacontendo clara de ovo a 20% (desafio oral). Os animais foram sacrificados 24 horas apósa LPA induzida por ligadura e perfuração do ceco, 48 após de desafio oral. Realizou-selavado bronco-alveolar (BAL) <strong>em</strong> 24 animais. O pulmão esquerdo dos d<strong>em</strong>ais animaisfoi utilizado para análise histológica e morfométrica. O ed<strong>em</strong>a pulmonar (relação pesoúmido/peso seco) foi avaliado no lobo inferior do pulmão direito. Para as comparaçõesmúltiplas foi utilizado one-way ANOVA seguida pelo teste de Newman Keuls. O valorde p< 0,05 foi considerado significativo. Resultados: A sensibilização com ovalbuminaaumentou significativamente os níveis de IgE (95±8 versus 701±18 U.A.). O grupo sepseapresentou área de ed<strong>em</strong>a intersticial significativamente maior que os grupos ctrl ALe AL-sepse, nos terços superior, médio e inferior, respectivamente. Os grupos ctrl, AL eAL-sepse não diferiram entre si. O infiltrado celular no grupo sepse foi significativament<strong>em</strong>aior que o ctrl <strong>em</strong> todo pulmão esquerdo. No terço médio foi observado que os gruposAL e AL-sepse não diferiram entre si, mas foram significativamente maiores que o ctrl. Oed<strong>em</strong>a pulmonar foi significativamente maior nos grupos sepse e AL-sepse <strong>em</strong> relaçãoaos seus controles. O BAL mostrou resposta inflamatória significativa no grupo sepse.Conclusões: Nossos resultados d<strong>em</strong>onstram que a alergia alimentar mediada por IgEatenuou o ed<strong>em</strong>a intersticial e o infiltrado celular, além de reduzir a resposta celular doBAL <strong>em</strong> camundongos com LPA induzida por sepse.474 Efeito de diferentes níveis de EPAP sobre afreqüência respiratória de indivíduos hígidos $Email: dannuey@yahoo.com.brDannuey Machado Cardoso, Genocir Franke, Paulo Ricardo Masiero, Bernardo Leão Spiro,Isabella Martins de Alburquerque, Dulciane Nunes Paiva, Sérgio Saldanha Menna BarretoIntrodução: A freqüência respiratória (Fr) é uma medida efetiva do trabalho respiratóriosendo uma variável fisiológica de boa acurácia e de fácil realização. Diz respeito àfreqüência de inputs sensoriais advindos do Sist<strong>em</strong>a Nervoso Central (SNC) para osfusos dos músculos respiratórios, sendo considerado normal no adulto <strong>em</strong> repousoum valor entre 12 e 20 incursões respiratórias por minuto, sendo sua aferição feita pormeio da observação do movimento da parede torácica durante um minuto. A pressãopositiva expiratória (EPAP) é um recurso que produz aumento do volume pulmonar <strong>em</strong>elhora dos níveis de oxigenação. Concomitant<strong>em</strong>ente, sabe-se que um dos efeitosda EPAP é o aumento do trabalho respiratório. Objetivos: Avaliar o efeito da EPAP de10, 15 e 20cmH2O sobre a Fr de indivíduos hígidos. Materiais e métodos: Trata-se deensaio clínico randomizado e não-cego (n=30), fizeram parte da amostra 15 mulheres e15 homens, hígidos e não-tabagistas, com idade entre 22 e 42 anos (28,27±5,4) e IMC de23,37±2,35Kg/m2, <strong>em</strong> que foi aplicada EPAP por máscara facial siliconizada (RHDSONVital Signs Galy) com nível de pressão positiva regulada por válvula spring loaded, sendo aadaptação da máscara e a aferição da Fr feita na posição sentada (90º) durante 30 minutos.A Fr foi aferida pela contag<strong>em</strong> do número de incursões respiratórias <strong>em</strong> um minuto, sendoesta obtida antes (controle) e 10, 20 e 28 minutos após a adaptação do EPAP. Os indivíduosforam distribuídos <strong>em</strong> grupo 1 (EPAP 10 cmH2O) (n=10), grupo 2 (EPAP 15cmH2O)(n=10) e grupo 3 (EPAP 20cmH2O) (n=10). Análise estatística: Utilizou-se para análisedos resultados o software SPSS 14.0, por meio da análise de variância (ANOVA) e tste posthoc (p
e o t<strong>em</strong>po de exercício aumentaram significativamente nos animais c-exe (6,3±0,7g e8,0±0,7minutos versus 10,6±3,6g e 13,9±5,5minutos) e pq-exe (6,7±1,0g e 8,9±1,1minutoversus 8,4±1,9g e 11,1±2,7minutos) <strong>em</strong> relação aos grupos c-sed (6,3±0,7g e 7,4±1,1minutoversus 6,8±1,0g e 8,5±1,1minuto) e pq-sed (8,7±2,1g e 11,6±4,1minuto versus 6,8±1,0gversus 8,5±1,1minuto). Entretanto, a carga final e o t<strong>em</strong>po de exercício do grupo pq-exe(8,4±1,9g e 11,1±2,7minutos) foi significativamente menor que o grupo c-exe (10,6±3,6ge 13,9±5,5minutos) Os níveis basais e após o exercício de lactato não foram afetados peladisfunção respiratória. Conclusões: O programa de treinamento <strong>em</strong> piscina melhoroua capacidade funcional dos animais com fibrose pulmonar. Entretanto, o des<strong>em</strong>penhofísico desses animais apresentou-se atenuado quando comparado com o grupo controle.477 Alergia alimentar IgE-dependente atenuaestresse oxidativo <strong>em</strong> animais com lesãopulmonar aguda $Email: gi.fi sio.magalhaes@hotmail.comGiselle Santos-Magalhães, Virgínia Soares L<strong>em</strong>os, Letícia Teixeira Bicalho, Enoe LopesVarandas, Aline Mara de Carvalho, Ana Carolina Vale Abras, Grazielle Caroline Silva, JakelinyBueno Marques, Marcelo Vidigal Caliari, José Felipe Pinho, Daniela Longo Gargiulo, DeniseCara, Luciano dos Santos Aggum Capettini, Maria da Glória Rodrigues-MachadoIntrodução: O estresse oxidativo é um dos principais mecanismos envolvidos napatogênese da lesão pulmonar aguda (LPA). Objetivos: Avaliar o estresse oxidativo <strong>em</strong>camundongos com alergia alimentar induzida por ovalbumina (OVA) e lesão pulmonaraguda por intoxicação por paraquat. Materiais e métodos: Foram utilizados 50camundongos machos, com seis s<strong>em</strong>anas de idade, da linhag<strong>em</strong> BALB/c. Os animais foramdivididos aleatoriamente <strong>em</strong> quatro grupos: 1) controle (ctrl, n=10); 2) lesão pulmonaraguda (LPA, n=12); 3) alérgico (AL, n=10) e 4) alérgico com indução de LPA (AL-LPA,n=16). A indução da alergia alimentar foi realizada pela injeção de OVA (10μg) adsorvida<strong>em</strong> hidróxido de alumínio Al(OH)3 (1mg) via sub-cutânea (primeira sensibilização).Após 14 dias os animais receberam a segunda sensibilização. Aos 21 dias da primeirasensibilização até o final do experimento, os animais tiveram como única fonte líquida,a solução de água contendo clara de ovo a 20% (desafio oral). A LPA foi induzida porinjeção de paraquat (50mg/kg, intraperitoneal). Os grupos ctrl e AL receberam salina<strong>em</strong> volume correspondente (0,5mg/kg). Os animais foram sacrificados 24 horas após aLPA, 48 após de desafio oral. A peroxidação lipídica foi avaliada pela determinação dosníveis de hidroperóxidos (ROOH) pelo método de FOX-2 modificado no pulmão, rim,fígado e coração. A determinação dos lipídeos hepáticos totais foi realizada pelo métodode Folch. Para as comparações múltiplas foi utilizado one-way ANOVA seguida peloteste de Newman Keuls. O valor de p< 0,05 foi considerado significativo. Resultados: Asensibilização com OVA aumentou significativamente os níveis de IgG1 e IgE. O grupoLPA (18,20±3,49abs/mg de proteína) apresentou aumento significativo de ROOH nopulmão <strong>em</strong> relação aos grupos ctrl (5,83±1,29abs/mg de proteína) e AL (7,89±0,58abs/mg de proteína). Os níveis de ROOH no coração, fígado e rim não diferiram nos diferentesgrupos. Os grupos LPA e AL-LPA apresentaram aumento significativo do conteúdolipídeo no fígado <strong>em</strong> relação aos grupos ctrle AL. Não foi observada alteração na relaçãopeso do fígado/peso corporal nos diferentes grupos. Conclusões: A LPA aumentou asíntese hepática de lipídeos, provavelmente devido à depleção energética induzida poressa síndrome. A alergia alimentar atenuou a peroxidação lipídica pulmonar induzidapela LPA.478 Breath-Stacking e reanimador de Müller:avaliação do volume pulmonar <strong>em</strong> adultossaudáveis $Email: michellycamelo@yahoo.com.brDenise Maria Sá Machado Diniz, Elainy Aguiar Parente, Graziella Prado Cunto, SilvanaPinheiro de Oliveira, Michelly dos Santos Camelo, Renata Santos Almeida, Francisca CamilaCoelho dos Reis, Marcia de Oliveira Bel<strong>em</strong>, Naiara de Carvalho Laurentius T Hoen,Hortência Santos Da SilveiraIntrodução: A reexpansão pulmonar corresponde a um procedimento o qual estimulaa ação muscular inspiratória por meio de exercício respiratório que prolonga o t<strong>em</strong>poinspiratório, tal como a inspiração profunda, a inspiração fracionada ou <strong>em</strong> t<strong>em</strong>pos e aespirometria de incentivo. Algumas modalidades de expansão pulmonar são usadasatualmente. O reanimador de Müller (RM) é uma forma simples e segura de oferecer aopaciente de forma não invasiva um suporte ventilatório. O breath-stacking (BS) é umanova modalidade de expansão pulmonar ideal para ser utilizada <strong>em</strong> pacientes poucocooperativos por não necessitar de sua compreensão e colaboração, promovendo umaumento do volume pulmonar. Objetivos: analisar o efeito da técnica de breath-stackinge reanimador de Müller no volume pulmonar de adultos saudáveis. Materiais e métodos:O estudo foi realizado no laboratório cardiorespiratorio da faculdade FIC, no período deabril a junho de 2008. A população foi constituída por universitários saudáveis de ambosos sexos, alunos do 1º ao 4º s<strong>em</strong>estre do curso de Fisioterapia da Faculdade Integradado Ceará. Para a amostra solicitou-se a coordenadora do curso de Fisioterapia uma listacom todas as disciplinas de todas as turmas do 1º ao 4º s<strong>em</strong>estre. Foram excluídos osvoluntários que apresentaram patologia pulmonar prévia, praticavam atividade física, <strong>em</strong>estado de gravidez. Análise estatística: Os dados obtidos foram classificados e submetidosa análise estatística por meio do Microsoft Excel e <strong>em</strong> seguida apresentados <strong>em</strong> forma d<strong>em</strong>édia±desvio padrão e gráficos. Resultados: Fazendo um comparativo entre as pressõesde 20 e 30c excluídos, os que apresentaram patologia pulmonar prévia, praticavamatividade física, <strong>em</strong> estado de gravidez mH2O, verificou-se que a pressão foi diretamenteproporcional à expansão pulmonar sentida, ou seja quanto maior a pressão executada novoluntário maior foi o relato de expansão pulmonar. Ainda comparando, percebeu-se quequanto maior a pressão executada menor a SpO2, porém não existe literatura descrita quecomprove ambas relações. No BS verificou-se que 60% do entrevistados relataram quesentiram significante expansão pulmonar que talvez seja pelo próprio movimento de forçaro acúmulo de ar no pulmão. Conclusões: As técnicas estudadas apresentam repercussõesna PA e FC, porém o RM promoveu uma redução mais acentuada principalmente quandoutilizou 30cmH2O enquanto que o BS não apresentou alteração significativa. O BS podeser utilizado como um recurso útil para pacientes pouco cooperativos que necessitam deexpansão pulmonar, s<strong>em</strong> causar repercussões h<strong>em</strong>odinâmicas significativas.479 Estudo comparativo do volume pulmonaralcançado durante a técnica de espirometria deincentivo pelo uso do Voldyne ® e Spiro Ball ® $Email: michellycamelo@yahoo.com.brDenise Maria Sá Machado Diniz, Francisca Camila Coelho dos Reis, Graziella PradoCunto, Silvana Pinheiro de Oliveira, Michelly dos Santos Camelo, Renata Santos Almeida,Elainy Aguiar Parente, Marcia de Oliveira Belém, Naiara de Carvalho Laurentius T Hoen,Hortência Santos da Silveira, Felype Regis Teixeira Gomes, Ana Virginia Santiago de OliveiraPerdigãoIntrodução: Espirômetros de incentivo são equipamentos mecânicos utilizados parainduzir o paciente a realizar uma inspiração máxima sustentada por intermédio de umfeedback visual, são divididos <strong>em</strong> volume e fluxo dependente. Objetivos: Analisar o volumepulmonar alcançado durante a técnica de espirometria de incentivo pelo uso do Voldyne ®e Spiro Ball ® . Materiais e métodos: Realizou- se um estudo intervencional, descritivo,transversal e de natureza quantitativa, no Laboratório de Fisioterapia Cardiorrespiratóriada Faculdade Integrada do Ceará (FIC), no período de abril a maio de 2008. A populaçãofoi composta de alunos voluntários do curso de Fisioterapia da (FIC) do 1° ao 4° s<strong>em</strong>estre.Os dados foram obtidos pela aplicação de um formulário, contendo a identificação dovoluntário, parâmetros mensurados pré e pós aplicação da técnica e algumas questõespessoais referentes a sensação durante a realização das técnicas. Este questionário foiaplicado no dia da realização das técnicas. A amostra foi composta por dez voluntários.Para análise estatística utilizou-se o Excel e apresentado <strong>em</strong> forma de gráficos. Análiseestatística: Os dados obtidos foram classificados e submetidos à análise estatística pormeio do Microsoft Excel e <strong>em</strong> seguida apresentados <strong>em</strong> forma de média±desvio padrãoe gráficos. Resultados: Para os volumes pulmonares medidos durante a execução dastécnicas, observou-se uma média entre 2072±16,8 e 2451±51,07 para o Voldyne ® e entre2050±52,44 e 2545±70,34 para o Spiro Ball ® , não evidenciando diferenças nesses valoresentre as duas técnicas. Conclusões: Com esse estudo pode-se concluir que não houvediferença dos volumes pulmonares entre as técnicas estudadas.480 Comparação entre os padrões de expiração total(PET – Souchard/RPG) e de expiração máximafi siológico (PEMF) $Email: s<strong>em</strong><strong>em</strong>ail@s<strong>em</strong><strong>em</strong>ail.com.brPaulo Jorge Abreu, Leonel Silva, Augusto Gil Pascoal, Núria CorreiaIntrodução: Com a edição do seu livro “Le Diaphragme”, <strong>em</strong> 1980, Souchard trouxe novosconceitos sobre a reeducação do diafragma. O PET (respiração invertida seguida deexpiração abdominal) foi descrito por Souchard e é usado como o padrão respiratório dereferência no seu método Reeducação Postural Global (RPG). Segundo o mesmo autor essepadrão envolve uma descida do diafragma durante a expiração e permite um ganho de 10%na capacidade vital (VC) relativamente ao padrão fisiológico. Apesar da aparente lógicados pressupostos, estes nunca foram postos <strong>em</strong> evidência. Objetivos: Comparação entreo PEMF e PET realizados <strong>em</strong> decúbito dorsal, no que se refere a VC, posição de descidamáxima do diafragma (PDMD), excursão diafragmática (ED) e variação do diâmetroântero-posterior do tórax (VDAPT). Materiais e métodos: A amostra de conveniênciaenvolveu 12 sujeitos do sexo masculino com idades compreendidas entre 19 e 28 anos epossuidores de prova espirométrica basal normal. Este grupo foi previamente treinadono PET. Foram utilizados como instrumentos um espirometro portátil para obtenção dosvalores da VC, e um fluoroscópio, que permitiu a obtenção de imagens do movimento doh<strong>em</strong>idiafragma direito registadas <strong>em</strong> t<strong>em</strong>po real por uma câmera de vídeo diretamentedo monitor do fluoroscópio. Outra câmera de vídeo registro a VDAPT. Análise estatística:Para comparação das variáveis estudadas relativamente aos dois padrões expiratórios,foi utilizado o teste t de Student para amostras <strong>em</strong>parelhadas. Resultados: Os valores daCV do PEMF (média±desvio padrão 5,33±0,58litros) revelaram-se superiores (p=0,006)ao PET (5,05±0,64litros). A PDMD no PET (média=2,47cm) é superior e estatisticamentesignificativa (p
481 Volume e expansão pulmonar <strong>em</strong> idososdurante a execução das técnicas de EPAPe Breath-Stacking $Email: naiaralaurentius@hotmail.comDenise Maria Sá Machado Diniz, Hortencia Santos da Silveira, Elainy Aguiar Parente, GraziellaPrado Cunto, Silvana Pinheiro de Oliveira, Michelly dos Santos Camelo, Renata SantosAlmeida, Francisca Camila Coelho dos Reis, Marcia de Oliveira Belém, Naiara de CarvalhoLaurentius T Hoen, Felype Regis Teixeira Gomes, Ana Virginia Santiago de Oliveira PerdigãoIntrodução: Dentre as técnicas de expansão pulmonar utilizadas, pode-se citar o EPAP(pressão positiva expiratória nas vias aéreas), a sustentação máxima da inspiração e oBreath-Stacking, as quais previn<strong>em</strong> atelectasias, contribu<strong>em</strong> para r<strong>em</strong>oção de secreçõesbrônquicas, mobilizam os músculos respiratórios e evitam a diminuição da capacidaderesidual funcional. Objetivos: Verificar a influência da EPAP e Breath-Stacking no volumee expansão pulmonar <strong>em</strong> idosos do Instituto Sênior. Materiais e métodos: A população foicomposta por idosos do Instituto Sênior, e 12 idosos para a amostra, sendo esses de ambosos sexos; um grupo realizou EPAP e o Breath-Stacking, sendo que a escolha da técnicapara cada voluntário foi determinada por meio de sorteio. Análise estatística: Os dadosobtidos foram classificados e submetidos à análise estatística por meio do Microsoft Excele <strong>em</strong> seguida apresentados <strong>em</strong> forma de média±desvio padrão e gráficos. Resultados:No momento de execução da técnica do Breath-Stacking, com relação ao volumepulmonar alcançado, verificou-se uma variação de 1500±350mL a 2010,5±1047,0 na 1°série, 1,497±322,5 a 2792,9±1661,6 na 2° série e 1471,4±772,3 a 2495,0±1215,4, evidenciandoum aumento do volume. No entanto, <strong>em</strong> relação à expansão pulmonar mensurada antese após a execução da técnica de BS e do EPAP, por meio da cirtometria torácica, nãoapresentou alteração. Conclusões: A técnica de BS é um procedimento relativamentenovo, que apresenta ser um método eficaz, de baixo custo usado alternativamente ainspirometria de incentivo e que pode proporcionar um incr<strong>em</strong>ento no volume pulmonar,porém de forma s<strong>em</strong>elhante ao EPAP não afeta a circunferência torácica, após a realizaçãodas técnicas.482 Análise ultra-sonográfi ca do deslocamentodiafragmático durante a utilização do reanimadorde Müller $Email: dmsmdiniz@uol.com.brDenise Maria Sá Machado Diniz, Graziella Prado Cunto, Silvana Pinheiro de Oliveira,Michelly dos Santos Camelo, Renata Santos Almeida, Elainy Aguiar Parente, FranciscaCamila Coelho dos Reis, Marcia de Oliveira Belém, Naiara de Carvalho Laurentius T Hoen,Hortência Santos da SilveiraIntrodução: A atividade diafragmática, avaliada por meio do ultra-som é feita peloestudo dos movimentos e variação da espessura dos h<strong>em</strong>idiafragmas, por visãodireta de imagens das cúpulas, <strong>em</strong> t<strong>em</strong>po real. O reanimador de Muller é um aparelhode ventilação não invasiva, que objetiva normalizar os gases sanguíneos, diminuiro trabalho ventilatório, r<strong>em</strong>over secreções e incr<strong>em</strong>entar a ventilação. Objetivos:Analisar o deslocamento diafragmático durante a utilização do reanimador de Müllerpor meio da ultra-sonografia. Materiais e métodos: O estudo foi realizado no setor deultra-sonografia da clínica Unimag<strong>em</strong>, <strong>em</strong> Fortaleza-Ce, no período de janeiro a abrilde 2008. A escolha dos alunos foi feita por meio de sorteio, distribuídos para as noveturmas do 1º ao 4º s<strong>em</strong>estre, sendo sorteados dois alunos por disciplina de cada turma,perfazendo um total de 104 alunos. No entanto, a maioria dos alunos randomizadospara a amostra, não estava disponível e n<strong>em</strong> aceitou participar do estudo. Dessa forma,optou-se pela realização da escolha da amostra de forma que os estudantes foss<strong>em</strong>inseridos voluntariamente por opção pessoal, perfazendo um total de apenas setevoluntários. Análise estatística: Os dados obtidos foram classificados e submetidos àanálise estatística por meio do Microsoft Excel e <strong>em</strong> seguida apresentados <strong>em</strong> formade média±desvio padrão e gráficos. Resultados: O deslocamento diafragmático,durante a realização do reanimador de Muller, foi maior quando comparado com odeslocamento medido a volume corrente para ambos h<strong>em</strong>idiafragmas, exceto parao deslocamento do h<strong>em</strong>idiafragma esquerdo com uma pressão de 20cmH2O, que s<strong>em</strong>anteve constante. Quando comparou-se o deslocamento diafragmático de ambas aspressões com o deslocamento nas inspirações máximas (11±3; 9,3±2,1) esta mostrous<strong>em</strong>aior. Conclusões: Com esse estudo pode-se concluir que o reanimador de Mullerpode ser utilizado de forma eficaz para expansão pulmonar, pois promove um maiordeslocamento diafragmático quando comparado com o deslocamento obtido a umarespiração a volume corrente para os dois h<strong>em</strong>idiafragmas.483 Comparação de três técnicas na aberturado ângulo costo-diafragmático, <strong>em</strong> sujeitoss<strong>em</strong> patologia respiratória $Email: s<strong>em</strong><strong>em</strong>ail@s<strong>em</strong><strong>em</strong>ail.com.brAna Luisa Marcelino, Paulo Jorge Abreu, Raúl Alexandre OliveiraIntrodução: Não exist<strong>em</strong> estudos que comprov<strong>em</strong> a eficácia ou efetividade das técnicasutilizadas pelos fisioterapeutas no tratamento e prevenção de complicações de derramespleurais, no entanto, racionalmente pressupõe-se que uma maior abertura do ângulocosto-diafragmático, poderá contribuir para a prevenção da formação de aderênciaspleurais ao nível do seio costo-diafragmático. Objetivos: Determinar qual das trêstécnicas de tratamento (técnica 1- decúbito lateral + inspiração máxima com abduçãodo m<strong>em</strong>bro superior supra-lateral; 2- decúbito lateral + ventilação diafragmática máximaseguida de abdução do m<strong>em</strong>bro superior supra-lateral; 3- igual à técnica 2 mas com snifftelo-inspiratório), produz uma maior abertura do ângulo costo-diafragmático supralaterala 1, 2, 3 e 5cm de distância do ponto de intercepção da pleura parietal com a pleuradiafragmática, <strong>em</strong> sujeitos saudáveis. Materiais E MÉTODOS: Foram selecionados porconveniência 23 sujeitos, com idades compreendidas entre os 19 e 38 anos, sendo dezhomens e 13 mulheres. Determinou-se as diferenças entre as três técnicas, comparandoascom a posição de repouso e entre si, a 1, 2, 3 e 5cm do ponto de intercepção das pleurascostal e diafragmática. O instrumento utilizado foi a radiografia convencional, realizada<strong>em</strong> decúbito lateral. Análise estatistica: Para a comparação do repouso com as váriastécnicas e das técnicas entre si, foi utilizado o teste one-way ANOVA, com o teste posthoc de Scheffe. Resultados: Verificou-se que <strong>em</strong> todos os níveis de medição, a aplicaçãoda técnica 1 não apresentou valores diferentes do repouso. As técnicas 2 e 3 quandocomparadas com o repouso, para qualquer nível de medição, provocaram maior aberturado ângulo costo-diafragmático (p
Índice de autoresISSN 1413-3555Rev Bras Fisioter, São Carlos, v. 12 (Supl), p. 137-50, set. 2008Revista Brasileira de Fisioterapia ©AAbel Pompeu de Campos Júnior....................................76Ada Clarice Gastaldi ................................7, 27, 94, 96, 97Adalgiza Mafra Moreno .........................................40, 131Adalton Cabral Guimarães Filho.....................................42Adélia Barros.................................................................56Adriana Abath Rodrigues ...............................................49Adriana Cássia de Meneses ...........................................41Adriana Corrêa Melo ....................................................77Adriana Costa-Oliveira ....................................................1Adriana Custódio Teixeira ............................................108Adriana de Souza ..........................................................57Adriana Falcão Ferreira ..................................................37Adriana Márcia Silveira ...................................................46Adriana Maria da Silveira ................................................33Adriana Órfão ...............................................................69Adriana Paula Fontana Carvalho .....................................92Adriana Pereira da Costa Lima .......................................49Adriana Pereira da Costa Lima .......................................74Adriana Reis Brasil .........................................................46Adriana Ribeiro Lacerda ........................................91, 130Adriana S. Santos ..........................................................13Adriana Siqueira de Oliveira .........................................132Adriana Tufanin ................................................................4Adriana Vieira Macedo ............................1, 19, 33, 35, 37,38, 42, 46, 90, 91, 124Adriane F. Terra .............................................................86Adriane Pires Batiston ................................38, 62, 63, 124Adriane Schmidt Pasqualoto...........................................95Adrianna Ribeiro Lacerda...............................................93Águida Nádia M Soares .................................................34Aída Luiza Ribeiro Turquetto ....................................43, 77Alan Pinheiro Vargas ......................................................72Alane Kaline Costa e Silva .................................72, 91,130Alberto Cukier ......................................................22, 110Alberto de Andrade Vergara ..........................................57Alberto Ponzo Neto ....................................................117Ald<strong>em</strong>ar Vilela de Castro ...............................................75Aldenice Barbosa ..........................................................77Alessandra Choquetta .................................8, 30, 20, 110Alessandra da Fonseca Rosas .........................................22Alessandra da Silva ........................................................66Alessandra Freire Bucceroni .................................110, 120Alessandra Lúcia de Lima Machado ................................57Alessandra Mesquita ......................................................48Alessandra Oliveira Campos ........................................133Alessandra Quaresma Gomes ...............................90, 102Alessandra Vieira Silva..................................................101Alessandra Zanovelli-Publio ...........................................39Alessandro de Moura ....................................................69Alessandro Roberto Silveira Moreira ..............................90Alexandra Amim Lineburger ..........................................63Alexandra Siqueira Colombo .....................................6, 82Alexandre L<strong>em</strong>os Salomão ......................................30, 31Alexandre Luque ...........................................69, 105, 112Alexandre Queiroz ..................................................84, 85Alexandre Simões Dias ........................43, 95, 97, 98, 102Alice Bella Lisbôa .........................................................130Alice Fernandes Von Den Steinen ..................................62Alice Stein<strong>em</strong> ................................................................62Aline Dal Pozzo Antunes ...............................................97Aline de Moraes Ângelo ................................................37Aline de Oliveira Malheiros ............................................65Aline F. C. Silva ..............................................................78Aline Felipe Longo ...........................................17, 99, 103Aline Ferreira Guimarães ...............................................80Aline Longo ..........................................................17, 109Aline Mara de Carvalho ...............................................135Aline Maria Tonin Leoni ...........................................29, 39Aline P. Bonato ............................................................114Aline Pereira Mendes ....................................................38Aline Santana Rodrigues Oliveira ..........................114, 116Aline Silva Santos Sena ..................................................54Aline Soares Dutra ....................................................8, 70Aline Tavares Couto ......................................................80Alinny Bueno Santos .....................................................89Alisson Rihl Leontino .....................................................55Alita Paula Lopes de Novaes ....................................10, 11Allyevison Ulisses A. Cavalcanti ......................................93Aluza Pinto ....................................................................13Álvaro Lopes Quintas Neto ...........................................69Amália Pelcerman ..............................................42, 43, 44Amanda Bezerra de Andrade ........................................77Amanda C. Teixeira .....................................................118Amanda Texeira Guiera .................................................68Amaro Afrânio de Araújo Filho .....................................101Ana Barbara Alves ...........................................................2Ana Beatriz Cavalcante Reis .....................................39, 95Ana Carla Soares Mota de Carvalho ............................119Ana Carolina Assi Scalon ................................................36Ana Carolina E. Pirone ................................................118Ana Carolina Gusmão Arcoverde ..................................50Ana Carolina Negrinho de Oliveira ................................52Ana Carolina Santiago....................................................60Ana Carolina Simões Costa ...........................................60Ana Carolina Vale Abras ..............................................135Ana Clara de Albuquerque Botura .....................51, 52, 52Ana Cláudia Heinen ....................................................128Ana Claúdia Modena Garcia ..........................................61Ana Cristina Falcão Esteves ................................52, 53, 62Ana Cristina Gonçalves Carneiro ...................................23Ana Cristina Rodrigues Lacerda ...................................134Ana Cristina Silva Rebelo ...............................................45Ana Cristina Yamane Umeno ...........................12, 16, 112Ana D. Gonzaga .............................................................5Ana Damaris Gonzaga .....................................................5Ana Elisa Pialarissi Cavalaro ......................................19, 88Ana Fátima Salles ...............................................42, 43, 44Ana Karina de Oliveira Abate .........................................61Ana Karina Oliveira Abate ..............................................60Ana Laura Nicoletti Carvalho .........................................26Ana Lucia Capelari Lahóz ........................................66, 68Ana Lúcia Colange ..........................16, 18, 23, 79, 89, 98Ana Lucia das Graças ...................................................112Ana Lúcia de Gusmão Freire ............................................5Ana Luisa Marcelino ....................................................136Ana Luiza D. Geloneze .................................................69Ana Maria Caixeta .........................................................47Ana Maria Guedes do Nascimento ................................12Ana Maria Pereira Rodrigues da Silva ..............................71Ana Paula Araújo .........................................................134Ana Paula Ferraz ............................................22, 113, 115Ana Paula Gonçalves .....................................................84Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.137
138Ana Paula Guimarães de Araújo .............52, 53, 57, 58, 62Ana Paula Lima de Deus ..................................................1Ana Paula Manfi o Pereira ...............................7, 94, 96, 97Ana Paula Melo .............................................................63Ana Paula O. Rodrigues .................................................69Ana Paula Pires ..............................................................68Ana Paula Platz ..............................................................29Ana Paula Ramos Alvim ...............................................125Ana Paula Tanajura Lima ........................................78, 126Ana Virginia Santiago de Oliveira Perdigão ............135, 136Anamaria Cavalcante e Silva.........................................123Anamaria Fleig Mayer ................................19, 22, 47, 116Ananda Rucatti ................................................................2Anastácio Helena ........................................................127Anderson Gonçalez de Oliveira .....................................36André Chaves Miranda Campos ..............................65, 66André de Sá Braga Oliveira ..........................................114André Lopes Carvalho ..................................................87André Luiz Serejo .........................................................68André Morcillo Moreno ..............................................108André Oliveira ............................................................118André Paim L<strong>em</strong>os ........................................................40André Ribeiro ...............................................................83André Ricardo Gonçalves ............................................110Andrea Alves de Souza ............................................72, 74Andréa Alzamora ........................................................131Andréa Cristina Meneghini ..........................................101Andréa D. Fontana ..........................................16, 18, 106Andréa Daiane Fontana .............................15, 16, 18, 112Andréa Junqueira Souza ................................................49Andréa L. Gonçalves da Silva .......................................102Andréa Lúcia Gonçalves da Silva ............................83, 102Andrea Passuelo ............................................................51Andrea Weigel ............................................................102Andrei Pinheiro .............................................................69Andreia A. Scanavez. .....................................................23Andréia Albina Sousa Lima .............................................45Andréia Aragão Pinto .....................................................74Andréia Daiane Fontana ................................................13Andréia Paula Araújo de Moura .....................................90Andréia Rosane de Moura Valim ..................................102Andressa Borges de Carvalho ........................................97Andressa Bortoluzzi.........................................................2Andrezza de L<strong>em</strong>os Bezerra .........................................50Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.Andrezza L<strong>em</strong>os Bezerra ..........................................3, 25Ane Cristianne Araújo Gomes .......................................54Anelise Luana Fonseca Dias ...........................................97Anelise Pinzon ...............................................................51Aneliza Takhashi ............................................................51Ângela Cristina Silva dos Santos .....................................48Ângela Galeano Fernandes Alvarenga...........................124Ângela May Iwama ......................................................120Ângela Tavares Paes .....................................................119Angélica Góes Oliveira ............................................59, 75Anilda Nogueira Ramalho ..............................................73Anna Carolina Costa Cunha ..........................................85Anna Flávia N. Cl<strong>em</strong>entino ............................................86Anna Maria Marreco .....................................................28Anna Marina do Sacramento .........................................56Anna Marina Sacramento ........................................34, 53Anna Myrna Jaguaribe de Lima ......................................80Anne Carolline de Morais ......................................58, 128Anny Caroline Santos da Silva ......................117, 118, 120Antonela Murari ..........................................................131Antonia Mariela Aguirre Guedes ....................................55Antonio A. Castro .........................................................14Antônio Carlos Magalhães Duarte .............................7, 69Antonio F. Brunetto .......... 15, 18, 19, 23, 79, 88, 98, 106Antônio Fernando Araújo Machado ...............................75Antônio Fernando Brunetto 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21,28, 32, 41, 44, 88, 89, 100, 103,106, 110, 111, 112, 123, 129Antônio Fernando Ribeiro ...........................................108Antônio Francisco de Andrade .......................................12Antônio Francisco de Andrade Ferreira Filho ............10, 75Antônio Francisco Ferreira Filho .....................................64Antônio Luiz Ribeiro................................................28, 39Antônio Marcos ............................................................48Antônio Marcos Vargas Silva ........................................102Antonio Rafael Wong Ramos .......................117, 118, 120Antôno Fernando de Araújo Machado ...........................75Aparecida Luiz de Souza ................................................50Aparecida Maria Catai....................................2, 45, 48, 49Aparecida Yoshiko Eto ...................................................48Aracelly Veloso Barbosa Machado de Araújo ..................35Arlan Lins de Araújo ........................................................5Armando Almeida Júnior .............................................133Armando Augusto Almeida-Júnior ...........................59, 75Armèle Dornelas de Andrade ....... 25, 64, 73, 75, 78, 114,115, 116, 118, 126Arthur de Almeida Medeiros .....................31, 38, 62, 124Arthur Evangelista da Silva Neto ................................8, 68Audrey Borghi e Silva ....................................................48Audrey Borghi-Silva ...............................................1, 2, 49Augusto Cezar Ferraz da Costa ...................117, 118, 120Augusto Gil Pascoal .....................................................135Aurélia de Freitas Anibal Vilar .......................................101BBárbara Cristina Kimura .........................................31, 104Bárbara de Cássia Gomes Costa Batista .........................49Bárbara Martins .............................................................82Bárbara Reis Moreira Calçado .......................................13Bárbara Torres de Araújo...............................................65Barbosa R. ..................................................................122Beatriz Bonaparte Chiavegato Barros ...........................119Beatriz Martins Manzano ...........................14, 30, 31, 104Beatriz Schaan .................................................................2Belisa Duarte Ribeiro de Oliveira .................................115Bernardo Leão Spiro ...........................................133, 134Bernardo Lopes Sertã ...................................................68Bertran Gonçalves Coutinho .........................................54Betânia Luiza Alexandre .........................4, 53, 54, 86, 131Bianca Azoubel de Andrade ...........................................56Bráulio Martins Glicério .................................................86Bruna Ballen ..................................................................98Bruna Benitez Soares ..............................................62, 63Bruna Carolina Jorge Bedetti Santos ..............................87Bruna Damasceno da Rosa ..............................................5Bruna de Souza Sixel ...........................................7, 68, 77Bruna dos S. Matos .......................................................57Bruna Horta Vilela Guadagnin ......................................134Bruna Nunes Cabral .....................................................78Bruna Oliveira Silva .......................................................47Bruna V. Pessoa ...........................................................111Bruna Varanda Pessoa ...........................................18, 111Bruno Leonardo da S. Guimarães ............................70, 78Bruno Porto Pessoa .........................................13, 87, 112Bruno R. K. Dellarosa .................................................100Bruno Roberto Kajimoto Dellarosa ......15, 17, 20, 21, 106CCamila Alves Lara ................................................114, 116Camila Batista Torres .....................................................68Camila Bianca Falasco Pantoni ..............................2, 48, 49
Camila Camargos Zampa ........................................40, 47Camila Casseb e Silva ..................................................133Camila dos Reis Ferreira ..................................................5Camila Harumi Nassu Higa .................15, 17, 20, 21, 106Camila I. S. Santos...........................................................3Camila Isabel da Silva Santos ..............................19, 56, 60Camila Isabel Silva Santos ................................50, 60, 108Camila Lopes Almeida .................................................125Camila Oliveira Hammes ......................................26, 128Camila Vitelli Molinari ..................................................120Camila. Máximo Dias ..................................................108Camilla Brasilino Mendes de Sousa ........................24, 124Carina Bittar Barbosa...................................................114Carina Fonseca Lopes .................................................103Carine Moraes Vignochi ..................................................3Carla Gabriel.................................................................27Carla Houat de Brito .....................................................43Carla Marques Nicolau ........................................5, 51, 61Carlos A.M. Camillo ......................................................15Carlos Alberto Cyrillo ..................................................120Carlos Alberto Ferreira ....................................................1Carlos Alcino Nascimento Filho .....................................73Carlos André B. Cendon ...............................................72Carlos Augusto Camillo ...................................41, 44, 100Carlos H Calixto ...........................................................90Carlos Henrique Marfi l Romero ................................6, 82Carlos Henrique Silva de Andrade .........................80, 133Carlos José Oliveira de Matos........................................89Carlos Julio Tierra Criollo ..............................................40Carlos Manuel Furtado Mieiro .......................................68Carlos Marcelo Pastre ...................................................44Carlos Padovani ............................................................81Carlos Peres da Costa .................................................132Carmen Patrícia Silva de Souza ..............................24, 124Carolina Abdala .............................................................48Carolina Bagnariolli Dias Rocha ......................................30Carolina Carvalho Veloso Rodrigues ........................95, 97Carolina Chiusoli de Miranda Rocco ..................20, 52, 78Carolina Dias Rocha Bagnariolli ....................................104Carolina Duarte Castro .................................................82Carolina Farinelli Marçal ...............................................101Carolina Guimarães Reis .............................................101Carolina Gusmão Barreto ...........................................104Carolina Jannotti Bueno .................................................26Carolina S. A. de Azevedo.............................................76Carolina Sançana Rocha ..............................................130Carolina Waldeck ..........................................................77Caroline Bottlender Machado ......................................134Caroline Fernanda Chaves Bassi ....................................34Caroline He<strong>em</strong>ann Vione ..............................................84Caroline Pereira Ramos...............................................130Caroline Ribeiro de Oliveira ..........................................26Carvalho AB ...............................................................122Cássia Adriana Dalbosco .............................................125Cássia Cinara da Costa ....................................98, 99, 121Cean Nabadi Casa Granda Silva ....................................38Celeide Pinto Aguiar Peres ............................................28Celena Freire Friedrish ..................................................87Célia Aparecida Stellutti Pachioni ....................................14Célia Pereira Caldas ................................................70, 78Celize Cruz Bresciani Almeida ...........................54, 59, 75Celso Coelho ...............................................................77Celso Ricardo Fernandes de Carvalho .........................110Cenela Martha Volumnia Ramos de Morais..............65, 66César Augusto Melo e Silva .........................................122César Ferreira Amorim ...............................................133Cibele Andrade Lima.....................................................11Cibele Palhuca do Nascimento Mariano .........................51Cibelle Andrade Lima ....................................................27Cid Cleiton Andrade .....................................................65Cinthia Carvalho .........................................23, 79, 89, 98Cinthia H. S. C. Nascimento .........................................16Cínthia Rodrigues de Vasconcelos Câmara ...............26, 27Cíntia Johnston............................................4, 50, 63, 128Cíntia Juliana Janaína Harue Tamiya ................................71Cíntia Tókio Reis Gonçalves ..........................................84Cissa Lopes de Andrade ................................................49Clarissa Bentes de Araujo Magalhães .............................56Clarissa Torres Leal .....................................11, 50, 74, 77Clarissa Vieira Cavalcanti ...............................................89Cláudia Adegas Roese ...........................................88, 113Cláudia C.P. Cajá ...........................................................57Claudia Denicol Winter .........................................98, 121Cláudia Ferreira de Queiroz ..........................................39Cláudia S. Dias ............................................................107Claudia Santana Zerbinatti ...........................................120Claudia Tozato ............................................................120Claudiane Pedro Rodrigues ...........................................71Cláudio Gonçalves Albuquerque ...71, 10, 11, 24, 74, 122Cláudio Gonçalves de Albuquerque ...........10, 11, 12, 118Cláudio Vieira Catharina ................................................40Cleber Carneiro de Melo ..............................................69Cleidione Ferreira .........................................................53Cleonice Cruz ..............................................................23Cleveson Moreira Santos ..............................................83Conceição Alice Volkart Boueri ................83, 69, 105, 112Corinne Taniguchi .........................................................76Cristian Custódio Coutinho ...........................................94Cristiana Mendonça Magalhães ....................................127Cristiane Aparecida Souza Saraiva ............83, 85, 100, 106Cristiane C. Coelho ................................................84, 90Cristiane Carneiro Teixeira ..............................................1Cristiane Cenacci Coelho ..............................................89Cristiane Cenachi Coelho .......... 4, 17, 34, 53, 56, 57, 83,86, 90, 102, 103, 112Cristiane de Castro Monnerat .......................................23Cristiane de Melo Vasconcelos ....................................129Cristiane Dias Vebber ....................................................97Cristiane Golias Gonçalves ................17, 71, 99, 103, 109Cristiane Gonçalves...............................................17, 109Cristiane Leal de Morais e Silva Ferraz ...........................64Cristiane Leal M S Ferraz ...............................................65Cristiane Leal Morais e Silva Ferraz ................................40Cristiane Nogueira de Faria ...........................................89Cristiane C. Coelho ......................................................13Cristianne Carneiro Teixeira ......................33, 90, 91, 103Cristiano J M Gomes .....................................................90Cristiano Viana ..........................................................9, 71Cristiano Viana Manoel ....................................................9Cristina Luzia Peixoto ..............................................18, 19Cristina Márcia Dias.................................................18, 19Cybelle Nascimento da Silva .........................................10DDaiane Guma ...............................................................95Daiane Oakes ...............................................................71Dalila Bertanha ............................................................114Dalton Barros ...............................................................75Daniel Bolívar da Silva .................................................112Daniel da Costa Torres ................................................133Daniel França Seixas Simões ..........................................75Daniel Langer ..............................................................132Daniel Lucas Spagnuolo ...............................................120Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.139
140Daniel Peixoto de Albuquerque ...................................121Daniel Silveira Serra ....................................................107Daniel Steffens ..............................................25, 128, 134Daniela A.L. Denardi .......................................................3Daniela Árias Rios .........................................................90Daniela Barros Bonfi m Colucci ................................14, 15Daniela Bassi .................................................................32Daniela Colucci ...................................100, 108, 115, 119Daniela Cristina Iervolino ..............................................94Daniela Fernandes Lima ..........................................69, 96Daniela Gardano Bucharles Mont’Alverne ....................123Daniela Gardano Burchales Mont’Alverne ................42, 70Daniela Hayashi ................................17, 71, 99, 103, 109Daniela Ike ..................................................................111Daniela Lago Miranda ....................................................71Daniela Longo Gargiulo .......................................134, 135Daniela Mara dos Santos ...............................................66Daniela Mizusaki Iyomasa ..... 14, 20, 30, 31, 92, 104, 110Daniela Morales ..........................................................127Daniela Moura ............................................................123Daniela Moutinho .........................................................13Daniela Paiva .................................................................78Daniela Souza de Paiva ..................................................73Daniela Zamboni ................................................105, 112Daniele M. Goto ...........................................................13Daniele Rusante Rech ...................................................51Daniella Almeida ...........................................................72Daniella Brandão .....................................25, 78, 118, 126Daniella C Pereira .........................................................86Daniella Cunha Brandão ..............................................114Daniella Fontenelle Correa Reis ...................................132Daniella Sayuri Ono ........................................................9Danielle Almeida ...........................................................10Danielle Aparecida Gomes Pereira ..................40, 47, 121Danielle Barzon ....................................16, 23, 79, 89, 98Danielle Batista Chianca de Morais ................................71Danielle C. O. Coutinho .............................................131Danielle Carvalho de Oliveira Coutinho ........................36Danielle Conceição Costa Tavares ...................................4Danielle Corrêa França ..........................3, 25, 26, 99, 121Danielle Cristine Dias da Silva ........................................85Danielle Dória...............................................................53Danielle Ferreira do Nascimento Morais ........................27Danielle Gonçalves Venâncio .......................................103Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.Danielle Soares Rocha Vieira .............26, 47, 99, 101, 121Danila Gomes Torres Duarte ........................................82Danilo Cordeiro Leiming ...............................................63Dannuey Machado Cardoso ......25, 26, 84, 128, 133, 134Darlan Laurício Matte ..................................116, 117, 131Dáversom Bordin Canterle .............................98, 99, 121Dayse Amorim Lins e Silva ............................................10Dayse Costa Urtiga .............................1, 2, 29, 30, 31, 33Dayse de Amorim Lins e Silva .....................23, 26, 27, 74Dayse de Amorim Lins Silva ..........................................49Débora A Bessa ..........................................................114Débora Cardoso da Silva ..............................................55Débora de Souza Marins .........................................13, 80Débora F. C. Silva..........................................................20Débora Maria Guimarães da Silva ..................................90Débora R. Alcântara ....................................................118D<strong>em</strong>étria Kovelis .........................................15, 23, 79, 89Denes Rodrigo Florêncio de Andrade ............................11Denes Rodrigues de Andrade ........................................10Dênia Palmeira Fittipaldi Duarte ...................................132Denílson de Castro Teixeira ...........................................32Denílson Otavio da Costa .............................................87Denílson Teixeira ...........................................................18Denise Cara ........................................................134, 135Denise Maria Sá Machado Diniz ....24, 125, 126, 135, 136Denise Maria Servantes .....................................42, 43, 44Denise Paisani .......................................14, 100, 115, 119Diane Moreira Pinz .......................................................97Dias AS .......................................................................122Diego Trindade de Almeida ...........................................89Diogo Andrade .....................................................64, 116Diogo Fabricio Aprigio de Andrade ................................75Diogo Thomaz Pereira ..................................................32Dionei Ramos .......... 14, 20, 30, 31, 44, 89, 92, 104, 110Dirceu Costa ................................................18, 106, 111Dirceu Rodrigo Pereira ..................................................26Dirceu Rodrigues de Almeida ............................42, 43, 44Dominique Babini Lapa de Albuquerque ........................54Doris Naoko Suzumura ......................15, 17, 20, 21, 106Douglas Capan<strong>em</strong>a Matheus ...................................68, 72Douglas Ribeiro Silva .....................................................23Dulciane Nunes Paiva ......... 25, 26, 36, 84, 128, 133, 134Dúnia Pedrozo ..............................................................98Durval Batista Palhares...................................................63EEdberto Yamato ............................................................37Edgard Alan dos Santos .............................................9, 10Edi Toma.........................................................................5Edineia Maria Caretti .......................................................5Eduardo Antunes de Oliveira Mello ...............................65Eduardo Augusto P. Rodrigues .......................................11Eduardo Augusto Pinto Rodrigues ....................................9Eduardo Brandão Azevedo ..........................................130Eduardo Eberhardt ........................................................69Eduardo Ériko Tenório de França .9, 10, 11, 25, 66, 74, 77Eduardo Walker Zettler ...............................................113Elaine Cristina Marreiro Abreu .....................................126Elaine Moino .................................................................68Elaine Paulin ................................................................110Elaine Rodrigues ............................................................17Elaine Silvino Silva ........................................................100Elainy Aguiar Parente .....................................24, 135, 136Elayne Kelen de Oliveira ..........................................43, 70Eleonora M. Lima........................................................112Eliana Cavacami ..........................................................127Eliana Izabel da Silva ......................................................48Eliana Míriam Lara .......................................................127Eliane Ferrreira Sernache de Freitas ...............................39Eliane Regina Coelho Berti ..............................................5Eliane Regina Ferreira Sernache de Freitas ......................29Elida Mendonça ............................................................13Elidiana Ferreira Nascimento .........................................39Elisa B. de Leon ..............................................................2Elisa Brosina de Leon ......................................................2Elisa Hiromi Nagita ......................................................107Elizabel de Souza Ramalho Viana ...................................58Elizabeth Aparecida Martins Tenório ..............................59Elizabeth Rodrigues de Moraes ......................................48Elizabeth Rodrigues de Morais .................................40, 64Elize Fumagalli ...............................................................60Elmiro Santos Resende ............................................40, 48Eloisa M. G. Regueiro .................................................111Eloisa Maria Gatti Regueiro ....................................18, 111Eloisa Rita Navarro ........................................................67Eloísa Rita Navarro Negrão ...............67, 84, 85, 103, 108Emiel F. M. Wouters ......................................................18Emiliana de Oliveira Vale ...........................................4, 34Emmanuel Alvarenga Panizzi ........................................125
Emmanuelle Mendes .....................................................72Emmanuelle Mendes Apolinário ....................................62Eneida Guimarães .........................................................68Enoe Lopes Varandas ..................................................135Ercy Mara Cipulo Ramos .......... 14, 20, 30, 31, 44, 89, 92,104, 110Erica A. Giovanetti.........................................................76Érica Batista Ruas da Silveira ...........................................36Érica Souto Pereira ........................................................85Érica Travassos ..............................................................73Erickson Borges Santos............................17, 99, 103, 109Erika Alves Baião .....................................................28, 39Érika de Carvalho Rodrigues ........................................117Erika Elizabeth de Souza ..............................................103Erika Santos Resende ..................................................103Erikson Custódio Alcântara ................................40, 48, 64Ériton de Souza Teixeira ................................................82Ernani Miura ...................................................................3Erotides A. Rocon Stange ..............................................28Esdras Galvão .................................................................9Esdras Galvao C. Gueiros de Oliveira ............................74Esperidião Elias Aquim ...................................6, 64, 68, 69Estefanía García .............................................................27Estela Maria Moreira Oliveira .......................................104Estélio Henrique Martin Dantas .................................9, 71Ester da Silva .................................................................45Estér Piacentini Correa ......................................50, 56, 60Eunice Flávia Silva Gonçalves .........................................66Evane Luiza Dias Nalon .................................................34Evanirso da S. Aquino ..............................................13, 84Evanirso da Silva Aquino ..................................34, 56, 112Evanirso Silva Aquino ....................................................86Eveline de Almeida Silva ....................1, 2, 4, 9, 30, 31, 33Evelise Guimarães da Silva ...........................................110Ezequiel Mânica Pianezzola ...........................................72FFabiana Cavalcanti Vieira ................................................78Fabiana Della Via .........................................................121Fabiana Freitas Canuto ...................................................20Fabiana Lacerda de Araújo .............................................93Fabiana Silva Lopes ........................................................57Fabiana Veloso Lima ............................................103, 111Fabiane Assis Novaes ....................................................74Fabiane Elpídio de Sá .....................................................56Fabiane Passos Romeu ..................................................72Fabiani Conceição de Cerqueira ....................................56Fabianne Maisa de Novaes Assis ................................5, 66Fabiano Piazer Pilar ........................................................98Fabiano Pilar ..........................................................99, 121Fábio Cangeri Di Naso ..................................................43Fábio Canto Fajardo ......................................................72Fábio Correia Lima Nepomuceno ...................................4Fábio Dallabrida ............................................................33Fábio de Lima Nepomuceno ...........................................9Fábio de Oliveira Pitta .................................................129Fábio Guerra ..............................................................120Fábio Maraschin Haggstran ..........................................113Fábio Pitta .............. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,32, 41, 44, 79, 88, 89, 98, 100, 106, 112Fabíola Meister Pereira ..................................................19Fabíola Santos Zambon Robertoni .................................41Fabrício de Oliveira Lobão .............................................89Fabrício Hinterlang ........................................................52Fabrício Mesquita ..............................................12, 25, 64Fabrício Olinda de Souza Mesquita ..........................74, 77Fabricio Olinda Mesquita ...............................................75Fabrício Oliveira Firmino ................................................72Fabyelle Froes ...............................................................48Fátima Kiyoko Hayashi ..................................................22Felipe Abritta .................................................................36Felipe José Mucarbel Soares ..............................10, 11, 74Félix da Silva Junior ........................................................73Felype Régis Teixeira Gomes ...............125, 126, 135, 136Fernada Ribeiro Rangel .................................................58Fernanda Aparecida Teixeira ...........................................9Fernanda Almeida Ribeiro............................................122Fernanda Andrade Cardoso .........................................124Fernanda Aparecida Teixeira ............................................9Fernanda Carolina de Amorim .....................................117Fernanda de Moraes Brum ............................................40Fernanda Figueirôa Sanchez .....................................82, 83Fernanda Gonçalves Vieira ............................................33Fernanda Kazmierski Morakami ...........15, 17, 20, 21, 106Fernanda Kutchak ..........................................................71Fernanda Lima Lopes ..............................................40, 47Fernanda Limão de Campos ....................................95, 97Fernanda Melo Nobre...................................................32Fernanda Morakami ....................................................100Fernanda Moreira ........................................................121Fernanda O. Silva ..........................................................86Fernanda P. Tomasi ........................................................44Fernanda Pimenta de Souza.........................................127Fernanda Pimenta Pedrosa ............................................82Fernanda Priore Tomasi ...........................................41, 44Fernanda Silvana Pereira ..............................1, 90, 91, 103Fernanda Stringuetta ................................17, 99, 103, 109Fernando Antônio Castro Carvalho .............................131Fernando de Souza Melo Costa ...............................48, 49Fernando Ricardo Serejo de Castro .........................39, 95Fernando Silva Guimarães .............13, 18, 19, 22, 80, 117Filipe Damasceno ..........................................................93Filipe Souza .................................................................116Filippe Vargas de Siqueira Campos .................................46Flávia Ávila Coleta .........................................................60Flávia Cristina Campos ..................................................25Flávia Cristina Rossi Caruso .............................................2Flávia de Paula Castro ..............................................80, 86Flávia Ladeira ..............................................................133Flávia Prado Pinheiro .....................................................60Flavia Soares Martins ...................................................114Flaviane Ribeiro .............................................................69Flávio Afonso Gonçalves Mourão ..................................86Flávio Godoy Domingues ............................................127Flávio Maciel Dias de Andrade ........ 10, 11, 12, 24, 25, 66,74, 77, 118, 122Flavio Moterani Costa Reis ............................................86Flavio Tavares Freire da Silva ........................117, 118, 120Franciele Nunes ..............................................26, 36, 128Franciely Tatiane Ignácio.................................................79Francilú Belotti...............................................................39Francilu Rodrigues Beloti................................................28Francimar Ferrari .....................................9, 10, 11, 74, 77Francimar Ferrari Ramos ...............11, 12, 49, 71, 72, 132Francine Cantarelli .......................................................129Francine Casarin Corrêa ..............................................124Francine Cavalli ...........................................................131Francisca Camila Coelho dos Reis ..................24, 135, 136Francisca Tavares do Nascimento...................................55Francisco de Assis Silva Santos .......................................35Francisco Eulógio Martinez ............................................61Francisco Rotta ..............................................................94Franscisca Valadares Maciel ..........................................127Freitas AC ...................................................................122Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.141
142GGabriel Gomes Maia .....................................................93Gabriela Bo<strong>em</strong>eke Pinto................................................36Gabriela Br<strong>em</strong>enkamp Vicente ......................................71Gabriela Carvalho .........................................................49Gabriela Cavion ............................................................83Gabriela da Silva Lima ...................................................34Gabriela de Carvalho Machado ...................................104Gabriela dos Reis Vieira .................................................57Gabriela Félix de Souza .................................................66Gabriela Girotto ............................................................64Gabriela Lima Monteiro ................................................56Gabriela Melo de Andrade ............................................32Gardênia Maria Holanda Ferreira ...............42, 92, 93, 101,102, 105Gecele Camargo Mota ..................................................59Geisa Nascimento de Andrade ....................................120Geisa Oliveira Melgaço ..................................................45Genocir Franke ...................................................133, 134George Márcio da Costa e Souza ..................................37Geórgia Espínola Moura ..............................................117Geraldo Lorenzi-Filho ...................................................13Germana Greicy de Vasconcelos .................................123Geruza Alves da Silva ..................................................101Giane Amorim Ribeiro Samora ......................................47Gianna Kelren Waldrich Bisca ......15, 17, 20, 21, 100, 106Gilberto Bueno Fischer..................................................51Gilson de Vasconcelos Torres ........................................41Giovana Kirchhof...........................................................95Giovana Navarro Bertolini Ferrari ................................101Giovani Kleber de Carvalho Ferreira ......................80, 133Gisela Paludetto Minicucci Cruz .....................................50Giselda Félix Coutinho ..................................................88Gisele Barros Soares .....................................................33Gisele Cristina Lima Francé..........................................127Gisele do Carmo Leite Machado Diniz ....................66, 75Gisele Kopke ................................................................77Gisele Limongeli Gurgueira .....................................50, 63Gisele Moreira Alves ...................................................130Giselle Fernanda de Lucena Panka ...............................127Giselle Santos-Magalhães .....................................134, 135Gislaine de Souza Alves .................................................25Gizéli dos Santos Daniel ................................................55Gláucia Maria Moraes de Oliveira ..............................9, 71Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.Glaucia Nency Takara ............................................98, 111Glenda Figueira Guimarães ............................................31Glívia Barros Delmondes .............................................116Glória Menz Ferreira ...................................................123Gonçalo Brito Ramos ....................................................27Graciane Laender Moreira.........14, 20, 30, 31, 44, 89, 92Graziela Silva ...............................................................134Graziele Sávio ...............................................................64Graziella Furquim Leão..................................................37Graziella Prado Cunto ...................................24, 135, 136Grazielle Caroline Silva ................................................135Grazielle Pereira Guedes ...............................................93Grazielly Rezende Pedra................................................64Gualberto Ruas .....................................................98, 111Guilherme Augusto Freire Fregonezzi ..........109, 115, 116,119, 122Guilherme Fregonezi .............................................21, 113Gustavo Armany ...........................................................17Gustavo Barbosa Perondini............................................41Gustavo Corrêa Câmara ...............................................68Gustavo de Jesus Pires da Silva ................................39, 95Gustavo José Arouche Santos ........................................48Gustavo Silva Pordeus ...................................................23HHarina Alves de Oliveira ........................................58, 128Helder Felipe dos Santos Pinheiro .................................71Helder Santos Simões ...................................................40Helena França .............................................................123Helena França Correia dos Reis ...............................73, 75Helena França Correira dos Reis ...................................75HelenaTerezinha Mocelin ..............................................51Helga Cecília Muniz de Souza ........................................11Heloíse V. Possani ..........................................................44Hernane Sousa Carvalho ...................35, 37, 38, 103, 124Homero Marques Barreto de Melo .................................9Hortência Santos da Silveira.................................135, 136Hugo Augusto Jara ..................................................62, 63Hugo Brum...................................................................34Hugo Brum Vidigal ........................................................53Hugo Hyung Bok Yoo .................................................133IIan Lara Lamonie Andrade ...........................................134Iara Batistti ....................................................................95Iara Silva de Moraes ......................................................65Idete Magna Kunrath .....................................................98Igor Lopes ..................................................................100Igor Lopes de Brito .............................15, 17, 20, 21, 106Ilda Godoy ....................................................................34Ilza Maria Márques Silva.................................................60Indianara Araújo ................................................25, 74, 77Indianara Maria Araújo .......................................10, 49, 72Indianara Maria Araújo do Nascimento ........................132Ingrid Bolina de Castro Faria ..........................................34Ingrid Correia Nogueira ..........................................38, 56Ingrid de Castro Bolina ....................................56, 89, 102Ingrid de Castro Bolina Faria ..............4, 53, 57, 60, 61, 90Ingrid Guerra Azevedo ..........................................21, 113Ingrid Krás Borges .........................................................71Ione Jayce Ceola Schneider ...........................................63Irac<strong>em</strong>a Ioco Kikuchi Umeda .........................................41Irma de Godoy ..................................81, 82, 83, 96, 110Irma Godoy ..................................................................34Isabel Cristina Gomes Sá .............................................127Isabel Cristina Hilgert Genz .....................17, 99, 103, 109Isabela Maria Braga Sclauser Pessoa ...17, 83, 87, 103, 106Isabella Albuquerque .....................................................36Isabella de Oliveira Guimarães ...................................8, 70Isabella Martins de Alburquerque 25, 26, 84, 128, 133, 134Isabelle Ferreira Da Silva ................................................54Isana de Barros Fima .....................................................43Ivaldo Menezes de Melo Júnior ...................................4, 9Ivan Daniel Bezerra Nogueira............................42, 43, 44Ivana Mara de Oliveira Rezende ..............4, 34, 53, 56, 57,60, 61, 80, 89, 90, 102Ivana Mara Oliveira Rezende .........................................90Ivani de Souza Ferreira ..................................................56Ivens Willians Silva Giacomassi .....................................101Ivo Barbosa Nascimento Silva ........................................37Ivo Roberto Lobo de Soeiro ............................................8Izabel Cristina Silva ........................................................53JJA Borges ......................................................................81Jackeline Xenofonte de Sousa ..............104, 105, 107, 120Jacqueline Formigoni Bufo ...........................................108Jacqueline R. F. Vianna ...........................................48, 118Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna .................114, 116Jacqueline Rodrigues Freitas Vianna ..................23, 24, 114
Jadiane Dionísio ..............................................................1Jakeliny Bueno Marques ..............................................135Jamille Cristina Conceição Santos ..................................31Janaína Barros Barroca da Silva Ditrich .........................115Janaina Maria Dantas Pinto .............................................29Janaína Reche Serenato .................................................55Jânia Flávia G. Brito .......................................................83Janially Richiardi .......................................................59, 75Janice Luisa Lukrafka ......................................................51Janine Marinho Dagnoni ................................................35Janize Costa Nina ..........................................................31Japy Angelini Oliveira Filho .................................42, 43, 44Jaqueline Petroni Faria Roxo ..........................................36Jaqueline Silva Melo .......................................................66Jarbas Araújo Filho .........................................................64Jarbas Filho ..................................................................116Jarbas Ramos de Araujo Filho ........................................75Jeanne Marielle Rissas ........................................19, 29, 92Jéferson Nunes da Silva .........................................90, 103Jefferson Alcântara Cardoso .................................131, 134Jefferson Braga Caldeira ...........................................70, 78Jefferson J. Amaral dos Santos ........................................84Jefferson Jovelino Amaral dos Santos ................................7Jerffeson de O. Dias ......................................................72Jerônimo Correia Barbosa Neto ....................................67Joana Tambascio ................................................94, 96, 97Joana Tambascio Ada Clarice Gastaldi ............................95Joanda Morais de Figueiredo Barbosa ..........................114Joanna Raphaela Leite Bonfím ........................................27João Batista Raposo Mazullo Filho ....................................6João C Winck ..............................................................132João Carlos Ferrari Corrêa ......................................20, 78João Carlos Thomson .............................17, 99, 103, 109João Carlos Winck.........................................................77João Gabriel Lucas ............................................12, 71, 72João Luís Ferreira Neto .................9, 64, 74, 75, 114, 118João Marcelo Medeiros Fernandes .................................30João Marcos Domingues Dias......................................130João Paulo Barbosa de Oliveira Magalhães .....................76João Paulo Campos de Souza ......................................130João Paulo Haddad ......................................................101João Paulo Ribeiro .........................................................73João Terra Filho .............................................................79João Terra Filho .............................................................82Joice ...........................................................................103Joice Aparecida Oliveira Cunha......................................17Jônatas de França Barros................................................34Jonatas Eduardo de Paula ...............................................36Jorge Bonassa .............................................................128José Carlos Peraçoli .....................................................110José Carlos Rodrigues Júnior..........................................37José Carlos Serufo .......................................................134José Dirceu Ribeiro .....................................................108José Edmilton ................................................................73José Eduardo Zaia ...................................................49, 50José Felipe Pinho .........................................................135José Henrique Wayhs ....................................................83José Otávio Auler Jr. ........................................................8José R. Jardim ...............................................................14José Ribeiro Uchoa Júnior .............................................11José Roberto de Brito Jardim .......................................132José Roberto de Deus Macedo .....................................70José Roberto Jardim ................................................12, 20Joseana Celiza Fernandes Siqueira .................................73Joseph Fabiano Santos ...................................................66Josiane Marques Felcar ........................19, 29, 55, 92, 130Josiane Rodrigues Mendes .............................................37Josué Felipe Rodrigues Campos .....................................68Joyce Alves Nicula Cintra.....................................114, 116Jôyce Araújo Ribeiro................................................39, 95Joyce da Silva ................................................................51Judith Advíncula .............................................................73Júlia Carolina de Carvalho Morais ................................104Julia Mariko Toyota ........................................................87Juliana A Nogueira .........................................................86Juliana Alexandre Cerveira .....................................20, 110Juliana Andrade Ferreira de Souza ..........................3, 9, 10Juliana Antunes ............................................................102Juliana Auxiliadora da Costa ...........................................65Juliana Baroni ................................................................82Juliana Barros Maranhão ................................................63Juliana Batista Antunes ...................................................90Juliana Bezerra Cavalcanti de Albuquerque ..................4, 9Juliana Cabral de Lima Ramos........................................35Juliana da Costa Santos Pessoa .......................................32Juliana Dalle ..................................................................96Juliana Dantas de Araújo ................................................31Juliana de Cássia Moura Oliveira ..................................119Juliana Della Croce Pigo ............................................5, 61Juliana Diniz Pereira .......................................................34Juliana do Nascimento Mendonça..................................76Juliana Duarte ...............................................67, 103, 108Juliana Duarte Tiaki Maki .........................................84, 85Juliana Fraceschette .......................................25, 128, 134Juliana Freire Chagas........................42, 70, 104, 106, 107Juliana Gamo Storni .....................................................120Juliana Librelato .............................................................68Juliana Lobato Couto ...................................................104Juliana Loprete Cury..........................................17, 37, 56Juliana Maranhão .....................................................10, 71Juliana Maria de Sousa Pinto ........................105, 112, 120Juliana Medeiros Faciroli ..............................................114Juliana Monteiro Silveira ......... 42, 70, 104, 105, 106, 107Juliana Moura Galvão ....................................................10Juliana Ramos de Sousa .................................................46Juliana Resende .............................................................99Juliana Rosol<strong>em</strong> Maduenho .........................................130Juliana Saraiva Pereira ....................................................43Juliana Seraphin Piera ..................................................108Juliana Thais da Silva Reis .........................................50, 56Juliana Vieira Borges ......................................................33Juliano Tibola ................................................................63Júlio de Oliveira .............................................................52Julio Fiore ......................................14, 100, 108, 115, 119Julio Leal Neves ..............................................................8Jullyana Aparecida Mendonça Pereira .............................55Júnia Rg Solar ................................................................86KKalinne de Almeida Benício Pimentel ...............................9Karen Muriel Simon ......................................................32Karen Pastre Fercondini .................................................61Karen Siebel ..........................................................83, 100Karen Valdrighi ............................................................116Karilin Tereza Santiago de Oliveira .....................44, 45, 58Karina Couto Furlanetto ..........................................19, 88Karina Dela Coleta ........................................................96Karina Dias Guedes Machado ........................69, 105, 112Karina Lima Lara ..........................................................112Karina T. Timenetsky .....................................................76Karine Schnaider Ramos ..........................................51, 52Karine Uriol Aguiar ......................................................117Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.143
144Kariny Brito Santos ........................................................60Karla L<strong>em</strong>os Fazolo .......................................................37Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça .............44, 45,58, 128Karla Priscila M. Gonçalves ............................................26Karla Veruska Marques ..........................................24, 124Karoline Simões Moraes ..............................................129Kassiane Favoretto Pelizaro ..........................................130Katarina Pereira Silva......................................................62Kátia Cristina Teixeira Melegati .......................................20Kátia de Miranda Avena ...................................................7Kátia E. de Moraes ........................................................57Kátia Myllene Costa Oliveira ..........................................58Kátia Terumi Sato ..................................................20, 110Katilaine Da Silva Biazotto ..............................................79Keila Borges Dias ........................................................105Keila de Castro Marinho ............................25, 28, 39, 130Keilla Cristina Resende ..................................................24Keiti Almeida .................................................................22Kellen Cristina Almeida Antunes ....................................34Kelly Sá da Silva .............................................................20Keunecke C ................................................................122Krislainy de Sousa Corrêa ................................47, 22, 116Kristiane Silvane Ribeiro.................................................77LLaís Cristina Rizzo .........................................................51Laís Regina Garcia Ribeiro .............................................29Laise Bender .................................................................36Laise Deisi Bender ......................................................128Laize Pessoa Leite de Brito Castro .......109, 115, 119, 122Lara Cidrao Pinto ........................................................126Larissa Aparecida Nogueira Silveira ................................34Larissa da Silva Torquato ................................................73Larissa Gomes de Carvalho .......................................6, 82Larissa Helena Lobo Torres ...........................................26Larissa Talamini ........................................................51, 52Laryssa Milenkovich Bellinetti ...................17, 99, 103, 109Laura Miranda de Oliveira Caram ......................34, 82, 96Laura Severo da Cunha ...................................51, 94, 129Laura Teixeira ..............................................................123Laura Turatti Pereira ....................................................116Leandra Marques de Souza .........................................119Leandro Cruz Mantoani ........................................13, 100Leandro de Oliveira Molina .....................................13, 80Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.Leandro Ferracini Cabral ...................................13, 79, 80Leandro Leoni Paes Maira J. Maturana ...........................64Leandro Mantoani .......................................................106Leandro Miranda de Azeredo ............................37, 70, 78Lecttícia P Carvalho .......................................................86Leda Maria de Castro Coimbra .............................78, 126Leda Tomiko Yamada Silveira .........................................82Léder L. Xavier ...............................................................2Leila Donária de Oliveira ...................................19, 29, 92Leila Simone Foerster ..............................................59, 63Leina Melo ....................................................................23Lenise Castelo Branco Camurça Fernandes .................123Leny Vieira Cavalheiro...........................................92, 119Leonardo Augusto Fogaça Tavares ...............................127Leonardo Capello Filho .........................................38, 124Leonardo Coelho Eboli .................................................40Leonardo Cordeiro de Souza ..............................8, 68, 93Leonardo de Assis Simões ...........................................130Leonardo Ferber Drumond ...........................................72Leonardo Lopes Nascimento ........................................40Leonardo R. Nascimento ............................................118Leonardo Silva Augusto ...............................................134Leonardo Simões ..........................................................13Leonel Silva .................................................................135Leopoldino Gomes dos Santos ........................................5Letícia Alves Paiva ..........................................................38Letícia Alves Rodrigues ........................................129, 130Letícia BR Zocrato.........................................................96Letícia Braga Ribeiro Zocrato .........................................36Letícia Cláudia de O Antunes .........................................81Letícia Claudia de Oliveira Antunes ......................110, 120Letícia de Queiroz Martins ............................................22Letícia Ferreira ............................................................116Letícia Firmino Rodrigues Alvair Pinto Almeida .............131Letícia Maria Mendonça e Silva ......................................32Letícia Moretti Ortega .................15, 17, 20, 21, 100, 106Letícia Teixeira Bicalho .................................................135Letícia Tertuliano Melo ..................................................80Liana Sousa Coelho.......................................................34Liane Shig<strong>em</strong>ichi .................................................108, 119Lídia M. Barreto ............................................................84Lídia Mirando Barreto .........................................4, 34, 90Lidiane Cristina Ribeiro ..................................................87Lidiane Veloso Teixeira ..................................................32Ligia Gomes Rodrigues ................................................117Lilian Bicalho .................................................................17Lilian CRL Cruz .............................................................86Lílian Izumi Hatori ...................................................11, 25Lilian Khellen Gomes de Paula .......................................48Lílian Lobo Viana de Resende ......................................124Lilian N R Freitas .............................................................5Lisiane Saur .....................................................................2Livany de Mattos Alecrim ..............................................11Lívia Andrade ................................................................10Lívia Barboza de Andrade ..................3, 49, 50, 52, 53, 57,58, 62, 132Lívia Kubagawa ....................................................108, 119Lívia Silveira Pogetti .......................................................50Loreci Alves ............................................................51, 52Lorena Carvalho Biazuti ................................................82Lorena de Oliveira Vaz ......................................3, 40, 130Lorine da Silva ...............................................................57Lourena de Lira Meira .........................................103, 111LR Machado .................................................................81Luana Oliveira Prata ....................................................134Lucas Del Satro Silva ...................................................107Lucas Emannuel de Andrade Queiroz ............................63Lucas Homercher Galant ..............................................95Lucas Pereira Resende-Corrêa ......................................96Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela .......................................130Luciana Alcoforado ........................................73, 114, 118Luciana Aparecida Domingos Nascimento de Deus .......66Luciana Araújo dos Reis .................................................41Luciana C Campanha ....................................................86Luciana Carrupt Machado Sogame ............12, 28, 58, 105Luciana Carvalho Silveira .........................................48, 65Luciana Chiavegato .......................14, 100, 108, 115, 119Luciana Correa Rejane Neves .....................................129Luciana Cristina Fosco .................20, 30, 31, 92, 104, 110Luciana da Corte ...........................................................51Luciana Dalla Valle .........................................................71Luciana de Almeida Ramos ............................................67Luciana de Carvalho Lopes Orlandi .............80, 85, 86, 96Luciana de Oliveira ........................................................86Luciana Del Cantoni Baldo ............................................86Luciana Di Thommazo ........................................2, 48, 49Luciana Feijó ...................................................................8Luciana Ferreira Manhães ..............................................45Luciana Fosco................................................................20
Luciana Giachetta ..........................................................61Luciana Karla Melo Carvalho ...................................65, 66Luciana Kawakami Jamami .....................................98, 111Luciana Malosá Sampaio ..................................................1Luciana Maria Malosá Sampaio ..........................20, 52, 78Luciana Ortenzi Nunes ...............................................119Luciane Dalcanale Moussale ..........................................85Luciane Leonenko .........................................................94Luciano Alves Leandro ..................................................69Luciano dos Santos Aggum Capettini ...........................135Luciano Matos Chicayban ..........................................7, 68Luciano S. Prado ...........................................................80Luciano Sales Prado .......................................................89Lúdio Felipe Barbosa .....................................................90Ludmila Furtado Lamego .............................................104Luilma Albuquerque Gurgel .........................................123Luis Eduardo Barrto Martins ..........................................45Luis Felipe da Fonseca Reis ....................22, 113, 115, 117Luís Henrique Sarmento Tenório .............................11, 25Luise Pereira Dreyer Dinu .............................................27Luiz Alberto Forgiarini Junior ..........................................95Luiz Antonio Alves.......................................................129Luiz Aurivan Nobre Braga ...........................................107Luiz Carlos Conceição de Almeida ..........................70, 78Luiz Carlos Marques Vanderlei...............20, 30, 31, 44, 89,92, 104, 110Luiz Carlos Neves .........................................................69Luiz Felipe Frohlich ................................................83, 106Luiz Felipe Fröhlich ........................................................85Luiz Guilherme Grossi Porto ...................................45, 46Luiz Paulo Kowalski .......................................................87Luíza Ferrari ..................................................................77Lurdinez Nazaré dos Santos ..........................................63MMaciyle Cristofoli Cavalli ..........................................62, 63Maércio Martins ............................................................37Magale Konrath ...............................................98, 99, 121Magali Rocha ...............................................................132Mahara-Daian Garcia L<strong>em</strong>es Proença ............................19Maicon O. Silva .............................................................90Maísa Rocha ..................................................................13Maitê C Figueredo ......................................................102Manoel Luiz de Cerqueira Neto ..................64, 65, 68, 69Manoel Marcio dos Reis Monteiro .............................9, 71Manoel Otávio da Costa Rocha ...............................28, 39Manoela de Oliveira Valença ..........................................57Manoela de Oliveira Valença ..........................................58Manuela Pereira de Carvalho Barros ..............................10Mara Lílian Soares Nasrala ...........................55, 65, 73, 79Mara Lisiane de Moraes dos Santos ...............5, 31, 38, 62,63, 124Mara Lisiane Moraes dos Santos ....................................63Marcela B. Camargo ...................................................121Marcela C.P. Quinete ....................................................57Marcela Dias .................................................................71Marcela H. Santos ...........................................................3Marcela Lima Barbosa .................................................123Marcela Machado Bahia .................................................23Marcela Raquel de Oliveira Lima .................50, 52, 53, 62Marcela Silva de Araújo ...................................................9Marcela Souto de Ávila ..................................................13Marcela Vieira .............................................................100Marcella Carvalhaes Pimenta .........................................36Marcelle Gouveia de Mesquita ........................1, 2, 30, 31Marcelle Mesquita .........................................................33Marcelo B. Fuccio .........................................................13Marcelo Bastos de Andrade .....................................70, 78Marcelo de Castro César ..............................................45Marcelo de Mello Rieder ...............................................71Marcelo de Moraes Valença ...........................24, 118, 122Marcelo E. Cravo de Carvalho ......................................40Marcelo Fernandes ........................................................22Marcelo Gomes Judice ..... 33, 35, 37, 42, 46, 90, 91, 103Marcelo Palmeira Rodrigues ........................................122Marcelo Ramos dos Santos ...........................................71Marcelo Silva Guimarães ...............................................33Marcelo Velloso ..........................................................127Marcelo Vidigal Caliari .................................................134Marcelo Vidigal Caliari .................................................135Márcia Braz Rossetti ......................................................46Márcia Carine de Souza ................................................29Marcia de Oliveira Bel<strong>em</strong> ......................24, 126, 135, 136Márcia Domingues Carla Malaguti ................................119Márcia Gonçalves da Costa Pires .................................112Márcia H. da Silva Capris ...............................................57Márcia Maria Faganello ............................................82, 83Márcia Maria Leonardo .................................................57Márcia Maria Oliveira Lima ............................................28Márcia Maria Pinheiro Dantas ......................................123Márcia Regina Barbosa Morandi ...................................104Márcio Cândido Batista..................................................49Márcio Cl<strong>em</strong>entino de Santos Souza .............................31Marcio Cl<strong>em</strong>entino de Souza Santos .............................45Márcio Cl<strong>em</strong>entino dos Santos ....................117, 118, 120Marcio Tubaldini ............................................................59Marco Antonio Auad .......................................................1Marco Antônio Duarte ........................................1, 53, 54Marco Antônio Duarte Imgard de Assis ..........................59Marco Antônio Soares Reis .........................................106Marco Aurélio de Valois .................................................10Marco Aurélio de Valois Correia Júnior ....................11, 12Marco Aurélio de Valois Júnior ...........................10, 11, 74Marco Túlio de Mello ........................................42, 43, 44Marconi José Soares Chaves..........................................73Marcos David Parada Godoy .....................................8, 68Marcos Giovanni Santos Carvalho .................................73Marcos Miadara ............................................................69Marcos Moreira Brandão Júnior .....................................29Marcos Pinotti Barbosa ..............................................8, 70Marcus Aurélio de Almeida Rocha ...........24, 74, 118, 122Marcus V. C. Gama .......................................................72Marcus Vinicius Herbst-Rodrigues ......................8, 24, 125Marcus Vinícius Melo Andrade .....................................134Marcy Mônica Fernandes Magalhães ................................1Margot D<strong>em</strong>aeyer ......................................................132Maria Airtes Ximenes da Ponte ....................................123Maria Amélia Maciel Correia ..........................................49Maria Angela G. O. Ribeiro .......................................3, 19Maria Angela Gonçalves de Oliveira Ribeiro .............56, 60Maria Ângela Gonçalves Ribeiro ......................50, 60, 108Maria Angélica de Oliveira Camargo Brunetto ..............110Maria Aparecida Cerize ...............................................117Maria Beatriz Ferreira Gurian .................................24, 114Maria Carolina Abertini ..................................................68Maria Carolina de Rogatis Ferreira ...............................119Maria Cecília Cedrim Costa .....................................66, 74Maria Cecília Reis ..........................................................13Maria Clara Noman de Alencar .........................28, 39, 47Maria Cristina Chammas .............................................110Maria Cristina Chavantes .............................................133Maria Cristina Schneider Noura Mansour ......................64Maria da Glória Rodrigues Machado ............1, 4, 8, 25, 53,54, 56, 59, 60, 70, 75,86, 96,126, 131, 134, 135Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.145
146Maria da Graça Von Kruger Pimentel .............................28Maria de Fátima Bezerra da Silva ...................................10Maria de Fátima Rodrigues ............................................33Maria de Fátima Rodrigues da Silva ....1, 33, 35, 37, 38, 42,46, 90, 91, 103, 124Maria Débora Monteiro de Albuquerque .......................73Maria do Socorro Cruz Correia de Almeida ..................29Maria Elza Kazumi Yamaguti Dorfmann ..........................95Maria F. F. Corrêa ..........................................................84Maria Fernanda Vinagre .......................................103, 111Maria I.Z. Feltrim ..........................................................14Maria Ignêz Zanetti Feltrim ............................8, 14, 22, 40,48, 71, 94, 117Maria José de Carvalho .........................................19, 106Maria José Junho Sologuren ...........................................19Maria Jussara Fernandes Fontes .........................53, 54, 59Maria Leliane Ligabo ......................................................84Maria Lúcia Langone .............................................99, 121Maria Lucrécia de Aquino Gouveia ......................103, 111Maria Raquel Pinto Mota ...............................................68Maria Rita Junqueira ......................................................50Maria Silvia Bergo Guerra ........................................52, 59Maria Teresa Aparecida Silva Odierna ..........................119Maria Tereza Aguiar Pessoa Morano ......42, 105, 106, 107Mariana Cristina Simões ................................................80Mariana Dolabela Roseli Peluzo .....................................90Mariana Goeldner Grott ..............................................130Mariana Morais de Azevedo ..........................................76Mariana Rodrigues...........................................................2Mariana Rodrigues Gazzotti ...........................................12Mariana Sacchi Pitta .....................................................117Mariana Sousa Carvalho ......................................107, 108Mariana Sumire Shiraiwa ...............................................66Mariane Borba Monteiro .........................................43, 97Mariane Marquese Machado .........................................63Marie-Kathrin Breyer .....................................................18Marília Castro Almeida ................................................114Marilia de Andrade Fonseca ...................................78, 126Marília de Melo Castro ..................................................23Marília Soares ..............................................................118Marina F. G. V. Paiva ......................................................40Marina G. M. e Castor ..................................................78Marina Mayrink Oliveira ..............................................127Mário Alberto Wanderley ........................................10, 11Mario Wanderley Denes Andrade .................................71Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.Marisa Afonso Andrade Brunherotti ...................49, 50, 61Marisa Mazzonetto ..........................................................1Maristela Trevisan Cunha ...............................................51Mariza Montanha Machado ...................................83, 102Marize Jácome Gonçalves ...........109, 115, 116, 119, 122Marl<strong>em</strong> Oliveira Moreira .............................................130Marlene Aparecida Moreno ...........................................45Marlus Karsten ..............................................................32Marta de Oliveira Alves ...................................................7Martha Suellen de Lacerda Miranda .................38, 56, 123Martijn A. Spruit ............................................................18Mauren Porto Haefner ................................................123Mauricio de Sant’Anna Júnior .................................40, 131Mauricio Jamami .............................................18, 98, 111Maurício Wajngarten .....................................................48Max Martin .................................................104, 107, 120Mayra Vilela da Matta ..................................................101Melina Takaki ...........................................................19, 98Melina Y. Takaki .............................................................18Melissa Pinto Gurgel ......................................................41MGST Costa .................................................................81Michel Silva Reis ..............................................................2Michele A Gomide ........................................................90Michele S. dos Santos ......................................................5Michelle Bortoletto Flora ...............................................77Michelle Gonçalves de Souza Tavares ..........................116Michelli Lima Nespoli ....................................................73Michelly dos Santos Camelo ................125, 126, 135, 136Miguel R. Gonçalves ..............................................27, 132Miguel Ramalho Gonçalves ...........................................77Miguel Rodrigues ..........................................................14Miléa Mara Lourenço da Silva ........................................48Mileide Edialin Mossman ...............................................56Milena Antonelli ............................................3, 19, 56, 60Milena Carlos Vidotto ....................................................12Milena Cristina Alves de Araújo Moura ..............52, 53, 62Milina Antonelli..............................................................50Milton Marcelino .........................................................116Mirella Dias .................................................................116Miriam Ikeda Ribeiro ...................................................119Moacir Fernandes de Godoy .........................................44Moisés Hoffmann ..................................................88, 113Monalisa Assis Theodossakis ..........................................89Mônica Bastos Leite ................................................82, 97Mônica Cena de Sousa ................................................117Mônica Lajana Almeida de Oliveira ................................75Mônica Lajana de Al<strong>em</strong>eida ...........................................75Mônica Martins Guimarães ........................13, 15, 16, 112Mônica Medeiros da Silva ............................................117Mônica Randazzo Campos ............................................34Monique Azevedo .........................................................34Monique Maron Menezes ...........................................117Monique Sartor .............................................................83Monique Teixeira Coelho ......................22, 113, 115, 117Monteiro MB ..............................................................122Murilo Eugênio Duarte Gomes......................................40NNádia Carla Cheik .........................................................19Nadja Carvalho Pereira ...............................................129Nadja Maria Correia Bezerra Cavalcanti ......................4, 9Nadja Pereira ............................................................3, 99Naianna Coelho Carducci .............................................76Naiara de Carvalho Laurentius T Hoen .......125, 135, 136Naiara Laurentios ........................................................126Naira Valéria Bastos Lopes.............................................40Naomi K. Nakagawa .....................................................13Nara Sulmonett ..........................................................101Natália da Silva Monteiro .............................117, 118, 120Natália Dal´Ava de Souza ...........................................106Natália de Almeida Couto .............................................68Natália de Paula Carneiro ..............................................34Natalia de Paula Carneiro Vasconcellos ..........................36Natália Gaspar Sousa...............................................39, 95Natalia Gonçalves S . Dias .............................................53Natália H. de Oliveira ....................................................18Natália H. Oliveira.........................................................98Natália Helena de Oliveira.......................................15, 19Natália Maria da Silva F. Suassuna ...................................79Natália Mendonça Zanetti .............................................50Natália Ribeiro Rezende ........................................40, 130Natália Stefani Franco ....................................................90Natalie Du Pont ..........................................................132Natasha Teixeira Medeiros ......................38, 56, 112, 123Nathália Lima Videira.....................................................51Nathalia Mendonça Zanetti .............................................4Nathalia Miranda Neri ...................................................34Nathália Reis Moretti Pinna ............................................33
Nayara Medina ...........................................................106Neiva Damasceno ........................................................52Nelson Francisco Serrão Júnior ..............................84, 133Nicoli O. Segretti ..............................................18, 23, 79Nicoli Old<strong>em</strong>berg .........................................................98Nicoli Old<strong>em</strong>berg Segretti .............................................89Nídia A. Hernandes ................................................15, 18Nidia Aparecida Hernandes .....................................16, 32Nilva Regina Gelamo Pelegrino ......................................83Nilza Almeida Carvalho .......................................107, 108Noeli Pagani ..........................................................38, 124Núria Correia .............................................................135OOlga Lorena Maluf Guará ........................................39, 95Oliver Nascimento ......................................................132Olívia Reis e Silva ..........................................................97Osmar Francisco Fernandes De Castro ..........................35Othon Amaral Neto ................................................48, 49Otto C. Burghuber .......................................................18PPablo Ribeiro de Albuquerque ...........................65, 66, 69Palmireno Pinheiro Ferreira ...........................................69Paloma Moreira Martins ................................................72Paloma Taisa Diniz Vasconcelos .....................................66Paola Ribeiro de Paula Liberatori ..........................114, 116Patrícia Alcântara Doval .................................................40Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira ....................42Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira ........42, 43, 44Patrícia B. M. Conti .........................................................3Patrícia Bellini Arantes ..................................................127Patrícia Blau Margosian Conti .............................56, 50, 60Patrícia Carla de Paula Miranda ............................114, 116Patrícia Correa Brandão Abreu ................................68, 72Patrícia Dayrell Neiva ................................................6, 23Patrícia de Lima Mariano ................................................60Patrícia Érica Marinho ............................25, 114, 118, 126Patrícia Erika de Melo Marinho.......................................75Patrícia Érika Marinho ................................64, 73, 78, 116Patrícia Gombai Barcellos ................................50, 63, 128Patrícia Lira Bizerra ........................................................38Patrícia Maria de Araújo .................................................36Patrícia Ponce de Camargo ..............................................5Patrícia Resende Nogueira .................................40, 48, 64Patricia Roberta dos Santos ......................................94, 99Patrícia Rodrigues Araújo Neves ............10, 11, 12, 74, 76Patrícia Shima ..............................................................120Patrícia Teodoro Vanessa Lima .......................................14Patrícia Viera Fernandes .................................................72Paula Angélica Lorenzon Silveira ....................................87Paula Dezen Queiroz ..................................................121Paula Freire Sanches ......................................................24Paula Honório de Melo Martimiano ...........................3, 57Paula Natália Stefani Franco............................................34Paula Nubiato Bardi .......................................................40Paula Regina Aguiar Cavalcanti ...............................80, 133Paula Regina. Beckenkamp.......................25, 83, 128, 134Paula Roberta Copini ...................................................125Paula Valério ..................................................................27Paulo Adolfo Lucheta .................................81, 82, 83, 120Paulo Augusto Moreira Camargos ................................101Paulo César de Almeida ..............................................123Paulo César Pereira de Souza ..................................70, 78Paulo César Ribeiro da Silva ........................................112Paulo Eugênio Silva ....................................................8, 69Paulo H. N. Saldiva .......................................................13Paulo Henrique Ferreira ..............................................129Paulo Hilário Nascimento Saldiva ...................................26Paulo Jorge Abreu .........................................27, 135, 136Paulo Márcio P. Oliveira .................................................89Paulo Pimenta Figueiredo Filho ......................................46Paulo Ricardo Masiero .........................................133, 134Paulo Roberto Krippa Júnior ..................................99, 121Paulo Roxo Barja .........................................................112Paulo Victor Baker ...................................................18, 19Pedro Almeida ............................................................134Pedro Dall’Ago ........................................................2, 123Pedro Henrique Scheidt Figueiredo .......................87, 112Pedro Miguel Seixas ......................................................27Pedro Paulo da Silva Soares .........................................131Petrônio Andrade Leite .................................................75Petrúcia Soares Paiva .....................................................29Poliana de Andrade Lima .................................15, 24, 125Poliana Fernanda Barbosa ..............................................96Poliana Leite Mendes ...................................................134Poliana Maria de Melo Santana ........................................3Pollyanna Irac<strong>em</strong>a Peixoto Gouveia Gomes .................116Pricila Mara Novais de Oliveira ......................................54Priscila Antonichelli de Held ...........................................54Priscila C J Ferraz .............................................................5Priscila Delgado Faleiros ................................................49Priscila Games Robles Ribeiro ........................................52Priscila Luiza da Silva Abdon ...........................................67Priscila Pereira Gonzalez ................................................22Priscila Raquel Zingler............................................26, 128Priscila Wachs ........................................................83, 106Priscilla Gonçalves de Melo ......................................66, 74Priscilla Indianara Di Paula Pinto .........................30, 88, 93Priscilla Pires e Albuquerque ..........................................72RRachel de Faria Abreu .............................................27, 40Rafael AP Santos .........................................................114Rafael Barreto de Mesquita..................................105, 120Rafael Cofi ño de Sá .....................................................130Rafael Henrique Conceição Verona ...............................71Rafael Saucedo Domingues ...................................20, 101Rafael Stelmach ...........................................................110Rafaela Barticiotti Muraroli ...........................................121Rafaela Bonfi m ..................... 14, 20, 30, 31, 92, 104, 110Rafaela Echeverria Souza ...............................................38Rafaela Garcia de M. Santos ..........................................32Rafaela Moreira de Souza ............................................117Rafaela Pedrosa .....................................................42, 105Rafaella Fagundes Xavier .......................................30, 104Rafaella Rezende Rondelli ............................................119Raíssa de Oliveira Borja ...................................44, 45, 128Ramiro B. Nunes ............................................................2Ramiro Barcos Nunes .....................................................2Raphaela Rodrigues Barbosa..........................................69Raquel Agnelli Mesquita Ferrari ......................................52Raquel Annoni ..........................................................6, 26Raquel Borges ...............................................................80Raquel C. Eid ................................................................76Raquel de Oliveira Vieira ...................18, 19, 22, 113, 115Raquel Hirata ..............................................................106Raquel Mejolaro............................................................99Raquel R. Britto ............................................................80Raquel Ribeiro ............................................................100Raquel Rodrigues Britto .................................3, 25, 26, 28,39, 40, 46, 47, 89, 99,101, 121, 127, 129, 130Raquel Siqueira Nobrega.................................................6Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.147
148Raquel W. Pimentel de Araújo ...........................66, 74, 77Raúl Alexandre Oliveira ...............................................136Raysla Souza Silva................................33, 38, 42, 46, 124Rebeca Parente Souza Sabóia ......................................112Regina Célia Turola Passos Juliani....................................56Regina Coeli Miranda Burneiko ....................................101Regina Cristianini ...........................................................51Regina Márcia Faria de Moura ........................................45Regina Marta Hein de Souza .........................................95Regina Roque da Glória .................................................72Renata Amanajás de Melo ...........................................133Renata Antonialli Ferreira do Amaral ........................82, 96Renata Baltar da Silva ...............................................57, 58Renata Barbosa .............................................................97Renata Bernasconi Mantello.........................................108Renata Campos Wanderley de Melo .............................41Renata Cardoso Silva .....................................................36Renata Carlos Felipe ......................................................58Renata Claudino Rossi ...................................................44Renata Cristina Magalhães Lima .....................................45Renata de Oliveira Cardoso ..............................49, 72, 74Renata do Amaral ..........................................................81Renata Estela de Melo Rodrigues ...................................27Renata Ferrari .......................................34, 81, 82, 83, 96Renata Firpo R.Medeiros ...........................67, 84, 85, 103Renata Giovana Bianchi .................................................43Renata Gomes de Carvalho ..........................................37Renata Gonçalves Mendes ..................................2, 48, 49Renata Karissa Pessoa Santana .................................39, 95Renata Martins de Freitas ...............................................66Renata Matulja Sonegeth ...............................................92Renata Meira Isensee ..................................................104Renata N. Kirkwood ...................................................107Renata Noce Kirkwood ...........................................6, 129Renata P. Basso ............................................................111Renata Pedrolongo Basso ......................................18, 111Renata R Rodrigues ...................................................5, 57Renata Salatti Ferrari ................................................43, 98Renata Santos Almeida ........................125, 126, 135, 136Renata Soares Pinheiro ..................................................77Renata Ti<strong>em</strong>i Okuro ................................................19, 60Renato Caneveri Dutra da Silva .........1, 19, 33, 35, 37, 38,42, 46, 90, 91, 103, 124Renato de Lima Vitorasso ................................13, 16, 112Renato Vitorasso .....................................................15, 16Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.Riany de Sousa Sena ...................................................132Ricardo Almeida Macedo.............................................130Ricardo Beidacki ....................................................88, 113Ricardo César Espinhara Tenório .......................10, 11, 74Ricardo Dutra Aydos .....................................................17Ricardo Godinho ............................................................6Ricardo Hildebrando Moreira Rodrigues ........................31Ricardo Kenji Nawa.........................................................7Rik Gosselink ..............................................................132Rina Magnani ........................................................84, 133Rita de Biazi ..................................................................81Rita de Cássia Guedes Azevedo Barbosa .......................57Rita de Cássia Martins do Prado .....................................35Rita de Cássia Vianna Passarelli ...........................94, 96, 97Rita Mattiello .................................................................51Roberta Berbert Lopes ................................................104Roberta Corrêa de Araújo de Amorim ..........................62Roberta Kelly Monteiro .................................................84Roberta Kelly Vieira Souza .............................................86Roberta Lins Gonçalves ...........................................36, 78Roberta Márcio Torres ..................................................37Roberta Marques Leitão Barroso ...................................10Roberta Marques Lisboa ....................................94, 96, 97Roberta Silva Zuttin .......................................................45Roberta Souza de Mello Azeredo ..............................8, 68Roberta Veronezi Francisco ...........................................94Roberta Xavier Bruno .............................................35, 37Roberto Stirbulov ..........................................................78Robson Augusto Sousa Santos .....................................131Rocksane de Carvalho Norton ......................................46Rodrigo Albuquerque Arruda.........................................78Rodrigo Arruda .............................................................73Rodrigo Azeredo Stowinski ...........................................93Rodrigo Cerqueira Borges .........................................6, 82Rodrigo Marinho Falcão Pinto ........................................26Rodrigo Polaquini Simões ....................................1, 48, 49Rogério Bessa ...............................................................37Rogério Cavalheiro .......................................................94Rogério Contato ...........................................................27Rogério Lameiras ..........................................................15Rogério Serafi m ..................................................107, 108Romero Marques B. de Melo ..................................11, 25Romualdo Brandão Costa Júnior .........................3, 57, 58Ronaldo Batista dos Santos ........................................6, 82Ronaldo Pereira ..........................................................100Rosa Suênia Câmara Melo .............................................91Rosana dos Santos ........................................................34Rosana Ferreira Sampaio .............................................121Rosana Tiepo Arevalo ...................................................92Rosângela Alves Grande ..............................19, 54, 59, 75Rosângela Guimarães de Oliveira ....................................9Rose A. M. Figueira .......................................................84Ros<strong>em</strong>eire Pinto de Oliveira ..........................................31Rosmari A. R. A. Oliveira .............................................121Ruben Heindryckx ......................................................132Rúbia Garciela Doge .....................................................46Rúbia Mendes Perdigão .................................................83Rudolfo Hummel Gurgel .............................................113Ruiter de Souza Faria .....................................................79Ruy Camargo Pires-Neto ................................................6SS Guimarães .................................................................81Sabrina Kobori Cl<strong>em</strong>ente ........................................79, 82Samara Damin ..............................................................68Samira Alencar Yasukawa ...............................................56Samira Said Lançoni .................................................51, 52Sandra Fluhr Souto Barros .............................................12Sandra Lisboa ............................................................9, 71Sandra M.V Martini ........................................................23Sandra Ribeiro Pires ....................................................101Sandra Santiago ...........................................................119Sandro Brandão Gutierres .............................................59Sandro Lacerda Silva Pinho ............................................38Sandro Valter Hostyn ..............................................50, 63Sara Lúcia Silveira ..........................................................19Sara Lúcia Silveira Menezes ...........................................18Sarah Costa Drumond ............................................59, 60Satiko Shimada Franco ...................................................40Saul Rassy Carneiro ................................................31, 80Selma Bruno .........................................................21, 113Selma Souza Bruno .......................58, 109, 115, 119, 122Sérgio L. D. Cravo ..................................................94, 99Sérgio Leite Rodrigues .................................................122Sérgio Luzzi ............................................................48, 49Sérgio Nogueira N<strong>em</strong>er..........................................70, 78Sérgio Saldanha Menna-Barreto......25, 51, 123, 128, 133,134Sergio Soares Carepa ..................................117, 118, 120
Sérgio Telles Cruz Jr. .......................................98, 99, 121Sheila Miranda Payno ............................................79, 121Sheyla Thatiane Santos do Lago ...109, 115, 116, 119, 122Shirley Lima Campos ................................................8, 70Sidney Siqueira Leirião ..................................................44Silano Souto Mendes Barros ..........................................12Silva Martin ...................................................................34Silvana Caravaggio .........................................................82Silvana Pinheiro de Oliveira .................................135, 136Silvia de Cesare Denari .................................................87Silvia Gaspar ..................................................................48Silvia Gonçalves Rocha ..................................................36Silvia Jayme .................................................................115Silvia Maria Rodrigues Ranna .........................................87Silvia Regina Martins ......................................................51Simone Borges de Barros ..............................................90Simone da Silva Neto ....................................................26Simone Dal Corso ......................................................119Simone Facin .................................................................84Simone Gomes de Almeida ...........................................36Simone Ivanoff ..............................................................66Simone Magalhães da Mata ...........................................61Simone Strassbuguer .....................................................95Simone Zani Beatricci ....................................................43Sitter Helmut ..............................................104, 107, 120Solange Guizillini .............................................................9Sonaira Larissa Varela de Medeiros ........................42, 105Sônia Faresin .................................14, 100, 108, 115, 119Sonia Hitomi Pedrosa Kazurayama .................................51Soraia Pilon Jürgensen .................................................120Soraya Zacharias Calixto .........................................51, 52Stella Pelegrini ...............................................................51Stênio Medeiros de Carvalho ......................................107Suellen Cristina S. Oliveira ...............................12, 16, 112Suellen Izabel Castro .....................................................34Suellen Izabel Castro de Paula .......................................90Susan Martins Lage ............................................25, 39, 47Susimary Aparecida Trevisan Padulla .............................101Suzana Erico Tanni ................................34, 81, 82, 83, 96Suzanne C. Lareau ........................................................23Sylmara Isandra Ferraz Monteiro ...................................55Sylvia Hartl ....................................................................18Sylvio Modesto Rodrigues Ferraz ...................................35TTaciane Sanches Oliveira................................................76Taís de Almeida Prado ...................................................34Taís Rezende Camargo ................................................116Tales Vilela Rocha ..........................................................82Talita Borges Simões ......................................................33Talita Cristina da Silva Santos ........................................116Talita Cristina Verona de Resende Pinto .........................26Talita Pascalle Macêdo Diógenes ....................................45Talita Pieri Stuchi ..........................................................115Talita Stuchi ...................................................................14Tamara I. Carvalho ..........................................................5Tania Cristina Malezan Fleig ...................................83, 102Tânia Malezan Fleig .....................................................102Tania Marcourakis ..........................................................26Tânia Reis de Paiva ................................................42, 106Tânia Sena Passos .........................................................66Tasia Peixoto de Andrade ............................................106Tatiana Barbosa Reis Guimarães .....................................57Tatiana Cunha ...............................................................48Tatiana da Cunha D`Elia ..........................................13, 80Tatiana Lancas .................................................................6Tatiana Liziero Razuck ...................................................61Tatiana Nigro Freire .......................................................56Tatiana O. Antunes ........................................................80Tatiane Gomes de Araújo ..............................................71Tayse Neves Silva ..................................................75, 114Telma de Almeida Busch Mendes ..................................92Telma Lisandra de Pietro .............................................103Telma Lisandra de Pietro Carneiro .............67, 84, 85, 108Tereza Lima ................................................................122Thabatta Alana S<strong>em</strong>enzim ...............................17, 99, 103Thabatta S<strong>em</strong>enzin................................................17, 109Thais A Lobato ..............................................................60Thaís Helena Abrahão .................................................133Thaís Helena de Freitas ...............................................133Thaís J. Koja ..................................................................50Thaís J. P. Sant’Anna ...............................................18, 106Thaís Jordão Perez Sant’anna .............................15, 16, 18Thaís Joyce Koja ............................................................63Thais M. Peres ............................................................112Thaís Melatto ........................................................26, 101Thaís Olimpo Fagundes .........................1, 38, 42, 90, 124Thais Risso ....................................14, 100, 108, 115, 119Thaisa Alves Barreto Batos ............................................89Thaise Lucena Araújo ............................................21, 113Thaissa de Oliveira Bastos .............................................97Thaiza Teixeira Xavier ...................................................41Thales Leônidas S. Fidelis...............................................90Thalita Delapieri Carrascosa ........................................121Thalita Medeiros Fernandes de Macêdo .................44, 128Thalita Rejane Maia Wanderley ......................................11Thatiane Araújo Sant’Ana ..............................................76Thatiane Colombo ..............................................105, 112Thatiane Maia de Farias .................................................58Thayse Neves Santos da Silva ..........................23, 55, 116Thayse Neves Silva Santos Tales ....................................63Thayse Silva ..................................................25, 118, 126Thiago Augusto Campos Viveiros ..................................67Thiago de Novaes Ferreira ................................66, 74, 77Thiago Diniz Afeitos ......................................................87Thiago Maia Tarbes .......................................................96Thiago Nunes de Azevedo Ferraz de Carvalho ..............55Thiago Ribeiro Teles dos Santos...................................129Thiago Richard Ávila ......................................................60Thierry Troosters ........................................................132Thomaz Queluz ..........................................................133Tiago Pacheco de Moura ...................................10, 11, 74Tiago Pinto ............................................................77, 132Ticiana Mesquita de Oliveira ..........................................70Ticiane Takayanagi Todo ..............................................120Tina Janus .......................................................................5Tomaz de Oliveira .......................................................127Trícia Guerra e Oliveira .............................................3, 99Túlio Galvão Ventura .............................22, 113, 115, 117UUbirajara Oliveira ............................................................2Ubiratan F. Machado ........................................................2Úrsula Souza Folha do Vale .....................................31, 80VValdecir Castor Galindo Filho ...................9, 23, 49, 71, 72,74, 114, 116, 126Valdecir Galindo Filho ......................................25, 64, 118Valdirene D. Santos .......................................................23Valéria A. Pires Di Lorenzo ..........................................111Valéria Amorim Pires Di Lorenzo .....................18, 98, 111Valéria Marques Ferreira Normando ............................133Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.149
Valéria Papa .............................................................2, 127Valéria Sovat de Freitas Costa ........................................45Valeska Fernandes Souza ...............................................58Vanderson Assis Romualdo ....................13, 67, 82, 87, 97Vaneska Cavalcanti de Andrade......................................76Vanessa C. Da Silva .........................................................5Vanessa de Souza Viana .................................................13Vanessa Fogaça..............................................................64Vanessa Helena Silvestre ...............................................59Vanessa Lima ......................................................100, 115Vanessa Marques Ferreira Méndez ................................41Vanessa Patrícia Soares de Sousa....................................58Vanessa Resqueti ...................................................21, 113Vanessa S. Probst ....... 15, 18, 19, 23, 44, 79, 88, 98, 106Vanessa Suziane Probst ............. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20,21, 41, 100, 106, 112Vanessa Vieira de Sousa .....................................11, 12, 71Vanessa Zwetsch ...........................................................68Vania Dimer Rolim ........................................................98Vânia Jandira Gomes Bonfi m ...........................................6Vânia S. Silva ...............................................................132Vebber CD .................................................................122Vera Lúcia Aparecida ...................................................127Vera Lúcia Taveira de Souza Stanzani ...........................100Verônica F. Parreira ................................................80, 107Verônica Franco Parreira ............. 3, 25, 26, 28, 39, 47, 89,99, 101, 121, 126, 127, 129, 130Veronica Maria de Souza Xavier ....................................41Veruschka Araruna ........................................................31Veruschka Ramalho Araruna ..........................................33Victor Caruso de Pontes ............................................6, 82Victor Fernando Couto ...............................................111Victor Monteiro Tachy .................................117, 118, 120Victor Zuniga Dourado ...............................................120Vinícius Carvalho Andrade .......................................66, 94Vinícius Cavalheri ..........................................................44Vinicius Cavalheri de Oliveira .......................................100Vinícius Daher Alvares Delfi no .......................................28Vinícius Pafume de Oliveira ............................................22Vinícius Zacarias Maldaner da Silva .....................34, 43, 70Virgínia Soares L<strong>em</strong>os .................................................135Vitor Savino ....................................................................8Vitor Savino Campos .....................................................68Vitória Lima ...........................................................25, 126Vitória Maria de Lima ........................................10, 11, 74Vivian Sant`Anna Miranda .............................................61Viviane AS Ferreira ......................................................114Viviane C. de Moraes ....................................................18Viviane C. Moraes .........................................................98Viviane Castello .............................................................48Viviane Castilho de Moraes ...........................................19Viviane de Moraes Laburú .......................................41, 44Viviane Iancóski Domingues ..........................................29Viviane Laburú ..............................................................44Viviane Lovatto .............................................................33Viviane Maciel Chaves ...................................................25Viviane Martins Santos .................................55, 65, 73, 79Viviane Michele Arruda Tavares .....................................55Viviane Schmidt .....................................................36, 128Viviane Silva ................................................................127Viviane Silva Tomaz de Oliveira Daniela .........................57Vivianne Moreira Pereira ...............................................69WWagner Júnio Oliveiras Reis ...........................................87Wald<strong>em</strong>ar Ladosky ........................................24, 118, 122Walkiria Z. Lima ............................................................15Walkirya Macedo Pinto ................................................100Wallace Luiz Moreira .....................................................26Walter Araújo Zin ...................................................13, 80Warleysson Sérgio Noronha Uberdan .........................131Wellington Cássio Ribeiro Pedrosa .................................45Wellington Hiroto Ide....................................................94Wellington Pereira dos Santos Yamaguti .......................110Werther Brunow de Carvalho ...............................63, 128Wesley João Souza Diniz .............................................112Wildberg Alencar Lima ............................................12, 76Willian R Pádua .............................................................23Willian Santos ........................................................24, 125Wilson Cleto de Medeiros Filho ............................58, 128XXimena Winter Valis ....................................................105Xiomara Miranda Salvetti ...................................42, 43, 44YYara Raissa Azevedo Barbosa .........................................93Yldry Souza Ramos .......................................................30Ywia Danieli Valadares ...................................................47ZZênia Trindade de Araújo ..........................1, 2, 30, 31, 92Zênia Trindade de Souto Araújo ....................................24Zênia Trindade de Souto Araújo ....................................29Zênia Trindade de Souto Araújo ..................................101Zênia Trindade de Souto Araújo ..................................102Zênia Trindade de Souto Araújo ......24, 29, 101, 102, 124150Rev Bras Fisioter. 2008;12(Supl):137-50.
Nome (Pessoa Física ou Jurídica):ASSINATURAS 2008CGC:Endereço:Bairro:Caixa Postal:Cidade:CEP:Estado:Telefone Residencial: ( ) Telefone comercial: ( ) Fax: ( )Recibo <strong>em</strong> nome de:Endereço para entrega do recibo:E-mail:PESSOA FÍSICAASSINATURA ANUALPESSOA JURÍDICA (EMPRESAS, FACULDADES...)ASSINATURA ANUALIndicar Volume Ano Brasil Indicar Volume Ano Brasilvol/assinaturavol/assinatura1 (*) 1996/1997 R$30,00 1 (*) 1996/1997 R$ 60,002 1997/1998 R$45,00 2 1997/1998 R$ 60,003 (*) 1998/1999 R$30,00 3 (*) 1998/1999 R$ 60,004 (*) 1999/2000 R$30,00 4 (*) 1999/2000 R$ 60,005 2001 R$60,00 5 2001 R$120,006 2002 (***) R$60,00 6 2002 (***) R$120,007 2003 R$60,00 7 2003 R$120,008 (*) 2004 R$50,00 8 (*) 2004 R$100,009 2005 R$60,00 9 2005 R$120,0010 + 2006 R$95,00 10 + 2006 R$190,0011++ 2007 R$100,00 11++ 2007 R$200,0012 2008 R$100,00 12 2008 R$200,00(*) volumes 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 8.2, 10.2: esgotados*** alterada a periodicidade para quadrimestral+ alterada a periodicidade para trimestral++ alterada a periodicidade para bimestralFORMAS DE PAGAMENTO:1) CHEQUE NOMINAL E CRUZADO PARA: FAI/UFSCAR/REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIAEnvie cópia desta ficha, juntamente com o cheque nominal para o endereço acima.2) ORDEM BANCÁRIA PARA: BANCO DO BRASILAgência nº 1888-0 – Conta corrente nº 5996-X – Código Identificador da conta: 5014-8Envie o comprovante de pagamento juntamente com a ficha preenchida, para o endereço acima, ou através dofax: (16) 3351 8755 – aos cuidados da Revista Brasileira de Fisioterapia.OTHER COUNTRIES – PROCEDURES FOR PAYMENT:Field 59:/ 0011 888 000 000 5996X – Swift Code BRAS US 33Important: Please send us the Swift number and a copy of this completed form by e-mail to: rbfisio-ass@power.ufscar.brFAI/ FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO/REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA - CGC nº 66.991.647/0001-30
Name (Individual or Organization):SUBSCRIPTION 2008Tax No.:Address:District:Box No.:City:Postal code:State:Home telephone: ()Business telephone: ()Fax: ()Receipt in name of:Address for sending receipt:E-mail:INDIVIDUALSANNUAL SUBSCRIPTIONORGANIZATIONS (COMPANIES, COLLEGES...)ANNUAL SUBSCRIPTIONQuant. Vol. Year Othercountries(**)Quant. Vol. Year Othercountries(**)1 (*) 1996/1997 U$ 45.00 1 (*) 1996/1997 U$ 45.002 1997/1998 U$ 90.00 2 1997/1998 U$ 90.003 (*) 1998/1999 U$ 45.00 3 (*) 1998/1999 U$ 45.004 (*) 1999/2000 U$ 45.00 4 (*) 1999/2000 U$ 45.005 2001 U$ 90.00 5 2001 U$ 90.006 2002 (***) U$ 90.00 6 2002 (***) U$ 90.007 2003 U$ 90.00 7 2003 U$ 90.008 (*) 2004 U$ 80.00 8 (*) 2004 U$ 80.009 2005 U$ 90.00 9 2005 U$ 90.0010 + 2006 U$ 90.00 10 + 2006 U$ 90.0011++ 2007 U$ 90.00 11++ 2007 U$ 90.0012 2008 U$ 90.00 12 2008 U$ 90.00(*) volumes 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 8.2, 10.2: sold out (**) other countries: tax and shipping included*** periodicity changed to four-monthly+ periodicity changed to quarterly++ periodicity changed to bimonthlyBRAZIL – PAYMENT METHODS:1) CROSSED CHECK MADE OUT TO: FAI/UFSCAR/REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIASend a copy of this form together with the check, to the above address.2) BANK ORDER TO: BANCO DO BRASILBranch No. 1888-0 – Current account No. 5996-X – Account identification code: 5014-8Send the proof of payment to the above address or by fax: (16) 33518755 – for the attention of the Brazilian Journal of PhysicalTherapy.OTHER COUNTRIES – PAYMENT PROCEDURES:Field 59:/ 0011 888 000 000 5996X – Swift Code BRAS US 33Important: Please send us the Swift number and a copy of this completed form by e-mail to: rbfisio-ass@power.ufscar.brFAI/ FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO/REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA - CNPJ nº 66.991.647/0001-30