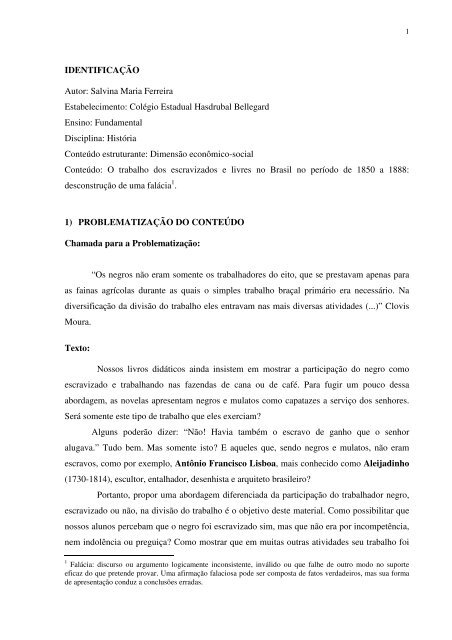IDENTIFICAÇÃO Autor: Salvina Maria Ferreira Estabelecimento ...
IDENTIFICAÇÃO Autor: Salvina Maria Ferreira Estabelecimento ...
IDENTIFICAÇÃO Autor: Salvina Maria Ferreira Estabelecimento ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>IDENTIFICAÇÃO</strong><br />
<strong>Autor</strong>: <strong>Salvina</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Ferreira</strong><br />
<strong>Estabelecimento</strong>: Colégio Estadual Hasdrubal Bellegard<br />
Ensino: Fundamental<br />
Disciplina: História<br />
Conteúdo estruturante: Dimensão econômico-social<br />
Conteúdo: O trabalho dos escravizados e livres no Brasil no período de 1850 a 1888:<br />
desconstrução de uma falácia 1 .<br />
1) PROBLEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO<br />
Chamada para a Problematização:<br />
“Os negros não eram somente os trabalhadores do eito, que se prestavam apenas para<br />
as fainas agrícolas durante as quais o simples trabalho braçal primário era necessário. Na<br />
diversificação da divisão do trabalho eles entravam nas mais diversas atividades (...)” Clovis<br />
Moura.<br />
Texto:<br />
Nossos livros didáticos ainda insistem em mostrar a participação do negro como<br />
escravizado e trabalhando nas fazendas de cana ou de café. Para fugir um pouco dessa<br />
abordagem, as novelas apresentam negros e mulatos como capatazes a serviço dos senhores.<br />
Será somente este tipo de trabalho que eles exerciam?<br />
Alguns poderão dizer: “Não! Havia também o escravo de ganho que o senhor<br />
alugava.” Tudo bem. Mas somente isto? E aqueles que, sendo negros e mulatos, não eram<br />
escravos, como por exemplo, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho<br />
(1730-1814), escultor, entalhador, desenhista e arquiteto brasileiro?<br />
Portanto, propor uma abordagem diferenciada da participação do trabalhador negro,<br />
escravizado ou não, na divisão do trabalho é o objetivo deste material. Como possibilitar que<br />
nossos alunos percebam que o negro foi escravizado sim, mas que não era por incompetência,<br />
nem indolência ou preguiça? Como mostrar que em muitas outras atividades seu trabalho foi<br />
1 Falácia: discurso ou argumento logicamente inconsistente, inválido ou que falhe de outro modo no suporte<br />
eficaz do que pretende provar. Uma afirmação falaciosa pode ser composta de fatos verdadeiros, mas sua forma<br />
de apresentação conduz a conclusões erradas.<br />
1
fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil se ainda continuamos<br />
relacionando-o apenas com as atividades agrícola e mineradora?<br />
Tão presente está a relação do negro com determinadas atividades que, Aluísio de<br />
Azevedo, ao publicar seu livro O Mulato, foi criticado por Euclides Faria, redator do jornal<br />
maranhense, A Civilização, em 23 de julho de 1881, com as seguintes palavras: “À lavoura,<br />
meu estúpido! À lavoura! Precisamos de braços e não de prosas em romances! Isto sim é real!<br />
A agricultura felicita os indivíduos e enriquece os povos! À foice! E à enxada!” (AZEVEDO,<br />
2005. Prefácio da 3ª edição)<br />
No livro O Mulato, Azevedo procurou combater a escravidão e denunciar a<br />
condição preconceituosa em que vivia o negro e o mulato no Brasil em 1881. A sociedade<br />
maranhense da época é prova de como, mesmo sendo livre, o não branco, seja ele negro,<br />
mulato ou nativo, jamais poderia se dar o luxo de pensar e escrever.<br />
Esta abordagem vem ao encontro com a Lei 10.639/03 sobre a História e cultura<br />
afro-brasileira e africana. O recorte que aqui fazemos é a história do Brasil, no período de<br />
1850 a 1888. Queremos reinterpretar a participação dos negros e mulatos em atividades<br />
profissionais imprescindíveis para a construção de nosso país. Discutiremos como a<br />
população negra foi relegada à própria sorte após a abolição.<br />
Espera-se que este caminho favoreça a construção de uma consciência histórica, em<br />
nós e em nossos alunos. Quem sabe nos identificaremos com essa grande massa de<br />
trabalhadores que construíram e constroem esse imenso país!<br />
2. RECURSOS DE INVESTIGAÇÃO<br />
2.1 INVESTIGAÇÃO DISCIPLINAR<br />
Título: A História e cultura afro-brasileira e a Literatura<br />
A disciplina de história propõe reflexões, análises, comparações e argumentos<br />
capazes de romper com a desconsideração da importância da história e cultura afro-brasileira<br />
e dos diversos povos africanos presentes na nossa história. O que se percebe é que<br />
(...) há um esforço continuado de construir a invisibilidade social, histórica e<br />
cultural-comunitária do negro. As conseqüências do ideário da miscigenação e da<br />
democracia racial, no relacionamento entre negros, brancos implica no seguinte: se o<br />
2
negro, pela miscigenação deveria deixar de existir, diluindo-se na morenidade, não<br />
há porque considerá-lo como cidadão que, rebelado contra o racismo, reivindica a<br />
igualdade; o negro deverá desaparecer/diluir-se na futura metarraça e, desde já, o<br />
negro ou o afro-descendente pode ser tratado como invisível (FONSECA, 2006,<br />
p.145).<br />
A educação, nos níveis fundamental e médio, por respeito ao princípio da democracia<br />
e centrada no espírito de busca da verdade, deve oportunizar a docentes e discentes espaços<br />
para questionar essa invisibilidade e propor mecanismos capazes de projetar, segundo<br />
FONSECA (2006, p. 146), um “novo indivíduo negro, cuja presença e preocupação presente<br />
buscam ressignificar a história brasileira e, dentre dela, o negro que traça um outro rumo: eis<br />
o negro na história, nossa história”.<br />
Procuramos atingir o objetivo proposto na Lei 10.639/2003, artigo 26-A §1º que é “o<br />
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra<br />
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, redimensionando a contribuição do<br />
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.”<br />
Assim nos remetemos às Diretrizes Curriculares da disciplina de História da<br />
Secretaria de Educação do Paraná:<br />
Ao optar pelas contribuições das correntes da Nova História Cultural e Nova<br />
Esquerda Inglesa como referenciais teóricos destas Diretrizes Curriculares, objetivase<br />
propiciar aos alunos a formação da consciência histórica. Para que esse objetivo<br />
seja alcançado, recomenda-se que o professor faça uma abordagem dos conteúdos<br />
sob a exploração de novos métodos de produção do conhecimento histórico e inclua<br />
em sua metodologia de trabalho:<br />
– vários recortes temporais;<br />
– diferentes conceitos de documento;<br />
– sujeitos e suas experiências, numa perspectiva de diversidade;<br />
– formas de problematização em relação ao passado;<br />
– condições de elaborar conceitos que permitam pensar historicamente; e<br />
– a superação da idéia de História como verdade absoluta (SEED, 2006, p. 29).<br />
Novas informações, perspectivas e análises são fundamentais para um ensino que se<br />
propõe a ser crítico. Isso propiciará que os alunos possam questionar, selecionar e analisar,<br />
dentre essas novas perspectivas, aquelas que os ajudarão a entender melhor sua própria<br />
história e a de seu país.<br />
Para possibilitar perspectivas diferenciadas do processo histórico sobre as atividades<br />
que os negros e mulatos no Brasil exerciam, torna-se imprescindível, ao ensino de história, a<br />
incorporação de outras fontes de informações. MENDONÇA (2003, p.3), nos mostra que<br />
(...) A teoria instituída no século XIX conseguiu assegurar até algumas décadas do<br />
século XX a noção de que a literatura e história são campos distintos, indicando que,<br />
enquanto um ficcionaliza o real, o outro o estabelece. Baseada nessa visão, a história<br />
3
autodenominou-se a única possibilidade de registro da realidade do passado, não<br />
reconhecendo essa capacidade na literatura.<br />
Contrapondo-se a essa forma de ver e estudar a história temos a possibilidade “de<br />
buscarmos uma nova forma literária” uma vez que “as velhas formas são inadequadas aos<br />
nossos propósitos” (BURKE, 1992, p. 336).<br />
Outras experiências de narrativas poderiam auxiliar os historiadores a tornar as<br />
guerras civis e outros conflitos mais inteligíveis e a partir de outros pontos de vistas como os<br />
romancistas fazem. Além do mais os historiadores estão percebendo que seu trabalho não<br />
produz o que realmente aconteceu e que sua narrativa representa uma análise de determinado<br />
fragmento, portanto eles não são imparciais ou, como nos diz BURKE (1992, p. 11), “a base<br />
filosófica da nova história é a idéia de que a realidade é social e culturalmente constituída”.<br />
A narrativa presente nos livros de história faz parte da literatura histórica, mas aqui<br />
se procura outros estilos literários como o romance, a ficção, a poesia, os contos, dentre<br />
outros. Com elas podemos aprender a abordar e contrapor, também, a história.<br />
Segundo RUIZ (1995, p. 42), os procedimentos específicos do tratamento da história<br />
consistem em problematizar as questões, delimitar o objeto, examinar o estado das questões,<br />
buscar informações, perceber quem são os sujeitos históricos envolvidos, organizar os dados<br />
coletados, verificar as estratégias de comprovação ou não das hipóteses, refinar os conceitos,<br />
elaborar e expor a redação dos textos, dentre outros. Assim sendo, a história,<br />
(...) é uma prática "científica", produtora de conhecimentos, mas uma prática cujas<br />
modalidades dependem das variações de seus procedimentos técnicos, dos<br />
constrangimentos que lhe impõem o lugar social e a instituição de saber onde ela é<br />
exercida, ou ainda das regras que necessariamente comandam sua escrita. O que<br />
também pode ser dito de maneira inversa: a história é um discurso que aciona<br />
construções, composições e figuras que são as mesmas da escrita narrativa, portanto<br />
da ficção, mas é um discurso que, ao mesmo tempo, produz um corpo de enunciados<br />
"científicos", se entendemos por isso "a possibilidade de estabelecer um conjunto de<br />
regras que permitem ‘controlar' operações proporcionais à produção de objetos<br />
determinados” (CHARTIER, 1994, p. 113).<br />
Por isso a dimensão da temporalidade é uma das categorias centrais do conhecimento<br />
histórico a fim de evitar o anacronismo nas análises históricas, um erro imperdoável para uma<br />
ciência do tempo 2 . Esse anacronismo consiste, segundo RUIZ (2005, p. 44-45),<br />
2 BLOCH, 2001, p. 144.<br />
(...) em atribuir a determinadas sociedades do passado nossos próprios sentimentos<br />
ou razões, e assim interpretar suas ações; ou aplicar critérios e conceitos que foram<br />
4
elaborados para uma determinada época, em circunstâncias específicas, para outras<br />
épocas com características diferentes.<br />
Assim a história concebida como processo, busca aprimorar o exercício da<br />
problematização da vida social, como ponto de partida para a investigação produtiva<br />
e criativa, buscando identificar as relações sociais de grupos locais, regionais,<br />
nacionais e de outros povos; perceber as diferenças e semelhanças, os<br />
conflitos/contradições e as solidariedades, igualdades e desigualdades existentes nas<br />
sociedades; comparar problemáticas atuais e de outros momentos; posicionar-se de<br />
forma crítica no seu presente e buscar as relações possíveis com o passado.<br />
As considerações sobre a cientificidade da história e as tentações do anacronismo<br />
levam à concluir que o discurso histórico só é possível quando apresenta o passado e na<br />
medida em que pode ser estudado à luz de metodologia própria. “A existência do passado é<br />
uma pressuposição necessária do discurso histórico, e o fato de podermos realmente escrever<br />
histórias é uma prova suficiente de que podemos conhecê-lo” (WHITE, 1994, p. 1).<br />
Se não podemos atribuir nossos valores a povos passados, se não podemos interpretar<br />
suas histórias e seus acontecimentos a partir do que conhecemos hoje, como então reescrever<br />
a história dos povos africanos que foram violentamente trazidos para o Brasil? Como saber o<br />
que faziam, quais suas formas de organizações sociais, econômicas e políticas? Como eram<br />
suas relações com o sagrado? Por que nos livros didáticos ainda prevalece o sinônimo de<br />
escravo como negro?<br />
A historiografia, a partir da “escola dos Annales”, possibilitou a incorporação das<br />
histórias vistas de baixo e da história oral. As mulheres e os trabalhadores, por exemplo,<br />
aparecem nos textos e discursos presentes nas salas de aulas. Em relação aos negros só se<br />
discute quando a questão é a escravidão ou o preconceito. Como a literatura pode ajudar a<br />
mudar essa realidade? Quais literaturas? Quais autores? Com que visões?<br />
No texto Teoria literária e escrita da história, Hayden White nos apresenta uma<br />
relação muito próxima entre a escrita literária e a escrita da história. Nos diz que existem:<br />
(...) verdades que a moderna teoria da história vem regularmente tendendo a<br />
esquecer: a saber, que a "história" que é o tema de todo esse aprendizado só é<br />
acessível por meio da linguagem; que nossa experiência da história é indissociável<br />
de nosso discurso sobre ela; que esse discurso tem que ser escrito antes de poder ser<br />
digerido como "história"; e que essa experiência, por conseguinte, pode ser tão vária<br />
quanto os diferentes tipos de discurso com que nos deparamos na própria história da<br />
escrita.<br />
Dentro dessa visão, a "história" é não apenas um objeto que podemos estudar e<br />
nosso estudo desse objeto, mas também, e até mesmo antes de tudo, um certo tipo de<br />
relação com "o passado" mediada por um tipo distinto de discurso escrito. E porque<br />
o discurso histórico é atualizado em sua forma culturalmente significante como um<br />
tipo específico de escrita que podemos considerar a importância da teoria literária<br />
tanto para a teoria como para a prática da historiografia (WHITE, 1994, p.1).<br />
5
Por isso, a literatura é uma fonte onde podemos nos basear para completarmos o que<br />
nos falta sobre a cultura e história afro-brasileira. Nela, a literatura, os autores conseguem nos<br />
mostrar como a sociedade, em determinados períodos lidaram com a escravidão, quais os<br />
valores e objetivos que os diversos grupos sociais tinham e como faziam para alcançá-los.<br />
É certo que nenhum literato escreve com intenções científicas, filosóficas,<br />
sociológicas ou históricas mas também é certo que nem tudo numa peça literária é ficção. Por<br />
isso cabe ao professor reconhecer os limites e as possibilidades de interpretação do mundo<br />
real e da história a partir do enredo e das personagens imaginados.<br />
Para referenciar o que aqui procuramos mostrar, utilizamos uma passagem de O<br />
Mulato onde Aluísio Azevedo demonstra como era considerado um homem não branco na<br />
sociedade maranhense da época. 3<br />
José prosperou rapidamente no Rosário; cercou a amante e o filho de cuidados 4 ;<br />
relacionou-se com a vizinhança; criou amizades, e, no fim de pouco tempo recebia<br />
em casamento a senhora dona Quitéria Inocência de Freitas Santiago, viúva,<br />
brasileira, rica, de muita religião e escrúpulos de sangue, e para quem um escravo<br />
não era um homem, e o fato de não ser branco constituía só por si um crime<br />
(AZEVEDO, 2005, p. 51).<br />
O fato de dona Quitéria ser religiosa não impedia de deixar seus escravos morrerem de<br />
fome, de sede ou presos ao tronco. Para enfatizar a prática religiosa, Aluísio Azevedo relata<br />
que à noite, na capela de sua dona, os escravos entoavam súplicas à Virgem Santíssima,<br />
considerada a mãe dos infelizes.<br />
Os crimes cometidos no interior da província do Maranhão, eram imputados aos<br />
negros fugitivos. Esses eram também chamados de “quilombolas” ou “calhambolas”, segundo<br />
Aluísio Azevedo 5 .<br />
É esta visão que nossos livros didáticos ainda reforçam. Não incorporam as novas<br />
pesquisas históricas, as abordagens regionais que mostram diferenças no processo de<br />
escravidão e de participação dos não escravos nas mais diversas atividades. O centro ainda<br />
continua sendo São Paulo, Rio de Janeiro e algumas partes do Nordeste onde os engenhos<br />
prosperaram.<br />
3 A primeira edição de O Mulato é de 1881.<br />
4 José Pedro da Silva era comerciante de escravos e, portanto, malquisto por conta de sua atividade. Fugiu de<br />
uma perseguição no Pará, em 1831. Sua amante, Domingas, era escrava e o ajudou a fugir para o Maranhão. O<br />
filho é o personagem principal do livro: Raimundo, o mulato. No dia do batizado, o menino e sua mãe,<br />
receberam a carta de alforria.<br />
5 Conforme AZEVEDO, 2005, p. 58.<br />
6
No livro, Sociologia do negro brasileiro, Clovis Moura apresenta as seguintes<br />
atividades onde a presença dos negros era constatada: alfaiates, caldeireiros, carpinteiros,<br />
entalhadores, serralheiros, ourives, pedreiros, pintores. Em São Paulo, muitos dos ofícios que<br />
seriam ocupados pelos imigrantes, eram exercidos por negros escravizados e livres. Dentre<br />
eles estão: costureiras, mineiros, diversos trabalhos em metais, em madeiras, tecidos,<br />
vestuários, calçados, edificações, etc.<br />
O mesmo ocorre no Paraná. Aqui referenciamos o trabalho, Semeando iras rumo ao<br />
progresso 6 , de Magnus Roberto de Mello Pereira. Neste livro o autor mostra, na metade do<br />
século XIX os dados da composição demográfica paranaense, um expressivo contingente de<br />
mestiços e negros livres, junto com os escravizados, que se dedicavam ao extrativismo<br />
vegetal, aos engenhos de mate, à lavoura de subsistência, aos serviços portuários de carga e<br />
descarga de navios, ao pequeno comércio, à construção civil, prestavam serviços a<br />
municipalidades como responsáveis pela iluminação e calçamento das ruas, ou eram<br />
trabalhadores jornaleiros. Havia aqueles que, de comum acordo com o fiscal da Câmara de<br />
Curitiba, acabavam como atravessadores 7 de gêneros alimentícios.<br />
De posse destes dados e informações nos cabe perguntar: por que o ex-escravo, o<br />
negro e mulato livre que exercia atividades múltiplas durante o período da escravidão, acabou<br />
sendo preterido ao imigrante europeu? O que lhe coube como profissão e atividade<br />
econômica, com o advento da República brasileira? Por que, em boa parte, ainda se mantém<br />
nos dias de hoje?<br />
Com essa abordagem de nossa história, nossos alunos poderão construir a consciência<br />
histórica e compreender o panorama econômico e social no qual o povo negro e seus<br />
descendentes vivem hoje. Esta consciência pode contribuir para a mudança de<br />
comportamentos e o avanço rumo ao pluralismo, onde as diferenças entre pessoas sejam de<br />
fato respeitadas.<br />
REFERÊNCIA:<br />
AZEVEDO, Aluísio. O Mulato. São Paulo: Martin Claret, 2005.<br />
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro:<br />
Jorge Zahar, 2001.<br />
6 PEREIRA, especialmente o capítulo 2, Escravos, pretos, pardos e mulatos, p. 57-91.<br />
7 Atravessadores: aquele que compra mercadorias (cereais ou gêneros de primeira necessidade) diretamente do<br />
pequeno agricultor para depois repassar ao consumidor com preços mais altos.<br />
7
BURKE, Peter. Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro. In.: BURKE, Peter<br />
(Org.).A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1992. p. 7-37.<br />
BURKE, Peter. A história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa. In.:<br />
BURKE, Peter (Org.).A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora UNESP,<br />
1992. p. 327-348.<br />
CHARTIER, Roger. História hoje: dúvidas, desafios, propostas. In.: Revista Estudos<br />
Históricos, Rio de Janeiro, vol. 7, n. 13, 1994, p. 97-113.<br />
FONSECA, <strong>Maria</strong> Nazareth Soares (Org.). Brasil afro-brasileiro. Belo Horizonte:<br />
Autêntica, 2006.<br />
MENDONÇA, Carlos Vinícius Costa de, ALVES, Gabriela Santos. Os desafios<br />
teóricos da História e a Literatura. In.: - Revista História hoje, vol. 2 n. 2, dez 2003.<br />
http://www.anpuh.uepg.br/historia-hoje/vol1n2/historialiterat.htm acesso dia 29/10/2007.<br />
MOURA, Clovis. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo: Ática, 1988.<br />
PARANÁ, SEED. Diretrizes Curriculares da História. 2006.<br />
PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Semeando iras rumo ao progresso. Curitiba:<br />
Ed. UFPR, 1996.<br />
RUIZ, Rafael. Novas formas de abordar o ensino de História. In.: KARNAL. Leandro<br />
(Org.) História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 4. ed. São Paulo: Contexto,<br />
2005. p. 75-91.<br />
WHITE, Hayden. Teoria literária e escrita da história. In.: Revista Estudos<br />
Históricos. Rio de Janeiro, vol. 7 n. 13, 1994, p. 21-48.<br />
2.2 PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR<br />
Título: “Literatura como missão”<br />
Utilizaremos como exemplo de trabalho que articula literatura e história, o livro de<br />
Nicolau Sevcenko, Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira<br />
República.<br />
Sevcenko utiliza-se das obras de Euclides da Cunha e de Lima Barreto para traçar um<br />
panorama do Brasil na passagem do século XIX para o XX. Historicamente é o momento do<br />
fim da escravidão e o advento da República.<br />
8
Tanto para Euclides da Cunha quanto para Lima Barreto, é o momento da negação do<br />
passado escravista e a construção de um projeto para o país que levasse em conta suas<br />
contradições. Ambos utilizarão a literatura como instrumento à “serviço do povo brasileiro,<br />
para retirá-lo da situação de miséria e ignorância em que vivia, abandonado pelos governos,<br />
conseqüência da própria organização social, política do país, quer sobre o Império, quer sob a<br />
República” (SEVCENKO, 2003, p.16).<br />
Por isto as obras destes autores estão carregadas de conteúdo histórico e refletem os<br />
principais temas de discussão neste período histórico: ciência, raça, civilização. O texto a<br />
seguir nos dá um breve panorama deste embate entre Euclides da Cunha e Lima Barreto:<br />
Vejamos, por exemplo, veríamos Euclides da Cunha deslumbrar-se com “as magias<br />
da ciência, tão poderosas que espiritualizavam a matéria”, enquanto Lima Barreto<br />
nela via somente uma fonte de preconceitos e superstições. Euclides da Cunha<br />
exultava com o “resplendor da civilização vitoriosa”, ao passo que Lima Barreto<br />
concluía amargurado: “Engraçado! É como se a civilização tivesse sido boa e nos<br />
tivesse dado a felicidade!”. A elucidação desse embate de posturas polarizou-se em<br />
torno do conceito de raça. Este foi uma criação da ciência oficial das metrópoles<br />
européias e atuou como o suporte principal para a legitimação de suas políticas de<br />
nacionalismo interior e expansionismo externo.A corrida imperialista para a<br />
conquista de ambos os mercados capazes de alimentar a Europa da Segunda<br />
Revolução Industrial encontrou na teoria das raças uma justificação digna e<br />
suficiente para o seu vandalismo nas regiões “bárbaras” do globo. Tratava-se de<br />
levar os benefícios da civilização para os povos “atrasados”. Ora civilização, neste<br />
sentido, era sinônimo de modo de vida dos europeus da Belle Époque (SEVCENKO,<br />
2003, p.146).<br />
A atuação do barão do Rio Branco também foi motivo de embate. Isto porque ele<br />
representava a identificação da elite brasileira com o modelo de vida europeu pois, afinal, este<br />
era o caminho para colocar o Brasil na categoria de civilizado. Nesta questão veja como se<br />
posicionava Lima Barreto.<br />
O núcleo dessa atitude europeizante reverente era justamente representado pelo<br />
Ministério das Relações Exteriores. Pelo menos era assim que Lima Barreto o via, e<br />
daí despejar toda a sua virulência contra o chanceler brasileiro, a quem<br />
responsabilizava pelo espírito da regeneração e pelo acirramento do preconceito<br />
contra os mulatos, que segundo Lima Barreto, se tinha pudor de mostrar aos<br />
estrangeiros (SEVCENKO, 2003, p. 147).<br />
Euclides da Cunha, por manter relações mais estreitas com o barão do Rio Branco, se<br />
posicionava totalmente diferente de Lima Barreto, pois<br />
Ele, juntamente com Nabuco, Graça Aranha e Machado de Assis, freqüentava o<br />
círculo literário encabeçado pelo chanceler na Livraria Garnier e no próprio<br />
ministério. Foi o barão quem lhe conseguira o comissionamento para a missão na<br />
Amazônia. Era com enlevo que Euclides da Cunha se referia à “quadra mais pujante<br />
do nosso desenvolvimento econômico, que o gênio do visconde de Rio Branco<br />
9
domina”, dando assim um colorido dinástico aos faustos da modernização do país<br />
(SEVCENKO, 2003, p. 147).<br />
Em relação ao ensino superior brasileiro Euclides da Cunha e Lima Barreto também<br />
defendem opiniões diferentes. Vejamos as razões desta discordância:<br />
(...) enquanto Euclides da Cunha louvava a reforma do ensino superior segundo o<br />
modelo comtiano e, por esse caminho a futura constituição de uma elite altamente<br />
capacitada – “os homens do futuro” –, Lima Barreto deplorava a própria instituição<br />
do ensino acadêmico. Para ele, a elite aí formada, passava, por definição, a constituir<br />
uma casta privilegiada, que usufruía espuriamente dos cargos dirigentes do país;<br />
eram os seus “mandarins” (SEVCENKO, 2003, p. 148-149).<br />
Os dois autores expuseram em suas obras as propostas que acreditavam ser melhores<br />
para o Brasil, a partir da nova realidade que o processo de fim da escravidão e da organização<br />
da República deixaram exposta. Segundo SEVCENKO, estes autores tinham em mente as<br />
seguintes questões: “Que rumo dar à sociedade republicana, orientá-la em função de quê,<br />
ordená-la ao redor de quem?” (SEVCENKO, 2003, p. 152) Foi na literatura o meio<br />
encontrado para responde-las. Por isso, se queremos entender melhor o período histórico da<br />
formação do Brasil republicano, nosso trabalho será grandemente auxiliado pelo estudo das<br />
obras de autores como Euclides da Cunha e Lima Barreto.<br />
REFERÊNCIA:<br />
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na<br />
Primeira República. 2. ed. São Paulo, Companhia das Letras, 2003.<br />
2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO<br />
Tema: A obrigatoriedade de implementar a Lei 10.639/2003.<br />
Título: Uma provocação sobre a implantação da lei 10.639/03<br />
Estamos diante de um impasse: temos uma lei para cumprir e nem sempre temos os<br />
materiais pedagógicos para implementá-la. O que fazer?<br />
Se não temos os melhores materiais, não significa que não temos nada. Basta darmos<br />
uma olhada com mais cuidado nas nossas bibliotecas escolares que encontraremos, pelo<br />
menos, um material: a literatura.<br />
10
Por isso o objetivo deste OAC é apresentar uma possibilidade de trabalharmos com a<br />
história e cultura afro-brasileira a partir da literatura. Pessoas que não se esconderam em dar<br />
sua contribuição na construção de um país sem racismo e preconceito e até mesmo aqueles<br />
que propuseram a criação de um país branco 8 .<br />
Ao possibilitar aos nossos alunos diferentes análises a partir de diversas fontes sobre<br />
nossa história e do processo de formação do que hoje chamamos, genericamente, de<br />
brasileiros, estaremos oferecendo meios de quebrar o discurso da “democracia racial<br />
brasileira” 9 . Não simplesmente na teoria, como também na prática, pois deverá provocar<br />
mudanças de atitudes de professores e alunos.<br />
Neste sentido aponto uma pequena reflexão do professor Amauri Mendes Pereira,<br />
pesquisador do Afro-Centro de Estudos Afro-Brasileiros da UCAM-RJ:<br />
Em geral, nem em nossos processos de socialização, nem em nossas formações<br />
acadêmicas e profissionais, tivemos oportunidade de construir uma compreensão da<br />
questão racial que fosse além do senso comum embalado no mito da democracia<br />
racial.<br />
Trata-se, então, de nos capacitarmos para enfrentá-la em nossas próprias mentes e no<br />
cotidiano escolar:<br />
• É preciso demandar os Cursos de História e Cultura Afro-Brasileira junto às<br />
instâncias responsáveis do sistema educacional em que nos encontramos;<br />
• É preciso estar abertos às discussões que, muitas vezes, violentarão<br />
“verdades” que insistem em enganar os nossos desejos de um mundo de igualdade,<br />
sem raça, sem discriminações, que ainda não existe: é preciso construir. É como o<br />
tratamento de certas feridas: é preciso limpá-la, mesmo com toda dor, para que de<br />
fato venha a cura;<br />
• É preciso traduzir aquelas “revelações” em novos conteúdos, rearticular<br />
propostas curriculares e envolver as comunidades escolares (professores,<br />
funcionários de apoio, responsáveis pelos alunos e alunos), comprometendo a todos<br />
com a construção de novos saberes e procedimentos pedagógicos questionadores do<br />
preconceito e da discriminação racial.<br />
Como conseqüência estaremos produzindo a descolonização de nossas mentalidades<br />
e alcançaremos um nível muito mais elevado de consciência social e histórica.<br />
Sobretudo conteúdos como os que teremos oportunidade de estudar e discutir,<br />
relativos à História da África e à participação do negro na formação da<br />
nacionalidade brasileira permitirão a desnaturalização do racialismo (concepção de<br />
que raça é uma coisa importante) e das desigualdades raciais – elementos marcantes<br />
em nossa formação social e histórica (PEREIRA,2004).<br />
8 A proposta do branqueamento do Brasil é o caminho da modernização brasileira. Segundo Sílvio Romero, um<br />
dos principais defensores da redenção étnica do país, se daria da seguinte forma: “O tipo branco irá tomando a<br />
preponderância, até mostrar-se puro e belo como no velho mundo. Será quando já estiver de todo aclimatado no<br />
continente. Dois fatos contribuíram largamente para tal resultado: de um lado a extinção do tráfico africano e o<br />
desaparecimento constante dos índios, de outro a imigração européia” (ROMERO, 1978, p. 55).<br />
9 O discurso da democracia racial brasileira parte do pressuposto de que há harmonia, tolerância e uma ausência<br />
de preconceito e discriminação racial no Brasil.<br />
11
Neste contexto visa-se uma análise do modo tradicional no ensino dos conteúdos<br />
de história 10 , pois<br />
Sob uma perspectiva de inclusão social, estas Diretrizes consideram a diversidade<br />
cultural nos locais de memória paranaenses, de modo que buscam contemplar<br />
demandas em que também se situam os movimentos sociais organizados e destacam<br />
os seguintes aspectos:<br />
- o cumprimento da Lei n. 10.639/03, inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a<br />
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, seguidas das<br />
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais e para<br />
o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (PARANÁ, SEED, 2006,<br />
p. 21).<br />
Como é possível falarmos em uma educação de qualidade, que respeite as diferenças,<br />
que proporcione a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade se ainda<br />
continuamos a negar a história de povos que construíram esse país? Como não pensar na<br />
consolidação das desigualdades sociais e econômicas a partir do desenvolvimento do<br />
racialismo 11 respaldado pela ciência? Como não identificar o subdesenvolvimento de um país<br />
a partir da análise da não evolução biológica de determinados fenótipos identificados com o<br />
negro, com o indígena e com a mistura de etnias?<br />
REFERÊNCIA<br />
APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.<br />
MEC, BRASIL. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações<br />
étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. 2004.<br />
PARANÁ, SEED. Diretrizes Curriculares da História. 2006.<br />
PARANÁ, CEE. Normas Complementares às Diretrizes Curriculares Nacionais<br />
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura<br />
Afro-Brasileira e Africana. Deliberação N.º 04/06, aprovada em 02/08/06.<br />
10 Grifo meu.<br />
11 O racialismo “é a visão de que existem características hereditárias, possuídas por membros de nossa espécie,<br />
que nos permitem dividi-los num pequeno conjunto de raças, de tal modo que todos os membros dessas raças<br />
compartilham entre si certos traços e tendências que eles não têm em comum com membros de nenhuma outra<br />
raça” (APPIAH, 1997, p.33).<br />
12
PEREIRA, Amauri Mendes. História e Cultura Afro-Brasileira: Parâmetros e<br />
Desafios. Revista Espaço Acadêmico. n. 36. Maio de 2004. In.:<br />
http://www.espacoacademico.com.br/036/36epereira.htm acesso dia 27/08/2007.<br />
ROMERO, Silvio. Mestiçagem e literatura nacional. In: CANDIDO, A .(Org.) Silvio<br />
Romero: teoria, crítica e história literária. São Paulo: EDUSP, 1978.<br />
3. RECURSOS DIDÁTICOS<br />
3.1 SÍTIOS<br />
1ª Sugestão de Sítio<br />
Título do Sítio: A cor da cultura<br />
Disponível em (endereço web): http://www.acordacultura.org.br<br />
Acessado em (mês.ano): julho/2007<br />
Comentários:<br />
"A cor da cultura é um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira,<br />
fruto de uma parceria entre o Canal Futura, a Petrobrás, o Cidan – Centro de Informação e<br />
Documentação do Artista Negro, a TV Globo e a Seppir – Secretaria especial de políticas de<br />
promoção da igualdade racial. O projeto teve seu início em 2004 e, desde então, tem realizado<br />
produtos audiovisuais, ações culturais e coletivas que visam práticas positivas, valorizando a<br />
história deste segmento sob um ponto de vista afirmativo." Apresentação retirada do próprio<br />
sítio.<br />
2ª Sugestão de Sítio<br />
Título do Sítio: Biblioteca virtual do estudante de literatura portuguesa<br />
Disponível em (endereço web): http://www.bibvirt.futuro.usp.br<br />
Acessado em (mês.ano): junho/2007<br />
Comentários:<br />
A biblioteca virtual do estudante de literatura portuguesa, desde 1997, disponibiliza<br />
gratuitamente um grande número de autores da literatura que pode ser utilizado na<br />
organização das aulas, proporciona auxílio às pesquisas escolas e subsídios de atividades<br />
curriculares.<br />
13
3ª Sugestão de Sítio<br />
Título do Sítio: Domínio Público<br />
Disponível em (endereço web): http://www.dominiopublico.gov.br<br />
Acessado em (mês.ano): junho/2007<br />
Comentários:<br />
Neste sítio existem textos de vários autores e vídeos que podem ser utilizados nas<br />
aulas de história e de outras áreas de tal modo que os conteúdos possam ser trabalhados de<br />
forma mais dinâmica e articulada.<br />
4ª Sugestão de Sítio<br />
Título do Sítio: Literafro<br />
Disponível em (endereço web): http://www.letras.ufmg.br?literafro/frame.html<br />
Acessado em (mês.ano): junho/2007<br />
Comentários:<br />
Este sítio, organizado pela UFMG nos oferece bibliografia e textos de autores que<br />
podem ser utilizados nas aulas sobre história e cultura afro-brasileira. Há autores que, em<br />
muitos casos, não são trabalhados nas aulas de literatura e nem constam no rol dos grandes<br />
literatos mas que nos oferecem uma boa reflexão e análise de várias épocas de nossa história.<br />
5ª Sugestão de Sítio<br />
Título do Sítio: Casa das Áfricas<br />
Disponível em (endereço web): http://www.casadasafricas.org.br/<br />
Acessado em (mês, ano): dezembro/2007<br />
Comentários:<br />
Este sítio disponibiliza o mapa político do Continente Africano e de cada país com<br />
dados atualizados de população, geografia, economia, história dentre outros. Há um banco de<br />
imagens que pode ser consultado por categorias temáticas ou por países. Também há uma<br />
relação de endereços da web que abordam a África de diferentes perspectivas. Oferece um<br />
banco de texto com temas específicos e sobre os países que compõem este riquíssimo<br />
Continente.<br />
14
3.2 SONS E VÍDEOS<br />
VÍDEOS<br />
1ª Sugestão de Vídeo<br />
Título: Quanto Vale ou é por quilo?<br />
Direção: Sérgio Bianchi<br />
Duração (hh:mm):01:48<br />
Local da Publicação: Brasil<br />
Ano: 2005<br />
Comentário:<br />
"Livre adaptação do conto ‘Pai contra mãe’ de Machado de Assis, entremeado com<br />
pequenas crônicas de Nireu Cavalcanti, sobre a escravidão, extraídas dos autos do Arquivo<br />
Nacional do Rio de Janeiro. Quando vale ou é por quilo? (...) revela as mazelas e contradições<br />
de um país em permanente crise de valores. Com essas linhas Bianchi, costura dois recortes<br />
temporais:<br />
Século XVIII - A escravidão explícita. O comércio de escravos em expansão, do<br />
varejo ao atacado; as relações comerciais entre a Casa Grande e a Senzala.<br />
Tempos atuais - A exclusão social e seu sinônimo velado. A miséria é o combustível<br />
de um novo comércio de atacado. Com o nome oficial de Terceiro Setor, esse mercado -<br />
composto por empresas (ou ONGs, como são chamadas) - tenta preencher a ausência do<br />
Estado em atividades assistenciais, transformando as pautas sociais em verdadeiras feiras de<br />
negócios. Como em todo ramo empresarial, há corrupção. Neste o dinheiro é público e o<br />
produto é gente."<br />
Comentário retirado do sítio: http://www.quantovaleoueporquilo.com.br<br />
Disponível no acervo: Vídeo Locadora<br />
2ª Sugestão de Vídeo<br />
Título: O Aleijadinho – Paixão, glória e suplício.<br />
Direção: Geraldo Santos Pereira<br />
Duração (hh:mm) 01:40<br />
Local da publicação: Brasil<br />
Ano: 2000<br />
15
Comentário:<br />
“Além de revelar a intimidade do artista, sua formação de escultor e arquiteto, o filme<br />
também enfatiza o relacionamento amoroso de Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, com<br />
a bela Helena, os conflitos políticos com o pai, a amizade com o Inconfidente Cláudio Manoel<br />
da Costa, através de quem conhece detalhes da revolta histórica da Inconfidência Mineira,<br />
além da misteriosa doença que adquire aos 47 anos de idade. Doença que o aflige pelo resto<br />
da vida, e que apesar de enormes sofrimentos, não o impede de trabalhar até os 76 anos, com<br />
os instrumentos que seus três fiéis auxiliares lhe amarram nas mãos.” Comentários retirados<br />
do próprio vídeo (contra-capa).<br />
Disponível no acervo: Vídeo Locadora<br />
3ª Sugestão de Vídeo<br />
Título:Quilombo<br />
Direção: Carlos Diegues<br />
Duração (hh:mm):02:00<br />
Local da Publicação: Brasil<br />
Ano: 1984<br />
Comentário:<br />
"Em torno de 1650, um grupo de escravos se rebela num engenho de Pernambuco e<br />
ruma ao Quilombo dos Palmares, onde uma nação de ex-escravos fugidos resiste ao cerco<br />
colonial. Entre eles está Ganga Zumba, príncipe africano e futuro líder de Palmares, durante<br />
muitos anos. Mais tarde, seu herdeiro e afilhado, Zumbi, contestará as idéias conciliatórias de<br />
Ganga Zumba, enfrentando o maior exército jamais visto na história colonial brasileira."<br />
Comentários retirados do próprio vídeo (contra-capa).<br />
Disponível no acervo: Vídeo Locadora<br />
4ª Sugestão de Vídeo<br />
Título: Ganga Zumba<br />
Direção: Carlos Diegues<br />
Duração (hh:mm): 01:40<br />
Local da Publicação: Brasil<br />
Ano: 1964<br />
16
Comentário:<br />
"No século XVII, numa fazenda de cana-de-açúcar, o jovem escravo Antão (Pitanga)<br />
decide fugir em busca de Quilombo de Palmares ao descobrir, através do chefe espiritual<br />
Araroba (o compositor Cartola), que é neto de Zumbi, líder religioso e rei morto na destruição<br />
de Palmares. Sob o reinado de Ganga Zumba o Quilombo dos Palmares resiste a mais de 30<br />
expedições militares, tanto holandesas, quanto portuguesas. O filme é um grande registro<br />
histórico sobre Quilombo de Palmares, e que temos a rara oportunidade de sabermos mais, em<br />
termos cinematográficos, sobre o líder negro, Zumbi." Comentário retirado da sinopse do<br />
próprio filme (contra-capa)<br />
Disponível no acervo: Vídeo Locadora<br />
ÁUDIO-CD/MP3<br />
1ª Sugestão de áudio<br />
Título da Música: Canto das três raças<br />
<strong>Autor</strong>es: Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro<br />
Intérprete: Clara Nunes<br />
Título do CD: Canto das três raças<br />
Número da Faixa: 01<br />
Nome da Gravadora: EMI Brasil<br />
Ano: 2006<br />
Disponível em (endereço web):<br />
http://mpbnet.com.br/musicos/clara.nunes/letras/canto_das_tres_racas.htm acesso dia<br />
15/10/2007<br />
Letra da música:<br />
Ninguém ouviu um soluçar de dor<br />
No canto do Brasil.<br />
Um lamento triste sempre ecoou<br />
Desde que o índio guerreiro<br />
Foi pro cativeiro e de lá cantou.<br />
Negro entoou um canto de revolta pelos<br />
ares<br />
No Quilombo dos Palmares, onde se<br />
refugiou.<br />
Fora a luta dos inconfidentes<br />
Pela quebra das correntes.<br />
Nada adiantou.<br />
E de guerra em paz, de paz em guerra,<br />
Todo o povo dessa terra<br />
Quando pode cantar,<br />
Canta de dor.<br />
E ecoa noite e dia: é ensurdecedor.<br />
Ai, mas que agonia<br />
O canto do trabalhador...<br />
Esse canto que devia ser um canto de alegria<br />
Soa apenas como um soluçar de dor<br />
17
Comentário:<br />
Esta música oferece a possibilidade de trabalho com todos os períodos da história<br />
brasileira. Iniciar mostrando que o índio e o negro foram escravizados e que buscaram resistir<br />
e romper a degradante situação de exploração e venda de pessoas que favoreceu a acumulação<br />
capitalista no Brasil. Mesmo após a abolição o canto do trabalhador não é alegre, mas um<br />
“soluçar de dor”, o que possibilita pensarmos no nosso cotidiano.<br />
2ª Sugestão de áudio<br />
Título da Música: Preto Velho<br />
<strong>Autor</strong>es: Jesus Belmiro/Tião Carreiro e Lourival dos Santos<br />
Intérprete: Tião Carreiro e Pardinho<br />
Título do CD: Navalha na carne<br />
Número da Faixa: 07<br />
Nome da Gravadora: WARNER - W E A<br />
Ano: 2000<br />
Disponível em (endereço web): http://vagalume.uol.com.br/tiao-carreiro-e-pardinho/preto-<br />
velho.html acesso dia 01/11/2007<br />
Letra da música:<br />
Perguntei ao preto velho<br />
Porque chora meu herói?<br />
Preto velho respondeu<br />
É meu coração que dói<br />
Eu já fui bom candeeiro, Fui carreiro e<br />
fui peão<br />
Já derrubei muito mato, e já lavrei<br />
muito chão<br />
Com carinho carreguei...<br />
Os filhos do meu patrão<br />
Em troca do que eu fiz, só recebi<br />
ingratidão<br />
Perguntei ao preto velho<br />
Porque chora meu herói?<br />
Preto velho respondeu<br />
É meu coração que dói<br />
Sempre chamei de senhor<br />
Quem me tratou a chicote<br />
Livrei meu patrão de cobra<br />
Na hora de dar o bote<br />
Eu sempre fui a Madeira<br />
E o patrão foi o serrote<br />
Sofri mais do que boi velho<br />
Com a canga no cangote<br />
Perguntei ao preto velho<br />
Porque chora meu herói?<br />
Preto velho respondeu<br />
É meu coração que dói<br />
Da terra tirei o ouro<br />
Meu patrão fez seu anel<br />
Mas agora estou velho<br />
E meu patrão mais cruel<br />
Está me mandando embora<br />
Vou viver de del em del<br />
O que me resta é esperar...<br />
A recompensa do céu<br />
18
Comentário:<br />
A letra desta música possibilita trabalhar o que o jesuíta Antonil 12 afirmava em<br />
1711, e que é utilizada em muitos livros didáticos: “Os escravos eram as mãos e os pés do<br />
senhor”. Ao dar voz ao negro, permite analisar os vários tipos de atividades que os negros<br />
exerceram ao longo de nossa história. Mesmo enriquecendo o senhor, sofria ingratidão e era<br />
castigado. Quando ficou velho, não tendo mais serventia, foi mandado embora – que pode ser<br />
explorado a partir do processo de instituição da Lei do Sexagenário, bem como da abolição.<br />
Chamar a atenção para o fato de, na música, o Preto Velho ser denominado de herói.<br />
3.3 PROPOSTA DE ATIVIDADES<br />
Título: "Pai contra mãe" e a sobrevivência dos negros e mulatos escravos e livres no<br />
Brasil.<br />
A atividade será de análise e discussão das relações econômicas e sociais a partir do<br />
processo de escravidão apresentada no conto de Machado de Assis "Pai contra mãe".<br />
Disponível em Relíquias da Casa Velha In.: http://www.bibvirt.futuro.usp.br<br />
Pretendemos com esta atividade apresentar a relação das pessoas com a escravidão no<br />
Brasil. A vida de pessoas consideradas “simples” e que não tinham propriedade, também<br />
estava interlaçada com a escravidão e que, muitas vezes, sua sobrevivência e de sua<br />
família dependiam da manutenção desse sistema.<br />
É necessária uma leitura do conto em sala de aula, junto com os alunos, para melhor<br />
compreensão do texto. Também é importante contextualizar quem é o autor e o período em<br />
que escreveu. Algumas destas questões poderão ser trabalhadas individualmente ou em<br />
grupos. Mesmo quando forem trabalhadas individualmente, é bom finalizar com uma<br />
socialização das respostas.<br />
O que se apresenta aqui são algumas sugestões. O professor(a) pode mudar ou<br />
organizar outras atividades.<br />
1) É importante discutir a primeira parte do conto onde Machado de Assis descreve<br />
alguns instrumentos de tortura. Pode-se explorar os motivos e os objetivos na utilização destes<br />
12 ANTONIL, André João - Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas. (1711). São Paulo.<br />
Itatiaia/EDUSP, 3ª Ed. 1982.<br />
19
instrumentos, bem como pensar na sua utilização a partir da relação com determinado ofício,<br />
trabalho.<br />
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras<br />
instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício.<br />
Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a máscara de<br />
folha-de-flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por<br />
lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dous para ver, um para respirar, e era<br />
fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber. perdiam a tentação<br />
de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que<br />
matar a sede, e aí ficavam dous pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade<br />
certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se<br />
alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à<br />
venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras.<br />
O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa,<br />
com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada<br />
atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo<br />
que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era<br />
pegado.<br />
2) O parágrafo abaixo pode ser trabalhado a partir da relação entre o senhor e o<br />
escravizado, da aceitação ou não da escravidão e, das estratégias de resistências.<br />
Há meio século, os escravos fugiam com freqüência. Eram muitos, e nem todos<br />
gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos<br />
gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia alguém<br />
de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o<br />
sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga<br />
repetia-se, entretanto.<br />
3) É interessante, também, questionar o que Machado de Assis quer mostrar quando<br />
utiliza nomes dos personagens: Cândido Neves e Clara.<br />
É neste momento que se deve fazer relação com a proposta do branqueamento, com a<br />
abertura do país aos imigrantes europeus, com a construção do racialismo a partir do século<br />
XVIII e que é posto em prática após 1888, no Brasil.<br />
4) Outros elementos do conto que poderão ser trabalhados:<br />
a) a presença da instituição, Roda dos enjeitados;<br />
b) os motivos da escolha da profissão de caçador de escravos por Cândido Neves;<br />
c) as permanências encontradas no conto "Pai contra mãe" ainda hoje;<br />
d) o significado do título "Pai contra mãe";<br />
e) a frase final: "Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração".<br />
O processo de avaliação poderá ser efetivado a partir da socialização das análises<br />
feitas, de desenhos ou construção dos instrumentos apresentados no início do texto, como<br />
máscaras, e suas aplicabilidades. Se os alunos quiserem, poderão representar o conto ou uma<br />
20
outra peça que retrata a questão da sobrevivência dos negros escravizados ou livres durante o<br />
período colonial ou imperial.<br />
Para ajudar o aluno a pensar a realidade de hoje a partir do conto, se for possível,<br />
utilizar o filme "Quanto vale ou é por quilo?" Este filme foi baseado neste conto e faz uma<br />
ponte com o hoje a partir dos caminhos que um jovem, como Cândido Neves, tomou para<br />
resolver a necessidade de sustentar sua família. Outras informações no recurso de informação<br />
- vídeo.<br />
3.4 IMAGENS<br />
Imagem 1: Título: Banda Musical de Ponta Grossa. (Nº da solicitação de inclusão no Portal: 1935<br />
– 29/11/2007)<br />
Foto da Banda Musical de Ponta Grossa, retirada em 1922, por Dr. João Alves Pereira In.: EL-<br />
KHATIB, Faissal (org.) História do Paraná. Curitiba, Grafipar, 1969, p. 98<br />
21
Imagem 2: Título: Paraná multirracial (Nº da solicitação de inclusão no Portal: 1936 – 29/11/2007)<br />
Foto de Faris Antônio S. Michele In.: EL-KHATIB, Faissal (org.) História do Paraná. Curitiba,<br />
Grafipar, 1969, p. 84.<br />
Comentário:<br />
Faris Antônio S. Michele utiliza as fotos acima para provar que no Paraná a<br />
democracia racial é um fato consolidado. Observe-se que elas são de 1922. Se isto é verdade,<br />
por que os negros e seus descendentes, os indígenas e seus descendentes, fazem parte da<br />
maioria da população marginalizada das conquistas econômicas e sociais?<br />
4. RECURSOS DE INFORMAÇÃO<br />
4.1. SUGESTÕES DE LEITURA<br />
4.1.1 LIVRO<br />
1ª Sugestão de Livro<br />
Sobrenome do autor: Nabuco<br />
Nome do autor: Joaquim<br />
Título do Livro: A escravidão<br />
Local da Publicação:Recife<br />
22
Editora: Massangana<br />
Disponível em (endereço web): http://www.fundaj.gob.br<br />
Ano da Publicação:1988<br />
Comentários:<br />
Neste livro, Joaquim Nabuco nos apresenta o processo do tráfico negreiro, sua rota,<br />
valores, números de escravizados que entraram no Brasil, problemas com a Inglaterra,<br />
interpretações das leis contra o fim do tráfico de escravos e o descumprimento brasileiro.<br />
Aponta também as leis aplicadas nos casos dos negros fugitivos e dos crimes por estes<br />
praticados. É um bom material como fonte histórica.<br />
2ª Sugestão de Livro<br />
Sobrenome do autor: Aranha<br />
Nome do autor: Graça<br />
Título do Livro: Canaã<br />
Local da Publicação:São Paulo<br />
Editora: Martin Claret<br />
Ano da Publicação:2005<br />
Comentários:<br />
Romance que retrata a imigração européia no Brasil - início do século XX. Apresenta<br />
o embate ideológico da política do branqueamento.<br />
3ª Sugestão de Livro<br />
Sobrenome do autor: Sevcenko<br />
Nome do autor: Nicolau<br />
Título do Livro: Literatura como missão: tensões sociais e criação na Primeira República.<br />
Edição: 2ª<br />
Local da Publicação:São Paulo<br />
Editora: Companhia das Letras<br />
Ano da Publicação:2003<br />
Comentários:<br />
Neste livro Nicolau Sevcenko procura mostrar como as literaturas de Euclides da<br />
Cunha e de Lima Barreto são possibilidades de análise do período em que o Brasil procurava<br />
negar seu passado escravista, na passagem do século XIX para o XX. Afinal era o advento da<br />
República e o país precisava entrar para a “modernidade”. Os dois autores, Euclides da Cunha<br />
23
e Lima Barreto, vislumbravam na literatura o caminho para construir um projeto de país que<br />
levasse em conta as contradições históricas brasileiras.<br />
4ª Sugestão de Livro<br />
Sobrenome do autor: Lobato<br />
Nome do autor: Monteiro<br />
Título do Livro: Negrinha<br />
Edição: 1ª<br />
Local da Publicação: São Paulo<br />
Editora: Brasiliense<br />
Ano da Publicação:1994<br />
Comentários:<br />
No conto Negrinha, Monteiro Lobato mostra como uma criança negra é percebida e<br />
tratada pela sua senhora. Descreve a prática do racismo não percebido por Negrinha.<br />
5ª Sugestão de Livro<br />
Sobrenome do autor: Nabuco<br />
Nome do autor: Joaquim<br />
Título do Livro: O abolicionismo<br />
Local da Publicação: São Paulo<br />
Editora: Publifolha<br />
Disponível em (endereço web): http://www.bibvirt.futuro.usp.br<br />
Ano da Publicação:2000<br />
Comentários:<br />
página 4:<br />
Neste livro, Joaquim Nabuco discute o movimento abolicionista. São suas palavras à<br />
Quando mesmo a emancipação total fosse decretada amanhã, a liquidação desse<br />
regime só daria lugar a uma série infinita de questões, que só poderiam ser<br />
resolvidas de acordo com os interesses vitais do país pelo mesmo espírito de justiça<br />
e humanidade que dá vida ao abolicionismo. Depois que os últimos escravos<br />
houverem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a raça negra a<br />
maldição da cor, será ainda preciso desbastar, por meio de uma educação viril e<br />
séria, a lenta estratificação de trezentos anos de cativeiro, isto é, de despotismo,<br />
superstição e ignorância. O processo natural pelo qual a escravidão fossilizou nos<br />
seus moldes a exuberante vitalidade do nosso povo durante todo o período de<br />
crescimento, e enquanto a nação não tiver consciência de que lhe é indispensável<br />
adaptar à liberdade cada um dos aparelhos do seu organismo de que a escravidão se<br />
apropriou, a obra desta irá por diante, mesmo quando não haja mais escravos.<br />
24
Aponta as mazelas de um passado tão presente em nossa história.<br />
6ª Sugestão de Livro<br />
Sobrenome do autor: Azevedo<br />
Nome do autor: Aluísio<br />
Título do Livro: O mulato<br />
Local da Publicação: São Paulo<br />
Editora: Martin Claret<br />
ano da Publicação:2005<br />
Comentários:<br />
Neste livro Aluísio Azevedo procura questionar a escravidão e denunciar a condição<br />
preconceituosa em que viviam os mestiços e negros no Brasil. Foi escrito em 1808 a partir da<br />
realidade presenciada por ele no Maranhão.<br />
4.1.2 OUTROS<br />
Sugestão de Conto<br />
Sobrenome do autor: Assis<br />
Nome do autor: Machado de<br />
Título do Conto: Pai contra mãe<br />
Disponível em (endereço web): http://www.bibvirt.futuro.usp.br<br />
Comentários:<br />
O enredo apresenta a história de um rapaz, Cândido Neves, que vive da busca de<br />
escravos fujões. Neste conto Machado de Assis apresenta alguns instrumentos de tortura<br />
aplicados aos negros escravizados. O protagonista parte em busca de uma escrava, grávida,<br />
como a salvação de seu problema. Sua mulher teve um filho mas que terá que ser entregue à<br />
roda dos enjeitados porque não tem como sustentá-lo. Acaba encontrando a escrava e a leva<br />
para seu dono. No final a escrava, por causa da violência, perde o filho e Cândido Neves<br />
recebe o dinheiro que agora sustentará seu filho que não mais irá para a roda dos enjeitados.<br />
Seu pensamento final: "Nem todas as crianças vingam (...)" "Pai contra mãe" In.: Relíquias de<br />
casa Velha.<br />
25
4.2 NOTÍCIAS<br />
4.2.1 REVISTA DE CIRCULAÇÃO<br />
Título da Notícia: Brasil em letras: é possível enxergar o País pela lente de suas grandes<br />
obras literárias.<br />
Referência: ALMEIDA, Rodrigo Estramanho de. Revista Sociologia: Ciência e Vida. Ano I,<br />
número 8, 2007, p. 70-77.<br />
Comentários:<br />
Neste texto, Rodrigo Estramanho de Almeida aponta e discute as possibilidades de se<br />
conhecer a história de um país a partir das obras literárias de seus grandes mestres.<br />
No Brasil os estudos relacionando literatura e sociedade tem início no século XIX com<br />
Silvio Romeiro, José Veríssimo, Araripe Junior e no século XX com Antonio Candido e<br />
Roberto Schwarcz.<br />
Podemos, a partir de então, apontar alguns temas relevantes para a história do Brasil<br />
que alguns autores irão tratar em suas obras: escravidão, coronelismo, negro, mulato,<br />
identidade nacional, urbanização, movimentos sociais, desigualdades sociais. Para<br />
exemplificar, Rodrigo Estramanho de Almeida propõe uma análise das desigualdades sociais<br />
a partir de O Cortiço, de Aluísio de Azevedo. Segundo ele, “talvez seja o mais importante<br />
literariamente e o mais relevante em termos de problematização com a realidade social”.<br />
(ALMEIDA, 2007, p 76).<br />
4.3 DESTAQUE<br />
Título: Problema entre a democracia racial e a emigração afro-americana.<br />
Tiago de Melo Gomes mostra como as pessoas reagiram quando um grupo afro-<br />
americano, nos meados de 1921, procurou emigrar para o Brasil.<br />
Veja o que ele apresenta no resumo de seu artigo:<br />
Em meados de 1921 chegou ao Brasil a notícia que um grupo de afro-americanos<br />
pretendia emigrar para o Brasil e fundar uma colônia no Estado do Mato Grosso. Tal<br />
fato provocou grandes reações na Câmara dos Deputados, na imprensa e nas ruas,<br />
em uma grande discussão a respeito da conveniência de tal imigração, tendo como<br />
fundo a idéia, já a esta altura generalizada, de que o Brasil era caracterizado pela<br />
ausência de preconceito racial. Ao acompanhar o debate que se seguiu, este artigo<br />
26
pretende apontar os meandros da idéia de democracia racial no período do pósguerra,<br />
desde as formulações mais próximas à ideologia do branqueamento até<br />
versões igualitárias, que utilizavam a democracia racial como aspiração a ser<br />
alcançada.<br />
O texto completo encontra-se no endereço<br />
http://www.scielo.br/pdf/eaa/v25n2/a05v25n2.pdf e nos ajuda a pensar como a idéia de<br />
democracia racial escamoteia o racismo no Brasil de uma maneira muito perversa.<br />
4.4 PARANÁ<br />
Título: Os negros e as “histórias do cotidiano paranaense”.<br />
Registro de imposto da venda de SCHMIDT, 1996, p. 43<br />
escravo em 28 de outubro de 1878.<br />
SCHMIDT, 1996, p. 44 SCHMIDT, 1996, p. 45<br />
As gravuras acima servem para demonstrar, apesar da tentativa de amenizar o processo<br />
de escravidão, a utilização do trabalho do negro como escravo no Paraná. Os registros da<br />
compra e vende e de pagamento de impostos são documentos que não permitem continuarmos<br />
trabalhando a História do Paraná como se a escravidão não fizesse parte dela.<br />
27
No livro da professora <strong>Maria</strong> Auxiliadora M. S. Schmidt, Histórias do cotidiano<br />
paranaense, distribuído para as escolas municipais e estaduais, a partir de 1996 aparecem as<br />
três imagens referenciadas acima. Mas no texto do capítulo 9, que se refere ao trabalho dos<br />
escravos negros, a ênfase é para os castigos e para a benevolência dos senhores. Nos diz o<br />
texto:<br />
Nenhum escravo podia trabalhar para si, só para o senhor. Descansar, nem pensar.<br />
Se o escravo parasse, logo vinha o feitor com o bacaiau,como se chamava o chicote<br />
naquela época. Além disso, nem reclamar podia (SCHMIDT, 1996, p. 44).<br />
A partir da década de oitenta do século dezenove, acentuou-se, na Província, a<br />
consciência da necessidade de se abolir a escravidão. Vários proprietários de<br />
escravos, por iniciativa própria, revolveram conceder alforria aos seus cativos. Em<br />
diferentes lugares do Paraná, como Guarapuava, Ponta Grossa, Castro, Curitiba,<br />
Lapa, Paranaguá, toda comemoração pública ou privada era ocasião para libertar<br />
escravos (SCHMIDT, 1996, p. 45).<br />
Em nenhum momento aparece no texto como estes ex-escravos foram integrados na<br />
sociedade, qual o papel social, econômico e a participação efetiva na construção do povo<br />
paranaense. Nem tampouco questiona a ideologia do branqueamento colocada em prática pelo<br />
governo central ou provincial com o incentivo para a entrada dos imigrantes europeus.<br />
Inclusive há no encarte especial, que abre esta obra, um texto do ex-governador Jaime<br />
Lerner que diz o seguinte:<br />
O Paraná de hoje, que nos orgulhamos de ajudar a construir, tem raízes profundas no<br />
Paraná de ontem.<br />
O perfil da gente paranaense foi se desenhando a partir das coordenadas que se<br />
definiram em percurso histórico marcado por tantas vicissitudes, mas colorido por<br />
emocionantes episódios de grandeza humana.<br />
(...)<br />
Este livro enriquece as possibilidades de conhecer o que há de essencial em nossa<br />
evolução histórica, ajudando muito na compreensão dos novos caminhos que hão de<br />
ser trilhados pela gente do Paraná. (LERNER, Jaime. In.: SCHMIDT, 1996, encarte<br />
especial.)<br />
A história que se procura mostrar ou constatar é aquela em que, segundo Jaime Lerner,<br />
“(...) as grandes transformações se fazem através de nítida e consistente linha de continuidade.<br />
A coerência histórica marca o itinerário de um povo que encontrou o caminho do futuro”<br />
(LERNER, Jaime. In.: SCHMIDT, 1996, encarte especial). Caminho este que procura<br />
esconder e negar a participação dos negros na construção da riqueza no Paraná. Os negros<br />
aparecem e somem da história do Paraná como que por encanto!<br />
REFERÊNCIA<br />
SCHMIDT, <strong>Maria</strong> Auxiliadora M. S. Histórias do cotidiano paranaense. Curitiba:<br />
Letraviva, 1996.<br />
28