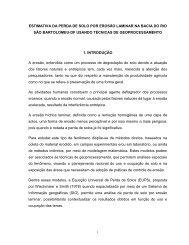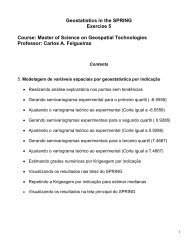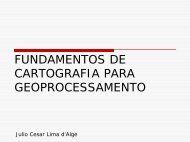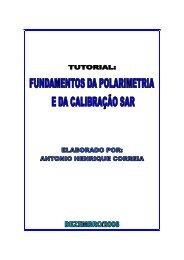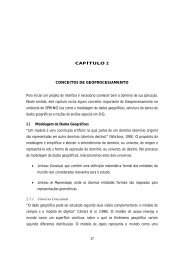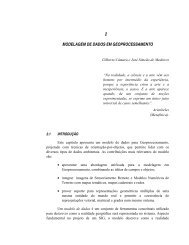“Análise Espacial do Processo de Urbanização da ... - DPI - Inpe
“Análise Espacial do Processo de Urbanização da ... - DPI - Inpe
“Análise Espacial do Processo de Urbanização da ... - DPI - Inpe
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Programa <strong>de</strong> Ciência e Tecnologia para Gestão <strong>de</strong> Ecosistemas<br />
Ação "Méto<strong>do</strong>s, mo<strong>de</strong>los e geoinformação para a gestão ambiental”<br />
<strong>“Análise</strong> <strong>Espacial</strong> <strong>do</strong> <strong>Processo</strong> <strong>de</strong> <strong>Urbanização</strong> <strong>da</strong> Amazônia”<br />
Silvana Amaral Kampel<br />
Gilberto Câmara<br />
Antônio Miguel Vieira Monteiro<br />
Relatório Técnico<br />
Dezembro, 2001
1 Introdução<br />
A Amazônia Brasileira <strong>de</strong>tém a maior área <strong>de</strong> florestas tropicais contínuas e preserva<strong>da</strong>s<br />
<strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. Da<strong>do</strong>s recentes <strong>de</strong> <strong>de</strong>smatamento na Amazônia, indicam taxas <strong>de</strong> 17,3 mil<br />
km 2 para o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> 1998 a 1999 e <strong>de</strong> 15%, ou <strong>de</strong> 19,8 mil km 2 , nas taxas <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>smatamento para o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> 1999-2000 (INPE, 2000). Estes valores alertam para a<br />
freqüência e intensi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong>s mu<strong>da</strong>nças no uso e cobertura <strong>do</strong> solo <strong>da</strong> região que<br />
conduzem a inúmeras questões ambientais tais como a conservação <strong>da</strong> biodiversi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>da</strong> região, e alterações no balanço <strong>de</strong> carbono e no ciclo hidrológico, com sérios efeitos<br />
sobre as mu<strong>da</strong>nças climáticas globais (Gash et al., 1996). Estas questões ambientais<br />
tornaram-se objeto <strong>de</strong> estu<strong>do</strong> <strong>da</strong> comuni<strong>da</strong><strong>de</strong> científica, e foco <strong>da</strong>s atenções <strong>da</strong>s<br />
organizações preservacionistas e <strong>da</strong> opinião internacional.<br />
Paralelamente à evolução <strong>da</strong> preocupação ambiental, ao longo <strong>da</strong>s três últimas déca<strong>da</strong>s,<br />
a região têm experimenta<strong>do</strong> as maiores taxas <strong>de</strong> crescimento urbano <strong>do</strong> Brasil. Em 1970,<br />
a população urbana correspondia a 35,5% <strong>da</strong> população total. Esta proporção aumentou<br />
para 44,6% em 1980, para 58% em 1991, 61% em 1996 e 70% em 2000. 1<br />
A diversificação <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s econômicas e as mu<strong>da</strong>nças populacionais resultantes,<br />
reestruturaram e reorganizaram a re<strong>de</strong> <strong>de</strong> assentamentos humanos na região. A visão <strong>da</strong><br />
Amazônia no início <strong>do</strong> século 21 apresenta padrões e arranjos espaciais <strong>de</strong> uma<br />
Amazônia diferente: em meio a floresta tropical um teci<strong>do</strong> urbano complexo se<br />
estruturou, levan<strong>do</strong> a criação e o uso <strong>do</strong> termo "floresta urbaniza<strong>da</strong>" pelos pesquisa<strong>do</strong>res<br />
que estu<strong>da</strong>m e acompanham o processo <strong>de</strong> ocupação <strong>da</strong> região (Becker, 1995).<br />
Contu<strong>do</strong>, o crescimento <strong>da</strong> população urbana não foi acompanha<strong>do</strong> <strong>da</strong> implementação<br />
<strong>de</strong> infra-estrutura para garantir condições mínimas <strong>de</strong> quali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> vi<strong>da</strong>. Baixos índices<br />
<strong>de</strong> saú<strong>de</strong>, educação e salários alia<strong>do</strong>s à falta <strong>de</strong> equipamentos urbanos, <strong>de</strong>notam a baixa<br />
quali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> <strong>da</strong> população local (Becker, 1995 e 1998); Brow<strong>de</strong>r e Godfrey, 1997;<br />
Monte-Mór, 1998). A condição <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> nas ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s e nos assentamentos urbanos<br />
constitui um <strong>do</strong>s maiores e piores problemas ambientais na Amazônia (Becker, 2001).<br />
O processo histórico <strong>de</strong> ocupação humana e urbanização <strong>da</strong> Amazônia não se <strong>de</strong>u<br />
linearmente, o contexto político e econômico ao longo <strong>do</strong> tempo foram <strong>de</strong>terminantes<br />
<strong>de</strong>stas flutuações. Atualmente, a urbanização <strong>da</strong> região encontra-se em fase <strong>de</strong><br />
estruturação, caracterizan<strong>do</strong>-se ain<strong>da</strong> como uma região <strong>de</strong> "fronteira", on<strong>de</strong> a dinâmica<br />
<strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s ain<strong>da</strong> é muito intensa e estável, incluin<strong>do</strong> o surgimento <strong>de</strong> novos<br />
assentamentos urbanos.<br />
1 Da<strong>do</strong>s <strong>de</strong> população <strong>do</strong>s censos e contagens oficiais <strong>do</strong> IBGE.
Há <strong>de</strong> se consi<strong>de</strong>rar ain<strong>da</strong> a diferenciação entre o processo <strong>de</strong> urbanização <strong>do</strong> território e<br />
a urbanização <strong>da</strong> população: 70% <strong>da</strong> população vive em núcleos urbanos e os outros<br />
30% estão inseri<strong>do</strong>s no contexto urbano (Becker, 2001), o que salienta ain<strong>da</strong> mais a<br />
importância <strong>de</strong>stes processos para a região.<br />
1.1 OBJETIVO<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste estu<strong>do</strong> é trabalhar com ferramentas <strong>de</strong> análise espacial sobre <strong>da</strong><strong>do</strong>s<br />
geográficos buscan<strong>do</strong> vali<strong>da</strong>r e ou compreen<strong>de</strong>r conceitos e processos <strong>da</strong> evolução <strong>da</strong><br />
urbanização <strong>da</strong> Amazônia, <strong>de</strong>scritos através <strong>de</strong> teorias e informações provenientes <strong>da</strong><br />
geografia. Para tanto, os seguintes objetivos específicos são coloca<strong>do</strong>s:<br />
• I<strong>de</strong>ntificar a partir <strong>da</strong> <strong>de</strong>scrição teórica <strong>da</strong> evolução <strong>da</strong> urbanização, perío<strong>do</strong>s que<br />
possam <strong>de</strong>screver diferentes processos;<br />
• Para ca<strong>da</strong> perío<strong>do</strong>, escolher variáveis que <strong>de</strong>screvam espacialmente a evolução <strong>do</strong><br />
processo <strong>de</strong> urbanização <strong>do</strong> perío<strong>do</strong>;<br />
• Aplicar técnicas exploratórias <strong>de</strong> análise espacial sobre as variáveis i<strong>de</strong>ntifica<strong>da</strong>s e<br />
analisar os resulta<strong>do</strong>s, buscan<strong>do</strong> quantificar ou regionalizar, ca<strong>da</strong> perío<strong>do</strong> estu<strong>da</strong><strong>do</strong>.<br />
Assim, este texto é organiza<strong>do</strong> <strong>da</strong> seguinte forma: inicia-se com o histórico geral <strong>de</strong><br />
ocupação e o processo <strong>de</strong> urbanização <strong>da</strong> Amazônia Brasileira. Segue-se a <strong>de</strong>scrição <strong>da</strong><br />
meto<strong>do</strong>logia que, basea<strong>da</strong> no histórico anterior, i<strong>de</strong>ntifica as variáveis disponíveis e as<br />
técnicas <strong>de</strong> análise espacial aplica<strong>da</strong>s a ca<strong>da</strong> perío<strong>do</strong> analisa<strong>do</strong>. Ca<strong>da</strong> perío<strong>do</strong> então tem<br />
seus resulta<strong>do</strong>s apresenta<strong>do</strong>s nos tópicos seguintes.<br />
Apresentam-se ain<strong>da</strong> os padrões <strong>de</strong> urbanização regional <strong>de</strong>scritos na literatura, que<br />
complementam a <strong>de</strong>scrição <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> urbanização para o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> 1960 a 1990, e<br />
uma análise geral <strong>da</strong> evolução <strong>do</strong>s tamanhos <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s. Finaliza-se o relatório com as<br />
consi<strong>de</strong>rações e propostas <strong>de</strong> continui<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
2 Histórico <strong>de</strong> Ocupação e <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> <strong>Urbanização</strong> <strong>da</strong><br />
Amazônia Brasileira<br />
A <strong>de</strong>scrição <strong>do</strong> processo histórico a seguir baseia-se em Macha<strong>do</strong> (1999), segun<strong>do</strong> a<br />
qual, a urbanização <strong>de</strong>fine o mo<strong>do</strong> <strong>de</strong> produção <strong>do</strong> espaço regional e é o elemento<br />
organiza<strong>do</strong>r <strong>do</strong> sistema <strong>de</strong> povoamento, que <strong>de</strong>fine a estrutura, o conteú<strong>do</strong> e a evolução<br />
<strong>de</strong>ste sistema. A ocupação <strong>da</strong> região amazônica teve início em 1540. No século XVII,<br />
haviam apenas as missões religiosas e pequenas vilas e fortificações ibéricas que se<br />
instalaram na extensa planície <strong>de</strong> inun<strong>da</strong>ção <strong>do</strong>s rio Amazonas e afluentes,<br />
acompanhan<strong>do</strong> os sítios <strong>de</strong> maior <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> população indígena. Estes pequenos<br />
núcleos pouco contribuíram para a gênese <strong>do</strong> urbano na região Amazônica.<br />
O <strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong> urbanização teve início realmente na segun<strong>da</strong> meta<strong>de</strong> <strong>do</strong> século<br />
XIX, com a economia <strong>da</strong> borracha que condicionou uma re<strong>de</strong> proto-urbana. proto-urbana O<br />
comércio <strong>da</strong> borracha <strong>de</strong>finiu o surgimento <strong>de</strong> novas aglomerações e o <strong>de</strong>senvolvimento
inicial <strong>da</strong> forma urbana. A hierarquia <strong>de</strong>stas aglomerações era o reflexo <strong>da</strong> hierarquia<br />
imposta pelo comércio <strong>da</strong> borracha. A re<strong>de</strong> era ao mesmo tempo construí<strong>da</strong> e<br />
restringi<strong>da</strong> em função <strong>da</strong> exploração <strong>da</strong> borracha. A forma <strong>de</strong>ndrítica <strong>de</strong>sta re<strong>de</strong> protourbana<br />
relacionava-se à área <strong>de</strong> ocorrência <strong>da</strong> borracha: regiões <strong>de</strong> produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong> nas<br />
várzeas e a circulação fluvial. A re<strong>de</strong> englobava aglomerações em pontos <strong>de</strong> transbor<strong>do</strong>,<br />
nos portos <strong>da</strong>s gran<strong>de</strong>s uni<strong>da</strong><strong>de</strong>s produtoras ou na confluência <strong>de</strong> rios que drenavam a<br />
produção <strong>da</strong>s sub-bacias.<br />
A evolução <strong>da</strong> economia <strong>da</strong> borracha conduziu ao aparecimento <strong>da</strong> estrutura Urbana<br />
Primaz on<strong>de</strong> se evi<strong>de</strong>nciaram as diferenças entre as ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s maiores e o conjunto <strong>da</strong>s<br />
menores. Belém se <strong>de</strong>stacou pela população e centralização <strong>do</strong>s recursos financeiros<br />
disponíveis para investimento urbano, e Manaus como a segun<strong>da</strong> maior ci<strong>da</strong><strong>de</strong>,<br />
responsável pela interiorização <strong>da</strong>s frentes explora<strong>do</strong>ras <strong>de</strong> borracha.<br />
Esta estrutura ocasionou o surgimento <strong>da</strong> forma-ci<strong>da</strong><strong>de</strong> assim como <strong>do</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
contrastes entre o centro, com infra-estrutura, e a periferia com população residin<strong>do</strong> em<br />
casas <strong>de</strong> palha e ma<strong>de</strong>ira. A estrutura sócio-político-institucional excluiu a população <strong>de</strong><br />
seus benefícios diretos tais como melhor remuneração e diversificação <strong>da</strong> oferta <strong>de</strong><br />
emprego, e ain<strong>da</strong> benefícios indiretos como a presença <strong>de</strong> equipamentos <strong>de</strong> uso coletivo,<br />
caracterizan<strong>do</strong> uma urbanização incompleta, típica <strong>de</strong> países periféricos.<br />
Com a que<strong>da</strong> <strong>da</strong>s exportações <strong>da</strong> borracha, em 1912, esta re<strong>de</strong> urbana se <strong>de</strong>sestruturou.<br />
Muitas ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s se esvaziaram e a estagnação econômica promoveu o aparecimento <strong>de</strong><br />
novas aglomerações a partir <strong>do</strong> êxo<strong>do</strong> rural <strong>da</strong>s uni<strong>da</strong><strong>de</strong>s produtoras <strong>de</strong> borracha. As<br />
aglomerações passaram a explorar recursos locais e reduzir as trocas <strong>de</strong> merca<strong>do</strong>rias<br />
entre elas, num processo <strong>de</strong> auto-organização. Este processo alia<strong>do</strong> à estagnação <strong>da</strong><br />
economia regional explicam a relativa estabili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> estrutura <strong>de</strong> povoamento nas<br />
déca<strong>da</strong>s que se seguiram. Surgiram frentes <strong>de</strong> povoamento no <strong>do</strong>mínio <strong>da</strong>s savanas:<br />
criação <strong>de</strong> ga<strong>do</strong> no Mato Grosso, vilas no Tocantins associa<strong>da</strong>s à exploração mineral e<br />
no Maranhão vincula<strong>da</strong>s à cultura <strong>do</strong> arroz.<br />
Durante a déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 50, Manaus cresceu muito, compreen<strong>de</strong>n<strong>do</strong> 54% <strong>da</strong> população<br />
urbana <strong>do</strong> total <strong>do</strong>s esta<strong>do</strong>s <strong>do</strong> Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Apenas o<br />
transporte aéreo fazia a integração <strong>de</strong>sta região ao centro sul <strong>do</strong> país. O padrão <strong>do</strong>s<br />
agrupamentos urbanos era caracteriza<strong>do</strong> por a<strong>de</strong>nsamentos ao re<strong>do</strong>r <strong>da</strong> Zona<br />
Bragantina e <strong>de</strong> Cuiabá, e povoa<strong>do</strong>s ao longo <strong>da</strong> re<strong>de</strong> fluvial.<br />
Em 1943, no governo <strong>de</strong> Getúlio Vargas, foram cria<strong>do</strong>s os territórios <strong>de</strong> Guaporé (AC) e<br />
Rio Branco (RR) como estratégia para que a implantação <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> urbana que<br />
estimulasse o <strong>de</strong>senvolvimento econômico. Depois <strong>de</strong> 1966 esta estratégia passou <strong>de</strong><br />
secundária a <strong>do</strong>minante: o Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong>senvolveu um papel essencial no povoamento e<br />
valorização <strong>da</strong>s terras amazônicas seja através <strong>do</strong>s planos <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento ou através<br />
<strong>de</strong> investimentos em infra-estrutura.
A intervenção <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> na região Amazônica teve início durante o governo <strong>de</strong><br />
Juscelino (1955-60) através <strong>do</strong> Plano <strong>de</strong> Desenvolvimento Nacional (PDN), com a<br />
construção <strong>de</strong> Brasília e as primeiras estra<strong>da</strong>s. Quan<strong>do</strong> surgiu a Operação Amazônia<br />
(1966) segui<strong>da</strong> em 1970 pelo Plano <strong>de</strong> Integração Nacional (PIN), as frentes migratórias<br />
e gran<strong>de</strong>s fazen<strong>de</strong>iros já estavam instala<strong>do</strong>s, ao longo <strong>da</strong> ro<strong>do</strong>via Belém-Brasília (1960),<br />
ocupan<strong>do</strong> as terras há 10 anos.<br />
O estímulo para mobilizar capital e migrantes para as novas frentes <strong>de</strong> povoamento<br />
também <strong>de</strong>correu <strong>de</strong> investimentos públicos em 12.000 km <strong>de</strong> estra<strong>da</strong>s em 5 anos, 5.110<br />
km <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comunicação, re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> distribuição <strong>de</strong> energia elétrica, construção <strong>de</strong><br />
hidrelétricas e levantamento <strong>do</strong>s recursos naturais <strong>de</strong> 5 milhões <strong>de</strong> km 2<br />
(aerofotogrametria e RADAM). Foram investi<strong>do</strong>s 10 bilhões <strong>de</strong> dólares (1970) pelo<br />
governo fe<strong>de</strong>ral e empréstimos <strong>de</strong> bancos internacionais.<br />
Genericamente, a partir <strong>de</strong> 1960, intensificou-se a ocupação urbana. A política <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>da</strong> região expressa pelos projetos <strong>de</strong> colonização regional e<br />
investimentos em infra-estrutura <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ou um processo intenso <strong>de</strong> ocupação com a<br />
chega<strong>da</strong> <strong>de</strong> imigrantes <strong>do</strong> nor<strong>de</strong>ste e sul <strong>do</strong> Brasil. O crescimento urbano <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> ser<br />
<strong>do</strong> tipo ci<strong>da</strong><strong>de</strong> primaz para <strong>da</strong>r lugar à urbanização regional.<br />
A disposição espacial <strong>do</strong> povoamento foi altera<strong>da</strong> pelos investimentos fe<strong>de</strong>rais nas<br />
déca<strong>da</strong>s que se seguiram. As estra<strong>da</strong>s pioneiras passaram a ser atratoras <strong>do</strong>s fluxos<br />
migratórios dirigi<strong>do</strong>s e espontâneos. À medi<strong>da</strong> que as estra<strong>da</strong>s pioneiras eram<br />
construí<strong>da</strong>s em terra firme novas aglomerações foram surgin<strong>do</strong>, muitas já sob a forma<br />
<strong>de</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s. As aglomerações ribeirinhas foram marginaliza<strong>da</strong>s, com exceção <strong>da</strong>quelas<br />
corta<strong>da</strong>s pelos novos eixos <strong>de</strong> circulação terrestre, e as capitais foram revigora<strong>da</strong>s pelo<br />
influxo migratório. Entre 1960 e 1991 a população urbana cresceu mais que a população<br />
total <strong>da</strong> região.<br />
As classes <strong>de</strong> tamanho <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s mantiveram-se estáveis até 1970, a partir <strong>de</strong> on<strong>de</strong><br />
iniciou-se o processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconcentração <strong>da</strong><strong>do</strong> pela redução <strong>da</strong> participação relativa <strong>da</strong>s<br />
gran<strong>de</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s e aumento <strong>da</strong> participação relativa <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s médias e pequenas<br />
(menos <strong>de</strong> 100.000 habitantes).<br />
<strong>Espacial</strong>mente i<strong>de</strong>ntificou-se: a substituição <strong>do</strong> padrão <strong>de</strong>ndrítico pelos eixos viários, a<br />
per<strong>da</strong> <strong>de</strong> importância <strong>de</strong> Belém e Manaus com população não mais concentra<strong>da</strong>s em<br />
gran<strong>de</strong>s centros urbanos, a consoli<strong>da</strong>ção <strong>da</strong>s regiões metropolitanas - Manaus, Belém,<br />
São Luís e Cuiabá, e a consoli<strong>da</strong>ção <strong>de</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s médias e pequenas (50.000 habitantes) no<br />
interior. Entre 1991 e 1996, os processos <strong>de</strong> urbanização e <strong>de</strong>sconcentração se<br />
acentuaram, com o surgimento <strong>de</strong> novos municípios (Constituição <strong>de</strong> 1988) e com o<br />
crescimento <strong>da</strong> população em núcleos urbanos <strong>de</strong> 20.000 habitantes. Como resulta<strong>do</strong>,<br />
obteve-se a concentração <strong>do</strong>s núcleos urbanos ao longo <strong>do</strong>s eixos fluvial e viário,<br />
<strong>de</strong>senhan<strong>do</strong> um macrozoneamento regional.<br />
regional
3 Análise <strong>Espacial</strong> no Histórico <strong>da</strong> Evolução <strong>da</strong> Estrutura<br />
Urbana <strong>da</strong> Amazônia<br />
3.1 METODOLOGIA<br />
Consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong>-se a <strong>de</strong>scrição <strong>do</strong>s perío<strong>do</strong>s históricos <strong>da</strong> urbanização apresenta<strong>do</strong>s no<br />
item anterior, organizou-se na Tabela 1 um parcionamento <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> urbanização<br />
em perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com os principais fatores condicionantes e as estruturas urbanas<br />
<strong>de</strong>correntes.<br />
Tabela 1 - Perío<strong>do</strong>s i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s para a evolução <strong>da</strong> estrutura urbana na<br />
Amazônia e principais condicionantes<br />
Perío<strong>do</strong> Condicionante Estrutura Urbana <strong>de</strong>corrente<br />
Séc. XVII a<br />
1850<br />
Missões e ibéricos Vilas nas várzeas <strong>do</strong> Amazonas e afluentes, nos<br />
sítios <strong>de</strong> maior <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> população indígena.<br />
1851 a 1891 Exploração <strong>da</strong> borracha Forma <strong>de</strong>ndrítica <strong>da</strong> re<strong>de</strong> Proto-Urbana<br />
1892 a 1912 Apogeu <strong>da</strong> borracha Estrutura Urbana Primaz - Belém<br />
1913 a 1965 Declínio <strong>da</strong> borracha Estagnação local e primazia <strong>de</strong> Manaus<br />
1966 a 1985 Intervenção <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> <strong>Urbanização</strong> regional<br />
1986 a 1990 Retração <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> Desconcentração - padrão <strong>do</strong>s eixos fluvial/ viário<br />
1991 a 1996 Diminuem migrações Macrozoneamento regional<br />
1997 a 2000 Descentralização <strong>do</strong><br />
Esta<strong>do</strong><br />
Ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s liga<strong>da</strong>s ou não à re<strong>de</strong> urbana nacional<br />
e/ou internacional.<br />
Esta tabela direcionou as análises espaciais realiza<strong>da</strong>s: <strong>da</strong> evolução <strong>da</strong>s estruturas<br />
urbanas e caracterização particular <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> perío<strong>do</strong>.<br />
Inicialmente, realizou-se uma análise <strong>do</strong>s padrões espaciais <strong>de</strong> pontos <strong>de</strong>correntes <strong>da</strong><br />
variável "Ano <strong>de</strong> Instalação", que fornece o ano no qual o município foi reconheci<strong>do</strong>,<br />
disponibiliza<strong>da</strong> pelo IBGE. Foi realiza<strong>da</strong> uma análise <strong>de</strong> cluster para to<strong>do</strong>s os perío<strong>do</strong>s ,<br />
<strong>de</strong> mo<strong>do</strong> a ressaltar os possíveis grupamentos <strong>de</strong> centros urbanos, basean<strong>do</strong>-se apenas<br />
na localização geográfica <strong>do</strong>s mesmos.<br />
A análise <strong>de</strong> cluster procura i<strong>de</strong>ntificar regiões on<strong>de</strong> ocorrem a concentração <strong>do</strong> evento<br />
em estu<strong>do</strong>. Diferentes técnicas estatísticas tais como técnicas hierárquicas, técnicas <strong>de</strong><br />
parcionamento, <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong>, "clumping", entre outras, po<strong>de</strong>m ser utiliza<strong>da</strong>s para<br />
i<strong>de</strong>ntificar estas agregações.<br />
A técnica <strong>de</strong> parcionamento através <strong>de</strong> K-médias, foi utiliza<strong>da</strong> para i<strong>de</strong>ntificar os clusters<br />
<strong>de</strong> ca<strong>da</strong> intervalo histórico analisa<strong>do</strong>. Esta técnica tem a vantagem <strong>de</strong> permitir o controle<br />
<strong>do</strong> tamanho <strong>do</strong> cluster, sen<strong>do</strong> mais indica<strong>da</strong> para se <strong>de</strong>finir áreas geográficas extensas. O<br />
algoritmo <strong>de</strong> K-médias procura <strong>de</strong>finir o número <strong>de</strong> K-localizações tais que soma <strong>da</strong>s<br />
distâncias <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os ponto a ca<strong>da</strong> um <strong>do</strong>s centros K seja minimiza<strong>da</strong> (Ball e Hall,<br />
1970).
Para a análise <strong>da</strong> evolução <strong>da</strong> estrutura espacial <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s entre os perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> 1850 a<br />
1912, 1912 propõe-se o uso <strong>de</strong> estatísticas centrográficas <strong>da</strong> distribuição espacial <strong>de</strong> pontos.<br />
São estatísticas bi-dimensionais equivalentes às estatísticas <strong>do</strong>s momentos <strong>da</strong><br />
distribuição <strong>de</strong> variável simples, tais como média, <strong>de</strong>svio padrão, assimetria e curtose<br />
(Bachi, 1957; Eb<strong>do</strong>n, 1988).<br />
Esta análise também utiliza a variável "Ano <strong>de</strong> Instalação" para estu<strong>da</strong>r o surgimento <strong>do</strong>s<br />
centros urbanos, exploran<strong>do</strong> algumas métricas <strong>de</strong> posição e distribuição <strong>do</strong>s mesmos,<br />
tais como o centro médio, o <strong>de</strong>svio padrão e a elipse <strong>do</strong> <strong>de</strong>svio padrão. Estas métricas<br />
permitem ain<strong>da</strong> comparar estatisticamente duas distribuições <strong>de</strong> pontos.<br />
Uma métrica angular basea<strong>da</strong> em sistema <strong>de</strong> coor<strong>de</strong>na<strong>da</strong>s polar e vetores que <strong>de</strong>screvem<br />
a distância e a direção entre os pontos, po<strong>de</strong> ser utiliza<strong>da</strong> para quantificar a direção <strong>de</strong><br />
instalação <strong>de</strong> novas se<strong>de</strong>s municipais. Compara-se um conjunto <strong>de</strong> vetores, <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s<br />
como <strong>de</strong>svios angulares a partir <strong>de</strong> um vetor <strong>de</strong> referência. A direção média po<strong>de</strong> ser<br />
consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong> como um vetor a partir <strong>da</strong> origem até a resultante <strong>de</strong> to<strong>do</strong>s os pontos.<br />
Funções trigonométricas permitem ain<strong>da</strong> a <strong>de</strong>finição <strong>da</strong> dispersão (variância) <strong>do</strong>s<br />
ângulos (Burt, 1996; Gaile, 1980).<br />
Desta forma, consi<strong>de</strong>rou-se o meridiano padrão <strong>da</strong> projeção policônica como o vetor <strong>de</strong><br />
referência <strong>do</strong>s <strong>da</strong><strong>do</strong>s para o cálculo <strong>da</strong> direção média (azimute), a partir <strong>do</strong> ângulo<br />
forma<strong>do</strong> entre e meridiano zero e as coor<strong>de</strong>na<strong>da</strong>s X e Y (em metros <strong>de</strong> projeção) <strong>de</strong> ca<strong>da</strong><br />
se<strong>de</strong> <strong>de</strong> município consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong>.<br />
Com os valores <strong>de</strong> média e variância direcional po<strong>de</strong>-se comparar estatisticamente duas<br />
distribuições <strong>de</strong> pontos quanto à direção <strong>do</strong>s eventos.<br />
Para a análise <strong>da</strong> evolução <strong>da</strong> estrutura espacial <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s entre os perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> 1912 a<br />
1965, 1965 que ressalta a estrutura urbana primaz <strong>de</strong> Belém, segui<strong>da</strong> <strong>de</strong> sua estagnação e<br />
surgimento <strong>da</strong> primazia <strong>de</strong> Manaus, seria i<strong>de</strong>al realizar análises espaciais que<br />
pon<strong>de</strong>rassem a localização <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s por outra variável tal como população ou<br />
produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong>. Contu<strong>do</strong>, como estes <strong>da</strong><strong>do</strong>s ain<strong>da</strong> não foram acessa<strong>do</strong>s, propõe-se a<br />
análise <strong>da</strong> população <strong>de</strong> Manaus e Belém em relação à população total <strong>do</strong> esta<strong>do</strong> (<strong>da</strong><strong>do</strong>s<br />
disponíveis).<br />
A partir <strong>de</strong> 1960 há a influência <strong>de</strong> diferentes agente atuan<strong>do</strong> sobre o processo <strong>de</strong><br />
ocupação e urbanização <strong>da</strong> Amazônia, aumentan<strong>do</strong> a complexi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong>s interações, para<br />
este perío<strong>do</strong>, até o momento, optou-se por a<strong>do</strong>tar técnicas <strong>de</strong> análise espacial basean<strong>do</strong>se<br />
na criação <strong>de</strong> superfícies <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Kernel (Rosemblatt, 1956; Whittle, 1958;<br />
Parzen, 1962) a partir <strong>da</strong> localização <strong>da</strong>s se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> municípios e superfícies <strong>de</strong> razão <strong>de</strong><br />
população urbana, pon<strong>de</strong>ran<strong>do</strong>-as através <strong>da</strong> população total.<br />
A estimativa <strong>da</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> Kernel <strong>de</strong> eventos gera uma superfície simétrica que reflete a<br />
distância <strong>de</strong> um ponto a um local <strong>de</strong> referência basea<strong>da</strong> numa função estatística. Seria o<br />
equivalente a <strong>de</strong>senvolver uma superfície basean<strong>do</strong>-se no histograma <strong>de</strong> frequência <strong>do</strong>s<br />
eventos pontuais, on<strong>de</strong> as classes <strong>do</strong> histograma são traduzi<strong>da</strong>s em intervalos e o
número <strong>de</strong> casos em ca<strong>da</strong> intervalo é conta<strong>do</strong> e representa<strong>do</strong>. O resulta<strong>do</strong> é uma<br />
superfície que reflete a <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> pontos ou <strong>do</strong> evento avalia<strong>do</strong>. Esta técnica po<strong>de</strong><br />
ain<strong>da</strong> ser utiliza<strong>da</strong> para relacionar duas ou mais variáveis produzin<strong>do</strong> uma estimativa<br />
tri-dimensional <strong>da</strong>s mesmas.<br />
3.2 RESULTADOS<br />
3.2.1 Do século XVII a 2000 - Análise <strong>de</strong> Clusters<br />
Para os municípios instala<strong>do</strong>s até 1850 apenas 3 clusters foram i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s (Figura 1):<br />
(i) no Mato Grosso com as ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s próximas a Cuiabá; (ii) municípios próximos à São<br />
Luis <strong>do</strong> Maranhão e Belém; e (iii) ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s ao longo <strong>do</strong> Rio Amazonas, <strong>de</strong> Manaus a<br />
Gurupá (PA)<br />
Figura 1 - Análise <strong>de</strong> cluster para os municípios instala<strong>do</strong>s na Amazônia até 1850.<br />
Com a expansão <strong>da</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong> extrativista <strong>da</strong> borracha, surgiram novos municípios a<br />
oeste <strong>de</strong> Manaus, e no Acre, <strong>de</strong>finin<strong>do</strong> <strong>do</strong>is novos clusters para os municípios instala<strong>do</strong>s<br />
até 1920. Manaus torna-se pertencente ao agrupamento central <strong>do</strong> esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Amazonas,<br />
e o cluster ao qual pertencia anteriormente reduz-se basicamente aos municípios <strong>do</strong><br />
Pará, próximos a Santarém, Breves e Gurupá (Figura 2).
Figura 2 - Análise <strong>de</strong> cluster para os municípios instala<strong>do</strong>s na Amazônia até 1912.<br />
A estrutura urbana primaz <strong>de</strong> Belém e o aumento <strong>de</strong> importância <strong>de</strong> Manaus se reflete<br />
nos clusters observa<strong>do</strong>s para os municípios instala<strong>do</strong>s até 1966 (Figura 3). Um cluster<br />
com muitos municípios compreen<strong>de</strong> Belém, e agora separa<strong>do</strong> <strong>do</strong> cluster que contém<br />
São Luís. Manaus está compreendi<strong>do</strong> no cluster que compreen<strong>de</strong> os municípios <strong>do</strong><br />
Amazonas e Pará e o cluster <strong>do</strong> oeste <strong>do</strong> Amazonas e Pará torna-se menos extenso, com<br />
maior número <strong>de</strong> municípios. No oeste <strong>do</strong> Pará e leste <strong>do</strong> Maranhão <strong>de</strong>fine-se um<br />
cluster que compreen<strong>de</strong> Marabá e Imperatriz.<br />
Figura 3 - Análise <strong>de</strong> cluster para os municípios instala<strong>do</strong>s na Amazônia até 1965.<br />
A influência <strong>do</strong>s eixos <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s pelas estra<strong>da</strong>s implanta<strong>da</strong>s na déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 60,<br />
adicionalmente aos eixos <strong>do</strong>s rios, reflete-se nos clusters obti<strong>do</strong>s para os municípios<br />
instala<strong>do</strong>s até 1986 (Figura 4): surge o agrupamento <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s em Rondônia e<br />
Roraima; intensificação <strong>do</strong> número <strong>de</strong> municípios nos <strong>de</strong>mais clusters e muitos<br />
municípios não associa<strong>do</strong>s a clusters indican<strong>do</strong> ligações potenciais.
Figura 4 - Análise <strong>de</strong> cluster para os municípios instala<strong>do</strong>s na Amazônia até 1985.<br />
A partir <strong>de</strong> 1985 a ocupação torna-se a<strong>de</strong>nsa<strong>da</strong> <strong>de</strong> mo<strong>do</strong> que os clusters pouco<br />
contribuem com informações adicionais sobre o padrão <strong>de</strong> agrupamento <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
(Figura 5)<br />
(a) (b)<br />
Figura 5 - Análise <strong>de</strong> cluster para os municípios instala<strong>do</strong>s na Amazônia: (a) até<br />
1990, (b) até 1997.<br />
Clusters que compreen<strong>de</strong>m as capitais são menores pela alta <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> municípios<br />
próximos a região metropolitana. Ressalta-se a evolução intensa ao longo <strong>da</strong> ro<strong>do</strong>via<br />
Belém-Brasília, <strong>de</strong> 3 para 4 clusters <strong>de</strong> 1990 a 1997, apenas no esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Tocantins.<br />
Rondônia apesar <strong>de</strong> apresentar um único cluster para as se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> municípios, este se<br />
a<strong>de</strong>nsou e seu formato se alongou acompanhan<strong>do</strong> o eixo <strong>da</strong> ro<strong>do</strong>via Cuiabá-<br />
PortoVelho.<br />
A seguir ca<strong>da</strong> uma <strong>de</strong>stas principais fases <strong>de</strong> evolução <strong>da</strong> ocupação urbana é analisa<strong>da</strong> <strong>de</strong><br />
acor<strong>do</strong> com os <strong>da</strong><strong>do</strong>s disponíveis através <strong>de</strong> ferramentas <strong>de</strong> análise espacial.
3.2.2 De 1850 a 1912 - Análise Centrográfica <strong>da</strong> forma <strong>de</strong>ndrítica protourbana<br />
à estrutura primaz.<br />
O centro médio <strong>da</strong><strong>do</strong> pelo valor médio <strong>da</strong>s coor<strong>de</strong>na<strong>da</strong>s X e Y, é o <strong>de</strong>scritor mais<br />
simples <strong>de</strong> uma distribuição. Po<strong>de</strong> também ser chama<strong>do</strong> <strong>de</strong> centro <strong>de</strong> gravi<strong>da</strong><strong>de</strong>, e<br />
representa o ponto <strong>de</strong> equilíbrio <strong>da</strong> distribuição. A Figura 6 apresenta os centros médios<br />
i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s para os perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> até 1850 e até 1912.<br />
Figura 6 - Distribuição <strong>da</strong>s se<strong>de</strong>s <strong>do</strong>s municípios instala<strong>do</strong>s até 1850 (ver<strong>de</strong>) e até<br />
1920 (rosa) e seus respectivos centros médios.<br />
O surgimento <strong>de</strong> novos municípios na porção oeste <strong>do</strong> esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Amazonas e no esta<strong>do</strong><br />
<strong>do</strong> Acre promoveu o <strong>de</strong>slocamento <strong>do</strong> centro médio para o oeste. Contu<strong>do</strong>, esta<br />
diferença <strong>de</strong> posição não tem significância estatística ao se comparar os <strong>do</strong>is conjuntos<br />
<strong>de</strong> <strong>da</strong><strong>do</strong>s. O teste F aplica<strong>do</strong> para comparar as variâncias <strong>do</strong>s centros médios orientaram<br />
a aplicação <strong>de</strong> um teste t para comparar os centros médios para variâncias diferentes.<br />
Porém, os resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s não permitem afirmar que estes centros médios têm<br />
diferença estatística significativa entre as duas <strong>da</strong>tas, conforme valores mostra<strong>do</strong>s na<br />
Tabela 2.<br />
Tabela 2 - Teste <strong>de</strong> hipóteses para comparar centros médios <strong>da</strong>s distribuições <strong>do</strong>s<br />
municípios instala<strong>do</strong>s até 1850 e até 1920.<br />
Teste F F crítico Teste <strong>de</strong> Hipóteses<br />
X<br />
Y<br />
F DF a = 0.05 a = 0.01<br />
2.12 n=88 1.59 2.05 H0: Variâncias são iguais<br />
1.03 m=38 Rejeito H0: F obti<strong>do</strong> para X > F crítico<br />
Teste t t crítico Teste <strong>de</strong> Hipóteses<br />
t DF a = 0.10 a = 0.025<br />
X 1.970 105 1.660 2.275 H0: Centros médios são iguais<br />
Y 1.372 75 1.666 2.288 Aceito H0: F obti<strong>do</strong> para X e/ou Y < t crítico
A gran<strong>de</strong> variância <strong>de</strong> posicionamento <strong>da</strong>s se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> municípios contribuiu para que esta<br />
diferença nos centros <strong>de</strong> gravi<strong>da</strong><strong>de</strong> não fosse significativa. A Figura 7 apresenta as elipses<br />
correspon<strong>de</strong>ntes aos <strong>de</strong>svios-padrão <strong>da</strong>s distribuição <strong>do</strong>s pontos <strong>da</strong>s duas distribuições.<br />
Figura 7 - Distribuição <strong>do</strong>s municípios instala<strong>do</strong>s até 1850 (ver<strong>de</strong>) e 1920 (rosa) -<br />
centro médio e elipses <strong>de</strong> <strong>de</strong>svio-padrão.<br />
A distribuição <strong>do</strong>s <strong>de</strong>svios-padrão em X e Y geram as elipses que permitem a<br />
comparação estatística <strong>da</strong>s distribuições <strong>do</strong>s pontos - se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> municípios instala<strong>do</strong>s até<br />
1850 e até 1912. A Tabela 3 apresenta os resulta<strong>do</strong>s <strong>do</strong> testes estatísticos.<br />
Tabela 3 - Teste <strong>de</strong> hipóteses para comparar as elipses <strong>do</strong>s <strong>de</strong>svios-padrão <strong>da</strong>s<br />
distribuições <strong>do</strong>s municípios instala<strong>do</strong>s até 1850 e até 1920.<br />
Teste t t crítico Centros médios<br />
t DF a = 0.01 Teste <strong>de</strong> Hipóteses<br />
X 1.97 105 2.62 H0: Centros médios são iguais<br />
Y 1.37 75 2.64 Rejeito H0: t obti<strong>do</strong> para X ou Y > t crítico (α=0.01)<br />
Teste F F crítico Eixos X e Y<br />
F DF a = 0.01 Teste <strong>de</strong> Hipóteses<br />
X 1.92 m=87 1.22 H0: Eixos X e Y <strong>da</strong>s elipses são iguais<br />
Y 1.12 n=38 Rejeito H0: F obti<strong>do</strong> para X > F crítico (0.01)<br />
Teste F F crítico Área <strong>da</strong>s elipses<br />
F DF a = 0.01 Teste <strong>de</strong> Hipóteses<br />
Área 1.47 87 1.22 H0: Áreas <strong>da</strong>s elipses são iguais<br />
Rejeito H0: F obti<strong>do</strong> > F crítico (0.01)<br />
A análise estatística nos permite comprovar o que visualmente se observa <strong>da</strong>s elipses <strong>da</strong>s<br />
distribuições analisa<strong>da</strong>s, ou seja, não há diferença entre os centros <strong>da</strong>s elipses, mas estas<br />
diferem em área e o eixo X é o responsável pelo gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>svio <strong>da</strong> distribuição,<br />
ocasiona<strong>da</strong> pelo surgimento <strong>do</strong>s municípios a oeste.
Consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong>-se os municípios instala<strong>do</strong>s até 1850 e até 1912, a média e variância<br />
direcional foram calcula<strong>da</strong>s e compara<strong>da</strong>s. Conforme apresenta<strong>do</strong> na Tabela 4, a<br />
diferença <strong>de</strong> 133 graus para 165 graus (conta<strong>do</strong>s no senti<strong>do</strong> horário a partir <strong>do</strong> norte, <strong>do</strong><br />
meridiano <strong>de</strong> origem <strong>da</strong> projeção policônica), não tem significância estatística.<br />
Tabela 4 - Comparação <strong>de</strong> média e variância direcional (angular) entre os<br />
municípios instala<strong>do</strong>s até 1850 e entre 1850 e 1912.<br />
Até 1850 >1850 F crítico (0.05)<br />
Este resulta<strong>do</strong> reflete a instalação simultânea <strong>de</strong> municípios tanto na região oeste <strong>do</strong><br />
esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Amazonas, quanto nos esta<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Mato Grosso e Maranhão.<br />
3.2.3 De 1912 a 1965 - Estrutura Primaz <strong>de</strong> Belém, surgimento <strong>de</strong> Manaus<br />
- população relativa.<br />
Os <strong>da</strong><strong>do</strong>s <strong>de</strong> população por municípios ain<strong>da</strong> não foram acessa<strong>do</strong>s, a análise que<br />
sustenta a relação entre Belém e Manaus <strong>de</strong> 1912 a 1950 realizou-se através <strong>da</strong>s relações<br />
entre a população <strong>do</strong> esta<strong>do</strong> e <strong>da</strong>s capitais.<br />
O esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Maranhão apresenta-se como o mais populoso <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1872, segui<strong>do</strong> por<br />
Pará e Amazonas. A população no Pará mantém-se superior à <strong>do</strong> Amazonas durante<br />
to<strong>da</strong> a série histórica analisa<strong>da</strong> (Figura 8).
População<br />
7000000<br />
6000000<br />
5000000<br />
4000000<br />
3000000<br />
2000000<br />
1000000<br />
0<br />
População / UF<br />
1872<br />
1890 1900 1920<br />
1940 1950<br />
1960<br />
1970<br />
Data<br />
1980 1991<br />
2000<br />
PA<br />
MA<br />
AM<br />
MT<br />
RO<br />
TO<br />
AC<br />
AP<br />
RR<br />
Figura 8 - Evolução <strong>da</strong> população por uni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> fe<strong>de</strong>ração <strong>da</strong> Amazônia Legal.<br />
Este mesmo panorama entre Belém e Manaus mantém-se ao avaliarmos a evolução <strong>da</strong><br />
população <strong>de</strong> 1950 até 2000 para os municípios: Belém <strong>de</strong>staca-se como a capital <strong>de</strong><br />
maior população e Manaus como a terceira (Figura 9) .<br />
UF
Figura 9 - Evolução <strong>da</strong> população total nos municípios <strong>da</strong>s capitais Amazônicas<br />
Contu<strong>do</strong>, ao avaliar-se a população <strong>da</strong> capital em relação a porcentagem equivalente no<br />
total <strong>do</strong> esta<strong>do</strong> (Figura 10), observa-se outro padrão. Belém e São Luís, historicamente<br />
as capitais mais populosas não concentram tanto a população <strong>do</strong> esta<strong>do</strong> quanto as<br />
capitais <strong>do</strong>s esta<strong>do</strong>s menos populosos, tais como Rondônia, Amapá e Acre.
Figura 10 - Porcentagem <strong>da</strong> população total <strong>da</strong>s capitais em relação ao esta<strong>do</strong>.<br />
Figura 11 - Ppopulação total <strong>da</strong>s capitais em relação aos esta<strong>do</strong>s <strong>do</strong> PA e AM (%)<br />
Individualizan<strong>do</strong>-se Manaus e Belém, observa-se que Manaus <strong>de</strong>tém mais a população<br />
<strong>do</strong> esta<strong>do</strong> que Belém, evi<strong>de</strong>nte nos perío<strong>do</strong>s: anterior à exploração <strong>da</strong> borracha - até<br />
1890, no <strong>de</strong>clínio <strong>da</strong> exploração <strong>da</strong> borracha - déca<strong>da</strong>s <strong>de</strong> 40 e 50, e com a<br />
intervenção/incentivos <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>, a partir <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> <strong>de</strong> 70.
4 A <strong>Urbanização</strong> Regional - <strong>de</strong> 1960 a 1990<br />
Até 1960 o crescimento urbano caracterizou-se como ci<strong>da</strong><strong>de</strong> primaz, com a<br />
concentração <strong>da</strong> população e ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s em poucos núcleos, organizan<strong>do</strong>-se numa re<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ndrítica, seguin<strong>do</strong> a geometria <strong>da</strong> re<strong>de</strong> fluvial. A partir <strong>de</strong> 1960 inicia-se o processo <strong>de</strong><br />
urbanização regional com a construção <strong>da</strong> ro<strong>do</strong>via Belém-Brasília e a política territorial<br />
<strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>.<br />
Para compreensão <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> urbanização <strong>de</strong>ste perío<strong>do</strong> utilizamos a visão <strong>da</strong><br />
fronteira urbana como espaço estratégico para o Esta<strong>do</strong>, <strong>de</strong>scrita por Becker (1995) . A<br />
autora apresenta o processo <strong>de</strong> urbanização não apenas a partir <strong>da</strong> evolução e<br />
crescimento <strong>do</strong>s núcleos urbanos, mas contextualiza<strong>do</strong> na dinâmica social e territorial<br />
<strong>do</strong> Brasil. A reorganização territorial <strong>do</strong> Brasil, concentran<strong>do</strong> a população nos centros<br />
urbanos <strong>da</strong> região centro-sul, e ao longo <strong>da</strong> costa, nas déca<strong>da</strong>s <strong>de</strong> 70 e 80, promoveu a<br />
dispersão urbana através <strong>de</strong> movimentos <strong>de</strong> <strong>do</strong>is tipos: (1) as capitais estaduais<br />
conectan<strong>do</strong> os núcleos dinâmicos <strong>do</strong> país com a região <strong>de</strong> fronteira, e (2) a<br />
multiplicação <strong>de</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s e crescimento <strong>de</strong> centros regionais como bases logísticas para<br />
expansão <strong>da</strong>s frentes agrícola, minera<strong>do</strong>ra e <strong>de</strong> pecuária.<br />
A urbanização Amazônica <strong>de</strong>ste perío<strong>do</strong> não foi <strong>de</strong>corrente <strong>da</strong> expansão <strong>da</strong> fronteira<br />
agrícola, como ocorreu no início <strong>do</strong> século na região centro-sul, foi <strong>de</strong>corrente <strong>da</strong>s ações<br />
<strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> para incorporar o país ao capitalismo mo<strong>de</strong>rno. A fronteira é heterogênea,<br />
nasce urbana, com altas taxas <strong>de</strong> urbanização, on<strong>de</strong> o governo fe<strong>de</strong>ral é o principal<br />
responsável pelo planejamento e volume <strong>de</strong> investimentos em infra-estrutura. A<br />
fronteira é consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong> um espaço político e social estratégico on<strong>de</strong> o Esta<strong>do</strong> po<strong>de</strong><br />
induzir mu<strong>da</strong>nças sem ameaçar os interesses estabeleci<strong>do</strong>s, a custas <strong>de</strong> exclusão social, e<br />
suporta<strong>da</strong>s pela associação <strong>de</strong> capital estrangeiro, estatal e priva<strong>do</strong>. Assim, como<br />
estratégia, o governo fe<strong>de</strong>ral planejou e impôs os seguintes elementos para controle<br />
técnico e político <strong>da</strong> região:<br />
• Re<strong>de</strong> para integração espacial: estra<strong>da</strong>s, telecomunicação, serviços hidrelétricos e<br />
estra<strong>da</strong>s <strong>de</strong> ferro.<br />
• Superposição <strong>de</strong> território fe<strong>de</strong>ral sobre o estadual.<br />
• Subsídios para fluxo <strong>de</strong> capital.<br />
• Fomento <strong>de</strong> fluxos migratórios.<br />
• <strong>Urbanização</strong>.<br />
Consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> este contexto, Becker (1995) ain<strong>da</strong> discute o significa<strong>do</strong> e o papel <strong>da</strong><br />
urbanização <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com três perspectivas correntes na literatura: como alternativa à<br />
migração rural, como estratégia <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> e como resulta<strong>do</strong> <strong>de</strong> uma política <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvimento fracassa<strong>da</strong>.<br />
Na primeira perspectiva, o fechamento <strong>da</strong> fronteira, com a concentração <strong>da</strong> posse <strong>de</strong><br />
terra, promove o êxo<strong>do</strong> rural e o inchamento <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s. Este movimento direciona o
contingente <strong>de</strong> colonos mal sucedi<strong>do</strong>s inicialmente para as pequenas ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s pioneiras,<br />
que na impossibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> absorver esta população, os empurra para outros centros<br />
urbanos. Não é o crescimento <strong>da</strong> população nacional ou regional que promove o<br />
crescimento <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s, mas sim a mobili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>do</strong>s colonos (migrantes) que não<br />
tiveram acesso à posse <strong>da</strong> terra na região.<br />
Vários autores compartilham <strong>de</strong>sta tese <strong>da</strong> urbanização como conseqüência <strong>do</strong> êxo<strong>do</strong><br />
rural e fechamento <strong>da</strong> fronteira pela proprie<strong>da</strong><strong>de</strong> priva<strong>da</strong>, tais como Martine e Peliano<br />
(1978), Martine e Turchi (1990), Aragón (1983), Antoniazzi (1980), Martine (1987),<br />
Aragón (1989), Sawyer (1987) e Torres (1991). A fronteira urbana seria responsável por<br />
absorver os migrantes que não foram reti<strong>do</strong>s nos centros e nem fixa<strong>do</strong>s no campo.<br />
Exemplos são encontra<strong>do</strong>s ao longo <strong>da</strong> BR-364 em Rondônia e no eixo Porto Velho -<br />
Rio Branco. O ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> <strong>da</strong> fronteira: expansão, estagnação e <strong>de</strong>clínio, normalmente<br />
<strong>de</strong> 30-35 anos no sul <strong>do</strong> país, é reduzi<strong>do</strong> à 10-15 anos na Amazônia.<br />
Esta perspectiva é atualiza<strong>da</strong> por trabalhos que incorporam o processo <strong>de</strong> urbanização<br />
corrente no país, on<strong>de</strong> a importância <strong>do</strong>s fluxos rurais-urbanos é enfatiza<strong>da</strong>. O<br />
crescimento <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> pequeno a médio porte no interior seria associa<strong>do</strong> aos<br />
seguintes fatores:<br />
• Mo<strong>de</strong>rnização parcial <strong>da</strong> agricultura - trabalha<strong>do</strong>res rurais, <strong>de</strong> residência<br />
urbana.<br />
• Serviços urbanos necessários à agricultura.<br />
• Novos padrões <strong>de</strong> consumo <strong>da</strong> população rural.<br />
• Menor possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> acesso à terra.<br />
• Menor possibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> proprie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> terra e emprego em gran<strong>de</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s.<br />
• Transitorie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> fronteira - resultante <strong>da</strong> formação <strong>do</strong> merca<strong>do</strong> <strong>da</strong> terra, que<br />
fecha a fronteira, e <strong>de</strong> ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s periódicas como o garimpo.<br />
Na segun<strong>da</strong> perspectiva, compila<strong>da</strong> por Becker, (1995), e <strong>de</strong>fendi<strong>da</strong> por outro grupo <strong>de</strong><br />
autores tais como Becker (1977), (1985), (1987), Macha<strong>do</strong> (1979), (1982), (1984),<br />
Oliveira (1978), Rodrigues (1978), Bitoun (1980), Santos (1982), Coy (1989) e Godfrey<br />
(1990), a urbanização é um instrumento que serve à estratégia <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> na organização<br />
<strong>do</strong> merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> trabalho regional. Nesta perspectiva, a ci<strong>da</strong><strong>de</strong> é fun<strong>da</strong>mental para a<br />
circulação <strong>de</strong> merca<strong>do</strong>rias, <strong>de</strong> informação, <strong>da</strong> força <strong>de</strong> trabalho e pela re-socialização <strong>do</strong>s<br />
emigrantes.<br />
Como as ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s produtivas <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> e médio porte na Amazônia <strong>de</strong>man<strong>da</strong>m<br />
trabalho por perío<strong>do</strong>s intermitentes e sazonais, a criação <strong>de</strong> uma força <strong>de</strong> trabalho<br />
móvel é estratégica, e os núcleos urbanos prestam-se à concentração e distribuição <strong>de</strong>sta<br />
força <strong>de</strong> trabalho. O Esta<strong>do</strong> então manipula o espaço através <strong>da</strong> política <strong>de</strong> controle <strong>da</strong><br />
distribuição <strong>de</strong> terra, <strong>da</strong> urbanização, e <strong>da</strong> promoção <strong>do</strong> fluxo migratório para a região.
A urbanização rural implanta<strong>da</strong> pelo INCRA (Instituto Nacional para Crescimento e<br />
Reforma Agrária) em 1970 nos projetos <strong>de</strong> colonização oficial como os <strong>de</strong> Rondônia e<br />
<strong>da</strong> Transamazônica são exemplos <strong>de</strong>sta perspectivas, on<strong>de</strong> os centros urbanos foram<br />
cria<strong>do</strong>s para atrair e estabelecer os fluxos migratórios e os núcleos hierárquicos serviram<br />
<strong>de</strong> base para a socialização <strong>do</strong> ambiente rural (agrovilas). É o mo<strong>de</strong>lo segui<strong>do</strong> pela<br />
colonização priva<strong>da</strong>. O Polamazônia (1974) investiu boa parte <strong>de</strong> seus recursos para<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>do</strong>s centros urbanos <strong>do</strong>s pólos <strong>de</strong> crescimento e a SUDAM -<br />
Superintendência para o Desenvolvimento <strong>da</strong> Amazônia (1976), apresenta a estratégia<br />
<strong>de</strong> melhoria <strong>do</strong> comércio e serviços para incentivar o fluxo migratório e criar<br />
comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s urbanas autônomas.<br />
Consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> a urbanização como estratégia <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>, 3 funções <strong>do</strong>s núcleos urbanos<br />
na integração <strong>da</strong> fronteira são i<strong>de</strong>ntifica<strong>da</strong>s:<br />
1. Promover o planejamento <strong>do</strong> uso <strong>do</strong> solo como local <strong>de</strong> circulação em geral e<br />
organização <strong>do</strong> merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> trabalho - local <strong>de</strong> residência e merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> trabalho para<br />
trabalha<strong>do</strong>res rurais, pequenos produtores e migrantes. Quanto menor o núcleo,<br />
maior a função <strong>de</strong> circulação <strong>de</strong> trabalho, mais simples os equipamentos disponíveis<br />
e mais efêmera sua existência, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n<strong>do</strong> <strong>da</strong>s frontes <strong>de</strong> trabalho e expropriação<br />
<strong>do</strong>s fazen<strong>de</strong>iros;<br />
2. Promover a integração <strong>do</strong> migrante à socie<strong>da</strong><strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rna - local <strong>de</strong> ação política e<br />
i<strong>de</strong>ológica <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>.<br />
3. Transformar a estrutura <strong>de</strong> ocupação regional: como local <strong>de</strong> circulação, novas<br />
ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> comércio são exercita<strong>da</strong>s, estas representam fontes <strong>de</strong> acumulação, e os<br />
núcleos transformam-se em merca<strong>do</strong> que estimulam a produção local e a<br />
capitalização <strong>de</strong> pequenos produtores.<br />
A terceira abor<strong>da</strong>gem, que consi<strong>de</strong>ra a perspectiva <strong>da</strong> urbanização como resulta<strong>do</strong> <strong>da</strong><br />
política <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento fracassa<strong>da</strong> questiona a proposta anterior quanto a:<br />
• No momento em que as ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s crescem muito mais rápi<strong>do</strong> que a capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>do</strong><br />
Esta<strong>do</strong> prover condições para tanto, a "estratégia <strong>de</strong>libera<strong>da</strong>" está <strong>de</strong>scaracteriza<strong>da</strong>.<br />
São as limitações <strong>da</strong> política <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento e a condição <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong><br />
terra que <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>iam os processos <strong>de</strong> urbanização selvagem e proletarização<br />
passiva. Este é um efeito colateral <strong>da</strong> política que dissolve a estrutura social<br />
tradicional sem abertura <strong>do</strong>s prospectos <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnização.<br />
• A falta <strong>de</strong> infra-estrutura básica e baixos padrões <strong>de</strong> vi<strong>da</strong> não caracterizam as<br />
fronteiras como espaço para (re)socialização <strong>da</strong> população, menos ain<strong>da</strong>, para<br />
prover condições <strong>de</strong> movimentos anti-<strong>do</strong>minação.<br />
Neste caso, as ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s superam as estruturas sociais tradicionais, sem perspectivas <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>rnização, <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> ao processo <strong>de</strong> "urbanização selvagem e proletarização passiva"<br />
resultante <strong>da</strong> estratégia <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> alia<strong>da</strong> à concentração <strong>da</strong> proprie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> terra<br />
(Mitschein et al., 1989, cita<strong>do</strong> em Becker, 1998).
Segun<strong>do</strong> Becker (1998), o processo <strong>de</strong> urbanização regional po<strong>de</strong> ain<strong>da</strong> ser caracteriza<strong>do</strong><br />
quanto ao crescimento e distribuição <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s em quatro aspectos relevantes:<br />
1. O ritmo <strong>do</strong> crescimento urbano;<br />
2. Redução <strong>da</strong> proporção <strong>de</strong> população urbana em ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s maiores <strong>de</strong> 100.000;<br />
3. A íntima relação ci<strong>da</strong><strong>de</strong>-campo;<br />
4. Padrões <strong>de</strong> <strong>Urbanização</strong> diferencia<strong>do</strong>s <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> à variações <strong>de</strong> crescimento, tamanho e<br />
dinâmica urbanas.<br />
4.1 DE 1966 A 2000 - ANÁLISE ESPACIAL DE SUPERFÍCIES DE DENSIDADE<br />
O processo <strong>de</strong> urbanização po<strong>de</strong> ser mensura<strong>do</strong> através <strong>do</strong> aparecimento <strong>de</strong> novas<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s e pela alteração <strong>do</strong> tamanho <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s. A alteração no tamanho <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
po<strong>de</strong> ain<strong>da</strong> ser consi<strong>de</strong>ra<strong>da</strong> como uma proxy <strong>da</strong> hierarquia urbana.<br />
Para acompanhar a evolução <strong>da</strong> urbanização entre os perío<strong>do</strong>s <strong>de</strong> 1960 a 1996, foram<br />
consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> a ocorrência <strong>do</strong>s centros urbanos, para gerar superfícies basea<strong>da</strong>s na<br />
estimativa <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Kernel.<br />
(a) (b)<br />
Figura 12 - Estimativa Kernel <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> município para 1966 (a) e<br />
para 1985 (b).<br />
As superfícies <strong>de</strong> frequência <strong>de</strong> municípios revelam a concentração próxima a São Luís e<br />
Belém e a evolução na região <strong>de</strong> Manaus e médio Amazonas. Para Rondônia, a<br />
concentração <strong>de</strong> municípios passa a ser relevante apenas em 1985.
(a) (b)<br />
Figura 13 - Estimativa Kernel <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> município para 1990 (a) e<br />
para 1996 (b).<br />
A superfície obti<strong>da</strong> para 1990 reflete a intensa ocupação <strong>da</strong> Amazônia oriental,<br />
<strong>de</strong>corrência <strong>do</strong>s eixos viários - Belém-Brasília, Cuiabá-PortoVelho, e a ligação Manaus-<br />
Belém através <strong>do</strong> eixo <strong>do</strong> rio Amazonas.<br />
Para 1991 e 1996, cujos <strong>da</strong><strong>do</strong>s <strong>de</strong> contagem e censo populacional estão disponíveis, foi<br />
possível utilizar a estimativa <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Kernel para verificar a relação entre a<br />
população urbana e a população total através <strong>da</strong> razão <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> (Figura 14).<br />
A superiori<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> importância relativa <strong>de</strong> Manaus em relação a Belém, torna-se níti<strong>da</strong><br />
ao se comparar a superfície <strong>de</strong> razão (Figura 14) com a superfície <strong>da</strong>s se<strong>de</strong>s <strong>do</strong>s<br />
municípios (Figura 13) para 1990. A superfície exagera a homogenei<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> variável<br />
analisa<strong>da</strong>, e por isso a evolução <strong>de</strong> 1990 para 1996, observan<strong>do</strong>-se o eixo <strong>de</strong> Manaus a<br />
Boa Vista torna-se tão intenso, assim como na região <strong>de</strong> Macapá e Cuiabá. Mas não se
po<strong>de</strong> negligenciar a importância relativa <strong>da</strong> população urbana para estas regiões, bem<br />
como para Porto Velho.<br />
(a) (b)<br />
Figura 14 - Estimativa Kernel <strong>de</strong> razão <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> entre população urbana e<br />
população total para 1990 (a) e para 1996 (b).<br />
Para o Maranhão a superfície <strong>de</strong> razão <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Kernel apresentou valores<br />
baixos, similares aos observa<strong>do</strong>s para a Amazônia Oci<strong>de</strong>ntal. Este resulta<strong>do</strong><br />
complementa as análises anteriores, uma vez que ao longo <strong>da</strong> série histórica, apresentou<br />
vários municípios e concentra<strong>do</strong>s próximos a são Luís, como mostrou a análise <strong>de</strong><br />
cluster (Figuras 1 a 5) e a superfície <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> Kernel para as se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> município,<br />
comprovan<strong>do</strong> a forte permanência <strong>da</strong> população na zona rural. Efeito similar po<strong>de</strong> ser<br />
observa<strong>do</strong> em Rondônia, on<strong>de</strong> apesar <strong>do</strong> agrupamento <strong>de</strong> municípios ser evi<strong>de</strong>nte<br />
(Figura 13), a população urbana <strong>do</strong>s mesmos pouco contribuem para a população total,<br />
representa<strong>da</strong> em áreas <strong>de</strong> baixas <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> na superfície <strong>de</strong> razão <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> (Figura<br />
14).
Palmas, Imperatriz e Araguaína configuram-se em 1996 como novas regiões <strong>de</strong> marca<strong>da</strong><br />
importância quanto a população urbana.<br />
(a) (b)<br />
Figura 15 - Estimativa Kernel <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> para se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> municípios (a) e Razão<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> entre população urbana e população total (b), para 2000.<br />
Os <strong>da</strong><strong>do</strong>s <strong>de</strong> se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> municípios e população <strong>do</strong> censo 2000 IBGE, produziram as<br />
superfícies <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> apresenta<strong>da</strong>s na Figura 15. Observa-se a evolução <strong>da</strong><br />
concentração <strong>de</strong> municípios em torno <strong>da</strong>s capitais, <strong>de</strong> 1996 para 2000 e o aumento <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> em Roraima. Quanto à razão <strong>da</strong>s <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> população urbana/população<br />
total observa-se a ligação entre Macapá e Belém e a tendência <strong>de</strong> ligação entre Rio<br />
Branco-PortoVelho e Manaus. As áreas <strong>de</strong> baixa <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> no Maranhã, Pará, oeste <strong>do</strong><br />
Amazonas e Rondônia diminuem sensivelmente, a região <strong>do</strong> Mato Grosso - Pará <strong>de</strong><br />
baixa <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> praticamente <strong>de</strong>saparece.<br />
4.2 PADRÕES DE URBANIZAÇÃO REGIONAL<br />
Analisan<strong>do</strong> diversos contextos e contingência, i<strong>de</strong>ntifican<strong>do</strong> padrões espaciais <strong>de</strong><br />
organização <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s, os maiores a<strong>de</strong>nsamentos urbanos, a organização <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com sua geografia, história e relações externas, Becker (1985) aponta alguns<br />
mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> urbanização regional. Em 1985, foram i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s os seguintes mo<strong>de</strong>los,<br />
basean<strong>do</strong>-se na diversi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong>s relações Esta<strong>do</strong>-socie<strong>da</strong><strong>de</strong> civil, nas formas <strong>de</strong><br />
apropriação <strong>da</strong> terra e na organização <strong>do</strong>s merca<strong>do</strong>s <strong>de</strong> trabalho:<br />
• <strong>Urbanização</strong> espontânea - ação indireta <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>: estra<strong>da</strong>s e incentivos fiscais,<br />
povoa<strong>do</strong>s e vilas dispersos <strong>do</strong>mina<strong>do</strong>s por centros regionais e ausência <strong>de</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
médias. Amazônia Oriental e SE <strong>do</strong> Pará: Imperatriz, Araguaína, Conceição <strong>do</strong><br />
Araguaia e Marabá são os gran<strong>de</strong>s centros <strong>de</strong> entra<strong>da</strong> e redistribuição <strong>de</strong> migrantes.<br />
• <strong>Urbanização</strong> dirigi<strong>da</strong><br />
<strong>Urbanização</strong> dirigi<strong>da</strong> - executa<strong>da</strong> pelo Esta<strong>do</strong> ou companhias coloniza<strong>do</strong>ras.<br />
Fun<strong>da</strong>menta<strong>da</strong> no Urbanismo rural <strong>do</strong> INCRA que consistia <strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong>
núcleos urbanos-rurais hierarquiza<strong>do</strong>s. Rondônia e Transamazônica pelo Esta<strong>do</strong> e<br />
Synop e Alta Floresta (MT) por colonização priva<strong>da</strong>.<br />
• <strong>Urbanização</strong> por gran<strong>de</strong>s projetos minerais e ma<strong>de</strong>ireiros. Fronteira <strong>de</strong> recursos<br />
isola<strong>da</strong>, <strong>de</strong>svincula<strong>da</strong> com a região, parte <strong>de</strong> organização transnacional. Depen<strong>de</strong>m<br />
<strong>de</strong> bases urbanas para instalações, residência <strong>de</strong> trabalha<strong>do</strong>res nas companytown,<br />
complementa<strong>da</strong> por favelões que abrigam a mão-<strong>de</strong>-obra temporária e não<br />
especializa<strong>da</strong>.<br />
• <strong>Urbanização</strong> em áreas tradicionais - mantém o padrão on<strong>de</strong> o centro coman<strong>da</strong> a<br />
re<strong>de</strong> <strong>de</strong>ndrítica.<br />
A partir <strong>de</strong> 1980, observa-se a evolução <strong>do</strong>s mo<strong>de</strong>los existentes para os seguintes padrões<br />
contemporâneos:<br />
• Os mo<strong>de</strong>los <strong>da</strong> re<strong>de</strong> <strong>de</strong>ndrítica na Amazônia Oriental e o <strong>da</strong> company-town<br />
mantém-se;<br />
• A urbanização dirigi<strong>da</strong> em Rondônia originou o sub-sistema composto por<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s a<strong>de</strong>nsa<strong>da</strong>s entre Vilhena a Porto Velho, <strong>de</strong> núcleos distantes 60 km entre si,<br />
basea<strong>do</strong>s na economia ma<strong>de</strong>ireira e leiteira - Mo<strong>de</strong>lo Populista segun<strong>do</strong> Brow<strong>de</strong>r e<br />
Godfrey (1997);<br />
• Mo<strong>de</strong>lo <strong>do</strong> Pará - com a<strong>de</strong>nsamento <strong>de</strong> ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s no su<strong>de</strong>ste <strong>do</strong> Pará, <strong>de</strong> Marabá à<br />
Re<strong>de</strong>nção, urbanizan<strong>do</strong> o interior, antes restrita à Belém-Brasília - Mo<strong>de</strong>lo<br />
Corporativista segun<strong>do</strong> Brow<strong>de</strong>r e Godfrey (1997);<br />
• A<strong>de</strong>nsamentos urbanos forman<strong>do</strong> sub-sistemas espaciais no Mato Grosso, no<br />
entorno <strong>de</strong> Palmas e <strong>de</strong> São Luiz.<br />
• Não há conhecimento suficiente sobre os sub-sistemas espaciais em formação.<br />
5 Tamanho <strong>de</strong> municípios na Amazônia - <strong>de</strong> 1950 a 2000<br />
Ao analisar as ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s e estu<strong>da</strong>r a estrutura ou a re<strong>de</strong> urbana, a primeira dimensão<br />
questiona<strong>da</strong> é o tamanho. Esta é uma variável estreitamente relaciona<strong>da</strong> com hierarquia,<br />
uma vez que quanto maior a ci<strong>da</strong><strong>de</strong>, mais diversifica<strong>da</strong> e menos especializa<strong>da</strong> sua<br />
estrutura industrial. Há autores que assinalam um tamanho crítico a partir <strong>do</strong> qual a<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong> não mais retroce<strong>de</strong> e adquire capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> crescimento próprio: entre 250 a 500<br />
mil habitantes. O crescimento, ou o <strong>de</strong>senvolvimento econômico, proporciona o<br />
tamanho e o tamanho reage para estruturar a economia local e produzir crescimento.<br />
Na Amazônia observa-se uma distribuição <strong>do</strong> tipo log-normal para os municípios<br />
consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> as classes <strong>de</strong> população (disponibiliza<strong>da</strong>s e <strong>de</strong>fini<strong>da</strong>s pelo IBGE) manti<strong>da</strong><br />
ao longo <strong>do</strong> perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> 1950 e 2000, conforme observa<strong>do</strong> na Figura 16.<br />
Ressalta-se o aumento <strong>do</strong> número <strong>de</strong> municípios com população até 2000 habitantes e<br />
entre 50.000 a 100.000 habitantes. Estes <strong>da</strong><strong>do</strong>s comprovam a <strong>de</strong>sconcentração <strong>da</strong>
população nas gran<strong>de</strong>s metrópoles e maior participação relativa <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> até<br />
100.000 habitantes.<br />
1000<br />
LOG - Número <strong>de</strong> municípios<br />
100<br />
10<br />
1960<br />
1950<br />
1970<br />
1980<br />
1991<br />
2000<br />
Total <strong>de</strong> Municípios por classe <strong>de</strong> População<br />
1<br />
100 1000 10000 100000 1000000<br />
LOG - População (medianas <strong>do</strong>s intervalos)<br />
Figura 16 - Número <strong>de</strong> municípios presentes nas classes <strong>de</strong> população, <strong>de</strong> 1950 a<br />
2000 (escala logarítmica).<br />
Zipf (1949), foi um <strong>do</strong>s primeiros a associar tamanho e hierarquia <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s através <strong>de</strong><br />
sua "rank-size rule". Num gráfico, associa a posição relativa <strong>do</strong> tamanho <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s no<br />
eixo X (hierarquia), e a população <strong>da</strong>s mesmas no eixo Y, ambos na escala logarítmica,<br />
obten<strong>do</strong> uma linha reta (log-normal) resultante. Desta forma, a população <strong>da</strong> maior<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong> é o <strong>do</strong>bro <strong>da</strong> segun<strong>da</strong> e o quádruplo <strong>da</strong> quarta, e assim sucessivamente. Esta<br />
relação parece ser váli<strong>da</strong> para a maioria <strong>do</strong>s países <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong>s Alguns autores (Bak,<br />
1996; Krugman, 1996) indicam que este resulta<strong>do</strong> é <strong>de</strong>corrente <strong>da</strong> interação dinâmica<br />
entre as ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s, num fenômeno dito “complexi<strong>da</strong><strong>de</strong> auto-organiza<strong>da</strong>” (em Ingles, selforganizing<br />
complexity ou SOC). Embora uma discussão mais <strong>de</strong>talha<strong>da</strong> <strong>de</strong>sta questão<br />
esteja fora <strong>do</strong> escopo <strong>de</strong>ste <strong>do</strong>cumento, a idéia <strong>de</strong> SOC é que um sistema dinâmico,<br />
basea<strong>do</strong> na interação <strong>de</strong> um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> elementos (como ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s e empresas)<br />
ten<strong>de</strong> a encontrar um ponto <strong>de</strong> equilíbrio, expresso pela “rank-size” rule. Embora esta<br />
proprie<strong>da</strong><strong>de</strong> venha se verifican<strong>do</strong> para ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s nos países <strong>de</strong>senvolvi<strong>do</strong>s há pelo menos<br />
um século Bak (1996), sua aplicação ao Brasil revela algumas peculiari<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> nosso<br />
crescimento urbano.<br />
Faissol (1979), analisan<strong>do</strong> 50 ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s brasileiras, para os anos <strong>de</strong> 1940/50 e 60, não<br />
observou esta relação log-normal. Em sua opinião, isto <strong>de</strong>corre <strong>do</strong> crescimento não
aleatório <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s, pelo mecanismo <strong>de</strong> industrialização, o que promoveu a<br />
concentração <strong>da</strong> população nas gran<strong>de</strong>s metrópoles.<br />
No caso <strong>da</strong> Amazônia Legal com <strong>da</strong><strong>do</strong>s <strong>do</strong> censo 2000, uma análise <strong>do</strong> ranking <strong>da</strong>s<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s em relação a população <strong>da</strong>s mesmas (Figura 17) mostra que a regulari<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
prevista pela “lei <strong>de</strong> Zipf” ocorre apenas para os municípios <strong>de</strong> população menor que<br />
Belém e maior que aproxima<strong>da</strong>mente 10.000 habitantes. Para este intervalo, uma reta<br />
po<strong>de</strong> ser bem ajusta<strong>da</strong> ao gráfico, comprovan<strong>do</strong> a log-normali<strong>da</strong><strong>de</strong>.<br />
Log (Pop Tot 2000)<br />
7<br />
6.5<br />
6<br />
5.5<br />
5<br />
4.5<br />
4<br />
3.5<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
Log Rank x Log População Total - 2000<br />
y = -0.9974x + 6.568<br />
R 2 = 0.8927<br />
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5<br />
Log (rank)<br />
Figura 17 - Relação tamanho-hierarquia <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s: escala logarítmica <strong>do</strong> "rank"<br />
e <strong>da</strong> população total <strong>do</strong>s municípios, para o ano <strong>de</strong> 2000.<br />
Como Manaus e Belém são as duas metrópoles disputan<strong>do</strong> o primeiro lugar no rank <strong>da</strong>s<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s, há a <strong>de</strong>scaracterização <strong>da</strong> reta nesta região: a população <strong>da</strong> segun<strong>da</strong> maior<br />
ci<strong>da</strong><strong>de</strong> (Belém - 1.271.615) não é meta<strong>de</strong> <strong>da</strong> primeira (Manaus - 1.394.724 habitantes).<br />
Comportamento similar foi encontra<strong>do</strong> para o censo anterior (1991), com a diferença<br />
que Belém era a primeira ci<strong>da</strong><strong>de</strong> (1.244.689 habitantes) e Manaus a segun<strong>da</strong> (1.011.501<br />
habitantes). Estes valores indicam ain<strong>da</strong> o crescimento <strong>de</strong> Manaus, superan<strong>do</strong> Belém,<br />
firman<strong>do</strong> sua importância na re<strong>de</strong> urbana <strong>da</strong> Amazônia.<br />
Ain<strong>da</strong> em relação a Figura 17, municípios pequenos (menos <strong>de</strong> 10.000 habitantes)<br />
também não apresentaram a regulari<strong>da</strong><strong>de</strong> espera<strong>da</strong> quanto ao tamanho-hierarquia,<br />
distorcen<strong>do</strong> o padrão <strong>da</strong> reta, evi<strong>de</strong>ncian<strong>do</strong> o que foi observa<strong>do</strong> na Figura 16 anterior.<br />
Uma análise mais <strong>de</strong>talha<strong>da</strong> sobre este comportamento será realiza<strong>da</strong> no <strong>do</strong>cumento <strong>de</strong><br />
tese.
6 Consi<strong>de</strong>rações finais<br />
Este relatório propõe o uso <strong>de</strong> técnicas <strong>de</strong> análise espacial para a compreensão <strong>do</strong>s<br />
diferentes perío<strong>do</strong>s <strong>do</strong> processo <strong>de</strong> urbanização i<strong>de</strong>ntifica<strong>do</strong>s para a Amazônia Brasileira<br />
<strong>de</strong> 1850 a 1990. Para ca<strong>da</strong> perío<strong>do</strong> estu<strong>da</strong><strong>do</strong>, foram apresenta<strong>do</strong>s os resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s a<br />
partir <strong>da</strong>s variáveis propostas, <strong>do</strong>s <strong>da</strong><strong>do</strong>s disponíveis e <strong>da</strong> aplicação <strong>de</strong> técnicas <strong>de</strong> análise<br />
espacial seleciona<strong>da</strong>s.Como trabalhos futuros, preten<strong>de</strong>mos ain<strong>da</strong> <strong>de</strong>senvolver<br />
meto<strong>do</strong>logia e explorar espacialmente com maiores <strong>de</strong>talhes o perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> 1966 a 2000,<br />
buscan<strong>do</strong> <strong>de</strong>tectar os mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> urbanização regional <strong>de</strong>scritos na literatura, bem<br />
como outras possibili<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> análise espacial, que incluam informações quanto ao<br />
movimento migratório na região, a <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> trabalho e o papel <strong>do</strong>s<br />
novos eixos viários.<br />
7 Referências Bibliográficas<br />
Antoniazzi, M. (1980) A Ocupação Rural e o Novo Sistema Urbano nas Áreas <strong>de</strong><br />
Colonização ao Longo <strong>da</strong> BR-364 em Rondônia. Tese <strong>de</strong> Mestra<strong>do</strong> em Planejamento<br />
Regional, IPPUR, UFRJ.<br />
Aragón, L.E. (1983) Mobili<strong>da</strong><strong>de</strong> Geográfica e Ocupacional no Norte <strong>de</strong> Goiás: Um<br />
exemplo <strong>de</strong> Migração por Sobrevivência. In: Mougeot, J.A.; Aragón, L.E., O<br />
Despovoamento <strong>do</strong> Território Amazônico. Ca<strong>de</strong>rnos NAEA, Belém, UFPa/NAEA.<br />
Aragón, L.E. (1989) Recent Urbanizatioan and Rural Urban Migration in the Brazilian<br />
Amazon Region. In: Acta Latinoamericanas <strong>de</strong> Varsóvia, Regionais, Publicações <strong>do</strong><br />
Departamento <strong>da</strong> Escola <strong>de</strong> Geografia e Estu<strong>do</strong>s, Varsóvia.<br />
Bachi, R. (1957). Statistical Analysis of Geographical Series. Central Bureau of Statistics,<br />
Kaplan School, Hebrew University.<br />
Bailey, T.C.; Gatrell, A.C. (1995). Interactive spatial <strong>da</strong>ta analysis. Essex, England. Longman<br />
Scientific & Technical.<br />
Bak, P. (1996). How Nature Works: The Science of Self-organized Criticality. New York.<br />
Copernicus.<br />
Ball, G.H.; Hall, D.J. (1970). A clustering technique for summarizing multivariate <strong>da</strong>ta.<br />
Behavioural Science, 12:153-155.<br />
Becker, B. K. (1977) A implantação <strong>da</strong> Ro<strong>do</strong>via Belém-Brasília e o Desenvolvimento<br />
Regional. Rio <strong>de</strong> Janeiro, IGEO/UFRJ.<br />
Becker, B. K. (1985). Fronteira e <strong>Urbanização</strong> Repensa<strong>da</strong>s. Revista Brasileira <strong>de</strong> Geografia, 51<br />
(3-4):357-371.
Becker, B. K. (1995) Un<strong>do</strong>ing Myths: The Amazon - An Urbanized forest. In: Clüsener, G.<br />
M. , Sachs, I., Brazilian Perspectives on sustainable <strong>de</strong>velopment of the Amazon region - Man and<br />
Biosphere Series, Paris, UNESCO e Parthenon Publish Group Limited. 53-89.<br />
Becker, B. K. (1998) A Especifici<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>do</strong> Urbano na Amazônia: Desafios para políticas<br />
Públicas Consequentes. Estu<strong>do</strong> elabora<strong>do</strong> para a Secretaria <strong>de</strong> Coor<strong>de</strong>nação <strong>do</strong>s<br />
Assuntos <strong>da</strong> Amazônia. Legal - Ministério <strong>do</strong> Meio Ambiente. Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
Ministério <strong>do</strong> Meio Ambiente. 60p.<br />
Becker, B. K. (2001a) Mesa Re<strong>do</strong>n<strong>da</strong>: Sensoriamento Remoto e a questão urbana na<br />
Amazônia. In: X Simpósio Brasileiro <strong>de</strong> Sensoriamento Remoto, Foz <strong>do</strong> Iguaçu - PR.<br />
Becker, B. K. (2001b) Revisão <strong>da</strong>s políticas <strong>de</strong> ocupação <strong>da</strong> Amazônia: é possível<br />
i<strong>de</strong>ntificar mo<strong>de</strong>los para projetar cenários? (versão preliminar), Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
Laboratório <strong>de</strong> Gestão <strong>do</strong> Território/UFRJ.<br />
Becker, B. K. with colaboration of Miran<strong>da</strong>, M.P. (1987) O papel <strong>da</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s na ocupação<br />
<strong>da</strong> Amazônia. In: Seminário <strong>de</strong> tecnologias para os assentamentos humanos no trópico<br />
úmi<strong>do</strong>, IPEA/ECLAC, Manaus.<br />
Bitoun, 1980 (1980) <strong>Urbanização</strong> e Dinâmica Obrigatória: Imperatriz, João Lisboa e<br />
Montes Claros, 1970-1980. IPSA.<br />
Brow<strong>de</strong>r, J.O.; Godfrey, B.J. (1997). Rainforest Cities: Urbanization, <strong>de</strong>velopment, and<br />
globalization of the Brazilian Amazon. N.Y. Columbia University Press.<br />
Burgess, J.C. (1993). Timber production, timber tra<strong>de</strong> and tropical <strong>de</strong>forestation. AMBIO,<br />
22 (2-3):136-143.<br />
Burt, E.; Barber, M. (1996). Elementary Statistics for Geographers. New York. The Guilford<br />
Press.<br />
Coy, M. (1989) Relações entre Campo e Ci<strong>da</strong><strong>de</strong> e áreas <strong>de</strong> Colonização Governamental e<br />
Particular. Os Exemplos <strong>de</strong> Rondônia e Norte Mato-Grossense. In: Actas<br />
Latinoamericanas <strong>de</strong> Varsóvia, Regionais, Departamento <strong>da</strong> Escola <strong>de</strong> Geografia e<br />
Estu<strong>do</strong>s, Varsóvia.<br />
Faissol, S. (1979). As gran<strong>de</strong>s ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s brasileiras. Dimensões básicas <strong>de</strong> diferenciação e<br />
relações com o <strong>de</strong>senvolvimento econômico. Um estu<strong>do</strong> <strong>de</strong> análise fatorial. Revista<br />
Brasileira <strong>de</strong> Geografia, 32:87-129.<br />
Frohn, R.C., Dale,V.H., Jimenez, B.D. (1990). Colonization, road <strong>de</strong>velopment and<br />
<strong>de</strong>forestation in the brazilian Amazon Basin of Ron<strong>do</strong>nia. Environmental Sciences Division<br />
Publication No. 3394. ORNL/TM-11470.<br />
Gaile, G.L.; Burt, E. (1980). Directional Statistics. Concepts and Techniques in Mo<strong>de</strong>rn<br />
Geography: GeoBooks. Norwich, England. Institute of British Geographers.<br />
Gash, J.H.C.; Nobre, C.A.; Roberts, J.M.; Victoria, R.L. (Eds.). (1996). Amazonian<br />
Deforestation and Climate. Chichester: John Wiley.<br />
Godfrey, B.J. (1990). Boom towns of the Amazon. Revista Geográfica, 80 (2):<br />
Hervé, T. (1998). Configurações Territoriais na Amazônia. Paris. École Normale Supérieure.<br />
IBAMA, 1997 (1997). PROARCO.<br />
IBGE (2001). Censo Demográfico 2000.:
IBGE, ORSTOM; CREDAL; (1997) SAMBA 2000 CD-ROM,<br />
INPE, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - (1999)<br />
Monitoramento <strong>da</strong> Floresta Amazônica por Satélite 1997-1998 - Separata. São José <strong>do</strong>s<br />
Campos, Instituto Nacional <strong>de</strong> Pesquisas Espaciais.<br />
INPE, Instituto Nacional <strong>de</strong> Pesquisas Espaciais - (2000) Monitoramento <strong>da</strong> Floresta<br />
Amazônica Brasileira por Satélite 1999-2000. São José <strong>do</strong>s Campos, Instituto Nacional<br />
<strong>de</strong> Pesquisas Espaciais.<br />
IPAN, Instituto <strong>de</strong> Pesquisas Ambientais <strong>da</strong> amazônia; ISA - Instituto Sócio Ambiental<br />
(2000) Avança Brasil: Os custos ambientais para a Amazônia. Relatório <strong>do</strong> Projeto<br />
"Cenários futuros para a Amazônia".<br />
Krugman, P.R. (1996). The Self-Organizing Economy. Cambridge, Mass., and Oxford.<br />
Blackwell Publishers.<br />
Lemos, M. B.; Diniz, C.C.; Guerra, L.P.; Moro, S.; Diniz, B.P.C.; Boschi, R.F. (2000) A<br />
nova geografia econômica <strong>do</strong> Brasil: uma proposta <strong>de</strong> regionalização com base nos<br />
pólos econômicos e suas áreas <strong>de</strong> influência. In: IX Seminário sobre a Economia<br />
Mineira, Diamantina.<br />
Macha<strong>do</strong>, L.O. (1979) <strong>Urbanização</strong> e Política <strong>de</strong> Integração no Norte <strong>de</strong> Goiás. Tese <strong>de</strong><br />
Mestra<strong>do</strong> em Geografia, IGEO, UFRJ.<br />
Macha<strong>do</strong>, L.O. (1982). <strong>Urbanização</strong> e Migração na Amazônia Legal: Sugestão para uma<br />
abor<strong>da</strong>gem geopolítica. Boletim Carioca <strong>de</strong> Geografia, 32:<br />
Macha<strong>do</strong>, L.O. (1984) Significa<strong>do</strong> e Configuração <strong>de</strong> uma Fronteira Urbana na Amazônia.<br />
In: IV Congresso Brasileiro <strong>de</strong> Geografia, AGB, São Paulo.<br />
Macha<strong>do</strong>, L.O. (1999). <strong>Urbanização</strong> e Merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> trabalho na Amazônia Brasileira.<br />
Ca<strong>de</strong>rnos IPPUR. (1). 109-138.<br />
Martine, G (1987) Migração e Absorção Populacional no Trópico Úmi<strong>do</strong>. In: Seminário<br />
sobre Tecnologias para os Assentamentos no Trópico Úmi<strong>do</strong>, CEPAL/IPEA, Manaus.<br />
Martine, G.; Peliano, J.C. (1978) Migrantes no merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> trabalho metropolitano,<br />
Brasília, IPEA.<br />
Martine, G; Turchi, L. (1990) A questão <strong>da</strong> <strong>Urbanização</strong> na Amazônia: Reali<strong>da</strong><strong>de</strong> e<br />
Significa<strong>do</strong>. In: Ciência e Tecnologia no <strong>Processo</strong> <strong>de</strong> Desenvolvimento <strong>da</strong> Região Amazônica. Série<br />
Estu<strong>do</strong> para Planejamento em Ciência e Tecnologia, Brasília, SCT/DR; CNPq; CEST.<br />
Matzenetter, J. (1981). O sistema urbano <strong>do</strong> norte e nor<strong>de</strong>ste <strong>do</strong> Brasil. Revista Brasileira <strong>de</strong><br />
Geografia, 43 (1):<br />
Mitschein, T.A.; Miran<strong>da</strong>, H.R., Paraense, M. (1989). A <strong>Urbanização</strong> Selvagem e Proletarização<br />
Passiva. Belém. CESUP.<br />
Monte-Mór, R.L.M. (1998) Health, the Environment and Urban-Rural Relations in<br />
Amazonia. In: Chatterji, M.; Munasinghe, M.; Ganguly, R., Environment and Health in<br />
Developing Countries, New Delhi, India, A.P.H. Pub.Corporation. 149-156.<br />
Myers, N. (1989). Tropical <strong>de</strong>forestation: rates and causes. Lon<strong>do</strong>n. Friends of the Earth.<br />
Oliveira, F.G. (1978) População <strong>de</strong> Baixa Ren<strong>da</strong> na Ci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Rio Branco: Situação<br />
Anterior, Formas <strong>de</strong> Inserção/Redistribuição no Merca<strong>do</strong> <strong>de</strong> Trabalho. Tese <strong>de</strong><br />
Mestra<strong>do</strong>, COPPE, UFRJ.
Parzen, E. (1962). On the estimation of a probability <strong>de</strong>nsity and mo<strong>de</strong>. Annuals of<br />
Mathematical Statistics, 33:1065-1076.<br />
Rodrigues, M <strong>de</strong> L. (1978) Uma forma <strong>de</strong> ocupação espontânea na Amazônia - Povoa<strong>do</strong>s<br />
<strong>do</strong> Trecho Norte <strong>da</strong> Belém-Brasília. IGEO, UFRJ.<br />
Rosemblatt, M. (1956). Remarks on some non-parametric estimates of a <strong>de</strong>nsity function.<br />
Annuals of Mathematical Statistics, 27:832-837.<br />
Santos, M. (1978). Por uma geografia nova. São Paulo. Hucitec.<br />
Santos, M. (1982). Organização <strong>do</strong> Espaço e Organização Social: O Caso <strong>de</strong> Rondônia.<br />
Boletim Carioca <strong>de</strong> Geografia, 32:<br />
Sawyer, D.R. (1987) <strong>Urbanização</strong> <strong>da</strong> Fronteira Agrícola no Brasil. In: <strong>Urbanização</strong> <strong>da</strong><br />
Fronteira, Rio <strong>de</strong> Janeiro, PUBLIPUR/UFRJ.<br />
Torres, H. <strong>da</strong> G. (1991) Migração e o Migrante <strong>de</strong> origem Urbana na Amazônia. In: Léna,<br />
P; Oliveira, A.E., Amazônia: a Fronteira Agrícola Vinte Anos Depois, Belém, SCT/Museu<br />
Paraense Emílio Goeldi.<br />
Whittle, P. (1958). On the smoothing of probability <strong>de</strong>nsity functions. Journal of the Royal<br />
Statistical Society, Series B, 55:549-557.<br />
Zipf, G. K. (1949). Human Behaviour and the principle of least effort. Cambridge, Massachussets.