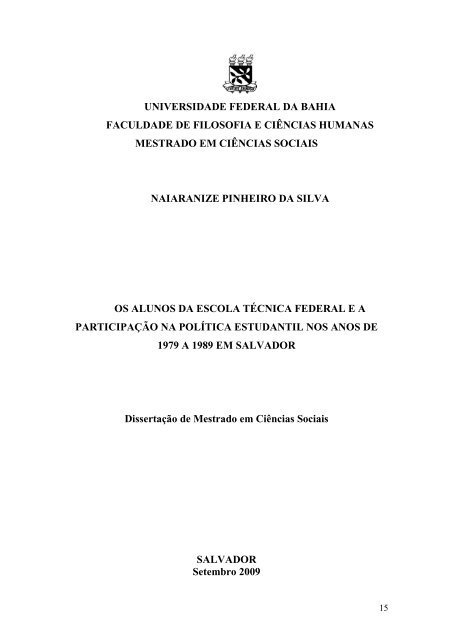Clique aqui para baixar o texto completo - Programa de Pós ...
Clique aqui para baixar o texto completo - Programa de Pós ...
Clique aqui para baixar o texto completo - Programa de Pós ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA<br />
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS<br />
MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS<br />
NAIARANIZE PINHEIRO DA SILVA<br />
OS ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL E A<br />
PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA ESTUDANTIL NOS ANOS DE<br />
1979 A 1989 EM SALVADOR<br />
Dissertação <strong>de</strong> Mestrado em Ciências Sociais<br />
SALVADOR<br />
Setembro 2009<br />
15
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA<br />
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS<br />
MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS<br />
NAIARANIZE PINHEIRO DA SILVA<br />
OS ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL E A<br />
PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA ESTUDANTIL NOS ANOS DE<br />
BANCA EXAMINADORA:<br />
1979 A 1989 EM SALVADOR<br />
Dissertação apresentada ao <strong>Programa</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Pós</strong>-Graduação em Ciências Sociais da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral da Bahia como<br />
requisito <strong>para</strong> a obtenção do título <strong>de</strong><br />
Mestre, sob a orientação do Profº<br />
Doutor Jorge Almeida.<br />
Prof. Dra. Maria Victoria Espiñheira Gonzaléz (UFBA)<br />
Prof. Dr. Antonio Mauricio Freitas Brito (UNEB)<br />
Prof. Dr. Antonio Jorge Almeida (UFBA)<br />
SALVADOR<br />
Setembro 2009<br />
16
Dedicatória<br />
À Ana Julia, Samuel e Salomão.<br />
Dedico este trabalho aos alunos da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da<br />
Bahia que construíram esta história, em especial a todos aqueles<br />
que se dispuseram a narrar suas vivências <strong>para</strong> esta pesquisa...<br />
17
Agra<strong>de</strong>cimentos<br />
Nos últimos momentos <strong>de</strong> escrita venho pensando como tenho que agra<strong>de</strong>cer a<br />
tanta gente nesse percurso. Em primeiro lugar a Deus, pela vida. Agra<strong>de</strong>ço aos meus<br />
pais Ruy e Iara. É lugar comum dizer que sem vocês não estaria <strong>aqui</strong>, mas é verda<strong>de</strong><br />
também. Vocês são muito importantes <strong>para</strong> mim. É só o que posso lhes dizer.<br />
Aos meus filhos Salomão, Samuel e Ana Julia, que toleraram minhas ausências,<br />
meu mal humor, minha impaciência...Sim, estou terminando este trabalho, só não posso<br />
prometer que não haverão outros.<br />
Às minhas irmãs, muito especiais, sem as quais certamente eu não estaria<br />
concluindo <strong>aqui</strong> hoje. A você Naize, que é minha irmã amiga muito especial, a quem<br />
admiro muitíssimo, a Nara pela possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> escapar do mundo acadêmico <strong>para</strong><br />
outros mundos, a Nai<strong>de</strong>, minha baixinha com suas mãos tão maravilhosas a me fazer<br />
carinho, a Nilma minha querida caçulinha e seu companheiro Antonio que se tornou<br />
meu irmão. Às minhas tias Ivone, Iraci e Isabel e seus filhos, todos muito queridos.<br />
Ao meu orientador, por ter me acolhido em seu grupo <strong>de</strong> pesquisa, pelo apoio,<br />
serieda<strong>de</strong> e cuidado <strong>de</strong>dicado na análise do meu trabalho e pela compreensão e<br />
liberda<strong>de</strong> concedida.<br />
Aos professores da <strong>Pós</strong>-Graduação, Professora Victoria Espinheira, Professora<br />
Graça Druck, Professora Mirian Rabelo, Professora Lídia Car<strong>de</strong>l, Professora Iracema<br />
Guimarães, Professora Rosário, Professor Pedro Agostinho e aos que passaram<br />
levemente por nós. De cada um <strong>de</strong> vocês levo um pedaço nas lembranças das aulas e<br />
nas reflexões intelectuais que trarei sempre comigo.<br />
Um agra<strong>de</strong>cimento especial à minha banca <strong>de</strong> qualificação Professor Maurício<br />
Brito e Professora Victoria Espinheira pelas valiosas sugestões e serieda<strong>de</strong> com que<br />
analisaram meu trabalho e por ter aceitado participar da minha <strong>de</strong>fesa.<br />
À secretaria da <strong>Pós</strong> Graduação pela atenção concedida e a Bibliotecária pela<br />
ficha catalográfica.<br />
Às minhas amigas Conceição, Izaura, Maninha, Lauren e Cristina, sempre<br />
solidárias nas lutas por que passei. Sempre ouvi dizer que não se passa incólume por<br />
um mestrado. Sim, e nesses momentos <strong>de</strong>scobrimos como temos o que agra<strong>de</strong>cer!<br />
Aos meus colegas <strong>de</strong> Mestrado: Yang, Lidiane, Ubiraneila, Soraia, Ismar, Maria<br />
das Dores, Antonio Neto e Renata. Vocês são muito especiais e moram no meu coração.<br />
Espero encontrá-los em outros caminhos.<br />
18
Ao IFBAHIA, instituição on<strong>de</strong> trabalho pelos diversos apoios recebidos, em<br />
especial aos meus colegas da Coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> Estudos Sociais: Cláudia, Epaminondas,<br />
Joilson, Sonia, Jorge, Wan<strong>de</strong>rley e Marco Antonio, que me conce<strong>de</strong>ram uma licença a<br />
fim <strong>de</strong> concluir este trabalho e com os quais em diversos momentos pu<strong>de</strong> discutir e<br />
dialogar sobre meus medos e inseguranças.<br />
Ao pessoal da Coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> Comunicação Social Lilia, Carolina, Ana e<br />
Andrea (estagiárias) em especial, que facilitaram meu trabalho me conce<strong>de</strong>ndo acesso<br />
aos documentos em fase <strong>de</strong> organização do Memorial da Escola, bem como pela infraestrutura<br />
concedida e ao Professor Josias, memória viva da história da ETFBA.<br />
Ao IFBAHIA, através da professora Aurina, sua reitora.<br />
Agra<strong>de</strong>ço especialmente a todos os ex-alunos que me conce<strong>de</strong>ram preciosos<br />
momentos <strong>de</strong> sua vida em entrevistas e conversas, por vezes bastante longas, confiando<br />
a mim suas memórias e intimida<strong>de</strong>s do tempo em que viveram a gran<strong>de</strong> aventura <strong>de</strong><br />
participar do movimento estudantil da ETFBA.<br />
Como dito no início, tenho muito que agra<strong>de</strong>cer e certamente <strong>de</strong>ixarei <strong>de</strong> fora<br />
alguém especial, que por ora a memória não trouxe <strong>aqui</strong>. Mas sei que, embora tudo que<br />
<strong>aqui</strong> está posto seja <strong>de</strong> minha inteira responsabilida<strong>de</strong>, certamente tive o apoio e a<br />
colaboração <strong>de</strong> uma centena <strong>de</strong> pessoas muito especiais <strong>para</strong> a realização <strong>de</strong>ste trabalho.<br />
19
Um ponto importante, no estudo da organização prática da<br />
escola unitária, é o que diz respeito à carreira escolar em seus<br />
vários níveis, <strong>de</strong> acordo com a ida<strong>de</strong> e com o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
intelectual e moral dos alunos e com os fins que a própria escola<br />
preten<strong>de</strong> alcançar. A escola unitária ou <strong>de</strong> formação humanista<br />
(entendido o termo humanismo, em sentido amplo e não apenas<br />
no sentido tradicional) ou <strong>de</strong> cultura geral <strong>de</strong>veria se por a tarefa<br />
<strong>de</strong> inserir os jovens na ativida<strong>de</strong> social, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> tê-los levado a<br />
um certo grau <strong>de</strong> maturida<strong>de</strong> e capacida<strong>de</strong>, a criação intelectual<br />
20
e prática e uma certa autonomia na orientação e na iniciativa.<br />
(GRAMSCI, 1982, p.121).<br />
RESUMO<br />
A juventu<strong>de</strong> tem sido objeto <strong>de</strong> muitos estudos na atualida<strong>de</strong>. Contudo, observamos<br />
uma lacuna na compreensão dos grupos juvenis dos anos 80, bem como da participação<br />
<strong>de</strong>stes enquanto estudantes e agentes políticos. Deste modo, nossa intenção é ampliar o<br />
<strong>de</strong>bate acerca da participação juvenil no movimento estudantil baiano, a partir <strong>de</strong> um<br />
estudo <strong>de</strong> caso: “Os Alunos da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral e a participação na política<br />
estudantil nos anos (1979-1989) em Salvador. Reconstruímos a história do movimento<br />
estudantil da ETFBA baseando nosso trabalho no diálogo entre os estudiosos do tema e<br />
as fontes <strong>de</strong>lineadas <strong>para</strong> a pesquisa empírica, pautada na leitura <strong>de</strong> documentos oficiais,<br />
jornais diversos e entrevistas. A ditadura militar impôs intensas restrições ao<br />
movimento estudantil, através <strong>de</strong> atos institucionais arbitrários, que visavam silenciar os<br />
estudantes. Entretanto, os mesmos não se abstiveram totalmente <strong>de</strong> organizar-se<br />
politicamente. Em meados dos anos 70, estes estudantes, que continuaram no país,<br />
passam a buscar outras formas <strong>de</strong> organização com o intuito <strong>de</strong> recriar o movimento.<br />
Neste con<strong>texto</strong>, i<strong>de</strong>ntificamos na Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia um importante<br />
espaço <strong>de</strong> reconstrução e resistência que se amplia na medida em que o regime militar<br />
agoniza. As formas <strong>de</strong> ação, porém, não são inicialmente <strong>de</strong> um enfrentamento direto<br />
aos militares. Usando as armas do próprio regime, os estudantes passam a produzir<br />
através <strong>de</strong> seu órgão legal <strong>de</strong> representação, o Centro Cívico, ativida<strong>de</strong>s culturais,<br />
festivais <strong>de</strong> música e teatro, criando um novo modo <strong>de</strong> falar sobre seus sentimentos e<br />
sobre as insatisfações geradas pelo silenciamento imposto a toda socieda<strong>de</strong>. A<br />
experiência vivenciada no movimento estudantil cria um novo estilo <strong>de</strong> vida <strong>para</strong> estes<br />
jovens, os quais na vida adulta acabam por assumir outros espaços <strong>de</strong> atuação que<br />
extrapolam o ambiente do trabalho industrial <strong>para</strong> o qual foram pre<strong>para</strong>dos, embora da<br />
escola surjam importantes referências ao movimento sindical baiano. Os alunos da<br />
ETFBA assumem um papel <strong>de</strong> vanguarda na reconstrução do movimento estudantil<br />
baiano, integrando-se paulatinamente às <strong>de</strong>mandas mais gerais da socieda<strong>de</strong>,<br />
aglutinadas em torno das tendências políticas que buscam a hegemonia do ME e dos<br />
movimentos sociais, que ganha maior evidência no período. Em meados dos anos 80<br />
com a aprovação da Lei Aldo Arantes, o grêmio estudantil volta a ser o espaço <strong>de</strong><br />
representação autônoma no ambiente escolar, impondo novas <strong>de</strong>mandas e exigindo<br />
novos modos <strong>de</strong> organização do movimento.<br />
21
Palavras chave: movimento estudantil, estudantes secundaristas, juventu<strong>de</strong>.<br />
ABSTRACT<br />
Youth has presently been object of many studies. However, we observe a gap in the<br />
un<strong>de</strong>rstanding of the youthful groups of the 80s, as well as their participation as stu<strong>de</strong>nts<br />
and political agents. Therefore, it is our intention to expand the <strong>de</strong>bate concerning the<br />
participation of the youth in Bahian stu<strong>de</strong>nt movement from a case study: “The Stu<strong>de</strong>nts<br />
from Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral and their Participation in the Stu<strong>de</strong>nt Politics in the years<br />
from 1979 to 1989 in Salvador. We rebuild the history of the stu<strong>de</strong>nt movement at<br />
ETFBA, basing our work in the dialogue between the thinkers of the subject and the<br />
sources <strong>de</strong>lineated for the empirical research, from the reading of official documents,<br />
different newspapers and interviews. The military rule imposed severe restrictions to the<br />
stu<strong>de</strong>nt movement, through arbitrary institutional acts, which aimed at preventing the<br />
stu<strong>de</strong>nts from voicing their opinions. However, the stu<strong>de</strong>nts did not totally abstain to<br />
organize themselves politically. In the mid 70s, these stu<strong>de</strong>nts, who had remained in the<br />
country, started searching for different forms of organization, intending to recreate the<br />
movement. In this context, we un<strong>de</strong>rstand the Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia as an<br />
important place for expanding reconstruction and resistance as the military rule<br />
agonizes. The actions taken, however, are not initially of a direct confrontation to the<br />
military. Using the same tactics of the military rule, the stu<strong>de</strong>nts start, through its legal<br />
agency of representation, the Centro Cívico (Civic Center), to produce cultural<br />
activities, music and theater festivals, creating a new way of expressing feelings and<br />
dissatisfactions towards the silencing imposed to all the society. The experience<br />
gathered in the stu<strong>de</strong>nt movement creates a new lifestyle for these youngsters, who, in<br />
the adult life, end up finding other spaces for acting which surpass the industrial work<br />
environment for which they were prepared, even though important references to the<br />
Bahian syndical movement have arisen from schools. The stu<strong>de</strong>nts of the ETFBA take a<br />
forefront role in the reconstruction of the Bahian stu<strong>de</strong>nt movement, integrating<br />
themselves gradually to the broa<strong>de</strong>st <strong>de</strong>mands of the society, agglutinated around the<br />
political trends which search for the hegemony of stu<strong>de</strong>nt movement and the social<br />
movements, more evi<strong>de</strong>ntly in this period. In the mid 80s, with the approval of the Aldo<br />
Arantes Law, the stu<strong>de</strong>nt union once again becomes the space for in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt<br />
22
epresentation in schools, imposing new requirements and <strong>de</strong>manding new ways of<br />
organizing the movement.<br />
AC<br />
ACM<br />
AI-5<br />
ALCA<br />
ALN<br />
AP<br />
APML<br />
ARENA<br />
BIRD<br />
CCQ<br />
CCSD<br />
CEB<br />
CEFET<br />
CENTEC<br />
CLT<br />
CNBB<br />
CNI<br />
CONCLAT<br />
CPC<br />
CUT<br />
DCE<br />
DE<br />
DRC<br />
DS<br />
EJA<br />
EMC<br />
Key words: stu<strong>de</strong>nt movement, high school stu<strong>de</strong>nts, youth.<br />
ABREVIATURAS E SIGLAS<br />
Ação Católica<br />
Antonio Carlos Magalhães<br />
Ato Institucional Nº 05<br />
Área <strong>de</strong> Livre Comércio das Américas<br />
Aliança Nacional Libertadora<br />
Ação Popular<br />
Ação Popular Marxista – Leninista<br />
Aliança Renovadora Nacional<br />
Banco Internacional <strong>para</strong> Reconstrução e Desenvolvimento<br />
Círculo <strong>de</strong> Controle <strong>de</strong> Qualida<strong>de</strong><br />
Centro Cívico Santos Dumont<br />
Comunida<strong>de</strong> Eclesial <strong>de</strong> Base<br />
Centro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Educação Tecnológica<br />
Centro <strong>de</strong> Educação Tecnológica da Bahia<br />
Consolidação das Leis do Trabalho<br />
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil<br />
Confe<strong>de</strong>ração Nacional da Indústria<br />
Conferência Nacional da Classe Trabalhadora<br />
Centro Popular <strong>de</strong> Cultura<br />
Central Única dos Trabalhadores<br />
Diretório Central dos Estudantes<br />
Departamento <strong>de</strong> Ensino<br />
Diretoria <strong>de</strong> Relações Empresariais<br />
Democracia Socialista<br />
Educação <strong>de</strong> Jovens e adultos<br />
Educação Moral e Cívica<br />
23
ETFBA<br />
FIESP<br />
FMI<br />
IAB<br />
IFBAHIA<br />
LDB<br />
LIBELU<br />
MCC<br />
MDB<br />
ME<br />
MEC<br />
MEP<br />
MNU<br />
MR-8<br />
MS<br />
MST<br />
OAB<br />
OCDR<br />
ORM-POLOP<br />
OSPB<br />
PC DO B<br />
PCB<br />
PDS<br />
PFL<br />
PMDB<br />
POLOP<br />
PP<br />
PRN<br />
PSTU<br />
PT<br />
REDITEC<br />
SEPS<br />
Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia<br />
Fe<strong>de</strong>ração das Indústrias do Estado <strong>de</strong> São Paulo<br />
Fundo Monetário Internacional<br />
Instituto dos Arquitetos<br />
Instituto Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia<br />
Lei <strong>de</strong> Diretrizes e Bases<br />
Liberda<strong>de</strong> e Luta<br />
Movimento contra a carestia<br />
Movimento Democrático Brasileiro<br />
Movimento Estudantil<br />
Ministério da Educação e Cultura<br />
Movimento <strong>de</strong> Emancipação do Proletariado<br />
Movimento Negro Unificado<br />
Movimento Revolucionário 8 <strong>de</strong> outubro<br />
Movimento dos secundaristas<br />
Movimento dos Sem terra<br />
Or<strong>de</strong>m dos advogados do Brasil<br />
Organização Comunista Democracia Revolucionária<br />
Organização Revolucionária Marxista - Política Operária<br />
Organização Social e Política do Brasil<br />
Partido Comunista do Brasil<br />
Partido Comunista Brasileiro<br />
Partido Democrático Social<br />
Partido da Frente Liberal<br />
Partido Movimento Democrático Brasileiro<br />
Política Operária<br />
Partido Popular<br />
Partido da Reconstrução Nacional<br />
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado<br />
Partido dos Trabalhadores<br />
Reunião dos Dirigentes das Instituições Fe<strong>de</strong>rais <strong>de</strong> Educação<br />
Tecnológica<br />
Secretaria <strong>de</strong> Ensino <strong>de</strong> Primeiro e Segundo Graus<br />
24
SNI<br />
SOE<br />
UBES<br />
UDR<br />
UEB<br />
UEE<br />
UFBA<br />
UJS<br />
UMES<br />
UNE<br />
UNEB<br />
UNESCO<br />
UNETI<br />
Serviço Nacional <strong>de</strong> Inteligência<br />
Serviço <strong>de</strong> Orientação Educacional<br />
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas<br />
União Democrática Ruralista<br />
União dos Estudantes Brasileiros<br />
União Estadual dos Estudantes<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral da Bahia<br />
União da Juventu<strong>de</strong> Socialista<br />
União Metropolitana <strong>de</strong> Estudantes Secundaristas<br />
União Nacional dos Estudantes<br />
Universida<strong>de</strong> do Estado da Bahia<br />
Organização das Nações Unidas <strong>para</strong> a Educação, a Ciência e a<br />
Cultura<br />
União Nacional dos Estudantes Técnicos Industriais<br />
25
SUMARIO<br />
I- INTRODUÇÃO<br />
A ETFBA: uma breve visão da escola<br />
Organização da pesquisa:<br />
II- Metodologia: Caminhos percorridos<br />
III- A memória: aspectos subjetivos enlaçados nas narrativas dos<br />
indivíduos.<br />
IV- Documentos<br />
1. CONJUNTURA POLÍTICA: ABERTURA LENTA E GRADUAL<br />
1.1. O processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratização brasileiro: a abertura lenta e<br />
gradual<br />
1.2. Conjuntura política, econômica e social dos anos 1979 a 1989.<br />
1.3. A “abertura” na Bahia<br />
1.4. A conjuntura econômica da Bahia<br />
2. MOVIMENTO ESTUDANTIL E JUVENTUDE COMO<br />
CATEGORIA DE ANÁLISE DAS CIÊNCIAS SOCIAIS.<br />
2.1 Movimento estudantil no Brasil: uma breve reflexão.<br />
2.2 O movimento estudantil secundarista.<br />
2.3 Grêmio, centro cívico e grêmio novamente...<br />
3. ARTE, POLÍTICA E MOVIMENTO ESTUDANTIL: AS<br />
MUITAS FORMAS DE RESISTÊNCIA AO AUTORITARISMO<br />
3.1 O Centro Cívico Santos Dumont<br />
3.2 Como a li<strong>de</strong>rança do movimento estudantil da ETFBA era<br />
constituída?<br />
Página<br />
15<br />
20<br />
22<br />
24<br />
29<br />
31<br />
33<br />
36<br />
38<br />
47<br />
48<br />
54<br />
63<br />
77<br />
80<br />
86<br />
90<br />
93<br />
26
3.3 Os professores e a resistência silenciosa<br />
3.4 O partido na escola<br />
4- A AÇÃO DOS ESTUDANTES: ENFRENTAMENTO,<br />
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E GREVE<br />
4.1 A greve da cantina<br />
4.2 O quebra-quebra dos ônibus em salvador<br />
4.3 O comitê pró-diretas da técnica<br />
4.4 Diretas <strong>para</strong> diretor: conquistas e alianças entre estudantes,<br />
professores e funcionários técnicos administrativos<br />
4.5. A Restauração do Grêmio Estudantil<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
REFERENCIAS<br />
ANEXOS<br />
99<br />
102<br />
110<br />
110<br />
112<br />
116<br />
123<br />
128<br />
136<br />
141<br />
149<br />
27
_____________________________________________________________________<br />
___<br />
Silva, Naiaranize Pinheiro da<br />
S586 Os alunos da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral e a participação na política estudantil<br />
nos anos <strong>de</strong> 1979 a 1989 em Salvador. -- Salvador, 2009.<br />
168 f.: il.<br />
Orientador: Profº. Drº. Jorge Almeida<br />
Dissertação (mestrado) - Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral da Bahia, Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Filosofia e Ciências Humanas, 2009.<br />
1. Movimentos estudantis – Salvador (BA). 2. Juventu<strong>de</strong>. 3. Estudante –<br />
Ativida<strong>de</strong> política. 4. Movimento da juventu<strong>de</strong>. 5. Jovens – Ativida<strong>de</strong>s<br />
políticas – 1979 – 1989. I. Almeida. Jorge. II. Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral da Bahia,<br />
Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Filosofia e Ciências Humanas. III. Título.<br />
28
CDD – 305.23<br />
_____________________________________________________________________<br />
___<br />
INTRODUÇÃO<br />
Este trabalho investiga a participação política dos estudantes da Escola Técnica<br />
Fe<strong>de</strong>ral da Bahia entre os anos <strong>de</strong> 1979 a 1989 em Salvador. Ele se justifica, em primeiro<br />
lugar, <strong>de</strong>vido à existência <strong>de</strong> poucas pesquisas acerca do Movimento Estudantil<br />
Secundarista <strong>de</strong> Salvador neste programa <strong>de</strong> <strong>Pós</strong>-Graduação, prevalecendo na Universida<strong>de</strong><br />
o estudo do movimento estudantil universitário.<br />
Sendo voltado <strong>para</strong> o estudante secundarista, permite ainda que <strong>de</strong> forma parcial,<br />
conhecer o movimento estudantil no âmbito do ensino secundário. Consi<strong>de</strong>ramos ainda que<br />
há uma lacuna acerca dos estudos referentes à escola técnica, a qual tem sua trajetória<br />
permanentemente modificada, sem que tais mudanças sejam objeto <strong>de</strong> estudo,<br />
<strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rando sua importância <strong>para</strong> a educação e a socieda<strong>de</strong> baiana.<br />
O objetivo geral <strong>de</strong>sta pesquisa foi investigar o movimento estudantil da ETFBA<br />
durante os anos <strong>de</strong> 1979 a 1989, período reconhecido <strong>de</strong> transição política do regime militar<br />
<strong>para</strong> governo civil no Brasil. Este objetivo geral <strong>de</strong>bruçou-se em quatro objetivos<br />
específicos que foram perseguidos durante todas as fases do trabalho.<br />
a) I<strong>de</strong>ntificar as principais ban<strong>de</strong>iras <strong>de</strong> luta dos estudantes no período proposto, ou<br />
seja, enten<strong>de</strong>r que <strong>de</strong>mandas mobilizavam os estudantes. Quais suas necessida<strong>de</strong>s, como se<br />
manifestavam frente ao con<strong>texto</strong> <strong>de</strong> regime militar? As <strong>de</strong>mandas eram <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong><br />
questões internas ou refletiam os problemas mais gerais da socieda<strong>de</strong>;<br />
b) Investigar a forma <strong>de</strong> organização <strong>de</strong>finida pelo ME e sua relação com outros<br />
organismos e instituições, significa questionar a existência dos grupos acima citados.<br />
Enten<strong>de</strong>r a relação dos estudantes com outras instituições (partidos, empresa, movimentos<br />
sociais, igreja etc.). Consi<strong>de</strong>rando este período rico <strong>de</strong> realizações da socieda<strong>de</strong> civil<br />
questionamos a existência <strong>de</strong> um envolvimento ou não dos estudantes com tais eventos.<br />
29
c) Conhecer o modo <strong>de</strong> constituir a li<strong>de</strong>rança do ME na ETFBA, ou seja, i<strong>de</strong>ntificar<br />
os mecanismos <strong>de</strong> organização dos estudantes e a forma como as li<strong>de</strong>ranças eram<br />
constituídas. Nossa questão inicial era saber se os lí<strong>de</strong>res eram formados no interior da<br />
instituição ou havia grupos atuando no sentido <strong>de</strong> fomentar estas li<strong>de</strong>ranças.<br />
d) Analisar a conjuntura política, social, cultural e econômica e suas implicações no<br />
movimento estudantil da ETFBA. Preten<strong>de</strong>mos estabelecer uma relação entre esta<br />
conjuntura e o movimento dos estudantes, visto que não compreen<strong>de</strong>mos a escola como um<br />
espaço isolado da socieda<strong>de</strong>, mas sim como um importante mediador <strong>de</strong> diversas questões<br />
que emergem da socieda<strong>de</strong>, ao tempo em que ela atua contraditoriamente conservando e<br />
propondo questões e mudanças. .<br />
A partir da <strong>de</strong>finição dos objetivos acima especificados enten<strong>de</strong>mos que o problema<br />
<strong>de</strong>sta pesquisa refletiu sobre os seguintes questionamentos. Impedido legalmente <strong>de</strong> atuar<br />
nos anos da ditadura militar quais as principais ban<strong>de</strong>iras <strong>de</strong> lutas dos estudantes no período<br />
proposto? Como se organizou o ME da ETFBA entre os anos <strong>de</strong> 1979 a 1989 em meio ao<br />
processo <strong>de</strong> transição política e <strong>de</strong> legalização do grêmio estudantil? Qual a forma <strong>de</strong><br />
organização <strong>de</strong>finida pelo ME e sua relação com outros organismos e instituições? Como se<br />
constituíram as li<strong>de</strong>ranças do ME na ETFBA? Como se <strong>de</strong>finia a conjuntura política, social,<br />
cultural e econômica e quais suas implicações no movimento estudantil da ETFBA?<br />
Assim, a problemática ora explicitada nos permitiu compreen<strong>de</strong>r uma série <strong>de</strong><br />
questões referentes à história da escola, bem como também da própria história da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Salvador nos anos 1980. Entretanto, não sendo este trabalho historiográfico, nos permitiu<br />
ampliar a análise <strong>para</strong> as diversas relações que se fizeram no período em foco, do ponto <strong>de</strong><br />
vista <strong>de</strong> suas relações políticas e conjunturais, enten<strong>de</strong>ndo conjuntura como um movimento<br />
que se distingue dos movimentos orgânicos, ou seja, dos relativamente permanentes.<br />
Para Gramsci, quando estudamos um período histórico, esta distinção entre o<br />
conjuntural e o orgânico é importante na medida em que po<strong>de</strong>mos observar as contradições<br />
existentes na estrutura e as forças políticas que atuam no sentido <strong>de</strong> manter e <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r sua<br />
própria hegemonia, bem como o modo como se organizam as forças antagônicas, seja nas<br />
polêmicas i<strong>de</strong>ológicas, religiosas, filosóficas, políticas, jurídicas etc. Deste modo, buscamos<br />
uma análise que não se <strong>de</strong>tenha apenas nas causas imediatas, mas que veja a socieda<strong>de</strong> em<br />
sua amplitu<strong>de</strong> (GRAMSCI, 2007).<br />
A escolha temporal está inserida em um período bastante diverso que se inicia em<br />
plena ditadura militar e finaliza com a eleição do primeiro presi<strong>de</strong>nte civil em 1989.<br />
Reconhecemos, entretanto, que as décadas anteriores e posteriores (1970 e 1990),<br />
30
apresentam questões políticas, históricas e sociais bastante amplas e nossa opção reflete em<br />
primeiro lugar a relevância do ME por sua riqueza e evidência, <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> um con<strong>texto</strong><br />
<strong>de</strong> organização da socieda<strong>de</strong> civil <strong>de</strong> modo mais geral em toda a socieda<strong>de</strong> brasileira.<br />
Consi<strong>de</strong>ramos ainda o fato <strong>de</strong> a literatura sobre movimento estudantil não haver se<br />
<strong>de</strong>dicado <strong>de</strong> modo mais profundo a análise do movimento estudantil nos anos oitenta. Deste<br />
modo, os anos sessenta e, mais recentemente, episódios específicos como o “Fora Collor”<br />
em 1992 e a atuação dos “caras pintadas”, nacionalmente, e a “Revolta do Buzú” no caso <strong>de</strong><br />
Salvador, em 2003, são objetos <strong>de</strong> um número maior <strong>de</strong> análises em <strong>de</strong>trimento do período<br />
proposto em nosso estudo.<br />
É importante ressaltar que, ao consi<strong>de</strong>rarmos a década <strong>de</strong> 80 como nosso limite<br />
temporal, não <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>ramos as relações entre este período e as décadas que lhe<br />
antece<strong>de</strong>m e suce<strong>de</strong>m, tendo em vista a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> compreensão <strong>de</strong> aspectos<br />
importantes quando se discute a juventu<strong>de</strong> brasileira e o Movimento Estudantil, bem como<br />
a compreensão <strong>de</strong> que o tempo histórico não se restringe a calendários fixos ou<br />
convencionais.<br />
Discordamos <strong>de</strong> certos posicionamentos presentes na socieda<strong>de</strong> atual que tomam o<br />
jovem como apático e não participativo, que parecem dominar o senso comum e mesmo<br />
alguns trabalhos acadêmicos. Apenas nos últimos anos, a década <strong>de</strong> 1980 tem se tornado<br />
objeto <strong>de</strong> pesquisas sobre o estudante e o jovem no que se refere à sua participação política,<br />
evi<strong>de</strong>nciando um novo modo <strong>de</strong> ação e organização tanto nas escolas quanto em outros<br />
espaços <strong>de</strong> participação. Concordamos assim, com a posição <strong>de</strong> Botelho (2006), que aponta<br />
o ressurgimento do movimento estudantil secundarista, o qual assume uma posição <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>staque e indica um papel significativo e mais ativo nos anos oitenta, <strong>de</strong>stacando-se do ME<br />
universitário. De outro lado, achamos pertinente pensar este con<strong>texto</strong> dito <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>smobilização, buscando compreen<strong>de</strong>r como se <strong>de</strong>u tal problemática e se <strong>de</strong> fato é correta<br />
esta afirmação.<br />
A discussão acerca do movimento estudantil (ME) implica em uma reflexão sobre<br />
ser estudante e ser jovem, perpassando o campo das Ciências Sociais, dos estudos da<br />
Sociologia da Juventu<strong>de</strong> e dos Movimentos Sociais, entendido como um locus <strong>de</strong><br />
organização e luta política na disputa por espaços <strong>de</strong> ação e inserção social do jovem na<br />
socieda<strong>de</strong>.<br />
A socieda<strong>de</strong> oci<strong>de</strong>ntal trata o período <strong>de</strong> estudos como um momento <strong>de</strong> formação do<br />
indivíduo, <strong>de</strong> pre<strong>para</strong>ção <strong>para</strong> vida e <strong>para</strong> o mundo do trabalho. Ela é o espaço legítimo no<br />
importante papel <strong>de</strong> socialização dos jovens. Conforme salienta Gramsci, a escola, a igreja e<br />
a imprensa são as maiores organizações culturais <strong>de</strong> um país, em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong> alcançarem um<br />
31
número gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> pessoas (GRAMSCI, 2006). Daí influenciarem uma parcela significativa<br />
da população, fato que vem se ampliando na socieda<strong>de</strong> atual.<br />
Compreen<strong>de</strong>mos ainda que, no caso <strong>de</strong> uma escola profissionalizante, há um<br />
con<strong>texto</strong> específico <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento das lutas estudantis. A Escola Técnica, uma<br />
instituição voltada <strong>para</strong> a formação <strong>de</strong> trabalhadores, é, portanto, um espaço on<strong>de</strong> se<br />
concentra uma parcela da socieda<strong>de</strong> bastante específica: os filhos da classe trabalhadora.<br />
Deste modo, não é <strong>de</strong> todo comparável a uma análise do movimento estudantil<br />
universitário, on<strong>de</strong> encontramos um confronto <strong>de</strong> interesses que origina uma série <strong>de</strong><br />
contradições entre as diversas frações <strong>de</strong> classe ali i<strong>de</strong>ntificadas.<br />
Os estudos sobre o movimento estudantil na universida<strong>de</strong> enfatizam o estudante<br />
universitário como um representante da pequena burguesia 1 . Em uma escola técnica<br />
profissionalizante <strong>de</strong> nível médio se pressupõe a formação dos futuros trabalhadores <strong>para</strong><br />
outras áreas <strong>de</strong> inserção profissional, como as fábricas, indústrias etc.<br />
O estudo do ambiente escolar não nos permite muitos particularismos. É um espaço<br />
dialético, mediado por relações diversas, tanto numa perspectiva estrutural, quanto no<br />
âmbito da superestrutura, em sua i<strong>de</strong>ologia, em sua perspectiva <strong>de</strong> ser ao mesmo tempo<br />
hegemônica e contra-hegemônica, visto que o espaço estudantil é um espaço contraditório,<br />
bastante dinâmico e em permanente transformação.<br />
Consi<strong>de</strong>rando-se ainda as contradições do período estudado, as quais refletem os<br />
<strong>para</strong>doxos <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> em mudança; a escola, neste con<strong>texto</strong>, apresenta em seu<br />
interior tanto os novos intelectuais, responsáveis pela substituição das velhas formas <strong>de</strong><br />
pensar, quanto os que permanecem “cristalizados” conservadores e reacionários,<br />
acreditando ainda po<strong>de</strong>rem se ligar ao passado (GRAMSCI, 2006).<br />
A escola é o ambiente da multiplicida<strong>de</strong>, perpassada por valores, atitu<strong>de</strong>s,<br />
personalida<strong>de</strong>s e problemas que emergem e refletem um con<strong>texto</strong> mais amplo que é a<br />
socieda<strong>de</strong>. Em uma escola técnica profissionalizante, esta multiplicida<strong>de</strong> se faz ainda mais<br />
profunda na medida em que ela converge questões relativas ao mundo do trabalho e das<br />
relações capitalistas voltadas ao capital empresarial em sua expectativa <strong>de</strong> formação <strong>de</strong><br />
mão-<strong>de</strong>-obra (economia, emprego, tecnologia etc.).<br />
A este aspecto soma-se ainda a problemática inerente à educação brasileira <strong>de</strong> modo<br />
mais geral e a discussão em torno da qualida<strong>de</strong> do ensino, da formação do professor, da<br />
1 Embora a autora em questão afirme que em pesquisa realizada na USP em 1963 tenha encontrado menos<br />
alunos representantes <strong>de</strong> famílias “quatrocentas” do que os oriundos da classe média, especialmente os <strong>de</strong><br />
ascendência estrangeira. Neste sentido, o ingresso na universida<strong>de</strong> ten<strong>de</strong>ria a uma busca <strong>de</strong> ascensão sociais<br />
sendo muitos estudantes pertencentes à primeira geração <strong>de</strong> universitários em suas famílias (FORACHI,<br />
1982:53).<br />
32
organização do processo didático, da gestão da escola, entre outras questões que se fazem<br />
presentes na teoria educacional do país.<br />
É espaço <strong>de</strong> expectativas diversas: ascensão social pelo alcance <strong>de</strong> um capital<br />
cultural reconhecido socialmente, que lhe permite acesso tanto ao mundo do trabalho como<br />
ao ensino superior 2 . Espaço <strong>de</strong> emancipação ou reprodução <strong>de</strong> relações sociais inerentes a<br />
estrutura <strong>de</strong> classes e observada nos <strong>texto</strong>s da sociologia da educação, a partir da concepção<br />
da escola, como reprodutora da estrutura social vigente (ALTHUSSER, 2001) e<br />
(BOURDIEU, 2004), formadora orgânica hegemônica das classes dirigentes, mas que traz<br />
em seu cerne a existência <strong>de</strong> uma parcela atuante que se opõe criticamente aos postulados<br />
hegemônicos culturalmente postos pelos grupos dirigentes.<br />
É o estudo <strong>de</strong> um espaço em crise. Crise bem explicitada na dicotomia analisada por<br />
Mèszaros (2005) ao pensar uma “educação <strong>para</strong> além do capital”, tão pertinente à reflexão<br />
<strong>de</strong>ste espaço <strong>de</strong> formação técnica profissional. Uma escola i<strong>de</strong>ologicamente concebida em<br />
sua gênese como formadora das classes subalternas, mas que, <strong>de</strong> certa forma subverte ou<br />
converge <strong>para</strong> um caminho mais amplo que o <strong>de</strong> mera produtora <strong>de</strong> força <strong>de</strong> trabalho. Que<br />
busca <strong>de</strong> algum modo aproximar-se <strong>de</strong> uma concepção <strong>de</strong> homem humanizado, que se autoproduz<br />
pelo trabalho, na medida em que compreen<strong>de</strong> as contradições inerentes a uma<br />
socieda<strong>de</strong> que nem do ponto <strong>de</strong> vista prático, nem do ponto <strong>de</strong> vista teórico metodológico,<br />
consegue romper com o <strong>para</strong>digma da exploração do homem pelo homem.<br />
Esta diversida<strong>de</strong> por nós <strong>de</strong>scrita é vasta também do ponto <strong>de</strong> vista do estudante.<br />
São meninos e meninas, jovens oriundos <strong>de</strong> diversos bairros, com culturas, vínculos,<br />
representações diferenciadas do mundo e da vida. Provenientes do interior, das diversas<br />
regiões do estado e, portanto, ainda mais diversos em sua visão <strong>de</strong> mundo, suas relações<br />
familiares, sua condição econômica. Os <strong>de</strong> fora, os que habitam as casas dos parentes, as<br />
residências estudantis, as repúblicas e pensões ao redor do Barbalho 3 .<br />
Diversida<strong>de</strong> que se mostra mais objetiva do ponto <strong>de</strong> vista econômico. Sendo que<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> os anos 1970 é observada sua evidência cada vez mais acentuada. Para os alunos, um<br />
dos primeiros elementos que indica a varieda<strong>de</strong>, a diferença entre esta escola e as <strong>de</strong>mais<br />
está na percepção <strong>de</strong> uma convivência mais variada, distante do mo<strong>de</strong>lo da escola <strong>de</strong> bairro,<br />
2 Des<strong>de</strong> os anos 1970, Cunha (1973), já i<strong>de</strong>ntificava a presença <strong>de</strong> um número consi<strong>de</strong>rável <strong>de</strong> alunos nas<br />
escolas técnicas do país que pretendiam ingressar na universida<strong>de</strong>, sendo favorecidos pela excelente qualida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stas escolas.<br />
3 A ETFBA localiza-se <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o ano <strong>de</strong> 1926 no bairro do Barbalho, em Salvador. É um bairro relativamente<br />
central, fazendo divisa porém com vários bairros populares como a Liberda<strong>de</strong>, a Lapinha, e o IAPI. Além <strong>de</strong><br />
possuir também o ICEIA (Instituto Central <strong>de</strong> Educação Isaias Alves) tradicional colégio público da cida<strong>de</strong>,<br />
on<strong>de</strong>, em épocas passadas eram formadas as normalistas, mas que no período estudado já possuía o ensino<br />
secundário ginasial, sendo muitos alunos da ETFBA dali oriundos.<br />
33
ou da escola que aproxima os iguais por renda, por condição social ou por localização<br />
geográfica.<br />
De outro lado, é um espaço <strong>de</strong> afastamento do ambiente familiar. Seja pela<br />
exigência do estudo permanente, do qual os passos <strong>de</strong> física 4 são a memória mais efetiva do<br />
grau <strong>de</strong> dificulda<strong>de</strong> e exigência a que estavam submetidos os estudantes, como na sua<br />
inclusão no conteúdo das discussões pedagógicas e administrativas, tornando-os<br />
responsáveis por resolver problemas do cotidiano, sem necessariamente recorrer à presença<br />
dos pais.<br />
O mundo do trabalho, vivenciado na sirene, no guarda-pó, no crachá, nos<br />
laboratórios, muitas vezes montados pelas empresas, a fim <strong>de</strong> qualificar ali <strong>de</strong>ntro os futuros<br />
funcionários. A possibilida<strong>de</strong> dada pelo ensino técnico <strong>de</strong> apreen<strong>de</strong>r todo o processo<br />
produtivo, fugindo da dimensão taylorista-fordista da especialização e permitindo o acesso<br />
ao todo e às partes. Este fenômeno característico das escolas técnicas é acentuado em<br />
virtu<strong>de</strong> do lugar ocupado pelo técnico no interior do processo produtivo. Embora não seja<br />
um graduado, sua posição também não se confun<strong>de</strong> com a do operário sem qualificação 5 . A<br />
nosso ver este é um dos elementos que impulsiona o egresso a avançar nos estudos até a<br />
universida<strong>de</strong>, passando do papel <strong>de</strong> execução <strong>para</strong> o <strong>de</strong> concepção do processo produtivo.<br />
Traz ainda como conseqüência a insatisfação com o trabalho fabril e a luta por<br />
melhores condições <strong>de</strong> vida e trabalho, seja através <strong>de</strong> uma prática coletivista, crítica da<br />
socieda<strong>de</strong> atual, manifesta, por exemplo, na atuação sindical, seja numa prática mais<br />
individualista, característica das socieda<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnas, <strong>de</strong> busca da melhoria individual pelo<br />
mérito pessoal, que dá ao egresso a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> “vencer na vida” e se consubstancia na<br />
teoria do Capital Humano, <strong>de</strong>senvolvida na escola <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os anos 1970, conforme<br />
i<strong>de</strong>ntificado em estudo <strong>de</strong> Vera Fartes (1994).<br />
Estas reflexões iniciais <strong>de</strong>correm da percepção do imenso trabalho a que fomos<br />
lançados no <strong>de</strong>correr da pesquisa que ora apresentamos. A proposta <strong>de</strong> estudar o movimento<br />
estudantil na transição ditadura militar/governo civil torna o tema também abrangente, na<br />
medida em que o cenário se transforma continuamente e as condições, as <strong>de</strong>mandas e a<br />
forma <strong>de</strong> organização do movimento acompanham estas transformações mais gerais da<br />
socieda<strong>de</strong> brasileira.<br />
4 No primeiro período do nosso estudo não havia aulas <strong>de</strong> Física, mas etapas que os alunos <strong>de</strong>viam cumprir<br />
através <strong>de</strong> avaliações, <strong>para</strong> as quais estudava in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente. A partir <strong>de</strong> 1986, com a eleição do novo<br />
diretor, legitimado pela comunida<strong>de</strong>, os estudantes garantem o fim dos passos <strong>de</strong> física.<br />
5 “(...) técnicos <strong>de</strong> nível médio <strong>de</strong>sempenham funções peculiares nas indústrias <strong>de</strong> processo: operar, re<strong>para</strong>r e<br />
monitorar o equipamento e o processo produtivo. (...) longe <strong>de</strong> constituir um outro ofício operário, a ativida<strong>de</strong><br />
do operador é <strong>de</strong>finida como uma profissão: ativida<strong>de</strong> permanente <strong>de</strong> caráter técnico e mental, dotada <strong>de</strong> uma<br />
carreira, ou seja, <strong>de</strong> uma gradação <strong>de</strong> funções e cargos que só po<strong>de</strong>m ser exercidos pelos titulares do diploma<br />
(AGIER e GUIMARAES, 1995, p.42).<br />
34
A seguir, faremos um breve relato da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia e suas<br />
principais características e mudanças.<br />
A ETFBA: uma breve visão da escola<br />
A trajetória da Escola Técnica sofreu intensas transformações não apenas em sua<br />
nomenclatura como na filosofia e missão. Constituiu-se como a principal escola <strong>de</strong> ensino<br />
técnico profissionalizante do Estado da Bahia. Enquanto ETFBA oferecia basicamente o<br />
ensino técnico profissionalizante, e, atualmente, já transformada em IFBAHIA, conta com<br />
diversos cursos <strong>de</strong> nível médio, nível técnico profissionalizante (dividido nas modalida<strong>de</strong>s<br />
Médio Integrado ao Tecnico e Subseqüente), EJA (Educação <strong>de</strong> Jovens e Adultos), curso<br />
superior tecnológico em nível <strong>de</strong> Graduação e <strong>Pós</strong>-Graduação. Tendo como característica<br />
marcante e singular oferecer ao mesmo tempo educação tecnológica em todos os níveis.<br />
Sua história se inicia em 1910 como “Escola <strong>de</strong> Aprendizes e Artífices da Bahia”,<br />
situada na Avenida Sete, on<strong>de</strong> oferecia cursos nas oficinas <strong>de</strong> alfaiataria, ferraria, sapataria<br />
e marcenaria. Estas escolas <strong>de</strong> aprendizes e artífices foram concebidas no governo do<br />
Presi<strong>de</strong>nte Nilo Peçanha com objetivos mais voltados a retirar da rua as crianças<br />
marginalizadas, ou que po<strong>de</strong>riam “cair na marginalida<strong>de</strong>” como era o discurso da época.<br />
Em acervo fotográfico existente na escola, originário das décadas <strong>de</strong> 1930 e 1940,<br />
quando ainda era conhecida como Escola <strong>de</strong> Aprendizes Artífices ou posteriormente, Liceu<br />
<strong>de</strong> Artes e Ofícios, fica evi<strong>de</strong>nte a presença marcante da clientela constituída <strong>de</strong> meninos<br />
negros, em que pese a maioria dos professores i<strong>de</strong>ntificados nas fotografias sejam brancos.<br />
Esta percepção nos leva a supor que esta escola, no caso da Bahia, atendia especialmente às<br />
crianças negras.<br />
Nos documentos da época se atribuía a estes alunos a pecha <strong>de</strong> “<strong>de</strong>svalidos da sorte”<br />
entre outros atributos que <strong>de</strong>notam a condição social e o estigma a que estavam submetidos.<br />
Há mesmo a afirmação que não se preten<strong>de</strong> formar doutores, mas sim possibilitar que<br />
possam penetrar no mundo do trabalho com dignida<strong>de</strong> (CUNHA, 1973).<br />
À medida que a socieda<strong>de</strong> brasileira caminha <strong>para</strong> um processo <strong>de</strong> industrialização,<br />
a escola vai sofrendo importantes modificações, inclusive na clientela. O que gera a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> exigir, por exemplo, o uso <strong>de</strong> farda obrigatória a todos os alunos a fim <strong>de</strong><br />
evitar a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> das roupas entre os mesmos, indicativo da presença <strong>de</strong> jovens <strong>de</strong><br />
diferentes classes sociais, embora tal <strong>de</strong>terminação indique também a organização do<br />
mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> homogeneização que é aplicado <strong>de</strong> forma contun<strong>de</strong>nte durante a década <strong>de</strong> 1970,<br />
a fim <strong>de</strong> moldar os alunos <strong>para</strong> a vivência fabril.<br />
35
A partir dos documentos levantados nos arquivo da instituição e <strong>de</strong> entrevistas com<br />
professores, concluímos que é a partir dos anos 40 que a presença feminina vai ser<br />
introduzida na escola. Entretanto, não era permitido às alunas ingressar em todos os cursos.<br />
Inicialmente elas só podiam estudar Enca<strong>de</strong>rnação, Fototécnica, Tipografia e Pautação 6 .<br />
A escola foi transferida <strong>para</strong> o bairro do Barbalho, sua atual se<strong>de</strong>, em 1926, on<strong>de</strong><br />
passou a contar com oficinas <strong>de</strong> Tipografia, Pautação, Enca<strong>de</strong>rnação e Fototécnica, na seção<br />
<strong>de</strong> artes gráficas. Em 1937 passou a ser chamado Liceu Industrial <strong>de</strong> Salvador. Em 1942<br />
recebe a <strong>de</strong>nominação <strong>de</strong> Escola Técnica <strong>de</strong> Salvador, conforme a Lei 4.127/42 que<br />
estabelecia as bases da organização da re<strong>de</strong> fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> estabelecimentos <strong>de</strong> ensino industrial.<br />
Nesse período se implantaram seus primeiros cursos técnicos.<br />
Em 1959 passou a ser uma autarquia educacional e com a Lei Nº. 4.759/65 foi<br />
<strong>de</strong>nominada Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia, ETFBA. Assim permaneceu até 1993,<br />
quando é unida ao CENTEC e se constitui o CEFET (Centro Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Educação<br />
Tecnológica da Bahia) por força da Lei Nº. 8.711/93, dando-lhe uma nova dimensão<br />
administrativa, institucional e acadêmica.<br />
Em 1996, a Lei Nº 9.394 <strong>de</strong> 20/12/1996, conhecida como a nova LDB (Lei <strong>de</strong><br />
Diretrizes e bases da Educação Nacional), promove outras mudanças significativas na<br />
educação tecnológica profissional e se introduz o Ensino Médio <strong>de</strong>svinculado <strong>de</strong> uma<br />
formação técnica profissionalizante. Esta lei, entretanto, foi novamente reformulada, tendo<br />
como conseqüência o fim do Ensino Médio exclusivo no âmbito do CEFET, e a introdução<br />
<strong>de</strong> um novo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Ensino Médio integrado ao Técnico, reafirmando sua vocação<br />
técnico-profissionalizante.<br />
Em 29 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2008 os CEFETs foram transformados em Institutos<br />
Fe<strong>de</strong>rais <strong>de</strong> Educação, Ciência e Tecnologia, sendo agora IFBAHIA (Instituto Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia). Esta mudança coinci<strong>de</strong> com um processo <strong>de</strong><br />
expansão do ensino técnico no país <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> políticas <strong>de</strong> estado <strong>de</strong>senvolvidas no<br />
governo do atual Presi<strong>de</strong>nte da República, Luis Inácio Lula da Silva. Sua estrutura<br />
organizacional passa a ser constituída <strong>de</strong> uma reitoria, assumindo uma feição cada vez mais<br />
próxima das instituições fe<strong>de</strong>rais <strong>de</strong> ensino superior, embora continue oferecendo cursos <strong>de</strong><br />
nível médio profissionalizante.<br />
Organização da pesquisa<br />
6 A observação dos álbuns fotográficos e <strong>de</strong>mais documentos <strong>de</strong>ste período foi feita em companhia do<br />
professor Josias que ingressou na escola na década <strong>de</strong> 40 e fez o reconhecimento do material.<br />
36
O acesso aos documentos e entrevistas a partir <strong>de</strong> uma pesquisa exploratória, ainda<br />
na fase inicial do mestrado, <strong>de</strong>monstrou a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> reformulação do objeto a fim <strong>de</strong><br />
a<strong>de</strong>quar condições <strong>de</strong> tempo. Sendo assim, a dissertação foi organizada em quatro capítulos<br />
<strong>de</strong> modo a orientar o trabalho da melhor forma possível.<br />
Ainda na introdução, organizamos uma explanação apresentando nosso campo <strong>de</strong><br />
pesquisa, bem como uma discussão acerca da metodologia <strong>de</strong>finida <strong>para</strong> o estudo, dos<br />
caminhos metodológicos, da utilização <strong>de</strong> referências extraídas <strong>de</strong> outras áreas <strong>de</strong> estudo<br />
como a História e a Antropologia a fim <strong>de</strong> fornecer um material mais sólido na análise dos<br />
documentos e das entrevistas. Acreditamos que a fronteira entre a Sociologia, a<br />
Antropologia, a Ciência Política e a História por vezes mostra-se muito tênue em um estudo<br />
que se <strong>de</strong>dica a discutir questões das Ciências Sociais fundadas em um espaço histórico,<br />
constituído por i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s, con<strong>texto</strong>s culturais e econômicos diversos e ricos em suas<br />
nuanças.<br />
No primeiro capítulo, “Conjuntura Política: Abertura lenta e gradual e<br />
<strong>de</strong>mocratização no Brasil” nos <strong>de</strong>dicamos, como o título sugere, a indicar os principais<br />
acontecimentos, os temas em <strong>de</strong>bate no âmbito da Ciência Política, bem como as questões<br />
relativas ao cenário baiano em que estava imerso o movimento estudantil. Assim, o<br />
subdividimos em cinco partes a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar um aspecto principal <strong>de</strong> cada tema. A<br />
conjuntura política, econômica e social nos dá uma visão ampla do período do ponto vista<br />
mais geral, em sua dimensão nacional. Do mesmo modo, analisamos alguns aspectos<br />
relativos ao processo <strong>de</strong> “abertura política”, como se <strong>de</strong>u a chamada “transição” e uma<br />
breve digressão das contradições inerentes a este processo, chegando até a “Nova<br />
República” como se convencionou <strong>de</strong>nominar o primeiro governo civil pós-ditadura.<br />
Ao discutir “a abertura” na Bahia elencamos alguns episódios ocorridos e que estão<br />
relacionados à reorganização da socieda<strong>de</strong> civil no estado e da sua relação direta com a<br />
reorganização do movimento estudantil baiano, em especial o movimento dos secundaristas.<br />
Em seguida discutimos rapidamente a “Conjuntura Econômica da Bahia” <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os anos<br />
setenta e a importância do processo <strong>de</strong> industrialização no interior da escola técnica e do<br />
ME.<br />
No segundo capítulo estabelecemos uma discussão acerca do significado ser jovem<br />
na socieda<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rna, e <strong>de</strong> como a juventu<strong>de</strong> transforma-se em categoria <strong>de</strong> estudo das<br />
Ciências Sociais. Esta discussão volta-se ainda <strong>para</strong> a reflexão do jovem estudante e do<br />
movimento estudantil no âmbito <strong>de</strong> estudo da política. Pensamos a relação entre ser<br />
estudante e fazer política estudantil em uma busca <strong>de</strong> reconstrução da trajetória do<br />
movimento no país. Assim, abordamos o percurso histórico partindo do referencial<br />
37
ibliográfico que se <strong>de</strong>dicou ao estudo dos estudantes no período <strong>de</strong> ocorrência do golpe<br />
militar e na sua ação <strong>de</strong> <strong>de</strong>smobilização, bem como nas formas <strong>de</strong> enfrentamento<br />
encontradas por estes, buscando i<strong>de</strong>ntificar as relações que se estabeleceram entre eles e as<br />
<strong>de</strong>mais instituições da socieda<strong>de</strong> civil.<br />
A presença <strong>de</strong> organizações partidárias é analisada consi<strong>de</strong>rando as diversas<br />
tendências que se fizeram presentes no movimento estudantil e sua atuação no sentido <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>marcar os espaços <strong>de</strong> luta e a introdução <strong>de</strong> novas ban<strong>de</strong>iras, bem como as divergências<br />
que eram produzidas a partir <strong>de</strong>stas diferentes perspectivas políticas.<br />
O terceiro capítulo passa a relatar os resultados <strong>de</strong> nossa pesquisa <strong>de</strong> campo. Arte e<br />
Movimento Estudantil no âmbito do Centro Cívico, como um espaço <strong>de</strong> construção da<br />
resistência à ditadura. Nele são analisados os documentos oficiais que indicam a ETFBA<br />
como um lócus <strong>de</strong> organização estudantil, ainda que, em um primeiro momento esta<br />
movimentação não seja evi<strong>de</strong>nciada fora dos muros da instituição. As ações internas <strong>de</strong> luta<br />
pela solução <strong>de</strong> problemas do cotidiano, a rebeldia e a insatisfação com o regime<br />
camufladas nos poemas e no teatro e a Semana da Cultura como importante espaço <strong>de</strong><br />
expressão <strong>de</strong>sta insatisfação com o con<strong>texto</strong> político nacional.<br />
No quarto capítulo, analisamos as ações <strong>de</strong> enfrentamento entre os discentes e a<br />
instituição. Para tanto, partimos da contraposição entre as entrevistas e os documentos<br />
oficiais, on<strong>de</strong> são i<strong>de</strong>ntificados os embates entre os estudantes e a direção da escola, cada<br />
vez mais constantes a partir do início dos anos 1980, em <strong>de</strong>corrência do alargamento das<br />
possibilida<strong>de</strong>s geradas pela “abertura política”. Ação imersa pela contradição evi<strong>de</strong>nte no<br />
con<strong>texto</strong> político daquele momento, on<strong>de</strong> as “sístoles” e “diástoles” na linguagem do<br />
General Golbery, indicavam que as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia ainda eram incertas, e que<br />
a escola, muitas vezes representa os setores mais atrasados quanto à reformulação <strong>de</strong> suas<br />
legislações.<br />
O primeiro governo civil encontra a escola mobilizada e em busca <strong>de</strong><br />
transformações mais radicais que se evi<strong>de</strong>nciam no “Fora Ruy” 7 e nos movimentos <strong>de</strong><br />
crítica à política <strong>de</strong> estado que caminha no sentido do sucateamento da instituição. Os<br />
estudantes assumem papel <strong>de</strong> protagonistas em diversas ações <strong>de</strong> protesto e manifestações<br />
voltadas à garantia da educação <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> oferecida pela ETFBA, bem como expressam<br />
críticas à política econômica <strong>de</strong> arrocho salarial do governo Sarney.<br />
Do ponto <strong>de</strong> vista mais geral, o ME enfrenta um período <strong>de</strong> fortes polarizações<br />
político-i<strong>de</strong>ológicas, que refletem internamente no espaço construído no grêmio estudantil<br />
recém conquistado. As disputas internas e externas do movimento estudantil pela direção do<br />
7 Este movimento ocorrido em 1986, é <strong>de</strong>senvolvido no capitulo 4.<br />
38
movimento secundarista municipal e estadual, confundindo-se, muitas vezes, com as lutas<br />
dos partidos políticos.<br />
Metodologia: Os Caminhos Percorridos<br />
Os principais “instrumentos” do progresso científico são <strong>de</strong> natureza intelectual<br />
(bem como política), metodológica; e Engels, com justeza escreveu que “os<br />
instrumentos intelectuais” não nasceram do nada, não são inatos no homem, mas<br />
são adquiridos e se <strong>de</strong>senvolveram historicamente (GRAMSCI, 2006, p. 139).<br />
A pesquisa realizada contou com um material variado. Muitas pessoas contribuíram<br />
na coleta dos dados. Nosso estudo coincidiu com a organização do memorial comemorativo<br />
do centenário do ensino técnico no país. Está havendo um trabalho <strong>de</strong> reconstrução da<br />
memória <strong>de</strong>stas escolas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sua fundação, quando eram Escolas <strong>de</strong> Aprendizes e<br />
Artífices. Deste modo, pu<strong>de</strong>mos contar com um importante apoio da escola, através<br />
especialmente da Comunicação Social, responsável pela organização do memorial e do<br />
setor áudio-visual que viabilizou a filmagem <strong>de</strong> algumas entrevistas realizadas.<br />
Este material é composto <strong>de</strong> atas, portarias, documentos diversos, recortes <strong>de</strong><br />
jornais, publicações oficiais da escola, fotografias, ví<strong>de</strong>os, panfletos e propagandas das<br />
campanhas <strong>para</strong> o grêmio e também <strong>para</strong> direção da escola, além <strong>de</strong> telegramas e outros<br />
tipos <strong>de</strong> documentos como os regimentos escolares, documentos do MEC e das legislações<br />
educacionais em vigor, etc.<br />
Por estar o material do arquivo ainda em fase <strong>de</strong> organização enfrentamos algumas<br />
dificulda<strong>de</strong>s. A primeira dificulda<strong>de</strong> foi selecionar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um quadro tão diverso e ainda<br />
sem um arquivamento a<strong>de</strong>quado quais os documentos que serviriam <strong>para</strong> nossa pesquisa.<br />
Em segundo lugar, foi necessário um forte controle <strong>para</strong> não fugir do interesse inicial tendo<br />
em vista a amplitu<strong>de</strong> das fontes existentes. A maior parte <strong>de</strong>sta documentação ainda está<br />
sendo organizada, sendo necessário um trabalho <strong>de</strong> garimpagem <strong>para</strong> o qual o auxílio das<br />
estagiárias <strong>de</strong> história e arquivologia foram <strong>de</strong> fundamental importância.<br />
Dentre os documentos inicialmente encontrados e i<strong>de</strong>ntificados, as atas das reuniões<br />
do Conselho Técnico Consultivo e das Reuniões dos Órgãos Superiores, forneceram um<br />
direcionamento <strong>para</strong> a pesquisa em dois aspectos: em primeiro lugar na <strong>de</strong>finição do<br />
problema da pesquisa uma vez que o mesmo foi reelaborado a partir dos fatos narrados nos<br />
documentos, os quais indicaram os eventos <strong>de</strong> maior enfrentamento entre escola e alunos,<br />
especialmente durante o exercício do centro cívico, bem como o con<strong>texto</strong> da escola nas suas<br />
relações com a socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> modo geral, evi<strong>de</strong>nciando a conjuntura social em que a mesma<br />
estava imersa.<br />
39
Num segundo momento, as atas e <strong>de</strong>mais documentos <strong>de</strong>monstraram a forma como<br />
os espaços <strong>de</strong> ação dos alunos eram construídos no cotidiano da escola, segundo a ótica da<br />
direção. A organização do centro cívico, os embates entre direção e alunos, além da<br />
inserção da escola no con<strong>texto</strong> da economia local, observados através das referências nas<br />
reuniões (convênios, associações presentes na instituição, o contato da escola com o mundo<br />
exterior, com o governo, com as empresas), e a visão <strong>de</strong> educação profissional vigente. Os<br />
problemas do dia a dia bem como a i<strong>de</strong>ologia presente na instituição e observada no<br />
discurso dos seus dirigentes.<br />
É necessário enfatizar que não utilizamos a análise <strong>de</strong> discurso enquanto método <strong>de</strong><br />
pesquisa. Enten<strong>de</strong>mos, porém, que no campo das Ciências Sociais a fala do atores não se<br />
faz isolada <strong>de</strong> uma perspectiva i<strong>de</strong>ológica, e das perspectivas contidas na percepção que<br />
<strong>de</strong>terminado sujeito possui do mundo em que vive. O lugar que ocupa na socieda<strong>de</strong>, suas<br />
representações sociais, sua posição <strong>de</strong> classe, etc. Muitas vezes a linguagem é expressa<br />
através <strong>de</strong> metáforas e seus significados e conteúdos não são <strong>de</strong> simples compreensão<br />
(GRAMSCI, 2006).<br />
Contraditoriamente, o período tido como <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia, após a conquista da<br />
aprovação da lista tríplice com consulta à comunida<strong>de</strong> na escolha do diretor, possui uma<br />
gran<strong>de</strong> lacuna quanto aos documentos oficiais. Até o presente momento estas atas <strong>de</strong> 1986 a<br />
1989 não foram localizadas. Isto gerou algumas dificulda<strong>de</strong>s <strong>para</strong> nossa pesquisa, sendo<br />
esta fase conduzida em uma direção um pouco diferente da anterior, que versa sobre o<br />
período <strong>de</strong> 1979 a 1986.<br />
A partir <strong>de</strong> 1986, entretanto, outras fontes se tornaram mais abundantes: os<br />
documentos produzidos pelos próprios estudantes, sua presença nos jornais, bem como<br />
publicações institucionais impressas, documentos entre o grêmio estudantil e a direção da<br />
escola. Cartas, documentos <strong>de</strong> apoio aos estudantes, <strong>de</strong> repúdio à direção da escola por<br />
ações consi<strong>de</strong>radas arbitrárias e autoritárias pelos discentes e por organismos da socieda<strong>de</strong><br />
civil, etc. que permitiram uma reconstituição histórica da escola naquele período.<br />
Outra importante fonte <strong>de</strong> informação e reconstituição do movimento estudantil da<br />
ETFBA foram as entrevistas. Recorrer à oralida<strong>de</strong> nos permitiu assim reconstruir o<br />
movimento e suas principais características.<br />
As atas e os panfletos <strong>de</strong> propaganda, bem como conversas informais com<br />
professores da escola nos <strong>de</strong>ram o direcionamento inicial <strong>para</strong> escolha dos entrevistados 8 . A<br />
Internet foi extremamente útil na tarefa <strong>de</strong> localização dos mesmos. Os primeiros nomes<br />
8 Em anexo disponibilizamos a lista com os entrevistados, bem como o roteiro da entrevista.<br />
40
i<strong>de</strong>ntificados na leitura das atas foram lançados no Google e seus e-mails 9 encontrados com<br />
facilida<strong>de</strong>. O fato <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> parte dos lí<strong>de</strong>res do ME da ETFBA serem atualmente<br />
professores universitários, ou ocuparem posições <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque em órgãos governamentais,<br />
tornando-se, portanto, pessoas públicas na re<strong>de</strong> <strong>de</strong> computadores, foi fator <strong>de</strong>cisivo no<br />
acesso aos mesmos.<br />
O Orkut 10 também auxiliou. Há várias comunida<strong>de</strong>s da ETFBA e alguns estudantes<br />
pu<strong>de</strong>ram ser contatados através <strong>de</strong>sta re<strong>de</strong> <strong>de</strong> relacionamentos. No Orkut é possível<br />
i<strong>de</strong>ntificar os alunos pelo curso, às vezes pelo ano, além <strong>de</strong> saber inclusive qual sua<br />
ocupação atual. O Orkut permitiu ainda i<strong>de</strong>ntificar comunida<strong>de</strong>s on<strong>de</strong> os ex-alunos relatam<br />
experiências vividas na escola, memórias dos professores e eventos marcantes.<br />
A partir <strong>de</strong>stas localizações iniciais, os informantes indicavam os próximos da lista<br />
ou nos auxiliavam na localização dos mesmos por manterem laços <strong>de</strong> amiza<strong>de</strong> com seus<br />
antigos colegas <strong>de</strong> escola. A maior parte dos entrevistados se mostrou solícito e saudoso ao<br />
participar das entrevistas. Não havia, mesmo entre os que conviveram com a escola no<br />
período da ditadura, nenhum tipo <strong>de</strong> atitu<strong>de</strong> que <strong>de</strong>monstrasse algum trauma,<br />
constrangimento ou infelicida<strong>de</strong>. Suas experiências foram revividas com alegria e em geral<br />
buscamos evocar suas memórias da forma mais livre possível a fim <strong>de</strong> que os mesmos<br />
relatassem suas experiências estudantis na ETFBA. Apenas um se mostrou mais crítico em<br />
relação à escola e seus métodos <strong>de</strong> ensino, bem como acerca das relações <strong>de</strong> classe<br />
<strong>de</strong>correntes, segundo ele, da presença marcante da classe média na instituição.<br />
Poucos, no entanto, guardam algum tipo <strong>de</strong> material da época. Apenas dois<br />
disponibilizaram este material, sendo que um <strong>de</strong>les nos doou seus arquivos pessoais, a fim<br />
<strong>de</strong> contribuir <strong>para</strong> o memorial da escola e uma aluna permitiu que fosse reproduzido.<br />
As entrevistas seguiram dois caminhos. Ainda no início da pesquisa <strong>de</strong> campo, em<br />
abril, maio e junho <strong>de</strong> 2008, permitiram a exploração do objeto a fim <strong>de</strong> melhor situá-lo.<br />
Estas entrevistas foram gravadas em mp3. Nesta primeira fase foram entrevistados 8 (oito)<br />
ex-alunos, sendo <strong>de</strong>scartada uma entrevista, por problemas técnicos. No segundo momento,<br />
<strong>de</strong> abril a julho <strong>de</strong> 2009 foram feitas 13 (treze) entrevistas filmadas com ex-alunos e mais<br />
uma em mp3, contando com colaboração do setor áudio-visual da escola <strong>para</strong> sua gravação<br />
em DVD. Nesta segunda fase, foram <strong>de</strong>scartadas duas entrevistas também por problemas<br />
9 Cinco entrevistados são professores universitários e foram localizados pelo Currículo Lattes, através do email<br />
ou da instituição on<strong>de</strong> atuam. Dois foram localizados pelo Orkut. Os outros foram i<strong>de</strong>ntificados e<br />
indicados pelos próprios colegas. Dois <strong>de</strong>les são professores atualmente no IFBAHIA.<br />
10 O Orkut é uma re<strong>de</strong> <strong>de</strong> relacionamentos da Internet.<br />
41
técnicos. Dois estudantes, que moram em outras cida<strong>de</strong>s foram entrevistados através do<br />
skype. 11 E um último, respon<strong>de</strong>u ao roteiro enviado através <strong>de</strong> email.<br />
Tivemos acesso ainda a gravações <strong>de</strong> um ví<strong>de</strong>o documentário “100 Anos – IFBA”<br />
comemorativo do centenário da escola, on<strong>de</strong> são entrevistados, pela cineasta Monica<br />
Simões, vários ex-professores, ex-alunos, diretora e ex-diretores e outras pessoas<br />
significativas à história da instituição. Autorida<strong>de</strong>s governamentais, <strong>de</strong>putados e artistas que<br />
passaram pela escola.<br />
Além dos ex-alunos, tendo em vista a recorrência nas entrevistas da importância do<br />
papel <strong>de</strong> alguns professores e técnicos na formação dos estudantes, optamos por convidar<br />
três <strong>de</strong>les <strong>para</strong> uma entrevista. Assim foi escolhida uma pedagoga, que ocupava o cargo <strong>de</strong><br />
orientadora educacional do SOE (Serviço <strong>de</strong> Orientação Educacional) nos anos 80, atuando<br />
hoje como professora da UNEB. Um professor do Curso <strong>de</strong> Eletrônica em exercício na<br />
instituição (membro do Conselho Técnico Consultivo em 1986 e ex-aluno do curso <strong>de</strong><br />
Eletrotécnica na década <strong>de</strong> 1970) e buscamos contatar, por telefone, com um professor <strong>de</strong><br />
História e EMC (Educação Moral e Cívica), bastante citado pelos alunos e já aposentado,<br />
que não respon<strong>de</strong>u a nosso convite <strong>para</strong> a entrevista. Muitos alunos afirmaram ter sido este<br />
professor o principal incentivador do grêmio estudantil, ficando, infelizmente uma lacuna<br />
no trabalho, pelas possíveis contribuições que o mesmo po<strong>de</strong>ria fornecer acerca do papel<br />
exercido por ele e seus pares no processo da transição <strong>de</strong>mocrática da escola.<br />
Entre os ex-alunos entrevistados há dois professores da escola, os quais, entretanto,<br />
foram escolhidos pela atuação no movimento estudantil. Consi<strong>de</strong>ramos, porém, que à<br />
memória do movimento soma-se um olhar mais atual sobre a instituição, fato que não<br />
per<strong>de</strong>mos <strong>de</strong> vista na observação <strong>de</strong> suas falas. Entre os ex-alunos, o critério <strong>de</strong> escolha dos<br />
entrevistados se <strong>de</strong>u pela sua visibilida<strong>de</strong> nos documentos e nas entrevistas que<br />
compuseram a pesquisa exploratória.<br />
Foram escolhidos porque eram membros da direção do centro cívico ou do grêmio<br />
estudantil, à exceção <strong>de</strong> um muito citado pela sua atuação in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte e crítica, que se<br />
fazia por meio da música, sendo hoje membro <strong>de</strong> uma banda <strong>de</strong> rock que iniciou sua<br />
trajetória durante passagem pela escola. Também entrevistamos um membro da atual<br />
reitoria do IFBAHIA, que foi aluna nos anos 1970 e atua como professora <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a sua<br />
formatura, estando na escola há mais <strong>de</strong> 30 anos, tendo, portanto vivenciado todos os<br />
períodos por nós analisados neste estudo.<br />
Paralelo às entrevistas buscamos encontrar nos jornais alguma referência ou<br />
informação sobre a escola. Contudo, embora seja uma fonte bastante rica <strong>para</strong> análise da<br />
11 Um programa <strong>de</strong> Internet que permite conversar a distância via web.<br />
42
socieda<strong>de</strong>, dos principais temas em <strong>de</strong>bate que compunham a conjuntura do período em<br />
análise, ofereceu pouca informação acerca do cotidiano da escola. A ETFBA estava<br />
presente nos jornais quando ocorrências significativas mobilizavam <strong>de</strong> forma marcante,<br />
ecoando fora dos muros da escola, mas não parece ser um assunto importante <strong>para</strong> a<br />
imprensa baiana.<br />
A leitura dos jornais foi direcionada pelos eventos i<strong>de</strong>ntificados nas entrevistas e<br />
outros documentos. Não <strong>de</strong>finimos um jornal específico ou uma pauta <strong>de</strong>finida. O critério<br />
foi a disponibilida<strong>de</strong> do exemplar <strong>de</strong> acordo com a data a ser investigada. Por isso nos<br />
utilizamos do jornal A Tar<strong>de</strong>, Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia, e Correio da Bahia,<br />
sempre consi<strong>de</strong>rando a data em que <strong>de</strong>terminado evento havia ocorrido na escola. Entre os<br />
recortes encontrados no arquivo da escola encontramos ainda uma nota do Jornal do Brasil<br />
noticiando um acontecimento ocorrido na ETFBA que repercutiu nacionalmente 12 .<br />
A importância dos jornais em nosso trabalho resi<strong>de</strong> no fato <strong>de</strong> que muitos eventos<br />
por nós pontuados acerca do ME da ETFBA acabaram tornando-se públicos. Porém, em um<br />
período com tantos acontecimentos no campo educacional, a escola técnica não parecia<br />
<strong>de</strong>spertar gran<strong>de</strong>s interesses da mídia escrita, salvo nos momentos <strong>de</strong> intensos conflitos,<br />
on<strong>de</strong> a direção e os opositores se faziam ouvir através dos jornais.<br />
Em relação aos jornais, outro aspecto é a falta <strong>de</strong> um arquivo em local específico<br />
on<strong>de</strong> possamos encontrar todos os números em bom estado <strong>de</strong> conservação. Embora os<br />
funcionários do Arquivo Público fossem bastante gentis e solícitos, sentimos a necessida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> uma ampliação do acervo dos documentos, bem como <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> técnicas mais mo<strong>de</strong>rnas<br />
como a microfilmagem <strong>para</strong> sua melhor conservação.<br />
Por fim, na fase final da pesquisa, contamos ainda com a novida<strong>de</strong> da revista Veja<br />
ter lançado um arquivo online com suas edições <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1968, o qual também serviu como<br />
referência <strong>para</strong> a reconstituição social do período, bem como nas lutas mais amplas da<br />
escola técnica nacionalmente e dos eventos que ganharam repercussão nacional havidos na<br />
cida<strong>de</strong> do Salvador. A revista traz ainda alguns editoriais acerca da reorganização do<br />
movimento estudantil.<br />
No uso dos jornais e revistas não <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>ramos o fato <strong>de</strong> durante a ditadura<br />
haver uma censura em vigência no país que <strong>de</strong>terminava as pautas das notícias. Deste<br />
modo, conforme Carlos Fico (2009) nos adverte, a imprensa sofreu uma série <strong>de</strong> restrições<br />
durante a ditadura e se viu muitas vezes impossibilitada <strong>de</strong> noticiar ou divulgar informações<br />
12<br />
A suspensão dos estudantes em <strong>de</strong>corrência da sua participação na passeata das diretas com o uniforme da<br />
escola em 1984.<br />
43
acerca <strong>de</strong> acontecimentos, especialmente vinculados aos que resistiam ou criticavam o<br />
regime.<br />
A Memória: Aspectos Subjetivos Enlaçados nas Narrativas dos Indivíduos<br />
O trabalho com entrevistas preten<strong>de</strong> evocar a lembrança e a memória dos<br />
informantes, dando-lhes status <strong>de</strong> sujeito. Embora seja reconhecido no âmbito das Ciências<br />
Sociais como uma importante ferramenta não apenas <strong>para</strong> reconstrução do passado, como<br />
também <strong>para</strong> uma busca <strong>de</strong> elementos simbólicos e representações, esta técnica <strong>de</strong>ve ser<br />
realizada a partir <strong>de</strong> uma perspectiva crítica. Não po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rar que traz em si<br />
alguns problemas conforme avalia Mirian Santos:<br />
A compreensão <strong>de</strong> que a memória é resultado <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong> interação social,<br />
e que ela tanto está em nós quanto é exterior a nós, não supera o fato <strong>de</strong> que a<br />
memória como relato do passado é falha e incompleta. Por que esse interesse tão<br />
gran<strong>de</strong> pela memória nas Ciências Sociais? Sem dúvida lidamos com a memória<br />
porque conhecemos, em parte, suas limitações e acreditamos que po<strong>de</strong>mos fazer<br />
<strong>de</strong>la uma forma <strong>de</strong> conhecimento (SANTOS, 2003, p.274).<br />
Esta técnica permite penetrar limitadamente na memória das pessoas, dando-lhes <strong>de</strong><br />
antemão a posição <strong>de</strong> sujeito, tendo em vista que a partir <strong>de</strong>les se reconstitui a história. Para<br />
os historiadores, porém, memória e história não se confun<strong>de</strong>m.<br />
(...) a memória coletiva ou social não se confun<strong>de</strong> com a história. Pelo contrário,<br />
a história começa on<strong>de</strong> a memória social acaba e não tem mais como suporte um<br />
grupo. Ou seja, a memória social é sempre vivida, física ou afetivamente.<br />
(D’ALLESIO, 1993, p.98).<br />
A memória é um fenômeno coletivo constituído por acontecimentos vividos<br />
pessoalmente ou pelo grupo. Ela se constitui ainda <strong>de</strong> projeções e transferências, <strong>de</strong><br />
“vestígios dotados <strong>de</strong> memórias, ou seja, <strong>aqui</strong>lo que fica gravado como data precisa <strong>de</strong> um<br />
acontecimento” (POLLAK, 1992, p.202). As datas são gravadas em função das experiências<br />
vividas pelas pessoas, ora em sua memória da vida privada, ora na memória da sua vida<br />
pública. Assim, ao lidar com entrevistas nos pomos frente a alguns problemas, entre eles<br />
está o fato da interpretação das mesmas.<br />
Os acontecimentos po<strong>de</strong>m ser relatados a partir das experiências pessoais<br />
(nascimento dos filhos, namoros, etc.). Ao se evocar a memória da juventu<strong>de</strong>, encontramos<br />
tanto questões relativas à vida pessoal, <strong>de</strong> foro íntimo, como situações públicas e coletivas:<br />
44
o envolvimento político, os gran<strong>de</strong>s acontecimentos políticos vividos em <strong>de</strong>terminado<br />
período etc. Assim, <strong>para</strong> alguns, especialmente os membros do centro cívico <strong>de</strong> 1979, a<br />
lembrança da vinda <strong>de</strong> Prestes à Bahia se constitui num acontecimento significativo e<br />
lembrado por praticamente todos os que coletivamente vivenciaram sua chegada ao país,<br />
numa expectativa da expansão das liberda<strong>de</strong>s individuais.<br />
De outro lado, as datas da vida privada são rememoradas no primeiro beijo, nas<br />
primeiras experiências afetivo sexuais, nas práticas relativas às artes, ao uso <strong>de</strong> bebidas<br />
alcoólicas, maconha etc. O nascimento do primeiro filho ainda sem uma estrutura<br />
econômica organizada, coincidindo com as ativida<strong>de</strong>s políticas, com a mudança <strong>de</strong> bairro a<br />
fim <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r as <strong>de</strong>mandas do partido, a vivência nos movimentos sociais, as primeiras<br />
experiências no campo profissional, também são elementos significativos que garantem o<br />
elo entre a memória passada e sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> recordar na atualida<strong>de</strong>.<br />
Por ser um tempo recente, um tempo presente, e que tem sido objeto <strong>de</strong><br />
reconstruções por parte da mídia <strong>de</strong> forma recorrente, corremos o risco <strong>de</strong> ter essas<br />
memórias construídas pela representação que hoje se faz daquele período. A “década<br />
perdida”, os mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> juventu<strong>de</strong>, a moda, os padrões <strong>de</strong> comportamento po<strong>de</strong>m ser<br />
objetos <strong>de</strong> transferências, no sentido em que as experiências da geração embora não tenham<br />
sido experimentadas por todos se reconstitui numa memória coletiva que homogeneíza <strong>de</strong><br />
certa forma tudo que foi vivido. Segundo Pollak<br />
A rigor, po<strong>de</strong>-se dizer que, além da transferência entre datas oficiais, há também<br />
o predomínio da memória sobre <strong>de</strong>terminada cronologia política, ainda que esta<br />
última esteja mais fortemente investida pela retórica, até mesmo pela<br />
reconstrução historiográfica (POLLAK, 1992, p. 203).<br />
A memória é um processo vivido e em evolução permanente, conduzido por grupos<br />
vivos e que é vulnerável a várias formas <strong>de</strong> manipulação. “Aberta à dialética da lembrança e<br />
do esquecimento, inconsciente <strong>de</strong> suas <strong>de</strong>formações sucessivas, vulnerável a todos os usos”.<br />
(NORA, 1993. p. 09). Reconhecemos que uma reconstrução é sempre problemática e<br />
incompleta, traz em si uma representação do passado e <strong>de</strong>manda análises e críticas. Não<br />
po<strong>de</strong> ser tomada como um recurso objetivo, mas que é objetivado na medida em que<br />
contrapomos dados e informações. Sem, entretanto esquecer que “a memória emerge <strong>de</strong> um<br />
grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas memórias<br />
quantos grupos existem; que ela é por natureza, múltipla e <strong>de</strong>sacelerada, coletiva, plural e<br />
individualista” (NORA, 1995. p. 09).<br />
A memória ainda po<strong>de</strong> ser analisada como a constituição <strong>de</strong> narrativas do presente<br />
que resultam <strong>de</strong> experiências acumuladas ao longo do tempo. Embora ela sempre resulte <strong>de</strong><br />
45
um processo interativo, há casos on<strong>de</strong> o processo individual prevalece sobre o coletivo e<br />
outros on<strong>de</strong> as <strong>de</strong>terminações coletivas <strong>de</strong>vem ser consi<strong>de</strong>radas com mais ênfase. Os<br />
indivíduos guardam fragmentos <strong>de</strong> experiências vivenciadas e precisam das construções<br />
coletivas <strong>para</strong> que possam correlacionar e dar sentido aos diversos fragmentos que<br />
rememoram (SANTOS, 2003, p. 276).<br />
Os Documentos<br />
Os documentos <strong>de</strong> arquivo são testemunhas da vida institucional. Neles encontramos<br />
informações acerca da competência, atribuições, funções, operações e atuações realizadas<br />
por uma entida<strong>de</strong> durante sua existência. Permitem também conhecer<br />
(...) como <strong>de</strong>correm – e <strong>de</strong>correram - as relações administrativas, políticas e<br />
sociais por ela mantidas, tanto no âmbito interno como no externo, sejam com<br />
outras entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> seu mesmo nível, ou com as que lhe são, hierarquicamente,<br />
superiores ou inferiores. Estão na raiz <strong>de</strong> todos os atos <strong>de</strong> causa, efeito e resultado<br />
do <strong>para</strong> quê, do como, do por que, do quando e do quanto, sob todos os pontos <strong>de</strong><br />
vista, do ser e do existir <strong>de</strong>ssa entida<strong>de</strong> (BELLOTO, 2002, p.09).<br />
Servem, quando preservados <strong>para</strong> fins <strong>de</strong> pesquisa científica, herança cultural e<br />
testemunho social, e configuram-se como um “corpo material <strong>de</strong> memória, a ser apreendida,<br />
entendida, estudada e difundida” (BELLOTO, 2002, p.10). O uso dos documentos<br />
possibilita ao pesquisador compreen<strong>de</strong>r as tendências políticas, sociais, religiosas,<br />
educacionais, literárias e técnico-científicas.<br />
O documento é um discurso sobre a realida<strong>de</strong> ao qual são acrescentados pelo<br />
pesquisador os envolvimentos e inquietações do presente. A problematização do documento<br />
implica em apreen<strong>de</strong>r sua historicida<strong>de</strong>, permitindo uma concepção alargada do documento<br />
educacional. Segundo Moraes,<br />
Enquanto “prática or<strong>de</strong>nadora e instituidora, voltada <strong>para</strong> as relações sociais”, o<br />
documento legal apresenta, como enfatiza Faria Filho (1998), “tanto o caráter <strong>de</strong><br />
intervenção social subjacente à produção e realização da legislação escolar”<br />
quanto constitui “em seus diversos momentos e movimentos, lugar <strong>de</strong> expressão<br />
e construção <strong>de</strong> conflitos e lutas sociais”. Nessa perspectiva, segundo o autor, a<br />
lei expressa <strong>de</strong>terminadas concepções <strong>de</strong> educação e <strong>de</strong> escola que são<br />
produzidas em diferentes instâncias do Estado, mas apropriadas, <strong>de</strong> diversas<br />
maneiras, pelos diferentes sujeitos ligados à produção e realização da legislação<br />
(MORAES, 2002, p.25-26).<br />
46
Ao caráter legal dos documentos, soma-se uma série <strong>de</strong> contradições referentes às<br />
lutas e disputas no interior <strong>de</strong> uma instituição bem como a interpretação dada pelo seu<br />
dirigente e até mesmo por quem redige <strong>de</strong>terminado documento ou ata. Para Gramsci “é<br />
sempre necessário recorrer a fontes culturais <strong>para</strong> <strong>de</strong>terminar o valor exato dos conceitos, já<br />
que, sob um mesmo chapéu, po<strong>de</strong>m estar diferentes cabeças” (GRAMSCI, 2006, p.129). O<br />
uso dos documentos legais implica, assim, na necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cuidado frente aos conceitos<br />
encontrados em seus escritos, uma vez que as palavras passam por resignificações ao longo<br />
do tempo.<br />
O arquivo com que nos <strong>de</strong><strong>para</strong>mos estava em transição <strong>de</strong> “arquivo morto” ou<br />
“massa documental acumulada”, conforme dissemos anteriormente, <strong>para</strong> a organização a<br />
fim <strong>de</strong> selecionar e preservar em um arquivo permanente e <strong>de</strong>finitivo que será aberto ao<br />
acesso <strong>de</strong> pesquisadores. MORAES e ALVES (2002) indicam que, há uma precária<br />
condição na conservação e dispersão dos acervos documentais das escolas técnicas,<br />
problema com que também nos <strong>de</strong><strong>para</strong>mos durante nossa pesquisa e, <strong>de</strong> certo modo,<br />
dificultou e retardou nossa pesquisa <strong>de</strong> campo, como já foi mencionado.<br />
47
1 CONJUNTURA POLÍTICA: ABERTURA LENTA E GRADUAL<br />
A história recente do Brasil oferece um importante espaço <strong>de</strong> discussão, que vai se<br />
segmentando na década <strong>de</strong> 80, por parte não apenas dos intelectuais, mas <strong>de</strong> toda a<br />
socieda<strong>de</strong>, sobre o real conteúdo da <strong>de</strong>mocracia que buscamos alcançar e sobre a<br />
importância da participação da socieda<strong>de</strong> civil nos espaços <strong>de</strong>liberativos. Estes temas<br />
refletem uma tendência internacional, tendo em vista a profusão <strong>de</strong> trabalhos publicados<br />
acerca <strong>de</strong>sta temática.<br />
Mesmo entre os marxistas, que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ram a revolução como um espaço concreto<br />
<strong>de</strong> transformações sociais, <strong>de</strong>correntes da impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> outras soluções à luta <strong>de</strong><br />
classes, esta temática ganhou novos contornos. Assim, embora a <strong>de</strong>mocracia não tenha sido<br />
durante muito tempo um conceito caro à esquerda marxista, as <strong>de</strong>silusões produzidas pelas<br />
experiências socialistas mundo afora, <strong>de</strong> certo modo contribuíram <strong>para</strong> uma releitura dos<br />
<strong>texto</strong>s <strong>de</strong> Marx e seus intérpretes, com a intenção <strong>de</strong> alcançar uma <strong>de</strong>mocracia posta noutros<br />
termos. Neste sentido, a <strong>de</strong>mocracia <strong>de</strong> cunho liberal que prevaleceu durante muito tempo,<br />
recebendo críticas diversas, permanece rejeitada pelos teóricos marxistas, os quais buscam<br />
apresentar outra <strong>de</strong>mocracia cujo conteúdo seja “mais real” (BORON, 2004; ANDERSON,<br />
2004)<br />
A política do nosso país tem assim, após a experiência <strong>de</strong> ditadura militar, uma<br />
crescente valorização da <strong>de</strong>mocracia enquanto i<strong>de</strong>al almejado. Devendo, portanto, ser<br />
permanentemente perseguido. É neste con<strong>texto</strong> que as discussões apresentadas pelos<br />
estudiosos da política nacional compõem um rico <strong>de</strong>bate durante o processo <strong>de</strong> transição<br />
política. A própria noção <strong>de</strong> “re<strong>de</strong>mocratização” ou <strong>de</strong> “distensão” é ilustrativa do conteúdo<br />
dos <strong>de</strong>bates e das contradições em que se encontrou (e encontra-se) a socieda<strong>de</strong> brasileira<br />
no quesito regime <strong>de</strong>mocrático.<br />
48
Neste ponto, a opção por estabelecer critérios que indique a existência <strong>de</strong> uma<br />
cultura política <strong>de</strong>mocrática permeou vários trabalhos que buscavam elementos comuns,<br />
estabelecidos cientificamente, que <strong>de</strong>monstrassem a presença entre os brasileiros <strong>de</strong> uma<br />
cultura voltada à existência <strong>de</strong> valores, atos e atitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>mocráticos em nosso povo.<br />
Moisés (1995) aponta <strong>para</strong> o grau <strong>de</strong> incerteza em que estava inserida a transição<br />
além <strong>de</strong> apresentar em seu estudo as contradições acerca da noção <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia entre a<br />
população brasileira. Segundo o autor, o processo <strong>de</strong> transição não <strong>de</strong>monstrava, até a<br />
década <strong>de</strong> 90, garantias <strong>de</strong> consolidação do regime <strong>de</strong>mocrático no país. Assim, ele<br />
apontava que<br />
O quadro tem, portanto, algo <strong>de</strong> perturbador. Acena com a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
interrupção dos processos <strong>de</strong> mudança política iniciados nos anos 70 e 80; e,<br />
embora sem configurar um cenário imediato ou irreversível <strong>de</strong> retorno ao<br />
autoritarismo, ao gerar um quadro <strong>de</strong> <strong>de</strong>sequilíbrio político crônico, po<strong>de</strong> vir a<br />
constituir-se em ponto <strong>de</strong> partida do fracasso da <strong>de</strong>mocratização iniciada uma<br />
década e meia atrás (MOISES, 1995).<br />
Desta forma, o autor apresenta um cenário marcado pela incerteza em que se<br />
configurou a chamada transição. Não havia nada que garantisse que os militares não<br />
retornariam ao po<strong>de</strong>r, ou que outros golpes não seriam efetivados assim como ocorrera no<br />
Peru e no Haiti, além <strong>de</strong> ameaças à or<strong>de</strong>m instituída na Guatemala e na Venezuela. É<br />
perceptível nos meios <strong>de</strong> comunicação, especialmente nos jornais a permanente condição <strong>de</strong><br />
alertar <strong>para</strong> os males das transformações radicais da socieda<strong>de</strong> e da tomada <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r. A<br />
idéia <strong>de</strong> que o povo não tem condições <strong>de</strong> administrar, vigora nas entrelinhas da imprensa<br />
numa indisfarçada teoria das elites justificada na construção histórica brasileira que sempre<br />
privilegiou <strong>de</strong>terminadas frações <strong>de</strong> classe da socieda<strong>de</strong> e fez questão <strong>de</strong> manter os <strong>de</strong>mais<br />
grupos fora dos espaços <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r.<br />
A discussão sobre a <strong>de</strong>mocracia parece, assim, envolta em uma batalha <strong>de</strong> idéias,<br />
on<strong>de</strong> diferentes forças sociais buscam encontrar um conteúdo real <strong>para</strong> o que seja <strong>de</strong> fato<br />
uma nação <strong>de</strong>mocrática. Embora nunca como hoje, tantos intelectuais <strong>de</strong> correntes teóricas<br />
tão diversas se posicionem como <strong>de</strong>mocratas. O fato é que após a segunda guerra,<br />
basicamente não houve quem não se postulasse favorável, em que pese as contradições com<br />
que cada um entendia o termo. Segundo Coutinho<br />
Há algumas décadas, o pensamento explicitamente <strong>de</strong> direita – <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o<br />
catolicismo ultramontano até os diferentes fascismos – combatia abertamente a<br />
<strong>de</strong>mocracia; até mesmo o liberalismo, em boa parte <strong>de</strong> sua história, apresentou-se<br />
explicitamente como alternativa à <strong>de</strong>mocracia. Esta situação se alterou a partir da<br />
segunda meta<strong>de</strong> do século XX. Por um lado, o fascismo praticamente<br />
<strong>de</strong>sapareceu como força atuante no cenário político mundial; e, por outro,<br />
sobretudo a partir dos anos 1930, o liberalismo assumiu a <strong>de</strong>mocracia e passou a<br />
49
<strong>de</strong>fendê-la, ainda que não sem antes minimizá-la, empobrecendo suas<br />
<strong>de</strong>terminações, concebendo-a <strong>de</strong> modo claramente redutivo. Assim, pelo menos<br />
nominalmente, hoje são todos <strong>de</strong>mocratas (COUTINHO, 2006:13-14).<br />
A generalização e a compreensão <strong>de</strong> que a <strong>de</strong>mocracia seja reconhecida como<br />
virtu<strong>de</strong> não exclui a hipocrisia ou ausência <strong>de</strong> um entendimento a<strong>de</strong>quado do termo.<br />
Recorrendo à história encontramos o conceito <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia no liberalismo <strong>de</strong> Rousseau,<br />
em meados do século XVIII, quando o mesmo elabora uma crítica radical da socieda<strong>de</strong> e<br />
aponta os limites i<strong>de</strong>ológicos contidos no liberalismo, além <strong>de</strong> formular uma proposta <strong>de</strong><br />
socieda<strong>de</strong> alternativa, <strong>de</strong>mocrática e popular (COUTINHO, 2006, p.14). Suas idéias<br />
orientam a ação <strong>de</strong> revolucionários franceses e se <strong>de</strong>sdobram em outros pensadores, como<br />
os primeiros comunistas, a exemplo <strong>de</strong> Grachus Babeuf, lí<strong>de</strong>r da Conjuração dos Iguais.<br />
Entre os críticos <strong>de</strong> Rousseau encontramos Benjamim Constant, que escreve em<br />
1919 um <strong>texto</strong> on<strong>de</strong> afirma que a liberda<strong>de</strong> proposta por Rousseau<br />
Seria a liberda<strong>de</strong> do mundo antigo, ou seja, a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> participar na formação<br />
do governo, o que implica a criação <strong>de</strong> uma esfera pública na qual todos<br />
participam, on<strong>de</strong> todos cidadãos são plenos. Em suma, on<strong>de</strong> todos são, ao mesmo<br />
tempo, governantes e governados. Essa forma <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong>, afirma Constant, não<br />
é a que caracteriza os tempos mo<strong>de</strong>rnos. A liberda<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rna, ao contrário,<br />
consistiria em fruir na esfera privada os bens que os indivíduos obtém graças a<br />
seus méritos pessoais; <strong>para</strong> tanto, os indivíduos livres nomeiam “representantes”<br />
que se ocupam do governo e, <strong>de</strong>sse modo, são tantos mais livres quanto menos<br />
participam da esfera pública (COUTINHO, 2006:15).<br />
Vê-se expresso <strong>aqui</strong> uma distinção entre a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong>mocrática e a liberda<strong>de</strong><br />
liberal, enten<strong>de</strong>ndo a segunda como o direito <strong>de</strong> usufruir na esfera privada os bens<br />
construídos privadamente. No século XIX, Alexis <strong>de</strong> Tocqueville formula teoria on<strong>de</strong> a<br />
afirma como um fenômeno irreversível do mundo mo<strong>de</strong>rno. Destaca, entretanto, os riscos<br />
da tirania da maioria e vê no liberalismo a condição necessária <strong>para</strong> se evitar os males da<br />
<strong>de</strong>mocracia, com o fortalecimento do direito privado e da liberda<strong>de</strong> individual.<br />
No início do século XX Gaetano Mosca formula sua teoria das elites. Este autor<br />
entendia que as maiorias não existem como sujeitos políticos, diferindo <strong>de</strong> Tocqueville.<br />
Para ele, a política é feita por elites, minorias, chamadas <strong>de</strong> “classes dirigentes”, sendo<br />
assim, a soberania popular “seria apenas uma i<strong>de</strong>ologia que a elite dirigente usa <strong>para</strong> se<br />
legitimar” (COUTINHO: 2006:17).<br />
Para Chantal Mouffe, quanto mais se coinci<strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia e liberalismo, menos é<br />
possível compreen<strong>de</strong>r seu real significado. Em seu <strong>de</strong>bate com/contra Schmitt, ao analisar<br />
as críticas que ele faz a <strong>de</strong>mocracia liberal parlamentarista ela discute sobre o tema.<br />
50
Sem que aceitemos a tese <strong>de</strong> Schmitt sobre a existência <strong>de</strong> uma contradição<br />
insuperável entre o liberalismo e a <strong>de</strong>mocracia, <strong>de</strong>veríamos, no entanto, levar a<br />
sério o fato <strong>de</strong> que ele coloca em evidência as <strong>de</strong>ficiências da <strong>de</strong>mocracia liberal<br />
parlamentar e a sua ausência <strong>de</strong> "fundamentos teóricos". Essa ausência <strong>de</strong><br />
elaboração satisfatória dos "princípios políticos" da <strong>de</strong>mocracia representativa<br />
não po<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> acarretar consequências nefastas <strong>para</strong> o regime liberal<br />
<strong>de</strong>mocrático. Na medida em que suas instituições são percebidas como simples<br />
técnicas instrumentais <strong>para</strong> a escolha <strong>de</strong> governantes, é pouco provável que<br />
pu<strong>de</strong>ssem ser asseguradas com um tipo <strong>de</strong> a<strong>de</strong>são popular que garantisse uma<br />
efetiva participação na vida <strong>de</strong>mocrática. O que falta em tais condições é aquela<br />
"virtu<strong>de</strong> política" que Montesquieu consi<strong>de</strong>rava indispensável à <strong>de</strong>mocracia e que<br />
i<strong>de</strong>ntificava com o "amor às leis e à pátria". O <strong>de</strong>smoronamento da vida<br />
<strong>de</strong>mocrática e a crescente <strong>de</strong>scrença na ação política que constatamos atualmente<br />
são, sem dúvida, o preço que pagamos por termos negligenciado o domínio da<br />
reflexão ética e filosófica sobre a <strong>de</strong>mocracia, e por termos dado algum crédito à<br />
pretensa neutralida<strong>de</strong> da ciência política (MOUFFE, 1994).<br />
Destarte, o <strong>de</strong>bate acerca da participação não po<strong>de</strong> se limitar ao voto, como ficou <strong>de</strong><br />
certa forma caracterizado na <strong>de</strong>mocracia brasileira, embora naquele momento, mesmo<br />
sendo o voto restritivo, ele tenha sido alcançado através <strong>de</strong> intensas lutas <strong>de</strong> vários<br />
segmentos da socieda<strong>de</strong>.<br />
Entre os estudiosos da política brasileira, encontramos uma varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
concepções que <strong>de</strong> certa forma refletem a noção <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia como participação popular.<br />
Entretanto, a <strong>de</strong>mocracia na história brasileira sempre se contrapôs a uma concepção<br />
autoritária <strong>de</strong> fazer política que predominou nas classes dirigentes do estado nacional, que<br />
se caracterizou pela <strong>de</strong>svalorização da participação popular e pela criminalização dos<br />
movimentos populares. Deste modo, não há até o final dos anos 80 uma certeza firmada que<br />
houve <strong>de</strong>mocracia no Brasil, mas períodos menos autoritários ou <strong>de</strong> cunho mais populista.<br />
O tema da participação ganha uma evidência nos anos 80 em <strong>de</strong>corrência dos<br />
conflitos ocorridos entre a população e o estado, muitos dos quais sem uma participação<br />
direta dos partidos políticos, mas que indicavam o grau <strong>de</strong> insatisfação social <strong>de</strong>corrente da<br />
crise econômica, do <strong>de</strong>semprego e dos escândalos políticos que passam a dominar os<br />
noticiários jornalísticos.<br />
1.1 O Processo <strong>de</strong> Democratização Brasileiro: A abertura lenta e gradual.<br />
No início da década <strong>de</strong> 80, a crise econômica traz à tona um clima <strong>de</strong><br />
perplexida<strong>de</strong> on<strong>de</strong> as manifestações <strong>de</strong> ação direta e a incapacida<strong>de</strong> do estado <strong>de</strong><br />
dar respostas rápidas às <strong>de</strong>mandas dos setores mais <strong>de</strong>serdados e afetados pela<br />
recessão, tornam manifesta a insignificância das medidas adotadas. As situações<br />
<strong>de</strong> possível explosão social provocam um clima <strong>de</strong> inquietação nas metrópoles,<br />
com <strong>de</strong>staque <strong>para</strong> São Paulo e Rio <strong>de</strong> Janeiro, que se convertem em palco <strong>de</strong><br />
invasões coletivas <strong>de</strong> terras, saques, <strong>de</strong>predações <strong>de</strong> ônibus e trens em<br />
<strong>de</strong>corrência da crescente <strong>de</strong>terioração das condições <strong>de</strong> vida urbana e das reações<br />
dos que são mais afetados nos seus padrões mínimos <strong>de</strong> sobrevivência. Estas<br />
51
manifestações ocorreram principalmente pela incapacida<strong>de</strong> dos governos <strong>de</strong><br />
oposição <strong>de</strong> posicionarem-se contra a política do governo Figueiredo e em dar<br />
respostas efetivas ao problema do <strong>de</strong>semprego, ou <strong>de</strong> substituir a ausência <strong>de</strong><br />
canais institucionais, criando condições <strong>para</strong> a construção <strong>de</strong> mecanismos<br />
efetivos <strong>de</strong> participação dos setores afetados (SADER, 1987: 12).<br />
O con<strong>texto</strong> <strong>de</strong> crise em que se encontrava o país forjou, <strong>de</strong> certo modo, a<br />
mobilização popular. Não eram apenas os estudantes como nos anos sessenta que tomavam<br />
à frente nas manifestações, embora ainda se fizessem presentes, mas os trabalhadores do<br />
modo geral, movidos pela situação <strong>de</strong> insegurança, <strong>de</strong> <strong>de</strong>semprego e da iminente<br />
consciência da injustiça social retornavam à rua, reascen<strong>de</strong>ndo o sentimento <strong>de</strong> participação<br />
e a expectativa <strong>de</strong> uma transformação social mais efetiva.<br />
Em obra publicada em 1984, ao analisar o processo <strong>de</strong> transição política que ocorria<br />
no país, Francisco Weffort nos propõe a seguinte questão: por que <strong>de</strong>mocracia e não<br />
revolução? Ao <strong>de</strong>nominar a transição <strong>de</strong> inverossímil, ele aponta <strong>para</strong> a dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> tratar<br />
a situação política do Brasil no período que se inicia em 1974. Assim diz ele:<br />
O que chamamos <strong>de</strong> transição política começou em 1974, com a política <strong>de</strong><br />
“distensão” do governo Geisel. Antes disso – <strong>de</strong> 1968 a 1974 – foi o período do<br />
“milagre econômico” e também da ditadura mais violenta e criminosa <strong>de</strong> nossa<br />
história. Uma lógica política inspirada no senso comum diria que o melhor<br />
momento <strong>para</strong> uma abertura política seria aquele em que a economia se expan<strong>de</strong>.<br />
Com a transição brasileira ocorre o contrário. Tivemos “fechadura” política na<br />
época <strong>de</strong> expansão e a distensão política começando com a <strong>de</strong>pressão econômica<br />
(WEFFORT, 1984: 15).<br />
Para Weffort, há uma aparente contradição no fato da “abertura” ocorrer no<br />
momento <strong>de</strong> maior crise econômica e não durante o milagre econômico, quando havia uma<br />
perspectiva positiva <strong>para</strong> a economia nacional. Consi<strong>de</strong>rando-se que as crises que<br />
ocasionaram a queda dos regimes <strong>de</strong>mocráticos em períodos anteriores apresentarem uma<br />
relação direta com as crises por que passava a socieda<strong>de</strong>. Neste sentido, analisar as<br />
possibilida<strong>de</strong>s da <strong>de</strong>mocracia brasileira nos anos 1980 significa enfatizar seu estado <strong>de</strong> crise<br />
econômica. Um fator relevante no cenário <strong>de</strong> incertezas quanto ao <strong>de</strong>sfecho da distensão<br />
política arquitetada pelos militares. Tornava-se difícil estabilizar a <strong>de</strong>mocracia em um<br />
con<strong>texto</strong> <strong>de</strong> empobrecimento como o que se vivia naquele período. Desta forma, a<br />
<strong>de</strong>mocracia não se consolidaria, embora estivesse em fase <strong>de</strong> implantação em toda a<br />
América Latina (WEFFORT, 1988).<br />
Florestan Fernan<strong>de</strong>s consi<strong>de</strong>ra que o período <strong>de</strong> ditadura impediu a população <strong>de</strong><br />
perceber as transformações porque passava o país do ponto <strong>de</strong> vista do capital e da nova<br />
configuração das classes sociais.<br />
52
A incorporação ao núcleo do capitalismo monopolista, a industrialização maciça<br />
e o aprofundamento da penetração do <strong>de</strong>senvolvimento capitalista no campo,<br />
principalmente, modificaram substancialmente os números, a forma e os<br />
dinamismos do regime <strong>de</strong> classes sociais. A opressão policial-militar e política<br />
impediu que tais transformações se tornassem notórias, <strong>de</strong> imediato e diluiu o<br />
impacto que elas tiveram na imaginação, nas insatisfações, e nas realizações dos<br />
oprimidos (FERNANDES, 2007: 180).<br />
Vemos assim entre os intelectuais, que naquele momento se posicionavam mais à<br />
esquerda, um posicionamento crítico e até mesmo pessimista frente ao processo <strong>de</strong> abertura<br />
que se consolidava. Mesmo nos trabalhos produzidos após 1988, quando já estava<br />
promulgada a nova constituição, ainda percebe-se um sentimento que as lutas ocorridas<br />
durante o período <strong>de</strong> autoritarismo não alcançaram o nível <strong>de</strong>sejado <strong>de</strong> mudanças por que<br />
ansiava parte da população brasileira. Entre os fatores mais <strong>de</strong>stacados da insatisfação está a<br />
permanência <strong>de</strong> políticos que durante o regime militar tiveram <strong>de</strong>stacada atuação<br />
sustentando o partido do governo, a exemplo <strong>de</strong> Sarney e Maluf, bem como a permanência<br />
<strong>de</strong> políticas públicas e econômicas cada vez mais restritivas, impondo a população os<br />
ditames do FMI e as primeiras investidas neoliberais que terão seu auge no governo <strong>de</strong><br />
FHC.<br />
Entretanto, não há como negar o fenômeno <strong>de</strong> uma maior participação da população<br />
nos processos <strong>de</strong> reivindicação como assinala Sa<strong>de</strong>r (1987) em trecho acima citado. Sendo<br />
assim, herdamos uma série <strong>de</strong> equívocos conforme nos adverte Weffort, os quais dizem<br />
respeito ao próprio sentido da política, que não se tornou <strong>de</strong> fato <strong>de</strong>mocrática.<br />
(...) São resultado <strong>de</strong> uma história em que a política tem sido, quase sempre, o<br />
privilégio <strong>de</strong> uns quatro oligarcas e assemelhados. Uma história que, até <strong>aqui</strong>,<br />
mal conseguiu constituir um espaço público on<strong>de</strong> a ativida<strong>de</strong> política, quase<br />
sempre limitada às classes dominantes, pu<strong>de</strong>sse se diferenciar das ativida<strong>de</strong>s<br />
privadas <strong>de</strong>ssas mesmas classes dominantes. Uma história, enfim, em que os<br />
conservadores tem sido, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sempre, vitoriosos (WEFFORT, 1984, p. 25).<br />
Florestan Fernan<strong>de</strong>s, em sua crítica do processo <strong>de</strong> transição afirma que ela se<br />
caracterizou pela existência <strong>de</strong> um “pacto conservador” entre o PMDB e os setores<br />
dissi<strong>de</strong>ntes do PDS. Neste sentido, embora houvesse uma alteração na luta <strong>de</strong> classes, as<br />
classes dominantes mantiveram seu domínio, superando “os obstáculos que minavam a<br />
sobrevivência da ditadura e retiravam suas condições <strong>de</strong> se reproduzir” (Fernan<strong>de</strong>s, 2007).<br />
Era uma situação marcante na história brasileira e que permitiria enten<strong>de</strong>r melhor<br />
os rumos da história. A qualida<strong>de</strong> da luta <strong>de</strong> classes havia se alterado. Nestes<br />
últimos vinte anos, principalmente a partir <strong>de</strong> 1968, o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
econômico acelerado contribuiu <strong>para</strong> modificar tanto a composição quanto os<br />
dinamismos <strong>de</strong> classe no Brasil. A classe trabalhadora urbana cresceu muito e se<br />
diferenciou também com o processo <strong>de</strong> industrialização massivo (...) foram<br />
53
criadas novas condições <strong>de</strong> concentração e <strong>de</strong> manifestação dos trabalhadores em<br />
<strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> sua in<strong>de</strong>pendência <strong>de</strong> classe, <strong>de</strong> seus interesses coletivos. Apesar <strong>de</strong> a<br />
ditadura reprimir os movimentos políticos dos trabalhadores, ela não po<strong>de</strong><br />
impedir que estas transformações explodissem na cena histórica (FERNANDES,<br />
2007, p.116-117).<br />
Estas explosões, como veremos mais à frente, ocorreram tanto nas organizações<br />
dos trabalhadores, cujo marco simbólico é a greve do ABC em 1978, como nas<br />
organizações populares, que se multiplicaram pelo país e na expansão dos grupos sociais<br />
que passaram a manifestar uma série <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>iras e outras dinâmicas <strong>de</strong> ação, a exemplo<br />
do movimento <strong>de</strong> mulheres, movimento negro etc.<br />
1.2 Conjuntura Política, Econômica e Social dos Anos 1979 a 1989<br />
A compreensão <strong>de</strong> qualquer categoria <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> pressupõe a busca das<br />
relações que <strong>de</strong>terminado grupo possui em um con<strong>texto</strong> mais amplo, isto não é diferente no<br />
caso do movimento estudantil. A reflexão sobre um período histórico nos impõe a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r as mediações entre estes e os <strong>de</strong>mais setores da socieda<strong>de</strong>. Isto<br />
se torna ainda mais importante na medida em que a escola na socieda<strong>de</strong> capitalista não po<strong>de</strong><br />
ser compreendida <strong>de</strong>svinculada da política e do setor produtivo. Neste sentido, a década em<br />
estudo <strong>de</strong>ve ser analisada como um período rico em tessituras que influenciaram <strong>de</strong> modo<br />
efetivo a tomada <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisões por parte dos legisladores, em especial no que se refere à<br />
educação (FRIGOTTO, 2006). A compreensão das relações entre a estrutura e a<br />
superestrutura, a fim <strong>de</strong> que seja realizada uma análise das forças sociais que atuam na<br />
história <strong>de</strong> um período <strong>de</strong>terminado (GRAMSCI, 2007)<br />
Enten<strong>de</strong>mos que os anos 1980 se constituíram na história recente do país como um<br />
momento marcado por importantes acontecimentos. O processo <strong>de</strong> transição política do<br />
regime militar <strong>para</strong> um governo civil, a promulgação <strong>de</strong> uma nova constituição, e,<br />
posteriormente, a eleição direta <strong>para</strong> Presi<strong>de</strong>nte da República, promoveram uma série <strong>de</strong><br />
conseqüências na história política da nação cujos reflexos ainda hoje se fazem presentes.<br />
Neste con<strong>texto</strong>, a participação da socieda<strong>de</strong> civil, constituiu-se como um marco no<br />
sentimento <strong>de</strong> construir a <strong>de</strong>mocracia e no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma consciência cidadã.<br />
Deste modo, o período proposto tem um espaço temporal que po<strong>de</strong> ser dividido em<br />
dois momentos distintos, embora complementares: o primeiro, tomando por base a<br />
<strong>de</strong>finição <strong>de</strong> Araújo (2007), pertence ainda à fase <strong>de</strong> “resistência e luta <strong>de</strong>mocrática”, tendo<br />
em vista que os anos <strong>de</strong> 1979 à 1985 compõem uma conjuntura política on<strong>de</strong> se<br />
54
Incluía uma plataforma <strong>de</strong> luta pelas liberda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>mocráticas e uma política <strong>de</strong><br />
alianças que ia na direção <strong>de</strong> setores mais mo<strong>de</strong>rados da oposição, tendo como<br />
objetivo ampliar o movimento da socieda<strong>de</strong> civil contra a ditadura militar<br />
(ARAÚJO, 2007, p.323).<br />
O segundo momento, a partir <strong>de</strong> 1985, configura o primeiro governo civil após a<br />
ditadura e significa, <strong>de</strong> certo modo, uma ruptura com os pressupostos autoritários que<br />
vigoraram antes, embora do ponto <strong>de</strong> vista do capital, mantenha-se incólume.<br />
A primeira fase é caracterizada pela mudança <strong>de</strong> ação por parte da esquerda, on<strong>de</strong> a<br />
luta armada <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> estar presente nas ações mais imediatas, e pela introdução <strong>de</strong> novos<br />
projetos políticos, on<strong>de</strong> os grupos buscam a construção <strong>de</strong> um espaço institucionalizado <strong>de</strong><br />
propostas políticos e <strong>de</strong> conquistas <strong>de</strong>mocráticas, embora ainda se i<strong>de</strong>ntifique por parte do<br />
regime uma série <strong>de</strong> ações repressivas, com a atuação inclusive <strong>de</strong> grupos <strong>para</strong>militares, <strong>de</strong><br />
direita, promovendo um clima <strong>de</strong> terror entre a população.<br />
O assassinato <strong>de</strong> dois militantes da APML em 1974 em São Paulo, o sequestro <strong>de</strong><br />
membros do PCB em 1975, o assassinato <strong>de</strong> Wladimir Herzog e do operário Manoel Fiel<br />
filho em 1976 assim como a morte “mal explicada” da estilista Zuzu Angel; a invasão do<br />
PCB na Lapa, Rio <strong>de</strong> Janeiro e o assassinato <strong>de</strong> todos os seus dirigentes, a morte <strong>de</strong> um<br />
operário na realização <strong>de</strong> um piquete durante a greve dos metalúrgicos em São Paulo<br />
(ARAUJO, 2007). Todos estes crimes dão a percepção <strong>de</strong> que o projeto <strong>de</strong> abertura era<br />
repleto <strong>de</strong> incertezas e ambigüida<strong>de</strong>s. Criando <strong>de</strong>ntro da esquerda um campo aberto as<br />
divergências.<br />
A partir <strong>de</strong> 1979 inicia-se um movimento <strong>de</strong> retorno dos políticos cassados pela<br />
ditadura, com a Anistia Política, cuja Lei Nº 6.683 <strong>de</strong> 28/08/1979 13 conce<strong>de</strong>u a muitos<br />
presos e exilados políticos o direito <strong>de</strong> retornarem ao país ou serem libertos das prisões.<br />
Criam-se melhores condições <strong>para</strong> as mobilizações que culminarão em 1989 na primeira<br />
eleição presi<strong>de</strong>ncial direta no Brasil, após mais <strong>de</strong> 20 anos <strong>de</strong> regime ditatorial.<br />
Po<strong>de</strong>mos assumir a visão <strong>de</strong> que a década <strong>de</strong> 1980 foi uma dura travessia da<br />
ditadura à re<strong>de</strong>mocratização em que se explicitou, com mais clareza, os embates<br />
entre as frações <strong>de</strong> classe da burguesia brasileira (industrial, agrária e financeira)<br />
e seus vínculos com a burguesia mundial e <strong>de</strong>stas em confronto com a<br />
heterogênea classe trabalhadora e os movimentos sociais que se <strong>de</strong>senvolverem<br />
em seu interior. A questão <strong>de</strong>mocrática assume centralida<strong>de</strong> nos <strong>de</strong>bates e nas<br />
lutas em todos os âmbitos da socieda<strong>de</strong> ao longo <strong>de</strong>ssa década (FRIGOTTO,<br />
2006, p.34).<br />
Bolivar Lamounier, ao apresentar os eixos do <strong>de</strong>bate vigente na época consi<strong>de</strong>ra que<br />
13 Disponível em: http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1979/6683.htm acesso em 05/04/2008.<br />
55
(...) em termos substantivos, pelos menos três contrastes foram importantes<br />
durante os anos 80: uma forte expectativa <strong>de</strong> mudança do início da década,<br />
exponenciada pela campanha das diretas-já, contra a dura realida<strong>de</strong> do governo<br />
Sarney; a morosida<strong>de</strong> e as ambiguida<strong>de</strong>s da nossa abertura “lenta e gradual”<br />
contra a “boa” transição dos nossos vizinhos argentinos e uruguaios (ou Espanha<br />
e Portugal...); e um entendimento algo restritivo <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia (como subsistema<br />
político) contra outro talvez <strong>de</strong>masiado amplo (a idéia <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>mocrática, que por <strong>de</strong>finição teria <strong>de</strong> ser muito mais igualitária e praticamente<br />
sem vestígios <strong>de</strong> autoritarismo na cultura e nas relações sociais <strong>de</strong> modo geral<br />
(LAMOUNIER, 1990, p.03).<br />
A percepção <strong>de</strong>stes contrastes está, por exemplo, nas análises <strong>de</strong> conjuntura<br />
efetuadas pelos estudantes, diretores do Centro Cívico Santos Dumont (CCSD), ainda em<br />
1981 na ETFBA. Por influência <strong>de</strong> sua formação político-partidária ou por assumir uma<br />
posição mais crítica da realida<strong>de</strong>, eles manifestam uma compreensão daquele momento nos<br />
documentos divulgados à comunida<strong>de</strong> e um questionamento acerca do conteúdo da<br />
<strong>de</strong>mocracia proposta pelo governo Figueiredo.<br />
A cada instante é evi<strong>de</strong>nciada a contradição que há entre o sentimento <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>mocracia do povo e os limites impostos pelos governantes a este avanço.<br />
Enquanto fala-se em diálogo, ao mesmo tempo é acionada a Lei <strong>de</strong> Segurança<br />
Nacional contra sindicalistas, estudantes e populares. Enquanto a palavra<br />
Democracia é uma constante na Re<strong>de</strong> Globo, nas bases da socieda<strong>de</strong> vê-se<br />
violência Policial, Insensibilida<strong>de</strong> ao diálogo e força (ETFBA, Unida<strong>de</strong> e<br />
Democracia, 10/09/81).<br />
O documento dos estudantes, ainda em 1981, portanto na vigência da LSN (Lei <strong>de</strong><br />
Segurança Nacional), indica que o espaço <strong>de</strong> abertura e mobilização já estava aberto. Na<br />
verda<strong>de</strong>, o movimento estudantil já vinha <strong>de</strong> uma ação <strong>de</strong> enfrentamento que antece<strong>de</strong> o ano<br />
<strong>de</strong> 1979. Os estudantes baianos já haviam realizado a greve contra o jubilamento em 1975.<br />
Segundo Oliveira, a partir da segunda meta<strong>de</strong> da década <strong>de</strong> 70 há um ressurgimento<br />
do ME.<br />
O movimento estudantil se reorganizou. Em 1975 foram realizadas greves no Rio<br />
Gran<strong>de</strong> do Sul, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Rio <strong>de</strong> Janeiro, Bahia e<br />
Pernambuco. A primeira e mais importante foi <strong>de</strong>flagrada no dia 16 <strong>de</strong> abril na<br />
Escola <strong>de</strong> Comunicação e Artes da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo (ECA), contra a<br />
<strong>de</strong>cisão do diretor <strong>de</strong> <strong>de</strong>mitir quatro professores. A greve durou três meses e<br />
significou o ponto <strong>de</strong> partida <strong>para</strong> a formação <strong>de</strong> uma comissão universitária que<br />
se tornaria o embrião do DCE-livre da USP (OLIVEIRA 2002, p. 45).<br />
O encontro <strong>de</strong> refundação da UNE em 1979 é resultado <strong>de</strong>sta mobilização que já<br />
vinha sendo realizada nos anos anteriores. Do ponto <strong>de</strong> vista da reorganização da vida<br />
política no país, os anos oitenta se apresentam <strong>de</strong> forma peculiar, tendo em vista a forma<br />
56
contraditória como tal processo se dá. Para Frigotto, a importância <strong>de</strong>ste período está no<br />
rearranjo <strong>de</strong> forças em disputa por projetos societários e <strong>de</strong> educação. Deste modo, a<br />
educação profissional podia ser analisada <strong>de</strong> forma clara na medida em que o autor se<br />
aprofundava “na compreensão das mudanças <strong>de</strong> posicionamento das forças sociais em<br />
disputa” (FRIGOTTO, 2006, p.34).<br />
Roberto Leher afirma que<br />
O fim dos regimes militares no Cone Sul criou uma onda <strong>de</strong> otimismo em relação<br />
à <strong>de</strong>mocratização da socieda<strong>de</strong>, em especial, por meio do aprofundamento do<br />
caráter público do Estado, após o longo inverno da violência institucional. Mas a<br />
chamada transição não caminhou inexoravelmente <strong>para</strong> a <strong>de</strong>mocracia, como,<br />
aliás, a correlação <strong>de</strong> forças já indicava na época (LEHER, 2000, p.145).<br />
Esta época se <strong>de</strong>fine então como uma conjuntura em que, ao mesmo tempo, se tenta<br />
romper com o regime <strong>de</strong> ditadura e seu mo<strong>de</strong>lo econômico-social e se acumulam condições,<br />
assinalam <strong>de</strong>rrotas ou vitórias parciais no caminho da ruptura <strong>de</strong>ssa situação histórica <strong>para</strong><br />
uma transição que o tempo nos mostrou ter sido restrita.<br />
Frigotto consi<strong>de</strong>ra que a década se inicia em 1979, com o reaparecimento da classe<br />
trabalhadora e se encerra em 1989, com a queda do Muro <strong>de</strong> Berlin, como parte dos ditames<br />
estabelecidos no credo das políticas neoconservadoras ou neoliberais do Consenso <strong>de</strong><br />
Washington e na eleição <strong>de</strong> Fernando Collor.<br />
Os embates entre os operários do ABC paulista e o governo militar se acentuam a<br />
partir <strong>de</strong> 1978 e, gradualmente ocorrem mudanças significativas e <strong>para</strong>doxais <strong>de</strong>ntro da<br />
socieda<strong>de</strong> civil. Em uma conjuntura que caminhava <strong>para</strong> o maior equilíbrio entre o estado e<br />
a socieda<strong>de</strong> civil, embora a complexida<strong>de</strong> e o alargamento das classes e frações <strong>de</strong> classe<br />
fossem cada vez mais evi<strong>de</strong>ntes.<br />
O capital se reestrutura mediante “po<strong>de</strong>rosos aparelhos <strong>de</strong> hegemonia e instituições<br />
políticas” (FRIGOTO, 2006, p.34) como, por exemplo, a Re<strong>de</strong> Globo, além do<br />
fortalecimento dos organismos <strong>de</strong> classe do capital (CNI, FIESP etc.) e a UDR como<br />
expressão da resistência à Reforma Agrária se ramificando nos novos partidos com perfil <strong>de</strong><br />
direita (PP, PFL) e em um judiciário e executivo comprometido com o latifúndio.<br />
Entre as forças vinculadas à classe trabalhadora e seus interesses e <strong>de</strong>mandas,<br />
emergem novos sujeitos políticos como as CEBs (Comunida<strong>de</strong>s Eclesiais <strong>de</strong> Base), que<br />
assumem importante papel no início dos anos 1980. Há ainda a fundação do PT, cujo<br />
manifesto <strong>de</strong> criação é divulgado em 10/02/1980 e a criação da CUT (Central Única dos<br />
Trabalhadores), em julho <strong>de</strong> 1983, expressão do novo sindicalismo brasileiro. 1984 é o ano<br />
da organização oficial do MST (Movimento dos Sem-Terra),<br />
57
(...) que expressa o surgimento <strong>de</strong> um novo sujeito social, que coloca como pauta<br />
<strong>de</strong> luta o direito à terra e um novo projeto <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento das relações <strong>de</strong><br />
proprieda<strong>de</strong> no campo. A luta pela reforma agrária é a pedra angular, mas com a<br />
clareza <strong>de</strong> que ela, por si só, não representa uma ruptura com o capitalismo. O<br />
projeto do MST vai além das reformas <strong>para</strong> manter a or<strong>de</strong>m do capital e busca<br />
outras que promovam, no campo e na cida<strong>de</strong>, forças <strong>para</strong> um projeto que vise a<br />
superação (FRIGOTTO, 2006, p.36).<br />
O campo da cultura e da educação, embora inicialmente “incipientes” ganham<br />
priorida<strong>de</strong> e centralida<strong>de</strong> no final da década, muito em função das greves que se alastram e<br />
são amplamente noticiadas na mídia local e nacional naquele período. A primeira meta<strong>de</strong><br />
caracterizada por lentos movimentos <strong>de</strong> conquista <strong>de</strong>mocrática “e <strong>de</strong> clara resistência das<br />
forças da direita que estavam instaladas na força bruta da ditadura no tecido social amplo”<br />
(FRIGOTTO, 2006, p.36).<br />
Sinais da <strong>de</strong>mocratização se faziam presentes no final da censura oficial (fevereiro<br />
<strong>de</strong> 1980); no retorno dos exilados a partir <strong>de</strong> 1979; nas eleições diretas <strong>para</strong> governador em<br />
1982, com importante vitória do MDB, partido da oposição (ainda que “consentida”); na 1ª<br />
greve geral convocada pela CUT em julho <strong>de</strong> 1983; na apresentação da emenda das diretas<br />
pelo <strong>de</strong>putado Dante <strong>de</strong> Oliveira em 1984, embora a emenda tenha sido <strong>de</strong>rrotada em abril<br />
<strong>de</strong> 1984 e nos vários espaços forjados na luta cotidiana das associações <strong>de</strong> moradores, das<br />
organizações <strong>de</strong> bairros, na <strong>de</strong>manda por eleição <strong>para</strong> diretores das escolas públicas, no<br />
revigoramento do movimento estudantil em diversas cida<strong>de</strong>s do país, os quais passam a<br />
exigir uma gestão mais <strong>de</strong>mocrática no interior das escolas, bem como um re-or<strong>de</strong>namento<br />
econômico da socieda<strong>de</strong>.<br />
Estes sinais <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratização são analisados pelos estudantes no documento acima<br />
citado como conseqüência das <strong>de</strong>rrotas seqüenciais que o regime vinha sofrendo. A<br />
primeira <strong>de</strong>las é a vitória esmagadora da oposição em 1974, a qual, inclusive, tem como<br />
resposta a edição do chamado “Pacote <strong>de</strong> Abril,” 14 que fechou o Congresso Nacional por<br />
14 dias e baixou uma série <strong>de</strong> medidas objetivando manter uma maioria governista no<br />
senado.<br />
14 (...) uma das "novida<strong>de</strong>s" do chamado "Pacote <strong>de</strong> Abril" foi a criação da eleição indireta <strong>para</strong> 1/3 dos<br />
senadores, logo <strong>de</strong>nominados pejorativamente <strong>de</strong> "biônicos". Composto <strong>de</strong> 14 emendas e três artigos novos,<br />
além <strong>de</strong> seis <strong>de</strong>cretos-leis, o "Pacote" <strong>de</strong>terminou ainda, entre outras medidas: Eleições indiretas <strong>para</strong><br />
governador, com ampliação do Colégio Eleitoral; instituição <strong>de</strong> sublegendas, em número <strong>de</strong> três, na eleição<br />
direta dos senadores, permitindo à Arena recompor as suas bases e aglutiná-las sob o mesmo teto; ampliação<br />
das bancadas que representavam os estados menos <strong>de</strong>senvolvidos, nos quais a Arena costumava obter bons<br />
resultados eleitorais; extensão às eleições estaduais e fe<strong>de</strong>rais da Lei Falcão, que restringia a propaganda<br />
eleitoral no rádio e na televisão e fora criada <strong>para</strong> garantir a vitória governista nas eleições municipais <strong>de</strong> 1976;<br />
alteração do quorum - <strong>de</strong> 2/3 <strong>para</strong> maioria simples - <strong>para</strong> a votação <strong>de</strong> emendas constitucionais pelo Congresso;<br />
ampliação do mandato presi<strong>de</strong>ncial <strong>de</strong> cinco <strong>para</strong> seis anos (MOTA, 2009).<br />
58
Mas não é apenas no movimento estudantil que a participação juvenil será<br />
<strong>de</strong>stacada. Percebemos a inserção da juventu<strong>de</strong> em espaços diversos <strong>de</strong> participação. Sobre<br />
a atuação dos jovens em outras instâncias Castro e Abramovay indicam que<br />
A partir dos anos 70, acentua-se a visibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> representações juvenis em<br />
setores populares, como nos movimentos camponeses e nos agrupamentos<br />
políticos <strong>de</strong> esquerda, o que também provocou forte reação <strong>de</strong> controle por parte<br />
dos Estados. Nos anos 80, em muitos países da América Latina surgem novos<br />
movimentos juvenis <strong>de</strong> cunho popular e manifestações urbanas e rurais<br />
(CASTRO e ABRAMOVAY, 2002, p.5).<br />
Estas novas formas <strong>de</strong> participação coinci<strong>de</strong>m com importantes acontecimentos<br />
nacionais on<strong>de</strong> os jovens estarão diretamente ligados. Em 1982 ocorrem eleições <strong>para</strong><br />
governadores dos estados, havendo uma vitória maciça do PMDB, na época o principal<br />
partido <strong>de</strong> oposição. O PMDB contava com uma significativa participação dos jovens,<br />
principalmente os oriundos do Partido Comunista do Brasil, que buscavam no partido uma<br />
forma <strong>de</strong> participar do jogo <strong>de</strong>mocrático legalmente. No caso <strong>de</strong> Salvador, muitos<br />
candidatos originados no partido comunista chegam até a Câmera <strong>de</strong> Vereadores através do<br />
MDB e sua “ala jovem”.<br />
Em 1984, O movimento “Diretas já”, uma gran<strong>de</strong> mobilização dos mais variados<br />
setores da socieda<strong>de</strong> civil, e <strong>de</strong>mais setores da socieda<strong>de</strong> (Igreja, sindicatos, associações <strong>de</strong><br />
classe e partidos), unidos em um sentimento <strong>de</strong> construção da <strong>de</strong>mocracia, teve seu <strong>de</strong>sejo<br />
frustrado, com a <strong>de</strong>rrota da Emenda do <strong>de</strong>putado Dante <strong>de</strong> Oliveira pelo parlamento.<br />
Entretanto, a luta pelas eleições permanece durante todo o período especialmente a partir do<br />
governo Sarney, quando foi promulgada a nova constituição brasileira.<br />
A eleição <strong>de</strong> Tancredo Neves, em janeiro <strong>de</strong> 1985, foi proclamada como o<br />
nascimento da Nova República 15 . Contudo, a vitória <strong>de</strong> Tancredo não expressou a força das<br />
mobilizações populares, produzindo em muitas pessoas, especialmente da esquerda, um<br />
sentimento <strong>de</strong> retrocesso e frustração. Ficou ali explicitada a forma negociada como se <strong>de</strong>u<br />
transição. A morte <strong>de</strong> Tancredo, que não chegou a dirigir o país e foi sucedido por José<br />
Sarney, lí<strong>de</strong>r do governo durante a ditadura, aumentou a insatisfação.<br />
15 A este respeito publicou a folha <strong>de</strong> São Paulo em 16/01/1985:<br />
“Que seja uma <strong>de</strong>mocracia melhor<br />
A eleição <strong>de</strong> Tancredo Neves <strong>para</strong> a Presidência da República marca o fim <strong>de</strong> um ciclo na vida política brasileira. Se o<br />
momento é o da valorização da <strong>de</strong>mocracia, e da esperança <strong>de</strong> implantá-la em breve, não se trata contudo <strong>de</strong> simplesmente<br />
virar uma página na História do País, na recusa a encarar <strong>de</strong> frente o que foi o período autoritário e a avaliá-lo com<br />
maturida<strong>de</strong>. Sua memória não po<strong>de</strong> <strong>de</strong>saparecer na cômoda impressão <strong>de</strong> que, hoje, os <strong>de</strong>smandos e práticas con<strong>de</strong>náveis<br />
que o caracterizaram não seriam mais concebíveis, ou <strong>de</strong> que são felizmente coisa do passado”. Não pretendo discutir por<br />
ora a morte <strong>de</strong> Tancredo e o fato do principal lí<strong>de</strong>r do governo militar, José Sarney, assumir a presidência.<br />
59
Enfim, a instauração da chamada Nova República se <strong>de</strong>u por meio <strong>de</strong> uma<br />
reorganização das forças políticas dominantes no país, num processo que<br />
manteve no po<strong>de</strong>r as velhas classes políticas que apoiaram o regime ditatorial,<br />
sem incluir as reivindicações das classes populares, a não ser na medida mínima<br />
necessária. Foi uma “transição <strong>de</strong> continuida<strong>de</strong>”, meramente formal, pois não<br />
trazia mudanças efetivas na socieda<strong>de</strong> brasileira no que se refere à sua estrutura<br />
<strong>de</strong>sigual, à pobreza, à miséria, à falta <strong>de</strong> acesso à educação etc. A rigor, a<br />
transição <strong>para</strong> a <strong>de</strong>mocracia foi, sob muitos aspectos, uma ilusão (MINTO, 2006,<br />
p.08).<br />
Assim, o primeiro governo civil, se caracterizou pela presença <strong>de</strong> um presi<strong>de</strong>nte que<br />
não foi eleito e por um ministério on<strong>de</strong> muitos membros haviam ocupado <strong>de</strong>staque no<br />
regime militar, numa clara <strong>de</strong>monstração <strong>de</strong> continuida<strong>de</strong>. A presença baiana teve como<br />
principal representante Antonio Carlos Magalhães, que ocupou o Ministério das<br />
Comunicações, além <strong>de</strong> indicar outros membros do Executivo, ocupantes <strong>de</strong> cargos<br />
menores.<br />
Mas a inserção <strong>de</strong> ACM na política nacional vinha ganhando <strong>de</strong>staque <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o<br />
regime militar. A revista “Veja” 16 em sua edição <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 1979 traz uma entrevista com<br />
o político baiano, discutindo entre outras questões sobre as dificulda<strong>de</strong>s que esperam o<br />
governo Figueiredo, recém empossado e a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> entendimento entre o MDB<br />
(Movimento Democrático Brasileiro) e a ARENA (Aliança Renovadora Nacional).<br />
A presença <strong>de</strong> ACM na revista não se dará apenas nesta questão. Em 1981 ele volta<br />
a ocupar as páginas da revista por conta do “quebra-quebra dos ônibus na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Salvador. Na edição <strong>de</strong> 09/09/1981 a “Veja” traz um reportagem sobre os tumultos<br />
ocorridos na cida<strong>de</strong> e, ao lado da sua foto aparece a seguinte frase: “or<strong>de</strong>m é indispensável”,<br />
evi<strong>de</strong>nciando a sua concepção <strong>de</strong> gestão da cida<strong>de</strong>. Este tema será retomado no capítulo em<br />
que discutimos os eventos ocorridos na escola <strong>de</strong> forma mais efetiva.<br />
Em 1987, a Assembléia Nacional Constituinte reúne-se <strong>para</strong> elaborar uma nova<br />
constituição <strong>para</strong> o país, a qual é promulgada em 1988 e que, em vários aspectos apresentou<br />
significativos avanços sociais, trabalhistas etc. superando inclusive países do “primeiro<br />
mundo” por sua garantia <strong>de</strong> direitos a todos os cidadãos. Embora muitos direitos<br />
assegurados não tenham saído do papel e hoje tenham retrocedido, sendo revistos e<br />
alterados em emendas à Constituição, principalmente no que tange aos direitos dos<br />
trabalhadores.<br />
Em que pese os avanços obtidos com a constituição <strong>de</strong> 1988, se tornou insolúvel ao<br />
olhar do cientista político a equação entre liberda<strong>de</strong> política e igualda<strong>de</strong> social. Embora a<br />
socieda<strong>de</strong> avançasse nos rumos <strong>de</strong> uma abertura que permitia a ampliação das esferas<br />
16 Disponível em http://www.veja.com.br/acervodigital/home.aspx acesso em 20/06/2009.<br />
60
públicas <strong>de</strong> participação, isto não significou que a questão da <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> social fosse<br />
equacionada. Pelo contrário, ampliava-se a pobreza e a miséria entre a população.<br />
Esta <strong>de</strong>sarticulação entre liberda<strong>de</strong> política e igualda<strong>de</strong> social nas votações da<br />
constituição é analisada por Weffort sob três aspectos:<br />
(...) a nova constituição é a expressão política <strong>de</strong> uma conjunção <strong>de</strong> forças –<br />
resultante da aliança entre “mo<strong>de</strong>rados” da oposição e “liberalizantes” do regime<br />
militar – que dirigiu a transição <strong>de</strong>mocrática <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1984. (...) a nova constituição<br />
<strong>de</strong>fine instituições políticas cujas características pressupõem uma or<strong>de</strong>m política<br />
<strong>de</strong>mocrática liberal. (...) nesta nova or<strong>de</strong>m político institucional as “questões<br />
sociais” foram acrescentadas à margem. (WEFFORT, 1988, p.17-18).<br />
Entre as polêmicas relativas à nova Constituição uma das principais diz respeito “à<br />
legitimida<strong>de</strong> das formas <strong>de</strong> Assembléia Constituinte propostas pelas diversas correntes<br />
políticas e pelo governo” (LIRA, p. 01). Segundo Rubens Pinto Lira, estas questões<br />
fundamentais <strong>para</strong> o exercício <strong>de</strong>mocrático <strong>de</strong>ixaram à mostra as cisões no âmbito da<br />
esquerda nacional que se dividiu mediante as propostas <strong>de</strong> estruturação da nova<br />
Constituição.<br />
O que reflete diferentes concepções <strong>de</strong> transição <strong>de</strong>mocrática, em gran<strong>de</strong> parte<br />
fundadas em divergências profundas sobre a importância dos espaços <strong>de</strong> atuação<br />
institucional, sobre a contribuição dos movimentos sociais à construção<br />
<strong>de</strong>mocrática e a intervenção popular no processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão política (LIRA, p.<br />
19) 17 .<br />
Os impasses 18 relativos refletem ainda, segundo Com<strong>para</strong>to, a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
legitimação do po<strong>de</strong>r estabelecido após o fim do governo militar, mantendo, contudo, a<br />
mesma lógica que tinha como pressuposto a idéia <strong>de</strong> uma “transição lenta gradual e segura”,<br />
17 O <strong>texto</strong> não possui data, e está disponível em:<br />
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/in<strong>de</strong>x.php/sequencia/article/viewFile/940/936 acesso em 02/07/2009.<br />
18 Florestan Fernan<strong>de</strong>s em sua coluna no jornal Folha <strong>de</strong> São Paulo, publicou em 11/06/1986 o artigo “A<br />
esquerda e a Constituição” on<strong>de</strong> expressava estes impasses envolvendo a esquerda brasileira e do qual<br />
transcrevemos o trecho a seguir:<br />
“Dirijo estas reflexões aos meus companheiros da esquerda, <strong>de</strong> todas as correntes político-i<strong>de</strong>ológicas, e aos<br />
representantes da chamada esquerda parlamentar do radicalismo burguês que, finalmente, começa a emergir,<br />
especialmente no PMDB. Porém meu diálogo se volta <strong>para</strong> a CUT, a CGT, a oposição Sindical, a Contag, o<br />
PT, o PDT, o PSB, o PC do B, o MR-8 e os vários agrupamentos anarquistas, socialistas “<strong>de</strong>mocráticos”,<br />
trotskistas, comunistas, basistas radicais ou marxistas etc., ainda abrigados em partidos legais. A esquerda<br />
<strong>de</strong>vora a esquerda; ela não parte <strong>de</strong> um equacionamento objetivo das tarefas políticas das classes trabalhadoras<br />
da cida<strong>de</strong> e do campo, no momento atual, mas <strong>de</strong> fantasmas que rondam a imaginação infantil do sectarismo<br />
doutrinário. Na maioria das vezes, esses fantasmas proce<strong>de</strong>m das gran<strong>de</strong>s revoluções proletárias da nossa época<br />
e das modas que circulam nos centros culturais imperiais. Outras vezes, eles nascem <strong>de</strong> motivos “táticos”, que<br />
não possuem realida<strong>de</strong> proletária (socialista ou comunista), <strong>de</strong>itando suas raízes em conciliações com os <strong>de</strong><br />
cima, que traem os interesses das classes trabalhadoras. Ora, é urgente que se enterrem tais fantasmas e que<br />
uma união à esquerda, ainda que “tática” e “provisória” prevaleça no campo político, particularmente durante a<br />
eleição dos representantes dos movimentos operários e sindicais no próximo congresso Constituinte e, com<br />
maior razão, durante a elaboração da nova Carta Constitucional” (FERNANDES, 2007, p. 32).<br />
61
assim como já havia sido a primeira eleição <strong>de</strong> um civil no pós-golpe. Deste modo ele<br />
afirma que<br />
O que se quer é a legitimação do mesmo sistema <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, que vigorou <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 64<br />
e que agora conheceu uma espécie <strong>de</strong> “make up”, no sentido <strong>de</strong> tirar da sua<br />
aparência os traços mais aberrantes, menos capazes <strong>de</strong> serem absorvidos pelo<br />
povo (BENEVIDES e COMPARATO, 1986, p. 84).<br />
Esta necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> legitimação do po<strong>de</strong>r era evi<strong>de</strong>nte <strong>para</strong> o autor que exemplifica<br />
com três questões: em primeiro lugar, o presi<strong>de</strong>nte que assumira o po<strong>de</strong>r, José Sarney, não<br />
foi escolha dos militares; não foi eleito pelo voto direto, do qual, aliás, foi um dos<br />
opositores, recusando-se, junto com sua bancada no congresso em votar a emenda das<br />
diretas; não foi também eleito pelo colégio eleitoral, ocupando a presidência em virtu<strong>de</strong> da<br />
morte do Presi<strong>de</strong>nte eleito pelo colégio eleitoral, Tancredo Neves. Sua situação gerava<br />
<strong>de</strong>sconfortos a ponto <strong>de</strong> políticos da oposição como, por exemplo, Leonel Brizola<br />
questionarem sobre a sua permanência no cargo após a promulgação da Constituição. De<br />
outro lado, o próprio congresso necessitava <strong>de</strong> uma legitimação jurídica<br />
A nova constituição é importante <strong>para</strong> o congresso porque sobre ele pesa um<br />
processo <strong>de</strong> corrosão paulatina, sua autorida<strong>de</strong> política e sua autorida<strong>de</strong> moral<br />
vêem-se contestadas, e uma nova constituição, feita justamente pelo próprio<br />
congresso, daria a ele (segundo o pensamento dos autores <strong>de</strong>ssa proposta) um<br />
novo alento (COMPARATO, 1986, p. 85).<br />
Na posição contrária aos homens do po<strong>de</strong>r, contudo, ou o “nosso objetivo”, como<br />
afirma Com<strong>para</strong>to (1986), a eleição da Assembléia Constituinte busca uma ruptura, quer<br />
marcar o fim do regime exaurido em suas propostas políticas, econômicas e sociais,<br />
tornando-se o marco inicial <strong>de</strong> um novo esquema <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r.<br />
Embora houvesse certa <strong>de</strong>sconfiança sobre os rumos <strong>de</strong>sta nova constituição, houve<br />
neste período uma significativa participação popular. O povo permaneceu mobilizado,<br />
atuando diretamente na elaboração <strong>de</strong> emendas populares, sendo as praças públicas um<br />
espaço efetivo <strong>de</strong> coleta <strong>de</strong> assinaturas <strong>para</strong> as mais variadas <strong>de</strong>mandas. O que não significa<br />
que a palavra lobby não tenha sido introduzida no jargão popular, indicando a presença <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>rosos grupos econômicos, representados pelos <strong>de</strong>putados fe<strong>de</strong>rais, cujas campanhas<br />
foram por estes financiadas.<br />
O ano <strong>de</strong> 1989 é marcado pela primeira eleição presi<strong>de</strong>ncial direta no Brasil após o<br />
golpe, cuja disputa foi bastante acirrada. O segundo turno concentra-se entre o candidato da<br />
direita, Fernando Collor, apoiado pelas forças conservadoras, que apresentava um discurso<br />
62
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> e foi apelidado “o caçador <strong>de</strong> marajás” (imagem midiática produzida<br />
principalmente pela Re<strong>de</strong> Globo) e o candidato Luís Inácio da Silva, concentrando ao seu<br />
redor a maior parte dos partidos <strong>de</strong> esquerda. Collor venceu a eleição após uma campanha<br />
que levantou muitas polêmicas acerca da ética na política e nos meios <strong>de</strong> comunicação.<br />
1.1 A “Abertura” na Bahia<br />
Durante o período <strong>de</strong> 1979 a 1988, ocorreram inúmeras manifestações na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Salvador, cujas mobilizações eram organizadas e conjugadas com ações coletivas<br />
caracterizadas pelo radicalismo e violência tanto por parte do estado, como da própria<br />
população. Um período em que a relação do estado com a socieda<strong>de</strong> civil implicou na<br />
criação <strong>de</strong> novos espaços <strong>de</strong> interlocução e intervenção social, “com um comportamento<br />
mais flexível face às <strong>de</strong>mandas e pressões por parte dos diferentes setores”, embora o<br />
estado em certos momentos se apresentasse ainda como inflexível e autoritário e a<br />
socieda<strong>de</strong> civil conflitiva, dinâmica e violenta (CARVALHO, 1991, p. 22).<br />
Para Carvalho, os anos 1979 a 1988<br />
(...) tem uma notável importância histórica por dois motivos principais: o<br />
primeiro, por significar a intensificação da dinâmica histórica dos movimentos<br />
sociais na construção da história contemporânea, reafirmando a importância da<br />
trajetória dos sujeitos na caracterização das conjunturas mais marcantes. (...)<br />
aquela conjuntura que se distingue pelo <strong>de</strong>smonte do regime militar e a<br />
implantação <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>mocracia política, ou a transição do regime. O segundo<br />
motivo relevante diz respeito ao papel <strong>de</strong>sempenhado pelos movimentos sociais<br />
nesta reconstrução (CARVALHO, 1991, p. 124).<br />
Salvador se caracterizava como uma cida<strong>de</strong> on<strong>de</strong> o contingente <strong>de</strong> pobreza assumia<br />
índices alarmantes. Em julho <strong>de</strong> 1980, o <strong>de</strong>semprego era <strong>de</strong> quase 10%, sendo que a<br />
indústria absorvia uma quantida<strong>de</strong> pequena <strong>de</strong> mão-<strong>de</strong>-obra. Esta pobreza se acentuava, na<br />
medida em que ocorria a expansão da Região Metropolitana <strong>de</strong> Salvador. Para a autora, é na<br />
supressão das condições <strong>de</strong> cidadania tanto civil quanto social que os movimentos sociais<br />
vão incidir <strong>de</strong> forma mais efetiva (CARVALHO, 1991).<br />
Vários elementos contribuem <strong>para</strong> afirmar que a cida<strong>de</strong> estava mobilizada e<br />
<strong>de</strong>cidida a forjar a participação popular. Des<strong>de</strong> os anos 70, várias entida<strong>de</strong>s organizadas em<br />
conjunto com a Igreja Católica criam o Trabalho Conjunto da Cida<strong>de</strong> do Salvador. Segundo<br />
Espiñera<br />
63
(...) com uma composição social das mais amplas, consistindo uma espécie <strong>de</strong><br />
“pronto-socorro comunitário”, diante das ameaças cada vez mais freqüentes <strong>de</strong><br />
moradores <strong>de</strong> locais públicos: “os bairros viam-no, muitas vezes como agência <strong>de</strong><br />
prestação <strong>de</strong> serviços” (ESPIÑERA, 1997, p.49).<br />
O Trabalho Conjunto, embora não fosse registrado como uma entida<strong>de</strong> <strong>de</strong> utilida<strong>de</strong><br />
pública possuía uma carta <strong>de</strong> princípios, on<strong>de</strong> apresentava suas mais importantes<br />
preocupações 19 ·. Era dirigido por uma coor<strong>de</strong>nação composta <strong>de</strong> representantes <strong>de</strong> vários<br />
setores profissionais, profissionais liberais, bairros, grupos religiosos, culturais, artistas,<br />
jornalistas e intelectuais que se reuniam toda semana no Mosteiro <strong>de</strong> São Bento.<br />
Muitos eventos políticos ocorridos em Salvador neste período tiveram participação<br />
direta do Trabalho Conjunto como, por exemplo, a passeata em repúdio à invasão da<br />
Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília em 1977 com cinco mil estudantes baianos. O apoio à greve dos<br />
estudantes da Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Agronomia da UFBA em 1978, além <strong>de</strong> <strong>de</strong>zenas <strong>de</strong> atos<br />
relativos à moradia e a criação do MCC (Movimento Contra a Carestia), trazido <strong>de</strong> São<br />
Paulo. O Trabalho Conjunto se extingue em 1981, <strong>de</strong>vido a um racha no PC do B, e um<br />
esvaziamento dos quadros do partido, o qual se mantém a partir daí com maior <strong>de</strong>staque no<br />
Movimento Estudantil (ESPIÑERA, 1997, p.53).<br />
Ainda em 1979 surge a FABS (Fe<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> Associações <strong>de</strong> Bairro <strong>de</strong> Salvador),<br />
estimulada por partidos políticos e militantes da Igreja, ligados a Teologia da Libertação.<br />
Surgem também novos atores sociais que passam a expressar sua voz como o MNU<br />
(Movimento Negro Unificado) e o Movimento <strong>de</strong> Mulheres Brasil Mulher. Em 1980, ocorre<br />
o Primeiro <strong>de</strong> Maio Unificado e In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, on<strong>de</strong> mais <strong>de</strong> cinco mil pessoas se reúnem<br />
na Praça do Campo Gran<strong>de</strong>, com as forças sindicais ganhando visibilida<strong>de</strong>.<br />
Neste processo intitulado <strong>de</strong> “abertura política”, temos como dito antes, o<br />
ressurgimento do movimento estudantil, cujas manifestações sofriam censuras e limitações<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> a lei Suplicy <strong>de</strong> Lacerda 20 e do AI-5 21 . Junto a outros movimentos sociais e políticos,<br />
como o MCC, o movimento das “diretas já” ou <strong>de</strong> forma in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, a UNE e os<br />
estudantes secundaristas, pouco a pouco voltam a atuar politicamente. É realizado em<br />
Salvador o primeiro congresso da UNE em 1979 e os estudantes secundaristas também se<br />
19 Luta pelo direito <strong>de</strong> greve; pelo direito <strong>de</strong>, sem interferência do governo, serem formadas associações <strong>de</strong><br />
bairros, sindicatos urbanos e rurais, comissões <strong>de</strong> fábrica, centro estudantil; pela livre manifestação do<br />
pensamento; contra o aumento do custo <strong>de</strong> vida, contra a falta <strong>de</strong> emprego; contra a expulsão dos camponeses<br />
<strong>de</strong> suas terras e dos moradores das invasões da cida<strong>de</strong>; pela participação <strong>de</strong> todos os setores preservando a<br />
autonomia <strong>de</strong> cada um (ESPIÑERA, 1997, P.49).<br />
20 Disponível em : acesso em 08/05/2009.<br />
21 Disponível em: http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_6.htm acesso em 08/05/2009.<br />
64
eúnem em Curitiba, refundando a UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas)<br />
em 1980. (BENEVIDES, 1999).<br />
1.2 Conjuntura Econômica Baiana<br />
“Década perdida”, é o modo como muitos autores se referem aos anos 80,<br />
especialmente consi<strong>de</strong>rando a crise econômica que alastrou o país naquele período. O fim<br />
do “Milagre Econômico” <strong>de</strong>tona um aprofundamento da crise econômica que se reflete em<br />
todos os setores da socieda<strong>de</strong>. Um fraco <strong>de</strong>sempenho econômico se com<strong>para</strong>rmos com as<br />
décadas anteriores e poucas realizações. Mas, contraditoriamente, um período rico na<br />
amplitu<strong>de</strong> da participação popular, em parte creditadas a uma carência realmente<br />
consi<strong>de</strong>rável, <strong>de</strong>corrente do <strong>de</strong>semprego e do constante aumento dos preços. E também a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> reversão do quadro <strong>de</strong> autoritarismo a que todos estavam sujeitos.<br />
Do ponto <strong>de</strong> vista das relações <strong>de</strong> trabalho, os anos 1980 são reconhecidos como o<br />
momento <strong>de</strong> consolidação e difusão da Terceira Revolução Industrial, caracterizada pela<br />
crescente informatização e automação e pela introdução <strong>de</strong> novas práticas <strong>de</strong> gestão e<br />
organização do trabalho, baseadas no mo<strong>de</strong>lo japonês.<br />
Segundo Druck (1999, p. 31)<br />
No último quartel <strong>de</strong>ste século, ocorre a Terceira Revolução Industrial, em que a<br />
base tecnológica – através da microeletrônica – revoluciona as práticas <strong>de</strong><br />
produção, comunicação e organização do trabalho. A velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong>stas<br />
mudanças, em cem anos, e suas implicações sobre a vida social é uma das<br />
diferenças fundamentais presentes no século XX em relação ao século XIX.<br />
Mudanças qualitativas e quantitativas ocorrem também na economia <strong>de</strong> mercado,<br />
com o superdimensionamento do mercado financeiro<br />
(...) e o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>sta tendência do capitalismo mundial, que aponta <strong>para</strong><br />
um contínuo crescimento do capital produtivo, à medida que o retorno<br />
proveniente da especulação não só é maior, como é muito mais rápido. Isto tem<br />
implicado, no plano mais geral do sistema, uma redução <strong>de</strong> investimentos na<br />
produção e, <strong>de</strong>sta forma, a lógica financeira vai se sobrepondo à lógica produtiva<br />
(DRUCK, 1999, p. 32).<br />
A principal conseqüência <strong>de</strong>stas políticas econômicas é o <strong>de</strong>semprego estrutural e o<br />
aprofundamento da exclusão, o que significa, nos países periféricos, uma regressão. Do<br />
ponto <strong>de</strong> vista do ensino industrial, segundo Druck, houve, ainda na primeira fase <strong>de</strong><br />
industrialização nacional, por parte dos empresários um incentivo à sua expansão, pautado<br />
65
na preocupação <strong>de</strong> qualificação da mão-<strong>de</strong>-obra <strong>para</strong> que pu<strong>de</strong>sse substituir operários<br />
estrangeiros, fonte <strong>de</strong> efervescência política e lutas sindicais.<br />
Este fenômeno ocorre ainda na primeira fase <strong>de</strong> implantação do taylorismo no país,<br />
expressando o <strong>de</strong>senvolvimento do capitalismo, o esgotamento do mo<strong>de</strong>lo primárioexportador<br />
e o surgimento da burguesia industrial. A criação das escolas <strong>de</strong> engenharia,<br />
cujo perfil e conteúdo dos cursos propunham formar o engenheiro <strong>para</strong> assumir a mediação<br />
entre a tecnologia e o capital/trabalho, é exemplar da i<strong>de</strong>ologia dominante no período. A<br />
implantação do mo<strong>de</strong>lo fordista obe<strong>de</strong>ce a um padrão autoritário, o qual nunca se<br />
consolidou por <strong>completo</strong>.<br />
No final dos anos 1970 há um aprofundamento da crise estrutural e o esgotamento<br />
do mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> substituição <strong>de</strong> importações. Deste modo, na década seguinte a economia é<br />
gestada sem esforços <strong>para</strong> a criação <strong>de</strong> condições ou proposição <strong>de</strong> mudanças estruturais e<br />
os governos não rompem com o mo<strong>de</strong>lo anterior. São políticas econômicas voltadas ao<br />
atendimento dos credores externos, com sucessivos reajustes, altos juros <strong>para</strong> rolagem da<br />
dívida interna, recorrentes planos <strong>de</strong> estabilização a fim <strong>de</strong> combater a inflação aten<strong>de</strong>ndo<br />
aos ditames dos organismos financeiros internacionais (FMI e BIRD).<br />
Para Druck, a estrutura produtiva não apresenta nenhuma política cientifica ou<br />
tecnológica, tendo como marca a “estagnação tecnológica, con<strong>de</strong>nando vários setores<br />
industriais a perdas crescentes <strong>de</strong> produtivida<strong>de</strong>” (DRUCK, 2006, p.65). A autora i<strong>de</strong>ntifica<br />
assim a ausência <strong>de</strong> um projeto nacional alternativo e o aprofundamento da crise <strong>de</strong><br />
hegemonia do país, com importantes manifestações <strong>de</strong>sta crise na ação dos movimentos<br />
sociais, no fortalecimento do novo sindicalismo e no surgimento das centrais sindicais e das<br />
conquistas <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> partidária.<br />
De outro lado, a implementação das políticas <strong>de</strong>finidas pelo chamado Consenso <strong>de</strong><br />
Washington, não ocorreu da mesma forma em todos os países. No caso dos países<br />
periféricos ela variou em <strong>de</strong>corrência da capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> resistência interna <strong>de</strong> cada país. O<br />
caso brasileiro é exemplar, segundo Druck<br />
O Brasil é um exemplo <strong>de</strong>stas diferenças. É possível afirmar que foi um dos<br />
últimos países a se subordinarem ao Consenso <strong>de</strong> Washington, o que aconteceu<br />
<strong>de</strong> forma mais completa com o plano real e a eleição <strong>de</strong> Fernando Henrique<br />
Cardoso <strong>para</strong> a presidência da República (DRUCK, 1999, p. 28).<br />
Para a autora, havia ainda um “atraso na constituição <strong>de</strong> uma cultura política com<br />
fortes representações sindicais” (I<strong>de</strong>m, p. 58), <strong>de</strong> modo que não se formou <strong>de</strong> imediato uma<br />
66
organização sindical que acompanhasse o <strong>de</strong>senvolvimento da indústria, tal como ocorrera<br />
em outros países.<br />
Guimarães aponta a redução da compulsão i<strong>de</strong>ológica e política dos trabalhadores, a<br />
qual se dava pela “ausência <strong>de</strong> uma tradição local e <strong>de</strong> uma cultura operária suficientemente<br />
internalizada pelos trabalhadores”, inibindo que as suas aspirações operárias fossem<br />
reproduzidas (CASTRO e GUIMARAES, 1995, p.20). O investimento proletário é então<br />
transitório, e embora essa classe operária tenha se consolidado e fosse politicamente<br />
mobilizada por um discurso socialista, poucos trabalhadores internalizavam o projeto<br />
operário como horizonte necessário dos seus <strong>de</strong>stinos pessoais. Ou seja, em médio prazo,<br />
suas carreiras seriam re<strong>de</strong>finidas tendo em vista o caráter transitório da sua condição <strong>de</strong><br />
operário.<br />
Este fato po<strong>de</strong> ser comprovado empiricamente através dos nossos entrevistados, os<br />
quais embora tenham a<strong>de</strong>ntrado a vida na fábrica durante um <strong>de</strong>terminado período, acabam<br />
ampliando sua formação na universida<strong>de</strong> e ocupam postos <strong>de</strong> trabalho em outros espaços,<br />
afastando-se paulatinamente do trabalho técnico <strong>para</strong> o qual foram pre<strong>para</strong>dos na escola<br />
técnica.<br />
Apesar da crise que atingia toda a socieda<strong>de</strong> e, especialmente, o mercado <strong>de</strong><br />
trabalho, alguns setores procuraram respon<strong>de</strong>r a estas condições históricas, às exigências <strong>de</strong><br />
uma nova re<strong>de</strong>finição internacional do trabalho e das bases <strong>de</strong> competitivida<strong>de</strong> do mercado<br />
internacional. Mas as mudanças mais significativas só ocorrem <strong>de</strong> fato a partir dos anos 90<br />
com a implantação do mo<strong>de</strong>lo japonês, embora os estudos já apontem uma gran<strong>de</strong><br />
heterogeneida<strong>de</strong> nas indústrias e uma difusão gradual <strong>de</strong> novas formas <strong>de</strong> gestão do trabalho<br />
e da produção. A prática do CCQ 22 , por exemplo, é um dos modos <strong>de</strong> inovação da estrutura<br />
organizacional das fábricas.<br />
Esta tática surge como resposta a uma situação econômica recessiva, principalmente<br />
no inicio da década <strong>de</strong> 80, ao mesmo tempo em que é uma resposta à mobilização intra e<br />
extra-fabril, por uma maior participação e <strong>de</strong>mocracia (DRUCK, 1999, p.102). Embora a<br />
autora indique que a implantação do CCQ não foi adiante, sendo substituído posteriormente<br />
por outras práticas <strong>de</strong> gerenciamento. A oposição dos sindicatos e a resistência das próprias<br />
empresas, através dos seus gerentes e supervisores, são apontadas como razões, além da<br />
cultura autoritária vigente na indústria nacional, <strong>para</strong> o insucesso <strong>de</strong> tais formas <strong>de</strong><br />
organização do trabalho.<br />
22 Segundo Minayo (2004, p. 321), os CCQs se “constituem como pequenos grupos <strong>de</strong> trabalhadores que atuam<br />
ma mesma área e se reúnem regularmente <strong>para</strong> analisar questões operacionais <strong>de</strong> seu local <strong>de</strong> trabalho e no seu<br />
nível <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão, visando solucionar problemas a partir da experiência dos operários”.<br />
67
Em meados dos anos 80, com a retomada do crescimento econômico, são difundidas<br />
novas práticas como o “Just in Time”, o programa <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> total e o controle estatístico<br />
do processo. Também estas aplicações do mo<strong>de</strong>lo japonês se concentram no setor<br />
automobilístico, lí<strong>de</strong>r na adoção <strong>de</strong> políticas <strong>de</strong> organização e gestão do trabalho e <strong>de</strong><br />
inovações tecnológicas.<br />
O cenário da indústria <strong>de</strong>sta década é pautado pelo conflito entre as mudanças<br />
tecnológicas e organizacionais e a <strong>de</strong>mocratização da socieda<strong>de</strong>, cujos sindicatos <strong>de</strong><br />
trabalhadores industriais tiveram papel fundamental. A forte <strong>de</strong>manda por bens duráveis<br />
que caracterizou os anos 70 com uma política salarial <strong>de</strong> privilégio às classes médias, apesar<br />
da alta concentração <strong>de</strong> renda é substituída na década seguinte por um alto endividamento<br />
externo, elevação das taxas <strong>de</strong> juros em <strong>de</strong>corrência dos empréstimos internacionais e em<br />
políticas que causaram o encolhimento do mercado interno, exigindo novos padrões<br />
tecnológicos e organizacionais. Assim, com<strong>para</strong>tivamente, elaboramos um quadro a partir<br />
da obra <strong>de</strong> Graça Druck (DRUCK, 1999) acerca dos anos 70 e 80.<br />
Anos 1970<br />
Uso predatório da força <strong>de</strong> trabalho;<br />
Maior rotativida<strong>de</strong> e menor qualificação;<br />
Gran<strong>de</strong> papel dos supervisores (arbitrários e<br />
autoritários);<br />
Inexistência <strong>de</strong> organização por local <strong>de</strong><br />
trabalho.<br />
Repressão ao sindicato.<br />
Elaborado pela autora, conforme Druck, 1999.<br />
Anos 1980<br />
Maior procura por trabalhadores mais<br />
qualificados;<br />
Maior estabilida<strong>de</strong> da força <strong>de</strong> trabalho;<br />
Ressurgimento das comissões <strong>de</strong> fábrica;<br />
Êxito dos programas <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>.<br />
Criação <strong>de</strong> mecanismos <strong>de</strong> negociação<br />
coletiva entre trabalhadores e empresários.<br />
68
O con<strong>texto</strong> econômico explicitado na tabela acima <strong>de</strong>monstra a interferência do<br />
capital sobre as condições <strong>de</strong> trabalho, promovendo uma reestruturação não apenas nos<br />
espaços fabris, mas também no interior da ETFBA, cujo momento áureo ocorre nas décadas<br />
<strong>de</strong> 60 e 70 com a implantação do pólo industrial no Estado. Segundo Jeferson Bacelar 23 , a<br />
escola técnica é a motriz do <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>ste processo no país. A única experiência<br />
bem sucedida <strong>de</strong> educação pública, criada <strong>para</strong> aten<strong>de</strong>r o mercado e cumprindo muito bem<br />
esta função, formando profissionais bem qualificados e respeitados no mercado <strong>de</strong> trabalho.<br />
Com a queda do processo <strong>de</strong> produção fordista, que exige outros tipos <strong>de</strong><br />
profissionais, especificamente na área <strong>de</strong> serviços, a escola não consegue acompanhar as<br />
mudanças e as <strong>de</strong>mandas do mercado. Deste modo, a crise que se abate na socieda<strong>de</strong> sobre<br />
os anos 80 repercute <strong>de</strong> forma variada na re<strong>de</strong> fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> escolas técnicas. De um lado,<br />
significa a ampliação do ingresso da classe média, que busca uma forma <strong>de</strong> obter ensino <strong>de</strong><br />
qualida<strong>de</strong> com vistas ao ingresso no ensino superior ou a uma ascensão no mercado <strong>de</strong><br />
trabalho <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma condição <strong>de</strong> bons salários. De outro lado, representa a união dos<br />
estudantes e professores a fim <strong>de</strong> garantir a existência da escola, tendo em vista as<br />
constantes movimentações governamentais no sentido <strong>de</strong> estadualizar ou transformar a<br />
escolas fe<strong>de</strong>rais em institutos do tipo SENAI (Serviço Nacional da Indústria).<br />
Mas a inserção <strong>de</strong>ste ex-aluno no mercado <strong>de</strong> trabalho se expressa <strong>de</strong> forma<br />
contraditória, uma vez que a crise que afeta a indústria brasileira não o faz <strong>de</strong> igual modo<br />
em todas as regiões e a fronteira industrial nor<strong>de</strong>stina se consolida “justamente no <strong>de</strong>correr<br />
dos anos 80, por meio <strong>de</strong> incentivos fiscais e financeiros, principalmente na área <strong>de</strong><br />
influência do Pólo Petroquímico <strong>de</strong> Camaçari” (CASTRO e GUIMARAES, 1995, p.19).<br />
Isto permite, por exemplo, o surgimento <strong>de</strong> novos atores sociais no campo sindical por toda<br />
a década.<br />
Consi<strong>de</strong>rando a conjuntura econômica do período, este fenômeno po<strong>de</strong> estar<br />
associado à crise econômica e à redução dos postos <strong>de</strong> trabalho nas indústrias, mas, segundo<br />
GUIMARÃES (1985), fatores subjetivos <strong>de</strong>vem ser consi<strong>de</strong>rados no caso do operariado<br />
baiano. Nossas investigações <strong>de</strong>monstraram que apesar da crise econômica o mercado <strong>de</strong><br />
trabalho <strong>para</strong> o aluno oriundo da Escola Técnica era favorável até meados dos anos 1980,<br />
sendo que em alguns períodos, especialmente nos anos 1970, todos eram empregados logo<br />
após a conclusão do curso, salvo os que não tinham interesse e prosseguiam seus estudos na<br />
universida<strong>de</strong>. Esta discussão permeia o trabalho, mas não é nosso foco principal.<br />
23 Entrevista concedida à cineasta Monica Simões na elaboração <strong>de</strong> filme institucional comemorativo dos 100<br />
anos do ensino técnico do Brasil, Memorial do IFBAHIA, previsto <strong>para</strong> ser exibido em setembro <strong>de</strong> 2009 como<br />
parte das comemorações.<br />
69
2 MOVIMENTO ESTUDANTIL E JUVENTUDE COMO CATEGORIA<br />
DE ANÁLISE DAS CIÊNCIAS SOCIAIS<br />
A Juventu<strong>de</strong> não é uma categoria que se explica por si mesma, portanto, não po<strong>de</strong><br />
ser tomada como auto-explicativa. Diferentes significados po<strong>de</strong>m ser atribuídos a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r<br />
da configuração social que se consi<strong>de</strong>re. Ela tem sido pesquisada como categoria <strong>de</strong> análise<br />
<strong>de</strong> diversas ciências, seja discutindo saú<strong>de</strong> e reprodução, enfocando principalmente a<br />
sexualida<strong>de</strong> ou a gravi<strong>de</strong>z na adolescência, seja nos estudos referentes à violência e<br />
criminalida<strong>de</strong>, quando o jovem é tomado como um problema social. A inserção do jovem<br />
no mundo do trabalho também tem ganhado evidência nas políticas governamentais nos<br />
últimos anos, bem como nos estudos sobre cultura e lazer juvenil.<br />
70
A juventu<strong>de</strong> faz parte <strong>de</strong> uma coorte, 24 ou seja, quando as pessoas nascem, em<br />
função do momento histórico, estão fadadas a passar a vida juntas, atravessando as mesmas<br />
vicissitu<strong>de</strong>s políticas e econômicas (SINGER, 2005, p.27). Ao nascer num mesmo país e<br />
vivenciar a mesma realida<strong>de</strong> e estágios semelhantes <strong>de</strong> vida, engajamentos políticos e<br />
sociais, os jovens passam a compartilhar os valores <strong>de</strong> uma geração. O autor complementa<br />
que<br />
O mundo em que vive a atual coorte <strong>de</strong> jovens é o resultado <strong>de</strong> uma evolução<br />
histórica que as coortes <strong>de</strong> seus pais e avós construíram. A história sempre é feita<br />
por coortes. Embora elas se misturem em festas ou comemorações cívicas, nas<br />
famílias e no trabalho, a história, em cada período é o resultado <strong>de</strong> coortes <strong>de</strong><br />
adultos e velhos que <strong>de</strong>sfrutam <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r político e/ou econômico, sendo<br />
<strong>de</strong>safiadas e <strong>de</strong>nunciadas por coortes <strong>de</strong> jovens que <strong>de</strong>les <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m (SINGER,<br />
2005, p.27).<br />
Não po<strong>de</strong>mos então <strong>de</strong>terminar que certas características sejam exclusivas dos<br />
jovens ou pertençam a todos os jovens. Cada momento histórico tem sua própria juventu<strong>de</strong>,<br />
vinculada a experiências vividas pela geração anterior, bem como resulta <strong>de</strong> suas próprias<br />
interpretações.<br />
Desta forma, ser jovem é uma relação social. A transitorieda<strong>de</strong> da vida constitui-se<br />
em um dos elementos constitutivos das análises sobre o comportamento juvenil, sem que<br />
conclua daí a existência <strong>de</strong> comportamentos inatos: intenções, utopias, projetos, rebeldias<br />
ou transgressões. Embora sejam elementos encontrados entre os jovens não são explicativos<br />
das relações que envolvem e explicam a juventu<strong>de</strong>.<br />
Assim, Singer i<strong>de</strong>ntifica na geração atual uma <strong>de</strong>silusão que não era vista, nos anos<br />
sessenta. Enquanto aquela geração viveu o tempo das revoluções, esta se aproxima das<br />
<strong>de</strong>silusões <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong> um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> frustrações pelas quais a esquerda,<br />
principalmente, passou nos últimos anos do século XX. Enquanto nos anos 1960<br />
As mentes <strong>de</strong> muitos jovens se <strong>de</strong>ixava dominar pela crença <strong>de</strong> que a tomada <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>r pela força, por um número muito limitado <strong>de</strong> pessoas, seria a condição<br />
indispensável e suficiente <strong>para</strong> vencer todas as resistências à mudança re<strong>de</strong>ntora<br />
das instituições (...) (Singer, 2005, p.30).<br />
24 A coorte po<strong>de</strong> ser compreendida como composta por um grupo <strong>de</strong> indivíduos que pertence a uma mesma<br />
faixa etária, ou que, no caso <strong>de</strong> estudos epi<strong>de</strong>miológicos engloba um grupo que tem em comum a uma condição<br />
comum <strong>de</strong> contaminação por <strong>de</strong>terminada doença, por exemplo. O autor citado realiza seu estudo com<strong>para</strong>ndo<br />
diferentes coortes <strong>de</strong> jovens, <strong>de</strong>finido seu foco pelo período histórico.<br />
71
Ele consi<strong>de</strong>ra que a geração seguinte vive um processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>smascaramento do<br />
comunismo soviético, que se inicia em 1968 com a “Primavera <strong>de</strong> Praga”, levando muitos<br />
partidos comunistas da Europa a romper com Moscou.<br />
Os levantes populares contra o po<strong>de</strong>r pretensamente revolucionário<br />
<strong>de</strong>ixavam claro que gran<strong>de</strong> parte do povo, sobretudo os jovens, estava insatisfeita<br />
e <strong>de</strong>sesperada, disposta mesmo a morrer em protesto contra regimes pelos quais<br />
outros jovens se <strong>de</strong>ixaram matar uma geração antes (SINGER, 2005, p. 31).<br />
Esta situação <strong>de</strong> <strong>de</strong>scrença na idéia da revolução como via rápida <strong>para</strong> um mundo<br />
melhor se solidifica em uma parte da juventu<strong>de</strong>, a partir do governo <strong>de</strong> Gorbachev na<br />
Rússia e da Glasnost em 1985, como ficou conhecido o processo <strong>de</strong> abertura política<br />
iniciado por este governante. A Europa Oriental, imersa em uma série <strong>de</strong> conflitos, cujo ato<br />
simbólico mais marcante foi a queda do muro <strong>de</strong> Berlim, produz importantes conseqüências<br />
em todo o mundo, gestando uma concepção <strong>de</strong> capitalismo como a única via possível, ao<br />
que Perry An<strong>de</strong>rson <strong>de</strong>nomina <strong>de</strong> “atitu<strong>de</strong> fanfarrona do capitalismo” (ANDERSON, 2004).<br />
Embora estas afirmações possam dar a enten<strong>de</strong>r que a partir dos anos 80/90 a<br />
juventu<strong>de</strong> encontra-se menos voltada à transformação social e à busca por um mundo<br />
melhor, o autor assinala que uma pesquisa mais recente indica que os jovens ainda afirmam<br />
o socialismo como uma alternativa <strong>para</strong> a nossa socieda<strong>de</strong>. Janice Souza, ainda nesta<br />
perspectiva das diferenças entre as gerações <strong>de</strong> 1960 e 1980/90, afirma que pensar sobre os<br />
jovens dos anos 80 e 90 implica em refletir sobre o “comportamento político <strong>de</strong> uma<br />
juventu<strong>de</strong> que vive distante das gran<strong>de</strong>s utopias transformadoras”. Neste sentido, a autora<br />
busca “superar o pensamento que orienta o senso comum, segundo o qual o jovem<br />
contemporâneo aparece conformado, <strong>de</strong>monstrando uma rebeldia insuficiente <strong>para</strong> intervir<br />
como segmento significativo da socieda<strong>de</strong>” (SOUZA, 1999, p.13).<br />
Sociólogos e psicólogos tem se <strong>de</strong>dicado ao estudo da juventu<strong>de</strong>, entretanto, a<br />
autora consi<strong>de</strong>ra que estes estudos são insuficientes, dado a profusão <strong>de</strong> questões que giram<br />
em torno do tema. Alia-se a isto toda uma tradição sociológica que introduz o jovem como<br />
tema em situações <strong>de</strong> problema social, conforme nos fala Camarano:<br />
72
Na Sociologia, os estudos sobre juventu<strong>de</strong> sempre estiveram muito influenciados<br />
pela Escola <strong>de</strong> Chicago. Abordados nos anos 1920, em meio ao surgimento <strong>de</strong><br />
gangues e do acirramento dos conflitos urbanos em território dividido por<br />
diversas etnias, os jovens foram vistos pela ótica da <strong>de</strong>sorganização social. Tal<br />
idéia caracterizou a Escola <strong>de</strong> Chicago e reverberou sobre boa parte do<br />
conhecimento acadêmico na área <strong>de</strong> juventu<strong>de</strong> entre os cientistas sociais<br />
(CAMARANO, 2004 p.15).<br />
Na década <strong>de</strong> 50, em virtu<strong>de</strong> do processo <strong>de</strong> intensas transformações porque passava<br />
a socieda<strong>de</strong> brasileira, houve um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> estudos sobre os jovens nesta<br />
perspectiva da marginalida<strong>de</strong> ou então voltados ao jovem <strong>de</strong> classe média, o que perdurou<br />
até os anos setenta, com ênfase importante sobre o movimento estudantil. Porém, a partir<br />
dos anos 80, há um refluxo que dura até o inicio do século XXI, quando prevalecem as<br />
Faculda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Educação como principais centros <strong>de</strong> pesquisas sobre os jovens. No<br />
momento atual estão sendo retomados os estudos sobre juventu<strong>de</strong> no âmbito das Ciências<br />
Sociais.<br />
Por muito tempo, especialmente nos anos 60, os jovens no Brasil tiveram sua<br />
visibilida<strong>de</strong> restrita basicamente aos segmentos escolarizados <strong>de</strong> classe média e na<br />
discussão sobre a condição juvenil, os movimentos estudantis, a contracultura e o<br />
engajamento em partidos políticos <strong>de</strong> esquerda. Nos últimos anos estes estudos foram<br />
<strong>de</strong>slocados <strong>para</strong> a preocupação com as crianças e jovens em situação <strong>de</strong> risco e os direitos<br />
<strong>de</strong>stes segmentos, o que <strong>para</strong> Abramo ocasionou uma compreensão <strong>de</strong> criança e adolescente<br />
que excluía o jovem e o adulto jovem do <strong>de</strong>bate sobre direitos e cidadania (ABRAMO,<br />
2004).<br />
Atualmente, segundo a mesma autora, a aca<strong>de</strong>mia tem ampliado seu foco <strong>de</strong> estudos<br />
e da percepção da juventu<strong>de</strong> <strong>para</strong> além das situações <strong>de</strong> risco dos adolescentes, associada ao<br />
aparecimento <strong>de</strong> novos atores juvenis, especialmente nos setores populares e <strong>de</strong> novos<br />
meios <strong>de</strong> expressão ligados à cultura, mas que colocam questões vinculadas aos problemas<br />
que os afetam. Em um con<strong>texto</strong> que, ao contrário das gerações prece<strong>de</strong>ntes, traz à baila a<br />
valorização da formulação <strong>de</strong> políticas específicas <strong>para</strong> este grupo. Este fenômeno <strong>de</strong>corre<br />
da compreensão que os problemas da vulnerabilida<strong>de</strong> e risco não terminam aos 18, po<strong>de</strong>ndo<br />
inclusive se intensificar e, <strong>de</strong> outro lado, pelo aparecimento <strong>de</strong> expressões culturais como o<br />
“hip hop”, por exemplo, expondo questões como sua origem social, raça, gênero etc., mas<br />
que trazem um conteúdo político abordado <strong>de</strong> forma crítica e criativa (ABRAMO, 2004).<br />
Outro aspecto dos estudos é o que interpreta a juventu<strong>de</strong> a partir da concepção <strong>de</strong><br />
período <strong>de</strong> transição. Uma posição <strong>de</strong> transição não apenas no sentido biológico, mas<br />
também por estar mediando os limites entre dois espaços temporais diversos. O tempo dos<br />
seus pais, dos adultos, já institucionalizados por estes e o tempo do futuro, quando a partir<br />
73
das suas experiências novos valores se cristalizarão e serão eles os adultos<br />
institucionalizados. Assim po<strong>de</strong>mos afirmar que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a antiguida<strong>de</strong>, se percebia a<br />
existência <strong>de</strong> um limite entre o mundo do jovem e o mundo do adulto, no qual a educação<br />
sempre teve papel prepon<strong>de</strong>rante. Educação <strong>aqui</strong> entendida como o processo <strong>de</strong><br />
socialização dos jovens e das crianças inerentes a todas as culturas.<br />
Souza propõe que o estudo da juventu<strong>de</strong> <strong>de</strong>ve consi<strong>de</strong>rar a sua dupla relação: <strong>de</strong><br />
transição <strong>de</strong> uma faixa etária a outra, sem <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rar outros elementos constitutivos da<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> juvenil (classe, gênero, etnia etc.) e como elo <strong>de</strong> um tempo a outro: presente,<br />
passado e futuro (op.cit.).<br />
Reflete ainda um estado <strong>de</strong> transitorieda<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> crise relativa aos problemas<br />
existenciais (DAYRREL, 2003). Abramo, entretanto, nos adverte ao fato <strong>de</strong> que, mesmo<br />
que pareça repetitivo lembrar, os conteúdos, a duração e a significação social <strong>de</strong>stes<br />
atributos das fases da vida são culturais e históricos, e que a juventu<strong>de</strong> nem sempre<br />
apareceu como etapa singularmente <strong>de</strong>marcada (ABRAMO, 2005, p 41).<br />
Ainda acerca <strong>de</strong>sta noção <strong>de</strong> transitorieda<strong>de</strong> Dayrrel nos alerta <strong>para</strong> o fato <strong>de</strong> que<br />
<strong>de</strong>vemos ter cuidado com<br />
(...) a criação <strong>de</strong> imagens e preconceitos sobre a juventu<strong>de</strong> contemporânea,<br />
principalmente pelas mídias, que interferem na nossa maneira <strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r os<br />
jovens. Uma das mais arraigadas é a juventu<strong>de</strong> vista na sua condição <strong>de</strong><br />
transitorieda<strong>de</strong>, on<strong>de</strong> o jovem é um “vir a ser”, tendo, no futuro, na passagem<br />
<strong>para</strong> a vida adulta, o sentido das suas ações no presente. (DAYRREL, 2009, 25).<br />
O jovem vive e é reflexo das relações presentes no momento histórico exato, com<br />
suas crises, suas solicitações, suas questões imediatas e não como algo a ser alcançado em<br />
um futuro que ainda vai chegar. Ele é parte <strong>de</strong>ste presente e como tal <strong>de</strong>ve ser entendido. A<br />
escola ten<strong>de</strong> a reproduzir esta concepção <strong>de</strong> jovem como um “vir a ser”, como se apenas a<br />
partir do diploma ele pu<strong>de</strong>sse tornar-se, sempre na perspectiva do que está por vir e<br />
(...) ten<strong>de</strong> a negar o presente vivido dos jovens como espaço válido <strong>de</strong> formação,<br />
bem como as questões existenciais que eles expõem, as quais são bem mais<br />
amplas do que apenas o futuro. Quando imbuídos por esta concepção, os projetos<br />
educativos per<strong>de</strong>m a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> dialogarem com as <strong>de</strong>mandas e<br />
necessida<strong>de</strong>s reais do jovem, distanciando-se dos seus interesses do presente,<br />
diminuindo as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> um envolvimento efetivo nas suas propostas<br />
educativas (op. Cit.).<br />
A escola foi criada na socieda<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rna como um tempo maior <strong>de</strong> pre<strong>para</strong>ção <strong>para</strong><br />
o trabalho, uma segunda socialização. Ela é assim uma instituição voltada a especializar os<br />
74
indivíduos em <strong>de</strong>corrência da maior complexida<strong>de</strong> que a produção assume na mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>,<br />
bem como da sofisticação das relações sociais. Ser pre<strong>para</strong>do em uma instituição<br />
especializada implica na suspensão do mundo produtivo, <strong>de</strong>ixando o jovem livre das<br />
obrigações do trabalho, um dos elementos centrais que constituem a condição juvenil<br />
(ABRAMO, 2005, p.41).<br />
Mas ser jovem é também uma situação <strong>para</strong>doxal. Angústia frente às incertezas da<br />
socieda<strong>de</strong> capitalista (emprego, liberda<strong>de</strong>, autonomia) e, <strong>de</strong> outro lado, é o que todos<br />
almejam. Ser belo, alcançar a “eterna juventu<strong>de</strong>”, gozar dos privilégios <strong>de</strong> pertencer a um<br />
momento <strong>de</strong> plenitu<strong>de</strong> do corpo, da beleza e on<strong>de</strong> ainda não se tem toda as obrigações<br />
<strong>de</strong>correntes da entrada na vida adulta. Não é necessário discutir a relativida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sta questão.<br />
Uma vez que tudo que se fala sobre juventu<strong>de</strong> não po<strong>de</strong> ser generalizado. Não é sem motivo<br />
que muitos autores falam em juventu<strong>de</strong>s, expressando a diversida<strong>de</strong> intrínseca ao termo.<br />
Mas o que é ser jovem? Partimos da idéia que a juventu<strong>de</strong> é, ao mesmo tempo,<br />
uma condição social e um tipo <strong>de</strong> representação. De um lado há um caráter<br />
universal dado pelas transformações do indivíduo numa <strong>de</strong>terminada faixa etária.<br />
De outro, há diferentes construções históricas e sociais relacionadas a esse<br />
tempo/ciclo da vida. De maneira geral, po<strong>de</strong>mos dizer que a entrada da juventu<strong>de</strong><br />
se faz pela fase que chamamos <strong>de</strong> adolescência e é marcada por transformações<br />
biológicas, psicológicas e <strong>de</strong> inserção social. É nesta fase que fisicamente se<br />
adquire o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> procriar, quando a pessoa dá sinais <strong>de</strong> ter necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
menos proteção por parte da família, quando começa a assumir<br />
responsabilida<strong>de</strong>s, a buscar a in<strong>de</strong>pendência e a dar provas <strong>de</strong> auto-suficiência,<br />
<strong>de</strong>ntre outros sinais corporais e psicológicos. (DAYRREL e GOMES, p. 03).<br />
Embora a polissemia referente ao termo imponha a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> situá-lo <strong>de</strong> forma<br />
clara, qualquer corte etário implica numa arbitrarieda<strong>de</strong>. Nós optamos por caracterizar a<br />
juventu<strong>de</strong> como um período que se inicia na adolescência, por volta dos treze anos, até em<br />
torno dos vinte e quatro anos. Seguindo o que foi estabelecido pela UNESCO, visto que<br />
correspon<strong>de</strong> em geral a ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ingresso dos estudantes da ETFBA 25 . Consi<strong>de</strong>ramos,<br />
entretanto que há na socieda<strong>de</strong> atual um prolongamento do período vivido pelo jovem sob<br />
sustento econômico dos pais, nos casos das famílias mais ricas e, <strong>para</strong>doxalmente, tem-se<br />
outra parcela da população que ingressa muito cedo no mercado <strong>de</strong> trabalho, através <strong>de</strong><br />
ativida<strong>de</strong>s que exigem pouca qualificação.<br />
Ainda sobre este fenômeno po<strong>de</strong>-se consi<strong>de</strong>rar o fato <strong>de</strong> um número significativo <strong>de</strong><br />
jovens formar mais cedo uma nova família, dado que po<strong>de</strong> ser observado empiricamente em<br />
estudos relativos à sexualida<strong>de</strong> e gravi<strong>de</strong>z na adolescência (OTERO, 2002). Há no Brasil<br />
25 Helena Abramo usa como referência grupos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> dos 15 aos 24 anos, entretanto em nossa pesquisa<br />
i<strong>de</strong>ntificamos o ingresso dos alunos com ida<strong>de</strong> inferior a 14 anos, por isso, aliado ao fato <strong>de</strong> haver no<br />
movimento estudantil secundarista a presença <strong>de</strong> adolescentes com faixa etária inferior a 15 anos mantemos<br />
esse posicionamento.<br />
75
uma expectativa que a sexualida<strong>de</strong> surja na adolescência, com ampla aceitação <strong>de</strong> que<br />
adolescentes e jovens sejam sexuados, visto como uma questão histórica e cultural, mas que<br />
traz impactos, sendo a sexualida<strong>de</strong> juvenil tratada então como um <strong>de</strong>svio ou uma conduta <strong>de</strong><br />
risco (CALAZANS, 2004).<br />
De outro lado também consi<strong>de</strong>ramos que<br />
A mesma socieda<strong>de</strong> po<strong>de</strong> produzir tipos <strong>de</strong> jovens bastante diversos, pois<br />
originados <strong>de</strong> diferentes extrações sociais, inserindo-se em posições distintas e<br />
apropriando-se <strong>de</strong> hábitos e valores específicos <strong>de</strong> acordo com essa inserção, as<br />
maneiras <strong>de</strong> ser que lhes são impostas- ou que tem possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> constituir –<br />
não são as mesmas <strong>para</strong> todos. Na distribuição diferencial que forçosamente<br />
ocorre, uns são mais privilegiados que outros. Desse modo, fica que a juventu<strong>de</strong><br />
não é uma, e que a diferenciação social e a diversida<strong>de</strong> econômica tem peso<br />
importante na configuração das distintas “maneiras <strong>de</strong> ser” impostas aos jovens<br />
(OLIVA, 2005: 20).<br />
Esta ausência <strong>de</strong> unanimida<strong>de</strong> ao se falar do jovem ou da juventu<strong>de</strong>, também é<br />
assinalada por Margulys e Urresti 26<br />
En relación a esta concepción se ha llegado a consi<strong>de</strong>rar a la juventud<br />
como mero signo, uma construcción cultural <strong>de</strong>sgajada <strong>de</strong> otras condiciones, un<br />
sentido socialmente constituido, relativamente <strong>de</strong>svinculado <strong>de</strong> las condiciones<br />
materiales e históricas que condicionan a su significante. Cuando Bourdieu titula:<br />
“La juventud no es más que una palabra”, parece exasperar la condición <strong>de</strong> signo<br />
atribuida a la juventud. Claro está que presenta en sus análisis la polisemia <strong>de</strong><br />
esta palabra, su distinto sentido según el con<strong>texto</strong> social en que es usada<br />
(profesión, gobierno, atletismo) y también su papel em las disputas por la riqueza<br />
y el po<strong>de</strong>r, tratando <strong>de</strong> evitar el naturalismo espontáneo que surge alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> la<br />
noción en una primera aproximación por parte <strong>de</strong>l sentido común. Sarlo da cuenta<br />
<strong>de</strong> cómo “la juventud” se presenta en escena en la cultura actual, privilegiando su<br />
aspecto imaginario y representativo: la juventud no aparece como una edad sino<br />
como una estética <strong>de</strong> la vida cotidiana (MARGULIS e URRESTI, 2000, p. 16).<br />
26 Do ponto <strong>de</strong> vista das ações políticas e sociais, embora uma parte da juventu<strong>de</strong> tenha optado por ações <strong>de</strong><br />
direita, participação em grupos neonazistas e até formando quadrilhas e atentado contra as pessoas <strong>de</strong> grupos<br />
mais pobres, contra gays, índios e empregadas domésticas, como foi recentemente relatado pela mídia,<br />
consi<strong>de</strong>ro apenas os movimentos que ganham evidência a partir <strong>de</strong> contestações inscritas em um sentido<br />
político e contestatório que não esteja relacionado ao <strong>de</strong>srespeito dos direitos humanos e da vida, uma vez que<br />
não i<strong>de</strong>ntificamos no âmbito da ETFBa a presença <strong>de</strong> jovens envolvidos com grupos neonazistas ou quadrilhas,<br />
etc. .<br />
76
A juventu<strong>de</strong> <strong>de</strong>ve então ser analisada não apenas consi<strong>de</strong>rando sua dimensão<br />
simbólica, mas também outras dimensões materiais, históricas, e políticas, on<strong>de</strong> a produção<br />
social se <strong>de</strong>senvolve. Mas é preciso ainda consi<strong>de</strong>rar as mudanças históricas, o que implica<br />
em ampliar o foco <strong>de</strong> análise, levando em conta as inúmeras mudanças ocorridas no<br />
<strong>de</strong>correr do século XX, e, <strong>de</strong> modo mais acelerado nos últimos anos <strong>de</strong>ste século, trazidas<br />
por transformações econômicas, sociais, no mundo do trabalho, nos direitos (escolarida<strong>de</strong>,<br />
proibição do trabalho infantil etc.) e na cultura. Aliada a estas mudanças vemos também a<br />
construção <strong>de</strong> novas experiências <strong>de</strong> ação elaboradas pelos próprios jovens e não mais<br />
apenas pelos jovens da burguesia.<br />
Abramo ressalta que tem surgido nos últimos anos<br />
uma multiplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> instâncias <strong>de</strong> socialização, não mais só a família<br />
e a escola; a importância dos campos do lazer e da cultura, principalmente na<br />
constituição da sociabilida<strong>de</strong>, das i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s e da formação <strong>de</strong> valores. Em<br />
<strong>de</strong>corrência surgem muitas modificações no conteúdo da moratória: não mais só<br />
adiamento e suspensão, mas variados processos <strong>de</strong> inserção em várias dimensões<br />
da vida pessoal e social, como sexualida<strong>de</strong>, trabalho, participação cultural e<br />
política etc. A vivência da experiência juvenil passa a adquirir sentido em si<br />
mesma e não mais somente como pre<strong>para</strong>ção <strong>para</strong> a vida adulta (ABRAMO,<br />
2005, p. 43).<br />
Entre as novas formas <strong>de</strong> socialização i<strong>de</strong>ntificadas nos estudiosos do tema,<br />
temos a atuação dos jovens e adolescentes nos movimentos sociais. A relação entre<br />
movimentos sociais e juventu<strong>de</strong> tem sido objeto <strong>de</strong> análise <strong>de</strong> diversos autores<br />
(MELUCCI, 2002; SOUZA, 2002, OTERO, 2003; KRISCHKE, 2000, 2004; MUXELL,<br />
1997; DAYRREL, 2003 etc.), os quais, mesmo partindo <strong>de</strong> perspectivas teóricas<br />
diferentes apresentam um quadro aproximado <strong>de</strong> algumas questões acerca da temática.<br />
Estes trabalhos apresentam em primeiro lugar um questionamento sobre os<br />
jovens, a política e as formas como esta participação vem se dando atualmente. Embora<br />
exista certa ênfase e uma crítica à juventu<strong>de</strong> das décadas posteriores aos anos sessenta,<br />
como não envolvida com a política, torna-se necessário observar qual o significado da<br />
palavra política, e em que sentido se faz esta afirmação. Pois os estudos realizados pelos<br />
autores acima citados têm evi<strong>de</strong>nciado que embora o jovem não faça da política<br />
77
institucional, compreendida como os espaços formais <strong>de</strong> organização política (partidos<br />
políticos, grêmios estudantis etc.), um elemento primordial da sua vida, tem construído<br />
diversas práticas e ações coletivas que po<strong>de</strong>mos também caracterizar como ações<br />
políticas. (MUXELL,1997; PERALVA, 1997; SPOSITO, 2000; SOUZA, 2002;<br />
ABRAMO, 2004). 27<br />
A atuação em movimentos altermundistas, movimentos <strong>de</strong> preservação do meio<br />
ambiente, re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> discussões sociais via Internet, além <strong>de</strong> predominarem nos<br />
movimentos sociais <strong>de</strong> luta pela terra são ilustrativos da sua participação em múltiplos<br />
espaços <strong>de</strong> luta política não institucionais.<br />
Ocorre na América Latina o crescimento do interesse pelo tema da juventu<strong>de</strong><br />
associado à noção <strong>de</strong> participação como um indicador que o jovem atual busca construir<br />
a sua história <strong>de</strong> forma ativa e in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte. Sobre o <strong>de</strong>sinteresse e apatia que tem sido<br />
impetrado a estes, ele po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>mocracia que não consegue ser<br />
efetiva, on<strong>de</strong> os regimes políticos são incapazes <strong>de</strong> honrar suas promessas, gerando a<br />
<strong>de</strong>silusão <strong>de</strong> uma falsa polis <strong>de</strong>mocrática (BORON, 2006; ROSEMANN, 2006;<br />
ANDERSON, 2004; SEOANE, 2006), que não convence nem os mais velhos, nem os<br />
mais jovens.<br />
Entretanto, Helena Abramo i<strong>de</strong>ntifica a existência <strong>de</strong> novos focos <strong>de</strong> <strong>de</strong>bate<br />
sobre o jovem brasileiro, os quais não se concentram apenas nas análises dos jovens <strong>de</strong><br />
classe média, como ocorria nos anos 60, mas que trazem os jovens das classes populares<br />
como atores sociais. Deste modo, <strong>para</strong> a autora<br />
Diversos têm sido os pontos <strong>de</strong> partida <strong>de</strong>ste <strong>de</strong>bate: um <strong>de</strong>les é o que se<br />
foca nas condições e possibilida<strong>de</strong>s da participação dos jovens na conservação ou<br />
transformação da socieda<strong>de</strong> e seus traços dominantes, examinando seus valores,<br />
opiniões e atuação social e política que <strong>de</strong>senvolvem <strong>para</strong> avaliar como os jovens<br />
po<strong>de</strong>m vir a interferir no <strong>de</strong>stino do país e também nas questões singulares que os<br />
afetam. Outro é o que toma a juventu<strong>de</strong> como contingente <strong>de</strong>mográfico (...).<br />
outro ainda, é o que partindo da postulação do jovem como sujeito <strong>de</strong> direitos,<br />
busca examinar o que constitui a singularida<strong>de</strong> da condição juvenil e quais são os<br />
27 A política partidária assim como o próprio movimento estudantil tem sido alvo <strong>de</strong> críticas <strong>de</strong> uma parcela<br />
significativa dos jovens. Entretanto po<strong>de</strong>mos encontrá-los em ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cunho político social, nos<br />
movimentos sociais altermundistas, movimento ecológico, questões i<strong>de</strong>ntitárias, <strong>de</strong> gênero etc. (SILVA, 2002),<br />
(CASTELLS, 2003 ).<br />
78
direitos que <strong>de</strong>la emergem, e que <strong>de</strong>vem ser garantidos por meio <strong>de</strong> políticas<br />
públicas ( ABRAMO, 2005, p.40).<br />
A diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong> abordagens não implica em contradição, mas em<br />
complementarida<strong>de</strong>, na medida em que permitem uma visão mais abrangente do tema. O<br />
movimento estudantil se insere então, a nosso ver, no primeiro tipo <strong>de</strong> abordagem, visto que<br />
pensa o jovem como um sujeito histórico capaz <strong>de</strong> intervir na socieda<strong>de</strong>. Esta atuação,<br />
entretanto não é generalizada ou permanente, da mesma forma como outros movimentos<br />
sociais possuem maior ou menor evidência em épocas distintas. No movimento estudantil<br />
po<strong>de</strong>mos observar uma multiplicida<strong>de</strong> organizativa, bem como a não presença <strong>de</strong> todos os<br />
estudantes, fenômeno já observado em épocas passadas<br />
A introdução do movimento estudantil no campo dos movimentos sociais não é,<br />
porém, uma tarefa fácil. Oliveira chama a atenção <strong>para</strong> o fato que<br />
Uma das dificulda<strong>de</strong>s analíticas na abordagem <strong>de</strong>sta temática diz respeito ao<br />
entendimento do significado do movimento, sobretudo <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> 1968. Embora<br />
se tratasse <strong>de</strong> uma ação coletiva por vezes inovadora tanto em relação à prática<br />
quanto aos valores, era diferente dos chamados novos movimentos sociais<br />
(movimento ecológico, mulheres, gays, etc.), que se inseriam nos anos setenta.<br />
Contrariamente, a militância estudantil estava imbricada com a política,<br />
envolvendo disputas pelo po<strong>de</strong>r, com no caso do maio francês, ou nas ditaduras<br />
militares, como era o caso da América Latina (OLIVEIRA, 2002, p. 22).<br />
Esta dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> análise do movimento <strong>de</strong>corre ainda <strong>de</strong> que, a partir dos anos<br />
setenta, com a ampliação <strong>de</strong> novos espaços e atores na luta por transformações na<br />
socieda<strong>de</strong>, um número significativo <strong>de</strong> jovens passou a militar em outros espaços, nos<br />
chamados novos movimentos sociais; ou ainda no fato do movimento estudantil assimilar<br />
ban<strong>de</strong>iras conjuntamente com estes grupos, o que implica na presença <strong>de</strong> jovens estudantes<br />
em movimentos <strong>de</strong> bairros, sindicatos, ocupações e protestos que incluem estes novos<br />
sujeitos.<br />
Outro aspecto relevante no estudo sobre o ME diz respeito à análise da condição <strong>de</strong><br />
estudante. Eles são, <strong>de</strong> certo modo, favorecidos pela sua condição no que tange a<br />
participação política, visto que não possuem uma obrigação profissional no mesmo nível <strong>de</strong><br />
importância <strong>de</strong> alguém que já concluiu o curso. Oliveira afirma que<br />
79
Com a práxis no movimento estudantil os jovens, mesmo sem a permissão <strong>para</strong><br />
serem totalmente adultos, têm a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> interferir em questões políticas<br />
mais complexas, que não são acompanhadas pela maioria da população adulta.<br />
(...) o hábito da política não está relacionado somente com o ativismo, mas, sim,<br />
com a atitu<strong>de</strong> valorativa da política como elemento explicativo da realida<strong>de</strong>, e<br />
com as conexões estabelecidas entre a iniciativa própria e a disposição <strong>para</strong> agir<br />
politicamente (OLIVEIRA, 2002, p. 23).<br />
O trecho acima vem acompanhado <strong>de</strong> uma ressalva e, segundo ele, refere-se a uma<br />
circunstância bastante específica: antece<strong>de</strong> as explosões estudantis que sacudiram a Europa<br />
e o mundo em maio <strong>de</strong> 68. Explosões que traziam em seu cerne a contestação e a crítica,<br />
com uma radicalida<strong>de</strong> vinculada a não aceitação do opressor que caracterizou muitos jovens<br />
do pós-guerra.<br />
A visão dos estudantes como pertencentes a um estágio pleno <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
humano e não mais como <strong>de</strong> pre<strong>para</strong>ção <strong>para</strong> a vida adulta possibilita a criação <strong>de</strong> “ uma<br />
cultura juvenil que se expressa na expansão do mercado <strong>de</strong> consumo. I<strong>de</strong>ntificando-se não<br />
mais como uma promessa do futuro, mas como o presente, a juventu<strong>de</strong> passa a ser encarada<br />
a partir <strong>de</strong> suas características específicas” (OLIVEIRA, 2002, p.25).<br />
O movimento estudantil reflete assim uma posição <strong>de</strong> contestação da estrutura<br />
educacional, das normas <strong>de</strong> comportamento, dos padrões morais e até da estrutura <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r<br />
político, mas o jovem e o adolescente são também consumidores em potencial, fenômeno<br />
que se intensifica com a globalização e o avanço tecnológico, especialmente a partir da<br />
difusão da Internet. 28<br />
Mas este movimento apresenta ainda peculiarida<strong>de</strong>s em relação às <strong>de</strong>mais<br />
organizações sociais em virtu<strong>de</strong> da transitorieda<strong>de</strong> a que está sujeito. A condição <strong>de</strong><br />
estudante é provisória, ocorrendo uma permanente renovação dos grupos e li<strong>de</strong>ranças, assim<br />
como as ações por eles impetradas também estão sujeitas a períodos <strong>de</strong> maior efervescência<br />
e outros com relativa invisibilida<strong>de</strong>. Antonio Eduardo Oliveira enfatiza esta inconstância<br />
ao afirmar que<br />
(...) existem momentos <strong>de</strong> forte agitação seguidos por períodos <strong>de</strong> calmaria,<br />
quando até mesmo a existência <strong>de</strong> um movimento <strong>de</strong> estudantes passa a ser<br />
questionada. Neste sentido, é importante assinalar que o simples fato <strong>de</strong><br />
freqüentar uma universida<strong>de</strong> ou uma escola não cria uma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> em relação<br />
ao movimento estudantil, uma vez que o universo estudantil é muito heterogêneo.<br />
O agir diferenciado <strong>de</strong>sses jovens relaciona-se com a sua própria capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
contraposição e contestação (OLIVEIRA, 2002, p. 26).<br />
Ser estudante e participar do movimento estudantil não são situações <strong>de</strong>finitivas.<br />
28 É importante frisar que este consumo diz respeito tanto a o consumo <strong>de</strong> bens culturais, cinema, música, livros,<br />
como do ponto <strong>de</strong> vista econômico, na ampliação da importância dos adolescentes e jovens no mercado <strong>de</strong> bens<br />
duráveis, <strong>de</strong> vestuário, alimentação etc., interferindo nas escolhas dos adultos.<br />
80
Muitos estudantes nunca partici<strong>para</strong>m ou apenas participam <strong>de</strong> forma ocasional em eventos<br />
mais significativos. De outro lado, entre aqueles que militam também não há uma pauta<br />
<strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> reivindicações po<strong>de</strong>ndo ir do questionamento <strong>de</strong> situações específicas do<br />
ambiente escolar, tais como autoritarismo <strong>de</strong> um professor, condições materiais da sala <strong>de</strong><br />
aula e da escola, passe livre, até o engajamento em lutas mais gerais da socieda<strong>de</strong> sejam <strong>de</strong><br />
cunho nacional (“o petróleo é nosso”, não à dívida externa etc.) ou <strong>de</strong> caráter internacional<br />
(contra a ALCA, contra a guerra do Vietnã etc.).<br />
2.1 Movimento Estudantil no Brasil: Uma Breve Reflexão<br />
A participação dos estudantes brasileiros na política remonta ao período colonial.<br />
Segundo Janice Souza, é possível encontrar relatos da participação política dos jovens no<br />
Brasil Colonial e no Império.<br />
Sua presença social se dá como segmento mo<strong>de</strong>rno, principalmente na condição<br />
<strong>de</strong> estudante e militante engajado. Uma presença que foi elo na recusa da or<strong>de</strong>m<br />
colonial e na <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> pautas <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> trazidas com o século XIX.<br />
Ainda que <strong>de</strong> modo individual, os jovens brasileiros se fizeram presentes <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o<br />
período imperial. A política foi um meio pelo qual a juventu<strong>de</strong> se expressou, e<br />
sua intervenção é notória no plano i<strong>de</strong>ológico e os movimentos revolucionários<br />
anteriores a in<strong>de</strong>pendência, inspirada nas idéias <strong>de</strong> Voltaire, Rousseau,<br />
Montesquieu, trazidas da Europa pelos filhos da aristocracia e propagadas por<br />
intermédio <strong>de</strong> suas socieda<strong>de</strong>s e clubes secretos (SOUZA, 1999 p.31-32).<br />
Poerner (2004:60) nos diz que “ainda que nem sempre seja registrada no plano<br />
físico, é notória a participação estudantil no plano i<strong>de</strong>ológico dos movimentos<br />
revolucionários brasileiros anteriores à in<strong>de</strong>pendência”. O referido autor traça um elenco <strong>de</strong><br />
ativida<strong>de</strong>s em que os estudantes partici<strong>para</strong>m <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a colônia. Algumas com maior <strong>de</strong>staque<br />
<strong>para</strong> a condição <strong>de</strong> estudante e, outras, on<strong>de</strong> transparecia o caráter juvenil 29 , no sentido <strong>de</strong><br />
ações características dos jovens, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da sua condição <strong>de</strong> estudante, como fator que<br />
impulsionava à participação.<br />
Entre os fatos narrados por Poerner que mais chamam a atenção está a criação da<br />
socieda<strong>de</strong> “Dois <strong>de</strong> Julho”, uma associação estudantil <strong>de</strong>stinada a alforriar escravos,<br />
envolvida com a campanha abolicionista. Houve ainda a campanha republicana, a qual<br />
contou, inclusive com a participação dos estudantes do Colégio Militar do Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
29 Entendo que a diferença entre caráter estudantil e juvenil <strong>de</strong>rive <strong>para</strong> o autor da i<strong>de</strong>ntificação do movimento<br />
ora com o estudante, ora com uma ação “própria dos jovens” no sentido <strong>de</strong> pensar <strong>de</strong>terminadas contestações a<br />
partir da ótica do jovem como contestador, como rebel<strong>de</strong>, embora socialmente aceitos.<br />
81
Nesta época partici<strong>para</strong>m ainda da “Revolta do Vintém” contra o aumento das passagens<br />
dos bon<strong>de</strong>s. O autor faz uma breve análise do estudante da primeira República. Segundo ele<br />
As organizações universitárias anteriores a agosto <strong>de</strong> 1937 pecavam todas, pela<br />
transitorieda<strong>de</strong>, visando apenas a problemas específicos e <strong>de</strong>terminados, em<br />
função <strong>de</strong> cuja duração nasciam e morriam. Assim foi, como vimos, com o clube<br />
secreto dos estudantes brasileiros da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Coimbra e o problema da<br />
libertação do julgo português; com a socieda<strong>de</strong> Dois <strong>de</strong> Julho e a alforria dos<br />
escravos; com a libertadora, dos ca<strong>de</strong>tes, e a campanha Abolicionista; com os<br />
clubes republicanos acadêmicos e a campanha antimonarquista; com os<br />
“batalhões escolares” e o nacionalismo <strong>de</strong> Floriano e a malograda campanha<br />
presi<strong>de</strong>ncial <strong>de</strong> José Américo (i<strong>de</strong>m: 119).<br />
Enquanto organização institucionalizada, a criação da UNE nos anos 30, é tomada<br />
como marco da organização estudantil <strong>para</strong> a maioria dos autores, assim como a informação<br />
<strong>de</strong> que os estudantes secundaristas organizaram nos anos seguintes seu órgão<br />
representativo. Uma representação ainda concentrada nos segmentos <strong>de</strong> classe média,<br />
inexistindo sentimentos <strong>de</strong> solidarieda<strong>de</strong> interclasses (SOUZA, 1999).<br />
A leitura <strong>de</strong> Poerner <strong>de</strong>monstra, ainda que não seja seu objetivo principal, que os<br />
estudantes baianos tiveram um papel <strong>de</strong> vanguarda. Po<strong>de</strong>mos perceber e <strong>de</strong>stacar, entre<br />
outros fatos, o Manifesto dos Acadêmicos <strong>de</strong> Direito da Bahia contra as atrocida<strong>de</strong>s<br />
militares em Canudos no final do século XIX. Em 1934 se registrou no Rio <strong>de</strong> Janeiro o 1º<br />
Congresso da Juventu<strong>de</strong> Operária Estudantil. A partir <strong>de</strong>ste encontro os estudantes se<br />
sentiram mobilizados a organizar-se nos estados. Um dos núcleos <strong>de</strong> maior <strong>de</strong>staque foi o<br />
da Bahia <strong>de</strong> cuja direção fazia parte Edson Carneiro e Aydano Couto Ferraz. Este grupo se<br />
caracterizava pela luta antifascista que preocupava os estudantes <strong>de</strong>mocratas, especialmente<br />
os da esquerda (POERNER, 2004).<br />
Para Souza, o 1º Congresso da Juventu<strong>de</strong> Operária é a primeira iniciativa estudantil<br />
<strong>de</strong> caráter classista. A autora afirma que<br />
No 1º Congresso da Juventu<strong>de</strong> Operária-estudantil, em 1934, a juventu<strong>de</strong><br />
comunista procurou fortalecer a resistência contra a ascensão do nazismo e do<br />
integralismo. Na direção inversa dos jovens italianos e alemães, a gran<strong>de</strong> maioria<br />
encontrava condições sociais favoráveis <strong>para</strong> fazer da participação política um<br />
instrumento <strong>de</strong> autonomia e organização do movimento juvenil (SOUZA,<br />
1999:32).<br />
Uma parte dos estudantes assumiu <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o final da segunda guerra uma posição<br />
pacifista, contrária ao nazi-fascismo e contra o Estado Novo. A criação da UNE lhes<br />
permitiu uma atuação mais específica e a partir dos congressos seguintes a organização<br />
passa a ter uma pauta social mais ampla, com maior conotação política <strong>para</strong> as questões<br />
82
nacionais. Luta contra o analfabetismo, implantação <strong>de</strong> si<strong>de</strong>rurgias, anti-imperialismo, além<br />
<strong>de</strong> ter produzido, durante a guerra uma influência sobre a opinião pública, sendo seus<br />
representantes recebidos nos principais jornais do país.<br />
Nos anos 50, período <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> polarização i<strong>de</strong>ológica em <strong>de</strong>corrência da guerra<br />
fria, a UNE ficou sob comando <strong>de</strong> grupos <strong>de</strong> direita. Poerner aponta a existência <strong>de</strong> uma<br />
infiltração norte-americana, a qual, porém, não conseguiu impedir que os estudantes<br />
participassem ativamente da campanha “O petróleo é nosso”, por exemplo, dado o processo<br />
<strong>de</strong> institucionalização em que se encontrava a organização.<br />
Martins Filho retoma as mudanças que ocorrem no país a partir dos anos 50 a fim <strong>de</strong><br />
explicar o quadro político e i<strong>de</strong>ológico das esquerdas do país antes do golpe. De um lado, a<br />
ampliação do ensino superior e, conseqüentemente, a entrada <strong>de</strong> uma parcela cada vez<br />
maior <strong>de</strong> estudantes oriundos das classes médias na universida<strong>de</strong> e, <strong>de</strong> outro, a influência da<br />
Igreja Católica entre a juventu<strong>de</strong> brasileira que posteriormente dará origem a AP (Ação<br />
Popular). Para o autor<br />
o surgimento <strong>de</strong> um movimento vinculado a Igreja Católica, introduziu as idéias<br />
do personalismo cristão, principalmente a da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> comprometimento<br />
do jovem com os problemas da comunida<strong>de</strong>, em setores estudantis masculinos e<br />
femininos infensos ao discurso mais radical do ateísmo comunista (MARTINS<br />
FILHO, 2007 p.187).<br />
O clima dos anos 1950, <strong>de</strong>corrente do processo <strong>de</strong> urbanização e industrialização da<br />
socieda<strong>de</strong> brasileira, da presença política da classe operária urbana e da eclosão das ligas e<br />
sindicatos camponeses, com a Igreja Católica apresentando “uma terceira via ao choque<br />
entre o comunismo e o capitalismo norte-americano, num quadro em que o nacionalismo,<br />
em suas várias vertentes passou a gozar <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> apoio” foi o pano <strong>de</strong> fundo <strong>para</strong> o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento entre muitos jovens <strong>de</strong> uma atitu<strong>de</strong> mais afeita à participação política<br />
(MARTINS FILHO, 2007, p.188).<br />
Os anos 60 são reconhecidos pelos estudiosos como um momento em que o<br />
engajamento político e cultural dos jovens “foi uma experiência incontestável e reveladora<br />
da possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> seu compromisso social” (SOUZA, 1999, p.34). Ser estudante naquele<br />
período permitia a vivência <strong>de</strong> experiências diversificadas por parte do estudante. O<br />
impacto das mudanças promovidas por esta geração inspirou o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma<br />
Sociologia da Juventu<strong>de</strong> no Brasil que se voltava à compreensão do caráter <strong>de</strong><br />
transformação social promovido por estes jovens. Nesta linha está, por exemplo, o trabalho<br />
<strong>de</strong> Marialice Foracchi (1982), sobre a juventu<strong>de</strong> no final dos anos sessenta.<br />
83
É um período em que os i<strong>de</strong>ais <strong>de</strong> muitos jovens se confundiam com a perspectiva<br />
da revolução socialista como alternativa real <strong>de</strong> transformação da socieda<strong>de</strong>. Desejosos <strong>de</strong><br />
construir um outro mundo, ao tempo em que assistiam a uma série <strong>de</strong> revoluções em todos<br />
os continentes, exceto na Oceania: China em 1949, em Cuba 1959, Argel em 1962, Vietnã<br />
entre 1965 a 1975, a dos Cravos em 1974 e da Nicarágua em 1979.<br />
Havia ainda uma efervescência cultural em geral (literatura, teatro, cinema e<br />
música). O con<strong>texto</strong> político do final da década marcado pela guerra fria, pela revolução<br />
cubana e, em consequência <strong>de</strong>sta, por uma preocupação dos Estados Unidos com a América<br />
Latina, foram o pano <strong>de</strong> fundo <strong>para</strong> os acontecimentos que culminaram no golpe civil<br />
militar em 1964. Segundo Daniel Aarão Reis<br />
Viviam-se então os tempos da guerra fria entre os EUA e a URSS. As duas<br />
superpotências empenhavam todos os recursos no sentido da polarização das<br />
contradições existentes em escala mundial em torno <strong>de</strong> seus interesses<br />
universalistas e expansionistas. Tentavam, com seus aliados em cada país, fazer<br />
<strong>de</strong> cada área <strong>de</strong> tensão, <strong>de</strong> cada conflito, um momento do choque maior <strong>de</strong> dois<br />
projetos civilizacionais (REIS, 2004, p.33).<br />
O Brasil tinha simpatizantes dos dois grupos. A burguesia, apoiada por uma parcela<br />
da classe média, <strong>de</strong>fensoras das idéias capitalistas, da livre iniciativa, dos valores liberais <strong>de</strong><br />
um lado, e, <strong>de</strong> outro, a existência <strong>de</strong> vários setores <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os militares até profissionais <strong>de</strong><br />
diversas áreas e os estudantes, favoráveis a uma mudança <strong>de</strong> orientação política que<br />
caminhasse <strong>para</strong> o comunismo. A influência i<strong>de</strong>ológica americana prevalecia nos setores da<br />
classe média, através da mídia (especialmente o jornal O Globo, programas <strong>de</strong> rádio e as<br />
revistas <strong>de</strong> circulação nacional) 30 <strong>de</strong> modo que o medo da “ameaça vermelha” permeava as<br />
cabeças <strong>de</strong> uma boa parcela da população.<br />
Deste modo, po<strong>de</strong>mos perceber que os que apoiaram o golpe tinham gran<strong>de</strong>s<br />
expectativas que sua concretização fosse o caminho <strong>para</strong> uma reorganização da socieda<strong>de</strong>.<br />
Uma socieda<strong>de</strong> que passava por uma forte crise econômica e um consi<strong>de</strong>rável processo<br />
inflacionário. Denúncias <strong>de</strong> corrupção, associadas a uma série <strong>de</strong> ações do presi<strong>de</strong>nte João<br />
Goulart, que traziam aos setores dominantes a suspeita <strong>de</strong> que uma revolução comunista se<br />
aproximava.<br />
30 Alfredo Sirkis, em seu já clássico “Os carbonários,” comenta sobre sua própria formação e os conflitos a que,<br />
enquanto menino, estava submetido. “Permaneci em silêncio. Não grito palavras <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m comunistas, pensei.<br />
Eu até admirava a coragem do Che, que acabava <strong>de</strong> morrer, dias antes na Bolívia. Mas achava que isso <strong>de</strong> gritar<br />
Gue-va-ra! Era coisa <strong>de</strong> comunista e eu era não comunista. Era <strong>de</strong>mais <strong>para</strong> minha formação, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> criança a<br />
cargo <strong>de</strong> O Globo, do Rea<strong>de</strong>rs Digest e, as sextas-feiras , ao colo do papai, daquele programa <strong>de</strong> rádio do<br />
IBAD” (SIRKIS, 2007 p.51)<br />
84
Motta (2004) consi<strong>de</strong>ra que as interpretações sobre o golpe são complexas e que a<br />
crise que o antece<strong>de</strong>u teve graves dimensões. O golpe teria sido uma reação insuflada pelo<br />
medo e insegurança que havia sob significativas parcelas da população brasileira,<br />
especialmente nos setores <strong>de</strong> classe média e alta. Dúvidas sobre o futuro da economia, com<br />
altos índices <strong>de</strong> inflação, greves sucessivas nos setores públicos, temor <strong>de</strong> uma revolução<br />
social em virtu<strong>de</strong> da radicalização dos movimentos sociais, inclusive no campo e medo <strong>de</strong><br />
que o Presi<strong>de</strong>nte João Goulart apoiasse estes movimentos revolucionários, principalmente<br />
os <strong>de</strong> esquerda. O ecletismo presente entre os diversos grupos que apoiaram o golpe<br />
concorreu <strong>para</strong> que logo após sua efetivação já houvessem insatisfeitos entre seus<br />
<strong>de</strong>fensores. Isso, entretanto, não impediu que a ditadura permanecesse durante 20 anos e<br />
terminasse <strong>de</strong> forma negociada.<br />
Somente a partir do endurecimento do regime e das <strong>de</strong>núncias <strong>de</strong> assassinatos e<br />
torturas é que uma parte <strong>de</strong>stes, especialmente entre os estudantes, sentirá as conseqüências<br />
mais funestas do regime, mudando inclusive <strong>de</strong> posição frente à ditadura.<br />
Martins Filho (2007) acrescenta que o momento que antece<strong>de</strong>u o golpe era<br />
caracterizado por uma socieda<strong>de</strong> dividida, on<strong>de</strong> “não foram poucos os estudantes que<br />
apoiaram o golpe”, além da intensa mobilização <strong>de</strong> setores médios da socieda<strong>de</strong> que temiam<br />
a “ameaça comunista”. A <strong>de</strong>nominação <strong>de</strong> ditadura civil-militar <strong>de</strong>corre <strong>de</strong>ste fato: o apoio<br />
que os militares receberam da população civil. Não apenas as elites econômicas (industriais,<br />
latifundiários etc.) apoiaram o golpe.<br />
Para os estudantes favoráveis ao regime, a subida dos militares ao po<strong>de</strong>r tinha entre<br />
outros objetivos, a intenção <strong>de</strong> “resgatar a ação dos verda<strong>de</strong>iros estudantes”, <strong>de</strong><br />
reconstruírem as entida<strong>de</strong>s estudantis e <strong>de</strong>spolitizar as escolas e universida<strong>de</strong>s.<br />
O “estudante autêntico” <strong>de</strong>veria assumir o primeiro plano e impor a verda<strong>de</strong>ira<br />
vocação do estudantado: o patriotismo, a <strong>de</strong>dicação aos estudos e o afastamento<br />
da política. Os “estudantes profissionais” seriam isolados e, em seguida,<br />
controlados (MARTINS FILHO, 2007 p. 189).<br />
Marcelo Ri<strong>de</strong>nti complementa que<br />
Por outro lado, militantes mais velhos, mesmo no universo estudantil, lembram<br />
que calou fundo a falta <strong>de</strong> resistência ao golpe <strong>de</strong> 1964, que fez <strong>de</strong>les motivo <strong>de</strong><br />
chacota dos colegas da direita. Recordam-se bem da <strong>de</strong>cepção que foi a <strong>de</strong>rrota<br />
com o golpe, após alguns anos <strong>de</strong> intensa aposta na revolução brasileira, nacional<br />
<strong>de</strong>mocrática ou socialista. Hoje, ao que tudo indica, esses ex-militantes jamais<br />
aceitarão que sua luta não tenha sido essencialmente <strong>de</strong> resistência <strong>de</strong>mocrática<br />
(RIDENTI, 2007 p. 48).<br />
85
Para este autor, os grupos armados não tinham condições <strong>de</strong> enfrentar o po<strong>de</strong>r da<br />
ditadura, nem do ponto <strong>de</strong> vista social, nem político, econômico ou militar. Neste sentido,<br />
ele contesta o discurso mistificador da resistência <strong>de</strong>mocrática, afirmando que escon<strong>de</strong>r a<br />
radicalida<strong>de</strong> política daquela época tem como objetivo “justificar e legitimar opções<br />
políticas posteriores <strong>de</strong> ex-guerrilheiros, já inseridos no processo institucional” (RIDENTI,<br />
2007, p. 49).<br />
A partir do golpe, várias medidas foram tomadas no sentido <strong>de</strong> atingir as<br />
organizações estudantis, on<strong>de</strong> predominava um posicionamento político e i<strong>de</strong>ológico <strong>de</strong><br />
esquerda. Entre estas medidas, a Lei Suplicy <strong>de</strong> Lacerda, imposta pelo governo como parte<br />
do projeto <strong>de</strong> mudanças que atingiriam as representações estudantis. Entretanto, muitos<br />
autores concordam que ela favoreceu a reorganização dos estudantes, mesmo daqueles que<br />
se mostravam favoráveis ao regime. A reação estudantil surpreen<strong>de</strong>u o governo Castelo<br />
Branco. Entre outras conseqüências, estas leis produziram modificações importantes na<br />
esquerda estudantil. A AP se radicalizou, aproximando-se da linha política chinesa maoísta,<br />
com seus lí<strong>de</strong>res, inclusive, visitando a China. Ela constituía “a chamada ”primeira posição”<br />
e se caracterizava por duas palavras <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m: a luta contra a ditadura e a solidarieda<strong>de</strong> a<br />
resistência antiimperialista do Vietnã do Norte contra os Estados Unidos no su<strong>de</strong>ste<br />
asiático” (MARTINS FILHO, 2007, p. 191).<br />
Segundo Ciambarella (2007), a trajetória da AP foi singular. Fundada em 1960 sob<br />
influência dos i<strong>de</strong>ais católicos, a<strong>de</strong>riu ao guevarismo e ao maoísmo. Em 1968 a<strong>de</strong>re ao<br />
marxismo-leninismo e, posteriormente, em 1973, uma parte dos seus membros se integrou<br />
ao PC do B, enquanto outra parte permanece adotando a sigla <strong>de</strong> APML (Ação Popular<br />
Marxista- Leninista). Nos anos 80 gran<strong>de</strong> parte dos seus quadros se integrou ao recém<br />
fundado PT (Partido dos Trabalhadores), extinguindo-se oficialmente em 1981. A<br />
permanente reconstrução da sua i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> foi sempre acompanhada <strong>de</strong> amplos <strong>de</strong>bates e<br />
cisões. Conforme esta autora,<br />
A fusão com o PC do B significou <strong>para</strong> a AP a saída <strong>de</strong> muitos dos seus membros<br />
e a formação da Ação Popular Marxista Leninista, que existiu até o inicio dos<br />
anos 1980, quando gran<strong>de</strong> parte das organizações então existentes <strong>de</strong>cidiu filiarse<br />
ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em torno <strong>de</strong>stas últimas questões a<br />
memória dos militantes atualmente ainda apresenta questões controversas<br />
(CIAMBARELLA, 2007, p. 102).<br />
Segundo Jorge Almeida, em entrevista a Harnecker (1995)<br />
Acción Popular fue fundada a comienzos <strong>de</strong> la década <strong>de</strong> los 60, y tuvo su origen<br />
en lãs organizaciones juveniles <strong>de</strong> la Iglesia, principalmente la Juventud<br />
86
Estudiantil Católica y la Juventud Universitaria Católica. En esa época creció<br />
bastante, principalmente entre los medios juveniles, pero también <strong>de</strong>sarrolló<br />
importantes relaciones con otros sectores y movimientos sociales. Tenía una<br />
política radicalizada <strong>de</strong> lucha por reformas sociales y políticas, pero no se asumía<br />
como marxista ni tenía una estrategia global más <strong>de</strong>finida. Uno <strong>de</strong> sus<br />
principales fundadores fue Hebert <strong>de</strong> Souza, Betinho7.<br />
Después <strong>de</strong>l golpe <strong>de</strong>l 64, AP pasó a la clan<strong>de</strong>stinidad y <strong>de</strong>sarrolló una mayor<br />
discusión sobre el marxismo, La realidad nacional y la estrategia, ampliando sus<br />
contactos con la izquierda a nivel nacional e internacional. Con una visión muy<br />
crítica <strong>de</strong> la política interna y externa <strong>de</strong>l PCUS, evolucionó hacia posiciones<br />
revolucionarias, y optó por estudiar, prioritariamente, las experiencias china y<br />
cubana, y <strong>de</strong>splazó cuadros <strong>para</strong> diversos países con el objetivo <strong>de</strong> estudiar esas y<br />
otras experiencias.<br />
En esa época, ya había una crítica bastante contun<strong>de</strong>nte a las experiencias <strong>de</strong><br />
Europa <strong>de</strong>l Ese y <strong>de</strong>l socialismo burocrático, que ya era valorado como un<br />
proyecto que no planteaba una propuesta revolucionaria a nível internacional.<br />
Inicialmente hubo simpatías por Cuba, pero terminó prevaleciendo una línea <strong>de</strong><br />
mayor Marxista—Leninista <strong>de</strong> Brasil (ALMEIDA, 1995, p.217).<br />
A AP, juntamente com a ORM-POLOP (Organização Política Revolucionária<br />
Marxista – Política Operária), buscou firmar-se como uma “alternativa à política<br />
predominante ao PCB no interior das esquerdas, atraindo, sobretudo, uma juventu<strong>de</strong> que<br />
militava nas universida<strong>de</strong>s e em outros centros estudantis, além <strong>de</strong> operários e outros<br />
grupos” (CIAMBARELLA, 2007, p.102) Tendo ampla influência no meio estudantil<br />
controlou sucessivas diretorias da UNE, sendo os estudantes o setor mais numeroso, embora<br />
atraísse intelectuais <strong>de</strong> várias categorias, além <strong>de</strong> setores das classes populares.<br />
Com a fundação do PT, em 1980, muitas organizações clan<strong>de</strong>stinas, com exceção<br />
do PCB, PC do B, PCBR e MR-8, se incorporam ao PT, embora mantendo ainda uma parte<br />
<strong>de</strong> sua autonomia e estrutura original, o que ficou conhecido como uma “dupla militância”.<br />
O PCB, Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922, divergiu basicamente <strong>de</strong><br />
toda a esquerda brasileira por sua posição <strong>de</strong> reforma e busca <strong>de</strong> um caminho pacífico <strong>para</strong><br />
a revolução, no imediato pós-golpe e sofreu com a dura repressão do regime, bem como<br />
com as lutas internas, contrariando gran<strong>de</strong> parte da esquerda nacional e provocando a saída<br />
<strong>de</strong> muitos dos seus membros que optaram pela luta armada.<br />
Em maio <strong>de</strong> 65, um ano após o golpe, o Comitê Central fez sua primeira reunião<br />
<strong>para</strong> analisar a situação política do país. Os dirigentes não tinham uma visão<br />
unitária acerca do processo que culminou com a instalação do regime ditatorial.<br />
Para uns, o partido tinha incorrido em graves “<strong>de</strong>svios <strong>de</strong> direita”: havia<br />
alimentado ilusões nas massas, sobre a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> realizar uma aliança do<br />
proletariado com a burguesia, uma reforma estrutural <strong>de</strong> base, <strong>de</strong>ntro dos marcos<br />
estritamente legais. Para outros, os erros eram resultado dos “<strong>de</strong>svios <strong>de</strong><br />
esquerda”. Os comunistas haviam abandonado a ban<strong>de</strong>ira da legalida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>mocrática, superestimando a correlação <strong>de</strong> forças, propondo medidas além das<br />
condições objetivas da realida<strong>de</strong> brasileira. Esta última avaliação, encampada por<br />
Prestes, viria a ser a oficialmente adotada pelo partido. Entretanto, conforme<br />
veremos adiante, <strong>para</strong> aqueles que no pós-64 iriam romper com o PCB, os<br />
<strong>de</strong>svios <strong>de</strong> “direita” e a conciliação com as classes dominantes <strong>de</strong>ram o tom da<br />
política ao longo do governo Jango. (PANDOLFI, 1994, p. 88).<br />
87
O <strong>de</strong>bate sobre a postura reformista do PCB domina a cena política <strong>de</strong> esquerda dos<br />
anos setenta, sendo objeto <strong>de</strong> auto-análise <strong>de</strong> muitos dos seus membros e produzindo novas<br />
forças políticas no país.<br />
Uma das forças da política estudantil surgida após o golpe foi formada nas bases do<br />
Partido Comunista Brasileiro: o MR-8 remonta às divergências internas da juventu<strong>de</strong><br />
comunista universitária do PCB na Guanabara, anteriores ao golpe. Após o golpe uma<br />
fração <strong>de</strong>stes divergentes passa a se agrupar e <strong>de</strong>finir seus próprios rumos. Em 1965, no<br />
embalo do crescimento do movimento estudantil, o MR-8 (Movimento Revolucionário 8 <strong>de</strong><br />
Outubro) se amplia <strong>para</strong> outras universida<strong>de</strong>s e outros estados. Em 1969 se integrou à luta<br />
armada, tendo como maior êxito o seqüestro do embaixador norte-americano, numa ação<br />
conjunta com a ALN (Ação Libertadora Nacional) <strong>de</strong> Carlos Marighella. Após esta ação<br />
seus militantes foram duramente perseguidos e muitos tiveram que se exilar, foram presos<br />
ou mortos pelos militares<br />
Outro grupo político que atuou no ME foram os trotskistas. Inspirados na IV<br />
Internacional, fundada em Paris em 1938. Cujo <strong>texto</strong> <strong>de</strong> fundação contempla:<br />
(...) as condições objetivas do capitalismo na fase imperialista; um balanço da<br />
experiência acumulada pelo proletariado e <strong>de</strong> suas direções políticas; a diferença<br />
entre um programa mínimo e um programa <strong>de</strong> transição; o lugar dos sindicatos e<br />
dos comitês <strong>de</strong> fábrica; o controle operário da produção, a expropriação dos<br />
bancos privados e a estatização do sistema <strong>de</strong> crédito; a aliança operária<br />
camponesa; a luta contra imperialismo e contra a guerra; o governo operário<br />
camponês... (MARQUES, 2007, p. 151).<br />
No Brasil, a história dos trotskistas se inicia em 1929, no Rio <strong>de</strong> Janeiro, tendo<br />
passado por diversas cisões e unificações em sua trajetória. Um dos principais grupos<br />
trotskistas com atuação no movimento estudantil, a Convergência Socialista originou-se <strong>de</strong><br />
militantes exilados no Chile, os quais formaram um grupo <strong>de</strong>nominado “Ponto <strong>de</strong> Partida”<br />
em 1972. Após o golpe que <strong>de</strong>rrubou Allen<strong>de</strong>, o grupo se dispersou, sendo que alguns dos<br />
seus membros fugiram <strong>para</strong> a Argentina on<strong>de</strong> fundaram a Liga Operária (LO) e editaram o<br />
jornal In<strong>de</strong>pendência Operária, publicado até 1978.<br />
Retornando ao Brasil em 1974, momento <strong>de</strong> ascensão do ME, passam a priorizar<br />
uma ação junto à juventu<strong>de</strong>, assumindo como tarefa prioritária o movimento estudantil e o<br />
trabalho junto ao movimento operário. Deslocaram <strong>para</strong> as fábricas seus militantes <strong>de</strong><br />
origem estudantil e, na política, apoiaram candidatos que concorriam às eleições pelo MDB.<br />
Em 1978 foi lançado o Movimento Convergência Socialista <strong>para</strong> a formação <strong>de</strong> um partido<br />
socialista. Adotou-se o nome <strong>de</strong> Alicerce da Juventu<strong>de</strong> Socialista em 1983 em <strong>de</strong>corrência<br />
88
do crescimento entre os jovens, especialmente no ME secundarista (Marques, 2007: 158).<br />
Partici<strong>para</strong>m do PT até 1992 quando foram expulsos. Em 1993 foi criado o PSTU (Partido<br />
Socialista dos Trabalhadores Unificado).<br />
O terceiro grupo <strong>de</strong> trotskistas é a DS (Democracia Socialista). Foi formada em<br />
1979 a partir da união dos militantes mineiros da tendência estudantil Centelha e membros<br />
da oposição metalúrgica <strong>de</strong> Belo Horizonte, dos militantes do Partido Operário Comunista<br />
(POC), fundado em 1968, fruto da união entre a Dissidência Leninista com a Organização<br />
Revolucionária ORM-POLOP, junto com outros grupos menores.<br />
Brito chama a atenção <strong>para</strong> a importância dada pelas diversas correntes a direção<br />
das entida<strong>de</strong>s estudantis e salienta que, ao contrário dos outros estados, o peso do PCB no<br />
ME da Bahia era importante e que este dirigiu a UEB (União dos Estudantes da Bahia)<br />
durante os anos <strong>de</strong> 1965 e 1968 (BRITO, 2008, p. 171). O PC do B foi outra corrente com<br />
pouco peso no ME nacional, mas que possuía evidência no movimento estudantil baiano.<br />
Estes grupos são uma pequena <strong>de</strong>monstração da diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong> posicionamentos<br />
presentes no ME. Convém ressaltar que, nos chamados “anos <strong>de</strong> chumbo” on<strong>de</strong> a maior<br />
parte <strong>de</strong>stes grupos atuou clan<strong>de</strong>stinamente, foram submetidos a duras perseguições. Para<br />
Martins Filho, o ME já acumulava em 1968 quase uma década <strong>de</strong> experiência, <strong>de</strong>stacandose<br />
pela sua longevida<strong>de</strong> <strong>de</strong> outros movimentos como os da França, México, Estados Unidos<br />
e Itália.<br />
Nesse sentido, o 1968 brasileiro não foi um raio em dia <strong>de</strong> céu azul, mas o ápice<br />
da mobilização política <strong>de</strong> uma categoria social vinculada aos setores médios da<br />
socieda<strong>de</strong> brasileira, e não apenas se organizou em escala nacional, mas se<br />
mostrou capaz <strong>de</strong> superar mais rapidamente que os outros movimentos sociais o<br />
choque causado pela mudança do regime político. (MARTINS FILHO, 2007,<br />
p.185).<br />
O autor nos chama a atenção <strong>para</strong> o risco do mito da juventu<strong>de</strong> e do estudante. Em<br />
uma crítica a Poerner, consi<strong>de</strong>rado por ele o autor da “história oficial da UNE”, nos adverte<br />
que os estudantes em vários momentos se posicionaram <strong>de</strong> forma conservadora.<br />
Para ficar apenas no século XX, é difícil imaginar como os estudantes das<br />
oligarquias brasileiras da República velha po<strong>de</strong>riam <strong>de</strong>sempenhar o papel<br />
progressista que a eles se atribui genericamente. Basta lembrar o episódio não<br />
muito conhecido dos acadêmicos <strong>de</strong> direito da faculda<strong>de</strong> paulistana do Largo São<br />
Francisco oferecendo-se <strong>para</strong> substituir os motorneiros do bon<strong>de</strong> em greve, na<br />
histórica <strong>para</strong>lisação operária <strong>de</strong> 1917, ou o antivarguismo elitista dos jovens da<br />
mesma escola em meados dos anos 1940 (MARTINS FILHO, 2007, p.186).<br />
A evidência do ME dos anos 60 <strong>de</strong>corre, <strong>para</strong> este autor, do fato <strong>de</strong> terem sido os<br />
estudantes a principal força <strong>de</strong> oposição ao regime militar. Outro aspecto apontado pelo<br />
89
mesmo é que somente a partir dos anos sessenta é possível pensar em um movimento<br />
estudantil não elitizado. Conseqüência da ampliação das vagas nas universida<strong>de</strong>s que<br />
permite a entrada cada vez <strong>de</strong> um contingente maior <strong>de</strong> alunos dos setores médios da<br />
população e do predomínio da esquerda na li<strong>de</strong>rança do movimento.<br />
Na verda<strong>de</strong>, as mobilizações estudantis só começam a per<strong>de</strong>r seu caráter <strong>de</strong> elite<br />
no começo dos anos 1960, e a própria expressão “movimento estudantil” não<br />
parece a<strong>de</strong>quada antes <strong>de</strong>ssa data. Evi<strong>de</strong>ntemente, sempre houve dirigentes e<br />
militantes <strong>de</strong> esquerda no meio estudantil, mas o que interessa é enten<strong>de</strong>r a<br />
orientação mais geral dos gran<strong>de</strong>s contingentes universitários capazes <strong>de</strong> gerar<br />
um verda<strong>de</strong>iro “movimento” (i<strong>de</strong>m: 186).<br />
A nossa breve reflexão sobre a história do ME nos anos sessenta tem por objetivo<br />
explicitar a varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> grupos presentes no ME. Cabe ressaltar que estes estudantes foram<br />
submetidos a várias formas <strong>de</strong> violência, a tentativas permanentes <strong>de</strong> <strong>de</strong>smobilização do<br />
movimento durante todo o período <strong>de</strong> ditadura militar, especialmente no final dos anos<br />
sessenta até meados dos anos setenta.<br />
A ditadura <strong>de</strong>rrotara o ME sufocando a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma resistência aberta e<br />
<strong>de</strong> massas. Mesmo as ações <strong>de</strong> vanguarda ficaram limitadas. O AI-5 inaugurou<br />
uma nova fase da ditadura militar no plano da sua relação com a oposição<br />
política. A nacionalização da repressão aperfeiçoada em 1969/1970 junto com os<br />
primeiros sintomas do milagre econômico contribuiriam significativamente <strong>para</strong><br />
a consolidação da ditadura militar e <strong>para</strong> o isolamento da resistência ao regime<br />
(BRITO, 2008, p. 186).<br />
Desta forma, po<strong>de</strong>mos afirmar que os anos setenta se iniciam com uma forte<br />
repressão sobre os estudantes com muitos mortos e <strong>de</strong>saparecidos. Medidas legais são<br />
tomadas pelo governo a fim <strong>de</strong> reprimir ainda mais as organizações estudantis. Estes<br />
fatores, a nosso ver, terão importante influência sobre o posicionamento político dos jovens<br />
dos anos 80 e 90 e sobre seu comportamento que se distancia da geração <strong>de</strong> 1960. São<br />
inúmeras as leis e os <strong>de</strong>cretos que atingem a socieda<strong>de</strong> como um todo e, especialmente, os<br />
estudantes. O mais importante em <strong>de</strong>corrência dos impactos que produziu foi, certamente, o<br />
AI-5, o qual dava ao executivo o po<strong>de</strong>r <strong>para</strong> fechar o congresso, assembléias legislativas<br />
estaduais e municipais, cassar mandatos, suspen<strong>de</strong>r direitos políticos, <strong>de</strong>mitir ou remover<br />
juízes, <strong>de</strong>cretar estado <strong>de</strong> sítio etc. e que foi complementado por diversos atos, leis e<br />
<strong>de</strong>cretos que atingiram em cheio as representações estudantis.<br />
(...) os Atos do Comando Supremo da Revolução, que cassavam os direitos<br />
políticos, civis e militares oposicionistas; a Lei nº 4.464/64 (Lei Suplicy), que<br />
proibia a organização política estudantil; a Lei nº 4.341/64, responsável pela<br />
criação do Serviço Nacional <strong>de</strong> Informação (SNI); o Decreto-Lei nº 314/67, que<br />
90
<strong>de</strong>finia os crimes contra a segurança nacional e a or<strong>de</strong>m política e social; a Lei <strong>de</strong><br />
Imprensa, <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 1967, que regulava a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> manifestação do<br />
pensamento e <strong>de</strong> informação; o Decreto-Lei nº 359 /68, que instituía a Comissão<br />
Geral <strong>de</strong> Investigações; O Decreto-Lei nº 459/69, que criou a Comissão Geral <strong>de</strong><br />
Inquérito Policial- Militar; o Decreto-Lei 477/69, que dispunha sobre infrações<br />
disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados <strong>de</strong><br />
estabelecimentos <strong>de</strong> ensino; o Decreto-Lei nº 1.007/70, o qual estipulava a<br />
censura prévia <strong>de</strong> livros e periódicos, <strong>de</strong>ntre outras arbitrarieda<strong>de</strong>s (MOREIRA<br />
ALVES, 1984, p.131).<br />
A <strong>de</strong>cretação do AI-5 em 1968 e do <strong>de</strong>creto 477 endurecem a perseguição aos<br />
opositores do regime e, em especial liquida com organizações estudantis.<br />
O AI-5 e o <strong>de</strong>creto 477, que visava controlar e impedir a ação política dos<br />
estudantes, restauraram o recuo massivo, tornando o movimento exposto e<br />
vulnerável. O distanciamento entre a “vanguarda” e as “bases” era conseqüência<br />
da disposição das li<strong>de</strong>ranças <strong>de</strong> canalizar as “massas” <strong>para</strong> manifestações<br />
passivas e da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> “ações exemplares”, levando a um comportamento<br />
militarista que “arrastava a tudo e a todos” (<strong>de</strong>poimento <strong>de</strong> Jean Marc Von Der<br />
Weid apud Santos, 1980, p.83). 31<br />
Este tema tem sido bastante explorado recentemente pela literatura nacional, com<br />
<strong>de</strong>staque <strong>para</strong> os anos <strong>de</strong> 2004 e 2008 quando se comemoraram os 40 anos do golpe e do<br />
maio <strong>de</strong> 1968, respectivamente. De um modo geral, o que se percebe é que naquele<br />
momento, os jovens estudantes que estavam envolvidos com o movimento estudantil<br />
tinham duas alternativas: assumiam o abandono da luta política, frente ao medo da<br />
repressão, avaliando a impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sucesso naquele momento, ou, inspirando-se em<br />
Guevara, Mao e outros ídolos da maior parte <strong>de</strong>stes jovens da esquerda dos anos sessenta,<br />
optavam pela luta armada e o enfrentamento nas guerrilhas urbanas ou nas áreas rurais, cuja<br />
mais famosa foi a Guerrilha do Araguaia. Observamos em nosso estudo, entretanto, que<br />
outras ações foram implementadas no sentido <strong>de</strong> resistência ao golpe, as quais não se<br />
coadunam com nenhuma das perspectivas acima. Muitos estudantes resistiram sem pegar<br />
em armas, mas através <strong>de</strong> outras formas <strong>de</strong> ação como, por exemplo, as reflexões críticas<br />
construídas nas manifestações artísticas <strong>de</strong> forma geral, encontradas entre os estudantes da<br />
ETFBA.<br />
A década <strong>de</strong> 70 caracterizou-se por ser um momento <strong>de</strong> endurecimento do regime e,<br />
<strong>de</strong> outro, foi o cenário do processo <strong>de</strong> abertura política. Maria Paula Araújo (2004, p.161)<br />
afirma que<br />
31 Este trecho, com suas aspas é uma citação <strong>de</strong> Souza (1999:40)<br />
91
O con<strong>texto</strong> da luta <strong>de</strong>mocrática se <strong>de</strong>finiu após a <strong>de</strong>rrota política e militar da<br />
experiência da luta armada quando as esquerdas brasileiras se reorganizaram em<br />
torno <strong>de</strong> uma proposta <strong>de</strong> luta pelas liberda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>mocráticas, ajudando a<br />
constituir e, em muitos casos a li<strong>de</strong>rar, um amplo campo <strong>de</strong> oposição política a<br />
ditadura militar.<br />
Por um lado, em meados da década <strong>de</strong> 1970, o próprio regime buscava ampliar<br />
sua base <strong>de</strong> institucionalida<strong>de</strong>, iniciando durante o governo do general Geisel, a<br />
chamada “distensão” política. O governo começava a acenar com seu projeto <strong>de</strong><br />
“abertura lenta, gradual e segura” (ARAÚJO, 2004, p. 161).<br />
Esta autora consi<strong>de</strong>ra que o momento se caracterizava por uma conjuntura marcada<br />
por dois pólos: <strong>de</strong> um lado, a abertura proposta pelo governo e, do outro, a atuação da<br />
oposição, buscando alternativas ao regime militar. A necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong>finição em<br />
<strong>de</strong>corrência da <strong>de</strong>rrota da luta armada era uma imposição à esquerda. A autocrítica da luta<br />
armada, principalmente após o golpe no Chile, propiciado pelos <strong>de</strong>bates entre militantes<br />
exilados <strong>de</strong> várias organizações diferentes, extrapola <strong>para</strong> diversos países, concentrando-se<br />
mais fortemente na França. 32<br />
Surgem várias publicações voltadas ao <strong>de</strong>bate e a auto-avaliação dos militantes,<br />
como, por exemplo, a revista Brasil Socialista. Estas publicações apresentavam editoriais<br />
com críticas ao reformismo, autocrítica da luta armada e da conjuntura <strong>de</strong> distensão política,<br />
a qual na visão <strong>de</strong> alguns institucionalizava a ditadura. O ambiente <strong>de</strong> abertura, entretanto,<br />
levou alguns dos seus editores à proposta <strong>de</strong> <strong>de</strong>fesa da <strong>de</strong>mocracia a partir da luta pela<br />
conquista dos direitos <strong>de</strong>mocráticos, das liberda<strong>de</strong>s políticas e sindicais e <strong>de</strong> organização e<br />
expressão.<br />
O <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>amento <strong>de</strong>stas reflexões é marcado pela entrada <strong>de</strong> novas organizações<br />
que até então <strong>de</strong>fendiam a luta armada, como por exemplo, o MR-8 e outros grupos<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes que existiam <strong>de</strong>ntro do movimento estudantil, que passam a aceitar a luta<br />
política como alternativa <strong>de</strong> mudança. Segundo esta autora<br />
(...) entre 1975 e 1976, <strong>texto</strong>s e documentos do Movimento Estudantil passaram a<br />
circular nas universida<strong>de</strong>s acompanhando as posições preconizadas pelo Brasil<br />
Socialista. O grupo Refazendo, do movimento estudantil paulista, li<strong>de</strong>rança do<br />
Diretório Central dos Estudantes da USP lançava, no final <strong>de</strong> 1978, sua Proposta<br />
<strong>para</strong> o Movimento Estudantil. A plataforma <strong>de</strong> lutas apresentada pelos – e <strong>para</strong> –<br />
os estudantes era uma plataforma <strong>de</strong> lutas <strong>de</strong>mocráticas: anistia ampla, geral e<br />
irrestrita; fim do aparelho e da legislação repressiva; eleições livres e diretas;<br />
direito <strong>de</strong> greve; liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> organização, expressão e manifestação política etc.<br />
(ARAÚJO, 2004 p. 165).<br />
32 Sobre este aspecto a autora expõe em artigo intitulado “A luta <strong>de</strong>mocrática contra o regime militar na década<br />
<strong>de</strong> 70” algumas dos principais grupos que compunham esta oposição, bem como cita a “Revista Brasil<br />
Socialista” produzida na França e que chegava clan<strong>de</strong>stinamente ao país, como um importante espaço <strong>de</strong><br />
formulação <strong>de</strong>ste <strong>de</strong>bate. Desta revista faziam parte o MR-8, a POLOP, APML, MEP entre outros, bem como<br />
organizações latino americanas, cujo objetivo também era voltado <strong>para</strong> uma revolução socialista, como o MIR<br />
chileno, e o MIR boliviano.<br />
92
Na segunda meta<strong>de</strong> da década <strong>de</strong> 70 predomina a chamada “Esquerda<br />
Revolucionária”, conforme <strong>de</strong>screvemos acima. Uma articulação entre vários grupos à<br />
esquerda, os quais criam um amplo campo <strong>de</strong> ação, coesos em torno da luta <strong>de</strong>mocrática.<br />
Embora houvesse diferentes concepções no interior do bloco, esta articulação permitiu que<br />
o movimento civil contrário a ditadura fosse se somando a outros setores e ganhasse<br />
expressão.<br />
Entre os atores que ganham <strong>de</strong>staque nesta nova cena política está o MDB, vitorioso<br />
nas eleições <strong>de</strong> 1974, a Igreja Católica, com importante papel na <strong>de</strong>fesa dos direitos<br />
humanos e o Movimento Estudantil, o qual, segundo Araújo, “foi um dos gran<strong>de</strong>s<br />
responsáveis pela retomada das mobilizações políticas, inclusive recuperando o espaço das<br />
ruas” (ARAUJO, 2004, p. 167).<br />
O ME estava assim envolvido em uma dupla luta: pela reconstrução <strong>de</strong> sua entida<strong>de</strong><br />
representativa e, acompanhando as organizações <strong>de</strong> esquerda, na luta pelas liberda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>mocráticas. Em 1977 os estudantes do Rio <strong>de</strong> Janeiro e São Paulo retornam às ruas,<br />
contra as prisões dos estudantes militantes do MEP (Movimento <strong>de</strong> Emancipação do<br />
Proletariado) e participam da criação do Comitê 1º <strong>de</strong> maio, respectivamente.<br />
A esta altura, setores da socieda<strong>de</strong> civil se unem ao MDB, a Igreja e ao ME. OAB,<br />
ABI, Sindicato dos Professores, IAB passam a expressar publicamente seu repúdio ao<br />
regime militar. Há uma ampliação do espaço <strong>de</strong> ação das associações <strong>de</strong> moradores 33 e os<br />
movimentos sociais vinculados às questões como moradia, transporte coletivo e cidadania,<br />
tendo em comum o combate à ditadura militar. O movimento sindical ganhava corpo no<br />
ABC paulista. Chamado <strong>de</strong> novo sindicalismo, era beneficiado pela nova conjuntura e pelo<br />
espaço criado pela oposição, voltando a realizar campanhas salariais e greves.<br />
Por outro lado, este foi um período marcado por uma mo<strong>de</strong>rnização, que modificou<br />
o or<strong>de</strong>namento das classes, ocorrendo uma relativa autonomia do voto das classes<br />
subalternas, a ampliação do sindicalismo rural e a ruptura do sindicalismo industrial com a<br />
CLT. Outro aspecto importante na visão <strong>de</strong> Janice Souza é o papel do trabalho como<br />
realida<strong>de</strong> na vida <strong>de</strong> muitos jovens estudantes.<br />
Até o final da década <strong>de</strong> 60 e início da <strong>de</strong> 70, os jovens estudantes, ginasianos,<br />
secundaristas ou universitários, incorporados ao sistema educacional, e os jovens<br />
trabalhadores, subocupados ou <strong>de</strong>socupados, pertenciam a setores sociais<br />
distintos. Os primeiros pertenciam aos setores médio e alto; os segundos, aos<br />
setores populares e pobres. Isso <strong>de</strong>monstra o caráter mais afunilado da pirâmi<strong>de</strong><br />
33 È necessário dizer que nem todas as associações <strong>de</strong> bairro estavam vinculadas aos partidos <strong>de</strong> esquerda.<br />
Muitas <strong>de</strong>las agiam segundo parâmetros da or<strong>de</strong>m estabelecida e não assumiam como ban<strong>de</strong>ira a luta pelas<br />
conquistas <strong>de</strong>mocráticas, mas sim, a solução <strong>de</strong> seus problemas mais imediatos.<br />
93
educacional do período. Gradativamente, porém, quando aproximavam-se da<br />
escola, o trabalho passava a ser uma necessida<strong>de</strong>, uma vez que, <strong>para</strong> permanecer<br />
no sistema educativo eles precisavam exercer conjuntamente uma ativida<strong>de</strong><br />
remunerada (SOUZA, 1999 p.47).<br />
Neste cenário, nos perguntamos, assim como Souza, quem foram os estudantes<br />
militantes que atuaram neste período <strong>de</strong> “abertura política” e <strong>de</strong> luta contra a ditadura? A<br />
autora afirma que, historicamente, a militância organizada sempre contou com um número<br />
restrito <strong>de</strong> ativistas, a não ser nos momentos <strong>de</strong> maior efervescência, como nos anos 30 e<br />
60. Deste modo, o ressurgimento do movimento a partir do primeiro congresso da UNE<br />
ocorrido em 1979 em Salvador não possuía mais o mesmo ímpeto e a mesma força dos que<br />
ocorreram nos anos 60. A militarização da vida social que havia atingido os estudantes, não<br />
permitiu uma recuperação do ME durante a “abertura” e os jovens seguiram o caminho<br />
possível na tímida reorganização do movimento e na participação em outros movimentos<br />
sociais.<br />
A “abertura política”, <strong>para</strong> Souza, estava traçada <strong>para</strong> a geração seguinte, a qual<br />
levaria em si “as marcas <strong>de</strong> uma sociabilida<strong>de</strong> fragmentada e repleta <strong>de</strong> inseguranças”<br />
(SOUZA, 1999, p.45). Deste modo, a situação <strong>de</strong> autoritarismo vigente neste período<br />
<strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ou uma brutalida<strong>de</strong> em todos os níveis da vida social. On<strong>de</strong> o público se<br />
constituiu disseminando o individualismo e a falta <strong>de</strong> solidarieda<strong>de</strong> na vida cotidiana, na<br />
escola, no trabalho, e nas <strong>de</strong>mais relações pessoais.<br />
Três razões são apontadas por Souza <strong>para</strong> a impossibilida<strong>de</strong> do ME se estruturar nos<br />
mol<strong>de</strong>s anteriores. Em primeiro lugar, a mudança em curso na socieda<strong>de</strong> e nos próprios<br />
estudantes, buscando junto às classes populares novas formas <strong>de</strong> organização, como nos<br />
movimentos populares urbanos, por exemplo. Em segundo lugar, a fragmentação impedia o<br />
estudante <strong>de</strong> se reconhecer como categoria social. Ele se torna alguém em busca <strong>de</strong> um<br />
futuro profissional e o estudo como uma possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ascensão social. Em terceiro<br />
lugar, o ME não po<strong>de</strong>ria ser mais dirigido nos mol<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 1960, a socieda<strong>de</strong> mudou, e as<br />
experiências vividas na ditadura fizeram com que todos mudassem também.<br />
Não nos cabe <strong>aqui</strong> julgar ou apresentar juízos <strong>de</strong> valor acerca <strong>de</strong>stes jovens. O que<br />
nos importa é refletir que o modo como a ditadura agiu sobre os estudantes durante estes 20<br />
anos <strong>de</strong> regime militar, não po<strong>de</strong>ria ser <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rado na análise da juventu<strong>de</strong><br />
imediatamente posterior ao período ditatorial. Em que pese o senso comum avaliar o jovem<br />
pós 64, como passivo e não dado as discussões políticas, compreen<strong>de</strong>mos que esta postura é<br />
uma construção social, e que este comportamento resulta das suas leituras <strong>de</strong> vida. Estes<br />
94
que nasceram e tiveram parte da sua infância e adolescência sob os auspícios “invisíveis” da<br />
censura e do pensamento único.<br />
Segundo a professora Janice Souza (1999), os jovens dos anos 80 e 90 viveram uma<br />
juventu<strong>de</strong> distante das gran<strong>de</strong>s utopias transformadoras, neste sentido, é preciso rever as<br />
opiniões do senso comum <strong>de</strong> que ele “aparece conformado, <strong>de</strong>monstrando uma rebeldia<br />
insuficiente <strong>para</strong> intervir como segmento significativo da socieda<strong>de</strong>”. Concordamos com a<br />
autora que, a partir da realida<strong>de</strong> concreta que lhe foi dada, construiu seus valores na<br />
interação com esta socieda<strong>de</strong>, com o universo cultural, social e econômico em que foi<br />
gestado.<br />
O fenômeno <strong>de</strong> ampliação dos movimentos sociais, a partir dos anos setenta<br />
estabelece uma série <strong>de</strong> novas instâncias <strong>de</strong> luta, on<strong>de</strong> além da questão da classe e da<br />
organização dos trabalhadores, aponta <strong>para</strong> outras questões como a i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>, o gênero, a<br />
etnia e a própria exclusão social evi<strong>de</strong>nciada pelos sem terra, sem teto, sem educação etc. os<br />
quais terão presença maciça <strong>de</strong> muitos jovens.<br />
Para Mesquita, o movimento estudantil que antes aparecia como principal espaço <strong>de</strong><br />
participação política dos jovens vem sendo substituído por novas formas <strong>de</strong> ação política e,<br />
por isso,<br />
(...) <strong>de</strong>vemos consi<strong>de</strong>rar que, diferentemente das décadas passadas – on<strong>de</strong> o<br />
movimento estudantil era o único canal <strong>de</strong> expressão política dos jovens –,<br />
atualmente, os estudantes contam com múltiplos e diferenciados canais. Muitos<br />
<strong>de</strong>les sinalizam a emergência <strong>de</strong> novos atores juvenis que atuam nos mais<br />
diversos campos, discutindo e construindo coletivamente políticas públicas que<br />
atendam as suas necessida<strong>de</strong>s. As ONG’s, os movimentos juvenis <strong>de</strong> cunho<br />
cultural, etc., são espaços outros <strong>de</strong> inserção <strong>de</strong>stes jovens no cenário que se<br />
apresenta (MESQUITA, 2003, p.2).<br />
Este autor consi<strong>de</strong>ra que o movimento estudantil atual absorveu uma série <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>mandas dos novos movimentos sociais e, portanto, <strong>de</strong>ve ser consi<strong>de</strong>rado em sua<br />
pluralida<strong>de</strong>.<br />
Além do aparecimento das diversas expressões estudantis, surgem também <strong>de</strong><br />
maneira expressiva temas mais amplos como a discussão da cultura, do meio<br />
ambiente, da paz, dos movimentos <strong>de</strong> minoria, entre outros. Porém, apesar disso,<br />
o movimento estudantil não consegue aglutinar boa parte dos estudantes, seja na<br />
realização <strong>de</strong> suas assembléias, seja nas passeatas etc.<br />
O movimento passa assim, por uma crise <strong>de</strong> representativida<strong>de</strong> e organicida<strong>de</strong><br />
que se manifesta na sua intervenção fragmentada e na pouca expressivida<strong>de</strong> entre<br />
os estudantes. Existem momentos em que esta crise se põe mais em evidência que<br />
outros (MESQUITA, 2003, p.05).<br />
95
Os secundaristas soteropolitanos têm sido protagonistas <strong>de</strong> vários eventos como<br />
dissemos antes, <strong>de</strong>ste modo, embora em ações pontuadas, mostram uma força <strong>de</strong><br />
aglutinação não apenas nas lutas pela redução dos valores das passagens como também<br />
pela conquista <strong>de</strong> um ensino <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> e por professores nas salas <strong>de</strong> aula.<br />
2.2 O Movimento Estudantil Secundarista<br />
Pensar o ME brasileiro não é uma novida<strong>de</strong> na aca<strong>de</strong>mia. Entretanto, ao buscar<br />
refletir sobre o estudante secundarista nos <strong>de</strong><strong>para</strong>mos com algumas dificulda<strong>de</strong>s. Em<br />
primeiro lugar, gran<strong>de</strong> parte dos estudos realizados se refere ao estudante universitário e ao<br />
período <strong>de</strong> 1960 a 1968, voltando-se principalmente <strong>para</strong> o con<strong>texto</strong> que antece<strong>de</strong> os<br />
acontecimentos ocorridos durante o período do regime militar. Con<strong>texto</strong> este em que o<br />
estudante universitário assume um papel <strong>de</strong> protagonista, reivindicando uma série <strong>de</strong><br />
mudanças na socieda<strong>de</strong> brasileira, em especial na estrutura da universida<strong>de</strong>. A Reforma<br />
Universitária é o gran<strong>de</strong> tema do período, associada à influência que os partidos <strong>de</strong> esquerda<br />
vinham exercendo sobre o movimento, <strong>de</strong> proposta <strong>de</strong> uma transformação mais radical na<br />
própria socieda<strong>de</strong>.<br />
Em segundo lugar, embora muitos estudos afirmem a importância e a presença do<br />
estudante secundarista, não encontramos muitas análises do que significou <strong>de</strong> fato esta<br />
presença. Salvo raros estudos em sua maioria acerca do CAP (Colégio <strong>de</strong> Aplicação da<br />
UFRJ) e do Pedro II, também no Rio <strong>de</strong> Janeiro, há poucas pesquisas que indiquem a forma<br />
como a UMES (União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas) e a UBES (União<br />
Brasileira dos Estudantes Secundaristas) se organizaram naquele período enquanto<br />
instituição representativa dos estudantes.<br />
A UBES foi posta na ilegalida<strong>de</strong> em 1968, após a promulgação do AI-5. Desta<br />
forma, os estudantes tiveram que criar alternativas seguras <strong>para</strong> a realização dos seus<br />
congressos assim como ocorreu com a UNE e as entida<strong>de</strong>s estudantis estaduais e<br />
municipais.<br />
A UMES, como todas as entida<strong>de</strong>s estudantis daquele tempo, funcionava na<br />
ilegalida<strong>de</strong>. O golpe militar tinha proibido a UNE, a UBES e toda a estrutura que<br />
vinha por baixo <strong>de</strong>ssas entida<strong>de</strong>s gerais. Então, ela era uma ban<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> luta, e<br />
tinha uma base <strong>de</strong> simpatia <strong>de</strong>ntro das escolas e <strong>de</strong>ntro da opinião pública. 34<br />
34 Entrevista concedida por Bernardo Joffily, militante estudantil secundarista no Rio <strong>de</strong> Janeiro, Colégio André<br />
Maurois, período <strong>de</strong> 1964 a 1974.. Disponível em< http://www.memoriaestudantil.org.br><br />
96
Bernardo Joffily, militante estudantil secundarista em 1968, em entrevista concedida<br />
ao projeto <strong>de</strong> memória da UNE falou sobre as questões que moviam os estudantes<br />
secundaristas naquele período.<br />
Havia uma porção <strong>de</strong> questões, mas, sem sombra <strong>de</strong> dúvida, avultava uma, que<br />
era o problema da ditadura militar. A questão da liberda<strong>de</strong>, da <strong>de</strong>mocracia era<br />
muito forte entre nós. Lembro que, na época, o presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> plantão era o<br />
general Costa e Silva. Eu tinha 16 anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>, mas me lembro que arrumei um<br />
retrato, um pôster enorme do general Costa e Silva – que ele dava a todo mundo,<br />
<strong>para</strong> botar nas repartições públicas –, que preguei na porta do meu quarto <strong>para</strong><br />
aquela brinca<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> setinha, <strong>de</strong> jogar dardo. Era esse um pouco o espírito <strong>de</strong><br />
toda uma geração, da minha geração, que não gostava da ditadura.<br />
Sobre a organização da UMES Joffily afirma que<br />
Ela tinha sido uma entida<strong>de</strong> legal antes <strong>de</strong> 1964, e havia perdido essa legalida<strong>de</strong><br />
por causa <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>cisão truculenta do ministro da Educação, logo <strong>de</strong>pois do<br />
golpe. Era uma porção <strong>de</strong> secundaristas, como eu, que queriam lutar contra a<br />
ditadura e que mantinham contato com um certo número <strong>de</strong> colégios – não todos,<br />
certamente nem a maioria, mas os gran<strong>de</strong>s colégios do Rio. O André Maurois era<br />
um gran<strong>de</strong> colégio, o Pedro II, o Colégio <strong>de</strong> Aplicação, a Escola Técnica<br />
Fe<strong>de</strong>ral. Os colégios maiores sempre tinham uma turma que agitava e levantava<br />
essas ban<strong>de</strong>iras <strong>de</strong> luta e que, acredito, gozava pelo menos da simpatia da gran<strong>de</strong><br />
massa <strong>de</strong> estudantes e do povo da cida<strong>de</strong>, em geral.<br />
Gran<strong>de</strong> parte das informações obtidas na bibliografia sobre a organização do ME<br />
secundarista é através <strong>de</strong> fontes secundárias: observações e comentários feitos por<br />
estudiosos do ME universitário. Exceção feita aos trabalhos <strong>de</strong> (BOTELHO, 2006),<br />
(PATRÍCIO, 2007), (CARLOS, 2006), (HAUER, 2007), que dirigem seus estudos<br />
diretamente aos secundaristas.<br />
No entanto, a idéia <strong>de</strong> uma forte presença juvenil, com baixa ida<strong>de</strong>, indicada em<br />
alguns autores, nos permite afirmar a importância do secundarista <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o momento anterior<br />
ao golpe, seu enfrentamento e sua ação mais efetiva no período da transição e,<br />
posteriormente, no início século XXI. 35<br />
Não surpreen<strong>de</strong> que, a exceção <strong>de</strong> alguns gran<strong>de</strong>s lí<strong>de</strong>res (quadros mais maduros<br />
oriundos da hierarquia do PCB), a maioria dos militantes das organizações<br />
armadas fosse bastante jovem, quase toda ainda em ida<strong>de</strong> escolar (curso<br />
secundário ou universitário). Muito a propósito, a historiadora Alzira Alves <strong>de</strong><br />
Abreu realizou uma pesquisa sobre a geração <strong>de</strong> 1968 “que tinha entre 14 e 25<br />
anos ao optar por uma atuação política em que predominava a ação armada, com<br />
o fim <strong>de</strong> promover a revolução socialista no Brasil”, a partir do colégio <strong>de</strong><br />
Aplicação da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro (UFRJ) (ARAUJO, 2007,<br />
p.329-330).<br />
35<br />
Também o Sirkis, em obra já citada, apresenta a sua vivência <strong>de</strong> secundarista do Pedro II e o envolvimento<br />
com estudantes <strong>de</strong> outros colégios.<br />
97
Em terceiro lugar, a maior parte dos estudos divulgados nacionalmente enfatiza o<br />
ME no eixo Rio-São Paulo, ignorando o engajamento em outras regiões do país. Exceção<br />
<strong>para</strong> os estudos locais realizados pela pós-graduação da FFCH/UFBA <strong>de</strong>sconhecemos<br />
referências ao ME baiano a nível nacional. 36 Entre os estudiosos do tema em Salvador,<br />
Brito relata que um dos seus entrevistados comentou que:<br />
(...) os estudantes secundaristas eram mais “porraloucas” e, quando tomavam<br />
fôlego, passavam à frente dos universitários e dos partidos. Isso era resultado,<br />
segundo o entrevistado, do seu <strong>de</strong>scomprometimento com objetivos formais –<br />
como, por exemplo, a entrada no mercado <strong>de</strong> trabalho. Deste modo, eles seriam<br />
mais livres e teriam <strong>de</strong>senvolvido protestos contra uma medida muito mais<br />
próxima do cotidiano e que <strong>de</strong>spertou imensa energia militante, como foi a luta<br />
contra a Lei Orgânica <strong>de</strong> 1967 (BRITO, 2008, p. 194).<br />
Por fim, um fato diretamente relativo a este estudo. A justificativa <strong>de</strong> alguns autores<br />
que os anos 80 foram <strong>de</strong> refluxo do ME e, portanto, não houve gran<strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> estudantil<br />
neste período. Para nós também <strong>aqui</strong> há divergências: o refluxo a nosso ver, não é do<br />
movimento estudantil secundarista, mas do ME universitário. Neste período, a mobilização<br />
<strong>de</strong> maior peso diz respeito aos estudantes secundaristas que travaram, embora<br />
especialmente a nível local, uma gran<strong>de</strong> batalha a fim <strong>de</strong> fazer valer a implantação dos<br />
grêmios em suas escolas, visto que em meados dos anos 80 foi aprovada a lei do grêmio.<br />
A partir <strong>de</strong> meados dos anos 70 se intensifica a luta pela implantação dos grêmios<br />
livres, e, mesmo após a aprovação da lei os estudantes se vêem impedidos <strong>de</strong> avançar na sua<br />
organização. Botelho (2006) enfatiza que a luta pela reativação dos grêmios estudantis não<br />
ocorreu sem conflitos e, inclusive, cabia à direção das escolas propiciar as condições a fim<br />
<strong>de</strong> que o alunado refundasse os grêmios sem a tutela existente nos centros cívicos. Ainda<br />
neste período, se <strong>de</strong>senvolveu um movimento <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratização das escolas e os<br />
secundaristas também se mobilizaram <strong>para</strong> conquistar o direito <strong>de</strong> eleger os diretores. No<br />
caso das escolas técnicas esta luta ocorreu através da união <strong>de</strong> estudantes, professores e<br />
funcionários.<br />
Além da <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>iras <strong>de</strong> cunho mais interno referente aos grêmios<br />
estudantis, o estudante secundarista esteve à frente <strong>de</strong> outras mobilizações, relativas às<br />
36 Na UFRN (Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio Gran<strong>de</strong> do Norte) tem havido nos últimos anos uma gran<strong>de</strong><br />
produção acerca do ME daquele estado, bem como há um grupo <strong>de</strong> estudos na UFS (Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
Sergipe). Estes trabalhos <strong>de</strong> pós-graduação são citados e encontram-se na referência no final <strong>de</strong>ste trabalho. O<br />
site da UNE apresenta <strong>de</strong>poimentos <strong>de</strong> vários ex-presi<strong>de</strong>ntes. Muitos baianos presidiram a União, sendo,<br />
inclusive uma baiana a primeira mulher a assumir a direção da organização.<br />
98
questões da socieda<strong>de</strong> como um todo. Assim é, por exemplo, sua atuação permanente na<br />
discussão sobre as tarifas <strong>de</strong> ônibus. O aumento das passagens (dos bon<strong>de</strong>s) é uma questão<br />
que remonta a época imperial (POERNER, 2004).<br />
Entre 1987 e 1989, com a UNE esvaziada e <strong>para</strong>lisada por gran<strong>de</strong>s divisões<br />
internas, o cenário <strong>de</strong> lutas estudantis foi tomado pelos secundaristas, que, com<br />
seus jingles roqueiros e suas mochilas, saíram às ruas das gran<strong>de</strong>s capitais <strong>para</strong><br />
exigir a redução das mensalida<strong>de</strong>s e a melhoria do nível <strong>de</strong> ensino. Com ida<strong>de</strong>s<br />
entre 12 a 18 anos, a chamada “geração-mochila” queria, ainda, o fim das<br />
restrições a atuação e a existência nos seus grêmios – restrições que persistia,<br />
apesar da Lei do Grêmio livre, <strong>de</strong> 1985, também do <strong>de</strong>putado Aldo Arantes –<br />
meia passagem nos ônibus, reformas nas escolas e professores nas salas <strong>de</strong> aula<br />
(POERNER, 2004 p. 296).<br />
No caso <strong>de</strong> Salvador, a presença dos estudantes secundaristas à frente das passeatas<br />
em prol <strong>de</strong> soluções <strong>para</strong> o problema do transporte coletivo sempre foi bastante significativa<br />
e, muitas vezes li<strong>de</strong>rada por estes estudantes. Sua visibilida<strong>de</strong> também se expressa nos<br />
jornais da época, que passam a trazer reportagens acerca dos adolescentes, conforme<br />
verificamos no Jornal da Bahia (FORTES, 1989, P.09) enfatizando os novos valores que<br />
mobilizavam os jovens e apresentando Adélia Andra<strong>de</strong>, lí<strong>de</strong>r estudantil do Colégio Central<br />
e presi<strong>de</strong>nte da UMES naquele período, como a “lí<strong>de</strong>r dos tempos do rock”.<br />
Outro aspecto a ser ressaltado na reportagem é o caráter <strong>de</strong> gênero e a presença<br />
feminina, articulado à discussão sobre valores e comportamento juvenil que acrescenta à<br />
dimensão política outros elementos característicos da vida adolescente tais como a cultura e<br />
a sexualida<strong>de</strong>, além <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar aspectos relativos a presença do partido no movimento.<br />
2.3 Grêmio, Centro Cívico e Grêmio Novamente...<br />
A instituição do Centro Cívico escolar foi promulgada pelo Decreto Fe<strong>de</strong>ral nº<br />
68.065/71, que especifica em seu artigo 32:<br />
(...) nos estabelecimentos <strong>de</strong> qualquer nível <strong>de</strong> ensino, públicos e particulares será<br />
estimulada a criação do Centro Cívico, o qual funcionará sob assistência <strong>de</strong> um<br />
orientador, elemento docente <strong>de</strong>signado pelo diretor do estabelecimento e com<br />
diretoria eleita pelos alunos, no âmbito escolar, e a irradiação na comunida<strong>de</strong><br />
local das ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> educação moral e cívica, e a cooperação na formação ou<br />
aperfeiçoamento do caráter do educando (CARLOS, 2006 p.14).<br />
O centro cívico, conforme po<strong>de</strong>mos observar foi criado durante o regime militar em<br />
substituição aos grêmios estudantis. Desta forma, os estudantes ficavam subordinados a um<br />
99
tutor que, como estabelecia o <strong>de</strong>creto, era <strong>de</strong>signado pela direção e tinha como função <strong>de</strong><br />
manter os alunos obedientes a lei.<br />
A organização das representações estudantis das escolas <strong>de</strong> Ensino Fundamental e<br />
Médio passou por profundas intervenções do estado, especialmente durante a ditadura<br />
militar. No período que antece<strong>de</strong> ao golpe, os estudantes secundaristas participavam do ME<br />
juntamente com os estudantes universitários. Segundo Aparecida Carlos eles tiveram forte<br />
atuação no cenário político nacional e também no CPC (Centro <strong>de</strong> Cultura Popular) da<br />
UNE, além <strong>de</strong> outros espaços e grupos<br />
(...) que eram compostos pela juventu<strong>de</strong> socialista e comunista ou envolvendo-se<br />
em programas <strong>de</strong> alfabetização, núcleos populares, praças <strong>de</strong> cultura, artes<br />
plásticas, cinema, música, publicações, festivais <strong>de</strong> cultura e outras ativida<strong>de</strong>s.<br />
Outro exemplo do movimento <strong>de</strong> estudantes secundaristas era a Ação Católica<br />
(AC) (CARLOS, 2006, p.29).<br />
Segundo a autora, os alunos eram convidados a participar <strong>de</strong>stes grupos quando se<br />
<strong>de</strong>stacavam como li<strong>de</strong>ranças em sala <strong>de</strong> aula ou na escola, <strong>de</strong>monstravam facilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
comunicação, disponibilida<strong>de</strong> e interesse <strong>para</strong> realizar tarefas extra-escolares. A Ação<br />
Católica possuía um grupo, a JEC (Juventu<strong>de</strong> Estudantil Católica), voltada a juventu<strong>de</strong> com<br />
ida<strong>de</strong> entre 12 a 16 anos, principalmente os que estudavam em escolas religiosas. Além<br />
disso, as <strong>de</strong>mais escolas (públicas e privadas), cuja organização estudantil era mediada<br />
pelos grêmios podiam se vincular a UBES, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas,<br />
fundada em 1948, e as organizações estaduais. Na Bahia, eram representados pela UMES<br />
(União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas).<br />
A UBES <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a sua fundação lutou por melhores condições <strong>de</strong> estudos <strong>para</strong> os<br />
alunos carentes, reivindicando mais bolsas <strong>de</strong> ensino, <strong>de</strong>sconto no material<br />
didático, meio ingresso em eventos culturais e foi <strong>para</strong> as ruas, na década <strong>de</strong><br />
1950, junto com a UNE, AMES, UME e outras entida<strong>de</strong>s, na campanha do<br />
“Petróleo é Nosso”, mesmo a contragosto da direção da UNE, naquele período <strong>de</strong><br />
“domínio direitista” (HAUER,2007, p.93).<br />
Durante os anos 50 e 60 a UBES esteve em muitos movimentos. Em 1956 os<br />
estudantes <strong>de</strong> diversos colégios do Rio <strong>de</strong> Janeiro, como o Pedro II e a Escola Técnica<br />
fizeram a greve dos bon<strong>de</strong>s que <strong>para</strong>lisou a cida<strong>de</strong> por dois dias. Esse movimento coincidiu<br />
com a renúncia <strong>de</strong> Jânio Quadros, no dia 25 <strong>de</strong> agosto, o que fez o movimento mudar <strong>de</strong><br />
rumo e se relacionar à política nacional, levando à participação dos secundaristas,<br />
juntamente com a UNE, na Campanha da Legalida<strong>de</strong> que garantiu a posse do vicepresi<strong>de</strong>nte<br />
João Goulart após a renúncia <strong>de</strong> Jânio Quadros, em agosto <strong>de</strong> 1961 (HAUER,<br />
100
2007, p.94). Havia ainda a UNETI (União dos Estudantes Técnicos Industriais) que<br />
organizava o movimento estudantil das escolas técnicas 37 .<br />
Nesse momento há ascensão da AP e do Partido Comunista Brasileiro no ME,<br />
conforme mencionamos anteriormente. A luta pela reforma universitária atinge também as<br />
principais escolas secundárias do país e se <strong>de</strong>flagra uma greve estudantil, em 1962, que<br />
exigia a participação dos estudantes nos órgãos colegiados da Universida<strong>de</strong>, na base <strong>de</strong> um<br />
terço do colegiado, com direito a voz e voto. Os alunos e professores do Colégio Pedro II<br />
também iniciam reivindicações nesse sentido, visto que apenas os professores catedráticos<br />
podiam <strong>de</strong>liberar nas assembléias da escola.<br />
A partir <strong>de</strong> 1964, com a Lei Fe<strong>de</strong>ral 4464/64, conhecida como lei Suplicy <strong>de</strong><br />
Lacerda, as representações estudantis são modificadas, cria-se o Diretório Nacional em<br />
substituição a UNE e os Diretórios Estaduais substituindo a UEE (União Estadual dos<br />
Estudantes) e em 1967 com o Decreto-Lei Nº 228 <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 1967 tornam-se<br />
ilegais a UNE e a UEE. Entretanto, o <strong>de</strong>creto que impõe um grau ainda maior <strong>de</strong><br />
endurecimento é o Decreto-Lei 477, diretamente relacionado ao AI-5. Este <strong>de</strong>creto marca o<br />
controle sobre os estudantes, professores e funcionários das escolas, bem como sobre a vida<br />
acadêmica dos estudantes.<br />
Art 1 o Comete infração disciplinar o professor, aluno, funcionário ou empregado<br />
<strong>de</strong> estabelecimento <strong>de</strong> ensino público ou particular que:<br />
I - Alicie ou incite a <strong>de</strong>flagração <strong>de</strong> movimento que tenha por finalida<strong>de</strong> a<br />
<strong>para</strong>lização <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> escolar ou participe nesse movimento;<br />
II - Atente contra pessoas ou bens, tanto em prédio ou instalações, <strong>de</strong> qualquer<br />
natureza, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> estabelecimentos <strong>de</strong> ensino, como fora <strong>de</strong>le;<br />
III - Pratique atos <strong>de</strong>stinados à organização <strong>de</strong> movimentos subversivos,<br />
passeatas, <strong>de</strong>sfiles ou comícios não autorizados, ou <strong>de</strong>le participe;<br />
IV - Conduza ou realiza, confeccione, imprima, tenha em <strong>de</strong>pósito, distribua<br />
material subversivo <strong>de</strong> qualquer natureza;<br />
V - Seqüestre ou mantenha em cárcere privado diretor, membro do corpo<br />
docente, funcionário ou empregado <strong>de</strong> estabelecimento <strong>de</strong> ensino, agente <strong>de</strong><br />
autorida<strong>de</strong> ou aluno;<br />
VI - Use <strong>de</strong>pendência ou recinto escolar <strong>para</strong> fins <strong>de</strong> subversão ou <strong>para</strong> praticar<br />
ato contrário à moral ou à or<strong>de</strong>m pública.<br />
O controle alcançado com este <strong>de</strong>creto torna ilegal praticamente toda e qualquer<br />
ativida<strong>de</strong> política realizada pelos estudantes e <strong>de</strong>mais membros da instituição escolar. Além<br />
disso, em todas as instituições escolares haviam pessoas vinculadas ao regime com a função<br />
<strong>de</strong> indicar e <strong>de</strong>nunciar quem realizasse ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cunho subversivo.<br />
37 A informação acerca da UNETI foi dada por um dos entrevistados. Encontrei maiores referências a<br />
esta organização, em uma entrevista realizada com o Padre Sérgio Palombo em Belo Horizonte. Nos<br />
documentos do estudante da ETFBa também há como uma das ban<strong>de</strong>iras no início dos anos 80 a reconstrução<br />
da UNETI (Unida<strong>de</strong> e Democracia, 1981)<br />
101
Mas o controle não se dava apenas sobre a forma <strong>de</strong> organização estudantil ou da<br />
representação sindical, no caso dos professores e funcionários. O regime impôs as<br />
disciplinas Educação Moral e Cívica e OSPB (Organização Social e Política Brasileira),<br />
cujo programa era elaborado pela Comissão Nacional <strong>de</strong> Moral e Civismo (CNMC), a fim<br />
<strong>de</strong> manter um controle i<strong>de</strong>ológico sob os estudantes. Estas disciplinas substituíram a<br />
Sociologia e a Filosofia no currículo das escolas secundárias. Também foi introduzida a<br />
disciplina EPB (Estudo dos Problemas Brasileiros) no ensino superior, apelidada <strong>de</strong> “pra<br />
frente Brasil” pelos alunos, numa referência a propaganda i<strong>de</strong>ológica veiculada pelos<br />
dirigentes do regime. Estas disciplinas serão retiradas do currículo em 1993.<br />
Em 16 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1979 foi <strong>de</strong>cretada a lei fe<strong>de</strong>ral Nº 6680, que permitia que os<br />
grêmios fossem organizados, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que obe<strong>de</strong>cessem as legislações vigentes e mantivesse a<br />
presença <strong>de</strong> um membro do corpo docente <strong>para</strong> assisti-los. Segundo Angelina Bulcão<br />
(2007), <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1964 as entida<strong>de</strong>s estudantis foram pulverizadas em suas representações. A<br />
UBES (nacional) e a UPES (estadual) sempre manteve os estudantes secundaristas<br />
mobilizados, somando-se aos universitários.<br />
Entretanto, ambas as representações estudantis sofreram um processo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>smobilização e enfrentaram uma propaganda muito difundida nas escolas e universida<strong>de</strong>s<br />
que estudante tinha que estudar e não fazer política, sem falar dos efeitos dramáticos que a<br />
repressão causou em toda a geração estudantil <strong>de</strong>ste período. Mas em 1978 ocorre a<br />
primeira greve nacional dos professores durante a ditadura e uma <strong>para</strong>lisação <strong>de</strong> três dias<br />
pelos 12% na educação, mobilizando cerca <strong>de</strong> um milhão <strong>de</strong> estudantes, impulsionando a<br />
criação da UMES em Salvador, assim como <strong>de</strong> outras representações estudantis em vários<br />
estados da união.<br />
A análise do movimento secundarista no período proposto apresenta duas questões<br />
problemáticas diversas, mas que se complementam. De um lado, o regime autoritário impõe<br />
aos estudantes no interior das escolas uma legislação limitadora das ações e que impe<strong>de</strong> os<br />
estudantes <strong>de</strong> se manifestarem livremente. De outro lado, as divergências internas ao<br />
movimento estudantil, oriundas ainda do período anterior ao golpe também se acentuam na<br />
medida em que o movimento ganha mais liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> ação, por conta do processo <strong>de</strong><br />
abertura. Assim a reorganização o MS é caracterizada por uma disputa permanente <strong>de</strong><br />
espaço entre as diversas tendências que resistiram ao golpe e que se mantiveram no<br />
movimento estudantil <strong>de</strong> um modo mais geral.<br />
A reconstrução da entida<strong>de</strong> veio a partir <strong>de</strong> 1977. Algumas entida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> base conseguiram fortalecer-se nos chamados centros cívicos <strong>de</strong> algumas<br />
cida<strong>de</strong>s e começaram a reaparecer alguns grêmios e um movimento nacional pelo<br />
renascimento da UBES. A consolidação aconteceu com em 1981, em Curitiba.<br />
102
Numa situação precária e sem recursos, os estudantes iniciarão os <strong>de</strong>bates. A<br />
polícia chegou a invadir o Congresso com a cavalaria.<br />
“Diretas Já” e “Fora Collor”<br />
Em 1984, a UBES participou ativamente da campanha Diretas Já e apoiou<br />
a eleição <strong>de</strong> Tancredo Neves. O então presi<strong>de</strong>nte da entida<strong>de</strong> Apolinário Rebelo<br />
foi o primeiro a discursar no famoso Comício da Can<strong>de</strong>lária que reuniu um<br />
milhão <strong>de</strong> pessoas. Os estudantes pintaram o rosto <strong>de</strong> ver<strong>de</strong> e amarelo e foram<br />
<strong>para</strong> as ruas exigir a <strong>de</strong>mocracia <strong>de</strong> volta no país.<br />
Pouco tempo <strong>de</strong>pois, em 1992, ainda em fase <strong>de</strong> reestruturação, a UBES<br />
participou do movimento que ficou conhecido como o Fora Collor, com<br />
participação <strong>de</strong> vários seguimentos da socieda<strong>de</strong>. Os secundaristas eram maioria<br />
nas manifestações que ocorriam por todo país exigindo o impeachment do<br />
presi<strong>de</strong>nte 38 .<br />
Apenas em 1985 vai ser aprovada a Lei Nº 7398, conhecida como lei do grêmio<br />
livre 39 <strong>de</strong> 04 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1985, <strong>de</strong> autoria do <strong>de</strong>putado Aldo Arantes, lí<strong>de</strong>r estudantil<br />
cassado em 1968, que permitirá a livre organização dos estudantes sem a tutela <strong>de</strong> um<br />
professor. Entretanto, como dito anteriormente, cabia a escola propiciar o espaço <strong>de</strong><br />
organização dos estudantes, e muitos diretores, ainda vinculados ao regime, ou temerosos<br />
em virtu<strong>de</strong> dos anos <strong>de</strong> repressão e censura, dificultavam aos estudantes esta organização.<br />
Aparecida Carlos diferencia a Lei Nº 7398 da LDB <strong>de</strong> 1996. Segundo ela, enquanto<br />
a Lei <strong>de</strong> 1985 trata o grêmio como uma entida<strong>de</strong> representativa dos estudantes, a Lei Nº<br />
9493/96 refere-se ao grêmio como uma instituição. Assim chama a atenção <strong>para</strong> o fato que<br />
Embora instituição e entida<strong>de</strong> tratem <strong>de</strong> organizações sociais, com relação a<br />
palavra entida<strong>de</strong>, refere-se a uma união <strong>de</strong> pessoas, mas <strong>de</strong> maneira mais<br />
específica, pressupondo ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> um grupo <strong>de</strong> indivíduos com objetivos<br />
comuns, envolvidos num processo <strong>de</strong> interação mais ou menos contínuo, que<br />
po<strong>de</strong>m fazer parte <strong>de</strong> organizações chamadas <strong>de</strong> “grupos <strong>de</strong> pressão” (CARLOS,<br />
2006, p.22).<br />
No caso dos grêmios estudantis esta autora consi<strong>de</strong>ra que eles po<strong>de</strong>m atuar como<br />
grupos <strong>de</strong> pressão <strong>de</strong>senvolvendo lutas que se manifestam em diversas instâncias, forçando<br />
as instituições escolares a reconhecer seus espaços legítimos <strong>de</strong> luta e confronto necessários<br />
as mudanças, como também atuar enquanto instituição, no sentido <strong>de</strong> reproduzir hierarquias<br />
sociais.<br />
Aparecida Carlos (2006) relata que as muitas resistências por parte das escolas<br />
abortaram o espírito inicial da atuação política dos grêmios, <strong>de</strong> modo que em seu trabalho<br />
acerca dos estudantes <strong>de</strong> Itapevi e Jandira, com escolas da re<strong>de</strong> pública <strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> São<br />
Paulo na década <strong>de</strong> 90, a autora levanta a hipótese <strong>de</strong> que o papel do grêmio atualmente tem<br />
servido mais <strong>para</strong> controlar, adaptar e conformar os indivíduos do que estimular o potencial<br />
38<br />
Estes informações foram extraídas do site da UNE.<br />
39<br />
Em anexo.<br />
103
crítico das entida<strong>de</strong>s escolares. Ela consi<strong>de</strong>ra que a partir do momento em que o grêmio é<br />
legalizado a organização passa a ser manipulada por diretores e professores, como algo à<br />
parte do sistema escolar e os alunos ficam a mercê da direção da escola ou <strong>de</strong> professores<br />
que possam lhes esclarecer sobre como proce<strong>de</strong>r na organização da entida<strong>de</strong>.<br />
Os secundaristas têm protagonizado diversas ações nos últimos anos sendo que<br />
Poerner <strong>de</strong>staca os estudantes soteropolitanos e os do Rio <strong>de</strong> Janeiro, como os que mais<br />
freqüentemente <strong>para</strong>lisam a cida<strong>de</strong> na luta por melhores condições <strong>de</strong> estudo e transporte.<br />
Além da participação dos “cara pintadas” no processo <strong>de</strong> “impeachment” do presi<strong>de</strong>nte<br />
Fernando Collor <strong>de</strong> Melo em 1992, que abrange praticamente todas as capitais dos estados e<br />
algumas importantes cida<strong>de</strong>s do interior.<br />
A UBES, assim como a UNE, apresenta uma trajetória <strong>de</strong> conflitos internos e<br />
disputa política permanente, chegando a ter no período <strong>de</strong> 1987 a 1992 dois órgãos<br />
representativos em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> um racha entre os militantes do MR-8 e da chapa<br />
majoritária da UJS em que o PC do B tinha maioria.<br />
Atualmente muitas uniões estaduais ou municipais apresentam páginas na Internet<br />
on<strong>de</strong> divulgam informações a fim <strong>de</strong> contribuir <strong>para</strong> organizar os grêmios escolares. Uma<br />
<strong>de</strong>stas contribuições é a Cartilha do Grêmio, que orienta os estudantes sobre como organizar<br />
suas representações, elaboração dos estatutos e <strong>de</strong>mais informações referentes à<br />
organização estudantil. O mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> estatuto proposto apresenta os seguintes objetivos ao<br />
seu funcionamento:<br />
1º- Congregar os estudantes da referida escola;<br />
2º- Defen<strong>de</strong>r os interesses individuais e coletivos dos estudantes;<br />
3º- Incentivar a cultura literária, artística, <strong>de</strong>sportiva e <strong>de</strong> lazer, bem como festas e<br />
excursões <strong>de</strong> seus membros;<br />
4º- Realizar intercâmbio e colaboração <strong>de</strong> caráter cultural, educacional, político,<br />
<strong>de</strong>sportivos e social com entida<strong>de</strong>s congêneres;<br />
5º- Pugnar pela a<strong>de</strong>quação do ensino às reais necessida<strong>de</strong>s da juventu<strong>de</strong> e do<br />
povo, bem como pelo ensino público, gratuito e <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> <strong>para</strong> todos;<br />
6º- Lutar pela <strong>de</strong>mocracia permanente <strong>de</strong>ntro e fora da escola, através do direito<br />
<strong>de</strong> participação nos fóruns <strong>de</strong>liberativos a<strong>de</strong>quados. 40<br />
Neste mesmo site é possível conhecer a estrutura organizacional da entida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>finida nas seguintes instâncias <strong>de</strong>liberativas: A assembléia geral, o conselho <strong>de</strong><br />
representantes <strong>de</strong> turma e a diretoria do grêmio.<br />
40 Disponível no site da UNE/UBES <br />
acesso em 22/12/2007. Em anexo o Estatuto do grêmio<br />
livre.<br />
104
3 ARTE, POLÍTICA E MOVIMENTO ESTUDANTIL: AS MUITAS<br />
FORMAS DE RESISTÊNCIA AO AUTORITARISMO<br />
Embora durante a ditadura militar que vigorou no Brasil durante os anos <strong>de</strong> 1964 a<br />
1985 houvesse um processo <strong>de</strong> intensas restrições ao movimento estudantil, <strong>de</strong>correntes dos<br />
atos institucionais arbitrários a ele impostos, vimos que os estudantes não se abstiveram<br />
totalmente <strong>de</strong> organizar-se politicamente.<br />
Após suas instituições representativas serem postas na ilegalida<strong>de</strong>, uma parte <strong>de</strong>stes<br />
foi obrigada a exilar-se enquanto outros permaneceram no país optando pela luta armada ou<br />
eximindo-se <strong>de</strong> qualquer tipo <strong>de</strong> ação política. Em meados dos anos 70, estes estudantes,<br />
que continuaram no país, passam a buscar outras formas <strong>de</strong> organização com o intuito <strong>de</strong><br />
recriar o movimento.<br />
Neste con<strong>texto</strong>, i<strong>de</strong>ntificamos na Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia um importante<br />
espaço <strong>de</strong> reconstrução das representações estudantis e <strong>de</strong> resistência, que se amplia na<br />
medida em que o regime militar agoniza. As formas <strong>de</strong> ação, porém, não são inicialmente<br />
<strong>de</strong> um enfrentamento direto aos militares. Usando as armas do próprio regime, os estudantes<br />
passam a produzir através <strong>de</strong> seu órgão legal <strong>de</strong> representação, o Centro Cívico, ativida<strong>de</strong>s<br />
culturais, festivais <strong>de</strong> música e teatro, criando um novo modo <strong>de</strong> falar sobre seus<br />
sentimentos, e sobre as insatisfações geradas pelo silêncio imposto a toda a socieda<strong>de</strong>.<br />
A maneira pela qual os estudiosos passam a analisar o movimento <strong>de</strong>monstra a<br />
percepção que este sofre mudanças a fim <strong>de</strong> a<strong>de</strong>quar-se ao momento histórico e às<br />
condições permitidas da luta estudantil.<br />
Mesquita (2008), por exemplo, <strong>de</strong>fine o movimento pela sua pluralida<strong>de</strong>, pela<br />
capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressar-se nos vários grupos que potencializam o cotidiano dos estudantes.<br />
Deste modo,<br />
(...) não se limita as suas organizações estudantis e formais, mas se manifesta na<br />
própria dinâmica <strong>de</strong> criação <strong>de</strong> interesses e pautas que – transformadas<br />
diariamente pela realida<strong>de</strong> estudantil – po<strong>de</strong> ser capaz <strong>de</strong> mobilizar os estudantes<br />
(MESQUITA, 2008).<br />
105
Enten<strong>de</strong>mos assim, que o movimento estudantil da ETFBA existiu durante todo o<br />
período <strong>de</strong> vigência do regime militar, embora nem sempre este movimento fosse visível a<br />
totalida<strong>de</strong> da socieda<strong>de</strong>. Ele atuou objetivando alcançar a solução <strong>de</strong> problemas relativos a<br />
diversas questões inerentes ao ambiente escolar e suas <strong>de</strong>mandas internas, como a melhoria<br />
das condições <strong>de</strong> ensino, questionando o autoritarismo docente, utilizando-se <strong>de</strong><br />
manifestações artísticas. Posteriormente, quando se estabeleceu um vínculo entre o<br />
movimento dos estudantes e as questões sociais que estavam na pauta da socieda<strong>de</strong><br />
soteropolitana e brasileira, muitos estudantes passaram a incorporar as lutas da cida<strong>de</strong> em<br />
seus projetos políticos.<br />
Nossa percepção coaduna com a posição <strong>de</strong> Teixeira (1997) ao indicar que as<br />
formas <strong>de</strong> participação política, tem se efetivado <strong>de</strong> maneiras muito diversas, po<strong>de</strong>ndo<br />
variar em suas formas <strong>de</strong> ação.<br />
De outro lado, este movimento caracteriza-se pela forte presença do partido político<br />
em seu interior, passando a constituir-se em espaço privilegiado <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> li<strong>de</strong>ranças<br />
<strong>para</strong> o movimento sindical ascen<strong>de</strong>nte no estado da Bahia. Conforme po<strong>de</strong>mos i<strong>de</strong>ntificar<br />
na fala <strong>de</strong> um dos nossos entrevistados, membro do PC do B em 1979, acerca da sua<br />
presença no Partido Comunista do Brasil e do modo como estes estudantes eram vistos pelo<br />
mesmo no final dos anos 1970:<br />
O cara, estudante da escola técnica, que era o alvo do movimento sindical, que<br />
era d<strong>aqui</strong> que iam sair os operários do pólo e do Cia, e que era on<strong>de</strong> os partidos<br />
<strong>de</strong> esquerda queriam <strong>de</strong>positar suas reservas <strong>para</strong> po<strong>de</strong>r efetuar o movimento<br />
sindical, e respon<strong>de</strong>r aos problemas nacionais da ditadura militar. Então <strong>aqui</strong> era<br />
muito bem visto nessa história toda. E aí nesse processo <strong>de</strong> 78/79 houve essa<br />
procura maior... (estudante <strong>de</strong> Mecânica 1978/1981).<br />
Deste modo, os alunos da ETFBA assumem um importante papel na reconstrução<br />
do movimento estudantil secundarista baiano, integrando-se paulatinamente as <strong>de</strong>mandas<br />
mais gerais da socieda<strong>de</strong>, aglutinadas em torno dos movimentos sociais que ganha maior<br />
evidência no período, como os movimentos <strong>de</strong> luta pela moradia, contra a carestia,<br />
discriminação racial, dos direitos das mulheres e contra a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> e a injustiça social e<br />
pelas “Diretas-Já” <strong>para</strong> Presi<strong>de</strong>nte da República.<br />
Porém, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> este período já se i<strong>de</strong>ntifica no ME da ETFBA um grupo <strong>de</strong><br />
estudantes críticos à presença dos partidos políticos na escola. Alguns apresentam chapas<br />
alternativas a fim <strong>de</strong> concorrerem à li<strong>de</strong>rança do centro cívico, enquanto outros alegam não<br />
participar do ME por causa disso, são os in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes que cada vez terão um papel mais<br />
106
significativo no interior do ME. Este fenômeno não é exclusivo da escola técnica e à<br />
medida que a década avança, vai englobar um número maior <strong>de</strong> estudantes.<br />
A arte foi inicialmente um dos principais espaços <strong>de</strong> protesto dos alunos. Embora<br />
nem sempre este protesto fosse claro às autorida<strong>de</strong>s escolares. Uma vez que o conteúdo das<br />
apresentações, das poesias e das músicas fosse carregado <strong>de</strong> simbolismos, muitas vezes <strong>de</strong><br />
compreensão acessível a poucos. A semana da cultura, realizada na escola anualmente, a<br />
partir do ano <strong>de</strong> 1975, constituiu-se em um dos principais eventos que oportunizava este<br />
tipo <strong>de</strong> ação. Embora, nem sempre fosse muito fácil burlar o sistema, uma vez que havia<br />
uma programação oficial da escola bastante organizada, no sentido <strong>de</strong> controlar o tipo <strong>de</strong><br />
ativida<strong>de</strong> que os alunos po<strong>de</strong>riam ou não <strong>de</strong>senvolver.<br />
A escola, <strong>de</strong> forma consciente ou não abarcava em seu interior as discussões que<br />
regiam o campo da sociologia da educação e do trabalho. Em seu cotidiano inseriu um<br />
mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> educação que po<strong>de</strong>ria ser compreendida no sentido da Politecnia 41 . A<br />
organização da escola com a presença <strong>de</strong> professores <strong>de</strong> alto gabarito no campo do teatro,<br />
das artes plásticas e da música, <strong>de</strong> certa forma se contrapunha ao mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> ensino<br />
tecnicista que vigorava no país a partir da Lei 5.692/71.<br />
Mas os alunos não participavam apenas dos grupos oficiais, que eram dirigidos por<br />
esses profissionais, como também criavam grupos in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes, os quais tinham como<br />
objetivo se contrapor à programação oficial e trazer ao alunado um <strong>texto</strong> mais próximo da<br />
realida<strong>de</strong> e das reflexões feitas. Ainda sob influência do ME dos anos sessenta, eles<br />
reproduziam o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> arte engajada que vigorou na esquerda brasileira, como o CPC<br />
(Centro <strong>de</strong> Cultura Popular) da UNE, por exemplo. Utilizando conteúdo da arte popular,<br />
mas atuando <strong>de</strong> modo a criticar o sistema social vigente, especialmente no interior da<br />
escola.<br />
O conteúdo dos poemas ia da insatisfação com a condição social, a repressão, o<br />
amor e as dúvidas pertinentes à juventu<strong>de</strong>. Temas do cotidiano aparecem nas poesias<br />
apresentadas pelos estudantes. Nossa observação é <strong>de</strong> que o estudante refletia também o<br />
con<strong>texto</strong> da arte popular em evidência no país a partir dos anos 60 e 70, on<strong>de</strong> novos<br />
conteúdos passam a constituir a música popular, o teatro e a literatura nacional. Aspectos<br />
que são relatados nas entrevistas e nos poemas, conforme vemos a seguir:<br />
41 José Rodrigues consi<strong>de</strong>ra que educação politécnica po<strong>de</strong> ser vista como concepção marxista <strong>de</strong> educação.<br />
Uma educação que envolve três princípios fundamentais: Educação intelectual, Educação corporal , através da<br />
prática <strong>de</strong> esportes e Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e <strong>de</strong> caráter científico <strong>de</strong> todo o<br />
processo <strong>de</strong> produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças e os adolescentes no manejo <strong>de</strong> ferramentas<br />
elementares dos diversos ramos industriais.<br />
107
De mãos dadas 42<br />
Ailton Moreira<br />
Quando por fim levantares da tua cova imunda<br />
E chegar a ver on<strong>de</strong> te encontravas,<br />
Talvez venha a chegar a conclusão que na tua morte vegetavas<br />
Um olhar trôpego e vesgo é lançado sobre o teu sepulcro<br />
Pensam que éreis o máximo em vida e o olham na morte como mártir.<br />
Hipócritas que são. Não têem coragem <strong>de</strong> assumirem suas fraquezas<br />
E as refletem em seus atos inconseqüentes<br />
“Trabalhar.... Organizar!....<br />
Multidões amorfas trocam <strong>de</strong>satentas os calçados sujos,<br />
E as favelas, pense nela.... a favela!<br />
Querias uma forma <strong>de</strong> libertação, <strong>de</strong>fendidas a livre expressão,<br />
Brigaste muito, outrem achou que em vão<br />
Mas, mostraste-te ávido <strong>de</strong> sabedorias e lógicas e que dirigia as tuas ações.<br />
Capazes, fortes , <strong>de</strong>cididos, irrelutos!<br />
Trilhaste as sendas esparsas e mofaste numa vil escuridão<br />
Abocanhaste intrepidamente os teus i<strong>de</strong>ais,<br />
E os <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ste até extirpar a última<br />
Sílaba... sílaba... sílaba... sí-la-ba...<br />
Segundo Furtado (2004), ocorrem importantes mudanças na arte popular nacional,<br />
as quais sinalizam um percurso marcado por uma forma <strong>de</strong> fazer política que tem na arte<br />
um novo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> engajamento diferenciado do CPC da UNE, embora seja por este<br />
influenciado. A retomada das mobilizações <strong>de</strong> massa no final da década não ocorreu por<br />
geração espontânea tendo em vista que:<br />
Des<strong>de</strong> o início dos anos 70, na verda<strong>de</strong>, parecem acontecer alguns realinhamentos<br />
expressivos, a exemplo do que ocorre com importantes expoentes do outrora<br />
engajado “cinemanovista”, em suas relações com o regime militar e a<br />
Embrafilme, bem como surgem novos atores políticos e que expressam novas<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s urbanas, ainda que periféricas, e relativamente pouco exploradas pela<br />
historiografia até então (FURTADO, 2004, p.230).<br />
Este autor i<strong>de</strong>ntifica no sistema industrial em expansão uma nova expressão na<br />
música popular <strong>de</strong> temas como o individualismo, a competitivida<strong>de</strong> e a busca <strong>de</strong> realização<br />
através do trabalho, revelados como temas centrais da existência humana, embora<br />
insuficientes à plena realização do indivíduo. São exemplares <strong>de</strong>sta reflexão, o <strong>para</strong>lelo<br />
feito por Furtado entre a música “Capitão da Indústria” <strong>de</strong> 1972 e “Comida” <strong>de</strong> 1987 43 .<br />
42 Este poema faz parte do Ca<strong>de</strong>rno Literário da V Semana da Cultura da ETFBA , 24/09/1979.<br />
43 Ambas refletem a “necessida<strong>de</strong>” como algo que extrapola a solução dos problemas cotidianos, mas amplia as<br />
necessida<strong>de</strong>s <strong>para</strong> um campo mais subjetivo, <strong>de</strong> realização do individuo. “Necessida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>sejo, vonta<strong>de</strong>” (Titãs,<br />
Comida, 1987). Para Furtado, esta mudança se verifica ainda na introdução <strong>de</strong> “personagens como o<br />
trabalhador <strong>de</strong> baixa qualificação, a empregada doméstica, o ambulante e o menor <strong>de</strong> rua” os quais parecem<br />
ganhar uma nova dimensão na cena pública, expressa, entre outros espaços, na produção cultural do período”<br />
(FURTADO, 2004, P.230).<br />
108
Por que trazemos <strong>aqui</strong> esta discussão? Porque durante a leitura dos poemas feitos<br />
<strong>para</strong> a Semana <strong>de</strong> Cultura pelos estudantes, bem como na peça “Joões e Patrões”,<br />
encontramos este elemento <strong>de</strong> arte popular narrado pelo autor, que confere ao trabalhador a<br />
consciência <strong>de</strong> sua condição <strong>de</strong> explorado, bem como a expectativa <strong>de</strong> transformações<br />
sociais i<strong>de</strong>ntificada na poesia juvenil dos alunos da ETFBA.<br />
Além <strong>de</strong> manifestações artísticas, muitas vezes os estudantes <strong>de</strong>senvolveram<br />
características simbólicas que refletiam um espaço altamente criativo frente as ações<br />
arbitrárias dos gestores. Desta forma, a “Praça Vermelha” como é conhecido o pátio central,<br />
simbolizou ( e ainda simboliza), muito da atitu<strong>de</strong> contestatória gestada nos anos <strong>de</strong> regime<br />
militar.<br />
Sobre estes espaços simbólicos um aluno nos relatou que<br />
A Praça Vermelha. O chão vermelho. Quando eu cheguei já era Praça Vermelha.<br />
Os espaços eram consagrados. Em 86 consagrou a “aranha”, que as assembléias<br />
eram feitas ali, no movimento “Fora Rui Santos”, mas aquele auditório lá do<br />
segundo pavilhão era on<strong>de</strong> a gente fazia as assembléias, e a Praça Vermelha era<br />
quando a gente queria fazer agitação. Então armava essas bandas “Cascadura”,<br />
“Os feios”... Quando a gente queria fazer “esculhambação” a gente armava uma<br />
caixa <strong>de</strong> som, ali na frente com o microfone e cantava ali. O grêmio também fez<br />
algumas coisas na Praça Vermelha. E era <strong>aqui</strong> do lado, a saída <strong>de</strong> alunos era <strong>aqui</strong><br />
do lado. Botava o carro <strong>de</strong> som <strong>aqui</strong> e <strong>de</strong>scia todo mundo em passeata até a Praça<br />
Municipal ou Campo Gran<strong>de</strong> (Estudante <strong>de</strong> química. 1985/1990).<br />
.<br />
Consagrar espaços a contestação permitiu que em momentos muito diversos os<br />
estudantes ocupassem e dali fosse em direção aos eventos em que se integravam a outros<br />
estudantes ou manifestassem <strong>de</strong>sagrado por algum fato diretamente ligado à ETFBA.<br />
3.1 O Centro Cívico Santos Dumont (CCSD)<br />
Inicialmente, nos propomos a traçar um quadro explicativo da organização oficial<br />
dos estudantes, o Centro Cívico. Conforme exposto no capítulo 2, o Centro Cívico foi<br />
criado em substituição aos grêmios estudantis através do Decreto Fe<strong>de</strong>ral nº 68.065/71, que<br />
estabelece em seu artigo 32 que os centros cívicos serão criados em todas as escolas,<br />
funcionando sob assistência <strong>de</strong> um orientador, <strong>de</strong>signado pelo estabelecimento <strong>de</strong> ensino.<br />
Vinculado à legislação gerada durante o período repressivo <strong>de</strong> ditadura militar,<br />
prevaleceu na escola técnica até 1986, embora a Lei do Grêmio Livre tenha sido aprovada<br />
109
em 1985, pois os estudantes estavam envolvidos, segundo os entrevistados, com a luta pela<br />
saída do diretor no cargo há mais <strong>de</strong> 10 anos.<br />
O centro cívico, como o próprio nome indica, tem como prerrogativa principal dar<br />
continuida<strong>de</strong> à i<strong>de</strong>ologia vigente <strong>de</strong> estímulo ao patriotismo e <strong>de</strong> exacerbação da<br />
valorização aos símbolos nacionais. Além <strong>de</strong> reprimir o mo<strong>de</strong>lo anterior <strong>de</strong> organização<br />
estudantil, que atuava <strong>de</strong> forma mais autônoma e envolvida com a política da socieda<strong>de</strong>.<br />
Sendo assim, há uma expectativa que suas ações se <strong>de</strong>stinem à promoção <strong>de</strong> eventos<br />
cívicos, participação nas festivida<strong>de</strong>s da pátria, on<strong>de</strong> todo “conteúdo político” 44 seja<br />
abolido, bem como quaisquer referências a partidarismos. Dentro da escola estas ativida<strong>de</strong>s<br />
po<strong>de</strong>m ser <strong>de</strong>scritas como hastear a ban<strong>de</strong>ira, participar do <strong>de</strong>sfile cívico da in<strong>de</strong>pendência,<br />
ou outras ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cunho cívico em que a instituição estivesse envolvida. Englobam<br />
ainda ativida<strong>de</strong>s esportivas estabelecidas por <strong>de</strong>creto do então ministro da educação<br />
conforme po<strong>de</strong>mos observar:<br />
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso <strong>de</strong> suas<br />
atribuições e consi<strong>de</strong>rando o que consta no Oficio nº 000.517-174 do<br />
Departamento <strong>de</strong> Ensino Médio e tendo em vista a competência do Departamento<br />
<strong>de</strong> Educação Física e Desportos, quanto à realização, às diretrizes e à<br />
regulamentação <strong>de</strong> jogos estudantis,<br />
RESOLVE:<br />
Recomendar a participação das Escolas Técnicas Fe<strong>de</strong>rais nos Jogos promovidos<br />
pelo Departamento <strong>de</strong> Educação Física e Desportos <strong>de</strong>ste Ministério, não mais<br />
sendo realizados, a partir do próximo exercício letivo, no âmbito dos referidos<br />
Estabelecimentos, os Jogos Estudantis Brasileiros <strong>de</strong> Ensino Médio – JEBEM<br />
(Diário Oficial da União, 19/02/1974). 45<br />
Em <strong>para</strong>lelo às ativida<strong>de</strong>s cívicas propriamente ditas, observamos um espaço <strong>para</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s esportivas, torneios, festivais <strong>de</strong> poesia, também voltadas à<br />
mesma função. O jornal JUVENTEC, <strong>de</strong> abril/junho <strong>de</strong> 1978, traz uma coluna intitulada<br />
“Momento Cívico” assinada pelo Professor José <strong>de</strong> Oliveira Coelho 46 , supervisor do Centro<br />
Cívico Santos Dumont (CCSD), da qual extraímos o seguinte trecho:<br />
Existem os preceitos legais normativos e institucionais dos Centros Cívicos, os<br />
quais, por sua ação altamente integradora, se constituem em instrumentos<br />
indispensáveis a uma eficiente administração do estabelecimento <strong>de</strong> ensino.<br />
44 A expectativa era <strong>de</strong> uma participação meramente cultural, como se fosse possível excluir a política da<br />
escola, ou política não fosse assunto <strong>de</strong> estudante.<br />
45 Disponível em <<br />
http://www.prolei.inep.gov.br/pesquisar.do?anoinicial=&anofinal=&indinicial=1430&indfinal=1439&mais=tru<br />
e&manter<strong>de</strong>limitador=349&<strong>de</strong>scricao=&tipodocumento=>. Acesso em 20/07/2009).<br />
46 Cabe ressaltar que o Professor Coelho, como se referem os alunos, era um militar, cuja função na escola era<br />
supervisionar as ativida<strong>de</strong>s do CCSD.<br />
110
Ao promover a aproximação mais direta entre alunos, professores e corpo<br />
administrativo se verifica a dimensão do clima <strong>de</strong> perfeito entendimento em que a<br />
disciplina é o resultado do estado <strong>de</strong> satisfação geral, todos conscientes dos seus<br />
<strong>de</strong>veres. Neste ponto aí está, senão o maior <strong>de</strong> todos os objetivos dos centros<br />
cívicos – porque o culto a Pátria <strong>de</strong>ve levar a palma, no <strong>de</strong>spertar do interesse<br />
pelas suas tradições mais caras e fatos que enobrecem e dignificam a História – o<br />
reconhecimento do valor <strong>de</strong> quão valioso é o clima do bom relacionamento entre<br />
os integrantes da unida<strong>de</strong> escolar. Ele dita a satisfação da convivência,<br />
produzindo a disciplina consciente. E já agora – não é por uma euforia vazia nem<br />
um ufanismo inócuo – muito nos orgulhamos da Pátria, da posição que ela<br />
<strong>de</strong>sfruta no cenário internacional (ETFBA, JUVENTEC, 1978, p.07). 47<br />
O espírito patriótico do artigo correspon<strong>de</strong> à i<strong>de</strong>ologia vigente. Um militar,<br />
supervisor do centro cívico, que traz com clareza os “preceitos normativos e institucionais<br />
do Centro Cívico”; “integração”, “clima <strong>de</strong> perfeito entendimento” e “disciplina” compõem<br />
o quadro da pátria orgulho, do nacionalismo exigido dos estudantes durante a ditadura.<br />
De modo <strong>para</strong>doxal, no caso da ETFBA, é exatamente na formação da direção do<br />
Centro Cívico e no modo como essa li<strong>de</strong>rança era constituída, que i<strong>de</strong>ntificamos um espaço<br />
que permitiu a construção do espaço <strong>de</strong> resistência dos estudantes, os quais, mesmo após os<br />
inúmeros <strong>de</strong>cretos que restringiam a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ação dos estudantes, não foram<br />
completamente impedidos <strong>de</strong> permanecer lutando a fim <strong>de</strong> retomar os espaços perdidos da<br />
organização estudantil. Nos relatos dos estudantes entrevistados encontramos a seguinte<br />
afirmação:<br />
Não havia espaço <strong>para</strong> a gente se insurgir. (...) O foco <strong>de</strong> reunião política era o<br />
centro cívico, o centro cívico era o pessoal mais politizado, o pessoal da<br />
militância mesmo. Mas <strong>aqui</strong> tinha muitas tribos, tinha o pessoal dos esportes, a<br />
esquadrilha da fumaça. Mas naquela época era só maconha que se usava... Dentro<br />
da escola só a esquadrilha da fumaça que fumava... (Estudante <strong>de</strong> Geologia,<br />
1976/1980).<br />
O centro cívico da escola era então o espaço <strong>de</strong> construção da resistência e do<br />
protesto. Embora no primeiro momento este protesto se apresentasse <strong>de</strong> forma mais lúdica e<br />
artística, do que com elementos <strong>de</strong> conteúdo <strong>de</strong>claradamente político.<br />
47 JUVENTEC, ETFBA, abril-junho, ano 02, n.06, 1978<br />
O centro cívico era completamente baseado na eleição dos li<strong>de</strong>res <strong>de</strong> turma. Era<br />
a gran<strong>de</strong> fonte <strong>de</strong> referência <strong>para</strong> diretoria do centro cívico numa eleição<br />
indireta. Passei a ter contato com a li<strong>de</strong>rança do PCB que havia <strong>aqui</strong> na escola:<br />
Josias Pires, Almerico Lima etc. Meu contato com a política foi esse. O conselho<br />
<strong>de</strong> lí<strong>de</strong>res era responsável pela eleição da diretoria do centro cívico. As<br />
ban<strong>de</strong>iras eram muito voltadas <strong>para</strong> <strong>de</strong>ntro da escola, a vivência era <strong>de</strong>ntro da<br />
escola. Na verda<strong>de</strong> o centro cívico era o gran<strong>de</strong> catalisador <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s<br />
111
culturais, então era o CC que organizava os festivais <strong>de</strong> teatro e dança o que era<br />
uma coisa mais ou menos típica daquela época que nós estamos falando do final<br />
da ditadura e isso não foi privilégio da gente, em outras escolas, na arte as<br />
pessoas <strong>de</strong>monstravam sua insatisfação através da arte ( Estudante <strong>de</strong> Mecânica,<br />
19 )<br />
É importante notar ainda que, inicialmente, o diálogo dos estudantes com as <strong>de</strong>mais<br />
instituições <strong>de</strong> ensino da cida<strong>de</strong>, on<strong>de</strong> existia um movimento estudantil já instalado antes <strong>de</strong><br />
1964, não se dava rotineiramente. Muitos estudantes só reconheciam os militantes, quando<br />
ingressavam nos partidos proscritos e participavam das reuniões nas células (sempre<br />
clan<strong>de</strong>stinas e resguardadas por todo um sistema <strong>de</strong> segurança). A participação em tais<br />
reuniões ou o “recrutamento” <strong>para</strong> o partido, usando um jargão da época, se dava somente<br />
após uma aproximação e observação <strong>de</strong>morada do estudante.<br />
No meu tempo a gente não sabia <strong>de</strong> nada... Principalmente o pessoal mais jovem.<br />
O primeiro contato foi <strong>aqui</strong> com o centro cívico. O primeiro contato com algum<br />
movimento reivindicatório. O primeiro contato <strong>de</strong> fato foi o 1º <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 1978.<br />
Que os estudantes se organizaram <strong>de</strong> alguma forma e fizeram uma peça <strong>de</strong> teatro<br />
e que houve proibição <strong>de</strong> ser feita no centro cívico. E nós fizemos <strong>aqui</strong> no pátio<br />
da escola em frente à cantina. E como alguns alunos ficaram com medo, face à<br />
repressão, sobrou uma pontinha nessa peça pra mim, não tinha nenhuma atração<br />
por teatro nem nada... Mas, como achei algo <strong>de</strong>safiador. Entrei pra fazer essa<br />
peça e foi a minha introdução no movimento, na política... Foi aí que tudo<br />
começou... (Estudante <strong>de</strong> Mecânica, 1978/1981).<br />
Sobre os <strong>de</strong>mais alunos, que não participavam do centro cívico mais diretamente,<br />
i<strong>de</strong>ntificamos nas entrevistas a existência dos que, embora à distância, apoiavam as ações<br />
dos lí<strong>de</strong>res, sendo solidários nos momentos <strong>de</strong> maior dificulda<strong>de</strong>, assim os músicos tinham<br />
um papel prepon<strong>de</strong>rante no sentido atrair os <strong>de</strong>mais estudantes <strong>para</strong> o movimento. Ele cita o<br />
exemplo <strong>de</strong> uma aluna e cantora<br />
(...) que fazia um sonzinho e violão. Essa figurinha era assim... Ela não era<br />
li<strong>de</strong>rança do movimento estudantil, mas era uma pessoa que estava dando apoio.<br />
Cantava quando a gente precisava <strong>de</strong> uma pessoa que cantasse e que tocasse pra<br />
po<strong>de</strong>r mobilizar o pessoal estava lá disponível (Estudante <strong>de</strong> Mecânica,<br />
1978/1981).<br />
Havia ainda aqueles que não participavam e se mantinham distantes, assumindo um<br />
posicionamento acrítico frente ao regime e ao mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> gestão que vigorava na escola,<br />
112
fenômeno <strong>de</strong> certo modo esperado em um con<strong>texto</strong> <strong>de</strong> repressão, conforme verificado nas<br />
entrevistas 48 .<br />
A escola refletia um espaço social mais amplo, <strong>de</strong>ste modo, a diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
opiniões e posicionamentos vigorou <strong>de</strong> forma natural. Aliado a este fato, a ida<strong>de</strong> com que a<br />
maioria dos alunos ingressava, em torno dos 15-16 anos, ainda sob domínio das famílias, e<br />
sem uma vivência política anterior, seja pela repressão, seja pela própria imaturida<strong>de</strong>,<br />
também merece ser consi<strong>de</strong>rada. Tendo em vista que algumas famílias mantinham um<br />
controle maior sobre seus filhos adolescentes. Outro aspecto a ser consi<strong>de</strong>rado é o ingresso<br />
<strong>de</strong> muitos adultos jovens entre os estudantes, os quais, embora já possuíssem o segundo<br />
grau, buscavam a escola visando uma qualificação profissional.<br />
3.2 Como a li<strong>de</strong>rança do Movimento Estudantil da ETFBA era constituída?<br />
Os lí<strong>de</strong>res estudantis da escola técnica, neste período, eram escolhidos através <strong>de</strong><br />
eleições que se iniciavam na sala <strong>de</strong> aula, a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir o lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong> cada turma 49 . Enquanto<br />
vigorava a Lei do Centro Cívico estes alunos, que representavam seus pares por turma, lí<strong>de</strong>r<br />
e vice-lí<strong>de</strong>r, tinham a prerrogativa <strong>de</strong> serem eleitos <strong>para</strong> diretor e vice-diretor do centro<br />
cívico, ou seja, as eleições eram indiretas e realizadas pelo colegiado <strong>de</strong> lí<strong>de</strong>res. Estes<br />
lí<strong>de</strong>res se reuniam ainda por cursos, promovendo encontros e discussões acerca das<br />
questões relativas a cada curso especificamente.<br />
Em documento produzido pelo SOE (Serviço <strong>de</strong> Orientação Educacional) intitulado<br />
“Eleições <strong>de</strong> Representantes <strong>de</strong> Turma” há uma orientação sobre todo o processo:<br />
Objetivando proporcionar aos alunos a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> escolher os seus<br />
representantes <strong>de</strong> turma, <strong>de</strong> uma forma mais dinâmica e consciente, é que o<br />
Serviço <strong>de</strong> Orientação Educacional, junto aos supervisores, professores e Centro<br />
Cívico, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma linha única <strong>de</strong> ação, se propõe a efetivar a escolha, a<br />
orientação e acompanhamento <strong>de</strong> atuação <strong>de</strong>stes representantes, <strong>de</strong> modo a<br />
possibilitar uma participação mais efetiva <strong>de</strong> todos os alunos na comunida<strong>de</strong><br />
escolar (sem data).<br />
Neste documento percebemos a postura da escola que se posiciona com um discurso<br />
<strong>de</strong> abertura e <strong>de</strong>mocracia, ao tempo em que fica evi<strong>de</strong>nte a tutela sob os alunos. Entretanto,<br />
48 Dentro do ME há sempre um grupo <strong>de</strong> estudantes que não participam. Em nenhum momento esta<br />
participação é <strong>de</strong> 100% dos mesmos, mesmo nos momentos <strong>de</strong> maior abertura política.<br />
49 O lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong> turma estabelecia o diálogo entre sua turma e as coor<strong>de</strong>nações <strong>de</strong> curso. Tratavam dos problemas<br />
com professores, notas, discussões sobre o curso etc. reunia-se ainda em um colegiado <strong>de</strong> lí<strong>de</strong>res a fim <strong>de</strong><br />
discutir com os <strong>de</strong>mais lí<strong>de</strong>res os problemas do curso e da escola. Além dos lí<strong>de</strong>res <strong>de</strong> turma que compunham a<br />
colégio <strong>de</strong> alunos, havia ainda a figura do professor orientador, indicado por cada turma e o coor<strong>de</strong>nador do<br />
Centro Cívico que <strong>de</strong>veria estar ciente <strong>de</strong> todas as ativida<strong>de</strong>s propostas pelos alunos e encaminhá-las à diretoria<br />
quando fosse conveniente.<br />
113
conforme i<strong>de</strong>ntificado nos relatos, o SOE era um dos espaços <strong>de</strong> resistência ao<br />
autoritarismo, então sua postura <strong>de</strong> estímulo à participação não contradiz o posicionamento<br />
das orientadoras, sempre citadas como colaboradoras do movimento estudantil. Embora<br />
fique claramente expresso o caráter <strong>de</strong> tutela da instituição sobre os alunos. Mais adiante o<br />
documento apresenta:<br />
1. O que é um Representante <strong>de</strong> turma<br />
Um aluno capaz <strong>de</strong> representar os colegas perante a comunida<strong>de</strong> escolar<br />
i<strong>de</strong>ntificando, analisando e reivindicando <strong>de</strong> uma forma <strong>de</strong>mocrática, assuntos <strong>de</strong><br />
interesse da classe, junto aos setores competentes, propondo medidas que visem à<br />
melhoria do processo educacional.<br />
2. Qualida<strong>de</strong>s e requisitos exigidos <strong>para</strong> <strong>de</strong>sempenho da função:<br />
a) É condição imprescindível que o candidato não esteja repetindo o<br />
semestre, uma vez que este aluno necessita <strong>de</strong> maior tempo <strong>para</strong><br />
<strong>de</strong>dicação aos estudos.<br />
b) Iniciativa;<br />
c) Senso <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong>;<br />
d) Espírito <strong>de</strong> Grupo;<br />
e) Dinamismo;<br />
f) Comprometimento com o processo <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong> sua turma;<br />
g) Facilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> comunicação.<br />
3. Atribuições dos representantes <strong>de</strong> turma<br />
a) Representar a turma quando solicitado pelos próprios colegas, por<br />
professores ou outros da escola;<br />
b) Transmitir <strong>para</strong> a classe as instruções recebidas ou comunicações<br />
afixadas nos quadros <strong>de</strong> avisos <strong>de</strong> interesse da turma;<br />
c) Criar mecanismos que favoreçam um bom relacionamento entre os<br />
colegas, bem como aluno X professor e aluno X setores;<br />
d) Encaminhar ao SOE, os colegas que necessitem <strong>de</strong> uma maior<br />
assistência por parte do setor.<br />
e) Participar das reuniões on<strong>de</strong> sejam tratados assuntos <strong>de</strong> interesse da<br />
turma, quando convocados;<br />
f) Analisar e discutir, junto aos colegas, assuntos <strong>de</strong> interesse da turma,<br />
propondo aos setores competentes, quando necessário, medidas que<br />
venham beneficiar a turma;<br />
g) Integrar o Conselho <strong>de</strong> Representantes <strong>de</strong> turma do CCSD.<br />
4. Diretrizes <strong>para</strong> a eleição <strong>de</strong> Representantes:<br />
1. Indicação por parte dos alunos, <strong>de</strong> candidatos que preencham os<br />
requisitos exigidos;<br />
2. Distribuição das cédulas;<br />
3. Realização da eleição;<br />
4. Apuração imediata na sala <strong>de</strong> aula, sendo eleito Representante, o aluno<br />
que obtiver o maior número <strong>de</strong> votos e vice-representante o 2º aluno mais<br />
votado.<br />
A escolha dos colegas legitimava a sua atuação como representante estudantil da<br />
instituição. O centro cívico era um órgão estudantil <strong>de</strong>limitado em suas ações a partir da<br />
legislação que extinguiu as antigas representações estudantis que vigoraram até 1968. O<br />
114
diretor podia vetar a chapa inscrita <strong>para</strong> eleição do centro cívico. Há pelo menos um relato<br />
<strong>de</strong> uma chapa que não pô<strong>de</strong> concorrer. Sua atuação era, portanto, limitada e impedia os<br />
estudantes <strong>de</strong> promoverem eventos com autonomia frente à direção escolar, a qual tinha<br />
inclusive um coor<strong>de</strong>nador, com a função <strong>de</strong> censurar as ações dos estudantes que<br />
porventura viessem a ser consi<strong>de</strong>radas subversivas.<br />
Fui da chapa vetada, junto com o (colega <strong>de</strong> metalurgia). Foi a primeira vez que<br />
vi Rui Santos, a segunda foi com a minha carteira assinada. Formávamos uma<br />
célula <strong>aqui</strong> na escola técnica e o objetivo do partido era qualificar a gente e a<br />
gente repercutir isso no universo do trabalho... (Estudante <strong>de</strong> Geologia,<br />
1976/1980).<br />
O coor<strong>de</strong>nador do centro cívico tinha o papel <strong>de</strong> censurar previamente todas as<br />
ativida<strong>de</strong>s propostas pelos estudantes. Todos os eventos promovidos pelo CCSD, como por<br />
exemplo, a colagem ou distribuição <strong>de</strong> panfletos, cartazes e informações. Tudo tinha que<br />
conter a assinatura do coor<strong>de</strong>nador. A passagem nas salas <strong>de</strong> aula <strong>para</strong> dar alguma<br />
informação, a promoção <strong>de</strong> eventos <strong>de</strong> qualquer or<strong>de</strong>m precisava <strong>de</strong> autorização prévia do<br />
coor<strong>de</strong>nador docente e às vezes este levava as solicitações <strong>para</strong> a diretoria, tendo em vista<br />
que sua autonomia era restrita e ele também se submetia ao órgão superior<br />
Esta característica inicial, <strong>de</strong> apenas os representantes <strong>de</strong> turma po<strong>de</strong>r ser eleitos<br />
<strong>para</strong> o CCSD, aparentemente passa ser questionada pelos alunos, conforme pu<strong>de</strong>mos<br />
verificar em ata <strong>de</strong> reunião <strong>de</strong> diretoria que discutia a reformulação do estatuto da entida<strong>de</strong>.<br />
Não encontramos documentos dos estudantes acerca da questão e entre os lí<strong>de</strong>res<br />
entrevistados, nenhum se lembrou <strong>de</strong> tal questionamento. Tendo em vista o fato <strong>de</strong> a<br />
representação estudantil ser marcadamente dominada pelos estudantes que possuíam<br />
vínculos partidários externos à escola, po<strong>de</strong>mos supor que tal reformulação favorecesse a<br />
diretoria da ETFBA no sentido <strong>de</strong> manter maior controle sobre os estudantes e, inclusive,<br />
colocar alunos que gozassem da sua confiança <strong>para</strong> participar da li<strong>de</strong>rança estudantil,<br />
retirando o foco das ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cunho político <strong>para</strong> outras mais voltadas “aos verda<strong>de</strong>iros<br />
objetivos do centro cívico”.<br />
Não po<strong>de</strong>mos ignorar, entretanto, que neste momento histórico a ban<strong>de</strong>ira das<br />
eleições diretas é praticamente geral em nossa socieda<strong>de</strong>, especialmente no campo da<br />
educação on<strong>de</strong> muitas escolas passam a mobilizar-se a fim <strong>de</strong> eleger seus diretores,<br />
fenômeno que também ocorrerá na ETFBA em meados dos anos 80. Há ainda o fato <strong>de</strong><br />
outros grupos políticos estarem se organizando, <strong>de</strong> modo que havia uma disputa pela<br />
hegemonia do movimento na escola.<br />
115
O partido tinha uma estratégia. Tinha que ter o controle do aparelho. Era a época<br />
do surgimento do PT e nós taxávamos esse povo todo <strong>de</strong> “porra louca”... Um<br />
professor <strong>de</strong> letras da UFBA era ligado a LIBELU 50 . Nós taxávamos todos <strong>de</strong><br />
porra louca, esse povo ligado ao PT. (Estudante <strong>de</strong> Geologia, 1976/1980).<br />
Como relatado em pesquisa <strong>de</strong> Aparecida Carlos, os estudantes escolhidos por seus<br />
pares <strong>para</strong> li<strong>de</strong>rar suas turmas tinham algumas qualida<strong>de</strong>s que os diferenciava dos <strong>de</strong>mais.<br />
Eram alunos que se <strong>de</strong>stacavam por serem bons oradores, mantinham uma postura mais<br />
crítica e gozavam da confiança <strong>de</strong> boa parte da sua turma. Essas qualida<strong>de</strong>s posteriormente<br />
eram i<strong>de</strong>ntificadas por membros <strong>de</strong> partidos políticos que passavam a disputar o apoio<br />
<strong>de</strong>stes estudantes ou trazê-los <strong>para</strong> participar <strong>de</strong> suas reuniões, quando os mesmos<br />
<strong>de</strong>monstrassem serem dignos <strong>de</strong> confiança, uma vez que a ativida<strong>de</strong> político partidária era<br />
consi<strong>de</strong>rada uma ação subversiva.<br />
Cabe salientar que no período em que vigorou o Centro Cívico havia um gran<strong>de</strong><br />
controle sobre as ações dos estudantes, os quais, segundo relatos, precisavam realizar com<br />
cuidado suas ativida<strong>de</strong>s a fim <strong>de</strong> não incorrerem na legislação. Deste modo, ativida<strong>de</strong>s<br />
culturais marcavam as ações dos estudantes, como um espaço <strong>de</strong> resistência ao<br />
autoritarismo, tendo sido relatados diversos eventos em que o cunho artístico cultural era<br />
revertido em crítica e reflexão política.<br />
A exibição <strong>de</strong> filmes era também um dos espaços <strong>de</strong> subversão do sistema. Com a<br />
justificativa <strong>de</strong> assistir documentários e filmes educativos, os estudantes, passam a exibir no<br />
CCSD os filmes que até aquele momento eram proibidos, em <strong>de</strong>corrência da lei <strong>de</strong> censura,<br />
a qual é extinta <strong>de</strong> fato apenas em 1988, com a promulgação da nova Constituição. A<br />
exibição <strong>de</strong> filmes não era prerrogativa única dos estudantes da ETFBA. O DCE da UFBA<br />
é chamado a prestar esclarecimentos na justiça fe<strong>de</strong>ral por exibir “Je Vous Salue Marie”<br />
proibido pela censura. 51<br />
O teatro tornou-se também um espaço privilegiado <strong>de</strong> organização estudantil. Havia<br />
na escola um professor que dava formação <strong>para</strong> os alunos e, alguns estudantes acabaram por<br />
seguir o caminho artístico, <strong>de</strong>stacando-se pela sua atuação profissional. O grupo <strong>de</strong> teatro<br />
alternativo ao grupo oficial da escola, on<strong>de</strong> predominava a atuação dos membros do CCSD<br />
se chamava “Mandacaru” 52 , em alusão a planta nor<strong>de</strong>stina que sobrevive a seca. Um<br />
símbolo da resistência.<br />
50 Liberda<strong>de</strong> e Luta. Tendência presente no movimento estudantil, oriunda do ME paulista. Liberda<strong>de</strong> e Luta.<br />
51 Segundo reportagem do jornal A Tar<strong>de</strong> <strong>de</strong> 09 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 1986, o diretor e outros membros do DCE foram à<br />
Polícia Fe<strong>de</strong>ral prestar esclarecimentos sobre a exibição do filme na se<strong>de</strong> do DCE e em outras escolas da<br />
universida<strong>de</strong>.<br />
52 Este grupo apresentou uma peça em 1980 no pátio da escola, pois embora autorizada pela Polícia Fe<strong>de</strong>ral,<br />
não obtiveram permissão <strong>de</strong> fazê-la na sala do centro cívico. O original guardado por uma ex-aluna, membro<br />
116
Sobre a apresentação <strong>de</strong> uma peça <strong>de</strong>ste grupo há o seguinte relato em ata dos<br />
órgãos superiores:<br />
(...) Reportando aos comentários anteriormente feitos sobre o Grupo <strong>de</strong> Teatro,<br />
disse que convidou vários professores responsáveis pelos órgãos direcionais da<br />
escola <strong>para</strong> assistir a uma peça e dialogar com os alunos <strong>para</strong> saber por que eles<br />
usam uma linguagem agressiva falando que o grupo é muito bom e que aceita o<br />
diálogo, precisando, todavia <strong>de</strong> mais tempo <strong>para</strong> se chegar a uma conclusão sobre<br />
o assunto... (Livro <strong>de</strong> Atas <strong>de</strong> Reunião dos Órgãos Superiores, 13/05/1980, p.92).<br />
O teor da fala registrada em ata nos indica que, embora <strong>para</strong> os estudantes aquele<br />
fosse um momento <strong>de</strong> atitu<strong>de</strong> crítica, esta, entretanto, não era totalmente i<strong>de</strong>ntificada pela<br />
direção como uma ação política. Os alunos entrevistados, porém afirmam que todas as<br />
palavras contidas na peça eram pensadas a fim <strong>de</strong> estabelecer, simbolicamente um protesto<br />
contra a ditadura, e no caso específico <strong>de</strong>sta peça, contra a exploração da classe<br />
trabalhadora. Cada personagem era i<strong>de</strong>ntificado com um membro da diretoria, embora seus<br />
nomes fossem trocados.<br />
A Peça “Patrões e Joões” apresentada na Semana da Cultura <strong>de</strong> 1979 guarda ainda o<br />
carimbo da Polícia Fe<strong>de</strong>ral autorizando sua exibição. Nela, os alunos discutiram acerca da<br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> social entre os patrões e os empregados, a partir <strong>de</strong> uma criança doente cujo<br />
pai não tem apoio do patrão e que acaba por morrer.<br />
Embora as ativida<strong>de</strong>s políticas fossem bastante reprimidas pela diretoria, isto não<br />
impedia os alunos <strong>de</strong> realizarem atos bastante significativos a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrar sua<br />
insatisfação com o regime. Mas até este momento a maior parte das ações se restringia ao<br />
ambiente interno da escola. Fora da mesma, os jovens em ativida<strong>de</strong>s políticas, não eram<br />
i<strong>de</strong>ntificados como estudantes da ETFBA, <strong>de</strong> modo que não havia um registro externo do<br />
ME da escola 53 . Um dos eventos que permitia tais acontecimentos era a Semana da<br />
Cultura 54 .<br />
Estas atitu<strong>de</strong>s repressoras eram gerais nas escolas da re<strong>de</strong> havendo indicações da<br />
existência <strong>de</strong> um diálogo entre os diretores das escolas técnicas a fim <strong>de</strong> obter informações<br />
sobre a melhor maneira <strong>de</strong> conduzir os estudantes. Os jornais <strong>de</strong> esquerda trazem matérias<br />
sobre esta questão:<br />
ESTUDANTES DE SC GANHAM AÇÃO NA JUSTIÇA<br />
do CCSD e do Grupo <strong>de</strong> Teatro Mandacaru possui um carimbo da Polícia Fe<strong>de</strong>ral autorizando a peça a ser<br />
apresentada.<br />
53 Entre os alunos entrevistados, um pelo menos teve sua ficha acessada posteriormente, e se surpreen<strong>de</strong>u ao<br />
saber que todos os seus passos eram acompanhados. Inclusive sua vida social, festas familiares, batizados etc.<br />
54 A semana da cultura contava com a presença <strong>de</strong> pessoas externas à escola, tais como autorida<strong>de</strong>s, pais,<br />
familiares dos alunos. A abertura ocorria com uma missa, havendo <strong>de</strong>sfile olímpico e com a banda <strong>de</strong> música e<br />
a banda marcial da escola pelo bairro do Barbalho.<br />
117
A Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Santa Catarina, em Florianópolis, permaneceu<br />
durante 10 anos com seu Centro Cívico – entida<strong>de</strong> dos alunos – ocupada por uma<br />
funcionária da instituição. Este ano, os alunos resolveram realizar eleições <strong>para</strong> a<br />
entida<strong>de</strong> e a chapa vencedora partiu <strong>para</strong> transformar a entida<strong>de</strong>, procurando fazêla<br />
servir aos verda<strong>de</strong>iros interesses dos estudantes. Foi realizada uma Semana<br />
Cultural e lançado um jornal – Opinião – que procurava <strong>de</strong>nunciar a catastrófica<br />
situação em que se encontra a educação, exigir e propor soluções <strong>para</strong> estes<br />
problemas. Mas o diretor da escola não gostou da mudança sofrida pela entida<strong>de</strong><br />
e resolveu punir, com <strong>de</strong>missão dos cargos, toda a diretoria do Centro. Sob<br />
alegação foi das mais arbitrarias: o jornal foi consi<strong>de</strong>rado “altamente crítico” e<br />
não <strong>de</strong>veria circular, pois o Centro cívico <strong>de</strong>stina-se a ativida<strong>de</strong>s cívicas,<br />
culturais, sociais e <strong>de</strong>sportivas.<br />
Além da <strong>de</strong>missão, duas alunas foram suspensas por três dias e o diretor resolveu<br />
chamar os pais dos responsáveis pelo jornal <strong>para</strong> explicar-lhes que: “estudante foi<br />
feito <strong>para</strong> estudar”. Com base em todas essas medidas, os estudantes resolveram<br />
entrar com um mandato <strong>de</strong> segurança na Justiça catarinense a fim <strong>de</strong> garantir o<br />
direito <strong>de</strong> manifestação dos estudantes <strong>de</strong>ntro da Escola. E conseguiram.<br />
Mas a resposta dos estudantes não parou por aí. Os acontecimentos foram levados<br />
ao <strong>de</strong>putado fe<strong>de</strong>ral Walmor <strong>de</strong> Luca, que pronunciou discurso na Câmara dos<br />
Deputados, dirigindo-se ao Ministro da Educação, Eduardo Portela, on<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>nunciou a arbitrarieda<strong>de</strong> cometida pelo diretor da escola e exigindo providência<br />
por parte do titular da pasta da Educação <strong>para</strong> que acontecimentos como este não<br />
se repitam e que, neste caso, os responsáveis sejam punidos e que os alunos<br />
reintegrados ao Centro Cívico (Voz da Unida<strong>de</strong> 10/10 a 16/10/1980, página 12).<br />
Ao mesmo tempo em que ainda permanecem as atitu<strong>de</strong>s repressoras, os estudantes<br />
passam a contar com um apoio externo, até mesmo institucional <strong>para</strong> fazer valer suas<br />
reivindicações, conforme pu<strong>de</strong>mos verificar no caso acima.<br />
Havia encontros permanentes entre os diretores, o REDITEC (Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Diretores das<br />
Escolas Técnicas), oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> discussão entre os mesmos a fim <strong>de</strong> tratar <strong>de</strong> problemas<br />
comuns. Nestas reuniões eles discutiam sobre a melhor forma <strong>de</strong> conduzir a escola, como<br />
manter controle sobre o Centro Cívico etc. Assim, o diretor da ETFBA, em reunião <strong>de</strong><br />
diretoria ao questionar sobre o andamento das pesquisas dos seus subordinados, comenta<br />
sobre o modo como a Escola Técnica do Maranhão conduz o seu centro cívico, vinculandoo<br />
ao Serviço <strong>de</strong> Orientação Educacional (SOE). 55<br />
Na ETFBA o SOE é <strong>de</strong>scrito pelos entrevistados, especialmente na primeira meta<strong>de</strong><br />
da década <strong>de</strong> 80, como um espaço <strong>de</strong> subversão do sistema. Era o SOE quem mediava a<br />
relação entre os estudantes e a escola (professores, direção, etc.). Gozavam <strong>de</strong> uma<br />
intimida<strong>de</strong> com os alunos e segundo relato <strong>de</strong> uma orientadora educacional da época, se<br />
contrapunha a Supervisão Educacional, que mediava os conflitos com professores.<br />
3.3 Os Professores e a resistência silenciosa<br />
55 Ao questionar a antiga orientadora do SOE do por que da ETFBA não vincular o CCSD ao SOE, ela riu e<br />
respon<strong>de</strong>u que a ETFBA não permitiria jamais este vínculo, em <strong>de</strong>corrência da posição política assumida pelas<br />
pedagogas.<br />
118
A partir dos anos setenta os professores começam também a organizar-se.<br />
I<strong>de</strong>ntificamos a ASSETEFEBA (Associação dos professores da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da<br />
Bahia) como um espaço inicial <strong>de</strong> organização dos mesmos. Segundo relato <strong>de</strong> um<br />
professor, que foi representante docente no Conselho Técnico Consultivo, esta associação<br />
foi fundamental no processo <strong>de</strong> saída do antigo diretor.<br />
Outro aspecto a ser ressaltado é o papel dos professores, especialmente os do<br />
primeiro ano (Básico I e Básico II). Embora nossas investigações não tenham se orientado<br />
<strong>para</strong> o papel dos professores i<strong>de</strong>ntificamos nas falas dos alunos uma constante referência a<br />
vários nomes que estavam fazendo a mediação entre os novos alunos e aqueles que<br />
<strong>de</strong>sempenhavam ativida<strong>de</strong>s políticas. Muitas vezes estes professores apresentavam os<br />
“calouros” que <strong>de</strong>monstravam interesse pela política aos veteranos, ou lhes indicava <strong>para</strong><br />
que fossem convidados a compor os quadros <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminado grupo político <strong>de</strong>ntro da escola<br />
e, posteriormente, atuassem fora da escola.<br />
Alguns professores observavam os alunos com qualida<strong>de</strong>s políticas, a fim <strong>de</strong> serem<br />
pre<strong>para</strong>dos <strong>para</strong> assumir a li<strong>de</strong>rança do movimento, conforme relatado por um entrevistado,<br />
<strong>de</strong> modo a aproximar o aluno veterano dos recém ingressos.<br />
Há relato <strong>de</strong> que um professor pertenceu a quadro <strong>de</strong> um partido <strong>de</strong> esquerda, no<br />
caso a APML, sendo este o mais ativo na orientação e formação política <strong>de</strong>ntro da escola.<br />
É claro que existia participação dos professores (...) eu me lembro que a gente (os<br />
estudantes) fez a greve e tinha tanto a presença dos professores ... (Estudante <strong>de</strong><br />
Eletrotécnica, 1982/1986).<br />
O apoio dos professores aos estudantes passa a ser evi<strong>de</strong>nciado a partir do “quebra-<br />
quebra <strong>de</strong> ônibus” conforme relato <strong>de</strong> um aluno<br />
Então aquele movimento foi muito importante porque a partir daquele momento<br />
os professores passaram a colocar a cabeça <strong>de</strong> fora, pelo menos é o que eu<br />
percebi até então. Não havia uma movimentação muito clara <strong>de</strong> professores, mas<br />
a partir daquele instante, naquele dia, eles apoiaram o movimento dos alunos.<br />
Isso foi muito significativo... Eu não sei... Até... Só um professor que tenha<br />
vivido aquela época que po<strong>de</strong> dizer... Mas eu acho que, <strong>de</strong> uma certa forma<br />
aquele movimento estudantil influenciou a articulação dos professores (Estudante<br />
<strong>de</strong> Metalurgia, 1978/1982).<br />
Em meados dos anos 80, especialmente no período <strong>de</strong> luta pela saída do diretor, as<br />
aulas tornaram-se espaço <strong>de</strong> <strong>de</strong>bates acerca <strong>de</strong> temas como <strong>de</strong>mocratização do ensino<br />
público e eleições diretas na re<strong>de</strong> fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> ensino. Em muitos entrevistados, a presença <strong>de</strong><br />
119
professores que <strong>de</strong>spertavam a indignação política do estudante, aparece como um elemento<br />
significativo. Especialmente isso ocorria nos primeiros semestres, quando os alunos tinham<br />
aulas das disciplinas propedêuticas: História, Educação Moral e Cívica, Geografia,<br />
Português. Aqui ocorre um fato interessante: embora o controle do regime fosse bastante<br />
forte também sobre os professores e se suspeitasse da existência <strong>de</strong> agentes infiltrados a fim<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>latar possíveis subversivos, alguns professores burlavam as normas, exatamente nas<br />
disciplinas impostas <strong>para</strong> manter tal controle. É o caso <strong>de</strong> Educação Moral e Cívica e<br />
OSPB.<br />
No primeiro semestre os alunos tinham contato com uma literatura bastante<br />
diferente daquela que estavam acostumados. Livros como “Veias abertas da<br />
América Latina” <strong>de</strong> Eduardo Galeano, “ História da Riqueza do Homem” <strong>de</strong> Léo<br />
Huberman... Estes livros tinham um caráter incendiário, embora fossem<br />
publicados (Estudante <strong>de</strong> Geologia, 1976/1980).<br />
O estudante que ingressava na escola tinha a opção <strong>de</strong> entrar no Básico ou<br />
diretamente no 2º ano, correspon<strong>de</strong>nte ao 3º semestre. Nossas observações nos levam a<br />
afirmar que o aluno que ingressava no 3º semestre possuía menores chances <strong>de</strong> penetrar no<br />
universo político da escola, uma vez que a gran<strong>de</strong> maioria dos lí<strong>de</strong>res estudantis<br />
entrevistados afirma ter <strong>de</strong>scoberto a política, logo em seu ingresso no Básico, em virtu<strong>de</strong><br />
das disciplinas que eram oferecidas, mais ligadas às Ciências Humanas, Artes e Língua<br />
Portuguesa e aos professores mais politizados.<br />
O fato <strong>de</strong> a escola. De professores da época <strong>de</strong> alguma forma burlar o sistema e<br />
<strong>de</strong>ntro da sala <strong>de</strong> aula e levarem a filosofia <strong>para</strong> escola e darem rapidamente o<br />
conteúdo <strong>de</strong> Educação Moral e Cívica e levava a discussão filosófica, esse foi o<br />
primeiro gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>spertar e Jairo foi o professor que faz isso e aí você tem o<br />
primeiro <strong>de</strong>spertar (Aluno <strong>de</strong> Eletrônica. 1978/1981).<br />
Apesar da predominância dos professores <strong>de</strong> Língua Portuguesa e da área <strong>de</strong><br />
Estudos Sociais entre os que agiam <strong>de</strong> forma a estimular a reflexão crítica, havia também<br />
professores da área técnica que mantinham uma postura crítica. São citados em especial os<br />
professores dos cursos <strong>de</strong> Eletrotécnica e Geologia. O posicionamento mais crítico <strong>de</strong>stes<br />
professores da área técnica com a política fica mais evi<strong>de</strong>nte a partir do movimento pelas<br />
eleições diretas <strong>para</strong> diretor, quando os professores se mostram organizados.<br />
A participação dos professores po<strong>de</strong> ser evi<strong>de</strong>nciada ainda na forma como faziam<br />
“vista grossa” a <strong>de</strong>terminadas ações empreendidas pelos alunos. Assim, facilitavam a vida<br />
dos alunos que estavam prestes a per<strong>de</strong>r o semestre, por conta da atuação política,<br />
permitiam a entrada em sala <strong>de</strong> aula a fim <strong>de</strong> fazer convocações, avisavam sobre a<br />
120
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ter cuidado etc. sobre este tem o diretor menciona em reunião <strong>de</strong> diretoria<br />
“que chegou ao seu conhecimento, alguns professores tinham ciência do movimento e<br />
colaboraram indiretamente <strong>para</strong> o agravamento do problema” (Livro <strong>de</strong> Atas <strong>de</strong> Reunião <strong>de</strong><br />
Direção, 26/05/1981).<br />
O SOE e alguns professores tinham uma forma <strong>de</strong> expressar sua insatisfação com a<br />
censura e a or<strong>de</strong>m estabelecida na escola. Deste modo, são sempre citados como<br />
facilitadores neste processo <strong>de</strong> formação crítica dos estudantes. Sendo recorrentes entre os<br />
alunos e a orientadora, mesmo <strong>de</strong> períodos diferentes, os mesmos nomes, apresentando<br />
pouca variação.<br />
E outros professores também, além do SOE, que tínhamos assim uma aliança<br />
afetiva... Professor Lessa, Ângela Teixeira, professor Nildon Pitombo, também<br />
que teve toda uma forma <strong>de</strong> acolher o aluno, ainda na sala <strong>de</strong> aula, e com<br />
disciplinas como Física. Mas <strong>de</strong> uma forma também inteligente, compressiva e<br />
i<strong>de</strong>ntitária. Porque eles também pensavam como os alunos, só que como<br />
profissionais a gente tinha que ser mais grupo ainda, do que aluno teria que ser<br />
(Orientadora Educacional /SOE).<br />
Esta mesma orientadora, que ingressou na escola durante os anos 1970, em sua<br />
entrevista comenta que, apesar da censura e da forma fabril como a escola era organizada,<br />
os espaços <strong>de</strong> subversão foram criados.<br />
Nós estávamos todos lá com aquela cápsula <strong>de</strong> bombar<strong>de</strong>io que não podíamos<br />
quebrar. Uma disciplina... Ela era virtual e ela era ao mesmo tempo era<br />
legitimada. Ela era à força da lei. E essa or<strong>de</strong>m foi se mantendo pelo<br />
esvaziamento até do <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> se fazer a subversão, <strong>de</strong> se fazer a transformação,<br />
porque era arriscado. Ainda que a gente tivesse também algumas informações e<br />
possibilida<strong>de</strong>s, ainda que os partidos políticos também sutilmente ainda<br />
estivessem organizados <strong>para</strong> colocar o movimento estudantil <strong>de</strong>ntro da or<strong>de</strong>m do<br />
movimento político em si, mas se cumpria muito as or<strong>de</strong>ns da casa. E a gente<br />
tinha presente ali, na área <strong>de</strong> segurança, os representantes <strong>de</strong>sta or<strong>de</strong>m, que eram<br />
os coronéis, que a gente precisava então obe<strong>de</strong>cer. Como essa forma <strong>de</strong><br />
condução, <strong>de</strong> qualquer forma ela explo<strong>de</strong> <strong>de</strong> um lado, porque <strong>de</strong>baixo do tapete<br />
se escon<strong>de</strong> a poeira, mas ele está lá e foi possível então que a gente pu<strong>de</strong>sse<br />
dormir <strong>de</strong>baixo do tapete, algumas vezes, pra po<strong>de</strong>r fazer as mudanças sutis<br />
também (Orientadora Educacional /SOE).<br />
Nem todos, entretanto, contribuíam. 56 . Por medo ou obediência ao sistema, ou<br />
mesmo por acreditar ser aquele seu papel enquanto educador, muitos professores eram<br />
56 Estes avisos podiam ter dois sentidos, como uma ameaça, caracterizando o que hoje conhecemos como<br />
assédio moral (com a intenção <strong>de</strong> ameaça ou <strong>de</strong> produzir medo no estudante) ou , por <strong>de</strong>monstração <strong>de</strong><br />
cuidado. Há nos relatos evidências dos dois sentidos em que estes avisos eram dados. Consi<strong>de</strong>ro <strong>aqui</strong> a forma<br />
como os alunos se referem aos episódios e suas memórias sobre outras situações, aon<strong>de</strong> este professores<br />
venham a “proteger” ou “auxiliar os estudantes na iminência <strong>de</strong> serem reprovados.<br />
121
astante rigorosos e a reprovação era um medo constante entre os estudantes. O fato dos<br />
professores <strong>de</strong>monstrarem insatisfação, mas não assumirem abertamente a contestação a<br />
or<strong>de</strong>m estabelecida, foi lembrado por um aluno.<br />
Não são raros os relatos das dificulda<strong>de</strong>s e dos professores “carrascos” entre os<br />
entrevistados. “Os passos <strong>de</strong> Física” permanente lembrados por todos os entrevistados teve<br />
seu fim imediatamente após a criação do grêmio, indicando que era uma ban<strong>de</strong>ira dos<br />
estudantes, do ponto <strong>de</strong> vista pedagógico.<br />
A escola... Eu po<strong>de</strong>ria dizer (...) tinha uma pedagogia, rapaz! Terrível! Porque era<br />
o seguinte: um tal <strong>de</strong> um passo <strong>de</strong> física, e eu fazia eletrotécnica, era o curso que<br />
mais tinha passos, até o 4º semestre, então você tinha que tirar 10 (<strong>de</strong>z)... Não<br />
tinha professor pra lhe ensinar, quer dizer, ou você virava autodidata ou então<br />
você não aprendia, ou seja, a escola lhe obrigava a <strong>de</strong>senvolver habilida<strong>de</strong>s <strong>para</strong><br />
ser autodidata.<br />
Que <strong>aqui</strong>lo era o diabo pra nós! A gente entrava no banheiro, sentava no vaso<br />
sanitário com o livro na mão <strong>de</strong> Física. Eu lembro como hoje. A gente pegava<br />
Moreto ou Ramalho. Com aquele livro na mão... Saía e ficava pelos corredores<br />
<strong>de</strong>itado (...), estudando... Esse era o panorama que a escola... Que a gente via<br />
<strong>de</strong>ntro da escola (Aluno <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1982/1986).<br />
Tudo permeado por um ambiente <strong>de</strong> pre<strong>para</strong>ção <strong>para</strong> a fábrica, mas que<br />
contraditoriamente <strong>de</strong>senvolvia no estudante uma consciência do seu papel na socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
não ser um mero “cidadão produtivo”.<br />
Havia na escola uma competitivida<strong>de</strong> entre os professores das disciplinas<br />
propedêuticas e das disciplinas técnicas. Em um período marcado pela ampliação da<br />
indústria a escola vive o <strong>para</strong>doxo <strong>de</strong> formar trabalhadores aptos a exercer seu papel nas<br />
fábricas sem per<strong>de</strong>r a dimensão crítica que lhes possibilitaria ser um cidadão no sentido<br />
mais amplo do termo.<br />
Freqüentemente citado pelos alunos como um espaço <strong>de</strong> apoio ao Centro Cívico, o<br />
SOE (Serviço <strong>de</strong> Orientação Educacional), além <strong>de</strong> auxiliar os alunos, proporcionou<br />
algumas oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> encontro entre os estudantes e a literatura <strong>de</strong> Paulo Freire e<br />
outros teóricos, críticos <strong>de</strong> uma educação voltada exclusivamente <strong>para</strong> o mercado, buscando<br />
uma educação mais humana.<br />
Po<strong>de</strong>r ter acesso a coisas que a gente nunca tinha tido. Eu me lembro que <strong>para</strong> ler<br />
Paulo Freire pela primeira vez. Foi escondido... Maria Luiza Tapioca,<br />
coor<strong>de</strong>nadora do SOE, trouxe uma Xerox escondido <strong>para</strong> ler Paulo Freire (Aluno<br />
<strong>de</strong> Eletrônica. 1978/1981).<br />
A perspectiva crítica que vigorava neste período era da Politecnia, conforme<br />
indicamos em outro espaço <strong>de</strong>ste trabalho.<br />
122
3.4 O partido na Escola<br />
Fazendo uma leitura a partir <strong>de</strong> hoje. Eu acho que tinha uma ação coor<strong>de</strong>nada.<br />
Sistemática mesmo das pessoas que já eram ligadas a partidos, que já eram<br />
ligadas a tendências e que buscavam esses alunos novos, o apoio <strong>de</strong>les... Enfim,<br />
trazê-los <strong>para</strong> o movimento (Aluna <strong>de</strong> Química Industrial -1979/1981).<br />
A presença do partido na escola é algo evi<strong>de</strong>nte nos relatos dos entrevistados. Sua<br />
aproximação se dava principalmente através da representação estudantil, fosse o centro<br />
cívico ou, posteriormente, o grêmio estudantil, consi<strong>de</strong>rado um espaço privilegiado, no<br />
sentido <strong>de</strong> instrumentalizar a ação do sindicato. A expectativa do partido era que, ao sair da<br />
escola, o aluno politizado po<strong>de</strong>ria atuar <strong>de</strong> forma conseqüente nas bases dos sindicatos, os<br />
quais vinham ganhando cada vez mais força no período <strong>de</strong> abertura política.<br />
Sendo característica do movimento estudantil a permanente substituição <strong>de</strong> seus<br />
lí<strong>de</strong>res, em virtu<strong>de</strong> da <strong>de</strong>terminação do tempo que um indivíduo passa em média na escola,<br />
essa renovação precisa ser conduzida <strong>de</strong> maneira a manter o movimento ativo. A introdução<br />
<strong>de</strong> alunos jovens no movimento estudantil e no partido garantia que este grupo mantivesse o<br />
domínio do movimento por um tempo maior, com pessoas pre<strong>para</strong>das <strong>para</strong> garantir a<br />
continuida<strong>de</strong> do trabalho.<br />
O domínio <strong>de</strong> um grupo ou tendência em <strong>de</strong>trimento <strong>de</strong> outro variou bastante no<br />
<strong>de</strong>correr dos <strong>de</strong>z anos pesquisados. I<strong>de</strong>ntificamos nos primeiro momento o PCB, que<br />
segundo entrevistados, estava presente na escola <strong>de</strong>s<strong>de</strong> meados dos anos 1970, embora <strong>de</strong><br />
todos os grupos fosse o mais discreto em sua ação <strong>de</strong>liberada como partido, em virtu<strong>de</strong> do<br />
con<strong>texto</strong> <strong>de</strong> repressão do governo <strong>de</strong> Geisel.<br />
Nós fomos chamados, vamos dizer assim, passamos por um processo <strong>de</strong><br />
treinamento. Era um grupo ainda do partido comunista brasileiro (PCB) e a gente<br />
tinha grupo <strong>de</strong> estudos, então a gente estudava <strong>para</strong> apren<strong>de</strong>r o que era o<br />
movimento. Na verda<strong>de</strong>, a idéia do partido comunista era pre<strong>para</strong>r operários. A<br />
gente ia pro Pólo Petroquímico. A escola formava trabalhadores <strong>para</strong> o pólo<br />
petroquímico. Era a escola que fornecia mão-<strong>de</strong>-obra qualificada (Aluno <strong>de</strong><br />
Química - 1976/1981).<br />
Apesar da presença <strong>de</strong> estudantes ligados aos partidos políticos <strong>de</strong> esquerda, que<br />
atuavam na clan<strong>de</strong>stinida<strong>de</strong> nos anos 70 e meados dos anos 80 ser comprovada pelos<br />
relatos, a memória <strong>de</strong> muitos professores da escola hoje, que foram ex-alunos em períodos<br />
anteriores é controversa quanto ao tema. Nem todos reconhecem a existência <strong>de</strong> um<br />
movimento estudantil no interior da ETFBA. Este fato se dá, a nosso ver, por terem uma<br />
123
noção <strong>de</strong> que movimento estudantil refere-se apenas a ativida<strong>de</strong> políticas <strong>de</strong>claradas.<br />
Associado ao fato <strong>de</strong> que o envolvimento com partidos políticos clan<strong>de</strong>stinos era como dito<br />
antes, algo que precisava ser feito em segredo, uma vez que a qualquer momento os<br />
envolvidos podiam ser presos por estarem infringindo a Lei <strong>de</strong> Segurança Nacional.<br />
Para Gramsci, a importância do partido e o seu significado no mundo mo<strong>de</strong>rno<br />
consistem na elaboração e difusão <strong>de</strong> concepções <strong>de</strong> mundo, visto que os partidos elaboram<br />
a ética e a política a<strong>de</strong>quadas à socieda<strong>de</strong> e “funcionam quase como experimentadores<br />
históricos <strong>de</strong> tais concepções”, colaboram ainda na formação dos novos intelectuais,<br />
unificando teoria e prática em um processo histórico real (GRAMSCI, 2006).<br />
Há indicações que, na fase que correspon<strong>de</strong> ao nosso marco temporal inicial, havia a<br />
presença da APML, do PCB, do PC do B e, posteriormente do PT. Sendo que o PCB<br />
ocupava a diretoria do centro cívico <strong>de</strong>s<strong>de</strong> meados dos anos 70. Até o início dos anos 1980<br />
a participação como membro dos partidos comunistas não po<strong>de</strong>ria ser um fato público. Por<br />
conta da Lei <strong>de</strong> Segurança Nacional e do impedimento dos mesmos, postos na ilegalida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o governo <strong>de</strong> Vargas, seus membros não falavam sobre o assunto e buscavam formas<br />
seguras <strong>de</strong> mobilizar e aumentar os seus quadros <strong>de</strong>ntro da escola.<br />
Neste espaço <strong>de</strong> luta pelas liberda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>mocráticas, o PCB apresentava como<br />
estratégia a busca pela ampliação da consciência <strong>de</strong>mocrática <strong>de</strong> toda a população e uma<br />
aliança com todos os setores da socieda<strong>de</strong>. Privilegiava a atuação no interior do MDB, e<br />
seus membros, recrutados no movimento estudantil, compunham boa parte da ala jovem do<br />
MDB. As referidas “organizações <strong>de</strong> esquerda, com forte presença no movimento<br />
estudantil, procuravam levar as manifestações <strong>para</strong> as ruas em atos públicos e passeatas que<br />
enfrentavam as tropas <strong>de</strong> choque do regime” (ARAÚJO, p. 333).<br />
Conforme relato <strong>de</strong> um ex-aluno membro do PCB, havia um vinculo importante na<br />
escola que refletia a atuação externa dos alunos.<br />
Nós ajudamos a eleger [um vereador] na ala jovem do MDB. [Outro membro] era<br />
o cara mais intelectual, professor <strong>de</strong> história. Nós líamos tudo <strong>aqui</strong>. Quase tudo<br />
<strong>de</strong> Marx menos o Capital. Todos aqueles livretos... Manifesto, Salário preço e<br />
lucro. (...) Eu acho que nós fomos o instrumento, mas também acho que não tinha<br />
como ser <strong>de</strong> outra forma, a gente foi massa <strong>de</strong> manobra do partido (Estudante <strong>de</strong><br />
geologia, 1976/1980).<br />
O discurso atualizado indica ainda uma <strong>de</strong>cepção, um sentimento <strong>de</strong> <strong>de</strong>samparo<br />
encontrado em alguns dos estudantes. Ser “massa <strong>de</strong> manobra” ou ter sido abandonado pelo<br />
partido no momento <strong>de</strong> dificulda<strong>de</strong>s. Relato que aparece em pelo menos dois dos<br />
entrevistados <strong>de</strong>sse período. Na citação seguinte o aluno indica a orientação do partido e<br />
seus <strong>de</strong>sdobramentos<br />
124
Ele queria que a gente fosse ven<strong>de</strong>r a Voz da Unida<strong>de</strong> na porta da fábrica e todo<br />
mundo foi <strong>de</strong>mitido. Eu saí <strong>de</strong> férias, mas eu tinha entrado na universida<strong>de</strong> e ia<br />
passar <strong>de</strong> estágio <strong>de</strong> nível médio <strong>para</strong> estágios <strong>de</strong> nível superior. Saí <strong>de</strong> férias,<br />
quando voltei não tinha mais estágio, não tinha mais nada, os meninos já tinham<br />
sido <strong>de</strong>mitidos... Eu me senti totalmente <strong>de</strong>sam<strong>para</strong>do. Daí <strong>de</strong>pois <strong>de</strong>ssa história<br />
eu rompi com o partido comunista. Daí fiquei uns dois anos como in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte.<br />
Aí fui me aproximando do PT (Estudante <strong>de</strong> geologia, 1976/1980).<br />
Embora no mesmo entrevistado seja possível i<strong>de</strong>ntificar um sentimento <strong>de</strong> <strong>de</strong>ver<br />
cumprido, <strong>de</strong> ter feito a sua parte na função a que estava <strong>de</strong>stinado:<br />
O partidão montou uma célula numa fábrica. A única célula que o partido tinha<br />
numa unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> produção eu, [mais dois colegas]. Você tinha o núcleo e os<br />
simpatizantes. Era preciso três, nos tínhamos os três saídos d<strong>aqui</strong>. Recrutamos<br />
um lá. Chefe <strong>de</strong> turma, peão lá... Uma figura maravilhosa. Para você ter uma<br />
idéia o sindicato tinha 20 anos que não ia pro dissídio, em seis meses a gente<br />
convocou, se infiltrou no sindicato a gente conseguiu duas assembléias, na<br />
primeira assembléia tinha 20 pessoas, na segunda 60 e na terceira 90. Mas aí o<br />
que se passou... Para você ver como eram as coisas... (Estudante <strong>de</strong> Geologia,<br />
1976/1980).<br />
I<strong>de</strong>ntificamos também a presença da OCDP 57 (Organização Comunista Democracia<br />
Proletária). Sobre este fato, um dos nossos entrevistados nos informou que seu objetivo era<br />
o movimento sindical, sendo a escola consi<strong>de</strong>rada em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> sua missão <strong>de</strong><br />
formação <strong>de</strong> mão <strong>de</strong> obra <strong>para</strong> as indústrias locais.<br />
Elenaldo Teixeira (1997) nos chama a atenção <strong>para</strong> a participação como um fator <strong>de</strong><br />
caráter educativo, embora não assuma tal prática como exclusiva <strong>de</strong>finidora dos conteúdos<br />
da vida prática. Ou seja, não há garantias que a experiência <strong>de</strong> participação em certos<br />
espaços como a escola, a família e o trabalho serão <strong>de</strong>terminantes <strong>para</strong> as ações futuras <strong>de</strong><br />
um indivíduo. No caso dos nossos informantes, embora na atualida<strong>de</strong> nem todos<br />
permaneçam “militantes”, apresentam vínculos políticos a partidos políticos e movimentos<br />
sociais além <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrarem uma posição crítica frente às questões sociais.<br />
Segundo Araujo, o movimento estudantil foi um dos mais importantes espaços <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>bate sobre as diferentes concepções da luta <strong>de</strong>mocrática, o qual, em suas assembléias,<br />
expunha as diferentes posições políticas, a partir dos seus representantes (CAs e Das) que<br />
travavam acirradas polêmicas em torno <strong>de</strong> palavras <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m e <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong> ação<br />
(ARAÚJO, 2002).<br />
A presença dos partidos <strong>de</strong> esquerda no ME sempre foi um fato, porém no caso da<br />
escola técnica, há uma maior significação <strong>para</strong> as ações dos partidos em <strong>de</strong>corrência do<br />
57<br />
A OCDP foi fundada no início <strong>de</strong> 1982, a partir dos remanescentes da APML, que foi extinta em 1981 na<br />
Bahia e em outros estados do país.<br />
125
cenário <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> um operariado urbano que ganha maior importância a partir do<br />
período <strong>de</strong> abertura. Neste sentido, embora se reconheça certo refluxo do ME, as correntes<br />
<strong>de</strong> esquerda serão representadas nas escolas técnicas pelas tendências, oriundas do ME<br />
universitário, como a “Viração”, vinculada ao PC do B e “Semeando” do PT, além do PCB<br />
já citado anteriormente. Esta presença tem como objetivo programar sua política <strong>de</strong><br />
formação <strong>de</strong> quadros <strong>para</strong> a indústria e o movimento sindical.<br />
Eu saí d<strong>aqui</strong> um pouquinho atrasado, porque na verda<strong>de</strong> eu participava <strong>de</strong> uma<br />
organização que tinha <strong>de</strong>finido aquela área ali como “área <strong>de</strong> fortaleza”. Certo?<br />
Eu assumi algumas tarefas internamente (...) meu papel lá foi recrutar algumas<br />
pessoas (...) uma galera que saiu da escola e hoje são militantes (Aluno <strong>de</strong><br />
Eletrotécnica, 1982/1986).<br />
Três dos entrevistados admitiram ter perdido o semestre com o objetivo <strong>de</strong><br />
permanecer mais tempo na escola e dar continuida<strong>de</strong> ao movimento. Entretanto, a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ser jubilados em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> reprovações não permitia uma<br />
permanência irrestrita.<br />
De outro lado, a experiência do movimento estudantil também possibilita ao<br />
técnico, quando assume o emprego na empresa, ter um posicionamento diferenciado. No<br />
caso do movimento sindical baiano, Guimarães indica que<br />
Na “fronteira industrial” nor<strong>de</strong>stina consolidada no <strong>de</strong>correr dos anos 80, por<br />
meio <strong>de</strong> incentivos fiscais e financeiros, principalmente na área do Pólo<br />
Petroquímico <strong>de</strong> Camaçari (Bahia), um inusitado fôlego conjuntural permitiu que<br />
a vitalida<strong>de</strong> política dos novos atores sociais sobrevivesse durante toda a década<br />
(CASTRO, GUIMARAES, 1995, p. 19).<br />
É preciso consi<strong>de</strong>rar que não eram apenas as organizações partidárias que se<br />
colocavam nesta nova conjuntura. O projeto político em vigor tinha novos sujeitos políticos,<br />
gerados no interior dos Movimentos Sociais, que traziam <strong>de</strong>mandas mais específicas e <strong>de</strong><br />
cunho imediato, na busca por soluções <strong>para</strong> problemas do cotidiano, como a moradia, o<br />
transporte coletivo, a carestia etc., nem sempre encabeçados por membros <strong>de</strong> partidos<br />
políticos, mas <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong> uma organização mais espontânea da socieda<strong>de</strong> ou vinculados<br />
a organizações religiosas li<strong>de</strong>radas pela Igreja Católica em especial.<br />
No caso específico <strong>de</strong> Salvador, conforme vimos no capítulo sobre conjuntura, este<br />
período se caracteriza pelo fortalecimento dos sindicatos, proliferação <strong>de</strong> organização <strong>de</strong><br />
bairros, ocupações, aumento do número <strong>de</strong> favelas, além da reorganização do ME, que<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> meados dos anos 70 já vinha se organizando em torno <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas internas como a<br />
questão do jubilamento, na UFBA. Os secundaristas se reorganizam imediatamente após a<br />
126
eorganização da UNE e realizam seu primeiro Congresso Nacional <strong>de</strong> reconstrução da<br />
UBES em 1980, em Curitiba.<br />
A partir do final <strong>de</strong> 1980 o PC do B assume li<strong>de</strong>rança do Centro Cívico e a chapa<br />
“Viração” que dominava gran<strong>de</strong> parte do movimento estudantil universitário baiano<br />
mantém a hegemonia também na ETFBA, embora o PT inicie um processo <strong>de</strong> formação <strong>de</strong><br />
quadros na escola. A partir <strong>de</strong>ste momento, as características do movimento ganham uma<br />
conotação <strong>de</strong> maior enfrentamento das autorida<strong>de</strong>s, com os alunos assumindo <strong>de</strong> forma<br />
mais aberta à insatisfação e participando mais ativamente dos movimentos sociais que<br />
expandiam na Bahia.<br />
A participação dos alunos no quebra-quebra ocorreu durante a transição da li<strong>de</strong>rança<br />
do PCB <strong>para</strong> o PC do B, embora não seja possível afirmar que apenas os membros do<br />
partido estivessem na organização do movimento.<br />
A partir <strong>de</strong> meados dos anos 80, especialmente após a eleição <strong>para</strong> diretor da escola,<br />
os alunos vinculados ao PT passam a disputar com o PC do B a hegemonia do movimento<br />
estudantil da ETFBA.<br />
Participei da comissão pró-grêmio. Depois do processo <strong>de</strong> Rui Santos nós<br />
aceleramos o processo <strong>de</strong> eleição do grêmio. Basicamente eram dois grupos se<br />
enfrentaram: um grupo que era do PC do B e outra vinculada ao PT. A chapa do<br />
PT ganhou amplamente a eleição. A chapa chamava “Semeando o Movimento”.<br />
Semeando era a chapa do PT no movimento estudantil. Eu não era da diretoria,<br />
mas da provisória que organizou a eleição, fui da comissão eleitoral (Aluno <strong>de</strong><br />
Química, 1985/1990).<br />
São estes alunos que ganham a primeira eleição <strong>para</strong> o Grêmio Estudantil em 1986.<br />
Formulam o estatuto 58 e inauguram o aprendizado da política estudantil em tempos<br />
<strong>de</strong>mocráticos. Esta eleição é significativa na medida em que o grêmio da ETFBA, segundo<br />
relato dos alunos é o segundo a se organizar na Bahia 59 após o período <strong>de</strong> restrições sofridas<br />
pelo ME. Recebe o nome Grêmio Estudantil “Edson Luís”, que era uma indicação da<br />
primeira cartilha, elaborada logo após a aprovação da Lei do Grêmio Livre, em 1985, porém<br />
a atual <strong>de</strong>nominação é Grêmio Estudantil Denílson Vasconcelos.<br />
A mudança da representação estudantil <strong>de</strong> centro cívico <strong>para</strong> grêmio foi comentada<br />
por um estudante como um momento crucial <strong>para</strong> a reorganização da política partidária na<br />
escola. Segundo ele, havia uma expectativa <strong>de</strong> que os alunos que dirigiam o CCSD,<br />
58<br />
Infelizmente não conseguimos ter acesso a este estatuto, que segundo a diretoria do atual grêmio, se per<strong>de</strong>u.<br />
Também não encontramos justificativa <strong>para</strong> a mudança do nome. Sabemos que Edson Luís foi o estudante<br />
morto no restaurante Calabouço em 1968. Denílson Vasconcelos foi um militante estudantil da década <strong>de</strong> 70<br />
em Salvador e ex-aluno da escola.<br />
59<br />
O primeiro grêmio organizado foi o do Colégio Central.<br />
127
membros do PC do B, capitalizassem o fato <strong>de</strong> ter sido Aldo Arantes, membro do partido e<br />
ex-lí<strong>de</strong>r estudantil autor do projeto <strong>de</strong> lei, e, portanto, que assumissem a dianteira do<br />
processo. O que houve, porém, não foi isso<br />
estudantes.<br />
Os caras se apresentavam como do PC do B. Certo? O que nos surpreen<strong>de</strong>u no<br />
processo foi que Aldo Arantes já em 1985 entra com a lei (...) assim que entra<br />
com a lei nós esperávamos o quê? Que o PC do B tomasse a iniciativa <strong>de</strong><br />
organizar o grêmio estudantil (...) <strong>de</strong>ve ter havido uma orientação (...) mas a<br />
gente não viu essa movimentação (Aluno <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1982/1986).<br />
A estratégia <strong>de</strong>finida então é <strong>de</strong>, <strong>para</strong>lelo à luta pela saída do diretor, reorganizar os<br />
(...) a gente não viu a presença do PC do B neste processo. A gente fez porque era<br />
o seguinte: claro que houve certa, po<strong>de</strong>ria dizer, a experiência contribuiu <strong>para</strong><br />
isso. Porque era o seguinte: Você tem <strong>de</strong>z salas <strong>de</strong> calouros, certo? E tem assim...<br />
duas salas <strong>de</strong> cada semestre. Então <strong>para</strong> a gente... a gente pensou, isso foi<br />
pensado, elaborado. Interessava investir nos setores porque a gente tinha uma<br />
visão muito clara! Nós da organização [OCDP] tínhamos uma visão muito clara<br />
que era formar militantes <strong>para</strong> entrar no Pólo Petroquímico. Por isso que a gente<br />
<strong>de</strong>finiu aquela área como “área <strong>de</strong> fortaleza” (...) era o lugar que a gente<br />
concentrava nossos esforços pra extrair militantes, <strong>para</strong> dali a gente construir,<br />
viabilizar nossa estratégia <strong>de</strong> acúmulo prolongado <strong>de</strong> forças e tal. Intervenção no<br />
movimento sindical, nos outros movimentos. Tanto é que a partir dali a gente<br />
ganha o Colégio ICEIA, <strong>de</strong>pois o Colégio Central (...). junta tudo e a gente toma<br />
a UMES do PC do B. o trabalho ali <strong>de</strong>ntro foi <strong>de</strong>terminante <strong>para</strong> influenciar a<br />
organização do grêmio estudantil em outras escolas. Só existia grêmio estudantil<br />
no Central. Quer dizer, o Central foi a primeira escola a organizar o grêmio<br />
estudantil naquele período. Depois da retomada do grêmio estudantil (...) fomos<br />
nós! (Aluno <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1982/1986).<br />
A política partidária <strong>de</strong>ntro da ETFBA não produziu os frutos esperados segundo<br />
este mesmo estudante.<br />
Essa estratégia vem se mostrar estéril lá na frente. Porque a gente percebe é que<br />
os setores que nós articulamos como militantes e que foram pro pólo, <strong>de</strong>pois<br />
seguiram carreira acadêmica! Esse que era o problema! Porque vinham <strong>de</strong> setores<br />
médios (...) lá na frente ela se mostra ineficaz. Quando a gente chegou lá na<br />
frente que era <strong>de</strong> colher os frutos, como a gente colheu no grêmio estudantil... O<br />
pessoal entre no pólo, faz o estágio, pega e faz a prova da faculda<strong>de</strong>... e vai<br />
estudar, porque a gente era pre<strong>para</strong>do <strong>de</strong> tal maneira, que não precisava nem fazer<br />
esses cursos pré-vestibulares, enten<strong>de</strong>u? (Aluno <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1982/1986).<br />
As nossas observações nos levam a consi<strong>de</strong>rar outros aspectos <strong>para</strong> o não ingresso<br />
dos militantes no pólo. Em primeiro lugar, havia uma censura em vigência no país que<br />
restringia as ações estudantis. Os estudantes vinculados aos partidos clan<strong>de</strong>stinos, que<br />
fossem reconhecidos como tal, eram i<strong>de</strong>ntificados e sua ficha enviada as principais<br />
empresas do pólo e Centro Industrial <strong>de</strong> Aratu.<br />
128
Conforme relato <strong>de</strong> ex-alunos, ser diretor do centro cívico ou do grêmio po<strong>de</strong>ria ser<br />
tomado como subversão. De outro lado, a crise econômica vigente nos anos 80 cria uma<br />
limitação no número <strong>de</strong> empregos industriais. O processo <strong>de</strong> reestruturação produtiva<br />
observado em outro capítulo <strong>de</strong>ste trabalho indica um <strong>de</strong>créscimo no nível <strong>de</strong> empregos, a<br />
partir dos anos 80, intensificando-se nos anos 90.<br />
O mesmo aluno confirma nossa análise mais adiante<br />
Eu tive dificulda<strong>de</strong> [<strong>de</strong> conseguir estágio]. Eu estagiei numa empresa <strong>de</strong> (...)<br />
conhecidos (...) e não concluí o estagio porque <strong>de</strong>ntro do pólo a gente não tinha<br />
(...) ele, [Rui Santos] mapeou um monte <strong>de</strong> gente! Esse fato é real (...) eu não<br />
peguei o diploma <strong>de</strong> técnico ainda porque não consegui estágio. A empresa<br />
voltou pra São Paulo e não tive como concluir o estágio. (Aluno <strong>de</strong> Eletrotécnica,<br />
1982/1986).<br />
Outra aluna, ex-presi<strong>de</strong>nte do centro cívico em 1980, também fala sobre o tema:<br />
Eu nem sei se você sabe, mas no meu caso eu nem consegui fazer estágio. Eu não<br />
consegui trabalhar, acho que eles pegaram meu nome em alguma lista e<br />
mandaram <strong>para</strong> as empresas. Eu não tinha como conseguir saber isso, mas... Eu<br />
era uma excelente aluna, tinha um excelente histórico, ia até o fim nas entrevistas<br />
e não me chamavam, não me chamavam, não me chamavam e as minhas colegas<br />
foram todas estagiar e eu não. E eu realmente precisava. Não tinha casa.<br />
Dependia disso realmente e precisava estagiar. Tanto que eu fui fazer<br />
universida<strong>de</strong> quase como uma pressão<br />
Depois eu faço essa leitura... Não tenho nenhuma prova...<br />
Era presi<strong>de</strong>nte do Centro Cívico, os caras já me pegaram com o livro <strong>de</strong> Mao Tse<br />
Tung na mão... A minha carreira foi abortada ali no começo. Daí a minha carreira<br />
mudou, eu saí da área. Eu fui expulsa da área. Eu não cheguei a me filiar, a me<br />
tornar membro <strong>de</strong> partido... (Aluna <strong>de</strong> Química Industrial -1979/1981)<br />
Embora a presença do partido seja uma constante, a existência <strong>de</strong> grupos<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes foi se tornando cada vez maior. Na escolha dos entrevistados, os próprios<br />
membros do grêmio indicaram esta presença como um fator a ser consi<strong>de</strong>rado, em virtu<strong>de</strong><br />
da visibilida<strong>de</strong> que estes grupos assumiam no interior da escola, seja pela sua irreverência,<br />
seja por apresentar temas e discussões que enriqueciam o movimento. Deste modo optamos<br />
por entrevistar um <strong>de</strong>stes estudantes. Além disso, a partir das entrevistas feitas foram<br />
enumerados vários grupos, bandas, artistas (cantores, atores, artistas plásticos) oriundos da<br />
escola e que iniciaram na escola sua vida artística. Embora não interessem pela participação<br />
política efetiva indicam a existência <strong>de</strong> um espaço eclético, ou como afirmam os<br />
entrevistados, “um cal<strong>de</strong>irão cultural” on<strong>de</strong> estavam imersos os estudantes da escola,<br />
durante todo o período <strong>de</strong> estudos, seja na gestão do centro cívico, seja do grêmio<br />
estudantil.<br />
129
O diferencial da escola técnica <strong>para</strong> os outros era que ela tinha um somatório<br />
cultural. Você encontrava gente <strong>de</strong> todas as cida<strong>de</strong>s da Bahia que iam <strong>para</strong> lá.<br />
Então esse encontro... E como a escola era seletiva e tinha um vestibular que<br />
selecionava as pessoas que vinham, e ela tinha estudantes mais pre<strong>para</strong>dos e mais<br />
antenados. Eu, por exemplo, não era “antenado”, fui tomar consciência do que<br />
estava acontecendo lá <strong>de</strong>ntro... Esse encontro dos estudantes antenados, porque<br />
tinham muitos que eram antenados com o que estava acontecendo no mundo...<br />
Outros não tinham noção <strong>de</strong> que a gente estava vivendo a ditadura (Aluno <strong>de</strong><br />
Química, 1976/1981).<br />
No próximo capítulo estaremos discutindo a forma como os estudantes agiam no<br />
interior da escola e do movimento estudantil local e nacional, bem como suas ações e<br />
principais <strong>de</strong>mandas no <strong>de</strong>correr das diferentes lutas que foram travadas.<br />
4 A AÇÃO DOS ESTUDANTES: ENFRENTAMENTO,<br />
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E GREVE<br />
Nossa pretensão a seguir é indicar alguns eventos que tornaram marcantes a ação<br />
dos estudantes da ETFBA. A escolha <strong>de</strong>stes se <strong>de</strong>ve a sua publicida<strong>de</strong> nas atas e<br />
documentos oficiais, gerando gran<strong>de</strong> repercussão. Apoiamo-nos também na memória dos<br />
alunos entrevistados. Os jornais serviram como fonte <strong>de</strong> reconstrução do movimento, mas<br />
não <strong>de</strong>finem a escolha dos fatos.<br />
A fim <strong>de</strong> tornar mais organizada nossa apresentação optamos por dividir o<br />
movimento em duas partes: a primeira refere-se ao período da ditadura em que a<br />
representação dos estudantes se <strong>de</strong>u através do centro cívico. A segunda parte, cujo ponto<br />
<strong>de</strong> ruptura interna se dá na primeira eleição <strong>para</strong> diretoria da ETFBA e no estabelecimento<br />
do Grêmio Livre, discorre sobre os acontecimentos ocorridos já na gestão do grêmio na<br />
escola até o ano <strong>de</strong> 1989. Esta divisão consi<strong>de</strong>ra que a partir da aprovação da Lei do Grêmio<br />
Livre os estudantes terão que criar um novo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> organização estudantil, além <strong>de</strong><br />
estarem em um con<strong>texto</strong> político <strong>de</strong> maior liberda<strong>de</strong> tanto na escola como na socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
um modo geral.<br />
130
4.1 A Greve da Cantina<br />
A greve da cantina! Essa foi famosa! Teve até musiquinha. (Aluno <strong>de</strong> Eletrônica.<br />
1978/1981)<br />
A greve da cantina foi um dos primeiros eventos <strong>de</strong> “rebeldia” dos estudantes ainda<br />
em pleno regime militar. Deu-se por insatisfação dos discentes com a alimentação oferecida<br />
pela cantina, bem como pelos altos preços cobrados. Realizaram um boicote que teve como<br />
conseqüência a suspensão do contrato e a participação do CCSD no processo <strong>de</strong> licitação.<br />
Conforme po<strong>de</strong>mos acompanhar na leitura da ata da reunião dos órgãos superiores.<br />
(...) O Chefe do DE Ronaldo Vianna abordou o problema da rescisão do contrato<br />
da cantina como resultante do boicote estabelecido pelos alunos, em geral,<br />
acrescentando que até o momento não tinha sido encontrada uma solução <strong>para</strong> a<br />
reabertura da mesma; tendo o diretor esclarecido que já estava amadurecida a<br />
idéia <strong>de</strong> nomear uma comissão <strong>de</strong> alunos por indicação da diretoria do Centro<br />
Cívico e sob a presidência da aluna Paula presi<strong>de</strong>nte do mesmo centro <strong>para</strong><br />
elaborar com a comissão incumbida da concorrência, respectiva <strong>de</strong> maneira que<br />
os referidos estudantes se capacitassem com essa experiência das<br />
responsabilida<strong>de</strong>s que pesam sobre os ombros dos membros da administração da<br />
escola (Livro <strong>de</strong> Atas <strong>de</strong> Reunião <strong>de</strong> Diretoria, 21/10/1980, p.123).<br />
Além <strong>de</strong> não terem sido punidos, as reivindicações dos estudantes foram acatadas, o<br />
que indica uma flexibilida<strong>de</strong> da direção frente ao fato. Entretanto, em reunião posterior, no<br />
ano seguinte, quando há uma suspeita <strong>de</strong> uma nova greve dos alunos na escola, sua postura<br />
é diferente. Ele faz alusão à greve da cantina, bem como solicita novamente <strong>de</strong> seus<br />
auxiliares sugestões a fim <strong>de</strong> manter maior controle sobre o CCSD.<br />
(...) acentuou que há muito tempo vem pedindo a colaboração dos seus auxiliares<br />
mais diretos no sentido <strong>de</strong> oferecerem sugestões <strong>para</strong> uma melhor orientação e<br />
controle do Centro Cívico Santos Dumont 60 , mas até agora apenas alguns<br />
propuseram a mudança do professor orientador, o que não basta, pois o problema<br />
é <strong>de</strong> maior profundida<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que o que se está observando é um<br />
posicionamento da sua atual direção <strong>para</strong> lhes emprestar foros <strong>de</strong> diretório<br />
acadêmico, o que foge completamente a estrutura dos centros cívicos, nos termos<br />
da legislação que rege a espécie, sobre a qual passaria a comentar e analisar.<br />
Disse mais que, no ano passado, a atual diretoria do CCSD <strong>de</strong>u uma<br />
<strong>de</strong>monstração <strong>de</strong> força levantando todas as classes numa greve contra a cantina<br />
da escola e que, se a diretoria não tomou posição foi porque em realida<strong>de</strong>, havia<br />
falhas e abusos na estrutura da cantina, o que lhe enfraqueceria a autorida<strong>de</strong>.<br />
(Livro <strong>de</strong> Atas <strong>de</strong> Reunião <strong>de</strong> Diretoria, 26/05/1981, p.130).<br />
131
A partir <strong>de</strong>ste momento verifica-se que o movimento dos estudantes assume uma<br />
postura <strong>de</strong> enfrentamento, embora não haja nas entrevistas e nem nas atas seguintes algum<br />
indicativo da realização <strong>de</strong>sta greve. “Controle” é a palavra mais citada pelo diretor quando<br />
se refere ao centro cívico nas atas das reuniões <strong>de</strong> diretoria. Po<strong>de</strong>mos perceber que existe a<br />
consciência por parte da direção da oposição que começa a ser construída no interior da<br />
instituição <strong>de</strong> forma mais efetiva no sentido <strong>de</strong> instrumentalizar os alunos <strong>para</strong> estas ações.<br />
As ações <strong>de</strong> oposição à diretoria da ETFBA, encabeçadas pelos lí<strong>de</strong>res do CCSD, se<br />
davam no sentido <strong>de</strong> fomentar o engajamento dos alunos, estimular a crítica e a participação<br />
dos estudantes nos movimentos sociais, bem como solicitar da direção a permissão <strong>para</strong><br />
produzirem um jornal in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do JUVENTEC, consi<strong>de</strong>rado por eles, um instrumento<br />
<strong>de</strong> propaganda institucional.<br />
Agora, no entanto, acabava <strong>de</strong> saber que o CCSD está coor<strong>de</strong>nando uma<br />
<strong>para</strong>lisação geral das aulas no próximo dia 30 do corrente e, como tal, <strong>de</strong>sejava<br />
uma <strong>de</strong>finição, orientação e uma tomada <strong>de</strong> posição <strong>de</strong> todos os colaboradores,<br />
num gesto <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> solidária, caso venha a se efetivar esse ato <strong>de</strong><br />
indisciplina, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que há muito vem a diretoria do CCSD insistindo na<br />
publicação através da gráfica da escola, <strong>de</strong> um jornal estudantil (...) (i<strong>de</strong>m).<br />
Os fatos que se <strong>de</strong>senrolariam a seguir, entretanto iam ser <strong>de</strong>terminantes no sentido<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrar que os alunos não estavam dispostos a retroce<strong>de</strong>r em suas conquistas.<br />
Embora a greve acima referida não tenha ocorrido, segundo pu<strong>de</strong>mos investigar, em agosto,<br />
os acontecimentos ocorridos na cida<strong>de</strong> iam colocar a escola em polvorosa.<br />
Em nossa pesquisa pu<strong>de</strong>mos observar que havia um ambiente <strong>de</strong> insatisfação no<br />
interior da escola. Todos estavam <strong>de</strong> algum modo, insatisfeitos: os alunos, pela pratica<br />
autoritária que era evi<strong>de</strong>nciada nos “passos <strong>de</strong> física”, no controle sobre o centro cívico e na<br />
presença <strong>de</strong> um diretor oriundo do regime militar, entre outras coisas. Os professores<br />
estavam insatisfeitos pelo controle a que eram mantidos, a vigilância constante e outras<br />
questões como a cobrança dos estacionamentos, o excesso <strong>de</strong> aulas, entre outras questões.<br />
4.2 O Quebra-Quebra dos Ônibus em Salvador<br />
Em agosto <strong>de</strong> 1981 ocorreu em Salvador um movimento popular que teve gran<strong>de</strong><br />
repercussão <strong>de</strong>vido ao caráter violento que assumiu. Ficou conhecido como o “quebraquebra<br />
<strong>de</strong> Salvador” 61 e noticiado em um dos jornais <strong>de</strong> esquerda da época como “Os 14<br />
61 Segundo Otto Filgueiras foi “a maior explosão popular que aconteceu em Salvador nas últimas décadas. Uma<br />
verda<strong>de</strong>ira rebelião popular que nasceu <strong>de</strong> um pequeno movimento organizado, mas que se prolongou <strong>de</strong> forma<br />
espontânea por mais <strong>de</strong> duas semanas.” (FILGUEIRAS, 1981, p.18)<br />
132
dias que abalaram Salvador”. 62 O quebra-quebra gerou muitas controvérsias tendo em vista<br />
que, mesmo entre os partidos <strong>de</strong> esquerda, não houve um consenso acerca da <strong>de</strong>fesa do<br />
movimento 63 . Uma melhor compreensão do evento po<strong>de</strong> ser feita com a dissertação <strong>de</strong><br />
E<strong>de</strong>mir Brasil Pereira (2008), <strong>de</strong>fendida recentemente no Mestrado <strong>de</strong> História da UFBA e<br />
já referenciada neste trabalho.<br />
Embora os estudantes participassem do movimento, segundo Otto Filgueiras,<br />
nenhum militante estudantil ou político foi preso. Mas o Colégio Central foi invadido pelas<br />
tropas <strong>de</strong> choque a pre<strong>texto</strong> <strong>de</strong> se procurar “agitadores” e o estudante Edno Sena que se<br />
escon<strong>de</strong>u no banheiro <strong>para</strong> não ser espancado foi ferido por um policial com um tiro no<br />
abdômen (FILGUEIRAS, 1981).<br />
Este fato tem uma importância <strong>para</strong> nosso estudo em virtu<strong>de</strong> da participação<br />
<strong>de</strong>clarada dos estudantes da ETFBA e da repercussão que tal fato tomou perante a<br />
instituição, conforme pu<strong>de</strong>mos verificar tanto na leitura das atas <strong>de</strong> diretoria da escola,<br />
como em entrevistas com ex-alunos.<br />
Sobre o movimento, encontramos na ata <strong>de</strong> reunião extraordinária <strong>de</strong> diretoria da<br />
ETFBA com os chefes dos órgãos <strong>de</strong> direção superior, havida em 31/08/1981 o seguinte<br />
relato do diretor:<br />
(...) Acrescentou que estava ciente <strong>de</strong> há muito <strong>de</strong> que um pequeno grupo, mas <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> atuação vinha tentando aliciar toda a escola <strong>para</strong> um<br />
movimento <strong>de</strong> apoio ao Movimento Contra a Carestia, <strong>de</strong> caráter nitidamente<br />
i<strong>de</strong>ológico, o que constituía uma preocupação <strong>de</strong> profunda gravida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que<br />
nos termos das <strong>de</strong>clarações das autorida<strong>de</strong>s governamentais e policiais esse<br />
movimento é ilegal e seus atos públicos <strong>de</strong> rua, seriam rigorosamente coibidos<br />
pela polícia (Livro <strong>de</strong> Atas <strong>de</strong> Reunião <strong>de</strong> Diretoria, 26/05/1981, p.131).<br />
Segundo alunos entrevistados, que partici<strong>para</strong>m dos protestos, a insatisfação era<br />
geral. Tanto os estudantes como toda a população da cida<strong>de</strong> estava submetida a um forte<br />
arrocho econômico, em virtu<strong>de</strong> da crise econômica que assolava a todos, especialmente as<br />
camadas populares. Este acontecimento, que obrigou a escola a <strong>para</strong>lisar suas ativida<strong>de</strong>s foi<br />
assim relatado por um ex-aluno:<br />
(...) Os estudantes começaram a se revoltar pela cida<strong>de</strong>, na verda<strong>de</strong> teve um<br />
grito, na verda<strong>de</strong> engasgado em relação à permanência ainda, <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas<br />
62 Voz da Unida<strong>de</strong>, agosto <strong>de</strong> 1981.<br />
63 Vários partidos <strong>de</strong> oposição “se reúnem no auge do quebra-quebra e soltam uma nota patética:<br />
responsabilizam o governo, é verda<strong>de</strong>, “por ter sido insensível a reivindicação popular e não ter revogado o<br />
aumento”, mas ao mesmo tempo qualificam o quebra-quebra como um grito <strong>de</strong> sufoco do povo que “explo<strong>de</strong><br />
cega e <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>nadamente em lamentável violência”. Exigem do governo que cesse a violência policial contra a<br />
população, e da mesma forma fazem “ao povo e aos jovens um apelo no sentido <strong>de</strong> que cessem as<br />
manifestações violentas <strong>de</strong> <strong>de</strong>scontentamento” (FILGUEIRAS, 1981, p.23).<br />
133
ferramentas da ditadura e fora o fato da crise econômica etc... Enfim, a escola<br />
técnica acabou refletindo aquele tempo que houve quebra-quebra <strong>de</strong> ônibus na<br />
cida<strong>de</strong>... (Estudante <strong>de</strong> Metalurgia, 1978/1982).<br />
A posição da escola, entretanto é <strong>de</strong> tentar ao máximo evitar a participação dos<br />
alunos no movimento. Deste modo, i<strong>de</strong>ntificamos ações por parte do professor Walfrido <strong>de</strong><br />
Moraes, que ocupava o cargo interinamente em substituição ao diretor Ruy Santos que<br />
estava em viagem, no sentido <strong>de</strong> coibir a participação dos alunos da ETFBA no movimento.<br />
.(...) o Professor Walfrido Moraes discorreu sobre os acontecimentos ocorridos na<br />
escola nos dias referidos, acentuando que, tendo chegado as suas mãos um<br />
panfleto convocando uma reunião ou assembléia <strong>de</strong> alunos, resolveu antecipar-se<br />
e com a <strong>de</strong>vida autorização que lhe foi dada pelo diretor, telefonicamente, emitiu<br />
uma nota pública, inclusive publicada pela imprensa e pelo rádio, advertindo todo<br />
corpo Discente dos perigos <strong>de</strong> uma confrontação com a polícia e conclamando<br />
aos lí<strong>de</strong>res <strong>de</strong> classe e a diretoria do Centro Cívico Santos Dumont no sentido <strong>de</strong><br />
que colaborassem com a diretoria da escola <strong>para</strong> dissuadir os estudantes <strong>de</strong>sse<br />
movimento político, não obstante a evidência <strong>de</strong> que era exatamente do Centro<br />
Cívico que estava partindo todo processo <strong>de</strong> insuflação (Livro <strong>de</strong> Atas da 54ª<br />
Reunião <strong>de</strong> Diretoria, 26/08/1981, p. 131).<br />
A nota não interfere nos projetos dos estudantes <strong>para</strong> aquele movimento. Eles se<br />
mantém firmes no propósito <strong>de</strong> participar dos protestos. Assim como ocorreu na socieda<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> modo geral, este movimento ganhou uma dimensão <strong>de</strong> voluntarismo popular. Não havia<br />
mais um comando geral. Embora, aparentemente, os estudantes <strong>de</strong>monstrassem ter acatado<br />
a or<strong>de</strong>m do diretor, entretanto, se organizaram as expensas da conversa tida com o mesmo.<br />
Assim o diretor interino continua<br />
Acrescentou que a nota repercutiu favoravelmente <strong>de</strong>ntro e fora da escola, mas<br />
que apesar disso (no dia) meio-dia e meio, exatamente quando as turmas do<br />
matutino estão saindo e as turmas da tar<strong>de</strong> estão chegando, houve um comício do<br />
lado <strong>de</strong> fora da escola, à Rua Professor Viegas, quando falaram vários alunos,<br />
sobretudo das áreas <strong>de</strong> Química e Metalurgia, bem como elementos do Centro<br />
Cívico Santos Dumont, a certa altura do comício um pelotão da Polícia Militar<br />
chegava ao local (Livro <strong>de</strong> atas da 54ª reunião <strong>de</strong> diretoria. 26/08/1981, p.131).<br />
Sobre este fato o estudante acima relata que a escola parou...<br />
(...) ela <strong>para</strong>lisou, lembro <strong>aqui</strong> na porta da escola, a antiga entrada <strong>de</strong> alunos, era<br />
ali que a gente fazia as assembléias que foram feitas e é uma coisa que eu não<br />
esqueço nunca porque naquele muro, eu magrinho, com 16 ou 17 anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>,<br />
discursando <strong>para</strong> aqueles meninos, todo mundo sentado, eu menino discursando<br />
<strong>para</strong> uma cambada, uma porrada <strong>de</strong> gente até que chega a polícia militar...<br />
Cercando <strong>de</strong> um lado, cercando do outro, com cavalo. E vem um oficial andando<br />
pelo meio dos alunos, me chamou assim e disse: - você tem <strong>de</strong>z minutos <strong>para</strong><br />
dispersar todo mundo sem confusão. A perna tremia feito “vara ver<strong>de</strong>”...<br />
(Estudante <strong>de</strong> Metalurgia, 1978/1982).<br />
134
O <strong>de</strong>senrolar dos acontecimentos faz com que o diretor substituto convoque uma<br />
reunião com todos os professores a fim <strong>de</strong> tomar uma posição frente aos fatos.<br />
Em chegando a escola convocou então uma reunião com todo o professorado<br />
quando compareceram (quase) mais <strong>de</strong> uma centena <strong>de</strong> membros do Corpo<br />
Docente, além dos responsáveis pelos diversos cargos <strong>de</strong> confiança Das, DAIs,<br />
acentuando que a mesma se realizou sob um clima <strong>de</strong> intenso nervosismo<br />
quando se fizeram ouvir vários pronunciamentos (livro <strong>de</strong> Atas da 54ª Reunião <strong>de</strong><br />
Diretoria, 26/08/1981, p.131).<br />
Esta reunião tomou um rumo inusitado, pois um aluno <strong>de</strong>sejava participar da<br />
mesma. Porém, ao perceber a presença do referido aluno, o diretor em exercício exigiu a<br />
saída do mesmo, o que causou certo tumulto. No final o aluno foi ouvido e manifestou-se<br />
acerca da questão.<br />
Retirado <strong>para</strong> o gabinete da diretoria ficou <strong>de</strong>cidido, por sugestão do Chefe do<br />
DE e <strong>de</strong> vários professores, que o mesmo fosse ouvido, e este, trazido ao salão,<br />
<strong>de</strong>clarou-se porta-voz do grupo que vinha levantando a ban<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> lutas e <strong>de</strong><br />
reivindicações, através <strong>de</strong> uma organização inter-colegial estabelecida entre os<br />
centros cívicos, enfatizando que naquele instante, em nome dos seus colegas,<br />
vinha pedir a solidarieda<strong>de</strong> e apoio do professorado <strong>para</strong> que fosse feita a<br />
passeata <strong>de</strong> apoio ao Movimento Contra a Carestia. Pela maioria absoluta do<br />
professorado ficou <strong>de</strong>liberado que as aulas seriam encerradas naquele dia,<br />
permanecendo, contudo, cada professor em sua sala mesmo com a ausência dos<br />
alunos (...) (i<strong>de</strong>m).<br />
Segundo relato <strong>de</strong>ste aluno, a intenção <strong>de</strong>le ao solicitar sua participação na referida<br />
reunião era <strong>de</strong> suspen<strong>de</strong>r a aula como forma <strong>de</strong> garantir a segurança dos alunos, uma vez<br />
que não era pru<strong>de</strong>nte manter as aulas com a cida<strong>de</strong> em verda<strong>de</strong>ira guerra civil. Mas quando<br />
as aulas foram suspensas muitos alunos foram à passeata.<br />
Em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong>ste evento, os alunos passam a ser mais duramente controlados<br />
pela direção. O diretor passa a solicitar com mais veemência uma atitu<strong>de</strong> a fim <strong>de</strong> evitar o<br />
crescimento do movimento. Em resposta a acentuação do controle, em 10 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong><br />
1981, o Centro Cívico divulga um manifesto intitulado “Unida<strong>de</strong> e Democracia”. Este<br />
documento se inicia com uma análise <strong>de</strong> conjuntura do período antece<strong>de</strong>nte (1964) e afirma<br />
que os acontecimentos <strong>de</strong> 1968 estarão <strong>para</strong> sempre registrados na história do povo<br />
brasileiro. Afirma ainda o documento acerca do autoritarismo presente na escola e das<br />
dificulda<strong>de</strong>s dos estudantes em organizar o movimento, visto que a censura interna impe<strong>de</strong><br />
as ações dos estudantes. Acusa a direção da escola <strong>de</strong> ser responsável pela <strong>de</strong>smobilização e<br />
conclui apresentando uma pauta das lutas do centro cívico.<br />
135
POR UM GRÊMIO LIVRE<br />
PELAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS<br />
FIM DA LSN<br />
CONVOCAÇÃO DE UMA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE<br />
LIVRE E SOBERANA<br />
PELA RECONSTRUÇÃO DA UNETI.<br />
Estas são as ban<strong>de</strong>iras do CCSD e correspon<strong>de</strong>m à luta dos estudantes secundaristas<br />
já em fase <strong>de</strong> reorganização, conforme dito anteriormente, mas que traduzem também o<br />
con<strong>texto</strong> interno da escola e suas especificida<strong>de</strong>s. Além <strong>de</strong>stas questões <strong>aqui</strong> <strong>de</strong>scritas o<br />
cotidiano da escola era também “perturbado” por questões menores, mas que indicavam o<br />
grau <strong>de</strong> autoritarismo e <strong>de</strong> vínculo entre a direção da escola e o regime, bem como na<br />
intenção <strong>de</strong> formar uma mão <strong>de</strong> obra disciplinada a fim <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r as <strong>de</strong>mandas do<br />
mercado.<br />
Entre estas questões i<strong>de</strong>ntificamos um permanente questionamento acerca da<br />
organização da escola que incluía questões didáticas, organização dos semestres,<br />
funcionamento da cantina, fardamento e uso <strong>de</strong> crachá. Negativa a participar do editorial do<br />
jornal institucional “JUVENTEC”, fundado em 1976, e na tentativa <strong>de</strong> fundar um jornal do<br />
CCSD, o que não é permitido pelo diretor.<br />
A escola funcionava como uma fábrica e evi<strong>de</strong>nciava todas as formalida<strong>de</strong>s que<br />
regem o regulamento no ambiente <strong>de</strong> trabalho fabril, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o uso <strong>de</strong> crachás, controle<br />
rigoroso sobre os horários, até a sua estrutura hierárquica <strong>de</strong> administração e controle sobre<br />
os estudantes e os <strong>de</strong>mais funcionários (professores e técnico-administrativo). Tudo se<br />
assemelhava ao ambiente <strong>de</strong> uma indústria.<br />
4.3 O Comitê Pró-Diretas da Técnica<br />
O terceiro momento por nós consi<strong>de</strong>rado <strong>de</strong> significativa atuação dos estudantes da<br />
ETFBA se <strong>de</strong>u em <strong>de</strong>corrência da participação <strong>de</strong>stes na “Campanha “Diretas-Já” em 1984.<br />
“Diretas Já” foi um movimento suprapartidário e reuniu os principais partidos <strong>de</strong> oposição<br />
em torno da ban<strong>de</strong>ira pelas eleições diretas <strong>para</strong> Presi<strong>de</strong>nte da República. O PMDB, o PDT<br />
e o PT compuseram um Comitê Pró-Diretas, o qual recebeu apoio ainda do PC do B e do<br />
PCB, ainda ilegais naquele período. Aos partidos somaram-se várias organizações da<br />
socieda<strong>de</strong> civil, com <strong>de</strong>staque <strong>para</strong> a UNE, OAB, CUT, CONCLAT, CNBB, ABI,<br />
Comissão <strong>de</strong> Justiça e Paz além dos sindicatos e associações <strong>de</strong> profissionais.<br />
136
O caráter heterogêneo foi a mais importante característica do movimento<br />
(DELGADO, 2007, p. 414). Segundo esta autora<br />
Nenhum político <strong>de</strong> carreira ou lí<strong>de</strong>r partidário em particular sobressaiu na<br />
condução do movimento. Mesmo porque não era homogênea a compreensão das<br />
diferentes entida<strong>de</strong>s da socieda<strong>de</strong> civil e dos partidos sobre qual seria a melhor<br />
estratégia <strong>para</strong> conduzir a relação com o governo (DELGADO, 2007, p. 415).<br />
Embora concor<strong>de</strong>mos com o caráter heterogêneo do movimento, consi<strong>de</strong>ramos que<br />
alguns políticos capitalizaram politicamente com o mesmo. Po<strong>de</strong>mos exemplificar com os<br />
nomes <strong>de</strong> Ulisses Guimarães, Lula, Tancredo Neves e Leonel Brizola.<br />
Este foi o último e principal movimento político <strong>de</strong> caráter nacional, ocorrido no<br />
Brasil ainda sob governo <strong>de</strong> militares. No âmbito da ETFBA, <strong>de</strong> todas as ações envolvendo<br />
os estudantes durante o regime foi também a que causou maior comoção, em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ter<br />
proporcionado uma intensa união dos estudantes além do consi<strong>de</strong>rável envolvimento da<br />
escola com representantes <strong>de</strong> diversas entida<strong>de</strong>s da socieda<strong>de</strong> civil, em conseqüência do<br />
fato político que causou.<br />
A diretoria do Centro Cívico <strong>de</strong>cidiu assumir a ban<strong>de</strong>ira das diretas,<br />
<strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rando, entretanto, as normas do estatuto do CCSD, que estabelecia a proibição<br />
dos estudantes <strong>de</strong> participarem <strong>de</strong> manifestações públicas com a farda escolar, bem como<br />
uma conversa estabelecida entre o diretor substituto Walfrido <strong>de</strong> Moraes, e o presi<strong>de</strong>nte do<br />
CCSD on<strong>de</strong> o mesmo foi advertido das conseqüências <strong>de</strong> participar do movimento portando<br />
camisa ou faixas com o nome da ETFBA.<br />
Ignorando tais advertências, os alunos, que já haviam criado na escola um “Comitê<br />
Pró-Diretas Técnica”, assumiram o risco e pagaram o preço <strong>de</strong> tal <strong>de</strong>sacato. Os documentos<br />
oficiais nos informam que:<br />
O Presi<strong>de</strong>nte do Centro Cívico Santos Dumont, Adson Lima Leite, imbuído do<br />
propósito <strong>de</strong> <strong>de</strong>srespeitar, ofen<strong>de</strong>r, porque <strong>de</strong>sacatar, com palavras e atos, as<br />
normas disciplinares <strong>de</strong>sta escola, resolve juntamente com um grupo <strong>de</strong> alunos a<br />
participarem da passeata pelas diretas, saindo d<strong>aqui</strong> da escola em direção ao<br />
Bonfim, usando a camisa do uniforme, faixas com o nome da Escola, conduzindo<br />
inclusive garrafões <strong>de</strong> vinho. O aluno Saulo Carneiro <strong>de</strong> Souza e Silva, turma 027<br />
e Juvenal Melvino da Silva Neto, ex-presi<strong>de</strong>nte do Centro Cívico Santos Dumont,<br />
<strong>de</strong>senvolveram <strong>de</strong>ntro da escola, uma série <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacatos as normas disciplinares<br />
do estabelecimento, criando um Comitê Pró Diretas Técnica (ETFBA,<br />
RELATORIO. 31/05/1984).<br />
137
A primeira atitu<strong>de</strong> do diretor em exercício é <strong>de</strong> <strong>de</strong>squalificar os estudantes.<br />
Utilizando toda a retórica <strong>de</strong>senvolvida na profissão <strong>de</strong> jornalista e atribuindo aos<br />
estudantes a condição <strong>de</strong> não respeitarem as normas institucionais, <strong>de</strong> portarem “garrafões<br />
<strong>de</strong> vinho”, <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacatarem a escola. Neste con<strong>texto</strong> percebe-se uma relação que se<br />
estabelecia entre ser crítico e ser rebel<strong>de</strong>, segundo a ótica da diretoria. Alia-se a isto o fato<br />
<strong>de</strong> haver por parte dos militares uma ação <strong>de</strong> pressionar as autorida<strong>de</strong>s escolares a reprimir<br />
possíveis alunos <strong>de</strong>claradamente vinculados aos partidos políticos da cida<strong>de</strong>.<br />
O Sr. Presi<strong>de</strong>nte foi convidado pelo Comando da VI Região Militar com a<br />
finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> prestar esclarecimentos quanto ao comportamento do aluno Saulo<br />
Carneiro no tocante ao propósito <strong>de</strong> aliciar o corpo discente <strong>para</strong> participação<br />
maciça em prol das diretas (IDEM).<br />
O vínculo do então diretor com as autorida<strong>de</strong>s policiais mais uma vez é<br />
<strong>de</strong>monstrado. Levando-se em conta que ele possuía informações sobre os estudantes da<br />
escola, sendo consi<strong>de</strong>rado por muitos o representante do SNI na mesma, conhecia os laços<br />
familiares do aluno em questão com um partido clan<strong>de</strong>stino. Vários alunos referem-se ao<br />
Sr. Walfrido como a “eminência parda” do regime. Não i<strong>de</strong>ntificamos, entretanto, nenhum<br />
documento que confirme sua relação direta com os militares. O fato <strong>de</strong> ocupar um cargo <strong>de</strong><br />
confiança po<strong>de</strong> ser visto como o motivo <strong>de</strong> acesso a tais informações.<br />
Sobre o Comitê das Diretas Já, houve, por parte dos alunos, uma tentativa <strong>de</strong><br />
dialogo, a qual foi interpretada pelo diretor como uma provocação.<br />
O aluno Adson procurou o senhor diretor <strong>para</strong> avisá-lo <strong>de</strong> que iria ocorrer a<br />
passeata e que o corpo discente está mobilizado <strong>para</strong> participar, pois se trata <strong>de</strong><br />
uma aspiração do povo brasileiro. O diretor ressaltou que (...) como cidadãos eles<br />
po<strong>de</strong>riam participar, mas que não usassem a camisa do uniforme nem tão pouco<br />
faixas contendo o nome <strong>de</strong> uma instituição <strong>de</strong> ensino mantida pelo governo<br />
fe<strong>de</strong>ral. O presi<strong>de</strong>nte do Centro Cívico Santos Dumont disse “eu assumo o risco”.<br />
O mesmo portava um crachá escrito: “Vá ao Bonfim pelas Diretas”. Se não<br />
bastasse foi encaminhado ao diretor um agra<strong>de</strong>cimento do Comitê Pró Diretas da<br />
Técnica assinado por Saulo Carneiro 64 . Publicaram também na imprensa uma<br />
nota <strong>de</strong> agra<strong>de</strong>cimento à diretoria da escola (Livro <strong>de</strong> Atas da Reunião do<br />
Conselho Técnico Consultivo, 27/04/1984, p. 60-61).<br />
Embora tenha afirmado no início da ata que os alunos foram <strong>de</strong>srespeitosos, o que<br />
transparece não é bem isso. Os mesmos procuraram a direção e buscaram um diálogo em<br />
que não nos parece que houvesse nenhuma palavra ofensiva ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacato. Tendo em vista<br />
a justificativa <strong>de</strong> ser a passeata “uma aspiração do povo brasileiro”. Diversas ações<br />
64 Em anexo.<br />
138
aparentemente contribuíram <strong>para</strong> que o diretor em exercício tomasse atitu<strong>de</strong>s drásticas em<br />
relação aos alunos.<br />
Em um relatório entregue ao diretor Ruy Santos, logo após a sua chegada em<br />
31/05/1984, o diretor em exercício apresenta <strong>de</strong> forma bastante <strong>de</strong>talhada toda a trajetória<br />
dos estudantes que li<strong>de</strong>raram o Comitê Pro Diretas, bem como da diretoria do Centro Cívico<br />
Santos Dumont.<br />
Este documento é iniciado da seguinte forma:<br />
(...) cumpre-nos apresentar por escrito e <strong>de</strong> maneira circunstanciada, este relatório<br />
sobre os acontecimentos que, apesar <strong>de</strong> <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ados por um restrito, mas<br />
atuante grupo <strong>de</strong> alunos nossos, ofereceram a socieda<strong>de</strong> baiana um dos mais<br />
lastimáveis espetáculos, <strong>de</strong> indisciplina e <strong>de</strong>srespeito, comprometendo duramente<br />
as tradições or<strong>de</strong>iras e a reputação exemplar <strong>de</strong>ste estabelecimento <strong>de</strong> ensino<br />
profissionalizante, mantido com o sacrifício do contribuinte brasileiro (Relatório,<br />
31/05/1984).<br />
A seguir passa discorrer sobre o con<strong>texto</strong> em que ocorreram as eleições do centro<br />
cívico e da qual foi vitoriosa a chapa “União e Luta”.<br />
Primeiro eles passaram a atuar <strong>de</strong> forma in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte das normas estabelecidas no<br />
regimento escolar; em segundo lugar, <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>raram a professora que era supervisora do<br />
Centro Cívico e organizaram o movimento no interior da escola. De outro lado, a<br />
repercussão da participação dos estudantes na passeata <strong>de</strong>sagradou ainda mais o diretor.<br />
Segundo Lessa 65 ,<br />
Em 10 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1984, o movimento nacional pela <strong>de</strong>mocratização do país<br />
resultou, em Salvador, numa <strong>de</strong>monstração e mobilização pública que reuniu<br />
“DEZ MIL NA CAMINHADA POR DIRETAS-JÁ ATÉ O BONFIM”<br />
(JORNAL DA BAHIA), on<strong>de</strong>, segundo o jornal da Bahia, a turma “Mais<br />
entusiasta, o grupo dos estudantes da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia irrompeu o<br />
largo da Calçada às 18h30min, quando a caminhada começava a dar seus<br />
primeiros passos” (LESSA, 2002, p.48).<br />
Numa atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ousadia e enfrentamento, os estudantes não acataram as normas<br />
institucionais, <strong>de</strong> modo que, o diretor em exercício se viu na obrigação <strong>de</strong> tomar uma<br />
atitu<strong>de</strong> mais drástica, uma vez que era do seu conhecimento as ativida<strong>de</strong>s políticopartidárias<br />
dos envolvidos. Fato, aliás, que lhe <strong>de</strong>sagradava, conforme vemos na mesma ata<br />
ao falar sobre o resultado da eleição que elegera o aluno Adson <strong>para</strong> a presidência do<br />
CCSD.<br />
65 José Lessa foi professor da escola, tendo ocupado vários cargos e é consi<strong>de</strong>rado por muitos alunos,<br />
especialmente a partir <strong>de</strong> meados da década <strong>de</strong> oitenta, como um dos professores responsáveis pela formação<br />
mais crítica dos estudantes. Embora tenhamos realizado varias tentativas <strong>de</strong> entrevistá-lo, não conseguimos.<br />
139
Ocorreu a nova eleição, ou seja, a eleição <strong>para</strong> nova diretoria do Centro Cívico<br />
Santos Dumont, que atuará no primeiro semestre <strong>de</strong> 1984 e a presidência ficou a<br />
cargo do aluno Adson Lima Leite, turma 731, on<strong>de</strong> já pu<strong>de</strong>mos constatar as fortes<br />
convicções políticas e i<strong>de</strong>ológicas (Livro <strong>de</strong> Atas da Reunião do Conselho<br />
Técnico Consultivo, 27/04/1984, p. 60).<br />
A medida tomada com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> punir exemplarmente os envolvidos foi a<br />
suspensão <strong>de</strong> toda a diretoria do CCSD.<br />
Depois <strong>de</strong> todos esses acontecimentos convoquei toda a diretoria da escola <strong>para</strong><br />
uma reunião on<strong>de</strong> foi discutido os últimos acontecimentos que envolveram o<br />
corpo discente com relação a passeata pelas diretas <strong>para</strong> o Bonfim e na qualida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> diretor substituto baixei a portaria Nº65/84 suspen<strong>de</strong>ndo por oito dias úteis os<br />
alunos (nomes dos alunos suspensos), pena <strong>de</strong> suspensão pelo prazo <strong>de</strong> 04 dias<br />
úteis aos responsáveis pela <strong>para</strong>lisação das aulas, laboratórios e oficinas no dia<br />
18/04/84 quando da participação da passeata com a camisa do uniforme e faixa<br />
contendo nome da escola. Os alunos suspensos recusaram assinar a presente<br />
portaria e resolveram <strong>de</strong> fazer uma greve <strong>de</strong> protesto contra a atitu<strong>de</strong> tomada.<br />
(Livro <strong>de</strong> Atas da reunião do Conselho Técnico Consultivo, 27/04/1984, p. 60).<br />
A partir da <strong>de</strong>terminação <strong>de</strong> suspensão ocorre uma greve na escola, greve esta que<br />
toma repercussão nacional na mídia e provoca gran<strong>de</strong> mobilização no interior da escola. O<br />
clima <strong>de</strong> constrangimento nacional, visível inclusive nos jornais da época, coloca em<br />
evidência a ação <strong>de</strong> um diretor repressor e autoritário que não percebe as mudanças em<br />
curso, e, especialmente, a participação <strong>de</strong> um grupo <strong>de</strong> jovens que vivera sua vida na<br />
ditadura e sonhava com um país mais <strong>de</strong>mocrático. Deste modo, a mobilização em torno da<br />
suspensão, e a solicitação que tal portaria fosse revogada, não se restringiram aos muros da<br />
escola e, certamente, foi um passo importante na união dos professores ao movimento dos<br />
estudantes, e, conseqüentemente, ao movimento que viria posteriormente pela saída do<br />
Diretor Ruy Santos e que ficou conhecido como “Fora Ruy”.<br />
Um dos alunos suspensos, lí<strong>de</strong>r do Comitê Pró-diretas da Técnica, comentando<br />
sobre o fato, assim fala da sua participação:<br />
Participamos do Comício pelas Diretas na Praça Municipal, da Caminhada ao<br />
Bonfim pelas Diretas Já. No primeiro, como presi<strong>de</strong>nte do Centro Cívico<br />
discursei <strong>para</strong> uma platéia <strong>de</strong> mais <strong>de</strong> 40 mil pessoas. No segundo, levamos mais<br />
<strong>de</strong> seiscentos alunos da ETFBA fardados <strong>para</strong> a caminhada. Neste episódio, fui<br />
suspenso da escola por oito dias, e os colegas (...) foram suspensos por cinco dias.<br />
Daí, cerca <strong>de</strong> três mil alunos revoltados fizeram a primeira greve da época da<br />
ditadura militar, <strong>para</strong> revogação das suspensões. Foram cerca <strong>de</strong> cinco dias <strong>de</strong><br />
greve, sem que conseguíssemos a revogação da suspensão. Tivemos que recuar,<br />
pois seriamos expulsos da ETFBA (Aluno <strong>de</strong> Geologia, 1982/1984).<br />
O jornal “Jornal da Bahia” assim noticiou:<br />
140
Um grupo <strong>de</strong> estudantes da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia <strong>de</strong>cidiu impetrar um<br />
mandato <strong>de</strong> segurança contra o diretor do estabelecimento Walfrido <strong>de</strong> Moraes<br />
Neto que puniu ontem com suspensões <strong>de</strong> 4 a 8 dias oito estudantes, seis<br />
componentes do Centro Cívico e dois do Comitê Pró Diretas da Técnica – que<br />
partici<strong>para</strong>m da passeata pelas diretas até o Bonfim, no último dia 18 juntamente<br />
com outros 600 alunos da instituição. O diretor acusou os outros estudantes<br />
suspensos <strong>de</strong> incitarem os outros alunos a participarem da caminhada cívica e<br />
fazerem uso da camisa e do nome da escola em ativida<strong>de</strong> político partidária. Mas<br />
os estudantes não aceitaram a acusação, afirmando que os <strong>de</strong>mais alunos<br />
partici<strong>para</strong>m da manifestação por livre iniciativa e que só foram com a camisa da<br />
escola, os que estudavam à tar<strong>de</strong> e, portanto não pu<strong>de</strong>ram ir <strong>para</strong> casa mudar a<br />
roupa em tempo <strong>de</strong> participar da manifestação.<br />
(...) Ainda ontem na parte da tar<strong>de</strong> houve um movimento <strong>de</strong>ntro do<br />
estabelecimento, com muitos alunos abandonando as salas <strong>de</strong> aula. Eles<br />
prometem hoje pela manhã concentrarem-se nos portões da escola e <strong>de</strong>cidirem<br />
pela greve “que certamente acontecerá” (Jornal da Bahia, 26/04/1984).<br />
O conteúdo trazido pelo jornal <strong>de</strong>monstra, <strong>de</strong> certo modo, simpatia pelo movimento<br />
dos estudantes. Muitas entida<strong>de</strong>s da socieda<strong>de</strong> civil se mobilizaram no intuito <strong>de</strong> reverter a<br />
suspensão. O presi<strong>de</strong>nte da Câmara <strong>de</strong> Vereadores <strong>de</strong> Salvador, a OAB, IAB, políticos<br />
locais, sindicatos, vereadores, etc. enviaram telegramas ao diretor exigindo a revogação das<br />
suspensões.<br />
O jornal Tribuna da Bahia também se mostrou solidário aos estudantes, em editorial<br />
crítico com relação à postura do diretor em exercício:<br />
FORA DO TEMPO<br />
Os tempos mudaram, mas tem gente que não se acostuma a isso. O Diretor<br />
Interino da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia po<strong>de</strong> ser enquadrado como uma<br />
<strong>de</strong>ssas pessoas. Numa área como a educação <strong>de</strong> um público em formação –<br />
jovens entre 15 a 20 anos – (...) se comporta como se estivesse nos duros tempos<br />
da repressão medicista. Os jovens por formação têm um sentimento mais i<strong>de</strong>alista<br />
das coisas e <strong>de</strong>vem se observados sob esse prisma. Por que tanta inflexibilida<strong>de</strong> e<br />
rigi<strong>de</strong>z no lidar com os alunos? Que ódio move Walfrido, instigando-o sobre os<br />
estudantes? O <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> eleições diretas já é <strong>de</strong> toda nação ou ele não o tem, a<br />
exemplo dos <strong>de</strong>putados do PDS? Os tempos mudaram e Figueiredo está aí <strong>para</strong><br />
confirmar, ao esten<strong>de</strong>r a mão à oposição no caminho do entendimento nacional.<br />
Os “Walfridos” da vida, porém, relutam em acompanhar a história e preferem as<br />
trevas. Ainda bem que o corpo docente da escola não apóia o diretor interino. Só<br />
não se arriscam a expor isso publicamente por causa das repressões. Afinal elas<br />
po<strong>de</strong>m ser transferidas dos alunos <strong>para</strong> os professores (Tribuna Da Bahia,<br />
04/05/1984, p.05).<br />
O acontecimento, que ganhou repercussão nacional, foi noticiado inclusive pelo<br />
Jornal do Brasil:<br />
Em Salvador, os alunos da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia entraram em greve,<br />
por tempo in<strong>de</strong>terminado, em solidarieda<strong>de</strong> a oito colegas que foram suspensos,<br />
porque partici<strong>para</strong>m fardados da caminhada até a Igreja do Bonfim, no último dia<br />
18, em <strong>de</strong>fesa das eleições diretas <strong>para</strong> Presidência da República (Jornal do<br />
Brasil, 27/04/1984).<br />
141
A mobilização da socieda<strong>de</strong> não foi suficiente <strong>para</strong> que o mesmo voltasse atrás em<br />
sua portaria. A greve terminou em 04 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 1984. A suspensão foi mantida e os alunos<br />
foram impedidos <strong>de</strong> realizarem segunda chamada, sendo que alguns <strong>de</strong>les per<strong>de</strong>ram o<br />
semestre e dois foram jubilados 66 . Além disso, a diretoria da escola enviou uma nota<br />
assinada pelo diretor substituto, on<strong>de</strong> “esclarecia” as famílias dos alunos suspensos acerca<br />
dos problemas que eles estariam sujeitos se mantivessem o movimento, <strong>de</strong>monstrado uma<br />
posição <strong>de</strong>fensiva, tendo em vista a publicida<strong>de</strong> que o fato tomara.<br />
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA BAHIA<br />
ESCLARECIMENTO AOS PAIS DOS SEUS ALUNOS E A<br />
COMUNIDADE<br />
Em virtu<strong>de</strong> das notícias infelizmente distorcidas <strong>de</strong> que esta diretoria teria punido<br />
oito alunos do Corpo Discente por terem comparecido a chamada Passeata<br />
promovida pela Campanha Pró-Diretas Já no dia 18 do corrente, à Colina do<br />
Bonfim, cumpre-nos esclarecer aos senhores pais dos nossos quase 4.000 alunos<br />
e à socieda<strong>de</strong> baiana em geral, os seguintes aspectos do problema <strong>para</strong> o seu<br />
sereno julgamento.<br />
(...)<br />
Acontece, porém que não se sabe se ao seu talante ou por insuflação <strong>de</strong> elementos<br />
estranhos, o recém empossado presi<strong>de</strong>nte do “Centro Cívico Santos Dumont”,<br />
numa atitu<strong>de</strong> estranhamente surpreen<strong>de</strong>nte, resolveu comparecer a o nosso<br />
gabinete <strong>para</strong> comunicar, <strong>de</strong> maneira a mais arrogante a sua <strong>de</strong>liberação e <strong>de</strong> toda<br />
diretoria do órgão (por sinal diretamente vinculada a diretoria da ETFBA) <strong>de</strong><br />
promover juntamente com o Comitê Pró Diretas Já da Técnica (Um órgão<br />
clan<strong>de</strong>stino li<strong>de</strong>rado por dois alunos que, <strong>de</strong> há muito vem tumultuando a via até<br />
então tranqüila, do estabelecimento) a arregimentação da classe estudantil <strong>para</strong><br />
em <strong>de</strong>sfile integrar publicamente o ato público notoriamente <strong>de</strong> cunho políticopartidário.<br />
(...) lançamos mão <strong>de</strong> todos os argumentos possíveis no sentido <strong>de</strong> <strong>de</strong>movê-los do<br />
uso do processo <strong>de</strong> aliciamento do alunato em horário normal <strong>de</strong> aulas e do uso<br />
da farda, privativa da escola. E a resposta intransigente que recebemos foi <strong>de</strong> que<br />
sem a farda estaria <strong>de</strong>scaracterizada a representação da E.T.F.Ba. no movimento<br />
e <strong>de</strong> que o centro cívico e o comitê correriam quaisquer que fossem os riscos e<br />
conseqüências pois contavam com o apoio <strong>de</strong> várias instituições jurídicas e<br />
políticas, cujos nomes por um imperativo <strong>de</strong> respeito nos reservamos <strong>de</strong><br />
mencionar.<br />
(...)<br />
Em face <strong>de</strong>ssa intransigência e <strong>de</strong>sse impertinente <strong>de</strong>safio, gratuito e<br />
constrangedor, qual <strong>de</strong>veria ser porventura a posição moral <strong>de</strong>sta Diretoria?...<br />
Deixar-se <strong>de</strong>smoralizar e permitir o ostensivo <strong>de</strong>srespeito às normas<br />
regulamentares vigentes?... Omitir-se dando ensanchas a proliferação <strong>de</strong>stes<br />
tristes exemplos <strong>de</strong> indisciplina que se reflete, sobretudo na vida e no<br />
comportamento daqueles que <strong>de</strong>sejam realmente estudar e se educar (A TARDE,<br />
28/04/1984, p.16).<br />
Em razão da impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> realizar as avaliações no período <strong>de</strong> suspensão, em<br />
15 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1984 foi assinada a portaria Nº99/84 GD com o jubilamento do aluno que<br />
era presi<strong>de</strong>nte do centro cívico durante o evento das diretas. Os custos <strong>de</strong>sta mobilização<br />
66 O aluno que perdia dois semestres consecutivos era excluído da escola.<br />
142
<strong>de</strong>ixaram conseqüências também <strong>para</strong> a diretoria da escola que se viu a partir <strong>de</strong> então cada<br />
vez mais questionada em sua legitimida<strong>de</strong>. O principal resultado foi à constatação <strong>de</strong> que a<br />
oposição ao diretor se tornara mais efetiva entre os professores, sendo que muitos <strong>de</strong>les<br />
apoiaram o movimento dos estudantes e discordaram da punição aos alunos, manifestandose<br />
publicamente.<br />
O momento em questão era um período <strong>de</strong> questionamento dos dispositivos legais<br />
originados no regime ditatorial, <strong>de</strong>ste modo, passíveis <strong>de</strong> serem <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rados. Havia um<br />
<strong>de</strong>scompasso entre as transformações que ocorriam na socieda<strong>de</strong> e a legislação do regime.<br />
Este <strong>de</strong>scompasso permanece ainda por muito tempo no caso das escolas, on<strong>de</strong> embora o<br />
<strong>de</strong>creto Nº 477 67 já tivesse sido revogado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1979, seus regimentos ainda seguiam a<br />
mesma linha <strong>de</strong> conduta que o originara, provocando muitas contradições e a permanência<br />
<strong>de</strong> uma postura rígida <strong>de</strong> controle sobre os estudantes.<br />
Logo a seguir, ainda no segundo semestre <strong>de</strong> 1984, os alunos <strong>de</strong> um lado, e os<br />
professores e funcionários <strong>de</strong> outro, começam a se organizar em torno da luta por eleições<br />
<strong>para</strong> diretor da escola. Esta luta coinci<strong>de</strong> com a legalização do grêmio estudantil, o qual não<br />
foi em um primeiro momento acatado pela direção que ainda pretendia impor o mesmo<br />
controle sobre os estudantes. Desta forma, a reorganização do movimento estudantil sob a<br />
forma <strong>de</strong> grêmio estudantil coinci<strong>de</strong> com a luta <strong>para</strong> eleições do diretor ou, o que naquele<br />
momento parecia mais <strong>de</strong>mocrático, a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> elaboração <strong>de</strong> uma lista tríplice<br />
<strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> uma consulta à comunida<strong>de</strong> escolar.<br />
Sobre este tema, um dos nossos entrevistos manifestou-se da seguinte maneira:<br />
Quando eu cheguei foi no ano seguinte (1984), ou no segundo semestre <strong>de</strong>ste<br />
momento. Foi exatamente isso... foi exatamente no segundo semestre <strong>de</strong>sse ano<br />
que eu cheguei.<br />
Essa ebulição não <strong>de</strong>morou muito tempo (...). Nesse mesmo ano teve um<br />
processo e a gente começa a exigir eleição <strong>para</strong> diretor da escola. Quando eu<br />
estava no básico, as primeiras reuniões começaram. E lembro perfeitamente (...).<br />
Os professores já <strong>de</strong>viam estar se articulando, os funcionários... Deviam estar se<br />
articulando. Eu lembro precisamente da primeira reunião do básico <strong>para</strong> discutir<br />
essa questão, <strong>de</strong> uma reunião isolada. - Por que isso? O cidadão está aí há tanto<br />
tempo, uma visão estreita <strong>de</strong> educação e <strong>de</strong> gestão inclusive e não vai sair<br />
também, vai mais uma?<br />
67 “O <strong>de</strong>creto dispõe sobre – aparentemente – inofensivas infrações disciplinares praticadas por professores,<br />
alunos e funcionários <strong>de</strong> estabelecimentos <strong>de</strong> ensino públicos e privados. Mas ao <strong>de</strong>fini-las, em seu primeiro<br />
artigo, o seu caráter coercitivo torna-se muito evi<strong>de</strong>nte: comete infração disciplinar os que “aliciam” ou incitam<br />
<strong>para</strong>lisações ou que participem das mesmas. O mesmo vale <strong>para</strong> os que organizam atos, passeatas, <strong>de</strong>sfiles,<br />
comícios ou que <strong>de</strong>les participem, e <strong>para</strong> os que conduzam, elaborem, confeccionem, imprimam, guar<strong>de</strong>m ou<br />
distribuam “material subversivo <strong>de</strong> qualquer natureza”. Não satisfeito pela amplitu<strong>de</strong> da caracterização dos atos<br />
subversivos, <strong>de</strong>fine que comete infração também aqueles que usam as <strong>de</strong>pendências do estabelecimento <strong>de</strong><br />
ensino <strong>para</strong> fins <strong>de</strong> subversão ou <strong>para</strong> praticar ato contrário à moral ou à or<strong>de</strong>m pública. Enfim, tudo era<br />
passível <strong>de</strong> ser classificado como infração disciplinar.<br />
A partir <strong>de</strong>sse largo escopo o <strong>de</strong>creto estabelece as punições. A assimetria entre os possíveis fatos geradores e o<br />
rigor das punições <strong>de</strong>scumpre qualquer princípio jurídico <strong>de</strong> razoabilida<strong>de</strong>” (LEHER, 2009).<br />
143
Eu lembro com precisão do básico <strong>para</strong>r nas aulas <strong>de</strong> história a gente tinha<br />
oportunida<strong>de</strong> <strong>para</strong> discutir acerca <strong>de</strong>ssas questões, tínhamos oportunida<strong>de</strong> <strong>para</strong><br />
falar e lá saiu o indicativo <strong>de</strong> convocarmos outros lí<strong>de</strong>res, o que é que era e<br />
porque se dava aquela perpetuação e partindo já <strong>para</strong> uma próxima porque na<br />
avaliação <strong>de</strong>le não haveria eleição (Estudante <strong>de</strong> Química, 1984/1986) 68 .<br />
Assim se inicia o movimento <strong>de</strong> luta pelas eleições diretas <strong>para</strong> diretor. Luta que se<br />
mantém até os anos 2000, embora naquele momento em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> articulações<br />
políticas e do con<strong>texto</strong> mais geral da socieda<strong>de</strong>, o diretor empossado fosse, <strong>de</strong> fato, o mais<br />
votado.<br />
4.4 Diretas <strong>para</strong> Diretor: conquistas e alianças entre estudantes, professores e<br />
funcionários técnicos administrativos - o “Fora Ruy Santos”<br />
O governo Sarney, a partir <strong>de</strong> 1985, iniciou um período <strong>de</strong> forte mobilização na<br />
ETFBA e nas <strong>de</strong>mais escolas técnicas da re<strong>de</strong>. A este con<strong>texto</strong> mais geral <strong>de</strong> efervescência<br />
política somou-se a realização <strong>de</strong> um Seminário <strong>de</strong>nominado “Dia D da Educação”,<br />
realizado por sugestão do MEC. Uma proposta <strong>de</strong> discussão em todas as escolas do país<br />
acerca dos <strong>de</strong>stinos da educação. O dia D da Educação 69 , um dia <strong>de</strong> mobilização<br />
<strong>de</strong>terminado pelo Governo Fe<strong>de</strong>ral através do MEC, promoveu uma oportunida<strong>de</strong> da escola<br />
expor suas insatisfações com o regime, que embora estivesse sendo superado ainda<br />
mantinha resquícios da ditadura. Conforme Lessa, ainda no mesmo sentimento <strong>de</strong><br />
(...) (re)<strong>de</strong>mocratização, em novembro <strong>de</strong> 1985, foi realizado em Recife, um<br />
Seminário organizado pelo MEC, <strong>de</strong>nominado Educação Para Todos – Caminho<br />
Para Mudança, com a participação das ETFs do Nor<strong>de</strong>ste no âmbito do programa<br />
“A Política da SEPS <strong>para</strong> o ensino <strong>de</strong> 1º e 2º graus e o papel do Sistema Fe<strong>de</strong>ral<br />
<strong>de</strong> Ensino”. No mês seguinte, representante da ETFBA que havia participado do<br />
seminário, encaminha proposta <strong>de</strong> Ação das ETFs em torno no programa do<br />
MEC/SEPS, <strong>para</strong> a ETFBA, em forma <strong>de</strong> Seminário, com o tema EDUCAÇÃO<br />
PARA TODOS: DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA E DO ENSINO “(LESSA,<br />
2002, p.49).<br />
O acesso ao relatório oriundo das discussões ocorridas neste evento nos indica que<br />
<strong>de</strong>ntro da organização do mesmo havia uma mobilização em torno <strong>de</strong> mudanças mais<br />
efetivas na escola. Deste modo, o programa do referido evento <strong>de</strong>monstra uma<br />
68<br />
O aluno ingressou no segundo semestre <strong>de</strong> 1984 e a expulsão a que se refere é, na verda<strong>de</strong> o jubilamento dos<br />
estudantes Saulo e Adson.<br />
69<br />
Segundo relatório resultante das discussões ocorridas no referido <strong>de</strong>bate, este evento ocorreu a partir <strong>de</strong><br />
sugestão do MEC <strong>para</strong> a realização <strong>de</strong> um dia <strong>de</strong> <strong>de</strong>bate sobre educação/escola. Foi criada uma comissão<br />
coor<strong>de</strong>nadora dos trabalhos contando com membros da diretoria, assessoria pedagógica, professores,<br />
funcionários e estudantes (Relatório “Dia D”, p.01).<br />
144
intencionalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> seus organizadores quanto aos anseios futuros. Os temas <strong>de</strong>batidos<br />
entre estudantes, professores e corpo técnico administrativo no “Dia D” foram os seguintes:<br />
1. Ensino público em questão - escola <strong>para</strong> todos<br />
2. Escola e mudança social<br />
3. Competência técnica e conteúdo.<br />
A partir <strong>de</strong>ste relatório, pautado em referencial marxista, i<strong>de</strong>ntificamos algumas<br />
questões significativas das mudanças a que a escola estava prestes a vivenciar. O <strong>texto</strong> nos<br />
indica este caminho:<br />
A escolha dos temas seguiu uma linha <strong>de</strong> compreensão que enten<strong>de</strong> a escola e a<br />
educação <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma relação contextual dialética. Daí eles terem sido<br />
escolhidos <strong>de</strong> forma que permitissem uma visão global do processo educacional<br />
ao mesmo tempo em que as questões específicas do interior da escola não fossem<br />
marginalizadas ao processo <strong>de</strong> discussão. Isto é, ao mesmo tempo em que a<br />
proposição temática, em alguns casos, permitia a discussão partindo do geral <strong>para</strong><br />
o específico, em outros casos, o específico se projetaria no sentido do geral. Esta<br />
interação, ao nosso ver, <strong>de</strong>fine-se como dialética o que nos remete,<br />
necessariamente, a uma discussão em torno do pedagógico e a sua dimensão<br />
político-i<strong>de</strong>ológica e da prática social política e sua dimensão pedagógica<br />
((Relatório “Dia D”, 1985, p.02).<br />
O tópico 3.2 do referido documento traz um resumo das reflexões realizadas acerca<br />
da escola, <strong>de</strong> modo que percebemos a tendência a um maior posicionamento <strong>de</strong> todos os<br />
sujeitos envolvidos, no sentido <strong>de</strong> reivindicar um espaço mais <strong>de</strong>mocrático no interior da<br />
instituição.<br />
A mudança da socieda<strong>de</strong> tem feições próprias. Em nosso caso, precisamos saber<br />
que mudança é essa.<br />
O caminho da mudança está nas transformações da socieda<strong>de</strong>.<br />
A história do autoritarismo no Brasil encontra-se em processo <strong>de</strong> transformações:<br />
eleições diretas, <strong>de</strong>mocratização da Escola, maior participação das camadas<br />
populares.<br />
(...)<br />
Ausência <strong>de</strong> relações do processo educacional com os reais <strong>de</strong>mandantes da<br />
escola. A maior preocupação é com a empresa, quando <strong>de</strong>veria ser com a família,<br />
com a criança, com o jovem.<br />
Burocratização da educação.<br />
(...)<br />
A oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mudança está sendo oferecida: participação política, liberda<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>mocrática etc.<br />
(...)<br />
Rompimento com o autoritarismo<br />
Resgate da autonomia da escola<br />
Mudança nos processos <strong>de</strong> planejamento e <strong>de</strong>cisões na organização dos jovens,<br />
através <strong>de</strong> grêmio, centro cívicos, etc.<br />
Fortalecimento <strong>de</strong> organização <strong>de</strong> professores e funcionários.<br />
Eleições diretas (Relatório “Dia D”, 1985, p.08-09).<br />
145
Embora este documento seja <strong>de</strong> cunho institucional, e não elaborado pelos<br />
estudantes, consi<strong>de</strong>ramos pertinente a sua apresentação na medida em que indica um<br />
cenário favorável à mobilização estudantil, e até mesmo certa “insuflação” por parte <strong>de</strong><br />
alguns professores <strong>para</strong> que houvesse um posicionamento mais crítico entre os <strong>de</strong>mais<br />
membros da escola.<br />
Este seminário contou com a presença <strong>de</strong> representantes estudantis em todos os<br />
grupos <strong>de</strong> discussão e teve influência direta nas movimentações em torno das eleições <strong>para</strong><br />
diretor que se tornaram mais efetivas, tanto <strong>para</strong> os estudantes, como <strong>para</strong> os professores.<br />
Ocorreu assim a união dos professores, alunos e funcionários a fim <strong>de</strong> exigir eleições diretas<br />
<strong>para</strong> o diretor da escola 70 .<br />
Com o processo <strong>de</strong> re<strong>de</strong>mocratização do país, houve um movimento <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
intensida<strong>de</strong> no seio das Escolas Técnicas Fe<strong>de</strong>rais, principalmente após um<br />
evento <strong>de</strong> âmbito nacional que foi coor<strong>de</strong>nado pelo Ministério <strong>de</strong> Educação e<br />
Cultura chamado ‘Dia D’, esse ‘Dia D’ mobilizou todas as instituições e todas as<br />
[...] toda sua comunida<strong>de</strong>. Professores, alunos e funcionários, e o tema principal<br />
<strong>de</strong>sse movimento foi ‘Educação e Democracia’ e isso <strong>de</strong>spertou entre a<br />
comunida<strong>de</strong> o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> participar efetivamente da escolha do seu dirigente, <strong>de</strong><br />
seus dirigentes (Roberto Trípodi, Ex-Diretor, 1986/1994) 71 .<br />
Inicialmente os professores buscaram um dialogo com a direção no sentido <strong>de</strong><br />
propiciar uma saída mais tranqüila <strong>para</strong> o processo eleitoral, entretanto, embora levasse ao<br />
conselho técnico consultivo suas <strong>de</strong>mandas, o diretor não lhe <strong>de</strong>u a <strong>de</strong>vida importância.<br />
Consta em ata a entrega <strong>de</strong> um documento on<strong>de</strong> os professores buscavam uma alteração do<br />
processo eleitoral.<br />
Em seguida, o senhor diretor da escola dirigiu-se ao conselho <strong>para</strong> informar que<br />
alguns membros da comunida<strong>de</strong> lhe entregaram um documento cujo teor<br />
continha sugestões ou pontos básicos <strong>para</strong> a escolha do diretor da ETFBa (Livro<br />
<strong>de</strong> Atas <strong>de</strong> Posse do Conselho Técnico Consultivo, 11/04/1986).<br />
70 “No primeiro semestre <strong>de</strong> 1986 foi <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ado um movimento na Escola, antecedido por uma série <strong>de</strong><br />
reivindicações da comunida<strong>de</strong> acadêmica <strong>de</strong>vido as resoluções do Conselho Técnico Consultivo no que se<br />
referia ao processo <strong>de</strong> escolha do dirigente máximo da instituição, apresentando propostas <strong>de</strong>sencontradas com<br />
as expectativas da maioria da população escolar, que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os movimentos “Diretas Já”, “Dia D” entre outras<br />
manifestações, vinha num crescendo <strong>de</strong> conscientização e repercutiu internamente na instituição e resultou na<br />
realização da consulta à comunida<strong>de</strong> <strong>para</strong> a formação <strong>de</strong> lista com os seis nomes mais votados, a ser<br />
encaminhada ao Conselho Técnico Consultivo da instituição, com fim especifico <strong>de</strong> elaborar e encaminhar ao<br />
MEC uma lista tríplice <strong>para</strong> escolha do novo diretor da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia”(LESSA, 2002, p.49-<br />
50).<br />
71 Ví<strong>de</strong>o institucional.<br />
146
Entretanto, nesta mesma reunião foi marcada a escolha da lista sêxtupla <strong>para</strong> uma<br />
reunião seguinte e os as sugestões da comunida<strong>de</strong> não foram aceitas. Foi <strong>de</strong>finida então por<br />
parte do grupo em movimento a <strong>de</strong>flagração <strong>de</strong> uma greve. O movimento ganhou as páginas<br />
dos jornais, e tanto um grupo como o outro manifestavam suas posições na imprensa<br />
baiana.<br />
RENÚNCIA DE CARGOS NA E. TÉCNICA<br />
Motivados pela posição, que consi<strong>de</strong>raram arbitrária, tomada pelo Conselho<br />
Técnico Consultivo da ETFBa., em reunião do dia 11/04/86, quando o diretor da<br />
escola, juntamente com mais seis membros representantes da comunida<strong>de</strong> externa<br />
e alheios aos <strong>de</strong>mais anseios da comunida<strong>de</strong> escolar, ignoraram as justas<br />
propostas dos três segmentos da escola, referentes à sucessão do diretor,<br />
<strong>de</strong>fendidas naquele momento, pelo representante docente (A Tar<strong>de</strong>, 12/04/1986,<br />
p. 07).<br />
Após a renúncia coletiva dos cargos, e da greve dos estudantes, a qual, segundo<br />
nosso entrevistado, era dos estudantes por uma questão estratégica visto que eles po<strong>de</strong>riam<br />
<strong>para</strong>r a escola sem sofrer retaliações ao contrário dos professores 72 . Deste modo, fizeram a<br />
greve com apoio dos professores e <strong>de</strong> boa parte do corpo técnico administrativo. Mas<br />
conforme verificamos em ata <strong>de</strong> reunião, o diretor permaneceu inflexível, sendo necessária<br />
a presença <strong>de</strong> um representante do MEC a fim <strong>de</strong> mediar o impasse.<br />
O principal impasse diz respeito à própria função do Conselho Técnico Consultivo.<br />
Se ele acatasse o pleito dos professores, segundo um <strong>de</strong> seus conselheiros, <strong>de</strong>ixaria <strong>de</strong> ser<br />
um órgão <strong>de</strong> consulta, representante do MEC na comunida<strong>de</strong> e assumiria “uma função<br />
meramente homologatória da <strong>de</strong>cisão previamente tomada pela comunida<strong>de</strong>” (Livro <strong>de</strong> Atas<br />
da Reunião Extra-ordinária do Conselho Técnico Consultivo, 24/04/1986).<br />
A estratégia da diretoria foi <strong>de</strong> <strong>de</strong>squalificar o movimento mobilizando a opinião<br />
pública através dos jornais. Acusava <strong>de</strong> ba<strong>de</strong>rna, chegando a solicitar a presença da polícia<br />
a fim <strong>de</strong> <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r o patrimônio da escola conforme observamos em oficio en<strong>de</strong>reçado ao<br />
comando da polícia militar e amplamente divulgado nos jornais.<br />
TÉCNICA CHAMA POLÍCIA PARA MANTER A ORDEM<br />
“Estou inteiramente aberto ao diálogo”. A afirmação é do diretor da Escola<br />
Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia, Ruy Santos, ao esclarecer as razões que o levaram a<br />
colocar policiais militares na parte interna da escola. Ele disse que anteontem a<br />
noite baixou a portaria <strong>de</strong> número 75, on<strong>de</strong> proíbe a entrada <strong>de</strong> pessoas estranhas<br />
na parte interna do colégio, uma vez que as ativida<strong>de</strong>s acadêmicas se encontram<br />
<strong>para</strong>lisadas com o movimento, e que a presença dos policiais é apenas <strong>para</strong><br />
segurança do patrimônio.<br />
72 Embora nosso entrevistado afirme a greve como feita pelos estudantes, as notícias dos jornais da época<br />
referem-se a um movimento conjunto <strong>de</strong> toda a comunida<strong>de</strong> da escola.<br />
147
Preocupado com a greve que envolve professores, alunos e funcionários <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a<br />
última segunda-feira, o diretor do estabelecimento assegurou que chamar a<br />
policia é um procedimento normal, pois, a responsabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> seu cargo é muito<br />
gran<strong>de</strong>.<br />
Ele diz que “a medida é apenas <strong>para</strong> esfriar os ânimos das pessoas em greve e, até<br />
sábado, quando termina a portaria, espero que o diálogo entre as partes aconteça.<br />
(...) ao abordar o fato da colocação <strong>de</strong> militares no colégio no dia em que estava<br />
prevista uma reunião <strong>de</strong> esclarecimento entre pais, alunos e professores, o diretor<br />
alegou que o fato foi uma simples coincidência (Correio da Bahia, 18/04/1986).<br />
A chegada do representante do MEC possibilitou que se chegasse a um<br />
<strong>de</strong>nominador comum entre a comunida<strong>de</strong> e o diretor. Sobre a reunião ocorrida com<br />
presença <strong>de</strong>ste mediador um aluno relatou:<br />
O MEC mandou um representante <strong>para</strong> ver a ba<strong>de</strong>rna e daí o MEC mandou uma<br />
<strong>de</strong>legada regional. (...) primeiro falou o diretor. Primeiro ele disse que éramos<br />
(os estudantes) massa <strong>de</strong> manobra. E tinha uma proposta que a gente tinha <strong>para</strong><br />
fazer e eu pedi <strong>para</strong> apresentar essa proposta. Eu lembro bem que a fala da<br />
<strong>de</strong>legada do MEC e ela disse que fizéssemos disso um parto que fosse o mais<br />
natural. E eu pedi ainda a fala e disse a ela que haviam muitas pessoas naquela<br />
sala nascidos <strong>de</strong> parto cesárea... (Estudante <strong>de</strong> Química, 1984/1986).<br />
Assim, o movimento carregado <strong>de</strong> simbolismos, culminou com uma gran<strong>de</strong><br />
manifestação dos alunos, professores e funcionários na área externa da escola. Promoveram<br />
mostra <strong>de</strong> som no pátio da escola, <strong>de</strong>clamavam poemas, e, por fim, <strong>de</strong>ram um abraço em<br />
torno do prédio.<br />
(...) eu me lembro, a Carla Visi, essa cantora... Ela era da nossa chapa. Eu era<br />
diretor <strong>de</strong> imprensa e ela era da área cultural. Então assim... Eu me lembro que o<br />
cantar <strong>de</strong>la.. a forma como ela tinha um domínio <strong>de</strong> palco, aquela coisa toda...<br />
Tinha um outro músico também... Eu era do coral da escola (...) era tecladista da<br />
igreja. (...) a gente segurou toda a greve com a música. Teve paródia...<br />
Construímos todo o processo (Estudante <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1982/1986).<br />
Outro aluno assim narrou suas experiências:<br />
A coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Aquilo parou essa escola,<br />
parou tudo. Na época nós improvisamos um jornal. Eu participei, foi criação<br />
minha o jornal do movimento, teve um momento em que Rui Santos radicalizou,<br />
fechou a escola e nós fizemos assembléia no sindicato dos metalúrgicos, fizemos<br />
um forro na porta da escola, <strong>de</strong>mos um abraço na escola, teve o processo da<br />
eleição ele (Trípodi) recebeu em torno <strong>de</strong> 85% dos votos. Depois da eleição a<br />
lista foi pro MEC, o nome foi incluso na lista era outra comemoração. E a gente...<br />
tudo era uma comemoração. A gente ficava enlouquecido, nem conseguia assistir<br />
aula, queria saber o resultado da lista (Estudante <strong>de</strong> Química, 1985/1990).<br />
A saída <strong>de</strong> Ruy Santos da direção da escola foi um processo bastante complexo, e<br />
como dito antes, construído <strong>de</strong> forma gradual. Não po<strong>de</strong>mos entendê-lo isolado das<br />
148
condições políticas e sociais do país e nem tampouco <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rar a existência no interior<br />
da escola <strong>de</strong> um importante contingente <strong>de</strong> professores, alunos e funcionários técnicoadministrativo<br />
que percebiam as mudanças em curso, assim como eram <strong>de</strong>sfavoráveis à<br />
permanência <strong>de</strong> um diretor que teve sua gestão originada no regime militar. Novas relações<br />
<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r se costuravam no ambiente institucional, compondo-se com membros da antiga<br />
diretoria associados a outros professores e funcionários insatisfeitos com a postura<br />
autoritária do diretor.<br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da postura assumida pelo diretor, sua presença era inaceitável em<br />
<strong>de</strong>corrência das mudanças e das condições que a socieda<strong>de</strong> vivia. Reivindicar eleições era<br />
uma tendência natural, ainda mais em um ambiente educacional questionador, mergulhado<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> os tempos da ditadura em uma reflexão crítica, a qual só não era expressa <strong>de</strong> forma<br />
mais acentuada, por conta da repressão, da qual o diretor foi o representante naquele<br />
estabelecimento <strong>de</strong> ensino.<br />
A gente era a<strong>de</strong>strado <strong>para</strong> entrar na indústria e cumprir <strong>aqui</strong>lo ali... Naquele<br />
período, lendo o marxismo. Todo um antagonismo, uma contradição n<strong>aqui</strong>lo lá.<br />
Então os setores mais, eu po<strong>de</strong>ria dizer, mais <strong>de</strong> movimento que estavam lá<br />
<strong>de</strong>ntro. Não só insatisfeitos, mas formulava o porquê da insatisfação. Não era só<br />
sentir na pele o problema. A gente sentia e mais, fazia inferências sobre o<br />
problema. Certo? (Estudante <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1982/1986).<br />
Um aspecto interessante <strong>de</strong>ste fato é a reivindicação <strong>de</strong> todas as categorias <strong>para</strong> o<br />
seu protagonismo na ação. De modo que um aluno, membro da comissão que elaborou a<br />
proposta <strong>de</strong> lista sêxtupla assim se refere ao fato:<br />
A gente tirou ele (o diretor) antes <strong>de</strong> fundar o grêmio. Depois da eleição a gente<br />
conseguiu estruturar o grêmio. Foi a coisa mais linda que aconteceu na escola..<br />
Nós tivemos professores, funcionários e alunos, na sua maioria, dando tudo pra<br />
organizar o movimento. Os professores nos ajudaram <strong>para</strong> dar esse caráter<br />
or<strong>de</strong>iro. Logo foi sinalizado <strong>para</strong> imprensa que era um bando <strong>de</strong> ba<strong>de</strong>rneiros.<br />
Professores <strong>de</strong> várias coor<strong>de</strong>nações partici<strong>para</strong>m. Eu acho que era um <strong>de</strong>sejo da<br />
escola enrustido e massacrado por ele e por isso que talvez todo mundo fique<br />
pensando que foi seu grupo que iniciou. Daí que <strong>de</strong>riva essa idéia que foi eu que<br />
comecei porque estava todo mundo pensando (Estudante <strong>de</strong> Química,<br />
1984/1986).<br />
O protagonismo <strong>de</strong>ste movimento não po<strong>de</strong> ser exclusivo <strong>de</strong> uma categoria. Foi<br />
necessária uma união forte a fim <strong>de</strong> fazer valer os anseios da comunida<strong>de</strong> escolar. A<br />
inauguração <strong>de</strong>sta nova fase, dita <strong>de</strong>mocrática, na escola, não significa, entretanto, a<br />
eliminação dos conflitos.<br />
149
Novos problemas surgiram, sendo que vários professores e funcionários, que<br />
apoiavam o Diretor Rui Santos, o acompanharam quando retornou à sua instituição <strong>de</strong><br />
origem (Geociências/UFBA), o que gerou sérios problemas à instituição e à nova diretoria<br />
que assumiu. Após a vitória <strong>de</strong> Roberto Trípodi, com mais <strong>de</strong> 80% dos votos entre<br />
professores, funcionários e estudantes, foi organizada a primeira eleição <strong>para</strong> o grêmio, cuja<br />
diretoria foi empossada ainda em 1986.<br />
4.5 A Restauração do Grêmio Estudantil<br />
Uma preocupação que a gente tinha, porque quando nós começamos, o<br />
movimento estudantil era polarizado <strong>aqui</strong> em Salvador entre o PC do B, que<br />
controlava tudo, esse XXXX, por exemplo, era ligado ao PC do B, e tinha gente<br />
que... Que não era, vamos dizer assim, diretamente ligado a nada. A gente fazia<br />
oposição porque era contra o PC do B. Nós fazíamos parte <strong>de</strong> um grupo em que<br />
uma parte das pessoas era do PT. Eu, por exemplo, não era do PT. Não gostava<br />
do PT. Mas o pessoal que estava ali era próximo ao PT e nós começamos a<br />
organizar as turmas (Aluno <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1984/1988).<br />
Na transição entre o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> organização gestada na ditadura, o centro cívico,<br />
<strong>para</strong> o grêmio livre, possibilitado a organizarem-se com o estabelecimento da “Nova<br />
República”, os estudantes da ETFBA vivenciaram, conforme <strong>de</strong>scrito anteriormente, a<br />
experiência da mobilização interna que lhes conferiu a perspectiva <strong>de</strong> recriação do grêmio<br />
com mais liberda<strong>de</strong> e autonomia que a maioria das instituições estudantis. Neste sentido, os<br />
alunos passam a buscar novas formas <strong>de</strong> organização, conscientes da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
criarem um mo<strong>de</strong>lo próprio, diferenciado do centro cívico.<br />
O ME tinha que ter também outros elementos. A nossa tese era que a gente tinha<br />
que fazer um movimento estudantil diferente. Nós achávamos que o movimento<br />
estudantil tinha que ter ban<strong>de</strong>iras específicas (Aluno <strong>de</strong> Eletrotécnica,<br />
1984/1988).<br />
O grêmio se estruturou logo após a posse do novo diretor, eleito em consonância<br />
com os <strong>de</strong>sejos da comunida<strong>de</strong> docente e discente. Esta condição especial faz com que em<br />
um primeiro momento as divergências político-partidárias presentes na escola fossem<br />
menos evi<strong>de</strong>ntes que o projeto comum almejado pela maioria <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratização da<br />
instituição.<br />
Participei da comissão pró-grêmio. Depois do processo <strong>de</strong> Rui Santos nós<br />
aceleramos o processo <strong>de</strong> eleição do grêmio. Basicamente eram dois grupos que<br />
se enfrentaram: um grupo que era do PC do B e outra vinculada ao PT. A chapa<br />
150
do PT ganhou amplamente a eleição. A chapa chamava Semeando o Movimento<br />
(Estudante <strong>de</strong> Química, 1984/1986). 73<br />
À medida, entretanto, que as conquistas são alcançadas, a diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong> opiniões e<br />
posições político-partidárias ganham <strong>de</strong>staque, estabelecendo-se como pano <strong>de</strong> fundo das<br />
disputas internas. Este fenômeno não é exclusivo dos estudantes, manifesta-se inclusive nas<br />
disputas entre os professores e funcionários.<br />
Depois que foi implantada a diretoria, logo no segundo semestre, eu comecei a<br />
discordar. Aí eu acho que era o erro político <strong>de</strong>les, todo mundo que não<br />
concordava com o grupo eles pichavam e assumiam uma postura muito ruim.<br />
Fulano não concorda então é do PC do B. Então o pessoal do PC do B veio me<br />
procurar e a gente começou a discutir. Vamos formar uma chapa. Não era um<br />
cara do partido nem nada. Era muito falante, sou pouco falante hoje (risos). Não<br />
sei se tinha carisma não, mas tinha um tipo <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança na época, que quando<br />
tinha que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r uma proposta era impossível per<strong>de</strong>r. Os professores falavam: -<br />
Você fala bem pra caramba! Era uma coisa assim... (Estudante <strong>de</strong> Química,<br />
1984/1986).<br />
Em nosso trabalho, buscamos ouvir os grupos que li<strong>de</strong>raram o movimento,<br />
<strong>de</strong>monstrando suas divergências. Advertimos, entretanto, que é necessário relativizar, visto<br />
que essas falas são atualizadas pelas suas experiências posteriores.<br />
Uma preocupação que a gente tinha, porque quando nós começamos, o<br />
movimento estudantil era polarizado <strong>aqui</strong> em Salvador entre o PC do B, que<br />
controlava tudo, esse [aluno], por exemplo, era ligado ao PC do B, e tinha gente<br />
que... Que não era, vamos dizer assim, diretamente ligado a nada. A gente fazia<br />
oposição porque era contra o PC do B. Nós fazíamos parte <strong>de</strong> um grupo em que<br />
uma parte das pessoas era do PT. Eu, por exemplo, não era do PT. Não gostava<br />
do PT. Mas o pessoal que estava ali era próximo ao PT e nós começamos a<br />
organizar as turmas. Vamos fazer movimento <strong>aqui</strong> e tal... (Aluno <strong>de</strong><br />
Eletrotécnica, 1984/1988).<br />
Estas disputas refletiam um con<strong>texto</strong> mais amplo do movimento estudantil que,<br />
embora viesse se reorganizando <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início da década, se fortaleceu com a aprovação da<br />
Lei do Grêmio Livre em 1985. As diversas tendências existentes no ME ganham as páginas<br />
dos principais jornais do país e <strong>de</strong> revistas <strong>de</strong> circulação nacional, como a revista Veja e a<br />
Isto é, por exemplo, que passam a evi<strong>de</strong>nciar as divergências internas da esquerda que<br />
po<strong>de</strong>m ter contribuído <strong>para</strong> a <strong>de</strong>smobilização do movimento. No caso <strong>de</strong> Salvador, não foi<br />
diferente, conforme po<strong>de</strong>mos verificar nesta reportagem da Tribuna da Bahia:<br />
73 Semeando o movimento, caracterizava a presença do PT no ME através da tendência Semeando e o<br />
Movimento era uma alusão aos acontecimentos relativos à saída do diretor, cujo jornal se chamava “Jornal do<br />
Movimento”.<br />
151
POLÊMICA CERCA ENCONTRO E ESTUDANTES DA UMES<br />
Antes mesmo <strong>de</strong> começar, o encontro da UMES, União Metropolitana <strong>de</strong><br />
Estudantes Secundaristas, já virou polêmica. Uma facção dissi<strong>de</strong>nte está<br />
revoltada contra a presidência da entida<strong>de</strong> que, segundo <strong>de</strong>núncia está<br />
manipulando a realização do encontro previsto <strong>para</strong> 19 e 20 <strong>de</strong> setembro, quando<br />
<strong>de</strong>verá contar com a participação <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> trezentos <strong>de</strong>legados a serem<br />
escolhidos se não houver boicote. Também criticam a tentativa <strong>de</strong> levar o<br />
congresso <strong>para</strong> Camaçari, “é casuísmo eleitoreiro”. Ao divulgarem um panfleto,<br />
cuja autoria é atribuída ao Movimento In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da Bahia, os estudantes, na<br />
maioria do Colégio Central questionam a representativida<strong>de</strong> do atual presi<strong>de</strong>nte,<br />
con<strong>de</strong>nando-o <strong>de</strong> arbitrário e omisso aos principais problemas como a violência<br />
das escolas e a falta <strong>de</strong> uma se<strong>de</strong> própria da UMES (TRIBUNA DA BAHIA,<br />
23/08/1986).<br />
Des<strong>de</strong> então, os partidos políticos, já fortemente estabelecidos <strong>de</strong>ntro do movimento<br />
estudantil, buscavam ganhar a hegemonia e as diretorias dos grêmios das principais<br />
instituições <strong>de</strong> ensino e a Escola Técnica, era, naquele momento um dos principais espaços<br />
<strong>de</strong> organização da luta estudantil.<br />
E era uma coisa acirrada porque tinha o pessoal do PT, do PC do B, os<br />
anarquistas, gente ligada a outros partidos, como o PSB. E, na própria escola<br />
também tinha isso, na direção da escola tinham as forças que se organizavam,<br />
tinha uma rica discussão política e que disputam até hoje a direção do CEFET<br />
né? Hoje são os mesmos grupos e tinha uma rica discussão política. Quando eu<br />
cheguei, eu não era vinculado a nenhuma força política, <strong>de</strong>pois que eu me filiei<br />
ao PC do B, partido que sou filiado até hoje (Estudante <strong>de</strong> Eletrotécnica,<br />
1987/1991).<br />
Os documentos produzidos pela tendência “Semeando” indicam a existência <strong>de</strong> um<br />
posicionamento <strong>de</strong> disputa política do grêmio com fortes críticas a gestão “Alternativa”,<br />
segunda chapa a assumir o grêmio, acusada <strong>de</strong> “imobilismo” além <strong>de</strong> ocorrer à cobrança da<br />
realização do II Congresso dos Estudantes da ETFBA. As divergências internas refletem,<br />
como dito antes, a disputa da UBES e da UMES em escala nacional e estadual.<br />
A comunicação entre o grêmio e a direção da escola através <strong>de</strong> documentos e ofícios<br />
indica que o diretor tinha uma preocupação <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r as <strong>de</strong>mandas dos estudantes. A<br />
partir da campanha <strong>para</strong> eleição da nova diretoria da escola em 1990 os alunos da chapa<br />
Semeando assumem abertamente o apoio a chapa <strong>de</strong> reeleição do diretor Roberto Trípodi,<br />
enquanto a chapa “Alternativa” se posiciona ao lado da oposição, representada pela chapa<br />
“Mutirão”, encabeçada pela Professora Aurina, o Professor Elias e o Professor Almir.<br />
I<strong>de</strong>ntificamos ainda através <strong>de</strong> documentos, a realização V Congresso dos<br />
Estudantes da ETFBA no ano <strong>de</strong> 1991, período em que os estudantes estavam mobilizados<br />
em torno do “Fora Collor”.<br />
Do ponto <strong>de</strong> vista dos alunos, a participação <strong>de</strong>cisiva <strong>de</strong>stes no processo <strong>de</strong> saída do<br />
diretor lhes confere um status e grau <strong>de</strong> importância acentuado frente à tomada <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisões<br />
152
da escola. Segundo relatos dos estudantes, na posse do novo diretor, o lí<strong>de</strong>r dos estudantes<br />
foi o mais aplaudido, por ocasião do discurso proferido.<br />
Ainda durante o governo <strong>de</strong> José Sarney, a publicação <strong>de</strong> dois <strong>de</strong>cretos 74 voltados à<br />
redução das verbas públicas da educação, gerou uma gran<strong>de</strong> mobilização na re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Escolas<br />
Técnicas Fe<strong>de</strong>rais e a ETFBA. Através do envio <strong>de</strong> telegramas <strong>para</strong> o Presi<strong>de</strong>nte da<br />
República e aos Deputados Fe<strong>de</strong>rais, toda a re<strong>de</strong> manifestou <strong>de</strong>sagrado com o <strong>de</strong>creto que<br />
gerou profundas dificulda<strong>de</strong>s no interior das escolas.<br />
Os estudantes participavam <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisões importantes no cotidiano da escola.<br />
Demonstravam uma consciência frente aos problemas sociais e mantinham uma atitu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sconfiança frente à diretoria em momentos on<strong>de</strong> ficava clara a existência <strong>de</strong> um<br />
partidarismo envolvendo a relação entre direção e os grupos <strong>de</strong> estudantes.<br />
(...) Na minha época mesmo, a gente não <strong>de</strong>ixava passar em branco um aumento<br />
<strong>de</strong> transporte em Salvador, a gente fazia movimento, participava, as coisas não<br />
aconteciam assim, não passavam ao largo do movimento. Eu lembro que quando<br />
teve um erro, a escola cometeu um erro no concurso e chamou pra cursar um<br />
monte <strong>de</strong> gente que não tinha verda<strong>de</strong>iramente passado na prova. Eles erraram o<br />
processamento da correção e aí chamou na verda<strong>de</strong> uma turma que não tinha<br />
passado em <strong>de</strong>trimento <strong>de</strong> quem tinha passado. Quando eles verificaram o erro<br />
eles já tinham chamado o pessoal, já tinham se matriculado e tentaram corrigir o<br />
erro botando essa turma pra fora e chamando os novos. Aí foi um problemão. Aí<br />
foi o grêmio, eu era o presi<strong>de</strong>nte do grêmio na época, foi a gente que conseguiu<br />
brecar um pouco isso porque assim... Você cometeu uma injustiça com quem<br />
passou <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>, colocou <strong>para</strong> <strong>de</strong>ntro pessoas que não tinham passado, mas<br />
também você cometeria uma gente injustiça gran<strong>de</strong> que seria retroce<strong>de</strong>r. Tinha<br />
gente assim que tinha vindo do interior, alugado casa, largou emprego, largou<br />
escola e aí com uma semana <strong>de</strong> aula você queria mandar ele embora? A gente<br />
conseguiu na discussão, na mobilização da galera, na discussão com a escola,<br />
abrir um prece<strong>de</strong>nte que permitiu que todo mundo estudasse. Colocar todo<br />
mundo pra <strong>de</strong>ntro. Não passava nada em branco naquela época na escola.<br />
(Estudante <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1987/1991).<br />
Logo após a posse da primeira diretoria do grêmio estudantil Edson Luis, os<br />
estudantes realizaram o I Seminário Estudantil dos Estudantes da ETFBA entre as<br />
principais ban<strong>de</strong>iras do seminário estudantil i<strong>de</strong>ntificamos a luta contra o jubilamento.<br />
Tivemos acesso em nossa pesquisa ao boletim da diretoria do grêmio que realizou o II<br />
Congresso dos Estudantes, on<strong>de</strong> há explicações sobre o significado <strong>de</strong> tal evento:<br />
VEM AÍ O II CONGRESSO INTERNO DOS ESTUDANTES 75<br />
74<br />
Decreto Nº 95682/88 e Decreto Nº 95683/88 que estabeleciam entre outras coisas a proibição <strong>de</strong> contratação<br />
<strong>de</strong> novos professores e do pagamento <strong>de</strong> horas extra <strong>para</strong> os funcionários das instituições fe<strong>de</strong>rais <strong>de</strong> ensino.<br />
75<br />
(BOLETIM ALTERNATIVO, Gestão Alternativa – Nº 1 DE 29/02 A 13/02, s/d). Presumimos que a data<br />
<strong>de</strong>ste boletim seja 1988, pois esta é a segunda chapa a assumir a presidência do Grêmio Estudantil Edson Luís.<br />
153
O congresso interno é a instância máxima <strong>de</strong>liberativa do Grêmio Estudantil,<br />
<strong>de</strong>les participam os alunos eleitos em sala <strong>de</strong> aula (<strong>de</strong>legados) com direito a voz e<br />
voto e também todos os <strong>de</strong>mais alunos da ETFBa que estejam interessados em<br />
participar com direito apenas a voz. É um dia <strong>de</strong> discussão on<strong>de</strong> os objetivos são:<br />
elevar o nível cultural e crítico dos estudantes, discutir os problemas educacionais<br />
internos e estreitar os laços com toda a comunida<strong>de</strong> escolar. Possui o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
aprovar, vetar ou reformular o estatuto da entida<strong>de</strong>. O Grêmio promoverá uma<br />
série <strong>de</strong> seminários direcionados principalmente aos <strong>de</strong>legados, objetivando uma<br />
pre<strong>para</strong>ção a fim <strong>de</strong> que o congresso seja participativo e representativo.<br />
JUNTOS CONSTRUIREMOS UMA ETFBA VERDADEIRAMENTE<br />
DEMOCRÁTICA.<br />
A análise da conjuntura política era discutida pelos estudantes, bem como os rumos<br />
da política implementada pelo governo <strong>de</strong> José Sarney. A publicação dos <strong>de</strong>cretos Nº<br />
95682 e Nº 95683 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> 1988 <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>aram um novo momento <strong>de</strong> luta e<br />
união entre professores, alunos e funcionários, não apenas na ETFBA, mas em praticamente<br />
toda a re<strong>de</strong> <strong>de</strong> escolas técnicas fe<strong>de</strong>rais.<br />
O ano <strong>de</strong> 1988 foi marcado pela Crise dos Decretos do Governo Sarney. Entre as<br />
propostas governamentais que marcavam a crise e que po<strong>de</strong>riam levar as<br />
instituições fe<strong>de</strong>rais <strong>de</strong> ensino técnico-profissionalizante à falência, duas têm<br />
ressonâncias significativas: uma <strong>de</strong>las é a sempre lembrada (à época)<br />
estadualização das Escolas Técnicas Fe<strong>de</strong>rais - ETFs. A outra, que revela a<br />
insensibilida<strong>de</strong> social <strong>de</strong> quem assim pensa, caracterizava-se pela possibilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> transferência da responsabilida<strong>de</strong> histórica (e jurídica) do Estado com a<br />
educação pública e gratuita <strong>para</strong> as mãos da empresa privada. Outras medidas<br />
que, mesmo não propondo eliminação imediata <strong>de</strong>stas instituições, levariam, por<br />
certo, à morte ou à inviabilização progressiva <strong>de</strong>ste sistema fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> ensino.<br />
Neste caso, as raízes <strong>de</strong>sta situação se encontram na aplicação indiscriminada dos<br />
Decretos do Governo Sarney (95682/88, 95683/88, 2423/88, 2424/88 e 2425/88)<br />
relacionados ao controle <strong>de</strong> pessoal docente e administrativo das Escolas<br />
Técnicas e a medidas <strong>de</strong> contenção <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas. Diante da mobilização geral <strong>de</strong><br />
todos os segmentos internos, e da comunida<strong>de</strong> externa (pais <strong>de</strong> alunos,<br />
intelectuais, políticos, imprensa, etc.) a situação foi contornada, mas, mesmo<br />
assim, os fatos terminaram trazendo alguns problemas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m administrativa e<br />
pedagógica <strong>para</strong> a vida da ETFBA (LESSA, 2009).<br />
Deste modo, os jornais noticiam amplamente a greve dos alunos pela revogação do<br />
<strong>de</strong>creto <strong>de</strong> Sarney. Nesta greve se mantém uma prática que será bastante importante <strong>para</strong> o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento do movimento estudantil da escola: a união <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>iras entre os<br />
estudantes e professores, que passa a ocorrer frequentemente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o “Fora Ruy”, sendo<br />
que o apoio discente garante ao corpo docente a legitimida<strong>de</strong> do seu movimento e<br />
<strong>de</strong>senvolve uma responsabilização política dos estudantes. Essa prática <strong>de</strong> discussão<br />
coletiva caracteriza vários momentos da escola e, inclui ainda a presença <strong>de</strong> representante<br />
discente nos órgãos consultivos da diretoria, como o Conselho Diretor, por exemplo.<br />
Os alunos da escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia iniciaram ontem um movimento<br />
em protesto contra os <strong>de</strong>cretos 95.682 e 95.683/88 do governo fe<strong>de</strong>ral que proíbe<br />
154
a contratação <strong>de</strong> pessoal e <strong>de</strong>termina o corte <strong>de</strong> verbas <strong>para</strong> as escolas fe<strong>de</strong>rais,<br />
respectivamente. Pela manhã eles interditaram a Rua Emídio Santos, no Barbalho<br />
por 40 minutos, provocando um gran<strong>de</strong> engarrafamento. À tar<strong>de</strong>, no pátio interno<br />
da escola, foi feito um ato público e o enterro simbólico da educação e do<br />
governo Sarney.<br />
As manifestações <strong>de</strong> repúdio a crise do ensino vão continuar e os alunos fazem<br />
hoje e amanhã uma vigília na entrada do colégio. Revoltado com o <strong>de</strong>scaso do<br />
Governo Fe<strong>de</strong>ral com o ensino, o vice presi<strong>de</strong>nte do Grêmio dos alunos da<br />
ETFBa, Ednaldo Moreira, alerta: “Mais quatro dias e po<strong>de</strong>remos per<strong>de</strong>r todo o<br />
semestre”. Alguns cursos como o <strong>de</strong> química estão sem aulas básicas por falta <strong>de</strong><br />
professores. Para os alunos <strong>de</strong> Geologia, o quadro é mais grave, pois 50% dos<br />
professores estão afastados e o quadro <strong>de</strong> 11 professores está resumido a apenas<br />
cinco.<br />
Com a falta <strong>de</strong> professores está prejudicada também a entrada <strong>de</strong> novos alunos<br />
aprovados e matriculados <strong>para</strong> o segundo semestre. Pelo mesmo motivo cerca <strong>de</strong><br />
40% dos alunos da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia “estão tendo aulas <strong>de</strong><br />
Educação Física ministradas por estagiários, e os do curso <strong>de</strong> Eletromecânica do<br />
sétimo período estão sem condição <strong>de</strong> se formar”.<br />
Os problemas na Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral começaram a surgir no final do ano<br />
passado quando houve uma <strong>de</strong>missão espontânea <strong>de</strong> professores. Logo em<br />
seguida, foi realizado um concurso público e aprovado 21 professores, que com<br />
os <strong>de</strong>cretos, não pu<strong>de</strong>ram ser contratados. Segundo o estudante e secretário geral<br />
da UMES, Antenor Junior, “<strong>para</strong> um bom funcionamento seria necessário um<br />
quadro <strong>de</strong> pelo menos 35 professores”.<br />
Além da greve - que já <strong>completo</strong>u um mês – foi formada uma comissão <strong>de</strong><br />
professores e alunos que seguiu até Brasília <strong>para</strong> pressionar o Ministro da<br />
Educação Hugo Napoleão. “Recebemos como resposta por um subordinado do<br />
ministro, que ao assunto não era da educação e sim da fazenda”, <strong>de</strong>sabafa<br />
Ednaldo Moreira. O mesmo documento foi entregue a <strong>de</strong>legacia regional do<br />
MEC, sem nenhum efeito concreto. Decididos a continuar na luta os estudantes<br />
vão impetrar um mandato <strong>de</strong> segurança contra o Governo Fe<strong>de</strong>ral e <strong>para</strong> isso, vão<br />
buscar o apoio da OAB. (TRIBUNA DA BAHIA, 18/04/1988).<br />
De outro lado, garante aos estudantes uma posição <strong>de</strong> sujeito, contestando e atuando<br />
ativamente na <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> questões como a organização do calendário e da reposição das<br />
aulas, discordando e cobrando soluções <strong>para</strong> os problemas gerados pelas greves.<br />
Mais uma vez o governo da Nova República aplica um golpe aos trabalhadores.<br />
Desta vez é o corte nos gastos públicos, que na verda<strong>de</strong> é um corte nos salários e<br />
nas conquistas dos funcionários públicos e ano dos gastos públicos propriamente<br />
ditos. Por que não acabam <strong>de</strong> vez com os salários dos Marajás? Por que ainda<br />
investem rios <strong>de</strong> dinheiro na ferrovia Norte-Sul? Por que voltam a pagar os juros<br />
da dívida externa que não foi contraída por nós? Aqui na escola, essa política se<br />
refletiu <strong>de</strong> maneira dramática, atingindo a toda a comunida<strong>de</strong> e principalmente a<br />
nós Estudantes. Proibiram a contratação dos professores aprovados em concurso<br />
público recentemente realizado na Escola; dificultou o trabalho <strong>de</strong> setores<br />
recentemente criados <strong>para</strong> aten<strong>de</strong>r aos alunos como o DRC (que trata dos<br />
estágios), o CAED (refletindo muito na merenda escolar, monitoria e etc.),<br />
impediram a contratação <strong>de</strong> professores substitutos <strong>para</strong> aten<strong>de</strong>r as necessida<strong>de</strong>s<br />
da escola. Se um professor adoecer ou licença gestante <strong>para</strong> professoras, não se<br />
po<strong>de</strong>rá contratar um substituto – turmas inteiras po<strong>de</strong>rão ficar sem professores;<br />
eliminaram o limite máximo <strong>de</strong> horas-aula ferindo o direito adquirido na<br />
isonomia salarial. Nós estudantes, professores, funcionários e todos os<br />
trabalhadores não po<strong>de</strong>mos aceitar esse tipo <strong>de</strong> política, que é a política da<br />
burguesia (dos banqueiros, dos empresários, do FMI) que vão <strong>de</strong> encontro aos<br />
155
nossos anseios <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocracia, participação e melhores condições <strong>de</strong> vida<br />
(Semeando, boletim Nº 01, março <strong>de</strong> 1988) 76 .<br />
A transformação do Centro Cívico em Grêmio estudantil significou uma série <strong>de</strong><br />
modificações na postura dos estudantes frente à sua organização estudantil. Em primeiro<br />
lugar, a relação entre alunos e direção escolar foi modificada. A participação dos estudantes<br />
na luta pela lista sêxtupla e a efetivação do diretor escolhido pela maioria garantiu-lhes um<br />
papel <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança política <strong>de</strong>ntro da escola, inclusive frente aos <strong>de</strong>mais membros da<br />
instituição. Assim, conforme relato <strong>de</strong> estudantes entrevistados, a partir daquele momento o<br />
grêmio era consultado <strong>para</strong> tudo que se ia fazer na escola. De outro lado, percebe-se pelo<br />
documento dos alunos que eles tinham consciência da força política que representavam e<br />
que ocupavam este espaço.<br />
I<strong>de</strong>ntificamos em documentos produzidos pelas chapas <strong>de</strong> oposição e situação do<br />
grêmio vários elementos que indicam sua permanente preocupação com a situação do<br />
ensino técnico profissional, bem como com a situação do país.<br />
A gente dava importância a essa discussão do ensino <strong>aqui</strong> na escola. Essa geração<br />
do nosso grupo político entrava todo mundo vindo da 8ª série. (...) uma das regras<br />
do nosso grupo era que ninguém podia per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ano. Então a gente tinha essa<br />
coisa <strong>de</strong> tem que passar. Nós tivemos um colega [aluno] inteligente, era um dos<br />
caras mais inteligentes que eu conheci <strong>aqui</strong> na escola. Então, ele per<strong>de</strong>u algumas<br />
vezes. E, <strong>de</strong> fato, a gente não tinha retenção (Aluno <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1984/1988).<br />
Os estudantes realizaram uma análise <strong>de</strong> conjuntura da situação do país e da escola<br />
<strong>de</strong> modo amplo. Naquele momento se percebe já a influência da campanha política <strong>de</strong><br />
Collor, do “caçador <strong>de</strong> marajás”. Isto não significa dizer que eles a<strong>de</strong>rem à campanha do<br />
PRN, mas que incorporam, <strong>de</strong> certa maneira, a linguagem midiática/popular <strong>de</strong> alusão aos<br />
marajás (aos corruptos que eram lançados na mídia permanentemente). O forte controle dos<br />
gastos públicos, entrecortado por uma série <strong>de</strong> escândalos, provoca na socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> modo<br />
geral e nos estudantes em especial uma acentuada insatisfação com os rumos do governo<br />
Sarney, uma vez que é na educação que primeiro se promove a introdução das políticas<br />
neoliberais no país, com a redução e o corte <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas.<br />
Outras questões vinculadas a valores morais, comportamento e necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
maior liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressão são i<strong>de</strong>ntificadas no âmbito do grêmio estudantil, após sua<br />
organização. As mudanças no comportamento político passam a expressar a diversida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
gostos e valores culturais no interior da escola.<br />
76 Tendência do PT no movimento estudantil.<br />
156
Assim, mesmo após a saída do diretor, os novos gestores se viram questionados em<br />
momentos variados, conforme pu<strong>de</strong>mos verificar. Ações <strong>de</strong> protesto internos ocorreram a<br />
fim <strong>de</strong> alcançar maior liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> namoro, uso do som e da música entre outras.<br />
O “dia do beijo” foi um dos momentos relatados por um ex-aluno como ilustrativo<br />
<strong>de</strong>ssas atitu<strong>de</strong>s questionadoras.<br />
A escola tinha muitas contradições. Então tinha um monte <strong>de</strong> medidas, inclusive<br />
com Roberto Trípodi, continuou com um monte <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> cunho moralista,<br />
conservadora... Que tinha na escola. E tinha o SOE, serviço <strong>de</strong> orientação, que a<br />
gente dizia que era a <strong>de</strong>legacia, ficava reprimindo a gente <strong>aqui</strong> no pátio. E teve<br />
uma perseguição e disseram que era uma imoralida<strong>de</strong>, que os meninos ficavam se<br />
beijando no pátio da escola. E ai nós aprovamos em assembléia fazer o “dia do<br />
beijo”. Então todo mundo veio pro pátio se beijar. Agora abra processo contra<br />
todo mundo <strong>aqui</strong> agora! (Estudante <strong>de</strong> química, 1985/1990). 77<br />
Tais eventos correspondiam a um comportamento mais livre por parte dos jovens,<br />
ao tempo em que também indicavam que novos valores se faziam presentes entre os<br />
estudantes, em um tempo on<strong>de</strong> predominou a discussão sobre o comportamento juvenil,<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte das questões políticas, ou muitas vezes associadas a estas.<br />
77 O SOE mudou a composição no <strong>de</strong>correr dos anos oitenta.<br />
157
CONSIDERAÇOES FINAIS<br />
A década <strong>de</strong> oitenta no Brasil se caracterizou como uma época <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
contradições e mudanças. Inicia como um tempo <strong>de</strong> ditadura, <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> violência, on<strong>de</strong> os<br />
estudantes foram calados por inúmeros <strong>de</strong>cretos e a repressão assolava a toda socieda<strong>de</strong>,<br />
mas aos poucos caminha <strong>para</strong> o que ficou configurada no discurso oficial como a “transição<br />
<strong>de</strong>mocrática”.<br />
Entretanto, mesmo nos momentos <strong>de</strong> intensas restrições, o silêncio não permaneceu.<br />
A socieda<strong>de</strong> se organizou colocando frente ao regime uma série <strong>de</strong> questionamentos. O<br />
confronto forjou as mudanças e aos poucos os estudantes, juntando-se aos <strong>de</strong>mais grupos<br />
que se mobilizavam pu<strong>de</strong>ram reestruturar o movimento.<br />
A economia sofria com uma crise consi<strong>de</strong>rável, greves explodiam nos setores mais<br />
diversos e os movimentos sociais apresentavam <strong>de</strong>mandas variadas, nas quais os jovens<br />
assumiram importante papel na condução dos <strong>de</strong>bates e enfrentamentos. As comunida<strong>de</strong>s<br />
eclesiais <strong>de</strong> base, as ocupações, as manifestações <strong>de</strong> massa, o partido político, o movimento<br />
estudantil.<br />
A partir do estudo realizado, i<strong>de</strong>ntificamos que o movimento estudantil no interior<br />
da ETFBA, acompanhou o processo <strong>de</strong> reorganização da socieda<strong>de</strong> brasileira após o regime<br />
ditatorial, <strong>de</strong> forma semelhante ao que foi i<strong>de</strong>ntificado em outros estudos (HAUER, 2007),<br />
(BOTELHO, 2006), (CARLOS, 2006). Inicialmente suas ações se davam principalmente no<br />
âmbito interno tendo em vista o acirramento da repressão e a redução dos canais <strong>de</strong><br />
158
expressão política. Essas ações internas eram direcionadas ao enfrentamento à direção da<br />
escola, tida como a principal representação <strong>de</strong>ste regime e ao recrutamento <strong>de</strong> estudantes<br />
<strong>para</strong> os partidos e organizações clan<strong>de</strong>stinas, com vistas a incorporá-los no movimento<br />
sindical, após sua profissionalização.<br />
A principal forma <strong>de</strong> resistência durante o período ditatorial foi através da arte e da<br />
participação em eventos culturais e artísticos, on<strong>de</strong> os estudantes elaboravam suas críticas<br />
ao mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong> que prevalecia no país, bem como uma crítica à própria dinâmica<br />
da ETFBA e sua forma <strong>de</strong> gestão. Paralelamente, muitos alunos eram recrutados <strong>para</strong> os<br />
quadros dos partidos políticos no interior da escola, embora nem sempre as pessoas fossem<br />
i<strong>de</strong>ntificadas por suas posições políticas, em virtu<strong>de</strong> da situação <strong>de</strong> clan<strong>de</strong>stinida<strong>de</strong> a que<br />
estavam submetidos, não po<strong>de</strong>ndo, portanto, assumir abertamente suas posições.<br />
Além da participação em organizações políticas, os estudantes passam a militar nos<br />
movimentos sociais emergentes na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Salvador, seja pelos seus vínculos com a<br />
Igreja Católica e as Comunida<strong>de</strong>s Eclesiais <strong>de</strong> Base, seja pela militância nas organizações<br />
<strong>de</strong> bairros ou movimentos <strong>de</strong> protesto social, como o MCC (Movimento Contra a Carestia)<br />
que culminou no quebra-quebra <strong>de</strong> ônibus da cida<strong>de</strong>.<br />
As <strong>de</strong>mandas iniciais <strong>de</strong> luta contra a ditadura e resistência ao autoritarismo vão<br />
sendo substituídas à medida que importantes conquistas são alcançadas na escola e o ME<br />
passa a englobar discussões mais específicas do cotidiano escolar, como a discussão sobre a<br />
qualida<strong>de</strong> do ensino e o processo pedagógico, associadas a uma participação mais intensa<br />
no ME estadual, estimulando e influenciando a organização <strong>de</strong> grêmios estudantis <strong>de</strong> outras<br />
instituições escolares, tanto das escolas públicas como nas escolas privadas, que naquele<br />
momento também permaneciam mobilizados especialmente pela discussão sobre o preço<br />
das mensalida<strong>de</strong>s e do transporte coletivo.<br />
Embora com a “Nova República” ocorra uma maior liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> organização<br />
partidária, a escola permanece seguindo um mo<strong>de</strong>lo rígido, resquício ainda da ditadura. É<br />
necessária então uma mobilização grandiosa a fim <strong>de</strong> que os regimentos internos, as normas<br />
e estatutos possam ser modificados, bem como a prática dos dirigentes. Em relação aos<br />
alunos militantes, pu<strong>de</strong>mos constatar que mesmo na “abertura” ainda sofreram retaliações,<br />
ficando impossibilitados <strong>de</strong> assumirem a luta sindical <strong>para</strong> a qual foram pre<strong>para</strong>dos, em<br />
virtu<strong>de</strong> da dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> acesso ao emprego na indústria.<br />
No que tange ao partido e as observações realizadas, a a<strong>de</strong>são dos estudantes a luta<br />
política se dava individualmente, com vistas à formação orgânica dos futuros quadros<br />
políticos da esquerda e do movimento sindical baiano. Estes estudantes <strong>de</strong>veriam juntar-se a<br />
outros grupos que estavam sendo pre<strong>para</strong>dos <strong>para</strong> uma ação entre teoria e prática, sendo sua<br />
159
formação intelectual realizada por representantes <strong>de</strong> diversas organizações, fora dos muros<br />
da escola ou por colegas que já estavam em nível mais avançado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>stes grupos.<br />
Neste sentido, enten<strong>de</strong>mos que concepções marxistas regiam as ações <strong>de</strong>stes grupos<br />
organizados, especialmente as formulações <strong>de</strong> Marx, Lênin e Gramsci. Os partidos<br />
priorizavam a formação <strong>de</strong> quadros <strong>de</strong> massa e <strong>de</strong> intelectuais <strong>de</strong>ntro do ME, partindo do<br />
pressuposto que “(...) não existe organização sem intelectuais, isto é, sem organizadores e<br />
dirigentes, ou seja, sem que o aspecto teórico da ligação teoria prática se distinga<br />
concretamente em um extrato <strong>de</strong> pessoas “especializadas” na elaboração conceitual e<br />
filosófica” (GRAMSCI, 2006, p. 104).<br />
A conjuntura emergente exigia a formação <strong>de</strong> quadros em que pese nem todos<br />
permanecerem nos partidos ou atuarem na política em sua vida adulta, conforme verificado<br />
nas entrevistas. O principal objetivo das organizações políticas no interior da ETFBA era<br />
voltado à ampliação dos sindicatos, o que, entretanto, foi parcialmente alcançado por<br />
questões diversas.<br />
Em primeiro lugar, a predominância <strong>de</strong> alunos <strong>de</strong> classe média, mais interessados na<br />
universida<strong>de</strong>, não propiciou a criação <strong>de</strong> uma elite sindical oriunda da escola. Muitos alunos<br />
não estagiavam visto que o 3º ano lhes dava o direito <strong>de</strong> matrícula na universida<strong>de</strong>, ou<br />
estagiavam, mas não eram aceitos porque seus nomes eram reconhecidos como militantes,<br />
sendo vetados <strong>de</strong> contratação em muitas empresas. Este fenômeno se <strong>de</strong>u tanto no período<br />
<strong>de</strong> ditadura, quanto após a saída dos militares.<br />
Em segundo lugar, a crise econômica e o processo <strong>de</strong> reestruturação produtiva na<br />
indústria produziam uma redução consi<strong>de</strong>rável dos postos <strong>de</strong> trabalho e os estudantes<br />
acabavam optando pela universida<strong>de</strong>, como alternativa ao emprego industrial.<br />
O processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratização vai interferir na organização do movimento com a<br />
ocorrência <strong>de</strong> um diálogo maior do movimento estudantil com a socieda<strong>de</strong> civil em<br />
processo <strong>de</strong> retomada das ruas e construindo novos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> ação e intervenção social,<br />
como os movimentos populares, que dominavam o cenário da cida<strong>de</strong> do Salvador nos anos<br />
1980.<br />
O Movimento estudantil adquire legalida<strong>de</strong> e os estudantes secundaristas passam a<br />
constituir-se novamente em grêmio estudantil, sem presença <strong>de</strong> tutores ou censores,<br />
conforme vigorou no centro cívico.<br />
Um aspecto interessante da ETFBA é a existência <strong>de</strong> uma representação estudantil<br />
por turmas, os lí<strong>de</strong>res e vice-lí<strong>de</strong>res. Os quais, escolhidos por seus pares representavam os<br />
mesmos em diversas ocasiões, inclusive na escolha da diretoria do centro cívico. Para nós, o<br />
160
espaço <strong>de</strong> constituição <strong>de</strong>ssas li<strong>de</strong>ranças foi ocupado pelos partidos, fomentando a formação<br />
política dos alunos e, posteriormente, seu ingresso nos mesmos.<br />
Estes estudantes se constituíam em li<strong>de</strong>ranças internas a partir da direção do centro<br />
cívico ou, posteriormente, do grêmio estudantil. Eram geralmente adolescentes e jovens que<br />
já apresentavam um interesse pelas questões sociais ou se posicionavam mais criticamente<br />
frente às questões do cotidiano da escola aqueles que assumiam a li<strong>de</strong>rança das suas turmas<br />
e cursos.<br />
Enten<strong>de</strong>mos assim que, a existência <strong>de</strong> um mo<strong>de</strong>lo diferenciado <strong>de</strong> organização<br />
estudantil, somado ao processo seletivo <strong>de</strong> ingresso, ao interesse dos alunos pelas questões<br />
sociais e à presença <strong>de</strong> organizações políticas no interior da escola, permitiram a formação<br />
<strong>de</strong> um número consi<strong>de</strong>rável <strong>de</strong> pessoas envolvidas com questões sociais e políticas que<br />
ocu<strong>para</strong>m o espaço da aca<strong>de</strong>mia, das letras e das artes em <strong>de</strong>trimento do trabalho técnico<br />
<strong>para</strong> o qual foram qualificados.<br />
Ao investigar aqueles que contribuíram e li<strong>de</strong>raram neste longo período <strong>de</strong> <strong>de</strong>z anos<br />
<strong>para</strong> a construção do movimento estudantil da ETFBA durante a “transição” política<br />
pu<strong>de</strong>mos apreen<strong>de</strong>r uma série <strong>de</strong> questões referentes à instituição, além <strong>de</strong> recuperar fatos<br />
importantes da educação nacional, em especial relativas aos estudantes. Nossas conclusões<br />
caminham <strong>para</strong> uma percepção <strong>de</strong> que o movimento estudantil se organiza acompanhando<br />
os movimentos da própria socieda<strong>de</strong> e respon<strong>de</strong> da forma possível as <strong>de</strong>mandas instituídas<br />
em cada momento. Não po<strong>de</strong>mos, portanto, olhar <strong>para</strong> os jovens estudantes como seres<br />
isolados dos <strong>de</strong>mais grupos a que estão ligados.<br />
A ETFBA, conforme afirmamos em outro momento <strong>de</strong>ste estudo é um espaço rico,<br />
embora do ponto <strong>de</strong> vista quantitativo represente uma pequena parcela dos jovens baianos.<br />
Seus egressos assumem importante posição do ponto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> sua atuação quando da vida<br />
adulta. Não apenas pela função que ocupam no mundo do trabalho, mas pelas concepções<br />
elaboradas nos espaços internos da escola e que levam consigo <strong>para</strong> o futuro.<br />
Nossos objetivos com esta pesquisa foram amplamente alcançados e diríamos até<br />
ultrapassados, uma vez que nos <strong>de</strong><strong>para</strong>mos com muitas questões mobilizadoras que não<br />
pu<strong>de</strong>ram <strong>aqui</strong> ser tratadas em virtu<strong>de</strong> das relações tempo/espaço presentes no ambiente<br />
acadêmico.<br />
Seja na luta <strong>de</strong> resistência à ditadura, que caracterizou os primeiros tempos do nosso<br />
estudo, através <strong>de</strong> manifestações artísticas, seja no enfrentamento mais intenso e <strong>de</strong>liberado<br />
na “Nova República”, pu<strong>de</strong>mos confirmar a existência <strong>de</strong> um movimento até certo ponto<br />
negado em seu ambiente interno, como uma tentativa <strong>de</strong> varrer dos porões da memória os<br />
fatos que indicavam o protagonismo dos seus estudantes. Tal fato nos remete à noção <strong>de</strong><br />
161
ebeldia, que impera ainda hoje nas mentes daqueles que viveram a intensida<strong>de</strong> da ditadura<br />
e da repressão e guardam preconceitos com aqueles que contestam à or<strong>de</strong>m estabelecida.<br />
Demonstra, ainda, que os objetivos da educação tecnicista, vigente no país durante o<br />
período estudado, se efetivaram em uma parte daqueles que vivenciaram a escola nos anos<br />
70/80, mas não impediu a transformação da maioria dos estudantes, no sentido que muitos<br />
ex-alunos, embora não tenham atuado na direção do movimento estudantil da escola,<br />
assimilaram, em sua vida posterior, uma intensida<strong>de</strong> política nas ações do cotidiano,<br />
ocupando a direção dos DAs e DCEs das universida<strong>de</strong>s, dos sindicatos <strong>de</strong> trabalhadores,<br />
dos partidos políticos e etc.<br />
Todas as experiências vividas pelos alunos não impediram que, em momentos<br />
posteriores a escola se visse envolta em atos <strong>de</strong> autoritarismo e repressão, mas permitiram a<br />
criação <strong>de</strong> um espaço bastante diverso em suas concepções, <strong>de</strong>monstrado inclusive pela<br />
gran<strong>de</strong> presença <strong>de</strong> ex-alunos em seu quadro docente atual.<br />
O movimento estudantil permanece nos anos 90. A luta pelo impeachment do<br />
presi<strong>de</strong>nte Collor é i<strong>de</strong>ntificado em boletins <strong>de</strong> gestões posteriores, as quais ainda mantêm<br />
uma atuação no sentido <strong>de</strong> discutir não apenas os problemas internos, como também as<br />
questões que dizem respeito à conjuntura nacional. O problema do transporte coletivo é<br />
outro tema que permanece entre os estudantes secundaristas mobilizados e ofereceu já nos<br />
anos 2000 uma série <strong>de</strong> indicativos da sua importância, embora com períodos <strong>de</strong> maior<br />
evidência e outros on<strong>de</strong> há certo refluxo.<br />
No âmbito da Escola Técnica, transformada em CEFET em 1993, e hoje IFBAHIA,<br />
os estudantes não se afastaram totalmente do <strong>de</strong>bate político e envolvem-se cotidianamente<br />
nas questões da escola. O modo <strong>de</strong> gestão da mesma, oferecendo espaços <strong>de</strong> participação<br />
aos estudantes nas reuniões <strong>de</strong> diretoria, nos conselhos <strong>de</strong> classe e nos seminários <strong>de</strong><br />
discussão da organização didática indicam que a formação do seu alunado é diferenciada<br />
das <strong>de</strong>mais escolas e, portanto, permite a construção <strong>de</strong> uma cultura política e uma maior<br />
politização dos alunos.<br />
Deste modo, pu<strong>de</strong>mos comprovar que os anos 1980 foram caracterizados no âmbito<br />
do movimento estudantil como um período repleto <strong>de</strong> contradições, on<strong>de</strong> os estudantes da<br />
ETFBA assumiram um papel protagonista. Aliados a estudantes <strong>de</strong> outras escolas e<br />
movimentos sociais e políticos, buscaram construir um modo próprio <strong>de</strong> organização, que<br />
respon<strong>de</strong>sse às suas necessida<strong>de</strong>s específicas, valendo-se da história dos movimentos<br />
anteriores, mas adicionando novas ban<strong>de</strong>iras e perspectivas em virtu<strong>de</strong> das mudanças<br />
ocorridas na socieda<strong>de</strong>.<br />
162
REFERÊNCIAS<br />
ABRAMO, H. BRANCO, P.P.M. Retratos da Juventu<strong>de</strong> brasileira: análises <strong>de</strong> uma<br />
pesquisa nacional. São Paulo: Perseu Abramo/ Instituto Cidadania, 2004.<br />
ALMEIDA, J. Entrevista. In: HARNECKER, M. El Sueño era Posible: Los Orígenes<br />
<strong>de</strong>l Partido <strong>de</strong> los Trabajadores <strong>de</strong> Brasil. Segunda parte. Disponível em:<<br />
http://www.archivochile.com/I<strong>de</strong>as_Autores/harneckerm/2text_exp/harneexper0011.pdf<br />
> acesso em 20/08/2009.<br />
ALTHUSSER, L. Aparelhos i<strong>de</strong>ológicos <strong>de</strong> Estado. 2ª edição, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Graal,<br />
1985.<br />
163
ANDERSON, P. A batalha das idéias na construção <strong>de</strong> alternativas. In BORON, A<br />
Nova Hegemonia Mundial: alternativas <strong>de</strong> mudança e movimentos sociais. Buenos<br />
Aires: CLACSO, 2004. p.37-52<br />
ARAÚJO, M. P. N. Por uma história da esquerda Brasileira Topoi, Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
<strong>de</strong>zembro 2002, pp. 333-353<br />
AUGUSTO, Maria Helena Oliva. Retomada <strong>de</strong> um legado: Marialice Foracchi e a<br />
sociologia da juventu<strong>de</strong>. Tempo social. , São Paulo, v. 17, n. 2, 2005. Disponível em:<br />
. Acesso em: 09/08/2006<br />
BALARDINI, S. La participación social y política <strong>de</strong> los jóvenes<br />
en el horizonte <strong>de</strong>l nuevo siglo. Disponível em<br />
http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/juventud/juventud.html acesso<br />
em 09/04/2007.<br />
BELLOTO, H. L. Inventario dos acervos das Escolas Técnicas Estaduais do Estado <strong>de</strong><br />
são Paulo. In: MORAES, C.S.V. e ALVES, J.F. (org.). Contribuição a pesquisa do<br />
ensino técnico no estado <strong>de</strong> São Paulo: inventario <strong>de</strong> fontes documentais. Centro<br />
Paula Souza, São Paulo, 2002. p. 9-18.<br />
BENEVIDES, S. C. O. Proibido Proibir - Uma geração na contramão do po<strong>de</strong>r: o<br />
movimento estudantil na Bahia e o jovem. FFCH/UFBA, dissertação <strong>de</strong> mestrado, 1999<br />
BONNEWITZ,P.Primeiras lições sobre a sociologia <strong>de</strong> P. Bourdieu.2ª edição,<br />
Petrópolis: Vozes, 2005<br />
BOURDIEU, P.O Po<strong>de</strong>r Simbólico São Paulo: Difel, 1989<br />
BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J. C.; PASSERON, J. C. O Ofício <strong>de</strong> Sociólogo;<br />
metodologia da pesquisa na sociologia. 5ª. ed. Petrópolis: Vozes, 2005<br />
BORON, A. Crisis <strong>de</strong> las <strong>de</strong>mocracias y movimientos sociales em América Latina:<br />
Notas <strong>para</strong> uma discusión. Osal, año VII, nº 20, may-ago, 2006. Disponível em: <<br />
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal/Descargables/osal-20revista-todo/d20boron.pdf><br />
acesso em 08/05/2007<br />
BORON, A Nova Hegemonia Mundial: alternativas <strong>de</strong> mudança e movimentos<br />
sociais. Buenos Aires: CLACSO, 2004<br />
BOTELHO, M. <strong>de</strong> A. A ação coletiva dos estudantes secundaristas: passe livre na<br />
cida<strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro (Dissertação <strong>de</strong> Mestrado). Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral Fluminense -<br />
Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Educação <strong>Programa</strong> <strong>de</strong> <strong>Pós</strong>-Graduação em Educação, 2006<br />
BRANDÃO, Marisa. Da arte do ofício à ciência da indústria: a conformação do<br />
capitalismo industrial no Brasil vista através da educação profissional. Boletim Técnico<br />
do SENAC, Rio <strong>de</strong> Janeiro, v. 25, n. 3, set./<strong>de</strong>z. 1999: 17-29.<br />
164
BRITO, M. O golpe <strong>de</strong> 1964, o movimento estudantil na UFBA e a ditadura militar<br />
(1964-1968). (Tese <strong>de</strong> Doutorado). Doutorado em História. Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral da<br />
Bahia, 2008.<br />
Ca<strong>de</strong>rno Literário da V Semana da Cultura da ETFBA , Salvador: ETFBA, 1979<br />
CAMARANO, Et All. Caminhos <strong>para</strong> a vida adulta: as múltiplas trajetórias dos jovens<br />
brasileiros. In: Ultima Década Nº21, Cidpa Val<strong>para</strong>íso, Diciembre 2004, PP. 11-50<br />
CARLOS, A.G. Grêmio Estudantil e participação do estudante. Dissertação<br />
(Mestrado em Educação: História, Política e Socieda<strong>de</strong>) - São Paulo: PUC, 118 f.<br />
<strong>Programa</strong> <strong>de</strong> <strong>Pós</strong>-Graduação em Educação, Pontifícia Universida<strong>de</strong> Católica <strong>de</strong> São<br />
Paulo: São Paulo, 2006<br />
CASTELLS, M. O po<strong>de</strong>r da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>: A era da informação: economia, socieda<strong>de</strong> e<br />
cultura. vol. 2, 3ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.<br />
CASTRO, M.G. e ABRAMOVAY, M. Por um novo <strong>para</strong>digma do fazer políticas –<br />
políticas <strong>de</strong>/<strong>para</strong>/com juventu<strong>de</strong>s. Revista Brasileira <strong>de</strong> Estudos <strong>de</strong> População, v.19,<br />
n.2, jul./<strong>de</strong>z. 2002<br />
CIAMBARELLA, A. Do cristianismo ao maoísmo: a história da ação popular. In:<br />
FERREIRA, J. e REIS, D. A (org.) Revolução e Democracia: 1964... As esquerdas no<br />
Brasil, volume 3, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 99-130<br />
CUNHA, L.A. Política Educacional no Brasil: a profissionalização no Ensino<br />
Médio, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Eldorado, 1973.<br />
CUNHA, L.A . O ensino industrial-manufatureiro no Brasil: origem e<br />
<strong>de</strong>senvolvimento. Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Educação- UFRJ. Departamento <strong>de</strong> Administração<br />
Educacional. Disponível em:<br />
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE14/RBDE14_07_LUIZ_ANTONIO_CUN<br />
HA.pdf. Acesso em: 20/03/2007.<br />
DAYREL, J. GOMES, N.L. A Juventu<strong>de</strong> no Brasil. Disponível em:<br />
http://www.fae.ufmg.br/objuventu<strong>de</strong>/<strong>texto</strong>s/SESI%20JUVENTUDE%20N<br />
O%20BRASIL.pdf acesso em 02/02/2009.<br />
DAYREL, J. O rap e o funk na socialização da juventu<strong>de</strong>. Educação e Pesquisa, Jun<br />
2002, vol.28, no.1, p.117-136<br />
DAYRELL, J. O jovem como sujeito social. Rev. Brasileira <strong>de</strong> Educação., Dez 2003,<br />
no.24, p.40-52.<br />
DEMO, P. Introdução à Sociologia: Complexida<strong>de</strong>, Interdisciplinarida<strong>de</strong> e<br />
Desigualda<strong>de</strong> Social. São Paulo: Atlas, 2002.<br />
DRUCK. G. Terceirização: <strong>de</strong>sfordizando a fábrica: um estudo do complexo<br />
petroquímico. São Paulo: Boitempo Editorial. Salvador: EDUFBA, 2001<br />
165
DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 2ª edição, São Paulo: Martins<br />
Fontes, 1999<br />
FERNANDES, F. Que tipo <strong>de</strong> República? 2ª edição, São Paulo: Globo, 2007<br />
FERREIRA, J. e REIS, D. A (org.) Revolução e Democracia: 1964... As esquerdas no<br />
Brasil, volume 3, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira, 2007<br />
FICO, C. “Prezada Censura”: cartas ao regime militar. Disponível em : <<br />
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AzXDbs2aqVaoJ%3Aww<br />
w.ppghis.ifcs.ufrj.br%2Fmedia%2Ffico_prezada_censura.pdf+%E2%80%9<br />
CPREZADA+CENSURA%E2%80%9D%3A+CARTAS+AO+REGIME+<br />
MILITAR&hl=pt-BR&gl=br> acesso em 09/05/2009.<br />
FILGUEIRAS, O. O quebra-quebra <strong>de</strong> Salvador. Ca<strong>de</strong>rno do CEAS, nº 76, p.23<br />
FORACCHI, M. A. M. A Participação Social dos Excluídos. São Paulo, Hucitec,<br />
1982.<br />
FORTES, L. Adélia, a lí<strong>de</strong>r dos tempos do rock. Editoria <strong>de</strong> Cida<strong>de</strong>. Jornal da Bahia, 27<br />
e 28/08/1989.<br />
FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. (Org) A formação do cidadão produtivo: a cultura<br />
<strong>de</strong> mercado no ensino médio técnico. Brasília: Instituto Nacional <strong>de</strong> Estudos e<br />
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006<br />
GONZALEZ, M.V.E. O Partido, A Igreja e o Estado nas Associações <strong>de</strong> Bairros.<br />
Salvador, EDFBA, Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, 1997.<br />
GUIMARAES, A. S. CASTRO, N. A. AGIER, M. Imagens e i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s do<br />
trabalho. São Paulo: Hucitec/Orstron, 1985<br />
GRAMSCI, A. Ca<strong>de</strong>rnos do Cárcere. Volume I: Introdução ao Estudo da Filosofia<br />
<strong>de</strong> Bene<strong>de</strong>tto Croce. Civilização Brasileira: Rio <strong>de</strong> Janeiro, 2006<br />
GRAMSCI, A. Ca<strong>de</strong>rnos do Cárcere. Volume III: M<strong>aqui</strong>avel: notas sobre o Estado<br />
e a Política. Civilização Brasileira: Rio <strong>de</strong> Janeiro, 2007<br />
GUSSON, C. M. Movimento estudantil e repressão judicial: o regime militar e a<br />
criminalização dos estudantes brasileiros. 1964-1979. Dissertação <strong>de</strong> mestrado<br />
apresentada ao programa <strong>de</strong> pós-graduação em História da USP, 2008<br />
HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.<br />
HAUER, L. M. Colégio Pedro II no Período da Ditadura Militar: Subordinação e<br />
Resistência. Dissertação apresentada ao programa <strong>de</strong> pós-graduação em Educação da<br />
UFF. Orientadora: Profª Drª Claudia Alves, 2007<br />
166
JOFFILY, B. Entrevista concedida ao projeto memória estudantil da UNE. Disponível<br />
em:<br />
www.memoriaestudantil.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc<br />
.asp?DocumentID=%7BC79426. acesso em 05/09/2008.<br />
LAMOUNIER, B. Eixos do <strong>de</strong>bate político brasileiro nos anos 80. In: São Paulo em<br />
perspectiva, 4(1): 2-5, jan/mar. 1990<br />
LEHER, R. Tempo, autonomia, socieda<strong>de</strong> civil e esfera pública: uma introdução ao<br />
<strong>de</strong>bate a propósito dos “novos” movimentos sociais na educação. In: Gentili, Pablo;<br />
Frigoto, Gaudêncio. La Ciudadania Negada. Políticas <strong>de</strong> Exclusión en la Educación<br />
y el Trabajo. En publicacion: La Ciudadania Negada. Políticas <strong>de</strong> Exclusión en la<br />
Educación y el Trabajo. Pablo Gentili y Gaudêncio Frigotto. CLACSO. 2000. ISBN:<br />
950-9231-53-3 Disponível em:<br />
acesso em 20/08/2007.<br />
LIMA, M. O <strong>de</strong>senvolvimento histórico do tempo socialmente necessário <strong>para</strong> a<br />
formação profissional: do mo<strong>de</strong>lo correcional-assistencialista das Escolas <strong>de</strong><br />
Aprendizes Artífices ao mo<strong>de</strong>lo tecnológico-fragmentário do CEFET do Espírito<br />
Santo / Marcelo Lima, 2004. Tese (Doutorado em Educação) – Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral<br />
Fluminense, 2004.<br />
LIRA, R. P. Os partidos e o caráter da constituinte. Disponível em:<br />
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/in<strong>de</strong>x.php/sequencia/article/viewFile/940/936.<br />
acesso em 20/07/2008.<br />
MARGULIS, Mario & Urresti, Marcelo La juventud es más que una palabra.<br />
In:_________: La juventud es más que una palabra-Ensayos sobre cultura y<br />
juventud. Buenos Aires, Edit. Biblos, 2000, p.13-30.<br />
MARQUES, R. S. Os grupos trotstkistas no Brasil (1960-1990). In: Revolução e<br />
Democracia: 1964... As esquerdas no Brasil, volume 3. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização<br />
Brasileira, 2007<br />
MARTINS FILHO. J. R. O Movimento Estudantil nos anos 1960. In: FERREIRA, J. e<br />
REIS, D. A (org.) Revolução e Democracia: 1964... As esquerdas no Brasil, volume<br />
3, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira, 2007<br />
MELUCCI, A. Juventu<strong>de</strong>, Tempo e Movimentos Sociais. Revista Brasileira <strong>de</strong><br />
Educação. ANPED, Nº 5, Maio/ago, 1997 Disponível em: <<br />
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE05_6/RBDE05_6_03_ALBERTO_MELU<br />
CCI.pdf> acesso em 10/11/2006<br />
MESQUITA, M. R. Movimento Estudantil Brasileiro: Práticas militantes na ótica dos<br />
Novos Movimentos Sociais. In: Revista Crítica <strong>de</strong> Ciências Sociais, 66, Outubro<br />
2003: 117-149<br />
MESQUITA, M. Movimento Estudantil Brasileiro: o <strong>de</strong>safio <strong>de</strong> recriar a militância.<br />
Disponível em: HTTP://cjuvenis.ces.uc.pt acesso em 30/06/2008.<br />
167
MÉSZÁROS, I. A Educação <strong>para</strong> além do Capital. São Paulo: Boitempo Editora, 2005.<br />
MINAYO, M.C.S. Pesquisa Social: teoria, método e criativida<strong>de</strong>. Coleção Temas<br />
Sociais. 2ªedição, Petrópolis: Vozes, 2004.<br />
MINTO, Lalo Watanabe. Administração Escolar no Con<strong>texto</strong> da Nova República<br />
(1984...) In: Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, p.140–165, ago 2006<br />
ISSN: 1676-2584.<br />
disponível em: < http://www.histedbr.fae.unicamp.br/art10_22e.pdf> acesso em 20/07/2009.<br />
MOTA, M. O Pacote <strong>de</strong> Abril. In:<br />
http://www.cpdoc.fgv.br/nav_fatos_imagens/htm/fatos/PacoteAbril.asp. Acesso em<br />
06/07/2009<br />
MORAES, C.S.V. e ALVES, J.F. (org.). Contribuição a pesquisa do ensino técnico<br />
no estado <strong>de</strong> São Paulo: inventario <strong>de</strong> fontes documentais. Centro Paula Souza, São<br />
Paulo, 2002<br />
MUXEL, A. Jovens dos Anos Noventa: À procura <strong>de</strong> uma política sem rótulos. In:<br />
Revista Brasileira <strong>de</strong> Educação. ANPED, Nº 5, Maio/ago, 1997. Disponível em:<br />
-<br />
OLIVEIRA, A. E. A. Ressurgimento do Movimento Estudantil Baiano na década <strong>de</strong><br />
70. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral da Bahia -<br />
Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Filosofia e Ciências Humanas <strong>Programa</strong> <strong>de</strong> <strong>Pós</strong>-Graduação em Ciências<br />
Sociais, 2002<br />
PALOMBO, S. Entrevista. Disponível em<br />
acesso em 20/06/2009<br />
PERALVA, A. T. Juventu<strong>de</strong> e contemporaneida<strong>de</strong>. Revista Brasileira <strong>de</strong> Educação, nº<br />
5/6, mai.-<strong>de</strong>z. 1997.<br />
PICANÇO, I. S. Gênese do Ensino Técnico Industrial no Brasil. Série<br />
Documental/Relatos <strong>de</strong> Pesquisa n. 33, julho <strong>de</strong> 1995<br />
POERNER, A. O po<strong>de</strong>r jovem: história da participação política dos estudantes<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o Brasil - Colônia até o governo Lula. 5ª edição, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Book link,<br />
2004<br />
RAMOS, M. N. A reforma do Ensino Médio Técnico nas instituições fe<strong>de</strong>rais <strong>de</strong><br />
Educação Tecnológica: da legislação aos fatos. In: FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M.<br />
(Org.) A formação do cidadão produtivo: a cultura <strong>de</strong> mercado no ensino médio<br />
técnico. Brasília: Instituto Nacional <strong>de</strong> Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio<br />
Teixeira, 2006, p. 283-309.<br />
168
REIS, D. A. e FERREIRA, J. (org.) Revolução e Democracia: 1964... As esquerdas<br />
no Brasil, volume 3, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira, 2007<br />
REIS, D. A. RIDENTI, M. MOTTA, P. R. S. O golpe e a ditadura no Brasil 40 anos<br />
<strong>de</strong>pois (1964- 2004). Bauru, São Paulo: Edusc, 2004<br />
RIDENTE, M. Esquerdas revolucionárias armadas nos anos 1960-1970. In:<br />
FERREIRA, J. e REIS, D. A (org.) Revolução e Democracia: 1964... As esquerdas no<br />
Brasil, volume 3, Rio <strong>de</strong> Janeiro: Civilização Brasileira, 2007<br />
RODRIGUES, J. Educação politécnica, Dicionário da Educação Profissional em Saú<strong>de</strong>,<br />
disponível em: acesso em<br />
22/07/2009.<br />
SADER, E. Quando novos personagens entram em cena: experiências, falas e lutas<br />
dos trabalhadores da Gran<strong>de</strong> São Paulo (1970-80). São Paulo: Paz e Terra, 1988<br />
SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. História e Memória: o caso do Ferrugem. Rev. Bras.<br />
Hist., São Paulo, v. 23, n. 46, 2003 . Available from<br />
. access on12 Aug. 2009. doi:<br />
10.1590/S0102-01882003000200012.<br />
SEOANE, J. TADDEI, E., ALGRANATI,C. Las nuevas configuraciones <strong>de</strong> los<br />
movimientos sociales en America Latina. In: Política y movimientos sociales en un<br />
mundo hegemónico. Lecciones <strong>de</strong>s<strong>de</strong> África, Asia y América Latina. CLACSO,<br />
Consejo Latinoamericano <strong>de</strong> Ciencias Sociales, Buenos Aires. Julio 2006.<br />
SINGER, P. A Juventu<strong>de</strong> como coorte. In: ABRAMO, H. BRANCO, P.P.M. Retratos<br />
da Juventu<strong>de</strong> brasileira: análises <strong>de</strong> uma pesquisa nacional. São Paulo: Perseu<br />
Abramo/ Instituto Cidadania, 2004.<br />
SIRKIS, A. Os Carbonários. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Best Bolso, 2008.<br />
SOUSA, J. T. P. As insurgências juvenis e as novas narrativas políticas contra o<br />
instituído In: Ca<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> Pesquisa, nº 32, fevereiro 2003. Disponível em:<<br />
http://www.sociologia.ufsc.br/ca<strong>de</strong>rnos/Ca<strong>de</strong>rnos%20PPGSP%2032.pdf> Acesso em<br />
05/10/2006.<br />
SOUZA, J.T. P. <strong>de</strong>. Reinvenções da Utopia: a militância política <strong>de</strong> jovens nos anos<br />
90. São Paulo: Hacker Editores, 1999<br />
SPOSITO, M. P. Algumas hipóteses sobre as relações entre movimentos sociais,<br />
juventu<strong>de</strong> e educação. Revista Brasileira <strong>de</strong> Educação. ANPED, Nº 5, Maio/ago, 1997<br />
Disponível em: <<br />
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE13/RBDE13_06_MARILIA_PONTES_S<br />
POSITO.pdf> acesso em 10/11/2006<br />
TEIXEIRA, Elenaldo. As Dimensões da Participação Cidadã. In:. Car<strong>de</strong>no CRH.<br />
169
Salvador: Centro <strong>de</strong> Recursos Humanos/ UFBA, 1997. N. 26/27, p. 179-209<br />
URRESTI, M. Paradigmas <strong>de</strong> participación juvenil: un balance histórico. Disponível<br />
em < http://168.96.200.17/ar/libros/cyg/juventud/urresti.pdf> acesso em 09/07/2007<br />
Acervo digital da revista Veja. Entrevista: Antonio Carlos Magalhães: os civis<br />
terão vez http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx<br />
DOCUMENTOS, LEIS E DECRETOS E PERIÓDICOS<br />
Atas <strong>de</strong> Reunião dos Órgãos Superiores da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia<br />
(1974/1990).<br />
Atas do Conselho Técnico Diretor da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia<br />
(1974/1990).<br />
Boletim da chapa “Alternativa” - 1986 (Nº 01)<br />
Boletim Semeando 1986 (Nº 01, 02 e 03)<br />
BRASIL. Lei Nº 6.683 - <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 1979 – Conce<strong>de</strong> Anistia e dá outras<br />
providências. Diário Oficial da União De 28/8/79. Disponível em: <<br />
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1979/6683.htm> acesso em 05/04/2008.<br />
BRASIL. Ato Institucional Nº 5, <strong>de</strong> 13 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 1968. Disponível em:<br />
acesso em 08/05/2008.<br />
BRASIL. Decreto-Lei Nº 477, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> Fevereiro <strong>de</strong> 1969. Define infrações<br />
disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados <strong>de</strong><br />
estabelecimentos <strong>de</strong> ensino público ou particulares, e dá outras providências. Disponível<br />
em: < http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_14.htm> acesso em 08/05/2008.<br />
Ca<strong>de</strong>rno Literário da Semana da Cultura, ETFBA, 1979<br />
Jornal À tar<strong>de</strong><br />
Jornal A Voz da Unida<strong>de</strong><br />
Jornal da Bahia<br />
Jornal do Brasil<br />
170
Jornal Tribuna da Bahia<br />
<strong>Programa</strong> da peça “Patrões e Joões” – 1979<br />
Relatório do “Dia D da Educação” – setembro/ 1985<br />
Ví<strong>de</strong>o Documentário 100 Anos – IFBA, Salvador, Setembro <strong>de</strong> 2009.<br />
171
ANEXOS<br />
Roteiro <strong>de</strong> entrevista:<br />
Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Filosofia e Ciências Humanas/ UFBA<br />
Naiaranize Pinheiro da Silva – Mestrado em Ciências Sociais<br />
Projeto: OS ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL E A PARTICIPAÇÃO<br />
NA POLÍTICA ESTUDANTIL NOS ANOS DE 1979 A 1989 EM SALVADOR.<br />
Data:<br />
Nome:<br />
Curso:<br />
Ingresso: Saída:<br />
Antes <strong>de</strong> ingressar na ETFBA, on<strong>de</strong> você estudava? Possuía vivência política nesta<br />
escola?<br />
Profissão dos pais, número <strong>de</strong> irmãos. Sua família possuía alguma militância política<br />
durante a ditadura?<br />
Como você iniciou sua participação no centro cívico? 4. Você teve envolvimento como<br />
partido durante sua permanência na ETFBA?<br />
Havia algum direcionamento do partido em relação à escolha do seu curso, ao<br />
recrutamento <strong>de</strong> quadros, ou outra orientação acerca da sua ação na escola (tipo per<strong>de</strong>r<br />
disciplina <strong>para</strong> continuar mais tempo na escola etc.)?<br />
Participava <strong>de</strong> grupos políticos fora da escola?<br />
Quais os principais eventos ocorridos na escola naquele período que você recor<strong>de</strong>?<br />
Você participou <strong>de</strong>les? Descreva sua participação.<br />
Como era o funcionamento do movimento estudantil?<br />
Como você via a postura da direção da escola em relação ao centro cívico/grêmio<br />
estudantil?<br />
172
Como era o relacionamento do professor supervisor do centro cívico com os alunos?<br />
Havia alguma atuação dos professores no sentido <strong>de</strong> estimular o movimento? Caso<br />
afirmativo você po<strong>de</strong> citar como se dava esta participação? Quem eram esses<br />
professores?<br />
Como o centro cívico/grêmio estudantil se relacionava com a UBES e a UMES?<br />
Descreva a sua participação no movimento das “diretas já” e a forma como a socieda<strong>de</strong><br />
civil se manifestou sobre esta questão.<br />
Como você organizou sua vida após a saída da escola? Você permanece no partido<br />
político ou milita em algum movimento social atualmente?<br />
Como você <strong>de</strong>screveria sua passagem pela ETFBA?<br />
173
Caracterização dos estudantes/entrevistados quanto à vivência no ME anterior e<br />
participação no partido no interior da escola, segundo eles mesmos:<br />
1. Aluno 01- participação no ME a partir da ETFBA PCB- centro cívico (Estudante<br />
<strong>de</strong> Química, 1976/1981)<br />
2. Clau<strong>de</strong>miro Cruz (Léo)- participação no ME a partir da ETFBA - PCB- centro<br />
cívico –. 1976/1980 curso: geologia - Ativida<strong>de</strong> atual: Professor UFBA<br />
3. An<strong>de</strong>rson Leite- participação no ME a partir da ETFBA PCB- centro cívico<br />
1979 – atualmente professor IFBAHIA - (Aluno <strong>de</strong> Eletrônica, 1978/1981)<br />
4. Iglesias Caballero- participação no ME a partir da ETFBA PC do B- centro<br />
cívico. Técnico do Pólo. Permanece no partido e foi candidato a vereador nas<br />
últimas eleições.<br />
5. Claudia Moura – família vinculada a partidos políticos PCB - centro cívico-<br />
Advogada/procuradora do estado.<br />
6. Gilson Fernan<strong>de</strong>s - experiência anterior no movimento <strong>de</strong> bairros PT – grêmio<br />
1986 – 1ª gestão do Grêmio. 1986 (Aluno <strong>de</strong> Química, 1984/1986) – professor.<br />
7. Evanilda Bulcão - participação no ME a partir da ETFBA PT – grêmio 1989<br />
(Eletrotécnica – 1988/1992). Policial Civil/estudante <strong>de</strong> psicologia<br />
8. Fábio Cascadura- participação no ME a partir da ETFBA in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte – cantor<br />
<strong>de</strong> rock<br />
9. Ilton- participação no ME a partir da ETFBA PT – grêmio 1988/ mestre em<br />
historia e funcionario publico/ candidato a prefeito <strong>de</strong> Salvador nas últimas<br />
eleições pelo PSOL<br />
10. Juvenal <strong>de</strong> Carvalho - participação no ME a partir da ETFBA PT – grêmio<br />
professor universitário/ militante do movimento negro/<br />
11. Juvenal Melvino – presi<strong>de</strong>nte do centro cívico 1982/1984 – PC do B –<br />
presi<strong>de</strong>nte do comitê pró-diretas. (Geologia- 1982/1985)<br />
12. Marcelo - participação no ME a partir da ETFBA PT – grêmio 1990<br />
13. Moacir Neves- participação no ME a partir da ETFBA PC do B- grêmio<br />
14. Moacir Neves- PC do B – grêmio 1987. Experiência no ME do Colégio Estadual<br />
em Feira <strong>de</strong> Santana (Estudante <strong>de</strong> Eletrotécnica, 1987/1991) – direção da<br />
UBES.<br />
174
15. Paula Barreto - participação no ME a partir da ETFBA in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte- Direção<br />
do centro cívico 1981 (química industrial - 1978 a 1981) – sem filiação<br />
partidária. Professora UFBA<br />
16. Paulo Gallo- participação no ME a partir da ETFBA PCB- centro cívico 1980 –<br />
chapa vetada por Ruy Santos.<br />
17. Pedro Cardoso – experiência anterior no movimento <strong>de</strong> bairros e PT – grêmio<br />
1986 – 1º gestão do Grêmio. (Eletrotécnica - 1982/1987). Professor, lí<strong>de</strong>r do<br />
MSTS. Partido atual: PSOL<br />
18. Ricardo Moreno Neves- PC do B – grêmio. 1987 – (Química/1985/1990) -<br />
professor UNEB<br />
19. Saulo Carneiro – família vinculada a partidos políticos PC do B- centro cívico –<br />
comitê Pró-diretas. Professor da UFBA<br />
20. Sinval Araújo- participação no ME a partir da ETFBA PT – grêmio - atualmente<br />
professor da escola<br />
21. Railda – participação no ME a partir da ETFBA in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte- presi<strong>de</strong>nte do<br />
centro cívico1984 - Assistente Social IFBAHIA/Barreiras<br />
22. Professores/ funcionários do IFBAHIA:<br />
23. Aurina- professora (ex-aluna entre 1970/1973) – atual Reitora da instituição.<br />
24. Décio- professor (ex-aluno entre 1970/1973)<br />
25. Maria Luiza Tapioca – SOE –pedagoga – Professora da UNEB.<br />
175
176
Jornal À tar<strong>de</strong><br />
15
COMITÊ PRÓ-DIRETAS DA TÉCNICA<br />
Ao Senhor Diretor em Exercício da Escola Técnica Fe<strong>de</strong>ral da Bahia<br />
No dia 18 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1984 realizou-se em Salvador a caminhada à Colina do Bonfim pelas Diretas Já,<br />
que, conforme cálculos do COMITÊ PRÓ-DIRETAS DE SALVADOR, contou com a presença <strong>de</strong><br />
aproximadamente 50.000 pessoas.<br />
Os estudantes <strong>de</strong> nossa escola tiveram uma participação <strong>de</strong>stacada e organizada, saindo em caminhada do<br />
Barbalho à Calçada – local <strong>de</strong> encontro. Ficou também patente o profundo respeito que tem por nós a<br />
população <strong>de</strong> Salvador, que nos recebeu calorosamente.<br />
O COMITÊ PRÓ-DIRETAS DA TÉCNICA vem através <strong>de</strong>sta <strong>para</strong>benizar a direção <strong>de</strong>ste<br />
estabelecimento por ter compreendido e respeitado o anseio <strong>de</strong>mocrático dos estudantes e por não ter<br />
colocado nem um empecilho a nossa participação.<br />
O COMITÊ PRÓ-DIRETAS DA TÉCNICA e os estudantes <strong>de</strong>ste estabelecimento persistirão na luta <strong>de</strong><br />
todo o povo brasileiro pelo direito <strong>de</strong> voto.<br />
Contamos com o apoio integral da direção <strong>de</strong>sta escola nesta gran<strong>de</strong> jornada cívica.<br />
Cordiais saudações,<br />
Comitê Pró-Diretas da Técnica<br />
Salvador, 23 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1984<br />
15
Unida<strong>de</strong> e Democracia, 10/09/1981.<br />
Em nome do <strong>de</strong>magógico “combate a<br />
subversivos e comunistas” instalou-se no<br />
Brasil um clima <strong>de</strong> medo e autoritarismo,<br />
<strong>de</strong> perseguição e <strong>de</strong>srespeito a dignida<strong>de</strong><br />
humana. Parlamentares cassados,<br />
sindicatos sob intervenção, entida<strong>de</strong>s<br />
eleitas pelo voto popular <strong>de</strong>struídas e seus<br />
lí<strong>de</strong>res presos, torturados e mortos. Enfim,<br />
viu a população lhe ser arrebatada das<br />
mãos, pelo uso da coerção, o direito <strong>de</strong><br />
livremente se organizar em suas entida<strong>de</strong>s,<br />
em seus partidos políticos, <strong>de</strong> livremente se<br />
expressar e <strong>de</strong>cidir sobre os <strong>de</strong>stinos do seu<br />
país.<br />
Este profundo golpe contra as instituições<br />
<strong>de</strong>mocráticas no Brasil, que <strong>de</strong>struiu as<br />
entida<strong>de</strong>s como a UNETI (União dos<br />
Estudantes Técnicos Industriais), teve no<br />
período <strong>de</strong> 1960-1975 sua fase <strong>de</strong> maior<br />
violência, on<strong>de</strong> milhares <strong>de</strong> brasileiros<br />
foram barbaramente torturados e<br />
assassinados pelos órgãos <strong>de</strong> repressão da<br />
ditadura militar, fato este que, aliado a<br />
crescente crise econômica que sacudia o<br />
Brasil, <strong>de</strong>terminaria a 1ª gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>rrota do<br />
regime após o golpe: maciça votação<br />
obtida pelos candidatos do MDB na<br />
eleição <strong>de</strong> 1974. Estreitava-se cada dia<br />
mais a base <strong>de</strong> apoio do governo na<br />
socieda<strong>de</strong>. A crescente insatisfação popular<br />
pelo autoritarismo vigente e queda do nível<br />
<strong>de</strong> vida <strong>de</strong>terminariam a partir <strong>de</strong> 77 o<br />
início das gran<strong>de</strong>s manifestações <strong>de</strong> rua,<br />
das greves em todo o país, e por fim, nova<br />
e maior <strong>de</strong>rrota das urnas em 1978.<br />
Acuado, o regime é obrigado a ce<strong>de</strong>r.<br />
Inicia-se com a revogação do AI-5 e a<br />
<strong>de</strong>cretação da ANISTIA, a “ABERTURA”<br />
do general Figueiredo que faz uma<br />
frustrada tentativa <strong>de</strong> dividir as oposições<br />
extinguindo o MDB, que havia-se<br />
transformado num maior ponto <strong>de</strong><br />
convergência <strong>de</strong> todos que lutavam pela<br />
<strong>de</strong>mocracia no Brasil. E é justamente este<br />
traço do regime que tem caracterizado sua<br />
conduta nestes tempos <strong>de</strong><br />
“REDEMOCRATIZAÇÃO” da vida<br />
nacional: a <strong>de</strong>sesperada tentativa <strong>de</strong><br />
perpetuação no po<strong>de</strong>r através <strong>de</strong> auto<br />
reformas, não hesitando em nenhum<br />
instante porém <strong>de</strong> fazer uso da força até<br />
on<strong>de</strong> possa (claro exemplo nas<br />
manifestações <strong>de</strong> rua <strong>de</strong> Salvador contra o<br />
absurdo aumento do preço dos<br />
transportes). Em outras palavras, procura o<br />
governo Figueiredo sua sobrevivência<br />
através <strong>de</strong> reformas que são frutos não do<br />
seu “firme propósito <strong>de</strong> fazer <strong>de</strong>ste país<br />
uma <strong>de</strong>mocracia” e sim <strong>de</strong> conquistas <strong>de</strong><br />
todo povo brasileiro. Entretanto, é visível<br />
em nosso dia a dia a distância entre o<br />
projeto <strong>de</strong> abertura do governo e a<br />
exigência da socieda<strong>de</strong> por um regime<br />
92
<strong>de</strong>mocrático e por melhores condições <strong>de</strong><br />
vida.<br />
A cada instante é evi<strong>de</strong>nciada a<br />
contradição que há entre o sentimento <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>mocracia do povo e os limites impostos<br />
pelos governantes a este avanço. Enquanto<br />
fala-se em diálogo, ao mesmo tempo é<br />
acionada a Lei <strong>de</strong> Segurança Nacional<br />
contra sindicalistas, estudantes e populares.<br />
Enquanto a palavra Democracia é uma<br />
constante na Re<strong>de</strong> Globo, nas bases da<br />
socieda<strong>de</strong> vê-se violência Policial,<br />
Insensibilida<strong>de</strong> ao diálogo e força.<br />
Em nossa escola, enten<strong>de</strong>mos nós,<br />
encontra-se um eloqüente reflexo <strong>de</strong>ste<br />
quadro. Apoiada num Estatuto do Centro<br />
Cívico, a diretoria da ETFBA tem<br />
exercido, como representante do po<strong>de</strong>r<br />
governamental <strong>de</strong>cisivo papel no sentido<br />
da impedir a livre organização e<br />
manifestação dos alunos. Para se ter uma<br />
idéia, o 1º semestre <strong>de</strong> 1981 <strong>de</strong>ixou um<br />
saldo <strong>de</strong> quase 80% das ativida<strong>de</strong>s<br />
programadas pelo CCSD (<strong>de</strong>staque<br />
especial <strong>para</strong> o jornal) proibidas pela<br />
diretoria da Escola. E isto traz um natural<br />
<strong>de</strong>sgaste da entida<strong>de</strong> perante aos alunos<br />
que não po<strong>de</strong>m discutir inclusive com os<br />
dirigentes do CCSD nas salas <strong>de</strong> aula, pois<br />
a eles não é permitido o acesso a estas.<br />
Configura-se, pois, um difícil impasse:<br />
qualquer tentativa <strong>de</strong> fortalecimento da<br />
entida<strong>de</strong> é frustrada pelo a<strong>para</strong>to jurídico<br />
estatutário que regem o país e a Escola, e,<br />
portanto é tarefa <strong>de</strong> todos que se<br />
interessam por uma entida<strong>de</strong> dinâmica,<br />
combativa e <strong>de</strong>mocrática não ter ilusões<br />
quanto a esta situação. Impõe-se tomarmos<br />
como nossa a ban<strong>de</strong>ira da <strong>de</strong>mocracia. Só<br />
um Centro Cívico livre da censura e da<br />
pressão, um GREMIO ESTUDANTIL<br />
TECNICO INDUSTRIAL, e a convocação<br />
<strong>de</strong> uma ASSEMBLEIA NACIONAL<br />
CONSTITUINTE LIVRE E<br />
SOBERANAMENTE ELEITA PELO<br />
VOTO POPULAR, com a participação <strong>de</strong><br />
todas as correntes <strong>de</strong> pensamentos,<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> sua i<strong>de</strong>ologia, po<strong>de</strong>rá<br />
assegurar um efetivo enraizamento do<br />
CCSD perante os alunos.<br />
POR UM GRÊMIO LIVRE<br />
PELAS LIBERDADES<br />
DEMOCRÁTICAS<br />
FIM DA LSN<br />
CONVOCAÇÃO DE UMA<br />
ASSEMBLEIA NACIONAL<br />
CONSTITUINTE LIVRE E SOBERANA<br />
PELA RECONSTRUÇÃO DA UNETI.<br />
93
Dispõe sobre os Órgãos <strong>de</strong> Representação<br />
dos Estudantes e dá outras providências.<br />
O Presi<strong>de</strong>nte da República,<br />
Faço saber que o Congresso Nacional<br />
<strong>de</strong>creta e eu sanciono a seguinte Lei:<br />
Art. 1º. Os órgãos <strong>de</strong> representação dos<br />
estudantes <strong>de</strong> ensino superior, que se<br />
regerão por esta Lei, têm por finalida<strong>de</strong>:<br />
a) <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r os interesses dos estudantes;<br />
b) promover a aproximação e a<br />
solidarieda<strong>de</strong> entre os corpos discente,<br />
docente e administrativo dos<br />
estabelecimentos <strong>de</strong> ensino superior;<br />
c) preservar as tradições estudantis, a<br />
probida<strong>de</strong> da vida escolar, o patrimônio<br />
moral e material das instituições <strong>de</strong> ensino<br />
superior e a harmonia entre os diversos<br />
organismos da estrutura escolar;<br />
d) organizar reuniões e certames <strong>de</strong><br />
caráter cívico, social, cultural, científico,<br />
técnico, artístico, e <strong>de</strong>sportivo, visando à<br />
complementação e ao aprimoramento da<br />
formação universitária;<br />
e) manter serviços <strong>de</strong> assistência aos<br />
estudantes carentes <strong>de</strong> recursos;<br />
f) realizar intercâmbio e colaboração<br />
com entida<strong>de</strong>s carentes <strong>de</strong> recursos;<br />
g) lutar pelo aprimoramento das<br />
instituições <strong>de</strong>mocráticas.<br />
Art. 2º. São órgãos <strong>de</strong> representação dos<br />
estudantes <strong>de</strong> ensino superior:<br />
a) o Diretório Acadêmico (D.A.), em<br />
cada estabelecimento <strong>de</strong> ensino superior;<br />
b) o Diretório Central <strong>de</strong> Estudantes<br />
(D.C.E.), em cada Universida<strong>de</strong>;<br />
c) o Diretório Estadual <strong>de</strong> Estudantes<br />
(D.E.E.), em cada capital <strong>de</strong> Estado,<br />
Território ou Distrito Fe<strong>de</strong>ral, on<strong>de</strong> houver<br />
mais <strong>de</strong> um estabelecimento <strong>de</strong> ensino<br />
superior;<br />
d) o Diretório Nacional <strong>de</strong> Estudantes<br />
(D.N.E.), com se<strong>de</strong> na Capital Fe<strong>de</strong>ral.<br />
Parágrafo único - VETADO<br />
Art. 3º. Compete, privativamente, ao<br />
Diretório Acadêmico e ao Diretório<br />
Central <strong>de</strong> Estudantes, perante as<br />
respectivas autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ensino da<br />
Escola, da Faculda<strong>de</strong> e da Universida<strong>de</strong>:<br />
a) patrocinar os interesses do corpo<br />
docente;<br />
b) <strong>de</strong>signar a representação prevista em<br />
lei junto aos órgãos <strong>de</strong> <strong>de</strong>liberação coletiva<br />
e bem assim junto a cada Departamento<br />
constitutivo <strong>de</strong> Faculda<strong>de</strong>, Escola ou<br />
Instituto integrante <strong>de</strong> Universida<strong>de</strong>;<br />
§ 1º. A representação a que se refere a<br />
alínea b dêste artigo será exercida, junto a<br />
cada órgão, por estudante ou estudantes<br />
regularmente matriculados, em série que<br />
não a primeira, sendo que, no caso <strong>de</strong><br />
representação junto a Departamento ou<br />
Instituto <strong>de</strong>verá ainda recair em aluno ou<br />
alunos <strong>de</strong> cursos ou disciplinas que o<br />
integrem, tudo <strong>de</strong> acôrdo com regimentos<br />
internos das Faculda<strong>de</strong>s, Escolas e<br />
estatutos das Universida<strong>de</strong>s.<br />
94
§ 2º. A representação estudantil junto ao<br />
Conselho Universitário, Congregação ou<br />
Conselho-Departamental po<strong>de</strong>rá fazer-se<br />
acompanhar <strong>de</strong> um aluno, sempre que se<br />
tratar <strong>de</strong> assunto do interesse <strong>de</strong> um<br />
<strong>de</strong>terminado curso ou seção.<br />
Art. 4º. Compete ao Diretório Estadual<br />
<strong>de</strong> Estudantes realizar, com amplitu<strong>de</strong><br />
estadual, as finalida<strong>de</strong>s previstas no art. 1º<br />
<strong>de</strong>sta Lei.<br />
Art. 5º. O Diretório Acadêmico será<br />
constituído por estudantes <strong>de</strong> ensino<br />
superior, eleitos pelo respectivo corpo<br />
discente.<br />
§ 1º. Consi<strong>de</strong>rar-se-ão eleitos os<br />
estudantes que obtiverem o maior número<br />
<strong>de</strong> votos.<br />
§ 2º. A eleição do Diretório Acadêmico<br />
será feita pela votação dos estudantes<br />
regularmente matriculados.<br />
§ 3º. O exercício do voto é obrigatório.<br />
Ficará privado <strong>de</strong> prestar exame parcial ou<br />
final, imediatamente subseqüente à eleição,<br />
o aluno que não comprovar haver votado<br />
no referido pleito, salvo por motivo <strong>de</strong><br />
doença ou <strong>de</strong> fôrça maior, <strong>de</strong>vidamente<br />
comprovado.<br />
§ 4º. O mandato dos membros do<br />
Diretório Acadêmico será <strong>de</strong> um ano,<br />
vedada a reeleição <strong>para</strong> o mesmo cargo.<br />
Art. 6º. A eleição do Diretório<br />
Acadêmico será regulada em seu<br />
regimento, atendidas as seguintes normas:<br />
a) registro prévio <strong>de</strong> candidatos ou<br />
chapas, sendo elegível apenas o estudante<br />
regularmente matriculado, não-repetente,<br />
ou <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, nem em regime parcelado;<br />
b) realizado <strong>de</strong>ntro do recinto da<br />
Faculda<strong>de</strong>, em um só dia, durante a<br />
totalida<strong>de</strong> do horário <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s<br />
escolares;<br />
c) i<strong>de</strong>ntificação do votante mediante<br />
lista nominal fornecida pela Faculda<strong>de</strong>;<br />
d) garantia <strong>de</strong> sigilo do voto e da<br />
inviolabilida<strong>de</strong> da urna;<br />
e) apuração imediata, após o término da<br />
votação, asseguradas a exatidão dos<br />
resultados a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> apresentação<br />
<strong>de</strong> recurso;<br />
f) acompanhamento por representante da<br />
Congregação ou do Conselho<br />
Departamental, na forma do regimento <strong>de</strong><br />
cada Faculda<strong>de</strong>;<br />
Parágrafo único. A mudança <strong>para</strong><br />
regime parcelado, trancamento da<br />
matrícula ou conclusão <strong>de</strong> curso importa<br />
em cassação <strong>de</strong> mandato.<br />
Art. 7º. O Diretório Estadual <strong>de</strong><br />
Estudantes será constituído <strong>de</strong><br />
representantes <strong>de</strong> cada Diretório<br />
Acadêmico ou grupos <strong>de</strong> Diretórios<br />
Acadêmicos existentes no Estado, havendo<br />
um máximo <strong>de</strong> vinte representantes.<br />
Art. 8º A eleição <strong>para</strong> o Diretório<br />
Central <strong>de</strong> Estudantes e <strong>para</strong> o Diretório<br />
Estadual <strong>de</strong> Estudantes será regulada nos<br />
respectivos regimentos, atendidas, no que<br />
95
couber, as normas previstas no art. 6º e seu<br />
parágrafo único.<br />
Art. 9º A composição, organização e<br />
atribuições dos órgãos <strong>de</strong> representação<br />
Estudantil serão fixadas em seus<br />
regimentos, que <strong>de</strong>verão ser aprovados<br />
pelos órgãos a que se refere o artigo 15.<br />
Parágrafo único O exercício <strong>de</strong><br />
quaisquer funções <strong>de</strong> representação, ou<br />
<strong>de</strong>las <strong>de</strong>correntes, não exonera o estudante<br />
do cumprimento dos seus <strong>de</strong>veres<br />
escolares, inclusive da exigência <strong>de</strong><br />
freqüência.<br />
Art. 10 O Diretório Nacional <strong>de</strong><br />
Estudantes, órgão coor<strong>de</strong>nador das<br />
ativida<strong>de</strong>s dos Diretórios Estudantis, que<br />
cuidará da aproximação entre os estudantes<br />
e o Ministério da Educação e Cultura e<br />
que, no seu âmbito <strong>de</strong> ação, terá as<br />
obrigações e os direitos expressos no art.<br />
1º, observará todos os preconceitos gerais<br />
<strong>de</strong>sta Lei.<br />
§ 1º Po<strong>de</strong>rá ainda o Diretório Nacional<br />
<strong>de</strong> Estudantes promover, durante os<br />
períodos <strong>de</strong> férias escolares, reuniões <strong>de</strong><br />
estudantes, <strong>para</strong> <strong>de</strong>bates <strong>de</strong> caracter<br />
técnico.<br />
§ 2º O Diretório Fe<strong>de</strong>ral em que haja<br />
órgão previsto no art. 2º, sendo a sua<br />
primeira constituição feita <strong>de</strong>ntro do prazo<br />
<strong>de</strong> noventa dias, mediante eleições<br />
procedidas nos Diretórios Estaduais e<br />
instruções do Ministério da Educação e<br />
Cultura, que fará a primeira convocação.<br />
§ 3º O Diretório Nacional <strong>de</strong> Estudantes<br />
se reunirá na Capital Fe<strong>de</strong>ral durante os<br />
períodos <strong>de</strong> férias escolares, <strong>de</strong>ntro dos<br />
prazos e condições estabelecidos no<br />
regimento, po<strong>de</strong>ndo reunir-se<br />
extraordinariamente, em qualquer época,<br />
por iniciativa justificada da maioria<br />
absoluta dos seus membros, do Ministério<br />
da Educação e Cultura, ou do Conselho<br />
Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Educação, em local<br />
previamente <strong>de</strong>signado.<br />
Art.11 Aplicam-se ao Diretório Estadual<br />
<strong>de</strong> Estudantes, ao Diretório Central <strong>de</strong><br />
Estudantes e ao Diretório Nacional <strong>de</strong><br />
Estudantes as normas estabelecidas no art.<br />
5º e seus parágrafos <strong>de</strong>sta Lei.<br />
Art. 12º As Faculda<strong>de</strong>s e Universida<strong>de</strong>s<br />
assegurarão os processos <strong>de</strong><br />
reconhecimento das contribuições dos<br />
estudantes.<br />
§ 1º O regimento do Diretório Estadual<br />
<strong>de</strong> Estudantes po<strong>de</strong>rá prever a perda dos<br />
mandatos <strong>de</strong> representantes <strong>de</strong> Diretórios<br />
Centrais e <strong>de</strong> Diretórios Acadêmicos, bem<br />
como o regimento do Diretório Central<br />
po<strong>de</strong>rá estabelecer a perda <strong>de</strong> mandato dos<br />
representantes dos Diretórios Acadêmicos,<br />
quando os órgãos representados não<br />
efetuarem regulamente o pagamento das<br />
contribuições que lhe competem.<br />
§ 2º Os órgãos <strong>de</strong> representação<br />
estudantil são obrigados a lançar todo o<br />
movimento <strong>de</strong> receita e <strong>de</strong>spesa em livros<br />
apropriados, com a <strong>de</strong>vida comprovação.<br />
96
§ 3º Os órgãos <strong>de</strong> representação<br />
estudantil apresentarão prestação <strong>de</strong><br />
contas, ao término <strong>de</strong> cada gestão, aos<br />
órgãos a que se refere o artigo 15, sendo<br />
que a não-aprovação das mesmas, se<br />
comprovado o uso internacional e in<strong>de</strong>vido<br />
dos bens e recursos da entida<strong>de</strong>, importará<br />
em responsabilida<strong>de</strong> civil, penal e<br />
disciplinar dos membros da Diretoria.<br />
Art. 13. Os auxílios serão entregues às<br />
Universida<strong>de</strong>s, Faculda<strong>de</strong>s ou Escolas<br />
isoladas que darão a <strong>de</strong>stinação<br />
conveniente e encaminharão os processos<br />
<strong>de</strong> prestação <strong>de</strong> contas, acompanhadas <strong>de</strong><br />
parecer.<br />
Art. 14. É vedada aos órgãos <strong>de</strong><br />
representação estudantil qualquer ação,<br />
manifestação ou propaganda <strong>de</strong> carácter<br />
político-partidário, bem como incitar,<br />
promover ou apoiar ausências coletivas aos<br />
trabalhos escolares.<br />
Art.15 A fiscalização do cumprimento<br />
<strong>de</strong>sta Lei caberá à congregação ou ao<br />
Conselho Departamental na forma <strong>de</strong><br />
regimento <strong>de</strong> cada Faculda<strong>de</strong> ou Escola,<br />
quanto ao Diretório Acadêmico; ao<br />
Conselho Universitário, quanto ao<br />
Diretório Central <strong>de</strong> Estudantes, e ao<br />
Conselho Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Educação, quanto ao<br />
Diretório Estadual <strong>de</strong> Estudantes e ao<br />
Diretório Nacional <strong>de</strong> Estudantes.<br />
Parágrafo único. O Conselho <strong>de</strong><br />
Educação po<strong>de</strong>rá <strong>de</strong>legar podêres <strong>de</strong><br />
fiscalização aos Conselhos Universitários.<br />
Art. 16. O regimento <strong>de</strong> cada Faculda<strong>de</strong><br />
ou escola e estatuto <strong>de</strong> cada Universida<strong>de</strong><br />
disporão sôbre o prazo <strong>de</strong>ntro do qual seus<br />
órgãos <strong>de</strong>liberativos <strong>de</strong>verão pronunciar-se<br />
sôbre as representações feitas pelos órgãos<br />
<strong>de</strong> representação estudantil.<br />
Parágrafo único. Quando a matéria fôr<br />
relativa ao previsto no § 2º do artigo 73,<br />
Lei <strong>de</strong> Diretrizes e Bases da Educação<br />
Nacional, a <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong> Faculda<strong>de</strong> ou<br />
Escola <strong>de</strong>verá acorrer:<br />
a) no prazo <strong>de</strong> <strong>de</strong>z dias, em se tratando<br />
<strong>de</strong> não-comparecimento do professor, sem<br />
justificação, a 25% das aulas e exercícios;<br />
b) antes do início do ano letivo seguinte,<br />
no caso <strong>de</strong> não comparecimento <strong>de</strong>, pelo<br />
menos, três, quartos do programa da<br />
respectiva ca<strong>de</strong>ira.<br />
Art. 17. O Diretor <strong>de</strong> Faculda<strong>de</strong> ou<br />
Escola e o Reitor <strong>de</strong> Universida<strong>de</strong><br />
incorrerão em falta grave se por atos,<br />
omissão ou tolerância, permitirem ou<br />
favorecerem o não-cumprimento <strong>de</strong>sta Lei.<br />
Parágrafo único. As Congregações e aos<br />
Conselhos Universitários caberá a<br />
apuração da responsabilida<strong>de</strong>, nos termos<br />
<strong>de</strong>ste artigo, dos autos que forem levados a<br />
seu conhecimento .<br />
Art. 18. Po<strong>de</strong>rão ser constituídas<br />
fundações ou entida<strong>de</strong>s civis <strong>de</strong><br />
personalida<strong>de</strong> jurídica <strong>para</strong> o fim<br />
específico <strong>de</strong> manutenção <strong>de</strong> obras <strong>de</strong><br />
caráter assistencial, esportivo ou cultural<br />
<strong>de</strong> interesse dos estudantes.<br />
97
Parágrafo único. Nos estabelecimentos<br />
<strong>de</strong> ensino <strong>de</strong> grau médio, somente po<strong>de</strong>rão<br />
constituir-se grêmios com finalida<strong>de</strong>s<br />
cívicas, culturais, sociais e <strong>de</strong>sportivas,<br />
cuja ativida<strong>de</strong> se restringirá aos limites<br />
estabelecidos no regimento escolar,<br />
<strong>de</strong>vendo ser sempre assistida por um<br />
professor.<br />
Art. 19. As Universida<strong>de</strong>s e os<br />
estabelecimentos <strong>de</strong> ensino superior<br />
adaptarão seus estatutos aos têrmos da<br />
presente Lei, no prazo improrrogável <strong>de</strong><br />
sessenta (60) dias.<br />
Art. 20. Os atuais órgãos <strong>de</strong><br />
representação estudantil <strong>de</strong>verão proce<strong>de</strong>r<br />
à reforma <strong>de</strong> seus regimentos, adaptando-<br />
os à presente Lei e os submetendo às<br />
autorida<strong>de</strong>s previstas no art. 15, no prazo<br />
improrrogável <strong>de</strong> sessenta (60) dias.<br />
Art. 21. Os casos omissos nesta Lei<br />
serão resolvidos pelo Conselho Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong><br />
Educação.<br />
Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na<br />
data <strong>de</strong> sua publicação, ficando revogados<br />
o Decreto-Lei nº 4.105, <strong>de</strong> 11 <strong>de</strong> fevereiro<br />
<strong>de</strong> 1942, e as <strong>de</strong>mais disposições em<br />
contrário.<br />
Brasília, 9 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 1964; 143º da<br />
In<strong>de</strong>pendência e 76º da República<br />
H. CASTELLO BRANCO<br />
Flávio Lacerda.<br />
ANELO<br />
Chega!<br />
Basta <strong>de</strong> egoísmos!<br />
Somos todos iguais,<br />
Um todo <strong>de</strong> origens e idéias,<br />
Que vêm...<br />
Vêm do índio esperto e manhoso,<br />
Vêm do negro místico africano,<br />
Vêm dos antigos colonizadores,<br />
Vêm dos negros céus São-Paulinos,<br />
Vêm do suor latino.<br />
Sobe o gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> Santiago,<br />
Desce o Amazonas,<br />
Des’água em Navarino<br />
Esse grito contido,<br />
(povo sofrido esse!)<br />
Choro calado, ente calado,<br />
Que levanta-se agora<br />
De um longo sono letárgico,<br />
E clama,<br />
União ele clama,<br />
E a chama do pensamento<br />
Flui,<br />
Flui filete <strong>de</strong> sangue...<br />
É chegada a hora <strong>de</strong> libertarmo-nos<br />
Das correntes<br />
Presas aos nossos membros,<br />
Rangendo infernalmente,<br />
Impedindo o sossego,<br />
O andar , o viver...<br />
É tempo <strong>de</strong> amadurecermos<br />
De sermos contentes<br />
Para que o Uirapuru possa voar<br />
livre(mente);<br />
Para que nossas crianças,<br />
Famintas e incultas<br />
Não perambulem pelas ruas<br />
Mendigando chão,<br />
Procurando pão,<br />
Calando falação.<br />
É tempo<br />
98
Do longo chover<br />
Horas infinitas...<br />
Horas infinitas...<br />
Passarem uniformes<br />
Diante das nossas retinas,<br />
Que sugam as imagens<br />
Dos nossos corpos cansados,<br />
Suados.<br />
Nós que trazemos nós,<br />
A nos apertar,<br />
Trazemos também<br />
A força, a coragem,<br />
O grito<br />
Impetuosida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leucócitos<br />
(Tupis, Incas, Maias, Guaranis)<br />
Americanos Latinos,<br />
Correndo nas veias,<br />
Saindo do coração,<br />
Transpondo vasos e pulmões,<br />
Oxigenando o mentar.<br />
Cai a amargura,<br />
A ilusão cai,<br />
Restando apenas<br />
A força clemente dos nossos braços,<br />
A vonta<strong>de</strong> sobre-humana<br />
De saciar a se<strong>de</strong>,<br />
I<strong>de</strong>ntificar “irmanos”,<br />
Derrubar “fronteras”,<br />
Gritar “liberdad”...<br />
E “nosotros <strong>de</strong>spertaremos”,<br />
E eu anunciarei:<br />
“irmanos,<br />
(Ex-compañeros <strong>de</strong>l silencio)<br />
Somos<br />
Um pueblo libre!...<br />
Han<strong>de</strong>rson Leite e A<strong>de</strong>milton Tuy<br />
Ex-alunos da ETFBA<br />
(INFORMATEC, 1982)<br />
99
100