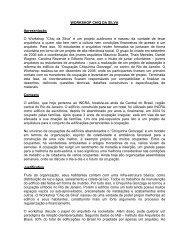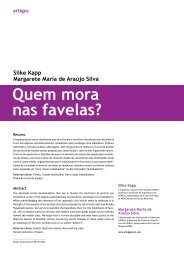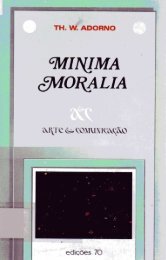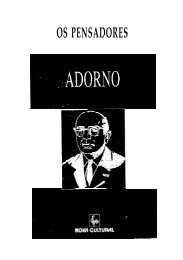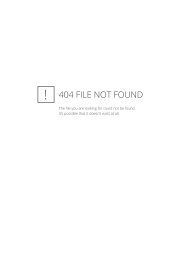LEONARD, Maurício. BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula. Interfaces
LEONARD, Maurício. BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula. Interfaces
LEONARD, Maurício. BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula. Interfaces
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INTERFACES HÍBRIDAS: USUÁRIO ENTRE O MUNDO FÍSICO E DIGITAL<br />
<strong>LEONARD</strong>, <strong>Maurício</strong><br />
mauricioleonard@terra.com.br<br />
Arquiteto e Urbanista, Pesquisador do Grupo Mom (Morar de Outras Maneiras) da EAUFMG,<br />
Membro fundador do IBPA(Instituto de Performance Arquitetura)<br />
<strong>SANTOS</strong>, <strong>Ana</strong> <strong>Paula</strong> Baltazar<br />
baltazar.ana@gmail.com<br />
Doutoranda em Arquitetura, University College London, Mestre em arquitetura, EAUFMG, Arquiteta e Urbanista,<br />
Pesquisadora do EVA (Estúdio Virtual de Arquitetura), do LAGEAR (Laboratório Gráfico para o Ensino de Arquitetura) e do<br />
MOM (Morar de Outras Maneiras) na EAUFMG, Membro fundador do IBPA (Instituto de Performance Arquitetura)<br />
Resumo<br />
A presente comunicação faz parte de uma pesquisa mais abrangente do Grupo MOM (Morar de Outras<br />
Maneiras) que pretende investigar os processos de autoconstrução e participação em projetos de moradia<br />
popular. Procurou levantar em diversos centros referenciais de pesquisa, interfaces físicas, digitais ou híbridas,<br />
que revelassem modos de interação entre os usuários leigos ou não e estes sistemas.<br />
O levantamento desenvolvido nessa parte da pesquisa procurou abranger não só as interfaces que estivessem<br />
ligadas diretamente à produção de matérias relacionadas à prática projetual em arquitetura, mas buscou incluir<br />
os experimentos desenvolvidos com os sistemas informatizados em áreas afins como design, artes plásticas e<br />
performances. O objetivo desse mapeamento foi levantar as qualidades e possibilidades das diversas interfaces<br />
existentes, estabelecer pontos de contato entre elas, e sistematizar a relação do usuário com tais sistemas.<br />
Essa comunicação discute as interfaces levantadas na pesquisa, focando aquelas onde a interação do usuário<br />
com o sistema não se manifesta apenas de forma plana, ou seja, através de uma tela ou entrada de dados via<br />
teclado, mas se manifesta de forma espacializada, ou seja, na interrelação do usuário com o espaço físico e<br />
digital. As interfaces discutidas atendem a usos variados e apresentam desde comportamentos reativos às<br />
ações cotidianas dos usuários, até aquelas onde a funcionalidade é abandonada e é proposto ao usuário que<br />
estabeleça um modo de apropriação.<br />
A pesquisa avalia as características dos tipos de interações desenvolvidas nessas interfaces e o nível de<br />
envolvimento do usuário com as mesmas. Apresenta e discute as possibilidades de uso dessas estratégias<br />
como parte de um processo de projetação de espacialidades envolvendo usuários leigos ou não.
INTERFACES HÍBRIDAS : USUÁRIO ENTRE O MUNDO FÍSICO E DIGITAL<br />
A presente comunicação faz parte de uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo MOM (Morar de Outras<br />
Maneiras) da Escola de Arquitetura da UFMG, Departamento de Projetos (PRJ). Pretende apresentar<br />
e discutir um levantamento procedido pelo grupo, que tem como tema interfaces físicas, digitais ou<br />
híbridas e os modos de relação dos usuários leigos ou não, com estas interfaces.<br />
O Grupo MOM investiga meios que possam capacitar aos usuários, exercerem a autoconstrução e<br />
participação em projetos de moradia popular, criando acesso a processos de construção disponíveis,<br />
materiais alternativos e também a experimentação de espacialidades antes de sua construção. Como<br />
um dos objetivos dessa pesquisa, está previsto o desenvolvimento de um ambiente de projeto<br />
arquitetônico, utilizando meios físicos e digitais que possa ser usado pelos usuários de forma fácil e<br />
intuitiva e permita-lhes tomarem decisões durante todos os estágios de feitura de sua residência, do<br />
desenho a construção. Esse ambiente configura-se como interface, que como aponta Siegfried<br />
Zielinski, é “algo que ao mesmo tempo separa e conecta dois mundos bem diferentes : o mundo ativo<br />
da imaginação criativa e o mundo das máquinas e programas.” 1 A interface pesquisada pelo MOM<br />
além de incluir o usuário como agente ativo na produção da sua residência, pretende futuramente<br />
viabilizar também material técnico suficiente para validar sua proposta junto a órgãos públicos e<br />
mecanismos de financiamento.<br />
Para o desenvolvimento desse ambiente procurou-se investigar interfaces físicas, digitais ou híbridas,<br />
que possibilitassem algum nível de interação entre os usuários leigos ou não e as mídias disponíveis.<br />
O levantamento desenvolvido nesta pesquisa procurou abranger não só interfaces que estivessem<br />
ligadas diretamente à produção de conteúdos relacionados à prática arquitetural, mas buscou incluir<br />
os experimentos desenvolvidos em áreas afins como design, artes plásticas e performances. O<br />
objetivo dessa abrangência era criar uma amostragem que evidenciasse as apropriações de<br />
diferentes disciplinas levantando as qualidades e possibilidades das interfaces existentes,<br />
estabelecendo pontos de contato entre elas, tornando visível os desdobramentos dos arranjos e<br />
relações dentro dos vários meios que essas áreas utilizam.<br />
No levantamento, optou-se em colocar em foco aqueles sistemas onde componentes de naturezas<br />
diferentes (digitais e físicas), interagissem de forma a criar interfaces que consideram a participação<br />
real do usuário. Foram feitas leituras de autores e títulos que abordam os sistemas das interfaces e<br />
retirados destes, referências sobre as pesquisas desenvolvidas atualmente. Alguns destes autores<br />
como Lucy Schuman e Alan Kay apontam críticas significativas aos procedimentos atuais de relação<br />
entre usuários e as interfaces. Críticas estas, que estão particularmente inseridas nas questões<br />
levantadas em um campo recente de estudo chamado Human Computer Interface (Interface Homem<br />
e Máquina). Esse campo, grosso modo, analisa o homem e as máquinas em comunicação, levando<br />
em conta ambos os lados envolvidos. No lado das máquinas são analisados sistemas operacionais,<br />
linguagens de programação, engenharias diversas e o desenvolvimento dos ambientes digitais. Do<br />
lado humano são estudadas idéias da teoria da comunicação, desenho gráfico e industrial, lingüística,<br />
ciências sociais, psicologia cognitiva e performance humana. Todas essas disciplinas aproximam-se<br />
dentro do Human Computer Interface criando um processo colaborativo que tem ampliado o estudo<br />
sobre a interação do homem com as máquinas, gerando novas questões e permitindo o surgimento<br />
de interfaces e modos diferentes de acesso a tecnologia digital.<br />
A partir destas referências foram levantadas palavras chaves, autores e centros de pesquisas que<br />
nortearam buscas na web, em artigos e livros referenciais de onde foram selecionados alguns<br />
trabalhos que mostravam o uso das interfaces em campos e propósitos diversos. Um banco de dados<br />
foi então criado contendo textos críticos, imagens e vídeos, abordando e ilustrando alguns dos<br />
aspectos pesquisados.<br />
Feito esse levantamento foi necessário proceder uma organização, que utilizou das idéias apontadas<br />
pelos autores lidos, tais como, Brenda Laurel, Manuel de Landa e André Parente entre outros, para
aproximar as pesquisas e reuní-las segundo suas semelhanças. Esta organização não pretendeu<br />
criar categorias fixas para os trabalhos, principalmente porque muitos deles poderiam ocupar mais de<br />
uma classificação dado ao seu caráter de fusão entre campos diversos. A organização aproximou<br />
pesquisas que embora contassem com formalizações diferentes atraiam para si idéias similares.<br />
Como organização inicial, foram apontadas três possibilidades de nomeação das interfaces.<br />
<strong>Interfaces</strong> físicas, digitais e físico-digitais. Essas nomeações referem-se à natureza da interação pela<br />
qual se processa o acesso dos usuários às interfaces, bem como o nível de envolvimento do seu<br />
sistema sensório e motor ao fazer uso destas.<br />
Para algumas das interfaces pesquisadas não foi possível um enquadramento nas nomeclaturas, pois<br />
estas situavam-se num intervalo bastante flexível entre o físico e o digital. Este contexto que aborda<br />
os dois sistemas é o que chamamos físico-digital. A fusão de áreas de conhecimentos e o<br />
desenvolvimento de pesquisas com propósitos diferentes criam processos de colaboração que de<br />
fato, borram os limites entre as classificações, mas amplia o entendimento do que é uma interface,<br />
contribuindo para um avanço no estudo da interação entre usuário e estas. Para algumas das<br />
interfaces pesquisadas seria melhor uma classificação entre duas classes, já em outras,<br />
contemplariam até mesmo as duas classes simultaneamente. Nos exemplos que serão discutidos<br />
nesta comunicação serão categorizadas estas interfaces quanto as nomeclaturas, bem como<br />
apontadas as suas características principais e suas distinções.<br />
<strong>Interfaces</strong> físicas: caracterização dos conteúdos e acessos<br />
Nas interfaces físicas, o usuário está geralmente mobilizando seu sistema sensório e motor para que<br />
a sua interação com um dispositivo físico qualquer realize uma ação sem nenhuma passagem ou<br />
reverberação por um meio digital. Essas interfaces físicas são a maioria dos instrumentos manuais<br />
usados em nosso cotidiano, é dessa ordem ferramentas como o martelo, utensílios domésticos,<br />
instrumentos musicais, etc. Vale a pena lembrar que dispositivos simples que utilizam eletricidade<br />
para executarem tarefas, não tem necessariamente status digital, sendo em sua maioria interfaces<br />
físicas. Os exemplos são a radiola, a torradeira, ferro elétrico, liquidificador. Tais interfaces são<br />
diferenciáveis pelo nível de interação do usuário com o conteúdo. Como exemplo, podemos analisar<br />
dois dispositivos simples, a caixinha de música e o piano. A caixinha de música é uma interface onde<br />
o usuário aciona o mecanismo de corda por uma ação física que irá produzir música. Como ela, o<br />
piano também é uma interface física, onde a interação com as teclas também produz música. Na<br />
caixinha, o conteúdo (música), já está programado, sempre que o usuário acionar o mecanismo de<br />
corda, a mesma seqüência de notas será ouvida. Já no piano, esse conteúdo está em aberto, a<br />
seqüência de notas não está definida, cabendo ao usuário definí-la.<br />
No levantamento das interfaces físicas encontramos o trabalho do artista Michael Rakowitz. Esse<br />
artista e pesquisador norte-americano vem desenvolvendo desde 1997, barracas infláveis destinadas<br />
ao uso dos sem casa para abrigos temporários nas grandes cidades norte-americanas, durante o<br />
inverno. Essas barracas inflam-se utilizando a saída do ar condicionado que fica do lado de fora das<br />
residências das pessoas com casas. Nomeadas por ele de Parasites, as barracas feitas de plástico<br />
semelhante àquele usado em sacos de lixo, tem propósito duplo. Segundo Rakowitz o objetivo delas<br />
está longe de ser uma interface térmica de abrigo temporário para esses moradores sem casa, mas<br />
coloca em evidência a condição de sobrevivência desses moradores e o crescente número de<br />
pessoas vivendo nas ruas das grandes cidades. Rakowitz usa suas frágeis barracas plásticas para<br />
criar uma interface física que propõe uma discussão aos habitantes da cidade. Ao tornar visível a<br />
presença e a condição daqueles moradores, expõe o problema impedindo que ele seja<br />
continuamente ignorado. A interface física torna-se aqui um dispositivo problematizador, que ao invés<br />
de resolver uma questão, promove a visibilidade do problema, ou seja, funciona literalmente como<br />
uma interface.
Outro exemplo de interface física é a Interface de Espacialidade criada pelo Grupo MOM.<br />
Investigando possibilidades dentro dos projetos de auto construção, o grupo procura desenvolver<br />
ferramentas que possam tornar esse processo acessível aos interessados em moradia popular. A<br />
interface criada pelo grupo utiliza um sistema modular composto de peças simples e encaixáveis<br />
entre si. Tubos em PVC modulados em dimensões de 60cm, 120cm, 180cm, se agrupam para gerar<br />
estruturas, os encaixes entre os tubos são feitos por um conector em madeira. Essas estruturas<br />
podem ser cobertas por superfícies de tecidos de diferentes tipos com dimensões referenciais aos<br />
módulos, afim de criar espacialidades que possam ser experimentadas e reconfiguradas pelos<br />
usuários de forma relativamente fácil e rápida. Essa interface não tem por objetivo a confecção de<br />
espaços para nenhum fim específico, nem tão pouco a efetivação de um método construtivo, mas<br />
pretende funcionar como um dispositivo didático para a experimentação e produção de<br />
espacialidades por usuários leigos ou não. Esta interface de espacialidade funciona como uma<br />
maquete em escala real que permite visualizar um esboço tridimensional dos espaços antes de<br />
construí-los, sendo possível verificar o posicionamento das aberturas em relação as vistas do<br />
entorno, definir escalas e limites dentro do terreno de implantação.<br />
Interface física desenvolvida pelo Grupo MOM ( fonte : foto <strong>Maurício</strong> Leonard)<br />
<strong>Interfaces</strong> digitais : conteúdos potencialmente abertos, interações não-habituais<br />
Nas interfaces digitais, a característica a ser notada é que o usuário interage com um sistema ou<br />
dispositivo (hardware e software) onde a resposta a sua ação é mediada por um programa de ordem<br />
digital, que se incumbe de gerar respostas a partir das escolhas e inputs do usuário. Embora o<br />
acesso do usuário a essa interface ocorra através de algum meio físico, hardware, como teclados,<br />
mouses ou mesmo telas touch screen, a natureza dessa interação que deve ser entendida como<br />
digital ou programável.<br />
As interfaces digitais também se diferenciam quanto à natureza de seu conteúdo. Como exemplo<br />
temos a maioria dos sites na web que apresentam páginas onde áreas clicáveis levarão os usuários<br />
sempre ao mesmo conteúdo, denotando para este uma natureza fechada. Já nas páginas como o<br />
Google ou Yahoo, chamadas motores de busca, o conteúdo está sempre em atualização e sua<br />
natureza é aberta. Pesquisas feitas em momento diferentes poderão trazer outros resultados a cada<br />
vez que o usuário solicitar o sistema, já que este gerencia o acesso ao conteúdo considerando a<br />
atualização da rede.
Há interfaces digitais que apresentam abertura em sua programação, o que permite ao usuário<br />
modificá-la e influir sobre o seu modo de funcionamento. Poderá programá-las para executar algo de<br />
forma diferente do previsto, ou mesmo desenvolver outras interfaces e gerar conteúdos<br />
programáveis. Um exemplo disso é o software, Macromedia Director que permite ao usuário criar<br />
interfaces sem definir que tipo de aplicação ela terá inicialmente, cabendo ao próprio usuário<br />
desenvolver as potencialidades do programa.<br />
No levantamento encontramos alguns exemplos de grupos que desenvolvem essas interfaces, tais<br />
como a Playstation Games, o Responsive Environments Group e o Hyperbody Research. Todos<br />
estes grupos desenvolvem interfaces onde a apropriação do conteúdo pelo usuário é feita através de<br />
mecanismos e sistemas que procuram inserir o usuário em tipos diferenciados de imersão. Estas<br />
interfaces utilizam modelos conceituais mais abstratos e dão ao usuário a possibilidade de usar o<br />
corpo de diferentes formas para interagir com o conteúdo, criando contextos não-habituais de<br />
interação e expandindo os usos e apropriações deste meio.<br />
O Eye Toy, é um dispositivo criado pela Playstation para ser conectado ao combo do jogo Playstation<br />
2. Trata-se de uma câmera com uma saída USB, que deve ser colocada em cima do aparelho de tv e<br />
conectada ao Playstation 2. O usuário deve se colocar frente a câmera e a televisão e verá sua<br />
imagem inserida dentro do ambiente do jogo. Suas ações servem como input para acessar e interagir<br />
com os gráficos do jogo exibidos na tela da tv. O usuário comporta-se frente à interface como em um<br />
espelho, ele está olhando para si mesmo dentro da tela da televisão e não há um personagem que irá<br />
representá-lo lá. Ele tem a liberdade de usar qualquer parte do corpo para que sua imagem acesse a<br />
interface gráfica, mobilizando seu corpo para contracenar com outros personagens que aparecem na<br />
tela. É possível que mais de um usuário joguem ao mesmo tempo.<br />
Embora o conteúdo da interface apresente natureza fechada, ou seja, os gráficos na tela sempre são<br />
os mesmos, a liberação física e imaginativa dessa forma de acesso ao jogo, possibilita ao usuário<br />
uma apropriação física não habitual frente à interface, pois insere seu corpo como agente efetivo num<br />
processo de comunicação digital. Essa característica se torna relevante quando percebemos que a<br />
maioria das interfaces digitais promovem o desengajamento corporal, restringindo o acesso do<br />
conteúdo a controles específicos e de funcionamento programado. As dificuldades e traumas físicos<br />
que surgem na operacionalização dos mecanismos como teclados e mouses, a sistematização da<br />
entrada de dados para a comunicação com os programas, acabam por bloquear a interação efetiva<br />
do usuário. <strong>Interfaces</strong> como o Eye Toy estimulam a apropriações futuras, pois abre ao usuário<br />
possibilidades de romper com essa dificuldade de operacionalização inserindo a participação e<br />
integração do seu corpo nestes sistemas.<br />
Eye Toy ( fonte : ww.playstation.com)<br />
Outro grupo que vem desenvolvendo interfaces digitais é o Responsive Environments Group, um dos<br />
grupos de pesquisa do MIT Média Lab, em Massachusetts, que desenvolve o que definem como<br />
“espaços reativos”. Este grupo pesquisa diferentes modalidades de tecnologias que possam propiciar<br />
formas de experiências de interação e expressão, considerando uma imersão espacial do usuário. O<br />
aspecto relevante da pesquisa desse grupo, é que o usuário de suas interfaces, usa também de
vários tipos de movimentos do seu corpo, como in-put para a interação com um conteúdo digital, mas<br />
de forma diferenciada do Eye Toy, este conteúdo modifica-se e se atualiza a partir dessa interação.<br />
Isto cria um engajamento físico, mobilizando o sistema sensório e motor do usuário, liberando seus<br />
movimentos e tendendo a aproximá-lo de uma interação mais intuitiva.<br />
Entre os trabalhos do Responsive Environments Group encontramos o "Stretchable Music". Trata-se<br />
de uma interface desenvolvida por Pete Rice, pesquisador do grupo, utilizando uma pesquisa<br />
desenvolvida por Joe Paradiso e Josh Strickon, que são os coordenadores do laboratório, sobre<br />
sensores de raios laser para a captação de gestos. Trata-se de uma tela LCD de grande proporção<br />
que exibe um ambiente onde movem-se formas gráficas bidimensionais e tridimensionais. Em uma<br />
das extremidades da tela está posicionado um sensor de raios laser que faz uma varredura<br />
informando as interrupções que os gestos do usuário provocam na sua leitura, utilizando esse dado<br />
com um input para reorganizar as formas sobre a tela. O usuário pode interagir com estas, que<br />
simulam propriedades elásticas, tocando a tela nas regiões onde elas surgem, reorganizando sua<br />
disposição. A ação de movê-las ou esticá-las, cria sonoridades diferentes, apresentando variações de<br />
acordo com a velocidade ou deformação que o usuário aplica às formas. A Música Elástica, como<br />
sugere o título da pesquisa é dada pela manipulação das formas, cujo comportamento é mediado por<br />
conteúdos programados e orientados a esses objetos. A interface está aqui expandindo as<br />
possibilidades do mouse, liberando os movimentos dos dedos do usuário de uma ação repetitiva,<br />
além de permitir que dois ou mais usuários usem a interface ao mesmo tempo, criando contextos<br />
participativos e colaborativos. "Stretchable Music" cria um estado entre duas possibilidades distantes<br />
em primeira análise, a de mover as formas sobre a tela e a de produzir sonoridades. Este contexto<br />
permitirá ao usuário intercambiar as informações, fundindo o movimento das formas com a<br />
composição sonora em um meio único. Não é necessário que o usuário adquira uma linguagem<br />
técnica ou codificada, como ocorre na maioria das interfaces digitais para que sua interação ocorra.<br />
Ele se torna capaz de gerí-la de forma muito parecida como faz com a maioria dos processos de<br />
interações com objetos físicos. Nesta interface não está definida uma ordem de prioridades, cabe ao<br />
usuário definir se ele quer animar formas ou produzir som. Apesar do conteúdo desta interface ser<br />
parcialmente fechado, pois as formas e as sonoridades estão predefinidas, o ambiente digital<br />
promove acesso desse conteúdo de forma aberta e participativa. A inserção do corpo do usuário<br />
como elemento de interação, sem no entanto identificar que partes ele deve usar, cria um contexto<br />
não-habitual de apropriação, instalando um ambiente de situações imprevistas, dando ao usuário<br />
uma liberdade de experimentação do seu corpo (gestos) ao mesmo tempo que explora as<br />
possiblidades da interface.<br />
Stretchable Music ( fonte : ww.media.mit.edu/resenv)<br />
O Virtual Operation Room (VOR) é um jogo desenvolvido para o Museu de Tecnologia de Delft, pelo<br />
Escritório ONL junto ao grupo Hyperbody Research. Kas Oosterhuis, arquiteto e pesquisador
holandês está a frente do escritório e é também um dos coordenadores do grupo Hiperbody.<br />
Desenvolvendo pesquisas em torno do tema que segundo eles intitula-se “Arquitetura Interativa e Emotiva,<br />
que procura estudar e desenvolver ambientes paramétricos para através deles se<br />
comunicarem com mundos ativos” 2 . O desenvolvimento do VOR contou com a participação de uma<br />
equipe multidisciplinar, que envolveu médicos pesquisadores, cientistas da informação e arquitetos.<br />
O jogo oferece inicialmente uma visita a um espaço digital denominado Bodyport, através de um<br />
sensor, os movimentos do usuário são captados e servem como um input para reorganizar a<br />
geometria desse espaço que surge na tela. Neste ambiente ele pode escolher e explorar três<br />
mundos diferentes, o Cérebro [Sven Blokker], o Purificador [Chris Kievid] e o Fluxo[Michael<br />
Bittermann] .Usando um joystic como dispositivo de in-put para o jogo, o usuário percorre cada um<br />
desses mundos reativos e poderá aprender como os sistemas do corpo funcionam, através de uma<br />
ação sobre aquele espaço. O usuário poderá jogar como em outro vídeo game qualquer, mas<br />
atirando em células ou combatendo o crescimento do câncer, por exemplo, acumulará pontos e<br />
conhecimentos sobre os processos de adaptação dos sistemas do corpo, frente a situações diversas<br />
do seu funcionamento normal. O usuário poderá se transferir para os outros mundos e aprender<br />
sobre os outros sistemas. O VOR pretende, segundo os seus criadores, se tornar em dez anos, uma<br />
ferramenta de auto diagnose e uma maneira para praticar a auto cura do corpo através de jogos.<br />
O VOR cria aberturas maiores em seu conteúdo, a medida em que dá ao usuário a possibilidade de<br />
conformação dos gráficos que são exibidos na tela. O conteúdo programado usa do input fornecido<br />
pelo usuário para gerir as informações que serão acessadas, configurando novos gráficos a partir do<br />
modo específico de interação do usuário. Como interface o VOR oferece ao jogador a experiência do<br />
seu próprio corpo como um espaço dilatado, bem como visibilidade aos processos biológicos que<br />
acontecem nos seus órgãos e sistemas.<br />
<strong>Interfaces</strong> físicas-digitais: colaboração entre os sistemas, aberturas de acessos<br />
As interfaces físico-digitais são sistemas onde ações procedidas em uma interface física reverberam<br />
em um ambiente digital. É considerado também o inverso, as interfaces digital-físicas, são aqueles<br />
sistemas onde ações que se procedem dentro dos ambientes digitais reverberam em objetos ou<br />
sistemas físicos. Podemos distinguí-las também pela interação com um conteúdo aberto ou fechado.<br />
Abaixo serão discutidos alguns exemplos encontrados no levantamento que possibilitarão distinguir<br />
as interfaces segundo a relação do usuário com o conteúdo, tais como os trabalhos do artista Jeffrey<br />
Shaw, do Grupo Hiperbody Research, do Ivrea e do Interrogative Desing Group.<br />
Jeffrey Shaw, artista e pesquisador inglês tem um experimento emblemático para exemplificar um<br />
processo de interação físico-digital: The Legible City. A versão apresentada em 1990, composta por<br />
uma bicicleta presa a um suporte metálico que permite ao usuário pedalar e mover o guidom, mas<br />
sem sair do lugar. Na sua frente há uma tela onde é projetada uma simulação tridimensional de um<br />
labirinto cujas paredes são letras em grande escala. Na interface física bicicleta, há um dispositivo<br />
que capta e transforma em dados digitais a velocidade da pedalada e as direções do guidom. O<br />
sistema digital usa destes dados como input para animar a simulação na tela dando ao usuário a<br />
ilusão que ele está se movendo e passeando pelo labirinto. O labirinto está organizado segundo a<br />
planta de três grandes cidades e os textos que compõem o ambiente tridimensional fazem referência<br />
à informações sobre essas cidades. A interface física bicicleta apresenta um conteúdo fechado, ela<br />
destina-se apenas a pedalar durante a interação. Porém cria junto à interface digital, um estímulo<br />
físico para que o usuário componha um texto próprio, apresentando uma possibilidade aberta de<br />
interação. Embora as palavras sejam sempre as mesmas e o usuário tenha que superar a barreira da<br />
língua em que foram escritas, as possibilidades de configuração do texto formado são grandes,<br />
rompendo com a linearidade e permitindo que o usuário crie significações próprias. Em outra<br />
configuração desse mesmo trabalho, Jeffrey Shaw dispõe em locais públicos as mesmas bicicletas e<br />
o sistema digital é apresentado numa caixa com uma tela de vídeo. Vários usuários em cidades e<br />
locais diferentes podem acessar o sistema como na outra versão. Mas ao pedalar e passear pelos
labirintos de textos encontram os outros usuários que estão utilizando o sistema naquele momento,<br />
visualizando-os através de seus avatares (representação do corpo no espaço digital). É possível que<br />
eles conversem em tempo real por um microfone disposto na bicicleta.<br />
Outra interface física-digital relevante encontrada no levantamento, cujo conteúdo tem natureza mais<br />
aberta, é a Muscle Reconfigured, uma instalação criada pelo grupo Hiperbody Research na<br />
Faculdade de Arquitetura de Delft, coordenado pelo arquiteto já citado Kas Oosterhuis. Essa<br />
instalação procura criar um ambiente reativo, onde a presença e a interação do usuário permitem que<br />
a configuração deste seja modificada. O ambiente em formato de envelope é feito de placas de um<br />
material chamado Hilito, uma liga que combina características do plástico e do metal. Junto a essas<br />
placas está conectado um sistema de cabos pneumáticos e sensores. Este sistema físico se conecta,<br />
por sua vez a um ambiente digital que gerencia a pressão nos cabos. Sensores instalados juntos às<br />
placas avaliam a proximidade dos usuários e a pressão do toque sobre elas, codifica esses dados<br />
como um input para o ambiente digital que coordenará o movimento dos cabos pneumáticos,<br />
permitindo que estes estiquem ou contraiam as placas de Hilito, alterando o formato do ambiente-<br />
envelope. O sistema físico por si, apresenta um conteúdo fechado, tende a oferecer poucas<br />
possibilidades espaciais e interação com o usuário. Porém, avança em relação à interface de Shaw,<br />
pois não usa a reconfiguração do texto para abrir o conteúdo, mas instala um contexto realmente<br />
aberto para a experimentação do espaço pelo usuário. A conexão com o sistema digital traz<br />
dinamicidade para esse ambiente a medida que permite que novas configurações sejam feitas. Como<br />
em outros exemplos a interface digital abre potencialidades dentro do sistema físico, rompendo a<br />
estaticidade do espaço-envelope, inserindo o usuário como agente participante na definição da forma<br />
momentânea do espaço.<br />
O Ivrea, Interaction Design Institute, é um instituto Italiano de pesquisa que investiga produtos e<br />
objetos que possam interagir em diferentes modos com os usuários. Sublinhando suas experiências<br />
dentro de campos variados como arquitetura, moda, robótica, desenho crítico entre outros, vem<br />
desenvolvendo diferentes interfaces que atendem a propósitos diversos, sempre focando uma<br />
interação mais efetiva entre os sistemas digitais e os sistemas físicos. Buscam promover um<br />
envolvimento maior dos usuários com os sistemas mediados tecnologicamente expandindo os<br />
aspectos interativos para o contexto cotidiano das residências e aos espaços destinados ao<br />
entretenimento. Investigam nesses ambientes demandas futuras que possam surgir do envolvimento<br />
com a tecnologia em vários aspectos. Os projetos desenvolvidos no Ivrea tendem a levantar<br />
possibilidades de que a própria experiência do usuário com a interface possa desenvolver as suas<br />
apropriações posteriores.<br />
Um dos projetos desenvolvidos neste instituto é o Tableportation, um jogo desenvolvido por Giorgio<br />
Olivero (Itália) and Peggy Thoeny (Liechtenstein), 2003, enquanto alunos do mestrado pelo Ivrea. A<br />
proposta desses dois pesquisadores é criar um jogo que estimule novas formas de interação social<br />
através de uma interface físico-digital usando o espaço tradicional de um café. Imagens de vídeo da<br />
atividade nas superfícies das mesas são captadas por câmeras montadas acima destas e projetadas<br />
na parede do café, formando um mosaico. O espaço potencial formado, desmancha a separação<br />
física existente entre as mesas, possibilitando aos usuários interagirem com os vizinhos da matriz<br />
formada pelas imagens da câmera, expondo e observando o espaço antes particular da sua mesa. As<br />
superfícies das mesas possuem pequenas luzes embutidas que se acendem pelo toque dos usuários<br />
formando desenhos, letras, símbolos, sobrepondo-se a informação captada pelo vídeo e propondo<br />
possibilidades de comunicação não previstas, estimulando interações e apropriações não-habituais<br />
do espaço.<br />
A configuração do mosaico cria possibilidades não existentes. A forma não habitual de acesso e<br />
comunicação potencializa distintas relações dentro do ambiente do café que não estariam evidentes.<br />
Ao brincar com as proximidades a interface torna-se um dispositivo problematizador e faz com que os<br />
usuários percebam o espaço do café e suas relações com os outros usuários. Esta característica já<br />
enfocada na interface física de Rakowitz, também encontra correspondência com uma outra interface<br />
físico-digital que será discutida abaixo.
Tableportation ( fonte : ww.interaction-ivrea.it)<br />
O Interrogative Desing Group é um grupo de pesquisa do MIT, que procura através da junção entre<br />
arte e tecnologia, produzir um design crítico que examina, expõe e tenta responder aos<br />
questionamentos culturais da atualidade, provocando e inspirando novas questões. O grupo tem<br />
desenvolvido importantes trabalhos coordenados pelo artista Krzysztof Wodiczko.<br />
Um destes trabalhos é intitulado Dis-Armor. Esta interface física-digital é um vestível que oferece uma<br />
forma de comunicação indireta e mediada, possibilitando ao usuário falar através de suas costas. O<br />
Dis-Amour foi desenvolvido especificamente para um grupo de crianças em escolas no Japão que<br />
tinham graves problemas de comunicação advindos de situações de violência, abandono e abuso em<br />
seus lares. A interface criada pelo Interrogative Desing Group era composta por um capacete onde<br />
havia câmeras que captavam imagens dos olhos da criança que usava o dispositivo, essas imagens<br />
eram exibidas em duas telas LCD, penduradas como uma mochila nas suas costas. Um microfone<br />
instalado junto a este sistema também captava e amplificava suas vozes. De forma reversa, havia um<br />
sistema que transmitia a imagem e voz do interlocutor para a criança, criando possibilidades de<br />
comunicação entre eles, sem que estes se colocassem frente a frente. Ao fazer uso desse dispositivo<br />
algumas das crianças conseguiram desenvolver alguma forma de comunicação e recuperaram-se<br />
gradualmente dos seus traumas.<br />
Na interface Dis-Armour, torna-se difícil falar em um conteúdo existente a princípio. A sua natureza<br />
aberta propicia que o usuário estabeleça sua forma de relação com a interface e crie suas próprias<br />
interações e seus conteúdos. A forma de apropriação da interface, é que de fato será questão de<br />
análise. Essa característica propicia que o problema da comunicação torne-se evidente para o<br />
usuário, e que este proponha meios de se relacionar com ele. Ao invés de uma solução, a interface<br />
desestabiliza a relação habitual do usuário com o seu próprio processo comunicativo, expondo e<br />
ampliando suas particularidades ou dificuldades em se comunicar. As soluções encontradas pelo<br />
usuário virão a partir das suas próprias experiências e processos pelos quais ele mesmo irá<br />
desencadear.<br />
<strong>Interfaces</strong> físicas, digitas e híbridas : acessos e experiências<br />
Se por um lado as interfaces físicas tendem a ter seu conteúdo fechado, pois sempre estão<br />
destinadas a algum tipo de uso específico, por outro lado, a manipulação direta destas cria para o<br />
usuário possibilidades maiores de acesso a esse conteúdo. Nas interfaces físicas o usuário torna-se<br />
capaz de gerir sua própria experiência. Porém, essa mesma característica que a princípio aponta<br />
para autonomia do usuário e seu engajamento físico irá também aproximá-lo ao universo de seus<br />
hábitos. Isto tende a se configurar porque as interfaces físicas estão pré determinadas, abrindo uma<br />
grande margem para se agir previsivelmente. Apresentam assim, em princípio, um contexto habitual,
mas podem, pela acessibilidade do conteúdo e possibilidades de gestão da experiência, criar um uso<br />
não habitual.<br />
Já nas interfaces digitais o conteúdo tende a ser aberto e possível de ser atualizado. Porém o acesso<br />
a este é mediado por dispositivos com funcionamento específico e de comportamento programado<br />
que tentam reproduzir superficialmente as interações nos sistemas físicos habituais. No entanto<br />
essas interfaces criam contextos não-habituais de interação, já que podem, principalmente, utilizar<br />
modelos conceituais mais abstratos, prescindindo da fisicalidade e agenciando fatores de diferentes<br />
ordens, possíveis apenas nos ambientes digitais. Apresentam assim um contexto em princípio não<br />
habitual, favorecendo soluções imprevistas, mas podem, pelas restrições impostas pelo acesso ao<br />
conteúdo, apresentar um uso habitual.<br />
As interfaces físico-digitais e digital-fisicas, conjugam valores dos dois sistemas. Sua potencialidade<br />
reside na colaboração mútua que promove aberturas no acesso dos conteúdos das interfaces,<br />
permitindo que os usuários criem seus próprios modos de interação. No processo de interação físicodigital,<br />
o acesso ao ambiente digital é uma interface física, que embora propicie o desenvolvimento de<br />
uma relação habitual, terá suas potencialidades realizadas no ambiente digital onde o input reverbera.<br />
No trabalho já citado Legible City de Jeffrey Shaw, nota-se que a bicicleta na qual o usuário pedala<br />
substitui o dispositivo de navegação usual, ou seja, o mouse e o teclado. Ao mesmo tempo em que<br />
esta interface física, bicicleta, agrega uma nova função à maneira de acessar o conteúdo, o próprio<br />
conteúdo digital também é revisto. A bicicleta como interface física supre a falta de engajamento<br />
corporal que caracteriza, na maioria das vezes, o acesso ao conteúdo digital. Por sua vez o ambiente<br />
digital oferece um contexto não habitual para que o usuário possa acessar a cidade, que é<br />
apresentada como um texto que ele reconfigura. Já na interação digital-física o usuário irá acessar a<br />
interface física através de um dispositivo digital. Este processo traz aberturas para a interface física<br />
que tende a ter o conteúdo fechado e um princípio habitual de interação. Por outro lado, a interface<br />
física irá promover o engajamento físico do usuário resgatando sua experiência. No trabalho Muscle<br />
Reconfigured do arquiteto Kas Oosterhuis, uma interface digital permite a interação do usuário,<br />
conectando-se a um dispositivo que irá deformar placas metálicas que compõem um ambiente físico.<br />
O conteúdo deste ambiente, ou seja, espacialidades, poderá ser atualizado pelos usuários, criando<br />
dinamicidade para esse sistema físico. O arquiteto ainda prevê o envolvimento de outros parâmetros<br />
para atualização desse ambiente, como temperatura do entorno, fluxos de movimentos dos usuários,<br />
variação das intensidades luminosas ou sonoras, criando contextos não habituais de interação.<br />
Muscle Reconfigured avança no exemplo de Jeffrey Shaw pois supera a barreira da produção de<br />
significados a partir de texto, que advém da leitura e interpretação das palavras, propondo a<br />
experiência do espaço pelo corpo como produtora de significação.<br />
<strong>Interfaces</strong> Híbridas : potencialidades de usos nas estratégias projetuais envolvendo<br />
usuários leigos ou não<br />
A intenção do Grupo Mom em criar, futuramente, um ambiente de projeto inserindo o corpo como<br />
principal agente na articulação das espacialidades e apropriando-se dos meios físicos e digitais,<br />
encontra um ambiente possível no contexto das interfaces físico-digitais e digital-físicas. A<br />
acessibilidade das interfaces físicas cria para o usuário uma autonomia que possibilita a este<br />
gerenciar a sua própria experimentação. Porém, considerando-se a inserção de um conteúdo digital,<br />
o usuário poderá ser guiado não só por suas experiências, mas terá acesso as informações contidas<br />
no sistema digital, que necessariamente não estariam “em suas mãos”. Este conteúdo digital<br />
articularia desde dados técnicos muito específicos ou até mesmo, informaria sobre possibilidades a<br />
serem experimentadas pelo usuário, estabelecendo uma parceria e colaboração que de fato<br />
poderiam ampliar as possibilidades do experimento.<br />
Num exemplo hipotético e fazendo-se uso das tecnologias disponíveis atualmente, poderíamos<br />
imaginar um ambiente de projeto onde uma interface física possibilitasse ao usuário testar<br />
espacialidades construindo um ambiente físico preferencialmente na escala do seu corpo. Este
sistema, já citado na interface física do Grupo MOM, estaria conectado a algum conteúdo<br />
programático que possibilitasse ao usuário através da sua interação, estabelecer um diálogo que<br />
estaria atualizando esse ambiente. Esse conteúdo programático encontra-se em desenvolvimento,<br />
em uma das linhas de pesquisa do Grupo MOM, chamada IDA.<br />
O IDA (Instrumentos de Apoio ao Projeto Habitacional com Sistemas Construtivos Alternativos) é um<br />
projeto financiado pela FINEP, no edital Habitare 2004. Ele se destina à criação de um banco de<br />
dados de processos, sistemas e componentes construtivos não convencionais, enfocando<br />
especialmente os pré-fabricados e industrializados leves. O banco de dados será articulado a uma<br />
interface manipulável via web. Esta interface digital também poderá ser conectada a interface física<br />
desenvolvida pelo Grupo Mom e este conjunto se constituirá como uma interface físico-digital.<br />
Como uma possibilidade deste arranjo, o sistema digital projetará sobre o ambiente físico imagens<br />
dos componentes de vedação ou aberturas, encontrados no banco de dados criado pelo IDA.<br />
Também seria capaz de simular espaços potenciais que poderiam estar conectados ao espaço físico.<br />
Outra colaboração possível do sistema digital seria uma avaliação qualitativa do espaço, a partir de<br />
um modelo tridimensional referente ao ambiente que estaria sendo construído fisicamente. Esta<br />
interface digital analisaria e ofereceria informações sobre os sistemas construtivos mais adequados<br />
para se executar aquela conformação espacial, componentes construtivos e custos, bem como,<br />
simularia condições de conforto ambiental.<br />
Percebe-se assim que a colaboração destes sistemas possibilita a criação de estratégias de projeto<br />
que ao aliar o recurso digital ao recurso físico, promove aberturas que reverberam em uma maior<br />
autonomia para o usuário. A implementação desses ambientes como ferramentas de projeto poderá<br />
certamente favorecer as práticas de experimentação e auto-construção de espaços, dado que para o<br />
Grupo Mom torna-se potencial no desenvolvimento de sua atuação.<br />
Notas<br />
1 ZIELINSKI, Siegfried. Arts and Apparutuses – Dramaturgies of Differences.<br />
Fonte : http:/www.wro.getin.pl/wro2k/html/mediationmedialization_en.html# | acesso junho 2005<br />
2 OOSTERHUIS, Kas. Fonte : http://www.oosterhuis.nl/quickstart/index.php?id=195 |<br />
acesso: agosto 2005<br />
Referências Bibliográficas<br />
LAUREL, Brenda. The art of human-computer interface design; Inglaterra : Addison Wesley 1999.<br />
KAY, Alan.’The computer revolution hans´t happended yet’, in<br />
www.doorsofperception.com/doors/doors5/content/Kay.html | acesso: agosto 2005.<br />
TAPHAM, Sean. Move house; Alemanha: Prestel, 2004.<br />
SUCHMAN, Lucy. ‘Human/Machine Reconsidered’, in<br />
www.lancaster.ac.uk/sociology/soc41.html<br />
PARENTE, André. Imagem Máquina: A Era das Tecnologias do Virtual; Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.<br />
PARENTE, André. O Virtual e o Hipertextual; Rio de Janeiro: Pazulin, 1999.<br />
www.eyetoy.com | acesso: agosto 2005.<br />
web.mit.edu/idg | acesso: agosto 2005.
www.jeffrey-shaw.net | acesso: agosto 2005.<br />
www.possibleutopia.com/mike | acesso: agosto 2005.<br />
www.oosterhuis.nl | acesso: agosto 2005.<br />
www.playstation.com | acesso: agosto 2005.<br />
www.interaction-ivrea.it | acesso: agosto 2005.<br />
www.arq.ufmg.br/mom | acesso: agosto 2005.