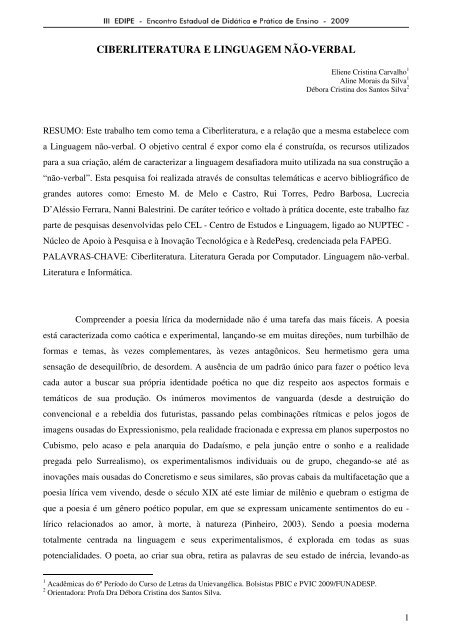CIBERLITERATURA E LINGUAGEM NÃO-VERBAL - CEPED - UEG.
CIBERLITERATURA E LINGUAGEM NÃO-VERBAL - CEPED - UEG.
CIBERLITERATURA E LINGUAGEM NÃO-VERBAL - CEPED - UEG.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>CIBERLITERATURA</strong> E <strong>LINGUAGEM</strong> <strong>NÃO</strong>-<strong>VERBAL</strong><br />
Eliene Cristina Carvalho 1<br />
Aline Morais da Silva 1<br />
Débora Cristina dos Santos Silva 2<br />
RESUMO: Este trabalho tem como tema a Ciberliteratura, e a relação que a mesma estabelece com<br />
a Linguagem não-verbal. O objetivo central é expor como ela é construída, os recursos utilizados<br />
para a sua criação, além de caracterizar a linguagem desafiadora muito utilizada na sua construção a<br />
“não-verbal”. Esta pesquisa foi realizada através de consultas telemáticas e acervo bibliográfico de<br />
grandes autores como: Ernesto M. de Melo e Castro, Rui Torres, Pedro Barbosa, Lucrecia<br />
D’Aléssio Ferrara, Nanni Balestrini. De caráter teórico e voltado à prática docente, este trabalho faz<br />
parte de pesquisas desenvolvidas pelo CEL - Centro de Estudos e Linguagem, ligado ao NUPTEC -<br />
Núcleo de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica e à RedePesq, credenciada pela FAPEG.<br />
PALAVRAS-CHAVE: Ciberliteratura. Literatura Gerada por Computador. Linguagem não-verbal.<br />
Literatura e Informática.<br />
Compreender a poesia lírica da modernidade não é uma tarefa das mais fáceis. A poesia<br />
está caracterizada como caótica e experimental, lançando-se em muitas direções, num turbilhão de<br />
formas e temas, às vezes complementares, às vezes antagônicos. Seu hermetismo gera uma<br />
sensação de desequilíbrio, de desordem. A ausência de um padrão único para fazer o poético leva<br />
cada autor a buscar sua própria identidade poética no que diz respeito aos aspectos formais e<br />
temáticos de sua produção. Os inúmeros movimentos de vanguarda (desde a destruição do<br />
convencional e a rebeldia dos futuristas, passando pelas combinações rítmicas e pelos jogos de<br />
imagens ousadas do Expressionismo, pela realidade fracionada e expressa em planos superpostos no<br />
Cubismo, pelo acaso e pela anarquia do Dadaísmo, e pela junção entre o sonho e a realidade<br />
pregada pelo Surrealismo), os experimentalismos individuais ou de grupo, chegando-se até as<br />
inovações mais ousadas do Concretismo e seus similares, são provas cabais da multifacetação que a<br />
poesia lírica vem vivendo, desde o século XIX até este limiar de milênio e quebram o estigma de<br />
que a poesia é um gênero poético popular, em que se expressam unicamente sentimentos do eu -<br />
lírico relacionados ao amor, à morte, à natureza (Pinheiro, 2003). Sendo a poesia moderna<br />
totalmente centrada na linguagem e seus experimentalismos, é explorada em todas as suas<br />
potencialidades. O poeta, ao criar sua obra, retira as palavras de seu estado de inércia, levando-as<br />
1 Acadêmicas do 6º Período do Curso de Letras da Unievangélica. Bolsistas PBIC e PVIC 2009/FUNADESP.<br />
2 Orientadora: Profa Dra Débora Cristina dos Santos Silva.<br />
1
para as infinitudes da poesia, não as limitando às ordens fonológica, morfossintática e semântica<br />
estabelecidas, mas a uma habilidade criadora que as submete a um universo de linguagem ilimitado.<br />
Como princípios estéticos e ideológicos que possibilitam a percepção de linhas de força análogas no<br />
lirismo moderno, temos: o antipassadismo, como ruptura com a tradição cultural e o desejo de criar<br />
uma nova estética; a sugestão, tendendo mais a sugerir que a comunicar, chegando-se ao extremo da<br />
“não-comunicação”; a despersonalização, devido à crise do conceito de personalidade, que reduziu<br />
a condição do ser humano; a fragmentação, apresentando não a totalidade da vida, mas apenas<br />
fragmentos da realidade; o figurativismo penetrando no campo do desenho artístico, rompendo<br />
fronteiras e buscando pontos de intersecção entre técnicas e maneiras; e o grotesco, colocando o<br />
feio como um valor intrínseco, autônomo, estabelecendo novos padrões estéticos (D’Onofrio,<br />
1978). A partir de um repertório totalmente novo, o homem começa a fazer criações fantásticas, ao<br />
ponto de muitos não distinguirem o que é literatura e o que não é. E com o advento da informática e<br />
da era digital, a Ciberliteratura vem proporcionar um espetáculo de novas criações poéticas, fazendo<br />
com que o leitor mergulhe em um mundo de cores, sons, movimentos, além de poder interagir com<br />
a leitura através de ferramentas do computador.<br />
Os primeiros livros inteiramente publicados como resultados de Literatura Gerada por<br />
Computador (LGC) surgiram na década de 70 na Espanha e em Portugal. Entretanto, a sigla LGC já<br />
havia sido criada por Alain Vuillemin no seu livro Littérature et Informatique (1966). O autor<br />
propôs este termo para designar globalmente todo este novo tipo de criação literária. A<br />
Ciberliteratura, LGC (Literatura Gerada por Computador) ou Infoliteratura são termos que<br />
designam um processo criativo nascido com a tecnologia da informática, em que o computador é<br />
utilizado, de forma criativa, como manipulador de signos verbais e não-verbais, deixando de ser<br />
apenas simples armazenador e transmissor de informação, que é o seu uso corrente. Tal uso do<br />
computador, extensível de forma geral à Arte Assistida por Computador e à Ciberarte ( composição<br />
musical, criação de imagens sintéticas, cinema animado por computador), varia de acordo com as<br />
potencialidades gerativas do algoritmo introduzido nos programas. Tais programas podem possuir<br />
algoritmos de base combinatória, aleatória, estrutural, interativista ou mista (combinando uma ou<br />
mais destas modalidades). Em seu estado atual a LGC abrange três grandes linhas, gêneros ou<br />
tendências de criação textual, as quais muitas vezes podem assumir uma forma mista: a Poesia<br />
Animada por Computador (introduz novas componentes no domínio da textualidade, movimento e<br />
temporalidade, é uma das tendências que resulta da utilização criativa do computador para fins<br />
literários), Literatura Generativa (produção de textos literários continuamente cambiáveis por meio<br />
de um dicionário específico e uso de algoritmos) e a Hiperficção (literatura produzida e<br />
disponibilizada nos meios digitais, como world wide web, disquetes e CD-Rooms; a ficção em<br />
hipertexto constitui-se de histórias repletas de bifurcações e com várias escolhas de sequência<br />
2
narrativa). A leitura não se desenvolve de forma linear na Hiperficção, mas através da ativação de<br />
links por parte do leitor que escolhe o seu percurso individual de leitura, participando desta maneira<br />
na elaboração da própria obra; deparando-se com novas relações entre o autor e o leitor. Este<br />
transforma-se em co-autor e a obra não pré-existe à leitura, é um objeto a ser construído pelo leitor<br />
que lhe confere não só uma interpretação, como até agora sucedia na leitura tradicional. Na<br />
Ciberliteratura, o computador funciona como “máquina aberta”, uma máquina onde a informação de<br />
entrada input é diferente da informação de saída output, por se diferenciar das “máquinas fechadas”,<br />
como é o gravador de áudio e vídeo, onde a informação de entrada é igual à informação de saída. O<br />
computador no seu todo equivale a uma máquina semiótica, criadora de informação nova, o que<br />
produz uma alteração em todo o circuito comunicacional da literatura no que concerne à criação, o<br />
suporte e a circulação da mensagem. (Pedro Barbosa, 2001)<br />
Além de utilizar recursos inéditos, o que mais intriga neste tipo de literatura é o fato dela<br />
utilizar constantemente um tipo de linguagem desafiadora, a Linguagem não-verbal. Como dizia o<br />
lógico, matemático, físico e filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, “não podemos pensar<br />
sem signos”. O Signo é uma entidade de duas faces, o significado e o significante, que se reclamam<br />
reciprocamente quando comunicamos. Os Signos podem ser verbais e não-verbais, o signo não-<br />
verbal é de baixa definição, ou seja, a informação dele decorrente pode ser rica, porém pouco<br />
saturada em relação à precisão dos seus dados. A fragmentação sígnica é a marca da Linguagem<br />
não-verbal; nela não encontramos um signo, mas signos aglomerados sem convenções: sons,<br />
palavras, cores, traços, tamanhos, texturas. Não há convenção, não há sintaxe que as relacione: sua<br />
associação está implícita, ou melhor, precisa ser produzida (Ferrara, 2007).<br />
A variedade sígnica que compõe o não-verbal mescla todos os códigos, de modo que o<br />
próprio verbal pode compor o não-verbal, mas não tem sobre ele qualquer força hegemônica e<br />
centralizante; ao contrário, a palavra nele se distribui, porem não o determina, como no poema<br />
Amor de Clarice, de Rui Torres. Podemos chamar a esta variedade e combinação de signos de<br />
intersemiotização: linguagem complexa estruturalmente, porém mais eficiente enquanto<br />
possibilidade de representação. O texto não-verbal não agride nossa atenção, o hábito de atuar nos<br />
mesmos espaços e ambientes faz com que eles sejam cada vez mais iguais e imperceptíveis,<br />
tornando árdua e diversificada a tarefa de seu receptor.<br />
As teorias do formalismo e do futurismo, através de Chklovski, já definiam a<br />
especificidade da obra de arte literária em particular, como um modo ‘difícil’ de organizar a<br />
realidade, que deve levar o receptor a estranhá-la e obrigá-lo a uma reflexão pra identificá-la,<br />
ou seja, é necessário “reconhecer” a realidade, conhecê-la outra vez. Mas, como o texto não-<br />
verbal não agride nossa atenção, ele se torna cada vez mais imperceptível e homogêneo, o que<br />
nos faz ter extrema dificuldade neste “reconhecimento”. O novo não é passível ao<br />
3
conhecimento, esta faculdade se inicia a partir de um elemento anterior, já sedimentado na<br />
memória informacional.<br />
Há pouco pra ensinar quanto a um método de leitura não-verbal, ou seja, não há um<br />
método fixado e sobretudo, predeterminado, e sim procedimentos metodológicos, porém a sua<br />
operacionalização depende da natureza e da dinâmica de cada objeto lido. Quando falamos em<br />
métodos podemos salientar quatro aspectos: a necessidade de se estabelecer um modo de ler; esse<br />
modo se refaz ou se completa a cada leitura, visto que o próprio objeto lido sugere, na sua dinâmica,<br />
como deve ser visto; a necessidade de ter presente que o que vemos no objeto lido é resultado de<br />
uma operação singular entre o que está no objeto e a memória das nossas informações e<br />
experiências emocionais e culturais, individuais e coletivas, logo o resultado da leitura é sempre<br />
possível, mas jamais correto ou total; e a necessidade de ousadia nas associações para que se possa<br />
flagrar uma idéia nova, uma comparação imprevista, uma hipótese explicativa inusitada. A eleição<br />
de uma dominante desperta a atenção para o ambiente espacial, para o texto que nos envolve, porém<br />
ela é estratégica e metodologicamente ambiciosa. Em outras, palavras, é operacional, porque dela<br />
depende a despasteurização do habitual, tornando heterogêneo o homogêneo. Hierarquiza-se a<br />
textura indicial e isto nos permite estranhar o ambiente e colocar em crise o hábito de ver, perceber<br />
e ousar.<br />
Este artigo faz parte da pesquisa que integra o projeto Palavra e Imagem na poesia<br />
luso-brasileira e o subprojeto Augusto de Campos e Ernesto M. de Melo e Castro: Do verbo<br />
ao pixel, com a participação colaborativa da UFG, <strong>UEG</strong>, UniEvangélica, ligada ao projeto,<br />
intitulado Estudos Transversais de Lírica Brasileira Contemporânea: leitura e ensino de<br />
poesia nas escolas, que integra a REDE DE PESQUISA EM LEITURA E ENSINO DE<br />
POESIA, credenciada pela FAPEG. O subprojeto mencionado anteriormente está sendo<br />
desenvolvido dentro dos projetos PBIC-PVIC/2009 da UniEvangélica e está inserido dentro do<br />
projeto Ler.com. oferecido pelo CEL (Centro de Estudos e Linguagens) da mesma IES, a partir<br />
do 2º semestre de 2009. O projeto busca promover oficinas de capacitação de professores, para<br />
a leitura e o ensino de língua e literatura. Esta pesquisa foi desenvolvida através de pesquisas<br />
bibliográficas e telemáticas, possibilitando um aprofundamento teórico sobre a poesia<br />
experimental e literatura digital.<br />
REFERÊNCIAS<br />
FERRARA, Lucrecia D’Aléssio. Leitura sem palavras. 5. ed. São Paulo: Ática, 2007.<br />
VUILLEMIN, Alain (ed., 1996). Littérature et informatique - la littérature générée par<br />
ordinateur. Artois Presses Université, Arras.<br />
4
BARBOSA, Pedro. Ciberliteratura, inteligência artificial e criação de sentido. Disponível em:<br />
Acesso em: 31/07/2009.<br />
CASTRO, Ernesto M. de Melo e. Disponível em: . Acesso em:03/08/2009.<br />
FINIZOLA, Fátima. Novas interferências do meio digital. Disponível em: >http//www.coriso.net/<br />
.../Poesia%20Concreta%20Contemporânea%20-%20Novas%20Interferências%20doMeio%20<br />
digital%20.pdf>. Acesso em: 03/08/2009.<br />
Ciberliteratura. Disponível em: . Acesso em:<br />
04/08/2009.<br />
POESIA Experimental Portuguesa – Cadernos e Catálogos. Disponível em: . Acesso em: 10/08/2009.<br />
5