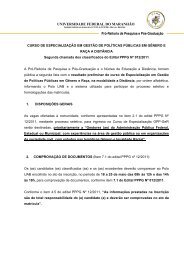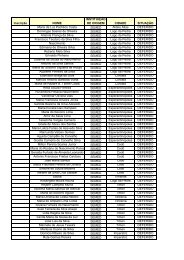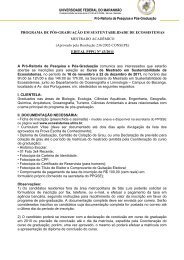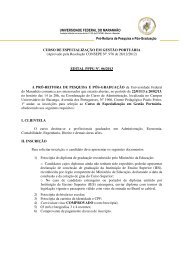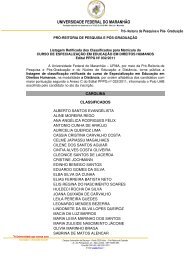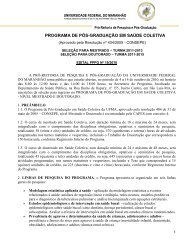CDU 37.018.51 A ESCOLA COMUNITÂRIA: Algumas ... - PPPG - Ufma
CDU 37.018.51 A ESCOLA COMUNITÂRIA: Algumas ... - PPPG - Ufma
CDU 37.018.51 A ESCOLA COMUNITÂRIA: Algumas ... - PPPG - Ufma
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A <strong>ESCOLA</strong> <strong>COMUNITÂRIA</strong>: <strong>Algumas</strong> Considerações<br />
<strong>CDU</strong> <strong>37.018.51</strong><br />
Dilercy Aragão Adler*<br />
RESUMO<br />
Faz-se inicialmente um estudo acerca dos antecedentes históricos da or<br />
ganização do sistema de ensino brasileiro, cuja construção leva ao surgimento da<br />
escola comunitária, e tenta-se ainda, delinear um perfil dessa escola e algumas<br />
considerações. Objetiva ainda trazerã baila, mais uma vez, o debate concernente<br />
à relação entre o Estado e a escola comunitária, aqui entendida como expressãode<br />
reivindicação popular, ao Estado, no tocante à sua omdssao quanto ao atendimento<br />
necessário na área da Educação.<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
o presente artigo trata<br />
de alguns enfoques acerca da Es<br />
cola Comunitária. Torna corno refe<br />
rência várias leituras sobre o<br />
terna e, principalmente, o traba<br />
lho de Marília Pontes Sposito e<br />
Vera Masagão; Escolas Comunitá<br />
rias: contribuição para o debate<br />
de novas políticas educacionais;o<br />
Projeto de Pesquisa Contribuição<br />
ao Estudo da Escola Comunitária,<br />
em são Luís-MA (1), das professo<br />
ras da Universidade Federal do Ma<br />
ranhão: Celia Soares Martins,<br />
rIma vieira do Nascimento, sob a<br />
Coordenação da Profª Maria Ali<br />
ce MeIo.<br />
Nas sociedades de modo<br />
de produçio capitalista, o Esta<br />
do assume o papel de mediador<br />
das relações sociais e sempre em<br />
consonância com os interesses<br />
que ele representa, os da clas<br />
se dominante. No entanto,no co~<br />
fronto permanente de forçasant~<br />
gônicas que existe, essa post~<br />
ra parcial não pode ser expl{c!<br />
tamente manifesta, daí e q~e o<br />
Estado, para assegurar a sua he<br />
* Psicóloga da UFMA e aluna do Curso de Mestrado em Educação da UFMA.<br />
(1) Pesquisa em fase de elaboração de Relatório da qual a autora participou dos estudos teóricos.<br />
114 Cad. pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan.ijun. 1991.
gemonia, inclui no seu projeto<br />
algumas, dentre as reivindica<br />
ções da classe dominada. A inci<br />
piente organização dos grupos do<br />
minados pouco tem conseguido as<br />
segurar nessa injusta e desigual<br />
correlação de forças.<br />
No bojo d~ discuss~da<br />
conjuntura brasileira encontra-<br />
se a questão da educação e, ne<br />
Ia, a escola pública, entendida<br />
aqui corno aquela que ministra o<br />
ensino oficial, ou seja, aquele<br />
mantido pela União, pelos Esta<br />
dos ou Municípios, através dos<br />
seus recursos públicos . Nessa d.§.<br />
finição de pública estão embuti:.<br />
das as dimensões derrocráticas(2),<br />
gratuita e laica.<br />
No Brasil, a questão da<br />
educação pública é bem diversa<br />
dos paises europeus, pois suas<br />
condições sócio-econômicas e PQ<br />
liticas traduzem indicadores dos<br />
mais perversos dentre as elites<br />
dos demais países capitalistas,<br />
ou seja:<br />
a) enquanto países, mes<br />
mo os da América Latina recem-<br />
independentes, já possuíam 50<br />
lidas redes de ensino público,<br />
inclusive rurais, no. Brasil o im<br />
perador D. Pedra 11 criava, no<br />
Rio de Janeiro, urna escola para<br />
cegos e urna para su~dos;<br />
b) as lutas dos educa<br />
dores, políticos, intelectuais e<br />
grupos organizados do operari~<br />
do brasileiro contra o Estado,<br />
objetivando forçá-lo a oferecer<br />
educação laica, pública e uni<br />
versal foram iniciados bem mais<br />
tarde que as do Chile, Argenti:.<br />
na, paraguai e Uruguai;<br />
c) e, até o momento<br />
àtual, o país não conseguiu ex<br />
terminar o analfabetismo, apr.§.<br />
sentando grandes contingentes de<br />
crianças e adolescentes excluí<br />
dos da educação escolarizada e<br />
percentual alarmante de adultos<br />
analfabetos.<br />
No Maranhão, a taxa de<br />
analfabetismo (dados de 1980)<br />
correspondia a 52,8% em relação<br />
a população de 15 anos e mais:<br />
a segunda mais alta do país. A<br />
média de escolaridade, em anos<br />
letivos, para a população mara<br />
nhense de 05 anos e mais (dados<br />
de 1980), é de 2, 3 e 1,7 anos na<br />
(2) Segundo CUNHA o ensino democrático é aquele que sendo estatal não está sujeito a mandonismo ou<br />
castas burocráticas nem àqueles que o administram. É sim, aq\lele cuja gestão é exercida pelos<br />
interesses da coletividade, seja indiretamente pela intermediação do Estado, seja diretamente<br />
pelo princIpio da reperesentação e da administração co1egiada.<br />
CUNHA, Luís A. A educação na nova Constituição. são PauIo: Cort ez , 1983. p.<br />
Cad. Pesq., são Luís,v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991. 115
zona urbana e rural respectiv~<br />
mente, sendo que 60,9% nao e<br />
atendida pela escola. E,à medi<br />
da que aumentam os graus de es<br />
colarização, verifica-se um de<br />
crêscimo gradativo da absorção<br />
da população pelo sistema esco<br />
lar de ensino.<br />
Assim, a partir da in<br />
capacidade ou negligência da re<br />
de oficial de ensino atender o<br />
contingente populacional em id~<br />
de escolar, surge como alterna<br />
tiva a escola comunitária para<br />
aquele segmento da popu.Laçâo que<br />
sofre a exclusão da escola p~<br />
bIica.<br />
2 A <strong>ESCOLA</strong> <strong>COMUNITÂRIA</strong><br />
2.1 Antecedentes: síntese Histó<br />
rica da Organização Escolar<br />
no Brasil<br />
Sabe-se que a forma cQ<br />
mo evolui a economia, a cultura<br />
e como se organiza o poder (o<br />
sistema político) integrados ou<br />
não entre si, interfere direta<br />
mente na organização de ensino.<br />
A história da educaçãc<br />
brasileira é profícua em crises<br />
educacionais, reformas de ensi<br />
no, imposições de modismos e de<br />
têcnicas pedagógicas improvis~<br />
das e transplantadas de outras<br />
realidades socialmente distin<br />
tas, sem qualquer ressonãncia.<br />
Em cada fase da histõ<br />
ria do ensino brasileiro, perc~<br />
be-se o forte antagonismo de cor<br />
rentes conservadoras e moderniza<br />
doras com a primazia das primei<br />
ras, cabendo a estas, tanto O di<br />
recionamento da expansão do en<br />
sino como o controle da organi<br />
zação do sistema escolar. ~ es<br />
se embate de posturas que tem<br />
possibilitado a emergência de va<br />
riadas experiências, organiz!<br />
das, inclusive, por entidades<br />
da sociedade civil.<br />
Durante aproximadamente<br />
quatro sêculos o Brasil viveu<br />
uma economia de base agro-expo~<br />
tadora, cujas relações de traba<br />
lho eram predominanterente escra<br />
vagistas, não sendo necessária a<br />
elevação do nivel de instrução<br />
desse segmento da população.<br />
No decorrer da l~ Rep~<br />
blica hã uma mudança nesse qu~<br />
dro, em conseq6ência da intensi<br />
ficação da urbanização decorre~<br />
te, por sua vez, do processo de<br />
industrialização, do aparecime~<br />
to do movimento operário (com i~<br />
fluências anarquistas) abalando<br />
116 Cad. Pesq., São Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.
os ideais liberais. Com isso tor<br />
na-se necessária a recompos!<br />
ção do poder polIlico, através<br />
de instituições que assegurem o<br />
controle ideológico. A ampliação<br />
do acesso à escola pública ap~<br />
rece, então, como condição para<br />
a difusão ideo16gica capitalis<br />
ta e, conseqtientc-·'ünter como ins<br />
trumento para o i"ln:efecirrento das<br />
lutas politico-iJeológicas.<br />
Com o desenvolvimento<br />
do capitalismo e o avanço do prQ<br />
cesso de industrialização, a n~<br />
cessidade de estender o enSlno<br />
público torna-se premente, uma<br />
vez que, no final da lª Repúbl!<br />
ca a ampliação do acesso a esco<br />
Ia fora transformado na necessi<br />
dade de reformulação da educa<br />
çao, já que de certa forma, a<br />
"escolarização para todosfthavia<br />
colaborado na organização do op~<br />
rariado.<br />
:t: no período pós- lª Re<br />
pública - era Vargas - ( 1930 -<br />
1945) que se intensificou o Mo<br />
vimento dos pioneiros da Escola<br />
Nova, cuja preocupação era cen<br />
trada em torno da escola públ!<br />
ca "democratização da educação."<br />
O movimento escolanovista rei<br />
vindicava a intervenção do Esta<br />
do dada a precariedade do ensi<br />
no elementar.<br />
No período autoritário<br />
(1937-1945), a educação se torna<br />
instrumento de controle dos seg<br />
mentos populares, proliferaram<br />
as campanhas de educação e o oQ<br />
jeti vo do Governo era ter o maior<br />
numero possível de pessoas nas<br />
escolas. Através da escola pod~<br />
ria ser veiculada a ideologia da<br />
classe dominante para o exercí<br />
cio da hegemonia. Durante o Es<br />
tado Novo o Movimento Renovador<br />
se aq LL'Lz a ,<br />
Com a redemocratização<br />
do pai~ o ideário liberal volta<br />
à Cena fortalecido, tanto pela<br />
necessidade de qualificação da<br />
força re trabalho! como também<br />
pela retomada da crença no poder<br />
da educação. As estatísticas de<br />
então apontam crescimento sígn!<br />
ficativo.<br />
No periodo que antece<br />
de ao golpe militar de 1964, a<br />
luta pela educação pública se r~<br />
feria, t.ant.o à ampliação do ace~<br />
so à educação, como a rejeição<br />
à escola de classe.<br />
A conjuntura pré-64 foi<br />
propícia ao desenvolvimento de<br />
várias iniciativas. Ossegmentos<br />
populares estavam mobilizados o<br />
bastante para permitir avanços<br />
Cad. Pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991. 117
no processo de conscientização.<br />
Com origem estreitame~<br />
te ligados a instituições de so<br />
ciedade civil podem ser citadas<br />
as experiências dos Centros Po<br />
pulares de Cultura - CPCs, da<br />
União Nacional dos Estudantes -<br />
UNE; do Movimento de Cultura Po<br />
pular - MCP, em pernambuco; da<br />
Campanha de pé no chão Umbém se<br />
aprende a ler no Rio Grande do<br />
Norte; do Plano Nacional de AI<br />
fabetização do Ministêrio deEd~<br />
cação e Cultura com a particip~<br />
ção do Prof. Paulo Freire, do Ms::<br />
vimento de Educação de Base-MEB<br />
com atuacão a nível nacional.<br />
Alêm dessas experiê~<br />
cias haviam muitas outras com<br />
provadas pela presença ao I En<br />
contro Nacional de Alfabetização<br />
e Cultura Popular, realizado em<br />
Recife que registrou a presença<br />
de 77 movimentos dessa ordem.<br />
Com a reinstauração de<br />
um novo período autoritário(1964-<br />
1985), a sociedade civil passa<br />
por um dos movimentos de maior<br />
repressao. Os canais democráti<br />
cos de reivindicações passaram<br />
a sofrer restrições e censuras,<br />
as políticas sociais cada vez<br />
mais voltam-se para o interesse<br />
da elite.<br />
Nesse período, enquanto<br />
a expansao do ensino de 1ª a 4ª<br />
séries era da ordem de 25%; a do<br />
29 grau era em torno de 180% e a<br />
do 3º grau em torno de 200%, es<br />
tes dois últimos, em decorrência<br />
da privatização crescente nesses<br />
níveis de ensino(~.<br />
Nos últimos quinze anos,<br />
com a implantação dos grandes prQ<br />
jetos agro-pecuários, instauram-<br />
se novas relações no processo prQ<br />
dutivo, atingindo, tambêm,o sis<br />
tema educacIonal, que por exten<br />
sao, tambêm passa a incorporar<br />
sêrias contradições.<br />
No Maranhão, nesse p~<br />
ríodo, e instalado o Projeto<br />
Grande Carajás que se volta para<br />
a exportação de minêrio e alumí<br />
nio. O Estado do Maranhâo passa<br />
a apresentar uma nova configur~<br />
çao.<br />
Ao absorver uma area de<br />
hum milhão de quilõmetros quadr~<br />
dos, abrangendo parte dos Estados<br />
do Pará, Maranhão e do Estado de<br />
Tocantins, esse projeto afetou<br />
grande parcela das populações r~<br />
sidentes nesses Estados, especi<br />
almente no que se refere as con<br />
tradições decorrentes da produ<br />
ção/distribuição de riquezas nos<br />
diversos segmentos da população.<br />
(3) UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO.Departamento de Educacao , Contribui~~:, ""'0 estudo da. escola COlOU<br />
nitária em são luIs - Haranhão. são Luís, 1988. p. 15. Projeto de Pesquisa. (mimeogr.). -<br />
118 Cad. Pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.
Mães e similares, ou seja, em 10<br />
cais onde já existe uma certa ar<br />
ganização popular, um certo que~<br />
tionamento a respeito dos direi<br />
tos do cidadão. ~ muito freqUeg<br />
te esses grupos contarem com o<br />
apoio de agentes ligados princi.<br />
palmente à ação pastoral da Igre<br />
ja Católica;<br />
b) trabalham basicamen<br />
te com o ensino pré-escolar e .al<br />
fabetização de ciranças, jovens e<br />
adultos e dispõem, em média, de<br />
duas ou três turmas por períodos:<br />
crianças nos turnos diurn6s e<br />
adultos no noturno;<br />
c) tem como clientela fi<br />
lhos de trabalhadores de baixa<br />
renda e os próprios trabalhado<br />
res;<br />
d) não há nessas esco<br />
Ias ~a subordinação aos órgãos<br />
normativos ou administrativos das<br />
Secretarias de Educação. As for<br />
mas de gestão são bem variadas:<br />
em alguns casos, sao os líderes<br />
locais ou professores os respo~<br />
sáveis tanto pela gestão interna<br />
como pela relação com as agências<br />
financiadoras; ê comum também a<br />
·participação dos pais de. alunos<br />
e da comunidade nas decisões; há<br />
ainda algumas que funcionam nos<br />
Baldes administrativos vertica<br />
lizados;<br />
e) contam com parcos<br />
recursos financeiros, sendo que<br />
num primeiro momento são oriun<br />
dos do próprio esforço do grupo<br />
que busca levantá-Ias de forma<br />
variada e contam com serviços<br />
voluntários e num segundo mo<br />
merrco , é característica a ine<br />
vitável articulaçãojurito a di<br />
ferentes instâncias estatais,<br />
na busca de recursos para a sua<br />
manutenção, construção, compra<br />
de equipamentos, remuneração de<br />
pessoal, merenda escolar, etc.<br />
As principais agências de apoio<br />
são as Secretarias de Educação<br />
do Estado e dos Municípios. Es<br />
-ses recur.sos quase sempre são<br />
insuficientes e Lnat.âve i s, o que<br />
gera grandes dificuldades às es<br />
colas (5);<br />
.f) os recursos huma<br />
nos, em sua ma10riai são também<br />
provenientes da própria comuni<br />
dade, sendo ainda bastante dis<br />
cutível a questão·da qualidade<br />
de ensino oferecida. Se por um<br />
lado, a questão do preconceitoT<br />
a Lncompreensão da condição, a<br />
(5) Em alguns casos essa fragl#lidade fl#nanceira leva a uma# re1ai.ão·mais cll_entellsta, atrel,!!ndoas 1!<br />
deranças do movimento que e responsavel pela escola, ha polLticos que,tem mais penetraçao nas esf!<br />
ras governamentais.<br />
Cad. Peaq ,, são Luís, v. 7, n. 1, p , 114 - 124, jan./jun. 1991. 119
Esse fato, somado a ou<br />
tros, provoca o deslocamento de<br />
grandes contingentes populaci~<br />
nais do interior desses Estados<br />
para a capital do Maranhão, são<br />
Luís, restando-lhes como alter<br />
nativa de moradia, a fixação na<br />
periferia da capital, em geral<br />
desprovida dos serviços básicos,<br />
inclusive de escolas.<br />
Data dessa época a pr~<br />
liferação das escolas comunitá<br />
rias. Nesse sentido, a escola<br />
comunitária parece ser o cami<br />
nho encontrado por essas pe.§.<br />
soas para o acesso à educação e~<br />
colarizada. Estas surgem e se<br />
impõem nos moldes e caracterís<br />
ticas expostas a seguir.<br />
2.2 características gerais das<br />
escolas comunitárias<br />
Existem dificuldades<br />
de ordens diversas ao se tentar<br />
detectar as reais condições e a<br />
abrangência do trabalho desemp~<br />
nhado pelas escolas comunitá<br />
rias.<br />
A inexistência de inve~<br />
tigação sistemática e abrange.!!<br />
te com a elaboração de documen<br />
tos que divulguem tais experiê.!!<br />
cias (4), leva ao desconhecimento<br />
de CONJUNTO das instituições<br />
dessa natureza, tirando a po.§.<br />
sibilidade de uma visão mais fi<br />
dedígna e aumentando os riscos<br />
de diagnósticos parciais que<br />
não representam a global idade<br />
da situação.<br />
Ao levantar algumas ca<br />
racterísticas acerca dessas es<br />
colas, é necessário que se te<br />
nha clara a existência de uma<br />
variedade dessas experiências<br />
que vai desde aquelas que si,g<br />
nifícam iniciativas frágeis,<br />
questionáveis e até mesmo con<br />
aenáveis (sob o ponto de vista<br />
da natureza, qualidade deens!<br />
no e utilização de recursos p~<br />
blicos) á,té aquelas mais sérias<br />
que oferecem trabalho de boa<br />
qualidade.<br />
Sem esquecer essa gama<br />
de diversificação, ainda é po~<br />
sível detectar alguns aspectos<br />
comuns a maioria delas, a saber:<br />
a) surgem do esforço<br />
conjunto de um grupo, em baiE<br />
ros de periferia e fave~as,qu~<br />
se sempre em Associações de M~<br />
radores, Centros Comunitários;<br />
Comunidades de Base, clubes de<br />
(4) Grande parte das investigações disponíveis são resultantes de anãlis~de agentes diretamente e~<br />
volvidos em experiências localizadas.<br />
120 Cad. Pesq., sãO Luís, v. 7, n . 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.<br />
".
desarticulação entre os conteú<br />
dos e a visão de mundo veicula<br />
da por essa escola enexiste ou<br />
e amenizada em algumas delas,<br />
por outro lado; não se pode afiE<br />
mar a emergência de uma nova es<br />
cola e não resta a dúvida de que<br />
algumas delas acabam sendo· .uma<br />
imitação empobrecida da escola<br />
pública.<br />
Um levantamento apr3<br />
sentado no trabalho de MARtLIA<br />
SPOSITO e VERA MASAGÂO(6),mostra<br />
dados de fontes v~riadas, de al<br />
gumas capi tai s, que ajudam, a co,!!<br />
figuração da real situação des<br />
sas escolas. No Rio de janeiro,<br />
dados de .1988, a pzopos ta de à::le!.<br />
tura de mais 34 turmas com O<br />
apoio da Cári tas- Arquidioce~a.<br />
No Maranhão, dados de<br />
1995,·citados no Projeto de Pes<br />
guisa Contribuição ao Estuqo·da<br />
Escola Comunitária em são LuIs-MA<br />
apontam: (7)<br />
- alunos atendidos<br />
- professo,res .cedidos<br />
pela Secretaria de<br />
Edu~ação Municipal -<br />
612<br />
servidores cedidos p~<br />
Ia Secretaria de Edu<br />
cação Municipal-50l.<br />
Os números mostram par·<br />
te da grande parcela de cidadãos<br />
que fica alijadéi do sistema of!<br />
cial de ensino e que sãoatend!<br />
dos pelas escolas comunitárias.<br />
E o que é mais grave, nem estas<br />
sao numericamente suficientes p~<br />
·ra o atendimento da demanda de<br />
alunos excedentes da escola p~<br />
blica.<br />
Esse quantitativo del~<br />
ta o grau de inadequação inere!!<br />
te·ao sistéma educacionalbrasi<br />
leiro, e os outros dados mostram<br />
algumas conquistas dos grupos 0E<br />
ganizadQs e suas fragilidades no<br />
âmbito dos confrontos de forças<br />
nessa luta pela educação escola<br />
rizada.<br />
11. 193 3. CONSIDERAÇÕESFINAIS<br />
escolas existentes -<br />
300<br />
- escolas cem convênios<br />
com o PRODASEC - 37<br />
As escolas e ,experiê!!,<br />
clas comunitárias são resu1tan<br />
tes da ausência de póiíticasna<br />
(6} SPOSITO; &rhia<br />
novas polIticas<br />
Pontes,.,#BEIRQ, Vera Masagão.<br />
educac~X!li.is. Sao Paulo: centro<br />
Escolas ~itarlas: ccntribuiçãó'Pira<br />
,Ecumenico de Documentaçac e Inforn!àçao,<br />
o debate<br />
1989.p.<br />
de<br />
(7) UNIVERSIDADEFEDERAL'OO,MARANHXO~ Depártamem:o de Educação. Contribuição ao estudo da esco Ia comun,i<br />
tária em são LuIs - Maranhão. In: SEMINÁ,~IOSOB)'.E<strong>ESCOLA</strong>SCOMUNITÁRIAS: UMA.QUESTÃOEM DEBATE,<br />
. são LuIs, 1989, p. 6.~ (mimeogr.).,<br />
Cad. Pesq., S;o Luís, v. 7, n. I, p. 114 - 124, jan~/jun. 1991. 121
área educativa voltadas para· o<br />
atendimento daquele segmento da<br />
população que embora seja o que<br />
mais contribua para a produção<br />
de riquezas é aquele que menos<br />
tem acesso a ela.<br />
Trata-se, portanto, de<br />
uma situação de exclusão massi<br />
va que gera, por sua vez, res<br />
postas alternativas, mesmo que<br />
ambíguas, à ineficácia e inefi<br />
ência do Estado.<br />
No estudo da escola co<br />
munitária a discussão alinha os<br />
especialistas em duas posturas:<br />
a) aquela que ve na es<br />
cola comunitária urna proposta<br />
desmobilizadora, uma vez que l~<br />
va as classes populares a nao<br />
exigência ao Estado de um direi<br />
to que lhe é negado, ao mesmo<br />
tempo que oferece urna alternati<br />
va barata para o cumprimento de~<br />
sa obrigação do Estado;<br />
b) urna outra, que ve na<br />
escola comunitária urna alterna<br />
tiva ao acesso à educação esco<br />
larizada daqueles que já de iní<br />
cio ficam excluídos do atendi<br />
mento da rede oficial de ensino.<br />
Veêm ainda essa escola corno um<br />
instrumento de mobilização, tan<br />
to no que se refere ao estrita<br />
mente pedagógico (criar, organl<br />
zar e manter a escola) corno ain<br />
da por constituir-se em um pólo<br />
de aglutinação e organização dos<br />
comunitários na discussão de ou<br />
tras necessidades básicas e ime<br />
diatas (embora reconhecendo as<br />
fragilidades das organizações P2<br />
pulares) .<br />
~ inegável que o objetl<br />
vo maior deva de fato estar vol<br />
tado para a garantia efetiva de<br />
um sistema de ensino público man<br />
tido pelo Estado, capaz de aten<br />
der a demanda educacional da clas<br />
se trabalhadora. A escola comuili<br />
tária não deve ser considerada,<br />
portanto, corno resposta definitl<br />
va mas, na sua transitoriedade,<br />
não-pode deixar de conter oreco<br />
nhecimento de sua importância p~<br />
ra a gestão de um projeto demo<br />
crático oara a educação brasilei<br />
ra.<br />
SUMHARY<br />
Initia11y, this work dea1s<br />
with the historical aspects LnvoIvf.ng<br />
the organization of the Brasili?n<br />
educational system, and its<br />
implementation which promotes the<br />
estab1ishment ofthe community School.<br />
It a1so tries to bui1d up its<br />
characteristics and aspects. It aims<br />
also to raise, once more, the debate<br />
concerning the relationship between the<br />
Government and the Community Schoo1,<br />
122 Cad. Pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.<br />
.. ,
here understood as an expression of<br />
popular appeal in what it may eoncern<br />
to ist omission, related to the basie<br />
fulfillment in the area of Edueation.<br />
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA<br />
'ADLER, Dilercy Aragão. A questão<br />
da educação brasileira: da Co<br />
lonia ao Estado Novo • são Luís,<br />
1990. (mimeogr.).<br />
BRANbAo Carlos Rodrigues. Educa<br />
çâo popular. são Pau l.o e Br asL<br />
leira, 1984.<br />
CUNHA, Luis A. A eduoaçâona Nova<br />
Constituição. são pau10:Cortez i<br />
1983.<br />
COMISSÂO ESTADUAL DE ALFABETIZA<br />
çAo E CIDADANIA/MARANHÂO. Pro<br />
posta de diretrizes para a poli<br />
ca de educação básica para o<br />
Estado do Maranhão. são Luís,<br />
1991. (mimeogr.).<br />
GADOTTI, Moacir. Concepção diál~<br />
tica da educação: um estudo in<br />
trodutório. são Paulo: Cortez,<br />
1983.<br />
.KOWARICK, Lúcio. Movimentos so<br />
ciais urbanos: um balanço 50<br />
bre OS acontecimentos recen<br />
teso Ca~ernos Cem. são Paulo,<br />
n. 13, p. 38-50, sat. 1980.<br />
• Movimentos urbanos no Brasil<br />
contemporâneo: uma análise da<br />
literatura. CadernosOeru, são<br />
Paulo, out. 1986.<br />
PAIVA, Vanilda Pereira. Educa<br />
ção popular e educação deadul<br />
tos. são Paulo: Loyola, 1983.<br />
RAPÔSO, Maria da Conceição Bre<br />
nha. Movimento de educação de<br />
base: discurso e prática-<br />
1961 - 1967. são Luís: UFMA:<br />
Secretaria de Educação, 1985.<br />
SPOSITO, Marilia Pontes, RIBEI<br />
RO, vera_Masagão. Escolas C'o<br />
muni tári 3.5: contribuiçãopara o<br />
debate de nova~ políticas educací.q<br />
naís r são Paulo: Centro Ecumêhico<br />
de DbcUttentaç ão e Informação,19 B 9 •<br />
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÂO.<br />
Departamento de Educação. Con<br />
tribuiçãc ao estudo da escola<br />
comunitaria em são Luís - Mara<br />
nhâo. são Luis, 1989. Projeto<br />
de Pesquisa. (mimeogr.).<br />
VAN DAMME., Jean Marie A. E. Edu<br />
cação popular na reali~ em<br />
transformação. são Luis, 1989.<br />
(mimeogr.) c<br />
WANDERLEY, Luis Eduardo W. Edu<br />
car para transformar educação<br />
popular, igreja católica e~<br />
lítica no movimento de base.<br />
Petrópolis: Vozes, 1984.<br />
FASE escolas comunitárias: uma<br />
vivência de 14 anos Proposta,<br />
Rio de Janeiro, n. 25, 1985.<br />
Cad , Pesq., ,são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991. 123
ENDEREço DO AUTOR<br />
Dilercy Aragão Adler<br />
Universidade Federal do Maranhão<br />
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis<br />
Palacete Gentil Braga,<br />
Rua Grande, 782<br />
65.000 - são Luís -MA.<br />
124 Cad. pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.