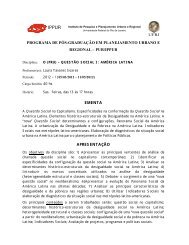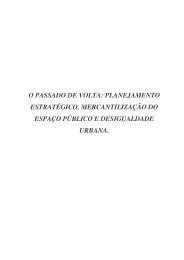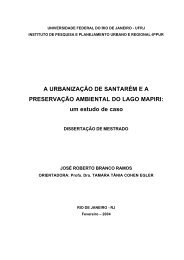rachel freire barrón torrez centralidade na cidade ... - Ippur - UFRJ
rachel freire barrón torrez centralidade na cidade ... - Ippur - UFRJ
rachel freire barrón torrez centralidade na cidade ... - Ippur - UFRJ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RACHEL FREIRE BARRÓN TORREZ<br />
CENTRALIDADE NA CIDADE CONTEMPORÂNEA,<br />
NOVOS SUJEITOS E PROJETOS:<br />
o caso das universidades <strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro.<br />
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regio<strong>na</strong>l<br />
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regio<strong>na</strong>l<br />
<strong>UFRJ</strong>
RACHEL FREIRE BARRÓN TORREZ<br />
CENTRALIDADE NA CIDADE CONTEMPORÂNEA,<br />
NOVOS SUJEITOS E PROJETOS:<br />
o caso das universidades <strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro.<br />
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do<br />
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e<br />
Regio<strong>na</strong>l da Universidade Federal do Rio de Janeiro –<br />
<strong>UFRJ</strong>, como parte dos requisitos necessários à obtenção<br />
do grau de Mestre em Planejamento Urbano e Regio<strong>na</strong>l.<br />
Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Alves Natal<br />
Rio de Janeiro<br />
2009
B277c<br />
Barrón Torrez, Rachel Freire.<br />
Centralidade contemporânea, novos sujeitos e projetos :<br />
o caso das universidades <strong>na</strong> área central do Rio de Janeiro /<br />
Rachel Freire Barrón Torrez. – 2009.<br />
193 f. : il. color. ; 30 cm.<br />
Orientador: Jorge Luiz Alves Natal.<br />
Tese (mestrado) – Universidade Federal do Rio de<br />
Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e<br />
Regio<strong>na</strong>l, 2009.<br />
Bibliografia: f. 182-191.<br />
1. Espaço. 2. Espaço urbano – Rio de Janeiro (RJ).<br />
3. Crescimento urbano. 4. Universidades e faculdades.<br />
I. Natal, Jorge Luiz Alves. II. Universidade Federal do Rio<br />
de Janeiro. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e<br />
Regio<strong>na</strong>l. III. Título.<br />
CDD: 307.76
4<br />
RACHEL FREIRE BARRÓN TORREZ<br />
CENTRALIDADE NA CIDADE CONTEMPORÂNEA,<br />
NOVOS SUJEITOS E PROJETOS:<br />
o caso das universidades <strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro.<br />
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do Programa<br />
de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regio<strong>na</strong>l da<br />
Universidade Federal do Rio de Janeiro – <strong>UFRJ</strong>, como parte<br />
dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em<br />
Planejamento Urbano e Regio<strong>na</strong>l.<br />
Aprovado em<br />
BANCA EXAMINADORA<br />
__________________________________<br />
Prof. Dr. Jorge Luis Alves Natal – Orientador<br />
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regio<strong>na</strong>l - <strong>UFRJ</strong><br />
__________________________________<br />
Prof. Dra. Fer<strong>na</strong>nda E. Sánchez<br />
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - UFF<br />
__________________________________<br />
Prof. Dr. Glauco Bienenstein<br />
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – UFF<br />
__________________________________<br />
Prof. Dr. Alberto de Oliveira<br />
Instituto de Ciências Huma<strong>na</strong>s e Sociais – UFRRJ
5<br />
A Rodolfo e Milta, meus pais, pelos exemplos de vida,<br />
dedicação e apoio em etapas importantes da minha vida.
6<br />
AGRADECIMENTOS<br />
Aos funcionários da Secretaria de Ensino, Administração e da Biblioteca do<br />
IPPUR, pelo excelente trabalho que exercem e pelo carinho ofertado ao longo da<br />
minha caminhada no IPPUR. Agradeço, especialmente, ao Josimar, Zuleika, Paulo,<br />
João, Alberico, Paulo, Kátia, Cláudia, A<strong>na</strong> Lucia e Luisa.<br />
Aos colegas e amigos do curso de mestrado: sobretudo Maria<strong>na</strong>, Marcela,<br />
Heitor, Júlio, Camila Saraiva e Daniele, pelos momentos compartilhados de<br />
(des)construção do conhecimento e pelas palavras sinceras de apoio mútuo.<br />
A todo o corpo docente do IPPUR, pela dedicação ao ensino de qualidade<br />
que tanto contribuiu para a reflexão que aqui realizo. Agradeço, especialmente, a<br />
A<strong>na</strong> Clara e Helion Póvoa pelos preciosos comentários decisivos no delineamento<br />
geral deste trabalho.<br />
Ao professor e orientador Jorge Natal, agradeço a paciência e preciosa<br />
colaboração para vencer as inseguranças que acompanham o solitário rumo dos<br />
trabalhos de pesquisa.<br />
À direção do IPPUR, pelo apoio e oportunidade de desenvolver este trabalho.<br />
Aos professores, colegas e amigos da Universidade Federal Fluminense,<br />
pelas maravilhosas trocas de idéias, pelos momentos juntos que me levaram ao<br />
amadurecimento, e a todos que sempre me incentivaram a continuar no caminho da<br />
investigação acadêmica. Agradeço, especialmente, a Satiê Mizubuti, Rogério<br />
Haesbaert, Sérgio Nunes, Ivaldo Lima, Fer<strong>na</strong>nda Sánchez, Glauco Bienenstein,<br />
Eduardo, Flávia, Rafael e Ísis.<br />
Aos muitos amigos e amigas, que sempre estiverem presentes apoiando a<br />
execução deste trabalho. Agradeço, especialmente, à Cláudia, Paula e Gabriela.
7<br />
A todos os amigos do Projeto Água da Vida, pelo apoio em oração e por todos<br />
os momentos compartilhados durante a minha caminhada com Cristo.<br />
À minha família, minha gratidão pelo consolo e amor nunca negados apesar<br />
das dificuldades e distâncias. Amo vocês.<br />
Ao meu marido Thiago, meu amor e companheiro em todos os sentidos,<br />
minha imensa gratidão por suportar o longo período de elaboração desta<br />
dissertação.<br />
A Deus, consolo bem presente <strong>na</strong> tribulação.
... porque a geografia, <strong>na</strong> realidade, deve ocupar-se em pesquisar<br />
como o tempo se tor<strong>na</strong> espaço e de como o tempo passado e<br />
presente têm, cada qual, um papel específico no funcio<strong>na</strong>mento do<br />
espaço atual (SANTOS,1978, p. 105).<br />
8
9<br />
RESUMO<br />
A reflexão sobre a dinâmica urba<strong>na</strong> exige a investigação dos processos específicos<br />
que condicio<strong>na</strong>m os espaços físicos, e, portanto, os contextos nos quais as práticas<br />
sociais se realizam, trazendo transformações <strong>na</strong> configuração do ambiente<br />
construído. No caso do Rio de Janeiro, a configuração atual da sua Área Central<br />
reflete o processo histórico que a engendrou produzindo diferentes dimensões de<br />
<strong>centralidade</strong> exercidas durante séculos. Seu legado de formações sócio-espaciais é<br />
percebido enquanto fruto de períodos e processos espaciais definidores das<br />
contradições e da sua estrutura atual. Destacam-se, como exemplos, a expansão<br />
exacerbada da metrópole carioca e conseqüente descentralização dos serviços<br />
urbanos e atividades econômicas para outras áreas da <strong>cidade</strong>; a implementação de<br />
políticas públicas de reabilitação/revitalização urba<strong>na</strong>, e ações privadas visando à<br />
ocupação de vazios no tecido urbano central providos de infra-estrutura; a criação<br />
de novas funções e/ou estímulo às existentes, adaptando-se ao contexto urbano e<br />
econômico mundial. Desta forma, no intuito de compreender tais aspectos da<br />
dinâmica metropolita<strong>na</strong> recente, este trabalho concentra-se <strong>na</strong> investigação das<br />
instituições privadas de ensino superior, e no processo de implantação crescente de<br />
unidades/campus universitários, a partir da década de 1990, o qual si<strong>na</strong>lizaria o<br />
reforço ou a recuperação de antigas <strong>centralidade</strong>s <strong>na</strong> Área Central do Rio de<br />
Janeiro. No entanto, evidencia-se a inserção destas nos processos de gentrificação<br />
dos centros urbanos que tendem a conferir privilégios a espaços já diferenciados no<br />
contexto contemporâneo.<br />
Palavras-Chave: Rio de Janeiro (RJ). Centralidade. Área Central. Universidades.<br />
Planejamento urbano. Geografia Urba<strong>na</strong>.
10<br />
ABSTRACT<br />
The reflection on the urban dy<strong>na</strong>mics demands the investigation of the specific<br />
processes that condition the physical spaces, and, therefore, the contexts in which<br />
the social practices are accomplished, bringing transformations in the configuration of<br />
the built environment. In Rio de Janeiro's case, the current configuration of its<br />
Central Area reflects the historical process that engendered it, producing different<br />
dimensions of centrality exercised for centuries. Its legacy of social-spatial formations<br />
is realized as a product of spatial periods and processes, determi<strong>na</strong>nts of the<br />
contradictions and of its current structure. Are highlighted, as examples, the<br />
exacerbated expansion of the "carioca" metropolis and consequent decentralization<br />
of the urban services and economic activities to other city areas; the implementation<br />
of urban rehabilitation/revitalization public politics and private actions aiming at the<br />
empty spaces occupation in the central urban tissue provided with infrastructure; the<br />
creation of new functions and/or stimulus to the existing ones, adapting it to the<br />
urban and economic world context. Thus, in order to comprehend such aspects of the<br />
recent metropolitan dy<strong>na</strong>mics, this work concentrates on the investigation of the<br />
private institutions of higher education, and on the increasing implantation process of<br />
academic unities/campus, from the decade of 1990 on, which would mark the<br />
reinforcement or the recovery of old centralities in Rio de Janeiro's Central Area.<br />
However, there are evidences of its insertion in the processes of gentrification of the<br />
urban centers that tend to privilege spaces already differentiated in the contemporary<br />
context.<br />
Key-words: Rio de Janeiro (RJ). Centrality. Central Area. Universities. Urban<br />
planning. Urban geography.
11<br />
Figuras<br />
Mapas<br />
1- Modelos espaciais (Capítulo 1, p.42)<br />
LISTAS DE ILUSTRAÇÕES e TABELAS<br />
2- Imagem do produto turístico criado pelo comitê de marketing do Pólo (Capítulo 2,<br />
p.120)<br />
3- Imagem do convite feito pela Prefeitura/ SETUR para o lançamento do Guia do Pólo<br />
da Praça XV (Capítulo 2, p.120)<br />
4- A imagem apropriada (Capítulo 3, p.135)<br />
5- Áreas que fazem parte da legislação municipal de proteção de ambiência<br />
– Corredor Cultural (Capítulo 3, p.141)<br />
1- Centro e Zo<strong>na</strong> Sul (Capítulo 2, p. 104)<br />
2- O Núcleo Central, segundo Duarte (1967) (Capítulo 2, p.105)<br />
3- A configuração da área central em 1967: núcleo e periferia (Capítulo 2, p.106)<br />
4- Limites do Corredor Cultural (Capítulo 3, p.142)<br />
5- A localização das IES privadas <strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro (Capítulo 3, p.164)<br />
Quadros<br />
1- Quadro de Áreas de Proteção do Ambiente Cultural e Legislação de Criação (Capítulo<br />
3, p.141)<br />
2- Localização das principais IES privadas <strong>na</strong> Área Central (Capítulo 3, p.165)<br />
3- Estratégias de localização das universidades (Capítulo 3, p.166)<br />
Gráficos:<br />
1- O crescimento das matrículas no ensino superior (em milhões de alunos)<br />
– Brasil -1997-2002 (Capítulo 3, p.158)<br />
2- Distribuição do Número de Instituições por Dependência Administrativa,<br />
Tabelas<br />
segundo as regiões – 1998 (Capítulo 3, p.159)<br />
1- Evolução do Número de Instituições por Dependência Administrativa<br />
- Brasil - 1980-1998. (Capítulo 3, p.159)<br />
2- Distribuição do Número de Instituições por Dependência Administrativa,<br />
segundo as regiões – 2000 (Capítulo 3, p.160)
12<br />
LISTA DE ABREVIATURAS<br />
ACRJ<br />
ADEMI<br />
ACRJ<br />
ACN<br />
BID<br />
CBD<br />
ERJ<br />
ESPM<br />
FGV<br />
FMJ<br />
IBMEC<br />
IES<br />
INEP<br />
PUC - Rio<br />
UCAM<br />
UCB<br />
UERJ<br />
UESA<br />
<strong>UFRJ</strong><br />
UFRRJ<br />
UGF<br />
UNIRIO<br />
SMU<br />
Associação Comercial do Rio de Janeiro<br />
Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário<br />
Associação Comercial do Rio de Janeiro<br />
Área Central de Negócios<br />
Business Improvement District<br />
Central Business District<br />
Estado do Rio de Janeiro<br />
Escola Superior de Propaganda e Marketing<br />
Fundação Getúlio Vargas<br />
Faculdade Moraes Júnior<br />
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais<br />
Instituições de Ensino Superior<br />
Instituto Nacio<strong>na</strong>l de Estudos e Pesquisas Educacio<strong>na</strong>is<br />
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro<br />
Universidade Cândido Mendes<br />
Universidade Castelo Branco<br />
Universidade Estadual do Rio de Janeiro<br />
Universidade Estácio de Sá<br />
Universidade Federal do Rio de Janeiro<br />
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro<br />
Universidade Gama Filho<br />
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro<br />
Secretaria Municipal de Urbanismo
13<br />
SUMÁRIO<br />
APRESENTAÇÃO ................................................................................................................14<br />
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................16<br />
CAPÍTULO 1: OS CENTROS URBANOS..........................................................................26<br />
1.1. O ESPAÇO URBANO<br />
1.2. A DINÂMICA DOS CENTROS URBANOS: DEFINIÇÕES, NOÇÕES E<br />
CONCEITOS<br />
1.2.1. Os modelos de estruturação urba<strong>na</strong><br />
1.2.2. Os atributos da <strong>centralidade</strong><br />
1.3. (RE) DEFININDO A CENTRALIDADE: FORMAÇÃO, PROCESSOS<br />
ESPACIAIS E DINÂMICA RECENTE<br />
CAPÍTULO 2: A DINÂMICA DA CENTRALIDADE: MUDANÇAS<br />
E PERMANÊNCIAS NA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA CIDADE DO<br />
RIO DE JANEIRO .................................................................................................................69<br />
2.1. DE CENTRO DA CIDADE COLONIAL AO CENTRO DA METRÓPOLE INDUSTRIAL<br />
2.1.1. As reformas urbanísticas que marcaram a evolução urba<strong>na</strong> do Centro<br />
2.1.2. O surgimento dos centros funcio<strong>na</strong>is<br />
2.2. DE CENTRO DA METRÓPOLE INDUSTRIAL AO CENTRO DA METRÓPOLE<br />
NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO<br />
2.2.1. A perda de <strong>centralidade</strong> e o “esvaziamento” do centro<br />
2.2.2. A renovação urba<strong>na</strong> e a “volta ao centro”<br />
CAPÍTULO 3: IDEOLOGIA E PLANEJAMENTO: DISCURSOS E PRÁTICAS EM<br />
DISPUTA NA ÁREA CENTRAL DO RIO DE JANEIRO..............................................128<br />
3.1. O “NOVO” E O “VELHO” NA ESTRUTURA URBANA<br />
3.2. IDEOLOGIA E PLANEJAMENTO: AS NOVAS ATIVIDADES CULTURAIS<br />
3.3. AS NOVAS UNIVERSIDADES E O SEU SENTIDO PARA A ÁREA CENTRAL<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................177<br />
REFERÊNCIAS ...................................................................................................................182<br />
ANEXOS................................................................................................................................192<br />
A- Mapa dos bairros da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro – 2004
14<br />
APRESENTAÇÃO<br />
Vivemos um contexto urbano contemporâneo onde os processos sociais que orientam<br />
as formas urba<strong>na</strong>s são cada vez mais velozes, onde a dinâmica das transformações prevalece<br />
às permanências. Um contexto que caminha numa complexa rede de mudanças que se<br />
interpenetram e se realizam <strong>na</strong> esfera material e imaterial da sociedade capitalista mundial.<br />
Podem ser apontadas mudanças nos contextos, a saber: econômico-político inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l,<br />
produtivo, da <strong>cidade</strong> e do planejamento urbano, da sociedade e do indivíduo, e do tempo<br />
(vivido socialmente).<br />
A partir de alguns esforços de síntese, característicos da ciência geográfica, cujas<br />
fontes são leituras e percepções adquiridas ao longo da vivência acadêmica, iniciamos este<br />
trabalho com os objetivos de compreender as novas dinâmicas que permeiam o cenário<br />
urbano contemporâneo e propor posicio<strong>na</strong>mentos quanto a estas, tanto intelectuais quanto<br />
políticos.<br />
O interesse pelas ciências sociais, e mais adiante, pela temática urba<strong>na</strong> iniciou-se ao<br />
longo do ensino médio cursado no Colégio Pedro II, Rio de Janeiro. Já o ingresso no curso de<br />
graduação em Geografia <strong>na</strong> Universidade Federal Fluminense, no ano 2000, realizou-se a<br />
partir da descoberta da ciência geográfica dentro das ciências sociais, devido à sua<br />
importância e contemporaneidade dos estudos sobre o contexto sócio-cultural mundial.<br />
Inicialmente, o interesse pela área huma<strong>na</strong> e social voltou-se às discipli<strong>na</strong>s de<br />
Geografia Política e Geografia Econômica. No entanto, no decorrer do curso este interesse<br />
inclinou-se para a área de estudo da Geografia Urba<strong>na</strong>, cujo despertar pela pesquisa científica<br />
se concretizou por intermédio da Prof.ª Dr.ª Satiê Mizubuti, responsável <strong>na</strong> época pela<br />
ministração da discipli<strong>na</strong> no Instituto de Geociências. Ao longo do curso foram vividas<br />
experiências que promoveram a aproximação com as questões urba<strong>na</strong>s, em especial pelo<br />
estudo das áreas centrais das grandes <strong>cidade</strong>s, e mais especificamente, do centro da <strong>cidade</strong> do<br />
Rio de Janeiro.<br />
A intensa trajetória da pesquisa sobre o tema da “<strong>centralidade</strong>” iniciou-se há três anos<br />
e, resultou <strong>na</strong>s monografias de Conclusão do Curso de Geografia, de Especialização em<br />
Planejamento e Uso do Solo Urbano (IPPUR), e <strong>na</strong> dissertação de Mestrado em Planejamento<br />
Urbano e Regio<strong>na</strong>l. Desta forma, entendemos que a escolha pela pós-graduação strictu-sensu<br />
(mestrado) se realizou devido ao interesse e necessidade de aprofundamento teóricoconceituais<br />
e metodológicos <strong>na</strong> discussão/reflexão quanto ao tema da questão urba<strong>na</strong> e
15<br />
regio<strong>na</strong>l, auxiliando-me como pesquisadora e como geógrafa. Neste sentido, tal<br />
aprofundamento científico veio a enriquecer as experiências vividas tanto <strong>na</strong> “academia”<br />
quanto em ambientes profissio<strong>na</strong>is, como o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos<br />
– IPP, a Secretaria de Infra-Estrutura, Urbanismo e Meio Ambiente do município de São<br />
Gonçalo e, recentemente, a Secretaria Estadual de Educação.<br />
Portanto, a intenção no desenvolvimento desta dissertação volta-se à exploração e ao<br />
reconhecimento da situação física, funcio<strong>na</strong>l e simbólica do centro do Rio de Janeiro nos dias<br />
atuais. A exposição de vasta bibliografia no presente trabalho revela o interesse permanente<br />
sobre o tema “centro e <strong>centralidade</strong>” por parte do meio acadêmico, do Poder Público e do<br />
setor privado. Neste sentido, busca-se contribuir com tão rico acervo de referências,<br />
entendendo que as informações existentes sobre as características das ocupações e as<br />
atividades predomi<strong>na</strong>ntes neste trecho da <strong>cidade</strong> ainda mostram-se insuficientemente claras<br />
ou sistematizadas.
16<br />
INTRODUÇÃO<br />
A estrutura inter<strong>na</strong> das <strong>cidade</strong>s reflete lógicas de tempos diferentes. O espaço urbano é<br />
reflexo tanto de ações que se realizam no presente, como daquelas que se realizaram no<br />
passado e deixaram suas marcas no presente. Sendo assim, esta reflexão, a ser aqui<br />
desenvolvida, aponta para a compreensão do movimento dialético das mudanças e<br />
permanências <strong>na</strong> organização espacial intra-urba<strong>na</strong>, fruto da “desigual espaço-temporalidade<br />
dos processos sociais” 1 .<br />
A primeira apreensão deste movimento se pauta <strong>na</strong>s transformações territoriais<br />
recentes porque tem passado o centro das metrópoles brasileiras, iniciadas pelos ditos<br />
processos de “decadência” do Centro tradicio<strong>na</strong>l ou principal, resultantes do processo de<br />
descentralização e também de desconcentração das atividades econômicas que ocorreu em<br />
quase todas as metrópoles <strong>na</strong> década de 1970.<br />
Para a realidade <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l do Brasil, cumpre considerar o surgimento dos primeiros<br />
subcentros entre as décadas de 1920 e 1940, voltados às camadas sociais de baixa renda. Ou<br />
ainda, exceções como a da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro que, no início da década de 1950, já<br />
apresentava subcentros bem desenvolvidos e que começavam a oferecer concorrência com o<br />
centro principal. Seu declínio terá início, portanto, no fi<strong>na</strong>l da década de 1940 2 .<br />
No entanto, com o crescimento da área metropolita<strong>na</strong> e o desenvolvimento de grandes<br />
“sub-regiões urba<strong>na</strong>s” <strong>na</strong> década de 1960, <strong>na</strong> maioria das metrópoles, inclusive <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s<br />
médias, há a estruturação de bairros mais afastados do centro principal. Desta forma, o<br />
processo de descentralização se concretizará mais intensamente <strong>na</strong> década de 1970 com o<br />
surgimento dos “novos centros” afastados dos antigos.<br />
Dentre as diversas “forças sociais” que determi<strong>na</strong>ram tal efeito sobre o espaço urbano,<br />
sublinha-se a atuação “simultânea, generalizada e profunda composta pelo novo padrão de<br />
1 CORRÊA, 2001, p.172.<br />
2 VILLAÇA, 1998. O processo de urbanização do Rio de Janeiro iniciou-se com a expansão da malha urba<strong>na</strong><br />
durante o Século XIX, resultando no surgimento de bairros residenciais para as classes mais abastadas <strong>na</strong> parte<br />
sul e no entorno do núcleo origi<strong>na</strong>l da <strong>cidade</strong>, assim como, o deslocamento para o vetor norte e leste das<br />
populações mais pobres. No contexto da <strong>cidade</strong> moder<strong>na</strong>, há um novo momento de crescimento urbano, no início<br />
do Século XX, fruto de uma fase de rápida expansão da economia brasileira. O aumento acelerado da atividade<br />
de exportação integrava-a progressivamente ao capitalismo inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l. Já <strong>na</strong>s primeiras décadas se<br />
consolidam, portanto, as tendências da urbanização do Rio de Janeiro, com um incremento da malha urba<strong>na</strong> e, ao<br />
mesmo tempo, uma densificação <strong>na</strong> ocupação do espaço. Este processo se faz concomitante ao esvaziamento<br />
populacio<strong>na</strong>l das freguesias que compunham o centro histórico da <strong>cidade</strong> devido ao processo de especialização<br />
em zo<strong>na</strong> comercial. Portanto, a partir da década de 1920 até 1970, a estrutura da <strong>cidade</strong> se direcionou para a<br />
poli<strong>centralidade</strong> baseada em fatores de circulação e especialização de áreas característicos do processo de<br />
metropolização.
17<br />
mobilidade espacial decorrente da difusão do automóvel” 3 . Este, adquirido pelas classes de<br />
renda alta, proporcionou “novas frentes de acessibilidade” e produziu um “novo espaço<br />
urbano” para as mesmas. Desta maneira, modificou-se o padrão de deslocamento <strong>na</strong>s<br />
metrópoles do país, estabelecendo-se uma nova mobilidade territorial que, em conjunto com o<br />
capital imobiliário, tor<strong>na</strong>m obsoletos os centros existentes e promovem novos centros, novas<br />
frentes imobiliárias 4 .<br />
As transformações do Centro principal, quanto à sua realidade física, geográfica,<br />
funcio<strong>na</strong>l e simbólica, se refletirão com a transposição para outras áreas da <strong>cidade</strong> da noção<br />
do que é central. Tal processo de descentralização significa “a expansão da <strong>cidade</strong><br />
transformada em metrópole (...) [conferindo] sentido à existência do Centro principal e dos<br />
sub-centros, resultado de uma determi<strong>na</strong>da forma de entender a <strong>cidade</strong> como contígua e<br />
interligada” 5 . Assim, a <strong>centralidade</strong> passa a não ser ape<strong>na</strong>s um atributo do lugar central,<br />
como já diziam os estudiosos da ecologia huma<strong>na</strong>.<br />
As mudanças que ocorrem <strong>na</strong> sociedade e nos elementos da <strong>centralidade</strong>, portanto,<br />
também refletirão no seu centro. Uma mudança <strong>na</strong>s estruturas de poder, mudanças<br />
de acessibilidade (introdução de novos meios de transporte, alterações nos meios já<br />
existentes ou mudanças no sistema viário), mudança <strong>na</strong> base produtiva ou alterações<br />
da relação de importância dos diversos elementos componentes do urbano ou<br />
elementos <strong>na</strong>turais de sua paisagem que atuam como forças de atração definindo<br />
<strong>centralidade</strong>s levarão às mudanças no centro da <strong>cidade</strong> (SANTOS, 2001, p.39).<br />
Segundo Tourinho (2006), o sistema de Centro/sub-centros - domi<strong>na</strong>nte até os anos de<br />
1980, e seus elementos, o Centro principal, o sub-centro e centro expandido 6 , “fazem parte de<br />
um mesmo sistema, ainda que não possuam a mesma abrangência territorial” 7 . Em tal<br />
sistema, esses elementos da estrutura urba<strong>na</strong><br />
se complementavam e se relacio<strong>na</strong>vam para criar uma teia de sustentação da<br />
estrutura urba<strong>na</strong> da <strong>cidade</strong> como um todo – onde Centro e sub-centros, com suas<br />
conexões e relações, garantiam a possibilidade de crescimento sustentado da<br />
metrópole a partir de um sistema hierarquizado de redes de interligação que davam<br />
sentido e ordem ao caos difuso da ‘mancha urba<strong>na</strong>’, facilitando os intercâmbios e a<br />
reprodução da força de trabalho (Ibid., p.290).<br />
3 Ibid., p.281.<br />
4 VILLAÇA, loc.cit.<br />
5 TOURINHO, 2006, p.283.<br />
6 Esta concepção da dinâmica urba<strong>na</strong> no Século XX faz parte de uma abordagem sistemática tradicio<strong>na</strong>l de<br />
produção de <strong>centralidade</strong> associada a uma determi<strong>na</strong>da forma física da <strong>cidade</strong> que era depositária dessa<br />
<strong>centralidade</strong>, o Centro urbano. Fazem parte desta concepção a estrutura do Sistema Monocêntrico e o Sistema<br />
Policêntrico tradicio<strong>na</strong>l, dos sub-centros (TOURINHO, 2006).<br />
7 Ibid., p.283.
18<br />
No entanto, uma nova onda de transformações sociais se dará <strong>na</strong>s relações do Centro<br />
com o restante da estrutura urba<strong>na</strong> <strong>na</strong> passagem da década de 1980/90, perdurando até os dias<br />
de hoje; ela é representada pelo surgimento das “novas <strong>centralidade</strong>s”.<br />
<strong>na</strong>s últimas décadas, o Centro perdeu <strong>centralidade</strong> para as chamadas ‘novas<br />
<strong>centralidade</strong>s’, uma vez que não consegue continuar comandando, ele só, o<br />
complexo processo de construção metropolita<strong>na</strong>, sendo obrigado a entrar <strong>na</strong> are<strong>na</strong><br />
competitiva com outras áreas da <strong>cidade</strong>. Dessa forma, a <strong>centralidade</strong> tornou-se<br />
independente do Centro, distanciou-se dele, conceitual e fisicamente falando. Nesse<br />
sentido, a <strong>centralidade</strong>, como qualidade do que é central, tornou-se ela própria<br />
medida, passando a identificar a aptidão que certos elementos têm para promover e<br />
impulsio<strong>na</strong>r fluxos de intercâmbio (TOURINHO, loc.cit.).<br />
Desta forma, o Centro deixa de ser o principal referencial simbólico de “vida urba<strong>na</strong>”,<br />
ou seja, sua participação nos processos de reprodução da força de trabalho perdem<br />
importância no contexto contemporâneo. No espaço metropolitano carioca essa perda relativa<br />
do papel do Centro em relação ao conjunto da <strong>cidade</strong> se refletirá nos processos de<br />
“decadência” urbanística e abandono de algumas atividades da área central ao longo das<br />
décadas de 1970/80.<br />
Sob um contexto de “crise urba<strong>na</strong>” relacio<strong>na</strong>do ao fenômeno da metropolização; à<br />
“reestruturação produtiva das empresas e das economias mundiais e, particularmente, com o<br />
apoio das inovações tecnológicas” 8 ; e, ao “esvaziamento” econômico e político que passa o<br />
Estado do Rio de Janeiro e, particularmente, a antiga capital <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, o espaço urbano da área<br />
central se degrada devido ao não investimento, tanto por parte do poder público quanto<br />
privado.<br />
Quanto a este último, houve deslocamento do capital imobiliário <strong>na</strong> malha urba<strong>na</strong> para<br />
outros bairros e o seu impacto sobre os mercados imobiliários, provocando alterações nos<br />
estoques residenciais e comerciais <strong>na</strong> área central 9 .<br />
a área central da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro presenciou, até meados da década de<br />
1980, um processo de esvaziamento econômico que culminou em uma grave crise,<br />
8 KON, 1999, p.65.<br />
9 Durante as décadas de 1960 e 1970, uma série de normas urbanísticas foi imposta por meio da nova política<br />
adotada para a <strong>cidade</strong>, incluindo o Centro, como por exemplo, o aumento da verticalização e a especialização de<br />
usos. Segundo CARLOS (2006), <strong>na</strong> década de 1970 se consolidou o zoneamento da <strong>cidade</strong> através do decreto<br />
322, de 1976, que determinou, dentre outros pontos, o fim do uso residencial no Centro”. A esta situação somase<br />
a demolição de grande parte do acervo histórico e arquitetônico, a perda do papel de capital federal, e a<br />
tendência geral de espraiamento da <strong>cidade</strong> (em direção à zo<strong>na</strong> sul, norte e subúrbios), abando<strong>na</strong>ndo seus centros<br />
históricos devido à configuração de novos sub-centros ligados à função de comércio e serviços. Com todo este<br />
contexto, inicia-se um processo de perda de posição relativa do Centro que perdurará até a década de 1990.
19<br />
refletindo-se nos campos político e social, (...) as evidências da pobreza se<br />
materializaram <strong>na</strong> degradação do espaço físico, no crescimento da população de rua,<br />
<strong>na</strong> ampliação do comércio informal e <strong>na</strong> elevação de índices de violência urba<strong>na</strong><br />
(COLOMBIANO, 2005, p.53).<br />
Desta forma, após período de intensa decadência econômica e obsolescência de vários<br />
de seus espaços centrais, num contexto de poli<strong>centralidade</strong> urba<strong>na</strong>, a <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro<br />
vem seguindo, desde meados da década de 1980, uma tendência mundial - a de renovação<br />
urba<strong>na</strong>. Em conseqüência, a partir da década de 1990, uma nova dinâmica da <strong>centralidade</strong> se<br />
articula no Centro – a redefinição funcio<strong>na</strong>l – no que se refere à perda, permanência, resgate e<br />
inserção de novas funções.<br />
Acerca deste fato novos debates sobre os conceitos e conotações de centro e<br />
<strong>centralidade</strong> surgem, tanto por parte do poder público quanto por atores privados e pela<br />
“academia”. Segundo Tourinho, após o intenso debate sobre a crise das <strong>cidade</strong>s até a década<br />
de 1970, há o surgimento de outros temas que conferiram novos contornos às discussões sobre<br />
o centro, <strong>na</strong> década de 1980, “substituindo o discurso de crise pelo de revalorização de áreas<br />
centrais, entendidas como pontos estratégicos para atender às demandas de competitividade<br />
entre <strong>cidade</strong>s por recursos regio<strong>na</strong>is ou mundiais” 10<br />
Diante deste contexto recente de descentralização, crise, decadência, renovação e<br />
refuncio<strong>na</strong>lização, e tantos “re” – re-qualificação, re-valorização, re-vitalização, defendidos<br />
ou criticados por diversos estudiosos e atores políticos e econômicos, cabe perguntar: qual o<br />
papel do Centro, hoje, em relação à <strong>cidade</strong>? Quais as articulações que se mantiveram no<br />
Centro durante os movimentos de descentralização e esvaziamento? Que tipos de<br />
articulações se expressam nos processos espaciais de refuncio<strong>na</strong>lização e renovação urba<strong>na</strong>?<br />
E qual a importância destas para a reprodução da sociedade contemporânea?<br />
Portanto, o objeto de estudo desta dissertação possui como recorte espaço-temporal a<br />
Área Central do Rio de Janeiro, ou seja, o Centro principal ou tradicio<strong>na</strong>l 11 e a sua<br />
dinâmica recente, tendo como marco temporal meados da década de 1960, quando passam a<br />
manifestar mudanças significativas <strong>na</strong> sua organização espacial ocasio<strong>na</strong>das por novas lógicas<br />
políticas e econômicas, resultando <strong>na</strong> perda de importância relativa do espaço central em<br />
relação ao conjunto da estrutura urba<strong>na</strong>.<br />
A questão central é, por conseguinte, considerar este objeto no debate das<br />
transformações e permanências sócio-espaciais que envolvem o Centro, num contexto<br />
10 TOURINHO, op.cit., p.278.<br />
11 VILLAÇA, 1998.
20<br />
metropolitano contemporâneo de poli<strong>centralidade</strong>. Ou seja, compreender a área central da<br />
<strong>cidade</strong> <strong>na</strong> sua dinâmica recente e o seu papel <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro.<br />
A compreensão desses processos sócio-espaciais mais amplos contribui para a<br />
apreensão da complexidade da presente problemática que, por sua vez, questio<strong>na</strong> o papel da<br />
crescente concentração de universidades particulares <strong>na</strong> área central do Rio de Janeiro <strong>na</strong>s<br />
últimas décadas. Logo, a partir da discussão dos processos recentes já mencio<strong>na</strong>dos de<br />
esvaziamento e refuncio<strong>na</strong>lização do Centro principal, assim como dos novos debates<br />
envolvendo possíveis revalorizações e revitalizações do mesmo, resultam algumas perguntas:<br />
o que representa a localização recente e crescente de universidades <strong>na</strong> área central do Rio?<br />
Qual o seu sentido no processo de refuncio<strong>na</strong>lização do espaço central?<br />
Pode-se dizer, à luz desse quadro teórico-metodológico, que as Instituições de Ensino<br />
Superior (IES) privadas localizadas no centro da <strong>cidade</strong> têm se estruturado em novos moldes<br />
no arranjo espacial da <strong>cidade</strong> desde a década da de 1990. Isto posto, a hipótese aqui formulada<br />
é a de que a localização dessas instituições no Centro expressa a articulação entre o processo<br />
de acumulação de capital e a implementação de políticas recentes voltadas à valorização de<br />
centros urbanos. Neste sentido, as novas práticas dos atores privados estariam, pois,<br />
relacio<strong>na</strong>das ao novo ativismo econômico que agrega “cultura e economia”; à utilização de<br />
estratégias locacio<strong>na</strong>is que se apropriam de áreas centrais reabilitadas visando o lucro; à<br />
“mercantilização” do ensino superior que visa à criação de novos nichos de consumo e de<br />
investimentos fi<strong>na</strong>nceiros pelo setor privado (no caso os serviços educacio<strong>na</strong>is); e às novas<br />
representações ideológicas que fundamentam a sociedade de consumo (JAMENSON, 2006) e<br />
a valorização do indivíduo no cenário urbano contemporâneo.<br />
***<br />
Os eixos a<strong>na</strong>líticos construtores do estudo de caso e os temas abordados em cada<br />
capítulo da dissertação são os seguintes:<br />
No Capítulo 1, intitulado “Os Centros Urbanos”, realiza-se o resgate teórico do<br />
processo de estruturação intra-urba<strong>na</strong> e da especialização de uma área central resultante da<br />
dinâmica social contemporânea. E que sendo assim, como reflexo da história da sociedade<br />
capitalista, tal área é por excelência dinâmica, sofrendo processos de centralização,<br />
descentralização, recentralização e afirmação de novas <strong>centralidade</strong>s de acordo com cada<br />
momento socialmente ‘vivido’.<br />
No Capítulo 2, denomi<strong>na</strong>do “A Dinâmica da <strong>centralidade</strong>: mudanças e permanências<br />
<strong>na</strong> configuração espacial da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro” realiza-se um resgate histórico da<br />
formação da Área Central, com o objetivo de apontar o seu papel ao longo da história do Rio
21<br />
de Janeiro, antes e após a ação planejada do Estado. Neste sentido procura-se no possível<br />
considerar os atores políticos e econômicos envolvidos, seus discursos e estratégias<br />
locacio<strong>na</strong>is, assim como as influências destes <strong>na</strong>s representações sobre o “centro” no<br />
imaginário simbólico.<br />
Realizam-se aqui uma reconstituição histórica e uma análise quanto à redefinição da<br />
<strong>centralidade</strong> de acordo com as formas de articulação <strong>na</strong> estrutura urba<strong>na</strong> e apropriação pelos<br />
grupos sociais domi<strong>na</strong>ntes 12 , a saber: as mudanças e permanências (em termos físico,<br />
funcio<strong>na</strong>l e simbólico) que caracterizaram a antiga <strong>centralidade</strong> até a década de 1950, e as<br />
transformações <strong>na</strong> mesma a partir da década de 1960.<br />
Desta forma, constata-se um movimento de descentralização e perda da importância<br />
relativa do centro <strong>na</strong> escala intra-urba<strong>na</strong> e regio<strong>na</strong>l/<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l devido: ao processo de<br />
metropolização; ao deslocamento da capital e do poder político para Brasília, em 1960; à crise<br />
urba<strong>na</strong>, econômica e fiscal da década de 1980; à dinâmica do capitalismo em âmbito mundial,<br />
com a fi<strong>na</strong>nceirização e terciarização da economia (que transforma São Paulo em capital<br />
<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l e “<strong>cidade</strong> mundial”).<br />
Paulati<strong>na</strong>mente, constata-se a afirmação de novas <strong>centralidade</strong>s com o surgimento dos<br />
subcentros a partir da década de 1920/30 (Copacaba<strong>na</strong>, Botafogo, Méier, Tijuca, Barra da<br />
Tijuca, entre outros). Neste sentido indaga-se sobre a perda da capa<strong>cidade</strong> de atração de<br />
fluxos e de hierarquização do território por parte do Centro Principal em relação às outras<br />
<strong>centralidade</strong>s.<br />
No entanto, surge outro movimento; ele é denomi<strong>na</strong>do por alguns autores como a<br />
“volta ao centro”. Tendo em vista a recente implementação de políticas públicas de<br />
“revitalização” ou “requalificação” urba<strong>na</strong>s como forma de retomada dos centros ditos<br />
“degradados”, alguns eixos de análise afiguram-se relevantes. Assi<strong>na</strong>la-se ainda o<br />
questio<strong>na</strong>mento sobre a real <strong>na</strong>tureza da recentralização, levando-se em consideração os<br />
atores que rearticulam a mesma; os novos investimentos em cultura, fi<strong>na</strong>nceiro e gestão de<br />
negócios; e o papel da cultura <strong>na</strong> reconfiguração recente de áreas centrais.<br />
No Capítulo 3, intitulado “Ideologia e Planejamento: discursos e práticas em disputa<br />
<strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro”, apresenta-se um estudo empírico a partir do exame sobre<br />
as estratégias de atuação das universidades particulares <strong>na</strong> área central do Rio de Janeiro,<br />
relacio<strong>na</strong>ndo-as à reconfiguração do Estado e à valorização da esfera econômica no âmbito<br />
das políticas públicas, causando mudanças <strong>na</strong> sociedade brasileira. Neste sentido, a partir da<br />
12 Neste sentido trazemos as contribuições metodológicas de Frúgoli Júnior (2006).
22<br />
década de 1990, presencia-se uma “mudança de paradigma <strong>na</strong> produção das políticas públicas<br />
em geral, e, no caso aqui estudado, <strong>na</strong> educação superior no Brasil, também conhecido como<br />
processo de mercadorização da esfera pública [saúde, educação, transporte, seguridade social,<br />
ciência e pesquisa]” 13 .<br />
Por conseguinte, aponta-se a existência de um discurso domi<strong>na</strong>nte, construído sob o<br />
ponto de vista simbólico, que apresenta as novas universidades, além das torres empresariais e<br />
dos empreendimentos imobiliários residenciais, como si<strong>na</strong>is positivos no que se refere ao<br />
movimento de reversão da decadência ou “re<strong>na</strong>scimento” da área central. Esses si<strong>na</strong>is são<br />
apontados tanto pela mídia como por organismos da área do urbanismo. Logo, são<br />
representados como empreendimentos “festejados”, ou seja, bons si<strong>na</strong>is da chamada<br />
“revitalização”, argüindo-se aí a geração de di<strong>na</strong>mismo econômico e a retomada de atividades<br />
ligadas ao entretenimento e à cultura no Centro.<br />
Desta forma, no intuito de compreender tais aspectos da dinâmica metropolita<strong>na</strong><br />
recente, este trabalho concentra-se <strong>na</strong> investigação do processo crescente de implantação das<br />
IES privadas, as quais si<strong>na</strong>lizariam o reforço ou a recuperação de antigas <strong>centralidade</strong>s. No<br />
entanto, evidencia-se a inserção destas nos processos de gentrificação dos centros urbanos<br />
que tendem a conferir privilégios a espaços já diferenciados no contexto urbano 14 .<br />
Os questio<strong>na</strong>mentos gerais que permeiam a investigação seguem em parte uma<br />
abordagem estatística, quantitativo-descritiva, levando em consideração a análise sobre a<br />
estrutura urba<strong>na</strong>, dados secundários e mapeamentos de usos do solo <strong>na</strong> área estudada ao longo<br />
do tempo, e também uma abordagem qualitativa partindo dos sintomas causadores e<br />
condicio<strong>na</strong>dores da problemática em estudo.<br />
São expostos, a seguir, os procedimentos metodológicos adotados para o<br />
desenvolvimento da dissertação.<br />
1. Análise sistemática.<br />
2. Leitura do registro de ações de política pública em parceria com o setor privado<br />
veiculado pela grande imprensa/internet, sobretudo o jor<strong>na</strong>l O Globo e revista<br />
Veja, e pela imprensa alter<strong>na</strong>tiva, principalmente os jor<strong>na</strong>is a Folha do Centro,<br />
Avenida Central, Jor<strong>na</strong>l do Commercio, e portal eletrônico de associações<br />
comerciais como ADEMI e ACRJ.<br />
3. Leitura de folders institucio<strong>na</strong>is das instituições de ensino superior.<br />
13 SILVA JR ; SGUISSARDI, 2001, p.18, 246.<br />
14 SILVEIRA, 2004.
23<br />
4. Comparecimento a palestras, seminários, apresentação de trabalhos e congressos<br />
<strong>na</strong>s áreas de Arquitetura/Urbanismo, Geografia e Planejamento Urbano, de modo<br />
que, paralelamente aos estudos fossem incorporados debates acadêmicos referidos<br />
ao tema/problema da revitalização das áreas centrais e reabilitação urba<strong>na</strong>.<br />
5. Execução de pesquisa empírica, de <strong>na</strong>tureza qualitativa, através de trabalhos de<br />
campo e entrevistas com representantes das instituições universitárias, do poder<br />
público municipal (Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU), e de associações<br />
comerciais/profissio<strong>na</strong>is.<br />
6. A revisão bibliográfica, concentrada no primeiro e no segundo capítulos, partiu de<br />
uma visão abrangente do tema/problema defendido, discorrendo sobre os<br />
processos de estruturação espacial intra-urba<strong>na</strong>, a constituição e afirmação de<br />
<strong>centralidade</strong>s ao longo do tempo, tanto em contextos mundiais quanto o específico<br />
da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro.<br />
Logo, parte-se da apropriação do debate sobre espaço urbano, centro, subcentros e<br />
políticas de intervenção urba<strong>na</strong> que auxilia a percepção das <strong>centralidade</strong>s no tecido urbano e<br />
sua dinâmica espaço-temporal.<br />
Filiando-se ao pensamento de Villaça (1998), percebe-se a importância de se conhecer<br />
os elementos principais e processos relacio<strong>na</strong>dos à estrutura territorial intra-urba<strong>na</strong>, e no<br />
caso específico de nossa análise, o centro da <strong>cidade</strong> ou da metrópole apontado pelo autor<br />
como um elemento absolutamente fundamental.<br />
De Tourinho (2006) vem à tese sobre a <strong>centralidade</strong> <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> contemporânea. Para a<br />
autora, enquanto os centros urbanos são produtos do zoneamento, as chamadas “novas<br />
<strong>centralidade</strong>s”, tema que surge <strong>na</strong>s décadas de 1980 e 90, são frutos da fragmentação do<br />
mundo pós-moderno 15 . É dizer; existe um problema de indefinições de termos e conceitos<br />
15 O conceito de pós-modernismo é reconhecido em sua variedade de manifestações. Para Jamenson (2006),<br />
primeiramente, é visto <strong>na</strong> reação às formas estabelecidas do alto modernismo “que conquistou a universidade, o<br />
museu, a rede de galerias, e as fundações” (p.16), antes reconhecidas pela sociedade pré-guerra como<br />
subversivas e polêmicas, mas criticadas pela nova geração da década de 1960. Neste sentido, experiências<br />
culturais antes margi<strong>na</strong>is ou secundárias ao alto modernismo agora se tor<strong>na</strong>m aspectos centrais da produção<br />
cultural da sociedade. Uma segunda forma de abordagem do conceito se relacio<strong>na</strong> à aproximação entre a alta<br />
cultura e a cultura de massa <strong>na</strong> “teoria contemporânea” construindo “um novo tipo de discurso” teórico<br />
representado, por exemplo, <strong>na</strong> obra de Michel Foucault. Uma terceira manifestação do pós-modernismo é tratada<br />
do ponto de vista funcio<strong>na</strong>l, como um conceito de periodização “cuja função é correlacio<strong>na</strong>r o surgimento de<br />
novos aspectos formais <strong>na</strong> cultura com o surgimento de um novo tipo de vida social e de uma nova ordem<br />
econômica – o que é freqüentemente chamado, em tom de eufemismo, de modernização, sociedade de consumo<br />
pós-industrial, de sociedade da mídia e do espetáculo, ou ainda, de capitalismo multi<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l. [...] A década de<br />
1960 é [...] o principal período de transição; um período no qual a nova ordem inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l (o neocolonialismo,<br />
a Revolução Verde, a dissemi<strong>na</strong>ção dos computadores e das informações eletrônicas) é, ao mesmo tempo,
24<br />
vinculados ao conhecimento do centro e da <strong>centralidade</strong>, com significados<br />
descontextualizados e imprecisos. Neste sentido, a contextualização do debate conceitual<br />
sobre centro e <strong>centralidade</strong> no Século XX é uma das grandes contribuições da autora para o<br />
presente trabalho.<br />
Sobre o conceito de espaço urbano e os processos espaciais que envolvem a produção<br />
da espacialidade urba<strong>na</strong>, a dissertação considera as contribuições teóricas de Corrêa (1997,<br />
1999 e 2001).<br />
Aproximando o foco foram selecio<strong>na</strong>das algumas idéias de Silveira (2004) e Rabha<br />
(2006), devido à carga teórica e empírica que as autoras trazem sobre o centro da <strong>cidade</strong> do<br />
Rio de Janeiro. As conclusões de Duarte (1967) sobre a Área Central são resgatadas por<br />
Rabha em sua abordagem teórico-metodológica que compara as informações atuais do<br />
Centro, traçando um panorama instigante sobre as transformações <strong>na</strong> sua organização sócioespacial<br />
no período de 1967 a 2005.<br />
Para a compreensão dos processos recentes de renovação e revalorização das áreas<br />
centrais foram pesquisados autores como Arantes (2000 e 2002), que relata o surgimento, <strong>na</strong><br />
década de 1990, do novo modelo de produção do urbano – a “<strong>cidade</strong> –empresa”, fruto da<br />
lógica da revalorização urba<strong>na</strong> visando proporcio<strong>na</strong>r acréscimos e vantagens ao modo de vida<br />
capitalista moderno. A autora traz o tema da cultura associado à transformação e gestão<br />
urba<strong>na</strong>, abordando os “movimentos urbanos” que se realizam <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> baseados numa<br />
estratégia cultural interessada no binômio “rentabilidade e patrimônio arquitetônico –<br />
cultural”.<br />
De Sánchez (2003), entre tantas contribuições, vem à tese sobre as novas formas de<br />
intervenção urbanísticas e de administração pública, ou seja, a construção de uma nova<br />
agenda urba<strong>na</strong> contemporânea formada por novos atores, novos projetos urbanos e novas<br />
coalizões políticas. Tal agenda promove a criação de espaços “refuncio<strong>na</strong>lizados e<br />
revitalizados” prontos para “formar novos complexos de consumo em sintonia com padrões<br />
culturais domi<strong>na</strong>ntes”.<br />
Desta forma, são válidas as reflexões de Magalhães (2001 e 2002) quanto à alteração<br />
<strong>na</strong>s <strong>na</strong>rrativas sobre a “fuga” do centro do Rio de Janeiro, no fim da década de 1970 e início<br />
de 1980. Para o autor, um novo discurso urbanístico se legitima enfocando a recuperação de<br />
áreas centrais e a “requalificação dos centros, de forma a servir à competitividade entre as<br />
instaurada e abalada” (p.20). A “recém-surgida ordem social do capitalismo tardio” reproduz uma “estética da<br />
sociedade do consumo” pautada em novos tipos de consumo, <strong>na</strong> obsolescência planejada, <strong>na</strong> valorização da<br />
moda fugaz, <strong>na</strong> penetração da propaganda, <strong>na</strong> cultura do automóvel, entre outros.
25<br />
<strong>cidade</strong>s, característica da globalização. Ressurge assim a opção de retomada do centro<br />
tradicio<strong>na</strong>l”.<br />
De Bidou-Zachariasen (2006) e Fix (2007) partem as teses sobre os processos sociais<br />
que projetam <strong>centralidade</strong>s urba<strong>na</strong>s, vistas enquanto imposição espacial do poder econômico e<br />
político, e sua associação com estratégias “gentrificadoras” de apropriação do espaço. Neste<br />
sentido ressalta-se a sobrevivência institucio<strong>na</strong>l das universidades relacio<strong>na</strong>da à sua atitude<br />
cooperativa diante do mundo dos negócios, ao “culturalismo de mercado” e ao seu papel de<br />
“fornecedora de bens e serviços simbólicos” 16 , numa sociedade mundializada e invadida por<br />
novos padrões culturais, novos valores, novos signos, novos comportamentos.<br />
Portanto, esta dissertação se propõe a pesquisar o tema já apresentado, o centro e a<br />
<strong>centralidade</strong>, numa escala de análise intra-urba<strong>na</strong>, refletindo sobre o mesmo a partir da<br />
dinâmica de mudanças e continuidades, ou seja, no que se refere à dimensão dialética da<br />
formação do urbano (LEFÉBVRE, 1999). Desta forma, elaborou-se um debate acerca do<br />
papel das universidades <strong>na</strong> reconfiguração recente das áreas centrais. Ou seja, buscou-se<br />
exami<strong>na</strong>r os fatores de atração (condicio<strong>na</strong>ntes para a implantação) e as reais causas por trás<br />
do processo de refuncio<strong>na</strong>lização, retomada e afirmação de <strong>centralidade</strong>s por atores<br />
econômicos, sociais e políticos.<br />
16<br />
ARANTES, 2002, p.67- 8.
26<br />
CAPÍTULO 1 - OS CENTROS URBANOS<br />
Avenida Central, Século XIX. Fonte: IPP, memória iconográfica, 2006.<br />
A Área Central traduz a complexa espacialidade da grande <strong>cidade</strong> capitalista. É<br />
reconhecida, primeiramente, como um recorte espacial revelador de uma materialidade social<br />
composta por fixos, fluxos, tipos humanos e uma dinâmica geral e ao mesmo tempo particular<br />
dentro da estrutura inter<strong>na</strong> da <strong>cidade</strong> – no caso, do ambiente metropolitano carioca 17 .<br />
É conveniente apontar que os ambientes da metrópole são objetos de significados e<br />
práticas distintas; no entanto, eles “não constituem células autônomas, independentes (...), são<br />
simultaneamente fragmentados e articulados entre si (...) reflexos e condicio<strong>na</strong>ntes das<br />
desigualdades sociais, constituem campos de lutas e campos simbólicos” 18 , pois são parte da<br />
sociedade de classes.<br />
A espacialidade diferencial (...) reflete os processos e as características da sociedade<br />
que o criou e que ali vive, como impacta sobre o seu futuro imediato. Por outro lado<br />
a espacialidade está sujeita a um di<strong>na</strong>mismo fornecido pelo movimento da<br />
sociedade, mas é parcialmente minimizada pela força de inércia dos objetos<br />
materiais socialmente produzidos: o meio ambiente é mutável sem que as formas<br />
espaciais existentes tenham mudado substancialmente (CORRÊA, 2001, p.156).<br />
17 Espacialidade diferencial é entendida como a diferenciação geográfica dos ambientes no que se refere á sua<br />
distribuição e valoração/qualificação (CORRÊA, 2001).<br />
18 Ibid., p.167-9.
27<br />
O espaço urbano do centro da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, devido à complexidade da sua<br />
estrutura espaço-temporal 19 , pode ser a<strong>na</strong>lisado sob uma multipli<strong>cidade</strong> de abordagens<br />
teórico-metodológicas. Sendo assim, a Área Central é considerada aqui a partir de um<br />
pensamento geral sobre as <strong>cidade</strong>s - “como compósitos de espacialidades e de<br />
temporalidades”, inseridos no “processo de reprodução do espaço urbano gerador de formas,<br />
conteúdos e representações que se inserem em múltiplos níveis de investigação” 20 .<br />
Com efeito, “espaço físico da <strong>cidade</strong> deve ser sempre considerado em suas relações<br />
culturais” 21 , logo, percebe-se a Área Central do Rio de Janeiro como uma realidade sócioespacial<br />
complexa devido à sua histórica função de <strong>centralidade</strong> nos diversos cenários<br />
políticos, econômicos e sociais da <strong>cidade</strong> – e desde a sua formação. A posição do centro 22 da<br />
<strong>cidade</strong> <strong>na</strong> história do Rio de Janeiro é percebida pelo legado de formações sócio-espaciais –<br />
coexistências – fruto do “papel de capital (da colônia, do Reino, do Império e da República)<br />
exercido pela <strong>cidade</strong> ao longo de quase duzentos anos (1763 a 1960), tor<strong>na</strong>do-a palco de<br />
transformações políticas, econômicas, sociais e culturais” 23 pelos atores públicos e privados.<br />
Considerando que a dinâmica urba<strong>na</strong> constrói-se historicamente através de práticas<br />
materiais e simbólicas por diversos atores sociais, esta dissertação visa compreender o papel<br />
atual do centro para a <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro. Desta forma, suscita-se a reflexão acerca dos<br />
processos históricos que engendram a formação desta <strong>centralidade</strong>, resultando numa<br />
fisionomia e importância social diferente em relação ao restante da <strong>cidade</strong>. Outro problema<br />
central são os processos que envolvem a sua dinâmica recente, a partir das últimas décadas do<br />
Século XX, representativos do movimento de reprodução da uma sociedade capitalista<br />
mundializada, e que desafiam a metrópole carioca.<br />
A intenção deste capítulo se volta para a compreensão da organização inter<strong>na</strong> da<br />
<strong>cidade</strong>, concentrando-se no processo de estruturação de uma área central e sua dinâmica ao<br />
longo do tempo, no caso do objeto estudado – o centro da metrópole carioca. Como reflexo<br />
de uma sociedade capitalista em processo contínuo de expansão, esta área sofreu processos de<br />
centralização, descentralização e recentralização de acordo com cada momento histórico,<br />
legando diferentes sentidos para a <strong>centralidade</strong> nos âmbitos territorial, funcio<strong>na</strong>l e simbólico,<br />
e logo, variadas formas de apropriação social.<br />
19 SANTOS, 1997.<br />
20 ABREU, 2003, p.97.<br />
21 SILVEIRA, 2004, p.30.<br />
22 Consideramos neste trabalho diversos termos associados à <strong>centralidade</strong> urba<strong>na</strong>, no entanto, no que se refere<br />
ao recorte espacial do nosso objeto de estudo, os termos Área Central e Centro adquirem o mesmo sentido e<br />
delimitação geográfica. Esta querela será melhor trabalhada no Capítulo 2.<br />
23 RODRIGUES, 1998, p.37.
28<br />
1.1. O ESPAÇO URBANO 24<br />
O espaço metropolitano, numa primeira aproximação, pode ser recortado<br />
espacialmente em diferentes ambientes de modo a evidenciá-lo como um rico mosaico<br />
“caracterizado pela justaposição de diferentes paisagens e usos da terra” 25 , tais como:<br />
o núcleo central, a zo<strong>na</strong> periférica do centro, as áreas industriais, os sub-centros<br />
terciários e as áreas residenciais distintas em termos de forma e conteúdo, como as<br />
favelas e os condomínios exclusivos, áreas de lazer e, entre outras, aquelas<br />
submetidas à especulação visando a futura expansão (CORRÊA, 2001, p.145).<br />
A dinâmica intra-urba<strong>na</strong> integra as diferentes áreas/ambientes da metrópole<br />
articulando as partes com o todo por meio das relações espaciais – os fluxos -, fornecendo,<br />
assim, uma unidade à grande <strong>cidade</strong> capitalista. Desta forma, esta dinâmica constitui cada<br />
uma destas áreas como “uma base de existência e reprodução social” simultaneamente própria<br />
e geral para os agentes modeladores do espaço, são eles: os proprietários dos meios de<br />
produção, especialmente os industriais, proprietários fundiários, promotores imobiliários,<br />
Estado e grupos sociais excluídos 26 .<br />
Os processos de organização e reorganização do espaço capitalista refletem a lógica de<br />
reprodução da sociedade que o produz e o consome. Segundo o pensamento marxista 27 , a base<br />
da sociedade e do próprio homem é o trabalho. É pelo trabalho que o homem se relacio<strong>na</strong> com<br />
a <strong>na</strong>tureza e com os outros homens de forma a produzir sua existência material (formas de<br />
organização jurídica, política, artística).<br />
Para o método de análise do materialismo-histórico e dialético, a sociedade constrói os<br />
vínculos sociais entre os homens baseados no caráter da relação de produção, estabelecendo<br />
desta forma as relações de transformação com o meio, por intermédio das relações de<br />
trabalho. A realidade social se estrutura, então, pelo modo de produção – no caso, o modo de<br />
produção capitalista.<br />
O homem, enquanto ser social, ao fazer a sua história em condições determi<strong>na</strong>das pela<br />
lógica do modo de produção passa a ser determi<strong>na</strong>do e determi<strong>na</strong>nte da/pela <strong>na</strong>tureza e por<br />
24 A redação dos itens 1.1 e 1.2 apóia-se, em grande parte, nos textos desenvolvidos por Corrêa (1997, 1999,<br />
2001 e 2002).<br />
25 CORRÊA, 2001, p.145.<br />
26 Ibid.<br />
27 MARX, 1977.
29<br />
outros homens, <strong>na</strong> medida em que transforma a <strong>na</strong>tureza para satisfazer suas necessidades<br />
básicas e, nesse processo, cria novas necessidades que o transformam também. Portanto,<br />
material e dialeticamente, os processos sociais transformam a realidade social historicamente,<br />
ao passo que essa dinâmica também os determi<strong>na</strong>.<br />
A estrutura metropolita<strong>na</strong> expressa a complexidade da organização espacial criada<br />
como condição para a manutenção dos processos sociais inerentes à reprodução do sistema<br />
capitalista contemporâneo. Além de “fragmentado e articulado, reflexo e condicio<strong>na</strong>nte social,<br />
o espaço urbano é também o lugar onde os diferentes grupos sociais vivem e se<br />
reproduzem” 28 , apropriando-se dele e atribuindo-lhe valores ligados ao cotidiano e ao futuro.<br />
O espaço se tor<strong>na</strong> desta maneira um campo simbólico com dimensões e significados variáveis,<br />
posto que a sua fragmentação e articulação, o seu caráter de reflexo e condição social, são<br />
vivenciados, bem como valorados diferenciadamente pelos grupos sociais 29 .<br />
De acordo com a lógica capitalista, as diferentes classes e grupos sociais se apropriam<br />
diferentemente das condições de existência e reprodução social no espaço urbano capitalista, e<br />
sua conscientização quanto à essa situação de desigualdade projetada <strong>na</strong>s formas espaciais o<br />
converte também em um campo de lutas sociais 30 .<br />
Deste modo, a estrutura intra-urba<strong>na</strong> se constitui por uma extrema mobilidade e<br />
desigualdade social e uma capa<strong>cidade</strong> complexa de mutabilidade em ritmos e <strong>na</strong>tureza<br />
distintos a fim de promover as condições para a reprodução da dinâmica de acumulação de<br />
capital e da força de trabalho.<br />
O mosaico urbano reflete, portanto, a diferenciação do espaço em forma e conteúdo e<br />
traduz as mudanças ocorridas <strong>na</strong> organização social ao longo do tempo. É possível perceber as<br />
diferentes temporalidades cristalizadas no espaço, transformações e permanências<br />
acumulando-se <strong>na</strong> paisagem urba<strong>na</strong>, fruto da ação dos agentes com seus diferentes tempos e<br />
lógicas de atuação. Assim, a estrutura inter<strong>na</strong> das <strong>cidade</strong>s mostra-se conjuntamente reflexo de<br />
ações que se realizam presentemente quanto das já realizadas – todas deixando as suas marcas<br />
no presente.<br />
O par conceitual representante dos processos de fragmentação/articulação espacial,<br />
definidos por Corrêa, manifesta uma “luta de tendências” entre as forças de inércia que<br />
28 CORRÊA, op.cit., p.150.<br />
29 CORRÊA, loc.cit.<br />
30 Ibid.
30<br />
tendem a acumular as formas herdadas do passado, e as forças de transformação que<br />
representam o di<strong>na</strong>mismo atual, as formas presentes de vida 31 .<br />
A importância <strong>na</strong> percepção da dialética espaço-tempo está exatamente no que se<br />
refere à avaliação das articulações sócio-espaciais entre os processos de mudanças e de<br />
permanências que ocorrem em importantes ambientes construídos e vividos cotidia<strong>na</strong>mente<br />
pelos que habitam a <strong>cidade</strong>. Percebe-se, então que, num determi<strong>na</strong>do período histórico, tem-se<br />
ações dirigidas para a manutenção ou para a transformação de determi<strong>na</strong>das condições<br />
viabilizadoras da reprodução da sociedade e, claro, do sistema de acumulação capitalista.<br />
Assim, a dinâmica urba<strong>na</strong> reflete a tensão entre as formas de apropriação da <strong>cidade</strong><br />
pelos diversos atores e segmentos sociais tor<strong>na</strong>ndo-se condição social para a reprodução das<br />
relações sociais de produção 32 . Com relação à <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, entende-se estas<br />
questões com relação às formas de apropriação de <strong>centralidade</strong> por meio da implantação de<br />
novas funções urba<strong>na</strong>s no espaço central, ao longo das últimas décadas.<br />
Santos (1995) 33 , em sua conferência intitulada “Salvador: centro e <strong>centralidade</strong> <strong>na</strong><br />
<strong>cidade</strong> contemporânea” indica a existência desta luta de tendências no Pelourinho, trecho da<br />
área central da <strong>cidade</strong>, caracterizada pelo surgimento dos sub-centros (descentralização), pela<br />
decadência e revalorização do velho centro (re-centralização). Anteriormente, o “centro<br />
‘antigo’, em certas épocas limitadas, era quase congelado”, e apresentava “funções típicas da<br />
<strong>centralidade</strong>” que se superpunham, “escolhendo aqui e ali subespaços especializados”.<br />
Tratava-se de um centro polifuncio<strong>na</strong>l e monopólico - o único centro da <strong>cidade</strong> que<br />
comandava toda a estrutura urba<strong>na</strong>, incluindo a vida econômica, a vida política e a cultural.<br />
Num período posterior, vinculado ao processo de expansão urba<strong>na</strong>, Santos verifica a<br />
multipolarização ou polinucleação da <strong>cidade</strong>, com especializações dos seus espaços e<br />
conseqüente redistribuição das funções urba<strong>na</strong>s para outros bairros. Logo, concomitantemente<br />
ao surgimento de sub-centros há uma gradativa decadência do centro velho. No entanto, <strong>na</strong>s<br />
últimas décadas, houve uma mudança funcio<strong>na</strong>l de Salvador, instigada por atores privados<br />
ligados à “expansão de um sistema fi<strong>na</strong>nceiro exigente de localizações precisas” e em parte<br />
pelo poder público.<br />
31 SANTOS, 1959.<br />
32 LEFÉBVRE, 1999.<br />
33 SANTOS, op. cit., p.14-21.
31<br />
O Turismo Cultural 34 “evidencia-se como fenômeno crucial para a compreensão da<br />
<strong>centralidade</strong>. Nesse contexto, junto aos habitantes com sua lógica de consumo do centro<br />
vinculada ao seu poder aquisitivo e à sua possibilidade de mobilização, afluem os turistas” 35<br />
“dispostos a estar em toda parte e que começam a repovoar, a recolonizar, a refuncio<strong>na</strong>lizar e<br />
a revalorizar” 36 o centro antigo.<br />
O programa de revitalização do Pelourinho, amplamente divulgado pelo Governo do<br />
Estado da Bahia, representa o momento atual do “rejuvenescimento parcial do velho centro<br />
adaptado às exigências do turismo” 37 . Para tais adaptações o Pelourinho assume, em vários<br />
exemplos de edificações restauradas e com novos usos voltados para o consumo das classes<br />
médias e altas, assim como, dado o processo de expulsão da maioria da população local<br />
pobre, características nítidas de “gentrificação” 38 .<br />
Este exemplo da <strong>cidade</strong> de Salvador revela que <strong>na</strong> organização espacial as formas<br />
espaciais pretéritas ou rugosidades 39 que “tiveram uma gênese vinculada a outros propósitos e<br />
permaneceram no presente”, assim o foram porque puderam ser adaptadas às necessidades<br />
atuais e apresentam uma “funcio<strong>na</strong>lidade efetiva em termos econômicos ou um valor<br />
simbólico que justifica sua permanência” 40 .<br />
Desta maneira, as mudanças no espaço urbano ocorrem porque derivam da<br />
necessidade de manutenção da dinâmica de acumulação de capital (seja porque os capitais<br />
acumulados anteriormente precisam ser reinvestidos), e das “necessidades mutáveis de<br />
reprodução das relações sociais de produção e dos conflitos de classes” com a fi<strong>na</strong>lidade de<br />
garantir a reprodução das diferenças sociais 41 .<br />
A reflexão sobre a dinâmica urba<strong>na</strong> exige a investigação dos processos específicos que<br />
condicio<strong>na</strong>m os espaços físicos e, portanto, os contextos nos quais as práticas sociais se<br />
realizam, trazendo transformações <strong>na</strong> configuração do ambiente construído. No caso do Rio<br />
34 Sobre este assunto ver as obras de Motta (2000), Vaz (2001), Arantes (2002), Sánchez (2003), Silveira<br />
(2004), Colombiano (2005), Rabha (2006) entre outros.<br />
35 SILVEIRA, op. cit., p.18.<br />
36 SANTOS, op.cit., p.17.<br />
37 Ibid.<br />
38 Tais fenômenos sócio-espaciais de gentrificação possuem referências <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, como será<br />
dicutido mais à frente, no Capítulo 3. Segundo Silveira (op. cit.), a “leitura de autores que discorrem sobre os<br />
espaços públicos e a observação dos planos e projetos de ‘preservação’/ ‘revitalização’ urba<strong>na</strong>s possibilitam<br />
verificar que a implementação de políticas urbano-culturais tem como locus privilegiado as <strong>centralidade</strong>s intraurba<strong>na</strong>s.<br />
Esta constatação si<strong>na</strong>liza o potencial de gentrificação desses planos e projetos, que tendem a conferir<br />
privilégios a espaços já diferenciados no contexto urbano” (p.22). Ver estudos organizados por Bidou-<br />
Zachariasen (2006), a respeito dos processos de gentrificação e políticas de “revitalização” dos centros urbanos.<br />
39 SANTOS, 2002.<br />
40 CORRÊA, 2002, p.71.<br />
41 CORRÊA, 2001, p.146.
32<br />
de Janeiro, a configuração atual da sua área central reflete o processo histórico que a<br />
engendrou calcado <strong>na</strong> produção de diferentes dimensões de <strong>centralidade</strong> como: a expansão<br />
exacerbada da metrópole carioca e conseqüente descentralização dos serviços urbanos e<br />
atividades econômicas para outras áreas da <strong>cidade</strong>; a implementação de políticas públicas e<br />
ações privadas visando à ocupação de vazios no tecido urbano central providos de infraestrutura;<br />
a criação de novas funções e/ou estímulo às existentes, adaptando-se ao contexto<br />
urbano e econômico mundial, “resultando, muitas vezes, em processos de elitização ou<br />
gentrificação de <strong>centralidade</strong>s urba<strong>na</strong>s” 42 .<br />
Como expressões espaciais desses processos sociais há no espaço urbano áreas de<br />
múltiplas gêneses, resultantes do acúmulo espacial de formas herdadas. O espaço se apresenta<br />
re-fragmentado em sua forma-função por meio de diferentes processos, tais como os de<br />
inércia, onde se tem a permanência do uso da terra; os de refuncio<strong>na</strong>lização, quando há<br />
utilidade ou valor de uso <strong>na</strong> forma espacial no presente; e a renovação urba<strong>na</strong>, quando há<br />
mudança de forma e função. Percebe-se, portanto, que a fragmentação do espaço está sempre<br />
sendo refeita a fim de adequar a materialidade socialmente produzida ao di<strong>na</strong>mismo dos<br />
fluxos da sociedade. Assim,<br />
a ação dos agentes modeladores gera mudanças de conteúdo e/ou das formas das<br />
diversas áreas, de modo que novos padrões de fragmentação do espaço urbano<br />
emergem, desfazendo total ou parcialmente os antigos e criando novos padrões no<br />
que diz respeito à forma e ao conteúdo (CORRÊA, 2001, p.146).<br />
As articulações entre as partes da <strong>cidade</strong> se dão de modo visível e invisível<br />
constituindo um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, mercadorias,<br />
capital e informação. Deste modo, empiricamente, os fluxos manifestam-se através: da<br />
jor<strong>na</strong>da para o trabalho, circulação de mercadorias diversas, deslocamento para compra no<br />
centro da <strong>cidade</strong>, visitas a equipamentos culturais como museus e teatro, praia, parque, etc. Já<br />
os laços invisíveis podem ser descritos como a “circulação de decisões e investimento de<br />
capital, mais-valia, salários, juros, rendas, envolvendo ainda a prática do poder e da ideologia<br />
em sua dimensão espacial” 43 .<br />
42 SILVEIRA, op. cit., p. 18.<br />
43 CORRÊA, op.cit., p.147.
33<br />
Estes tipos de interações apresentam variações <strong>na</strong> sua <strong>na</strong>tureza, intensidade e<br />
freqüência de ocorrência, ou seja, variam conforme a distância e direção, propósitos, podendo<br />
se realizar através de diversos meios e velo<strong>cidade</strong>s 44 .<br />
No entanto, as interações espaciais devem ser vistas como parte integrante da<br />
existência (e reprodução) e do processo de transformação social e não como puros e<br />
simples deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e informação no espaço. No<br />
que se refere à existência e reprodução social, as interações espaciais refletem as<br />
diferenças de lugares face às necessidades historicamente identificadas. No que<br />
concerne às transformações, as interações espaciais caracterizam-se,<br />
preponderantemente, por uma assimetria, isto é, por relações que tendem a favorecer<br />
um lugar em detrimento do outro, ampliando às diferenças já existentes, isto é,<br />
transformando os lugares (Ibid., p. 279 - 280).<br />
A análise dos tipos de fluxos que se realizam <strong>na</strong> área central do Rio de Janeiro ao<br />
longo da história pode auxiliar a compreensão quanto ao seu papel atual e ao sentido de<br />
<strong>centralidade</strong> atribuído pelos diferentes atores sociais. Assim, ela aponta a apropriação da área<br />
central como “um local privilegiado” – “seja pelo seu papel simbólico seja por sua relevância<br />
funcio<strong>na</strong>l, econômica ou política” – útil para a implementação de políticas públicas ligadas ao<br />
turismo cultural e ações privadas ligadas ao comércio, serviços e moradia. Observa-se,<br />
atualmente, uma nítida relação entre os projetos do poder público/privado e a criação e/ou<br />
afirmação de <strong>centralidade</strong>s 45 .<br />
1.2. A DINÂMICA DOS CENTROS URBANOS: DEFINIÇÕES, NOÇÕES E<br />
CONCEITOS<br />
A questão da <strong>centralidade</strong> em geral, da <strong>centralidade</strong> urba<strong>na</strong> em particular, não é das<br />
mais fáceis, ela atravessa toda a problemática do espaço (...). Cada época, cada<br />
modo de produção, cada sociedade particular engendrou (produziu) sua <strong>centralidade</strong>:<br />
centro religioso, político, comercial, cultural, industrial, etc. Em cada caso, a relação<br />
entre a <strong>centralidade</strong> mental e a <strong>centralidade</strong> social está para ser definida<br />
(LEFEBVRE, 1974 46 apud SILVEIRA, op.cit., p.33)<br />
Na reflexão a respeito da configuração sócio-espacial da área central alguns eixos de<br />
análise se afiguram relevantes. Assi<strong>na</strong>la-se a importância da área central enquanto localização<br />
<strong>na</strong> estrutura urba<strong>na</strong> e, assim, os processos sociais expressos <strong>na</strong> sua espacialidade. Para tal,<br />
44 CORRÊA, 1997.<br />
45 SILVEIRA, op.cit., p.18/36.<br />
46 LEFEBVRE, Henri. L’ Espace contraditoire. In: La production de l’espace. Paris: Éditions Anthropos, 1974.<br />
p. 383.
34<br />
verificam-se as razões que deram origem ao seu processo de centralização/concentração, os<br />
tipos de fluxos atraídos pela <strong>centralidade</strong>, e as forças sociais envolvidas <strong>na</strong>s vantagens da<br />
localização central. Mas quais os sentidos que conformam esta <strong>centralidade</strong>? Quais têm sido<br />
valorizados pela dinâmica urba<strong>na</strong> recente – econômico/funcio<strong>na</strong>l, social/simbólico, históricocultural?<br />
Concordando com Silveira,<br />
a compreensão da configuração espacial da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, mediante a<br />
identificação de seu centro e demais <strong>centralidade</strong>s do tecido urbano, suscita uma<br />
investigação das noções e conceitos de centro e <strong>centralidade</strong>s espaciais <strong>na</strong> escala<br />
intra-urba<strong>na</strong> (Ibid., 2004, p.33).<br />
A autora respalda-se em Lefebvre e em Castells 47 para afirmar que a “tal investigação<br />
constitui tarefa complexa”. Para tal, si<strong>na</strong>lizam-se algumas noções de centro e <strong>centralidade</strong><br />
conforme a visão de alguns autores 48 no intuito de evidenciar aspectos significativos para o<br />
estudo.<br />
De acordo com Lefebvre, o centro se configura como um referencial sócio-espacial<br />
para toda a <strong>cidade</strong> de acordo com diferentes sentidos dados às <strong>centralidade</strong>s que o compõem.<br />
Podem ser referenciais econômicos, simbólicos, políticos, culturais, etc. que demandam certa<br />
<strong>centralidade</strong>.<br />
Não há possibilidade de existir alguma realidade urba<strong>na</strong> sem um centro, que pode<br />
configurar-se tanto como centro comercial (que reúne produtos e coisas), como<br />
centro simbólico (que reúne e tor<strong>na</strong> simultâneas determi<strong>na</strong>das significações) e como<br />
centro de informação e de decisão, etc. (LEFEBVRE, 1976 49 apud SILVEIRA,<br />
op.cit., p.34)<br />
A análise sistemática de Castells sobre os centros, incorporada à tese de Silveira, traz<br />
importantes esclarecimentos quanto ao tema em estudo. Segundo o autor, “das concepções<br />
urbanísticas, imbuídas das idéias de ordem urba<strong>na</strong>”, emerge a noção de centro integrador e<br />
simbólico. Sob esta perspectiva identificam-se os trabalhos de Villaça (1998), Frúgoli Júnior<br />
(2006) e Tourinho (2006) que serão apresentados mais adiante. Villaça aborda a <strong>na</strong>tureza do<br />
centro principal e os fatores geradores dos fluxos da <strong>centralidade</strong>. Partindo da teoria sobre<br />
47 CASTELLS, Manuel. Estudo de elementos da estrutura urba<strong>na</strong>. In: Problemas de investigação em sociologia<br />
urba<strong>na</strong>. Lisboa: Editorial Presença; São Paulo: Editora Martins Fontes, 1975. p. 141-208.<br />
48 Nesta pesquisa apontam-se como referências de autores que trabalham a temática centro e <strong>centralidade</strong>:<br />
Burgess (1974), Liberato (1976), Villaça (1998), Corrêa (1999, 2001), Campos (1999), Sposito (1991), Vaz &<br />
Silveira (1994), Mello (2002), Tourinho (2006), Frúgoli Júnior (2006), Hoyt (2005), entre outros.<br />
49 LEFEBVRE, Henri. Espacio y política. Barcelo<strong>na</strong>: Ediciones Península - Historia, Ciencia, Sociedad, 128,<br />
1976. p. 69.
35<br />
localização intra-urba<strong>na</strong>, baseia-se em duas indagações: por que o espaço urbano se estrutura<br />
dessa forma?; e que relações conformam este tipo de organização?<br />
Esta concepção urbanística parte da seguinte noção:<br />
Centro é uma parte da <strong>cidade</strong> delimitada espacialmente (por ex., situada <strong>na</strong><br />
confluência de um esquema radial de vias de comunicação), que desempenha uma<br />
função simultaneamente integradora e simbólica. O centro é um espaço que, devido<br />
às características de sua ocupação, permite uma coorde<strong>na</strong>ção das atividades urba<strong>na</strong>s,<br />
uma identificação simbólica e orde<strong>na</strong>da destas atividades e, por conseguinte, a<br />
criação das condições necessárias à comunicação entre os atores (CASTELLS, 1975<br />
apud SILVEIRA, op.cit., p. 34)<br />
Castells mencio<strong>na</strong> também a “visão de um centro essencialmente funcio<strong>na</strong>l, isto é,<br />
referente ao seu papel desempenhado <strong>na</strong> estrutura urba<strong>na</strong>”. Partindo da perspectiva da<br />
corrente de Ecologia Urba<strong>na</strong>, “destaca a noção de centro como zo<strong>na</strong> de intercâmbio e<br />
coorde<strong>na</strong>ção de atividades descentralizadas”, cujo núcleo é objeto de estudo de diversos<br />
autores. Formam-se, portanto, as investigações relacio<strong>na</strong>das à noção de central business<br />
district, que “contribuíram decisivamente para formar a imagem já clássica do coração<br />
administrativo e comercial das grandes aglomerações” 50<br />
Sob esta perspectiva, identificam-se os trabalhos dos estudiosos da escola de Ecologia<br />
Huma<strong>na</strong>/Urba<strong>na</strong>, como Burguess (1974) e Hoyt (2005) e os geógrafos da corrente quantitativa<br />
como Duarte (1967), Duarte (1974) e Liberato (1976), e da corrente crítica como Corrêa<br />
(1999, 2001) e Santos (1995). Nestes estudos enfoca-se a importância do centro,<br />
principalmente do Núcleo Central como o lugar detentor da máxima <strong>centralidade</strong> urba<strong>na</strong>,<br />
devido a uma série de fatores atribuídos ao longo do tempo como a acessibilidade,<br />
exter<strong>na</strong>lidades, amenidades, etc. A produção do espaço da área central e suas formas de<br />
articulação com os demais elementos da estrutura urba<strong>na</strong> estariam vinculadas à dinâmica das<br />
funções urba<strong>na</strong>s, em especial no âmbito econômico (comercial e fi<strong>na</strong>nceiro).<br />
Outra característica ressaltada por Castells é a dos centros de lazer e de espetáculo –<br />
um “núcleo lúdico, onde se concentram lugares de diversão e ócio”. Neste ambiente há uma<br />
“sublimação do ambiente urbano propriamente dito, através de toda uma gama de opções<br />
possíveis e da valorização de uma disponibilidade de ‘consumo’, no sentido mais lato da<br />
palavra” 51 .<br />
Tal dimensão da <strong>centralidade</strong> é apropriada historicamente por diferentes grupos e<br />
segmentos sociais. Recentemente o centro do Rio de Janeiro, seguindo uma tendência<br />
50 CASTELLS, 1975 apud SILVEIRA, op.cit., p.34.<br />
51 Ibid.
36<br />
mundial de revalorização dos espaços centrais das grandes <strong>cidade</strong>s, é representado como o<br />
lugar privilegiado de tradição e memória histórica e cultural, tanto pela mídia, quanto pelo<br />
poder público e associações comerciais e de moradores. Tal ideal de revalorização orienta<br />
uma série de políticas ligadas ao turismo cultural, bem como a implantação de novas<br />
atividades de comércio e serviços. Logo, verificamos a afirmação e criação de <strong>centralidade</strong>s<br />
<strong>na</strong> área central no sentido de configurar plataformas de enunciação de valores consumistas<br />
globais.<br />
Mas no que constituiria essa re-significação de determi<strong>na</strong>dos espaços da <strong>cidade</strong>? Sob<br />
esta perspectiva identificam-se os trabalhos de arquitetas-urbanistas e sociólogas, tais como<br />
Silveira (2004), Arantes (2000 e 2002), Compans (2004), Motta (2000), Sánchez (2003),<br />
Zukin (2000 e 2003), Bidou-Zachariasen (2006), entre tantos outros autores, que trabalham a<br />
articulação entre cultura, relações de poder e atores sociais que participam do processo de<br />
retomada do centro. São estudadas temáticas que envolvem ações, políticas e representações<br />
em torno do movimento de reversão da “decadência”, ou seja, do “re<strong>na</strong>scimento” do centro.<br />
Tais autores, em geral, apontam o contexto de um ideário urbano pautado numa agenda global<br />
de reconversão de áreas centrais. E partem do pressuposto que esse processo é inserido <strong>na</strong><br />
dinâmica metropolita<strong>na</strong> como fator de competitividade inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l nos últimos vinte anos.<br />
Seguindo o aporte de Arantes 52 , Silveira apresenta “o debate sobre centro, lugar<br />
público e espaço público”, articulando-o num “panorama da institucio<strong>na</strong>lização da temática<br />
preservacionista, relacio<strong>na</strong>do à concepção renovadora das intervenções urba<strong>na</strong>s”. Neste<br />
diálogo resgatam-se “algumas idéias de urbanistas reformistas, do início dos anos 1950, que<br />
preconizavam a concepção de <strong>cidade</strong> como lugar de encontro, dotada de um único core”. A<br />
autora aponta esta visão como “precursora dos debates recentes sobre os centros das <strong>cidade</strong>s”<br />
e que teve como principal foco questio<strong>na</strong>r a <strong>cidade</strong> funcio<strong>na</strong>l defendida pela “concepção<br />
modernista sintetizada <strong>na</strong> Carta de Ate<strong>na</strong>s, de 1942” 53 .<br />
Silveira traz o debate sobre as formas de urbanização orientadas e discutidas por<br />
diferentes órgãos ligados ao planejamento urbano nos países centrais, a partir de meados do<br />
Século XX e, principalmente, reflete sobre os atuais padrões urbanísticos norteados por<br />
políticas urbano-culturais.<br />
52 ARANTES, Otília. A Ideologia do lugar público <strong>na</strong> arquitetura contemporânea. In: ______. O lugar da<br />
arquitetura depois dos modernos. São Paulo: Edusp; Studio Nobel, 1993. p. 97-155.<br />
53 SILVEIRA, op.cit., p.29.
37<br />
No início dos anos 1950, emerge uma vertente crítica formulada por dissidentes da<br />
urbanística do Movimento Moderno, no caso opositores da orientação<br />
haussmanniano – corbuseria<strong>na</strong> (...) que exigia a criação de lugares em que fosse<br />
possível revitalizar as <strong>cidade</strong>s destruídas pela guerra ou pelo predatório urbanismo<br />
moderno. (...) Tratava-se de uma proposta de re-centralização da <strong>cidade</strong> dispersa<br />
pelo processo de crescimento e suburbanização, ratificando a crítica à visão de<br />
<strong>cidade</strong> funcio<strong>na</strong>l. Consideravam a necessidade de restituir o espaço público nos<br />
centros urbanos, mediante a reestruturação do ‘coração da <strong>cidade</strong>’, expressão de<br />
Camillo Sitte, que constituiria o centro vital da <strong>cidade</strong>, local onde seria possível<br />
desenvolver-se o ‘sentido de comunidade’ (ARANTES, 1993 apud SILVEIRA,<br />
2004, p.37/ 49).<br />
No entanto, como apontado por Arantes, tal “postura crítica em relação aos<br />
‘modernos’ (...) parece ter sido suplantada pelos projetos recentes do Estado desti<strong>na</strong>dos à<br />
restauração dos espaços de vida pública”. E enfatiza que, “no momento atual, tem sido<br />
reforçada a atuação do capital <strong>na</strong> produção dos espaços urbanos”, assim como...<br />
a implementação de políticas de planejamento da <strong>cidade</strong> através da incorporação da<br />
cultura. Essa atuação do poder público seria especialmente visível <strong>na</strong> inserção da<br />
arquitetura protegida pelo patrimônio e dos grandes equipamentos públicos, como<br />
casas de cultura e novos museus, no conjunto estratégico das políticas culturais<br />
(SILVEIRA, op.cit., p.40).<br />
Seguindo esta mesma linha de pensamento apresentamos o debate sobre centro e<br />
reestruturação produtiva <strong>na</strong> metrópole contemporânea numa escala de análise que ultrapassa a<br />
intra-urba<strong>na</strong> e abarca o processo de urbanização global, “a qual é, ao mesmo tempo, produto e<br />
condição de processos sociais de transformação, vigentes <strong>na</strong> fase mais recente do<br />
desenvolvimento capitalista” 54 .<br />
A partir dos anos 1960/1970, com o surgimento das novas tecnologias da<br />
informação, entre outros processos, as transformações que vêm ocorrendo <strong>na</strong><br />
organização espacial das grandes <strong>cidade</strong>s têm suscitado novos questio<strong>na</strong>mentos<br />
(SILVEIRA, op.cit., p.50).<br />
Interessa salientar que as recentes transformações <strong>na</strong>s formas de apropriação social da<br />
área central do Rio de Janeiro revelam-se “parte de projetos maiores de reestruturação do<br />
espaço mundial” 55 , e podem ser entendidas a partir das novas relações espaço-tempo e do<br />
“processo de reprodução da sociedade mundializada” 56 . Assim, considera-se que a<br />
configuração sócio-espacial da área central do Rio de Janeiro reflete a re-configuração<br />
espacial das atividades huma<strong>na</strong>s a partir da: reestruturação do sistema capitalista (baseado <strong>na</strong><br />
54 HARVEY, 1996.<br />
55 SÁNCHEZ, 2003.<br />
56 CARLOS, 2004.
38<br />
acumulação flexível de capital e <strong>na</strong> redução de custos por meio das novas tecnologias); da<br />
compressão espaço-tempo 57 ; da valorização do mercado e do consumo; da cultura visual 58 ;<br />
da formatação dos padrões de vida e de desenvolvimento <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s; e, ao mesmo tempo, da<br />
busca incessante dos habitantes e gover<strong>na</strong>ntes por novos referenciais identitários e<br />
particularismos num mundo globalizado.<br />
Sob algumas destas perspectivas de análise identificam-se os trabalhos de arquitetos e<br />
geógrafos como Harvey (1992 e 1996), Soja (1993), Bienenstein (2001), Carreras (2005),<br />
entre outros. Em geral, trabalham com “imensos objetos geográficos” nos quais se<br />
constituíram as metrópoles e que há algumas décadas têm seus espaços internos<br />
reestruturados.<br />
De acordo com Lefebvre 59 :<br />
A revolução tecnológica estava acompanhada de uma forte urbanização e<br />
industrialização que tomou forma desde 1960, enquanto o modo de produção<br />
capitalista se apropriava inteiramente do espaço. [...] Desde 1960, os centros<br />
históricos das <strong>cidade</strong>s começaram a ser remodelados sob a hegemonia capitalista.<br />
Foi nesse tempo que projetos como o de Beaubourg e do Centro de Paris começaram<br />
e houve o grande estopim do fenômeno urbano: a desintegração do centro histórico e<br />
seu remodelamento, a expansão da periferia urba<strong>na</strong> e, junto com isso, todos os<br />
projetos de planejamento. Nesse contexto procurei introduzir o conceito de produção<br />
do espaço, espaço como um produto social e político, espaço como um produto que<br />
se vende e se compra [...] (LEFEBVRE, 1987 apud SILVEIRA, op.cit, p.50).<br />
Cargnin (1998) traz contribuições sobre o tema em seus apontamentos sobre o<br />
reconhecimento dos centros urbanos. Para o autor, apesar das transformações de suas<br />
características devido ao processo de acumulação e ao avanço da técnica e da ciência, o centro<br />
ainda “tem funcio<strong>na</strong>do como uma fonte de <strong>centralidade</strong> permanente, a partir da qual se<br />
formam <strong>centralidade</strong>s periféricas” 60 . Partindo da compreensão dos processos e práticas sociais<br />
e seus significados <strong>na</strong> produção social, o autor entende que o centro urbano assume uma<br />
especifi<strong>cidade</strong> que atua <strong>na</strong> constituição de uma <strong>centralidade</strong> própria para cada centro como<br />
resultado da atuação dos atores urbanos.<br />
Segundo o autor,<br />
o centro urbano sempre foi reconhecido como uma das áreas mais importantes,<br />
devido aos papéis que desempenha perante o restante da <strong>cidade</strong>. [...] Em meio à<br />
decadência do que tradicio<strong>na</strong>lmente era considerado, é real afirmar que o centro está<br />
57 HARVEY, 1992.<br />
58 ZUKIN, 2003.<br />
59 LEFEBVRE, Henri. Conversa com Henri Lefebvre. Espaço e Debates São Paulo: USP/NERU, n. 30, 1987, p.<br />
63.<br />
60 CARGNIN, 1998, p.39.
39<br />
mais vivo do que nunca <strong>na</strong> forma urba<strong>na</strong>, no imaginário das pessoas e,<br />
conseqüentemente, <strong>na</strong> realimentação da <strong>cidade</strong> (CARGNIN, loc.cit.).<br />
Portanto, a partir da reflexão de alguns autores tor<strong>na</strong>-se possível compreender a<br />
configuração do contexto urbano-metropolitano orientada por diferentes estratégias de<br />
apropriação do espaço pelo capital, caracterizada pela expansão de áreas especializadas que<br />
absorveram atributos do centro e, por processos de esvaziamento e renovação das áreas<br />
centrais. Neste processo verifica-se a permanência de referências ao centro<br />
histórico/tradicio<strong>na</strong>l, logo, mesmo que este não permaneça em sua forma origi<strong>na</strong>l ele é/será<br />
um ponto de origem a partir do qual a <strong>cidade</strong> cresce.<br />
Fi<strong>na</strong>lizando este panorama geral de percepções sobre o centro e a <strong>centralidade</strong>,<br />
seguem algumas leituras que trouxeram contribuições teórico-metodológicas para a<br />
compreensão dos processos sócio-espaciais que, ao longo do tempo, culmi<strong>na</strong>ram <strong>na</strong><br />
estruturação do ambiente metropolitano e <strong>na</strong> configuração atual dos espaços centrais - no<br />
nosso caso, da área central da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro.<br />
1.2.1. Os modelos de estruturação urba<strong>na</strong><br />
O conhecimento sistematizado sobre os processos de estruturação urba<strong>na</strong> e a<br />
conseqüente formulação de modelos representativos de padrões de organização sócio-espacial<br />
da <strong>cidade</strong> influenciam os estudos sobre os padrões de crescimento urbano e transformações<br />
sociais nos grandes aglomerados urbanos - primeiramente dos países desenvolvidos. Estudos<br />
estes aprofundados por pesquisadores do curso de Ecologia Huma<strong>na</strong>, embrionário da Escola<br />
de Chicago, cujas principiais produções se deram entre 1917 e 1940.<br />
No contexto do século XIX, as <strong>cidade</strong>s foram profundamente alteradas, passando<br />
por crescimento ou transformação de sua organização espacial. Em especial, as<br />
novas <strong>cidade</strong>s america<strong>na</strong>s, das quais Chicago tornou-se a referência, foram<br />
vigorosamente afetadas por acontecimentos que instigaram a necessidade de<br />
compreensão e requeriam explicações teóricas (...). Foi <strong>na</strong> Sociologia, numa<br />
ramificação de estudos oriundos da ecologia, ciência baseada em princípios da<br />
‘cooperação competidora’ e <strong>na</strong> ‘teia da vida’ que o estudo de processos urbanos<br />
floresceu (RABHA, 2006, p.28).
40<br />
Os sociólogos da Escola de Chicago 61 , como Halbwachs e Wirth, procuravam<br />
“relacio<strong>na</strong>r os interesses da sociologia urba<strong>na</strong> com o imenso crescimento das <strong>cidade</strong>s<br />
moder<strong>na</strong>s, transformadas, através de intensivos trabalhos empíricos, em laboratórios de estudo<br />
da vida e da organização social que se estruturavam nesses espaços”. A preocupação desses<br />
estudiosos centrava-se “principalmente <strong>na</strong> questão da ocupação do território urbano,<br />
permitindo uma análise reflexiva sobre o funcio<strong>na</strong>mento espacial das <strong>cidade</strong>s com a entrada<br />
em ce<strong>na</strong> de novos tipos sociais” 62 .<br />
As novas formas de interação social e cultural que surgiam no moderno ambiente<br />
urbano e industrial das <strong>cidade</strong>s eram então estudadas intensamente. Era necessário, por<br />
conseguinte, buscar a compreensão das implicações do crescimento das <strong>cidade</strong>s; enfim, o que<br />
ele acarretava ao nível da nova vida social eminentemente urba<strong>na</strong> 63 .<br />
A <strong>cidade</strong> é um espaço ocupado por indivíduos heterogêneos, e o sociólogo devia se<br />
preocupar com as formas de ação e de organização social que se estruturavam nesse<br />
espaço. A <strong>cidade</strong> abriga uma grande variedade e diversidade de grupos em um<br />
mesmo território geográfico, e a orde<strong>na</strong>ção espacial no meio urbano poderia ser<br />
explicada pela competição entre indivíduos, grupos e instituições, um fator<br />
explicativo das coexistências e das concorrências <strong>na</strong>s metrópoles. Sob essa<br />
perspectiva de análise, a competição por espaço é a grande força reguladora que<br />
opera no ambiente urbano, possibilitando com o estudo da distribuição de grupos no<br />
espaço urbano uma melhor compreensão de fenômenos comportamentais e culturais<br />
<strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s (ÁGUEDA, op.cit., p.2-3).<br />
A Ecologia Huma<strong>na</strong> surge, portanto, como uma importante tradição da Sociologia<br />
sobre a estrutura urba<strong>na</strong>. Esta é entendida como uma estrutura orgânica que expressa a <strong>cidade</strong><br />
<strong>na</strong> sua lógica de “desordem. Os processos e relações ecológicas que conformam à sociedade,<br />
no entendimento desta corrente de pensamento, podem ser dispostos nos seguintes conceitos e<br />
categorias: disfunção, estabilidade-instabilidade, ordem-desordem, invasão-sucessão, divisão<br />
social do trabalho, comunidade, etc.<br />
A corrente da Ecologia Huma<strong>na</strong> a<strong>na</strong>lisava a ocupação do espaço urbano através da<br />
“competição e da coexistência territorial entre indivíduos e grupos, comparando<br />
metaforicamente o comportamento humano no ambiente urbano com o comportamento dos<br />
animais e das plantas no ambiente <strong>na</strong>tural” 64 . Desta forma,<br />
61 Halbwachs teria sido professor convidado da Escola de Chicago. Ver HALBWACHS, Maurice. A Memória<br />
Coletiva. São Paulo: Ed. Vértice, 1990. Cf. também WIRTH, L. O urbanismo como modo de vida. In: VELHO,<br />
Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1987.<br />
62 ÁGUEDA, Abílio. Memórias coletivas no espaço urbano. Disponível <strong>na</strong> internet: > Acesso em junho de 2007.<br />
63 WIRTH, 1938, apud ÁGUEDA, 2004, p.2.<br />
64 ÁGUEDA, op.cit., p.8.
41<br />
entendia a estrutura inter<strong>na</strong> das <strong>cidade</strong>s como a conseqüência da luta intra-específica<br />
pela sobrevivência, numa evidente comparação com os sistemas <strong>na</strong>turais. A<br />
organização física das <strong>cidade</strong>s, a ordem moral e os termos ‘ecológicos’ como<br />
‘competição’, ‘invasão-sucessão’ e ‘assimilação-segregação’ norteavam seus<br />
trabalhos. Assim, a organização espacial e a expansão urba<strong>na</strong> eram processos<br />
‘<strong>na</strong>turais’, cujas forças bioecológicas (e ‘culturais’) do homem suplantavam as<br />
questões especificamente sociais, políticas e econômicas (JÚNIOR, 2002, p.10).<br />
A escola de Ecologia Huma<strong>na</strong> trouxe importantes contribuições ao estudo do espaço<br />
geográfico no que se refere à análise empírica e propostas teórico-metodológicas acerca do<br />
espaço intra-urbano, embora em parte adaptadas, com novas abordagens e conotações. Por<br />
exemplo, tem-se a formação de quadros interpretativos sobre: estudos da <strong>cidade</strong> e do urbano;<br />
organização espacial intra-urba<strong>na</strong>; processos e formas espaciais; descentralização e<br />
segregação; uso e ocupação do solo; valorização do solo, etc.<br />
Entre outras contribuições mencio<strong>na</strong>m-se: i) a análise sobre a estrutura urba<strong>na</strong> a partir<br />
de modelos de segregação residencial mais re-conhecidos e utilizados <strong>na</strong> interpretação do<br />
espaço da <strong>cidade</strong>; ii) a correspondência entre estrutura urba<strong>na</strong> e estrutura social (padrão de<br />
distribuição de classes ou grupos sociais); iii) a formulação de modelos de estrutura urba<strong>na</strong> 65<br />
que têm servido amplamente para demonstrar as diferenças entre a urbanização nos países<br />
desenvolvidos e subdesenvolvidos, e especificamente, <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s latino-america<strong>na</strong>s; e iv) a<br />
importância dada às “relações, fluxos e processos” no que se refere à organização inter<strong>na</strong> das<br />
<strong>cidade</strong>s 66 .<br />
Segundo Rabha (op.cit), “face às mudanças que se verificavam nos contextos urbanos,<br />
muitos estudos passaram a tratar de padrões e investigar para quais atividades as<br />
centralizações/descentralizações estariam ocorrendo” 67 . Desta forma, alguns modelos<br />
espaciais foram concebidos, tanto por sociólogos quanto por economistas urbanos, “desde<br />
meados do século XIX, tentando representar de forma simplificada a organização inter<strong>na</strong> das<br />
<strong>cidade</strong>s” 68 .<br />
Em um dos primeiros modelos (Figura 1.1) a seguir,<br />
65 Ver as obras de J. G. Kohl, de medos do século XIX, e de E. W. Burgess e H. Hoyt, <strong>na</strong>s primeiras décadas do<br />
século XX.<br />
66 Em nível metodológico, começam a se destacar, ainda em meados dos anos 1960, os trabalhos de Milton<br />
Santos sobre a especifi<strong>cidade</strong> do fenômeno urbano nos países subdesenvolvidos. Trabalhos pioneiros sobre<br />
descentralização (sobretudo terciária) e agentes modeladores do espaço (sobretudo a “indústria”) datam dessa<br />
fase, estendendo-se à atualidade. Ainda sob influência desta escola, a corrente neopositivista da Geografia<br />
(Quantitativa), <strong>na</strong> década de 1970, buscava padrões espaciais, ou seja, padrões de distribuição de fenômenos no<br />
espaço intra-urbano. Esta corrente foi retrabalhada posteriormente pela crítica neoliberal (uma crítica “inter<strong>na</strong>” à<br />
teoria econômica neoclássica), e pela a crítica marxista (uma crítica “inter<strong>na</strong>” ao marxismo positivista).<br />
67 RABHA, 2006, p. 31.<br />
68 DIAS, 2005, p.14.
42<br />
[...] datado de 1841, J. G. Kohl tenta representar o que era ainda uma <strong>cidade</strong> préindustrial,<br />
onde a elite reside junto ao centro, enquanto a periferia tor<strong>na</strong>-se área<br />
ocupada pelos pobres. Já o modelo do sociólogo E. W. Burgess, baseado <strong>na</strong>s grandes<br />
<strong>cidade</strong>s norte-america<strong>na</strong>s da década de 1920, nos apresenta o entorno do centro<br />
abando<strong>na</strong>do pelas elites – movendo-se em direção aos subúrbios -, e que, portanto,<br />
passa a ser ocupado pela população de baixa renda, disposta a enfrentar as<br />
desvantagens de um centro saturado, repleto de problemas advindos da urbanização<br />
(DIAS, 2005, p.14).<br />
FIGURA 1 – Modelos Espaciais<br />
FIGURA 1.1 MODELO DE KOHL<br />
FIGURA 1.2 MODELO DE BURGESS<br />
FIGURA 1.3 MODELO DE HOYT<br />
FIGURA 1.4. MODELO DE MERTIS<br />
& BÂHR<br />
Fonte: Modelo adaptado por DIAS (2005).<br />
Ernest W. Burgess, sociólogo urbano da escola de Ecologia Huma<strong>na</strong> de Chicago,<br />
estudou a sociedade moder<strong>na</strong> manifesta espacialmente no fenômeno de crescimento das<br />
grandes <strong>cidade</strong>s, entendidas como reflexo do processo de industrialização. Sua percepção era
43<br />
direcio<strong>na</strong>da à transformação da sociedade rural em urba<strong>na</strong> de acordo com as suas<br />
manifestações, tais como: o surgimento de arranha-céus, do metrô, dos grandes armazéns, da<br />
imprensa, da assistência social, ou seja, das grandes transformações <strong>na</strong> vida social.<br />
Em sua obra 69 utiliza estudos estatísticos e sintomáticos para a<strong>na</strong>lisar o crescimento<br />
urbano – seus efeitos, <strong>na</strong>tureza e processos. Desta forma a<strong>na</strong>lisa as alterações <strong>na</strong> estrutura<br />
social a partir do aumento da taxa de crescimento das <strong>cidade</strong>s e aponta as alterações <strong>na</strong><br />
organização social da comunidade como efeitos deste crescimento, e também a <strong>na</strong>tureza e<br />
processos que movem e causam tal crescimento.<br />
Em sua percepção da expansão urba<strong>na</strong> como um crescimento físico, e como um<br />
processo, Burgess percebe a formação de uma Área Metropolita<strong>na</strong> (uma zo<strong>na</strong> urba<strong>na</strong><br />
contínua) com vários núcleos de crescimento interno e aponta a formação de imensas<br />
manchas urba<strong>na</strong>s possibilitadas pelo desenvolvimento dos transportes. Sua formulação de um<br />
modelo concêntrico (Figura 1.2) aponta um processo tipificado de expansão da <strong>cidade</strong><br />
representado por círculos concêntricos desig<strong>na</strong>ndo zo<strong>na</strong>s sucessivas de expansão urba<strong>na</strong> como<br />
tipos de áreas diferenciadas no processo de expansão. O modelo de Burgess representa,<br />
portanto, a construção ideal de tendências de toda <strong>cidade</strong> em sua expansão radial, partindo do<br />
seu distrito central.<br />
Tal modelo compara a comunidade urba<strong>na</strong> aos organismos biológicos que crescem<br />
pelo processo de subdivisão, acarretando no surgimento de áreas especializadas <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s.<br />
Desta forma, Burgess discute os processos de mudanças urba<strong>na</strong>s e mobilidade, onde a sua<br />
principal hipótese é a de que o processo de expansão seria representado por uma série de<br />
círculos concêntricos.<br />
O modelo concêntrico expressa uma dinâmica social, não se referindo a uma <strong>cidade</strong><br />
estática. Como fruto das idéias da ecologia huma<strong>na</strong>, Burguess descreve a seqüência de<br />
eventos referentes ao crescimento da <strong>cidade</strong>, que se realiza de duas formas: expansão<br />
periférica e crescente concentração inter<strong>na</strong> 70 .<br />
Baseado em estudos empíricos realizados principalmente <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> de Chicago,<br />
Burgess definiu zo<strong>na</strong>s concêntricas em torno do núcleo domi<strong>na</strong>nte (C.B.D.- ‘Central<br />
Business District’- Distrito Central de Negócios), situado no ponto de acessibilidade<br />
máxima. Em volta deste, situam-se sucessivas zo<strong>na</strong>s caracterizadas por uma<br />
combi<strong>na</strong>ção específica de usos do solo e densidade: zo<strong>na</strong> atacadista e de<br />
estabelecimentos industriais leves, seguida por uma ‘área de transição’,<br />
correspondente a áreas residenciais antigas deterioradas, envolvida por sua vez por<br />
69 BURGESS, E. W., 1974.<br />
70 ZMITROWICZ, 1977, apud SOUZA, s/d. ZMITROWICZ, Witold. Considerações sobre o conceito de<br />
planejamento. Revista de Planejamento - FAUUSP, São Paulo, n.200, p. 1-60, 1977.
44<br />
zo<strong>na</strong>s residenciais de densidades decrescentes, começando com prédios de<br />
apartamentos e termi<strong>na</strong>ndo com casas isoladas de subúrbios (SOUZA, s/d) 71 .<br />
Segundo o modelo de Burguess, o “centro da <strong>cidade</strong> é, em princípio, o local desejável<br />
para a instalação de comércios e serviços em função da sua acessibilidade, e assim pessoas e<br />
estabelecimentos novos procuram locações tão centrais quanto possível” – realizando o<br />
movimento de concentração.<br />
Como nem todos podem ali se localizar, com o tempo se inicia um processo de<br />
segregação e pressões centrífugas, cada zo<strong>na</strong> pressio<strong>na</strong>ndo a sua envolvente<br />
seguinte. A conseqüente invasão de atividades estranhas resulta numa sucessão de<br />
usos, que são substituídos, ocorrendo uma relocação geral com expansão/extensão<br />
da urbanização. Em termos de densidades, este crescimento forma uma espécie de<br />
onda concêntrica progressiva, cuja crista também se desloca para fora do centro<br />
inicial, sua posição marcando as áreas de maiores incrementos de população e de<br />
atividade de construção mais intensa [há, portanto um processo de descentralização<br />
de atividades e funções urba<strong>na</strong>s] (SOUZA, passim, [grifo nosso]).<br />
O modelo de Burgess se limita ao reconhecimento de um padrão de distribuição de<br />
classes sociais <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s america<strong>na</strong>s relacio<strong>na</strong>do a uma mudança nos padrões do forte<br />
modelo “centro-periferia” (com a elite no centro) no momento em que indústria ocupa a área<br />
central. Com a disponibilidade crescente de meios de transporte, as classes abastadas se<br />
deslocariam para os subúrbios (periferia), enquanto os baixos estratos sociais se confi<strong>na</strong>riam<br />
<strong>na</strong>s áreas degradadas e desvalorizadas do centro.<br />
No entanto, Burgess relacio<strong>na</strong> o crescimento da <strong>cidade</strong> aos seus aspectos técnicos e<br />
físicos, e a lógica de reorganização espacial à idéia de metabolismo, ou seja, a organização<br />
social ao passar por desequilíbrios metabólicos provocados por qualquer crescimento<br />
excessivo (seja por êxodo rural, migração, etc.) tenderia a achar o seu equilíbrio <strong>na</strong>tural.<br />
Os desvios representariam os sintomas de anormalidades no metabolismo social. Já o<br />
progresso ou ordem social se daria por meio de equilíbrios ligados aos processos de<br />
cooperação - desorganização/organização. Assim, para Burgess, a dinâmica espacial expressa<br />
nos processos de diferenciação social ou territorial representaria a fragmentação da <strong>cidade</strong> em<br />
“agrupamentos <strong>na</strong>turais, econômicos, culturais”. Tal dinâmica conformaria e caracterizaria a<br />
<strong>cidade</strong>.<br />
71 SOUZA, Marcos. T. R. de. As Teorias sobre localização das atividades econômicas e a estrutura espacial das<br />
<strong>cidade</strong>s. Texto disponível no endereço eletrônico da Editora Plêiade. <br />
Acesso em novembro de 2007.
45<br />
O economista urbano norte-americano, Homer Hoyt, em seus estudos sobre a<br />
dinâmica de aluguel <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s america<strong>na</strong>s, datados de 1939, trouxe contribuições ao debate<br />
sobre a estrutura das <strong>cidade</strong>s e à dinâmica de mudança do uso do solo. Diferentemente de<br />
Burgess, Hoyt (2005) combinou círculos e setores para representar a organização intra-urba<strong>na</strong><br />
e “formulou para as áreas residenciais norte-america<strong>na</strong>s (...) um modelo diverso, denomi<strong>na</strong>do<br />
‘modelo setorial’ (...) de estruturação urba<strong>na</strong>, que interpreta como padrão espacial de<br />
segregação os denomi<strong>na</strong>dos setores de círculo, formados a partir do centro” 72 (Figura 1.3).<br />
Sua teoria aponta os diferentes usos do solo urbano e refere-se, essencialmente, aos<br />
usos residenciais no espaço urbano. O economista concluiu que o desenvolvimento<br />
residencial <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s america<strong>na</strong>s era mais axial do que circular, seguindo para um padrão de<br />
setores mais que de círculos concêntricos. Argumenta que a <strong>cidade</strong> tende a crescer<br />
setorialmente e cada classe social ocupa um segmento em expansão.<br />
Os moradores de uma <strong>cidade</strong> costumam movimentar-se preferencialmente ao longo<br />
dos principais eixos de transporte, que em geral se dispõem radialmente por razões<br />
de desenvolvimento histórico das áreas urba<strong>na</strong>s. A população de determi<strong>na</strong>do nível<br />
sócio-econômico, com hábitos semelhantes, dificilmente se desloca de um extremo a<br />
outro da <strong>cidade</strong>, confi<strong>na</strong>ndo-se num espaço que se estende do centro à periferia ao<br />
longo de um mesmo eixo. Forma-se, assim, <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> setores circulares com<br />
características bastante homogêneas, constituindo uma estrutura definida mais pelas<br />
direções que pelas distâncias (SOUZA, passim).<br />
Uma premissa da teoria dos setores é que os usos do solo <strong>na</strong>s áreas urba<strong>na</strong>s não<br />
aparecem aleatoriamente, e sim que se atraem uns pelos outros. Um dos setores peculiares de<br />
uma <strong>cidade</strong> é o seu centro, considerado como elemento organizador de todo o espaço urbano.<br />
Cabe a esta dissertação considerar que ambos os modelos de Hoyt e de Burgess foram<br />
desenvolvidos para adaptar os acontecimentos das <strong>cidade</strong>s norte-america<strong>na</strong>s, no inicio do<br />
Século XX, e assumem a consolidação do C.B.D – Central Business District (Núcleo Central<br />
de Negócios) e o crescimento dos transportes de massa como fatores importantes para o<br />
processo de estruturação intra-urba<strong>na</strong>.<br />
No entanto, as premissas dos autores são distintas, pois a<strong>na</strong>lisam sob diferentes<br />
aspectos os processos de crescimento e mudança das <strong>cidade</strong>s. Burgess focalizou sua análise<br />
no processo de decadência do centro, <strong>na</strong> ocupação do mesmo por imigrantes pobres e em<br />
questões de organização social. Já Hoyt refere-se, primeiramente, às localizações suburba<strong>na</strong>s,<br />
à classe rica e à qualidade da moradia. Ele a<strong>na</strong>lisa o modelo de zo<strong>na</strong> que enfatiza a faixa de<br />
desenvolvimento compreendida ao longo das ruas comerciais que se conduzem para fora da<br />
72 SOUZA, passim.
46<br />
C.B.D e à tendência da indústria de seguir as linhas de trem e rios. Hoyt também observa a<br />
presença de moradias de classe média e baixa, e a instalação de grandes indústrias<br />
desenvolvidas ao longo de áreas residenciais abastadas <strong>na</strong> periferia urba<strong>na</strong>. Assim, ele aponta<br />
a conformação dos setores de áreas residenciais como fruto da influência de outros tipos de<br />
usos da terra, como os usos comerciais, o sistema de transportes, a indústria e sua associação<br />
com áreas populares, as amenidades e o valor simbólico.<br />
Sobre os bairros residenciais das camadas de “alta renda”, como denomi<strong>na</strong> Hoyt, eles,<br />
em seu movimento, não “pululam ao acaso”, mas seguiriam um encaminhamento definido<br />
em um ou mais setores da <strong>cidade</strong>. Na verdade, a suburbanização da elite se daria para os<br />
melhores setores periféricos próprios para esta classe. Seu padrão de ocupação se conformaria<br />
em direção à periferia, como seguimento ao abandono de suas casas obsoletas, construindo<br />
novas moradias em áreas de vacância. Estas áreas estariam disponibilizadas à frente das áreas<br />
de “altos aluguéis”, como símbolo de enobrecimento e seriam antecipadas por promotores<br />
imobiliários que trariam restrições ao seu uso ou por especuladores que determi<strong>na</strong>riam um<br />
valor alto demais para os segmentos de renda mais pobre e intermediária não ocuparem da<br />
mesma.<br />
Segundo Hoyt, em todas as <strong>cidade</strong>s estudadas, as áreas residenciais das classes de<br />
maior renda tiveram seu ponto de origem próximo ao centro varejista e de escritórios. É ali<br />
que os estes grupos trabalham e esse ponto é o mais afastado daquela parte da <strong>cidade</strong> onde<br />
estão as indústrias e os armazéns. Assim, a direção e o padrão do futuro crescimento das áreas<br />
residenciais da classe alta tendem então a ser gover<strong>na</strong>dos por fatores de acessibilidade,<br />
<strong>centralidade</strong>, amenidades, entre outros.<br />
Além do reconhecimento acerca das contribuições que estes modelos e formas de<br />
análise trouxeram para o estudo da <strong>cidade</strong>, possibilitando abordagens mais contextualizadas e<br />
com novas conotações, considera-se que as diversas críticas aos mesmos fazem progredir o<br />
conhecimento científico 73 . Desta forma, quando se busca explicação para as causas e<br />
implicações das relações que orientam a estruturação intra-urba<strong>na</strong>, verificam-se “lacu<strong>na</strong>s” que<br />
os modelos espaciais não conseguem responder. Algumas delas referem-se à intervenção do<br />
Estado nestes processos e à heterogeneidade da estrutura urba<strong>na</strong> capitalista, reflexo da<br />
desigualdade presente <strong>na</strong> sociedade.<br />
73 Uma análise mais rica sobre as contribuições e críticas aos estudos de estruturação urba<strong>na</strong> e organização<br />
espacial realizados pela Ecologia Huma<strong>na</strong>, assim como, os seus cruzamentos nos campos de investigação com a<br />
ciência geográfica, pode ser encontrada em Rabha (2006).
47<br />
O objetivo quanto à exposição das diferentes frentes teórico-metodológicas sobre a<br />
estrutura urba<strong>na</strong> é revelar que organização inter<strong>na</strong> das <strong>cidade</strong>s reflete lógicas distintas ao<br />
longo do tempo e do espaço. As diferentes formas da organização espacial intra-urba<strong>na</strong> são<br />
frutos, portanto, da “desigual espaço-temporalidade dos processos sociais” 74 - condição de<br />
reprodução de uma sociedade desigualmente móvel e mutável.<br />
Portanto, <strong>na</strong> leitura sobre o elemento centro e suas relações com a estrutura urba<strong>na</strong>,<br />
cabe identificar as forças sociais determi<strong>na</strong>ntes das transformações que ocorrem <strong>na</strong> <strong>cidade</strong>,<br />
suas correspondentes formas de atuação e os conflitos envolvidos neste processo. Assim,<br />
diferentemente dos modelos espaciais, que para Villaça (1998), além de serem simplificados e<br />
esquematizados, são estáticos, ou seja, não captam tendência em movimento, a análise<br />
dialética da estruturação intra-urba<strong>na</strong> exige que esta seja:<br />
encarada como um processo e, como tal, sua abordagem é efetuada em termos de<br />
movimento, e o movimento das estruturas urba<strong>na</strong>s é sempre fruto da atuação de<br />
várias forças que atuam em sentidos diferentes com intensidades diferentes. O que<br />
cabe a<strong>na</strong>lisar são as forças presentes, suas origens e intensidades (VILLAÇA,<br />
op.cit., p.133).<br />
1.2.2 Os atributos da <strong>centralidade</strong><br />
Villaça traz contribuições ao debate sobre os centros urbanos, trabalhando a noção de<br />
<strong>na</strong>tureza do Centro Principal, denomi<strong>na</strong>ção dada para a área central da <strong>cidade</strong>, e localização<br />
intra-urba<strong>na</strong>. De acordo com o autor, as teorias sobre a localização 75 se baseiam no<br />
conhecimento sobre as formas urba<strong>na</strong>s e suas relações com a dinâmica da <strong>cidade</strong> como um<br />
todo. Neste sentido, Villaça considera que concomitante à produção de localizações por<br />
determi<strong>na</strong>dos grupos sociais (através de alianças entre o capital e o Estado), há também a<br />
afirmação de <strong>centralidade</strong>s, disputadas dentro do território intra-urbano.<br />
Em sua defesa acerca do papel do centro como principal elemento estruturador da<br />
<strong>cidade</strong>, o autor traz indagações sobre as relações que conformam as novas formas de<br />
organização das áreas centrais das grandes <strong>cidade</strong>s, assim como, das forças sociais que atuam<br />
<strong>na</strong>s mudanças do seu sentido enquanto localização dentro da estrutura urba<strong>na</strong>. Consideram-se<br />
tais questões pertinentes a uma melhor compreensão do atual papel do centro <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do<br />
74 CORRÊA, 2001, p.172.<br />
75 Sobre as teorias locacio<strong>na</strong>is das atividades sociais <strong>na</strong> estrutura urba<strong>na</strong> ver Souza (op.cit). Neste artigo, o autor<br />
“apresenta algumas das principais teorias da localização das atividades econômicas e suas inter-relações com a<br />
estrutura espacial das <strong>cidade</strong>s”.
48<br />
Rio de Janeiro e das transformações que se sucedem <strong>na</strong> sua organização sócio-espacial de<br />
modo articulá-la <strong>na</strong> dinâmica metropolita<strong>na</strong> carioca.<br />
Segundo Villaça, “nenhuma área é ou não é centro, como fruto de um processo ou<br />
movimento - tor<strong>na</strong>-se centro”. Há, portanto, uma dimensão relacio<strong>na</strong>l entre um determi<strong>na</strong>do<br />
ponto, ou conjunto de pontos do território urbano e todos os demais, uma “relação de<br />
localização”. Assim, o autor parte da hipótese que “os produtos específicos resultantes da<br />
produção do espaço intra-urbano (...) [são] suas localizações. A localização é ela própria,<br />
também, um produto do trabalho e é ela que especifica o espaço urbano” 76 .<br />
Sua importância se dá por ser o local onde os produtos dos valores-de-uso são<br />
produzidos e consumidos, envolvendo uma série de “deslocamentos dos produtores e dos<br />
consumidores entre os locais de moradia e os de produção e consumo” 77 . Tais relações<br />
espaciais – os fluxos - que se dão entre localizações urba<strong>na</strong>s se realizam por meio dos<br />
“transportes (de produtos, energia e pessoas), das comunicações e da disponibilidade de infraestrutura”.<br />
Desta forma, segundo Villaça, o centro enquanto localização privilegiada por atributos<br />
de <strong>centralidade</strong>, constitui-se em “elemento fundamental da estrutura territorial intra-urba<strong>na</strong>” 78 .<br />
O espaço intra-urbano [...] é estruturado fundamentalmente pelas condições de<br />
deslocamento do ser humano, seja enquanto portador da mercadoria força de<br />
trabalho – como no deslocamento casa/trabalho – seja, enquanto consumidor –<br />
reprodução da força de trabalho, deslocamento casa-compras, casa-lazer, escola, etc.<br />
Exatamente daí vem, por exemplo, o enorme poder estruturador intra-urbano das<br />
áreas comerciais e de serviços, a começar pelo próprio centro urbano. Tais áreas,<br />
mesmo <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s industriais, são as que geram e atraem a maior quantidade de<br />
deslocamentos de força de trabalho – os que ali trabalham – com os de<br />
consumidores – os que ali fazem compras e vão aos serviços (VILLAÇA, 1998,<br />
p.20).<br />
Produto de disputas pelo controle das condições de deslocamento por parcelas mais<br />
beneficiadas da sociedade, o Centro Principal – e logo, a sua <strong>na</strong>tureza – é resultante de um<br />
processo dialético que produz dois resultados: o centro e o não-centro. Tal controle visa<br />
“otimizar o uso dos tempos de deslocamento ou controlá-lo” 79 .<br />
Portanto, a força atrativa de fluxos inerente à <strong>centralidade</strong> é otimizada pelo alto grau<br />
de acessibilidade.<br />
76 VILLAÇA, op.cit., p.238.<br />
77 Ibid., p.23-24.<br />
78 Ibid., p.30.<br />
79 Ibid., p.244.
49<br />
Quanto à acessibilidade, geralmente, é promovida pela ampliação de termi<strong>na</strong>is de<br />
transportes que estimulam o desenvolvimento de um amplo comércio varejista, além<br />
de setores de lojas de departamentos, escritórios, restaurantes e outras atividades<br />
afins, tor<strong>na</strong>ndo-se local privilegiado ao consumo e fontes de matérias primas<br />
(SILVEIRA, 1995 80 apud CAMPOS, 1999, p.40).<br />
No entanto, a “acessibilidade não é semelhante em todas as direções” e nem para toda<br />
a sociedade. Além dos obstáculos <strong>na</strong>turais como morros e cursos de água, há uma dimensão<br />
política que envolve a diferenciação <strong>na</strong>s formas de acesso e apropriação do território por<br />
parcelas da sociedade. O traçado das vias de acesso às localidades urba<strong>na</strong>s, assim como a<br />
disponibilidade de infra-estrutura de transportes revelam essa dimensão, que não se limita<br />
ape<strong>na</strong>s a uma questão técnica.<br />
As acessibilidades variam ainda de acordo com os veículos utilizados. Variam,<br />
portanto, com as classes sociais: com a distinção, por exemplo, entre a acessibilidade<br />
para quem depende de transporte público e para quem possui transporte individual.<br />
Sendo os transportes intra-urbanos os maiores determi<strong>na</strong>ntes das transformações dos<br />
pontos, as vias de transporte têm enorme influência não só no arranjo interno das<br />
<strong>cidade</strong>s, mas também sobre os diferenciais de expansão urba<strong>na</strong> (VILLAÇA, op.cit.,<br />
p.80).<br />
Desta maneira, o centro se estrutura pela lógica espacial da domi<strong>na</strong>ção social visando<br />
principalmente “à apropriação diferenciada [das] vantagens locacio<strong>na</strong>is”. A sua espacialidade<br />
reproduz a lógica desigual capitalista geradora de lucros através da produção de localizações<br />
com diferenciação de acesso dentro da estrutura – durante longos períodos o preço da terra e<br />
dos imóveis aí localizados se apresentavam como os mais elevados dentre as outras áreas da<br />
<strong>cidade</strong> - possibilitando assim maior controle do uso do território por determi<strong>na</strong>das classes<br />
sociais.<br />
Nestes termos, segundo Villaça, há uma disputa em torno das condições de consumo<br />
por parcelas da sociedade, sendo essa disputa “o determi<strong>na</strong>nte principal do processo de<br />
estruturação intra-urba<strong>na</strong>” 81 .<br />
São essas distinções que fazem com que, sendo objeto de disputa entre as classes, o<br />
centro se torne mais acessível a uns do que a outros, através dos mais variados<br />
mecanismos: desde o desenvolvimento de um sistema viário associado a<br />
determi<strong>na</strong>do tipo de transportes, até o deslocamento espacial do centro e suas<br />
transformações (sua decadência ou pulverização, por exemplo). As transformações<br />
porque passaram e continuam passando os centros de nossas <strong>cidade</strong>s são fruto dessa<br />
disputa (Ibid., p.243).<br />
80 SILVEIRA, C. B. Uso Residencial <strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro: um estudo <strong>na</strong> periferia do Centro.<br />
1995. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 1995.<br />
81 Villaça, op.cit., p.45.
50<br />
Diante de tais abordagens teóricas algumas questões se colocam: o que define a<br />
<strong>centralidade</strong>?; quais são seus atributos, e por quem são apropriados?; qual a sua relação com<br />
o restante da metrópole?<br />
Neste sentido, num primeiro momento apontamos a concepção de <strong>centralidade</strong><br />
territorial – como referência ao lugar central 82 , advinda da ecologia huma<strong>na</strong>. Como condição<br />
para a apropriação do máximo lucro de localização, o acesso ao lugar central era sinônimo de<br />
disputa entre investidores – o que deixa de ter sentido <strong>na</strong> metrópole contemporânea 83 .<br />
A abordagem sistemática tradicio<strong>na</strong>l associava uma determi<strong>na</strong>da forma física da<br />
<strong>cidade</strong> que era depositária dessa <strong>centralidade</strong>, o Centro urbano 84 . Daí surgirem teorias sobre a<br />
organização da <strong>cidade</strong> e a funcio<strong>na</strong>lidade do Centro expressas no Sistema Monocêntrico e no<br />
Sistema Policêntrico tradicio<strong>na</strong>l de Subcentros.<br />
[...] o discurso urbanístico [...], desde Christaller até os anos 1980, definia a<br />
<strong>centralidade</strong> como atributo do lugar central, ou seja, o Centro, de onde tomava os<br />
mediadores básicos de referência para possibilitar a identificação de qualidades<br />
semelhantes no restante do tecido urbano. Assim, uma vez reveladas essas<br />
qualidades do espaço Centro, como encar<strong>na</strong>ção do que é central, isto é, da<br />
<strong>centralidade</strong> propriamente dita, era possível conferir certos ‘graus’ de <strong>centralidade</strong><br />
(TOURINHO, 2006, p.286).<br />
O “grau de <strong>centralidade</strong>” indicava o quanto um Centro principal ou padrão é a<br />
referência. Por exemplo, o sistema de subcentros, caracterizado por “áreas que, de forma<br />
hierarquizada e complementar, apresentavam graus de <strong>centralidade</strong> a partir do Centro,<br />
considerado principal” 85 , indicava espacialmente o “depósito das qualidades” 86 ou atributos<br />
do que é ser central”.<br />
No entanto, o Centro Principal apresenta desde a sua nomenclatura a idéia de que o<br />
espaço intra-urbano é dinâmico, pois pressupõe a existência de outras <strong>centralidade</strong>s. Logo,<br />
enquanto uma organização socialmente construída a área central da <strong>cidade</strong> reflete a lógica de<br />
reprodução de uma sociedade capitalista mutável, móvel e desigual.<br />
82 O conceito de “central-place” é apontado <strong>na</strong> “Teoria das Localidades Centrais” ou do “Lugar Central” do<br />
geógrafo alemão Walter Cristaller, desenvolvida <strong>na</strong> década de 1930.<br />
83 TOURINHO, op.cit.<br />
84 Para Tourinho, o Centro possui um “caráter concentrado, resultante do desdobramento do ‘centro velho’ no<br />
‘centro novo’, cuja unidade se consolida nos anos 1950, caracterizado pela contigüidade física e pela<br />
complementação funcio<strong>na</strong>l”(p.279).<br />
85 Ibid., p.297.<br />
86 Ibid., p. 290.
51<br />
O Centro revela-se um espaço especializado, multifuncio<strong>na</strong>l, heterogêneo, segregado,<br />
fragmentado e conflituoso. Sua diferenciação <strong>na</strong> estrutura urba<strong>na</strong> também se dá como “espaço<br />
complexo (histórico, arquitetônico, urbanístico, legal, político, social, econômico, simbólico,<br />
residual, não domi<strong>na</strong>do, diverso), caracterizando-se como um espaço de difícil apropriação” 87 ,<br />
o que “desagrada” a atuação do capital (imobiliário e fi<strong>na</strong>nceiro) e do setor público.<br />
Assim, as formas de articulação deste espaço fragmentado também são dinâmicas e<br />
seguem lógicas diferentes ao longo do tempo, redefinindo-se por meio de processos espaciais<br />
de continuidade/mudança, concentração/dispersão e de centralização/ descentralização 88 .<br />
Logo, como contraponto à abordagem estática da ecologia huma<strong>na</strong>, percebe-se que...<br />
o centro não está necessariamente no centro geográfico, e nem sempre ocupa o sítio<br />
histórico onde esta <strong>cidade</strong> se originou, ele é antes de tudo ponto de<br />
convergência/divergência, é o nó do sistema de circulação, é o lugar para onde todos<br />
se dirigem para algumas atividades e, em contrapartida, é o ponto de onde todos se<br />
deslocam para a interação destas atividades aí localizadas, assim, o centro pode ser<br />
qualificado como integrador e dispersor ao mesmo tempo (SPÓSITO, 1991 89 apud<br />
SOUZA, op.cit.).<br />
O lugar central deixa de ter sentido no contexto urbano contemporâneo devido ao<br />
surgimento de outras áreas que absorveram atributos do centro ocasio<strong>na</strong>do pelo crescimento<br />
da <strong>cidade</strong> e, conseqüente, processo de “esvaziamento” da área central. No entanto, permanece<br />
ainda <strong>na</strong> maioria dos casos, pelo menos <strong>na</strong> realidade brasileira, a idéia de referência a um<br />
centro histórico/tradicio<strong>na</strong>l.<br />
Desta forma, simbolicamente, a <strong>centralidade</strong> representaria ponto de origem, poder de<br />
irradiação e descentralização de fluxos, pois, traz o sentido de “elo urbano”, “um lugar<br />
coletivo exterior” 90 que promove condições para formação da <strong>cidade</strong>. O Centro pode ser<br />
representado por um ponto ou conjunto de pontos “de consumo, de comando, de reunião, de<br />
trabalho, de lazer, de intercâmbio, de cultura etc.”, que geram <strong>centralidade</strong> e produzem fluxos<br />
que partem ou chegam nesses pontos para o território da metrópole.<br />
Os centros urbanos são a expressão da coorde<strong>na</strong>ção das atividades sociais<br />
espacializadas além de concentrador de atividades, de recursos econômicos e de<br />
87 TOURINHO, op.cit., p.281.<br />
88 SANTOS, 2001.<br />
89 SPOSITO, Maria Encar<strong>na</strong>ção Beltrão. O Centro e as formas de expressão da <strong>centralidade</strong> urba<strong>na</strong>. Revista de<br />
Geografia, Presidente Prudente, v.10, p. 1-18, 1991.<br />
90 TOURINHO, op.cit., p.291
52<br />
poder de decisão; é também área de grande acessibilidade e expressão do nível mais<br />
alto da hierarquia simbólica da <strong>cidade</strong> 91 .<br />
O centro urbano pode ser compreendido como conteúdo social e local geográfico <strong>na</strong><br />
medida em que exprime as forças sociais em ação e a estrutura da dinâmica inter<strong>na</strong> da<br />
<strong>cidade</strong> 92 . Logo, é um “território capaz de identificar a sociedade como um todo – ainda que de<br />
maneira altamente ideológica”. A percepção do que a sociedade aceita como central é um<br />
processo simbólico, mas também físico, e tal atributo se relacio<strong>na</strong> a uma “área diferenciada e<br />
permanente que identifica e hierarquiza a <strong>cidade</strong>” 93 .<br />
Embora a <strong>centralidade</strong> não seja uma característica física, sua manifestação se dá no<br />
território de forma física, a partir da inter-relação que cada uma das partes do<br />
território tem, por um lado, com o padrão referencial, ou seja, o Centro, e, por outro,<br />
a relação que esse Centro e os outros centros possuem com o território. Essas<br />
relações não ape<strong>na</strong>s fazem parte da <strong>centralidade</strong>, são a própria <strong>centralidade</strong><br />
(TOURINHO, op.cit., p.290).<br />
Segundo Tourinho, a <strong>centralidade</strong> do Centro não é ape<strong>na</strong>s <strong>centralidade</strong> operativa ou<br />
funcio<strong>na</strong>l, ou seja, não está relacio<strong>na</strong>da ape<strong>na</strong>s às atividades que nele se desenvolvem. Ela é<br />
também representativa no que se refere “à qualidade dos fenômenos que ocorrem no Centro<br />
e, por extensão, nos centros” 94 .<br />
Centro caracteriza-se como um espaço qualificado, não só do ponto de vista<br />
funcio<strong>na</strong>l, mas principalmente por seus aspectos simbólicos e formais que têm, <strong>na</strong><br />
força de sua continuidade temporal e <strong>na</strong> permanência de seus espaços coletivos, a<br />
capa<strong>cidade</strong> de evocar uma imagem que o identifica, por antonomásia, com a ‘a<br />
Cidade’ (Ibid., p.280).<br />
O Centro é fruto da acumulação de tempos, logo, se apresenta como o lugar de<br />
resistência em relação aos objetos materiais socialmente construídos. Este “Grau de Dureza”,<br />
correspondente ao tempo de permanência dos objetos urbanos, interfere <strong>na</strong> sua propriedade,<br />
uso e ocupação e apropriação simbólica 95 .<br />
91 CASTELLS, 1975 apud SANTOS, 2001, p.39. CASTELLS, Manuel. Advanced capitails, colective<br />
consuption and urban contradictions. In: L. Lindenberg et al. Stress ans constradictions in modern capitalism.<br />
Lexington : D.C. Heath, 1975.<br />
92 CASTELLS, loc.cit.<br />
93 TOURINHO, op.cit.,p.287.<br />
94 Ibid., p.290.<br />
95 Ibid.
53<br />
Santos (1959), em sua obra clássica sobre o centro da <strong>cidade</strong> de Salvador, expressa a<br />
sua organização espacial como uma paisagem-síntese, cujos componentes “refletem,<br />
sobretudo, as necessidades e condições próprias a cada etapa da evolução urba<strong>na</strong>”. Ele<br />
“constitui uma verdadeira síntese, pois reflete, ao mesmo tempo, as formas atuais da vida da<br />
região e da <strong>cidade</strong> e o passado, seja pela evolução histórica da <strong>cidade</strong> e da região, seja pelo<br />
sítio escolhido inicialmente para instalar o organismo urbano” 96 .<br />
Sua síntese se manifesta, portanto, pela paisagem reveladora da “luta de tendências” já<br />
mencio<strong>na</strong>das – a luta entre as forças de transformação e as forças de inércia. Para Santos essa<br />
relação dialética ou “mecanismo de forças interdependentes” caracteriza as formas<br />
particulares de organização dos centros das <strong>cidade</strong>s, refletindo-os como organismos sujeitos a<br />
um processo permanente de mudança.<br />
Assim, “as forças de transformação e as forças de resistência entram em luta e dão,<br />
como resultado, seja a criação de uma paisagem inteiramente nova, seja a transformação ou<br />
adaptação da paisagem antiga que, então, se degrada” 97 . As primeiras representam o<br />
di<strong>na</strong>mismo atual, as funções urba<strong>na</strong>s e regio<strong>na</strong>is, os processos de urbanismos; já as segundas<br />
são representadas pelos fatores passivos e de resistência oferecidas pelas estruturas provindas<br />
do passado como o sítio e objetos urbanos históricos.<br />
A intenção deste item da pesquisa foi apresentar um quadro teórico concernente aos<br />
processos de estruturação urba<strong>na</strong> e às noções de centro e <strong>centralidade</strong> que, ao fim e ao cabo,<br />
permitem melhor compreensão dos processos sócio-espaciais que envolvem a dinâmica<br />
recente da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro.<br />
1.3. (RE)DEFININDO A CENTRALIDADE: FORMAÇÃO, PROCESSOS ESPACIAIS<br />
E DINÂMICA RECENTE<br />
O contexto histórico-social dos Séculos XVIII/XIX iniciado pelo advento da<br />
Revolução Industrial trouxe à to<strong>na</strong> significativas transformações sociais. A demanda por uma<br />
concentração espacial cada vez mais intensa de atividades, de forças produtivas e mercados<br />
consumidores, que acabou promovendo a cooperação urba<strong>na</strong> e o crescimento das <strong>cidade</strong>s,<br />
96 SANTOS, 1959, p.22-23.<br />
97 Ibid., p.24.
54<br />
emergiu como forma de otimizar a produtividade e os lucros dos atores econômicos<br />
envolvidos 98 .<br />
Frúgoli Júnior (2006), ao introduzir sua problemática acerca das trajetórias, conflitos e<br />
negociações em torno da <strong>centralidade</strong> <strong>na</strong> metrópole paulista<strong>na</strong>, apóia-se em Walter<br />
Benjamin 99 para iniciar um “diálogo com tópicos da configuração mais nítida da <strong>cidade</strong><br />
moder<strong>na</strong>” (p.19):<br />
[...] há um consenso de que a modernização urba<strong>na</strong> está historicamente ancorada em<br />
seus primórdios <strong>na</strong> Paris da segunda metade do século XIX, [...] cuja<br />
industrialização foi acompanhada pelo aumento populacio<strong>na</strong>l, alimentado pelo<br />
enorme afluxo de camponeses desenraizados que passaram a compor a multidão<br />
urba<strong>na</strong>, numa <strong>cidade</strong> que sofreu uma intervenção planejadora de grande escala, com<br />
a criação do sistema de bulevares, sob o comando do barão de Haussmann [...] que<br />
rasgaram o tecido urbano – inserindo Paris numa escala de circulação mais propícia<br />
à ordem capitalista industrial de então (Ibid., p.19-20).<br />
O modo de produção capitalista depende do consumo e a mais-valia representa o seu<br />
combustível de funcio<strong>na</strong>mento. As condições materiais determi<strong>na</strong>ntes desta lógica se<br />
consolidam com a revolução industrial, por meio do surgimento de um sistema técnicocientífico<br />
industrial que tem como função viabilizar a implantação da economia industrial nos<br />
centros urbanos. O espaço urbano se tor<strong>na</strong>, portanto, o locus da indústria e do comércio –<br />
mais precisamente da integração produção-circulação-consumo 100 .<br />
Esta integração, denomi<strong>na</strong>da cooperação urba<strong>na</strong>, é um motor da acumulação<br />
capitalista, a qual se realiza por meio dos efeitos úteis da aglomeração (entrelaçamento dos<br />
capitais industriais, proximidade produção - consumo, concentração do mercado consumidor,<br />
redução do tempo de circulação das mercadorias, compactação da força de trabalho e<br />
reprodução da força de trabalho). A condição de reprodução desses efeitos úteis da<br />
aglomeração e, conseqüentemente, da cooperação urba<strong>na</strong> para acumulação de capital é o<br />
crescimento das <strong>cidade</strong>s que se dará, em meados do Século XIX, pela implantação das<br />
primeiras redes de estruturação das <strong>cidade</strong>s ou de infra-estrutura urba<strong>na</strong> (água, esgoto, elétrica<br />
e viária). Surge, então, a <strong>cidade</strong> moder<strong>na</strong><br />
98 ROLNIK, 1997.<br />
99 BENJAMIN, W. Paris, capital do século XIX. In: KOTHE, F. R. (org.), W. Benjamin. São Paulo: Ática, 1985,<br />
p.30-43.<br />
100 KLEIMAN, 2004.
55<br />
ligada a formas mais sistemáticas de intervenção urba<strong>na</strong>, aos grupos sociais<br />
poderosos interessados ou beneficiados por ela, à articulação desses grupos com o<br />
poder público, ao papel implementador desempenhado por este último, ao impacto<br />
sobre o modo de vida das classes populares – em geral as mais atingidas por tais<br />
fenômenos – e a processos sociais resultantes <strong>na</strong>s áreas de tais intervenções<br />
(FRÚGOLI JÚNIOR, 2006, p.20).<br />
A Área Central emerge sob condições indiretas do processo de industrialização e<br />
estruturação da <strong>cidade</strong> moder<strong>na</strong>, representando a ampliação das relações da <strong>cidade</strong> (por meio<br />
de fluxos de capital, mercadorias, pessoas e idéias) 101 com o mundo exterior a ela. Apesar de a<br />
<strong>cidade</strong> ter se origi<strong>na</strong>do em função das necessidades de aglomeração 102 , segundo abordagens<br />
funcio<strong>na</strong>listas, o aumento da demanda por exter<strong>na</strong>lidades 103 pelos agentes econômicos,<br />
estimulados por inovações no âmbito das redes de infra-estrutura, passa a exigir um espaço<br />
específico para a realização das suas atividades lucrativas.<br />
Quanto à infra-estrutura urba<strong>na</strong> destaca-se a rede viária moder<strong>na</strong>, já mencio<strong>na</strong>da em<br />
sua importância como elemento estruturador das <strong>cidade</strong>s capitalistas, no momento<br />
caracterizado como Segunda Revolução Industrial, <strong>na</strong> passagem do Século XIX para o XX.<br />
Seu papel foi crucial para a ampliação das relações interurba<strong>na</strong>s e inter-regio<strong>na</strong>is e para a<br />
diminuição das deseconomias de transbordo devido à localização dos termi<strong>na</strong>is viários<br />
próximos uns dos outros geograficamente 104 .<br />
A acessibilidade promovida pela expansão da rede viária e a aglomeração de<br />
atividades econômicas passam a centralizar e atrair determi<strong>na</strong>dos tipos de fluxos que se<br />
reproduzem numa espacialidade de configuração diferenciada, dada a sua forma e função em<br />
relação ao restante da estrutura urba<strong>na</strong>. Esta é composta basicamente de dois setores<br />
intercomunicantes: o centro de gestão - o núcleo central (core, Centro Intra-urbano ou CIU;<br />
Central Business District ou CBD; Área Central de Negócios ou ACN); e uma franja de usos<br />
diversificados que separa o centro dos demais bairros – a zo<strong>na</strong> periférica ao centro (frame,<br />
zone in transition, zo<strong>na</strong> de obsolescência ou deteriorada) 105 .<br />
101 CORRÊA, 1999.<br />
102 Segundo Liberato (1976), Santos (2001), Corrêa (2001), Kleiman (2004).<br />
103 Exter<strong>na</strong>lidade é definida como os “efeitos econômicos sobre as empresas e atividades decorrentes da ação de<br />
elementos externos a elas” (ibid., p.83). Ex. infra-estrutura, acesso a recursos <strong>na</strong>turais, proximidade a outras<br />
empresas, etc.<br />
104 CORRÊA, 2001.<br />
105 Caracterização apresentada n
56<br />
Assim, uma nova configuração da estrutura urba<strong>na</strong> surge nesse momento como<br />
“produto da economia de mercado levado ao extremo pelo capitalismo industrial” 106 , e nesse<br />
contexto, a Área Central passa a constituir um foco principal não ape<strong>na</strong>s da <strong>cidade</strong>, mas<br />
também da sua hinterlândia. Nela se concentram os termi<strong>na</strong>is de transportes inter-regio<strong>na</strong>is e<br />
intra-urbanos, próximos ao enorme mercado de trabalho que se forma a partir das principais<br />
atividades voltadas para o mundo exterior - comércio atacadista e depósitos, indústrias<br />
<strong>na</strong>scentes e em expansão, serviços auxiliares, gestão pública e privada 107 .<br />
A emergente Área Central passou a desfrutar assim, da máxima acessibilidade<br />
dentro do espaço urbano. (...) A concentração de atividades nesta área representa,<br />
pois, a maximização de exter<strong>na</strong>lidades, seja de acessibilidade, seja de aglomeração.<br />
Do ponto de vista do capital a Área Central constituía, <strong>na</strong> segunda metade do século<br />
XIX e ainda hoje, para muitas atividades, uma localização ótima, racio<strong>na</strong>l, que<br />
permitiria uma maximização dos lucros (CORRÊA, 2001, p.124).<br />
Segundo Frúgoli Júnior, “a <strong>cidade</strong> moder<strong>na</strong> passa a ser o espaço por excelência de<br />
uma constante interação entre grupos sociais, onde a diversidade e os conflitos sociais<br />
decorrentes se intensificam e ganham maior visibilidade e dramati<strong>cidade</strong>” 108 . Os espaços<br />
públicos centrais da <strong>cidade</strong> serão, portanto, os locais de ampliação e condensação dessa<br />
diversidade social e dos diferentes significados produzidos no “imaginário público gerado<br />
pela modernidade” 109 .<br />
Desta forma, no caso das <strong>centralidade</strong>s urba<strong>na</strong>s, o imaginário vivenciado nestes<br />
espaços representa a definição do que é central 110 para a sociedade (em termos econômicos,<br />
político-adminstrativos, sócio-culturais, históricos, etc.), segundo os grupos sociais<br />
domi<strong>na</strong>ntes 111 . Imbuídos deste imaginário, os processos sociais que envolvem as localizações<br />
centrais se realizam por meio da sua materialidade estrategicamente posicio<strong>na</strong>da <strong>na</strong> <strong>cidade</strong>.<br />
Materialidade social esta composta de intensa dinâmica, pois se transforma de acordo com as<br />
mudanças que este mesmo imaginário irá sofrer ao longo do tempo, levando o seu papel<br />
enquanto <strong>centralidade</strong> e sua posição dentro da metrópole a serem definidos e redefinidos em<br />
novos termos nos diferentes contextos urbanos.<br />
os trabalhos de Liberato (1976), Vaz & Silveira (1994) e Campos (1999).<br />
106 CORRÊA, op.cit., p.123.<br />
107 CORRÊA, 1999 ; 2001.<br />
108 FRÚGOLI JÚNIOR, 2006, p.20.<br />
109 Frúgoli faz referência neste debate à Lefébvre, H. O direito à <strong>cidade</strong>. São Paulo: Documentos, 1969.<br />
110 Questão também abordada por Tourinho (op.cit.).<br />
111 FRÚGOLI JÚNIOR, loc. cit.
57<br />
Historicamente as áreas centrais das diferentes metrópoles do mundo passaram por<br />
transformações ligadas a fatores de circulação e especialização devido ao processo de<br />
expansão urba<strong>na</strong>, resultando: <strong>na</strong> dispersão e descentralização de funções urba<strong>na</strong>s importantes;<br />
no surgimento dos subcentros e equipamentos urbanos especializados como os shoppings<br />
centers; e, em alguns contextos, como a configuração de “novas <strong>centralidade</strong>s”.<br />
É desnecessário recuperar às inúmeras dimensões representativas que se condensam<br />
<strong>na</strong>s áreas centrais da metrópole. Cabe aqui frisar que são regiões onde se concentram<br />
empresas – sobretudo do setor terciário - e, portanto, empregos para consideráveis<br />
parcelas da população. Isso sem falar também sobre a grande densidade de serviços<br />
oferecidos, as atividades comerciais, a concentração de instituições políticoadministrativas<br />
e religiosas, além do patrimônio representado pelo conjunto de suas<br />
edificações e, mesmo em alguns casos, o fato de também constituírem áreas de<br />
moradia para setores de classes médias e populares. Outra dimensão a ser assi<strong>na</strong>lada<br />
é que <strong>na</strong>s regiões centrais de uma metrópole realiza-se, em maior ou menor grau, a<br />
densidade dos contatos face a face que marcam a vida pública moder<strong>na</strong>, constituída<br />
por múltiplas dimensões como o encontro e a sociabilidade, a mediação de distintos<br />
conflitos, a tolerância à diversidade sociocultural, as manifestações políticas etc.,<br />
que ganham nesses espaços a expressão mais acabada (FRÚGOLI JÚNIOR, op.cit.,<br />
p.42)<br />
Corrêa (1999 e 2001) traz contribuições teóricas importantes para o entendimento da<br />
dinâmica das áreas centrais e sua organização espacial. Segundo o autor, o elemento<br />
intermediário entre os processos sociais e a produção espacial são os processos espaciais 112<br />
que dão forma, movimento e conteúdo ao espaço urbano. Esses processos espaciais definem a<br />
produção da materialidade, as formas urba<strong>na</strong>s e as suas funções dentro da estrutura urba<strong>na</strong>.<br />
Este elemento viabilizador constitui-se em um conjunto de forças que atuam ao<br />
longo do tempo e que permitem localizações, relocalizações e permanência das<br />
atividades e população sobre o espaço urbano. São os processos espaciais,<br />
responsáveis imediatos pela organização espacial complexa que caracteriza a<br />
metrópole moder<strong>na</strong> (CORRÊA, 2001, p.122).<br />
São eles e suas respectivas formas originárias:<br />
(1) centralização e a área central (núcleo central e a zo<strong>na</strong> periférica do centro)<br />
(2) descentralização e núcleos secundários (sub-centros comerciais e de serviços, e<br />
áreas industriais não-centrais)<br />
(3) coesão e as áreas especializadas<br />
112 Segundo CORRÊA, tais processos espaciais “foram colocados em evidência desde a segunda metade do<br />
século XIX e, sobretudo <strong>na</strong> primeira metade deste, por economistas como Hurd e Haig, sociólogos da Escola de<br />
Ecologia Huma<strong>na</strong> como Park e Mckenzie, e os geógrafos urbanos como Colby” (2001, pp.122-123).
58<br />
(4) segregação e as áreas residenciais<br />
(5) invasão-sucessão e áreas residenciais deterioradas e novas áreas em setores de<br />
expansão/especulação residencial<br />
(6) inércia e as áreas cristalizadas<br />
O processo de centralização, apresentado anteriormente, dá origem à <strong>cidade</strong><br />
monocêntrica, realidade concreta até as primeiras décadas do Século XX, <strong>na</strong> qual as<br />
articulações entre os bairros passavam necessariamente pelo núcleo central. Segundo as<br />
concepções teóricas da ecologia huma<strong>na</strong> 113 , a organização espacial da <strong>cidade</strong> monocêntrica<br />
apontava o centro como foco de articulação, realizando as funções centrais de lugar de troca<br />
de bens e serviços, e de gestão pública e privada de atividades descentralizadas, ou seja, o<br />
“lugar do mercado” 114 . Assim, numa abordagem funcio<strong>na</strong>lista a produção do espaço da área<br />
central e suas formas de articulação com os demais elementos da estrutura urba<strong>na</strong> estariam<br />
vinculadas à dinâmica das funções urba<strong>na</strong>s, principalmente, no âmbito econômico (comercial<br />
e fi<strong>na</strong>nceiro).<br />
O Núcleo – ponto central que agluti<strong>na</strong> o mercado e as vantagens de aglomeração, se<br />
diferencia por apresentar-se como uma limitada e privilegiada área de intensa verticalização e<br />
concentração de termi<strong>na</strong>is de transportes inter-regio<strong>na</strong>is e intra-urbanos, ou seja, o lugar ideal<br />
para a realização e reprodução de inúmeras atividades 115 .<br />
Sua formação como Núcleo ou Área Central de Negócios (C.B.D.- Central Business<br />
District) é advinda do processo de verticalização, sendo que o “frame” ou zo<strong>na</strong> periférica do<br />
centro fazia os limites da área central com os bairros. As exter<strong>na</strong>lidades deste ponto<br />
representam vantagens locacio<strong>na</strong>is distintivas para os atores econômicos e para o mercado<br />
consumidor em relação ao conjunto da <strong>cidade</strong> por possibilitar um valor do uso do solo<br />
diferenciado e uma otimização dos tempos de deslocamento 116 . Até as primeiras décadas do<br />
Século XX se concentravam no núcleo central o comércio varejista para a elite, as lojas de<br />
calçados, móveis, roupas, etc.<br />
113 No trabalho de Rabha (2006), a autora apresenta alguns autores desta corrente e seus estudos “valendo citar<br />
Proudfoot (1933), Kelly (1955), Vance Jr. (1958), Hoyt (1958) e Berry (1959) para a atividade varejista; Murphy<br />
e Vance (1954) para a delimitação da área central de negócios, segundo levantamentos dos usos do solo; e<br />
Griffin e Preston (1966), para o reconhecimento do potencial de reassimilação das áreas deterioradas, a chamada<br />
zo<strong>na</strong> de transição, <strong>na</strong> periferia do centro de negócios das <strong>cidade</strong>s” (p.31).<br />
114 SANTOS, 2001.<br />
115 Caracterização apresentada <strong>na</strong>s obras de Corrêa (2001); Santos (2001); Mello (2002).<br />
116 SANTOS, passim.
59<br />
O núcleo central da metrópole constituiu-se em um local de concentração maciça de<br />
atividades terciárias, especialmente o comércio varejista e serviços diversos, ambos<br />
dotados de grande <strong>centralidade</strong>, relacio<strong>na</strong>da tanto ao espaço urbano como à<br />
hinterlândia da <strong>cidade</strong>. Ali se concentravam também as atividades administrativas<br />
das esferas municipal, estadual e federal. Foco exclusivo de convergência de<br />
transportes intra-urbanos, o núcleo central caracterizava-se por um tráfego denso. O<br />
movimento de pedestres, intenso durante o dia, era, e ainda é, salvo <strong>na</strong> área de<br />
diversões, extremamente reduzido à noite (Ibid., p.173).<br />
Tourinho (2006), em sua obra que contextualiza o debate conceitual sobre centro e<br />
<strong>centralidade</strong> no Século XX, relata que de acordo com a sistemática tradicio<strong>na</strong>l da ecologia<br />
huma<strong>na</strong>, o Centro representa uma <strong>centralidade</strong> territorial socialmente produzida - um lugar<br />
central. A produção de <strong>centralidade</strong> se dava associada a uma única e determi<strong>na</strong>da forma física<br />
da <strong>cidade</strong> depositária dessa <strong>centralidade</strong> - o Centro.<br />
Em grande parte, o raciocínio sobre a forma do urbano aliava-se à matriz econômica,<br />
orientada por princípios neoclássicos, que reafirmavam a hegemonia da área central<br />
por gradiente máximo de valor da terra, em geral. A caracterização da<br />
potencialidade de valor do solo urbano e captura do mesmo, <strong>na</strong> forma de renda por<br />
parte dos proprietários, aceita como norma da <strong>cidade</strong> capitalista, induzia uma <strong>na</strong>tural<br />
competição por localizações desejadas, consideradas livres, para os de maior renda<br />
ou sujeita ao intrincado jogo de sacrifícios versus acesso aos benefícios urbanos para<br />
os mais pobres. A aceitação indiscutível dos princípios da livre concorrência<br />
conduzia forçosamente a realização de análises que esmiuçavam padrões em que se<br />
processava a ocupação, legitimando desse modo formas e processos espaciais que<br />
seriam ditados por comportamentos <strong>na</strong>turais, produto da domi<strong>na</strong>ção dos mais<br />
‘fortes’ sobre os mais ‘fracos’ (RABHA, 2006, p.32).<br />
Esta forma de abordagem, que deixa de ter sentido <strong>na</strong> análise da metrópole<br />
policêntrica contemporânea, se baseia <strong>na</strong> idéia de “apropriação dos ‘lugares vantajosos’<br />
preexistentes (de qualquer ponto de vista: social, econômico, estratégico, etc.) formados,<br />
normalmente, pelo esforço coletivo da sociedade” 117 . A realização de investimentos no lugar<br />
central representava a obtenção de vantagens sobre o “máximo lucro de localização”.<br />
Assim, a <strong>centralidade</strong> era entendida como atributo primordial do Centro ou Área<br />
Central de Negócios, pois dele saía o comando para os demais centros intra-urbanos, quando<br />
se concretizou a expansão da <strong>cidade</strong>. Tal conceito foi amplamente utilizado desde a<br />
“definição da geografia, nos estudos de localização que proliferaram nos trabalhos de<br />
planejamento a partir da década de 1950” 118 . Em Liberato (1976), percebe-se a concepção de<br />
centro como área detentora do máximo grau de <strong>centralidade</strong> já obtido <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> desde sua<br />
117 TOURINHO, op. cit., p.288.<br />
118 HALL, 1995 apud TOURINHO, 2006, p.278. HALL, Peter. Cidades do Amanhã: uma história intelectual do<br />
planejamento e dos projetos urbanos no século XX. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995.
60<br />
fundação, advindo do seu crescimento em conjunto com a mesma. O Centro é, portanto,<br />
reconhecido como o “único espaço central”. Segundo a autora:<br />
a <strong>cidade</strong>, como sistema regio<strong>na</strong>l, apresenta uma organização inter<strong>na</strong> hierarquizada e<br />
centralizada por um ponto focal, o ‘Central Business District’ (CBD), que aqui será<br />
chamado simplesmente de Centro Intra-Urbano (CIU). Isto se justifica pois o CBD<br />
tem sido ultimamente vinculado aos sistemas mais desenvolvidos, as metrópoles. O<br />
CIU, expressão genérica, abrange não somente o CBD Metropolitano, mas também<br />
as formas menos complexas, encontráveis em <strong>cidade</strong>s menores. [...] o CIU não é<br />
uma área homogênea. Há uma variação de tipos de utilização do solo e densidade de<br />
concentração de formas de utilização, que tem sido chamada ‘intensidade<br />
comercial’, que é particularmente notável no CBD Metropolitano, onde se observa<br />
verdadeiro zoneamento interno. A porção mais altamente concentrada do CBD<br />
Metropolitano, com maior ‘intensidade comercial’, é chamada por alguns de hard<br />
core e por outros de ‘área primária’, para distingui-las do restante – ‘área<br />
secundária’. Os atributos característicos do CBD Metropolitano decli<strong>na</strong>m em<br />
intensidade do hard core em direção ás margens que ao limites zo<strong>na</strong>is e não ape<strong>na</strong>s<br />
linhas divisórias estreitas. Note-se que essas zo<strong>na</strong>s limites não são permanentes<br />
(LIBERATO, op.cit., p.89/90).<br />
Segundo Tourinho, o Centro se fez com a <strong>cidade</strong>, “ele foi feito pela <strong>cidade</strong> e com a<br />
<strong>cidade</strong> como um todo, como resumo da concentração, quando isso era possível” 119 . No Rio de<br />
Janeiro, este processo se iniciou <strong>na</strong> primeira década do Século XIX, com a expansão urba<strong>na</strong><br />
causada pela chegada da família real e toda a Corte portuguesa, em 1808.<br />
Alterações urba<strong>na</strong>s de grandes proporções se realizaram devido à imposição de uma<br />
nova condição política do país – o Rio de Janeiro como capital do império, e também<br />
econômica com a abertura dos portos. Segundo Silveira (2004), “promoveu-se assim forte<br />
desenvolvimento comercial e urbano no Rio, reforçando a sua função portuária e sua condição<br />
de <strong>cidade</strong>-capital” 120 .<br />
Para adequar a <strong>cidade</strong> à nova situação realizaram-se muitos melhoramentos,<br />
construíram-se prédios adequados ao seu status de capital do império português e<br />
urbanizaram-se novas áreas aterradas <strong>na</strong> planície alagadiça. Com efeito, as<br />
transformações do espaço urbano carioca, desencadeadas com a vinda da família<br />
real, contribuíram sobremaneira para a radical mudança <strong>na</strong> configuração espacial da<br />
<strong>cidade</strong>, que começou a apresentar indícios de estratificação social. O expressivo<br />
acréscimo demográfico – constituído, em grande parte, de nobres e pessoas<br />
abastadas – foi responsável pela primeira crise habitacio<strong>na</strong>l da história da <strong>cidade</strong>.<br />
[...] No breve período de 1808 a 1822 – ano em que a Independência ratificou a<br />
superação do antigo status colonial –, acentuou-se a importância da <strong>cidade</strong> e de seu<br />
centro, o largo do Paço, onde se encontrava a sede da administração do governo dos<br />
territórios pertencentes a Portugal e que teve então reafirmado o seu papel de core.<br />
[...] [assim] até o início da terceira década do século XIX, a história da formação da<br />
área urba<strong>na</strong> da <strong>cidade</strong> coincidiu praticamente com a história da formação de sua área<br />
central e sua periferia imediata (SILVEIRA, op.cit., p.62-64).<br />
119 TOURINHO, op. cit., p..286.<br />
120 SILVEIRA, op.cit., p.62.
61<br />
Apresentando de maneira breve um histórico da configuração do Centro da <strong>cidade</strong> do<br />
Rio de Janeiro, já que este tema será apontado novamente no próximo capítulo, destaca-se<br />
num primeiro momento a continuidade do processo de expansão da malha urba<strong>na</strong> durante o<br />
Século XIX, com características tanto de periferização quanto de adensamento da ocupação<br />
da área central. Nota-se, também, uma segregação das classes sociais e dos usos no espaço<br />
central.<br />
Há, portanto, o surgimento de bairros residenciais para as classes mais abastadas tanto<br />
<strong>na</strong> periferia do centro (vetor sul) quanto no entorno do núcleo origi<strong>na</strong>l, assim como o<br />
deslocamento para o vetor norte e leste da periferia do centro para as classes mais pobres,<br />
devido à falta de moradia. Outro fato interessante de se mencio<strong>na</strong>r é o processo de perda da<br />
função residencial em certos trechos do centro e a valorização dos espaços para lazer e<br />
comércio.<br />
Já no contexto da <strong>cidade</strong> moder<strong>na</strong>, a partir de um novo momento de expansão da<br />
malha urba<strong>na</strong>, no início do Século XX, a <strong>centralidade</strong> passa por uma redefinição de usos e<br />
significados e diversas re-configurações do seu espaço, tendo o seu desenvolvimento<br />
caracterizado pela concentração de negócios e expulsão do uso residencial para outras regiões<br />
da <strong>cidade</strong> 121 .<br />
Na virada do Século XIX para o Século XX, a <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro contava com<br />
uma população superior a 700.000 habitantes, distribuída num espaço urbano que<br />
necessitava se adequar às exigências da nova divisão territorial e inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l do<br />
trabalho. A economia brasileira vivia então uma fase de rápida expansão. O aumento<br />
acelerado da atividade de exportação integrava-a progressivamente ao capitalismo<br />
inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l. Desse modo, o espaço brasileiro, sobretudo o da sua capital, precisava<br />
ser reestruturado para responder convenientemente à sua crescente inserção no modo<br />
de produção capitalista. Com a nova ordem institucio<strong>na</strong>l desde 1889, a <strong>cidade</strong> do<br />
Rio de Janeiro tornou-se Distrito Federal, sede do governo e capital da República. O<br />
processo de expansão da <strong>cidade</strong>, mediante a crescente incorporação de novas áreas à<br />
malha urba<strong>na</strong>, manifestou-se <strong>na</strong> formação de bairros residenciais e industriais<br />
dissociados da área central. Assim, no início do século XX, o Rio de Janeiro<br />
apresentava-se <strong>na</strong> forma dicotômica núcleo-periferia, com uma área central<br />
praticamente delineada nos limites da ‘<strong>cidade</strong> velha’, hoje conhecida simplesmente<br />
como ‘<strong>cidade</strong>’ (ou ‘centro’). No entanto, ali permaneceram usos e atividades<br />
considerados indesejáveis para uma <strong>cidade</strong> moder<strong>na</strong>, principalmente os inúmeros e<br />
frágeis cortiços (Ibid., p.66).<br />
As contradições do movimento mundial de expansão do capital <strong>na</strong> sociedade carioca<br />
se expressavam em diversos níveis: econômicos, ao nível das relações de trabalho;<br />
urbanísticos relacio<strong>na</strong>dos à infra-estrutura; e ideológicos, posto que as “elites” reconheciam<br />
121 ABRAMO & MARTINS, 2001.
62<br />
<strong>na</strong> área central da <strong>cidade</strong> o oposto da imagem de “progresso” e “desenvolvimento”. “Faltava<br />
ao centro uma ‘ordem’ a ser edificada e ‘controlada’ de modo eficaz pelo capital e seu aliado<br />
– o Estado” 122 .<br />
Sendo capital e o principal porto do país até pelo menos a década de 1890 [...], o Rio<br />
de Janeiro vai apresentar todas as contradições possíveis quando as novas práticas<br />
capitalistas vão gradativamente se infiltrando numa estrutura urba<strong>na</strong> de feições ainda<br />
coloniais e numa sociedade escravista até 1888 (SILVEIRA, loc. cit.).<br />
A reestruturação da <strong>cidade</strong> se concretizou <strong>na</strong> administração do presidente Rodrigues<br />
Alves, que nomeou o engenheiro Francisco Pereira Passos como prefeito do Distrito Federal.<br />
Assim, no início do Século XX, é implementado pelos governos federal e municipal um<br />
amplo conjunto de reformas visando retomar a área central, então ocupada por imigrantes e<br />
famílias pobres, e ali estabelecer novos valores econômicos. Cortiços são demolidos, avenidas<br />
são abertas objetivando facilitar as ligações da área central com as regiões adjacentes, ruas são<br />
alargadas e impostas normas de comportamento social 123 .<br />
Outras intervenções urba<strong>na</strong>s características da Primeira República são as reformas e<br />
ampliações dos portos marítimos e fluviais, assim como das áreas centrais, destacando-se aí a<br />
Reforma Passos (1902-1906) e o Plano Agache, que serão mencio<strong>na</strong>dos logo adiante.<br />
A Reforma Passos representou um marco <strong>na</strong> configuração territorial da Área Central<br />
da <strong>cidade</strong>, isto é, <strong>na</strong> construção de uma área constituída de duas porções: o distrito<br />
central de negócios, eixo preferencial de negócios basicamente localizado <strong>na</strong><br />
Avenida Central; e a sua zo<strong>na</strong> periférica, expressa, sobretudo, no restante da ‘<strong>cidade</strong><br />
velha’ (SILVEIRA, op.cit., p.68).<br />
No período de 1906 a 1920, se consolidam, portanto, as tendências da urbanização do<br />
Rio de Janeiro. Há um incremento da malha urba<strong>na</strong> e, ao mesmo tempo, uma densificação <strong>na</strong><br />
ocupação do espaço. Quanto à sua área central, as freguesias que compunham o centro<br />
histórico da <strong>cidade</strong> continuam a perder população devido ao processo de especialização em<br />
zo<strong>na</strong> comercial, processo apontado desde o fi<strong>na</strong>l do Século XIX.<br />
Segundo Ribeiro (1997), <strong>na</strong>s décadas de 1920 a 1933 a <strong>cidade</strong> se verticalizou,<br />
revelando a espetacular atuação do mercado imobiliário. Na zo<strong>na</strong> central da <strong>cidade</strong>, de acordo<br />
com uma análise mais detalhada acerca das taxas de crescimento predial no Centro, o autor<br />
conclui a formação de dois eixos de crescimento especializados: a Zo<strong>na</strong> Comercial Central<br />
122 RODRIGUES, op.cit., p.39.<br />
123 MAGALHÃES, 2001.
63<br />
(que abarcava as freguesias da Candelária, Sacramento, Santo Antônio, São José, Santa Rita)<br />
e a Zo<strong>na</strong> Industrial Central (com as freguesias de Sant’an<strong>na</strong>, Gamboa e São Cristóvão).<br />
A partir de meados da década de 1920 iniciou-se o processo de verticalização da<br />
área central, aprofundado <strong>na</strong> década seguinte. Os primeiros arranha-céus<br />
localizaram-se <strong>na</strong> avenida Rio Branco, ocupando seus últimos terrenos livres ou<br />
então substituindo as imponentes construções ecléticas do início do século, que<br />
foram demolidas aos 25 anos de existência desta avenida. Simultaneamente, uma<br />
porção da vasta área vazia, criada pela elimi<strong>na</strong>ção do morro do Castelo, encontravase<br />
disponível ao mercado imobiliário, viabilizando novas ocupações (Ibid., p.68).<br />
Durante a administração do prefeito Henrique Dodsworth (1937-1945), a chamada<br />
Reforma Dodsworth marcou a remodelação da <strong>cidade</strong> pela retomada em novas bases da<br />
urbanização da Espla<strong>na</strong>da do Castelo baseada <strong>na</strong> abertura de grandes e largas avenidas e em<br />
construções que ocupavam quarteirões inteiros 124 .<br />
Neste período, o centro da <strong>cidade</strong> foi o que mais sentiu as mudanças <strong>na</strong> paisagem<br />
urba<strong>na</strong>, provocada pela abertura da Avenida Presidente Vargas. Além disso, o interesse do<br />
capital imobiliário concentrou as atividades comerciais <strong>na</strong> área central promovendo a<br />
construção da segunda geração de prédios da Avenida Rio Branco. É consolidado assim o<br />
eixo "Avenida Presidente Vargas e Avenida Rio Branco", marcando para sempre o centro da<br />
<strong>cidade</strong>. No entanto, “a expectativa de expansão da Área Central de Negócios sobre este novo<br />
eixo, exatamente como havia acontecido com a Avenida Rio Branco, não se confirmou” 125 .<br />
Houve um redirecio<strong>na</strong>mento dos investimentos imobiliários para outros bairros, mantendo<br />
extensos vazios ao longo da avenida durante décadas, muitos permanecendo até os dias de<br />
hoje.<br />
Em que pese o fato de se constituir definitivamente uma metrópole, a crença numa<br />
quase ilimitada expansão da Área Central de Negócios – que embasou planos,<br />
projetos, decretos e ações do Poder Público durante praticamente um século – não se<br />
confirmou. Enquanto o uso residencial foi afastado do núcleo, a <strong>centralidade</strong> não<br />
cresceu conforme o previsto (ou desejado), mas sim de outros modos; atividades<br />
centrais foram localizadas em centros de bairro ou subcentros, ou então insistiram <strong>na</strong><br />
localização central, verticalizando intensamente ape<strong>na</strong>s o núcleo. Podemos afirmar<br />
que, no decorrer da história da <strong>cidade</strong> espaços novos com status diferenciados foram<br />
sendo sucessivamente anexados ao tecido urbano existente, em detrimento das<br />
ocupações mais antigas. A ocupação de áreas através da expansão urba<strong>na</strong> nos eixos<br />
norte e sul contribuiu para a relativa estag<strong>na</strong>ção da área central. Esta permaneceu<br />
como núcleo principal até os anos 1930 e 1940, quando surgiram novas<br />
<strong>centralidade</strong>s, destacando-se Copacaba<strong>na</strong>. Este bairro captou os investimentos<br />
imobiliários que passaram a dirigir-se progressivamente para a zo<strong>na</strong> Sul, seguidos<br />
124 BARROS, 2003.<br />
125 SILVEIRA, op.cit., p.69.
64<br />
pelas atividades de comércio e serviços. Em meados do século XX desenvolveramse,<br />
ainda, os subcentros do Méier, Madureira e Campo Grande, o que contribuiu para<br />
esvaziar ainda mais a área central (SILVEIRA, op.cit., p.71-72).<br />
Verifica-se, portanto, a partir da década de 1920 até 1970, o direcio<strong>na</strong>mento da<br />
estrutura da <strong>cidade</strong> para a poli<strong>centralidade</strong> baseada em fatores de circulação e especialização<br />
de áreas característicos do processo de metropolização. Houve o progressivo abandono de<br />
atividades do núcleo central e o aparecimento descentralizado de novas atividades em outros<br />
bairros da metrópole, como por exemplo, os shoppings centers.<br />
Cabe, no entanto, uma observação acerca da passagem da mono<strong>centralidade</strong> para a<br />
poli<strong>centralidade</strong>: tal processo é complexo, variável e não acontece de maneira igual em todos<br />
os lugares. Nas metrópoles brasileiras o monocentrismo foi progressivamente desfeito em<br />
lógicas espaço-temporais desiguais.<br />
O processo de descentralização transforma a <strong>centralidade</strong> do Núcleo, e o redefine<br />
quanto à sua funcio<strong>na</strong>lidade <strong>na</strong> metrópole, dividindo a localização das atividades terciárias, de<br />
gestão pública e privada e lazer com as unidades de concentração secundária. Desta forma, o<br />
sistema Centro/subcentros expressa a <strong>cidade</strong> descentralizada e em processo de expansão,<br />
origi<strong>na</strong>ndo novas formas espaciais. Há uma hierarquia a partir do Centro, por exemplo: ao<br />
Núcleo Central de Negócios seguem os eixos especializados, o centro regio<strong>na</strong>l intra-urbano, o<br />
centro de bairro, as lojas de esqui<strong>na</strong>.<br />
A descentralização incorpora a dimensão social <strong>na</strong> medida em que expressa uma<br />
complexa rede de interesses, tanto por parte de frações do capital quanto dos agentes<br />
imobiliários, fundiários e empreiteiras, como, ainda, da parte do setor público que dispensará<br />
gastos com a expansão e a estruturação da <strong>cidade</strong>. Na verdade, há uma aliança entre Estado e<br />
mercado nos processos que envolvem a reorganização intra-urba<strong>na</strong>. O Estado atuará <strong>na</strong><br />
construção de novos centros cívicos, fóruns e novas prefeituras, assim como <strong>na</strong> estruturação<br />
de bairros afastados do centro principal, abrigando as classes de maior renda e com alto grau<br />
de autonomia, favorecidas em seu deslocamento pela construção de novas vias de circulação.<br />
[...] o controle (através do Estado e do mercado) que as classes de mais alta renda<br />
exercem sobre o espaço urbano e sobre o sistema de locomoção constitui-se <strong>na</strong> força<br />
preponderante da estruturação do espaço intra-urbano, inclusive no desenvolvimento<br />
de subcentros, nos deslocamentos espaciais dos centros principais e <strong>na</strong> sua chamada<br />
deterioração ou declínio (VILLAÇA, op.cit., p.278).
65<br />
As políticas públicas voltadas ao cenário urbano carioca, <strong>na</strong>s décadas de 1950 a 1970,<br />
se pautaram <strong>na</strong>s renovações urba<strong>na</strong>s (com uma série de demolições <strong>na</strong> área central) e <strong>na</strong><br />
“febre viária” com a expansão dos meios de transportes, abertura de túneis, construções de<br />
pontes e do metrô, ligando o centro a outras partes da <strong>cidade</strong> e viabilizando o modo de vida<br />
nessas áreas cada vez mais distantes do núcleo central.<br />
A conseqüência da transformação urba<strong>na</strong> para o crescente uso do automóvel se fez<br />
sentir <strong>na</strong> área central num primeiro momento por acentuação da sua distância aos<br />
mais modernos padrões de circulação urba<strong>na</strong>. Ruas estreitas que determi<strong>na</strong>vam<br />
redução de velo<strong>cidade</strong>s, ausência de estacio<strong>na</strong>mento e garagens nos prédios antigos,<br />
além da inexistência de um sistema de transportes coletivo ou de massa eficiente<br />
tor<strong>na</strong>ram a área central incompatível aos padrões de uso e atividade mais<br />
sofisticados, acelerando a decadência e a desvalorização de determi<strong>na</strong>das áreas<br />
(RABHA, op.cit.).<br />
O novo padrão de mobilidade espacial decorrente da difusão do automóvel trouxe<br />
conseqüências à área central. A produção e afirmação de outras <strong>centralidade</strong>s tanto pelo poder<br />
público quanto pelo capital imobiliário gerou várias implicações quanto ao papel do centro<br />
para a estrutura metropolita<strong>na</strong>. Por conseguinte, o espaço urbano-metropolitano se apresenta<br />
como fragmentado pela “dispersão e declínio das áreas centrais” 126 .<br />
Orientadas por diferentes discursos políticos conforme o período, as intervenções<br />
promovidas pelo Estado incluíram, por mais de 80 anos, uma ação pública<br />
recorrente: a de afastar o uso residencial e as populações de menor renda do centro.<br />
Viabilizadas mediante um discurso embasado no saneamento, embelezamento e<br />
modernização da <strong>cidade</strong>, estas e outras ações do poder público constituíram, <strong>na</strong><br />
prática, um meio de ‘depuração sócio-espacial’ (SILVEIRA, op.cit., p.70).<br />
A <strong>centralidade</strong> se redefine mais uma vez no contexto de consolidação da <strong>cidade</strong><br />
policêntrica após a década de 1980. Segundo Tourinho (2006), a partir deste momento, o<br />
espaço é repensado, e surgem “novas <strong>centralidade</strong>s” representadas como “receptáculos de<br />
rentabilidade em que se concentram processos de intercâmbio entre a produção e o<br />
consumo” 127 . A relação de dependência entre a <strong>cidade</strong> central e subcentros teria se modificado<br />
dando lugar a uma relação de competição.<br />
Estas áreas especialmente equipadas apresentam características diferenciadas que as<br />
potencializam como pontos de concentração de atividades e permitem que<br />
funcionem como intercambiadores de fluxos, os mais diversos – comerciais,<br />
direcio<strong>na</strong>is, informacio<strong>na</strong>is, culturais, etc. Assim, a eficácia com que cada um desses<br />
espaços se apresenta como concentrador do poder decisório é equivalente à<br />
126 FRÚGOLI JÚNIOR,op.cit., p.29.<br />
127 TOURINHO, op.cit., p. 288.
66<br />
capa<strong>cidade</strong> com que cada uma dessas áreas atrai para si investimentos e<br />
consumidores (TOURINHO, op.cit., p.290).<br />
Segundo a autora, as áreas de “novas <strong>centralidade</strong>s’ não possuem o Centro como<br />
referência imperativa, e a ele não estão ligadas hierarquicamente. Estas áreas “teriam, agora,<br />
um ‘valor’, (...) uma ‘escala de valor’, capaz de identificar, de maneira precisa, uma<br />
potencialidade específica do tecido especializado da <strong>cidade</strong>, produto da transformação do<br />
espaço em mercadoria” 128 .<br />
Destarte, esse valor viria representado pela habilidade que essas zo<strong>na</strong>s têm de<br />
concentrar atividades, diversificadas ou especializadas, capazes de gerar fluxos de<br />
intercâmbios suficientemente rentáveis, que induzem a novos e constantes<br />
investimentos, com um potencial simbólico independente e específico que lhes<br />
garante algum tipo de identidade própria fora do sistema do Centro (TOURINHO,<br />
loc.cit.)<br />
Um exemplo de nova <strong>centralidade</strong> <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro foi a produção por<br />
parte do capital imobiliário e de setores de planejamento urbano do Estado da Gua<strong>na</strong>bara, do<br />
eixo Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes (posteriormente), área ocupada a partir da<br />
década de 1970 como “extensão da Zo<strong>na</strong> Sul e que adquiriu a dinâmica antes atribuída a<br />
Copacaba<strong>na</strong>” 129 . A urbanização da Baixada de Jacarepaguá foi marcada por extrema<br />
velo<strong>cidade</strong>, como revela Rabha (2006):<br />
[...] em seu explosivo e rápido processo de crescimento urbano, permite estabelecer<br />
fases que vão do ‘Eldorado Urbano’, como denomi<strong>na</strong>vam a região alguns<br />
empresários de setor imobiliário, época do pioneirismo da colonização da nova<br />
fronteira, à estruturação da <strong>cidade</strong> planejada para o século XXI, ou como preferem<br />
alguns, a Miami Brasileira (RABHA, op.cit., p.190).<br />
Ao longo dos anos a Barra da Tijuca foi sendo ocupada por milhares de pessoas<br />
atraídas por lançamentos imobiliários sofisticados, ampliando seu boom imobiliário <strong>na</strong> década<br />
de 1990, com empreendimentos comerciais e de serviços do qual são exemplos o “Downtown<br />
e o Cittá América, além da anexação de centros de serviços e escritórios ao complexo<br />
Barrashopping, o maior da América Lati<strong>na</strong>. Nos últimos anos, começou a implantação dos<br />
hotéis residência e dos hotéis, a mais recente conquista da Barra” 130 .<br />
Para completar, vantagens locacio<strong>na</strong>is garantidas pela qualidade ambiental, pela<br />
melhoria da infraestrutura, maior acessibilidade, disponibilidade das<br />
128 TOURINHO, loc.cit.<br />
129 SILVEIRA, op. cit., p. 72.<br />
130 RABHA, op.cit., p. 201.
67<br />
telecomunicações entre outros fatores, acabaram por orientar um significativo<br />
movimento das grandes empresas <strong>na</strong> direção da Barra, deixando para trás instalações<br />
<strong>na</strong> área central ou em outros bairros da <strong>cidade</strong>. Um amplo diferencial de inovações<br />
contido e valorizado <strong>na</strong> localização passou a ser utilizado tanto nos condomínios<br />
fechados, juntando trabalho e moradia <strong>na</strong> forma dos home offices, quanto nos<br />
complexos de escritórios, os park offices, a mais atual indicação de uso da área. [...]<br />
A i<strong>na</strong>uguração da Linha Amarela, em 24 de novembro de 1997, tornou possível<br />
conectar Barra com a avenida Brasil e aeroporto em teóricos 20 minutos, uma vez<br />
que nos dias de sol não é fácil afirmar quanto tempo leva a parte norte da <strong>cidade</strong><br />
para chegar à praia ou dela voltar. De qualquer modo, a acessibilidade da Barra foi<br />
tremendamente ampliada, acelerando progressivamente o processo de urbanização.<br />
Como lema ou jargão da época alia-se o padrão de alta qualidade dos serviços<br />
oferecidos <strong>na</strong>s edificações ao clima ameno e agradável da paisagem local (Ibid.,<br />
p.201-2).<br />
Seguindo a lógica das grandes incorporadoras em considerar a Barra um futuro<br />
“Centro da Inteligência <strong>na</strong> metrópole do Rio de Janeiro” 131 , houve <strong>na</strong> última década a saída<br />
dos “seus antigos endereços no centro migrando em direção à Barra da Tijuca” 132 por parte de<br />
empresas, escritórios e consultórios dos ramos ligados à saúde (planos de saúde, clínicas,<br />
hospitais e consultórios médicos e dentários) e ao setor imobiliário (incorporadoras e<br />
escritórios de arquitetura).<br />
Concomitante à formação de <strong>centralidade</strong>s outras, a área central passou por um<br />
período de intensa decadência econômica e obsolescência de vários de seus espaços, como já<br />
pode ser observado no quadro histórico apresentado. No entanto, desde os anos de 1980,<br />
seguindo uma tendência mundial de renovação das áreas centrais, há o surgimento de políticas<br />
urba<strong>na</strong>s envolvidas <strong>na</strong> “revitalização” do centro da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, estando<br />
associadas à promoção econômica da <strong>cidade</strong> e à valorização dos espaços de oferta cultural<br />
para atrair investimentos empresarias.<br />
No último quartel do século passado, seguindo uma tendência contemporânea de<br />
<strong>cidade</strong>s européias e norte-america<strong>na</strong>s, desencadearam-se (...) <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de<br />
Janeiro (...), além de algumas ações de “preservação” urba<strong>na</strong>, ações localizadas em<br />
determi<strong>na</strong>dos trechos, denomi<strong>na</strong>das intervenções “pontuais” ou de infill, de<br />
“reciclagem”, de “requalificação” e de “reabilitação” dos espaços intersticiais das<br />
<strong>cidade</strong>s contemporâneas. De acordo com essa modalidade de intervenção, atividades<br />
comerciais, residenciais, de serviços, de entretenimento e de cultura passaram a<br />
ocupar espaços anteriormente ‘degradados’ pelo afastamento de alguns usos<br />
hegemônicos, substituídos gradativamente por atividades comerciais e residenciais<br />
populares ou margi<strong>na</strong>lizadas (SILVEIRA, op.cit., p. 77).<br />
131 Nomeclatura atribuída à Barra da Tijuca pela empresa Carvalho Hosken S.A. e apresentada por Rabha<br />
(2006, p.202). CARVALHO HOSKEN S A. Engenharia e Construções. Barra da Tijuca, ano 2000: Trajetória<br />
para o Terceiro Milênio. Rio de Janeiro: A entidade, 1996, p.45; id., 2005, p.52<br />
132 Rabha (2006) sobre nota divulgada pela mídia ( p.202).
68<br />
Ao concluir este quadro de interpretações sobre a configuração da <strong>centralidade</strong> <strong>na</strong><br />
<strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro e sua dinâmica recente, manifesta-se a necessidade de explicação<br />
acerca das lógicas de significação e redefinição que participam do processo de retomada do<br />
centro <strong>na</strong>s últimas décadas. Como aponta Rabha (2006) a respeito deste debate sobre os<br />
centros urbanos:<br />
Para o lugar que foi o ‘centro da <strong>cidade</strong>’, é preciso conhecer as configurações do que<br />
hoje se apresenta como uma ‘<strong>centralidade</strong> em xeque’. Vale dizer, buscar conhecer<br />
numa <strong>cidade</strong>-mosaico, formada por fragmentos sem identidade ou em permanente<br />
construção de identidades, que impactos ocorrem <strong>na</strong> antiga área central decorrentes<br />
do crescimento, da expansão, das mudanças tecnológicas, das forças do mercado<br />
imobiliário que promovem uma incessante busca por inovação, por novas formas e<br />
novos lugares. Ou compreender como a antiga <strong>centralidade</strong> possa ser transformada,<br />
<strong>na</strong> contramão de toda sua intencio<strong>na</strong>l produção, em lugar de moradia ou como a<br />
localização que negou a mistura de usos e a própria urbanidade modifique sua<br />
singela proposta de agreste espetáculo da <strong>na</strong>tureza em centro de serviços. O<br />
reconhecimento efetivo das situações que se processam <strong>na</strong> área central coloca-se<br />
como instrumental necessário à compreensão do processo de mudanças que altera os<br />
si<strong>na</strong>is emitidos ao longo da história de construção da <strong>cidade</strong>, para daí compreender<br />
sentidos e resultados (ibid. p.206-7).<br />
Concluindo, vale registrar que este capítulo examinou o processo de estruturação da<br />
Área Central, desde a sua formação a partir do século XIX até o contexto metropolitano.<br />
Verificou-se a produção do espaço da área central e suas formas de articulação com os demais<br />
elementos da estrutura intra-urba<strong>na</strong>. Desta maneira, acredita-se que este exercício teóricometodológico<br />
tenha deixado claro os diferentes atores e as práticas de interesses distintos,<br />
envolvidos <strong>na</strong>s lógicas de organização da sua espacialidade ao longo do tempo.
69<br />
CAPÍTULO 2 - A DINÂMICA DA CENTRALIDADE: MUDANÇAS E<br />
PERMANÊNCIAS NA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA CIDADE DO RIO DE<br />
JANEIRO<br />
Paisagens aéreas atuais da Zo<strong>na</strong> Portuária, Estação das Barcas e Praça XV de Novembro, e Avenida Rio Branco<br />
(da esquerda para direita; de cima para baixo).<br />
Fonte: Internet<br />
A reconstituição de alguns elementos da história da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro revela<br />
aspectos que conduziram à formação, à expansão, ao declínio e à retomada da sua<br />
área central, tendo em vista a recente implementação de políticas públicas de<br />
revitalização ou requalificação urba<strong>na</strong>s. Num ambiente urbano hoje constituído por<br />
diversas <strong>centralidade</strong>s, a relevância dessa área é explicitada no processo de<br />
urbanização da <strong>cidade</strong>. Podemos reconhecer a existência de uma estrutura urba<strong>na</strong><br />
policêntrica ou polinucleada <strong>na</strong> configuração espacial da <strong>cidade</strong>, onde o centro<br />
permanece como a principal <strong>centralidade</strong>, sendo objeto de diversas ações e<br />
intervenções do poder público (SILVEIRA, op.cit., p.21).
70<br />
De forma a compreender a importância do papel da <strong>centralidade</strong> <strong>na</strong> memória urba<strong>na</strong> da<br />
<strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, este capítulo resgata os processos históricos que engendram a<br />
formação da área central e a sua re-configuração ao longo do tempo. Tal proposta teóricometodológica<br />
se encontra <strong>na</strong> justificativa que, concordando com Silveira, “a reconstituição<br />
histórica e a configuração atual da <strong>cidade</strong> ratificam a expressão da área central no âmbito da<br />
sua estruturação urba<strong>na</strong>” 133 .<br />
Sob diferentes contextos produzidos por atores hegemônicos ligados ao Poder Público<br />
e ao capital, a área central passou períodos áureos que expressavam a sua importância como<br />
núcleo da capital da colônia, sede da corte portuguesa, capital do império, da república, do<br />
Estado, <strong>cidade</strong>-estado, assim como por períodos de decadência e obsolescência dos seus<br />
espaços e atividades. Concomitante à sua re-configuração sócio-espacial tem-se também<br />
redefinições quanto aos seus significados para a metrópole carioca, bem como para o contexto<br />
<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l e inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l. Nessa direção, atualmente, essa área afirma-se “como <strong>centralidade</strong><br />
no que respeita a indicadores econômicos, sociais, culturais e a aspectos simbólicos, entre<br />
outros” 134 , no cenário metropolitano carioca.<br />
Compreende-se a atual organização espacial da área em estudo como loci de<br />
interseção de processos sociais e acumulações de tempos 135 . Logo, apontam-se os aspectos do<br />
quadro evolutivo da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, responsáveis por mudanças <strong>na</strong> sua paisagem<br />
social e material 136 num período que vai desde meados do século XIX até o começo do século<br />
XXI, dirigindo a atenção para as principais intervenções urbanísticas que marcaram a<br />
evolução urba<strong>na</strong> do centro da <strong>cidade</strong>. Tal resgate tem como propósito diferenciar as<br />
intervenções sobre o espaço urbano por “períodos que se caracterizam pela <strong>na</strong>tureza de seus<br />
objetivos e, conseqüentemente, pelos resultados obtidos. São objetivos que partem de<br />
ideologias e paradigmas de desenvolvimento urbano (...) que passam a moldar a própria<br />
realidade” 137 .<br />
O estudo sobre as intervenções urbanísticas no centro do Rio de Janeiro deve levar em<br />
consideração alguns aspectos. Primeiramente, “o papel de capital (da colônia, do Reino, do<br />
Império e da República) exercido pela <strong>cidade</strong> ao longo de quase duzentos anos (1763 a 1960),<br />
tor<strong>na</strong>ndo-a palco de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais” 138 . Em segundo<br />
133 SILVEIRA, op.cit., p.316.<br />
134 SILVEIRA, loc..cit.<br />
135 ABREU, 2003.<br />
136 RODRIGUES, op.cit.<br />
137 DEL RIO, 1993, p.55.<br />
138 Ibid., p.37.
71<br />
lugar, a posição da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro no movimento mundial de expansão do capital<br />
que promoveu a importação das relações tipicamente capitalistas de produção pela elite<br />
carioca 139 , engendrando “processos e acontecimentos responsáveis por mudanças <strong>na</strong> paisagem<br />
social e material da <strong>cidade</strong>” 140 . Nestes termos, como agente de mudanças do urbano,<br />
destacamos o Estado, representado pelos seus “aparelhos” e parceiro das parcelas domi<strong>na</strong>ntes<br />
da sociedade, que legitima, através de suas políticas, o modelo mundial de desenvolvimento<br />
aliado à ‘modernização’ capitalista.<br />
Para melhor interpretação deste quadro serão considerados os atores envolvidos, como<br />
o Estado e o setor privado, seus discursos e estratégias locacio<strong>na</strong>is, assim como o imaginário<br />
simbólico representado <strong>na</strong> espacialidade do Centro e, em seguida, como as transformações<br />
nesta última afetam os significados da <strong>centralidade</strong> para a população.<br />
Desta forma, mais amiúde, dado o resgate histórico perseguido, buscar-se-á sublinhar<br />
as mudanças e permanências sócio-espaciais que caracterizam a antiga <strong>centralidade</strong> (com<br />
seus atributos físicos, funcio<strong>na</strong>is e simbólicos), vigente até a década de 1950. Logo após,<br />
abordam-se as transformações da mesma, a partir da década de 1960, ligadas aos processos de<br />
descentralização e a perda da importância relativa do centro <strong>na</strong> escala intra-urba<strong>na</strong>, regio<strong>na</strong>l e<br />
<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l.<br />
A afirmação de novos centros dentro deste quadro de mudanças <strong>na</strong> escala<br />
metropolita<strong>na</strong>, tanto para os primeiros subcentros (Copacaba<strong>na</strong>, Botafogo, etc.) quanto para<br />
<strong>centralidade</strong>s com novas dimensões como a Barra da Tijuca, traz impactos para o tradicio<strong>na</strong>l<br />
Centro. No entanto, <strong>na</strong>s últimas décadas do Século XX, configura-se um movimento de recentralização<br />
iniciado por meio de ações de preservações do patrimônio edificado e resgate<br />
das funções culturais, comerciais e de serviços.<br />
Apesar desta dinâmica ser denomi<strong>na</strong>da de “volta ao Centro”, tanto <strong>na</strong> literatura da área<br />
de urbanismo quanto pela mídia e Poder Público, “o processo de redefinição e recomposição<br />
da <strong>centralidade</strong> no contexto urbano contemporâneo” envolve definições “do que seja central,<br />
segundo determi<strong>na</strong>dos atores” 141 que, por decorrência, impõem novas visões e representações<br />
sobre o “Centro”. Cabe a este estudo avaliar como esta noção orienta novas formas de<br />
apropriação do espaço central – no caso pelas Instituições privadas de Ensino Superior,<br />
buscando o sentido da refuncio<strong>na</strong>lização da área central do Rio de Janeiro vista por meio da<br />
instalação das mesmas em seu espaço, <strong>na</strong>s últimas décadas.<br />
139 BARBOSA, 1992.<br />
140 RODRIGUES, op.cit.<br />
141 FRÚGOLI JÚNIOR, op.cit.
72<br />
No entanto, para entender a dinâmica da <strong>centralidade</strong>, serão discutidas inicialmente<br />
algumas questões referentes à <strong>na</strong>tureza do processo de descentralização e re-centralização.<br />
Neste sentido, caberá uma reflexão acerca da <strong>na</strong>tureza do processo de esvaziamento do<br />
Centro, articulando-o com o discurso do seu “declínio”. Com base em leituras recentes sobre<br />
o campo a<strong>na</strong>lítico em pauta, serão apontados alguns fatores que justificam a transformação da<br />
antiga <strong>centralidade</strong> da área central, como a “perda” de funções centrais, com destaque para a<br />
função de comando dos fluxos sobre a <strong>cidade</strong>.<br />
Outro fator diz respeito à consolidação de novas <strong>centralidade</strong>s, como a Barra da<br />
Tijuca, pois estariam se tor<strong>na</strong>ndo áreas mais aptas a promover os fluxos dentro da <strong>cidade</strong>. O<br />
Centro estaria, realmente, perdendo lugar <strong>na</strong> hierarquia intra-urba<strong>na</strong>? Nessa perspectiva<br />
verifica-se a existência de remanescentes de <strong>centralidade</strong> que teriam permanecido e que de<br />
certa forma ancorariam uma possível “retomada” do espaço central.<br />
No entanto, cabe ao estudo refletir sobre o discurso da “volta ao Centro”, a sua<br />
<strong>na</strong>tureza, os atores sociais que de fato estariam atuando sobre tal espaço. Tal processo<br />
apresenta movimentos de “gentrificação” ou os setores populares participam desta<br />
(re)apropriação?<br />
Fi<strong>na</strong>lmente, abordamos o debate sobre as (novas) formas de apropriação do Centro. De<br />
fato, as áreas centrais ainda se constituem em “terreno estratégico” para algumas atividades<br />
no contexto metropolitano contemporâneo, sendo assim questio<strong>na</strong>m-se as dimensões<br />
representativas (política, econômica, sócio-cultural) que afirmam a referência da <strong>centralidade</strong>.<br />
Eis algumas questões a exami<strong>na</strong>r: como a <strong>centralidade</strong> vem sendo redefinida, articulada e<br />
negociada pelos grupos sociais domi<strong>na</strong>ntes, e como estes se articulam com o poder<br />
público? 142<br />
No intuito de explicitar algumas questões que têm dificultado o esclarecimento dos<br />
problemas assi<strong>na</strong>lados, registra-se a concepção de “<strong>cidade</strong> mercadoria” exami<strong>na</strong>da em<br />
Lefebvre 143 . De acordo com o autor, a visão da <strong>cidade</strong> como obra, valorizada em seu valor de<br />
uso, teria sido alterada pelo capitalismo industrial que se apropriou de espaços da <strong>cidade</strong>,<br />
transformando-os em mercadoria. Esta apropriação se deu no contexto do surgimento da<br />
<strong>cidade</strong> industrial e do aumento populacio<strong>na</strong>l causado pelo êxodo rural, acirrando o processo<br />
de urbanização nos países centrais <strong>na</strong> passagem do século XVIII/XIX. A partir deste<br />
momento a <strong>cidade</strong> se configurou cada vez mais como espaço fragmentado e segregado, como<br />
142 Questões importantes levantadas por Frúgoli Júnior em seu trabalho sobre a <strong>centralidade</strong> de São Paulo.<br />
143 LEFEBVRE, Henri. O direito à <strong>cidade</strong>. São Paulo: Centauro, 2001.
73<br />
a Paris do Século XIX trazida por Frúgoli Júnior - cortada por boulevares e resignificada por<br />
meio de valores atribuídos por “alianças estratégicas entre o poder público e setores do capital<br />
– incluindo o favorecimento da especulação imobiliária e do capital fi<strong>na</strong>nceiro” 144<br />
A “mercadorização” da <strong>cidade</strong> em sua totalidade se consolidou sob a égide do<br />
capitalismo concorrencial, e se expressa <strong>na</strong> prevalência do valor de troca atribuído as<br />
atividades que se realizam por meio da materialidade dos espaços físicos. Atualmente, a<br />
dimensão fi<strong>na</strong>nceira se impõe <strong>na</strong> negociação dos lugares como mercadoria, refletindo em<br />
alguns casos uma “nova articulação entre as frações de capital - o fi<strong>na</strong>nceiro, o industrial e o<br />
comercial através do setor imobiliário” 145 .<br />
Tais reflexões trazem contribuições importantes para a compreensão da dinâmica<br />
metropolita<strong>na</strong> carioca e da sua área central no momento atual, pois se observam novas formas<br />
de reprodução de capital por meio da reprodução do espaço. Segundo Colombiano (2005), a<br />
“valorização das áreas centrais surge, então, como um ícone da atualidade, permitindo<br />
novamente a apropriação dessas áreas pelo capital” 146 .<br />
São atores deste processo, em primeiro lugar, o mercado imobiliário, com as grandes<br />
incorporadoras, firmas de engenharia e arquitetura predial, que lucram com a construção ou<br />
“retrofit” 147 e comercialização de salas ou mesmo edifícios inteiros – os chamados<br />
“inteligentes” ou pós-modernos. Há também o investimento em empreendimentos<br />
imobiliários residenciais, “ilumi<strong>na</strong>dos” no que se refere ao discurso da reversão da decadência<br />
do centro.<br />
Além destes, há os investimentos efetuados pelo poder público em parceria com o<br />
setor privado <strong>na</strong> implantação de projetos de preservação, “revitalitação” e/ou “requalificação”<br />
urbano-culturais. Os ambientes preservados ou reconvertidos em espaços de lazer e<br />
entretenimento ligados à cultura, e que se convertem em espaços de consumo turísticocultural,<br />
passam a se constituir em lugares a serem negociados, seja através do turismo, seja<br />
através da criação de inúmeros centros culturais (SILVEIRA, 2004).<br />
Portanto, além dos novos usos ligados ao turismo cultural (visitas às bibliotecas,<br />
espaços e centros culturais e religiosos, exposições, etc.), são apontados os novos<br />
144 FRÚGOLI JÚNIOR, op.cit., p.19.<br />
145 CARLOS, 2005, p.32.<br />
146 COLOMBIANO, op.cit., p.76.<br />
147 Termo que desig<strong>na</strong> uma modernização predial completa dos equipamentos e instalações (automação, linhas<br />
de fibra ótica, etc.) mantendo a estrutura exter<strong>na</strong>, como características históricas contidas <strong>na</strong> fachada, sacadas,<br />
piso, etc.
74<br />
empreendimentos no setor de serviços avançados 148 no núcleo central, como os serviços<br />
corporativos materializados nos “edifícios inteligentes”; as universidades particulares; cafés e<br />
livrarias; e a consolidação do que denomi<strong>na</strong>mos Pólo Comercial de Luxo 149 , formado por<br />
lojas de griffe do ramo do vestuário, bolsas e calçados.<br />
As políticas de revitalização da área central postas em marcha pelo governo e suas<br />
parcerias do setor empresarial favorecem a organização comercial, <strong>na</strong> medida em<br />
que restituem as dinâmicas econômica e cultural que estabelecem nexos<br />
convergentes para esta área. O centro dos dias atuais, <strong>na</strong> sua heterogeneidade<br />
inter<strong>na</strong>, oferece cultura, comércio, serviços e lazer, buscando resgatar a imagem dos<br />
anos 50, ou do tempo da Corte, quando tudo acontecia no centro. Dentro do<br />
quadrilátero histórico, (...) o comércio se beneficia desta vida nova que se tenta<br />
imprimir, recuperando as fachadas e a imagem urba<strong>na</strong> através de algumas<br />
referências como uma confeitaria, uma chapelaria, um empório de vinhos e<br />
importados, enfim, um comércio especializado e que tem a marca de símbolos<br />
cariocas vinculados ao centro histórico (PACHECO, 1999, p.2).<br />
Cabe então considerar a visão crítica acerca deste tema apresentada em tantos autores<br />
que debatem a revitalização de áreas centrais. Segundo Fer<strong>na</strong>ndes (2003) 150 , a dinâmica<br />
urba<strong>na</strong> tanto de <strong>cidade</strong>s médias ou grandes tem sido regulada pela “força do lucro”. Logo, o<br />
termo “revitalização de áreas centrais” deve ser problematizado: “o que se entende por<br />
revitalizar, o que revitalizar, por que revitalizar, para quê e para quem?” 151 . Santos (1995)<br />
também questio<strong>na</strong> as ações do Estado <strong>na</strong>s áreas centrais, avaliado-as como lugares<br />
privilegiados para os investimentos do Poder Público relativos aos projetos de revitalização.<br />
Para Silveira (2004), com relação aos chamados “projetos de ‘revitalização’ ou<br />
‘requalificação’, podemos afirmar que a própria concentração de recursos fi<strong>na</strong>nceiros em<br />
determi<strong>na</strong>dos lugares tende a promover a sua ‘gentrificação’” 152 .<br />
Segundo a autora, revitalizar (incluindo práticas de preservação) “em direção à<br />
valorização [dos espaços] como mercadoria seria esvaziar os espaços simbólicos da <strong>cidade</strong> de<br />
148 Segundo Pacheco (1999), são serviços ligados à terceirização da economia tais como: contabilidade,<br />
publi<strong>cidade</strong>, serviços de lazer, educação, comércio, transportes, comunicações, consultoria, etc. Assim, no<br />
campo do terciário superior, citamos os serviços de assessoria a empresas, e sob princípios da acumulação<br />
corporativa, incluímos os seguros, serviços fi<strong>na</strong>nceiros, jurídicos, de gestão e consultoria técnica e de recursos<br />
humanos (formação profissio<strong>na</strong>l, gestão de recursos humanos, estudos de viabilidade econômica e fi<strong>na</strong>nceira),<br />
além da infra-estrutura informacio<strong>na</strong>l e científico tecnológica.<br />
149 Quadrilátero formado pelas ruas do Ouvidor, do Carmo, da Assembléia e Uruguaia<strong>na</strong> (incluindo em seu<br />
interior as Ruas Gonçalves Dias, Avenida Rio Branco, Sete de Setembro e da Quitanda).<br />
150 FERNANDES, 2003 apud SILVEIRA, 2004, p.51. FERNANDES, A<strong>na</strong> Cristi<strong>na</strong>. “Revitalização de Áreas<br />
Centrais”, 2003, 16 p. (mimeo).<br />
151 SILVEIRA, loc.cit.<br />
152 Ibid., p.311.
75<br />
sentido” 153 . Logo, é preciso questio<strong>na</strong>r se “os novos projetos de ‘revitalização’ como as<br />
formas atuais dos planos e projetos de renovação urba<strong>na</strong>, (...) muitas vezes, resultam em<br />
processos de elitização dos espaços” 154 , como os planos de revitalização da Praça Tiradentes e<br />
a criação do Distrito Cultural da Lapa 155 .<br />
Visando compreender esses projetos será desenvolvido um breve histórico acerca da<br />
dinâmica sócio-espacial da Área Central do Rio de Janeiro reconstituindo fatos importantes<br />
desta complexa <strong>centralidade</strong> que se apresenta, hoje, como uma “Área Central de Negócios,<br />
cercada de áreas preservadas de valor histórico, de uso misto”, com significativa presença de<br />
residências, além de outras edificações “antigas, deterioradas, arrasadas e, ainda, grandes<br />
vazios que compõem um território singular <strong>na</strong> estrutura urba<strong>na</strong>” 156 . Segundo as autoras, a<br />
observação atenta desta realidade aponta uma série de transformações em curso, que se<br />
caracterizam por “duas direções opostas: uma, de modernização e renovação, e a outra de<br />
degradação e empobrecimento”.<br />
2.1. DE CENTRO DA CIDADE COLONIAL AO CENTRO DA METRÓPOLE<br />
CAPITALISTA<br />
O sítio urbano e sua posição como “centro da <strong>cidade</strong>” estão relacio<strong>na</strong>dos à história de<br />
São Sebastião do Rio de Janeiro, que já foi capital da colônia, sede da corte portuguesa,<br />
capital do império, capital da república, <strong>cidade</strong>-estado e capital do Estado. Desta forma, a<br />
<strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro passou pela condição de município neutro, distrito federal, estado<br />
federado e, atualmente, é um município do ponto de vista jurídico. Essas especifi<strong>cidade</strong>s<br />
urba<strong>na</strong>s dão ao centro uma dinâmica diversificada. É nessa parte do espaço carioca que<br />
ocorreram as maiores transformações <strong>na</strong>s formas e funções espaciais.<br />
O sítio origi<strong>na</strong>l 157 desig<strong>na</strong>do, desde o século XVI, como a região da Gua<strong>na</strong>bara, era<br />
formado por planícies entre o mar e os maciços de topo arredondado. Na época do primeiro<br />
povoamento, no Século XVI, os pântanos e lagoas cobriam as planícies e os vales. O seu<br />
153 Ibid. p.314.<br />
154 Ibid., p.51.<br />
155 São objetos de estudo da autora em sua tese de doutorado as políticas culturais que envolvem a revitalização<br />
da Praça Tiradentes e a criação do Distrito Cultural da Lapa.<br />
156 VAZ; SILVEIRA, 1994, p.95-6.<br />
157 LAMARÃO, 1991.
76<br />
relevo era constituído dos morros 158 e o desenho do litoral era recortado por enseadas e<br />
ilhas 159 .<br />
Tais características morfológicas do sítio aliadas à sua posição estratégica,<br />
principalmente, da Baía de Gua<strong>na</strong>bara, ofereciam “abrigo seguro para os <strong>na</strong>vios contratempestades<br />
e corsários, e possibilitava a circulação de mercadorias com o fundo da Baía” 160 .<br />
Estes dois elementos contribuíram decisivamente para a fundação da <strong>cidade</strong> de São Sebastião<br />
do Rio de Janeiro, em 1565, mesmo com a presença militar francesa, que ocupou a Ilha de<br />
Villegainon, em 1555. Assim, a <strong>cidade</strong> se beneficiava de sua posição como ponto de ligação<br />
com o sul da colônia e do continente, atuando como escala obrigatória durante essas<br />
viagens 161 .<br />
O início da ocupação do sítio se deu de forma precária <strong>na</strong> entrada da Baía de<br />
Gua<strong>na</strong>bara. Dois anos após a fundação da <strong>cidade</strong>, com a derrota francesa, parte da população<br />
deslocou-se para o Morro do Castelo e adjacências, corroborando com o “exercício do poder<br />
político-administrativo e militar. Instaurava, também, a noção de <strong>centralidade</strong> através das<br />
edificações gover<strong>na</strong>mentais ali concentradas” 162 .<br />
Outro elemento importante a respeito da ocupação do morro é a sua marcante divisão<br />
social, pois a nobreza vitoriosa da guerra foi presenteada com as áreas pla<strong>na</strong>s da <strong>cidade</strong>.<br />
Inicia-se então, já no início do Século XVII, “a descida para a várzea, no entorno do antigo<br />
Terreiro do Carmo” 163 . Assim, “a <strong>cidade</strong> expandia-se (...) <strong>na</strong> direção do morro de São Bento,<br />
pressio<strong>na</strong>da pelo crescimento populacio<strong>na</strong>l e pela nova função adquirida pela <strong>cidade</strong> - a<br />
portuária” 164 .<br />
Segundo Magalhães (2001), o processo de estruturação urba<strong>na</strong> do centro da <strong>cidade</strong> é<br />
marcado por intensa mobilidade espacial e reformas urbanísticas. A formação da malha<br />
urba<strong>na</strong> se deu em meio a aterros <strong>na</strong>s áreas alagadas contíguas aos dois morros, sendo<br />
158 Morros do Castelo, Santo Antônio, São Bento, Conceição, Saúde, São Diogo, Livramento, Providencia,<br />
Pedro Dias, Santa Tereza (ou Pinto, ou Nheco).<br />
159 Na parte mais funda do litoral estavam os sacos do Valongo, da Gamboa, do Alferes e de São Diogo, este<br />
último, domi<strong>na</strong>do por manguezais até o atual Campo do Santa<strong>na</strong>. Suas praias compreendiam: Formosa, Prainha,<br />
Don Manuel e a do Mercado. As lagoas compreendiam: a Sentinela (próxima ao morro de Pedro Dias, depois<br />
Morro do Se<strong>na</strong>do), a lagoa do Polé ou Pavu<strong>na</strong> (norte do morro de Santo Antônio), lagoa de Santo Antônio (entre<br />
o morro do Castelo e o morro de Santo Antônio), do Desterro e do Boqueirão. As ilhas existentes eram a das<br />
Cobras, das Moças, dos Cães, e a dos Melões ou João Damasceno.<br />
160 BERNARDES, 1987, apud COLOMBIANO, 2005, p.10.<br />
161 Ibid.<br />
162 SILVEIRA, op.cit., p.59.<br />
163 MAGALHÃES, op.cit., p.741.<br />
164 SILVEIRA, passim.
77<br />
delimitada “grosso modo pelos morros do Castelo e de Santo Antônio, ao sul, e de São Bento<br />
e Conceição, ao norte”, permanecendo tal limite por longo período.<br />
Na primeira metade do século XVIII, o Rio de Janeiro experimentou importante<br />
surto econômico e comercial, provocado pela descoberta de ouro <strong>na</strong> região das<br />
Gerais <strong>na</strong> última década do século XVII. A <strong>cidade</strong> foi extremamente favorecida por<br />
sua localização geográfica, estratégica para a ligação com as Mi<strong>na</strong>s Gerais. Esta<br />
característica de <strong>centralidade</strong> regio<strong>na</strong>l foi reforçada com o desenvolvimento de<br />
acessos inter e intra-urbanos. O porto do Rio, que até então escoava a discreta<br />
produção açucareira do recôncavo da baía da Gua<strong>na</strong>bara, tornou-se o exportador<br />
<strong>na</strong>tural do ouro e diamantes extraídos nos distritos mineradores e a porta de entrada<br />
de gêneros alimentícios, tecidos e escravos demandados pelas Gerais (SILVEIRA,<br />
op.cit., p.60).<br />
Entre o início e meados do Século XVIII a <strong>cidade</strong> expandiu seu contingente<br />
populacio<strong>na</strong>l e sua malha urba<strong>na</strong>, promovendo um adensamento da população. No contexto<br />
de decadência da mineração, o Rio de Janeiro tor<strong>na</strong>-se, em 1763, capital da colônia e sede do<br />
vice-rei<strong>na</strong>do, ampliando novamente as suas “funções urba<strong>na</strong>s (...) em virtude, exatamente, das<br />
[suas] novas atribuições político–administrativas” 165 .<br />
Até o fim do Século XVIII, a <strong>cidade</strong> permanece em seu processo de expansão para<br />
além do quadrilátero origi<strong>na</strong>l, destacando novas áreas residenciais e de circulação, como o<br />
Passeio Público, assim como usos especializados no centro da <strong>cidade</strong> (rua Direita), o que<br />
exigiu o deslocamento de “usos sujos” (hospital, mercado de compra e venda de escravos,<br />
depósitos, cemitério e presídio) para a periferia, <strong>na</strong>s proximidades da Prainha. Com a<br />
expansão, a periferia imediata da <strong>cidade</strong> passa a ser constituída ao sul pelos bairros da Lapa e<br />
da Glória até o largo das Pitangueiras (hoje largo do Machado), e ao norte pelos atuais bairros<br />
da Saúde e Gamboa 166 . Neste contexto de transformações tem-se a afirmação de uma<br />
importante <strong>centralidade</strong> <strong>na</strong> <strong>cidade</strong>.<br />
As últimas décadas do século XVIII foram cruciais para o fortalecimento do largo<br />
do Paço, constituído após um longo processo encetado quando a <strong>cidade</strong> começara a<br />
se espraiar pela várzea contígua ao morro do Castelo. Assim, esse largo afirmava o<br />
seu papel de core da <strong>cidade</strong>, uma vez que abrigava edificações gover<strong>na</strong>mentais,<br />
como o Palácio dos Vice-Reis, marcos de poder e elementos instauradores de<br />
<strong>centralidade</strong>. (...) Ao encerrar o século XVIII, o Rio de Janeiro já era a <strong>cidade</strong> mais<br />
populosa e principal centro urbano, comercial e militar da colônia (Ibid., p. 60-61).<br />
165 Ibid., p.60.<br />
166 SILVEIRA, loc.cit.
78<br />
Como já mencio<strong>na</strong>do no capítulo anterior, a expansão urba<strong>na</strong> proveniente da chegada<br />
da família real e da transferência de toda a Corte portuguesa, no início do Século XIX, mudou<br />
as feições históricas da <strong>cidade</strong> e refletiu a sua nova condição política de capital do Império<br />
português. Neste contexto, o centro da <strong>cidade</strong> tem o seu papel reafirmado com a função<br />
administrativa.<br />
O impacto sócio-espacial causado pelo aumento demográfico e necessidade de áreas<br />
para moradia da nobreza se expressou em novos aterros <strong>na</strong> área central e <strong>na</strong> expulsão dos<br />
antigos habitantes que foram forçados a sublocarem suas casas ou se deslocarem para áreas<br />
mais afastadas 167 .<br />
Desta forma, devido à crise habitacio<strong>na</strong>l surgida, as classes mais pobres foram se<br />
deslocando em direção à periferia do centro, num vetor norte e oeste onde antes já havia<br />
chácaras. No vetor sul, “sobre a estreita faixa de terra entre os morros e o mar”, tem-se a<br />
“formação de bairros residenciais” 168 . Na área do aterro do mangal de São Diogo, formou-se o<br />
antigo arraial de São Cristóvão, “que em pouco tempo tornou-se local de moradia de famílias<br />
ricas. Na área aterrada a partir do Campo de Santa<strong>na</strong>, denomi<strong>na</strong>da mais tarde de ‘Cidade<br />
Nova’, foram abertas algumas ruas, ainda <strong>na</strong>s primeiras décadas do século XIX” 169 .<br />
Concomitante ao processo de expansão urba<strong>na</strong> há também um movimento de adensamento <strong>na</strong><br />
área do antigo casario do centro colonial e <strong>na</strong>s demais áreas desocupadas junto ao núcleo<br />
inicial da <strong>cidade</strong>, com a formação de bairros residenciais de população mais abastada. Outro<br />
fato digno de menção é o processo de perda da função residencial em certos trechos do<br />
centro, “notadamente no largo do Paço e arredores, onde antigas moradias passam a abrigar<br />
‘cafés, bilhares e hotéis’” 170 .<br />
Ao longo do tempo, o Rio de Janeiro deslocou sua direção de expansão, em função<br />
de dos interesses das classes mais abastadas, deslocando também a direção de<br />
expansão do seu centro. Se o primeiro sentido de crescimento da <strong>cidade</strong> foi o da orla<br />
do mar, no início do século XIX houve uma mudança nessa direção, voltando-se a<br />
<strong>cidade</strong> para o interior e sua nova <strong>centralidade</strong> passando a desenvolver-se em torno<br />
do Campo de Santa<strong>na</strong>. No fi<strong>na</strong>l do século XIX, deu-se o terceiro deslocamento do<br />
eixo de crescimento da área central do Rio, restaurando-se o eixo norte-sul<br />
(MAGALHÃES, 2001, p.741).<br />
167 Ibid., p.62.<br />
168 Ibid., p.65.<br />
169 Ibid., p.63.<br />
170 Ibid., p.64.
79<br />
Segundo Abreu (1987), essas mudanças <strong>na</strong> configuração do centro refletem uma<br />
segregação espacial em formação advinda de uma tênue diferenciação social entres ricos e<br />
pobres que se instala <strong>na</strong>s cinco freguesias urba<strong>na</strong>s (Candelária, São José, Sacramento, Santa<br />
Rita e Santa<strong>na</strong>), equivalentes às atuais Regiões Administrativas do Centro (II RA) e Portuária<br />
(I RA). As classes pobres,<br />
devido às suas restrições de mobilidade, concentravam-se sobretudo <strong>na</strong>s freguesias<br />
de Santa Rita e Santa<strong>na</strong> (atuais bairros da Saúde, Santo Cristo e Gamboa). (...) Desse<br />
modo, os usos e classes sociais, aglomerados <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> colonial, começavam a<br />
segregar-se, a princípio de forma gradual e a partir de meados do século XIX,<br />
sobretudo após 1870, de maneira cada vez mais acelerada (SILVEIRA, op.cit.,<br />
p.64).<br />
A década de 1830 marca a posição da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro no movimento mundial<br />
de expansão do capital 171 . Intensificam-se a importação das relações tipicamente capitalistas<br />
de produção, graças à produção cafeeira, que se firmava como principal produto de<br />
exportação do Brasil. Neste sentido, as atividades portuárias passam a se destacar <strong>na</strong><br />
economia carioca 172 .<br />
O cenário capitalista mundial passa então a influenciar paulati<strong>na</strong>mente a configuração<br />
sócio-espacial brasileira e, por conseguinte a promover mudanças no espaço urbano carioca,<br />
ditando novas relações econômicas e políticas. Durante a segunda metade do Século XIX<br />
tem-se a extinção do tráfico negreiro (1850), a abolição da escravatura (1888) e a<br />
proclamação da República (1889). Neste contexto uma nova configuração social passa a se<br />
formar <strong>na</strong> capital do país, apresentando um crescimento demográfico causado pelo aumento<br />
da mão-de-obra imigrante estrangeira assalariada, substituta à escrava africa<strong>na</strong>.<br />
O processo de urbanização carioca sofreu a influência da “<strong>cidade</strong> moder<strong>na</strong>” européia e<br />
sua lógica modeladora do espaço promotora da cooperação urba<strong>na</strong> e da acumulação de<br />
capital. No Rio de Janeiro, principal núcleo urbano do país, o capital privado, em grande parte<br />
171 Baseado no modelo primário-exportador, em meados do século XIX, houve um crescimento das exportações<br />
representando a articulação das áreas produtoras de café com o mercado inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l. Contextualizada <strong>na</strong> nova<br />
fase de desenvolvimento tecnológico sucedida nos países centrais, este momento trata da inserção do Brasil <strong>na</strong><br />
economia mundial com seu crescimento econômico-monetário que resultará <strong>na</strong> transição para umafase mais<br />
especificamente capitalista – industrial. O Estado de São Paulo conduzirá o processo de gênese do capitalismo<br />
no país devido ás “dinâmicas relações café-indústria”, inscrevendo os “demais espaços regio<strong>na</strong>is (...) em maior<br />
ou menor grau, <strong>na</strong> divisão inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l do trabalho” (NATAL, 2005, p.34).<br />
172 “Ao decretar a abertura dos portos brasileiros às <strong>na</strong>ções amigas de Portugal, o príncipe-regente D. João VI<br />
rompeu com os estatutos do pacto colonial, que limitava as transações da colônia à sua metrópole. Desse modo,<br />
o Brasil passava a se articular diretamente com a economia européia, sobretudo com a Inglaterra, precursora da<br />
Revolução Industrial e grande exportadora de produtos manufaturados e alimentos” (SILVEIRA, 2004, p.61).<br />
Além do porto do Rio de Janeiro se destacar devido à importância da <strong>cidade</strong>-capital, até meados do Século XIX,<br />
o porto de Santos se caracteriza como o “porto do açúcar”, para mais tarde se tor<strong>na</strong>r o “porto do café” junto com<br />
São Paulo (SANTOS, 2001).
80<br />
estrangeiro, implantou as primeiras redes de estruturação de <strong>cidade</strong>s ou de infra-estrutura<br />
urba<strong>na</strong> (água, esgoto, elétrica e viária), beneficiando as freguesias centrais neste período.<br />
Segundo Silveira (2004), a “introdução dos transportes coletivos modernos,<br />
notadamente os bondes”, direcionou os vetores de deslocamento da moradia das classes média<br />
baixa e média/alta para as zo<strong>na</strong>s Norte e Sul, respectivamente, e consolidou a especialização<br />
espacial da <strong>cidade</strong> levando os usos industriais para os subúrbios, longe do centro. Tal<br />
facilidade de deslocamento para as novas áreas nobres criadas pelo capital imobiliário, aliada<br />
ao surgimento de epidemias levou à saída das elites do núcleo histórico e sua ocupação pela<br />
população pobre.<br />
Podemos estabelecer esta década [1850] como um marco no processo de<br />
transformação de uso <strong>na</strong> área central da <strong>cidade</strong> [...]. Muitos capitais antes alocados<br />
no tráfico negreiro e <strong>na</strong> cafeicultura dirigiram-se ao urbano, onde eram investidos<br />
capitais estrangeiros <strong>na</strong>s obras de infra-estrutura. Esboçaram-se os mercados<br />
imobiliário e fundiário. A <strong>cidade</strong> tornou-se um bom negócio: lotear terras e construir<br />
moradias para aluguel passaram a ser excelentes campos de investimento<br />
(SILVEIRA, op.cit., p.66).<br />
Nas últimas décadas do referido século “verificou-se um crescimento demográfico<br />
acelerado” <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, acentuando duas crises sociais: a sanitária e de<br />
moradia. “À crise sanitária adicionou-se a da moradia, expressa no grande contingente de<br />
pobres que buscava formas de sobrevivência <strong>na</strong> área central”. Segundo Silveira, como<br />
conseqüência, tem-se um “adensamento da pobreza” expresso no processo de favelização<br />
iniciado no “morro de Santo Antônio e, logo depois, no morro da Providência” 173 . Assim, a<br />
pobreza no centro se apresentava <strong>na</strong><br />
[...] multiplicação dos cortiços, moradias precárias de aluguel instaladas nos fundos<br />
dos quintais, ou em construções subdivididas que haviam sido desocupadas pelos<br />
ricos. No intuito de equacio<strong>na</strong>r, ao menos parcialmente, os graves problemas<br />
urbanos, os trechos desig<strong>na</strong>dos de <strong>cidade</strong> velha e <strong>cidade</strong> nova – isto é, o centro<br />
histórico e sua área em torno, consolidados <strong>na</strong> estrutura urba<strong>na</strong> – tor<strong>na</strong>ram-se alvo<br />
de drásticas intervenções <strong>na</strong> passagem do Século XX (Ibid., p.66).<br />
As intervenções urba<strong>na</strong>s <strong>na</strong> área central da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, a partir do Século<br />
XX, têm como principal agente o Estado, e estão dentro de um contexto de desenvolvimento<br />
social e econômico de âmbito <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l e inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l. À nova ordem institucio<strong>na</strong>l, desde<br />
173 SILVEIRA, op.cit., p.66.
81<br />
1889 - com a <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro tor<strong>na</strong>ndo-se Distrito Federal, sede do governo e capital<br />
da República - soma-se uma “nova ordem urba<strong>na</strong>” amparada pelas elites, orientando a<br />
modificação no perfil das <strong>cidade</strong>s de acordo com o processo de industrialização periférico<br />
(OLIVEIRA, 1982). Nesse contexto, a preocupação do Estado era resolver o “caos e a<br />
desordem” e promover a cooperação urba<strong>na</strong>.<br />
“A realidade espacial – o espaço – é, sem dúvida, a expressão dos processos<br />
econômico-espaciais que atuam sobre determi<strong>na</strong>do território, e as políticas públicas<br />
integram esses processos. (...) O espaço integra, pois, a dinâmica do processo<br />
espacial, da qual resultam a organização do território e configurações espaciais<br />
específicas. Configurações espaciais que correspondem às diferentes formas de<br />
organização sociais no decorrer desse processo e são, ao longo do tempo,<br />
modificadas tanto pelos vários agentes que nela interferem quanto por seu próprio<br />
di<strong>na</strong>mismo interno” (BERNARDES, 1986, p.84)<br />
Segundo Ber<strong>na</strong>rdes, a ação do poder público contribuiu para alterar a estruturação do<br />
território. O planejamento urbano surge no Brasil como fruto de uma articulação de ações e é<br />
considerado instrumento estatal no processo político, econômico e social. Assim, o poder<br />
político passa a orde<strong>na</strong>r o território mantendo o planejamento a serviço do desenvolvimento<br />
econômico por suposto, capitalista.<br />
2.1.1. As reformas urbanísticas que marcaram a evolução urba<strong>na</strong> do Centro<br />
O estudo da evolução das intervenções urbanísticas nos centros urbanos permite<br />
diferenciá-las por períodos que se caracterizam pela <strong>na</strong>tureza de seus objetivos e [...]<br />
pelos resultados obtidos [...] objetivos que partem de ideologias e paradigmas de<br />
desenvolvimento urbano [...] que passam a moldar a própria realidade (DEL RIO,<br />
op.cit., p.55).<br />
Segundo Leme (1999), o período de 1895-1930, que antecede o período Vargas (1930-<br />
1950), tem <strong>na</strong> prática das intervenções urba<strong>na</strong>s a característica dos melhoramentos pontuais<br />
<strong>na</strong> <strong>cidade</strong>. Para Ribeiro & Cardoso (1996), “ao longo da Primeira República, as intervenções<br />
<strong>na</strong> <strong>cidade</strong> não configuram exatamente o modelo do plano urbanístico, já que, em geral, não<br />
consideram a <strong>cidade</strong> <strong>na</strong> sua totalidade” 174 . A estética é vinculada à saúde. A <strong>cidade</strong> é<br />
“melhorada” <strong>na</strong>s dimensões do saneamento, embelezamento e expansão. São destacadas a<br />
Reforma Passos (1902-1906) e o Plano Agache (década de 1920).<br />
174<br />
RIBEIRO; CARDOSO, 1996, p.58.
82<br />
O processo de expansão da <strong>cidade</strong>, mediante a crescente incorporação de novas<br />
áreas à malha urba<strong>na</strong>, manifestou-se <strong>na</strong> formação de bairros residenciais e<br />
industriais dissociados da área central. Assim, no início do Século XX, o Rio de<br />
Janeiro apresentava-se <strong>na</strong> forma dicotômica núcleo-periferia, com uma área central<br />
praticamente delineada nos limites da ‘<strong>cidade</strong> velha’, hoje conhecida simplesmente<br />
como ‘<strong>cidade</strong>’ (ou ‘centro’). No entanto, ali permaneceram usos e atividades<br />
considerados indesejáveis para uma <strong>cidade</strong> moder<strong>na</strong>, principalmente os inúmeros e<br />
frágeis cortiços (ABREU, 1987, p.59).<br />
O velho centro da <strong>cidade</strong>, herdado do período colonial, reunia as freguesias da<br />
Candelária, de Santa<strong>na</strong>, Santo Antônio, Sacramento, Santa Rita e São José e, juntas,<br />
representavam, tanto para as elites como para o Estado, um entrave ao desenvolvimento<br />
capitalista. Os motivos estavam interligados e se baseavam: no caráter estreito e muitas vezes<br />
sinuoso das ruas que geravam congestio<strong>na</strong>mentos; no deslocamento das classes abastadas em<br />
direção aos bairros de Botafogo, Catete, Glória, “Cidade Nova”, São Cristóvão e Engenho<br />
Velho; <strong>na</strong> presença de uma população miserável composta por homens livres, escravos de<br />
ganho, imigrantes internos e estrangeiros; e no crescimento populacio<strong>na</strong>l da população<br />
acompanhado por uma crise habitacio<strong>na</strong>l que, reunidos, direcio<strong>na</strong>vam a população pobre para<br />
as habitações coletivas (cortiços, estalagens, casas de cômodo) <strong>na</strong> área central. “Mal<br />
conservadas, insalubres e superlotadas, estas habitações eram apontadas como verdadeiros<br />
focos de doenças” 175 .<br />
Portanto, sob este olhar da chamada “Medici<strong>na</strong> Social”, e outro menos explícito por<br />
parte das elites, o de que estes lugares também eram potenciais para revoltas populares, o<br />
discurso higienista se legitima a partir da segunda metade do Século XIX, relacio<strong>na</strong>do a um<br />
quadro político-ideológico, econômico e social dissemi<strong>na</strong>dor do desenvolvimento e da<br />
modernização capitalista 176 .<br />
No discurso das elites, a posição que o país agora ocupava <strong>na</strong> divisão inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l<br />
do trabalho exigia uma nova capital. A modernização crescente da economia urba<strong>na</strong><br />
não condizia com uma área central ainda tipicamente colonial, com ruas estreitas e<br />
sombrias; onde se misturavam usos e classes sociais diversos; onde os edifícios<br />
públicos e empresariais estavam ao lado de cortiços. Não condizia também com a<br />
ausência de avenidas largas e dos prédios suntuosos que cada vez mais<br />
proporcio<strong>na</strong>vam status à rival plati<strong>na</strong>. Era preciso acabar com a imagem de que o<br />
Rio de Janeiro era sinônimo de epidemias, de insalubridade, e transformá-lo num<br />
verdadeiro símbolo do ‘novo Brasil’ (ABREU, op.cit., p.125-126).<br />
175 RODRIGUES, op.cit., p.41.<br />
176 RODRIGUES, loc. cit.
83<br />
No início do Século XX, o modelo de embelezamento e saneamento é posto em<br />
prática no Brasil, primeiramente <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Quanto<br />
ao papel da <strong>centralidade</strong>, é importante destacar que os “centros se revelavam como lugares<br />
privilegiados para as intervenções, sempre no sentido de viabilizar o avanço do capital<br />
imobiliário e industrial” 177 . Até esse momento, a área central era o espaço mais valorizado da<br />
<strong>cidade</strong>, e tal posição refletia a sua função (urba<strong>na</strong>) de orientar a evolução da estrutura da<br />
<strong>cidade</strong>. Segundo Rabha (2006), “ainda assim persistia uma organização espacial que gravitava<br />
ao redor de seu centro histórico, simbólico e de negócios”. Desta forma, as transformações<br />
pelas quais passou o centro expressavam o novo momento da organização social, no contexto<br />
carioca, <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l e inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l.<br />
Segundo Rodrigues, a articulação de forças (no âmbito fi<strong>na</strong>nceiro e administrativo) se<br />
deu também inter<strong>na</strong>mente ao Poder Público. O remodelamento da capital e do seu centro foi<br />
fruto, portanto, da união entre Governo federal e municipal, cujo propósito era “tor<strong>na</strong>r a<br />
capital fi<strong>na</strong>lmente uma <strong>cidade</strong> cosmopolita, pronta a favorecer os investimentos estrangeiros e<br />
os novos setores burgueses emergentes com a República” 178 .<br />
No Rio, então Capital Federal, o presidente Rodrigues Alves incumbia ao Prefeito<br />
Pereira Passos de promover programas e projetos de intervenção, <strong>na</strong> busca por uma<br />
nova imagem para o país [...] o centro carioca, portanto, passaria a ser o local<br />
privilegiado das intervenções gover<strong>na</strong>mentais e território de implementação do<br />
modelo viabilizador das novas práticas econômicas e urbanísticas. As imagens<br />
perseguidas buscavam torná-lo atrativo, belo, moderno e funcio<strong>na</strong>l; conduziu-se<br />
fartas demolições de edificações insalubres assim como inúmeras outras obras de<br />
“embelezamento”. Implantava-se desde programas de saúde pública, comandados<br />
por Oswaldo Cruz, até inúmeras obras públicas de porte. Os bairros da área portuária<br />
foram palco da famosa revolta da vaci<strong>na</strong> e o tecido do centro foi rasgado pela<br />
construção da larga e elegante avenida central, ladeado por prédios que <strong>na</strong>da iriam<br />
dever a seus pares europeus. Construiu-se um novo porto, áreas e armazéns de<br />
apoio, prontos para a importação e a exportação de um crescente mercado<br />
inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>lizado e competitivo (DEL RIO, op.cit., p.56).<br />
Destaca-se, portanto, o caráter elitista da modernização do centro. De outra forma: a<br />
“nova” <strong>cidade</strong> não desejava conviver com a “velha”. A remodelação da área central expulsava<br />
os pobres do espaço público e transformava a rua em “espetáculo”. Contribuíram para este<br />
processo a hierarquização dos espaços públicos por meio do controle urbanístico rígido em<br />
torno da construção civil e das “velhas usanças” 179 , e os avanços tecnológicos que construíram<br />
177 DEL RIO, op.cit., p.55.<br />
178 RODRIGUES, op.cit., p.41.<br />
179 RODRIGUES, op.cit. Segundo Rabha (2006), “Não é ainda possível esquecer os atos administrativos<br />
baixados pela Prefeitura que incluíam um rígido esquema de novas posturas urba<strong>na</strong>s. Assim, passava a ser<br />
proibida a circulação <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> de pessoas descalças e sem camisa, a permanência de cães ou o passeio de vacas
84<br />
o espetáculo urbano carioca como, por exemplo, a substituição da ilumi<strong>na</strong>ção a gás pela luz<br />
elétrica pela empresa The Rio de Janeiro Tramway Light and Power Co. Ltd., no período de<br />
1904-1905 180 .<br />
A partir do ideal dos melhoramentos pontuais <strong>na</strong> <strong>cidade</strong>, as intervenções urba<strong>na</strong>s<br />
advindas da Reforma Passos se caracterizam, sob o signo da remodelação e saneamento, <strong>na</strong><br />
abertura ou alargamento de inúmeras ruas e avenidas, no centro e zo<strong>na</strong> sul, de modo a facilitar<br />
a comunicação entre os bairros e o tráfego urbano dificultado pelas ruas sinuosas e estreitas de<br />
então.<br />
As ações no sistema viário se expressaram <strong>na</strong> abertura de grandes "artérias",<br />
objetivando facilitar as ligações da área central com as regiões adjacentes. A primeira dessas<br />
intervenções foi a abertura das Avenidas Mem de Sá e Salvador de Sá, realizada a partir do<br />
arrasamento do Morro do Se<strong>na</strong>do, o que facilitou a comunicação do centro com a zo<strong>na</strong> oeste e<br />
norte. Com o mesmo desmonte foi possível realizar ainda um aterro de monta <strong>na</strong> área do porto<br />
e construir as Avenidas Rodrigues Alves e Francisco Bicalho.<br />
O porto do Rio de Janeiro, apesar de estar entre os principais do mundo, possuía uma<br />
estrutura irregular, que não condizia com sua importância. No discurso domi<strong>na</strong>nte, era<br />
preciso, portanto, substituir os velhos trapiches por um cais moderno, a fim de dar o suporte<br />
material às crescentes necessidades de importação/exportação de mercadorias.<br />
No porto, o novo cais com seus guindastes e armazéns, aliados às largas avenidas<br />
recentemente abertas, conferia à <strong>cidade</strong> uma característica de metrópole moder<strong>na</strong>,<br />
civilizada e cosmopolita, à semelhança dos grandes centros urbanos da Europa e dos<br />
Estados Unidos. A chegada dos <strong>na</strong>vios inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is de passageiros, os estrangeiros<br />
vindos para negócios ou a passeio transformaram-se em espetáculo para a população<br />
da capital, a ser admirado da Praça Mauá (RABHA, op.cit., p.110).<br />
A principal feitura da reforma foi a abertura da Avenida Central. O logradouro era<br />
reconhecido como um “espaço-símbolo”, ‘o’ representante da nova ordem econômica e<br />
ideológica. Para tal, foi necessária uma verdadeira "cirurgia urba<strong>na</strong>", que resultou <strong>na</strong><br />
demolição de cerca de 2.500 imóveis ocupados por casas de cômodos e cortiços, que deram<br />
lugar aos mais belos edifícios da arquitetura eclética 181 .<br />
respondeu à necessidade do capital (e das classes domi<strong>na</strong>ntes) de se expressarem<br />
simbolicamente no espaço. Com efeito, a partir da sua construção, foram aí<br />
leiteiras. Estavam igualmente proibidas práticas como fazer fogueiras, soltar balões, cuspir <strong>na</strong>s ruas e a livre<br />
venda dos ambulantes. E ainda os batuques, o entrudo e os quiosques” (p. 109).<br />
180 CARLOS, 2006.<br />
181 BECHIMOL, 1992.
85<br />
localizadas as melhores casas comerciais, as sedes de jor<strong>na</strong>is e de grandes<br />
companhias, diversos clubes, hotéis e vários edifícios do governo (ABREU, op.cit.,<br />
p.142).<br />
No início da avenida, a Praça Mauá fazia a ligação com o porto, enquanto que <strong>na</strong> sua<br />
extremidade voltada para a zo<strong>na</strong> sul, configurava-se um novo centro representado pela Praça<br />
Floriano, “onde foram edificados novos prédios desti<strong>na</strong>dos à cultura – Teatro Municipal,<br />
Biblioteca Nacio<strong>na</strong>l, Escola Nacio<strong>na</strong>l de Belas Artes – e ao poder – Se<strong>na</strong>do Federal (Palácio<br />
Monroe), Câmara Municipal e Supremo Tribu<strong>na</strong>l Federal” 182 .<br />
Por fim, houve também o alargamento de diversas ruas e a arborização de praças.<br />
Destacam-se o alargamento da Rua da Prainha, com a demolição de todos os prédios<br />
origi<strong>na</strong>ndo a Rua do Acre. Outros logradouros públicos como a Praça XV, o Largo do<br />
Machado, o Passeio Público, entre outros, tiveram seus jardins melhorados e/ou a instalação<br />
de esculturas suntuosas.<br />
Em pouco tempo, a <strong>cidade</strong> havia mudado e, com a introdução de novos hábitos,<br />
i<strong>na</strong>uguravam-se outros comportamentos. Fazer a avenida era um deles. Assim, estar<br />
<strong>na</strong> Central representava estar inserido <strong>na</strong> vida urba<strong>na</strong>, freqüentando bancos, cafés e<br />
lojas, ao passo que passear pela Beira Mar servia à apreciação da <strong>na</strong>tureza, ao<br />
contato dos bons ares vindos do oceano (RABHA, op.cit., p.119).<br />
No que se refere à questão da moradia, o período de 1870/1930 configurou, portanto,<br />
momento particular de transformação das relações sociais de produção, circulação e<br />
distribuição da moradia, revelando o surgimento do capital imobiliário. Tal feito modificou,<br />
assim, defitivamente, as formas de ocupação do espaço urbano.<br />
O período de 1870−1930 é um momento de transição das relações sociais que<br />
fundam a nossa sociedade. Com efeito, a partir de 1870 entra em crise a economia<br />
mercantil−escravista e, pouco a pouco, afirma−se uma economia urba<strong>na</strong> organizada<br />
com base no trabalho livre; expande−se a intervenção sobre a <strong>cidade</strong>, através da<br />
legislação urba<strong>na</strong> e dos investimentos urbanos realizados pelo Poder Público e pelas<br />
empresas privadas, [...] e também um extraordinário crescimento demográfico. Estes<br />
fatores terão importantes impactos sobre a produção de moradias, criando as bases<br />
para a mercantilização da moradia e do solo. [...] Entre os anos de 1870 e 1890, o<br />
número de logradouros existentes <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> é quase multiplicado por quatro, o que<br />
expressa uma forte expansão da malha urba<strong>na</strong> (RIBEIRO, 1997, p.165-166).<br />
Esta expansão pode ser vista como resultado do aumento da população, que cresceu<br />
90% neste período, segundo dados do autor. A malha urba<strong>na</strong> começa a se expandir, e em<br />
termos populacio<strong>na</strong>is, o crescimento será maior <strong>na</strong>s zo<strong>na</strong>s da <strong>cidade</strong> que se distanciam do seu<br />
centro histórico. Como já apontado foi em direção à zo<strong>na</strong> norte e aos subúrbios servidos pela<br />
182 MAGALHÃES, 2001, p.741.
86<br />
E.F. Central do Brasil e pela E.F. Leopoldi<strong>na</strong> que houve a maior expansão.<br />
No período de 1890 a 1906, a atividade de construção civil ganhou enorme<br />
di<strong>na</strong>mismo, e concentrou−se predomi<strong>na</strong>ntemente <strong>na</strong> produção de imóveis desti<strong>na</strong>dos ao<br />
comércio, à indústria e aos serviços. Neste período, as freguesias que compunham o centro<br />
histórico perderam parte importante da sua população residente, fruto da tendência desta parte<br />
da <strong>cidade</strong> em se especializar como zo<strong>na</strong> comercial desde o fim do Século XIX, tor<strong>na</strong>ndo<br />
elevados os preços fundiários e imobiliários em razão das obras de reforma realizadas por<br />
Pereira Passos. O outro fator que diminuiu o número de logradouros foi a política higienista,<br />
que promoveu uma campanha contra as habitações coletivas.<br />
No período de 1906 a 1920 se consolidam, portanto, as tendências da urbanização do<br />
Rio de Janeiro. Segundo Ribeiro (1997), há o aumento do número de logradouros, que passa<br />
de 1.943 para 3.534, o que expressa uma expansão da malha urba<strong>na</strong> e, ao mesmo tempo,<br />
densificação <strong>na</strong> ocupação do espaço. Destaque para o novo eixo de investimentos – a Beira-<br />
Mar, estendendo-se até o “novo bairro <strong>na</strong> orla marítima” 183 - Copacaba<strong>na</strong>.<br />
Concomitantemente, as freguesias que compunham o centro histórico da <strong>cidade</strong><br />
continuam a perder população. A incidência de ações de renovação urba<strong>na</strong> e a especialização<br />
da função comercial nesta área se expressa <strong>na</strong> tentativa de retomada da área central por meio<br />
da “instalação ali de novas sedes bancárias, de escritórios e dos principais estabelecimentos da<br />
nova sociedade capitalista brasileira” 184 .<br />
O centro passava a significar a localização privilegiada para o trabalho, para<br />
diversões, para ser e estar inserido <strong>na</strong> vida política, econômica e social da <strong>cidade</strong>.<br />
Mas era rumo ao sul que estava sendo iniciada a formação da área de moradia<br />
compatível aos que comandavam aquela representação. Estava aberta uma nova<br />
frente de crescimento urbano, uma verdadeira oportunidade para construção do<br />
espírito da época sobre um imenso espaço limpo e descomprometido com o passado<br />
(RABHA, op.cit., p.119).<br />
No período de 1920−1933, a população do Rio de Janeiro cresceu a taxa geométrica<br />
anual (2,1%) bem inferior ao incremento predial (4,1%) e ao domiciliar (4,7%). Esta diferença<br />
entre as taxas de crescimento predial e domiciliar indica que no período em tela a <strong>cidade</strong> se<br />
verticalizou, surgindo elevado número de prédios de apartamentos. Outro fato a apontar é o<br />
espraiamento da <strong>cidade</strong> pelo território, que estende sua malha através da incorporação de<br />
áreas rurais ao tecido urbano 185 .<br />
183 RABHA, op.cit., p.114.<br />
184 MAGALHÃES, op.cit., p.741.<br />
185 RIBEIRO, 1997.
87<br />
Na zo<strong>na</strong> central da <strong>cidade</strong>, onde se localizavam as “primeiras freguesias ou paróquias<br />
da <strong>cidade</strong>”, ocorre a diminuição do número de prédios em conseqüência da sua especialização<br />
como zo<strong>na</strong> comercial e da realização de obras de renovação do espaço construído: desmonte<br />
do Morro do Castelo, arrasamento do Morro do Se<strong>na</strong>do, aterro do Calabouço, retificação da<br />
Gamboa e alargamento das ruas da <strong>cidade</strong> velha.<br />
A respeito das intervenções no espaço central, verificou-se uma nova ordem urba<strong>na</strong> se<br />
impondo de fato, pois, “com o desmonte do berço histórico da <strong>cidade</strong>, praticamente<br />
desapareciam todos os marcos da fundação do Rio e do seu primeiro século de existência,<br />
além de uma tradicio<strong>na</strong>l área residencial (...) desde o século XVI” 186 . Segundo Rabha (2006),<br />
“a decisão de atacar o Morro do Castelo iria auxiliar ainda mais a diminuição do uso<br />
residencial pouco qualificado, caracterizando assim o processo de depuração de usos e classes<br />
sociais que deveriam estar no centro da <strong>cidade</strong>” 187 .<br />
Uma análise mais detalhada do crescimento predial no Centro mostra dois eixos de<br />
crescimento: a Zo<strong>na</strong> Comercial Central (Candelária, Sacramento, Santo Antônio, São José,<br />
Santa Rita) e a Zo<strong>na</strong> Industrial Central (Sant’an<strong>na</strong>, Gamboa e São Cristóvão). Podemos citar<br />
outras formas de diferenciação de áreas que vieram a ser implantadas, como a criação de<br />
Regiões Administrativas (RA’s), Áreas de Planejamento (AP’s) e Bairros, que podem ser<br />
atribuídas a função de planejamento e de estudos mais especializados 188 .<br />
A Espla<strong>na</strong>da do Castelo, resultado do desmonte do Morro do Castelo, é um exemplo<br />
dos parâmetros urbanísticos contidos no zoneamento da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro estabelecido<br />
pelo Plano de Remodelação, Extensão e Embelezamento da Cidade, conhecido<br />
posteriormente como Plano Agache 189 .<br />
Pelo Plano Agache a área do Castelo se transformaria no Centro de Negócios da<br />
Cidade do Rio de Janeiro. O projeto previa a construção de largas avenidas e de<br />
186 SILVEIRA, op.cit., p.69.<br />
187 RABHA, op.cit., p.122.<br />
188 Segundo Silveira (2004), “O primeiro reconhecimento institucio<strong>na</strong>l da distribuição diferenciada das funções<br />
<strong>na</strong> <strong>cidade</strong> ocorreu em 1925, quando foi estabelecido o primeiro zoneamento de usos. Nessa ocasião o Distrito<br />
Federal teve o seu espaço orde<strong>na</strong>do por meio de uma divisão em quatro zo<strong>na</strong>s: Primeira, ou Central; Segunda ou<br />
Urba<strong>na</strong>; Terceira ou Suburba<strong>na</strong>; e Quarta ou Rural. A organização do espaço urbano em classes sociais e usos<br />
distintos seria institucio<strong>na</strong>lizada posteriormente, e por diversas vezes, sempre que a administração municipal<br />
considerou imperativo elaborar legislações urbanísticas mais complexas”(p.69). Assim, também são apontados<br />
por Rabha (2006) os decretos correspondentes à divisão administrativa em vigor “(decretos n° 6.985, de 7 de<br />
maio de 1941 e 8.223, de 11 de setembro de 1945)”, e ao “zoneamento de usos e atividades, que estabelecia os<br />
parâmetros da chamada Zo<strong>na</strong> Comercial (decreto n° 6.000, de 01 de julho de 1937, título II, secção I, artigo 4º)”.<br />
Segundo a autora, “o decreto n° 6.000 estabelecia o zoneamento do Distrito Federal dividindo-o <strong>na</strong>s seguintes<br />
zo<strong>na</strong>s: Comercial (ZC), Portuária (ZP), Industrial (ZI), Residencial (ZR), Rural e Agrícola (ZA). Era ainda<br />
indicada uma subzo<strong>na</strong> especial (ZE) correspondendo a Espla<strong>na</strong>da do Castelo, objeto de plano de ocupação <strong>na</strong><br />
área central” (p.210).<br />
189 BARROS, passim.
88<br />
prédios monumentais. Do Plano, saíram as avenidas Antônio Carlos, Nilo Peçanha e<br />
Graça Aranha. As ruas adjacentes, conseqüentes do aterro, foram muito alteradas.<br />
Vale lembrar que o Plano Agache foi interrompido com a Revolução de 1930, só<br />
sendo retomado, parcialmente, entre 1937 e 1945 (BARROS, op.cit., p.7).<br />
Segundo Abreu (1987), o Plano Agache se caracterizava como um plano urbanístico<br />
para moldar o crescimento urbano; no entanto, sua função política se baseava numa<br />
intervenção do Estado sobre o “processo de reprodução da força de trabalho urba<strong>na</strong>”,<br />
acirrando a clivagem social. “Surge então o Plano Agache, cuja característica maior é a<br />
oficialização da separação das classes sociais no espaço: ricos para um lado; pobres para<br />
outro. Para as favelas também não havia opção: teriam que ser erradicadas” 190 .<br />
No período Vargas (1930-1950), o planejamento urbano esteve inserido no contexto<br />
de uma revolução burguesa e <strong>na</strong> afirmação de uma elite industrial que procurava criar signos<br />
que a destacasse. Logo foi formulada uma reforma urba<strong>na</strong> criadora de “espaços da burguesia”,<br />
espaços de reconhecimento e consumo. Num momento de vigorosa expansão urba<strong>na</strong> e<br />
crescimento demográfico, próprios do processo de urbanização acelerada aliada à perspectivas<br />
futuras de industrialização, surgiram propostas de transformações radicais <strong>na</strong> estrutura das<br />
<strong>cidade</strong>s, principalmente no sistema viário de forma a promover a circulação de pessoas e<br />
mercadorias. Têm-se então o surgimento da metrópole carioca e novas referências de<br />
<strong>centralidade</strong> – novos bairros, novos centros.<br />
Como já apontado, a área central do Rio de Janeiro foi ao longo do tempo sendo<br />
configurada pela lógica da aglomeração - de pessoas, de comunicação, do mercado de<br />
trabalho, de bens, de capital, etc. No entanto, à medida que a infra-estrutura se desenvolveu<br />
em locais mais distantes do core, dando acesso aos novos públicos consumidores das<br />
atividades ligadas ao comércio e serviços, a <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro se transformou “numa<br />
<strong>cidade</strong> polinuclear, onde, ao lado de um núcleo principal – a Área Central de Negócios –,<br />
outros núcleos se desenvolvem” 191 .<br />
Segundo Ribeiro & Cardoso (1996), o planejamento urbano no período Vargas se<br />
caracteriza pelo padrão higiênico-funcio<strong>na</strong>l. Para os autores, “de forma geral, esse padrão<br />
reproduz o discurso higienista e urbanístico produzido nos países centrais desde o fi<strong>na</strong>l do<br />
Século XIX” 192 e apóia-se <strong>na</strong>s categorias do organicismo ou do funcio<strong>na</strong>lismo taylorista,<br />
tendo como características fundamentais: a concepção organicista <strong>na</strong> formulação do<br />
190 ABREU, op.cit., p.143.<br />
191 DUARTE, 1974, p.59. O tema referente aos subcentros <strong>na</strong> metrópole carioca será retor<strong>na</strong>do mais à diante<br />
no texto.<br />
192 RIBEIRO; CARDOSO, op.cit., p. 64.
89<br />
diagnóstico e o embelezamento, a monumentalidade e o controle social sobre o uso do espaço<br />
orientando a intervenção.<br />
Essas características do padrão irão sofrer no Brasil uma transformação, não <strong>na</strong>s<br />
suas categorias básicas, mas <strong>na</strong> fi<strong>na</strong>lidade da sua utilização. Desde o início do século<br />
as ‘idéias-força’ da <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>lidade e da modernização impõem-se à reflexão sobre o<br />
social. Isso significa que o discurso da higiene e da funcio<strong>na</strong>lidade guarda assim<br />
muito mais um caráter modernizador e afirmador da <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>lidade emergente que<br />
propriamente de controle social. Ou melhor, o controle social é um dos elementos da<br />
modernização e da constituição da <strong>na</strong>ção. Trata-se, aí, de reproduzir idéias, práticas<br />
e morfologias urba<strong>na</strong>s que sintetizam a modernidade tal como ela se expressa nos<br />
países ‘civilizados’. A oposição passado/futuro tem, assim, importância fundamental<br />
<strong>na</strong> articulação do padrão (RIBEIRO; CARDOSO, op.cit., p.64-65).<br />
Segundo Leme (1999), a partir de 1930 iniciou-se a criação de uma estrutura<br />
administrativa 193 para elaborar e gerenciar os Planos que tinham por objetivo o conjunto da<br />
área urba<strong>na</strong> <strong>na</strong> época. Com uma visão de totalidade, são planos que propõem a articulação<br />
entre bairros, o centro e a extensão das <strong>cidade</strong>s através de sistemas de vias e de transportes.<br />
Com a legislação urbanística e as primeiras propostas de zoneamento há maior controle do<br />
uso e ocupação do solo <strong>na</strong> maioria das <strong>cidade</strong>s brasileiras.<br />
Este viés intervencionista sobre o espaço esteve associado à dinâmica de acumulação<br />
de capital. O processo de especialização de áreas via zoneamento interligou-se largamente,<br />
como diria Corrêa (1999), às necessidades mutáveis de reprodução do capital (fi<strong>na</strong>nceiro e<br />
imobiliário), que através da ação complexa dos agentes sociais,<br />
levam a um constante processo de reorganização espacial que se faz via<br />
incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo,<br />
deterioração de certas áreas, renovação urba<strong>na</strong>, relocação diferenciada da infraestrutura<br />
e mudança, coercitiva ou não do conteúdo social e econômico de<br />
determi<strong>na</strong>das áreas da <strong>cidade</strong> (CORRÊA, 1999, p.20).<br />
Durante o governo do prefeito Henrique Dodsworth (1937- 1945), a <strong>cidade</strong> do Rio de<br />
Janeiro passou por novas reformas. A chamada Reforma Dodsworth marcou a remodelação da<br />
<strong>cidade</strong> pela retomada em novas bases da urbanização <strong>na</strong> Espla<strong>na</strong>da do Castelo, com grandes e<br />
largas avenidas e construções que ocupam quarteirões inteiros. Segundo Barros (2003), “se a<br />
Avenida Central foi o grande símbolo da República Velha, a Espla<strong>na</strong>da do Castelo foi o<br />
principal símbolo do Estado Novo” 194 .<br />
193 Legislação urbanística, instrumentos de licenciamento e fiscalização, consolidação do urbanismo enquanto<br />
área de conhecimento e prática profissio<strong>na</strong>l, contratação de especialistas estrangeiros.<br />
194 BARROS, op.cit., p.8.
90<br />
Segundo o autor, neste momento o Estado passou a ser o agente responsável pelo<br />
orde<strong>na</strong>mento da Espla<strong>na</strong>da, criando um “bairro ministerial” que abrigou vários prédios<br />
públicos e edifícios de escritórios. No local, predomi<strong>na</strong> ainda hoje a função administrativa e<br />
diplomática, com a “construção de prédios grandiosos para ministérios, embaixadas e<br />
autarquias. Praticamente toda a administração federal estava de casa e caras novas”.<br />
Visualmente, “as linhas arquitetônicas dos prédios ministeriais e a imponência das novas<br />
construções exibiam formas monumentais que visavam mostrar o poder do Estado sobre a<br />
sociedade” 195 .<br />
A paisagem urba<strong>na</strong> do centro muda mais uma vez com a abertura da Avenida<br />
Presidente Vargas, <strong>na</strong> década de 1940. Como fruto do capital imobiliário foi construída a<br />
segunda geração de prédios da Avenida Rio Branco, consolidando assim o eixo fi<strong>na</strong>nceiro<br />
"Av. Presidente Vargas e Av. Rio Branco". No entanto, como ressalta Silveira (2004), a<br />
“expectativa de expansão da Área Central de Negócios sobre este novo eixo, exatamente<br />
como havia acontecido com a Avenida Rio Branco, não se confirmou. Por esse motivo,<br />
diversos vazios mantiveram-se durante décadas ao longo da larga avenida” 196 . O mercado<br />
imobiliário migrou para a Zo<strong>na</strong> Sul, o que, entre outros fatores, causou impactos notáveis no<br />
centro da <strong>cidade</strong> – e que viriam a ser sentidos até a década de 1980.<br />
Podemos afirmar que, no decorrer da história da <strong>cidade</strong> espaços novos com status<br />
diferenciados foram sendo sucessivamente anexados ao tecido urbano existente, em<br />
detrimento das ocupações mais antigas. A ocupação de áreas através da expansão<br />
urba<strong>na</strong> nos eixos norte e sul contribuiu para a relativa estag<strong>na</strong>ção da área central.<br />
Esta permaneceu como núcleo principal até os anos 1930 e 1940, quando surgiram<br />
novas <strong>centralidade</strong>s, destacando-se Copacaba<strong>na</strong>. Este bairro captou os investimentos<br />
imobiliários que passaram a dirigir-se progressivamente para a zo<strong>na</strong> Sul, seguidos<br />
pelas atividades de comércio e serviços. Em meados do século XX desenvolveramse,<br />
ainda, os subcentros do Méier, Madureira e Campo Grande, o que contribuiu para<br />
esvaziar ainda mais a área central. Outra razão deve ser mencio<strong>na</strong>da como<br />
fundamental para justificar essa situação. Trata-se do processo de esvaziamento<br />
econômico da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro como um todo, esboçado desde o início do<br />
século XX, que apresentou um ponto de inflexão no fi<strong>na</strong>l dos anos 1930, com o<br />
deslocamento de atividades industriais para São Paulo (SILVEIRA, op.cit., p.72-73).<br />
A autora apóia-se em Santos 197 para relacio<strong>na</strong>r ação do Estado à exclusão social ao<br />
longo de todo o Século XX, ressaltando que “a história da evolução urba<strong>na</strong> recente pode ser<br />
resumida como a do progresso das maneiras de criar áreas privilegiadas e de 'limpá-las' de<br />
presenças indesejadas". A Área Central, como se observa, não ficou livre desta lógica<br />
195 BARROS, loc.cit.<br />
196 SILVEIRA, op.cit., p.70.<br />
197 SANTOS, Carlos Nelson Ferreira. Velhas novidades nos modos de urbanização brasileiros. In: Valadares, L.<br />
(Org.). Habitação em questão. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. p. 21.
91<br />
segregacionista. Segundo Villaça (1998), neste período de reformas promovidas pelo Estado<br />
houve a constituição de duas áreas distintas no centro do Rio de Janeiro.<br />
Num extremo, surgiu a parte popular que ocupava a antiga área nobre, agora<br />
abando<strong>na</strong>da: a região da Praça Mauá e a Praça Tiradentes. No outro extremo,<br />
voltado para os novos bairros nobres da florescente zo<strong>na</strong> Sul, surgiu a nova parte<br />
nobre do centro. Isso se deu articuladamente com o novo processo de segregação<br />
que se iniciou e se acentuou <strong>na</strong>s décadas seguintes, segundo o qual <strong>na</strong> chamada zo<strong>na</strong><br />
Sul se concentraram crescentemente as camadas de mais alta renda, e <strong>na</strong> zo<strong>na</strong> norte<br />
as de renda mais baixa (VILLAÇA, op.cit., p.120).<br />
2.1.2. O surgimento dos Centros Funcio<strong>na</strong>is<br />
Duarte (1974), em sua pesquisa sobre a distribuição espacial dos centros funcio<strong>na</strong>is no<br />
Estado da Gua<strong>na</strong>bara, já alertava para mudanças <strong>na</strong> estrutura urba<strong>na</strong> da <strong>cidade</strong> e,<br />
consequentemente, do seu centro. De 1920 a 1950, a população da antiga Gua<strong>na</strong>bara<br />
simplesmente dobrou o seu contingente. À medida que a população crescia e com a melhoria<br />
<strong>na</strong>s formas de mobilidade aumentava também o espaço construído composto de nova<br />
dinâmica de atividades. Têm-se, então, a expansão dos subúrbios e das atividades terciárias de<br />
comércio e serviços, e a formação de uma rede de subcentros 198 espalhados nos bairros.<br />
Segundo Rabha, a política populista do governo Vargas cooperou para o crescimento<br />
dos subúrbios no Rio de Janeiro, visando inserir a <strong>na</strong>ção numa nova etapa de<br />
desenvolvimento.<br />
O governo iniciado em 1930 apresentava-se comprometido com a melhoria das<br />
condições de vida das classes trabalhadoras, buscando fortalecer os direitos dos<br />
empregados e racio<strong>na</strong>lizar o tempo gasto <strong>na</strong> circulação pendular das massas. Por<br />
outro lado, era explícito o interesse em ampliar e expandir setores industriais de base<br />
urba<strong>na</strong>. No Rio de Janeiro tais premissas estariam correlacio<strong>na</strong>das à melhoria dos<br />
transportes ferroviários, promoção de moradias populares, abertura das avenidas<br />
Brasil e das Bandeiras e <strong>na</strong> industrialização crescente da zo<strong>na</strong> suburba<strong>na</strong>, que já<br />
apresentava empresas importantes como a Cisper e a General Eletric, abertas em<br />
1917 e 1921, respectivamente no bairro de Maria da Graça, a Klabin em<br />
Bonsucesso, a Cia Nacio<strong>na</strong>l de Tecidos Nova América, aberta em 1924 no bairro de<br />
Del Castilho. Na década de 30 foram ainda implantadas a Gilete, a Silva Pedrosa<br />
(rolhas metálicas), a Companhia Nacio<strong>na</strong>l de Papel no Jacarezinho e outros<br />
estabelecimentos metalúrgicos em Benfica. Ainda surgiriam novas indústrias<br />
químicas e metalúrgicas em Honório Gurgel,além de fábrica de cimento branco em<br />
Irajá (RABHA, 2006, p.210).<br />
198 São mencio<strong>na</strong>dos Madureira, Copacaba<strong>na</strong>, Méier, Tijuca, Penha, Campo Grande, Ramos, Bom Sucesso,<br />
Ipanema, Catete, Botafogo, Bangu, Pilares/Abolição, Cascadura e Santa Cruz.
92<br />
Para Duarte, a redistribuição do equipamento terciário ou movimento de<br />
descentralização estimulou a expansão urba<strong>na</strong> do Rio de Janeiro. Os centros funcio<strong>na</strong>is, como<br />
são denomi<strong>na</strong>dos, surgiram espontaneamente devido a fatores ligados à intensa urbanização e<br />
à industrialização, e se expandiram a partir da Área Central (A.C.N) por estarem sob seu<br />
comando.<br />
A autora aplica a teoria do Central-Place de Christaller à estrutura comercial da<br />
<strong>cidade</strong>, entendendo-a como um “sistema que apresenta uma organização inter<strong>na</strong> onde se<br />
distinguem lugares centrais intra-urbanos, estruturados hierárquica e funcio<strong>na</strong>lmente” 199 .<br />
Desta forma, identifica os lugares centrais a partir da convergência de fluxos de capital,<br />
administrativos, de bens, serviços e pessoas. Cada centro funcio<strong>na</strong>l possui características<br />
próprias e diferentes graus de desenvolvimento 200 . Sua área de influência, ou seja, a sua força<br />
de atração sobre as áreas vizinhas é orientada pela formação do núcleo central do subcentro.<br />
Os centros funcio<strong>na</strong>is do Rio de Janeiro tiveram sua <strong>centralidade</strong> definida pela<br />
atividade terciária – comércio e serviços. Dispõem de uma estrutura de serviços já<br />
estabelecida e provocam fluxos de diferentes partes da <strong>cidade</strong>. Ressalte-se, porém<br />
que embora prestem serviços indispensáveis à população, não constituem os centros<br />
funcio<strong>na</strong>is o único elemento gerador de fluxos no Estado. O trabalho, o lazer, os<br />
fluxos administrativos e outros fatores geram estes fluxos (DUARTE, op.cit., p.58).<br />
Para a autora, o crescimento demográfico é a principal causa da descentralização das<br />
atividades terciárias, já que este contingente “tende a localizar-se cada vez mais distante da<br />
Área Central” e passa a necessitar de uma série de serviços antes concentrados <strong>na</strong> <strong>centralidade</strong><br />
principal. Neste sentido, há a desconcentração de atividades terciárias para “pontos-chave da<br />
<strong>cidade</strong>, onde o transporte adquire importância capital” 201 . Dentre as contribuições dos<br />
subcentros à dinâmica intra-urba<strong>na</strong> ressaltadas por Duarte estão: o desenvolvimento do setor<br />
terciário; o alargamento do mercado de trabalho e consumidor; o aumento da população ativa;<br />
e o desafogamento dos fluxos de pessoas e veículos do centro.<br />
O aumento cada vez maior da quantidade de veículos a partir da década de 1930,<br />
associado ao relevo da área central passou a causar dificuldade de acesso e congestio<strong>na</strong>mento,<br />
formando os problemas ligados à <strong>centralidade</strong> principal. Assim, as mudanças <strong>na</strong>s formas de<br />
199 DUARTE, op.cit., p.54.<br />
200 O que Tourinho (2006) mencio<strong>na</strong> como graus de <strong>centralidade</strong>.<br />
201 DUARTE, op.cit., p.55.
93<br />
mobilidade promoveram a redefinição dos “locais de compra de uma parcela da população da<br />
<strong>cidade</strong>” 202 .<br />
“A presença diária desta população [flutuante] foi um incentivo ao desenvolvimento<br />
dos bens de serviços centrais que até 1940, estavam praticamente limitados à Área<br />
Central. Os bairros e os subúrbios limites da área central. Os bairros e os subúrbios<br />
por esta época exerciam ape<strong>na</strong>s a função residencial. O comércio varejista nestas<br />
áreas não passava de estabelecimentos de gêneros de primeira necessidade para<br />
atendimento de sua população (‘vendas’, padarias, farmácias, armarinhos, peque<strong>na</strong>s<br />
lojas de ferragens e outros). O comércio especializado, assim como o comércio de<br />
luxo, achavam-se localizados no centro da <strong>cidade</strong>. Não ape<strong>na</strong>s o comércio varejista<br />
como os serviços profissio<strong>na</strong>is superiores estavam concentrados <strong>na</strong> área central<br />
(médicos, dentistas, advogados) assim como nela se concentrava a vida fi<strong>na</strong>nceira da<br />
<strong>cidade</strong> com a presença de bancos e companhias de fi<strong>na</strong>nciamento e<br />
investimento”(Ibid., p.58).<br />
As funções de um centro funcio<strong>na</strong>l, ou seja, o que o diferencia de um comércio de<br />
bairro, por exemplo, são classificadas por Duarte em: comercial (varejista) 203 e serviços<br />
(fi<strong>na</strong>nceiros, profissio<strong>na</strong>is, de transportes e comunicação, culturais e recreativos).<br />
Resumidamente: houve, <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, a partir da década de 1940, uma<br />
gradativa fragmentação do espaço comercial devido à modernização urba<strong>na</strong> e do sistema<br />
varejista (por exemplo, relação matriz-filial, sistema de refrigeração), e também pela<br />
competição com o mercado consumidor que se diversifica.<br />
Neste sentido, a autora não destaca os edifícios comerciais nos moldes dos shoppings<br />
centers e seus impactos no comércio de rua, inclusive <strong>na</strong> área central, devido ao fato deste<br />
fenômeno ser mais acentuado <strong>na</strong>s duas últimas décadas. Além disso, Duarte mencio<strong>na</strong> a<br />
inexistência de butiques de luxo no centro, pois elas estariam “fugindo” para centros<br />
funcio<strong>na</strong>is e ruas especializadas em áreas mais nobres. Este fato chamou a atenção, já que <strong>na</strong><br />
última década, tanto os shoppings verticais quanto o comércio de luxo (formado por<br />
importadoras, joalherias e butiques de calçados, bolsas e roupas) tem retor<strong>na</strong>do ao centro, e se<br />
configurado espacialmente no que denomi<strong>na</strong>mos Pólo Comercial de Luxo.<br />
Quanto à função fi<strong>na</strong>nceira, inicia-se neste período a descentralização intra-urba<strong>na</strong> de<br />
agências bancárias para os centros funcio<strong>na</strong>is e áreas industriais. O aumento do fluxo de<br />
capitais distribui também as companhias de fi<strong>na</strong>nciamento e investimento que vão se localizar<br />
em importantes subcentros. Apesar disso, a Área Central manteve a vocação fi<strong>na</strong>nceira devido<br />
202 PINTAUDI (2006) a<strong>na</strong>lisa a produção do espaço comercial e sua dinâmica <strong>na</strong> metrópole paulista<strong>na</strong>, durante<br />
a segunda metade do século XX.<br />
203 Duarte (1974) conclui que a atividade comercial dividida em quatro categorias possui localização própria<br />
dentro da metrópole. “O comércio cotidiano distribui-se por toda a aglomeração, caracterizando particularmente,<br />
o chamado comércio de bairro. O comércio de consumo raro localiza-se, principalmente, <strong>na</strong> Área Central. Já os<br />
outros dois [comércio de consumo freqüente e pouco freqüente] embora sejam também próprios da Área Central,<br />
vão caracterizar os centros funcio<strong>na</strong>is, definindo a função comercial dos mesmos” (p.65).
94<br />
à proximidade com o enorme mercado de trabalho nela situada. Dentro deste contexto<br />
histórico, não deixamos de mencio<strong>na</strong>r o desenvolvimento econômico de São Paulo, e a<br />
superação do número de indústrias em relação à <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro já <strong>na</strong>s primeiras<br />
décadas. A primazia 204 paulista irá paulati<strong>na</strong>mente se estabelecer ao longo do Século XX,<br />
causando significativos impactos no Centro do Rio.<br />
A função de serviços profissio<strong>na</strong>is também se espraiou pelo território da <strong>cidade</strong>. Sua<br />
lógica de localização se apresenta da seguinte forma, segundo Duarte: quanto mais<br />
especializado os serviços, mais concentrados eles são em centros importantes. Apesar de<br />
verificada a distribuição de serviços médicos e busca por espaços para escritórios, por<br />
exemplo, em Botafogo (que não se caracterizava um subcentro comercial), até meados da<br />
década de 1970, ainda havia a primazia da procura por estes serviços <strong>na</strong> Área Central de<br />
Negócios.<br />
Quanto aos serviços ligados à oferta de transportes, o Centro manteve a concentração<br />
dos termi<strong>na</strong>is. Atualmente essa área se abastece de um sistema viário composto de transportes<br />
ferroviário, metroviário, rodoviário, hidroviário e aeroviário, além de vias terrestres<br />
importantes como a avenida Infante Dom Henrique (via do Aterro do Flamengo), av. Primeiro<br />
de Março, av. Presidente Antônio Carlos, av. Presidente Vargas e av. Rio Branco. A<br />
<strong>centralidade</strong> dos transportes é um elemento estruturador da <strong>cidade</strong> e fator estratégico para a<br />
sua dinâmica atual.<br />
A função cultural dos subcentros é apontada por Duarte em sua importância em<br />
relação ao seu atendimento à população e geração de emprego. A autora mencio<strong>na</strong> a<br />
distribuição geográfica dos estabelecimentos de ensino primário, secundário e superior (atual<br />
ensino básico e de extensão como as escolas, cursos preparatórios, vestibulares e de línguas)<br />
204 O conceito de primazia urba<strong>na</strong> é atrelado ao processo de urbanização brasileira e à emergente “sociedade<br />
urbano-industrial <strong>na</strong> periferia pobre da economia mundial”, no contexto do após-segunda guerra (FARIA, 1991).<br />
Segundo o autor, “entre 1945 e 1980 a sociedade brasileira conheceu taxas bastante elevadas de crescimento<br />
econômico e sofreu profundas transformações estruturais. Ficou para trás a sociedade predomi<strong>na</strong>ntemente rural,<br />
cujo di<strong>na</strong>mismo fundava-se <strong>na</strong> exportação de produtos primários de base agrícola, e emergiu uma complexa e<br />
intrigante sociedade urbano-industrial. (...) Disso vem resultando um sistema urbano dinâmico e crescentemente<br />
integrado sob o comando funcio<strong>na</strong>l das áreas metropolita<strong>na</strong>s <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is de São Paulo e Rio de Janeiro. Neste<br />
sistema, em trinta anos, surgiram 386 novas <strong>cidade</strong>s de mais de 20 mil habitantes! (...) numa contradição ape<strong>na</strong>s<br />
aparente, caracteriza-se por índices ‘rank-size’ de primazia urba<strong>na</strong> relativamente baixos e pela existência, em sua<br />
porção superior, de cerca de trinta aglomerações de grande porte (250 mil habitantes ou mais) <strong>na</strong>s quais viviam,<br />
em 1980, mais de 40 milhões de pessoas. Essas características de di<strong>na</strong>mismo e diferenciação, embora formais,<br />
deixam entrever a complexidade dos processos subjacentes de transformação ocupacio<strong>na</strong>l e social ocorridos no<br />
mesmo período” (p.102-3). Ver FARIA, Vilmar E. Cinqüenta anos de urbanização no Brasil. Novos Estudos,<br />
CEBRAP, n.29, março de 1991, pp.98-119.
95<br />
por toda a aglomeração e <strong>na</strong> periferia do núcleo comercial do bairro, devido à maior oferta de<br />
transportes, de população e de edificações disponíveis 205 .<br />
Os serviços de “divulgação cultural, recreação e lazer”, como teatros, museus,<br />
bibliotecas, etc não apresentaram expressiva fragmentação, pois demandam <strong>centralidade</strong>,<br />
mantendo-se concentrados <strong>na</strong> área central até os dias de hoje. Tanto nos resultados da<br />
pesquisa de Duarte (1974) quanto de Rabha (2006) a grande “âncora” destas funções é,<br />
principalmente, a região da Cinelândia.<br />
Duarte destaca no processo de formação e consolidação de um centro funcio<strong>na</strong>l a<br />
relação entre o poder aquisitivo e a quantidade de consumidores dentro da área de influência.<br />
Em alguns subcentros, a renda da população orientará o nível de especialização dos serviços e<br />
a diversidade das mercadorias ofertadas. No entanto, o fator “renda” sendo a<strong>na</strong>lisado<br />
isoladamente não explica a estruturação de um centro funcio<strong>na</strong>l, já que as condições para a<br />
reprodução social são distribuídas de forma desigual <strong>na</strong> <strong>cidade</strong>. Logo, se o subcentro depende<br />
da boa oferta de transportes, é sabido que a algumas áreas da <strong>cidade</strong> possuem mais<br />
amenidades do que outras - fruto de ações públicas e privadas. Como aponta Harvey (1980),<br />
ao a<strong>na</strong>lisar o espaço deve-se partir da conexão entre as decisões locacio<strong>na</strong>is (públicas ou<br />
privadas) no que se refere às redes de transportes, zoneamento industrial, localização das<br />
moradias, entre outros, e seus inevitáveis efeitos distributivos sobre a renda real. Tais efeitos<br />
tendem a discrimi<strong>na</strong>r “quem ganha e quem perde” num sistema urbano.<br />
Portanto, o Centro é apontado por Duarte em sua posição privilegiada no sistema<br />
urbano como área de atração de população e de concentração do mercado de trabalho - o que<br />
define a Área Central de Negócios - ACN. No entanto, é sabido que tal posição dentro da<br />
<strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro é tributária de um passado de importância histórica e por políticas<br />
públicas que privilegiaram algumas áreas urba<strong>na</strong>s em detrimento de outras 206 .<br />
Neste sentido, verifica-se a partir da década de 1990, um processo de redefinição da<br />
<strong>centralidade</strong>, conforme aponta Silveira (2004), acerca da alteração do “paradigma referido à<br />
área central de negócios”:<br />
Atualmente, a questão dos centros históricos das <strong>cidade</strong>s velhas e da ‘revitalização’<br />
das áreas centrais está relacio<strong>na</strong>da, ao mesmo tempo, à problemática social, aos<br />
negócios da área central e ao patrimônio cultural urbano. Desde o fi<strong>na</strong>l dos anos<br />
1970, começam a aparecer manifestações sociais em prol da preservação da<br />
memória. Contudo, a defesa da preservação aparece mais nitidamente nos anos<br />
205<br />
Em sua pesquisa não há aprofundamento quanto à localização de faculdades e centros universitários no<br />
Centro.<br />
206 Sobre esta forma de abordagem ver Vaz; Silveira (1994).
96<br />
1980, como movimento da sociedade junto ao poder público, pleiteando a<br />
implementação do instrumento de proteção do ambiente cultural. A partir dos anos<br />
1990 emerge, no âmago da Prefeitura, de maneira negociada, a incorporação de<br />
reivindicações com a penetração de grupos ligados às questões sociais e culturais.<br />
Nesse contexto, muda o programa arquitetônico do museu e a cultura veio para o<br />
Centro de Negócios (a exemplo do Centro Cultural do Banco do Brasil - CCBB) e<br />
para a sua periferia imediata (SILVEIRA, op.cit., p. 305).<br />
2.2. DE CENTRO DA METRÓPOLE INDUSTRIAL AO CENTRO DA METRÓPOLE NO<br />
CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO<br />
Com o fim da segunda guerra mundial e, sobretudo, a partir do governo Kubitschek<br />
(1956-61), instala-se nova etapa da inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>lização da economia brasileira baseada <strong>na</strong><br />
aceleração ou consolidação de uma “industrialização propriamente dita”. Estabelecem-se,<br />
então, os elementos básicos de uma sociedade capitalista (forças produtivas, relações sociais<br />
de produção e uma dinâmica de acumulação de capital especificamente capitalista) 207 .<br />
Parte-se do entendimento da relação entre capital, Estado e urbano, a partir de<br />
contribuições da corrente de pensamento 208 que considera a organização da <strong>cidade</strong> como<br />
resultado dos processos de uma urbanização capitalista, tida a partir de uma política<br />
promovida pelo Estado, e não como uma realidade dada. Nas contribuições de Topalov<br />
(1979), o autor aborda o Estado como um sujeito racio<strong>na</strong>l que persegue o interesse público,<br />
sendo o planejamento urbano e os serviços públicos os instrumentos da sua intervenção<br />
racio<strong>na</strong>l.<br />
207 CARDOSO DE MELLO, J.M. “O Estado brasileiro e os limites da estatização”. Ensaios de Opinião, nº2-3,<br />
1977, p.16. João Manuel parte de uma alter<strong>na</strong>tiva conceitual às teorias do capitalismo monopolista de Estado.<br />
Cf. também TEIXEIRA, A. Capitalismo monopolista de Estado: um ponto de vista crítico. Revista de Economia<br />
Política, Vol.3, nº4, out.-dez. 1983.<br />
Como exemplo de adeptos às teorias está Oliveira (1982), que aponta que no período a instalação do capitalismo<br />
monopolista no Brasil. Para o autor, ocorre o processo descrito por Celso Furtado de “socialização das perdas e<br />
privatização dos lucros” no âmbito da redefinição da divisão inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l do trabalho. O Estado realizaria a<br />
centralização de capitais, revelando a passagem da economia brasileira de uma etapa concorrencial para uma<br />
etapa monopolista. Dias (2005) baseia sua discussão a respeito de uma maior intervenção estatal que emerge<br />
com o capitalismo monopolista em Corrêa (2002) e Soja (1993), sendo que este último se concentra nos efeitos<br />
que esta maior ação do Estado implica sobre a urbanização das <strong>cidade</strong>s capitalistas em países centrais como os<br />
Estados Unidos. Segundo o autor, “a substituição do capital concorrencial pelo capital monopolista e/ou<br />
oligopolista repercute <strong>na</strong> organização das <strong>cidade</strong>s a partir do momento em que estes capitais, representados por<br />
um número bem mais restrito de ‘atores do jogo econômico’, adquirem maior facilidade em repassar ao Estado<br />
parte dos encargos necessários para a reprodução das relações de produção” (p.12). C.f. também MOURA,<br />
Antônio Plínio Pires de. Brasil Industrial: do capitalismo retardatário à inserção subordi<strong>na</strong>da no mundo<br />
neocolonial. Revista Bahia Análise & Dados. Bahia, v.11, n.3, p.82-89, dez. 2001. Moura entende a estrutura<br />
industrial monopolista, como a centrada numa associação do Estado privatizado com o grande capital <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l e<br />
estrangeiro, resultando numa nítida inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>lização da estrutura produtiva brasileira.<br />
208 Corrente de pensamento apresentada como uma nova sociologia urba<strong>na</strong> francesa no debate intelectual da<br />
década de 1970, inserida <strong>na</strong> Teoria do Capitalismo Monopolista de Estado, que visa um exercício de reinterpretação<br />
das teorias sobre o capitalismo.
97<br />
Este enfoque compartilha com a visão estruturalista de Louis Althusser 209 , cujo Estado<br />
não é sujeito dotado de vontade, e sim um conjunto de aparatos ideológicos e aparelhos<br />
repressivos que realizam o interesse da classe domi<strong>na</strong>nte. O Estado é visto, então, como<br />
Estado de classe.<br />
Segundo Topalov, a intervenção do Estado é necessária devido à “contradição geral da<br />
urbanização capitalista” que se dá <strong>na</strong> busca pelo lucro privado que leva, por sua vez, o capital<br />
a não produzir certos elementos urbanos necessários à reprodução das forças produtivas, ou<br />
seja, a dificultar a articulação no espaço das infra-estruturas, dos lugares de produção e dos<br />
lugares de reprodução da mão-de-obra.<br />
Assim, a <strong>cidade</strong> é reconhecida como um sistema espacializado de elementos que<br />
definem a forma de socialização capitalista das forças produtivas. Esse sistema espacial<br />
constitui um valor de uso complexo para o capital <strong>na</strong> medida em que concentra as condições<br />
gerais da produção capitalista (produção e circulação do capital e reprodução da força de<br />
trabalho, ou seja, consumo). Esses valores-de-uso complexos são chamados de efeitos úteis de<br />
aglomeração, já mencio<strong>na</strong>dos anteriormente.<br />
No entanto, a urbanização capitalista se caracteriza por uma multidão de processos<br />
privados de apropriação do espaço, sendo eles determi<strong>na</strong>dos pelas próprias regras de<br />
valorização de cada capital particular. Logo, há uma contradição entre o movimento de<br />
socialização capitalista das forças produtivas e as próprias relações de produção capitalista.<br />
Para a<strong>na</strong>lisar o processo de urbanização, o autor considera o conjunto da produção capitalista,<br />
ou seja, a formação e a reprodução ampliada das condições gerais da produção (produção,<br />
circulação e consumo). Tais condições gerais visam a busca da mais-valia relativa através das<br />
novas forças produtivas, materializando-se no espaço urbano. Logo, Topalov defende a idéia<br />
da urbanização como forma de socialização das forças produtivas.<br />
A análise de Topalov é importante; afi<strong>na</strong>l, ela revela como o Estado passou a ser o<br />
agente socializador das forças produtivas, e utilizou-se do seu instrumento de planejamento<br />
para fazê-lo. No entanto, há uma dicotomia inerente à urbanização capitalista que se expressa<br />
<strong>na</strong> contradição entre a reprodução da força de trabalho (que é vista como mercadoria) e a<br />
reprodução social.<br />
No processo produtivo que visa à acumulação de capital é necessário à atenção ao<br />
trabalhador e à sua reprodução social. No entanto, os gastos dessa reprodução não se<br />
209 A abordagem teórico-filosófica de Luis Althusser sobre o Estado se baseia numa perspectiva estruturalista<br />
da obra de Marx como crítica ao humanismo marxista de Henri Lefebvre e Jean Sartre. O Estruturalismo<br />
pertence à tradição filosófica francesa e sua visão não admite qualquer subjetividade, logo, as estruturas são a<br />
base para a compreensão da sociedade. Ver Carnoy, 1986.
98<br />
relacio<strong>na</strong>m à produção de mais-valia, e sem a reprodução social do trabalhador não há<br />
reprodução da força de trabalho. Como o salário atende ape<strong>na</strong>s as necessidades básicas de<br />
reprodução da força de trabalho, o Estado e o planejamento urbano desempenham papéis<br />
importantes <strong>na</strong> mediação capital-trabalho, ou seja, <strong>na</strong> mediação do “nível de consumo”. A<br />
dotação de serviços de infra-estrutura e equipamentos sociais coletivos tem atuado como<br />
“salário indireto”, contribuindo para a segurança do processo de acumulação de capital.<br />
Portanto, fica clara a percepção de que a intervenção estatal atua no sentido de aliviar<br />
as tensões e favorecer determi<strong>na</strong>dos grupos. O Estado capitalista “socializador” passa a ser<br />
constrangido pelo capital, e é nesse contexto que a “<strong>cidade</strong> econômica”, resultante de uma<br />
“urbanização corporativa” que privilegia o crescimento econômico sob o comando dos<br />
interesses das grandes firmas se desenvolve e ganha destaque <strong>na</strong> constituição do espaço<br />
urbano brasileiro.<br />
Segundo Ribeiro & Cardoso (1996), a partir da década de 1950, o urbano é visto como<br />
questão do desenvolvimento. No âmbito do planejamento urbano há a dominância de um<br />
tecno-burocratismo desenvolvimentista por atuação sistemática de órgãos federais como o<br />
Seviço Federal de Habitação (SERFHAU) e o Conselho Nacio<strong>na</strong>l de Desenvolvimento<br />
Urbano (CNDU).<br />
O objetivismo tecnocrático agora predomi<strong>na</strong> <strong>na</strong> formulação da questão urba<strong>na</strong>, a<br />
serviço do <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l-desenvolvimentismo. O projeto de constituição da <strong>na</strong>ção<br />
desloca-se para o eixo econômico. Essa ideologia consegue, todavia, articular esse<br />
projeto com uma prática de modernização acelerada baseada <strong>na</strong> inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>lização<br />
da economia (RIBEIRO; CARDOSO, 1996, p.65).<br />
Esse padrão de planejamento se constrói por uma importação de idéias que configuram<br />
“propostas de racio<strong>na</strong>lização administrativa desenvolvidas principalmente pelo planning<br />
americano, e as idéias desenvolvidas no âmbito da geografia huma<strong>na</strong>, principalmente em sua<br />
vertente francesa” 210 .<br />
Segundo Feldman (1997), o pós-segunda guerra mundial se caracteriza como o<br />
momento no qual se tem o “boom imobiliário” - o “boom do século”, representando uma<br />
expressividade da construção civil, e caracterizando um intenso processo de verticalização das<br />
<strong>cidade</strong>s brasileiras. Logo, era também necessária uma nova forma de orde<strong>na</strong>r e reformar a<br />
<strong>cidade</strong> de modo a desti<strong>na</strong>r as atividades realizadas em lugares “apropriados”. Neste contexto,<br />
houve a difusão do zoneamento norte-americano que se caracteriza como um conjunto de leis<br />
210<br />
RIBEIRO; CARDOSO, op.cit., p.68.
99<br />
de caráter normativo e expressa uma visão do urbanismo (modernista) com base <strong>na</strong><br />
estruturação e orde<strong>na</strong>mento da <strong>cidade</strong>.<br />
O modelo progressista-modernista de planejamento urbano se configura nos Planos<br />
Diretores. Com vistas à não-solução dos conflitos sociais, a elimi<strong>na</strong>ção das “irracio<strong>na</strong>lidades”<br />
e à busca da “<strong>cidade</strong> ideal”, tal modelo pauta-se num enfoque físico, no desenho urbano e no<br />
zoneamento como instrumento fundamental. Os planos possuem caráter coercitivo e, no<br />
entanto, buscam expressar caráter democrático por meio da normatização e da padronização.<br />
Para Feldman, houve neste momento substituição dos Planos pelo Zoneamento <strong>na</strong> prática do<br />
urbanismo brasileiro.<br />
As políticas de zoneamento estimularam o uso de automóveis, estabelecendo a relação<br />
deste último com o território, numa função de “elástico” que permite a expansão dos usos no<br />
território. Com a propagação da indústria automotiva como base de difusão do modelo<br />
fordista, e especialmente do aumento do uso do automóvel, a infra-estrutura viária existente é<br />
reestruturada, promovendo a base material necessária a essas mudanças, configurando assim<br />
as redes viárias contemporâneas 211 .<br />
Segundo Carlos (2006), uma “febre viária” é instalada <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro a<br />
partir da década de 1950, reflexo do período “rodoviarista” em escala <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, acarretando<br />
uma hipertrofia da função do transporte rodoviário. Este fato se agravou com a formulação de<br />
um plano para a <strong>cidade</strong> pelo urbanista grego Doxiadis, a convite do gover<strong>na</strong>dor Carlos<br />
Lacerda 212 . Segundo o autor, “o plano privilegiou o transporte rodoviário e reforçou as<br />
práticas de “cirurgia urba<strong>na</strong>” do início do século”. Assim, o automóvel<br />
assumiu o papel de grande astro das ruas, em substituição ao pedestre. As larguras<br />
cada vez mais insuficientes à quantidade, á velo<strong>cidade</strong> e ao estacio<strong>na</strong>mento dos<br />
automóveis foram progressivamente aumentadas através dos Projetos de<br />
Alinhamento (PA), elaborados por técnicos da prefeitura em suas pranchetas, bem<br />
distantes das ruas. Os impactos [...] desses PAs foram desastrosos aos pedestres.<br />
Observou-se a fragmentação dos passeios, face às lacu<strong>na</strong>s origi<strong>na</strong>das pelos recuos<br />
obrigatórios às novas edificações, determi<strong>na</strong>das pelo novo desenho urbano imposto,<br />
bem como a inviabilização da implantação de projetos de arborização urba<strong>na</strong>. A<br />
escala monumental dos viadutos e elevados – soluções bastante recorrentes no<br />
período – complementaram o quadro caótico das ruas da <strong>cidade</strong> cujos espaços<br />
públicos tor<strong>na</strong>ram-se gradativamente desestimulantes à permanência e à apropriação<br />
por parte do carioca (CARLOS, 2006, p.6).<br />
Como exemplo das políticas públicas ligadas à expansão dos modernos meios de<br />
transporte, entre as décadas de 1950 e 1970, temos a construção do Termi<strong>na</strong>l Rodoviário<br />
Menezes Cortes, <strong>na</strong> década de 1950, a Avenida Alfredo Agache, em 1960, separando a Praça<br />
211 KLEIMAN, 2004.<br />
212 MAGALHÃES, 2001, p.741.
100<br />
XV do mar, e da Avenida Perimetral, no mesmo período, compreendendo a “área entre a<br />
Praça Mauá e a antiga Ponta do Calabouço” 213 , onde hoje está localizado o Museu Histórico<br />
Nacio<strong>na</strong>l. Têm-se também a abertura dos túneis <strong>na</strong> direção Centro-Zo<strong>na</strong> Sul e a implantação<br />
do sistema de metrô, <strong>na</strong> década de 1970 214 .<br />
Tais ações se aplicam ao contexto político-administrativo da década de 1960, no qual<br />
o planejamento urbano <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro apresentou novas estratégias após a<br />
criação do Estado da Gua<strong>na</strong>bara, condição política que legitimou o Rio de Janeiro a uma<br />
<strong>cidade</strong>-estado. São propostas ações de “embelezamento, lazer, cultura, excepcio<strong>na</strong>lidade<br />
arquitetônica, estímulo à circulação, e, ainda, diretrizes de ocupação territorial (por exemplo:<br />
valorização da Zo<strong>na</strong> Oeste)” 215 .<br />
Na década de 1970, há a criação do “novo Estado do Rio de Janeiro, incorporando o<br />
recém-criado Estado da Gua<strong>na</strong>bara, agora transformado em sua capital, e a Região<br />
Metropolita<strong>na</strong> do Rio de Janeiro (RMRJ)” 216 . Tanto a metrópole do Rio de Janeiro como seu<br />
município-núcleo sofrem as “marcas das políticas setoriais” do modelo brasileiro de<br />
desenvolvimento, consolidando as desigualdades sócio-espaciais presentes ainda hoje, já que<br />
permanece a manutenção da concentração de investimentos no município-núcleo (RIBEIRO,<br />
2000).<br />
Até a década de 1960, a delimitação física-territorial da área central se baseava em<br />
aspectos funcio<strong>na</strong>is (tipos de atividades), pela valorização dos terrenos aí localizados e <strong>na</strong><br />
distribuição da população residente (concentração de moradias), segundo a pesquisa realizada<br />
pelo IBGE, em 1967 217 . Neste sentido, tal delimitação se diferenciava dos limites oficiais<br />
estabelecidos até então para a zo<strong>na</strong> central ou comercial, abrangendo “um perímetro limitado,<br />
no sentido leste-oeste, do aterro da Glória até a Lapa, contor<strong>na</strong>ndo a vertente norte do maciço<br />
213 BARROS, op.cit., p.8.<br />
214 SILVEIRA, passim. Desde este período foram sendo acrescentadas várias estações que servem à dinâmica<br />
do centro, como as “estações Glória, Praça Onze e Estácio, <strong>na</strong>s bordas da área central, e Cinelândia, Carioca,<br />
Uruguaia<strong>na</strong>, Presidente Vargas e Central, no interior de seus limites” (RABHA, op.cit., p.223).<br />
215 RIBEIRO, 2000, p.14.<br />
216 RIBEIRO, loc.cit.<br />
217 Segundo Rabha, “as características do centro da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro <strong>na</strong> década de sessenta foram<br />
resgatadas utilizando, como fonte principal de informações, pesquisa realizada por equipe de geógrafos do IBGE<br />
(DUARTE, 1967), denomi<strong>na</strong>da ‘A área central da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro’”. Apesar da abordagem teóricometodológica<br />
típica da Geografia Tradicio<strong>na</strong>l ou Quantitativa, é “<strong>na</strong> qualidade dos levantamentos efetuados, no<br />
registro da fisionomia e estrutura da área central carioca para a década de sessenta [que] revela-se o inestimável<br />
valor desta obra que resgata uma temporalidade perdida, decorridos quase quarenta anos de história urba<strong>na</strong><br />
carioca”. Rabha propõe no capítulo quatro de sua tese uma “radiografia do centro da <strong>cidade</strong>”, entre os anos de<br />
1960 a 2000, utilizando-se metodologicamente de uma comparação entre os dados de Duarte (1967) e dados<br />
recentes levantados e coletados por ela e sua equipe.
101<br />
da Tijuca até a rua Marquês de Sapucaí. Desse ponto, no sentido norte - sul, o limite foi dado<br />
por uma reta até o cais do porto, <strong>na</strong> altura do Armazém 12” 218 .<br />
Inter<strong>na</strong>mente a essa região delimitou-se o chamado C.B.D. ou Área Central de<br />
Negócios, denomi<strong>na</strong>do por Duarte (1967) de Núcleo Central. Este se apresentaria como “um<br />
núcleo mais homogêneo, mais majestoso (...) definido como de maior intensidade funcio<strong>na</strong>l,<br />
representado pelo perímetro contido pelas Praças Quinze e Tiradentes, Mauá e Cinelândia (...)<br />
vestígio da função de capital federal que a <strong>cidade</strong> possuiu até 1960” 219 . Segundo Duarte, o<br />
Núcleo Central se delimitaria pelo eixo da Avenida Rio Branco, e seus limites incluem grosso<br />
modo “Praça Mauá, Rua Acre, Marechal Floriano, Av. Passos, Praça Tiradentes, Rua da<br />
Carioca, Rua Se<strong>na</strong>dor Dantas, Praça Mahatma Ghandi, Av. Presidente Wilson, Av. Antônio<br />
Carlos, Rua Primeiro de Março, Rua Dom Gerardo” 220 .<br />
Teríamos, assim, em primeiro lugar, o núcleo central, em que a incidência de<br />
múltiplas funções determi<strong>na</strong> o trecho de máxima complexidade situado entre as<br />
praças Quinze e Tiradentes, Mauá e Cinelândia. Envolvendo esse núcleo, uma zo<strong>na</strong><br />
periférica, com fluidez de fronteiras resultado de distintas situações. Para além desta<br />
zo<strong>na</strong>, considerada de amortecimento, existiria uma outra, degradada ou de<br />
obsolescência, cujo mais claro elemento de delimitação inicial estava <strong>na</strong> Praça da<br />
República (RABHA, op.cit., p. 20).<br />
Outros autores que possuem como objeto de estudo o centro da <strong>cidade</strong> lhe atribuem<br />
diferentes recortes geográficos, a partir de definições e conceituações sobre o centro, como<br />
Vaz & Silveira (1994):<br />
Consideramos como área central da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro o trecho que<br />
corresponde à II Região Administrativa [todo o bairro Centro], englobando a Área<br />
Central de Negócios, a qual concentra as funções de centro comercial,<br />
administrativo, bancário fi<strong>na</strong>nceiro, artístico-cultural e de informações, e os seus<br />
arredores imediatos, onde se encontram áreas de pequeno comércio e residenciais.<br />
Esse é o menor recorte da Área Central do Rio de Janeiro e contém, além do Centro,<br />
os bairros da Lapa, Fátima e Cruz Vermelha. [...] Essa área corresponde ao centro<br />
histórico da <strong>cidade</strong>, que se formou do século XVI até o XIX e se vem renovando ao<br />
longo do século XX (Vaz; SILVEIRA, op.cit., p. 99).<br />
Os atributos de <strong>centralidade</strong> apontados por Duarte, que definiam a individualidade do<br />
espaço central no contexto metropolitano, e o apresentava como “principal centro político e<br />
218 Duarte, 1967, apud RABHA, 2006, p. 211. Para uma melhor visualização dos limites da área central<br />
propostos pelos decretos oficiais e por Duarte, ver o trabalho de Rabha (2006) que se propôs a fazer uma estudo<br />
minucioso sobre o centro da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro.<br />
219 RABHA, loc. cit.<br />
220 RABHA, loc. cit.
102<br />
administrativo do país”, “área central, centro de atividades, centro de gravidade, distrito<br />
central de negócios, o centro ou simplesmente ‘a <strong>cidade</strong>’ para o carioca”, eram justificados <strong>na</strong><br />
conformação de um “mercado principal de trabalho de elevada percentagem da população<br />
terciária, dada a complexidade de suas funções e concentração dos serviços disponíveis” 221 .<br />
A diferenciação da área central em relação aos outros trechos da <strong>cidade</strong> foi ainda<br />
apoiada pela convergência do sistema de transportes urbanos, distinções da<br />
densidade de utilização do espaço urbano central por períodos diurnos e noturnos,<br />
bem como a sua localização <strong>na</strong> parte mais antiga da <strong>cidade</strong>, (...) existência de<br />
elementos representativos das mais antigas sedes do poder religioso e judiciário, (...)<br />
presença do porto e da resultante localização central da função de comércio<br />
atacadista (RABHA, op.cit., p.211).<br />
A partir de meados do Século XX uma série de normas urbanísticas foi imposta por<br />
meio da nova política adotada para a metrópole, incluindo o Centro, como por exemplo, o<br />
aumento da verticalização no núcleo, a especialização de usos 222 , e a demolição de parte<br />
expressiva do acervo histórico e arquitetônico por meio de renovações urba<strong>na</strong>s 223 . Somandose<br />
à perda do papel de capital federal, em 1960, a consolidação da supremacia econômica de<br />
São Paulo em relação à metrópole carioca, a tendência geral de espraiamento urbano (em<br />
direção à zo<strong>na</strong> sul, norte e subúrbios), o congestio<strong>na</strong>mento da área central, as injunções do<br />
sítio urbano (obstáculos), a insuficiência de transportes urbanos 224 e a configuração de novos<br />
subcentros ligados à função de comércio e serviços, se inicia um processo de perda de posição<br />
relativa do Centro, e que perdurará até a década de 1990.<br />
Em que pese o fato de se constituir definitivamente uma metrópole, a crença numa<br />
quase ilimitada expansão da Área Central de Negócios – que embasou planos,<br />
projetos, decretos e ações do Poder Público durante praticamente um século – não se<br />
confirmou. Enquanto o uso residencial foi afastado do núcleo, a <strong>centralidade</strong> não<br />
cresceu conforme o previsto (ou desejado), mas sim de outros modos; atividades<br />
centrais foram localizadas em centros de bairro ou subcentros, ou então insistiram <strong>na</strong><br />
localização central, verticalizando intensamente ape<strong>na</strong>s o núcleo (SILVEIRA, op.cit.,<br />
p.72).<br />
221 RABHA, op. cit., p.208.<br />
222 “Na década de 1970, consolidou-se o zoneamento da <strong>cidade</strong> através do decreto 322, de 1976, que<br />
determinou, dentre outros pontos, o fim do uso residencial no Centro” (CARLOS, 2006). Assim, a “adaptação,<br />
reforma ou construção nova para uso residencial foi vedada no centro no período entre 1976 e 1994, quando a<br />
administração municipal aprovou projeto de lei tor<strong>na</strong>ndo viável a edificação de uso residencial nesta área”<br />
(SILVEIRA, op.cit., p.72).<br />
223 À parte periférica da zo<strong>na</strong> comercial “correspondiam a expectativas de expansão da área central <strong>na</strong> direção<br />
da praça da Bandeira e ao longo de avenidas como a Presidente Vargas ou a Francisco Bicalho”. Tal “expansão<br />
urba<strong>na</strong> prevista no Plano Doxiadis (1965) propunha a renovação urba<strong>na</strong> da Cidade Nova, transformada em<br />
distrito administrativo do novo Estado” (RABHA, op.cit., p.211).<br />
224 Ibid.
103<br />
O “distrito de negócios da <strong>cidade</strong>” (atual II Região Administrativa - Centro) se tornou<br />
a parte principal da Zo<strong>na</strong> Central, sendo preterida e percebida como de menor importância a<br />
sua zo<strong>na</strong> periférica de uso misto, a partir de mudanças <strong>na</strong> lei de desenvolvimento urbano e<br />
regio<strong>na</strong>l do Estado da Gua<strong>na</strong>bara 225 . A seguir aponta-se a avaliação de Rabha quanto a ação<br />
do Estado sobre as mudanças de forma e conteúdo da área central do Rio de Janeiro ao longo<br />
de três quartos do século XX.<br />
Na área central, um longo caminho havia sedimentado fortes decisões para sua<br />
completa transformação. Durante vários anos tinham sido aprovados projetos<br />
desti<strong>na</strong>dos à abertura ou alargamento de ruas, implicando grande quantidade de<br />
imóveis desapropriados ou conde<strong>na</strong>dos a perder parte significativa, caso fossem<br />
reconstruídos. (...) Tais intenções revelavam a eficiência do instrumento<br />
representado pelo sistema viário, servindo como uma luva para consolidar as<br />
intervenções de interesse público que levariam ao completo processo de mudança <strong>na</strong><br />
forma e no conteúdo da área central. A ação do Estado estava baseada <strong>na</strong><br />
combi<strong>na</strong>ção de grandes obras de impacto, abrindo novos eixos de circulação e no<br />
estabelecimento de normas para recuos das futuras construções particulares (Ibid.,<br />
p.232-3).<br />
O Mapa 1, a seguir, representa o mapa de delimitação e uso do solo da Área Central e<br />
Zo<strong>na</strong> Sul. O Mapa 2, apresenta a delimitação adotada para o núcleo central da <strong>cidade</strong>. O Mapa<br />
3, em seguida, de autoria de Rabha (2006), representa toda a delimitação da Área Central<br />
segundo Duarte (1967).<br />
225 RABHA, passim. Segundo a autora, “os trabalhos referentes ao planejamento e estudo da realidade urba<strong>na</strong><br />
pós-fusão, promoveram alterações <strong>na</strong> delimitação das Regiões Administrativas. A II RA, Centro, foi reduzida<br />
pela perda das áreas do Mangue ou Cidade Nova e Estácio, incorporadas à III RA, Rio Comprido. O Centro<br />
permaneceu com a área basicamente atual, excetuando-se um pequeno trecho, mantido <strong>na</strong> I RA, Portuária,<br />
contendo a Praça e o Píer Mauá, posteriormente reinseridos <strong>na</strong> área central” (p.217). Podemos mencio<strong>na</strong>r<br />
também, o decreto n° 1.269, de 27 de outubro de 1977, aprovando o “Plano Urbanístico Básico da Cidade do Rio<br />
de Janeiro, PUB-RIO, o primeiro plano realizado por técnicos da própria municipalidade”. (...) <strong>na</strong> área central,<br />
com perdas que chegavam a atingir um terço da profundidade dos lotes, os novos PAs acabaram servindo como<br />
instrumento de preservação das antigas edificações” (Ibid., p.233-4).
104<br />
MAPA 1<br />
Centro e Zo<strong>na</strong> Sul
MAPA 2<br />
105
106<br />
O Núcleo Central, segundo DUARTE (1967)<br />
Fonte: Instituto Pereira Passos – IPP, Mapoteca, 2006.<br />
Elaboração da autora. Colaboração de Gustavo Lopes.
107<br />
MAPA 3<br />
Fonte: RABHA, 2006.
108<br />
2.2.1. A perda de <strong>centralidade</strong> e o “esvaziamento” do centro<br />
Procurou-se delinear a seguir alguns enfoques teóricos 226 para a análise referida ao<br />
processo de “esvaziamento” do centro ou a perda relativa de posição desta <strong>centralidade</strong> em<br />
âmbito local e regio<strong>na</strong>l, a partir de meados do século XX. A transformação da <strong>centralidade</strong><br />
principal em termos físicos, funcio<strong>na</strong>is e simbólicos ao longo do período mencio<strong>na</strong>do, pautase<br />
em mudanças ligadas ao esvaziamento e, em seu sentido “oposto” - o de “retorno” ou<br />
“volta” - da <strong>centralidade</strong> a partir da década de 1980/90. Num primeiro momento, concluímos<br />
que a <strong>na</strong>tureza do processo de esvaziamento se refere às perdas funcio<strong>na</strong>is (econômicas e<br />
política-administrativas), sociais e simbólicas.<br />
Silveira (op.cit.) aponta o papel do Estado <strong>na</strong> política urba<strong>na</strong>, e o seu instrumental<br />
urbanístico legal <strong>na</strong> configuração de um “quadro de renovação arrasadora e excludente”, ao<br />
longo do Século XX. “No entanto, as dificuldades de reverter-se o processo de retirada ou de<br />
expulsão da população moradora <strong>na</strong> área central está evidenciada nos dados censitários das<br />
últimas décadas que revelam contínua perda do uso residencial nessa área” 227 .<br />
Tal processo de esvaziamento demográfico da Região Administrativa do Centro pode<br />
ser conferido também em alguns indicadores imobiliários.<br />
Observando-se os indicadores de densidade predial (número de prédios/Km2) e de<br />
verticalizações (número de domicílios/prédio) <strong>na</strong> década de 70 verifica-se uma perda<br />
de 25,3% <strong>na</strong> densidade predial e um acréscimo de 50,2% <strong>na</strong>s verticalizações,<br />
indicando intensificação no uso do solo. Na mesma década houve um decréscimo <strong>na</strong><br />
população residente de aproximadamente 8%, o que denota, que o aumento <strong>na</strong><br />
verticalização não foi direcio<strong>na</strong>do ao uso residencial (ABRAMO & MARTINS,<br />
2001).<br />
Os autores acrescentam que no período de 1975 a 1980 o acréscimo de novas unidades<br />
de salas e lojas comerciais no Centro saltou de 4,8% para 38,7% do total da <strong>cidade</strong>, enquanto<br />
o acréscimo de unidades residenciais decaiu. A composição das transações imobiliárias indica<br />
a importância dos negócios com imóveis comerciais no Centro, de 1968 a 1984, <strong>na</strong> medida<br />
em que aproximadamente 60% das transações imobiliárias se deram com esse tipo de estoque.<br />
No entanto, com o desenvolvimento científico−tecnológico e o incremento dos fluxos<br />
de informação não há mais necessidade de se manter tantos escritórios no centro da <strong>cidade</strong>.<br />
Nas últimas décadas houve uma mudança <strong>na</strong> dinâmica espacial expressa no esvaziamento de<br />
226 De autores como Duarte (1967), Duarte (1974), Villaça (1998), Magalhães (2001), Santos (1995), Silveira<br />
(2004), Frúgoli Júnior (2006), Rabha (2006), entre outros.<br />
227 RABHA, op.cit., p.72.
109<br />
vários edifícios comerciais nesta área.<br />
Vários centros de bairro passaram a receber funções antes restritas àquela área.<br />
Botafogo, Copacaba<strong>na</strong>, Ipanema, Tijuca, Méier, Madureira e a própria Barra<br />
constituíram-se em alter<strong>na</strong>tivas de localização para escritórios e grandes empresas,<br />
provocando um certo esvaziamento econômico do Centro 228 .<br />
Segundo alguns autores como Magalhães (2001), o “abandono” do centro principal<br />
apresenta diversas manifestações físicas, econômicas, sociais e, ideológicas, caracterizando<br />
um quadro de esvaziamento formado pelos seguintes elementos: local de emprego das classes<br />
altas; diversão, lazer e atividades culturais; local de compras e moradia; manutenção de<br />
edificações e logradouros; saída de investimentos fi<strong>na</strong>nceiros e a falência de empresas de<br />
grande porte que deixam a área; ocupação das ruas pelo comércio ambulante, mendigos e<br />
pernoite de trabalhadores mais pobres.<br />
Villaça (1998) problematiza o discurso de “abandono” dos centros pelas classes de<br />
maior poder aquisitivo como causa para os processos de “decadência” ou “deterioração” dos<br />
mesmos 229 . Para o autor tais noções constroem-se como instrumentos ideológicos presentes<br />
numa perspectiva domi<strong>na</strong>nte de ações sobre o Centro e, mascaram certas dinâmicas sociais<br />
voltadas às moradias e lazer de pobres urbanos, trabalho informal, etc. Logo, se para o<br />
discurso oficial há “decadência” e necessidade de revitalização, para outros há efervescências<br />
sociais e vitalidade.<br />
No decurso do Século XX, observamos grandes transformações <strong>na</strong>s formas de<br />
comércio <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s, que implicaram novas <strong>centralidade</strong>s, novos espaços de<br />
reprodução da vida <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s, uma nova paisagem urba<strong>na</strong>, novas relações sociais,<br />
enfim, novas condições de vida urba<strong>na</strong>. Essas mudanças foram nítidas, deixaram<br />
suas marcas no espaço, particularmente <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s em que se viveu uma grande<br />
expansão econômica e populacio<strong>na</strong>l (PINTAUDI, 2006, p.213-4).<br />
A partir da década de 1940, a área central perde funções ligadas às atividades de<br />
comércio e serviços, com a distribuição destas para os subcentros, fruto do processo de<br />
metropolização. A saída das classes de maior renda para áreas mais afastadas do centro,<br />
assim como a procura por moradia <strong>na</strong> periferia pelas classes médias e baixas gerou mudanças<br />
228 MAGALHÃES, 2001, p.742.<br />
229 De igual modo Silveira (2004) expressa sua “preocupação com as maneiras de enunciação dos<br />
temas/problemas da <strong>cidade</strong>” <strong>na</strong> linguagem do urbanismo. “Identificamos, inicialmente, dois termos –<br />
“degradado” e “deteriorado” – que utilizamos diversas vezes no decorrer do nosso estudo, apresentando-os<br />
sempre entre aspas, ao nos referirmos aos trechos, áreas ou espaços das <strong>cidade</strong>s que perderam a sua qualidade<br />
ambiental, a qualidade de uso e ocupação, se comparados a outros trechos, e, que foram apropriados por<br />
segmentos sociais não hegemônicos. (...) Este seria o aspecto mais crucial, ao nosso ver, por incorporar<br />
nitidamente a concepção ideológica da domi<strong>na</strong>ção”(p.292).
110<br />
de uso e da configuração populacio<strong>na</strong>l do centro.<br />
Segundo as conclusões de Duarte (1974), apesar das profundas modificações<br />
verificadas <strong>na</strong> sua estrutura comercial como a popularização e especialização em<br />
determi<strong>na</strong>dos produtos, a área central não estaria em decadência. Na opinião da autora, “a<br />
expansão do comércio dos subcentros não impede que o comércio da área central se<br />
desenvolva”, o que teria acontecido seria uma “mudança da estrutura do comércio desta<br />
área” 230 .<br />
Paralelamente à expansão urba<strong>na</strong> do Rio de Janeiro, tem-se o desenvolvimento de São<br />
Paulo e a consolidação da sua primazia urbano-industrial dentro do contexto brasileiro. O<br />
projeto de desenvolvimento econômico <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, calcado <strong>na</strong> “substituição de importações” 231 ,<br />
em pleno contexto do entre guerras, acabou favorecendo o empresariado paulista e a sua<br />
acumulação de capital fruto da produção cafeeira. Tor<strong>na</strong>-se relevante a compreensão do<br />
processo que levou à supremacia de São Paulo no cenário <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, a partir do último quartel<br />
do Século XIX, e a sua consolidação como centro dinâmico de toda a economia brasileira ao<br />
longo do Século XX.<br />
A gênese do capitalismo no Brasil em território paulista se caracterizou dinâmica e<br />
complexa devido ao estabelecimento das relações café-indústria 232 . Assim, segundo Natal<br />
(2005), desde o século XIX, “os diferenciais da estrutura produtiva e de produtividade, e os<br />
encadeamentos dinâmicos estabelecidos <strong>na</strong> economia paulista avançam, deixando ‘<strong>na</strong> poeira<br />
da estrada’ a até então economia mais moder<strong>na</strong> do país, a da antiga capital do país” 233 . A<br />
supremacia da indústria paulista é apontada por Santos (2001) da seguinte forma:<br />
A partir da década 1930, encontra-se no Sul uma indústria importante. São Paulo<br />
tornou-se uma grande metrópole industrial, onde estavam presentes todos os tipos de<br />
fabricação. (...) A partir de 1945 e 1950 a indústria brasileira ganha novo ímpeto e<br />
São Paulo se afirma como a grande metrópole fabril do país. (...) O Rio fora larga o<br />
longamente beneficiado pela sua função política. Capital do país durante quase dois<br />
séculos, pôde tor<strong>na</strong>r-se uma metrópole política e econômica. Mas o<br />
desenvolvimento industrial de São Paulo fez <strong>na</strong>scer uma nova metrópole econômica<br />
para o Brasil, uma metrópole de outra <strong>na</strong>tureza. (...) pois é a localização em São<br />
Paulo das indústrias mais dinâmicas que reduz a importância relativa do Rio de<br />
Janeiro (...) A função metropolita<strong>na</strong> cabe, doravante, a São Paulo. O desequilíbrio<br />
entre a estrutura industrial do Rio e a de São Paulo afirma-se realmente quando a<br />
indústria paulista conhece um diversificação e a do Rio de Janeiro deixa de seguir<br />
esse caminho. A formação de capital <strong>na</strong> região de São Paulo é um dos fatores dessa<br />
diversificação (SANTOS, 2001, p.42-5).<br />
230 DUARTE, 1974, p.87.<br />
231 TAVARES, Maria da Conceição. Da substituição de importações ao capitalismo fi<strong>na</strong>nceiro: ensaios sobre<br />
economia brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.<br />
232 NATAL, 2005.<br />
233 Ibid., p.34.
111<br />
Em meados do século XX se aprofunda <strong>na</strong> área central a “perda de suas características<br />
mais simbólicas como núcleo da formação sócio-espacial” 234 . Desde os fins do século<br />
retrasado tem se caracterizado a saída das elites sociais para os novos bairros mais afastados<br />
do centro. No Século XX este fenômeno é acentuado e, já em 1930, a <strong>cidade</strong> apresenta uma<br />
importante estratificação social. O padrão espacial de ocupação passa a consolidar a burguesia<br />
<strong>na</strong> Zo<strong>na</strong> Sul e Norte, e o proletariado nos subúrbios e <strong>na</strong> baixada. Em 1950, nota-se, ademais,<br />
um aumento da densidade populacio<strong>na</strong>l <strong>na</strong> Zo<strong>na</strong> Sul 235 .<br />
No bojo do processo de descentralização das indústrias, comércio e serviços para os<br />
subúrbios e áreas nobres, respectivamente, há o constante incentivo por parte do poder<br />
público e dos setores privados para a diminuição do uso residencial do centro. Em meados da<br />
década de 1970 foi aprovado o decreto que, entre outras medidas, proibia a moradia <strong>na</strong> zo<strong>na</strong><br />
comercial, permitindo-a ape<strong>na</strong>s <strong>na</strong> sua zo<strong>na</strong> periférica 236 .<br />
Tais ações não realizaram a manutenção da complexidade social da área central do Rio<br />
de Janeiro, gerando sua desvalorização simbólica e patrimonial.<br />
Orientadas por diferentes discursos políticos conforme o período, as intervenções<br />
promovidas pelo Estado incluíram, por mais de 80 anos, uma ação pública<br />
recorrente: a de afastar o uso residencial e as populações de menor renda do centro.<br />
Viabilizadas mediante um discurso embasado no saneamento, embelezamento e<br />
modernização da <strong>cidade</strong>, estas e outras ações do poder público constituíram, <strong>na</strong><br />
prática, um meio de ‘depuração sócio-espacial’ (SILVEIRA, op.cit., p.71).<br />
Além do declínio em termos econômicos, o Distrito Federal perde a função de<br />
comando <strong>na</strong> área político-administrativa com a transferência da capital para Brasília, em 1960<br />
237<br />
. Segundo Silveira (op.cit.), “cabe lembrar o fato de o Rio de Janeiro ter sido capital por<br />
234 RABHA, op.cit., p.52.<br />
235 ABREU, 1987.<br />
236 “Na década de 1970, consolidou-se o zoneamento da <strong>cidade</strong> através do decreto 322, de 1976, que<br />
determinou, dentre outros pontos, o fim do uso residencial no Centro” (CARLOS, 2006).<br />
237 Neste período, segundo Rabha, “a <strong>cidade</strong> vivenciava um período muito particular, enfrentando a perda da<br />
posição de principal centro político e administrativo do país. Em 1967, ape<strong>na</strong>s sete anos eram decorridos da<br />
mudança oficial da capital, sendo ainda expressiva a presença do governo federal <strong>na</strong> área central, face ao caráter<br />
gradativo utilizado para a transferência das repartições e do funcio<strong>na</strong>lismo público do Rio para Brasília”(op.cit.,<br />
p.209). Segundo Silveira, respaldando-se em Lessa (2000), “devemos agregar, nesta descrição, características do<br />
panorama político que, entre outros processos, estimula a valorização do Rio como um espaço de produção<br />
cultural – um ‘laboratório de brasilidade’ - dos anos 1950 até o golpe de 1964, que desestruturou as bases sócioculturais<br />
desse conceito” (op.cit. p.98). Neste sentido para Rabha, “Se no país a situação indicava a necessidade<br />
de rígido controle, para o caso do Rio de Janeiro implicava lidar com questões mais complexas. Afi<strong>na</strong>l, a <strong>cidade</strong><br />
fora palco de fortes manifestações políticas que antecederam ao golpe de 64. Embora por direito já não mais<br />
fosse capital, o Rio continuava sendo ‘a caixa de ressonância dos problemas <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is’, o ‘tambor’ do país. (...)<br />
Estas considerações reconheciam a capitalidade ainda exercida pelo Rio, ou seja, ‘sua função de representar a
112<br />
praticamente 200 anos e assi<strong>na</strong>lar, também, que apesar da sua condição de capital da<br />
república entre 1889 e 1960, (...) verificamos o ...”:<br />
(...) o esvaziamento de atividades políticas e administrativas com a transferência da<br />
capital para Brasília, a criação do Estado da Gua<strong>na</strong>bara, e a posterior fusão com o<br />
estado do Rio de Janeiro. Mesmo assim, a metrópole do Rio de Janeiro manteve a<br />
condição de núcleo agluti<strong>na</strong>dor de atividades terciárias e pólo irradiador de cultura,<br />
de modas - inclusive urbanísticas - e modos de vida. Esse esvaziamento foi se<br />
acentuando, atingindo o seu ápice <strong>na</strong> década de 1980, com a crise econômica,<br />
quando se materializaram as evidências da pobreza – degradação do espaço físico de<br />
um modo geral, com o crescimento da população de rua, do comércio informal, da<br />
violência urba<strong>na</strong>” (VAZ ; SILVEIRA, 1999, apud SILVEIRA, 2004, p.98) 238 .<br />
As sucessivas recessões da economia brasileira trouxeram impactos regio<strong>na</strong>is, como o<br />
“esvaziamento econômico” que marcou a metrópole carioca ao longo da segunda metade do<br />
Século XX, e pode-se dizer com mais “força” após a década de 1980 239 . Entre as “perdas”<br />
apontam-se a intensa transferência de empresas, entre elas instituições bancárias, para a<br />
<strong>cidade</strong> de São Paulo; a falta de investimentos <strong>na</strong> indústria <strong>na</strong>val; o aumento do desemprego e<br />
do trabalho informal, entre outros fatores. A crise econômica e sociocultural que atingiu a<br />
Estado do Rio de Janeiro (ERJ) e, particularmente, o seu município-sede, durante a década de<br />
1980, refletiu-se no aumento da “violência <strong>na</strong> vida cotidia<strong>na</strong>, <strong>na</strong> perda da qualidade dos<br />
serviços públicos face ao endividamento do governo estadual e do governo local, registrandose<br />
o reconhecimento da falência da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro durante o governo Saturnino<br />
Braga (1984-1987)” 240 .<br />
A perda de <strong>centralidade</strong> da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro em diferentes aspectos<br />
(econômico, social e política) culmi<strong>na</strong> no momento chamado de “década perdida” por alguns<br />
autores ou segundo a periodização de Natal (2005), quinze anos de “um conjunto superposto<br />
de crises – uma “crise ampla”. Tal período “compreendido entre o início dos anos oitenta e o<br />
fi<strong>na</strong>l da primeira metade dos anos noventa do século passado” 241 , impactou, particularmente, a<br />
unidade e a síntese da <strong>na</strong>ção’” (op.cit., p.180,187). Ver LESSA, Carlos. Rio foi um laboratório de brasilidade.<br />
Entrevista, Jor<strong>na</strong>l do Brasil, Rio de Janeiro, 9 dez. a 2000. Caderno Idéias, p. 3.<br />
238 VAZ, Lilian F. e SILVEIRA, Carmen B. Áreas centrais, projetos urbanísticos e vazios urbanos. Território.<br />
Rio de Janeiro: LAGET/<strong>UFRJ</strong>, ano 4, n. 7, jul./dez. 1999. p. 59.<br />
239 Segundo Tavares (2000), “do fi<strong>na</strong>l da década de 1960 ao fi<strong>na</strong>l da década seguinte, os investimentos públicos<br />
federais atenuaram o impacto da crise sobre a economia da metrópole. Nesse sentido, a presença das empresas<br />
estatais no Rio de Janeiro foi crucial” (p.57).<br />
240 RIBEIRO, 2000, p.23.<br />
241 NATAL, 2005, p.25. Nesta obra o autor-organizador traz uma contribuição valiosa sobre o contexto sócioespacial<br />
fluminense contemporâneo, focando um estudo detalhado sobre o processo de “inflexão econômica<br />
positiva” por qual passou o Estado do Rio de Janeiro após quinze anos (1980-95) de degradação econômica,<br />
social e institucio<strong>na</strong>l. A respeito do novo cenário de investimentos que envolve a reestruturação produtiva e<br />
econômica fluminense, ver também Oliveira (2006).
113<br />
sociedade fluminense trazendo reflexos para o núcleo metropolitano, ou seja, a <strong>cidade</strong> do Rio<br />
de Janeiro. Segundo o autor, a “crise foi apreendida ao nível do imaginário coletivo como<br />
ápice do processo iniciado com a transferência da capital (1960) e levado adiante com a<br />
denomi<strong>na</strong>da fusão (1974)”, se expressando profundamente <strong>na</strong> “perda da auto-estima e da<br />
identidade <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l da população do ERJ, notadamente da sua fração carioca” 242 .<br />
Quanto aos fatores determi<strong>na</strong>ntes das superpostas crises são apontados pelo autor:<br />
(i) a pronunciada decadência e a falta de competitividade da indústria fluminense<br />
(no caso deste último aspecto, principalmente, quando comparada com a paulista);<br />
(ii) a efetiva redução dos gastos do governo federal no estado, como também os<br />
impactos derivados dos anúncios da sua redução; (iii) o dramático agravamento da<br />
chamada questão social; (iv) os conflitos de <strong>na</strong>tureza federativa, particularmente os<br />
estabelecidos entre os governos estadual e federal; e (v) o inegável estiolamento<br />
‘moral’ da população fluminense, em especial da carioca (NATAL, op.cit., p.27-8).<br />
Logo, para o autor, a degradação econômica do ERJ e do seu município-sede está<br />
relacio<strong>na</strong>da à “dependência da dinâmica econômica do país à própria dinâmica econômica<br />
paulista”, e da dependência cada maior do Rio de Janeiro das “atividades prestadoras de<br />
serviços e do setor público”. No momento da perda do papel de capital e a diminuição dos<br />
recursos fiscais e fi<strong>na</strong>nceiros da União, foram reveladas “fragilidades histórico-estruturais” 243 .<br />
Oliveira (2006) ressalta aspectos econômicos do quadro apresentado. Segundo o autor,<br />
como conseqüência da dita “crise estrutural de <strong>na</strong>tureza econômica que atingiu todo o país, e<br />
reduziu significativamente a participação do estado <strong>na</strong> composição proporcio<strong>na</strong>l do Produto<br />
Nacio<strong>na</strong>l Bruto” e, aliada às “mudanças <strong>na</strong>s políticas de gestão do território” que passaram a<br />
planejar o estado em sua totalidade (núcleo e interior), houve uma “progressiva diminuição da<br />
<strong>centralidade</strong> das atividades industriais do núcleo metropolitano”. Desta forma, não apresenta<br />
outros fatores causadores do esvaziamento econômico do ERJ senão a “‘ascensão’ e a ‘queda’<br />
de um modelo de industrialização centralizado <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro” 244 .<br />
[...] a <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, (...) vem sofrendo um intenso esvaziamento industrial<br />
e reafirmando, cada vez mais, sua condição de centro de serviços e turismo, tanto local<br />
quanto inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l. Nesse mesmo processo, segue um deslocamento de importantes<br />
segmentos e setores industriais para os demais municípios localizados <strong>na</strong> metrópole<br />
fluminense, tor<strong>na</strong>do-os a base territorial industrial mais dinâmica <strong>na</strong> metrópole<br />
(OLIVEIRA, 2006, p.80).<br />
242 NATAL, loc.cit.<br />
243 Ibid., p.31-2, 35.<br />
244 OLIVEIRA, op.cit., p.80, 82 e 88.
114<br />
Tais reflexões fazem repensar a geografia econômica da metrópole carioca <strong>na</strong><br />
atualidade, assim como as suas funções produtivas que tem se direcio<strong>na</strong>do cada vez mais para<br />
a dimensão fi<strong>na</strong>nceira e de serviços. Nesse sentido, destaca-se que a “a força do terciário no<br />
Rio de Janeiro não pode ser considerada, portanto, uma tendência recente”, como nos aponta<br />
Ribeiro (2000) 245 . Segundo Oliveira, a partir da verificação de dados relativos à quantidade de<br />
trabalhadores ativos no mercado formal <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, por setor de atividades,<br />
no período de 1985 a 2000, pode-se concluir que “ocorreram perdas (...) em quase todos os<br />
segmentos, exceto nos de comércio e de serviços” 246 .<br />
A ampliação do setor terciário inclui-se no contexto caracterizado pela emergência da<br />
economia de serviços <strong>na</strong>s metrópoles, após a década de 1970, e que alguns autores<br />
denomi<strong>na</strong>m de “terciarização da economia”, cuja origem baseia-se <strong>na</strong>s mudanças que as<br />
atividades de serviços sofreram “a partir da recente reestruturação produtiva das empresas e<br />
das economias mundiais e particularmente com o apoio das inovações tecnológicas” 247 .<br />
As tecnologias da informação e da comunicação têm conduzido à industrialização dos<br />
serviços, à inovação organizacio<strong>na</strong>l e a novas formas de comercialização dos serviços,<br />
no que se refere aos relacio<strong>na</strong>mentos entre produtor e consumidor, acarretando novas<br />
modalidades ou formas modificadas de serviços (SILVEIRA, op.cit., p.66).<br />
Dentro deste contexto, há um incremento da “fi<strong>na</strong>nceirização” em São Paulo, com a<br />
transferência das sedes de grandes empresas, entre elas a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro<br />
no ano 2000 248 . No entanto, apesar da fuga de sedes de empresas para outros bairros da <strong>cidade</strong><br />
e estados como São Paulo, a área central do Rio de Janeiro tem afirmado a sua <strong>centralidade</strong> <strong>na</strong><br />
função de comando em relação aos segmentos ligados às telecomunicações e energia, cujas<br />
plantas industriais estão se instalando com grande força <strong>na</strong> região Norte Fluminense.<br />
Devido ao contexto de “crise urba<strong>na</strong>”, no período mencio<strong>na</strong>do, o espaço urbano da<br />
área central se degradou devido ao não investimento tanto por parte do poder público quanto<br />
privado. Quanto a este último, houve deslocamento do capital imobiliário <strong>na</strong> malha urba<strong>na</strong><br />
245 RIBEIRO, 2000, p.12-3.<br />
246 Ibid., p.90.<br />
247 KON, 1999, p.65.<br />
248 Segundo Oliveira em nota, “é importante salientar, quando a<strong>na</strong>lisamos esse processo, que o fato de ser uma<br />
importante referência turística e de serviços não permite à <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro uma economia<br />
exclusivamente de serviços. Historicamente a <strong>cidade</strong> centralizou a maior parte das indústrias <strong>na</strong> RMRJ e muito<br />
de seu comércio e serviços baseava <strong>na</strong>s indústrias locais. Com o esgotamento dessa atividade, tudo se altera.<br />
Talvez o principal exemplo dessa associação tenha sido o fechamento da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.<br />
Sem uma base industrial forte, não se justifica a permanência da Bolsa...” (op.cit., p.90).
115<br />
para outros bairros e o seu impacto sobre o mercado de imóveis da área central, provocando<br />
alterações nos estoques residenciais e comerciais como apontam dados e pesquisas.<br />
Segundo Cezar (2001), o centro da <strong>cidade</strong> vem seguindo uma tendência de retração<br />
demográfica. A partir do Censo 2000, o autor concluiu que, com algumas exceções, a Área de<br />
Planejamento I, que engloba o bairro do Centro, vem seguindo uma tendência histórica de<br />
retração da população residente. Segundo o autor, entre 1996 e 2000, <strong>na</strong>da menos que 13.600<br />
pessoas deixaram esta área. Há, portanto, transformações <strong>na</strong> <strong>centralidade</strong> principal já que à<br />
medida que se “perde população, perde-se a conectividade e logo a <strong>centralidade</strong>” 249 .<br />
A respeito da perda de importância do Centro no mercado de imóveis comerciais, esse<br />
fenômeno se refere às conveniências ou oportunidades de especulação. Concordando com<br />
Cezar, os capitais deixam de atuar em determi<strong>na</strong>da área quando as possibilidades de<br />
realização de ganhos excepcio<strong>na</strong>is se esgotam.<br />
Carneiro (2001), em seu trabalho “Domicílios e ocupação no Rio”, aponta que a II RA<br />
(Centro) é classificada como sendo de alta proporção de domicílios não-ocupados. Para o<br />
pesquisador, a RA do Centro vem historicamente sofrendo um processo de esvaziamento<br />
populacio<strong>na</strong>l: desde o início do Século XX, com a ampliação do espaço para ruas e praças e,<br />
<strong>na</strong>s últimas décadas, devido à especialização de serviços e mudança de uso, ou seja, a<br />
transformação de áreas tradicio<strong>na</strong>lmente residenciais em escritórios, lojas, etc.<br />
O deslocamento do capital imobiliário está totalmente ligado ao caráter mutável e ao<br />
mesmo tempo segregador do espaço urbano capitalista. Como as modificações no espaço<br />
estão geralmente de acordo com as aspirações da classe domi<strong>na</strong>nte, o espaço se altera<br />
impactando negativamente a classe de menos poder aquisitivo; no entanto, devido ao caráter<br />
segregacionista do espaço (este legitimado pelo Estado), essa condição se impõe e se “adapta”<br />
ao cotidiano das pessoas, facilitando o deslocamento livre do capital. Os principais fatores<br />
para a reorganização do espaço e, conjuntamente, para a segregação do mesmo são a<br />
adaptação aos novos processos de reprodução das relações de produção, à especialização das<br />
classes sociais <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> e à valorização capitalista do solo urbano 250 .<br />
A respeito da dinâmica do capital imobiliário <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro:<br />
249 SILVEIRA, op.cit., p.209.<br />
250 MARAFON, 1997.<br />
Recentemente, desenvolveram-se outras <strong>centralidade</strong>s, ressaltando-se a Barra da Tijuca, área de<br />
ocupação recente <strong>na</strong> extensão da Zo<strong>na</strong> Sul e que adquiriu a dinâmica antes atribuída a<br />
Copacaba<strong>na</strong>. Nesse contexto amplo e constituído de <strong>centralidade</strong>s de diversos níveis<br />
hierárquicos, a área central passou a enfrentar a concorrência de investimentos que se<br />
concentram no litoral sul e <strong>na</strong> construção de shopping centers em locais estratégicos. Todavia,
116<br />
a despeito desse quadro, estudos e dados recentes demonstram a permanência de uma dinâmica<br />
que ainda confere vitalidade à área central (SILVEIRA, op.cit., p.72-3).<br />
A urbanização da Baixada de Jacarepaguá por empresários do setor imobiliário se<br />
pautou, num primeiro momento, no “marketing” dos condomínios fechados sob o “conceito<br />
de moradia associada ao lazer e serviços (...), “criado” para acontecer <strong>na</strong> Barra e gerar, uma<br />
outra vez, um novo bairro” 251 .<br />
Nos anos oitenta, a vida começou a surgir fora dos condomínios, fomentada e<br />
promovida por atividades comerciais, serviços e lazer, bem como pela expansão das<br />
frentes de investimento imobiliário em unidades de menor porte. Logo ao início da<br />
década, em 1981, foi i<strong>na</strong>ugurado o BarraShopping, um empreendimento comercial<br />
que nunca mais parou de crescer. Em 1984 foi aberto o Casashopping, <strong>na</strong> avenida<br />
Airton Se<strong>na</strong>, um centro comercial temático desti<strong>na</strong>do ao atendimento da constante<br />
procura por materiais e serviços inerentes à construção e à decoração (RABHA,<br />
op.cit., p.216).<br />
Segundo Rabha, <strong>na</strong> década de 1990 houve a expansão dos complexos comerciais e de<br />
serviços <strong>na</strong> Barra, como o Downtown e Cittá América, além de hotéis-residência e<br />
convencio<strong>na</strong>is.<br />
vantagens locacio<strong>na</strong>is garantidas pela qualidade ambiental, pela melhoria da<br />
infraestrutura, maior acessibilidade, disponibilidade das telecomunicações entre<br />
outros fatores, acabaram por orientar um significativo movimento das grandes<br />
empresas <strong>na</strong> direção da Barra, deixando para trás instalações <strong>na</strong> área central ou em<br />
outros bairros da <strong>cidade</strong> (RABHA, loc.cit.).<br />
Durante as décadas de 1970 a 1990, o urbanismo modernista “isolou” o centro da<br />
<strong>cidade</strong> das outras funções, além da comercial, e contribuiu para sua imagem de decadência.<br />
2.2.2. A renovação urba<strong>na</strong> e a “volta ao centro”<br />
A volta ao centro pode ser compreendida como uma nova urbanização, entendida<br />
como readaptação da <strong>cidade</strong> tradicio<strong>na</strong>l, implicando movimentos de centralização de<br />
algumas atividades, incluindo a moradia. Na base deste processo, estariam os setores<br />
de serviços, beneficiados por oportunidades e descobertas, que vão desde o<br />
aproveitamento dos espaços intersticiais vazios ou obsoletos <strong>na</strong>s áreas centrais,<br />
como antigos portos, ferrovias, instalações industriais etc., ao surgimento de<br />
atividades inovadoras, como eventos ou programas diferenciados (Ibid., p.17).<br />
O processo de renovação urba<strong>na</strong> nos espaços centrais é pesquisada de forma mais<br />
aprofundada pelos estudiosos do urbano a partir da escola de ecologia huma<strong>na</strong> – embrionária<br />
251 RABHA. 2006, p.210.
117<br />
da Escola de Chicago, devido à sua influência <strong>na</strong> análise sobre os padrões de crescimento<br />
urbano e de transformação sociais <strong>na</strong>s grandes <strong>cidade</strong>s, e primeiramente dos países<br />
desenvolvidos a partir da década de 1930.<br />
No entanto, os processos de revitalização/requalificação/revalorização das áreas<br />
centrais das <strong>cidade</strong>s têm origem <strong>na</strong>s décadas de 1960/70 <strong>na</strong>s <strong>cidade</strong>s america<strong>na</strong>s de Baltimore,<br />
São Francisco e Boston 252 . Surge então um novo modelo de produção do urbano, a <strong>cidade</strong>empresa<br />
253 ou a <strong>cidade</strong>-empreendimento 254 , caracterizada pelas novas formas de intervenção<br />
urbanísticas e de administração pública, ou seja, novos atores, novos projetos urbanos e novas<br />
coalizões políticas 255 .<br />
Na década de 1990, a lógica da revalorização urba<strong>na</strong> visando proporcio<strong>na</strong>r acréscimos<br />
e vantagens ao modo de vida capitalista moderno, se mantém e espalha-se mais fortemente<br />
para as <strong>cidade</strong>s dos países subdesenvolvidos. Segundo Arantes (2002), tal lógica se insere nos<br />
“movimentos urbanos” e baseia-se numa estratégia cultural interessada no binômio<br />
“rentabilidade e patrimônio arquitetônico-cultural”, articulando-se através de coalizões de<br />
elite representadas pela “classe rentista de sempre” 256 como:<br />
incorporadores, corretores, banqueiros, etc., escorados por um séquito de<br />
coadjuvantes igualmente interessados e poderosos como a mídia, os políticos,<br />
universidades, empresas esportivas, câmaras de comércio e, enfim, nossos dois<br />
perso<strong>na</strong>gens desse enredo de estratégias: os planejadores urbanos e os promotores<br />
culturais (ARANTES, 2002, p.66).<br />
O tema cultura associado à transformação e gestão urba<strong>na</strong> tratado pela autora <strong>na</strong>s<br />
suas obras (2000,2002) revela uma aceleração do processo de fragmentação do espaço urbano<br />
legitimado por “consensos cívicos” acio<strong>na</strong>dos por “rentiers, planejadores urbanos e<br />
intermediários culturais”. A fragmentação do espaço pauta-se no favorecimento de zo<strong>na</strong>s<br />
252 Segundo Rabha, “das inúmeras práticas de intervenção empreendidas por várias <strong>cidade</strong>s ao redor do mundo<br />
surgiram distintas conduções para intervenções <strong>na</strong> área central. A profusão de conceitos, rotulados por nuances e<br />
sutilezas, apresenta-se segundo denomi<strong>na</strong>ções como recuperação, requalificação, reabilitação ou revitalização”<br />
(op.cit., p.18). Em trabalho anterior (monografia de especialização/IPPUR/<strong>UFRJ</strong>) intitulado “O velho e o novo:<br />
reflexões sobre as novas formas de uso e ocupação da área central do Rio de Janeiro” expomos de maneira mais<br />
detalhada os programas urbanísticos e as diferentes concepções de planejamento, caracterizados pela<br />
revitalização urba<strong>na</strong>, requalificação e “renovação preservadora”, em torno do processo de reestruturação da área<br />
central e as novas formas de organização do espaço. C.f. também Arantes (2002), Magalhães (2002), Mesentier<br />
(s/d), Rabha (2006).<br />
253 ARANTES, 2002.<br />
254 HALL, 1995.<br />
255 SÁNCHEZ, 2003.<br />
256 ARANTES, 2002, p.66/69.
118<br />
pontuais da <strong>cidade</strong> valorizadas pelo “capital cultural (...) cujo consumo, <strong>na</strong> forma de<br />
refi<strong>na</strong>mento artístico ostensivo, é a melhor garantia de que o clima de negócios é saudável” 257 .<br />
Em consonância ao contexto inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, há no fim da década de 1970 e, início de<br />
1980, uma alteração <strong>na</strong>s <strong>na</strong>rrativas sobre o “declínio” do centro do Rio de Janeiro. Um novo<br />
discurso urbanístico é difundido, buscando legitimar-se com referência à recuperação de áreas<br />
centrais e a “requalificação dos centros, de forma a servir à competitividade entre as <strong>cidade</strong>s,<br />
característica da globalização. Ressurgiu, assim, a opção de retomada do centro<br />
tradicio<strong>na</strong>l” 258 .<br />
Na [década de 1980] o desinvestimento passou a caracterizar as metrópoles [...] Este<br />
novo contexto, em conjunto com a ampliação dos movimentos democráticos, fez<br />
com que a administração pública e o capital passassem a reconhecer a importância<br />
do patrimônio instalado, seja ele social ou físico e particularmente <strong>na</strong>s áreas centrais.<br />
O novo paradigma de desenvolvimento busca uma melhor utilização, ou melhor,<br />
reutilização do patrimônio existente: modelos que viabilizem o sistema econômico<br />
mas que, ao mesmo tempo, possibilitem utilizar potenciais instalados e atinja,<br />
melhores respostas socioculturais. Neste sentido é que se popularizou o modelo da<br />
revitalização urba<strong>na</strong>, que promove objetivos de desenvolvimento urbano e ações<br />
integradas com o fim de possibilitar ‘nova vida’ às áreas urba<strong>na</strong>s decadentes ou<br />
subutilizadas (DEL RIO, 1993, p.58) .<br />
Segundo Del Rio, o novo modelo urbanístico se distancia tanto dos processos<br />
traumáticos de renovação, que pressupunham um caráter “destrutivo” em busca de um<br />
“princípio da ordem”, quanto das atitudes exageradamente conservacionistas, que<br />
“‘congelava’ as testemunhas históricas, via a arquitetura como monumento, os edifícios como<br />
museus” 259 .<br />
Durante anos, a solução encontrada para corrigir o abandono, a ociosidade, a<br />
decadência esteve voltada para a promoção de amplos programas de renovação<br />
urba<strong>na</strong>. No Rio de Janeiro, a realização de eventos inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is, a modernização<br />
do sistema viário ou a implantação dos transportes de massa foram justificativas<br />
irrefutáveis para replicar sobre o antigo centro da <strong>cidade</strong>, modelos e malhas urba<strong>na</strong>s<br />
exóticos. Em geral, estavam baseados em desenho e concepção aos conceitos ditados<br />
no plano inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, tendo como pressupostos, os reflexos do processo de<br />
descentralização de cunho residencial e a perda da vitalidade das áreas centrais. Nos<br />
anos oitenta, iniciou-se uma revisão sobre tal tratamento até então conduzido para a<br />
área central (RABHA, op.cit., p.16).<br />
257 Ibid., p.67.<br />
258 MAGALHÃES, op.cit, p.743.<br />
259 DEL RIO,op.cit., p.58-9.
119<br />
Para Magalhães (2001), “como ação efetiva, a requalificação do centro é um processo<br />
que <strong>na</strong>sceu com a criação do Corredor Cultural” 260 , um programa urbanístico de revitalização<br />
com base <strong>na</strong> preservação arquitetônica (1979). O programa expressava um primeiro momento<br />
da tendência cultural da política urba<strong>na</strong> e uma nova visão da <strong>cidade</strong> por parte de uma opinião<br />
pública especializada em planejamento, cultura, arte, etc., que formava um grupo erudito<br />
composto por escritores, artistas plásticos, intelectuais, entre outros (ex. Artur da Távola,<br />
Afonso Carlos, Raquel Rolnik, Sérgio Cabral, etc.) 261 .<br />
O segundo momento da política urba<strong>na</strong> carioca que se utiliza da cultura nos processos<br />
de revitalização do Centro consolida-se com a aprovação do Plano Estratégico da Cidade, em<br />
1995, “cujos termos são vinculados à última modernidade <strong>na</strong> ce<strong>na</strong> inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l” 262 e ao<br />
“marketing urbano” 263 . Assim, tal ação espelha-se<br />
no panorama inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l [...] [onde] as <strong>cidade</strong>s ocidentais estariam vivenciando<br />
uma seqüência de situações que se iniciavam por declínio da indústria, passavam por<br />
mudanças das funções centrais, por abandono do centro e voltavam a ele, para<br />
implementar sua recuperação. [...] crescia em importância a indústria do turismo,<br />
fazendo com que a origi<strong>na</strong>lidade da história acumulada no espaço das <strong>cidade</strong>s e o<br />
patrimônio urbano mais antigo fossem incorporados como um fator diferencial <strong>na</strong><br />
qualidade da oferta dos possíveis destinos para consumo em viagens de lazer” (Ibid.,<br />
p.17).<br />
Segundo Ribeiro (2000), a elaboração do Plano Estratégico 264 corresponde a um ensaio<br />
do “modelo inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l-local, desenvolvido através das parcerias público-privado”.<br />
260 “O projeto Corredor Cultural, criado em 1979, [...] preservou três grandes conjuntos de sobrados no centro<br />
do Rio – Praça XV, Lapa e Imediações da SAARA e do Largo de São Francisco”( MAGALHÃES, ibid., p.<br />
744/746).<br />
261 “Obedecendo em parte aos princípios (...) [da Recomendação de Nairobi], uma equipe de escritores e<br />
arquitetos idealizou o projeto do Corredor Cultural no centro do Rio de Janeiro, que tem constituído um processo<br />
há mais de vinte anos”. [Desta forma, surgiu] (...) <strong>na</strong> ce<strong>na</strong> inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, desde 1975, a questão da integração dos<br />
conjuntos históricos à vida coletiva de nossa ‘época’. Em 1976, em Nairobi, a Unesco adotou uma recomendação<br />
relativa à proteção dos conjuntos históricos tradicio<strong>na</strong>is e ao seu papel <strong>na</strong> vida contemporânea, que continua<br />
sendo a exposição de motivos e a argumentação mais complexa em favor de um tratamento não museal das<br />
malhas urba<strong>na</strong>s contemporâneas” (Evelyn F. W. Lima, Preservação do patrimônio: uma análise das práticas<br />
adotadas no centro do Rio de Janeiro). C.f. também Cristi<strong>na</strong> Meneguello,“O coração da <strong>cidade</strong>: observações<br />
sobre a preservação dos centros históricos”. Ambos os artigos estão publicados <strong>na</strong> Revista Eletrônica do<br />
IPHAN, s/d. Disponível em Acesso em abril de 2007.<br />
262 RIBEIRO, 2000, p.24.<br />
263 “A articulação entre urbanismo e marketing político é especialmente acentuada durante a gestão César Maia,<br />
bastando citar, nesse sentido, a propaganda política articulada aos programas Favela-Bairro e Rio-Cidade” (em<br />
nota, Ribeiro, 2000, p.24).<br />
264 “A elaboração do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro foi co-promovida pela Prefeitura, pela<br />
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e pela Associação Comercial do Rio de Janeiro<br />
(ACRJ). Esta elaboração contou com o apoio fi<strong>na</strong>nceiro de um consórcio de empresas [...], com a constituição de<br />
um Conselho Diretor [...] e um denomi<strong>na</strong>do Conselho da Cidade” (em nota, Ribeiro, 2000, p.28-29). Ver<br />
também Arantes (2002).
120<br />
O Plano Estratégico [...] contribui para legitimar iniciativas voltadas ao resgate da<br />
<strong>cidade</strong>, [...] propondo uma nova forma de participação [...] via parcerias em aberto,<br />
que caracteriza a cultura político-administrativa difundida com apoio em agências<br />
multilaterais de desenvolvimento [...]. Ainda a justificativa do Plano acio<strong>na</strong> o<br />
conjunto de processos que sustentam crenças atuais sobre os desafios urbanos:<br />
globalização, competição entre países e <strong>cidade</strong>s, projetos atrativos de investimentos<br />
externos, paradigma das <strong>cidade</strong>s globais. 265<br />
Assim, no contexto <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, como aponta Magalhães (op.cit.), “a Prefeitura vem<br />
tendo liderança do processo de transformações no centro do Rio” 266 . Com a criação e<br />
aplicação de leis de zoneamento, o Poder Público lançou o projeto do Corredor Cultural e as<br />
propostas de intervenções urbanísticas em áreas determi<strong>na</strong>das da Lapa e Rua Uruguaia<strong>na</strong>.<br />
Em função da lógica de investimento público estabelecida, no período determi<strong>na</strong>do<br />
por 1989 e 1996, a área do projeto Corredor Cultural recebeu diversas obras de<br />
reurbanização dos seus espaços públicos, incremento da ilumi<strong>na</strong>ção pública que<br />
incluiu a valorização de monumentos, orde<strong>na</strong>mento e repressão do comércio<br />
ambulante e estacio<strong>na</strong>mento de automóveis sobre as calçadas, dentre outras medidas<br />
que buscaram valorizar lugares como a Praça XV de Novembro, os Largos da<br />
Carioca e da Lapa, Avenida Rio Branco e Cinelândia e o trecho Rua Uruguaia<strong>na</strong> –<br />
Praça Tiradentes (CARLOS, 2006, p.8).<br />
Além disso, foram criadas áreas de preservação ambiental da Cruz Vermelha, da<br />
Saúde, Santo Cristo, Gamboa e Teófilo Otoni. Posteriormente, já <strong>na</strong> década de 1990,<br />
ampliam-se as proposições do projeto do Corredor Cultural e é criada a Subprefeitura do<br />
Centro. Neste sentido, as APACs revelam-se alvo de intervenções pontuais por parte do Poder<br />
Público Municipal, especialmente, as estabelecidas <strong>na</strong> área central. Segundo Carlos (2006), os<br />
“critérios que balizam as ações da Prefeitura baseiam-se <strong>na</strong> premissa da preparação dos<br />
espaços públicos, com vistas à atração e viabilização de empreendimentos privados <strong>na</strong>s áreas<br />
imobiliária, cultural e de serviços” 267 .<br />
Na administração Marcelo Alencar (1989-1992), César Maia (1993-1996) e Conde<br />
(1997-2000) realizaram-se projetos de valorização do espaço público e de melhoramento de<br />
265 Ibid., p.25-7.<br />
266 MAGALHÃES, ibid., p.744. Segundo Mesentier (s/d), quanto às ações do Poder Público “pode-se propor<br />
um recorte em dois períodos: I) o primeiro, marcado pela combi<strong>na</strong>ção de ações de proteção legal e estímulo a<br />
ações de conservação da iniciativa privada através de mecanismos de isenção fiscal; II) o segundo, quando são<br />
adicio<strong>na</strong>das às ações anteriores, programas e projetos que aportam recursos e realizam intervenções no ambiente<br />
urbano, que implicam em reestruturação do uso do solo e valorização imobiliária de algumas áreas onde existem<br />
edifícios e conjuntos de valor patrimonial”.<br />
267 “Em 1992, o Plano Diretor Dece<strong>na</strong>l da Cidade [...] definiu o instrumento urbanístico denomi<strong>na</strong>do Área de<br />
Proteção do Ambiente Cultural (Apac)” (CARLOS, 2006, p.7). Baseando-se no texto origi<strong>na</strong>l, o autor define o<br />
instrumento como “uma área de domínio público ou privado, a que apresenta relevante interesse cultural e<br />
características paisagísticas notáveis, cuja ocupação deve ser compatível com a valorização e a proteção da sua<br />
paisagem e do seu ambiente urbano, bem como a preservação de seus conjuntos urbanos”.
121<br />
seu “status” por meio de intervenções físicas e descentralização administrativa 268 . No<br />
primeiro, são realizadas “intervenções em pontos de grande visibilidade, como o ‘Rio Orla’ e<br />
as reformas do Largo da Lapa, da Avenida Chile e da Rua Uruguaia<strong>na</strong>” 269 . Já <strong>na</strong>s primeiras<br />
administrações César Maia e Conde são realizados os projetos “Rio-Cidade” e “Favela-<br />
Bairro”. O projeto Rio-Cidade, em áreas previamente selecio<strong>na</strong>das pela Prefeitura, promoveu<br />
projetos voltados à “construção de uma <strong>cidade</strong> mais acolhedora” a partir da “racio<strong>na</strong>lização<br />
de fluxos, paisagismo e mobiliário urbano”. No entanto para Carlos (2006), “o projeto Rio<br />
Cidade valorizou, nos bairros onde foi implantado, ape<strong>na</strong>s seus principais logradouros,<br />
caracterizados pela predominância das atividades comerciais, de lazer e serviços” 270 .<br />
Nas duas últimas administrações César Maia (desde 2000 com respectiva reeleição), a<br />
Zo<strong>na</strong> Portuária adquiriu importância, incluindo a área da Praça Mauá (pertencente ao bairro<br />
do Centro), a partir da proposta do Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária<br />
(2001).<br />
Desde então, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a melhoria do<br />
ambiente edificado, orientado para a requalificação do espaço físico das áreas<br />
centrais, ganhou adesões dos setores privados, animou os setores imobiliários, de<br />
negócios e serviços, e dirigiu para estas localizações um novo perfil de demanda. O<br />
di<strong>na</strong>mismo e a pluralidade de situações constituem-se fatores primordiais de atração,<br />
considerados âncoras do processo de reurbanização. As antigas áreas centrais<br />
oferecem rentabilidade quando se demonstram ricas em funções urba<strong>na</strong>s, são<br />
seguras e bem tratadas do ponto de vista urbanístico, oferecendo alter<strong>na</strong>tivas<br />
diferenciais para o investimento comercial e imobiliário em diversos ramos de<br />
negócios (RABHA, op.cit., p.18).<br />
Portanto, a fuga de investimentos que se fez no Centro até o fi<strong>na</strong>l da década de 1980,<br />
em decorrência à “crise urba<strong>na</strong>” apontada, teria levado à “decadência” do bairro. No entanto,<br />
a partir da década de 1990, esse processo tem se revertido, em parte, devido a certas ações de<br />
revitalização. Como fenômeno imobiliário, esse retorno dos investimentos pode ser observado<br />
<strong>na</strong> procura por locações ou compra de salas no núcleo central visando o comércio varejista<br />
268 Segundo Mesentier (s/d), “vale mencio<strong>na</strong>r que, dentro dessa fase, o BNDES passou a desti<strong>na</strong>r recursos,<br />
através da Lei de Incentivo à Cultura, à recuperação de imóveis de valor patrimonial <strong>na</strong> área central (como no<br />
caso do conjunto formado pelo Convento de Santo Antônio e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da<br />
Penitência) e a Caixa Econômica Federal, em parceria com as Secretarias de Habitação e de Urbanismo da<br />
Prefeitura, abriu linhas de crédito e desenvolveu projetos desti<strong>na</strong>dos a recuperação de imóveis de valor<br />
patrimonial, visando fortalecer o perfil residencial do centro do Rio de Janeiro”.<br />
269 MAGALHÃES, op.cit., p.747.<br />
270 CARLOS, op.cit., p.8.
122<br />
mais sofisticado, como cafés e bistrôs, livrarias, e lojas de roupas, bolsas e sapatos de griffe<br />
271<br />
.<br />
Como exemplo dos projetos de requalificação verifica-se o denomi<strong>na</strong>do Pólo<br />
Histórico, Cultural e Gastronômico da Praça XV, fruto do associativismo empresarial liderado<br />
pela Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRJ, e com publicação no Decreto<br />
Municipal nº. 26201, em 27 de janeiro de 2006. A criação do Pólo objetivaria “atrair<br />
empresários e buscar patrocínio para os principais atrativos da região, como bares e<br />
restaurantes, centros culturais, museus, teatros, cinemas e livrarias” 272 . Segundo a ACRJ:<br />
O Pólo Histórico, Cultural e Gastronômico da Praça XV tem como parceiros o<br />
SEBRAE/RJ, SENAC Rio, Fecomércio/RJ, SindiRio e Associação Comercial do<br />
Rio de Janeiro. As instituições pretendem resgatar a importância da área que,<br />
durante vários séculos, foi cenário para acontecimentos que marcaram a história do<br />
Rio de Janeiro e do Brasil. (...) O objetivo é aumentar a competitividade das<br />
empresas do Pólo (...) e adjacências a partir da melhoria da produtividade, da<br />
atratividade local e da sustentabilidade, por meio da organização associativa dos<br />
empreendimentos da região. Fazem parte do Pólo: 15 bares e restaurantes, cinco<br />
estabelecimentos comerciais e dois museus /centros culturais 273 .<br />
271 Exemplos de novos estabelecimentos: ex. Saraiva e Fe<strong>na</strong>c, Borelli, Folic, H. Stern, Brasserie Rosário, etc.<br />
272 PÓLO GASTRONÔMICO da Praça XV. Associação Comercial do Rio de Janeiro. Disponível em <<br />
http://www.acrj.org.b> em abril de 2008. Segundo as publicações oficiais são projetos prioritários da ACRJ :<br />
"Megalópole Brasileira", "Fórum do Rio" e "Revitalização do Centro do Rio". O Pólo compreende o polígono<br />
formado pelos seguintes trechos: partindo da Praça XV de Novembro, segue pela orla (Avenida Presidente<br />
Kubitschek) até o encontro com a Avenida Presidente Vargas, segue por esta até a Rua da Quitanda, continua<br />
pela mesma até o encontro com a Avenida Nilo Peçanha, continua por esta até a Praça do Expedicionário,<br />
retor<strong>na</strong>ndo pela orla até o ponto de partida”.<br />
273<br />
Ibid.
Figura 2<br />
Imagem do produto turístico<br />
criado pelo comitê de marketing do Pólo.<br />
Figura 3<br />
Imagem do convite feito pela Prefeitura/ SETUR para o<br />
lançamento do Guia do Pólo da Praça XV, em fevereiro de<br />
2008, no CCBB.<br />
Segundo representante do Sebrae/RJ são oferecidas ao exame do poder público<br />
propostas “corretivas e intervenções estruturantes para a área” nos “aspectos físico e infraestrutura,<br />
de ocupação do espaço público, de saúde pública e de segurança” 274 . Por exemplo, o<br />
274 PÓLO HISTÓRICO da Praça XV. Associação Comercial do Rio de Janeiro. Disponível em <<br />
http://www.acrj.org.b> em abril de 2008. São mencio<strong>na</strong>das as intervenções no “Elevado da Perimetral, que
121<br />
projeto de gestão estratégica “Unir e Vencer: o varejo somando esforços para multiplicar<br />
resultados”, do Sebrae/RJ, visaria organizar “os empresários da região com foco nos aspectos<br />
culturais”, utilizando ações ligadas ao associativismo, capacitação, comunicação/marketing,<br />
eventos/turismo, políticas públicas, requalificação urba<strong>na</strong> e segurança. São formas de ação de<br />
marketing para a região: o Mercado Cultural, Caminho das Luzes, Circuito Turístico Passo a<br />
Passo.<br />
Em entrevista 275 com representante do setor imobiliário foram levantadas algumas<br />
informações sobre valores e tendências imobiliárias para o núcleo central. Por exemplo, a<br />
emergência de um movimento novidadeiro relacio<strong>na</strong>do ao comércio de roupas de luxo, que se<br />
iniciou de há dez anos, caracterizando um “perímetro” formado pelas ruas do Ouvidor,<br />
Assembléia, Rio Branco, Uruguaia<strong>na</strong> e Quitanda. Este tipo de comércio que antigamente<br />
centralizava-se <strong>na</strong> região do SAARA tem se reestruturado a partir de novos investimentos de<br />
empresários paulistas e estrangeiros.<br />
A maioria do comércio sofisticado localiza-se no “chão” da rua, no entanto, observa-se<br />
a presença de dois shoppings verticais, diferenciando-se das galerias comerciais, tanto <strong>na</strong> rua<br />
do Ouvidor (o Paço do Ouvidor) 276 e como <strong>na</strong> rua Sete de Setembro (o Vertical Shopping) 277 .<br />
A pouca expressividade deste tipo de empreendimento, segundo representantes do varejo,<br />
revelaria os obstáculos à passagem da ocupação do “chão de loja” para um processo de<br />
verticalização comercial, como por exemplo, a concorrência com o comércio ambulante. O<br />
precisa de tratamento acústico e ambiental; a Revitalização do Mergulhão, que requer ilumi<strong>na</strong>ção, acústica,<br />
ventilação/refrigeração, si<strong>na</strong>lização e limpeza/higiene; a execução de tratamento paisagístico e de reurbanização<br />
da área do entorno da Igreja da Candelária; a implementação de um projeto paisagístico e melhoria da qualidade<br />
ambiental nos Jardins da Praça XV, próximo ao Restaurante Albamar; um plano de transporte-circular coletivo<br />
no interior do Centro, de forma a reduzir a circulação de carros e deslocar parte da frota de ônibus para os limites<br />
da região, interligando os diversos modais; a implantação de plano de transporte marítimo com diversas linhas<br />
interligando as várias localidades da Baía da Gua<strong>na</strong>bara a partir da Estação do Centro, entre outros”.<br />
275 Entrevista realizada em novembro de 2006 com o corretor de imóveis Elias Jorge Rocha, funcionário da<br />
BCF Administradora de Bens, localizada <strong>na</strong> Rua da Quitanda.<br />
276 “A modernização do setor de serviços gerou alguns empreendimentos imobiliários correspondentes aos<br />
edifícios de escritórios de firmas, de estilo pós-moderno, cujo andar térreo apresenta um uso comercial<br />
modernizado. Estes investimentos estão principalmente <strong>na</strong>s tradicio<strong>na</strong>is ruas do Ouvidor e Rio Branco, que<br />
assim recuperam parte da imagem perdida nos últimos vinte anos” (PACHECO, 1999, p.3). A seguir, um<br />
histórico do shopping Paço do Ouvidor encontrado no endereço eletrônico do empreendimento: “Localizado <strong>na</strong><br />
Rua do Ouvidor, com lojas, também, <strong>na</strong>s Ruas Uruguaia<strong>na</strong> e Gonçalves Dias, o Paço do Ouvidor é o pioneiro<br />
entre os shoppings a se localizarem no centro do Rio de Janeiro. Dando início às suas atividades em 1994, o<br />
Shopping apresenta um estilo arquitetônico que se integra perfeitamente ao ambiente histórico do chamado<br />
Corredor Cultural do Centro da Cidade, área por onde passam, aproximadamente 500 mil pessoas por dia. Sua<br />
fachada exibe traços da modernidade e ao mesmo tempo seu revestimento de vidros reflete toda a beleza do<br />
Corredor Cultural. Oferecendo um variado mix de serviços, lojas de moda femini<strong>na</strong>, unissex, surfwear, calçados,<br />
telefonia e alimentação entre outras, o Paço do Ouvidor é hoje uma referência para os freqüentadores e visitantes<br />
do centro da <strong>cidade</strong>”. Disponível em < www.pacodoouvidor.com.br> Acesso em novembro de 2006.<br />
277 Entre os empreendimentos de comércio sofisticado estão uma galeria comercial, a Galleria Mason e o<br />
Vertical Shopping (Ed. EMDA), que agrega mais de 50 lojas e funcio<strong>na</strong> diariamente até as 20:00hs.
122<br />
que ainda se evidencia acerca dos investimentos no setor é uma queda dos preços do metro<br />
quadrado e a manutenção de salas, andares e, às vezes, edificações inteiras vazias.<br />
O centro comercial do Rio de Janeiro está associado ao centro histórico. Dentro do<br />
centro histórico o comércio se espacializa diferentemente, ou seja, há áreas de maior<br />
heterogeneidade e outras de maior especialização ou seletividade. (...) Ao longo<br />
deste século, as tradicio<strong>na</strong>is ruas do comércio “sofisticado” (Gonçalves Dias e<br />
Ouvidor) continuaram a sua função de atender a uma classe social mais abastada,<br />
que busca a moda <strong>na</strong>s vitrines atualizadas, e foi assim até surgirem as filiais nos<br />
subcentros comerciais. (...) Só <strong>na</strong> segunda metade da década de 90 é que o centro<br />
tradicio<strong>na</strong>l recupera em parte este papel, com a presença de um comércio renovado e<br />
representado por lojas de confecção e boutiques de griffe, no entorno da avenida Rio<br />
Branco em direção ao Castelo (PACHECO, 1999, p.2).<br />
Recentemente, o economista Carlos Lessa 278 tem defendido a revitalização da área<br />
central em várias palestras em entidades profissio<strong>na</strong>is, estabelecimentos públicos e artigos.<br />
Em palestra proferida <strong>na</strong> Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) 279 enfatiza que “a<br />
decadência do centro é mortal para o Rio de Janeiro". Lessa aponta como fatores que<br />
contribuiriam para a degradação: a deficiência nos transportes, a falta de estacio<strong>na</strong>mentos, o<br />
abandono ou subutilização de espaços federais, entre outros. A ênfase <strong>na</strong> recuperação do<br />
bairro relacio<strong>na</strong>-se ao seu papel de “ponto de ligação” entre quase todos os bairros da <strong>cidade</strong><br />
e, âncora de revitalização para os demais bairros centrais ou regiões históricas como Caju,<br />
Santo Cristo, Gamboa, Catumbi e Praça Mauá. Entre as propostas defendidas destacam-se:<br />
a recuperação da Cinelândia, a recuperação do Píer do Rio, o aproveitamento<br />
turístico da Baía de Gua<strong>na</strong>bara, a transformação da linha da central do Brasil em<br />
metrô de superfície, a criação de corredores turísticos que explorem a riqueza<br />
cultural e o patrimônio histórico da <strong>cidade</strong> e a criação de leis que dêem aos<br />
moradores das favelas o título de propriedade do terreno de suas casas 280 .<br />
Robustecer o centro é vital para o Rio de Janeiro. Há muito o que aproveitar, e<br />
também o que projetar e criar, levando em conta o espírito altruísta do cidadão<br />
carioca. Todos os espaços que surgirem com base nesse cálculo atrairão público e<br />
comércio e abrirão brechas para novos empregos e oportunidades. O BNDES se<br />
dispõe a estudar formas de apoio a projetos que visem à recuperação da harmonia da<br />
278 Carlos Lessa é economista e trabalhou <strong>na</strong> Cepal e no BNDES. Professor fundador dos cursos de economia<br />
da Universidade de Campi<strong>na</strong>s e da Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor titular de<br />
economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde exerce o cargo de Decano do Centro de Ciências<br />
Jurídicas e Econômicas.<br />
279 Lessa diz que revitalização do centro é estratégica para o Rio de Janeiro. Associação Comercial do Rio de<br />
Janeiro. Sala de Imprensa . Disponível em < http://www.acrj.org.b> em abril de 2008.<br />
280 Ibid.
123<br />
<strong>cidade</strong> com sua imortal incli<strong>na</strong>ção aos bailes e à alegria. O ócio pode ser um grande<br />
negócio. Apostemos nossas fichas! 281<br />
Quanto às ações de revitalização, Lessa restaurou dois sobrados localizados no núcleo<br />
do centro histórico, em 2003, e i<strong>na</strong>ugurou o sebo Al-Farabi e a Brasserie Rosário, o que lhe<br />
rendeu o título pela mídia de “mece<strong>na</strong>s da Rua do Rosário” 282 . Com a compra e restauração de<br />
outros sobrados, reforma de logradouros, promoção de shows, cursos, e lançamentos de<br />
livros, o economista defende a atração de novos investimentos para o Centro. Como reflexo<br />
da sua ação a Rua do Rosário é divulgada como o “palco de um dos capítulos mais<br />
importantes da restauração do Centro”.<br />
A modernização do setor de serviços gerou alguns empreendimentos imobiliários<br />
correspondentes aos edifícios de escritórios de firmas, de estilo pós-moderno, cujo<br />
andar térreo apresenta um uso comercial modernizado. Estes investimentos estão<br />
principalmente <strong>na</strong>s tradicio<strong>na</strong>is ruas do Ouvidor e Rio Branco, que assim recuperam<br />
parte da imagem perdida nos últimos vinte anos (PACHECO, op.cit, p.3).<br />
Outro indicador de retorno de investimentos no Centro refere-se ao mercado de<br />
escritórios. O capital privado, principalmente imobiliário, apropria-se da área central como a<br />
área “preferida pelas empresas, devido à excelente infra-estrutura de serviços disponíveis” 283 ,<br />
acessibilidade, e também pela sua imagem de “área de grande valor histórico” 284 . Tal<br />
fenômeno espacial associa-se ao processo de recuperação da economia fluminense 285 , após a<br />
crise socioeconômica que perdurou até meados de 1990, constatando-se a redução da<br />
“chamada migração de empresas, ao tempo em que os grupos (sobretudo estrangeiros) que<br />
investiram em telecomunicações e no petróleo” estariam preferindo instalar-se no Estado do<br />
Rio de Janeiro e não em São Paulo.<br />
O interesse pela área central do Rio de Janeiro no mercado de escritórios tem crescido<br />
nos últimos anos, segundo seus representantes. A demanda por escritórios comerciais de alto<br />
padrão em edifícios comerciais permanece aquecida desde 2003, com uma demanda recente<br />
de quase 50% por escritórios corporativos, <strong>na</strong> “Região Centro”, liderada pela “Sub-região Rio<br />
281 Lessa escreveu o artigo “O negócio do ócio” quando ainda exercia o cargo de presidência do BNDES.<br />
Bafafá online. Rio de Janeiro. Disponível em < http://www.bafafa.com.br> em novembro de 2008.<br />
282 O BOTEQUIM do intelectual. e DE VOLTA ao mapa do centro do Rio. O Globo, Rio de Janeiro, 2006.<br />
283 JONES LANG LASALLE. Perfil Imobiliário. Disponível em outubro de<br />
2006.<br />
284 Frase contida no relato de Pinheiro (2002) sobre a propaganda de venda das unidades do Edifício<br />
Amarelinho, <strong>na</strong> Cinelândia, que enfatiza a sua localização e é “apresentado como um jóia arquitetônica”.<br />
285<br />
Ou “inflexão econômica positiva”, denomi<strong>na</strong>ção feita por Natal (2005) para desig<strong>na</strong>r mudanças <strong>na</strong> economia<br />
e sociedade fluminense pós-1995.
124<br />
Branco” 286 . O Centro se confirma como área preferida pelas empresas do setor de serviços –<br />
destaque para a região da Candelária, Praça Mauá, Cidade Nova e Expla<strong>na</strong>da do Castelo.<br />
I<strong>na</strong>ugurado em 1996, o edifício Candelária Corporate possui arquitetura pós-moder<strong>na</strong><br />
que se destaca visualmente <strong>na</strong> paisagem, devido à antiguidade das ruas da Candelária e<br />
Teófilo Otoni e, das construções no seu entorno. Além da grande automação predial e do<br />
grande número de multi<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is, seu uso se faz por empresas do setor de energia como:<br />
auditoria – consultoria contábil e fi<strong>na</strong>nceira; telecomunicações; empresa de <strong>na</strong>vegação e<br />
cabotagem; re-seguradora (seguros inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is); Energia Nuclear (setor técnico/<br />
administração/ setor fi<strong>na</strong>nceiro); Energia Elétrica (empresa distribuidora de energia); Empresa<br />
de compra e venda e distribuição de energia.<br />
Na entorno da Praça Mauá são apontados o prédio do Centro Empresarial<br />
Inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l Rio – RB1, i<strong>na</strong>ugurado em 1990, marco da arquitetura pós-moder<strong>na</strong> <strong>na</strong> <strong>cidade</strong>,<br />
localizado <strong>na</strong> Praça Mauá; o Manhattan Tower e o Centro Empresarial RB53, <strong>na</strong> Av. Rio<br />
Branco. Algumas construções são novas, outras são reformadas e modernizadas pela técnica<br />
de “retrofit”.<br />
O Centro Empresarial RB1 é um complexo de empresas multi<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is de serviços<br />
relacio<strong>na</strong>das ao uso de tecnologias novas e ao setor fi<strong>na</strong>nceiro. Caracteriza-se como um<br />
edifício inteligente, devido seu alto grau de automação predial e está localizado em um<br />
endereço muito nobre do centro da <strong>cidade</strong>, o número um da Avenida Rio Branco, em frente à<br />
Praça Mauá. No lugar onde há hoje o Centro Empresarial, havia no início do Século XX, a<br />
Casa Mauá, que foi o primeiro edifício comercial da área e paraíso dos turistas que chegavam<br />
durante quase 70 anos, devido aos serviços das companhias de viagens, agências bancárias,<br />
etc.<br />
Sua localização estratégica merece atenção, principalmente, quando relacio<strong>na</strong>da ao<br />
Plano de Revitalização da Zo<strong>na</strong> Portuária (2001) 287 , que tem como meta inicial a<br />
refuncio<strong>na</strong>lização do Píer Maúa. Sua localização estimulou propostas de intervenção urba<strong>na</strong><br />
<strong>na</strong> área podendo-se apontar alguns fatos como: a figura do edifício como símbolo marcante<br />
das campanhas publicitárias do projeto; a grande ligação entre a administração do edifício e<br />
os órgãos públicos responsáveis (as reuniões da secretaria municipal de urbanismo e outras<br />
286 JONES LANG LASALLE. A divisão das regiões de escritórios no Rio de Janeiro se constitui pelas regiões<br />
Centro, Orla e Barra, sendo que a região Centro, é constituída por sub-regiões (Praça Mauá, Presidente Vargas,<br />
Cidade Nova, Rio Branco, Microcentro, Castelo e Cinelândia .<br />
287 “Porto do Rio” – Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária, elaborado pelo Instituto Pereira<br />
Passos-IPP, em 2001. O Plano representa as ações da Prefeitura, em parcerias com o governo federal e iniciativa<br />
privada <strong>na</strong> área portuária (Cais, Saúde, Gamboa e Santo Cristo).
125<br />
instâncias foram promovidas no Centro de Convenções do edifício), e por último, o setor de<br />
advocacia inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l localizado no edifício foi o promotor dos leilões e outros serviços<br />
para as empresas responsáveis pela “<strong>na</strong>ufragada” proposta de instalação da filial do Museu<br />
Guggenheim no Píer Mauá.<br />
A Expla<strong>na</strong>da do Castelo se destaca no mercado de escritórios pelo alto valor dos<br />
aluguéis. No fi<strong>na</strong>l de 2004 foi i<strong>na</strong>ugurado o edifício de arquitetura pós-moder<strong>na</strong>, o Torre<br />
Almirante, localizado <strong>na</strong> Av. Almirante Barroso, e ocupado por empresas prestadoras de<br />
serviço à Petrobrás (Engenharia, Tecnologia da Informação, etc.). Outro exemplo de<br />
investimentos maciços feitos por incorporadoras neste tipo de mercado é o Ventura Corporate<br />
Towers 288 , complexo de duas torres de escritório, em construção no “corredor corporativo”<br />
formado <strong>na</strong> Avenida Chile onde se localizam as sedes da Petrobrás e do BNDES.<br />
Do ponto de vista espacial, estes edifícios “inteligentes” representam a reconfiguração<br />
área central vinculada à modernização do setor terciário, e seguem uma tendência básica<br />
observada <strong>na</strong> concentração das atividades do terciário superior no Rio de Janeiro 289 .<br />
O crescimento do setor imobiliário no Rio de Janeiro também se apresenta no mercado<br />
da habitação com destaque para o condomínio residencial Cores da Lapa, i<strong>na</strong>ugurado em<br />
2005. Segundo a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ):<br />
visto como “aposta da construtora Klabin Segall, (...) com total de vendas de R$ 100 milhões,<br />
o condomínio, localizado <strong>na</strong> Rua Riachuelo, <strong>na</strong> Lapa, num antigo terreno da cervejaria<br />
Antarctica, será o primeiro a ser erguido em 30 anos no bairro boêmio” 290 .<br />
Segundo a matéria da Revista Veja Guia Imobiliário, “o projeto, batizado de Cores da<br />
Lapa, foi uma aposta arriscada (...) estão sendo construídos treze edifícios residenciais, com<br />
688 apartamentos no total”. O condomínio foi totalmente vendido no dia do lançamento do<br />
empreendimento. Entre os atores envolvidos <strong>na</strong> promoção do condomínio e da própria<br />
imagem do bairro estão pequenos empresários, artistas e formadores de opinião, como a<br />
própria prefeitura. Destaca-se o investimento dos incorporadores numa<br />
campanha institucio<strong>na</strong>l para promover a Lapa. O slogan ‘Eu sou da Lapa’ se<br />
espalhou pela <strong>cidade</strong> em anúncios de televisão, <strong>na</strong> mídia impressa e até mesmo em<br />
288 “Fruto de uma parceria entre a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário e a Tishman Speyer, o<br />
empreendimento - que foi comercializado para grandes grupos de investidores estrangeiros - será um "prédio<br />
verde" com duas torres de 36 pavimentos, cinco subsolos e 1500 vagas de garagem”. O valor do investimento é<br />
totalizado em R$ 450 milhões e se propõe a direcio<strong>na</strong>r sua ocupação ao mercado fi<strong>na</strong>nceiro e energético.<br />
Matéria: ALVO CERTEIRO. Disponível em < http://www.acrj.org.b> em abril de 2008.<br />
289 PACHECO, 1999.<br />
290 SATISFEITOS com 2005. Jor<strong>na</strong>l do Brasil, Rio de Janeiro, dezembro de 2005.
126<br />
jogos de futebol. Os criadores da campanha produziram bandeirões com os escudos<br />
dos principais times cariocas acompanhados pelo slogan ‘Eu sou da Lapa’ 291 .<br />
Sobre o fenômeno da “reabilitação” do Centro, Rabha (2006) aponta que ape<strong>na</strong>s a<br />
localização de alguns pontos da área central tem sido “resgatada em seu potencial de<br />
qualidade arquitetônica e de caráter histórico”, e como os “pressupostos destas novas políticas<br />
calcadas <strong>na</strong> nova urbanização” se baseiam <strong>na</strong> chamada “animação urba<strong>na</strong>”, as preocupações<br />
com o uso e ocupação do espaço central se pautam em alterar formas de apropriação segundo<br />
segmentos de renda ou padrão de atividade. Logo, questio<strong>na</strong>-se o sentido das intervenções de<br />
requalificação e os seus efeitos de “gentrificação”, pois seus objetivos se estabelecem <strong>na</strong><br />
“generalização” do capital, <strong>na</strong> movimentação da economia urba<strong>na</strong>, e <strong>na</strong> acumulação de capital<br />
pelo setor imobiliário.<br />
Por detrás desta reorganização do espaço, realizada por meio de intervenções intraurba<strong>na</strong>s,<br />
há uma visão de acumulação de capital por grupos privados que favorece o<br />
desenvolvimento de uma base material, e que estimula novos padrões de serviços e de<br />
consumo. Deste modo, a reorganização do espaço urbano do Centro consolidaria este<br />
processo, por exemplo, atribuindo novas funções às formas espaciais valorizando novos<br />
padrões de organização. Como diria Neil Smith, em seu artigo presente <strong>na</strong> obra de Bidou-<br />
Zachariasen (2006), é de se questio<strong>na</strong>r tal reapropriação estratégica do espaço urbano, e as<br />
transformações materiais, sociais e simbólicas as quais tem passado os centros das <strong>cidade</strong>s.<br />
Segundo Arantes (2002), a cultura representa o “novo combustível (...) da máqui<strong>na</strong><br />
ideológica acio<strong>na</strong>da pelos que administram tanto a construção física quanto a ideacio<strong>na</strong>l dos<br />
recursos capazes de impulsio<strong>na</strong>r o desenvolvimento dentro e pelos “lugares” da <strong>cidade</strong>”. As<br />
universidades se inserem, portanto, enquanto “intermediário cultural” nesse processo,<br />
representando “a fração de classe fornecedora de bens e serviços simbólicos, cuja trajetória<br />
ascendente é reveladora do atual culturalismo de mercado”. Desta forma, assim como as<br />
atividades culturais promovidas por<br />
curadores de museus visam demonstrar que suas instituições (ou melhor,<br />
organizações) atraem multidões que multiplicam os negócios, dos gadgets de toda<br />
ordem ás exposições blockbuster (...); o mesmo para as universidades, cuja<br />
sobrevivência institucio<strong>na</strong>l depende cada vez mais de sua atitude cooperativa diante<br />
do mundo dos negócios (Ibid., p.67-68).<br />
291 A LAPA e outras surpresas. Veja Rio Guia imobiliário. Rio de Janeiro, março, 2006. Endereço eletrônico >. Acesso em outubro de 2008.
127<br />
O próximo capítulo se propõe a discutir o papel da cultura <strong>na</strong> (re)configuração recente<br />
das áreas centrais. O debate exami<strong>na</strong>rá as atividades “culturais” e, mais especificamente, as<br />
instituições superiores de ensino – universidades, localizadas no Centro que, desde a década<br />
da de 1990, estão se estruturando em novos moldes no arranjo espacial da <strong>cidade</strong>.
128<br />
CAPÍTULO 3 – IDEOLOGIA E PLANEJAMENTO: DISCURSOS E PRÁTICAS EM<br />
DISPUTA NA ÁREA CENTRAL DO RIO DE JANEIRO<br />
A presença das universidades no Centro: UGF – Unidade Candelária; UCAM – Campus Centro; ESPM –<br />
Campus Rosário (da esquerda para a direita).<br />
Fonte: Internet.<br />
O papel do discurso da “volta ao Centro” expresso <strong>na</strong> literatura da área de urbanismo,<br />
<strong>na</strong> mídia e no poder público, representa parte das ações voltadas à redefinição e recomposição<br />
da <strong>centralidade</strong> no contexto urbano contemporâneo, tanto nos aspectos simbólicos quanto<br />
funcio<strong>na</strong>is. Neste sentido, três “si<strong>na</strong>is” são apontados referindo-se ao movimento de reversão<br />
da decadência, ou seja, do “re<strong>na</strong>scimento” do Centro: os empreendimentos imobiliários<br />
residenciais, como o condomínio Cores da Lapa, que reconfiguram a Área Central e trazem<br />
uma nova dinâmica; as torres empresariais, que trazem ao debate uma forma de ação de<br />
novos atores ligados aos setores fi<strong>na</strong>nceiros, de energia, de escritórios de arquitetura<br />
inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is; e as universidades, que geram di<strong>na</strong>mismo, assegurando a retomada de<br />
atividades ligadas ao entretenimento e à cultura no Centro.<br />
Cabe a este estudo avaliar como as novas representações e visões sobre o “Centro”,<br />
presentes no discurso domi<strong>na</strong>nte, orientam novas formas de apropriação do espaço pelo<br />
capital privado – no caso, pelas Instituições de Ensino Superior (IES). Sabe-se que este<br />
estudo de caso não é suficiente para traçar um panorama geral da dinâmica do espaço central<br />
metropolitano, no entanto, parte-se da importância de se repensar o sentido da<br />
refuncio<strong>na</strong>lização da área central do Rio de Janeiro vista por meio da ação das empresas <strong>na</strong>s<br />
últimas décadas.
129<br />
3.1. O “NOVO” E O “VELHO” NA ESTRUTURA URBANA<br />
A Área Central do Rio de Janeiro está inserida <strong>na</strong> Área de Planejamento I (AP−1), que<br />
se consolida como área de negócios e baixo uso residencial 292 . Recentemente, o capital<br />
privado, principalmente o imobiliário, tem investido maciçamente neste espaço, associando<br />
tecnologia e qualidade do ambiente, “cultura & economia”, apropriando-se de uma imagem<br />
que valoriza a aglomeração espacial do “velho & novo”. Este padrão de organização e<br />
utilização do espaço, estimulado pelo capital, se apresenta <strong>na</strong> paisagem da Área Central,<br />
especialmente no centro histórico e seu entorno modernizado.<br />
O centro do Rio de Janeiro possui uma multifuncio<strong>na</strong>lidade em seu conteúdo,<br />
destacando-se a forte presença do comércio e da prestação de serviços, além das funções<br />
residencial e administrativa. Apesar de o uso residencial <strong>na</strong>s últimas décadas ter se reduzido,<br />
há um contingente expressivo de pessoas que ainda habita o Centro 293 . Como sede do poder<br />
municipal, ele abriga repartições de órgãos públicos estaduais e federais, resquícios do fato de<br />
ter sido a antiga capital do país.<br />
A paisagem urba<strong>na</strong> do Centro é marcada por uma grande variedade de formas. Desde<br />
os antigos casarões e os prédios cívicos e culturais, que são verdadeiros monumentos<br />
históricos – o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacio<strong>na</strong>l e o Paço Imperial são alguns exemplos<br />
– aos grandes edifícios modernos e pós-modernos, vistos principalmente no centro fi<strong>na</strong>nceiro<br />
representado pela Avenida Rio Branco.<br />
292<br />
Compreende os seguintes bairros: Mangueira, Paquetá, Benfica, Catumbi, Caju, Centro, Cidade Nova,<br />
Estácio, Gamboa, Rio Comprido, Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde e Vasco da Gama (PREFEITURA DA<br />
CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2003). PMRJ. Nota Técnica nº 5: Região Centro. Rio Estudos, nº 95, março<br />
de 2003. Disponível em http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em outubro de 2006.<br />
293 “Numa área de 572 ha., território circunscrito da II Região Administrativa, Centro, moram 39.135 pessoas<br />
(Censo 2000). (...) no trecho antigo, fronteiro ao bairro de Santa Teresa, delimitado pela rua do Riachuelo, região<br />
sul da área central, (...) técnicos da municipalidade estudam a possibilidade de criar dois novos bairros,<br />
reconhecendo a evidência de seu uso residencial, ainda que entremeado por diversas outras atividades. Os dados<br />
obtidos por agregação de setores censitários (...) apontam a presença de significativa concentração da população<br />
residente <strong>na</strong> área polarizada pela Lapa e Praça da Cruz Vermelha, entre a rua do Riachuelo e a Frei Caneca, nelas<br />
incluída o único setor que reteve o conceito residencial no próprio nome, o bairro de Fátima. Uma observação<br />
mais apurada do restante da área demonstra uma distribuição bastante rarefeita, com maior concentração ape<strong>na</strong>s<br />
no setor censitário que cobre os edifícios construídos no início dos anos cinqüenta <strong>na</strong> Presidente Vargas, o<br />
conhecido conjunto “Balança mas não cai”, onde moram 1.004 pessoas em 423 domicílios. (...) Na área mais<br />
central e <strong>na</strong>s bordas da baía de Gua<strong>na</strong>bara ainda é encontrada alguma ocupação de caráter residencial, desta vez<br />
em prédios mistos (...) Trechos bem localizados, dotados de boa vizinhança ou próximos ao antigo Se<strong>na</strong>do ou<br />
Câmara dos Deputados correspondem a estes casos, sendo ainda encontrados <strong>na</strong> avenida Beira Mar, bem como<br />
<strong>na</strong> região do Castelo ou <strong>na</strong> própria Rio Branco, neste caso mais residual, como nos edifícios Marquês de Herval<br />
(Rio Branco 185), Brasília (Rio Branco 311) ou o Santos Vahlis (Se<strong>na</strong>dor Dantas 117)”(RABHA, 2006, p.343-<br />
45).
130<br />
Nota-se a co-presença de equipamentos ligados às atividades culturais, de lazer e<br />
entretenimento – centros culturais, teatros, cinemas; ao comércio sofisticado, como joalherias,<br />
lojas de griffe de roupas, bolsas e sapatos, restaurantes, cafés e livrarias; e aos serviços<br />
especializados, localizados nos centros médicos e laboratórios, <strong>na</strong>s instituições privadas de<br />
ensino 294 e <strong>na</strong>s torres de escritório – os chamados “edifícios inteligentes”.<br />
O centro histórico do Rio, <strong>na</strong> atualidade, busca reafirmar sua posição concentrando o<br />
setor terciário no âmbito das funções decisórias das firmas e da prestação de serviços<br />
(...) [e como] centro de compras, negócios e lazer voltado para a cultura<br />
(PACHECO, op.cit., p.2).<br />
Portanto, a rede de relações socioespaciais que conformam o conteúdo social do bairro<br />
gira em torno da sua característica como “<strong>centralidade</strong> tradicio<strong>na</strong>l”, incluindo os lugares<br />
centrais de função fi<strong>na</strong>nceira, histórica, cultural, portuária, comercial popular e residencial 295 .<br />
Segundo notas técnicas do Plano Estratégico 2001-2004, a “Região Centro”, que<br />
simboliza a origem da formação da <strong>cidade</strong>, agrega atualmente os bairros mais tradicio<strong>na</strong>is do<br />
município do Rio de Janeiro 296 . Ali estão localizados os principais monumentos arquitetônicos<br />
e artísticos e os marcos históricos mais importantes da evolução urba<strong>na</strong> da <strong>cidade</strong>.<br />
A região ainda é o segundo centro fi<strong>na</strong>nceiro do país e abriga maior número de<br />
prédios comerciais, museus, restaurantes tradicio<strong>na</strong>is, centros de pesquisa e<br />
universidades do que qualquer outra região do município. Sua zo<strong>na</strong> portuária é um<br />
dos principais portais de entrada e saída de mercadorias do país. Não obstante o<br />
esvaziamento populacio<strong>na</strong>l dos últimos anos, o Centro continua a ser a principal<br />
referência da Cidade do Rio de Janeiro. Exatamente por preservar essa condição de<br />
núcleo estratégico para o qual tudo converge, a região traz, subjacente, as sementes<br />
da própria revitalização (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,<br />
2003, p.15-16).<br />
O núcleo central ou Área Central de Negócios, localizadao no bairro Centro (II-R.A.),<br />
comporta uma variedade de funções e se caracteriza como principal espaço de consumo. Tal<br />
área, além de possuidora de grande valor arquitetônico e urbanístico, se constitui como o<br />
principal eixo fi<strong>na</strong>nceiro-empresarial da <strong>cidade</strong>, encontrando-se num processo de<br />
294<br />
Entre outras a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Universidade Gama Filho, Estácio de Sá,<br />
UniverCIDADE, Castelo Branco, Cândido Mendes, FGV (Fundação Getúlio Vargas), PUC e IBMEC.<br />
295<br />
MELLO, 2002.<br />
296 Segundo o Plano, a Região Centro é formada por 14 bairros. São eles: Benfica, Caju, Catumbi, Centro,<br />
Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Mangueira, Paquetá, Rio Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão e<br />
Saúde.
131<br />
modernização mais avançado do que as demais áreas do Centro 297 . Dentro da dinâmica atual,<br />
pode-se dizer que o núcleo central vem se destacando em serviços especializados que<br />
valorizam o espaço para o consumo e denotam importante funcio<strong>na</strong>lidade com vistas à<br />
acumulação e valorização do capital das empresas nele investido.<br />
A organização espacial do centro da <strong>cidade</strong> se caracteriza pela co-presença de fixos 298<br />
de diferentes tempos históricos. Observam-se igrejas, antigos sobrados e casarões de<br />
arquitetura pré-moder<strong>na</strong>, alguns fechados e outros em pleno funcio<strong>na</strong>mento, mantendo sua<br />
forma origi<strong>na</strong>l ou modernizados, abrigando atividades comerciais ou culturais certamente<br />
diferentes da sua função de origem.<br />
O Centro do Rio como hoje se apresenta é o resultado de (...) anos de história. Ao<br />
longo deste período, as sucessivas transformações urba<strong>na</strong>s decorrentes da expansão<br />
da <strong>cidade</strong> modificaram suas ruas, sua arquitetura e até o seu perfil <strong>na</strong>tural (...).<br />
Assim, as diferentes épocas deixaram seu registro presente através dos estilos<br />
arquitetônicos que as caracterizam. Neste espaço urbano, os edifícios modernos e os<br />
prédios antigos, as amplas avenidas de grande tráfego e as estreitas ruas de pedestres<br />
convivem e se articulam, oferecendo uma viva documentação da história carioca<br />
(INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA, 1989).<br />
A distribuição destes fixos se faz de forma mais esparsa no território entre os mais<br />
modernos, estando preservados ou não como patrimônios históricos, ou de maneira<br />
concentrada – alguns são reconhecidos como conjunto arquitetônico e urbanístico, como é o<br />
caso da Praça XV. Como exemplos do primeiro caso estão os sobrados <strong>na</strong> Rua da Candelária<br />
e Teófilo Otoni. Alguns puderam ser restaurados por seus donos, outros não, permanecendo<br />
fechados apesar de se identificarem como Áreas de Proteção ao Ambiente Cultural –<br />
APAC 299 . Estes sobrados ainda resistem em meio a modernos edifícios e torres “inteligentes”,<br />
como os prédios da Souza Cruz e o Candelária Corporate.<br />
A diversidade dos logradouros públicos apresenta-se <strong>na</strong>s ruas estreitas ou largas,<br />
avenidas, travessas e becos – permanências e mudanças – presentes no espaço, frutos da<br />
modernização das redes técnicas de infra-estrutura urba<strong>na</strong> implementadas por diferentes<br />
297 Segundo a Diretoria de Informações Geográficas do Instituto Pereira Passos, “a atividade econômica <strong>na</strong><br />
região é composta por cerca de 21.800 estabelecimentos, 87,8% dos quais são do segmento de comércio e<br />
serviços, empregando aproximadamente 327 mil pessoas. O volume de negócios é de R$ 1,8 bilhão (US$ 1,6<br />
bilhão)[1], a maior arrecadação do município”(ibid.). [1] Valor médio do dólar (1998) utilizado para conversão:<br />
US$ 1,1606.<br />
298<br />
SANTOS, 1997.<br />
299 APAC – Categoria de Unidades de Conservação Ambiental definida pelo artigo 124 da Lei Complementar de<br />
16 de junho de 1992, que institui o Plano Diretor Dece<strong>na</strong>l da Cidade do Rio de Janeiro (Armazém de Dados,<br />
2006). Os sobrados da rua Teófilo Otoni e Candelária foram preservados, segundo o Decreto Municipal 2698 de<br />
12/12/97.
132<br />
reformas urbanísticas que privilegiaram partes da Área Central. Numa caminhada pelas ruas<br />
do Rosário ou do Ouvidor, no Beco das Cancelas ou dos Barbeiros, <strong>na</strong> Sete de Setembro ou<br />
<strong>na</strong> São José, observam-se logradouros estreitíssimos se comparados às grandes avenidas que<br />
os cercam, como a Presidente Vargas, Rio Branco, Primeiro de Março e Nilo Peçanha, entre<br />
outras.<br />
Desta forma, tem-se ao lado dos sobrados a localização de edifícios modernos e pósmodernos.<br />
Dos sobrados mais antigos, alguns permanecem fechados, outros têm sofrido<br />
reformas arquitetônicas em suas fachadas e/ou <strong>na</strong> sua estrutura predial, tais como a instalação<br />
de fibra ótica. Um exemplo que congrega tal estrutura é a Avenida Rio Branco. Nela<br />
observam-se mais de três gerações de edifícios construídos e reconstruídos ao longo do século<br />
XX, desde o prédio da atual sede do Departamento de Meio Circulante do Banco Central, o<br />
Mecir, que no ano de 2006 completou cem anos de existência, ao Centro Empresarial<br />
Inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l Rio, o RB1, edifício com as qualidades de “pós-moderno” e “inteligente”,<br />
localizado <strong>na</strong> Praça Mauá.<br />
Os processos de permanências e mudanças – o “novo e o velho”, não se apresentam<br />
somente <strong>na</strong> diversidade das formas, mas <strong>na</strong>s funções do objeto que orientam seus fluxos. A<br />
Praça Quinze de Novembro, por exemplo, antigo Largo do Carmo, “se apresenta como um<br />
espaço de múltiplas formas e funções, [e como] resultado de um processo de evolução<br />
urba<strong>na</strong>” 300 . Tornou-se um espaço de fluxos sociais, fi<strong>na</strong>nceiros e comerciais, religiosos,<br />
institucio<strong>na</strong>is e culturais, cujas funções históricas permanecem ainda hoje.<br />
O logradouro possuiu elevada importância comercial até o início do século XX.<br />
Atualmente, a principal causa do fluxo de população flutuante presente diutur<strong>na</strong>mente no<br />
mesmo é a localização do termi<strong>na</strong>l rodoviário Alfredo Agache (Mergulhão) e da Estação das<br />
Barcas e dos Aerobarcos interligando as <strong>cidade</strong>s do Rio de Janeiro e Niterói e às ilhas de<br />
Paquetá e do Gover<strong>na</strong>dor. Além disso, após passar por reforma urbanística em meados da<br />
década de 1990, o Largo do Paço afirmou-se como local de encontro, de feiras e eventos<br />
musicais que se iniciam geralmente no horário do happy hour.<br />
Muito da memória do Brasil e da história da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro pode ser<br />
revivida por meio do seu conjunto arquitetônico e urbanístico. A Praça XV é constituída por<br />
diversas edificações tombadas individualmente e faz parte da legislação municipal (Lei nº 506<br />
de 17/01/84) que reconhece o Corredor Cultural como Zo<strong>na</strong> Especial do Centro Histórico e<br />
300 COLOMBIANO, op.cit., p.76.
133<br />
define “condições básicas para a preservação paisagística e ambiental de grande parte da Área<br />
Central” 301 .<br />
Dentre algumas edificações e monumentos destacam-se o Paço Imperial, construído<br />
em 1743, que já foi casa da moeda, armazém del Rei, casa dos gover<strong>na</strong>dores, dos vice-reis,<br />
Paço Real e correios. Passadas várias reformas ao longo dos séculos, ele funcio<strong>na</strong> hoje como<br />
centro cultural, possuindo em seu edifício uma biblioteca, salas para exposição de artes<br />
plásticas, eventos teatrais, concertos musicais, palestras e seminários. Possui também em sua<br />
parte comercial uma papelaria, loja de discos, aluguel de vídeos, cafeteria, restaurante e<br />
bistrô.<br />
Entres outras edificações tombadas estão o Edifício da Assembléia Legislativa do<br />
Estado do Rio de Janeiro (Palácio Tiradentes), i<strong>na</strong>ugurado em 1926; a Estação das Barcas –<br />
conjunto de três construções edificadas entre 1906 e 1911; o Restaurante Albamar, que<br />
iniciou seu funcio<strong>na</strong>mento no ano de 1933 e ocupa um dos cinco torreões remanescentes do<br />
antigo mercado municipal que existiu <strong>na</strong> Praça XV <strong>na</strong> metade do século; o Arco dos Teles e as<br />
casas n° 32 e 34 – construções do século XVIII que ligam a Praça XV à Travessa do<br />
Comércio. Em sua parte superior situava-se a residência da família Teles de Menezes.<br />
Atualmente o Arco do Teles é conhecido pela particularidade dos seus bares e restaurantes, já<br />
que as estruturas da fachada e do interior foram mantidas.<br />
Há de se mencio<strong>na</strong>r o prédio da Bolsa de Valores, primeiramente construído <strong>na</strong><br />
década de 1930 no lugar onde antes se localizava o mercado de peixe. Com vistas a um<br />
melhor funcio<strong>na</strong>mento dos pregões, ele necessitou de expansão <strong>na</strong>s suas instalações, que<br />
vieram a ser i<strong>na</strong>uguradas com roupagens mais moder<strong>na</strong>s em 1998 302 . Apesar da transferência<br />
de boa parte das suas atividades para a BOVESPA (SP), em 2000, i<strong>na</strong>ugurou um Call Center<br />
(Central de Informações para o Exportador), marcando o início do seu processo de<br />
revitalização. Em 2003, foi i<strong>na</strong>ugurado o Centro de Convenções Bolsa do Rio e, em 2004, o<br />
Centro de Memória da Bolsa do Rio.<br />
Em conclusão, chamam a atenção as edificações históricas e sua passagem por<br />
processos que as levam, atualmente, a exercerem novas funções, gerando uma nova<br />
organização espacial <strong>na</strong> Área Central da <strong>cidade</strong> 303 . São museus, centros culturais, bibliotecas,<br />
301 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA, 1989.<br />
302<br />
COLOMBIANO, passim.<br />
303 “Podem-se perceber movimentos de upgrading por meio dos seguintes aspectos: a reconstrução e recuperação<br />
de prédios antigos e a presença de algumas construções novas, inclusive com arquiteturas pós-moder<strong>na</strong>s; as<br />
mudanças verificadas nos usos das edificações existentes; o desenvolvimento de atividades culturais, com o<br />
surgimento de novos núcleos e/ou instituições de peso <strong>na</strong> área de diversão e cultura (Casa França Brasil, Centro
134<br />
bares, restaurantes e feiras, dentre os quais se destacam: os centros culturais Paço Imperial, <strong>na</strong><br />
Praça XV; o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), a Fundação Casa França Brasil e o<br />
Espaço Cultural Correios e Telégrafos, <strong>na</strong> Rua Visconde de Itaboraí; o Museu da Imagem e<br />
do Som (MIS) e o Museu Histórico Nacio<strong>na</strong>l, equipamento recentemente restaurado<br />
(setembro de 2004), <strong>na</strong> Praça Marechal Âncora e Av. General Justo, respectivamente; e os<br />
bares e restaurantes no Arco do Teles e nos sobrados das travessas do Comércio e do Tinoco,<br />
<strong>na</strong>s ruas dos Mercadores e do Mercado.<br />
As políticas de revitalização da área central postas em marcha pelo governo e suas<br />
parcerias do setor empresarial favorecem a organização comercial, <strong>na</strong> medida em<br />
que restituem as dinâmicas econômica e cultural que estabelecem nexos<br />
convergentes para esta área. O centro dos dias atuais, <strong>na</strong> sua heterogeneidade<br />
inter<strong>na</strong>, oferece cultura, comércio, serviços e lazer, buscando resgatar a imagem dos<br />
anos 50, ou do tempo da Corte, quando tudo acontecia no centro. Dentro do<br />
quadrilátero histórico, (...) o comércio se beneficia desta vida nova que se tenta<br />
imprimir, recuperando as fachadas e a imagem urba<strong>na</strong> através de algumas<br />
referências como uma confeitaria, uma chapelaria, um empório de vinhos e<br />
importados, enfim, um comércio especializado e que tem a marca de símbolos<br />
cariocas vinculados ao centro histórico (PACHECO, op.cit., p.2).<br />
Além dos novos usos ligados ao turismo cultural (visitas a bibliotecas, espaços e<br />
centros culturais e religiosos, etc.), são apontados os novos empreendimentos no setor de<br />
serviços, como os serviços avançados materializados nos edifícios “inteligentes”, as<br />
universidades particulares e a consolidação do que denomi<strong>na</strong>mos Pólo Comercial de Luxo,<br />
formado por lojas de griffe do ramo do vestuário, bolsas e sapatos.<br />
Cultural Banco do Brasil, Fundição Progresso, entre outros), que atraem uma nova clientela, anteriormente<br />
usuária quase exclusiva dos equipamentos da Zo<strong>na</strong> Sul. O ressurgimento das atividades de cultura e lazer <strong>na</strong><br />
Área Central é acompanhada do movimento do comércio dirigido a essa nova clientela. [...] Essa revitalização,<br />
no entanto, é de <strong>na</strong>tureza diferente da dos movimentos anteriores de desenvolvimento, pois não implica nem a<br />
expansão física horizontal nem a vertical; pelo contrário, seus pontos de destaque privilegiam a recuperação de<br />
estruturas físicas antigas” (VAZ, 1994, p.96).
135<br />
Figura 4: A imagem apropriada<br />
A figura apresenta a imagem da arquitetura colonial<br />
do chafariz presente <strong>na</strong> Praça XV como logotipo da<br />
Universidade Cândido Mendes em comemoração<br />
ao centenário da instituição.<br />
A Praça Mauá se apresenta como outro exemplo emblemático das políticas urbanoculturais<br />
atuais. Foi criada em conseqüência da remodelação do Porto, em 1908, e já passou<br />
por diversas renovações urba<strong>na</strong>s, agregando ainda hoje funções do setor terciário.<br />
A Praça Mauá foi considerada durante muito tempo a ‘porta de entrada’ do Rio de<br />
Janeiro, do Brasil – por ali passavam pessoas, mercadorias, num fluxo constante (...),<br />
ou seja, atravessando décadas e sofrendo modificações, a Praça Mauá manteve<br />
sempre a vocação de ponto de encontro da <strong>cidade</strong> e do país com o resto do mundo<br />
(IPLANRIO & J.F. ENGENHARIA, 1989).<br />
Desde as décadas de 1970/80, há um projeto de remodelação do porto do Rio, devido à<br />
perda da maioria de suas funções e a decadência de seus equipamentos, como por exemplo o<br />
Píer Mauá. Atualmente, o píer não exerce mais as suas funções de origem, servindo até como<br />
palco de grandes eventos e festas. Desta forma, em 2001, a Prefeitura relançou o projeto de<br />
remodelação do porto baseando-se <strong>na</strong>s propostas de requalificação urba<strong>na</strong> apontadas.<br />
Para que a proposta obtenha sucesso tor<strong>na</strong>-se necessário combi<strong>na</strong>r o uso das formas<br />
edificadas às novas funções, dotando o espaço urbano de padrões de qualidade e<br />
tratamento ambiental [...]. Nesta lógica de intervenção, o ponto focal representado
136<br />
pela intersecção da Avenida Rio Branco, Rua Acre e Praça e Píer Mauá, é não só o<br />
mais integrador à área central, como também o que reúne pré-condições mais<br />
imediatas para a sua implementação, beneficiada pela proximidade do centro de<br />
negócios [...]. As atividades de lazer, cultura, comércio, serviços e o forte apelo<br />
turístico estariam atendidas <strong>na</strong> implementação de um projeto de renovação do trecho<br />
entre o Píer e o Armazém 4, setor já disponibilizado para essa fi<strong>na</strong>lidade pela Cia.<br />
Docas (INSTITUTO PEREIRA PASSOS, 2001).<br />
A riqueza urbanística concentrada <strong>na</strong> região da Praça Mauá é fruto da evolução urba<strong>na</strong><br />
da <strong>cidade</strong> como um todo. Nela podemos encontrar prédios históricos da Metropol, Docas Rio<br />
(Touring), Portus-Banco Santos (Palacete Príncipe D. João), A Noite, Imprensa Nacio<strong>na</strong>l,<br />
Igreja e Mosteiro de São Bento, Museu Naval, etc. No que se refere à acessibilidade e<br />
<strong>centralidade</strong>, concentra e descentraliza os fluxos para diferentes partes da <strong>cidade</strong> através do<br />
Termi<strong>na</strong>l Rodoviário Mariano Procópio e das avenidas Rio Branco e Rodrigues Alves.<br />
A compreensão dos fatores responsáveis pelo desencadeamento dos processos de<br />
revitalização urba<strong>na</strong>, como aponta Colombiano (op.cit), revela “a realização de práticas<br />
espaciais em consonância com a conjuntura contemporânea de reestruturação urba<strong>na</strong>” 304 .<br />
Parte-se do entendimento que a Área Central do Rio de Janeiro tem passado por inúmeras<br />
transformações ao longo das duas últimas décadas, sendo que tais mudanças se inserem num<br />
contexto onde:<br />
as áreas centrais de grandes <strong>cidade</strong>s, após período de intensa decadência econômica<br />
e obsolescência de vários de seus espaços, vêm passando por diferentes modos de<br />
intervenção no seu processo de modernização e, conseqüentemente, pela retomada<br />
de sua importância no contexto urbano (MACHADO, 2003, p.41).<br />
Tais transformações no uso social das áreas centrais envolvem a execução de projetos<br />
de preservação e recuperação do conjunto arquitetônico e urbanístico existente; melhor<br />
tratamento dos espaços urbanos com a recuperação/reurbanização de ruas e praças;<br />
implantação de novos usos nestes espaços; e a construção e/ou modernização (inclusive<br />
arquitetônica) de equipamentos culturais de grande porte e novos empreendimentos<br />
comerciais e de serviços avançados – como as torres “inteligentes”.<br />
Sobre a atual hegemonia do capitalismo global, Sánchez (2003) explica:<br />
Um conjunto de orientações estratégicas e de representações que as <strong>cidade</strong>s<br />
legitimam configuram uma agenda urba<strong>na</strong> tor<strong>na</strong>da domi<strong>na</strong>nte <strong>na</strong> virada do século,<br />
[...]. O alcance político dessa agenda pode ser identificado em sua rápida absorção,<br />
em maior ou menor grau, nos atuais projetos de renovação urba<strong>na</strong> em diversas partes<br />
do mundo. [...] Essa identificação [...] dá relevância a<strong>na</strong>lítica à mútua dependência<br />
entre materialização e simbolização, pois essa relação constrói as possibilidades<br />
304 COLOMBIANO, op.cit., p.49.
137<br />
históricas de efetivação dos interesses globais e seus agentes <strong>na</strong> nova espacialidade<br />
urba<strong>na</strong>” (Ibid., p.547).<br />
A construção de uma imagem requalificada 305 da Área Central, como concentradora<br />
do velho e do novo “é tor<strong>na</strong>da um espetáculo mercantil da <strong>cidade</strong>” 306 , um recurso estratégico<br />
para a promoção das potencialidades “peculiares”, mas também “globais” da <strong>cidade</strong> <strong>na</strong> era da<br />
competição interurba<strong>na</strong> e de inserção no espaço global.<br />
Tal imagem “resignificada” e com vistas à promoção econômica da <strong>cidade</strong> no período<br />
contemporâneo concretiza-se <strong>na</strong> relação entre materialização e simbolização, a partir de duas<br />
vertentes: um viés cultural-preservacionista – “o velho”, e outro modernizante – “o novo”.<br />
Portanto, é proposta pelo discurso domi<strong>na</strong>nte uma urbanização baseada numa “nova escala de<br />
valores”, onde “antigo referencia e valoriza o novo” 307 .<br />
Assim, a partir do primeiro viés, a <strong>cidade</strong> é apresentada como renovada, um “lugar<br />
inovador, excitante, criativo e seguro para viver, visitar, para jogar ou consumir” 308 , e como<br />
diz Sánchez, “a invariavelmente exagerada noção de re<strong>na</strong>scimento urbano, de <strong>cidade</strong><br />
re<strong>na</strong>scida da crise ou da agonia, tem se mostrado recorrente como fórmula exitosa de venda<br />
da imagem urba<strong>na</strong> [...] em muitas <strong>cidade</strong>s do mundo” 309 . O segundo viés apresenta a <strong>cidade</strong><br />
como “competitiva”, “conectada”, “globalizada”, “empreendedora”, “flexível” 310 , capaz de<br />
prover um “bom clima de negócios e oferecer todos os tipos de atrativos para trazer capitais<br />
para a <strong>cidade</strong>” 311 .<br />
305 Além do significado da expressão utilizada por Sánchez, o uso do termo “requalificada” se dá por<br />
incorporação do conceito de requalificação urba<strong>na</strong>. O conceito de requalificação é utilizado por Magalhães<br />
(2002) para explicar as transformações do centro do Rio de Janeiro, principalmente, a partir da década de 1990,<br />
aliadas aos processos de competitividade entre as <strong>cidade</strong>s, característicos da globalização.<br />
306<br />
SÁNCHEZ, op.cit., p.497.<br />
307 PINHEIRO, 2002, p.3-4. Augusto Ivan Pinheiro é arquiteto e urbanista. Em suas últimas funções, foi<br />
subprefeito do Centro e secretário geral do Instituto Light. Atualmente é secretário de urbanismo da prefeitura do<br />
Rio de Janeiro. Foi responsável junto com uma equipe pelo Projeto Corredor Cultural – carro-chefe para os<br />
processos de preservação e renovação do centro da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro promovidos pela prefeitura.<br />
308<br />
HARVEY, 1996, p.55.<br />
309<br />
SÁNCHEZ, op.cit., p.489.<br />
310<br />
Ibid., p.548.<br />
311 HARVEY, op.cit., p.57.
138<br />
Os governos municipais 312 possuem grande parcela de responsabilidade <strong>na</strong> afirmação e<br />
legitimação desta imagem <strong>na</strong> nova “circunstância histórica que tem emergência a <strong>cidade</strong>mercadoria,<br />
a <strong>cidade</strong> vendida como produto no mercado mundial” 313 . Pinheiro (2002) faz<br />
menção à ligação da ação gover<strong>na</strong>mental no processo de renovação urba<strong>na</strong> do Centro, em seu<br />
artigo publicado <strong>na</strong> série de pesquisas promovidas pela Prefeitura Municipal do Rio de<br />
Janeiro. Nele, defende a ideologia da “volta ao Centro” como reação, entre outros fatores, ao<br />
urbanismo modernista que “isolou” o centro da <strong>cidade</strong> de outras funções, além da comercial, e<br />
contribuiu para a imagem de decadência do mesmo até os anos 1990.<br />
O Rio já equacionou, dentro do possível, sua dívida com a história, ao preservar<br />
parte significativa do acervo arquitetônico e ambiental de sua área central, deixando<br />
espaço disponível para a renovação e a verticalização. (...) Este é o novo paradigma:<br />
preservar, conservar, reciclar, renovar e modernizar, aproveitando o máximo a<br />
sinergia que estas ações possam produzir. (...) o Centro do Rio tem um valor<br />
inestimável e enraizado, que é a capa<strong>cidade</strong> de poder fazer conviver se não junto,<br />
mas próximo, o passado e o presente. Esta parceria é que faz dele um espaço<br />
diferencial da <strong>cidade</strong> (...) passado e presente, preservação e renovação, cultura e<br />
turismo, lazer e negócios podem e devem conviver entre si e, melhor, juntos<br />
produzirem riqueza, trabalho, desenvolvimento econômico e social, (...) ou seja, uma<br />
nova cultura para as <strong>cidade</strong>s (PINHEIRO, op.cit., p.5).<br />
3.2. IDEOLOGIA E PLANEJAMENTO: as novas atividades culturais<br />
A abertura deste tópico é pautada pelo seguinte questio<strong>na</strong>mento: qual a importância<br />
cultural e simbólica do Centro no fenômeno da “venda dos lugares”?<br />
As políticas culturais 314 presentes <strong>na</strong>s tendências de intervenção urba<strong>na</strong> estariam<br />
contribuindo para o incremento das atividades econômicas <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro,<br />
embasadas <strong>na</strong> “combi<strong>na</strong>ção de recursos patrimoniais e econômicos” 315 . O Turismo Cultural<br />
possui capa<strong>cidade</strong> de gerar fluxos intensos e promover interações no espaço, representando<br />
312 Em conjunto com outras entidades formam “as coalizões locais, reunidas em torno a um projeto de <strong>cidade</strong>”<br />
(SÁNCHEZ, 2003, p.548). Em nota, a autora faz referência “aos grandes interesses em jogo nos atuais processos<br />
de reestruturação urba<strong>na</strong> ligados, por exemplo, aos setores do turismo, transporte, capital imobiliário,<br />
telecomunicações, concessionárias de serviços” (p.491). Como exemplos de iniciativas da gestão urba<strong>na</strong><br />
municipal assi<strong>na</strong>lam-se “o projeto da Praça XV, já fi<strong>na</strong>lizado, além de outros em curso, como a revitalização da<br />
Área Portuária, do morro da Conceição, o projeto do Teleporto, o projeto de revitalização do corredor viário<br />
formado pelas ruas Estácio de Sá, Salvador de Sá e Mem de Sá (Projeto SA’S), o projeto de revitalização da<br />
Praça Tiradentes e o projeto do Distrito Cultural da Lapa. Excetuando-se esse último, proposto pelo poder<br />
público estadual” (SILVEIRA, 2004, p.78).<br />
313<br />
Ibid., p.548.<br />
314 Silveira (2004) traz um excelente debate sobre tendências da intervenção urba<strong>na</strong>, enfatizando a relação entre<br />
as políticas culturais & planejamento urbanístico.<br />
315<br />
MESENTIER, s/d.
139<br />
um papel ativo <strong>na</strong> organização do espaço geográfico da Área Central. Neste sentido, roteiros<br />
culturais fortalecem a <strong>centralidade</strong> do entretenimento/lazer tendo como “principais atividades<br />
os espetáculos teatrais, as exposições, os eventos, restaurantes e bares, além da visita ao<br />
patrimônio cultural, o qual está representado por museus, monumentos e sítios históricos” 316 .<br />
As políticas culturais associam-se ao turismo urbano por meio das chamadas “atrações<br />
culturais, tais como áreas históricas renovadas, grandes obras urbanísticas recentes, áreas<br />
comerciais de pedestres, obras de arte em espaços públicos, além de feiras e mercados” 317 . Na<br />
<strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, a atividade foi impulsio<strong>na</strong>da “pelo projeto Corredor Cultural, o qual<br />
auxiliou a revitalização desta área e a refuncio<strong>na</strong>lização de alguns fixos sociais importantes<br />
para a memória da <strong>cidade</strong>” 318 . Na área da Praça XV, por exemplo, o projeto visou a<br />
valorização da qualidade ambiental de certas ruas para promover a localização de<br />
“requintados bares, restaurantes e butiques” 319 .<br />
Com o decorrer da década de noventa, surgem outros projetos buscando elevar a<br />
participação dos cariocas <strong>na</strong>s atividades culturais <strong>na</strong> área central como ‘Fins de<br />
Sema<strong>na</strong> no Centro’, ‘Conhecendo o Rio a Pé’, dentre outras iniciativas. No bojo dos<br />
acontecimentos, novos centros culturais foram surgindo em razão da lógica de<br />
preservação imbuída no ideário social criado pelas políticas públicas de valorização<br />
da área central e pela divulgação de roteiros alter<strong>na</strong>tivos <strong>na</strong>s agências de turismo<br />
(COLOMBIANO, s/d).<br />
A presença do “velho” ou do “passado” no Centro pode ser visualizada a partir da<br />
espacialização dos atrativos culturais e equipamentos turísticos que se faz de maneira<br />
concentrada “em sua maioria no núcleo central da <strong>cidade</strong> em razão da concentração de bens<br />
tombados e da manutenção de logradouros importantes para a história da <strong>cidade</strong>” 320 .<br />
Como em tantas outras <strong>cidade</strong>s, os equipamentos culturais tendem a se concentrar no<br />
núcleo; e o Rio de Janeiro não foge à regra. No panorama carioca se observa uma<br />
forte concentração desses equipamentos em sua área central, algumas concentrações<br />
em bairros da classe média e uma enorme carência nos bairros populares, subúrbios<br />
e periferias. [...] Este olhar sobre a materialização dos edifícios culturais no espaço<br />
urbano reforça a distribuição extremamente desigual das benesses urbanísticas –<br />
316 COLOMBIANO, s/d. Texto disponível <strong>na</strong> internet no endereço eletrônico da Revista Digital Simonsen.<br />
Disponível em www.simonsen.com.br. Acesso em novembro de 2006.<br />
317<br />
SÁNCHEZ, op.cit., p.402.<br />
318<br />
COLOMBIANO, passim.<br />
319<br />
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA, op.cit.<br />
320<br />
COLOMBIANO, passim.
140<br />
equipamentos, serviços e infra-estrutura – tantas vezes assi<strong>na</strong>lada (VAZ; JACQUES,<br />
2003 321 apud COLOMBIANO, 2005, p.78).<br />
De acordo com dados do ano de 2004 322 , disponibilizados pela Prefeitura do Rio de<br />
Janeiro, foram levantados cerca de 350 equipamentos culturais no bairro do Centro, entre eles<br />
37 museus, 25 espaços e centros culturais, 198 bens tombados que compõem o acervo do<br />
Patrimônio histórico, artístico e cultural da <strong>cidade</strong>, 12 galerias de arte, 31 teatros e salas, 10<br />
cinemas, 25 bibliotecas populares e especializadas e 12 escolas e sociedades musicais. São<br />
apontados também os números de outros atrativos culturais e turísticos no bairro como os 10<br />
dos principais bares e chopperias, 89 das principais casas notur<strong>na</strong>s especializadas em música<br />
ao vivo, 6 das principais casas de dança e discotecas e 82 restaurantes (comidas brasileira e<br />
inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l).<br />
No quadro 1, <strong>na</strong> figuras 5 e no mapa 3, a seguir, observa-se a legislação urbanística<br />
municipal em torno da preservação de logradouros e tombamento de imóveis no Centro,<br />
assim como <strong>na</strong>s áreas que fazem parte do Corredor Cultural.<br />
321 VAZ, Lílian e JACQUES, Paola. Considerações sobre lugares culturais <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro. In: A<strong>na</strong>is<br />
da Conferência Rio de Janeiro. União Geográfica Inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l (UGI). Rio de Janeiro, 2003. CDROM<br />
322<br />
Dados disponíveis no endereço eletrônico do Armazém de Dados. Dados tabulados pela autora em 2006.
141<br />
Áreas de Proteção do<br />
Ambiente Cultural<br />
(APACs)<br />
Corredor Cultural<br />
Cruz Vermelha e<br />
Adjacências<br />
Rua Teófilo Otoni e<br />
arredores<br />
Quadro 1<br />
Áreas de Proteção do Ambiente Cultural<br />
e Legislação de Criação<br />
Legislação de criação Bairros Ano de criação<br />
Corredor Cultural<br />
Lei 506/84<br />
Centro 1984<br />
Decreto Municipal<br />
11883 30/12/92<br />
Centro 1992<br />
Decreto Municipal<br />
2698 12/12/97<br />
Centro 1997<br />
Fonte: Armazém de Dados, 2006. Dados tabulados pela autora.<br />
Figura 5: Áreas que fazem parte da legislação municipal<br />
de proteção de ambiência – Corredor Cultural<br />
Fonte: Instituto Pereira Passos – IPP
142<br />
Mapa 4<br />
Limites do Corredor Cultural
143<br />
Os discursos defensores da “volta ao Centro” enfatizam atrativos culturais do centro<br />
da <strong>cidade</strong> associando o ideal do “novo”. Na edição de novembro de 2006, o Jor<strong>na</strong>l Avenida<br />
Central – publicação mensal que visa a divulgação do comércio e de eventos no bairro do<br />
Centro, traz nos títulos da capa e da matéria principal: “O palco dos grandes – Conforto e<br />
qualidade são pontos fortes da nova casa do Centro” 323 e “Os gigantes chegaram –<br />
I<strong>na</strong>uguração do Vivo Rio traz artistas de peso ao Centro”. A casa de espetáculos Vivo Rio,<br />
localizada em uma área anexa ao Museu de Arte Moder<strong>na</strong> do Rio de Janeiro (MAM-RJ),<br />
apesar de estar inserida no bairro da Glória, é apresentada ao leitor como mais um atrativo<br />
cultural pertencente ao Centro e, principalmente, para freqüentadores do Centro do Rio.<br />
O local, que possui capa<strong>cidade</strong> para 2.600 pessoas sentadas ou até 5.000 pessoas em<br />
pé, foi construído através de uma parceria envolvendo o grupo Tom Brasil, de São Paulo, e a<br />
operadora de telefonia móvel Vivo, e concretiza um investimento de 25 milhões de reais. A<br />
casa de espetáculos segue o mesmo padrão arquitetônico do Museu de Arte Moder<strong>na</strong> e a sua<br />
implantação fi<strong>na</strong>liza, depois de 50 anos, o projeto origi<strong>na</strong>l do arquiteto Affonso Eduardo<br />
Reidy, considerado uma das jóias da arquitetura modernista brasileira. A obra ganhou<br />
algumas adaptações inter<strong>na</strong>s do arquiteto Luiz Antonio Rangel, embora a planta origi<strong>na</strong>l tenha<br />
sido preservada, já que é tombado o local de implantação (Parque do Flamengo) da obra.<br />
Assim, nestes termos, as únicas intervenções permitidas seriam “aquelas previamente<br />
projetadas por Reidy ou pelo paisagista Burle Max” 324 .<br />
Outros exemplos de novos empreendimentos são o Teatro Sesc Ginástico e o Espaço<br />
Caixa Cultural, localizados <strong>na</strong>s avenidas Graça Aranha e Almirante Barroso, respectivamente.<br />
Desde que lançamos o Avenida Central, há cerca de dois anos, vimos nossa aposta<br />
no desenvolvimento da cultura no Centro dar certo. Sabíamos que não ficaríamos só<br />
falando dos mesmos (e excelentes) centros culturais por muito tempo. Em breve<br />
pintariam outras casas de olho <strong>na</strong> efervescência da região. Sabíamos que chegariam<br />
novas galerias para exposições, seriam reativados palcos para peças teatrais e até<br />
surgiriam bares e restaurantes com palco para mais músicos se apresentarem por<br />
aqui. Mas o rápido crescimento cultural do Centro foi além das nossas expectativas.<br />
Achamos que talvez levasse mais tempo para aparecerem investimentos ainda mais<br />
ousados <strong>na</strong> área. No entanto, eles logo vieram. 325<br />
323 PONDÉ, Gabriel. O palco dos grandes – Conforto e qualidade são pontos fortes da nova casa do Centro.<br />
Jor<strong>na</strong>l Avenida Central, Rio de Janeiro, novembro, 2006, Ano 2, nº 22. Capa, p.8.<br />
324<br />
PONDÉ, loc. cit.<br />
325 TESTEMUNHA da história. Jor<strong>na</strong>l Avenida Central, Rio de Janeiro, novembro, 2006, Ano 2, nº 22. Editorial,<br />
p.2.
144<br />
O Teatro Sesc Ginástico foi i<strong>na</strong>ugurado no ano de 2005, após três anos de reforma do<br />
antigo teatro português, o Teatro Ginástico, de 1938. Conservada a tradicio<strong>na</strong>l fachada,<br />
inter<strong>na</strong>mente, o espaço possui decoração bastante moder<strong>na</strong> e luxuosa.<br />
Por iniciativa do SESC Rio, que passa a administrar a programação e o<br />
funcio<strong>na</strong>mento voltados para espetáculos teatrais, musicais e de dança, conferências<br />
e palestras, o agora denomi<strong>na</strong>do SESC Ginástico está totalmente reformado. Com<br />
540 poltro<strong>na</strong>s, todos os ambientes refrigerados e aparelhado com o que há de mais<br />
moderno em equipamentos de som e luz, possui também instalações especiais, como<br />
um elevador que atende aos requisitos de acessibilidade universal e serviços de<br />
bar. 326<br />
O Espaço Caixa Cultural foi i<strong>na</strong>ugurado em junho de 2006 como filial do Conjunto<br />
Cultural da Caixa, localizado <strong>na</strong> Avenida Chile. Além dos elementos de exposição<br />
permanente, o espaço possui duas salas de cinema, um teatro de are<strong>na</strong>, salas de exposição e<br />
multiuso, miniauditório, etc.<br />
Portanto, apesar da queda dos investimentos públicos e privados <strong>na</strong> Área Central 327<br />
evidencia-se, <strong>na</strong>s últimas décadas do século XX, a ocorrência de uma ocupação urba<strong>na</strong> (ligada<br />
a moradia, atividades comerciais, fi<strong>na</strong>nceiras, culturais/lazer e administrativas) em dois<br />
sentidos: da “elitização, com a implantação de novas atividades do setor terciário, e da<br />
precarização, com o crescimento da população sem teto, do comércio ambulante e da<br />
deterioração de trechos urbanos mais antigos” 328 .<br />
São apontadas mudanças tanto no núcleo central quanto em sua periferia imediata, no<br />
que tange aos aspectos físicos (a denomi<strong>na</strong>da “reciclagem de imóveis de valor históricocultural”),<br />
bem como a recuperação, estímulo ou criação de atividades urba<strong>na</strong>s (comerciais,<br />
de serviço, culturais e de entretenimento) 329 . Tais mudanças são fruto de políticas<br />
implementadas pelo poder público quanto de “ações tomadas pela iniciativa privada, que<br />
incluíram a construção de novas edificações e a reforma de prédios antigos desti<strong>na</strong>dos a<br />
abrigar atividades fi<strong>na</strong>nceiras, comerciais e de serviços” 330 .<br />
326 Informações contidas no endereço eletrônico do SESC Rio: www.sescrj.com.br. Acessado em novembro de<br />
2006.<br />
327<br />
Gerada pelo desenvolvimento de outras <strong>centralidade</strong>s de diversos níveis hierárquicos, ressaltando-se a Barra<br />
da Tijuca, Campo Grande e Méier, somado à crise fiscal <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro e econômica em âmbito<br />
<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l e mundial, <strong>na</strong> década de 1980, e aliando-se também à concorrência dos novos equipamentos comerciais,<br />
como os shopping centers, concentrados no litoral sul e locais estratégicos (SILVEIRA, 2004).<br />
328 Ibid., p.77.<br />
329<br />
SILVEIRA, loc.cit.<br />
330<br />
Ibid., p.78.
145<br />
Principal centro fi<strong>na</strong>nceiro do estado e o segundo centro fi<strong>na</strong>nceiro do país, a área<br />
abriga: uma grande concentração de centros culturais, museus, bibliotecas e salas de<br />
espetáculo de cinema e teatro, sendo possivelmente a área da <strong>cidade</strong> mais bem<br />
dotada de equipamentos culturais da <strong>cidade</strong>; amplo e diversificado comércio;<br />
diversificada prestação de serviços públicos e privados; diversas instituições de<br />
ensino, incluindo algumas universidades; sedes de empresas estatais; importantes<br />
órgãos do setor público e da sociedade civil; aeroporto; imponentes praças e<br />
parques; hotéis e restaurantes; botequins e bares. 331<br />
Desta forma, a Área Central atualmente se “configura espacialmente como um<br />
território urbano que abriga múltiplas funções urba<strong>na</strong>s”, incluindo também a residencial 332 .<br />
Tal função tem sido “incentivada” recentemente por políticas públicas em associação ao<br />
capital fi<strong>na</strong>nceiro e imobiliário. Realizações gradativas, como o Programa Novas Alter<strong>na</strong>tivas,<br />
desti<strong>na</strong>do à recuperação de cortiços 333 ; a abertura de novos programas de fi<strong>na</strong>nciamento,<br />
inicialmente pela Caixa Econômica Federal em parceria com as Secretarias de Habitação e de<br />
Urbanismo da Prefeitura, e posteriormente formatados pelo Ministério das Cidades numa<br />
linha de desenvolvimento denomi<strong>na</strong>da Reabilitação de Centros Históricos; assim como o<br />
empreendimento residencial “Cores da Lapa”, lançado pelo mercado, são exemplos da<br />
retomada da função residencial.<br />
Segundo Maria Hele<strong>na</strong> Mclaren 334 , representante da subprefeitura do Centro Histórico,<br />
a política proposta no Corredor Cultural, <strong>na</strong> década de 1980, objetivou provocar um resgate<br />
da memória da <strong>cidade</strong>, o que teria resultado no “reflorescimento do valor”, ou seja, o Centro<br />
tornou-se novamente uma oportunidade de negócios. Tais seriam os elementos de atração: a<br />
acessibilidade, o lócus de concorrência, o seu papel histórico-tradicio<strong>na</strong>l, os equipamentos<br />
culturais, as edificações de qualidade e os prédios reciclados e automatizados, como os<br />
centros culturais, que trariam novas possibilidades de uso.<br />
331<br />
MESENTIER, s/d.<br />
332<br />
Segundo Silveira, “apesar das diversas tentativas de expulsão, o uso residencial foi sempre reafirmado por<br />
grupos sociais variados, e ainda pela população ‘sem teto’” (p.72). Quanto a esta população, Rabha (2006)<br />
aponta que a sua chegada acontece com intensidade ao fim do dia, hora em que “o centro se esvazia”. “Nas<br />
calçadas da Rio Branco, começam a chegar seus moradores noturnos. Da Presidente Vargas à São José são<br />
estendidos os panos, jor<strong>na</strong>is e colchões, onde protegidos por marquises dormem muitos “sem teto”. Da mesma<br />
forma e em menor intensidade, o fato ocorre <strong>na</strong> Presidente Vargas, ao longo da proteção de suas galerias<br />
cobertas, ainda que a via seja mais larga, desguarnecida, aberta e, portanto, perigosa” (p.353).<br />
333<br />
“De início, duas unidades piloto foram i<strong>na</strong>uguradas <strong>na</strong> periferia da área central (...) <strong>na</strong> Rua Sacadura Cabral<br />
n°295 e 297, Saúde e Travessa Mosqueira, n° 20, Lapa, (...) recuperadas <strong>na</strong>s condições de habitabilidade e<br />
reocupadas por moradia coletiva” (RABHA, p.353).<br />
334<br />
Entrevista concedida no seu escritório em 09/06/2008.
146<br />
Para a Prefeitura, o Corredor Cultural teria ultrapassado a visão de “perdas” de<br />
população, comércio e serviços relacio<strong>na</strong>dos ao movimento de expansão da <strong>cidade</strong>, renovando<br />
a função residencial, o uso noturno, o comércio, ou seja, “o olhar para o Centro”. Em relação<br />
à dinâmica do Centro, a entrevistada destacou as especializações de uso, como o ramo<br />
comercial de vestuário, por exemplo. Além disso, outro ator que retor<strong>na</strong>ria ao Centro seriam<br />
as universidades, estas ligadas às funções educativas e culturais, e que teriam superado a<br />
estrutura de campus horizontal e afastado e se voltado para o local de trabalho.<br />
Os Planos Estratégicos Regio<strong>na</strong>is 335 , elaborados pelo Poder Público municipal, lançam<br />
uma série de objetivos futuros para as doze regiões levantadas <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro,<br />
entre elas a Região Centro. A meta principal para tal região seria torná-la “o centro de<br />
referência histórico-cultural do país, consolidando as vocações de centro de negócios, centro<br />
de desenvolvimento de tecnologia e principal centro de telecomunicações da América<br />
Lati<strong>na</strong>”. Abaixo, seguem as estratégias para se chegar a tal objetivo:<br />
• Desenvolver ações para tor<strong>na</strong>r a região o centro de referência histórico-cultural do<br />
país.<br />
• Desenvolver ações para fortalecer a vocação de centro de negócios.<br />
• Desenvolver ações que consolidem a vocação para centro de desenvolvimento e<br />
difusão tecnológica.<br />
• Desenvolver ações para que a região se estabeleça como centro de telecomunicações<br />
da América Lati<strong>na</strong>.<br />
• Desenvolver ações para implantação de políticas habitacio<strong>na</strong>is no Centro.<br />
• Desenvolver programas complementares visando a melhoria das condições de vida <strong>na</strong><br />
região.<br />
Por conseguinte, propõe-se uma abordagem crítica às obras e efeitos das intervenções<br />
de “requalificação” <strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro 336 , de forma a ilumi<strong>na</strong>r o debate trazido<br />
neste trabalho, que é a compreensão do papel do Centro, a <strong>na</strong>tureza e o sentido desta<br />
reconversão atual. Apesar das tentativas de “requalificação” e/ou “revitalização”<br />
335<br />
Estes estão inseridos no Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível <strong>na</strong> internet:<br />
http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico. Acesso em setembro de 2006.<br />
336 Ilumi<strong>na</strong>-se o “debate acadêmico sobre essas modificações, que se dão de forma semelhante em várias partes<br />
do mundo, [e] volta-se agora ao que se classifica como processo de gentrificação (enobrecimento) da região<br />
central da <strong>cidade</strong> (...) medidas criticadas por pesquisadores das áreas de arquitetura, urbanismo e geografia. Eles<br />
afirmam que, sob o pretexto da revitalização, está em curso um nítido processo de ‘higienização social’,<br />
mediante a expulsão da população pobre do centro, e questio<strong>na</strong>m a eficácia e a intenção dessas ações”<br />
(MATTOS, Sérgio. Centro de São Paulo: revitalização, especulação ou higienização? In PATRIMÔNIO. Revista<br />
Eletrônica do IPHAN, 2005. C.f. também C.Bidou-Zachariasen (org.), “De volta à <strong>cidade</strong>: dos processos de<br />
gentrificação às políticas de ‘revitalização’ dos centros urbanos”. Segundo a organizadora, “já é tempo de abrir o<br />
debate sobre a gentrificação associada a um certo tipo de re<strong>na</strong>scimento dos núcleos urbanos centrais de uma<br />
forma pluridiscipli<strong>na</strong>r, e de alargá-lo a contextos ainda pouco abordados”(p.31).
147<br />
implementadas pelo poder público nessa área, estas têm alcançado áreas dotadas de infraestrutura<br />
e com maior valor para o mercado imobiliário, tendo pouca influência <strong>na</strong>s condições<br />
de acesso à moradia de baixa renda. No Centro, ao mesmo tempo em que novos condomínios<br />
surgem, edificações públicas e privadas são alvo de invasões pelo Movimento dos Sem Teto.<br />
Seguindo um padrão americano e europeu, as atuais intervenções em <strong>cidade</strong>s<br />
brasileiras têm se proposto a “recuperar qualidades ou funções que estariam sendo perdidas”,<br />
articulando “projetos de transformações das funções, do uso e do valor do solo”. No entanto,<br />
segundo alguns autores, os efeitos ligados à “gentrificação” 337 seriam inevitáveis, tanto por<br />
parte da demanda em sua busca por vantagens de mercado representada pelo setor imobiliário,<br />
quanto por parte da oferta representada pelo Poder Público “em acordo com o setor privado,<br />
para tor<strong>na</strong>r as <strong>cidade</strong>s competitivas, dotando os centros de características que o tor<strong>na</strong>riam<br />
atrativo para as classes média/alta, seja para moradia ou para consumo e lazer” 338 .<br />
Os investimentos particulares nos centros priorizam o retorno econômico ou a<br />
valorização da imagem institucio<strong>na</strong>l, por vezes ocupando prédios outrora públicos,<br />
transformando-os em locais de acesso restrito. Já os investimentos públicos, em<br />
especial os voltados ao turismo, findam por criar, ainda que a despeito de seus<br />
objetivos iniciais, representações falseadas de hábitos comunitários. São usos e<br />
ce<strong>na</strong>s “interpretados”, para os olhos dos passantes (MENEGUELLO, op.cit.).<br />
Segundo Smith (2006), o desenvolvimento imobiliário urbano, entendendo-o como a<br />
gentrificação atual em sentido amplo, tornou-se o motor central da expansão econômica da<br />
<strong>cidade</strong>. Logo, a reapropriação estratégica do espaço urbano revela-se nos investimentos feitos<br />
tanto pelo Poder Público federal e municipal <strong>na</strong>s áreas centrais, encarando-as como locais de<br />
“oportunidades para geração de atividades e receitas, assim como para a produção<br />
habitacio<strong>na</strong>l”, como pelos atores privados (inseridos no novo processo de globalização do<br />
capital).<br />
Para o autor, recentemente, os discursos públicos da “regeneração urba<strong>na</strong>” –<br />
claramente gentrificadores – misturariam a requalificação (ambiental, patrimonial e de<br />
atividades), o repovoamento, o aproveitamento de terrenos públicos junto às orlas marítimas<br />
337 “O próprio termo ‘gentrification’ foi criado para explicar o repovoamento (nesta altura espontâneo) de bairros<br />
desvalorizados de Londres por famílias de renda média, no início dos anos sessenta. (...) Smith nos conta que (...)<br />
a generalização da gentrificação, posterior aos anos noventa (...) deixa de ser uma anomalia local do mercado<br />
imobiliário de uma grande <strong>cidade</strong> para se desenvolver como um componente residencial específico de uma<br />
ampla reformulação econômica, social e política do espaço urbano. Essa renovação representa a gentrificação da<br />
<strong>cidade</strong> como uma conquista altamente integrada do espaço urbano, <strong>na</strong> qual o componente residencial não pode<br />
ser dissociado das transformações das paisagens do emprego, do lazer e do consumo” (Silva, Hele<strong>na</strong>. M. B.<br />
Apresentação. In C.Bidou-Zachariasen, op.cit., pp.7-19).<br />
338 Ibid.
148<br />
ou fluviais e a permanência ou promoção da moradia social. No entanto, sua tese apresenta a<br />
complexificação dos processos de gentrificação. Mantendo como corolário a saída das classes<br />
populares dos centros urbanos, o fenômeno que décadas atrás era margi<strong>na</strong>l e associava-se a<br />
poucos atores privados, recentemente tornou-se a agenda global do urbanismo<br />
contemporâneo, ou seja, a forma domi<strong>na</strong>nte da política urba<strong>na</strong> das grandes <strong>cidade</strong>s ocidentais,<br />
articulando parcerias fi<strong>na</strong>nceiras público-privadas.<br />
Smith apresenta os processos de gentrificação e como estes eram vistos <strong>na</strong> década de<br />
1980/90 como resultado de políticas “mal-sucedidas”, ou seja, como anomalias locais, e que,<br />
no entanto, recentemente seriam percebidos como processos “desejáveis”. Logo, a<br />
gentrificação, principalmente de áreas centrais, estaria <strong>na</strong> gênese a<strong>na</strong>lítica dos processos de<br />
reconversão, sendo “camuflados” em meio a discursos eufemistas de “revitalização,<br />
recuperação, regeneração”. A gentrificação estaria, portanto, para Smith, <strong>na</strong> base da<br />
formatação das políticas e coalizões de atores do meio empresarial.<br />
No Brasil, mais especificamente <strong>na</strong> metrópole carioca, a política de gentrificação posta<br />
como política urba<strong>na</strong> é apontada criticamente por pesquisadores do Instituto do Patrimônio<br />
Histórico Nacio<strong>na</strong>l (IPHAN). Tais ações apresentadas pelo Poder Público visariam a<br />
valorização dos centros, a atração e a competição urba<strong>na</strong> por meio da “reconversão<br />
econômica”.<br />
[...] concluo que as políticas públicas cariocas desti<strong>na</strong>das a proteger o patrimônio<br />
devem revalorizar a função habitacio<strong>na</strong>l, reabilitar a estrutura funcio<strong>na</strong>l e a<br />
qualidade ambiental, valorizar e preservar o patrimônio edificado, reorde<strong>na</strong>r o<br />
sistema viário e o estacio<strong>na</strong>mento, implementar medidas contra incêndios e<br />
requalificar o ambiente urbano, sem proceder à descaracterização em pastiches sem<br />
valor histórico ou estético. Os teóricos do patrimônio e da <strong>cidade</strong> não devem retirar<br />
o significado das edificações, ainda que seja possível valorizar um casario<br />
reabilitado se este mesmo casario atender às necessidades antropológicas da <strong>cidade</strong>,<br />
isto é, não sejam reutilizados para solucio<strong>na</strong>r as questões de city marketing, que<br />
levam a <strong>cidade</strong> a estabelecer um distanciamento dos antigos habitantes de um<br />
determi<strong>na</strong>do bairro que se quer reabilitar. Nesse caso todo o corpus do patrimônio<br />
arquitetônico urbano perderia por completo qualquer valor memorial afetivo para<br />
conservar ape<strong>na</strong>s o valor intelectual, e de entretenimento que lhe confere a indústria<br />
patrimonial (LIMA, op.cit.).<br />
Essa nova dinâmica que envolve o patrimônio histórico-cultural edificado no centro<br />
do Rio de Janeiro, dadas as limitações do marco regulatório das APACs e ausência<br />
de tombamentos do Iphan sobre os conjuntos urbanos, traz o risco de desarticulação<br />
do próprio patrimônio, enquanto repertório simbólico diversificado, porque os<br />
processos de reciclagem em curso nessas áreas supervalorizam a projeção e<br />
valorização do ambiente urbano no imaginário sócio-cultural, pondo de lado, muitas<br />
vezes, a sua condição de suporte da memória social, de referência cultural e base dos<br />
processos de construção das identidades coletivas (MESENTIER, op.cit.).
149<br />
Na visão de Bidou-Zachariasen (2006), o termo gentrificação desig<strong>na</strong> um conjunto de<br />
processos transformadores dos centros urbanos, “ao mesmo tempo materiais, sociais e<br />
simbólicos”, orientados por atores políticos, econômicos e sociais. Com base neste aporte<br />
teórico, compreende-se que <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro o Centro modifica-se materialmente<br />
por meio de novas dinâmicas econômicas comerciais e fi<strong>na</strong>nceiras, e ao mercado fundiário e<br />
imobiliário; socialmente, no que tange a processos de recomposição social no uso residencial<br />
relativos aos novos segmentos para a classe média; e simbolicamente relacio<strong>na</strong>-se à afirmação<br />
de <strong>centralidade</strong>s por determi<strong>na</strong>dos grupos sociais, <strong>na</strong> produção de paisagens culturais<br />
“revitalizadas” e “globalizadas” e no estímulo a novos tipos de consumo e modos de vida.<br />
Dentre as ações que têm marcado o Centro, destacamos a proposta de implantação do<br />
modelo inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l de parceria público-privada – BID (Business Improvement Districts),<br />
rebatizado como ARE (Área de Revitalização Econômica) e voltado ao discurso de<br />
“revitalização dos centros comerciais degradados”, defendido pela Associação Comercial do<br />
Rio de Janeiro (ACRJ).<br />
Um dos projetos prioritários da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) é a<br />
Revitalização do Centro do Rio. A proposta principal é implementar o modelo do<br />
Business Improvement District (BID), inicialmente em uma ou mais áreas do Centro<br />
do Rio. Desenvolvido nos EUA há mais de 40 anos, este modelo de gover<strong>na</strong>nça,<br />
hoje, é utilizado em países como Ca<strong>na</strong>dá, França e Alemanha. Existem, atualmente,<br />
mais de mil BIDs, sendo 56 deles só em Nova York. O projeto envolve a integração<br />
entre a iniciativa privada – comércio, empresas e proprietários de imóveis<br />
comerciais da região delimitada pelo BID – e o poder público. Essa parceria<br />
propiciará ações conjuntas para complementar os serviços públicos já prestados <strong>na</strong><br />
área do BID, como limpeza urba<strong>na</strong>, reparo das calçadas e pintura de fachadas,<br />
paisagismo, segurança e programas sociais para moradores de rua e menores, além<br />
de promover eventos e melhorar o atendimento ao turista. 339<br />
Representantes da instituição comercial e do Poder Público apresentam o<br />
esvaziamento econômico do Centro apontando a “fuga” de empresas e de profissio<strong>na</strong>is<br />
liberais para outras áreas da <strong>cidade</strong>, e aliam a “revitalização” a uma condição para o<br />
reposicio<strong>na</strong>mento do “Rio não só dentro do país, mas dentro do cenário mundial” 340 . Segundo<br />
339 Matéria intitulada “MAIS FORÇA AOS PÓLOS”, publicada no Jor<strong>na</strong>l do Comércio, de 09/04/2008.<br />
Disponível em: http://www.redetec.org.br. Acesso em maio de 2008.<br />
340 “EDUARDO PAES discute com a ACRJ projetos para o Rio”. Revista do Empresário da ACRJ.<br />
Setembro/Novembro de 2008 nº1395 Ano 67. Em reunião entre diretores, presidentes de conselhos e líderes<br />
empresariais da Associação Comercial do Rio de Janeiro e o prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, em 6 de<br />
novembro, a ACRJ apresentou doze propostas consideradas prioritárias para o Rio de Janeiro: i) Plano Diretor da<br />
Cidade do Rio de Janeiro, ii) Projeto ARE – Áreas de Revitalização Econômica, iii) Revitalização da Zo<strong>na</strong><br />
Portuária; Parque Tecnológico Mauá / Rede do Audiovisual, iv) Fórum do Rio –Rede Ello Empreendedor, v)<br />
Choque de Ordem, vi) Projeto do Legado RIO 2016, vii) Mobilidade Urba<strong>na</strong> – Sistema de Transportes, viii)<br />
Programa RedeTuris, ix) Revitalização do Eixo Maracanã-Quinta da Boa Vista-Estádio João Havelange, x)
150<br />
Eduardo Paes, prefeito eleito em 2008, a atividade econômica precisa ser “resgatada” <strong>na</strong><br />
<strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, e para isso defende a sua “vocação” para a indústria do lazer, do<br />
entretenimento, do turismo, da cultura entendida como atividade econômica, do esporte, da<br />
moda e do design. “O Rio tem que ser um grande centro de tomada de decisões, de empresas<br />
importantes.”<br />
Neste sentido, utilizando-se do slogan “Re<strong>na</strong>scimento do Rio”, a Frente Pró-Rio 341 ,<br />
com destaque para a atuação da ACRJ e Firjan, tem defendido entre outras medidas a<br />
permanência da sede do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), no Rio de Janeiro,<br />
reforçando “o ambiente de negócio para a <strong>cidade</strong> sediar o Centro Inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l de<br />
Resseguros”. A ACRJ estaria “centralizando as negociações que envolvem, além de<br />
benefícios fiscais, um prédio símbolo para abrigar todas as resseguradoras, como em Dublin,<br />
Irlanda” 342 .<br />
Em 1999, Augusto Ivan de Freitas Pinheiro, atual secretário de Urbanismo, e então<br />
subprefeito do Centro do Rio, divulgou um artigo intitulado “Business Improvement Districts<br />
– BIDs: Uma reação ao enfraquecimento das áreas de negócios americanos” 343 . Nele, aponta o<br />
“fenômeno urbano <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l” dos centros, caracterizado pelas “perdas econômicas, que afetam<br />
não ape<strong>na</strong>s os poderes públicos (...) mas também uma parte do setor privado”. O BID é<br />
apresentado como “uma experiência que vem dando resultados extremamente positivos para<br />
enfrentar o problema de esvaziamento das áreas centrais”, e cujas estratégias são:<br />
valorizar tais áreas através da intensificação do comércio de rua e do uso dos<br />
equipamentos culturais e de lazer instalados, atrair novos empreendimentos<br />
residenciais direcio<strong>na</strong>dos a uma faixa específica do mercado (geralmente jovens<br />
casais e solteiros), reter as atividades existentes de serviços públicos e privados,<br />
incentivar a localização de novas sedes de empresas de prestação de serviços e,<br />
fi<strong>na</strong>lmente, aumentar a base de arrecadação das <strong>cidade</strong>s (ibid.).<br />
Centro Inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l de Seguros e Resseguros, xi) Desburocratização / Legalização de Empresas, xii)<br />
Representação da ACRJ em conselhos municipais.<br />
341 Movimento suprapartidário da sociedade civil empresarial, criada em 2005, é “formada por entidades como<br />
FIRJAN, Clube de Engenharia, Associação Comercial, Fecomércio, OAB e Aeerj (Associação das Empresas de<br />
Engenharia do Rio de Janeiro)”. Em dezembro de 2006, a Frente, em reunião <strong>na</strong> FIRJAN, decidiu convidar o<br />
gover<strong>na</strong>dor eleito, Sérgio Cabral, para integrar o movimento. Disponível em: http://www.frenteprorio.com.br.<br />
Acesso em novembro de 2008.<br />
342<br />
Ibid. “Rei<strong>na</strong>ldo Cardoso, assessor da presidência da ACRJ, expôs o projeto de transformar a <strong>cidade</strong> do Rio de<br />
Janeiro num centro inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l de resseguros tanto para atender o mercado brasileiro como latino-americano.<br />
Com o fim do monopólio do IRB, as resseguradoras começam a se instalar no Brasil. Embora 80% das<br />
seguradoras estejam em São Paulo, o Rio concentra os órgãos reguladores Susep, Fe<strong>na</strong>seg e IRB”.<br />
343 Artigo publicado no Jor<strong>na</strong>l do Comércio em abril de 1999. Ver o texto no portal eletrônico da Associação de<br />
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI). Disponível em: http://ademi.webtexto.com.br.<br />
Acesso em junho de 2008.
151<br />
Pinheiro propõe uma união de forças entre o poder público e o setor privado, e o<br />
aprendizado com os “nossos vizinhos do Norte do continente (...) [a fim de] redescobrir o<br />
valor econômico das regiões centrais. Os mais de mil BIDs são prova disto”. Hoje, como atual<br />
secretário de Urbanismo, sua posição em defesa do modelo do BID é fundamental para as<br />
parcerias público-privadas.<br />
Voltar o olhar para as áreas centrais das grandes <strong>cidade</strong>s é sem dúvida essencial.<br />
Após quase um século de desatenção, este olhar tor<strong>na</strong>-se fundamental, não ape<strong>na</strong>s<br />
pela alta carga simbólica que elas detêm, de portadoras da memória histórica,<br />
sentimental e cultural, mas principalmente pelo que elas poderão, no caso de<br />
repensadas, representar para a economia e o desenvolvimento das <strong>cidade</strong>s. (...) Há<br />
que se pensar nos altos investimentos em infra-estrutura efetuados ao longo do<br />
tempo, dotando-as de grande acessibilidade e potencialidade econômica. (...) os<br />
centros históricos (...) representam [um] locus simbólico (...). Não é possível hoje,<br />
por exemplo, pensar <strong>na</strong> indústria do turismo e do entretenimento sem se cogitar<br />
prioritariamente das áreas centrais, pois é ali que se encontram os teatros, as<br />
bibliotecas e os museus e centros culturais mais importantes, os parques mais<br />
antigos, muitos hotéis, os grandes edifícios, os portos, as sedes de firmas de<br />
importação e exportação, as bolsas de valores, os estabelecimentos judiciais,<br />
inúmeros restaurantes e, principalmente (o que temos comumente esquecido) os<br />
principais locais de se fechar negócios. (...) estou escrevendo (...) para aqueles que<br />
queiram partilhar com seus pares cariocas do Centro o esforço em torná-lo uma área<br />
mais cuidada, e para os que, com a sabedoria de descobrir e aproveitar novas<br />
oportunidades de investimentos que lhes é inerente, queiram aprender com seus<br />
colegas, empresários americanos, a ver no seu próprio Downtown uma boa e salutar<br />
forma de não ape<strong>na</strong>s não perder dinheiro, mas de ganhá-lo. Por que não criar um<br />
BID carioca? Aceitam-se adesões e contribuições para começar o novo milênio no<br />
Centro do Rio (ibid.).<br />
A ACRJ acredita que para melhorar “o ambiente de negócios e alavancar o<br />
desenvolvimento da <strong>cidade</strong>” necessita-se de um “bom ambiente, seguro e com respeito à lei;<br />
com eqüidade das condições de competição e com regras formais para o funcio<strong>na</strong>mento da<br />
economia”, e, neste sentido, “o poder público não será capaz sozinho de reverter essa<br />
situação” 344 .<br />
O sistema BID teve origem em Nova Iorque nos anos 70 onde atualmente atuam 59<br />
BIDs, com orçamentos que variam de US$53.000 anuais até US$11 millhões anuais.<br />
[Surgiu] com a concorrência dos shoppings – que ofereciam melhores condições de<br />
limpeza, estacio<strong>na</strong>mento e segurança ao cliente. (...) Cada BID é uma empresa<br />
privada sem fins lucrativos, que reúne comerciantes de uma determi<strong>na</strong>da área (um<br />
quarteirão, por exemplo) dispostos a pagar uma contribuição específica para<br />
promover melhorias em seu entorno, principalmente no que diz respeito a serviços<br />
complementares, como os de limpeza e segurança, além de ações sociais no sentido<br />
de resolver questões como a dos sem-teto 345 .<br />
344 Fala do assessor da presidência da ACRJ, Rei<strong>na</strong>ldo de Souza e Silva Cardoso, em entrevista realizada em<br />
junho de 2008.<br />
345 Informações apresentadas <strong>na</strong> matéria intitulada “NOVO fôlego para o Centro”, do jor<strong>na</strong>l O Globo, em<br />
23/12/2007.
152<br />
Como no Brasil os tributos são regidos por legislação federal – Código Tributário<br />
Nacio<strong>na</strong>l –, o IPTU não permite uma desti<strong>na</strong>ção específica. Sendo assim, a viabilização da<br />
ARE depende de lei municipal e de emenda constitucio<strong>na</strong>l para a criação de uma nova tarifa<br />
municipal temporária e obrigatória por parte de comerciantes das regiões “privilegiadas” pelo<br />
projeto. A arrecadação seria feita pela Prefeitura de forma a custear, segundo a ACRJ,<br />
reformas, eventos, segurança, limpeza e ações sociais <strong>na</strong> área comercial da ARE e, assim,<br />
promover a “revitalização” do centro da <strong>cidade</strong>. A diferença do BID ou da ARE para uma<br />
associação comercial está <strong>na</strong> obrigatoriedade por lei do pagamento da taxa. Na Sociedade de<br />
Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega (SAARA), as contribuições por parte dos seus<br />
membros são voluntárias.<br />
Para implantar o sistema, empresários e donos de imóveis de uma área geográfica a ser<br />
delimitada manifestam seu interesse e aprovam um estatuto para o funcio<strong>na</strong>mento da ARE.<br />
No entanto, caso algum empresário não queira pagar o tributo, o projeto da ACRJ prevê a<br />
necessidade de aprovação de 70% dos proprietários de imóveis da região. Segundo a<br />
assessoria da ACRJ, tal percentual pode variar em níveis menores de aprovação e mesmo<br />
assim ser aceito.<br />
Com o discurso da promoção do desenvolvimento econômico da <strong>cidade</strong> e do país, e o<br />
objetivo de “emplacar no centro da <strong>cidade</strong> o conceito dos BIDs”, a Associação Comercial do<br />
Rio (ACRJ), desde 2007, tem firmado parcerias público-privadas a fim de consolidar o<br />
projeto da ARE, mobilizando a Câmara dos Vereadores, o Governo do Estado, a<br />
Subprefeitura do Centro, a Prefeitura e o Ministério das Cidades.<br />
O projeto piloto do primeiro BID brasileiro, com previsão de início da execução para o<br />
ano de 2009, deverá ser implantado <strong>na</strong> região da Avenida Chile, no Centro do Rio, em ruas ou<br />
quarteirões que abrigam sedes de grandes empresas, “para efeito de demonstração às demais<br />
regiões do estado e até mesmo do País, por condensarem um menor número de corporações<br />
com maior representatividade territorial”.<br />
[...] deve contemplar parte da Avenida Chile, no Centro do Rio, onde estão<br />
instaladas a Petrobras, o Banco Nacio<strong>na</strong>l de Desenvolvimento Econômico e Social<br />
(BNDES) e a Tishman. A ACRJ vai auxiliar os empresários <strong>na</strong> delimitação da área,<br />
cálculo de custos e definição dos problemas a serem enfrentados, como ilumi<strong>na</strong>ção,<br />
si<strong>na</strong>lização, segurança e presença de moradores de rua. ‘A idéia é mostrar a<br />
viabilidade econômica desse tipo de iniciativa para que ela seja replicada em outros<br />
locais. Estamos cansados de iniciativas sem continuidade e o BID é um modelo<br />
comprovadamente sustentável [...]. A criação dos BIDs é benéfica para os<br />
empresários, mas também para os municípios e para a sociedade. Ocorrem a
153<br />
recuperação do valor dos imóveis, o aumento das contribuições fiscais e o resgate do<br />
espaço público’, afirma Maria Silvia [vice-presidente da ACRJ] 346 .<br />
A ata da reunião do Conselho Municipal de Política Urba<strong>na</strong> – COMPUR, em junho de<br />
2008, aponta <strong>na</strong> fala do convidado Luís Carlos R. Dauzacker (consultor da ACRJ) a<br />
apresentação do Projeto “Business Improvements District (BID) – Caso Av. Chile e seu<br />
entorno”, acrescentando que a “iniciativa tem como objetivo criar uma nova imagem para a<br />
área, que pode ser uma rua, ou uma ou mais quadras. E não pretende a isenção fiscal. A<br />
principal motivação é a perda do valor do patrimônio” 347 .<br />
Portanto, verificam-se ações recentralizadoras por conta da esfera pública-privada em<br />
pontos localizados no Centro do Rio (A.C.N, Av. Chile, Cinelândia e Lapa) que pautam o<br />
“fortalecimento” da sua dinâmica <strong>na</strong> mescla de funções urba<strong>na</strong>s (econômicas, culturais/lazer,<br />
residencial). É o pressuposto da “animação urba<strong>na</strong>”, como adverte Rabha, <strong>na</strong>s novas políticas<br />
territoriais, cuja principal alteração “é de segmento de renda ou padrão de atividade”.<br />
O di<strong>na</strong>mismo e a pluralidade de situações constituem-se fatores primordiais de<br />
atração, considerados âncoras do processo de reurbanização. As antigas áreas<br />
centrais oferecem rentabilidade quando se demonstram ricas em funções urba<strong>na</strong>s,<br />
são seguras e bem tratadas do ponto de vista urbanístico, oferecendo alter<strong>na</strong>tivas<br />
diferenciais para o investimento comercial e imobiliário em diversos ramos de<br />
negócios (RABHA, op.cit., p.18).<br />
Recentemente, ocupar os centros históricos tem sido meta de agentes econômicos<br />
interessados <strong>na</strong> “adição de valor de uso e consumo” 348 trazida pela revalorização das áreas<br />
centrais das <strong>cidade</strong>s. No caso do Rio de Janeiro, as intervenções gover<strong>na</strong>mentais de<br />
reabilitação urba<strong>na</strong>, as modificações <strong>na</strong> legislação de posturas no uso e ocupação do solo e o<br />
incentivo ao uso residencial favoreceram o interesse do setor privado para o espaço central.<br />
No entanto, como aponta Neil Smith (op.cit.), por trás dos discursos eufemistas da<br />
revitalização de áreas centrais camuflam-se os possíveis efeitos da gentrificação, os quais<br />
identificam-se com: a produção material e simbólica de um espaço “requalificado” voltado ao<br />
“city marketing”, comprometendo o ambiente urbano de sua função de suporte da memória<br />
346 Matéria intitulada “MAIS FORÇA AOS PÓLOS”, publicada no Jor<strong>na</strong>l do Comércio de 09/04/2008.<br />
Disponível em: http://www.redetec.org.br. Acesso em maio de 2008.<br />
347 Ata do COMPUR. Disponível em: http://www2.rio.rj.gov.br/smu/compur/atas_12062008.asp. Acesso em<br />
novembro de 2008.<br />
348 MENEGUELLO, Cristi<strong>na</strong>. O coração da <strong>cidade</strong>: observações sobre a preservação dos centros históricos. In<br />
PATRIMÔNIO, Revista Eletrônica do IPHAN, s/d. Disponível em<br />
http://www.revista.iphan.gov.br/www.iphan.gov.br. Acesso em abril de 2007.
154<br />
social coletiva e de referência cultural e identitária; a privatização do espaço público, já que<br />
os projetos prevêem o uso de segurança privada e remoção da população de rua por<br />
funcionários terceirizados; e a construção de novos empreendimentos residenciais<br />
desvinculados dos antigos habitantes do bairro. Ainda assim, pode-se destacar <strong>na</strong> base da<br />
formatação das políticas e coalizões de atores do meio empresarial a lógica do planejamento<br />
estratégico atual, que pontua benefícios <strong>na</strong> totalidade da <strong>cidade</strong>; entretanto, as intervenções<br />
mostram-se pontuais e localizadas.<br />
3.3. AS NOVAS UNIVERSIDADES E O SEU SENTIDO NA ÁREA CENTRAL<br />
Há dez anos, parecia ser uma temeridade investir no Centro. Hoje está provado que é<br />
um celeiro de alunos pela facilidade de acesso 349 .<br />
O Centro não é tão inseguro quanto cinco anos atrás 350 .<br />
[...] Centro, local estratégico para o mercado de cursos já que é o coração comercial<br />
do Rio de Janeiro e as pessoas costumam ir para a aula depois do trabalho <strong>na</strong><br />
seqüência. Para a universidade, é muito importante estar presente nessa área que está<br />
sendo revitalizada, valorizando a vanguarda da <strong>cidade</strong>. Não poderia ser diferente, já<br />
que a PUC-RIO é pioneira <strong>na</strong> excelência do ensino tradicio<strong>na</strong>l do Rio de Janeiro 351 .<br />
Por conseguinte, investiga-se também a expansão da rede privada de ensino superior<br />
<strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro, após a década de 1990, e sua configuração como resultado<br />
de ações estratégicas ligadas ao discurso da “volta ao Centro”, ou seja, da afirmação de<br />
<strong>centralidade</strong>s por meio do desenvolvimento econômico que alia “cultura” aos serviços<br />
educacio<strong>na</strong>is.<br />
Verifica-se a implantação de novos campi e unidades, além da ampliação das<br />
instalações (inclusive das sedes administrativas) de universidades privadas <strong>na</strong>s regiões do<br />
centro histórico e adjacências, tanto por parte de instituições já existentes 352 , como é o caso da<br />
349<br />
Fala de representante da UniverCidade, em matéria da revista Veja, de 28 de fevereiro de 2007.<br />
350<br />
Fala do coorde<strong>na</strong>dor da Universidade Castelo Branco – Unidade Centro, em entrevista realizada em abril de<br />
2008.<br />
351<br />
Fala do assessor de marketing da PUC-RIO em entrevista via e-mail realizada em junho de 2008.<br />
352<br />
Antes de 1990, entre as principais IES privadas, já atuavam no Centro: 1) UCAM (abertura em 1902; tor<strong>na</strong>se<br />
faculdade <strong>na</strong> década de 1970 e i<strong>na</strong>ugura o prédio de Direito <strong>na</strong> década de 1980); 2) IBMEC (fundado <strong>na</strong><br />
década de 1970 no prédio da Bolsa de Valores; funcionou em prédio anexo ao Museu de Arte Moder<strong>na</strong> até 1985,<br />
quando se deslocou para a Avenida Rio Branco e lá permaneceu até 2006. Em 2007 foi i<strong>na</strong>ugurado o novo
155<br />
Cândido Mendes (UCAM), situada <strong>na</strong> Praça XV, do Instituto Brasileiro de Mercado de<br />
Capitais (IBMEC), <strong>na</strong> Av. Beira Mar, da Faculdade Moraes Júnior-Mackenzie Rio 353 , <strong>na</strong> Rua<br />
Buenos Aires, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), <strong>na</strong> Rua da Candelária, e da Escola<br />
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), <strong>na</strong> Rua do Rosário; como também por<br />
universidades que mantinham seu campo de atuação em outros bairros da <strong>cidade</strong> 354 , como a<br />
Gama Filho (UGF) e Estácio de Sá (UESA), que implantaram <strong>na</strong> Avenida Presidente Vargas<br />
algumas unidades <strong>na</strong> segunda metade da década de 1990; a Pontifícia Universidade Católica<br />
(PUC), Castelo Branco (UCB) e UniverCidade 355 , que implantaram cursos de pós-graduação<br />
e graduação a partir do ano 2000.<br />
O discurso domi<strong>na</strong>nte aponta a presença cada vez maior de universidades <strong>na</strong> Área<br />
Central ao lado de outros equipamentos urbanos, representando o retorno de uma nova<br />
dinâmica do Centro, ou seja, o resgate da sua “vitalidade” enquanto <strong>centralidade</strong>, lócus de<br />
atração e difusão de fluxos de pessoas, de mercadorias, de capital e de idéias. “O Centro,<br />
como a Barra, é uma área de expansão para o futuro”, relata o representante da FGV à revista<br />
Veja. Destacam-se a diversidade/qualidade dos cursos oferecidos e a aplicação de recursos em<br />
modernização predial, em contraste com a antiguidade das fachadas reformadas e da paisagem<br />
histórica no seu entorno. São apontadas como localidades “estratégicas” para os investimentos<br />
a ACN (Núcleo Central), o Corredor Cultural, as avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, as<br />
regiões da Lapa, Cidade Nova e Praça Mauá.<br />
A consolidação de um “pólo universitário”, cuja movimentação de alunos giraria em<br />
torno de 60.000 pessoas 356 , segundo dados recolhidos em campo, número maior que toda a<br />
prédio alugado e reformado, <strong>na</strong> Avenida Beira Mar); 3) Faculdade Moraes Júnior (fundada da década de 1960<br />
no mesmo prédio onde funcio<strong>na</strong> atualmente, <strong>na</strong> Rua Buenos Aires); 4) ESPM (i<strong>na</strong>ugurada no campus Rio, em<br />
1981, <strong>na</strong> Rua Teófilo Otoni; em 1997 houve a compra do prédio <strong>na</strong> Rua do Rosário); 5) FGV (no prédio próprio<br />
onde se localiza atualmente a instituição funcionou, <strong>na</strong> década de 1970 até 1990, o Instituto de Psicologia. A<br />
edificação permaneceu fechada durante 16 anos, quando houve a i<strong>na</strong>uguração após reforma, em 2006).<br />
353<br />
Em 2005 concretizou-se uma “parceria educacio<strong>na</strong>l” entre a Faculdade Moraes Júnior e a Universidade<br />
Presbiteria<strong>na</strong> Mackenzie, instituição paulista, formando o logo “Mackenzie Rio”.<br />
354<br />
A UESA tem origem no bairro do Rio Comprido (atualmente sua sede administrativa localiza-se <strong>na</strong> Barra da<br />
Tijuca); a FGV mantém a sua sede em Botafogo; a UCB iniciou suas atividades em Realengo; a UGF tem<br />
origem no bairro da Piedade; a PUC-RIO mantém sua sede administrativa no bairro da Gávea, e a<br />
UniverCidade começou suas atividades em Ipanema.<br />
355<br />
Nome “fantasia” para o Centro Universitário da Cidade, desde 1998, após a fusão da Faculdade da Cidade e<br />
da Faculdade Nuno Lisboa, em 1995.<br />
356<br />
Quantidade aproximada de alunos das dez instituições privadas entrevistadas, excetuando-se os outros<br />
estabelecimentos da rede e as instituições públicas. Entre as instituições públicas estão: Escola Naval;<br />
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uni-Rio); Universidade Estadual do Rio de Janeiro –UERJ<br />
(Escola Superior de Desenho Industrial); Universidade Federal do Rio de Janeiro – <strong>UFRJ</strong> (Escola de Música;<br />
Instituto de Filosofia e Ciências Socias/IFCS; Clube de Engenharia; Faculdade Nacio<strong>na</strong>l de Direito; Escola de
156<br />
população de estudantes da Ilha do Fundão, confirmaria a “tradição acadêmica” do “coração<br />
do Rio”, segundo a reportagem de capa da revista Veja 357 . Um dos símbolos marcantes deste<br />
pólo seria o edifício Standart, que nos anos 1960 teria marcado a paisagem com o logotipo de<br />
uma grande empresa que até recentemente mantinha sua sede administrativa no Centro – a<br />
ESSO. Passadas as obras para restauração e modernização do edifício 358 , que teve a sua<br />
fachada tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), a nova ocupação<br />
ficou a cargo do IBMEC. A instituição de ensino é apontada como “uma das melhores escolas<br />
de negócios do país”, cujos cursos <strong>na</strong>s áreas de Administração, Economia, Fi<strong>na</strong>nças, Gestão<br />
de Negócios, Marketing, Logística, Direito e Relações Inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is concorrem com a FGV,<br />
ESPM e PUC. No ano de 2005, foi incorporada à instituição carioca a Faculdade de Direito<br />
Evandro Lins e Silva (FELS), como resultado do seu plano de expansão 359 .<br />
A acessibilidade, a proximidade com o mercado de trabalho, a segurança, a<br />
“ausência” de favelas, o comércio, a “animação urba<strong>na</strong>” trazida pelo Corredor Cultural e a<br />
oferta de estacio<strong>na</strong>mentos e de edificações vazias, e com aluguéis mais baratos, são fatores<br />
apontados como “vantagens diferenciais” para a efetivação dos investimentos no denomi<strong>na</strong>do<br />
“coração da <strong>cidade</strong>”. Segundo Fer<strong>na</strong>ndo Freitas, coorde<strong>na</strong>dor do curso de economia da<br />
Faculdade Moraes Júnior-Mackenzie Rio, “os edifícios da Presidente Vargas foram projetados<br />
para empresas menores, com salas peque<strong>na</strong>s, e não se adaptam às novas companhias, que<br />
estão preferindo ir para a Barra. Para as escolas, esses edifícios são um prato cheio” 360 .<br />
A Área Central reflete a luta de tendências entre passado e presente. As articulações<br />
entre as partes da <strong>cidade</strong> se transformam ao longo do tempo e manifestam a adequação da<br />
materialidade socialmente produzida ao di<strong>na</strong>mismo dos fluxos da sociedade. Deste modo, o<br />
Enfermagem A<strong>na</strong> Nery; Escola de Engenharia; Instituto de Ginecologia); Universidade Federal Rural do Rio de<br />
Janeiro – UFRRJ (Curso Pós-Graduação em Desenvolvimento Agrícola) (RABHA, 2006).<br />
357<br />
A CIDADE dos estudantes. Revista Veja, 28 de fevereiro de 2007.<br />
358<br />
Além do valor da obra do edifício estimado em cerca de R$ 18 milhões, o Ibmec “adotou” a Praça 04 de<br />
Julho, em frente ao Consulado dos Estados Unidos, e o espaço ao lado da sede do Instituto, batizado como<br />
Espaço Evandro Lins e Silva. A revitalização das praças custou cerca de R$ 200 mil, segundo Clóvis Horta<br />
Corrêa Filho, assessor de imprensa do IBMEC. Informações concedidas via endereço eletrônico no mês de abril<br />
de 2008.<br />
359<br />
A FELS funcio<strong>na</strong>va no edifício nº 59 da Rua da Quitanda, no Centro, onde hoje funcio<strong>na</strong> a Universidade<br />
Castelo Branco. Criada pelo jurista Evandro Lins e Silva, a aquisição da FELS pelo IBMEC previu um<br />
“faturamento de R$ 3 milhões em 2006 e cerca de 400 alunos”. Segundo a instituição, “desde a criação da Pós-<br />
Graduação em Direito Empresarial em 2001, a instituição visa ampliar os seus negócios nessa área. Algo que foi<br />
possível com a FELS por se adequar perfeitamente ao modelo de negócios do IBMEC, concretizando a união de<br />
duas grifes de excelência educacio<strong>na</strong>l” (Portal Universia Brasil, 2005). “IBMEC/RJ COMPRA A Faculdade de<br />
Direito Evandro Lins e Silva”. Disponível <strong>na</strong> internet: www.universia.com.br. Acesso em outubro de 2008.<br />
360<br />
A CIDADE dos estudantes. Revista Veja, 28 de fevereiro de 2007.
157<br />
espaço se apresenta re-fragmentado em sua forma-função por meio da refuncio<strong>na</strong>lização, ou<br />
seja, quando há utilidade ou valor de uso da forma espacial no presente (CORRÊA, 2001).<br />
Tal processo de refuncio<strong>na</strong>lização é amplo, sendo percebido, por exemplo, <strong>na</strong>s<br />
edificações que abrigam novas funções – no caso, os serviços educacio<strong>na</strong>is, como: a sede do<br />
IBMEC (antiga sede da empresa ESSO), o campus Centro I da UESA (antiga sede da<br />
Eletrobrás), a FGV–Centro (antigo Banco Frânces-Italiano), a unidade Candelária da UGF<br />
(antigo Consulado de Portugal), o campus PIO X da UCAM (antiga sede bancária), o campus<br />
Praça Onze da UESA (antiga sede da Telemar), e o campus Rosário da ESPM (antiga sede da<br />
Interbras/Petros).<br />
O discurso apresentado pelas universidades tanto <strong>na</strong> mídia, em materiais impressos ou<br />
eletrônicos de divulgação, como <strong>na</strong>s entrevistas realizadas durante a pesquisa – recurso<br />
metodológico considerado fundamental para a coleta de material empírico 361 – revela a<br />
preferência pelo Centro no processo recente de expansão dos serviços educacio<strong>na</strong>is <strong>na</strong> <strong>cidade</strong><br />
do Rio de Janeiro. Todas as instituições entrevistadas apontaram expansão dos investimentos<br />
e das locações ou ace<strong>na</strong>ram necessidades futuras, caso permaneça a demanda atual.<br />
De acordo com o Ministério da Educação e Cultura/Instituto Nacio<strong>na</strong>l de Estudos e<br />
Pesquisas Educacio<strong>na</strong>is (MEC/INEP), o crescimento da demanda teria origem <strong>na</strong> “rápida<br />
expansão do ensino médio, aumentando a pressão para o acesso ao ensino superior” 362 , ou no<br />
que Rua (2005) denomi<strong>na</strong> de “universalização do ensino médio”, tal como consta no Gráfico<br />
1, a seguir. Segundo dados do Instituto, de 1990 a 2002, a quantidade de alunos nos cursos de<br />
graduação no Brasil aumentou 126%, passando de 1,5 milhão para 3,5 milhões de estudantes.<br />
361<br />
Foram entrevistadas 10 instituições universitárias, presencialmente e via e-mail (PUC e IBMEC), ao longo<br />
dos meses de abril e junho de 2008.<br />
362<br />
Informações apresentadas no portal eletrônico do MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu. Acesso<br />
em outubro de 2008. C.f. RUA, 2005.
158<br />
Gráfico 1<br />
Fonte: Sinopse Estatística do Ensino Superior – Graduação 2002 – MEC/INEP.<br />
Dados tabulados pela autora.<br />
No Brasil, desde a década de 1980, e principalmente nos anos 90, o setor privado de<br />
ensino superior vem logrando êxito no seu processo de expansão. De acordo com dados do<br />
INEP, “segundo o Censo do Ensino Superior, em 2000, havia 1.180 instituições de ensino<br />
superior. De cada dez instituições, oito eram privadas e duas públicas, estas últimas divididas<br />
entre federais, estaduais e municipais” 363 . A<strong>na</strong>lisando os dados sobre a evolução do número<br />
de IES, entre as décadas de 1980-1998, verifica-se o aumento do número de instituições da<br />
rede de ensino superior privado em relação às instituições públicas, principalmente após<br />
1995 364 , e a sua concentração <strong>na</strong> região Sudeste do país. Além do surgimento de<br />
estabelecimentos isolados, aponta-se o reconhecimento de faculdades e centros universitários<br />
em Universidades, legitimando o aumento destas últimas.<br />
De acordo com os dados do Censo de Educação do MEC (2002), verifica-se o<br />
aumento absoluto de IES no Brasil, totalizando 664 estabelecimentos criados. Em 1998,<br />
somavam-se 973; já em 2002, são totalizadas 1.637 IES. Destacam-se os dados referentes ao<br />
363<br />
Idem.<br />
364<br />
Em meados da década de 1990, tem-se a promulgação da nova legislação para a educação superior, com a<br />
facilitação da abertura e do reconhecimento de novas instituições universitárias e a extinção da obrigatoriedade<br />
da instituição privada sem fins lucrativos. Tal reforma da educação superior, com destaque para o Decreto n.º 06,<br />
de 19 de agosto de 1997, enquadra-se no cenário ideológico neoliberal, já que as universidades transferiram a<br />
vocação empresarial para o contexto educacio<strong>na</strong>l.
159<br />
setor privado, que em 1998 representava 764 instituições no país, e em 2002, 1.442<br />
estabelecimentos, um crescimento absoluto de quase 90%.<br />
Tabela 1<br />
Fonte: Sinopse Estatística do Ensino Superior – Graduação<br />
2000 – MEC/INEP.<br />
Gráfico 2<br />
Fonte: Sinopse Estatística do Ensino Superior – Graduação 2000 – MEC/INEP.
160<br />
Tabela 2<br />
Distribuição do Número de Instituições por<br />
Dependência Administrativa, segundo as regiões - 2002<br />
Região<br />
Total<br />
Privadas<br />
Número %<br />
Norte 83 69 83,13<br />
Nordeste 256 205 80,08<br />
Sudeste 840 763 90,83<br />
Sul 260 225 86,54<br />
Centro-Oeste 198 180 90,91<br />
IES 1.637 1.442 88,09<br />
Fonte: Sinopse Estatística do Ensino Superior – Graduação<br />
2002 – MEC/INEP. Dados tabulados pela autora.<br />
As causas para a expansão do número de IES privadas se difundem <strong>na</strong>s dimensões<br />
política, socioeconômica e ideológica-cultural, envolvendo diferentes atores e interesses.<br />
Pode-se dizer que a ampliação de alunos ingressos no ensino médio promove o crescimento<br />
da demanda para o ensino superior, no entanto, os impactos do sucateamento das<br />
universidades públicas 365 não favorece a abertura de vagas suficientes em relação à demanda<br />
solicitada. Tal pressão gerada pela demanda é ca<strong>na</strong>lizada pela disponibilidade de vagas e<br />
facilidades de acesso que caracterizam a massificação do ensino superior pelo setor<br />
privado 366 . O enorme crescimento quantitativo das IES privadas sem, contudo, expressar<br />
365<br />
Tal sucateamento ou desmantelamento das IES públicas manifestam-se “no corte de verbas, <strong>na</strong> não abertura<br />
de concursos públicos para professores e funcionários técnico-administrativos, pela continuidade da expansão do<br />
ensino superior privado e das matrículas delas decorrentes, pela desti<strong>na</strong>ção de verba pública para as faculdades<br />
particulares, pela multiplicação das fundações privadas <strong>na</strong>s IES públicas e por ausência de uma política efetiva<br />
de assistência estudantil” (FIGUEIREDO, 2000).<br />
366<br />
O processo de massificação do ensino superior tem origem <strong>na</strong>s políticas populistas do segundo governo de<br />
Getúlio Vargas (1950-54). Neste sentido, a “estrutura do ensino médio dividida entre o ensino propedêutico<br />
(para as elites) e o ensino profissio<strong>na</strong>l (para a classe trabalhadora)” é transformada devido à “equivalência dos<br />
cursos profissio<strong>na</strong>is a secundário, para que fosse possível a progressão no sistema educacio<strong>na</strong>l, sendo tais<br />
medidas ampliadas <strong>na</strong> Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio<strong>na</strong>l (LDB) de 1961”. Como conseqüência,<br />
“ocorreu a expansão do ensino médio e o aumento da demanda pelo ensino superior que foi respondida pelo<br />
governo federal”, já que o MEC, até então, “defendia o controle da educação pela União” (FIGUEIREDO,<br />
2000).
161<br />
melhoria qualitativa, revela a vinculação destes estabelecimentos “exclusivamente ao<br />
atendimento da demanda por ensino” 367 .<br />
[...] a privação pretérita no acesso ao ensino superior, herança de um modelo<br />
educacio<strong>na</strong>l excludente e voltado preferencialmente às camadas mais abastadas da<br />
população, cedeu lugar a uma pretensa abundância <strong>na</strong> oferta de vagas a todos que se<br />
dispuserem a pagar as mensalidades (RUA, 2005, p.24).<br />
Verificam-se, desde a década de 1990, algumas transformações <strong>na</strong> realidade brasileira,<br />
marcada pela desigualdade no acesso aos direitos básicos da vida, como a educação. As<br />
recentes políticas públicas educacio<strong>na</strong>is refletem acordos entre Governo e mercado, e<br />
defendem a democratização do ensino superior pautando-se <strong>na</strong> ampliação do reconhecimento<br />
de instituições de ensino de cunho empresarial e em reformas que garantem acesso às verbas<br />
gover<strong>na</strong>mentais por parte do setor privado. Deixa-se claro a afirmação de um “modelo de<br />
educação que trabalha exclusivamente para a preparação para o mundo do trabalho” 368 ,<br />
orientando o indivíduo a dispor de parte de seu provento para fi<strong>na</strong>nciar a “tão sonhada”<br />
faculdade, já que é sabido que a grande massa populacio<strong>na</strong>l que compõe a classe baixa e<br />
média-baixa não usufrui das mesmas condições sociais que as classes média e alta durante a<br />
sua formação educacio<strong>na</strong>l básica ou para pagar cursos preparatórios para o vestibular.<br />
Com base <strong>na</strong>s reflexões de Rua (2005), que buscou investigar os elementos motivantes<br />
dessa “demanda adicio<strong>na</strong>l disposta a fi<strong>na</strong>nciar o ensino superior”, pode-se apontar a<br />
“ideologia da empregabilidade” 369 que “apregoa o papel da formação e qualificação para a<br />
colocação do indivíduo no mercado de trabalho” – discurso “reiterado pelos meios de<br />
comunicação, empresas, escolas e universidades”. Esta ideologia refletiria um “receituário de<br />
propostas no campo educacio<strong>na</strong>l” formuladas pelo empresariado industrial preocupado em<br />
“tor<strong>na</strong>r a economia mais competitiva com a indústria estrangeira”, e pelo capital fi<strong>na</strong>nceiro<br />
disposto a investir em “novos nichos de consumo de serviços educacio<strong>na</strong>is”.<br />
367 BITTAR, Mariluce. O Ensino Superior Privado no Brasil e a formação do segmento das universidades<br />
comunitárias. (s/d). Disponível <strong>na</strong> internet. Sobre a expansão da rede de ensino superior privado, o INEP aponta<br />
que “o problema é que ela se deu em detrimento da qualidade, com a criação de inúmeras escolas sem corpo<br />
docente qualificado e sem a infra-estrutura mínima necessária ao seu funcio<strong>na</strong>mento. Por outro lado, a maioria<br />
das instituições privadas se dedica ape<strong>na</strong>s ao ensino, sem apoiá-lo <strong>na</strong> produção do conhecimento e <strong>na</strong>s atividades<br />
de extensão. Assim, as universidades públicas brasileiras são as principais responsáveis pela qualificação<br />
docente, em nível de mestrado e doutorado, assim como por mais de 90% da pesquisa básica e aplicada<br />
desenvolvida no país”.<br />
368<br />
RUA, 2005, p.30.<br />
369 Ibid., p.26-7.
162<br />
Vale dizer que se trata da expressão máxima da coisificação do indivíduo,<br />
confundindo-o com a própria força de trabalho. Ademais, a qualificação é vista<br />
como incorporação de novos atributos à mercadoria força de trabalho ofertada pelo<br />
trabalhador. Cria-se, dessa maneira, a ilusão de que quanto maior o número de<br />
títulos apresentados pelo trabalhador, mais ele estará aumentando as chances de se<br />
colocar no mercado de trabalho de forma ‘competitiva’ (RUA, op.cit., p.26).<br />
Pode-se enfocar também a ideologia pós-moder<strong>na</strong> da valorização do indivíduoconsumidor<br />
orientada por novas formas de acumulação de capital da sociedade mundializada<br />
e manifestadas no processo de “mercantilização da cultura”. Neste sentido, sendo o<br />
conhecimento “entendido como mercadoria, a educação é entendida como um bem de<br />
consumo, [logo], a educação pode ser encarada como consumo privado, quando os próprios<br />
indivíduos procuram se valorizar, aplicando parte de suas rendas <strong>na</strong> própria educação” 370 .<br />
De acordo com Sánchez (2003), a relação entre “materialização e simbolização”<br />
apresenta-se <strong>na</strong>s formas de apropriação e uso da Área Central e de sua imagem pelo capital,<br />
que utiliza o espaço como cenário e a imagem como estímulo, para atrair e valorizar os<br />
investimentos e o consumo. Neste sentido, os centros urbanos reabilitados colocam-se como<br />
<strong>centralidade</strong>s notórias para a formação de nichos de consumo cultural. Harvey (1996)<br />
declarou:<br />
Uma região urba<strong>na</strong> pode também aumentar sua situação de competitividade a partir<br />
da divisão espacial do consumo. (...) Os investimentos, no intuito de atrair o<br />
consumo (...) cada vez mais se concentram <strong>na</strong> qualidade de vida, <strong>na</strong> valorização do<br />
espaço, <strong>na</strong> inovação cultural e <strong>na</strong> elevação da qualidade do meio ambiente urbano<br />
(inclusive <strong>na</strong> adoção de estilos pós-modernistas de arquitetura e de desenho urbano),<br />
nos atrativos de consumo (estádios esportivos, centros de convenções, shopping<br />
centers, mari<strong>na</strong>s, praças de alimentação exótica), entretenimento (a organização de<br />
espetáculos urbanos temporários ou permanentes), [tor<strong>na</strong>ndo-se] facetas<br />
proeminentes das estratégias de renovação urba<strong>na</strong>. Acima de tudo, a <strong>cidade</strong> tem que<br />
parecer como lugar inovador, excitante, criativo e seguro para viver, visitar, para<br />
jogar ou consumir (Ibid., p.54-5).<br />
O Mapa 4 e o Quadro 2, a seguir, apresentam a localização das IES privadas no centro<br />
da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro. Além das principais universidades mencio<strong>na</strong>das, encontram-se<br />
estabelecimentos de ensino isolados (pós-graduações, centros de especialização, etc.) e<br />
faculdades, como: Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas; Sociedade Unificada de<br />
Ensino Superior e Cultura (SUESC); Associação de Ensino Superior do Rio Janeiro (ASERJ);<br />
Conservatório Brasileiro de Música; Associação Universitária Santa Úrsula; Faculdade<br />
370 BARBOSA, 2000, p. 7-8. Disponível <strong>na</strong> internet.
163<br />
Bittencourt da Silva (FABES); Faculdade SENAC (Centro de Informática e<br />
Telecomunicações); Instituto de Ensino Superior do Rio de Janeiro Ltda.; Sociedade<br />
Brasileira de Instrução; Bolsa de Valores do Rio de Janeiro; SENAC (Centro de<br />
Administração e Desenvolvimento Empresarial); Fundação Educacio<strong>na</strong>l Severino Sombra<br />
(RABHA, 2006).
Mapa 4 – A localização das IES privadas <strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro<br />
164
165<br />
Principais IES<br />
Privadas<br />
Unidade/Campi(us)/sede/salas<br />
Localização (logradouros)<br />
ESPM Campus Rosário Rua do Rosário; Av. Rio Branco<br />
FGV Unidade Centro Rua da Candelária<br />
FMJ-<br />
Sede Administrativa; Anexos de<br />
Rua Buenos Aires; Rua Regente Feijó;<br />
MACKENZIE Informática e Biblioteca; Núcleo de<br />
Av. Rio Branco (Cinelândia)<br />
RIO<br />
pós-graduação e extensão<br />
IBMEC Sede Administrativa Av. Beira Mar (próximo à Praça 4 de julho)<br />
PUC-RIO Unidade Centro Av. Marechal Câmara<br />
UCAM<br />
Campi: Pio X, Centro; Centro de<br />
Humanidades; salas para graduação<br />
e pós-graduação<br />
Rua Teófilo Otoni (salas); Rua Sete de<br />
Setembro (salas); Rua da Assembléia (salas);<br />
Rua da Candelária; Rua do Carmo<br />
UCB Unidade Centro Rua da Quitanda; Rua Se<strong>na</strong>dor Dantas<br />
UESA<br />
Campi: Centro I, Praça XI, Menezes<br />
Cortes, Arcos da Lapa, Academia de<br />
Polícia Civil (Acadepol)<br />
Av. Presidente Vargas (sentido Uruguaia<strong>na</strong> e<br />
Cidade Nova e Praça XI); Rua do Riachuelo;<br />
Rua São José<br />
UGF Unidade Candelária Av. Presidente Vargas<br />
UniverCidade<br />
Sede Administrativa<br />
Campi: Metrô Carioca, Gonçalves<br />
Dias, Aeroporto, Metrô Praça XI<br />
Rua Sete de Setembro; Rua Gonçalves Dias;<br />
Rua Bittencourt da Silva, s/nº; Av. General<br />
Justo; Av. Pres. Vargas (Praça XI)<br />
Quadro 2 - Localização das principais IES privadas <strong>na</strong> Área Central<br />
Fonte: Dados tabulados pela autora com informações obtidas em campo e em RABHA, 2006.<br />
Expansão e diversificação são estratégias apontadas pelas IES para lidar com a<br />
competição. A concorrência no espaço central é mais acirrada do que em outras importantes<br />
<strong>centralidade</strong>s, como a Barra da Tijuca, por exemplo, onde o mercado é dividido entre a UESA<br />
(hegemonia), FGV e UniverCidade. Para lidar com a concorrência e validar os investimentos,<br />
são propostos, a saber: a implantação de cursos baratos e de alta demanda denomi<strong>na</strong>dos<br />
“carros-chefe”, com conteúdo auxiliar em concursos e educação continuada (politécnico e<br />
pós-graduação) <strong>na</strong>s áreas de Direito, Administração; a manutenção do valor das mensalidades<br />
ao longo do curso; a abertura e diversificação de novos cursos a fim de receber públicos<br />
diferenciados; e a oferta de horários alter<strong>na</strong>tivos para os cursos nos três turnos, inclusive aos<br />
sábados.<br />
São ofertados cursos politécnicos, de extensão, EAD (Educação à Distância),<br />
graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) <strong>na</strong>s áreas de: Contabilidade e Fi<strong>na</strong>nças,<br />
Economia, Administração, Direito, Relações Inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is, Engenharia, Tecnologia, Gestão
166<br />
e Recursos Humanos, Comunicação, História, Cinema, Marketing, Saúde (Nutrição,<br />
Fisioterapia, Medici<strong>na</strong>, Enfermagem, etc.), entre outros.<br />
O Quadro 3, a seguir, apresenta algumas estratégias de localização relacio<strong>na</strong>das ao<br />
processo crescente de implantação de universidades privadas no centro da <strong>cidade</strong> do Rio de<br />
Janeiro.<br />
ESTRATÉGIAS<br />
Ocupar prédios antigos com localização<br />
privilegiada e com aluguéis mais baixos que outras<br />
áreas nobres da <strong>cidade</strong>.<br />
Investir em áreas reabilitadas portadoras de<br />
“animação urba<strong>na</strong>”, cujo potencial de qualidade<br />
arquitetônica e de caráter histórico altera formas de<br />
apropriação segundo segmentos de renda ou<br />
padrão de atividade.<br />
Buscar proximidade com o mercado de trabalho.<br />
ESPACIALIDADES (micro-localização)<br />
Antigas sedes de grandes empresas, bancos<br />
estrangeiros, consulados, prédios públicos.<br />
Localidades concentradoras de livrarias, cafés,<br />
centros culturais, restaurantes. Ex.: “Corredor<br />
Cultural”, Praça Mauá.<br />
Sistema fi<strong>na</strong>nceiro, sedes de grandes empresas e<br />
escritórios de advocacia, defensoria pública, Fórum<br />
e comércio varejista. Ex. A.C.N. (núcleo central) e<br />
Cidade Nova.<br />
Investir em <strong>centralidade</strong>s, áreas de grande<br />
convergência de fluxos.<br />
Concentração de termi<strong>na</strong>is viários (ônibus, metrô,<br />
trem, barcas), estacio<strong>na</strong>mentos, praças, comércio,<br />
equipamentos culturais. Ex.: avenidas Rio Branco,<br />
Presidente Vargas, Beira Mar; Rua Uruguaia<strong>na</strong>,<br />
Praça XV, Praça Mauá.<br />
Aluguel do espaço.<br />
São disponibilizadas salas e/ou auditório para<br />
reuniões de trabalho, cursos/seminários de<br />
empresas ou órgãos públicos que buscam as<br />
dependências do Centro para a realização de<br />
concursos.<br />
Tipos de investimento.<br />
Reformas prediais inter<strong>na</strong>s e exter<strong>na</strong>s de imóveis<br />
próprios ou alugados; aluguel ou construção de<br />
imóveis anexos à unidade principal; reformas no<br />
entorno (praças, calçadas); disponibilidade de<br />
transporte em função da segurança.<br />
Público-alvo / Perfil dos estudantes.<br />
Apropriação simbólica do valor cultural.<br />
Pessoas que trabalham (no Centro ou perto) e com<br />
faixa etária maior. Moradores de outros bairros e<br />
municípios (Zo<strong>na</strong> Sul, Norte, Niterói, etc.) que se<br />
apropriam da acessibilidade. Pelo menos metade<br />
dos estudantes possuem renda média e alta (ex.:<br />
ESPM, Moraes-Júnior, IBMEC, FGV, UCAM).<br />
O Corredor Cultural agrega valor e “anima” o<br />
sábado, de menor movimento; as áreas históricas<br />
são importantes para os cursos de turismo e
167<br />
restauração; a “tradição e a história” são<br />
apropriadas em logotipos de instituições privadas e<br />
<strong>na</strong> ocupação de edificações tombadas; a Avenida<br />
Rio Branco mantém-se como símbolo da<br />
concentração do “velho e do novo”.<br />
Expansão e diversificação de cursos para lidar com<br />
a concorrência e o aumento da demanda dos<br />
serviços em educação superior.<br />
Além do aumento da demanda por aluguel ou<br />
compra de salas e prédios <strong>na</strong> Área Central de<br />
Negócios (ACN), Lapa, Praça Onze e Cidade<br />
Nova, são cogitadas propostas de expansão para a<br />
região da Cruz Vermelha e Píer Mauá.<br />
Quadro 3 – Estratégias de localização das universidades<br />
Fonte: Dados tabulados pela autora com informações obtidas em campo.<br />
Verifica-se a oferta maciça de cursos de graduação e, principalmente, pós-graduação<br />
<strong>na</strong> área de fi<strong>na</strong>nças, marketing e negócios. A possibilidade de realização de cursos de<br />
graduação ou MBA, pagos por empresas e instituições de porte, localizadas <strong>na</strong> própria Área<br />
Central, é amplamente divulgada como recurso propagandístico das IES (RABHA, 2006).<br />
Observa-se, portanto, a <strong>na</strong>turalização do processo de “mercantilização da educação”,<br />
no qual as grandes corporações econômicas assumem o papel de mantenedoras das<br />
Instituições de Ensino Superior. Neste sentido, cria-se a possibilidade de o próprio mercado<br />
assumir a formação de seus trabalhadores, subordi<strong>na</strong>ndo, de forma objetiva, a educação ao<br />
trabalho produtivo e o conhecimento ao capital.<br />
Em especial, destacam-se algumas instituições e a sua configuração espacial,<br />
revelando o processo de expansão da rede de ensino superior privada <strong>na</strong> Área Central do Rio<br />
de Janeiro, após a década de 1990.<br />
A Faculdade Moraes Júnior possui um histórico de ocupação, desde a década de<br />
1960, <strong>na</strong> Rua Buenos Aires, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação <strong>na</strong>s áreas de<br />
Administração, Direito, Contabilidade e Economia. Atualmente, a faculdade está em fase de<br />
expansão, principalmente após a fusão com a Universidade Presbiteria<strong>na</strong> Mackenzie, e aponta<br />
a possibilidade de abertura de cursos de Relações Inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is e Análise de Sistemas no<br />
“centro fi<strong>na</strong>nceiro, perto da Avenida Rio Branco”, onde já possui uma sala própria para<br />
ministração de cursos de pós-graduação, consolidando a proposta de uma “Escola de<br />
Negócios” 371 .<br />
371<br />
Informações apresentadas em entrevista com o coorde<strong>na</strong>dor de curso, Fer<strong>na</strong>ndo Freitas, <strong>na</strong> sede da<br />
instituição, em maio de 2008.
168<br />
A UniverCidade 372 é fruto da fusão ocorrida, em 1995, entre a Faculdade da Cidade e<br />
a Faculdade Nuno Lisboa, dando origem adiante ao Centro Universitário da Cidade, em 1998.<br />
A instituição possui sede administrativa no Centro, onde estão localizados outros quatro<br />
campi que atendem cerca de 6.000 alunos – resultado do movimento de expansão da<br />
instituição filantrópica, que chegou ao total de 36 unidades no município do Rio de Janeiro;<br />
atualmente, possui 19 unidades, com estimativa de redução para16. Nos últimos dois anos, a<br />
Zo<strong>na</strong> Oeste da <strong>cidade</strong> foi apontada como a área onde ocorreu o maior número de redução de<br />
estabelecimentos, no entanto, o Centro foi apontado como um lugar “próspero”: a partir de<br />
2001 foram abertos os campi Aeroporto e Praça Onze, e em 2006 e 2007 i<strong>na</strong>uguraram-se os<br />
campi Carioca e Gonçalves Dias, respectivamente.<br />
Foram abertos cursos de graduação e pós-graduação <strong>na</strong>s áreas de Tecnologia,<br />
Administração, Contabilidade, Relações Inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is, Direito, Engenharia e Saúde (Ed.<br />
Física, Fisioterapia, Enfermagem). Sobre a configuração espacial do campus Carioca, tal<br />
localidade é percebida como uma ação estratégica extremamente positiva, tanto pela<br />
instituição como pelas concorrentes.<br />
Recentemente criou mais um endereço e inovou, com instalações no interior da<br />
estação do Metrô Carioca. Passa, assim, a usufruir o que é considerado o grande<br />
diferencial da área, qual seja a facilidade proporcio<strong>na</strong>da pelo sistema de transportes.<br />
Esta característica e o fato de ainda ser o principal mercado de trabalho para<br />
significativa parcela da população carioca geraram condições favoráveis para a<br />
acirrada corrida <strong>na</strong> direção centro e uma saudável concorrência entre as instituições<br />
particulares de ensino superior (RABHA, op.cit., p.287).<br />
Devido ao seu caráter filantrópico, nenhum dos edifícios ocupados para ensino no<br />
Centro é próprio, ape<strong>na</strong>s a sede administrativa, que pertence à instituição mantenedora. Outra<br />
característica a ser mencio<strong>na</strong>da diz respeito ao valor das mensalidades dos cursos. Cada<br />
unidade possui um valor diferenciado em relação ao turno e à localidade. Verifica-se a<br />
importância do Centro no mercado da educação superior, de acordo com a instituição,<br />
enquanto a unidade Barra alcançou o ingresso de 400 alunos em um ano de funcio<strong>na</strong>mento.<br />
No mesmo período, <strong>na</strong> unidade Gonçalves Dias, ingressaram 1.400 alunos.<br />
A Universidade Estácio de Sá possui mais de 25 mil alunos em seus cinco campi <strong>na</strong><br />
Área Central 373 . Ape<strong>na</strong>s o campus Centro I, localizado <strong>na</strong> Avenida Presidente Vargas/Rua<br />
372<br />
Informações apresentadas por Flávia Moritz, gerente acadêmica da instituição, em junho de 2008.<br />
373<br />
Informações prestadas por A<strong>na</strong> Cristi<strong>na</strong> Curi, gerente do Campus I, em maio de 2008. São informações dos<br />
campi da UESA: Campus I, Presidente Vargas, com dez cursos de graduação, 20 politécnicos e 18 de pósgraduação<br />
(dois stricto sensu); “Campus II, funcio<strong>na</strong>ndo <strong>na</strong> Academia de Policia Civil; Campus III, no último
169<br />
Uruguaia<strong>na</strong>, onde a instituição iniciou suas atividades em 1998, movimenta cerca de 11 mil<br />
estudantes em seus 22 andares e 171 salas de aula nos três turnos (M/T/N), inclusive aos<br />
sábados. Segundo Rabha (2006), “no rol das universidades privadas, a UESA desponta como<br />
a de maior incremento de vagas no ensino superior, tor<strong>na</strong>ndo-se atualmente a universidade<br />
com maior número de matrículas no curso de graduação no Estado do Rio de Janeiro” 374 .<br />
Algumas localidades como o Rio Comprido, a Barra da Tijuca e o centro do Rio de Janeiro<br />
apresentam, respectivamente, dois, três e cinco campi (RUA, 2005).<br />
A seguir, apontam-se fatores condicio<strong>na</strong>ntes, externos e internos, à Área Central do<br />
Rio de Janeiro, como razão à crescente implantação de IES privadas, a partir da década de<br />
1990:<br />
Fatores externos:<br />
A perda da importância relativa do Centro no movimento de expansão urba<strong>na</strong>, e do<br />
município do Rio de Janeiro <strong>na</strong> escala <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l em termos econômicos e políticos, ao longo<br />
do século XX.<br />
Tal processo é caracterizado pela descentralização dos setores secundário e terciário<br />
para outros centros funcio<strong>na</strong>is da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, a partir da década de 1930/40; da<br />
sua Região Metropolita<strong>na</strong> (RMRJ), cuja concreta configuração já se apresenta em 1960<br />
(ABREU, 1987); e para outros estados como São Paulo, cuja supremacia econômica <strong>na</strong> escala<br />
<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l se instaurou desde as primeiras décadas do século XX. Por conseguinte, a afirmação<br />
de importantes <strong>centralidade</strong>s como a Barra da Tijuca atraiu empresas e população, ao longo<br />
das décadas de 1980/90. No entanto, apesar do trânsito que aflige o Centro, as lentidões <strong>na</strong>s<br />
políticas públicas de transporte mantiveram afastados os locais de moradia e trabalho, e o<br />
Centro como a localidade concentradora do principal mercado de trabalho dentro da <strong>cidade</strong>.<br />
A expansão da rede privada de ensino superior no Brasil, a partir da década de 1990,<br />
com base no “movimento de passagem do regime de acumulação fordista para o denomi<strong>na</strong>do<br />
andar do Termi<strong>na</strong>l Menezes Cortes com cursos de graduação e pós-graduação em Direito; Campus IV, <strong>na</strong> Praça<br />
Onze, com 12 cursos de graduação, dez politécnicos e dois de pós-graduação, e o Campus V, Arcos da Lapa,<br />
com graduação e pós-graduação em Medici<strong>na</strong>” (RABHA, op.cit., p.288).<br />
374<br />
RABHA, op.cit., p.24.
170<br />
de acumulação flexível” e no “movimento da propalada diminuição do Estado” 375 orientado<br />
por políticas neoliberais.<br />
O aumento da demanda estudantil pelo ensino superior privado advém, entre outros<br />
fatores, devido à disponibilidade de vagas e facilidade no acesso às mesmas, características<br />
das IES de cunho empresarial que parecem se “multiplicar” nos últimos tempos. Tal<br />
fenômeno é sintomático ao processo de “mercantilização da educação” aliado às novas formas<br />
de acumulação de capital <strong>na</strong> globalização da economia, assim como à reconfiguração do<br />
Estado (SILVA JR.; SGUISSARDI, 2001).<br />
Segundo estudiosos 376 , o “novo ensino privado de corte empresarial ou comercial”<br />
visa a acumulação de capital, e não, necessariamente, a qualidade dos serviços prestados<br />
(apesar de a melhoria <strong>na</strong> qualidade também se realizar em torno da concorrência). O alerta<br />
acerca deste tema aponta a intensa especulação fi<strong>na</strong>nceira que haveria por trás da expansão do<br />
setor educacio<strong>na</strong>l brasileiro, e que viria atraindo empresários e investidores<br />
descomprometidos com a demanda da sociedade, de acordo com as suas necessidades. A<br />
excelente rentabilidade e altas taxas de crescimento estariam atraindo empresários de diversos<br />
segmentos, assim como empresas fi<strong>na</strong>nceiras que administram fundos de investimentos<br />
estrangeiros e <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is 377 .<br />
Como o Ensino Superior não é a prioridade do Estado, existe pouca disponibilidade<br />
de vagas <strong>na</strong>s Instituições Públicas, o que promoveu o interesse do empresariado <strong>na</strong><br />
área, pois o volume reduzido de vagas garantiu o aumento do valor de troca e o<br />
retorno do investimento. Este interesse impulsionou a expansão do Ensino Superior<br />
Privado no Brasil, sendo que a Universidade passou a ser entendida como um<br />
investimento, e a educação como prestação de serviço. No entanto, ape<strong>na</strong>s <strong>na</strong> década<br />
de noventa, as universidades privadas brasileiras foram transformadas em empresas<br />
(...). As Universidades constituídas como empresa escola transferiram a vocação<br />
empresarial para o contexto educacio<strong>na</strong>l, transformando: o aluno em cliente; a<br />
educação em serviço prestado; a capa<strong>cidade</strong> profissio<strong>na</strong>l do aluno formado em<br />
produto; e o conhecimento em mercadoria (BARBOSA, 2000, p.8).<br />
375<br />
SILVA JR; SGUISSARDI, 2001.<br />
376<br />
DURHAN; SAMPAIO (1995), autoras citadas por Mariluce Bittar [s/d]. Disponível <strong>na</strong> internet. DURHAN,<br />
Eunice Ribeiro; SAMPAIO, Hele<strong>na</strong>. O Ensino Privado no Brasil. São Paulo: USP – NUPES, Documento de<br />
Trabalho 3, 1995.<br />
377<br />
“São empresas como a JP Morgan, Advent, Pátria, Dy<strong>na</strong>mo, entre outras, que se utilizam basicamente do<br />
mesmo princípio: adquirem parte da instituição, injetam recursos, participam da gestão, esperam o negócio se<br />
valorizar e, fi<strong>na</strong>lmente, vendem sua parte esperando obter uma alta lucratividade nessa transação” (REDE<br />
BAHIA, 2004). In: “ENSINO SUPERIOR: conhecendo as regras do mercado”. Estudo de marketing<br />
apresentado pela emissora Rede Bahia de Televisão, datado de setembro de 2004. Disponível <strong>na</strong> internet.
171<br />
Segundo Figueiredo (2000), a partir da década de 1990, iniciou-se “um processo de<br />
privatização sem precedentes do ensino no país”. A educação tor<strong>na</strong>-se um “grande negócio”<br />
legitimado pelo Estado que se desresponsabiliza das reais necessidades da sociedade.<br />
No Brasil, <strong>na</strong> década de noventa, a reforma educacio<strong>na</strong>l através da Lei de Diretrizes<br />
e Bases (LDB) para a educação <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l e do Plano Nacio<strong>na</strong>l de Educação (PNE),<br />
apresentou-se numa perspectiva de dar forma às políticas neoliberais, caracterizadas<br />
principalmente pela privatização, entendendo esta como a entrada desenfreada de<br />
recursos não-públicos para manter as atividades próprias da universidade. (...) Nunca<br />
<strong>na</strong> história do país foram abertas tantas universidades particulares como nos anos 80<br />
e 90, bem como, praticada a isenção fiscal para empresário da educação<br />
(FIGUEIREDO, loc.cit.).<br />
Silva Jr. & Sguissardi (2001) trazem importantes esclarecimentos acerca do “processo<br />
de reforma e reconfiguração do sistema de educação superior no Brasil, tanto público como<br />
privado” 378 . As mudanças nesta esfera social segundo a lógica do mercado estariam inseridas<br />
num movimento mais amplo de transformações “<strong>na</strong> economia (base produtiva) e <strong>na</strong><br />
reconfiguração do Estado”, ou seja, no movimento de passagem do regime de acumulação<br />
fordista para flexível “(mundialização do capital, fi<strong>na</strong>nceirização, desemprego,<br />
desregulamentação da economia, etc.)” e da reestruturação ou diminuição do Estado, “que se<br />
apresenta contraditoriamente como privatização do Estado e como um processo de<br />
desconcentração e maior controle sobre todos os setores da economia e dos serviços do<br />
Estado (Saúde, Educação, etc.)”.<br />
Tais mudanças político-econômicas levaram à intensificação da tendência que se<br />
verificava desde os governos militares acerca da privatização do ensino superior, apontada no<br />
aumento gradativo das matrículas nesta rede de ensino: verifica-se, portanto, desde a década<br />
de 1990, uma “mudança de concepção do saber como bem coletivo para bem<br />
particular/privado que conduz ao conceito de mercantilização do saber e da educação” 379 .<br />
Fatores internos referentes à micro-localização:<br />
O processo de “esvaziamento” do Centro proporcio<strong>na</strong>do pela “fuga” das empresas –<br />
sedes administrativas, escritórios, hospitais e consultórios – para outras <strong>centralidade</strong>s<br />
municipais e <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is, devido aos altos valores dos aluguéis e condomínio, à defasagem de<br />
378<br />
SILVA JR.; SGUISSARDI, op.cit., p.19.<br />
379<br />
Ibid., p.19-20.
172<br />
espaços e degradação das instalações prediais e logradouros, ao trânsito, e à supremacia<br />
econômica de São Paulo.<br />
Tal processo, apontado pelo discurso domi<strong>na</strong>nte de “decadência” do Centro que<br />
perdurou entre as décadas de 1970 a 1990, resultou em edificações comerciais vazias ou<br />
subutilizadas, trazendo a queda do valor metro quadrado para aluguel/compra. Apesar das<br />
transformações <strong>na</strong> dinâmica do Centro, a <strong>centralidade</strong> dos fluxos, a existência de redes de<br />
infra-estrutura urba<strong>na</strong>, assim como a realização de políticas de revitalização por parte do<br />
poder público em parceria com o setor privado, permitiram novas formas de circulação e<br />
acumulação de capital através da re-fragmentação/articulação do centro da <strong>cidade</strong> do Rio de<br />
Janeiro no contexto metropolitano atual.<br />
Desta forma, as IES privadas utilizaram-se de estratégias de localização já<br />
mencio<strong>na</strong>das apropriando-se de uma “nova dinâmica” do mercado no setor terciário, refletido<br />
<strong>na</strong>s novas torres “inteligentes” de escritórios, que abrigam uma série de sedes de empresas<br />
estatais, <strong>na</strong> concentração de órgãos públicos como Fórum e Defensoria Pública e de empresas<br />
do sistema fi<strong>na</strong>nceiro – fontes de emprego tanto de estudantes como de professores das<br />
universidades.<br />
Em seguida à exposição do processo de expansão das IES privadas, em escala <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l<br />
e local – no caso, <strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro, após a década de 1990 –, cabe a reflexão<br />
acerca do que este processo representa <strong>na</strong> dinâmica da configuração socioespacial do Centro,<br />
ou seja, nos movimentos de descentralização e de recentralização da função cultural. Lançamse<br />
os seguintes questio<strong>na</strong>mentos: Qual a importância de a função cultural situar-se no Centro?<br />
Que tipos de atividades culturais não estão mais no Centro? As universidades tinham papel <strong>na</strong><br />
dinâmica do Centro ao longo do século XX?<br />
Na intenção de contribuir com tais abordagens, são expostas as obras de Sampaio<br />
(2000), Figueiredo (2000) e Rabha (2006), autoras que procuraram sistematizar algumas<br />
informações acerca da geografia universitária desenvolvida no Brasil e <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de<br />
Janeiro.<br />
No Brasil, a instituição universidade é uma criação recente, datada do início do século<br />
XX, segundo Sampaio. “O surgimento das primeiras universidades ocorrerá somente após a<br />
proclamação da República (1889), mais precisamente entre 1909 e 1928”. Fundadas a partir<br />
de escolas isoladas como uma mera agregação, pode-se mencio<strong>na</strong>r, por exemplo, a<br />
Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920 pela reunião da Escola Politécnica<br />
(i<strong>na</strong>ugurada em 1874), da Faculdade de Medici<strong>na</strong> (1832) e da Faculdade de Direito.
173<br />
Para a autora, “efetivamente, as primeiras universidades brasileiras que conseguiram<br />
fixar as bases da atual estrutura universitária <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l surgem no âmbito da políticainstitucio<strong>na</strong>l<br />
erigida no primeiro governo Getúlio Vargas (1930-1945)”. Em 1935, foi<br />
implantada <strong>na</strong> Área Central do Rio de Janeiro, então capital da República, a Universidade do<br />
Distrito Federal, incorporada, em 1939, pela Universidade do Brasil. Esta última também<br />
congregou, “além das faculdades isoladas e escolas já existentes, a Universidade do Rio de<br />
Janeiro” 380 e, em 1961, com a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília,<br />
em 1960, foi transformada <strong>na</strong> atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (<strong>UFRJ</strong>). Em 1963,<br />
a <strong>UFRJ</strong> transferiu a maioria dos seus cursos para a Cidade Universitária da Ilha do Fundão<br />
(TAVARES, 2000).<br />
O contexto político e intelectual da década de 1930 é caracterizado pelo populismo e<br />
pelo modernismo, respectivamente, cuja polarização de idéias influenciou o debate acerca da<br />
“criação da <strong>na</strong>ção” pela elite cultural brasileira e a modernização institucio<strong>na</strong>l do primeiro<br />
governo Vargas (SAMPAIO, 2000).<br />
Essas idéias dos anos 1920 [região VS <strong>na</strong>ção/ tradição VS futuro] foram integradas<br />
sob novas condições e unificadas em um novo momento histórico, os anos 1930,<br />
permeando a modernização institucio<strong>na</strong>l e a construção do projeto universitário<br />
brasileiro. A década de 1930 pode ser pensada, nesse sentido, como um eixo em<br />
torno do qual girava o debate sobre a questão <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, o que incluía pensar os<br />
rumos da política e da cultura brasileiras. (...) As universidades se constituíram<br />
como pólos privilegiados, entretanto diversificados, de construção e difusão do<br />
pensamento <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l. (...) O Rio de Janeiro, assim, sediava uma universidade que<br />
tinha como objetivo constituir-se como fonte de formação da identidade e do caráter<br />
<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l do povo brasileiro. Sua instalação é aclamada por segmentos da<br />
intelectualidade brasileira que consideravam ter surgido <strong>na</strong> capital a instituição<br />
universitária mais vigorosa (...), capaz aos poucos de construir um pensamento<br />
domi<strong>na</strong>nte e influenciar a grande população brasileira (SAMPAIO, 2000).<br />
O debate trazido pela autora nos esclarece os marcos de construção da estrutura<br />
universitária no Brasil e o papel da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, “por ter sediado historicamente<br />
um ideal de construção <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l respaldado no modernismo de vertente carioca”. Tal histórico<br />
institucio<strong>na</strong>l configura-se no espaço da Área Central do Rio de Janeiro, com a permanência de<br />
unidades de IES públicas, apesar de o centro da <strong>cidade</strong> não abrigar seus principais<br />
campi.Verifica-se, pois, a presença da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro<br />
380<br />
A Universidade do Distrito Federal é resultado da fusão de quatro faculdades fundadoras formadas entre a<br />
década de 1930-40: a Faculdade de Ciências Jurídicas, a Faculdade de Ciências Médicas, a Faculdade de<br />
Ciências Econômicas e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro<br />
teria sido origi<strong>na</strong>da <strong>na</strong> UDF, e entre os anos de 1958 e 1961, instituía-se como Universidade do Rio de Janeiro<br />
(URJ). Informações disponíveis <strong>na</strong> internet: http://www.ivox.com.br; www.wikipedia.com.br. Acesso em<br />
janeiro de 2009.
174<br />
(UniRio), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), da Universidade do<br />
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e da <strong>UFRJ</strong>, com a Faculdade Nacio<strong>na</strong>l de Direito, o<br />
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) e a Escola de Enfermagem A<strong>na</strong> Nery, entre<br />
outros.<br />
Rabha (2006), em sua análise comparativa acerca da localização das atividades<br />
culturais no Centro, em 1967 e em 2005, aponta que “a situação do Rio indicava a Área<br />
Central como concentradora das atividades culturais em distintas formas, garantidas não só<br />
por peso do passado histórico, mas ainda por seu papel de “core área” 381 . Segundo a autora, o<br />
poder de atração e irradiação cultural do centro da <strong>cidade</strong> resultou <strong>na</strong> “concentração [em<br />
1967] da maior parte das bibliotecas da <strong>cidade</strong> (100 ocorrências), dos museus (18), das sedes<br />
de editoras (200) e de jor<strong>na</strong>is (33), mas ape<strong>na</strong>s 12 das diversas faculdades superiores<br />
existentes <strong>na</strong> <strong>cidade</strong>”.<br />
A concentração de certas atividades neste período vem ao encontro da necessidade de<br />
<strong>centralidade</strong> pelas atividades de lazer e divulgação cultural, como jor<strong>na</strong>is, revistas, editoras e<br />
estações de rádio (embora tenha se modificado devido ao avanço dos padrões tecnológicos da<br />
indústria gráfica), segundo Duarte (1974). Já as instituições de ensino, <strong>na</strong> busca por<br />
aglomerações, infra-estrutura de transportes e edificações disponíveis, podem se localizar em<br />
outros centros funcio<strong>na</strong>is distantes do centro da <strong>cidade</strong>. Este foi o padrão espacial seguido<br />
pelos estabelecimentos de ensino, como escolas e cursos (preparatórios/línguas) ao longo do<br />
processo de expansão da <strong>cidade</strong>. Até o fi<strong>na</strong>l da década de 1960, eram visíveis os reflexos das<br />
políticas educacio<strong>na</strong>is varguistas do segundo governo (1950-54), em relação às atividades de<br />
ensino: como forma de qualificar a mão-de-obra trabalhadora no processo de industrialização<br />
vigente, instaura-se a federalização do ensino superior, a expansão dos cursos<br />
profissio<strong>na</strong>lizantes e a equivalência destes ao ensino secundário, pressio<strong>na</strong>ndo a entrada de<br />
estudantes no ensino superior.<br />
No setor de ensino eram os cursos avulsos que se destacavam, considerando a<br />
convergência dos transportes e a proximidade do local de trabalho para a<br />
significativa parcela da população que demandavam estes serviços. Eram citados,<br />
aproximadamente, 43 cursos vestibulares, de música ou línguas, levantados pelo<br />
Ministério da Educação e Cultura em 1953. E vale dizer que se isoladamente eram<br />
atividades de peque<strong>na</strong> escala, no conjunto ganhavam significado. As inúmeras<br />
escolas de datilografia chegavam a ter mais de 2.000 alunos, os cursos de<br />
aprendizagem técnica do SENAC mais de 1.500 alunos e as escolas para motoristas,<br />
com média de 100 alunos, proliferavam <strong>na</strong>s ruas de maior movimento (RABHA,<br />
op.cit., p. 283-4).<br />
381<br />
DUARTE, 1967 apud RABHA, 2006, p.282).
175<br />
As IES possuem histórico de localização <strong>na</strong>s áreas centrais da <strong>cidade</strong>, como ocorreu<br />
com as primeiras faculdades e universidades públicas, <strong>na</strong>s décadas de 1920 a 1940. As<br />
primeiras IES particulares a surgir foram as Faculdades Católicas no Rio de Janeiro, em 1940,<br />
configurando-se “como as primeiras universidades privadas do país, só reconhecidas pelo<br />
Estado em 1946” (FIGUEIREDO, 2000). Até a metade da década de 1960, o ensino superior<br />
brasileiro era constituído fundamentalmente pelas instituições públicas e confessio<strong>na</strong>is, no<br />
entanto, tal situação se reverteu ao longo dos governos militares que implantaram medidas de<br />
descentralização espacial e de incentivo ao controle privado do ensino público. Tais medidas<br />
promoveram a expansão das IES públicas (com mais intensidade) e privadas para outras<br />
partes da <strong>cidade</strong>, durante as décadas de 1960-80.<br />
As mudanças no ensino superior brasileiro foram muitas e rápidas nos anos 60, até a<br />
localização geográfica das instituições foram alteradas, as faculdades públicas<br />
situadas nos pontos centrais das <strong>cidade</strong>s foram transferidas para os campi no<br />
subúrbio, pois [os gover<strong>na</strong>ntes] consideravam adequado para atenuar e apaziguar a<br />
militância política dos estudantes. Enquanto que as faculdades particulares faziam<br />
exatamente o inverso (FIGUEIREDO, loc.cit.).<br />
Verifica-se, portanto, o papel da rede de IES <strong>na</strong>s tentativas de afirmação de<br />
<strong>centralidade</strong>s outras além do Centro, pois, no fi<strong>na</strong>l da década de 1960, “ainda que fossem<br />
registradas 12 faculdades, com 7.267 alunos, a maior concentração destas instituições estava<br />
em outras regiões, <strong>na</strong>s zo<strong>na</strong>s Sul (Praia Vermelha e Gávea) e Norte (Tijuca, Ilha do<br />
Fundão)” 382 , e mais tarde <strong>na</strong> Zo<strong>na</strong> Oeste (Barra da Tijuca e Realengo), e outros bairros da<br />
Zo<strong>na</strong> Sul (Ipanema e Botafogo), Norte (Piedade e Cascadura) e também <strong>na</strong> Baixada<br />
Fluminense (RMRJ).<br />
A concentração da função cultural <strong>na</strong> Área Central da <strong>cidade</strong> apontava, nos anos 1960,<br />
o poder de atração e de irradiação cultural da <strong>centralidade</strong> (DUARTE, 1967), no entanto, tais<br />
forças são dinâmicas, mudando ao longo do tempo <strong>na</strong> própria estruturação da <strong>cidade</strong>.<br />
Algumas atividades culturais de lazer e entretenimento ainda se mantêm concentradas <strong>na</strong> Área<br />
Central, como os centros culturais, museus e bibliotecas, devido à importância das localidades<br />
e edificações como patrimônio histórico-cultural. Outras como os cinemas, além das<br />
atividades de divulgação, se espraiaram para outros bairros da <strong>cidade</strong> ou se instalaram nos<br />
recentes e modernos estabelecimentos comerciais, os shopping centers.<br />
A função de capital da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, até 1960, trouxe ao Centro a<br />
importância política e simbólica, como lócus construtor da <strong>na</strong>ção e formador do povo (mão-<br />
382<br />
RABHA, op.cit., p. 283.
176<br />
de-obra) brasileiro. Neste sentido, as IES públicas e privadas se configuraram como<br />
importantes atores em parceria com o Estado, alianças que permanecem atualmente, embora a<br />
tendência do controle do ensino privado pelas universidades particulares tenha crescido<br />
amplamente ao longo das últimas décadas.<br />
Vale registrar a importância das atividades de ensino nos programas de revitalização<br />
de áreas centrais desenvolvidos em várias <strong>cidade</strong>s, sendo objeto de uma agressiva<br />
política de atração. No Rio, a localização foi buscada pelo mercado, sem que<br />
houvesse instrumento ou incentivo indutor. Ainda assim, apesar de freqüentemente<br />
citada como um dos si<strong>na</strong>is da vitalidade do centro do Rio, a percepção do filão é<br />
ainda uma aquisição única do mercado privado, não tendo sido capturada pelo setor<br />
público para mensurar seus impactos ou para modelagem de projetos urbanos<br />
voltados à potencialização de um novo conjunto de usuários, que já apresentam<br />
significativa representatividade numérica (RABHA, 2006, p.288).<br />
Recentemente, tem se destacado um discurso por meio da mídia e de órgãos ligados ao<br />
urbanismo a respeito da “volta” das funções econômica, social e cultural para a Área Central<br />
do Rio de Janeiro. Verifica-se uma valorização dos processos espaciais de revitalização e<br />
refuncio<strong>na</strong>lização dos centros urbanos, associando desenvolvimento urbano e crescimento<br />
econômico, por atores públicos e privados. Apresentam-se como si<strong>na</strong>is de “vitalidade” os<br />
novos empreendimentos habitacio<strong>na</strong>is (condomínios fechados), corporativos (edifícios<br />
inteligentes) e educacio<strong>na</strong>is (universidades), símbolos de uma nova forma de gestão e atuação<br />
empresarial sobre a <strong>cidade</strong> – o planejamento estratégico.<br />
Coube ao estudo investigar as IES privadas com seus projetos de expansão em voga no<br />
centro da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro, a partir da década de 1990, e que estariam participando da<br />
reconfiguração do Centro em novos moldes, revelando um processo de mercantilização da<br />
educação, utilitário das propostas de intervenção espaciais de cunho gentrificador para<br />
acelerar a acumulação de capital.
177<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
A presente dissertação partiu da premissa que a Área Central da <strong>cidade</strong> do Rio de<br />
Janeiro vem seguindo uma tendência mundial: a de revalorização do seu espaço. Vale anotar<br />
que essas áreas são referidas como “o lugar privilegiado de tradição e memória histórica e<br />
cultural”, tanto pela “mídia”, quanto pelo poder público e sociedade civil organizada. Ainda:<br />
tal ideal de revalorização orienta uma série de políticas ligadas ao turismo cultural, bem como<br />
a implantação de novas atividades econômicas (comércio e serviços) e usos do solo<br />
(residencial).<br />
No intuito de apreender esses aspectos, a dissertação em tela prima por investigar o<br />
sentido da crescente concentração de universidades particulares <strong>na</strong> área central do Rio de<br />
Janeiro <strong>na</strong>s últimas décadas e, o seu papel no processo de refuncio<strong>na</strong>lização do Centro, de<br />
modo a embasar a reflexão aqui apontada que é, por conseguinte, compreender qual a<br />
importância desta <strong>centralidade</strong> no contexto metropolitano contemporâneo.<br />
Notadamente, considerou-se o processo histórico que levou à configuração atual do<br />
Centro, responsável por diferentes percepções acerca da sua importância social enquanto<br />
<strong>centralidade</strong> exercida durante séculos. Logo, <strong>na</strong> análise da problemática apresentada coube a<br />
reflexão acerca do movimento dialético das mudanças e permanências da organização<br />
espacial intra-urba<strong>na</strong>, fruto das mudanças ocorridas <strong>na</strong> organização social ao longo do tempo.<br />
Sendo assim, tornou-se imprescindível reconstituir a trajetória histórica e conceitual de<br />
centro e <strong>centralidade</strong> de modo a auxiliar a percepção da <strong>centralidade</strong> no tecido urbano e sua<br />
dinâmica espaço-temporal, seja no contexto mundial quanto no específico da <strong>cidade</strong> do Rio de<br />
Janeiro. E mais: que nesse processo de reconstituição foi possível desvendar certas dimensões<br />
da <strong>centralidade</strong>, uma vez que reveladoras de valores societários hegemônicos, assim como das<br />
diferentes forças sociais que as conformam com fins estratégicos no presente e para o futuro.<br />
Tal escolha teórico-metodológica contribuiu para a compreensão das transformações<br />
ocorridas no Centro Principal no que trata da sua realidade física, funcio<strong>na</strong>l e simbólica - a<br />
partir da década de 1960. Verificou-se que a <strong>centralidade</strong> urba<strong>na</strong> “foge” ao padrão de centro<br />
polifuncio<strong>na</strong>l e monopólico em função do processo de descentralização revelador da expansão<br />
da <strong>cidade</strong> transformada em metrópole, em meados do Século XX, logo ela passa a não ser<br />
ape<strong>na</strong>s um atributo do lugar central – como já diziam os estudiosos da ecologia huma<strong>na</strong> –<br />
transpondo a noção do que é central para outras áreas da <strong>cidade</strong>. A partir deste momento<br />
evidenciou-se a manifestação de mudanças significativas <strong>na</strong> organização espacial da área<br />
central do Rio de Janeiro ocasio<strong>na</strong>das por novas lógicas políticas e econômicas, resultando em
178<br />
especializações de determi<strong>na</strong>das áreas e <strong>na</strong> perda de importância relativa do espaço central em<br />
relação ao conjunto da estrutura urba<strong>na</strong>.<br />
Os processos históricos a<strong>na</strong>lisados revelaram a obsolescência da Área Central e a<br />
promoção de novos centros e frentes imobiliárias por parte de estratégias privadas associadas<br />
às políticas públicas, ao longo das décadas de 1970/80. Desta forma, verificou-se que o<br />
Centro deixou de ser o principal referencial simbólico de “vida urba<strong>na</strong>”, ou seja, sua<br />
participação nos processos da estrutura social, incluindo a vida econômica, a vida política e a<br />
cultural perde importância no contexto contemporâneo.<br />
Entretanto, ao avaliar a dinâmica que se instalou no Centro no período mencio<strong>na</strong>do é<br />
excepcio<strong>na</strong>l perceber a dialeti<strong>cidade</strong> dos seus contornos históricos. Notadamente, novos<br />
debates sobre os conceitos e conotações de centro e <strong>centralidade</strong> surgem, tanto por parte do<br />
poder público quanto por atores privados e pela “academia”. Logo, após o intenso debate<br />
sobre a crise urba<strong>na</strong> (econômico-fiscal) que se abateu sobre as <strong>cidade</strong>s <strong>na</strong>s décadas de<br />
1970/80, há o surgimento de outras temáticas que envolvem ações, políticas e representações<br />
em torno do movimento de reversão da “decadência”, ou seja, do “re<strong>na</strong>scimento” do centro.<br />
Deste modo, ao indagar-se inicialmente quanto a uma possível perda da capa<strong>cidade</strong> de<br />
atração de fluxos e de hierarquização do território por parte do Centro Principal em relação às<br />
outras <strong>centralidade</strong>s, constatou-se um processo de re-significação fruto da articulação entre<br />
cultura, relações de poder e atores sociais que participam do processo de retomada do centro<br />
inserido <strong>na</strong> dinâmica metropolita<strong>na</strong> como fator de competitividade inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l nos últimos<br />
vinte anos.<br />
Assi<strong>na</strong>la-se, portanto, o discurso da “volta ao Centro” que atribui um novo papel e<br />
sentido para a <strong>centralidade</strong> urba<strong>na</strong>. As políticas de reabilitação implementadas pelo Poder<br />
Público e setor privado pressupõem uma “nova urbanização”, entendida como readaptação da<br />
<strong>cidade</strong> tradicio<strong>na</strong>l ao que determi<strong>na</strong>dos atores aceitam como central, nisto, implicam-se<br />
movimentos de (re)centralização de algumas atividades, incluindo a moradia, lazer, ensino,<br />
comércio de luxo, serviços corporativos avançados, etc.<br />
Coube à dissertação questio<strong>na</strong>r a real <strong>na</strong>tureza desta recentralização levando-se em<br />
consideração os atores (fi<strong>na</strong>nceiro, empresariado imobiliário e de comércio e serviços) que<br />
rearticulam a mesma; os novos investimentos em cultura, fi<strong>na</strong>nceiro e gestão de negócios; e o<br />
papel da cultura <strong>na</strong> reconfiguração recente de áreas centrais. Interessou salientar a relação<br />
entre a “nova urbanização” e as estratégias “gentrificadoras” de apropriação do espaço e,<br />
logo, indagar acerca do sentido do processo de refuncio<strong>na</strong>lização que caracteriza a “volta ao<br />
centro”, presente <strong>na</strong> reutilização de edificações restauradas e com novos usos voltados para o
179<br />
consumo das classes médias e altas, no estímulo às funções antes renegadas, assim como <strong>na</strong><br />
expulsão da população local pobre.<br />
A pesquisa apontou como atores deste processo, em primeiro lugar, o mercado<br />
imobiliário de escritórios, com as grandes incorporadoras, firmas de engenharia e arquitetura<br />
predial, que lucram com a construção ou “retrofit” e comercialização de salas ou mesmo<br />
edifícios inteiros – os chamados “inteligentes” ou pós-modernos. Há também o investimento<br />
em empreendimentos imobiliários residenciais, “ilumi<strong>na</strong>dos” no que se refere ao discurso da<br />
reversão da decadência do centro. Além destes, há os investimentos efetuados pelo poder<br />
público em parceria com o setor privado <strong>na</strong> implantação de projetos de preservação,<br />
“revitalitação” e/ou “requalificação” urbano-culturais. São ambientes preservados ou<br />
reconvertidos em espaços de lazer e entretenimento ligados à cultura, e que se convertem em<br />
espaços de consumo turístico-cultural – exemplo: os inúmeros centros culturais. Além dos<br />
novos usos ligados ao turismo cultural (visitas às bibliotecas, espaços e centros culturais e<br />
religiosos, exposições, etc.), são apontados os novos empreendimentos no setor de serviços<br />
avançados no núcleo central, como os serviços corporativos materializados nos “edifícios<br />
inteligentes”; as universidades particulares; cafés e livrarias; e a consolidação do que<br />
denomi<strong>na</strong>mos Pólo Comercial de Luxo, formado por lojas de griffe do ramo do vestuário,<br />
bolsas e calçados.<br />
Neste sentido, a dissertação ressaltou as transformações recentes porque tem passado o<br />
centro da metrópole carioca, iniciadas pelo dito processo de “decadência” do Centro<br />
tradicio<strong>na</strong>l ou principal, resultantes do processo de descentralização (político-administrativa,<br />
funcio<strong>na</strong>l, econômica), ao longo das décadas de 1970/80; e, sendo desenvolvidas <strong>na</strong><br />
articulação de uma nova dinâmica pautada <strong>na</strong> “reabilitação”, a partir de 1990. Sendo assim, a<br />
partir da pesquisa desenvolvida, acredita-se que foi possível salientar as mudanças <strong>na</strong><br />
paisagem social e material da área central como resultado dos processos sociais que projetam<br />
<strong>centralidade</strong>s urba<strong>na</strong>s, vistas enquanto imposição espacial do poder econômico e político.<br />
Acerca das recentes transformações <strong>na</strong>s formas de apropriação social da área central<br />
do Rio de Janeiro, formulou-se inicialmente a hipótese que as IES privadas localizadas no<br />
centro da <strong>cidade</strong> têm se estruturado em novos moldes no arranjo espacial da <strong>cidade</strong> desde a<br />
década de 1990. Verifica-se a crescente implantação de novos campi e unidades, além da<br />
ampliação das instalações (inclusive das sedes administrativas) de universidades privadas <strong>na</strong>s<br />
regiões do centro histórico e adjacências, tanto por parte de instituições já existentes, como<br />
também por universidades que mantinham seu campo de atuação em outros bairros da <strong>cidade</strong>.
180<br />
Coube ressaltar a existência de um discurso domi<strong>na</strong>nte que avalia a presença das IES<br />
no Centro como bons si<strong>na</strong>is da chamada “revitalização”, argüindo-se aí a geração de um<br />
di<strong>na</strong>mismo econômico e a retomada de atividades ligadas ao entretenimento e à cultura no<br />
Centro. Neste sentido, a pesquisa investigou a hipótese da relação entre a expansão da rede<br />
privada de ensino superior <strong>na</strong> área central do Rio de Janeiro, após a década de 1990, e sua<br />
configuração como resultado de ações estratégicas ligadas ao discurso da “volta ao Centro”,<br />
ou seja, da afirmação de <strong>centralidade</strong>s por meio do desenvolvimento econômico que alia<br />
“cultura” aos serviços educacio<strong>na</strong>is.<br />
O estudo apresentou um estudo empírico a partir do exame das estratégias de atuação<br />
das universidades particulares <strong>na</strong> área central do Rio de Janeiro, relacio<strong>na</strong>ndo-as à<br />
reconfiguração do Estado e à valorização da esfera econômica no âmbito das políticas<br />
públicas, causando mudanças <strong>na</strong> sociedade brasileira. Essas considerações indicaram, por<br />
conseguinte, que as causas para a expansão do número de IES privadas se difundem <strong>na</strong>s<br />
dimensões política, sócio-econômica e ideológico-cultural, envolvendo diferentes atores e<br />
interesses. Ressalta-se a articulação entre o processo de acumulação de capital e a<br />
implantação de políticas recentes voltadas à valorização de centros urbanos.<br />
Neste sentido, cabe salientar a respeito do discurso apresentado pelas universidades,<br />
que revela a preferência pelo Centro no processo de expansão dos serviços educacio<strong>na</strong>is <strong>na</strong><br />
<strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro. A acessibilidade, a proximidade com o mercado de trabalho, a<br />
segurança, a “ausência” de favelas, o comércio, a “animação urba<strong>na</strong>” trazida pelo Corredor<br />
Cultural e, a oferta de estacio<strong>na</strong>mentos e de edificações vazias e com aluguéis mais baratos<br />
são fatores apontados como “vantagens diferenciais” para a efetivação dos investimentos no<br />
denomi<strong>na</strong>do “coração da <strong>cidade</strong>”. Si<strong>na</strong>lizam-se como localidades “estratégicas” para os<br />
investimentos a ACN (Núcleo Central), o Corredor Cultural, as avenidas Presidente Vargas e<br />
Rio Branco, as regiões da Lapa, Cidade Nova e Praça Mauá.<br />
Os resultados da pesquisa apontam fatores condicio<strong>na</strong>ntes externos e internos à Área<br />
Central do Rio de Janeiro, presentes no curso de sua história, e contribuintes <strong>na</strong> promoção da<br />
problemática apresentada, a saber: i) a perda da importância relativa do Centro no movimento<br />
de expansão urba<strong>na</strong>, e do Município do Rio de Janeiro <strong>na</strong> escala <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l em termos<br />
econômicos e político, ao longo do século XX; ii) a expansão da rede privada de ensino<br />
superior no Brasil, a partir da década de 1990, com base no “movimento de passagem do<br />
regime de acumulação fordista para o denomi<strong>na</strong>do de acumulação flexível” e no “movimento<br />
da propalada diminuição do Estado” orientado por políticas neoliberais; e iii) o processo de<br />
“esvaziamento” do Centro proporcio<strong>na</strong>do pela “fuga” das empresas – sedes administrativas,
181<br />
escritórios, hospitais e consultórios – para outras <strong>centralidade</strong>s municipais e <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is, devido<br />
aos altos valores dos aluguéis e condomínio, à defasagem de espaços e degradação das<br />
instalações prediais e logradouros, ao trânsito, e à supremacia econômica de São Paulo.<br />
Sendo assim, a contribuição deste estudo consiste em trazer à reflexão o processo de<br />
expansão das IES privadas, em escala <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l, e local – no caso <strong>na</strong> Área Central do Rio de<br />
Janeiro, após a década de 1990, e o seu sentido para a dinâmica da configuração sócioespacial<br />
do centro. Notadamente, verifica-se o papel da cultura como o “novo combustível”<br />
capaz de impulsio<strong>na</strong>r o desenvolvimento “dentro e pelos lugares da <strong>cidade</strong>”. As universidades<br />
representam, portanto, um ator importante no fornecimento de “bens e serviços simbólicos”<br />
(ARANTES, 2002) no contexto recente da “reabilitação” do Centro, este revelador da<br />
“reapropriação estratégica do espaço urbano” (SMITH, 2006) que associa o desenvolvimento<br />
urbano ao crescimento econômico. Logo, tais considerações fortalecem o questio<strong>na</strong>mento<br />
frente aos sentidos das intervenções de requalificação e os seus efeitos de “gentrificação”,<br />
pois seus objetivos se estabelecem <strong>na</strong> “generalização” do capital, <strong>na</strong> movimentação da<br />
economia urba<strong>na</strong>, e <strong>na</strong> acumulação de capital pelo setor imobiliário.<br />
Portanto, a dissertação procurou evidenciar as novas práticas dos atores privados<br />
relacio<strong>na</strong>das ao novo ativismo econômico que agrega “cultura e economia”, à utilização de<br />
estratégias locacio<strong>na</strong>is que se apropriam de áreas centrais reabilitadas visando o lucro, à<br />
“mercantilização” do ensino superior que visa a criação de novos nichos de consumo e de<br />
investimentos fi<strong>na</strong>nceiros pelo setor privado (no caso os serviços educacio<strong>na</strong>is), e às novas<br />
representações ideológicas que fundamentam a sociedade de consumo capitalista e a<br />
valorização do indivíduo no cenário urbano contemporâneo.
182<br />
REFERÊNCIAS<br />
ABREU, Maurício de Almeida. A Evolução Urba<strong>na</strong> do Rio de Janeiro. 2°.ed, Rio de<br />
Janeiro : IPLANRIO/ZAHAR, 1987.<br />
______, Maurício de Almeida. Cidades: espacialidades e temporalidades. In: Dilemas<br />
Urbanos: novas abordagens sobre a <strong>cidade</strong>. CARLOS, A. F. A.; LEMOS, A. I. G. (orgs.) São<br />
Paulo: Contexto, 2003, p. 97-98.<br />
ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A <strong>cidade</strong> do pensamento<br />
único: desmanchando consensos. Petrópolis, Rj: Vozes, 2000<br />
______, Otília. Cultura e transformação urba<strong>na</strong>. In: Cidade e Cultura: esfera pública e<br />
transformação urba<strong>na</strong>. (org.) Vera M. Pallamin. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.<br />
BARROS, Paulo Cezar de. Do Morro do Castelo à espla<strong>na</strong>da: um capítulo <strong>na</strong> evolução<br />
urba<strong>na</strong> do Rio de Janeiro. Boletim GETER, ano V, nº 6, maio de 2003.<br />
BARBOSA, J. L. . Olhos de ver, ouvidos de ouvir: os ambientes malsãos da Capital da<br />
República. In: Maurício de Abreu. (Org.). Natureza e Sociedade no Rio de Janeiro. 1ª ed.<br />
Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1992, v. I, p. 317-329.<br />
BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos, um Haussmann tropical: a renovação<br />
urba<strong>na</strong> da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro no início do século XX. Rio de Janeiro: Secretaria<br />
Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 1992.<br />
BERNARDES, Lysia M. C. Política Urba<strong>na</strong>. Análise e conjuntura (1). Belo Horizonte:<br />
Fundação João Pinheiro, 1986, p.83-119.<br />
BIENENSTEIN, G. Globalização e Metrópole: a Relação entre as Escalas Global e Local:<br />
o Rio de Janeiro. In: A<strong>na</strong>is do IX ENANPUR.. Rio de Janeiro: ANPUR, 2001.<br />
BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine (coord.). De Volta à Cidade: dos processos de<br />
gentrificação às políticas de “revitalização” dois centros urbanos. São Paulo: An<strong>na</strong>blume,<br />
2006.<br />
BURGESS. Ernest W. El Crecimiento de la Ciudad: Introdución a un Proyecto de<br />
Investigación. In: Estúdios de Ecologia Huma<strong>na</strong>. (org.) G. A. Theodorson. Barcelo<strong>na</strong>:<br />
Editorial Labor, 2º volume, 1974.
183<br />
CAMPOS, Heleniza Á. Permanências e Mudanças no quadro de requalificação sócioespacial<br />
da Área Central do Recife: estudo sobre territorialidades urba<strong>na</strong>s em dois<br />
setores “revitalizados”. 1999. 253 f. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio de<br />
Janeiro. Doutorado em Geografia.<br />
CARLOS, A<strong>na</strong> Fani A. O espaço urbano: novos escritos sobre a <strong>cidade</strong>. São Paulo:<br />
Contexto, 2004.<br />
______. A Reprodução da <strong>cidade</strong> como “negócio”. In: Urbanização e mundialização:<br />
estudos sobre a metrópole. CARLOS, A<strong>na</strong> Fani Alessandri, CARRERAS, Carles. (orgs).<br />
São Paulo: Editora Contexto, Coleção Novas abordagens, GEOUSP, 2005, v. 4, p.29-37.<br />
CARLOS, Cláudio Antonio Lima. Ruas Cariocas: do trabalho ao espetáculo e ao<br />
testemunho histórico. In: Seminário PROBAL, 2006, mimeo, pp.1-10.<br />
CARGNIN, Antonio Paulo. As <strong>cidade</strong>s se transformam, o centro se mantém <strong>na</strong> forma:<br />
redistribuindo o reconhecimento e a delimitação dos centros urbanos. GeoUERJ. Revista<br />
do Departamento de Geografia. Rio de Janeiro: UERJ, nº 3, p. 39-52, junho de 1998.<br />
CARNOY, M. Estado e Teoria Política. Campi<strong>na</strong>s, São Paulo: Papirus, 1986<br />
CARRERAS, Carles. Da <strong>cidade</strong> industrial à <strong>cidade</strong> dos consumidores: reflexões teóricas pra<br />
debater. In: Urbanização e mundialização: estudos sobre a metrópole. CARLOS, A<strong>na</strong> Fani<br />
Alessandri, CARRERAS, Carles. (orgs). São Paulo: Editora Contexto, Coleção Novas<br />
abordagens, GEOUSP, 2005, v. 4, p.21-28.<br />
CARNEIRO, Alcides José de Carvalho. 2001. Domicílios e ocupação no Rio. Coleção<br />
estudos da <strong>cidade</strong>. Secretaria Municipal de Urbanismo/ Instituto Pereira Passos. Rio de<br />
Janeiro: Diretoria de Informações Geográficas, 2001.<br />
CEZAR, Paulo Bastos. 2001. Novas tendências Demográficas no Rio: resultados<br />
prelimi<strong>na</strong>res do censo 2000. Coleção estudos da <strong>cidade</strong>. Secretaria Municipal de Urbanismo/<br />
Instituto Pereira Passos. Rio de Janeiro: Diretoria de Informações Geográficas, 2001.<br />
COLOMBIANO, Raquel M. Praça XV de Novembro: um mosaico de espacialidades <strong>na</strong><br />
construção de <strong>centralidade</strong>s. 2005. 118 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em<br />
Geografia) – Curso de Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,<br />
2005.
184<br />
COMPANS, Rose. Intervenções de Recuperação de Zo<strong>na</strong>s Urba<strong>na</strong>s Centrais: experiências<br />
<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is e inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>is. In. Caminhos para o Centro: estratégias de desenvolvimento<br />
para a região central de São Paulo. EMURB, Empresa Municipal de Urbanização São<br />
Paulo: PMSP/CEBRAP/CEM, 2004.<br />
CORRÊA, Roberto. L. A. Interações Espaciais. In: Explorações Geográficas. Iná Elias de<br />
Castro; Paulo Cesar da Costa Gomes; Roberto Lobato Corrêa. (Org.).Rio de Janeiro: Bertrand<br />
Brasil, 1997, v. 1, p. 279-319.<br />
______, Roberto L. A. O Espaço Urbano. 4. ed. São Paulo: Ed. Ática, 1999<br />
______, R. L. Os Processos Espaciais e a Cidade; o Espaço Urbano: notas teórico -<br />
metodológicas; Meio Ambiente e a Metrópole. In. Trajetórias Geográficas. Rio de Janeiro:<br />
Bertrand Brasil, 2001, pp 121-180.<br />
______, R. L. A. Região e Organização espacial. São Paulo: Ed. Ática, 2002. 95p.<br />
DEL RIO, Vicente. A Revitalização de Centros Urbanos: o Novo Paradigma de<br />
Desenvolvimento e seu Modelo Urbanístico. Revista do Programa de Pós-Graduação em<br />
Arquitetura e Urbanismo. FAUUSP. São Paulo, nº4, p.53-64, 1993.<br />
DIAS, Júlio Cesar S. Valorização e ocupação do litoral carioca: reflexos <strong>na</strong> urbanização<br />
da metrópole. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Curso de<br />
Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.<br />
DUARTE, Aloísio Capdeville. Área central da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:<br />
IBGE, 1967.<br />
DUARTE, Haidine da Silva Barros. A <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro: descentralização das<br />
atividades terciárias. Os centros funcio<strong>na</strong>is. Revista Brasileira de Geografia Rio de Janeiro:<br />
IBGE, v. 36, nº 1, janeiro – março, 1974, pp.53-98.<br />
FELDMAN, S. O zoneamento ocupa o lugar do plano: São Paulo 1947-61. In: A<strong>na</strong>is do<br />
VII Encontro Nacio<strong>na</strong>l da ANPUR, 1997, volume 1. p.667-684.<br />
FIX, Maria<strong>na</strong>. São Paulo <strong>cidade</strong> global: fundamentos fi<strong>na</strong>nceiros de uma miragem. São<br />
Paulo: Boitempo, 2007.
185<br />
FRÚGOLI JÚNIOR, Heitor. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e<br />
negociações <strong>na</strong> metrópolde. São Paulo: EDUSP, 2006.<br />
HALL, Peter. Cidades do Amanhã: uma história intelectual do planejamento e dos<br />
projetos urbanos no século XX. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995.<br />
HARVEY, David. O Processo Social e a Forma Espacial: a redistribuição da renda real em<br />
um sistema urbano. In: A justiça social e a <strong>cidade</strong>. Tradução de Armando Correia da Silva.<br />
São Paulo: Hucitec, 1980, pp. 39-79.<br />
______________. Condição pós-moder<strong>na</strong>: uma pesquisa sobre as origens da mudança<br />
cultural. 5ª ed. Loyola: São Paulo, 1992<br />
______________. Do gerenciamento ao empresariamento: a transformação da<br />
administração urba<strong>na</strong> no capitalismo tardio. São Paulo: Espaço & Debates, nº 39, p.48-64,<br />
1996.<br />
HOYT, Homer. The Pattern of Movement of Residential Rental Neighborhood. In: The<br />
Urban Geographer Reader. (org.) M.R. Fyfe e J. T. Kenny. New York: Routledge, 2005<br />
(origi<strong>na</strong>l de 1939).<br />
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA (RIOARTE). Corredor Cultural:<br />
como recuperar, reformar ou construir seu imóvel. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do<br />
Rio de Janeiro, IplanRio, 1989. 82 p.<br />
INSTITUTO PEREIRA PASSOS. Porto do Rio: Plano de Recuperação e Revitalização da<br />
Região Portuária do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Urbanismo do<br />
Rio de Janeiro, 2001.<br />
IPLANRIO & JOÃO FORTES ENGENHARIA. A Praça Mauá <strong>na</strong> memória do Rio de<br />
Janeiro. Rio de Janeiro: Ed.EXLIBRIS, 1989.<br />
JAMENSON, Fredric. A Virada Cultural: reflexões sobre o pós-moderno. Rio de Janeiro:<br />
Civilização Brasileira, 2006.<br />
KLEIMAN, Mauro. Redes de Infra-Estrutura das Cidades. Rio de Janeiro:IPPUR/<strong>UFRJ</strong>,<br />
2004<br />
KON, Anita. Sobre as Atividades de Serviços: revendo conceitos e tipologias. Revista de<br />
Economia Política, vol. 19, nº 2 (74), pp. 119-136, abril-junho, 1999.
186<br />
LAMARÃO, Sergio Tadeu de Niemeyer. Dos trapiches ao porto: um estudo sobre a área<br />
portuária do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e<br />
Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de<br />
Editoração, 1991. 171 p.<br />
LEFEBVRE, Henri. A Revolução Urba<strong>na</strong>. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999<br />
LEME, M. C. S. (coord.) A formação do pensamento urbanístico no Brasil 1895-1965. In:<br />
Urbanismo no Brasil 1895-1965. São Paulo: FUPAM/ Studio Nobel, 1999, p.20-38<br />
LIBERATO, Pérola Emília. Caracterização e delimitação de centros intra-urbanos. In:<br />
Revista Geografia, 1(1), abril de 1976, pp.89-104.<br />
MACHADO, Thiago R. Reestruturação intra-urba<strong>na</strong> e novas “estratégias” de produção<br />
do espaço: reflexões sobre o papel da cultura <strong>na</strong>s recentes transformações da área<br />
central do Rio de Janeiro. GeoUERJ. Revista do Departamento de Geografia. Rio de<br />
Janeiro: UERJ, nº 13, p. 39-48, 1º semestre de 2003.<br />
MAGALHÃES, Roberto Anderson. O Centro do Rio <strong>na</strong> década de 1990: Requalificação e<br />
Reafirmação da <strong>centralidade</strong> principal. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 9.<br />
2001. Rio de Janeiro. A<strong>na</strong>is ... Rio de Janeiro: FAU/ PROURB/IPPUR/<strong>UFRJ</strong>, 2001. 741-752.<br />
MARAFON, Gláucio José. A Dinâmica Metropolita<strong>na</strong> no contexto de uma economia<br />
global. GeoUERJ. Revista do Departamento de Geografia. Rio de Janeiro: UERJ, nº 1, p. 33-<br />
43, janeiro de 1997.<br />
MARX, K. Contribuição à Crítica da Economia Política. São Paulo: Martins Fontes, 1977.<br />
MELLO, J. B. F. de. Explosões e Estilhaços de Centralidade no Rio de Janeiro. In: Estudos<br />
de Geografia Fluminense. MARAFON, G. J.; RIBEIRO, M. F. (orgs.). Rio de Janeiro:<br />
Livraria e Editora Infobook Ltda, 2002, p.113-126.<br />
MOTTA, Lia. A apropriação do Patrimônio Urbano: do estético-estilístico <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l ao<br />
consumo visual global. In: Arantes, Antônio A .(org.) O Espaço da diferença. São Paulo:<br />
Papirus, 2000.<br />
NATAL, Jorge. L. A. Novas institucio<strong>na</strong>lidades <strong>na</strong> infra-estrutura de transportes e<br />
“redesenho” espacial. In: Rio de Janeiro: perfis de uma metrópole em mutação. Rosélia<br />
Piquet (org.). Rio de Janeiro: IPPUR/<strong>UFRJ</strong>, 2000, pp.85-118.
187<br />
_______. O Estado do Rio de Janeiro pós-1995: dinâmica econômica, rede urba<strong>na</strong> e<br />
questão social. Jorge Natal (org.). Rio de Janeiro: Pubblicati, 2005.<br />
OLIVEIRA, Francisco de. O Estado e o Urbano no Brasil. In Revista Espaço e Debate, n.6,<br />
Jun/set de 1982.<br />
OLIVEIRA, Floriano José Godinho de. (Cap. 5) Mudanças no espaço metropolitano: novas<br />
<strong>centralidade</strong>s e dinâmicas espaciais <strong>na</strong> metrópole fluminense. In: Metrópole: governo,<br />
sociedade e território. Cátia Antônia da Silva, Desireé Guichard Freire, Floriano Godinho de<br />
Oliveira (orgs.). Rio de Janeiro: DP&A/FAPERJ, p.79-97, 2006.<br />
PACHECO, Susa<strong>na</strong> M. M. Contrapontos da reestruturação urba<strong>na</strong> no centro do Rio de<br />
Janeiro. Boletim GETER, ano II, nº3, nov. 1999.<br />
PINTAUDI, Silva<strong>na</strong> M. São Paulo, do centro aos centros comerciais: uma leitura. In:<br />
Geografia das metrópoles. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, A<strong>na</strong> Fani Alessandri Carlos<br />
(orgs.). São Paulo: Contexto, p.213-218, 2006.<br />
RABHA, Ni<strong>na</strong> Maria de C. Elias. Centro do Rio: perdas e ganhos <strong>na</strong> história carioca.<br />
2006. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Geografia da <strong>UFRJ</strong>) -<br />
Universidade Federal do Rio de Janeiro.<br />
RIBEIRO, A<strong>na</strong> Clara Torres. A <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro: lembrando “A jangada de pedra”,<br />
de Saramago. In: Rio de Janeiro: perfis de uma metrópole em mutação. Rosélia Piquet<br />
(org.). Rio de Janeiro: IPPUR/<strong>UFRJ</strong>, 2000, pp.11-52.<br />
RIBEIRO, Luiz C. Q. ; CARDOSO, Adauto L. Da <strong>cidade</strong> à <strong>na</strong>ção: gênese e evolução do<br />
urbanismo no Brasil. In: PECHMAN, Robert Moses e RIBEIRO, Luiz C. Q. (org.). Cidade,<br />
povo e <strong>na</strong>ção: gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996,<br />
p.53-78.<br />
RIBEIRO, Luis Cesar de Queiroz. Dos cortiços aos condomínios fechados: as formas de<br />
produção de moradia <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro. Rio de janeiro: Civilização Brasileira:<br />
IPPUR. <strong>UFRJ</strong> : FASE, 1997<br />
RODRIGUES, Cristiane Moreira. O Rio de Janeiro entre a 2ª metade do século XIX e o<br />
começo do século XX: uma <strong>cidade</strong> a ser ‘modernizada’. Revista Fluminense de Geografia,<br />
nº 2, Niterói: AGB-Niterói, 1998, p.37-45
188<br />
ROLNIK, Raquel. A <strong>cidade</strong> e a lei: legislação, política urba<strong>na</strong> e territórios <strong>na</strong> <strong>cidade</strong> de<br />
São Paulo. São Paulo: Fapesp/Studio Nobel, 1997.<br />
RUA, Emílio Reguera. A geografia da expansão da Universidade Estácio de Sá para a<br />
periferia da Região metropolita<strong>na</strong> do Rio de Janeiro: <strong>na</strong>tureza e condicio<strong>na</strong>ntes. 2005.<br />
Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regio<strong>na</strong>l) – IPPUR – Universidade Federal<br />
do Rio de Janeiro.<br />
SÁNCHEZ, Fer<strong>na</strong>nda. A Reinvenção das Cidades para o Mercado Mundial. Chapecó:<br />
Argos, 2003.<br />
SANTOS, André Luís Cardoso. Salvador: O Centro Tradicio<strong>na</strong>l e o Novo Centro;<br />
polinucleação ou centro/subcentro? 2001. Dissertação (Mestrado Planejamento Urbano e<br />
Regio<strong>na</strong>l) – IPPUR – Universidade Federal do Rio de Janeiro.<br />
SANTOS, Milton. O centro da <strong>cidade</strong> de Salvador: estudo de Geografia Urba<strong>na</strong>.<br />
Salvador: Universidade da Bahia, IV (4), 1959.<br />
______. Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica. São<br />
Paulo: Hucitec, Edusp, 1978,<br />
______. Espaço & Método. São Paulo: Nobel, 1997.<br />
______. Salvador, Centro e Centralidade <strong>na</strong> Cidade Contemporânea. In: Pelô Pelô, História,<br />
Cultura e Cidade. GOMES, Marco Aurélio A . de Filgueiras (org.). Salvador: Editora da<br />
Universidade Federal da Bahia. FAU, Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, 1995. pp. 11-29<br />
______. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Milton Santos e Maria<br />
Laura Silveira. Rio de Janeiro: Record, 2001.<br />
______. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: Edusp,<br />
2002.<br />
SILVA JR., João dos Reis; SGUISSARDI, Valdemar. Novas Faces da Educação Superior<br />
no Brasil: reforma do estado e mudanças <strong>na</strong> produção. 2ª ed. rev. São Paulo:: Cortez,<br />
Bragança Paulista, 2001.
189<br />
SILVEIRA, Carmen Beatriz. O entrelaçamento urbano-cultural: <strong>centralidade</strong> e memória<br />
<strong>na</strong> <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regio<strong>na</strong>l) -<br />
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 329 p.<br />
SMITH, Neil. A gentrificação generalizada: de uma anomalia local à “regeneração” urba<strong>na</strong><br />
como estratégia urba<strong>na</strong> global. In: De Volta à Cidade: dos processos de gentrificação às<br />
políticas de “revitalização” dois centros urbanos. Bidou-Zachariasen, Catherine (coord.).<br />
São Paulo: An<strong>na</strong>blume, 2006, pp.59-87.<br />
SOJA, Edward W. Geografias Pós-moder<strong>na</strong>s: a reafirmação do espaço <strong>na</strong> teoria social<br />
crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,1993<br />
TAVARES, Hermes M. Ciência, tecnologia e inovação <strong>na</strong> metrópole do Rio de Janeiro. In:<br />
Rio de Janeiro: perfis de uma metrópole em mutação. Rosélia Piquet (org.). Rio de<br />
Janeiro: IPPUR/<strong>UFRJ</strong>, 2000, pp.53-84.<br />
TOPALOV, Christian. La urbanizacion capitalista: algunos elementos para su análisis.<br />
México: Edicol, 1979.<br />
TOURINHO, Andréa de Oliveira. Centro e Centralidade: uma questão recente. In: Geografia<br />
das metrópoles. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, A<strong>na</strong> Fani Alessandri Carlos (orgs.). São<br />
Paulo: Contexto, p.277-299, 2006.<br />
VAZ, Lilian Fessler; SILVEIRA, Carmem Beatriz. A área central do Rio de Janeiro:<br />
percepções e intervenções – uma visão sintética no decorrer do século XX. Cadernos<br />
IPPUR/<strong>UFRJ</strong>, ano VIII, nº 2/3, p.95-105. Set./ dez. 1994.<br />
VAZ, L.F. Reflexões sobre o uso da cultura nos processos de revitalização urba<strong>na</strong>. In:<br />
ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 9. 2001. Rio de Janeiro. A<strong>na</strong>is ... Rio de Janeiro:<br />
FAU/ PROURB/IPPUR/<strong>UFRJ</strong>, 2001. pp. 664-674<br />
VILLAÇA, Flávio. O Espaço Intra-Urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1998<br />
ZUKIN, Sharon. Paisagens urba<strong>na</strong>s pós-moder<strong>na</strong>s: mapeando cultura e poder. In: ARANTES,<br />
Antônio A .(org.) O Espaço da diferença. Campi<strong>na</strong>s/ São Paulo: Papiros, 2000.<br />
______. Aprendendo com Disney World. In: Espaço & Debates, São Paulo: NERU, v.23,<br />
n.43-44, p.11-27, jan/dez de 2003.
190<br />
ARTIGOS EM MEIO ELETRÔNICO<br />
ÁGUEDA, Abílio Afonso. Memórias coletivas no espaço urbano. Disponível <strong>na</strong> internet:<br />
> Acesso em junho de 2007.<br />
BARBOSA, Ieda. Maria. A Demanda do Mercado por Ensino Superior. São Paulo:<br />
Instituto Siegen, 2000. Disponível no endereço eletrônico do Instituto Siegen.<br />
FIGUEIREDO, Erika Suruagy A. Reforma do Ensino Superior no Brasil: um olhar a<br />
partir da história. Revista da UFG. Universidade Federal de Goiás, Ano VII, No. 2,<br />
dezembro de 2005. Disponível <strong>na</strong> internet.<br />
JÚNIOR, Sérgio C. de França F. Expansão Urba<strong>na</strong> e Segregação Espacial no Sudeste do<br />
Município de Fortaleza. 2002. 177fls. Universidade Estadual do Ceará. (Mestrado em<br />
Geografia). Fortaleza, Ceará. Disponível <strong>na</strong> internet. Acesso em junho de 2007.<br />
LIMA, Evelin F. W. Preservação do patrimônio: uma análise das práticas adotadas no<br />
centro do Rio de Janeiro. In PATRIMÔNIO, Revista Eletrônica do IPHAN, s/d. Disponível<br />
em Acesso em abril de 2007.<br />
MAGALHÃES, Roberto Anderson M. Preservação e Requalificação do centro do Rio <strong>na</strong>s<br />
décadas de 1980 e 1990: a Construção de um Objetivo Difuso. Fonte: Instituto Light,<br />
publicado em 21 de abril de 2002. Disponível em: acesso em 29<br />
de out de 2005.<br />
MENEGUELLO, Cristi<strong>na</strong>. O coração da <strong>cidade</strong>: observações sobre a preservação dos<br />
centros históricos. In PATRIMÔNIO, Revista Eletrônica do IPHAN, s/d. Disponível em<br />
Acesso em abril de 2007.<br />
MESENTIER, L. O patrimônio no centro da metrópole: Rio de Janeiro, fi<strong>na</strong>l do século<br />
XX. In Patrimônio. Revista Eletrônica do IPHAN, s/d. Disponível em<br />
> . Acesso em abril de 2007.<br />
PINHEIRO, Augusto Ivan de Freitas. Preservar, Conservar e Modernizar: um Novo<br />
Paradigma para a Reabilitação do Centro do Rio. Rio Estudos, n.º 52, maio de 2002.<br />
Disponível em: acesso em 28 de out de 2005.<br />
RIO DE JANEIRO (Prefeitura). Secretaria Municipal de Urbanismo/IPP/DIG. Nota Técnica<br />
Nº5: Região Centro. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, RIO<br />
ESTUDOS nº 95, março de 2003. Disponível em:<br />
. Acesso em outubro de 2006.
191<br />
SAMPAIO, Mônica. A Implantação da Geografia Universitária no Rio de Janeiro.<br />
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de<br />
Barcelo<strong>na</strong>, Nº 69 (5), 1 de agosto de 2000.<br />
SCREMIN, Lucinéia; MARTINS, Pedro Paulo. O processo de mercantilização da<br />
Educação Superior. Revista da UFG. Universidade Federal de Goiás, Ano VII, No. 2,<br />
dezembro de 2005. Disponível <strong>na</strong> internet.<br />
SOUZA, Marcos. T. R. As Teorias sobre localização das atividades econômicas e a<br />
estrutura espacial das <strong>cidade</strong>s. Texto disponível no endereço eletrônico da Editora Plêiade.<br />
Acesso em novembro de 2007.<br />
PLANOS E DOCUMENTOS OFICIAIS:<br />
RIO DE JANEIRO (Prefeitura). Código de Obras e Legislação Complementar. Decreto<br />
6000. Quarta Edição. V. II. Rio de Janeiro: A . Coelho Branco Filho, 1964.<br />
RIO DE JANEIRO (Prefeitura). Plano Agache : Cidade do Rio de Janeiro, Remodelação,<br />
Extensão e Embellezamento. Paris: Prefeitura do Distrito Federal, Foyer Brésilien Editor,<br />
1930.<br />
RIO DE JANEIRO (Prefeitura). Plano Urbanístico Básico da Cidade do Rio de Janeiro:<br />
PUB-RIO. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Planejamento e Coorde<strong>na</strong>ção Geral, 1977.<br />
RIO DE JANEIRO (Prefeitura). Plano Diretor Dece<strong>na</strong>l da <strong>cidade</strong> do Rio de Janeiro. 1992.<br />
RIO DE JANEIRO (Prefeitura). Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, Rio<br />
sempre Rio. 1996.<br />
RIO DE JANEIRO (Prefeitura). Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, As<br />
<strong>cidade</strong>s da <strong>cidade</strong>. 2004.
ANEXOS<br />
192


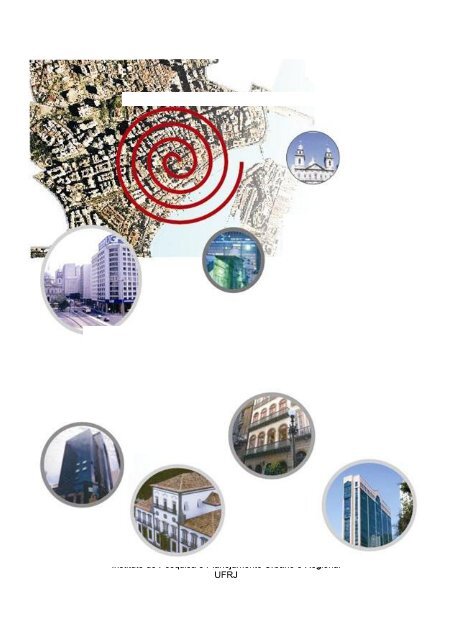
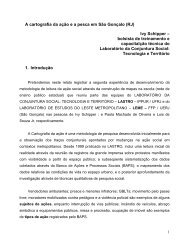
![Programa de Disciplina [pdf - 34.94 kb] - Ippur - UFRJ](https://img.yumpu.com/23493735/1/184x260/programa-de-disciplina-pdf-3494-kb-ippur-ufrj.jpg?quality=85)


![Programa de Disciplina [pdf - 27.26 kb] - Ippur](https://img.yumpu.com/23493727/1/184x260/programa-de-disciplina-pdf-2726-kb-ippur.jpg?quality=85)
![Programa de Disciplina [pdf - 43.25 kb] - Ippur](https://img.yumpu.com/23493726/1/184x260/programa-de-disciplina-pdf-4325-kb-ippur.jpg?quality=85)
![Programa da Disciplina [pdf - 122.54 kb] - Ippur - UFRJ](https://img.yumpu.com/23493724/1/184x260/programa-da-disciplina-pdf-12254-kb-ippur-ufrj.jpg?quality=85)