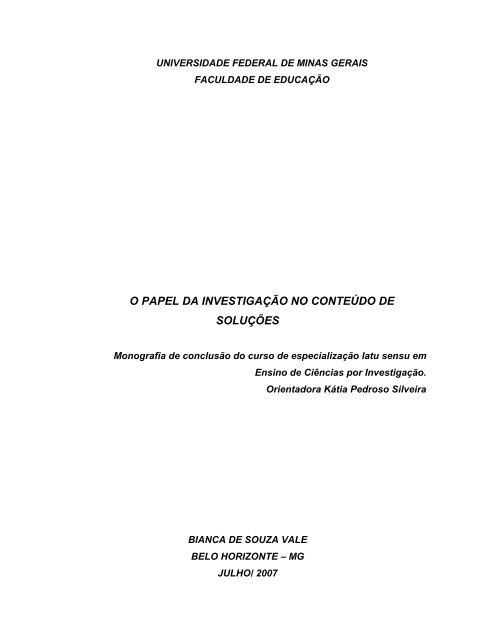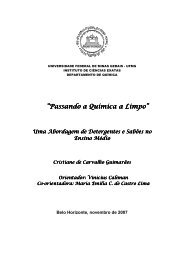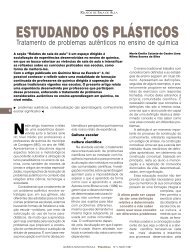Monografia - cecimig - UFMG
Monografia - cecimig - UFMG
Monografia - cecimig - UFMG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS<br />
FACULDADE DE EDUCAÇÃO<br />
O PAPEL DA INVESTIGAÇÃO NO CONTEÚDO DE<br />
SOLUÇÕES<br />
<strong>Monografia</strong> de conclusão do curso de especialização latu sensu em<br />
Ensino de Ciências por Investigação.<br />
Orientadora Kátia Pedroso Silveira<br />
BIANCA DE SOUZA VALE<br />
BELO HORIZONTE – MG<br />
JULHO/ 2007
RESUMO<br />
Este trabalho discute uma abordagem diferenciada do ensino de ciências<br />
considerando a importância da participação do aluno no processo de ensino e<br />
aprendizagem, do papel do professor como mediador desse processo e da<br />
contextualização. Discute ainda a relevância de todos estes fatores para a<br />
promoção da construção do conhecimento.<br />
Apresenta uma proposta de atividade investigativa para o conteúdo de<br />
soluções, partindo de exemplos do cotidiano, abordando o conteúdo em produtos<br />
encontrados em supermercados e farmácias. Os aspectos de concentrações de<br />
soluções são discutidos a partir de tais produtos. O caráter investigativo é o<br />
diferencial na proposta de tais atividades.<br />
2
SUMÁRIO<br />
1. Introdução ............................................................................... 04<br />
2. Fundamentação Teórica ......................................................... 05<br />
3. Uma proposta de atividade investigativa ............................... 13<br />
4. Estratégias de abordagem de atividade investigativa.............. 25<br />
5. Relato de sala de aula ........................................................... 27<br />
6. Considerações Finais ............................................................. 32<br />
7. Referências bibliográficas ...................................................... 33<br />
3
INTRODUÇÃO<br />
Esta monografia é o trabalho final do curso de especialização latu sensu em<br />
Ensino de Ciências por Investigação da Faculdade de Educação – <strong>UFMG</strong>. Como<br />
professora da rede pública estadual há mais de doze anos muitos são os anseios<br />
e desafios em minha profissão e essa é, antes de mais nada, uma tentativa de<br />
(re)elaboração da minha prática pedagógica.<br />
O trabalho apresenta atividades de caráter investigativo nas quais o<br />
conteúdo de soluções é trabalhado a partir de questões preliminares que visam<br />
reconhecer as concepções prévias dos alunos a respeito do assunto. As<br />
atividades seguintes trazem uma abordagem do conteúdo relacionando-o com o<br />
cotidiano e isso permite aos alunos uma identificação do conteúdo com a<br />
realidade.<br />
Ainda apresenta um relato de experiência de sala de aula com duas turmas<br />
do 2º ano do ensino médio, a partir do desenvolvimento das atividades propostas.<br />
A inovação na metodologia é o diferencial da atividade, pois promove a<br />
participação do aluno e concebe-o como sujeito do processo de aprendizagem na<br />
construção e apropriação do conhecimento.<br />
4
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA<br />
Em abordagens mais tradicionais a ciência escolar mostra-se como algo pronto<br />
e acabado, em que os conceitos são considerados verdades absolutas.<br />
Desconsidera-se que os cientistas trabalham com hipóteses e experimentação e<br />
que nem sempre confirmam tais hipóteses. Um bom exemplo disso é a descrição<br />
de método científico nos livros de ciências de 8ª série. Na tentativa de explicar a<br />
metodologia utilizada pelos cientistas dá-se a impressão de que é um processo<br />
isento de falhas, equívocos e intuição e mais, que qualquer pessoa que observar<br />
determinado fenômeno poderá chegar às mesmas conclusões (Pérez, 2001).<br />
Nessa concepção o conhecimento científico é algo infalível, desconsidera-se a<br />
dimensão histórica da ciência em que a teoria científica parte de um problema,<br />
uma questão e que nem sempre o novo paradigma é de imediato aceito, pois é um<br />
processo em evolução.<br />
Uma forma de buscar corrigir as distorções que existem entre a ciência escolar<br />
e a ciência “dos cientistas” é promover a aproximação desses dois universos. No<br />
entanto, as imagens da atividade prática escolar e dos experimentos científicos<br />
podem confundir-se o que é um equívoco, já que são atividades distintas com<br />
objetivos diferentes. É claro que, não é possível reproduzir os experimentos<br />
científicos em sala de aula, e nem deve ser esse o objetivo pedagógico, mas, é<br />
possível reproduzir o espírito do cientista quando se abre espaço para dúvidas e<br />
questionamentos ao invés de uma apresentação de conceitos prontos. Quando o<br />
aluno é questionado sobre determinado assunto ele se vê obrigado a pensar e<br />
elaborar uma resposta e isso pode ajudar na elaboração de significados ao<br />
conceito que está sendo abordado. De acordo com os PCN “(..) a experimentação<br />
na escola média tem a função pedagógica, diferentemente da experiência<br />
conduzida pelo cientista. A experimentação formal em laboratórios didáticos por si<br />
só não soluciona o problema de ensino-aprendizagem em Química.” (p.247)<br />
É inegável a contribuição dos trabalhos de pesquisa sobre o ensino de ciências<br />
mostrando que os estudantes aprendem melhor quando participam ativamente<br />
das atividades de ensino. Para que isso ocorra é necessário uma (re) elaboração<br />
5
dos processos de ensino-aprendizagem que vai desde uma mudança dos papéis:<br />
de professor (transmissor) e o aluno (receptor), até a utilização de novas<br />
metodologias que possibilitem o aluno a construir seu próprio conhecimento tendo<br />
o professor como mediador do processo.<br />
A visão sociointeracionista oferece uma possibilidade para a compreensão de<br />
processos envolvidos no ensino de ciências. Pesquisas realizadas consideram<br />
aspectos culturais e pessoais como dimensões não excludentes. A dimensão<br />
cultural refere-se à forma como a sociedade interpreta e valoriza certos saberes e<br />
indica que aprender ciências envolve um novo modo de pensar e questionar os<br />
acontecimentos do cotidiano. A dimensão pessoal refere-se ao sujeito do<br />
conhecimento e envolve disponibilidade, interesse e esforço para favorecer<br />
processos de construção de novos significados para a apropriação de um conceito<br />
científico (Lima, 2000). Ainda, segundo Lima (2000) “De um lado, aprender<br />
envolve uma liberdade de explorar e criar modelos explicativos; de outro, o ensino<br />
guarda um compromisso de convergir significados numa dada direção”.<br />
Muito se tem discutido sobre os objetivos do ensino de ciências. De acordo<br />
com os PCN “o ensino de ciências deve propiciar ao educando compreender as<br />
ciências como construções humanas, entendendo que elas se desenvolvem por<br />
acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o<br />
desenvolvimento científico com a transformação da sociedade”. (p.107)<br />
Ainda de acordo com os PCN deve-se considerar a formação para a<br />
cidadania. Para que isso ocorra faz-se necessária uma abordagem diferenciada<br />
considerando não apenas o conteúdo curricular, mas também as dimensões<br />
procedimentais e atitudinais.<br />
Nessa perspectiva deve-se vincular o ensino de ciências às discussões<br />
sobre os aspectos tecnológicos e sociais que essa ciência traz na modificação de<br />
nossa sociedade. É necessário também que se considere o entendimento da<br />
natureza da ciência, não como algo pronto e acabado, mas como um processo<br />
constante de construção e aprimoramento. “Essa proposta de ensino deve ser tal<br />
que leve os alunos a construir seu conteúdo conceitual participando do processo<br />
de construção e dando oportunidade de aprenderem a argumentar e exercitar a<br />
6
azão, em vez de fornecer-lhes respostas definitivas ou impor-lhes seus próprios<br />
pontos de vista transmitindo uma visão fechada das ciências” (Carvalho, 2004).<br />
O ensino de química, centrado em fórmulas, equações, classificações e<br />
nomenclatura de compostos, muitas vezes só obtêm como resultado a rejeição<br />
dos alunos, já que eles não conseguem relacionar as tais fórmulas ao seu<br />
cotidiano. A contextualização do conteúdo pode contribuir para o processo da<br />
aprendizagem. Segundo os PCN: “Contextualizar o conteúdo que se quer<br />
aprendido significa, em primeiro lugar, assumir que todo conhecimento envolve<br />
uma relação entre sujeito e objeto”.<br />
A contextualização não deve ser compreendida como a exemplificação do<br />
conteúdo com notas de roda-pé, ou simplesmente mera ilustração. Contextualizar<br />
é pensar situações ou fenômenos do cotidiano e a partir deles estabelecer relação<br />
com o conteúdo e ainda inter-relações nos aspectos sociais, culturais e<br />
tecnológicos. Nessa concepção o conceito passa a ter relação com a vida e o<br />
cotidiano do aluno permitindo uma aprendizagem situada. O conhecimento é<br />
construído a partir dessas interações e um mesmo conteúdo pode ser<br />
apresentado em diferentes momentos e diferentes níveis até que o aluno<br />
consolide seu saber a respeito daquele conceito. Existem diferentes níveis de<br />
compreensão para um dado conceito e permitir que o aluno avance nesses níveis<br />
representa um ganho no processo de aprendizagem. É importante que “(...) os<br />
alunos se envolvam em trabalhos que estimulem o uso de sua compreensão<br />
dessas idéias e assim as consolidem ou reforce” (Millar,2003).<br />
Pensar no ensino de ciências por investigação implica mobilizar os alunos<br />
para a solução de um problema e a partir dessa necessidade que ele comece a<br />
produzir seu conhecimento por meio da interação entre pensar, sentir e fazer.<br />
Criar atividades investigativas para a construção de conceitos é uma forma de<br />
oportunizar ao aluno participar em seu processo de aprendizagem. “Uma atividade<br />
de investigação deve partir de uma situação problematizadora e deve levar o<br />
aluno a refletir, discutir, explicar, relatar, enfim, que ele comece a produzir seu<br />
próprio conhecimento por meio da interação entre o pensar, sentir e fazer. Nessa<br />
perspectiva, a aprendizagem de procedimentos e atitudes se torna, dentro do<br />
7
processo de aprendizagem, tão importante quanto a aprendizagem de conceitos<br />
e/ou conteúdos” (Azevedo, 2004).<br />
Uma atividade investigativa não tem que ser necessariamente de natureza<br />
experimental torna-se necessário desmistificar essa idéia. Podem-se realizar<br />
atividades de pesquisa, demonstrações, estudo de dados, visitas e resolução de<br />
problemas e manter o caráter investigativo em tais atividades (PCN, 1999 –<br />
p.247).<br />
Propor uma atividade de investigação é uma tarefa desafiadora para o<br />
professor uma vez que é de fundamental importância ter objetivos claros e<br />
discernimento entre o que é essencial e o que é desnecessário para que as<br />
discussões não se percam em questões sem relevância. Deve-se considerar a<br />
participação do aluno nesse processo de investigação de um determinado<br />
fenômeno e levar em conta outros aspectos como elaboração de hipóteses,<br />
análise e interpretação de resultados, considerando a dimensão coletiva do<br />
trabalho. Na análise dos dados é importante considerar se o resultado obtido<br />
responde à questão proposta bem como, quais fatores interferiram no resultado ou<br />
quais foram as fontes de erro. O mais importante do trabalho, no entanto, não é<br />
somente o desenvolvimento da atividade de investigação e sim a avaliação da<br />
capacidade dos estudantes de raciocinar e a habilidade para resolução de<br />
problemas e de proposição de soluções.<br />
Muito se tem discutido sobre a importância das aulas práticas no currículo e<br />
as opiniões são bastante divergentes. Há escolas que possuem laboratório e não<br />
o utilizam. E também, escolas que não possuem tal recurso. Considera-se um<br />
equívoco pensar na necessidade de um ambiente específico para a realização de<br />
tais atividades. Borges (2002) defende a idéia de que “o importante não é a<br />
manipulação de objetos e artefatos concretos, e sim o envolvimento<br />
compromissado com a busca de respostas/soluções bem articuladas para as<br />
questões colocadas, em atividades que podem ser puramente de pensamento”.<br />
Um equívoco é acreditar que o simples cumprimento de um roteiro em uma<br />
prática de laboratório ou ainda a aplicação do método científico, como observar<br />
um fenômeno, anotar dados ou manipular objetos e materiais garantisse a<br />
8
aprendizagem. O objetivo da atividade deve ser o de facilitar a aprendizagem e a<br />
compreensão de conceitos e propiciar a interferência do observador diante da<br />
mesma e uma maior interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento e com<br />
isso a construção de significados para a formação do conceito que está sendo<br />
abordado.<br />
Segundo Mortimer (1999): “O papel da experimentação é o de promover<br />
uma integração entre teoria e prática no ensino, usando experimentos para<br />
interrogar a natureza e gerar discussões sobre os fenômenos de interesse da<br />
química. Ao expressar seu pensamento nas discussões das atividades práticas, o<br />
aluno terá oportunidade de aprimorar suas concepções e se aproximar cada vez<br />
mais do mundo da química”.<br />
Portanto, uma atividade pode ser considerada investigativa se prioriza a<br />
participação do aluno como ser pensante e ativo no processo de construção do<br />
conhecimento e se tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades e não<br />
simplesmente uma atividade que se esgota em si mesma. Essa deve ser<br />
fundamentada para que faça sentido para o aluno, de modo que ele saiba o<br />
porquê de estar investigando determinado fenômeno, pois, como assinala<br />
Bachelard (1996) “todo conhecimento é resposta a uma questão”.<br />
A incorporação dessa forma de conceber a construção de conceitos exige<br />
mudanças no planejamento e no desenvolvimento do trabalho em sala de aula.<br />
Nessa abordagem, considera-se que o processo é tão ou mais importante que o<br />
fim da investigação propriamente dito. O conceito não é visto como fim do<br />
processo de aprendizagem e sim, como instrumento para a formação do aluno<br />
para que este desenvolva suas habilidades.<br />
Ainda é necessário reconhecer que a aprendizagem envolve relações<br />
pessoais sejam elas aluno/aluno ou aluno/professor além de habilidades<br />
intelectuais e cognitivas. A proposta curricular deve não só reconhecer todas<br />
essas interações como também facilitá-las. A contextualização do ensino de<br />
conceitos químicos passa pela constante revisão na seleção de conteúdos<br />
relevantes e pela necessária postura flexível do professor.<br />
9
Uma consideração importante é a visão que muitos professores têm do<br />
processo de ensino de ciências considerando-o como um processo de<br />
transmissão-recepção de conteúdo. É necessário que o professor tome<br />
consciência do que ele pretendeu ensinar e do que realmente ensinou. Só é<br />
possível uma mudança a partir da consciência e da vontade do professor e essa<br />
não é tranqüila, há um distanciamento entre o discurso e a prática de ensino.<br />
A metodologia utilizada pelo professor acaba, muitas vezes, sendo uma<br />
escolha subjetiva, uma vez que o professor é também um agente de sua história,<br />
sua experiência pessoal e profissional e sua interação com questões sociais,<br />
culturais e ambientais estarão presentes em seu discurso e prática pedagógica.<br />
É cada vez mais necessária a reflexão e a mudança de atitude para<br />
procurar soluções diante dos muitos problemas enfrentados pelos profissionais em<br />
educação. Uma boa idéia para que essas “mudanças didáticas” ocorram é<br />
experimentar uma nova metodologia, concebendo a investigação como prática<br />
cotidiana. As dificuldades não são poucas, os próprios alunos resistem à mudança<br />
do papel do professor, mas, é um caminho, é uma alternativa.<br />
Isso significa mudar o foco da dinâmica da aula que não é mais a mera<br />
transmissão de conteúdo. E, mudando o foco, outras atitudes serão necessárias,<br />
portanto há um novo direcionamento no sentir, agir, refletir sobre as estratégias<br />
metodológicas utilizadas em sala.<br />
Nessa concepção o papel do professor passa a ser de orientador, ele é o<br />
encarregado de introduzir as idéias da ciência e de fornecer apoio para que os<br />
alunos possam dar sentido a essas idéias. “Conferir significado é, portanto, um<br />
processo dialógico que envolve pessoas em conversação e a aprendizagem é<br />
vista como o processo pelo qual os indivíduos são introduzidos em uma cultura<br />
por seus membros mais experientes” (Mortimer, 1999). O professor deve<br />
acompanhar as discussões, provocar novas questões, questionar e conduzir o<br />
processo de ensino. Considera-se que seja fundamental para a construção de um<br />
conceito científico, a discussão realizada em sala de aula acerca de um<br />
determinado fenômeno com a participação dos estudantes expondo seu<br />
conhecimento informal sobre o assunto. E a partir daí busca-se a construção do<br />
10
conceito científico contrapondo as idéias que os estudantes têm de senso-comum<br />
com as teorias científicas. Nas palavras de Schnetzler (1995): “O professor precisa<br />
saber identificar as concepções prévias de seus alunos sobre o fenômeno ou<br />
conceito em estudo. Em função dessas concepções, precisa planejar, desenvolver<br />
e avaliar atividades e procedimentos de ensino que venham promover a evolução<br />
conceitual nos alunos em direção às idéias cientificamente aceitas. Enfim, ele<br />
deve atuar como professor-pesquisador”.<br />
Para que se tenha segurança em mudar de metodologia é importante rever<br />
os pressupostos teóricos que orientam a prática profissional bem como o<br />
planejamento de trabalho. É necessário que o professor aguce sua capacidade<br />
crítica e reflexiva e a busca de sua autonomia de trabalho. Nessa perspectiva o<br />
professor não é o objeto de planejamento e sim agente ativo e sujeito do processo<br />
de conhecimento.<br />
Segundo Lima (1996): “(...) O contínuo aperfeiçoamento e a busca de novas<br />
respostas para velhas questões exigem que, enquanto desempenharmos a função<br />
de professores, sejamos também pesquisadores e aprendizes.” Incorporar<br />
mudanças na metodologia não é uma tarefa fácil, é um processo que exige<br />
disponibilidade em realizar tarefas de rotina de um modo diferenciado, mas é<br />
também uma forma de crescimento profissional. Nesse sentido os cursos de<br />
capacitação e de formação continuada podem se tornar um aliado, tanto pela<br />
formação do grupo, uma vez que os pares dividem os mesmos anseios,<br />
questionamentos e dúvidas quanto pela possibilidade de troca de informações e<br />
experiências, o que sem dúvida é uma atividade enriquecedora.<br />
Aliar experiência profissional às novas possibilidades pedagógicas,<br />
exercitar a capacidade de aprender, de conhecer e de fazer algo novo é um<br />
exercício interessante, desde que o professor sinta-se incomodado a tal ponto que<br />
tenha a necessidade de buscar novos rumos para a sua prática profissional. O<br />
grande desafio torna-se agora descobrir como ensinar melhor as idéias sobre<br />
ciências e incorporar novas metodologias para a realização do trabalho. E isso é<br />
uma tarefa difícil, mas que pode se tornar compensadora.<br />
11
Torna-se necessária uma retomada de direção nas estratégias de ensino,<br />
planejamento das aulas, com a formulação de atividades diversificadas, utilizando,<br />
quando possível, os mais diversos recursos materiais e tecnológicos. E planejar e<br />
replanejar passam a ser uma constante na atividade pedagógica.<br />
Elaborar um currículo que leve em conta questões pedagógicas e também<br />
sociais e culturais em que o aluno está inserido é uma proposta bastante ousada e<br />
inovadora.<br />
A LDB em lugar de estabelecer conteúdos específicos, destaca as<br />
competências de caráter geral dentre as quais a capacidade de aprender é<br />
decisiva. E ainda aponta para o desenvolvimento pleno do educando com senso<br />
ético e crítico capaz de agir e interagir frente as mais diversas situações do mundo<br />
moderno. De acordo com os PCN uma organização curricular que responda a<br />
esses desafios requer, dentre outros: “(re)significar os conteúdos curriculares<br />
como meios para a constituição de competências e valores, e não como objetivos<br />
de ensino em si mesmos.”<br />
Enfim o currículo não pode ser compreendido como um “molde”. Nessa<br />
perspectiva ele não passa de um “esboço reforçado” (Millar, 2003). Deve-se<br />
sempre ter em mente os objetivos de forma bastante clara, para que o conteúdo<br />
também não se perca. Conceber um currículo que oportunize aos alunos<br />
relacionar-se com questões sociais, ambientais, entre outras que o cercam é um<br />
diferencial para o ensino de química.<br />
12
UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA PARA O CONTEÚDO DE<br />
SOLUÇÕES<br />
Considerando-se os pressupostos teóricos e a relevância das questões<br />
abordadas até aqui e também na tentativa de (re)elaborar a prática pedagógica,<br />
serão apresentadas algumas atividades para o conteúdo de soluções. Tais<br />
atividades foram elaboradas dentro de uma perspectiva investigativa e a principal<br />
característica é uma abordagem do conteúdo de soluções dentro de uma<br />
perspectiva social, uma vez que é a partir de exemplos do cotidiano que as<br />
atividades foram construídas.<br />
Dentre os objetivos dessa atividade, estão:<br />
• Promover a participação dos alunos;<br />
• Incentivar as discussões em grupo;<br />
• Aproximar o conteúdo/conceito de soluções do cotidiano.<br />
UNIDADE DE ENSINO: SOLUÇÕES<br />
SÉRIE: 2º ANO – NÍVEL MÉDIO<br />
TEMA: SOLUÇÕES NO COTIDIANO<br />
Questões preliminares:<br />
1) É possível dissolver sal de cozinha em água? Considere um copo cheio de<br />
água é possível dissolver qualquer quantidade de sal nessa quantidade de<br />
água?<br />
2) O que pode ser feito para que se consiga dissolver o excesso de sal que<br />
fica no fundo do copo quando se coloca uma grande quantidade de sal em<br />
um copo de água?<br />
3) Qualquer substância é solúvel em água? Explique.<br />
13
4) Se você adiciona açúcar à água que vai ser utilizada para se fazer café,<br />
antes do aquecimento, imediatamente todo o açúcar se dissolve? O que<br />
ocorre após o aquecimento da água?<br />
5) É possível dissolver apenas sólido em líquido?<br />
Você seria capaz de dar um exemplo de:<br />
a) Um sistema líquido que contenha gás dissolvido?<br />
b) E de uma solução formada por dois líquidos?<br />
Recordando o conceito de solubilidade<br />
a) Em uma mistura de sal e água qual substância é o soluto e qual substância<br />
é o solvente?<br />
b) Em uma mistura de água e álcool qual substância é o soluto e qual<br />
substância é o solvente?<br />
c) Utilizando o modelo cinético molecular, represente a solução de água e<br />
álcool.<br />
d) Se a proporção entre água e álcool for alterada, muda também a relação<br />
entre soluto e solvente?<br />
e) E nesse caso muda também a representação do modelo cinético<br />
molecular? Discuta com seus colegas e se considerar necessário faça uma<br />
nova representação.<br />
Atividade 1 - Reconhecendo soluções no supermercado<br />
a) Observe os produtos que você compra no supermercado. Observe também,<br />
cada um dos seus rótulos. Qual (is) desses produtos pode ser considerado<br />
soluções?<br />
b) Complete o quadro:<br />
14
Nome do<br />
produto<br />
Utilização<br />
Doméstica<br />
Precauções no<br />
uso e possíveis<br />
riscos à saúde<br />
Composição<br />
química<br />
Atividade 2 - Preparando soluções<br />
PARTE A: Investigando o soro caseiro<br />
Você vai precisar de:<br />
1 copo com água<br />
Sal e açúcar<br />
Colher medida para soro caseiro<br />
Prepare o soro conforme indicado na receita abaixo:<br />
Em um copo de água filtrada ou fervida adicione uma medida*<br />
pequena de sal e duas medidas* grandes de açúcar.<br />
* Essa medida refere-se à colher distribuída gratuitamente nos centros de saúde.<br />
Agora, responda às seguintes questões:<br />
a) Qual é a finalidade da solução de soro caseiro? Qual é a vantagem da<br />
colher medida?<br />
b) É possível preparar um litro de soro caseiro utilizando essa colher como<br />
medida. Descreva um procedimento para isso.<br />
15
c) É possível estabelecer comparação entre essa colher medida e uma outra<br />
unidade, como por exemplo, o grama? Explique sua resposta.<br />
d) Considerando a massa de sal igual a 1,5 g e a de açúcar 3,5 g necessárias<br />
no preparo de um copo de 200 mL de soro, qual a quantidade necessária<br />
de sal e de açúcar para se obter 1 litro de soro caseiro?<br />
PARTE B: Comparando o soro caseiro com o soro industrializado<br />
Você vai precisar de<br />
1 envelope de soro<br />
Para essa atividade não será necessário preparar a solução de soro. O objetivo é<br />
investigar sua a composição e compará-lo ao soro caseiro.<br />
Agora, responda:<br />
a) A composição desse soro é igual ou diferente à composição do soro<br />
caseiro?<br />
b) Compare a receita desse soro com a de soro caseiro. Há alguma<br />
diferença?<br />
c) Analise as proporções de sal (cloreto de sódio) e de açúcar (glicose)<br />
indicadas na composição. O que você observa em relação ao soro caseiro.<br />
Atividade 3 - Compreendendo o conceito de soluções em medicamentos<br />
16
Os medicamentos são vendidos na forma de cápsulas, soluções líquidas ou<br />
ainda na forma de suspensões. Um mesmo medicamento, vendido sob a forma de<br />
solução pode apresentar diferentes concentrações.<br />
Questões preliminares:<br />
a) Qual é a diferença entre solução e suspensão?<br />
b) Você é capaz de exemplificar algum medicamento vendido sob a forma de<br />
suspensão?<br />
Compreendendo a concentração de um medicamento<br />
A dipirona sódica, medicamento utilizado como analgésico e antitérmico, é<br />
vendida em diferentes formas. Observe a tabela abaixo:<br />
Gotas<br />
Apresentação: frasco<br />
contendo 20 mL<br />
Concentração: 500 mg/mL<br />
Cada 1 mL = 20 gotas<br />
Solução<br />
(sabor morango)<br />
Apresentação: frasco<br />
contendo 100 mL<br />
Concentração: 50 mg/mL<br />
Comprimidos<br />
Apresentação: cartela<br />
com 20 comprimidos<br />
Conteúdo: 500 mg por<br />
comprimido<br />
A partir da análise dos dados da tabela, responda às seguintes questões:<br />
a) As três formas de apresentação da dipirona sódica podem ser consideradas<br />
soluções?<br />
b) Suponha que um indivíduo necessite ingerir 500 mg de dipirona sódica.<br />
Qual será a dose correta que ele deverá tomar em cada uma das<br />
apresentações do medicamento?<br />
17
c) Faça uma pesquisa dos preços das três formas de apresentação do<br />
medicamento e avalie qual delas é a mais interessante. Será que o preço é<br />
o único critério que se deve levar em consideração para a escolha do<br />
medicamento?<br />
Atividade 4 - Compreendendo rótulos<br />
PARTE A: Compreendendo um rótulo de ácido muriático:<br />
Leia atentamente as seguintes instruções:<br />
Composição: Ácido clorídrico em meio aquoso (HCl + H 2 O).<br />
Princípio ativo: 9,5 %<br />
PERIGO<br />
Causa queimaduras<br />
graves, contém produto<br />
fortemente ácido (HCl).<br />
Recomendações de segurança:<br />
Utilizar luvas de borracha, óculos e botas de proteção.<br />
Recomendações de uso: não misturar com água na embalagem original.<br />
Não aplicar em superfície aquecida.<br />
Conservar o produto em lugar fresco e ao abrigo do sol, sempre sob temperatura<br />
ambiente.<br />
Indicações para o uso: limpeza de ardósia, cimentos, alvenaria em geral. Para<br />
limpeza de sanitários, despeje 100 mL de ácido muriático e espere o produto agir<br />
por 10 minutos.<br />
Produto corrosivo: não utilizar em pisos de mármore, madeira, alumínio, metais,<br />
etc.<br />
Conteúdo: 1000 mL<br />
Responda as questões a seguir:<br />
18
1) Você considera importante a leitura do rótulo antes da utilização do<br />
produto? Justifique sua resposta.<br />
2) No rótulo está escrito: ”Princípio ativo 9,5%”. Em 1 litro do produto, quantos<br />
mL são de ácido e quantos mL são de água?<br />
3) Utilizando o modelo cinético molecular, represente a solução do item<br />
anterior.<br />
4) Quando você utiliza 100 mL do produto na limpeza de sanitários, quantos<br />
mL do princípio ativo estão sendo utilizados? O percentual de princípio ativo<br />
utilizado será maior, menor ou igual a 9,5%?<br />
5) Se você transferir do frasco original 100 mL de ácido muriático para outro<br />
recipiente e em seguida completar o volume com água até obter 1 litro de<br />
solução, qual das soluções será mais concentrada, a do frasco original ou a<br />
que você preparou?<br />
6) Qual dessas soluções é mais eficiente na limpeza? Tente explicar que<br />
relação existe entre concentração e eficiência do produto.<br />
7) A embalagem recomenda não utilizar o produto em mármore e alumínio. O<br />
que acontece quando esse produto é colocado sobre um pedaço de<br />
mármore ou de papel alumínio?<br />
PARTE B: Compreendendo o conceito de diluição<br />
Leia atentamente as instruções do rótulo do detergente especialmente elaborado<br />
para remover sujeiras e crostas em superfícies cerâmicas.<br />
19
Limpa cerâmica e azulejos<br />
Instruções de uso: Diluir em um balde plástico, na proporção de 1 parte do<br />
produto, para 15 partes de água. Esfregar até fazer bastante espuma. Deixar agir<br />
por alguns instantes e enxaguar.<br />
Importante: É recomendável o uso de luvas e botas ao manusear o produto e suas<br />
diluições.<br />
DILUA ANTES DE USAR – PRODUTO CONCENTRADO<br />
Agora responda às seguintes questões:<br />
1) Explique a recomendação: “DILUA ANTES DE USAR – PRODUTO<br />
CONCENTRADO”.<br />
2) O produto é vendido em embalagem de 1 litro. A diluição indicada no rótulo<br />
é de 1 parte do produto para 15 partes de água. Para preparar uma solução<br />
(A) com um litro do produto, conforme o indicado, quantos litros de água<br />
serão necessários?<br />
3) Se você for preparar 2 L de solução (B), quantos mL do produto você<br />
deverá utilizar?<br />
4) Considerando o item anterior, se você retirar uma alíquota de 100 mL dessa<br />
solução (B), para fazer uma nova diluição na proporção de uma parte da<br />
solução (B) para 15 partes de água, quantos litros de água serão<br />
necessários (solução C)?<br />
5) A concentração de uma solução é a relação entre as quantidades de soluto<br />
e solvente ou as quantidades de soluto e solução contidos no sistema. Uma<br />
das formas de se expressar a concentração de uma solução é a<br />
porcentagem v/v, % v/v, que corresponde ao volume de soluto contido em<br />
20
100 mL de solução. Expresse as concentrações das soluções A, B e C em<br />
% v/v. Qual delas é a mais diluída?<br />
6) Utilizando o modelo cinético molecular, represente as três soluções do item<br />
anterior.<br />
Atividade 5 – Como os químicos preparam soluções<br />
Um estudante de química precisa preparar duas soluções diferentes. Uma das<br />
soluções é de cloreto de sódio (NaCl) e a outra é de bicarbonato de sódio<br />
(NaHCO 3 ). O volume de ambas as soluções é de 100 mL e a quantidade de<br />
soluto utilizado em cada uma das soluções é de 25 g.<br />
Responda:<br />
a) Descreva o procedimento que o estudante deve realizar no preparo dessas<br />
soluções.<br />
b) Outra forma de expressar a concentração de uma solução é em g/L, que<br />
significa a quantidade em grama de soluto contida em 1 litro de solução.<br />
Calcule a concentração em g/L de cada uma das soluções. O que você<br />
observa?<br />
c) A quantidade de matéria, em mol, de cada um dos solutos é igual?<br />
Justifique sua resposta.<br />
21
d) Outra forma de expressar a concentração de uma solução é em mol/L, que<br />
significa a quantidade de matéria, em mol, de soluto contida em 1 litro de solução.<br />
Calcule a concentração em, mol/L, de cada uma das soluções.<br />
6 - Exercícios Complementares<br />
Questão 1<br />
Leia o texto:<br />
Alcoolismo e direção<br />
O álcool reduz a função cerebral proporcionalmente a sua concentração no<br />
sangue. A porcentagem de álcool no sangue indica o número de gramas de etanol<br />
existentes em 100 mL de sangue. No Brasil o limite legal é de 0,06%, nessas<br />
condições a quantidade de álcool ainda não afetou drasticamente os reflexos do<br />
condutor. Em quantidades maiores os reflexos serão afetados, podendo<br />
comprometer o bom motorista. Uma das formas de verificar o teor alcoólico é o<br />
teste do bafômetro.<br />
Fonte: CARVALHO & SOUZA, Química, de olho no mundo do trabalho. 2004.p.382.<br />
Considere uma pessoa adulta que tenha aproximadamente 60 mL de sangue por<br />
quilograma de peso circulando em seu corpo. Suponha que essa pessoa faça uso<br />
de cerveja que contém um teor alcoólico igual a 4º GL.<br />
Dados:<br />
- A fórmula molecular do etanol é C 2 H 6 O.<br />
- A densidade do álcool é aproximadamente 0,8 g/L.<br />
- A densidade do sangue humano é aproximadamente 1,3 g/L.<br />
Com base nessas informações e em seus conhecimentos, responda:<br />
a) O que significa a expressão 4º GL?<br />
22
) Qual é a massa molar do etanol?<br />
c) Tomando por base seu peso, qual é a quantidade dessa cerveja, em mL,<br />
que você pode ingerir e ainda assim pode dirigir?<br />
d) Considere que um copo americano tenha capacidade de aproximadamente<br />
200 mL. Quantos copos dessa bebida você pode ingerir?<br />
e) Qual será a concentração de álcool no seu sangue, em g/L?<br />
f) Qual será a concentração de álcool no seu sangue, em mol/L?<br />
g) Qual será a concentração %p/p de álcool no seu sangue?<br />
h) Qual será a concentração % v/v de álcool no seu sangue?<br />
i) Faça uma pesquisa sobre o número de pessoas que morreram no Brasil,<br />
nesse ano, vítimas de acidentes de trânsito, que envolveram motoristas<br />
alcoolizados. Desse total, qual é o percentual de jovens?<br />
j) Sugira uma medida que possa ser tomada para conscientizar os jovens do<br />
problema de beber e dirigir.<br />
Questão 2<br />
Um professor instruiu seu aluno a preparar 100 mL de solução de hidróxido de<br />
sódio contendo 46 g de soluto. Ele realizou o seguinte procedimento: Em 100 mL<br />
de água adicionou 46 g de NaOH.<br />
a) O estudante preparou corretamente a solução? Justifique sua resposta.<br />
b) Calcule a concentração em g/L dessa solução.<br />
23
c) A partir dessa solução, ele foi instruído a colocar mais 400 mL de água.<br />
Calcule a concentração em g/L dessa nova solução.<br />
d) Calcule a concentração, em mol/L, de ambas as soluções.<br />
Questão 3<br />
Um estudante realizou o seguinte experimento:<br />
I- Colocou um grão de permanganato de potássio em um béquer contendo um<br />
pouco de água, agitou e em seguida completou o volume com mais água até o<br />
volume atingir 50 mL (solução I).<br />
II- Depois ele transferiu 5 mL da solução I para outro béquer e adicionou água até<br />
completar 50 mL (solução II).<br />
III- Em seguida ele transferiu 5 mL da solução II para outro béquer e adicionou<br />
água até completar 50 mL (solução III).<br />
Ele observou que a cor das soluções variou:<br />
I- violeta intenso<br />
II- violeta claro<br />
III- incolor<br />
Dado:<br />
- A concentração da solução inicial é 0,01 mol/L.<br />
a) Calcule quantos gramas de permanganato de potássio foram adicionados<br />
ao béquer I e quantos gramas foram transferidos para os béqueres II e III?<br />
b) As concentrações, em mol/L, das soluções II e III são iguais a da solução<br />
inicial? Se forem diferentes, qual delas é a menos concentrada? Justifique<br />
sua resposta.<br />
24
ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM DAS ATIVIDADES INVESTIGATIVAS<br />
As atividades propostas no capítulo anterior foram elaboradas dentro de<br />
uma perspectiva investigativa buscando promover a participação do aluno,<br />
incentivar as discussões em grupo e aproximar o conteúdo de soluções do<br />
cotidiano.<br />
As questões preliminares objetivam reconhecer as concepções prévias<br />
dos alunos a respeito do conteúdo de soluções. É importante o professor perceber<br />
a compreensão que os alunos têm do assunto.<br />
No item recordando o conceito de solubilidade deve-se verificar o nível<br />
de compreensão que os alunos têm sobre solução e solubilidade. Trabalhar esse<br />
conceito em níveis macroscópico e microscópico possibilita um avanço na<br />
aprendizagem, pois nessa atividade o aluno cria um modelo para expressar sua<br />
compreensão do conceito abordado e, se necessário é interessante que o<br />
professor peça ao aluno para re-elaborar o modelo cinético-molecular. Uma<br />
sugestão é que essa atividade seja feita em grupo, seguida de uma discussão e<br />
uma retomada do professor para esclarecer possíveis equívocos e pontuar algum<br />
aspecto que possa ter passado despercebido.<br />
A atividade 1- Reconhecendo soluções em supermercado pode ser feita<br />
como tarefa de casa, o objetivo aqui é aproximar o conteúdo do cotidiano. É<br />
interessante abrir espaço para os comentários dos alunos.<br />
As atividades seguintes podem ser realizadas em grupo e o professor deve<br />
acompanhar o trabalho, orientando os alunos ajudando-os com as dúvidas que<br />
surgirem. A discussão em grupo é um elemento enriquecedor da atividade, cabe<br />
ao professor ser mediador nesse processo.<br />
A atividade 2- Preparando soluções (Parte A e B) tem como objetivo o<br />
reconhecimento do soro como solução, estabelecendo comparação entre os dois<br />
tipos de soro e ainda entre as quantidades de soluto e solvente utilizando<br />
diferentes unidades de medida. E também trabalhar a idéia de proporcionalidade<br />
nas diferentes quantidades de soro. Ao se questionar o aluno sobre a utilidade do<br />
25
soro e qual a finalidade da colher medida faz-se uma abordagem de questões<br />
sociais interessantes.<br />
A atividade 3- Reconhecendo o conceito de soluções em<br />
medicamentos busca-se uma análise crítica do aluno enquanto consumidor e é<br />
uma chance para o professor indagar sobre os riscos da auto-medicação e ainda<br />
trabalhar a questão da dosagem correta de um medicamento. Uma sugestão é a<br />
comparação com outros medicamentos como, por exemplo, os remédios para<br />
hipertensão.<br />
A atividade 4- Compreendendo rótulos (Parte A) é uma forma de<br />
incentivar a leitura do rótulo contribuindo para tornar o aluno um consumidor mais<br />
crítico. O objetivo principal é trabalhar a idéia de concentração, em % v/v, que é<br />
um conceito químico aplicado ao cotidiano e iniciar a construção da idéia de<br />
diluição.<br />
Na (Parte B) deve-se trabalhar o conceito de diluição nos níveis<br />
macroscópico e microscópico, além de outros objetivos citados anteriormente. A<br />
idéia de utilizar o modelo cinético-molecular para representar as soluções<br />
possibilita um avanço na construção do conhecimento químico.<br />
A atividade 5 e os exercícios complementares trabalham os cálculos das<br />
diferentes formas de expressar as concentrações das soluções. Uma sugestão é<br />
que esses cálculos sejam inicialmente resolvidos por regra de três e só depois por<br />
meio de fórmulas. A regra de três é uma importante ferramenta no cálculo de<br />
proporção que pode ser bem utilizada nesse caso, representando um ganho, pois,<br />
desenvolve o raciocínio e a compreensão da situação problema. A utilização de<br />
fórmulas sem a devida compreensão não contribui para a aprendizagem.<br />
26
RELATO DE SALA DE AULA<br />
Ao longo deste curso, muitas foram às discussões sobre a importância da<br />
atividade investigativa no currículo de ciências. Tais discussões vêem contribuindo<br />
para uma mudança em minha percepção da sala de aula e do meu papel como<br />
professora.<br />
Propor mudança na metodologia utilizada em sala é uma tarefa que exige<br />
disponibilidade e responsabilidade. Investir numa nova perspectiva para a<br />
dinâmica da sala de aula é um projeto desafiador.<br />
As atividades propostas no capítulo anterior foram desenvolvidas com duas<br />
turmas de 2º ano do ensino médio, uma diurna e outra noturna. Os perfis das<br />
turmas são bastante distintos o que permitiu uma análise diferenciada da situação<br />
de ensino. Na execução da atividade investigativa tornou-se necessário considerar<br />
essas diferenças, pois uma mesma atividade pode funcionar de várias formas e<br />
quando se trata de turnos distintos são ainda mais acentuadas as diferenças.<br />
Estabelecer comparação entre as duas realidades é praticamente impossível.<br />
A turma da manhã mostrou-se mais receptível às tarefas apresentadas, os<br />
alunos foram mais participativos e compreenderam melhor a dinâmica das<br />
atividades. Conseguiram interagir melhor com a atividade e a discussão em grupo<br />
foi bastante proveitosa.<br />
A turma da noite mostrou-se resistente. No primeiro momento, foi mais difícil<br />
envolvê-los. A participação dos alunos nas atividades foi diferente e percebi que<br />
questões que pareceram simples de serem resolvidas na outra turma, foram mais<br />
difíceis de serem compreendidas nesta. Dificuldades com cálculos matemáticos<br />
foram constantes nesse processo e também a compreensão de conceitos mais<br />
elementares.<br />
Os alunos do diurno têm uma preocupação maior com os estudos e com a<br />
escola em geral e também sofrem uma cobrança maior dos pais. Já os alunos do<br />
noturno estão em um momento diferente. A preocupação com o trabalho já é<br />
predominante e eles atribuem ao fato de trabalharem o dia todo o desinteresse<br />
27
pelos estudos. Esses não são os aspectos mais relevantes da minha análise, não<br />
pretendo aqui estabelecer comparações definitivas e julgar as atitudes dos alunos.<br />
Na avaliação do trabalho desenvolvido pude perceber que os alunos<br />
participaram mais e se interessaram pelas atividades, isso já é um resultado<br />
positivo, uma vez que é uma tarefa difícil motivá-los e fazê-los se interessarem<br />
pelas aulas de química. Esse é um elemento da atividade investigativa, despertar<br />
o interesse e a motivação. Outro elemento importante é estabelecer relação entre<br />
o conteúdo e o cotidiano, esse aspecto representa um ganho para o aluno e para<br />
o processo de aprendizagem. E por último e talvez a mais importante contribuição<br />
da atividade investigativa no conteúdo de química seja a possibilidade do aluno<br />
construir seu próprio conhecimento a partir de uma aprendizagem situada, uma<br />
vez que ele tem a possibilidade de elaborar significados mais ricos às questões<br />
que estão sendo abordadas.<br />
Foi feita uma entrevista com os alunos das duas turmas para que eles<br />
pudessem avaliar e opinar sobre as atividades propostas. No turno da manhã 32<br />
alunos responderam e no turno da noite 16 alunos. Os itens da entrevista foram os<br />
seguintes:<br />
1) Em relação ao nível de dificuldade das atividades?<br />
( ) Fácil ( ) Médio ( ) Difícil<br />
2) Em relação à proposta de atividades?<br />
( ) Pouco interessante ( ) Interessante ( ) Muito interessante<br />
3) Comentário<br />
Os gráficos a seguir referem-se ao resultado das questões objetivas abordadas<br />
na entrevista realizada.<br />
28
Nível de dificuldade das atividades<br />
Turno Manhã<br />
3%<br />
Fácil<br />
31%<br />
Difícil<br />
66%<br />
Médio<br />
Nível de dificuldade das atividades<br />
Turno da Noite<br />
Dificil<br />
25%<br />
13% Fácil<br />
Médio<br />
62%<br />
Avaliação das atividades propostas<br />
Turno da Manhã<br />
Muito interessante<br />
Pouco interessante<br />
6%<br />
41%<br />
53%<br />
Interessante<br />
29
Avaliação das atividades propostas<br />
Turno da Noite<br />
Interessante<br />
50%<br />
50%<br />
Muito interessnte<br />
Os comentários feitos pelos alunos enriqueceram o meu trabalho e mesmo os<br />
que não reconheceram diferenças na proposta contribuíram para a análise dos<br />
resultados. Apresento um relato de alguns comentários feitos pelos alunos de<br />
ambas as turmas:<br />
A 1 : “... percebi como a química está presente no nosso dia-a-dia”.<br />
A 2 : “A atividade explica de um jeito mais simples e direto conceitos de química<br />
que poderíamos achar inúteis no nosso dia-a-dia, mas que vemos que a química<br />
pode sim ser usada na nossa vida”.<br />
A 3 : “Achei interessante, devido ao motivo de abordar a matéria de um modo<br />
diferente, buscando exemplos no cotidiano e com isso facilitando a aprendizagem<br />
(pelo menos no meu caso)”.<br />
A 4 : “Em relação às atividades achei muito complicado de entender mas<br />
aprendi coisas que eu não sabia e gostei de ficar sabendo”.<br />
A 5 : “Dessa forma ficou mais fácil de aprender do que passar um tanto de<br />
atividade para fazer em casa e ninguém aprender”.<br />
A 6 :”Ficou muito melhor a atividade sendo assim acaba nos ajudando até no<br />
nosso dia-a-dia e também ficou melhor para aprender e a matéria e a aula já não<br />
ficou mais muito chata”.<br />
A 7 : “Gostei muito pois isso nos ajudou a desenvolver nosso conhecimento.”<br />
A 8 : “Essa atividade foi muito importante para a evolução do conhecimento<br />
sobre soluções.”<br />
A 9 : “A atividade fez diferença e vários alunos com dificuldade conseguiram<br />
acompanhar a matéria. Achei muito interessante”.<br />
30
Ao observar os relatos fica clara a percepção que os alunos tiveram da<br />
metodologia utilizada para o trabalho e que essa pode fazer diferença nas<br />
relações em sala de aula. E ainda a valorização da abordagem do conteúdo a<br />
partir de questões do cotidiano. Há alunos que relatam ter aprendido mais com a<br />
atividade.<br />
A análise dos gráficos feitos a partir das entrevistas é surpreendente,<br />
principalmente com os alunos do noturno, considerando minhas observações<br />
iniciais. Apesar do meu julgamento do nível de dificuldade, os alunos não<br />
revelaram esse dado. O percentual de alunos que considerou as atividades<br />
difíceis no turno da noite foi menor que o do turno da manhã e os que<br />
consideraram as atividades fáceis também foi maior. Outro dado relevante foi que<br />
nenhum aluno do noturno considerou as atividades pouco interessantes. No turno<br />
da noite as atividades foram mais orientadas e os alunos do diurno fizeram-nas de<br />
forma mais autônoma. Com isso posso inferir que esse seja o elemento que<br />
diferencia o resultado da avaliação realizada.<br />
O dado mais relevante é o fato de os alunos perceberem a diferença de<br />
abordagem das atividades e considerarem essa mais significativa para a<br />
aprendizagem. Esse fator serve de indício apontando para algumas mudanças<br />
que devem ser promovidas em sala de aula e ainda que é possível investir em<br />
uma metodologia diferenciada para melhorar o processo de ensino aprendizagem.<br />
31
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Ao pensar no ensino de ciências por investigação é necessário fazer uma<br />
profunda reflexão sobre o papel do professor e da escola na sociedade atual. O<br />
ensino hoje deve privilegiar o desenvolvimento de habilidades como o aprender a<br />
pensar, o aprender a fazer e o aprender a refletir. Uma abordagem investigativa<br />
auxilia e muito na formação dessas habilidades. A ação do professor deve ser a<br />
de facilitador do desenvolvimento de tais habilidades e para isso, as atividades<br />
desenvolvidas em sala de aula devem ser coerentes com essa proposta.<br />
O ensino por investigação permite uma mudança na dinâmica da sala de<br />
aula, pois, valoriza a participação do aluno com suas dúvidas e questionamentos<br />
não o considerando um receptor de informações. O papel do professor deixa de<br />
ser o de transmissor de conhecimento para se tornar um mediador e um facilitador<br />
da aprendizagem. E muda também a visão da ciência que deixa de ser pronta,<br />
acabada e cheia de verdades absolutas. O desafio dessa proposta é conciliar a<br />
questão do tempo de realização das atividades e o discernimento entre o que é<br />
essencial e o que pode ser descartado, para que o conteúdo não se perca em<br />
discussões sem relevância.<br />
A abordagem investigativa permite um redimensionamento do currículo que<br />
deve ter como foco a formação de conceitos ao invés de um acúmulo de<br />
definições e classificações que não costumam promover a aprendizagem. A<br />
aprendizagem deve ser situada e para que isso ocorra elementos do cotidiano<br />
devem ser abordados não simplesmente como ilustrações e sim como parte<br />
integrante do conteúdo.<br />
Enfim, as atividades de investigação podem contribuir para motivação dos<br />
alunos, despertando o interesse pela ciência, para a melhoria do raciocínio e da<br />
capacidade de fazer relações entre fatos, fenômenos e situações e com tudo isso<br />
elevar a qualidade de ensino oferecido pela escola.<br />
32
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por investigação: problematizando as<br />
atividades em sala de aula. Ensino de Ciências; unindo a pesquisa e a prática.<br />
Thomson, 2004. p.19-33.<br />
BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. In:<br />
Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Florianópolis, SC, v.19, n.3. 2002. p.291-<br />
313,<br />
CARVALHO, A. M. P. Critérios estruturantes para o ensino de ciências. In:<br />
Ensino de Ciências; unindo a pesquisa e a prática. Thomson, 2004. p.1-17.<br />
CASTILHO, D. L., et al As aulas de química como espaço de investigação e<br />
reflexão. Química Nova na Escola. São Paulo: SBQ, 1999. n- 09 p. 14-17.<br />
DRIVER, R., H. A, et al. Construindo o conhecimento científico em sala de<br />
aula. Química Nova na Escola. São Paulo: SBQ, 1999. n- 09. p.31-40.<br />
ECHEVERRÍA, A. R. Como os estudantes concebem a formação de<br />
soluções. Química Nova na Escola. São Paulo: SBQ, 1995. n-03. p.15-18.<br />
GIORDAN, M. O papel da experimentação no ensino de ciências. Química<br />
Nova na Escola. São Paulo: SBQ, 1999. n-10 p. 43-49.<br />
LIMA, M. E. C. C. Formação continuada de professores de química.<br />
Química Nova na Escola. São Paulo: SBQ, 1996. n.04. p.12-14.<br />
LIMA, M. E. C; AGUIAR, O. G. Ensinar Ciências. Revista Presença<br />
Pedagógica. 2000. V. 06. 33,<br />
MACHADO, A. H. & MOURA, A. L. A. Concepções sobre o papel da<br />
linguagem no processo de elaboração conceitual em química. Coleção<br />
Explorando o Ensino – Química. 2006V. 05. p. 210-214.<br />
MILLAR, R.. Um currículo de ciências voltado para a compreensão de<br />
todos. Ensaio. 2003.v.5, n-2<br />
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Ensino Médio. (1999).<br />
Ministério da Educação Brasília. .<br />
PEREZ, D. G, et al. Para uma imagem não deformada do trabalho<br />
científico. Ciência e Educação. 2001 v.7, n-2. p.125-153.<br />
33
PONTE, J. P. Investigar a própria prática. In: GTI (Org), Reflectir e<br />
investigar sobre a prática profissional Lisboa. 2002.APM. (p. 5-28).<br />
SANTOS, W. P. & SCHNETZLER, R. P. Função social; o que significa<br />
ensino de química para formar o cidadão? Química Nova na Escola, São Paulo:<br />
SBQ, 1996. n.4<br />
SCHNETZLER, R. P. & ARAGÃO, R. M. R. Importância, sentido e<br />
contribuições de pesquisas para o ensino de química. Química Nova na Escola,<br />
São Paulo: SBQ, 1995. n.1<br />
34