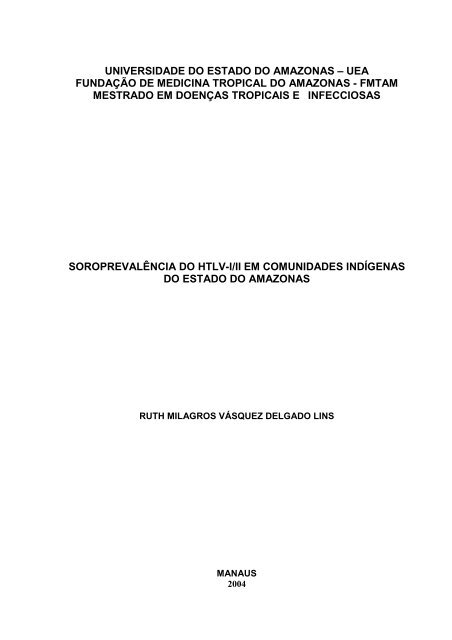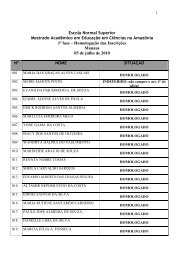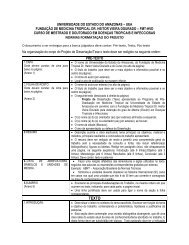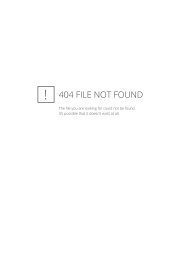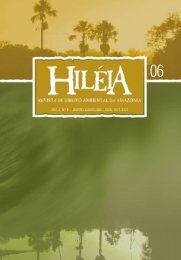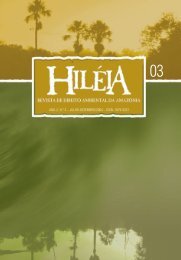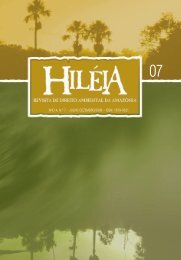Ruth Milagros Vásquez Delgado Lins - uea - pós graduação
Ruth Milagros Vásquez Delgado Lins - uea - pós graduação
Ruth Milagros Vásquez Delgado Lins - uea - pós graduação
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA<br />
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO AMAZONAS - FMTAM<br />
MESTRADO EM DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS<br />
SOROPREVALÊNCIA DO HTLV-I/II EM COMUNIDADES INDÍGENAS<br />
DO ESTADO DO AMAZONAS<br />
RUTH MILAGROS VÁSQUEZ DELGADO LINS<br />
MANAUS<br />
2004
RUTH MILAGROS VASQUEZ DELGADO LINS<br />
SOROPREVALÊNCIA DO HTLV-I/II EM COMUNIDADES INDÍGENAS<br />
DO ESTADO DO AMAZONAS<br />
Dissertação apresentado Programa de Pós<br />
Graduação da Universidade do Estado do<br />
Amazonas, para obtenção do grau de Mestre<br />
em Doenças Tropicais e Infecciosas.<br />
Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos de Lima Ferreira<br />
Co-orientador: Prof. Dr. Wornei Silva Miranda Braga<br />
MANAUS<br />
2004
ii<br />
”... Dê ao mundo o melhor de você,<br />
mas isto pode nunca ser o<br />
bastante. Dê o melhor assim<br />
mesmo.”<br />
Madre Teresa de Calcutá
iii<br />
A MEUS PAIS,<br />
Felicindo Vasquez, Pai e amigo In Memorian e<br />
Isabel Vasquez, mãe amada cujos ensinamentos<br />
jamais me deixaram desistir de meus ideais.<br />
AO AFRÂNIO,<br />
Por suas constantes demonstrações de<br />
carinho que de modo peculiar me<br />
incentivaram a concretizar este trabalho.<br />
A CELESTE MARIA E RODRIGO,<br />
Meus filhos amados, que foram tão amorosos e<br />
compreensivos nos momentos de ausência.
iv<br />
AGRADECIMENTOS<br />
A DEUS, por todas as bênçãos, capacitação e perseverança para atingir<br />
minhas metas, colocando sempre em meu caminho pessoas que tornam mais leve<br />
meu fardo.<br />
A Universidade do Estado do Amazonas e a Fundação de Medicina Tropical<br />
do Amazonas, pela criação do Curso de Mestrado em Doenças Tropicais e<br />
Infecciosas.<br />
A Superintendência da Zona Franca de Manaus através do convênio<br />
035/2002.<br />
Ao meu orientador Prof. Dr. Luiz Carlos de Lima Ferreira, que em meio aos<br />
seus numerosos afazeres, sempre se dispôs a me ensinar a fazer pesquisa<br />
enfatizando o compromisso com a verdade e o respeito mútuo.<br />
Ao Prof. Dr. Wornei Silva Miranda Braga, por gentilmente nos ceder as<br />
amostras de soros por ele coletadas nas oito etnias estudadas, juntamente com o<br />
banco de dados, contribuindo para o sucesso desta pesquisa.<br />
Ao Dr. Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda por nos fornecer as amostras<br />
de soro, por ele coletadas na etnia Zu hu A há, em 2000.<br />
Ao Dr. José de Ribamar Araújo, pela amizade e pelo apoio que sempre me<br />
premiou, sendo para mim um grande exemplo de solidariedade e determinação<br />
constantes.<br />
A Dra. Maria das Graças do Vale Barbosa, Coordenadora do Mestrado em<br />
Doenças Tropicais e Infecciosas.<br />
Ao meu sobrinho Felicien Gonçalves <strong>Vásquez</strong>, pela assessoria e elaboração<br />
dos gráficos que compõem este trabalho, excelente estatístico que é.<br />
À cara colega Dra. Kátia Torres (Fundação HEMOAM), pela generosa<br />
receptividade quando buscamos sua colaboração e por nos ceder o uso dos<br />
aparelhos e alguns testes para a concretização deste trabalho.<br />
As colegas do Laboratório de Sorologia (Fundação HEMOAM), nas pessoas<br />
de suas funcionárias Dra. Márcia Poinho, Dra. Cristianne Melo, Dra. Lorena <strong>Vásquez</strong>
e a Técnica de Laboratório Neisiane, pelos valiosos préstimos no desenvolver desta<br />
pesquisa.<br />
v<br />
Às queridas amigas Mônica Costa Manso e Ana <strong>Ruth</strong> Arcanjo, da FMTAM,<br />
que inúmeras vezes e sempre com boa vontade, interromperam seus afazeres para<br />
contribuir na elaboração deste trabalho.<br />
A bibliotecária da FMTAM, Sra. Artemisa Seabra da Silva pelo auxílio na<br />
aquisição das referências bibliográficas.<br />
Aos caros colegas da primeira turma do Mestrado em Doenças Tropicais e<br />
Infecciosas, pela amizade de cada um e estímulo constante, desde o início.<br />
As amigas Marinalva Rocha e Sirene Brandão, pelos valiosos préstimos no<br />
desenvolver deste trabalho e paciência infinita sempre que das mesmas precisamos.
RESUMO<br />
vi<br />
Os vírus humanos linfotrópicos de células T classificados em tipo I (HTLV-I) e<br />
tipo II (HTLV-II), são caracterizados como retrovírus do tipo C. O HTLV-I está<br />
associado à Leucemia-Linfoma de células T do Adulto (LLTA), a uma doença<br />
neurológica a Paraparesia Espástica Tropical - Mielopatia associada ao HTLV (TSP-<br />
HAM), uveíte associada ao HTLV (HAU) e a anormalidades dermatológicas. A<br />
associação do HTLV-II com patologias ainda não está estabelecida.<br />
No presente trabalho procurou-se avaliar a soroprevalência do HTLV- I/II em<br />
amostras de soro de indígenas pertencentes a as etnias Apurinã, Deni, Jamamadi,<br />
Kanamari, Kulina, Mura-Pirahã e Zuhu-A´há, do sul do estado do Amazonas,<br />
colhidas para estudos prévios nos anos de 1993 e 2000.<br />
Foram incluídos 399 participantes, de ambos os sexos e idades variadas.<br />
Todas as amostras foram submetidas ao teste de sorológico de triagem ELISA. Os<br />
casos positivos foram submetidos ao método confirmatório Western blot.<br />
Dentre as 399 amostras de soro incluídas neste trabalho, três (0,75%)<br />
tiveram resultados positivos no ELISA. Estas três amostras foram submetidas ao<br />
teste Western blot, com dois resultados negativos e um (0,25%) indeterminado<br />
apresentando a banda GD21 sozinha, pertencente à etnia Apurinã localizada no<br />
município de Eirunepé.<br />
Estes resultados sugerem que a freqüência da infecção pelo HTLV- I/II em<br />
populações do sul do estado do Amazonas é nula ou muito baixa, e inferior a<br />
observada em populações indígenas do estado do Pará e do restante do território<br />
brasileiro.<br />
Palavras-chaves: HTLV-I/II, HTLV em populações indígenas, Diagnóstico<br />
sorológico.
vii<br />
ABSTRACT<br />
The human T Lynphotropic Virus is classified in type I (HTLV- I) and type II<br />
(HTLV-II), they are distinguished like retrovirus of type C. HTLV- I associated to the<br />
adult T- cell leukemia- lynphoma (LLTA), to a neurologic diseases, HTLV-I<br />
associated myelopathy/ tropical spastic paraparesis (HAM/TSP), uveitis associated<br />
with human T- lynphotropic virus type I (HAU) and the dermatologyc infections. The<br />
association of HTLV- II with patology still not stablished yet.<br />
In this research was studied the serum prevailing of HTLV- I/II in blood<br />
samples of indigenous that belongs to the ethnic Apurinã, Deni, Jamamadi,<br />
Kanamari, Kulina, Mura-pirahã and Zuhu-A’ há of south Amazon state, catch for<br />
studies in the 1993 and 2000.<br />
Was include 399 individuals, man, woman of different ages. All the blood<br />
samples was submitting to the serological assay ELISA. The positive case was<br />
confirmed to western blot test.<br />
Between the 399 pieces of serum include in this study, tree (75%) was positive<br />
to the ELISA. This tree ones was submitting to western blot test, with two negative<br />
results and one (0,25%) indeterminate showing the pattern GD21, that belongs to<br />
ethnic Apurinã of Eirunepé.<br />
This results suggest that the frequency of the infection by HTLV-I/II in the<br />
population of south Amazon state is none or low, and lower than the indigenous<br />
population of the Pará state and the rest of the brasilian territory.<br />
Key words: HTLV-I/II, HTLV indigenous populations, serological diagnosis.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS<br />
viii<br />
CDC Control Disease Center<br />
DNA Ácido Desoxiribonucléico<br />
DIH Dermatite Infecciosa Associada ao HTLV-I<br />
ELISA Enzyme linked immunosorbent assay<br />
FUNAI Fundação Nacional do Índio<br />
FHEMOAM Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas<br />
FMTIMT Fundação de Medicina Tropical do Amazonas<br />
HTLV-I Vírus Linfotrópico de Células T Humanas do tipo I<br />
HTLV-II<br />
Vírus linfotrópico de Células T Humanas do tipo II<br />
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística<br />
LLTA Leucemia-Linfoma de células T do adulto<br />
PCR Polymerase Chain Reaction<br />
RNA Ácido Ribonucléico<br />
TSP/HAM Paraparesia espástica tropical/Mielopatia associada ao HTLV<br />
Wb Western blot
ix<br />
LISTA DE FIGURAS<br />
Figura 01 Representação esquemática das principais estruturas do vírus HTLV ... 04<br />
Figura 02 Fotografia por microscopia eletrônica do vírus HTLV infectando a<br />
célula ...................................................................................................... 04<br />
Figura 03 Representação das cinco maiores aglomerações de indivíduos<br />
Infectados com HTLV no mundo ............................................................. 06<br />
Figura 04 Prevalência de HTLV I/II reportadas no Brasil de 1989 a 1996 .............. 07<br />
Figura 05 Coleta de sangue e exame físico ........................................................... 22<br />
Figura 06 Placa para realização do teste ELISA, amostras positivas apresentam<br />
coloração amarela e amostras negativas coloração rosa ...................... 25<br />
Figura 07 Incubadora automática com contagem de tempo, para placas de<br />
ELISA (FHEMOAM) ................................................................................ 25<br />
Figura 08 Lavadora automática para placas de ELISA (FHEMOAM) .................... 26<br />
Figura 09 Western blot: representação das bandas que caracterizam o teste ...... 29<br />
Figura 10 Aparelho automatizado para realização do Western blot 2.4.<br />
Laboratório de Sorologia da FHEMOAM ................................................ 30<br />
Figura 11 Distribuição da faixa etária da população indígena das 08 etnias<br />
estudadas ............................................................................................... 32<br />
Figura 12 Distribuição dos 324 indígenas que responderam o questionário em<br />
relação a ter parceiros ............................................................................ 32<br />
Figura 13 Distribuição geográfica das comunidades indígenas estudadas ............ 35<br />
Figura 14 Resultado do Teste Western blot ........................................................... 36
x<br />
LISTA DE TABELAS<br />
Tabela 1 Distribuição da freqüência por sexo na população estudada ............ 31<br />
Tabela 2<br />
Tabela 3<br />
Distribuição da faixa etária da população indígena das 08 etnias<br />
estudadas .......................................................................................... 31<br />
Distribuição da freqüência da população indígena das 08 etnias<br />
estudadas .......................................................................................... 33<br />
Tabela 4<br />
Distribuição da Média de idade da população indígena estuda em<br />
relação às etnias ................................................................................ 33<br />
Tabela 5 Distribuição das aldeias indígenas nas 08 etnias estudadas ............ 34
xi<br />
SUMÁRIO<br />
INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 01<br />
1. VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS (HTLV) .................................. 01<br />
1.1 HISTÓRICO .................................................................................................... 01<br />
1.2 CARACTERÍSTICAS DO AGENTE ETIOLÓGICO .......................................... 01<br />
1.3 EPIDEMIOLOGIA ............................................................................................ 05<br />
1.4 PREVALÊNCIA DO HTLV-I EM COMUNIDADES INDÍGENAS ...................... 07<br />
1.5 TRANSMISSÃO .............................................................................................. 09<br />
1.6 PATOGENIA ................................................................................................... 10<br />
1.7 DOENÇAS ASSOCIADAS À INFECÇÃO PELO VÍRUS HTLV-I ..................... 11<br />
1.7.1 DOENÇAS HEMATOLÓGICAS ............................................................. 11<br />
1.7.1.1 Leucemia-Linfoma de Células T do Adulto (LLTA) .................... 11<br />
1.7.2 DOENÇAS NEUROLÓGICAS ............................................................... 12<br />
1.7.2.1 Mielopatia Associada ao HTLV-I – Paraparesia Espástica<br />
Tropical (TSP/HAM) ................................................................. 12<br />
1.7.3 UVEÍTE ASSOCIADA AO HTLV (HAU) ................................................. 13<br />
1.7.4 MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS ............................................. 14<br />
1.8 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL ................................................................... 15<br />
1.8.1 REAÇÕES DE TRIAGEM ...................................................................... 16<br />
1.8.2 REAÇÕES CONFIRMATÓRIAS OU SUPLEMENTARES ..................... 16<br />
1.8.3 REAÇÕES MOLECULARES ................................................................. 17<br />
2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 18<br />
2.1 GERAL ............................................................................................................ 18<br />
2.2 ESPECÍFICOS ................................................................................................ 18<br />
3. METODOLOGIA ......................................................................................................... 19<br />
3.1 MODELO DE ESTUDO ................................................................................... 19<br />
3.2 UNIVERSO DE ESTUDO ................................................................................ 19<br />
3.2.1 POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA ........................................................... 19<br />
3.2.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO ................................................................... 19<br />
3.3 PROCEDIMENTOS ......................................................................................... 20<br />
3.3.1 SELEÇÃO DOS INDIVÍDUOS A SEREM INCLUÍDOS NO ESTUDO ... 20<br />
3.3.2 INSTRUMENTOS .................................................................................. 20<br />
3.3.3 COLETA DAS AMOSTRAS ................................................................... 21<br />
3.3.4 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS ................................................. 21<br />
3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ............................................................................ 22<br />
3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO ........................................................................... 22
xii<br />
3.6 REALIZAÇÃO DAS SOROLOGIAS ................................................................. 22<br />
3.6.1 DESCRIÇÃO DO MÉTODO ELISA ....................................................... 22<br />
3.6.1.1 Componentes do Kit .............................................................. 23<br />
3.6.1.2 Procedimento do Ensaio ....................................................... 23<br />
3.6.1.3 Cálculo dos Resultados ......................................................... 24<br />
3.6.1.4 Interpretação dos Resultados ................................................ 24<br />
3.6.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO WESTERN BLOT ..................................... 26<br />
3.6.2.1 Componentes do Kit .............................................................. 26<br />
3.6.2.2 Procedimentos de Ensaio Kit HTLV blot 2.4® ....................... 27<br />
3.6.2.3 Interpretação dos Resultados ................................................ 28<br />
3.7 METODOLOGIA ESTATÍSTICA ...................................................................... 30<br />
4. RESULTADOS ........................................................................................................... 31<br />
4.1 ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO ......................................................................... 31<br />
4.1.1 SEXO E FAIXA ETÁRIA ........................................................................ 31<br />
4.1.2 PARTICIPANTES COM PARCEIROS ................................................... 32<br />
4.1.3 ETNIAS ESTUDADAS ........................................................................... 33<br />
4.1.4 MÉDIA DE IDADE EM RELAÇÃO A ETNIA .......................................... 33<br />
4.1.5 ALDEIAS ESTUDADAS ......................................................................... 34<br />
4.1.5 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA POPULAÇÃO ESTUDADA ........... 35<br />
4.1.7 TESTES SOROLÓGICOS ..................................................................... 36<br />
4.1.7.1 Elisa .......................................................................................... 36<br />
4.1.7.2 Western Blot ………………………………………………............ 36<br />
5. DISCUSSÃO ……………………………………………………………………………….. 37<br />
6. CONCLUSÃO ............................................................................................................. 42<br />
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 43<br />
8. OBRAS CONSULTADAS ........................................................................................... 50<br />
9. ANEXOS ..................................................................................................................... 52
INTRODUÇÃO<br />
1. VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS (HTLV)<br />
1.1 HISTÓRICO<br />
Os retrovírus foram inicialmente descritos em 1908 quando Elerman e Bang<br />
afirmaram que um agente biológico era capaz de causar transformações malignas,<br />
fato este observado quando ao injetar infiltrado celular obtido de tecido leucêmico de<br />
pássaros em galinhas, conseguiram produzir leucemia nas mesmas. Posteriormente,<br />
Rous em 1911, relatou que esses vírus apresentavam capacidade de causar<br />
sarcoma em pintos, ficando então conhecido como sarcoma de Rous.<br />
A certeza da transmissão horizontal dos referidos retrovírus deu-se em 1964,<br />
quando Jarret et al., conseguiram isolá-los de células leucêmicas de gatos.<br />
Independentemente, Temin et al. (1970), comunicaram o descobrimento da enzima<br />
denominada transcriptase reversa, em vírus tumorais RNA.<br />
A importância desse descobrimento reside no fato de que novas pesquisas<br />
tiveram êxito ao se conhecer melhor o mecanismo de replicação viral, a<strong>pós</strong> a<br />
entrada do vírus na célula, a transcriptase reversa copia o genoma do vírus para<br />
DNA (acido desoxirribonucléico), que é integrado no genoma da célula do<br />
hospedeiro, formando o provírus que por sua vez é usado como modelo para a<br />
síntese do RNA viral que será incorporado nas novas partículas virais em formação.<br />
Reportado posteriormente na literatura por Gallo et al., (1970), denominado<br />
atualmente como vírus linfotrópico de células T humanas tipo I, conhecido pela sigla<br />
em inglês HTLV-I (Human T-linfotropic virus-I), pertencente à família Retroviridae e<br />
representante da sub-família Oncovirinae.<br />
Em 1976, Morgan et al., desenvolveram técnicas para o cultivo de células T<br />
através do fator de crescimento para células do tipo T, hoje conhecido como<br />
interleucina- 2, sendo possível detectar pequenas quantidades do vírus permitindo a<br />
caracterização da família Retroviridae.<br />
A partir desses achados seguiu-se uma longa busca por retrovírus humanos, o<br />
primeiro a ser isolado em 1980 por Poiesz et al., a partir de uma linhagem de células<br />
linfoblastóides, obtida de um paciente com linfoma cutâneo de células T, nos<br />
Estados Unidos (EUA), sendo denominado retrovírus tipo C.
2<br />
No Japão outro retrovírus foi isolado em 1977 de um paciente com diagnóstico<br />
de leucemia-linfoma de células T do adulto (LLTA), por Takatsuki et al., anos depois<br />
demonstrou-se que o HTLV-I e o vírus da leucêmia-linfoma de células T<br />
assemelhavam-se e apresentavam a mesma sequência de nucleotídeos, sendo<br />
comum a sua associação etiológica, comprovada mediante a presença de anticorpos<br />
para o HTLV-I em pacientes com LLTA.<br />
Foi observada grande homologia na seqüência entre diferentes subtipos de<br />
HTLV-I isolados, mesmo quando detectados em regiões geográficas diferentes. São<br />
subtipos do HTLV-I: o cosmopolita (Japão, Caribe, norte da África, e América do<br />
Sul), o africano (Zaire) e o melanésio, considerado o mais divergente de todos<br />
(SOARES et al., 2001).<br />
A<strong>pós</strong> o isolamento do HTLV-I, um segundo retrovírus, o vírus humano<br />
linfotrópico de células T tipo II (HTLV-II), foi isolado das células de um paciente com<br />
o diagnóstico de leucêmia de células pilosas, mas sua associação com condições<br />
patológicas, ainda não está suficientemente esclarecida. (KALAYNARAMAN et al.,<br />
1982).<br />
Métodos de cultivo in vitro e a caracterização biológica e molecular desses<br />
vírus evidenciaram dois agentes relacionados, porém distintos, que passaram a ser<br />
denominados HTLV-I e HTLV-II, com tropismo para linfócitos T, CD4+ e CD8+.<br />
Existem quatro subtipos moleculares do HTLV-II, formando quatro grupos<br />
filogenéticos separados HTLV-IIa, HTLV-IIb, HTLV-IIc e HTLV-IId. Não existem<br />
evidências associando qualquer dos subtipos com propriedades patogênicas no<br />
hospedeiro humano infectado (SOARES et al., 2001). O subtipo HTLV-IIc é o mais<br />
freqüentemente encontrado no Brasil (ISHAK et al., 2003).<br />
1.2 CARACTERÍSTICAS DO AGENTE ETIOLÓGICO<br />
O HTLV-I é constituido de um genoma de ácido ribonucléico (RNA), de fita<br />
dupla (contendo 9 quilobases), que se replica por meio de um DNA complementar,<br />
através de uma enzima viral denominada transcriptase reversa, mecanismo este que<br />
lhe confere capacidade para induzir infecção e doenças latentes crônicas durante<br />
toda a vida, este vírus apresenta particularmente tropismo celular por células T<br />
CD4+. (TANGY et al., 1996; SEGURADO et al., 2000 ).<br />
A estrutura da partícula viral (Fig.1) e o ciclo replicativo do HTLV-I, são<br />
comuns aos demais retrovírus, apresenta genes regulatórios e funcionais localizados
3<br />
no pró-vírus ( gag,pol,env,px,tax e rex), que codificam peptídeos que se expressam<br />
nas células infectadas, onde anticorpos do hospedeiro contra tais peptídeos,<br />
constituem a base do teste sorológico imunoenzimático de triagem ELISA (CDC-<br />
Center for Disease Control, 1993).<br />
O genoma proviral é constituído de:<br />
• env - codifica as glicoproteínas externas do envelope (a precursora gp61-68 e<br />
sua derivada gp46) e a proteína transmembrana (gp21);<br />
• pol - codifica as enzimas transcriptase reversa (p99), RNase, endonuclease e<br />
protease;<br />
• gag - codifica as proteínas do core viral (a precursora p52 e suas derivadas<br />
p15, p19 e p24);<br />
• tax - codifica a proteína p40tax, transativadora do segmento LTR viral e de<br />
genes da célula eucariótica infectada;<br />
• rex - codifica a proteína p27rex, reguladora <strong>pós</strong> – transcricional da síntese de<br />
proteínas estruturais do vírus;<br />
• segmento LTR - presente nas extremidades do genoma proviral, contém as<br />
regiões reguladoras da transcrição viral;<br />
• genes de função ainda pouco conhecidas, rof e tof.<br />
Os genes acima enumerados provocam resposta humoral específica do<br />
hospedeiro infectado, que leva à produção de anticorpos voltados a diferentes<br />
constituintes antigênicos virais, os quais podem ser pesquisados por meio de<br />
técnicas de diagnóstico sorológico (PROIETTI et al., 2001).<br />
A<strong>pós</strong> a entrada do vírus na célula (Fig. 4), seu genoma é copiado para DNA<br />
(ácido desoxirribonucléico) pela enzima transcriptase reversa, e é integrado no<br />
genoma celular, formando o provírus. A síntese do RNA viral é feita por enzimas<br />
celulares, usando o pro-vírus integrado como modelo. O RNA é então processado<br />
para formar as proteínas virais e também o RNA que será introduzido nas novas<br />
partículas virais em formação (SOARES, et al., 2001).
4<br />
Figura 1. Representação esquemática das principais estruturas do vírus HTLV<br />
Fonte: Adaptado de Gallo (1986)<br />
Figura 2. Fotografia por microscopia eletrônica do vírus HTLV infectando a célula.<br />
Fonte:
5<br />
1.3 EPIDEMIOLOGIA<br />
Os agrupamentos geográficos (Fig. 3) foram inicialmente documentados no sul<br />
do Japão, anticorpos contra o HTLV-I tem sido detectados em 1 a 2 milhões de<br />
pessoas e mais de 700 casos de LLTA, são diagnosticados a cada ano, mais da<br />
metade dos casos são do distrito de Kyushu (8%). O HTLV-I é endêmico em ilhas<br />
situadas no sudeste do Japão, onde cerca de 20% da população adulta é<br />
soropositiva (YAMAGUCHI et al., 1994).<br />
Muitas infecções em residentes do Norte do Japão são oriundas de migrantes<br />
das regiões do Sul do Japão e de diversas ilhas do Caribe, em negros de Trinidad e<br />
Tobago (BARTHOLOMEW et al., 1990), em Barbados e 5% e na Jamaica (WATTEL<br />
et al., 1985). O HTLV está presente na América Central e do Sul e em regiões da<br />
África, (DELAPORTE et al., 1988). Na Melanésia há uma soroprevalência elevada,<br />
destacando-se a região de Papua-Nova Guiné, no Médio Oriente, no Ártico e ilhas<br />
do oceano Índico e do Pacífico Sul (YANAGIHARA et al., 1990).<br />
No Brasil, o HTLV foi detectado em todas as regiões estudadas (Fig.2), testes<br />
de triagem de doadores de sangue e estudos conduzidos em populações indígenas,<br />
usuários de drogas intravenosas e gestantes, constituem as principais fontes de<br />
informação sobre essas viroses em nosso país, que possui o maior número absoluto<br />
de indivíduos soropositivos para HTLV-I, dentre todos os países aproximadamente<br />
2,5 milhões de pessoas, para uma população de cerca de 150 milhões de<br />
habitantes, destacando-se maior prevalência nos estados da Bahia, Pernambuco e<br />
Pará (PROIETTI, et al., 2002).<br />
Durante o ano de 1995, 35 amostras soropositivas de doadores de sangue do<br />
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará, foram testadas pelos métodos de<br />
ELISA e Western blot, resultando em 10 (28,6%) amostras positivas para o HTLV-I<br />
e 2 (5,7%) positivas para o HTLV-II, estas através da PCR foram classificadas como<br />
HTLV- IIa e três (8,6%) foram indeterminadas (ISHAK et al., 1998).<br />
A prevalência do HTLV-I, aumenta com a idade, na infância a soropositividade<br />
para o HTLV-I é muito baixa e aumenta a partir da adolescência e início da idade<br />
adulta, nas mulheres observa-se um aumento acentuado que continua a<strong>pós</strong> os 40<br />
anos de idade em relação aos homens que normalmente atinge um platô a<strong>pós</strong> os 40<br />
anos (PROIETTI, 2002).<br />
As explicações mais prováveis para essa situação, são que a infecção latente<br />
poderia sofrer reativação ao longo da vida, aumento progressivo no título de
6<br />
anticorpos em pessoas infectadas a mais tempo, que a transmissão sexual seja mais<br />
eficiente do homem para a mulher e que as transfusões sanguíneas são mais<br />
freqüentes em mulheres. (BLAYNEY et al., 1983).<br />
Principalmente em pessoas com ancestrais de regiões endêmicas, ou mesmo<br />
imigrantes dessas regiões que apresentam taxas elevadas de soropositividade,<br />
como por exemplo os nascidos em Okinawa que migraram para o Hawaii e Brasil,<br />
segundo Veronesi et al., (1995) e para o Peru segundo Gotuzzo et al., (1994) e<br />
aqueles nascidos no Caribe que migraram para os EUA (BLATTNER et al., 1982).<br />
ÁFRICA<br />
BRASIL<br />
CARIBE<br />
JAPÃO<br />
MELANÉSIA<br />
Figura 3. Representação das cinco maiores aglomerações de indivíduos Infectados<br />
com HTLV no mundo
7<br />
Figura 4. Prevalência de HTLV I/II reportadas no Brasil de 1989 a 1996<br />
Fonte: PROIETTI et al., 2002<br />
1.4 PREVALÊNCIA DO HTLV-I EM COMUNIDADES INDÍGENAS<br />
No Brasil vivem cerca de 345 mil índios, distribuídos entre 215 sociedades<br />
indígenas, que perfazem cerca de 0,2% da população brasileira, este dado refere-se<br />
a indígenas que vivem em aldeias. Havendo uma estimativa de 100 a 190 mil que
8<br />
vivem fora de terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. No Estado do Amazonas<br />
estima-se que haja 83.966 indígenas, segundo informes da FUNAI (Fundação<br />
Nacional do Índio).<br />
Sabe-se que 53 grupos ainda não foram contactados e alguns grupos estão<br />
requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão Federal<br />
indigenista, segundo IBGE, 2004.<br />
Conforme o “estatuto” do índio (Lei 6001, de 19.12.1973), um grupo de pessoas<br />
pode ser considerado indígena ou não se estas pessoas se considerarem indígenas<br />
ou se assim forem consideradas pela população que as cerca ( FUNAI, 2004).<br />
O HTLV-I/II é endêmico em áreas geográficas distintas, sendo os níveis de<br />
infecção do HTLV-II comum em populações indígenas das Américas Central e do<br />
Sul, inclusive do Brasil (ISHAK et al., 2003).<br />
A infecção pelo HTLV-II, considerada menos patogênica, é endêmica em<br />
diversas comunidades indígenas da Amazônia, com soroprevalência distinta em<br />
relação às regiões descritas em alguns trabalhos que envolvem o Estado do Pará,<br />
onde apresenta maior prevalência (ISHAK et al., 1995; MALONEY et al., 1992;<br />
VALLINOTO et al., 2002).<br />
Segundo pesquisa realizada por Maloney et al., (1992), através de testes<br />
sorológicos e moleculares, a distribuição da soroprevalência entre 13 tribos da<br />
America Central e do Sul (Brasil, Venezuela, Costa Rica e Guiana) foi nula em 10/13<br />
das etnias estudadas em índios americanos no período entre 1966 a 1984.<br />
Em estudo retrospectivo realizado no Estado do Pará, Nakauchi et al., (1990),<br />
analisaram 137 amostras de soros de índios das comunidades Tiriyo e Mekranoite,<br />
sendo positivas pelo método ELISA 39% e 20% respectivamente, um caso foi<br />
positivo para HTLV-I, confirmado através da técnica de western blot.<br />
Em Belém no estado do Pará foi detectada a presença do HTLV-II a na etnia<br />
Kayapo, Munduruku, Arara do Laranjal e Tyrio. Na etnia Kayapo a soroprevalência<br />
tende a aumentar com a idade com evidências moleculares da transmissão vertical<br />
do HTLV-IIa (ISHAK et al., 1995).<br />
Testes sorológicos e moleculares realizados em amostras de sangue de<br />
indígenas da aldeia Kararao (Kayapo), forneceram evidências da transmissão<br />
intrafamilial e vertical do HTLV-IIc, detectou-se reatividade específica em 3/26<br />
indivíduos, dos quais duas amostras eram de uma mãe e de seu filho,<br />
provavelmente a amamentação seria um mecanismo de transmissão que em grande
9<br />
parte é responsável pela endemicidade do HTLV nessas populações (ISHAK et al.,<br />
2001).<br />
Em 591 amostras de soro coletadas nos anos de 1985 e 1988 de indígenas de<br />
quatro etnias da região amazônica, foi encontrada soroprevalência na taxa de 0,0%<br />
para o HTLV-I, 28 amostras foram positivas para o HTLV-II (4,7%) e cinco para o<br />
HTLVI/II (0,8%) (GABBAI et al., 1993).<br />
A infecção pelo HTLV-II é considerada endêmica em outras populações<br />
indígenas da América do norte, central e do sul, em pesquisa realizada por Fujiyoshi<br />
et al, 1999, foi encontrada as seguintes prevalências para o HTLV-I, em indígenas<br />
de várias etnias e paises: Aymara (Peru) 1,6%, Aymara (Bolívia) 5,3%, Quechua<br />
(Bolívia) 4,5%, Puna (Argentina) 2,3% e Atacama 4,1%. Resultados encontrados<br />
para o HTLV-II: Kayapó (Brasil) 57,9%, Chaco (Paraguay) 16,4%, Alacaf (Paraguay)<br />
34,8% e Yahgan (Chile). Na Colômbia 29-92 (31,5%) em índios Guahibo. Na<br />
Venezuela índios Yaruro e Guahibo 61% HTLV-IIb. Na Argentina, 0,45% a 2,78%<br />
HTLV-I e 2,78% a 21,9% HTLV-II em populações indígenas (GASTALDELLO et al.,<br />
2004).<br />
A variação nas taxas de prevalência em regiões diferentes pode ser devida a<br />
desigualdades no tamanho das amostras e metodologia empregada, bem como ser<br />
conseqüente a diferença de etnias nas populações estudadas (PROIETTI et al.,<br />
2000).<br />
1.5 TRANSMISSÃO<br />
Os mecanismos de transmissão reconhecidos para o HTLV-I, incluem a<br />
transmissão vertical, de mãe infectada para o filho, via transplacentária, durante o<br />
parto e através de linfócitos infectados presentes no leite materno, que pode<br />
representar até 15% de todas as infecções, crianças amamentadas artificialmente<br />
apresentaram uma taxa de soroconversão de 1% a 2%, enquanto que as com<br />
aleitamento materno apresentaram 20%, a transmissão intra-uterina ou transvaginal<br />
também pode ocorrer (TAKAHASHI et al., 1991).<br />
Resultados de testes Western blots seriados de crianças soroconvertidas<br />
nascidas de mães positivas para o HTLV-I mostram um padrão de presença de<br />
anticorpos maternos nos primeiros meses, geralmente desaparecendo todas as<br />
bandas por volta dos seis meses de idade, com surgimento subseqüente de novas<br />
bandas desta vez em associação com infecção nativa. Para algumas crianças foi
10<br />
cessada a amamentação vários meses antes da soroconversão, porém infecção<br />
latente por HTLV-I não foi detectada por meio da técnica da PCR (HIRATA et al.,<br />
1992).<br />
A transmissão horizontal, ocorre através da transfusão de hemocomponentes<br />
celulares Manns et al., (1991) ou do uso comum de objetos contaminados com<br />
sangue, ou ainda por relacionamento sexual ( MURPHY et al.,1989).<br />
Em área endêmica, indivíduos soropositivos para HTLV-I, estão agrupados em<br />
famílias, o que reflete o predomínio de transmissão da mãe para o filho e também<br />
por contato sexual. Todas as pesquisas afirmam persistência da infecção por toda a<br />
vida (SOARES et al., 2001).<br />
Em estudos realizados no Japão, observou-se que a transmissão homem -<br />
mulher (61%, em 10 anos) era mais comum do que mulher - homem (menor que 1<br />
%), detectou-se a presença do HTLV-I em células mononucleares no sêmen<br />
(NIKANO et al., 1984). Devido às conseqüências, potencialmente graves da infecção<br />
por HTLV-I, o CDC - Centers of Disease Control and Prevention, recomenda às<br />
pessoas infectadas, informarem a soropositividade a seu médico, não doarem<br />
sangue e hemoderivados, sêmem ou orgãos, não compartilharem agulhas e<br />
seringas, não amamentar ou inativar o leite materno através da pasteurização ou<br />
fervura e usar preservativos para evitar a transmissão sexual.<br />
A coincidência de outra doença sexualmente transmissível com manifestação<br />
genital ulcerativa, amplia o risco de transmissão do HTLV-I (MURPHY et al.,1989).<br />
No Brasil, o comportamento epidemiológico dessa retrovirose demonstra<br />
evidências de transmissão sexual e vertical do HTLVI-II, em nativos procedentes de<br />
comunidades indígenas da Amazônia Brasileira, assim como em filhos<br />
amamentados por mães soropositivas para HTLVI-II ( ISHAK et al., 1995).<br />
1.6 PATOGENIA<br />
A infecção inicia-se quando ocorre a interação das glicoproteínas do envelope<br />
viral com receptores localizados na membrana plasmática das células-alvo. No<br />
entanto, não se identificaram as moléculas envolvidas nessa interação, sabe-se que<br />
a<strong>pós</strong> a introdução do material genético viral no citoplasma da célula, ocorre a<br />
transcrição reversa do RNA viral, por meio de enzimas virais essenciais<br />
denominadas transcriptase reversa e integrase, originando a molécula de DNA viral<br />
complementar de dupla fita, que a<strong>pós</strong> migração para o núcleo da célula, integra-se
ao genoma da mesma, passando a DNA proviral, que torna-se estável fazendo a sua<br />
replicação, durante o ciclo celular (SOARES et al., 2001).<br />
11<br />
1.7 DOENÇAS ASSOCIADAS A INFECCAO PELO VÍRUS HTLV-I<br />
1.7.1 DOENÇAS HEMATOLÓGICAS<br />
1.7.1.1 Leucemia-Linfoma de Células T do Adulto (LLTA)<br />
A leucemia-linfoma de células T do adulto (LLTA), foi descrita por Takatsuki et<br />
al., em 1977, sendo característica sua associação etiológica com o HTLV-I<br />
confirmada pela demonstração da integração monoclonal de DNA proviral nas<br />
células leucêmicas, confirmando que a leucemia surge da transformação malígna<br />
realizada pelo vírus e seus produtos protéicos, como por exemplo a proteína tax,<br />
embora ocorra geralmente no adulto, conforme inicialmente descrito no Japão (<br />
TAKATSUKI et al., 1985).<br />
No Caribe observou-se acometimento de indivíduos mais jovens, casos de<br />
LLTA foram descritos em pessoas de nove a 23 anos por Bittencourt, et al., (1998).<br />
Este fato reflete a importância de co-fatores ambientais distintos, os quais são<br />
responsáveis pelo desenvolvimento de LLTA, nos indivíduos portadores de HTLV-I,<br />
de várias regiões geográficas, como no Brasil onde foram diagnosticados casos de<br />
LLTA em diversas regiões estudadas (POMBO DE OLIVEIRA et al., 1990).<br />
O papel etiológico do HTLV-I, nesta patologia foi demonstrado através das<br />
seguintes evidências: presença de LLTA em região endêmica para o HTLV-I,<br />
pacientes com LLTA apresentam anticorpos para HTLV-I e a integração monoclonal<br />
do DNA proviral nas células leucêmicas dos pacientes, confirma que a LLTA surgiu<br />
da transformação maligna de uma célula previamente infectada com HTLV-I<br />
(PROIETTI et al., 2002).<br />
As formas clínicas desta doença são classificadas em quatro grupos: forma<br />
aguda, crônica, linfomatosa e smoldering, um estágio intermediário entre o portador<br />
sadio e o doente com monoclonalidade, esta forma pode evoluir para as formas<br />
crônica ou aguda variando entre 10 a 15 anos. As lesões de pele crônica resistentes<br />
a tratamento tem sido um dos sinais clínicos iniciais da LLTA, normalmente sem<br />
apresentar linfocitose e com alguns linfócitos atípicos, podendo passar<br />
desapercebida por vários anos (LEVINE et al., 2002; WAGNER et al., 1998).
12<br />
Os linfócitos apresentam acentuado pleomorfismo celular, de tamanho médio<br />
com núcleos polilobulados, as células leucêmicas se assemelham às células de<br />
Sèzary, apresentando núcleos denteados, é possível que essas células ativadas<br />
liberem citocinas e que estas modifiquem as características patológicas dos<br />
pacientes com a doença (YAMAGUCHI , 1994).<br />
Os achados predominantes ao exame físico, no ínicio da doença, são<br />
adenomegalia (60%), hepatomegalia (26%), esplenomegalia (22%) e lesões<br />
cutâneas (39%). A hipercalcemia é freqüentemente associada à LLTA<br />
(YAMAGUCHI, 1994).<br />
A forma crônica da LLTA têm um curso clínico muitas vezes assintomático até<br />
ocorrer a progressão da doença para a forma aguda, onde se apresenta agressiva,<br />
com prognóstico reservado que não responde bem ao tratamento usado nos<br />
linfomas de alto grau de malignidade. Nos casos com lesões de pele, a<br />
fotoquimioterapia extracorpórea tem sido usada com algum benefício para a<br />
regressão das lesões, porém não evita a transformação em forma aguda<br />
posteriormente (PROIETTI et al., 2002).<br />
O tempo de sobrevida em pacientes com LLTA em formas aguda e<br />
linfomatosa varia de duas semanas a mais de um ano. Causas de morte incluem<br />
pneumonia por Pneumocystis carinii, hipercalcemia, meningite criptocócica, herpes<br />
zoster disseminado e coagulação intravascular disseminada (YAMAGUCHI, 1994).<br />
1.7.2 DOENÇAS NEUROLÓGICAS<br />
1.7.2.1 Mielopatia Associada ao HTLV-I - Paraparesia Espástica Tropical<br />
(TSP/HAM)<br />
O quadro clínico é de início insidioso e de caráter lentamente progressivo, com<br />
diminuição gradual da força muscular dos membros inferiores, associada a queixas<br />
sensitivas leves do tipo parestesia de membros inferiores. Com a progressão da<br />
doença podem surgir, urgência miccional, incontinência ou retenção urinária,<br />
constipação intestinal e, em adultos, diminuição da libido e da potência sexual<br />
(TAKAYANAGUI, 1996).<br />
A idade média para o aparecimento dos sintomas, ocorre predominantemente<br />
na faixa etária entre 35 e 49 anos e, atualmente existem relatos de acometimento<br />
em indíviduos cada vez mais jovens, inclusive abaixo de 10 anos de idade. O exame
13<br />
neurológico em crianças soropositivas para HTLV-I, pode mostrar sinais iniciais,<br />
mesmo que elas não apresentem queixas neurológicas, o que pode demonstrar um<br />
futuro desenvolvimento de TSP/HAM (GESSAIN et al., 1985; SEGURADO, 2001).<br />
Os sinais de envolvimento do trato piramidal são as principais alterações<br />
semiológicas: paraparesia crural com espasticidade, exacerbação dos reflexos<br />
profundos, clônus, sinal de Babinski e outros sinais de liberação piramidal. Observase<br />
freqüentemente a presença de hiper-reflexia profunda, também nos membros<br />
superiores, associada ao sinal de Hoffman (TAKAYANAGUI,1996).<br />
Embora o envolvimento medular seja a característica mais marcante,<br />
ocasionalmente são observados envolvimentos de outras áreas do sistema nervoso<br />
como: tremor de intenção, ataxia cerebelar, hipoacusia, atrofia óptica, ptose<br />
palpebral e lesão do nervo facial, entre outros.<br />
A evolução é normalmente lenta e progressiva, com duração de muitos anos.<br />
Em torno de dez anos a<strong>pós</strong> a instalação da doença, aproximadamente um terço dos<br />
pacientes estão paraplégicos e confinados ao leito. O conhecimento ainda impreciso<br />
dos mecanismos fisiopatológicos, impede uma terapêutica comprovadamente eficaz<br />
(GESSAIN et al., 1992).<br />
1.7.3 UVEÍTE ASSOCIADA AO HTLV (HAU)<br />
Termo genérico que se refere à inflamação, tanto do trato uveal quanto de<br />
outras partes do bulbo ocular, como a retina, o nervo óptico, o corpo vítreo, a córnea<br />
e a esclera podendo ocasionar a perda total da visão ( PINHEIRO et al., 1996).<br />
Os sinais clínicos e sintomas da uveíte são: dor ocular, fotofobia, embaçamento<br />
visual e hiperemia ocular. O curso clínico pode ser lentamente progressivo e persistir<br />
por longos períodos, quando não tratadas. Respondem bem ao tratamento com<br />
corticosteróides tópicos ou sistêmicos e podem apresentar recorrências se a terapia<br />
for interrompida.<br />
Estudos clínicos, soroepidemiológicos e virológicos relatam uma uveíte<br />
endógena como outra patologia associada ao HTLV-I, conhecida como HAU (uveíte<br />
associada ao HTLV-I), que pode ocorrer em portadores de doença neurológica<br />
(TSP/HAM) ou mesmo, se apresentar em portadores do vírus HTLV-I, sem<br />
comprometimento sistêmico. A HAU afeta principalmente pacientes do sexo<br />
masculino, faixa etária dos 20 aos 49 anos, e no sexo feminino ocorrem dois picos:<br />
um dos 20 aos 29 anos e outro dos 50 aos 59 anos. Embora a idade de
14<br />
aparecimento da HAU seja geralmente a<strong>pós</strong> 16 anos de idade, observou-se<br />
recentemente a presença de HAU em cinco crianças de três, oito, 10 e 14 anos de<br />
idade, com quadro clínico similar ao dos adultos (PROIETTI et al., 2002).<br />
Não se sabe ao certo se a uveíte é causada diretamente pela presença do<br />
vírus no globo ocular ou se o HTLV-I seria um mediador no desencadeamento de<br />
reação autoimune. A segunda hipótese parece ser mais provável, baseada nas<br />
seguintes informações: Linfócitos T CD4 – positivos infectados com o vírus HTLV-I,<br />
produzem uma infinidade de linfocinas mediadas pela interleucina-2; a uveíte<br />
responde bem à terapia com corticosteróides, que são imunossupressores; há uma<br />
certa proporção de pacientes com hipertireoidismo associado; linfócitos infectados<br />
com o vírus foram detectados pela PCR (reação em cadeia da polimerase) na<br />
câmara anterior de olhos com uveíte (YAMAMOTO et al., 1998).<br />
O HTLV-I, na forma de provírus (genoma viral integrado no DNA celular) pode<br />
ser detectado no humor aquoso, obtido por punção ocular de portadores de HAU<br />
sugerindo que células infectadas pelo HTLV-I têm papel ativo na uveíte<br />
(MOCHIZUKI et al., 1992).<br />
1.7.4 MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS<br />
Manifestações cutâneas são comuns na infecção por HTLV-I e nas doenças<br />
associadas ao vírus, como infiltrados linfomatosos na LLTA, que se manifestam<br />
como pápulas persistentes e generalizadas, nódulos e placas que podem evoluir<br />
com ulceração, pode haver ainda xeroderma e ictiose associadas à MAH-PET e à<br />
dermatite infecciosa (DI), cuja transmissão parece ser materno infantil via leite<br />
materno. Há outras lesões descritas como dermatomiosite, escabiose crostosa , rash<br />
psoriasiforme e dermatite seborréica, existem também relatos de associação de<br />
micose fungóide com HTLV (ZUCKER et al., 1999)<br />
A dermatite infecciosa (DIH), foi descrita pela primeira vez na Jamaica, em<br />
1966 e associada à infecção pelo HTLV-I em 1990, essa associação foi confirmada<br />
com a presença do genoma viral em culturas de biópsia de pele (LA GRENADE,<br />
1996).<br />
Apresenta quadro clínico de dermatite exsudativa severa, com crostas no couro<br />
cabeludo, pescoço, orelhas, região retroauricular, inguinal e axilar. Observa-se<br />
cultura positiva para Staphylococcus aureus e Streptococcus -hemolítico em<br />
material da pele e narinas, respondendo bem à antibioticoterapia apropriada, pode
15<br />
haver progressão para doenças mais graves associadas ao HTLV-I, como LLTA<br />
(PROIETTI et al., 2002).<br />
A DIH inicia-se a<strong>pós</strong> os 18 meses de idade, as lesöes säo<br />
eritematodescamantes e freqüentemente crostosas, localizando-se com mais<br />
freqüência no couro cabeludo, regiöes retroauriculares, cervical, peribucal,<br />
inguinocrural e perinasal. Podem ser vistas também fístulas, pápulas foliculares e<br />
fissuras reatroauriculares. As crinaças apresentam prurido que pode variar de leve a<br />
moderado, secreção nasal crônica e blefaroconjuntivite. O diagnóstico diferencial<br />
pode ser feito com dermatites atópica e seborréica do ponto de vista clínico.<br />
Considerando-se a elevada freqüência de DIH em Salvador, Bahia, sugere-se que<br />
seja feita de rotina a sorologia para HTLV-I, em crianças que apresentarem quadro<br />
dermatológico com czema (BITTENCOURT et al., 2001).<br />
1.8 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL<br />
A realização do diagnóstico laboratorial da infecção pelo HTLV (Anexo C), pode<br />
ser realizado através dos seguintes testes:<br />
1) Triagem sorológica<br />
2) Confirmação sorológica por meio do teste Western blot para HTLVI e II<br />
3) Confirmação da infecção pelo HTLV I e II, através da realização da PCR<br />
Todos os conjuntos de diagnóstico sorológico utilizados deverão estar<br />
obrigatoriamente registrados no Ministério da Saúde (PROIETTI et al., 2000).<br />
O diagnóstico inicial da infecção pelo vírus HTLV-I, é realizado por meio de<br />
testes sorológicos diversos que têm base na detecção de anticorpos, no soro do<br />
indivíduo, os quais são gerados a partir de uma resposta imunológica direcionada<br />
contra antígenos virais codificados por genes estruturais reguladores (PROIETTI et<br />
al., 2002).
16<br />
1.8.1 Reações de Triagem<br />
As reações de triagem, não diferenciam o HTLV-I do HTLV-II, devido às<br />
reações cruzadas de anticorpos, sendo, portanto, referidas como testes para HTLV-I<br />
e II. As seqüências dos genomas do HTLV-I e II têm similaridade de<br />
aproximadamente 65%, resultando em produtos protéicos relacionados, no entanto,<br />
eles contêm alguns antígenos diferentes, o que permite distinguí-los nas reações<br />
confirmatórias.<br />
A técnica mais comumente empregada para a triagem, é a reação de ELISA ou<br />
EIA (enzyme linked immunosorbent assay ou enzyme immunoassay), na qual os<br />
antígenos específicos são adsorvidos a uma placa de poliestireno e incubados com<br />
os soros em teste, sendo a reação definida como positiva através da<br />
intensidade colorímetrica medida em densidade óptica (DO) a partir de um corte<br />
definido ou cut- off. Resultados inconclusivos necessitam investigação<br />
complementar.<br />
A<strong>pós</strong> sofrer várias modificações, os testes atualmente contêm apenas proteínas<br />
recombinantes e peptídeos sintéticos, proporcionando maior sensibilidade (%) e<br />
especificidade, os testes ELISA considerados apropriados são os das marcas:<br />
Organon Teknica, Murex, Abbott e Ortho (VRIELINK et al.,1999).<br />
Os testes de aglutinação de partículas de látex ou de gelatina sensibilizadas<br />
com antígenos virais inativados, também são utilizados como reações de triagem.<br />
1.8.2 Reações Confirmatórias ou Suplementares<br />
A confirmação diagnóstica da infecção pelo HTLV pode ser realizada a partir de<br />
diferentes métodos sorológicos, dos quais o mais utilizado é o Western blot (Wb),<br />
detectando a presença de anticorpos para diferentes antígenos virais, separados<br />
eletroforeticamente, segundo seu peso molecular e carga elétrica, aderidos a um<br />
suporte sólido de nitrocelulose, os anticorpos são identificados pela visualização de<br />
bandas correspondentes aos diferentes antígenos virais.<br />
O teste da IFI (Imunofluorescência Indireta) não é comercializado apresentando<br />
resultados subjetivos, o que limita sua utilização. Outros são o RIBA (recombinant<br />
immunoblot assay) o RIPA-PAGE (radioimunoprecipitação em gel de poliacrilamid).
17<br />
1.8.3 Reações Moleculares<br />
O diagnóstico molecular é realizado com a PCR - reação em cadeia da<br />
polimerase, capaz de detectar um único fragmento de DNA e copiar sua seqüência<br />
de ácidos nucléicos, amplificando até um milhão de vezes a sequência viral inicial.<br />
O provírus detectado nas células infectadas é capaz de esclarecer estados<br />
sorológicos indeterminados, além de ser utilizado para identificar claramente se a<br />
infecção ocorre pelo tipo I ou pelo tipo II do HTLV.<br />
A identificação através da PCR das infecções por HTLV-I, baseia-se na escolha<br />
dos iniciadores complementares às extremidades da região do genoma a ser<br />
amplificada, a qual deve ser uma região altamente conservada e espécie-específica.<br />
A PCR deve ser considerada atualmente como um ensaio confirmatório<br />
adicional e como uma técnica de pesquisa (PROIETTI et al., 2002).
18<br />
2 OBJETIVOS<br />
2.1 GERAL<br />
Estimar a soroprevalência da infecção pelo HTLV I/II, em oito comunidades<br />
indígenas do Estado do Amazonas.<br />
2.2 ESPECÍFICOS<br />
Descrever o perfil da soroprevalência do HTLV-I, em indivíduos de oito<br />
comunidades indígenas do Amazonas;<br />
Caracterizar os fatores sócio-demográficos da população de estudo<br />
associando: sexo, faixa etária e etnia.
19<br />
3 METODOLOGIA<br />
3.1 MODELO DE ESTUDO<br />
Trata-se de um estudo retrospectivo (estudo de casos prevalentes), em<br />
comunidades indígenas do estado do Amazonas, que avaliará a taxa de prevalência<br />
do HTLV I/II, em relação a diferentes variáveis epidemiológicas.<br />
3.2 UNIVERSO DE ESTUDO<br />
3.2.1 POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA<br />
O estudo se desenvolveu na Amazônia ocidental, entre populações indígenas<br />
dos vales dos rios Juruá, Purús e Madeira, principais afluentes da margem direita do<br />
rio Amazonas, tendo como base os municípios de Lábrea, Pauini, Eirunepé, Envira e<br />
Nova Olinda do Norte (Fig. 13).<br />
A região apresenta clima tropical úmido, com elevados índices pluviométricos<br />
anuais, que se encontram exacerbados entre os meses de Dezembro a Julho, e uma<br />
estação menos chuvosa entre os meses de Agosto e Novembro. A economia local<br />
está centralizada na produção de látex, juta, madeira, pesca, agricultura de subexistência<br />
e exploração de madeiras nobres.<br />
3.2.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO<br />
Indígenas pertencentes a oito comunidades do estado do Amazonas,<br />
totalizando 399 amostras de soros provenientes das seguintes etnias e respectivos<br />
locais de procedência:<br />
• Apurinã Lábrea e Pauini<br />
• Kanamari Eirunepé<br />
• Deni Tapauá<br />
• Jamamadi Lábrea<br />
• Kulina Envira e Eirunepé<br />
• Mura-Pirahã Nova Olinda do Norte<br />
• Paumari Lábrea<br />
• Zuhu-A´há Lábrea
20<br />
No município de Lábrea os Zuhu-A´há, uma aldeia considerada fechada,<br />
segundo informação verbal cedida pelo Dr. Marcus Lacerda, responsável pela coleta<br />
de amostras de soro dos indígenas dessa etnia para estudos prévios<br />
epidemiológicos.<br />
As demais aldeias visitadas aparentavam comunidades ribeirinhas, com uma<br />
área livre central, circundada por habitações, normalmente próximas de um igarapé,<br />
algumas com escolas, posto médico e igreja onde conviviam com missionários de<br />
outros países.<br />
Estas comunidades em regra estão localizadas em regiões no meio da<br />
floresta de difícil acesso fluvial e terrestre, à exceção das aldeias do Cacau, da etnia<br />
Kulina, e de Nova Esperança dos Apurinã, que são considerados bairros afastados<br />
das cidades de Envira e Lábrea.<br />
3.3 PROCEDIMENTOS<br />
3.3.1 SELEÇÃO DOS INDIVÍDUOS A SEREM INCLUÍDOS NO ESTUDO<br />
O número de indivíduos avaliados ficou condicionado ao número de aldeias<br />
visitadas e ao número de pessoas presentes no momento da visita. Nas aldeias<br />
pequenas, todos eram avaliados e nas maiores onde foi realizado sorteio, a grande<br />
maioria dos sorteados estavam no momento da entrevista e concordavam em<br />
participar.<br />
Nas aldeias maiores, se procedia a seleção de 50% da população por<br />
amostragem aleatória simples, sorteados do censo familiar de cada aldeia. Em<br />
aldeias pequenas a investigação se realizava com praticamente todos os indivíduos<br />
presentes, sendo deixados de fora somente os que estavam ausentes em alguma<br />
atividade na floresta.<br />
3.3.2 INSTRUMENTOS<br />
Como instrumentos de investigação foi utilizado o censo familiar de cada<br />
aldeia, elaborado pelo programa de saúde indígena, de onde podiam ser coletadas<br />
informações como: sexo, idade, além de um questionário individual (anexo 1).
21<br />
3.3.3 COLETA DAS AMOSTRAS<br />
As amostras de soro estavam separadas em alíquotas e armazenadas na<br />
soroteca da gerência de virologia da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas<br />
(FMTIMT), as mesmas foram coletadas por BRAGA, et al., 1993 nas comunidades<br />
indígenas, determinadas por autoridades competentes da FUNAI, pois no momento<br />
da coleta havia transporte disponível somente para essas localidades. As<br />
informações referentes aos indivíduos participantes foram obtidas por meio de<br />
inquérito, através de questionário padronizado, desenvolvido para esta finalidade.<br />
Posteriormente as amostras de soro foram utilizadas por FERREIRA et al.,<br />
2002, sendo encontrado em determinadas aldeias 100% de positividade para o<br />
Helicobacter pylori , através do método de ELISA.<br />
Foi solicitado um consentimento verbal dos dirigentes das comunidades e<br />
chefes de família a<strong>pós</strong> apresentação do projeto, explicando os objetivos<br />
antecipadamente. O projeto foi apresentado aos dirigentes do programa de saúde<br />
indígena da Fundação Nacional de Saúde e também as entidades governamentais e<br />
não-governamentais que trabalhavam em conjunto com a Fundação Nacional de<br />
Saúde.<br />
3.3.4 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS<br />
1- Colheram-se 10ml de sangue de cada indíviduo, por punção venosa a<br />
vácuo;<br />
2- Mantiveram-se os tubos à temperatura ambiente, até formação de coágulo;<br />
3- Centrifugaram-se as amostras a 2000 rpm, por 5 minutos, para obtenção do<br />
soro, o qual foi separado em alíquotas e acondicionados em tubos<br />
criogênicos com capacidade de 1,5ml cada um, em duplicidade,<br />
devidamente identificados com um código para cada participante;<br />
4- As amostras foram armazenadas a –20 oC;<br />
5- Todas as amostras foram coletadas pela mesma pessoa e imediatamente<br />
acondicionadas em gelo e transportadas para realização da centrifugação.
22<br />
Figura 5. Coleta de sangue e exame físico.<br />
3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO<br />
Alíquotas de soros de populações das 8 etnias armazenadas no Laboratório<br />
de Virologia da FMTIMT.<br />
3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO<br />
Soros que se apresentaram hemolisados, lipêmicos ou ictéricos.<br />
3.6 REALIZAÇÃO DAS SOROLOGIAS<br />
Todos os testes foram realizados no Laboratório de Sorologia da Fundação de<br />
Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHEMOAM).<br />
3.6.1 DESCRIÇÃO DO MÉTODO ELISA<br />
Foi utilizado o KIT ABBOTT MUREX HTLV-I + II ® Código: GE81-8E22 04<br />
Lote: H814010, Validade: 30.09.04.<br />
Enzimaimunoensaio qualitativo para a detecção de anticorpos contra o vírus<br />
T – linfotrópico humano, tipos I e II (HTLV - I e HTLV - II) em soro ou plasma<br />
humano.<br />
O MUREX HTLV-I + II ® é um ensaio de ELISA seqüencial tipo “antígeno<br />
sanduíche”, baseado em proteínas recombinantes derivadas de proteínas<br />
transmembrânicas do HTLV-I e HTLV-II.
23<br />
Os antígenos são selecionados para otimizar a especificidade e sensibilidade<br />
de ambos e são usados no formato selecionado para permitir a detecção de<br />
anticorpos do tipo IgA, IgG e IgM.<br />
3.6.1.1 COMPONENTES DO KIT<br />
• Placa revestida com antígenos do HTLV-I e II<br />
• Diluente de Amostra: Um frasco contendo 36ml de tampão e detergentes.<br />
Contém conservantes Bronidox a 0,05%.<br />
• Conjugado: Um frasco contendo antígenos do HTLV conjugados com<br />
peroxidase de rábano e liofilizado.<br />
• Diluente do Conjugado: Um frasco contendo uma solução vermelha<br />
consistindo por tampão, proteína bovina e detergente. Contém conservante<br />
Bronidox a 0,05%.<br />
• Controle Positivo anti-HTLV; Um frasco com 1,5 ml de sorohumano<br />
inativado contendo anticorpos contra o HTLV, negativo para antígeno de<br />
superfície da Hepatite B (HbsAg) e negativo para anticorpos contra o vírus<br />
da imunodeficiência humana tipos I e II (HIV 1 e HIV 2) e HVC, diluído em<br />
tampão contendoo proteína bovina. Contém conservante Bronidox a 0,05%.<br />
• Controle Negativo: Um frasco com 2,5 ml de soro humano normal, não<br />
reativo para HbsAg e anticorpos contra HIV 1, HIV 2, HCV,HTLV I e II,<br />
diluídos em um tampão com proteína bovina. Contém conservante Bronidox<br />
a 0,05%.<br />
3.6.1.2 PROCEDIMENTO DO ENSAIO<br />
1) Reconstituir e misturar o Conjugado, preparar a solução de Substrato e a<br />
solução de Lavagem.<br />
2) Adicionar 50µl de diluente da amostra em cada cavidade da placa.<br />
3) Adicionar 50µl de cada Amostra de soro em cada cavidade da placa.<br />
4) Adicionar 50ul de cada Controle, em três cavidades da placa.<br />
5) Cobrir as cavidades com a tampa e incubar por 30 minutos a<br />
37 o C em condições de umidade.<br />
6) Lavar a placa, em lavadora automatizada.<br />
7) Adicionar 100ul de Solução de Substrato em cada cavidade.<br />
8) Cobrir as cavidades e incubar por 30 minutos a 37oC.
24<br />
9) Observar uma coloração púrpura nas amostras reativas.<br />
10) Adicionar 50ul de Solução de Parada (ácido Sulfúrico 0,5M a 2M) em cada<br />
cavidade.<br />
11) A<strong>pós</strong> 15 minutos ler a absorbância em 450nm.<br />
3.6.1.3 CÁLCULO DOS RESULTADOS<br />
Controle Negativo: Calcular a absorbância média dos controles negativos, que<br />
deverá ser menor que 0,2.<br />
Valor de Cut-off: Calcular o valor de cut-off adicionando-se 0,2 à média das<br />
replicatas do controle negativo.<br />
Controle Positivo: A absorbância do controle Positivo deve ser acima da<br />
absorbância média do controle negativo.<br />
3.6.1.4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS<br />
Resultados Negativos: Amostras que apresentarem uma absorbância menor<br />
que o valor do Cut-off, são consideradas negativas no MUREX HTLV I+II.<br />
Resultados Positivos: Amostras que apresentarem uma absorbância igual ou<br />
maior que o valor do Cut-off, são consideradas inicialmente reativas no ensaio.
25<br />
Figura 6. Placa para realização do teste ELISA, amostras positivas apresentam<br />
coloração amarela e amostras negativas coloração rosa.<br />
Figura 7. Incubadora automática com contagem de tempo, para placas de ELISA<br />
(FHEMOAM)
26<br />
Figura 8. Lavadora automática para placas de ELISA (FHEMOAM)<br />
3.6.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO WESTERN BLOT<br />
Enzimaimunoensaio qualitativo Kit ABBOTT MUREX HTLV Blot 2.4 ® , Lote:<br />
AK3022, Validade: 01.11.04, para detecção in vitro de anticorpos para HTLV-I e<br />
HTLV-II em soro ou plasma humano, como um teste suplementar mais específico<br />
para amostras reativas em procedimentos de triagem como o ELISA.<br />
As tiras de nitrocelulose são incorporadas com proteínas virais do HTLV<br />
derivadas de partículas virais rompidas nativas e inativadas e proteínas<br />
desenvolvidas geneticamente.<br />
3.6.2.1 COMPONENTES DO KIT<br />
1) TIRAS DE NITROCELULOSE – Incorporada com lisado viral de HTLV I e<br />
antígeno recombinante do envelope;<br />
2) CONTROLE-NÃO REATIVO – Soro humano normal inativado. Não reativo<br />
para anti-HCV, anti-HIV 1 e 2, anti-HTLV I - II e HbsAg. Contém azida<br />
sódica e timerosal como conservantes;
27<br />
3) CONTROLE REATIVO FORTE I – Soro humano inativado com alto título de<br />
anticorpos para HTLV-I;<br />
4) CONTROLE REATIVO FORTE II – Soro humano inativado com alto título<br />
de anticorpos para HTLV-II;<br />
5) TAMPÃO ESTOQUE LIOFILIZADO – Deve ser reconstituído em água grau<br />
reagente;<br />
6) TAMPÃO DE LAVAGEM CONCENTRADO (20 X) - Tampão Tris com<br />
Tween 20 e contém timerosal como conservante;<br />
7) CONJUGADO – Anti-IgG – humana (cabra) conjugada com fosfatase<br />
alcalina;<br />
8) SUBSTRATO – Solução de 5-bromo-4-cloro-3-indolfosfato (BCIP) e<br />
Tetrazólico Nitroazul (NBT);<br />
9) PÓ DE REVELÇÃO – Leite em pó desnatado;<br />
10) BANDEJA DE INCUBAÇÃO – Com 9 canaletas cada<br />
11) Pinça<br />
3.6.2.2 PROCEDIMENTOS DE ENSAIO KIT HTLV Blot 2.4 ®<br />
1) Colocar as tiras em cada canaleta, com o lado numerado para cima, incluir<br />
as tiras para os controles reativo forte e controle não-reativo;<br />
2) Adicionar 2 ml de Tampão de Lavagem diluído a cada canaleta;<br />
3) Incubar as Tiras por pelo menos 5 minutos em temperatura ambiente em<br />
uma plataforma de agitação. Remover o Tampão por aspiração;<br />
4) Adicionar 2ml de Tampão de Revelação a cada canaleta seguido de 20ul de<br />
soro teste às canaletas apropriadas;<br />
5) Cobrir a bandeja com a cobertura fornecida e incubar por 1 hora em<br />
temperatura ambiente na plataforma de agitação;<br />
6) Descobrir cuidadosamente a bandeja para evitar o extravasamento ou a<br />
mistura das amostras. Aspirar as misturas das canaletas;<br />
7) Lavar cada tira 3 vezes com 2 ml de Tampão de Lavagem diluído, deixando<br />
que as tiras fiquem embebidas durante 5 minutos na plataforma de agitação<br />
entre cada lavagem;<br />
8) Adicionar 2 ml de Solução de Trabalho do Conjugado a cada canaleta.<br />
Cobrir a bandeja e incubar por 1 hora em temperatura ambiente na<br />
plataforma de agitação;
28<br />
9) Aspirar o conjugado das canaletas. Lavar as tiras como no passo 7;<br />
10) Adicionar 2 ml de Solução de Substrato a cada canaleta. Cobrir a bandeja e<br />
incubar por 15 minutos na plataforma de agitação;<br />
11) Aspirar o Substrato e enxaguar as tiras várias vezes com água grau<br />
reagente para interromper a reação;<br />
12) Remover as tiras com auxílio de pinça, e colocar para secar em papel<br />
toalha;<br />
13) Observar as bandas e classificar os resultados.<br />
3.6.2.3 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS<br />
A banda do soro controle serve para checar a adição de soro no ensaio.<br />
Ausência desta banda indica que nenhum soro teste, conjugado ou substrato foi<br />
dispensado na tira teste ou então ocorreram outros erros operacionais.<br />
1<br />
Padrão<br />
Nenhuma reatividade com as proteínas do<br />
HTLV<br />
Interpretação<br />
Soro negativo<br />
2<br />
Reatividade com GAG (p19 com ou sem p24) e<br />
2 ENV (GD21 e rgp46-I)<br />
HTLV I<br />
Soro positivo<br />
3<br />
Reatividade com GAG (p24 com ou sem p19) e<br />
2 ENV (GD21 e rgp46-II)<br />
HTLV II<br />
Soro positivo<br />
4<br />
5<br />
Reatividade com GAG (p19 e p24) e ENV<br />
(GD21)<br />
Bandas específicas do HTLV detectadas, mas<br />
não relacionadas às do HTLV I, HTLV II ou<br />
HTLV soropositivo<br />
HTLV positivo<br />
Indeterminada<br />
I
29<br />
rgp46-I<br />
rgp46-II<br />
gp46<br />
p53<br />
p36<br />
p26<br />
P28<br />
p24<br />
p21<br />
P19<br />
GD21<br />
Figura 9. Western blot : representação das bandas que caracterizam o teste.
30<br />
Figura 10. Aparelho automatizado para realização do Western blot 2.4. (Laboratório<br />
de Sorologia da FHEMOAM)<br />
3.7 METODOLOGIA ESTATÍSTICA<br />
Os dados foram registrados em um banco de dados e a análise estatística foi<br />
realizada através de Estatísticas Descritivas (Tabelas e Gráficos), utilizando-se o<br />
Programa Epi-Info 6.
31<br />
4 RESULTADOS<br />
4.1 ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO<br />
4.1.1 SEXO E FAIXA ETÁRIA<br />
Houve predomínio do sexo masculino, em número de 203 (50,9%), sobre o<br />
feminino, com 196 (49,1) na população indígena estudada (tabela 1). Quanto à faixa<br />
etária, observou-se que a população das oito etnias estudadas tinham<br />
predominantemente entre 8 a 15 anos (28,3%) como mostra a tabela 2 e figura 11.<br />
Tabela 1<br />
Distribuição da freqüência por sexo na população estudada<br />
Sexo Freq. %<br />
Feminino 196 49,1<br />
Masculino 203 50,9<br />
Total 399 100,0<br />
Tabela 2<br />
Distribuição da faixa etária da população indígena das 08 etnias estudadas<br />
Faixa Etária Freq. % Acum(%)<br />
≤ 7 81 20,3 20,3<br />
8 a 15 113 28,3 48,6<br />
16 a 23 56 14,0 62,6<br />
24 a 31 58 14,5 77,1<br />
32 a 39 28 7,0 84,1<br />
40 a 47 14 3,5 87,6<br />
48 a 55 16 4,0 91,6<br />
56 a 63 14 3,5 95,1<br />
64 a 71 11 2,8 97,9<br />
72 a 87 8 2,1 100,0<br />
Total 399 100,0 -<br />
Média= 22,3 anos; DP=18,5anos; Mediana=16 anos; Mín. 1; Max. 87 anos
32<br />
120<br />
113<br />
100<br />
80<br />
81<br />
60<br />
56 58<br />
40<br />
28<br />
20<br />
14 16 14<br />
11 8<br />
0<br />
33<br />
4.1.3 ETNIAS ESTUDADAS<br />
Em um total de 399 indígenas, 104 (26,1%) eram da etnia Apurinã. A segunda<br />
etnia com o maior número de indivíduos participantes foi a Paumari (23,6%),<br />
conforme a tabela 3.<br />
Tabela 3<br />
Distribuição da freqüência da população indígena das 08 etnias estudadas<br />
Aldeia Freq %<br />
Apurinã 104 26,1<br />
Paumari 94 23,6<br />
Kanamari 55 13,8<br />
Jamamadi 53 13,3<br />
Kulina 41 10,3<br />
Zuhu-A´há 28 7,0<br />
Deni 18 4,5<br />
Mura-Pirahã 6 1,5<br />
Total 399 100.0<br />
4.1.4 MÉDIA DE IDADE EM RELAÇÃO À ETNIA<br />
A média de idade das sete etnias estudadas foi 19,8 anos, com exceção da<br />
etnia Zuhu-A´há cuja média de idade foi de 58,2 anos.<br />
Podemos observar que não houve diferença estatisticamente significante ao<br />
nível de 5%, entre a média de idade e as etnias (Tabela 4).<br />
Tabela 4<br />
Distribuição da Média de idade da população indígena estuda em relação às etnias.<br />
Etnia Freq Média DP Mediana<br />
Apurinã 104 19,6 16,5 13,0<br />
Kanamari 55 22,5 16,0 20,0<br />
Deni 18 18,9 17,1 12,0<br />
Jamamadi 53 16,8 16,2 10,0<br />
Kulina 41 21,4 14,4 20,0<br />
Mura-Pirahã 6 21,3 16,2 22,5<br />
Paumari 94 18,5 14,3 15,5<br />
Zuhu-A´há 28 58,2 16,5 64,0<br />
p-valor = 0,5903.
34<br />
4.1.5 ALDEIAS ESTUDADAS<br />
Pode ser observado através da tabela 5, que o predomínio de indivíduos<br />
estudados eram pertencentes a aldeia Mamuri (14,8%).<br />
Tabela 5<br />
Distribuição das aldeias indígenas nas 08 etnias estudadas<br />
Aldeia N %<br />
Mamuri 55 14,8<br />
Nova Vista 49 13,2<br />
Estirão 37 10,0<br />
São Francisco 36 9,7<br />
Crispim 33 8,9<br />
Cacau 30 8,1<br />
Japiim 29 7,8<br />
Zuhu-A´há 28 7,0<br />
Ponta Fina 17 4,6<br />
Iminaha 14 3,8<br />
Sapatini 13 3,5<br />
Cidadezinha 9 2,4<br />
Ponta 7 1,9<br />
Kumaru 6 1,6<br />
Rio Maici 6 1,6<br />
Nova Esperança 5 1,3<br />
Macapá 4 1,1<br />
Palhau 3 0,8<br />
Aquiri 2 0,5<br />
Bananal 2 0,5<br />
Labrea 2 0,5<br />
Lusitânia 2 0,5<br />
Visagem 2 0,5<br />
Apurina 1 0,3<br />
Bela Rosa 1 0,3<br />
Bom Futuro 1 0,3<br />
Lago do Recurso 1 0,3<br />
Maraha 1 0,3<br />
Marrecao 1 0,3<br />
Rio Sepati 1 0,3<br />
São Clemente 1 0,3<br />
Total 399 100,0
35<br />
4.1.6 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA POPULAÇÃO ESTUDADA<br />
As etnias pesquisadas eram predominantemente da região sul do Estado do<br />
Amazonas, localizadas nos municípios de Envira, Eirunepé, Lábrea, Tapauá e no<br />
município de Nova Olinda do Norte (Figura 13).<br />
N<br />
TAPAUÁ<br />
NOVA OLINDA<br />
DO NORTE<br />
MuraPirahã<br />
ENVIRA<br />
PAUINI<br />
EURINEPÉ<br />
LÁBREA<br />
Kulina<br />
Kanamari<br />
Apurinã<br />
Jamamadi<br />
Paumari<br />
Deni<br />
Zuhu-A´há<br />
Figura 13. Distribuição geográfica das comunidades indígenas estudadas
36<br />
4.1.7.TESTES SOROLÓGICOS<br />
4.1.7.1 ELISA<br />
Das 399 amostras de soro analisadas na população indígena estudada, 3<br />
(0,75%) foram reativas no método de triagem ELISA.<br />
4.1.7.2 WESTERN BLOT<br />
Para confirmar os resultados, foi realizado o teste Western blot, duas<br />
amostras foram negativas para HTLV I/II e uma (3,9% ) apresentou padrão<br />
indeterrminado, com a presença da banda GD21 (Figura 14).<br />
Figura 14. Resultado do Teste Western blot
37<br />
5 DISCUSSÃO<br />
Amostras de soros de oito etnias indígenas localizadas no sul do estado do<br />
Amazonas foram examinadas através de métodos sorológicos de triagem e<br />
confirmatório, com o objetivo de caracterizar a infecção pelo HTLV-I/II.<br />
Esta infecção é endêmica em várias partes do mundo, caracteriza-se por<br />
agrupamentos de indivíduos em áreas geográficas definidas, com uma variação<br />
espacial na taxa de soroprevalência. Endêmica no Japão, Caribe, África, América do<br />
Sul e ilhas da Melanésia (SOARES et al., 2001).<br />
Estima-se que 15 a 20 milhões de pessoas estão infectadas pelo HTLV-I no<br />
mundo. No Brasil, ele está presente em todos os estados onde foi pesquisado,<br />
apresentando prevalências variadas, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas<br />
infectadas pelo vírus HTLV-I, evidenciando o Brasil como o país com o maior<br />
número de casos ( PROIETTI et. al. 2002).<br />
O HTLV-I está associado a Síndromes lifoproliferativas, leucemia/linfoma de<br />
células T do adulto (ATL), a paraparesia espástica tropical/Mielopatia associada ao<br />
HTLV (TSP/HAM), doenças dermatológicas, uveítes associadas ao HTLV (HAU),<br />
entre outras patologias (MANNS et al., 1999; YAMAGUCHI, 1994; BARMAK et al.,<br />
2003). A infecção tem período de latência prolongado, até algumas décadas ou por<br />
toda a vida do indivíduo (BARMAK et al., 2003). A transfusão de sangue é uma das<br />
principais vias de transmissão (MACEDO et al., 2004).<br />
A infecção pelo HTLV-II que parece ser menos patogênica, é endêmica em<br />
diversas comunidades indígenas da Amazônia, e áreas urbanas, em Belém no<br />
estado do Pará (ISHAK et al., 1998), com evidências moleculares da transmissão do<br />
HTLV-IIc de mãe para filho na aldeia Kararao, na região amazônica brasileira.<br />
(ISHAK et. al. 2001).<br />
Fujiyoshi et al., (1999) estudando a distribuição característica dos portadores do<br />
HTLV-I e II entre grupos étnicos nativos da América do Sul, sugere a divisão em dois<br />
grupos étnicos principais: os agrupamentos de HTLV-I nas zonas montanhosas dos<br />
Andes e os focos de HTLV-II das planícies da América do Sul.<br />
Estudos relativos à prevalência do HTLV-I/II no estado do Amazonas são muito<br />
escassos na literatura. Grande parte dos trabalhos sobre a epidemiologia do HTLV-
38<br />
I/II consistem em estudos de soroprevalência em doadores de sangue, com ambas<br />
as cidades de Florianópolis e Manaus apresentando o menor índice de 0,08% e as<br />
cidades de Belém 1,61% e Salvador com prevalência de 1,35% a 1,80%, as cidades<br />
com maior taxa (PROIETTI et al., 2002).<br />
No presente estudo, das 399 amostras de soro analisadas na população<br />
indígena estudada, 3 (0,75%) foram reativas no método de triagem pelo ELISA para<br />
detecção de anticorpos contra o virus T – linfotrópico humano, tipos I e II. Para<br />
confirmar os resultados, foi realizado o teste Western blot, duas amostras foram<br />
negativas para HTLV-I/II e uma (0,25%) apresentou padrão indeterminado, com a<br />
presença da banda GD21.<br />
As duas amostras positivas através do teste de ELISA, consideradas<br />
posteriormente negativas pelo método confirmatório Western blot, foram baixas<br />
(0,5%), comparadas com o trabalho de Britto et al, (1998) que encontraram 2,25%<br />
de resultados falso positivos.<br />
A causa de resultados falso positivos elevados podem estar associados à<br />
malária em regiões consideradas endêmicas, segundo Levine et al., (1988) e aos<br />
procedimentos sucessivos de congelamento e descongelamento e armazenamento<br />
das amostras por períodos prolongados, levando à aderência inespecífica de<br />
imunoglobulinas à fase sólida, durante a realização do teste ELISA. Outra possível<br />
causa pode ser devido a reações cruzadas com os anticorpos contra os antígenos<br />
do sistema de histocompatibilidade (HLA), sendo que os lisados virais podem conter<br />
antígenos HLA da célula usada para propagar o vírus (BRITTO et al., 1998).<br />
O padrão indeterminado, com a presença da banda GD21, encontrada no<br />
presente trabalho, tem sido acompanhado de várias interpretações: os estudos de<br />
soroprevalência para o HTLV-I realizado por Lu et al., (2003), em 2.578,238<br />
doadores de sangue na cidade de Taiwan, demonstraram que 1793 (0,06%) das<br />
amostras foram positivas para o HTLV-I, 605 (0,023%) foram indeterminadas,<br />
apresentando a banda GD21 sozinha em 59,6% dos resultados indeterminados,<br />
sugere o autor que a maioria das reações inespecíficas do ELISA foram<br />
provavelmente precipitadas pela glicopreteina GD21 do envelope viral.<br />
Segundo Manns et al., (1991) a distribuição do HTLV em populações indígenas<br />
da América do Sul demonstra que a presença da banda GD21 pode tratar-se de<br />
uma soroconversão precoce, sendo necessário futuras investigações laboratoriais.
39<br />
A presença de reatividade para a proteína do envelope viral GD21 sozinha,<br />
pode ser indício de fase precoce de produção de anticorpos durante a<br />
soroconversão (LAL RB, 1996). No entanto resultados indeterminados podem<br />
representar soropositividade inespecífica (BRITTO et al., 1998).<br />
A nula ou baixa prevalência nas etnias estudadas no presente trabalho poderá<br />
ser imputado em decorrência de muitas das comunidades estudadas serem<br />
consideradas fechadas ou de contato esporádico com a civilização, hipótese esta<br />
também compartilhada por Maloney et al., (1992) e Ishak et al., (1995).<br />
Considerando-se que a população pesquisada neste estudo apresentou faixa<br />
etária com média de 19,8 anos de idade, é possível que alguns indivíduos não foram<br />
identificados como soropositivos para o HTLV-I/II, em decorrência da amostra<br />
apresentar uma faixa etária baixa haja vista que a soropositividade do vírus HTLV-<br />
I/II se eleva com a idade, aumentando a partir da fase da adolescência e início da<br />
fase adulta. Nas mulheres a prevalência é mais acentuada e continua a<strong>pós</strong> os 40<br />
anos de idade, nos homens é considerada menor e atinge um platô a<strong>pós</strong> os 40 anos<br />
de idade. A hipótese mais provável para explicar esse fato seria de que a<br />
transmissão sexual do vírus HTLV-I/II seja mais efetiva do homem para a mulher e<br />
também o fato de que as transfusões sangüíneas ocorrem com maior freqüência em<br />
indivíduos do sexo femenino (PROIETTI et al., 2002). Esta hipótese se contrapõe<br />
aos nossos achados e reforça a soroprevalência nula, ao ser identificado a taxa de<br />
0,0% na etnia Zuhu-A´há cuja média de idade foi de 58,2 anos.<br />
Através do presente estudo nota-se diferenças substanciaIs quanto a<br />
prevalência do HTLV I/II em comunidades indígenas do sul do estado do Amazonas<br />
com aqueles descritos no estado do Pará por Ishak et al., ( 2003).<br />
Maloney et al., (1992) estudando a distribuição da soroprevalencia entre 13<br />
tribos da America Central e do Sul (Brasil, Venezuela, Costa Rica e Guiana)<br />
semelhantemente como no nosso estudo, encontrou prevalência nula em 10/13 das<br />
etnias estudadas em índios sul americanos no período entre 1966 a 1984. Incluindo<br />
a etnia Kanamari 0/34, também pesquisada em nosso estudo demonstrando<br />
prevalência igualmente nula 0/55.<br />
Em estudo retrospectivo realizado no Estado do Pará, Nakauchi et al., (1990),<br />
analisaram 137 amostras de soros de índios das comunidades Tiriyo e Mekranoite,<br />
sendo positivas pelo método ELISA 39% e 20% respectivamente, um caso foi<br />
positivo para HTLV-I, confirmado através da técnica de western blot.
40<br />
Em estudo semelhante ao nosso realizado por Gabbai, et al., (1993), em 591<br />
amostras de soro coletadas nos anos de 1985 e 1988 e conservadas a –20oC, de<br />
indígenas de quatro etnias da região amazônica, foi encontrada soroprevalência na<br />
taxa de 0,0% para o HTLV-I, 28 amostras foram positivas para o HTLV-II (4,7%) e<br />
cinco para o HTLVI/II (0,8%).<br />
O vírus linfotrópico de células T, tipo I /II, apresenta soroprevalência distinta em<br />
relação às regiões descritas em alguns trabalhos que envolvem o estado do Pará,<br />
apresentando maior prevalência nessa região para o HTLV-II (ISHAK et al., 1995;<br />
MALONEY et al., 1992; VALLINOTO et al., 2002).<br />
É provável que o vírus linfotrópico de células T humanas tenha vindo para o<br />
Brasil via tráfico de escravos africanos, via imigração japonesa no início do século ou<br />
combinação das vias anteriores. Estudos da variação genômica de cepas do HTLV<br />
certamente contribuirão para esclarecer essas hipóteses (SCHULZ et al., 1991).<br />
A infecção pelo HTLV-II é considerada endêmica em outras populações<br />
indígenas da América do norte, central e do sul, em pesquisa realizada por Fujiyoshi<br />
et al, 1999, foi encontrada as seguintes prevalências para o HTLV-I, em indígenas<br />
de várias etnias e paises: Aymara (Peru) 1,6%, Aymara (Bolívia) 5,3%, Quechua<br />
(Bolívia) 4,5%, Puna (Argentina) 2,3% e Atacama 4,1%. Resultados encontrados<br />
para o HTLV-II: Kayapó (Brasil) 57,9%, Chaco (Paraguay) 16,4%, Alacaf (Paraguay)<br />
34,8% e Yahgan (Chile). Na Colômbia 29-92 (31,5%) em índios Guahibo. Na<br />
Venezuela índios Yaruro e Guahibo 61% HTLV-IIb. Na Argentina, 0,45% a 2,78%<br />
HTLV-I e 2,78% a 21,9% HTLV-II em populações indígenas (Gastaldello et al.,<br />
2004).<br />
A freqüência nula ou muito baixa do HTLV I/II, o que é desejável, em<br />
populações indígenas do sul do estado do Amazonas deve despertar nas<br />
autoridades relacionadas com saúde publica a preocupação de envidar esforços no<br />
sentido de evitar a disseminação deste agente infeccioso para as comunidades<br />
indígenas.<br />
O processo de colonização levou à extinção de muitas sociedades indígenas<br />
que viviam no Amazonas, território dominado, seja pela ação das armas seja pelo<br />
contágio de doenças trazidas dos países europeus para as quais os índios não<br />
tinham anticorpos ou uma imunidade natural, tal como ocorreu com a tuberculose<br />
com os índios do Rio Negro, mas recentemente o vírus da gripe com a população<br />
indígena dos Zuhu-A´há aqui estudada ou ainda, pela aplicação de políticas visando
41<br />
a assimilação pelos índios à nova sociedade implantada, com forte influencia<br />
européia. Embora não se saiba exatamente quantas sociedades indígenas<br />
existissem no Brasil à época da chegada dos europeus, há estimativas sobre o<br />
número de habitantes nativos naquele tempo que variam de 1 a 10 milhões de<br />
indivíduos, para uma população atual de 345.000 índios ().<br />
Estes números nos dão uma idéia da imensa quantidade de pessoas e sociedades<br />
indígenas inteiras exterminadas ao longo destes mais de 500 anos, como resultado<br />
de um processo de colonização baseado no uso da força, por meio das guerras e da<br />
política de assimilação, e da transmissão de doenças infecto-contagiosas. Urge<br />
portanto, a tomada de medidas profiláticas, da educação sanitária para que estas<br />
populações não atinjam a prevalência alarmante de 57% de infectados como<br />
aquelas prevalentes nos índios Kaya<strong>pós</strong> pelo HTLV-II (ISHAK et al., 2003).<br />
Em conclusão, os nossos dados sugerem que a freqüência da infecção pelo<br />
HTLV-I/II em populações indígenas do sul do estado do Amazonas é nula ou muito<br />
baixa, e inferior a observada em populações indígenas do estado do Pará e do<br />
restante do território brasileiro.
42<br />
CONCLUSÃO<br />
1. A soroprevalência da infecção pelo HTLVIII em populações indígenas do sul<br />
do estado do Amazonas é nula ou muito baixa.<br />
2. O presente estudo fornece evidências de que o HTLV- I foi introduzido<br />
recentemente na Amazônia, por apresentarem inclusive as etnias fechadas, 0% de<br />
prevalência, na época da coleta.<br />
3. Deve-se estabelecer uma política em termos de saúde pública para que haja<br />
manutenção da baixa prevalência do vírus no estado do Amazonas através de<br />
medidas profiláticas e educação sanitária.
43<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BARMAK, K; HARHAJ, E.; GRANT, C., et al. Human T cell leukemia virus type I –<br />
induced disease: pathways to cancer and neurodegeneration. Virology, 308:1-12,<br />
2003.<br />
BARTHOLOMEW, C.; CLEGHORN, F.; BLATTNER, W.A. The clinical spectrum of<br />
HTLV-I infection in Trinidad and Tobago. In:BLATTNER, W.A.(ed). Human<br />
Retrovirology: HTLV. New York, Raven Press, p.237-44, 1990.<br />
BITTENCOURT, A. J. Transmissão vertical do virus linfotrópico para a célula T<br />
humana tipos I e II (HTLV- I/II). J Bras Ginecol, 108:187-4, 1998.<br />
BITTENCOURT, A.; OLIVEIRA, M. F. Dermatite infecciosa associada ao HTLV-I. An<br />
Bras Dermatol, 76(6):723-732, nov-dez, 2001.<br />
BLATTNER, WA.; KALYANARAMAN, V.S.; ROBERT-GUROFF, M.; LISTER, T. A.,<br />
et al. The human type C retrovirus, HTLV, in blacks from the Caribbean region, and<br />
relationship to adult T-cell leukemia/lymphoma. Int J Cancer, 30:257-264, 1982.<br />
BRITTO, A.P.C.R.; GALVÂO-CASTRO, B.; STRAATMANN, A., et al. Infecção pelo<br />
HTLV-I/II no Estado da Bahia. Rev Soc Bras Med Trop, 31(1):35-41, Jan-fev, 1998.<br />
CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION AND THE USPAS<br />
WORKING GROUP. Guidelines for couseling persons infected with human T-<br />
Lymphotropic virus type I (HTLV I) and type II (HTLV II) enzyme immunoassay kits<br />
for detection of antibody to HTLV I and II. Ann Inte,118: 448-454, 1993.<br />
DELAPORTE, E.; DUPONT, A.; PEETERS, M., et al. Epidemiology of HTLV-I in<br />
Gabon (WESTERN EQUATORIAL Africa). Int J Cancer, 42:687-689, 1988.<br />
DUENAS-BARAJAS, E; BERNAL, J; VAUGHT, D. Coexistance of human T-<br />
lymphotropic virus type I and II among the Wayuu Indians from the Guajira region of<br />
Colombia. AIDS Res Hum Retroviruses, 8:1851-1855, 1992.<br />
ELLERMANN, V; BANG, O. Experimentalle leukemic bei huhnern.Centralbe<br />
J.Bakt.abtI. v. 46, p. 595-609, 1908. apud In: BLATTNER, W. A. ed. Human<br />
Retrovirology:HTLV, New York, Raven Press, 1990.
FERREIRA, L.C.L.; ORLANDO JR, N.; BRAGA, W.S.M. et al., Soroprevalência do<br />
Helycobacter pylori em populações indígenas do estado do Amazonas. 37<br />
Congresso Bras. De Medicina Tropical, Foz do Iguaçu. Rev Soc Bras Med Trop,<br />
2002.<br />
44<br />
FUJIYAMA, C.; FUGIYOSHI, T.; MIURA, T., et al. A new endemic focus of human T-<br />
lymphotropic virus type II carriers among Orinoco natives in Colombia. Jounal of<br />
Infectious Diseases, 169:1075-1077, 1993.<br />
FUJIYOSHI, T.; Li, H.C.; Lou, H., et al. Characteristic distribution of HTLV type I and<br />
HTLV type II carriers among native ethnic groups in South America. AIDS Res. Hum<br />
Retroviruses, 15(14):1235-1239, 1999.<br />
GABBAI, A.A.; BORDIN, J.O.; VIEIRA-FILHO, J.B.P., et al. Selectivity of human T-<br />
lymphotropic virus type-1 (HTLV-1) and HTLV-2 infection amog different populations<br />
in Brazil. American Journal of Tropical Medical Hygiene, 49(6):664-671, 1993.<br />
GALLO, RC; YANG, SS; TING, R.C. RNA dependent DNA polymerase of human<br />
acute leukaemic cells. Nature, 228:927-929, 1970.<br />
GASTALDELLO, R.; HALL, W.W.; GALLEGO, S. Soroepidemiology of HTLV- I/II in<br />
Argentina: an overview. J Acquir Immune Defic Syndr, 35(3):301-308, mar, 2004.<br />
GESSAIN, A.; BARIN, F.; VERNANT, J. C. et al. Antibodies to human T-<br />
lymphotropic virus type I in patients with tropical spastic paraparesis. Lancet, 2:407-<br />
410, 1985.<br />
GOTUZZO, E; YAMAMOTO, V; KANNA, M. Evaluation of HTLV-I infection<br />
in healthy Nikkey population of Lima, Peru. Apresentado à VII Conferência<br />
Internacional de Retrovirologia Humana: HTLV. 17-21 outubro, Paris, França,<br />
1994.<br />
HIRATA, M.; HAYASHI, J.; NOGUCHI, A., et al. The effects of breastfeeding and<br />
presence of antibody to p40tax protein of human T cell lymphotropic virus type I on<br />
mother to child transmisión. In J Epidemiol, 21:989-994, 1992.<br />
ISHAK, R.; HARRINGTON Jr., W. J.; AZEVEDO, V. N., et al. Identification of human<br />
T cell lymphotropic virus Type IIa infection in the Kayapo, an indigenous population<br />
of Brazil. AIDS Res Hum Retroviruses, v. 11(7): 813-821, julho, 1995.
ISHAK R.; ISHAK, M. O. G.; AZEVEDO, V. N., et al. Deteccion of HTLV-IIa in blood<br />
donors in an urban area of the Amazon Region of Brazil (Belém, PA). Rev Soc Bras<br />
Med Trop, v. 31(2):193-197, mar-abr, 1998.<br />
45<br />
ISHAK, R.; VALLINOTO, A.C.R.; AZEVEDO, V. N., et al. Molecular evidence of<br />
mother-to-child transmission of HTLV-IIc in the Kararaô Village (Kayapo) in the<br />
Amazon region of Brazil. Revista Sociedade Brasileira de Medicina Tropical,<br />
34(6):519-525, nov-dez, 2001.<br />
ISHAK, R.; VALLINOTO, A.C.R.; AZEVEDO, V. N., et al. Epidemiological aspects of<br />
retrovirus (HTLV) infection among indian populations in the Amazon Region of<br />
Brazil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(4):901-914, jul-ago, 2003.<br />
JARRET, W; CRAWFORD, E; MARTIN, W. Leukemia in the cats. A virus like particle<br />
associated with leukemia. Nature, 202:567-568, 1964.<br />
KALAYNARAMAN, VS.; SARNGADHARAN, M. G.; ROBERT-GUROFE, M., et al. A<br />
new type of human T-cell leukemia virus (HTLV II) associated with a T-cell variant of<br />
hairy leukemia. Science, 218:571-573, 1982.<br />
LAL, R.B. Delineation of immunodominant epitopes of human T-lymphotropic virus<br />
types I and II and their usefulness in developing serologic assays for detection of<br />
antibodies to HTLV-I and HTLV-II. J AIDS Hum Retrovirol, 13(suppl I):S170-S178,<br />
1996.<br />
LA GRENADE, L.; SCHWARTZ, R. A.; JANNIGER, C.K. Childhood dermatitis in the<br />
tropics: with special emphasis on infective dermatitis, a marker for infection with<br />
human T cell leukemia virus-I. Ped Dermatol, 58:115-118, 1996.<br />
LEON-PONTE, M.; ECHEVERRIA, P.G.; BIANCO, N., et al. Endemic infection with<br />
HTLV-IIb in Venezuelan Indians: molecular characterization. Jounal of Acquired<br />
Immune Deficiency Syndromes and Human Retrovirology, 17:458-464, 1998.<br />
LEVINE, P.H.; BLATTNER, W.A.; CLARK, J., et al. Geographic distribution of HTLV-<br />
I and identification of a new high risk population. International Journal of Cancer,<br />
42:7-12,1988.<br />
LEVINE, P. H.; CLEGHOM, F.; MANNS, A., et al. Adult T-cell leukemia/lymphoma: a<br />
working point-score classification of adult T-cell leukemia/lynphoma for<br />
epidemiological studies. International Journal Cancer. 59:491-493, 1994.
LU, S.C.; CHEN, B.H. Seroindeterminate HTLV-1 prevalence and characteristics<br />
blood donors in Taiwan. Int J Hematol, may, 77(4):412-3, 2003.<br />
46<br />
MACÊDO, O.; RIBEIRO-LIMA, V.T.; LINHARES, O.A., et al. Human T-cell<br />
lymphotropic vírus types I and II infections in a cohort of patients with neurological<br />
disorders in Belém, Pará, Brazil. Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo, 46(1):13-17,<br />
January-February, 2004.<br />
MANNS A; MURPHY E. L.; WILKS R., et al., Detection of early human T-cell<br />
lynphotropic virus type I antibody paterns during seroconversion among transfusion<br />
recipients. Blood, 77(4):896-905, 1991.<br />
MANNS A., HISADA M., LA GRENADE L. Human T-lymphotropic virus type I<br />
infection. The Lancet, 353(5), june,1999.<br />
MALONEY, E.M.; BIGGAR R. J.; NEEL, J. V., et al. Endemic human T cell<br />
lymphotropic virus type II infection among isolated Brazilian Amerindians. The<br />
Journal of Infectious Diseases, 166:100-107, 1992.<br />
MORGAN, D.A.; RUSCETTI, F.W.; GALLO, R.C. Selective in vitro growth of T<br />
lymphocytes from normal human bone marrows. Science, 193:1006-1007, 1976.<br />
MOCHIZUKI, M.; WATANABE, T.; YAMAGUCHI, K., et al. Uveítes associated with<br />
human T-lynphotropic virus type I. Am J Ophthalmol, 114:123-129, 1992.<br />
MURPHY EL. et al. Sexual transmission of human T linphotropic virus type I (HTLV<br />
I). Ann Intern Med, 111:555-560, 1989.<br />
NAKAUCHI, C. M.; LINHARES, A. C.; MARUYAMA, K., et al. Prevalence of human<br />
T cell leukemia virus-I (HTLV-I) antibody among populations living in the amazon<br />
region of Brazil (preliminary report). Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro,<br />
85(1):29-33, jan-mar, 1990.<br />
NIKANO S. et al. Search for possible routes of vertical and horizontal transmission<br />
of adult T cell leukemia virus. Gann, 75:44-1045, 1984.<br />
POIESZ, BJ. et al. Detection and isolation of type C retrovirus particles from fresh<br />
and cultured lymphocytes of a pacient with cutaneous T-cell lymphoma. Proc Natl<br />
Acad Sci (USA), 77:7415-7419, 1980.
PINHEIRO, S.R.A.A.; ORÉFICE, F.Manifestações oculares no paciente infectado<br />
pelo HTLV. In: PROIETTI, A.B.F.C. (ed.) HTLV- I/II. Belo Horizonte, Fundação<br />
Hemominas, 45-9, 1996.<br />
47<br />
PROIETTI A.B.F.C. HTLV I/II, Caderno Hemominas, volume XI, Belo Horizonte-<br />
MG, 2000.<br />
PROIETTI, A.B.F.C.; RIBAS, J.G.R.; CATALAN-SOARES, B.C., et al. Infecção e<br />
doença pelos virus linfotrópicos humanos de células T (HTLV I/II) no Brasil. Rev<br />
Soc Bras Med Trop, 35(5): 499-508, set-out, 2002.<br />
ROUS, P. Transmission of a malignant new growh sarcoma by means of a cell free<br />
filtrate. JAMA, 56,:198, 1911.<br />
SCHULZ, T.F.; CALABRÒ, M.L.; HOAD, J.G., et al. HTLV-1 Envelope sequences<br />
from Brazil, the Caribbean, and Romania: Clustering of sequences according to<br />
geographic origin and variability in an antibody epitope. Virology, 184:483-491,<br />
1991.<br />
SEGURADO, A.A.C. HTLV-I:Aspectos virológicos e caracterização de subtipos<br />
virais. In: VERONESI,E.; FOCCACIA,R. (Eds.). Retroviroses humanas – Doenças<br />
associadas ao HTLV, São Paulo: Atheneu, 2000, p. 3-9.<br />
SEGURADO, A.A.C. Infecção por HTLV I e II. In: FERREIRA A.W. Diagnóstico<br />
Laboratorial, São Paulo: Guanabara Koogan, 2001. 2.ed.<br />
SOARES, B.C.C.; PROIETTI, F. A.; PROIETTI, A.B.F.C. Os vírus linfotrópicos de<br />
células T humanos (HTLV) na última década (1990-2000) aspectos<br />
epidemiológicos. Ver Bras Epidemiol, 4(2), 2001.<br />
TAKAHASHI, K.; TAKEZAKI, T.; OKI, T., et al. The mother-to-child Transmission<br />
Study Group, Osame M, Miyata K, Nagata Y, Sonoda S. Inhibitory Effect of Moternal<br />
antibody on Mother-to-child Transmisssion Virus type I. Int J cancer, 49:673-677,<br />
1991.<br />
TAKATSUKI K, UCHIYAMA, T; SAGAWA, K. et al. Adult T-cell leukemia in Japan. In:<br />
Seno S, Takaku F, Irino S (eds.) Topics in Hematology. Amsterdam: Excepta<br />
Medica, 73-7, 1977.<br />
TAKATSUKI, K.; YAMAGUCHI, K.; KAWANO, F. Clinical diversity in adult T-cell<br />
leukemia-lumpphoma. Cancer Res, 45:4.644-5, 1985.
TAKAYANAGUI, O. M. Envolvimento neurológico na infecção por HTLV-I. in:<br />
PROIETTI, A. B. F. C.(ed.) HTLV- I/II. Belo Horizonte, Fundação Hemominas, 34-35,<br />
1996.<br />
48<br />
TANGY, F. Molecular biology of HTLV-I. In: ZANINOVIC, V (Ed). HTLV – Truths and<br />
questions. Calli: Colciencias/Fundación, p. 1-13, mar, 1996.<br />
TEMIN, H.M.; MIZUTANI, S. RNA-dependent DNA polymerase in virions of Rous<br />
sarcoma cells. Nature, 226:1211-1213, 1970.<br />
VERONESI, R; YAMASHITA, M; MIURA, T. Seroepidemiological studies on HTLV–I<br />
in Brazil. Genetic sequence of segment LTR from Brazilian strins isolated from three<br />
diferent ethnical groups. Jacquir Imm Def Syn and Human Retrov,10(2):282, 1995.<br />
VALLINOTO, A. C. R.; ISHAK, M. O. G.; AZEVEDO, V. N., et al. Molecular<br />
epidemiology of Human T-lymphotropic virus type II infection in Amerindian and<br />
urban populations of the Amazon region of Brazil. Human Biology, 74:633-644,<br />
2002.<br />
VRIELINK, H. Comparison of Four HTLV-I and HTLV-I + II ELISAS, Vox Sang, v. 76,<br />
p. 187-191, 1999.<br />
WAGNER, M.; ROSE, V. A.; LINDER, R., et al. Human pathogenic virus-associated<br />
pseudolynphomas and lymphomas with primary cutaneous manifestations in humans<br />
and animals. Clinical Infectious Diseases, 27:1299-1308, 1998.<br />
WATTEL, E. et al. Clonal expansion of human T-cell leukemia virus type I-infected<br />
cells in asymptomatic and symtomatic carriers without malignancy. J Virol, v. 69, p.<br />
2863-2868, 1985.<br />
YAMAGUCHI, K. Human T-lymphotropic virus type I in Japan. The Lancet,<br />
343(22):213-216, jan, 1994.<br />
YAMAGUCHI, K.; KLOKAWA, T.; FUTAMI, G. et al. Patogénesis of adult T-cell<br />
leukemia from clinical pathologic features. Human retrovirology: HTLV, Blattner W<br />
(ed). Raven Press, New York, 163-71, 1990.<br />
YAMAMOTO, JH. et al. HTLV-I infection and ocular manifestations in São Paulo,<br />
Brazil. Arch Ophthalmol,1998.
YANAGIHARA R, JENKINS CL, ALEXANDER SS, MORA CA, GARRUTO RM.<br />
Human T lymphotropic vírus type I infection in Papua New Guinea: high prevalence<br />
among the Hagahai confirmed by western analysis. J Infect Dis 162: 649-54, 1990.<br />
ZUCKER-FRANKLIN, D.; KOSANN, M.K.; PANCAKE, B.A. et al., Hipopigment<br />
Mycosis Fungoides associated with human T cell Lynphotropic virus type I in a<br />
pediatric patiente. Pediatrics, 103(5):1039-1045, 1999.<br />
49
OBRAS CONSULTADAS<br />
50<br />
ARAÚJO, A QC. et al. HTLV-I infection and neurological disease in Rio d Janeiro. J<br />
Neurol Neurosurg Psychiatry, v. 55, p. 153-155, 1992.<br />
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº1.376, de 19 de novembro de 1993.<br />
Aprova alterações na portaria nº 721/GH, de 09 de agosto de 1989, que aprova<br />
normas técnicas para coleta, procedimento e transfusão de sangue, componentes e<br />
derivados. Diário Oficial de União. Brasília, n. 229, 2 de dezembro, Seção 1, 1993.<br />
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria<br />
Colegiada – RDC nº 343 de 13 de dezembro de 2002. Entra em vigor a partir da<br />
data de publicação, ficando revogada a Portaria Conjunta nº 1.376 SMS/MS de 13<br />
de novembro de 1993. Diário Oficial de União. Brasília, n. 245, p. 133-143, 19 de<br />
dezembro, Seção 1, 2002<br />
CABRE, P. et al. HTLV-I and HIV infections of central nervous system in tropical<br />
áreas. J Neurol Neurosurg Psychiatry, v. 68, p. 550-557, 2000.<br />
FRANCHINI G. Molecular mechanisms of human T-cell leukemia/lymphotropic virus<br />
type I infection. Blood 86:3619-3639, 1995.<br />
FERREIRA Jr OC, PLANELLES V, ROSENBLATT JD. Human T cell leukemia<br />
viruses: epidemiology, biology and pathogenesis. Blood Reviews 11:91-104, 1997.<br />
HALL W, ISHAK R, ZHU S et al. Human T lymphotropic virus, type II (HTLV-II):<br />
Epidemiology, molecular properties, and clinical features of infection. J Acquir<br />
Immune Defic Syndr Hum Retroviral, 13:S204-S214, 1996.<br />
HENEINE W. The phylogeny and molecular epidemiology of human T-cell<br />
lymphotropic virus type II. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol, 13:S236-<br />
S240, 1996.<br />
KAJIYAMA W. et al. Intrafamilial transmisson of adult T-cell leukemia virus. J Infect<br />
Dis, v. 154, p. 851-857, 1986.<br />
LEVINE, P.H., et al. HTLV-II infection in Florida Indians. AIDS Research and<br />
Human Retroviruses, 9:123-127, 1993.<br />
MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria De Vigilância Em Saúde. Guia Manejo<br />
Clínico do Paciente com HTLV. Brasília-DF, 2004. Série 58. 53 p.
51<br />
MURPHY, EL; BLATTNER, WA. HTLV-I associated leukemia: a model for chronic<br />
retroviral diseases. Ann Neurol, v. 23, n.S 174-S180, 1987.<br />
RICHARD FE; ARNETTE JA; WILLIAMS FM. Global Epidemic of Human T-cell<br />
Lynphotropic Virus Type-I (HTLV-I) The Jornal of Emergency Medice, v. 8, n. 1, p.<br />
109-119, 2000.<br />
SEIKI, M. et al. General splicing mechanism in the HTLV family. Science, v. 228, p.<br />
1532, 1985.<br />
SHIBATA K. et al. Ocular manifestations in adult T-cell leukemia/lymphoma. Annals<br />
of Hematology, 74:163-8, 1997<br />
VERONESI, R.; FOCACCIA, R. (Eds.) Retroviroses humanas-Doenças<br />
associadas ao HTLV. São Paulo: Atheneu, 2000.<br />
WATANABE, S; SEIKI, M; YOSHIDA, M. Retrovirus terminology. Science, v. 222, p.<br />
1178, 1983.
ANEXOS<br />
ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO<br />
AUTORIZAÇÃO<br />
Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo, no qual será determinada a<br />
soroprevalência da infecção pelo HTLV-1, em comunidades indígenas, utilizando-se<br />
amostras de soros, estocadas na Gerência de Virologia, da Fundação de Medicina<br />
Tropical FMT-IMT-AM. Amostras estas, coletadas anteriormente a vigência da<br />
Resolução CNS 196-96, de 10 de outubro de 1996, portanto de acordo com o<br />
exposto, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido não se aplica.<br />
RISCOS ASSOCIADOS AO ESTUDO<br />
Não haverá risco, haja vista tratar-se de material já coletado.<br />
BENEFÍCIOS<br />
De posse dos resultados, medidas preventivas futuras poderão ser adotadas<br />
para os grupos de procedência das amostras.<br />
CONFIDÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS<br />
Os registros ou resultados dos testes relacionados ao estudo são exclusivos<br />
dos representantes da FMT-IMT-AM, assegurando a confidencialidade do sujeito da<br />
pesquisa, sendo garantido em conformidade com as normas e leis legais<br />
regulatórias de proteção nacionais ou internacionais.
ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA<br />
EM POPULAÇÕES INDÍGENAS<br />
I- IDENTIFICAÇÃO<br />
Número de identificação<br />
1-Nome<br />
2-Sexo [ ] masculino [ ] feminino<br />
3-Idade<br />
Anos<br />
4-Etnia<br />
5- Tem parceiro ? [ ]sim [ ] não<br />
7-Tempo que vive neste local<br />
8-Razões para mudança<br />
III- OBSERVAÇÕES<br />
Data da entrevista
ANEXO C- Fotografia Etnia Kulina<br />
Figura 16. Etnia Kulina
ANEXO D- Fluxograma do Diagnóstico Laboratorial