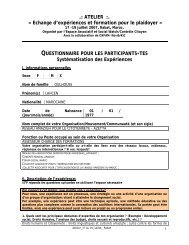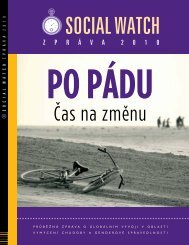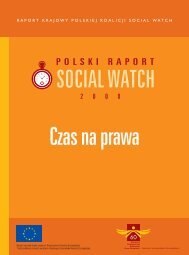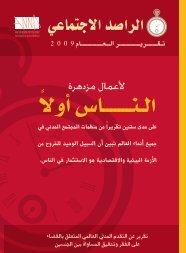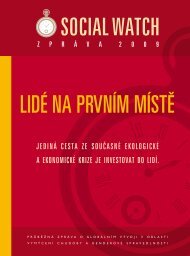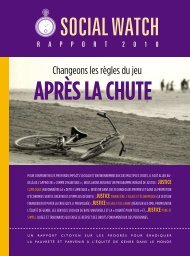Para além da justiça distributiva - Social Watch
Para além da justiça distributiva - Social Watch
Para além da justiça distributiva - Social Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Para</strong> <strong>além</strong> <strong>da</strong> <strong>justiça</strong> <strong>distributiva</strong>A pobreza e a desigual<strong>da</strong>de social são estruturais na nossa economia, seja qual for a maneira como se manifestam emtermos <strong>da</strong> questão social ao longo <strong>da</strong> história brasileira. Apesar dos avanços nos últimos anos, persiste um vazio no debatesobre o que seja desenvolvimento sustentado com inclusão social. O desafio atual tem sido o de articular políticas sociais eeconômicas, de forma que estas últimas também sejam dita<strong>da</strong>s pelos parâmetros dos direitos sociais. No centro dos problemasenfrentados pelos programas recentes de transferência de ren<strong>da</strong> com co-responsabili<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s pessoas beneficiárias, está aautonomia de ci<strong>da</strong>dãos e ci<strong>da</strong>dãs em situação de extrema pobreza ante a presença normatizadora do Estado.Amélia Cohn *É consenso entre pesquisadores e pesquisadoras<strong>da</strong> área social que, independentemente <strong>da</strong>sformas como aparece na socie<strong>da</strong>de, a pobrezano Brasil segue uma trajetória particular comoproblema social a ser enfrentado pelo Estado.Conhecer seus traços essenciais é importantepara que se enten<strong>da</strong>m as complexas questõesenfrenta<strong>da</strong>s pela socie<strong>da</strong>de brasileira nos últimosanos, para tentar <strong>da</strong>r conta <strong>da</strong> “nova” e <strong>da</strong>“velha pobreza”. O primeiro problema é o <strong>da</strong>associação entre políticas de combate à pobrezae políticas de promoção <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia. O temalevanta a relação entre a lógica <strong>da</strong> igual<strong>da</strong>de ea <strong>da</strong> emancipação, ou seja, de um lado as políticasde combate à pobreza que buscam diminuira desigual<strong>da</strong>de social no país e de outroas políticas sociais para a construção <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia.Isso significa que tais políticas precisamenfrentar nossa dupla tradição: um traço assistencialista(que nega os direitos sociais) e, aomesmo tempo, um traço clientelista e controlador<strong>da</strong>s pessoas pobres.Desde Getulio Vargas, em 1930, a pobrezatornou-se um tema de políticas específicas doEstado na regulação <strong>da</strong>s relações entre capital etrabalho, formula<strong>da</strong>s a partir <strong>da</strong> ótica <strong>da</strong> construçãode um Estado nacional e de um projeto deindustrialização. Desse período <strong>da</strong>ta a fun<strong>da</strong>çãodo nosso sistema de proteção social, estreitamentearticulado com a legislação trabalhista esindical, formando-se o famoso tripé (Estadonacional, industrialização e leis trabalhistas)que permitiu, no processo de modernização dopaís, incorporar determinados interesses <strong>da</strong>sclasses assalaria<strong>da</strong>s – as pessoas pobres de* Docente do Departamento de Medicina Preventiva <strong>da</strong>Facul<strong>da</strong>de de Medicina <strong>da</strong> Universi<strong>da</strong>de de São Paulo(FMUSP), pesquisadora do Centro de Estudos deCultura Contemporânea (Cedec), professoracolaboradora do Mestrado em Saúde Coletiva <strong>da</strong>Universi<strong>da</strong>de Católica de Santos (Unisantos).então, reconheci<strong>da</strong>s como tais – de modo subalternoaos interesses do capital e filtrados a partirde um projeto nacional.As déca<strong>da</strong>s sucessivas de crescimento e desenvolvimentoeconômico via substituição de importaçõesvieram acompanha<strong>da</strong>s de políticas queinstituíram no país a “ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia regula<strong>da</strong>” (ver Santos,1971), isto é, um padrão de extensão de direitossociais vinculado à condição de assalariados(as),configurando-se, em conseqüência, como privilégiosde determinados segmentos dessa classede trabalhadores e trabalhadoras, que têm acesso aesses direitos por meio de um sistema contributivocompulsório, cujo pré-requisito é a inserçãono mercado de trabalho.No decorrer <strong>da</strong>s déca<strong>da</strong>s do período desenvolvimentista,que se esgotou no início <strong>da</strong> déca<strong>da</strong>de 1980, a questão social não foi identifica<strong>da</strong>como relativa à pobreza, uma vez que era inerente àprópria concepção <strong>da</strong>quele modelo a interpretaçãode que o desenvolvimento social se <strong>da</strong>ria automaticamentecom o desenvolvimento econômico,pela incorporação à economia <strong>da</strong>s pessoas excluí<strong>da</strong>sdo mercado formal de trabalho. Nesse período,o crescimento econômico vinha acompanhado <strong>da</strong>promessa <strong>da</strong> mobili<strong>da</strong>de social dos indivíduos,constituindo a política econômica um antídoto àmarginali<strong>da</strong>de social.A carteira de trabalho significava o passaportepara o acesso ao sistema de proteção social brasileiro,cabendo à filantropia ou a serviços residuaisdo Estado a cobertura de direitos mínimosa quem era extremamente pobre. A pobreza nãose configurava como um fenômeno estrutural <strong>da</strong>nossa socie<strong>da</strong>de, e o papel estabelecido para aspolíticas sociais consistia em criar condições aodesenvolvimento <strong>da</strong> economia. Daí, por exemplo,a priori<strong>da</strong>de atribuí<strong>da</strong> à educação e à saúde, naperspectiva de gerar um contingente de pessoasqualifica<strong>da</strong>s para o mercado de trabalho para desempenharfunções no novo padrão tecnológicode produção que estava sendo montado, em particular,no parque industrial brasileiro.Um estudo recente, feito por Guilherme CostaDelgado (2004), sobre a gênese e a reprodução<strong>da</strong> economia de subsistência no Brasil 1 mostracomo, em apenas meio século (1930–1980) decrescimento industrial do país, ocorreu um processode urbanização do conjunto <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>debrasileira, absorvendo nas metrópoles e nas ci<strong>da</strong>desde médio porte um imenso contingente demográficodo chamado setor de subsistência rural.Delgado chama a atenção, no entanto, para o fatode que essa transposição demográfica <strong>da</strong> populaçãoagrícola para o meio urbano não se traduziutão-somente num crescimento <strong>da</strong> massa assalaria<strong>da</strong>do setor urbano, mas também num enormecontingente de trabalhadores e trabalhadoras semvínculo com a economia formal.A análise reforça o que outros estudos igualmenterecentes sobre a pobreza no Brasil vêmdemonstrando: tanto ela quanto a desigual<strong>da</strong>desocial, independentemente de como se manifestamem termos <strong>da</strong> questão social ao longo <strong>da</strong> nossa história,são estruturais na nossa economia (Rocha,2003; Pochmann e Amorim, 2003), delas fazendoparte a informali<strong>da</strong>de, a economia de subsistência,o desemprego e inúmeras formas de estratégiasde sobrevivência. Não é de se espantar, portanto,que durante a déca<strong>da</strong> de 1970, já estandocompleto aquele ciclo de crescimento industrialde meio século calcado no modelo desenvolvimentista,verifica-se uma extensão de determinadosdireitos previdenciários desvinculados domercado formal de trabalho, até mesmo <strong>da</strong> contribuiçãocompulsória, como no caso dos trabalhadorese <strong>da</strong>s trabalhadoras rurais.Espaço recente na agen<strong>da</strong> públicaNo início <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1990, surgiu uma expressãomais contundente <strong>da</strong> pobreza: as pessoas pobrespassaram a ser denomina<strong>da</strong>s “descamisa<strong>da</strong>s”1 Segundo o autor, caracteriza-se por um “conjunto deativi<strong>da</strong>des econômicas e relações de trabalho quepropiciam meios de subsistência e/ou ocupação para umaparte expressiva <strong>da</strong> população, mas tais relações não sãoregula<strong>da</strong>s pelo contrato monetário de trabalho assalariado,nem visam primordialmente à produção de mercadorias oude serviços mercantis com fins lucrativos” (p.22).Observatório <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia 2005 / 49
principais pilares); e a que destaca a capaci<strong>da</strong>detecnológica do próprio sistema econômico, envolvendomu<strong>da</strong>nças significativas, no que diz respeitoaos meios de produção e ao capital.Nesse ponto, a questão social <strong>da</strong> pobreza e<strong>da</strong> exclusão social assume um papel importante,uma vez que as pessoas pobres não têm habili<strong>da</strong>dessuficientes para o exercício <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia,para se comportarem como agentes econômicoseficazes no mercado, e tampouco detêm conhecimentospara alcançar um entorno vital com eleva<strong>da</strong>quali<strong>da</strong>de de vi<strong>da</strong>. É exatamente por isso quea tradução imediata <strong>da</strong> pobreza passa a ser a exclusãosocial, traduzi<strong>da</strong> também como exclusão <strong>da</strong>prática dos direitos de ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia, <strong>da</strong> participaçãonos processos geradores e redistributivos de benseconômicos, <strong>além</strong> <strong>da</strong>s distintas instâncias e dosespaços deliberativos <strong>da</strong>s socie<strong>da</strong>des, que deman<strong>da</strong>mdeterminados níveis de educação e de informaçãopara se efetivar.Daí a importância <strong>da</strong> idéia de políticas sociaisassocia<strong>da</strong>s à construção <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia como umprocesso de habilitação substantiva ao desenvolvimento<strong>da</strong>s capaci<strong>da</strong>des dos indivíduos, para seorganizarem tanto na defesa e na representaçãode seus interesses de forma efetiva e eficientecomo na produção de bens econômicos, sendocapazes de aproveitar possíveis acessos a formassustenta<strong>da</strong>s de geração de ren<strong>da</strong> e, ain<strong>da</strong>, de participar<strong>da</strong>s esferas e <strong>da</strong>s redes societárias. Só assim,em socie<strong>da</strong>des com alto grau de desigual<strong>da</strong>de,como a brasileira, os direitos reconhecidos legale juridicamente podem transformar-se em direitosefetivos, compondo, de forma articula<strong>da</strong>, as políticassociais, desde que pauta<strong>da</strong>s pela promoçãodo bem-estar social, de forma igualitária, paratodos os membros <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de.Nessa perspectiva, programas e políticassociais com a co-responsabilização de beneficiáriose beneficiárias (as assim denomina<strong>da</strong>scondicionali<strong>da</strong>des) podem vir a constituir um pilarfun<strong>da</strong>mental na construção de um sistema de proteçãosocial voltado ao bem-estar <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de,mas desde que articulem de forma criativa e virtuosaEstado, mercado e família (ver boxe na página54). <strong>Para</strong> tanto, uma primeira condição fun<strong>da</strong>mentalé que não fiquem restritos à necessi<strong>da</strong>de,tão bem exercita<strong>da</strong> pela econometria. Se assim for,eles tendem a reforçar tão-somente a dimensãodo direito individual, em detrimento do direitosocial. Isso explica o imperativo de que sejamregidos por outros parâmetros, referentes à <strong>justiça</strong><strong>distributiva</strong>, transformando-se num sistemade proteção social ativo que atua sobre as relaçõessocioeconômicas quando um dos pilares centraisdos Estados de Bem-Estar <strong>Social</strong>, a relação depleno emprego, não está mais presente no cenário<strong>da</strong>s economias capitalistas.Apenas dessa forma, esse conjunto de políticaspoderá ter êxito quanto à sua capaci<strong>da</strong>de deatuar sobre a superação <strong>da</strong> pobreza, uma vez queterá de <strong>da</strong>r ênfase às denomina<strong>da</strong>s “portas desaí<strong>da</strong>”, isto é, às políticas complementares volta<strong>da</strong>sao aumento <strong>da</strong> habili<strong>da</strong>de e <strong>da</strong> capaci<strong>da</strong>de dosindivíduos para aproveitarem possíveis acessosa fontes de ren<strong>da</strong> autônomas e sustenta<strong>da</strong>s, contribuindoassim para a construção de sua autonomiaem relação ao Estado e aos benefícios sociais vinculadosaos programas de transferência de ren<strong>da</strong>.Quanto às condicionali<strong>da</strong>des, em geral, elasse concentram em associar o acesso aos benefíciose serviços ao cumprimento de determinadoscompromissos, tais como: a freqüência escolar eaos serviços de saúde para crianças e gestantes<strong>da</strong> família, e a retira<strong>da</strong> de filhos e filhas de ativi<strong>da</strong>desde trabalho. No caso brasileiro, existe ain<strong>da</strong>a vantagem de essa vinculação estar associa<strong>da</strong>ao acesso a direitos universais inscritos na Constituiçãode 1988. No entanto, se de um lado issoNão resta dúvi<strong>da</strong> de que a expectativa dos(as)beneficiários(as), ao contrário do que se afirmacorrentemente, é o acesso a uma ativi<strong>da</strong>de quelhes garanta uma fonte de ren<strong>da</strong> regular e sustentável,sempre referi<strong>da</strong> como “trabalho”. De fato,pesquisa realiza<strong>da</strong> com beneficiários(as) do ProgramaRen<strong>da</strong> Mínima do município de São Paulo(Cohn et al., 2003) revela que, para essas pessoas,o benefício é bem-vindo, porém o ideal seria umapolítica que criasse emprego, porque: “O trabalhodignifica o homem, e não é porque ele nãotrabalha que não merece respeito, mas sem trabalhoele fica fora <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de”. Mas só o trabalhonão resolve, porque não se trata de qualquer um,pois: “É muito diferente uma pessoa que tem carteiraassina<strong>da</strong> e outra que não tem; se você vaifazer uma compra, chega no lugar e não tem carteiraassina<strong>da</strong>, tudo é mais difícil”.Ao mesmo tempo, seja no caso do recebimentode benefício em ren<strong>da</strong> ou do acesso a serviçosessenciais, isso é um direito quando valepara to<strong>da</strong>s as pessoas “necessita<strong>da</strong>s”: “Se a Prefeiturafez esse benefício para to<strong>da</strong> a comuni<strong>da</strong>de,eu acho que é um direito do ci<strong>da</strong>dão, desde queele precise. Todos precisam, mas aqueles que têma prova de que precisam [...]”. Também chamaatenção a importância <strong>da</strong> escola e <strong>da</strong>s lides domésticasna ocupação dos indivíduos e na perspectivade ser “socialmente útil”. A escola é vistacomo espaço que protege as crianças dos perigos<strong>da</strong> rua, e a escolari<strong>da</strong>de, como algo necessáriopara que “os filhos não tenham o mesmo destinodos pais”.Por fim, merecem destaque as condicionali<strong>da</strong>desque, se trazem a dimensão <strong>da</strong> co-responsabili<strong>da</strong>de,também carregam um lado sombrio,que pode reforçar nossa cultura social autoritáriae punitiva. Tomando como exemplo o ProgramaBolsa Família, são freqüentes os casos em que amãe, sabendo <strong>da</strong> obrigatorie<strong>da</strong>de <strong>da</strong> freqüênciaescolar, conta: “Segun<strong>da</strong>-feira mesmo, ele disseque não ia para a escola. Queria soltar pipa. Foipreciso apanhar para ir à escola...”.fortalece o acesso <strong>da</strong> população pobre à saúde eà educação (pelo menos nos níveis básicos), talprocesso não está livre de contradições, no quediz respeito à valorização <strong>da</strong> dimensão política <strong>da</strong>vi<strong>da</strong> cotidiana (ver boxe abaixo).Da igual<strong>da</strong>de à emancipaçãoAs políticas sociais têm que considerar uma reali<strong>da</strong>dena qual não se trata simplesmente <strong>da</strong> questão<strong>da</strong> pobreza, e sim de uma pobreza extremamassifica<strong>da</strong>. Entre as políticas sociais desenvolvi<strong>da</strong>snos últimos dois anos, os programas detransferência de ren<strong>da</strong> assumem um lugar deespecial importância para o seu enfrentamento.No entanto, deve-se in<strong>da</strong>gar se eles vêm partindoA perspectiva de beneficiários e beneficiáriasVerifica-se o perigo <strong>da</strong> extrapolação <strong>da</strong> presençado Estado no espaço privado, normatizando-oa partir de uma racionali<strong>da</strong>de pública emdetrimento <strong>da</strong>s estratégias de sobrevivência escolhi<strong>da</strong>spelos indivíduos e, também, de sua redede soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong>des. Exemplo disso foi uma denúnciaanônima (grifo nosso), a partir <strong>da</strong> qual umamãe de família recebeu a visita de uma assistentesocial, funcionária municipal, que a teria obrigadoa deixar de trabalhar nos fins de semana paranão deixar os filhos sozinhos. A mãe teve de “escolherentre o trabalho e os filhos”. Diante <strong>da</strong>ameaça <strong>da</strong> per<strong>da</strong> <strong>da</strong> guar<strong>da</strong> destes, desistiu dotrabalho dos fins de semana, perdendo, assim, aúnica fonte de ren<strong>da</strong> relativamente estável que afamília possuía. “O jeito é eu ficar dentro de casa,enquanto [fulano, o marido] procura serviço parafichar. Porque, por enquanto, ele não é fichado,trabalha só fazendo bico”.Outra face do ponto de vista de beneficiáriose beneficiárias do programa pode ser observa<strong>da</strong>,no entanto, quando uma mãe de família de ummunicípio pernambucano afirma que sua vi<strong>da</strong>mudou muito com o Programa Bolsa Família, porque,<strong>além</strong> de ter o cartão que lhe dá acesso aobanco, ele lhe traz a digni<strong>da</strong>de de poder comprar acomi<strong>da</strong> para sua família, e com isso ela não precisa“agradecer e dizer ‘muito obriga<strong>da</strong>’ por um pratode comi<strong>da</strong> de arroz com palha e feijão bichado”.Aqui se torna oportuna a análise de Nogueira(2001) quando advoga a tese <strong>da</strong> necessi<strong>da</strong>de doresgate <strong>da</strong> dimensão política propriamente ditana implementação <strong>da</strong>s políticas públicas, uma vezque a dimensão burocrático-administrativa vemavançando em detrimento <strong>da</strong>quela, o que faz comque prevaleçam análises e padrões de definiçãode priori<strong>da</strong>des pautados por questões operacionais,restringindo-se aos estreitos limites <strong>da</strong>equação custo/efetivi<strong>da</strong>de, no lugar de negociaçõesentre interesses divergentes ou diferenciados,traduzindo-se, assim, no que o autor designacomo sendo a predominância <strong>da</strong> “política dostécnicos” em vez <strong>da</strong> “política dos ci<strong>da</strong>dãos”. ■Observatório <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia 2005 / 52
do princípio de não se constituírem num fim emsi, em que pese seu traço de alívio imediato <strong>da</strong>pobreza, mas num instrumento particularmentevalioso, por suas implicações econômicas esociais, para combater, de forma conseqüente, asuperação <strong>da</strong> pobreza em nossa socie<strong>da</strong>de.A promoção do desenvolvimento social exigepolíticas intersetoriais e capaci<strong>da</strong>de do Estado deremodelar seus sistemas de proteção social e suaprática histórica de ação na área social, que semprese caracterizou por dois traços fun<strong>da</strong>mentais:do ponto de vista <strong>da</strong> gestão, por ações segmenta<strong>da</strong>se setorializa<strong>da</strong>s, o que torna as políticas eos programas sociais competitivos entre si e sempreresultando na superposição dos públicos-alvo;e, do ponto de vista político, pelo seu traço clientelista,mesmo naqueles casos em que a descentralização<strong>da</strong>s políticas sociais avançou, comoocorre no setor <strong>da</strong> saúde, que reproduzem a subordinaçãodos segmentos pobres <strong>da</strong> população àvontade <strong>da</strong>s elites e sua dependência em relaçãoao Estado, na condição de clientela.Sendo políticas que devam contemplar tantoa dimensão do alívio imediato <strong>da</strong> pobreza comoa sua superação, os programas de transferênciade ren<strong>da</strong> com condicionali<strong>da</strong>des não devem serconcebidos como um fim em si mesmos, mas comoinstrumentos ou estratégias de um conjunto depolíticas que permitam o enfrentamento conseqüente<strong>da</strong> questão social <strong>da</strong> pobreza. E de outrolado, não devem ter caráter impositivo e punitivo,mas permitir o acesso a bens e serviços essenciais,de caráter universal, que possibilite a transformaçãodessas pessoas de meros beneficiários(as)em ci<strong>da</strong>dãos e ci<strong>da</strong>dãs.Não se trata de conceber as políticas de transferênciade ren<strong>da</strong> como panacéia para a questãosocial <strong>da</strong> pobreza, <strong>da</strong> desigual<strong>da</strong>de e <strong>da</strong> exclusãosociais, muito menos de substituir o padrão clássicode inserção dos indivíduos na socie<strong>da</strong>de viatrabalho, mas, sim, assumi-las pelo que são: políticase programas que, apesar de terem um caráterredistributivo, trazem consigo a possibili<strong>da</strong>de dese transformarem em medi<strong>da</strong>s estruturantes deum novo padrão de relações socioeconômicas.Nesse ponto específico, ganha especial relevo asua articulação com um conjunto de programas epolíticas <strong>da</strong>s outras esferas do Estado, que respon<strong>da</strong>mao desafio maior de como incorporar a igual<strong>da</strong>depara <strong>além</strong> <strong>da</strong> <strong>justiça</strong> <strong>distributiva</strong> impressanas políticas sociais até então conforma<strong>da</strong>s pelasituação de pleno emprego.Aqui se frisa que o parâmetro a reger as políticase os programas de transferência de ren<strong>da</strong>não deve ser a lógica <strong>da</strong> igual<strong>da</strong>de, por não contemplara <strong>justiça</strong> <strong>distributiva</strong> e reduzi-la à necessi<strong>da</strong>de(ou ao grau de carência dos indivíduos), masa lógica <strong>da</strong> emancipação. Como conseqüência,perde sentido a freqüente dicotomia entre políticaseconômicas e políticas sociais, já que estassempre apresentam um forte componente econômicoe aquelas um forte componente social.Perde também sentido entender as políticas sociaiscomo compensatórias <strong>da</strong>s desigual<strong>da</strong>desgera<strong>da</strong>s pelo mercado. O desafio atual consisteexatamente em como articulá-las, imprimindo àspolíticas econômicas um novo sentido, devendoelas também ser dita<strong>da</strong>s pela ótica dos parâmetrosdos direitos sociais.Contradições e ambigüi<strong>da</strong>desO conjunto de iniciativas do governo Lula no combateà pobreza e à desigual<strong>da</strong>de social não significanecessariamente que se tenha avançado demodo substancial no que se diz respeito a forjarum perfil do modelo de proteção social brasileiro.A construção de um novo espectro de ação públicado Estado na área social não está livre de contradiçõese ambigüi<strong>da</strong>des, sobretudo quando seobserva nossa tradição nessa área, marca<strong>da</strong> nãosó por uma setoriali<strong>da</strong>de competitiva como porum forte traço clientelista, patrimonialista e corporativista,que a tornou incapaz de enfrentar adinâmica reprodutiva <strong>da</strong> pobreza em nosso país,num contexto de agu<strong>da</strong>s desigual<strong>da</strong>des sociais.Entre essas contradições e ambigüi<strong>da</strong>des, aprimeira, e mais óbvia, reside no fato de o ambienteeconômico não se constituir num bom parceironesse processo, pois, mesmo que se registremcurvas de crescimento <strong>da</strong> economia, elas não setraduzem na atuali<strong>da</strong>de em geração de emprego eren<strong>da</strong> nos moldes clássicos <strong>da</strong> socie<strong>da</strong>de salarial,como antigamente era o caso de o emprego seconfigurar como um passaporte para o direito àsaúde e à previdência social. Além disso, poucosentre esses programas estão relativamente ilesosà política de superávit fiscal, como o Bolsa Família(PBF), que conta com um “contingenciamentopositivo” a seu favor, em virtude do contrato deempréstimo com o Banco Mundial.A segun<strong>da</strong> contradição diz respeito à necessi<strong>da</strong>dede se reverter a lógica de articulação <strong>da</strong>sdiferentes políticas de seguri<strong>da</strong>de social, compostapor uma vertente volta<strong>da</strong> ao mercado detrabalho (as pessoas incluí<strong>da</strong>s) e outra à populaçãoexcluí<strong>da</strong>, funcionando como um espelho domercado de trabalho e, assim, reforçando os direitosindividuais em detrimento dos direitos sociais.O desafio aqui é como enfrentar esse traço, buscandouma nova articulação entre o sistema deprevidência social e de proteção social – calcadonos direitos sociais e institucionalizado pela Constituiçãode 1988 – e a construção de novos direitossociais a partir de políticas como o PBF, quenão encontram respaldo imediato no contratosocial vigente para se configurarem plenamentecomo políticas de direitos sociais, tema que vaimuito <strong>além</strong> do seu caráter contributivo ou não.Uma questão importante suscita<strong>da</strong> pela ênfasena promoção <strong>da</strong> construção <strong>da</strong> autonomia dossujeitos sociais, por meio de políticas sociais, é atendência verifica<strong>da</strong> hoje na América Latina, e noBrasil em particular, de se implantar programassociais que busquem sua clientela (como no casodo Programa Saúde <strong>da</strong> Família/PSF) e associem oacesso ao benefício ao cumprimento de determina<strong>da</strong>scondicionali<strong>da</strong>des volta<strong>da</strong>s à capacitaçãosocial de beneficiários e beneficiárias. Isso podeinterferir no modo como ci<strong>da</strong>dãos e ci<strong>da</strong>dãs serelacionam com o Estado, pois acaba misturando aesfera pública e a priva<strong>da</strong>. De fato, não é desprezívela capilari<strong>da</strong>de social de programas como o PSFe o PBF, que trazem consigo um enorme potencialde levar o poder público a controlar e normatizara vi<strong>da</strong> priva<strong>da</strong> dos indivíduos. Fica, assim, comprometi<strong>da</strong>a quali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> esfera pública como umespaço de construção de identi<strong>da</strong>des autônomascom relação ao Estado.O ponto aqui consiste num desafio bem preciso,que se traduz na questão fun<strong>da</strong>mental: comotransformar essas políticas e programas sociais eminstrumentos de construção de novas identi<strong>da</strong>dessociais que não comprometam, nesse processo,a autonomia dos sujeitos sociais? Se desconsiderarmosa ponderação de Amartya Sen, no sentidode que a falta de liber<strong>da</strong>de econômica, naforma <strong>da</strong> extrema pobreza, torna a pessoa presafácil de outros tipos de violação <strong>da</strong> sua liber<strong>da</strong>de,o problema está em como torná-la autônoma naconstrução de sua identi<strong>da</strong>de ante a capilari<strong>da</strong>de<strong>da</strong> presença normatizadora do Estado que essaspolíticas e programas trazem consigo.Como são programas voltados aos segmentosmais pobres <strong>da</strong> população, na sua maioria absolutaà margem do mercado de trabalho formal ouinformal, essas políticas constituem-se, inicialmente,em paralelo à socie<strong>da</strong>de do mercado detrabalho. Torna-se necessário, portanto, buscarmecanismos de inserção desses segmentos sociaisa formas de acesso a fontes de ren<strong>da</strong>, remetendoao desafio de promover políticas econômicasdita<strong>da</strong>s pelos parâmetros dos direitos a umpadrão digno de vi<strong>da</strong>.Daí porque não é suficiente fazer bons programassociais de transferência de ren<strong>da</strong>, saúde,educação, habitação, saneamento, emprego, entreoutros, do ponto de vista de sua gestão, emboraisso seja de fun<strong>da</strong>mental importância, se o objetivoé o combate à pobreza <strong>da</strong> perspectiva de suasuperação. Essa boa gestão – responsabili<strong>da</strong>depública inerente ao Estado – deve estar necessariamenteacompanha<strong>da</strong> <strong>da</strong> construção de umaesfera pública consoli<strong>da</strong><strong>da</strong> e favorecer a criaçãode espaços de construção de diferentes identi<strong>da</strong>dese redes de soli<strong>da</strong>rie<strong>da</strong>des a partir <strong>da</strong> possibili<strong>da</strong>deque esses programas trazem consigo noestabelecimento de novos contratos de civili<strong>da</strong>de(Zaluar, 1997). Isso requer que se esteja atentopara a configuração <strong>da</strong> ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia para <strong>além</strong> doseu sentido universal e abstrato, buscando desvelarsuas possibili<strong>da</strong>des e ambigüi<strong>da</strong>des inscritasno próprio tecido social.Redes de proteção proativasAssociar políticas sociais com desenvolvimentosocial, ou pensar a questão social <strong>da</strong> pobreza e <strong>da</strong>desigual<strong>da</strong>de articula<strong>da</strong> a um projeto de desenvolvimentosocial, deman<strong>da</strong> necessariamente quese pense o desenvolvimento como a ampliação<strong>da</strong> capaci<strong>da</strong>de dos indivíduos, tal como afirma Sen(2004), para realizarem ativi<strong>da</strong>des livremente eleitase valoriza<strong>da</strong>s que lhes permitam exercer suasObservatório <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia 2005 / 53
funcionali<strong>da</strong>des, promovendo-se, assim, um desenvolvimentosocial que os torne ci<strong>da</strong>dãos e ci<strong>da</strong>dãsindependentes do Estado, e não clientes deste.<strong>Para</strong> isso, só buscando uma nova equação entreas políticas dos políticos, as políticas de técnicose técnicas e as políticas dos ci<strong>da</strong>dãos e ci<strong>da</strong>dãs.Ou, como aponta uma vez mais Sen, tomar comoeixo <strong>da</strong> concepção de desenvolvimento social ainterdependência entre quali<strong>da</strong>de de vi<strong>da</strong> e produtivi<strong>da</strong>deeconômica para que se supere a dicotomiaentre bem-estar e acumulação acelera<strong>da</strong>.Isso não nos exime de apontar os desafios ea complexi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> implementação de programase políticas sociais com capilari<strong>da</strong>de social e vinculadosa condicionali<strong>da</strong>des. Dentre eles, destacamse,sobretudo no caso do Brasil, a questão federativa,no que diz respeito às políticas complementares,e principalmente as questões relativasà dimensão <strong>da</strong> esfera pública. É um desafio formularum projeto de desenvolvimento social quese traduza num sistema e numa rede de proteçãosocial proativa e seja capaz de enfrentar o conjuntodos problemas sociais que conformam aquestão social hoje no país, a partir de suas raízes,e não exclusivamente de sua manifestação final.Esse projeto, a nosso ver, está ain<strong>da</strong> no âmbito<strong>da</strong>s intenções inspiradoras de várias <strong>da</strong>s políticase dos programas sociais que vêm sendo implementados,mas certamente ain<strong>da</strong> não se logrou aformulação de uma proposta articula<strong>da</strong> para queas iniciativas estatais na área social não continuemfortemente demarca<strong>da</strong>s pelos limites estreitos <strong>da</strong>racionalização dos gastos estatais.<strong>Para</strong> tanto, é preciso permanentemente questionara racionalização <strong>da</strong>s ações do Estado nãocomo um fim em si, mas como um meio para seatingir um objetivo, o que extrapola em muito oslimites <strong>da</strong> mera busca <strong>da</strong> racionali<strong>da</strong>de custo/efetivi<strong>da</strong>deimpressa na teoria do capital humano.Trata-se de introduzir na agen<strong>da</strong> pública a dimensãodo bem-estar e <strong>da</strong> <strong>justiça</strong> social <strong>da</strong> ótica doacesso a condições concretas que garantam umaefetiva quali<strong>da</strong>de de vi<strong>da</strong> dos indivíduos, entre elassua autonomia como ci<strong>da</strong>dãos e ci<strong>da</strong>dãs portadoresde direitos e, por conseqüência, sua autonomiaperante o Estado.Se as políticas sociais e de transferência deren<strong>da</strong> não serão capazes, a curto prazo, de enfrentara questão <strong>da</strong> desigual<strong>da</strong>de e <strong>da</strong> in<strong>justiça</strong> social,certamente, por serem um instrumento fun<strong>da</strong>mentalnesse processo, não poderão perder de vistaessa dimensão. Caso contrário, ficarão sempre determina<strong>da</strong>spelas políticas macroeconômicas, numcontexto em que os sistemas de proteção socialcomo mecanismos compensatórios <strong>da</strong>s desigual<strong>da</strong>desgera<strong>da</strong>s pelo mercado numa socie<strong>da</strong>de salarialjá estão superados pela própria história.No entanto, em grande medi<strong>da</strong>, é dessa formaque o Estado brasileiro continua atuando na áreasocial, haja vista a extrema vulnerabili<strong>da</strong>de doorçamento social do governo à lógica dos ajustesmacroeconômicos. Com isso, a possibili<strong>da</strong>de de opaís enfrentar de forma conseqüente a pobreza e asdesigual<strong>da</strong>des sociais vê-se posterga<strong>da</strong>, deixandoo gosto amargo <strong>da</strong> per<strong>da</strong> de uma oportuni<strong>da</strong>dehistórica única para a construção de uma socie<strong>da</strong>demais justa e democrática. É esse o salto dequali<strong>da</strong>de, ou o “pulo-do-gato”, não vislumbradoaté o momento, que tanto nos frustra.Os programas sociais no governo LulaBolsa Família – Criado em outubro de 2003, oPrograma Bolsa Família (PBF) unificou os programasnão-constitucionais de transferência deren<strong>da</strong> até então vigentes: Bolsa Escola, BolsaAlimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação.Atualmente é entendido pelo Executivo federalcomo um dos programas que fazem parte do FomeZero. Consiste na transferência de ren<strong>da</strong> comcondicionali<strong>da</strong>des (freqüência escolar e cartão devacinação completo <strong>da</strong>s crianças, nas i<strong>da</strong>desrespectivas, e acompanhamento pré-natal <strong>da</strong>sgestantes) e na transferência de um valor fixo deR$ 50 e um variável de R$ 15 por criança de até15 anos, num total de até três crianças. As famíliascom ren<strong>da</strong> per capita de até R$ 50 recebem ovalor fixo e o valor variável correspondente; as quepossuem ren<strong>da</strong> per capita entre esse valor e R$100 recebem somente o valor variável, segundoas mesmas regras.O PBF resgata uma <strong>da</strong>s características dosprogramas anteriores similares: o benefício variávelpor número de crianças <strong>da</strong> família, no total deaté três. No entanto, inova quando elege a famíliacomo beneficiária, e não ca<strong>da</strong> um de seus membrosisola<strong>da</strong>mente, como nos casos anteriores doBolsa Escola e do Bolsa Alimentação. Inova tambémao não estipular quotas de número de bolsas paraca<strong>da</strong> município, já que é meta do governo atingiraté dezembro de 2006 todo o universo dos 11,2milhões de famílias pobres, segundo a PesquisaNacional por Amostragem de Domicílios (Pnad)de 2001, revisa<strong>da</strong> pelo Instituto de Pesquisa EconômicaAplica<strong>da</strong> (Ipea). 3<strong>Para</strong> a família ingressar no programa, é necessárioque esteja ca<strong>da</strong>stra<strong>da</strong> no CadÚnico – sistemade ca<strong>da</strong>stramento único para programas sociais dogoverno –, criado em 2001. Mas o fato de a famíliaestar ca<strong>da</strong>stra<strong>da</strong> não significa participar necessariamentedo programa, e cabe ao município a responsabili<strong>da</strong>depelo ca<strong>da</strong>stramento <strong>da</strong>s famílias,arcando com esse custo. O excedente de indivíduosca<strong>da</strong>strados acaba representando um ônuspolítico e financeiro para os governos locais, agravadopelo fato de até muito recentemente os municípiosnão terem acesso ao programa.A proposta atual é que o CadÚnico se torneum instrumento efetivo para a formulação e implementação<strong>da</strong>s políticas públicas, passível de serutilizado pelas distintas esferas de governo. Alémdisso, nesse banco de <strong>da</strong>dos, a ca<strong>da</strong> membro <strong>da</strong>família é atribuído um número de identificaçãosocial (NIS), que permitirá maior discernimentopor parte do Estado sobre o público-alvo de suasmúltiplas ações e programas, podendo, assim,identificar duplici<strong>da</strong>des e buscar convergênciasentre as políticas implementa<strong>da</strong>s. Mais importante:procura-se, com isso, infundir-lhes um caráterrepublicano, isto é, o predomínio de critérios universaispara a concessão do benefício, o que secontrapõe ao traço clientelista que vêm marcandoas políticas ao longo <strong>da</strong> nossa história, em particularquando volta<strong>da</strong>s aos segmentos mais pobres<strong>da</strong> população.3 Em abril de 2005, o PBF atingiu aproxima<strong>da</strong>mente66% dessa meta.Ao contrário <strong>da</strong> forma como vem sendo implementadoo processo de descentralização naárea social, a proposta do PBF apresenta umacaracterística que favorece a possibili<strong>da</strong>de de seconformar como um programa matricial para aarticulação com os programas e ações sociais<strong>da</strong>s demais esferas de governo: a denomina<strong>da</strong>descentralização pactua<strong>da</strong>. Isso significa que ogoverno federal busca realizar pactos com estadose municípios na implementação do programade tal forma que estes, uma vez tendo programaspróprios de transferência de ren<strong>da</strong>, os articulemcom o programa federal e promovam programascomplementares.Procura-se, com isso, uma articulação naárea social que seja horizontal entre as distintasesferas de governo, sempre com priori<strong>da</strong>de parao público-alvo dos programas de transferênciacomo foco de articulação <strong>da</strong>s distintas políticasem desenvolvimento. Tal proposta implica que osgovernos <strong>da</strong>s distintas esferas <strong>da</strong> federação promovamsimultaneamente um olhar para dentro desi mesmos e para fora, isto é, para os demaisentes federados, tidos como parceiros de fato numprocesso maior de remodelação do padrão clássicode ação do Estado na área social.Na sua formulação, o PBF tinha como pressupostooriginal que não se trataria de um programade transferência de ren<strong>da</strong> com condicionali<strong>da</strong>descomo um fim em si, mas, para ter êxito,precisaria obedecer a duas premissas básicas:a primeira, ao responder ao tempo do governo,criando raízes que o vinculem às políticas deObservatório <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia 2005 / 54
inserção social, seja no que diz respeito a políticasde geração de ocupação e ren<strong>da</strong>, seja notocante a políticas setoriais na área social, levandoem conta a integração territorial <strong>da</strong> população;e a segun<strong>da</strong>, que se tornasse parceiro num processomais amplo de transformar as políticaspúblicas virtuosas entre si, ao contrário do velhopadrão competitivo, em relação aos respectivospúblicos-alvo ou às fontes orçamentárias.Tratava-se, assim, de traduzir as políticas públicasem mecanismos transformadores e promotoresdo desenvolvimento social no Brasil a partir<strong>da</strong> heterogenei<strong>da</strong>de dos seus problemas e <strong>da</strong>ssuas potenciali<strong>da</strong>des.Saúde <strong>da</strong> Família – Já por demais estu<strong>da</strong>dose divulgados, desde o início <strong>da</strong> déca<strong>da</strong> de 1990,quando começaram a ser implantados, os programasSaúde <strong>da</strong> Família (PSF) e Agentes Comunitáriosde Saúde têm hoje aproxima<strong>da</strong>mente 21.475equipes e estão presentes em 4.800 municípios.<strong>Para</strong> seu controle e funcionamento, contam comum sistema de <strong>da</strong>dos do Datasus, especialmente oSistema de Informações <strong>da</strong> Atenção Básica (Siab),ain<strong>da</strong> não articulado à base de <strong>da</strong>dos do CadÚnico.O PSF é, juntamente com o controle dos <strong>da</strong>dossobre educação, aquele que mais perto estaria dosprogramas de transferência de ren<strong>da</strong>, <strong>da</strong><strong>da</strong>s ascondicionali<strong>da</strong>des destes. São os programas commaior capilari<strong>da</strong>de social, no que diz respeito aadentrar na vi<strong>da</strong> priva<strong>da</strong> dos indivíduos.Ao PSF juntam-se outros programas detransferência de ren<strong>da</strong>, entre eles o Benefício dePrestação Continua<strong>da</strong> (BPC) – não como um programade governo, mas como direito asseguradopela Constituição brasileira, beneficiando 5,8 milhõesde pessoas em abril de 2005. Por outro lado,o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(Peti) atende quase 1 milhão de crianças e adolescentese está presente em mais <strong>da</strong> metade dosmunicípios brasileiros.Outros investimentos governamentais – Secontinuarmos a trabalhar em termos do que denominode “gincana dos números”, isto é, ver qualgoverno investiu mais na área social, não restadúvi<strong>da</strong> de que, nos últimos dois anos, o Brasilsofreu uma injeção significativa de recursos naárea social, boa parte deles repassados diretamenteà socie<strong>da</strong>de, por meio de programas de transferênciade ren<strong>da</strong>. A novi<strong>da</strong>de desses programasreside exatamente nisto: as transferências de ren<strong>da</strong>realiza<strong>da</strong>s por tais programas não encontram intermediaçãodos governos estaduais e municipais,como é o caso <strong>da</strong>s transferências de recursos emsaúde e educação, por exemplo.Em conseqüência, quando se tem orçado sóno Ministério do Desenvolvimento <strong>Social</strong> R$ 16,9bilhões com esses programas, isso significa quetal volume de recursos passa a circular nas economiaslocais, representando, em vários municípios,em média 50% dos recursos repassados pormeio dos Fundos de Participação Municipal (FPM).<strong>Para</strong> as regiões Norte e Nordeste, isso significa18,4% e 30,5% do valor equivalente ao FPM.O potencial dinamizador <strong>da</strong>s ativi<strong>da</strong>des econômicaslocais e regionais com esses recursos adicionaisnão é desprezível, mas necessitaria de umapolítica articula<strong>da</strong> de desenvolvimento sustentávelque possibilitasse novas formas de inserçãosocial <strong>da</strong>s famílias contempla<strong>da</strong>s para superaremsua situação de pobreza.Tampouco é desprezível o volume de recursosdestinados à agricultura familiar (R$ 5,6bilhões em 2004, associados a programas degarantia de safra, regularização fundiária, deaquisição de alimentos pelo Programa Fome Zeroetc.), ao saneamento básico, aos programashabitacionais, que, ao transferirem recursos paraesses fins, acabam não só dinamizando as economiaslocais, mas também gerando empregosou ocupações. Ao lado desses, existem programasque dizem respeito aos serviços essenciais àsatisfação <strong>da</strong>s necessi<strong>da</strong>des básicas <strong>da</strong> população,como saúde, educação e assistência social.Nesses casos, verifica-se uma tendência a se terum pouco “mais do mesmo”, isto é, um aumentoligeiro dos recursos alocados em tais setores, trilhandoas mesmas priori<strong>da</strong>des do período anterior.Na<strong>da</strong> contra, não fosse a possibili<strong>da</strong>de de se inovarnessas áreas, que já contam com uma largaexperiência dos governos municipais.Aliás, foi o que o governo federal fez nos casosdos programas de transferência de ren<strong>da</strong>:aproveitou-se <strong>da</strong>s experiências dos programaslocais para formular os nacionais. O mesmo, noentanto, não se verifica nas áreas de saúde e educação.No caso <strong>da</strong> saúde, teve continui<strong>da</strong>de aênfase na atenção básica, com a criação do programaFarmácia Popular, e na assistência odontológica,com o programa Brasil Sorridente, atualmentecontando com aproxima<strong>da</strong>mente 2.800novas equipes de saúde bucal. Na área <strong>da</strong> educação,registra-se a presença de programas de alfabetizaçãode pessoas adultas, de educação de jovens,do Fundo de Desenvolvimento <strong>da</strong> EducaçãoBásica (Fundeb) – em substituição do Fundef,restrito à educação fun<strong>da</strong>mental –, voltado tambémao ensino médio e à permanência dos jovensna escola, <strong>além</strong> do Programa Universi<strong>da</strong>de paraTodos (ProUni), destinando bolsas ao ensinosuperior em instituições priva<strong>da</strong>s de ensino, quetanta polêmica vem causando. ■ReferênciasCAMPOS, A.; POCHMANN, M.; AMORIM, R.; SILVA, R. (Orgs.).Atlas <strong>da</strong> exclusão social no Brasil: dinâmica e manifestaçãoterritorial. São Paulo: Cortez, 2003. (Volume 2).CAMPOS, A.; POCHMAN, M.; BARBOSA, A., AMORIM,R.;SILVA,R. (orgs). Atlas <strong>da</strong> exclusão social no Brasil.Os ricos no Brasil. São Paulo: Cortez, 2004. (volume 3).CAMPOS, R. C. Pasado y presente del desarrollo social. In:Desarrollo <strong>Social</strong> – modelos, tendencias y marconormativo. México: Comisión de Desarrollo <strong>Social</strong>,2000, p. 33-44.COHN, A. Reconfigurações <strong>da</strong> questão social no Brasil.Observatório <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia 2003, Rio de Janeiro, p.71-76, 2003.COHN, A.; DIAS Jr., C. M.; BARBOSA, G. C. Por umaetnografia participativa – Desafios dos ProgramasRedistributivos na periferia paulistana. São Paulo:Cedec, 2003. Mimeo.DELGADO, G. C. O setor de subsistência na economia e nasocie<strong>da</strong>de brasileira: gênese histórica, reprodução econfiguração contemporânea. Brasília: Ipea, 2004 (Textopara Discussão, n o 1.025).HENRIQUES, R. (Org.). Desigual<strong>da</strong>de e pobreza no Brasil.Rio de Janeiro: Ipea, 2000.KERSTENETZKY, C. Brasil – a violência <strong>da</strong> desigual<strong>da</strong>de.Observatório <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia 2001, Rio de Janeiro, 2001.LAURELL, A. C. Regímenes de generación de bienestar. In:Desarrollo <strong>Social</strong> – modelos, tendencias y marconormativo. México: Comisión de Desarrollo <strong>Social</strong>,2000, p. 109-120.MEDEIROS, M. A geografia dos ricos no Brasil. Brasília:Ipea, 2004 (Texto para Discussão, n o 1.029).NOGUEIRA, M. A. Em defesa <strong>da</strong> política. São Paulo:Senac, 2001.REIS, Elisa. Percepções <strong>da</strong> elite sobre pobreza edesigual<strong>da</strong>de. Revista Brasileira de Ciências Sociais, SãoPaulo, v. 15, n. 42, fev. 2000.ROCHA, S. Pobreza no Brasil: afinal, de que se trata?. Riode Janeiro: FGV, 2003.SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia e <strong>justiça</strong>. Riode Janeiro: Campus, 1971.SCHWARTZMAN, S. As causas <strong>da</strong> pobreza. Rio de Janeiro:FGV, 2004.SEN, A. Teorías del desarrollo a princípios del siglo XXI.BID, 2004. Mimeo.SOUZA, J. A gramática social <strong>da</strong> desigual<strong>da</strong>de brasileira.Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 19, n. 54, p.79-96, fev. 2004.ZALUAR, A. Exclusão e políticas públicas: dilemas teóricose alternativas políticas. Revista Brasileira de CiênciasSociais, vol. 12, n. 35, 1997.Observatório <strong>da</strong> Ci<strong>da</strong><strong>da</strong>nia 2005 / 55