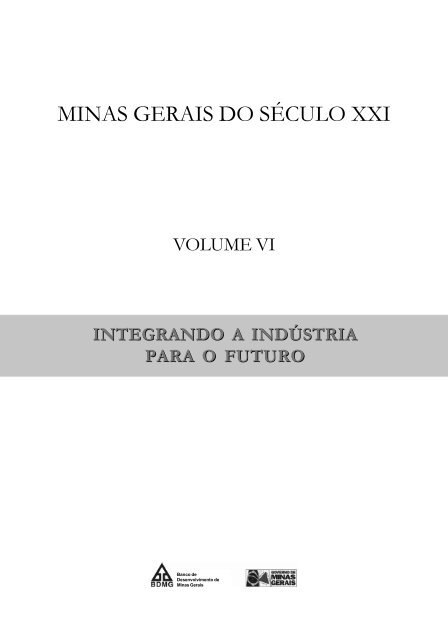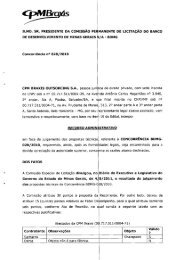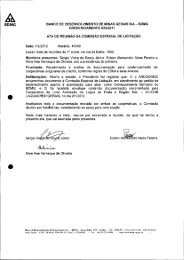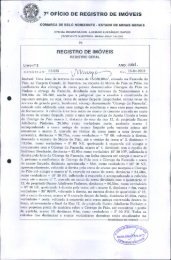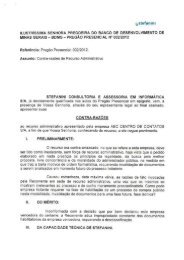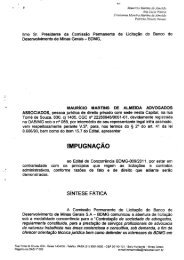Completo - BDMG
Completo - BDMG
Completo - BDMG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI<br />
VOLUME VI<br />
INTEGRANDO A INDÚSTRIA<br />
PARA O FUTURO<br />
Banco de<br />
Desenvolvimento de<br />
Minas Gerais
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - <strong>BDMG</strong><br />
Conselho de Administração<br />
José Augusto Trópia Reis - Presidente<br />
Murilo Paulino Badaró - Vice-Presidente<br />
Edgard Martins Maneira<br />
Elvira Fonseca Garcia<br />
Fábio Proença Doyle<br />
José Pedro Rodrigues de Oliveira<br />
Diretoria<br />
Murilo Paulino Badaró - Presidente<br />
Francisco José de Oliveira - Vice-Presidente<br />
José Lana Raposo<br />
Ignácio Gabriel Prata Neto<br />
Júlio Onofre Mendes de Oliveira<br />
Coordenação do Projeto<br />
Tadeu Barreto Guimarães - Coordenação Geral<br />
Marco Antônio Rodrigues da Cunha - Coordenação Executiva<br />
Marilena Chaves - Coordenação Técnica<br />
Equipe Técnica do Departamento de Planejamento,<br />
Programas e Estudos Econômicos – D.PE<br />
Bernardo Tavares de Almeida<br />
Frederico Mário Marques<br />
Gislaine Ângela do Prado<br />
Juliana Rodrigues de Paula Chiari<br />
Marco Antônio Rodrigues da Cunha<br />
Marilena Chaves<br />
Tadeu Barreto Guimarães - Gerente<br />
Apoio Administrativo<br />
Cristiane de Lima Caputo<br />
Diully Soares Cândido Gonçalves<br />
Henrique Naves Pinheiro<br />
Hiram Silveira Assunção<br />
Marta Maria Campos
B213m<br />
2002<br />
As idéias expostas nos textos assinados são de responsabilidade dos autores,<br />
não refletindo necessariamente a opinião do <strong>BDMG</strong>.<br />
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - <strong>BDMG</strong><br />
Rua da Bahia, 1600, Lourdes<br />
30160.907 Caixa Postal 1.026<br />
Belo Horizonte - Minas Gerais<br />
Tel : (031) 3219.8000<br />
http://www.bdmg.mg.gov.br<br />
e-mail: contatos@bdmg.mg.gov.br<br />
Editoração de Textos<br />
IDM / Técnica Composição e Arte<br />
Criação da Capa<br />
Fernando Fiúza de Filgueiras<br />
Projeto e Produção Gráfica<br />
Fernando Fiúza de Filgueiras<br />
Otávio Luiz Ribas Bretas<br />
Rona Editora Ltda<br />
Avenida Mem de Sá, 801<br />
Santa Efigênia<br />
30260-270 Belo Horizonte/ MG<br />
Telefax: (31) 3283-2123<br />
Revisão e Normalização<br />
Dila Bragança de Mendonça<br />
Elzira Divina Perpétua (Coordenação)<br />
Marlene de Paula Fraga<br />
Raquel Beatriz Junqueira Guimarães<br />
Vicente de Paula Assunção<br />
Virgínia Novais da Mata Machado<br />
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais<br />
Minas Gerais do Século XXI / Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.<br />
Belo Horizonte: Rona Editora, 2002.<br />
10 v. : il. -<br />
Conteúdo: v.1 - O Ponto de Partida. v. 2 - Reinterpretando o Espaço Mineiro.<br />
v. 3 - Infra-Estrutura: sustentando o desenvolvimento. v. 4 - Transformando o Desenvolvimento<br />
na Agropecuária. v. 5 - Consolidando Posições na<br />
Mineração. v. 6 - Integrando a Indústria para o Futuro. v. 7 - Desenvolvimento Sustentável:<br />
apostando no futuro. v. 8 - Investindo em Políticas Sociais. v. 9 -<br />
Transformando o Poder Público: a busca da eficácia. v. Especial – Uma Visão do<br />
Novo Desenvolvimento<br />
1. Condições econômicas – Minas Gerais. 2. Desenvolvimento econômico –<br />
Minas Gerais. I. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. II. <strong>BDMG</strong>. III. Título<br />
Catalogação na publicação: Biblioteca <strong>BDMG</strong><br />
CDU: 338.92(815.1)
VOLUME 6<br />
INTEGRANDO A INDÚSTRIA<br />
PARA O FUTURO<br />
Coordenação do Projeto<br />
Tadeu Barreto Guimarães - Coordenação Geral<br />
Marco Antônio Rodrigues da Cunha - Coordenação Executiva<br />
Marilena Chaves - Coordenação Técnica<br />
Coordenador Técnico do Volume<br />
Juliana Rodrigues de Paula Chiari<br />
(D. PE/<strong>BDMG</strong>)
SUMÁRIO<br />
1. ESTRUTURA E DINÂMICA ................................................................................................................................... 9<br />
2. CADEIAS PRODUTIVAS RELEVANTES......................................................................................................... 111<br />
3. AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS ................................................................................................... 173<br />
4. CONSIDERAÇÕES PARA UMA POLÍTICA INDUSTRIAL ................................................................... 255
MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI<br />
VOLUME VI<br />
INTEGRANDO A INDÚSTRIA<br />
PARA O FUTURO<br />
CAPÍTULO CAPÍTULO 1<br />
ESTRUTURA ESTRUTURA E DINÂMICA<br />
DINÂMICA<br />
Mauro Borges Lemos<br />
(Ph.D e Professor do Cedplar/FACE/UFMG)
SUMÁRIO<br />
1.1. REFERÊNCIA TEÓRICA DO ESTUDO........................................................................................................ 13<br />
1.2. ESTRUTURA SETORIAL DA INDÚSTRIA MINEIRA COMPARADA AOS<br />
PRINCIPAIS ESTADOS FEDERATIVOS CONCORRENTES ............................................................ 16<br />
1.3. DIFERENÇAS INTER-REGIONAIS DE DESEMPENHO INDUSTRIAL..................................... 23<br />
1.4. INTEGRAÇÃO E COMPLEMENTARIDADE INTERSETORIAL E INTER-REGIONAL .... 28<br />
1.5. ESTRUTURA INDUSTRIAL E COMÉRCIO EXTERIOR..................................................................... 42<br />
1.6. SETORES-CHAVE DA INDÚSTRIA MINEIRA: EMPRESAS LÍDERES<br />
NO CONTEXTO NACIONAL ............................................................................................................................. 47<br />
1.7. LIDERANÇA DE EMPRESAS DOS SETORES METAL-MECÂNICO .............................................. 49<br />
1.8. LIDERANÇA DE EMPRESAS DOS SETORES AGROINDUSTRIAIS ............................................ 83<br />
1.9. OS DESAFIOS DO COMPLEXO METAL-MECÂNICO: A FRAGILIDADE<br />
DO SETOR DE BENS DE CAPITAL ................................................................................................................ 91<br />
1.10. A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO RESTRITA ............................................................................................... 97<br />
1.11. PROPOSIÇÕES PARA POLÍTICAS ................................................................................................................. 106<br />
1.12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................................ 109
1.1. Referência teórica do estudo<br />
Este estudo possui duas referências teóricas, que são os pontos de sustentação da estrutura<br />
analítica desenvolvida. A primeira é relacionada ao papel da indústria no desenvolvimento<br />
econômico e a segunda ao processo espacialmente desigual do desenvolvimento, que é explicado<br />
pela própria natureza polarizadora da atividade industrial.<br />
A tese consagrada na literatura macroeconômica estruturalista estabelece a primazia da<br />
indústria como o motor do crescimento econômico de longo prazo. As origens desta concepção<br />
remonta aos trabalhos clássicos de Schumpeter (1934; 1943), que ao entronizar a inovação tecnológica<br />
como o fator de indução da mudança econômica elege a indústria como setor chave da economia<br />
capitalista. Este fundamento micro do processo de crescimento econômico de longo prazo propiciou<br />
uma fértil literatura dos fenômenos macroeconômicos baseados nas mudanças estruturais do aparato<br />
produtivo da economia, particularmente as mudanças oriundas da predominância na estrutura<br />
produtiva da indústria manufatureira ou de transformação. A contribuição decisiva neste campo é a<br />
de Kaldor (1966), que com suas leis do crescimento propõe uma inversão da causalidade na equação<br />
básica de crescimento, tornando endógena a variável produtividade. Desta forma, o crescimento do<br />
produto industrial surge como fator determinante e alimentador do próprio crescimento agregado da<br />
produtividade, em que o efeito escala de Verdoorn surge como parâmetro chave. Os estudos sobre a<br />
questão do desenvolvimento em economias retardatárias (Hirschman, 1958; Prebisch, 1973 [1952];<br />
Furtado, 1961) vão utilizar este substrato teórico estruturalista como ponto de partida para a<br />
formulação do planejamento econômico, em que a industrialização será o centro das políticas de<br />
indução aos investimentos.<br />
Os programas de industrialização via substituição de importações na América Latina vão<br />
se inspirar neste paradigma, que teve influência decisiva nas políticas industriais do setor público<br />
brasileiro durante pelo menos 4 décadas. Os esforços de recuperação do hiato de desenvolvimento<br />
da economia mineira em relação aos seus dois vizinhos mais virtuosos, São Paulo e Rio de Janeiro,<br />
estiveram bem assentados neste paradigma, em que a industrialização foi concebida como a via<br />
catalisadora de um amplo elenco de políticas públicas direcionadas para a superação da defasagem<br />
tecnológica existente àquela época, condição imprescindível na busca do desenvolvimento de<br />
Minas Gerais. O amadurecimento da economia brasileira ao longo deste período e o sucesso<br />
inegável de Minas em seu esforço industrializante, não eliminaram a necessidade das políticas<br />
indutoras de investimentos. A principal diferença é que não seria possível, nestes novos tempos<br />
do terceiro milênio, nortear a política industrial pela via da substituição de importações como no<br />
modelo original. As trocas de bens via sistema de preços e a urbanização da grande maioria da<br />
população são os parâmetros decisivos que indicam que o país realizou a transição definitiva de<br />
uma economia rural, predominantemente de subsistência, para uma economia urbano-industrial,<br />
dominada pelas regras da regulação do mercado. Neste sentido, os mecanismos de financiamento<br />
dos investimentos e de incentivos fiscais e creditícios deverão estar fundados nas novas formas<br />
de poupança dos indivíduos e das empresas, como os fundos de pensão e as emissões de debêntures.<br />
No entanto, as vicissitudes e limitações da regulação econômica pelos mecanismos canônicos<br />
do mercado desautorizam ações públicas voluntariosas, de retirada do papel da intervenção estatal<br />
na regulação da atividade econômica. As políticas inspiradas no liberalismo minimalista são<br />
especialmente prejudiciais em economias que realizaram tardiamente sua industrialização e carregam<br />
como herança fragilidades estruturais e institucionais, como o pequeno porte das empresas<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 13<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
nacionais, a baixa capacitação tecnológica interna e de geração de inovações, insuficiência de<br />
infra-estrutura física e educacional, fortes desequilíbrios econômicos inter-regionais e sociais,<br />
pobreza absoluta em grande escala territorial e sistema político-institucional incipiente. Estas<br />
fragilidades continuam a apontar para necessidade de políticas públicas ativas de promoção do<br />
desenvolvimento, que no caso da economia brasileira continuam a ter a indústria como o fator<br />
estruturante. Como um ente federativo de uma economia integrada nacionalmente, Minas Gerais<br />
está inserida na divisão inter-regional do trabalho, que é mais do que um resultado das forças de<br />
atração e repulsão do funcionamento natural do mercado. Como é bem conhecida entre os<br />
formuladores de políticas, a intervenção pública estatal, especialmente do governo estadual,<br />
continua a ter um papel decisivo nas decisões da distribuição territorial dos investimentos privados.<br />
Este ponto remete à segunda sustentação teórica de nossa estrutura analítica. Desde o<br />
trabalho clássico de Myrdal (1958), sabe-se que o desenvolvimento econômico é espacialmente<br />
desigual. Mesmo atuando como forças simultâneas em direções opostas, os efeitos de polarização<br />
e de dispersão do desenvolvimento não possuem temporalmente a mesma intensidade. Se isto<br />
ocorresse, o desenvolvimento seria espacialmente equilibrado e os próprios mecanismos de mercado<br />
dariam conta de evitar as disparidades regionais e, assim, poderíamos definir o território nacional<br />
como uma única região. As evidentes disparidades espaciais no território nacional são a prova<br />
definitiva de que as leis de mercado favorecem a atividade econômica em determinadas regiões<br />
em detrimento de outras. E a razão deste desenvolvimento desigual é que os efeitos líquidos de<br />
atração-repulsão favorecem inicialmente o processo de polarização, em função das possibilidades<br />
de ganhos de escala de aglomeração das atividades econômicas no espaço, especialmente das<br />
industriais. A lei de retornos crescentes estabelece um mecanismo de mercado baseado na<br />
retroalimentação, em que os efeitos de encadeamentos para frente (efeito-oferta) de ganhos de<br />
produtividade e redução de custos, provenientes da escala da aglomeração no espaço, favorecem<br />
a expansão da renda regional; por sua vez, esta expansão da renda deflagra um efeito de<br />
encadeamento para trás (efeito-demanda), que induz novos investimentos e ampliação de<br />
capacidade, reforçando ainda mais as economias de aglomeração na região inicialmente favorecida.<br />
É neste sentido que uma região pode crescer em detrimento de outra, tornando possível um<br />
padrão de crescimento polarizado centro-periferia 1 . Mesmo que as próprias leis do sistema de<br />
preços relativos possam posteriormente conduzir à reversão da polarização, através da eventual<br />
prevalência dos efeitos líquidos de dispersão espacial das atividades econômicas, esta possibilidade<br />
não é inexorável e muito menos multidirecional. Considerando uma economia nacional<br />
multiregional, a velocidade e direção do processo de reversão dependem não apenas das forças de<br />
mercado mas de fatores extra mercado, decorrentes da ação pública estadual, favorecendo uma<br />
determinada trajetória da desconcentração. Neste sentido, a atuação das lideranças e governos<br />
locais e estaduais pode ser o fiel da balança da futura trajetória territorial do desenvolvimento. O<br />
papel central da indústria para potencializar os ganhos aglomerativos no espaço explica sua<br />
permanência como fator estruturante das políticas regionais ao longo do processo de<br />
desenvolvimento de uma região ou Estado federativo, mesmo tendo em mente que ao longo deste<br />
processo o efeito arraste das atividades industriais sobre o setor de serviços acaba por conduzi-lo<br />
à posição majoritária do produto regional.<br />
Com base no exposto acima, teremos ao longo da análise da indústria mineira dois pontos<br />
de referência: o primeiro refere-se ao tamanho e qualidade da estrutura industrial da economia<br />
1 A intuição seminal por trás desta idéia da dinâmica centro-periferia, formulada de forma original e mais acabada por Myrdal, vem<br />
sendo objeto de formalização nos anos recentes com base em modelos espaciais de retornos crescentes, inicialmente através dos<br />
estudos pioneiros de Krugman (1991; 1999) e, posteriormente, pela publicação de trabalho mais elaborado em colaboração com<br />
M.Fujita e A.Venables (Fujita, et al., 1999).<br />
14 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
do Estado, que inclui a evolução de sua especialização, a capacidade de internalizar os efeitos de<br />
encadeamentos intersetoriais e de se constituir em uma base exportadora inter-regional e<br />
internacional; o segundo relaciona-se à comparação da estrutura e desempenho da economia mineira<br />
vis-à-vis as principais economias estaduais concorrentes, representadas pelas economias primazes<br />
de São Paulo e Rio de Janeiro, que historicamente cumpriram a função de centro no desenvolvimento<br />
regional brasileiro, e as economias gaúcha e paranaense que, ao lado da economia mineira,<br />
representam a “periferia próxima” que vem disputando os segmentos mais nobres dos elos industriais<br />
no processo de reversão da polarização do país. Ou seja, a formulação das diretrizes de política<br />
industrial para a economia mineira depende não apenas da dimensão, eficiência e superação dos<br />
gargalos da sua estrutura industrial, mas também da posição relativa frente aos demais estados<br />
federativos, especialmente dos estados em condições de disputar os novos investimentos produtivos<br />
nos setores dinâmicos da indústria de transformação brasileira. A natureza integrada e complementar<br />
das economias regionais da federação não implica uma divisão de trabalho inter-regional equilibrada,<br />
tendo em vista que a dinâmica centro-periferia é intrínseca ao movimento do capital no espaço.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 15<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
1.2. 1.2. Estrutura setorial da indústria mineira<br />
comparada aos principais estados<br />
federativos federativos concorrentes<br />
Os dados consolidados para os últimos 40 anos (TAB. 1) confirmam que a indústria mineira<br />
apresentou o maior aumento de participação relativa na indústria nacional, de quase 60%, dentre as<br />
grandes economias estaduais, passando de uma posição de quarto lugar em 1960, com 6,06%, para<br />
o terceiro lugar em 1999, quando atinge de quase 10% do produto industrial brasileiro, ficando com<br />
uma participação de apenas 0,86% abaixo da indústria do Rio de Janeiro. A mudança estrutural mais<br />
significativa foi na indústria de transformação, em que Minas possuía grande atraso relativo, estando<br />
até os anos 60 abaixo do Rio Grande de Sul, àquela época o terceiro estado industrial. Chama<br />
também atenção que houve um hiato temporal entre o esforço de industrialização do Estado, do<br />
final dos anos 60 até a primeira metade dos anos 80, e o salto de participação relativa, que ocorreu<br />
de forma gradual ao longo destas 4 décadas, próximo de um ganho líquido de 1% a cada dez anos.<br />
Ou seja, o processo de maturação dos investimentos, contemplados com grande intensidade nos<br />
projetos das indústrias de base do II PND, foi de longo prazo, culminando com o esforço exportador<br />
da segunda metade dos anos 80 e o processo de abertura dos 90. Como será visto adiante, tudo<br />
indica que a indústria mineira foi das menos atingidas pelo impacto da abertura externa, já que sua<br />
especialização não competiu com as novas importações, ao mesmo tempo em que suas exportações<br />
se beneficiaram de setores industriais tecnologicamente atualizados e de vantagens comparativas<br />
estáticas e, neste sentido, estavam relativamente mais preparados para competição externa.<br />
A decomposição setorial do esforço de industrialização mostra seu direcionamento para a<br />
diversificação do complexo metal-mecânico, cuja participação passa de 37,5% do produto industrial<br />
estadual em 1960 para 51% em 1999 (TAB. 2). Até 1970 este complexo era fundamentalmente<br />
mínero-metalúrgico, haja vista que 92% do VTI intracomplexo pertencia aos setores extração de<br />
minerais metálicos, ferrosos e não-ferrosos (alumínio, zinco e titânio), e metalúrgicos (siderurgia<br />
integrada, fundidos, forjados e ferro-gusa). De fato, os anos 70 representam o período crítico para<br />
o adensamento a jusante do complexo, principalmente com a instalação da FIAT automóveis em<br />
1976. A partir daí, a participação dos setores material de transporte, mecânica e material elétrico<br />
e de telecomunicações é crescente, atingindo em 1999 31% do VTI intracomplexo. Este esforço<br />
de diversificação da metal-mecânica resultou no aumento da participação do Estado nestes 3<br />
setores na indústria nacional durante a década dos 70. Entretanto, a partir da década dos 80 o<br />
setor da mecânica estadual perde significativa participação relativa em nível nacional (de 7,04%<br />
para 5,12%), que indica, como será desenvolvido na seção 4, uma fragilização na estrutura industrial<br />
mineira, pelo fato deste setor se constituir em um pilar estratégico na integração intersetorial do<br />
complexo metal-mecânico.<br />
É notável também que Minas não perde participação relativa em nenhum setor relevante<br />
da indústria nacional, mesmo em setores tradicionais como alimentos, têxtil, vestuário/calçados e<br />
mobiliário (TAB. 3). No caso dos setores do complexo têxtil/vestuário, mesmo havendo uma<br />
efetiva regressão de especialização produtiva nos tradicionais pólos do Estado, como Juiz de<br />
Fora, surgiram novas localidades mais competitivas para os novos padrões tecnológicos da indústria,<br />
como Montes Claros, ocorrendo a partir dos anos 80 uma vigorosa recuperação destes setores.<br />
Em relação ao setor alimentício, a rápida expansão e diversificação do complexo agroindustrial<br />
brasileiro nos anos 70 e 80 resultou no surgimento de novas cadeias produtivas, como soja e<br />
aves, que apresentaram mais dinamismo em outras unidades da federação, como Paraná e Santa<br />
Catarina e, mais recentemente, nos estados do Centro-Oeste. No caso dos produtos tradicionais<br />
da agropecuária mineira, pecuária de corte, pecuária leiteira e café, mesmo havendo dificuldades<br />
16 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
de desenvolvimento dos segmentos industriais destas cadeias na economia estadual, foi possível<br />
manter a participação relativa do Estado em mais de 8% da indústria nacional de alimentos.<br />
Em relação aos estados concorrentes mais industrializados, a maior queda de participação<br />
relativa no produto industrial foi do Rio de Janeiro, que sofreu uma participação descendente e em<br />
grandes proporções no período 1960/90. Em 1992, a indústria de transformação fluminense fica,<br />
pela primeira vez, abaixo da participação das indústrias mineira e gaúcha. Só não perde a posição<br />
de segunda economia industrial do país graças à grande expansão do setor de extração de petróleo<br />
na Bacia de Campos. Esta contrapõe no início da última década a tendência declinante da indústria<br />
de transformação do Estado, que ao longo de 30 anos consecutivos perdeu 10% de participação<br />
no produto nacional manufatureiro. No período 1960/80, a indústria fluminense perdeu<br />
participação em todos os gêneros da indústria nacional, com exceção de material de transportes<br />
(TAB. 4). No período subseqüente, 1980/99, vai se repetir o mesmo para o conjunto dos setores<br />
relevantes da indústria de transformação, enquanto a extrativa mineral apresenta significativo<br />
ganho de participação graças à extração de petróleo. Especificamente, as evidências indicam que<br />
possivelmente foi a indústria estadual mais atingida pela abertura e liberalização dos mercados na<br />
década passada. Com exceção do setor petroquímico básico, a estrutura industrial fluminense é<br />
excessivamente especializada em setores tradicionais, defasados tecnologicamente. Como mostra<br />
a TAB. 11, ocorreram importantes perdas nos setores alimentícios, têxtil e vestuário que, até os<br />
anos 70, eram relevantes no produto manufatureiro estadual. Ao mesmo tempo, os setores da<br />
metal-mecânica reduziram ainda mais sua participação relativa, de tal forma que se acentuou a<br />
excessiva especialização da indústria fluminense no complexo petroquímico básico. Não obstante,<br />
este complexo não progrediu em sua verticalização nas etapas de produtos orgânicos finais, como<br />
produtos farmacêuticos, perfumaria e plásticos. Os dados de 1999 podem, no entanto, ser um<br />
prenúncio de uma virada rumo à recuperação, já que, em relação ao início da década, o Estado<br />
volta a ocupar o segundo lugar na indústria de transformação nacional. Isto porque o setor<br />
siderúrgico volta a crescer sua participação relativa nacional e, num menor ritmo, o setor de material<br />
de transportes, favorecidos pelas novas plantas da Volkswagen e Peugeot.<br />
O processo de reversão da polarização industrial explica, por sua vez, a perda relativa de<br />
participação da indústria paulista na indústria nacional. Entretanto, após 30 anos de<br />
desconcentração industrial, São Paulo ainda detém quase a metade do produto manufatureiro do<br />
país. A desagregação setorial das perdas indica que os setores que mais migraram foram os menos<br />
sofisticados tecnologicamente, especialmente têxtil, vestuário/calçados e madeira/mobiliário, ou<br />
mais poluentes, como cimento e outros segmentos de minerais não-metálicos, que experimentaram<br />
um efetivo processo de relocalização. As perdas na metal-mecânica são parciais, haja visto que a<br />
relativa dispersão dos investimentos foi muito mais um fenômeno de surgimento de novas<br />
localidades complementares do que de relocalização substitutiva. Ou seja, os novos sítios surgiram<br />
em áreas localizadas em estados da federação contíguos à metrópole paulista, especialmente Minas<br />
e Paraná, possibilitando uma ampliação da complementaridade produtiva inter-regional sob a<br />
hegemonia da metal-mecânica primaz, que vem estabelecendo uma estrutura produtiva integrada<br />
inter-regionalmente. No caso do complexo químico, o fenômeno da relativa desconcentração foi<br />
resultado da ação direta do Estado Nacional, que redirecionou parte dos novos investimentos<br />
petroquímicos do II PND para o Rio Grande do Sul e Bahia. Em suma, afora o fenômeno de saída<br />
de indústrias chamadas “leves” em busca de menores custos de fatores produtivos tradicionais,<br />
como força de trabalho e custo de vida urbano, o processo de desconcentração industrial restringiuse<br />
ao polígono territorial descrito por Diniz (1993), significando em sua essência um fenômeno de<br />
ampliação territorial da metal-mecânica sob o comando da matriz produtiva da indústria paulista.<br />
Este processo só foi possível devido à drástica redução do custo de transportabilidade do fluxo<br />
de informações propiciado pela revolução nas telecomunicações e informática.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 17<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Ao lado de Minas, o Paraná foi o Estado que mais se beneficiou desta ampliação territorial da<br />
metal-mecânica paulista, que explica parte de seu significativo aumento no produto manufatureiro<br />
nacional em sua industrialização tardia. Vale dizer, ela se tornou efetivamente vigorosa ao longo dos<br />
últimos 20 anos, quando apresenta ganhos líquidos de participação de forma generalizada para quase<br />
todos os gêneros industriais (TAB. 4). Isto porque além das vantagens de proximidade à Região<br />
Metropolitana de São Paulo (RMSP), a base agropecuária do Estado foi decisiva para a industrialização<br />
paranaense. As vantagens comparativas do agronegócio propiciaram não apenas a forte expansão<br />
dos elos industriais à jusante, comandados pelo complexo exportador soja-aves, mas também a<br />
expansão à montante, especialmente de bens de capital especializados, caminhões e máquinas<br />
agrícolas, cujos efeitos de encadeamentos para trás possibilitaram certo desenvolvimento da indústria<br />
metalúrgica, enquanto seus efeitos de encadeamento para frente resultaram também em ganhos<br />
notáveis de participação nacional no segmento de material elétrico, eletrônico e de comunicações.<br />
Mais recentemente, o complexo metal-mecânico do Estado tem experimentado a continuidade do<br />
processo de diversificação em direção ao setor automobilístico, o que pode torná-lo mais competitivo<br />
frente seu concorrente mais direto, a indústria mineira.<br />
O caso da trajetória industrial do Rio Grande do Sul nestas quatro décadas é bem peculiar<br />
(TAB. 1), pois perde posição relativa no período 1960/70, mas que é revertida a partir daí.<br />
Possivelmente isto se deveu ao seu relativo isolamento do eixo Rio-São Paulo, que historicamente<br />
contribuiu para o desenvolvimento industrial gaúcho de forma relativamente autônoma da região<br />
central. Durante a década dos 60 sua perda de participação relativa concentra-se em setores<br />
tradicionais, como mobiliário, vestuário/calçados, bebidas e fumo, e na metal-mecânica, material<br />
de transporte e mecânica (TAB. 4). A indústria de transformação estadual inicia um processo<br />
mais vigoroso de recuperação a partir da década dos 70, culminando com os vultuosos investimentos<br />
do II PND na instalação do pólo petroquímico na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).<br />
Certamente esta se constituiu numa iniciativa estatal importante para a diversificação industrial<br />
do Estado, num momento que as indústrias mais tradicionais (alimentos, calçados, vinicultura e<br />
vestuário) experimentaram uma perda de participação relativa no produto estadual, típico do<br />
fenômeno de relocalização em busca de redução de custos, particularmente da força de trabalho<br />
e benefícios fiscais. No entanto, o aspecto mais notável e promissor da indústria de transformação<br />
gaúcha é a continuidade dos avanços da indústria mecânica e de material de transportes, que<br />
durante estas quatro décadas tiveram ganhos líquidos significativos de suas participações nacionais<br />
de 8,6% e 4,7%, respectivamente, o que contribuiu para o maior adensamento do complexo metalmecânico<br />
estadual. A recente instalação da planta automotiva da GM em Gravataí contribui,<br />
certamente, para reforçar esta trajetória ascendente deste complexo, haja vista as dificuldades de<br />
recuperação da posição relativa do Estado nas indústrias tradicionais, nas quais o Centro-Oeste e<br />
o Nordeste vêm adquirindo, crescentemente, vantagens comparativas.<br />
18 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 19<br />
TABELA 1<br />
PARTICIPAÇÃO RELATIVA (%) DE MINAS GERAIS E UNIDADES FEDERATIVAS CONCORRENTES NA INDÚSTRIA NACIONAL SEGUNDO O VTI<br />
1960 1970 1980 1992 1999<br />
Transform. Extrativa Total Transform. Extrativa Total Transform. Extrativa Total Transform. Extrativa Total Transform. Extrativa Total<br />
Minas Gerais 5,78 18,26 6,06 6,45 27,44 7,05 7,74 29 8,21 8,56 12,22 8,73 8,84 21,82 9,58<br />
São Paulo 55,55 8,61 54,51 58,11 6,31 56,64 53,41 6,96 52,38 53,42 0,64 50,95 48,74 2,83 46,16<br />
Rio de Janeiro 17,58 5,32 17,30 15,46 3,25 15,11 10,6 2,31 10,41 7,96 41,58 9,53 9,18 31,54 10,44<br />
Paraná 3,20 1,12 3,15 3,06 1,41 3,01 4,38 1,5 4,31 4,82 0,31 4,61 5,92 0,71 5,63<br />
Rio G. do Sul 6,97 4,65 6,92 6,33 2,40 6,22 7,36 2,01 7,24 8,79 1,23 8,44 7,90 0,94 7,51<br />
Demais Estados 10,92 62,04 12,06 10,59 59,19 11,97 16,51 58,23 17,43 16,45 44,02 17,74 19,40 42,16 20,69<br />
BRASIL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1960, 1970, 1980. Pesquisas Industriais Anuais 1992, 1999. Elaboração Própria.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
20 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TABELA 2<br />
EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS 1960 / 1999<br />
1960 1970 1980 1992 1999<br />
Valor Bruto Valor da Valor Bruto Valor da Valor Bruto Valor da Valor Bruto Valor da Valor Bruto Valor da<br />
da Transf. da Transf. da Transf. da Transf. da Transf.<br />
Gêneros da Indústria Produção Industrial Produção Industrial Produção Industrial Produção Industrial Produção Industrial<br />
00 Extração de Minerais 3,40 6,70 6,08 11,08 4,31 7,81 5,94 6,54 8,60 12,84<br />
10 Transf Prod Min Não-Metálicos 7,15 9,29 6,55 9,60 7,83 10,99 6,33 8,44 4,60 5,72<br />
11 Metalúrgica 23,72 27,65 34,84 29,86 32,13 25,67 28,72 28,95 22,04 22,64<br />
12 Mecânica 0,64 0,84 3,27 5,30 5,62 8,66 1,81 2,13 2,18 2,54<br />
13 Mat Elét. Comunic. 0,86 1,05 1,11 1,16 1,91 2,52 2,06 2,52 3,72 3,73<br />
14 Material de Transporte 1,02 1,26 0,94 1,40 5,49 6,22 10,93 7,47 15,04 9,51<br />
15 Madeira 2,71 3,34 0,88 1,13 0,62 0,75 0,12 0,15 0,37 0,40<br />
16 Mobiliario 1,28 1,49 1,37 1,59 0,95 1,09 0,46 0,50 1,80 1,61<br />
17 Papel e Papelão 1,29 1,29 0,90 0,91 1,46 2,24 1,72 2,06 0,57 0,62<br />
18 Borracha 0,37 0,56 0,31 0,31 0,33 0,40 0,41 0,42 0,38 0,45<br />
19 Couros, Peles Prod. Similares 1,45 1,67 0,60 0,59 0,34 0,34 0,31 0,24 0,39 0,25<br />
20 Quimica 1,45 1,53 5,94 4,72 11,46 8,30 13,44 12,97 9,55 10,40<br />
21 Prod. Farmacêuticos Veterinários 0,31 0,42 0,19 0,30 0,19 0,30 0,41 0,58 0,43 0,59<br />
22 Perfumaria, Sabões e Velas 0,48 0,30 0,16 0,16 0,11 0,11 0,21 0,27 1,48 1,54<br />
23 Produtos de Materias Plásticas 0,01 0,01 0,12 0,13 0,41 0,49 1,15 1,42 1,18 1,05<br />
24 Textil 14,23 14,81 7,28 8,39 5,69 6,28 4,47 4,70 4,34 4,57<br />
25 Vest., Calçados, Artef Tec. 1,95 2,06 1,29 1,18 2,04 2,66 1,47 1,38 1,36 1,49<br />
26 Produtos Alimentares 33,49 20,21 24,47 16,39 15,93 10,59 14,79 11,47 16,94 12,82<br />
27 Bebidas 1,36 1,75 0,85 1,20 0,84 0,95 1,72 2,19 1,20 1,56<br />
28 Fumo 1,00 1,32 0,89 1,54 0,97 1,47 2,98 4,82 1,03 1,31<br />
29 Editorial e Grafica 1,45 1,97 1,28 1,98 0,80 1,36 0,29 0,45 1,04 1,57<br />
30 Diversas 0,39 0,51 0,69 1,09 0,58 0,79 0,23 0,35 1,77 2,78<br />
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
FONTE: FIBGE Censos Industriais 1960, 1970, 1980. Pesquisas Industriais Anuais 1992, 1999. Elaboração Própria.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
TABELA 3<br />
PARTICIPAÇÃO RELATIVA (%) DE MINAS GERAIS NA INDÚSTRIA NACIONAL SEGUNDO O VTI<br />
Gêneros da Indústria 1960 1970 1980 1992 1999<br />
Extração de Minerais 18,26 27,44 28,99 12,22 21,82<br />
Transf. Prod. Min. Não-Metálicos 8,78 11,84 15,58 17,47 15,24<br />
Metalúrgica 14,56 18,74 18,39 23,88 22,42<br />
Mecânica 1,51 5,45 7,04 2,66 5,12<br />
Material Elétrico/Comunicação 1,63 1,56 3,27 2,87 4,72<br />
Material de Transporte 1,03 1,28 6,78 6,28 12,14<br />
Madeira 6,40 3,24 2,30 1,62 2,70<br />
Mobiliario 4,21 5,50 5,05 6,73 7,68<br />
Papel e Papelão 2,71 2,58 6,11 5,62 1,48<br />
Borracha 1,19 1,14 2,63 2,50 3,39<br />
Couros, Peles e Prod. Similares 9,48 6,62 5,97 5,97 6,04<br />
Química 1,10 3,42 4,66 7,84 6,65<br />
Prod. Farmacêuticos/Veterinários 1,04 0,65 1,50 2,22 1,56<br />
Perfumaria, Sabões e Velas 1,32 0,76 1,01 1,56 8,42<br />
Produtos de Matérias Plásticas 0,07 0,51 1,65 6,11 3,75<br />
Têxtil 7,66 6,52 8,10 9,55 13,57<br />
Vestuário, Calçados e Artef. Tecidos 3,58 2,56 4,52 4,52 5,47<br />
Produtos Alimentares 7,62 8,82 8,69 7,84 8,60<br />
Bebidas 3,75 3,76 6,50 10,18 5,04<br />
Fumo 6,26 8,53 17,74 35,49 12,31<br />
Editorial e Gráfica 4,07 3,90 4,33 1,93 3,59<br />
Diversas 1,81 3,73 2,93 1,51 ...<br />
Total Ind. Transformação 5,89 7,21 8,43 8,99 9,64<br />
FONTE: FIBGE Censos Industriais 1960, 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1992, 1999.<br />
Elaboração Própria.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 21<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
22 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TABELA 4<br />
GANHOS E PERDAS LÍQUIDAS DE PARTICIPAÇÃO RELATIVA (%) DE MINAS GERAIS E UNIDADES FEDERATIVAS CONCORRENTES NA INDÚSTRIA<br />
DE TRANSFORMAÇÃO NACIONAL (VTI) - 1960/1980 E 1980/1999<br />
1960/1980 1980/1999<br />
Gêneros da Indústria MG SP RJ PR RS Outros MG SP RJ PR RS Outros<br />
00 Extração de Minerais 10,73 -1,65 -3,01 0,38 -2,64 -3,81 -7,17 -4,13 29,22 0,77 -1,07 -17,63<br />
10 Transf Prod Min Não-Metálicos 6,80 -10,70 -8,98 2,41 -1,47 11,94 -0,34 -0,98 -2,16 0,65 0,05 2,79<br />
11 Metalúrgica 3,83 10,67 -21,06 0,46 0,72 5,37 4,03 -15,84 -2,04 1,17 0,67 12,01<br />
12 Mecânica 5,53 -12,07 -4,14 0,91 2,95 6,82 -1,92 -7,14 -4,23 4,23 5,61 3,45<br />
13 Mat Elét. Comunic. 1,64 -15,55 -5,68 1,86 0,96 16,77 1,45 -3,50 -5,80 3,93 0,28 3,64<br />
14 Material de Transporte 5,76 -18,15 4,88 0,75 2,64 4,13 5,36 -5,10 -8,68 5,19 2,10 1,13<br />
15 Madeira -4,10 -0,99 -3,88 -1,72 -6,01 16,70 0,39 -1,51 -0,62 3,98 -1,90 -0,35<br />
16 Mobiliario 0,84 -13,90 -8,57 5,18 7,30 9,16 2,63 -2,21 -3,58 -0,13 5,16 -1,88<br />
17 Papel e Papelão 3,41 -7,35 -8,42 3,33 -0,18 9,21 -4,63 -2,32 -5,71 1,37 -1,09 12,38<br />
18 Borracha 1,44 -11,78 -1,50 1,63 4,98 5,23 0,77 -4,49 5,33 -0,24 2,37 -3,74<br />
19 Couros, Peles Prod. Similares -3,52 -2,10 -6,24 -0,22 17,93 -5,85 0,07 -6,98 1,17 3,92 -2,51 4,38<br />
20 Quimica 3,56 -10,61 -0,86 5,62 0,05 2,24 1,99 -5,49 0,91 -1,21 2,62 1,18<br />
21 Prod. Farmacêuticos Veterinários 0,45 14,60 -17,42 0,18 0,85 1,33 0,07 9,60 -10,83 0,22 -1,32 2,26<br />
22 Perfumaria, Sabões e Velas -0,32 21,73 -17,77 -0,05 -0,42 -3,17 7,41 1,06 -6,53 1,29 -0,20 -3,02<br />
23 Produtos de Materias Plásticas 1,58 8,31 -32,29 2,46 4,30 15,64 2,10 2,69 -8,62 2,27 0,61 0,96<br />
24 Textil 0,43 -3,29 -6,15 2,15 1,28 5,57 5,48 -12,25 -4,27 -0,27 0,10 11,21<br />
25 Vest., Calçados, Artef Tec. 0,94 -12,20 -6,28 0,32 2,81 14,41 0,95 -10,73 -10,83 8,01 5,31 9,17<br />
26 Produtos Alimentares 1,07 -1,24 -4,72 -0,19 -2,40 7,47 -0,10 3,35 -3,63 1,35 -2,75 1,78<br />
27 Bebidas 2,75 -13,25 -12,45 0,59 9,01 13,36 -1,46 0,79 0,42 1,32 -11,31 10,24<br />
28 Fumo 11,47 -16,28 -15,49 2,99 14,22 3,10 -5,42 -21,13 -1,68 0,48 34,20 -6,44<br />
29 Editorial e Grafica 0,26 -0,38 -2,22 0,28 -1,94 4,01 -0,74 9,26 -11,81 0,87 1,75 0,66<br />
30 Diversas 1,12 -5,49 0,70 -0,07 -0,30 4,03 ... ... ... ... ... ...<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
1,96 -3,67 -7,28 1,18 0,39 5,59 1,16 -2,87 -1,11 1,55 1,53 3,95<br />
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1960, 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1992, 1999.<br />
Elaboração Própria.
1.3. 1.3. Diferenças inter-regionais de desempenho<br />
industrial<br />
Existem importantes diferenças inter-regionais de desempenho industrial. O crescimento<br />
do produto industrial favorece em todo período o processo de desconcentração industrial do eixo<br />
São Paulo-Rio em direção aos dois estados sulinos e Minas Gerais e, em menor ritmo, os demais<br />
estados da federação (TAB. 5). Observa-se que para o último período, 1985-1999, esta tendência<br />
de mantém, muito embora na década de 90 ocorra uma redução generalizada do ritmo de<br />
crescimento, que também reduz o próprio diferencial das taxas de crescimento inter-estadual.<br />
A decomposição setorial do crescimento mostra que o carro-chefe da desconcentração são os<br />
setores da metal-mecânica e química para os três estados da “periferia próxima”, em que pese<br />
importantes diferenças de crescimento intersetorial entre os estados industriais emergentes.<br />
No caso de Minas a indústria de material de transportes lidera o crescimento, seguido por<br />
extração mineral, metalurgia e produtos alimentares, enquanto a mecânica perde o dinamismo dos<br />
anos 70. Para o Paraná, lideram as indústrias de material elétrico, eletrônico e de comunicações,<br />
material de transporte, mecânica e produtos alimentares. E no Rio Grande do Sul, lideram as<br />
indústrias química, material de transporte e mecânica, ao mesmo tempo em que apresentam taxas<br />
negativas de crescimento expressivas para a indústria de couros e calçados nos últimos 15 anos.<br />
O crescimento diferenciado dos estados da “periferia mais distante” é liderado pelos setores<br />
da chamada indústria leve, têxtil, vestuário e calçados e alimentos, que inclusive começam ao<br />
longo do tempo a perder participação relativa dos três estados maiores beneficiários da<br />
desconcentração. Deve ser salientado também o bom desempenho nos outros estados da federação<br />
das indústrias química, material elétrico, eletrônico e de comunicações e metalúrgica puxados,<br />
respectivamente, pelos estados do Bahia, Amazonas, Pará e Maranhão.<br />
É também digna de nota a parcial recuperação do Rio de Janeiro no período 1985-1999,<br />
que vai apresentar não apenas excepcional desempenho da indústria extrativo, puxado pelo setor<br />
petrolífero, mas taxas positivas de crescimento acima da média nacional da indústria de<br />
transformação, puxado pelos setores à jusante do complexo químico, ou seja, farmacêutico e<br />
veterinário, perfumaria e plásticos. Outra revelação também importante é que São Paulo parece<br />
ser a indústria estadual a mais sofrer com as profundas mudanças macroeconômicas a partir de<br />
1985 e, posteriormente, com o processo de abertura da economia brasileira nos anos 90. A principal<br />
razão desta maior vulnerabilidade aparente é o fato da estrutura industrial paulista ser mais completa<br />
e, portanto, relativamente mais exposta às vicissitudes dos choques macroeconômicos e das<br />
importações, pelo menos no curto e médio prazos. Porém, como as demais economias estaduais<br />
são fortemente dependentes do desempenho da indústria paulista, via efeitos de encadeamentos<br />
inter-regionais, é de se esperar que no longo prazo se tornem as mais prejudicadas pelas instabilidades<br />
macroeconômicas e choques externos.<br />
No entanto, o crescimento diferenciado da produtividade agregada do trabalho não<br />
acompanha, em seus grandes contornos, aquele apresentado pelo VTI entre os principais estados<br />
analisados (TAB. 6). Minas Gerais apresenta crescimento na produtividade superior ao de São<br />
Paulo e Rio de Janeiro na década dos 70, perdendo fôlego relativo a partir dos anos 80. Apesar<br />
disso, mantém taxas positivas de crescimento, com exceção dos primeiros anos da década dos 80,<br />
quando se combinam os efeitos adversos da forte contração do produto industrial brasileiro e o<br />
nível relativamente alto já atingido pelo esforço da década anterior. No último período, 1985-99,<br />
o Estado volta a experimentar taxas de crescimento positivas da produtividade do trabalho mas<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 23<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
em um ritmo bem inferior ao de São Paulo e da média brasileira para a indústria de transformação,<br />
com exceção indústrias de material de transportes, minerais não-metálicos e extrativa mineral,<br />
que continuam a crescer acima da média nacional. O diferencial de crescimento médio entre as<br />
indústrias paulista e mineira é de 1,55% ao ano durante 15 anos, ou seja, a produtividade da<br />
indústria paulista neste período cresce 58% acima da mineira, o que resulta na perda de todo<br />
esforço de apanhamento de produtividade industrial realizado nos 15 anos anteriores, período<br />
1970-1985.<br />
Desta forma, a evolução do nível e hiato de produtividade do trabalho na indústria de<br />
transformação resulta na manutenção do hiato dos anos 70, ficando claro que as posição relativa<br />
de São Paulo se mantêm, principalmente em relação a Minas Gerais e Paraná, ao passo que Rio<br />
Grande do Sul apresenta alguma melhoria ao longo deste 30 anos. O hiato de produtividade na<br />
indústria de transformação é eliminado apenas no caso do Rio de Janeiro, que recupera no último<br />
período as perdas obtidas ao longo da década de 70 e primeira metade da década de 80 (GRAF. 1<br />
e TAB. 7). As únicas indústrias que Minas suplanta São Paulo são as que o Estado já possuía<br />
vantagens comparativas nos anos 70, vale dizer extrativa mineral, metalurgia e minerais nãometálicos.<br />
O único apanhamento (catching up) significativo nestes 30 anos foi na indústria de material<br />
de transporte, em que a indústria mineira passa a ter uma produtividade do trabalho de 21% acima<br />
da paulista. No caso do Rio, chama atenção a perda de eficiência relativa das indústrias fluminense<br />
a jusante do complexo petroquímico, farmacêutica e plásticos, que passam de níveis de<br />
produtividade superiores a São Paulo em 1970 (40% e 20%) para um hiato significativo (14% e<br />
49%) em 1999, enquanto que a indústria química de base sustenta neste período um crescimento<br />
da produtividade acima da média nacional e de São Paulo. A maioria das indústrias fluminenses<br />
do complexo metal-mecânico também apresenta um expressivo desempenho de crescimento da<br />
produtividade do trabalho nos últimos 15 anos. Este desempenho na química e nas indústrias de<br />
metal-mecânico da indústria de transformação fluminense possibilita, desta forma, a eliminação<br />
do seu hiato de produtividade em relação à indústria paulista.<br />
24 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 25<br />
TABELA 5<br />
TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL (%) DA INDÚSTRIA SEGUNDO OS GÊNEROS - MINAS GERAIS E UNIDADES FEDERATIVAS CONCORRENTES<br />
1970/1980 1996/1999<br />
GÊNERO MG SP RJ PR RS OUTROS BRASIL MG SP RJ PR RS OUTROS BRASIL<br />
Extração de Minerais 7,75 8,21 3,56 7,83 5,27 6,98 7,15 4,92 -10,42 176,92 -4,65 -7,76 -1,41 12,45<br />
Transf. Prod. Min. Não-Metálicos 11,73 6,28 5,14 13,41 9,74 12,79 8,70 5,15 -0,13 2,19 5,52 2,25 3,35 2,19<br />
Metalúrgica 13,06 13,55 9,34 17,12 13,52 20,62 13,27 2,45 -1,53 -10,33 3,09 1,29 10,34 0,47<br />
Mecânica 20,44 17,04 11,77 20,80 19,43 26,31 17,41 11,64 -4,28 -0,66 6,39 1,66 0,54 -1,65<br />
Material Elétrico/Comunicação 24,31 13,13 11,38 41,87 14,13 36,08 15,42 16,60 0,50 1,18 -6,34 -2,07 -6,88 -1,31<br />
Material de Transporte 34,69 12,06 15,75 20,64 17,98 25,78 13,97 -5,65 -4,23 17,37 43,80 6,74 2,89 -1,04<br />
Madeira -0,70 3,14 -7,47 1,49 -0,16 5,15 2,76 11,11 8,90 -5,24 17,04 8,25 7,63 10,24<br />
Mobiliario 7,23 5,98 0,36 13,24 15,27 14,34 8,15 1,72 -0,09 -21,82 2,78 10,56 2,87 1,24<br />
Papel e Papelão 24,28 11,77 9,21 17,69 18,14 21,72 14,03 -31,52 -9,69 -4,36 5,80 0,30 7,94 -4,23<br />
Borracha 16,28 5,75 5,51 10,02 14,84 14,78 6,95 17,60 -3,72 2,48 -4,46 -9,84 -7,77 -3,53<br />
Couros, Peles e Prod. Similares 5,29 6,26 -0,49 5,60 8,57 8,34 6,38 -10,98 -4,96 -3,83 -5,43 4,42 4,42 69,42<br />
Química 12,32 8,92 0,35 21,61 8,46 14,41 8,90 6,42 1,73 12,20 9,97 -0,35 -0,93 2,68<br />
Prod. Farmacêuticos/Veterinários 5,92 -2,69 -1,26 - 5,61 -11,81 -2,51 2,62 0,15 -9,30 22,09 -23,79 -0,03 -1,96<br />
Perfumaria, Sabões e Velas 1,74 -0,90 -4,36 3,92 4,28 3,58 -1,08 23,25 0,47 -4,87 -7,90 11,79 -6,50 0,78<br />
Produtos de Matérias Plásticas 28,90 13,15 12,28 17,28 24,79 21,01 14,71 6,49 -4,56 -17,74 -1,16 -2,79 -6,03 -5,10<br />
Têxtil 12,26 8,34 5,43 10,53 12,60 15,40 9,85 17,51 -4,01 -3,70 -1,52 23,33 5,61 2,14<br />
Vestuário, Calçados e Artef. Tecidos 28,64 18,04 18,64 31,80 22,99 33,66 21,52 -10,77 -14,80 -9,17 7,97 -57,38 -8,81 -19,36<br />
Produtos Alimentares 6,05 5,07 2,10 8,93 7,25 8,87 6,21 -2,04 -2,00 1,41 -7,33 -2,13 0,75 -1,66<br />
Bebidas 8,45 0,37 -2,67 1,68 6,61 7,25 2,67 -12,95 -5,31 -10,43 9,64 -0,99 -3,97 -5,16<br />
Fumo 12,28 -0,82 -18,01 - 13,92 6,59 4,36 -31,84 -45,68 -11,82 -38,21 66,36 26,69 6,81<br />
Editorial e Gráfica 7,78 6,15 6,27 4,58 5,85 11,69 6,66 -3,45 -5,04 -8,80 -10,66 20,46 -8,84 -5,35<br />
Diversas 8,36 10,58 10,38 14,09 9,80 17,94 11,00 50,72 73,99 25,32 106,95 3,87 ... ...<br />
FONTE: FIBGE:Censos Industriais 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1996, 1999. Elaboração Própria.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 6<br />
TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL (%) DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO* NA INDÚSTRIA DE<br />
TRANSFORMAÇÃO - MINAS GERAIS E UNIDADES FEDERATIVAS CONCORRENTES<br />
1970-1980 1980-1985 1985-1999<br />
Minas Gerais 4,55 -3,34 2,69<br />
São Paulo 3,58 -4,37 4,24<br />
Rio de Janeiro 3,35 -5,81 5,58<br />
Paraná 6,28 -0,95 1,83<br />
Rio G. do Sul 4,04 -3,69 5,22<br />
Demais Estados 6,27 -1,94 1,92<br />
BRASIL 3,81 -3,83 3,47<br />
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1996,1999. Elaboração Própria.<br />
* Produtividade do Trabalho = VTI / Pessoal Ocupado<br />
GRÁFICO 1<br />
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1996 e 1999. Elaboração Própria.<br />
* Produtividade do Trabalho = VTI / Pessoal Ocupado<br />
26 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 7<br />
HIATO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO* DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE<br />
MINAS GERAIS E PRINCIPAIS CONCORRENTES EM RELAÇÃO A SÃO PAULO - 1970-1980<br />
GÊNERO<br />
ANOS<br />
1970 1980 1985 1999<br />
MG 0,77 0,89 0,89 0,72<br />
RJ 0,97 0,95 0,88 1,05<br />
PR 0,61 0,79 0,94 0,68<br />
RS 0,65 0,67 0,70 0,80<br />
Outros 0,49 0,64 0,72 0,53<br />
BRASIL 0,84 0,86 0,89 0,80<br />
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1970, 1980, 1985 e Pesquisa Industrial Anual, 1999. Elaboração Própria.<br />
* Hiato de Produtividade = Produtividade da UF / Produtividade de São Paulo<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 27<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
1.4. 1.4. Integração e complementaridade<br />
intersetorial intersetorial e inter-regional<br />
inter-regional<br />
1.4.1. Integração produtiva do complexo metal-mecânico<br />
Tendo como referência as diferenças inter-regionais da estrutura produtiva e<br />
desempenho industrial das economias estaduais analisadas nas seções 1.2 e 1.3,<br />
respectivamente, será desenvolvida a seguir uma análise da integração e complementaridade<br />
intersetorial e inter-regional da indústria mineira. Em função da inexistência de uma matriz<br />
completa de insumo-produto inter-regional no Brasil, será utilizada a matriz brasileira de<br />
1996 elaborada por Silva (2001), que decompõe as transações nacionais em três “regiões”,<br />
Minas Gerais, São Paulo e Resto do Brasil. Optou-se por utilizar a decomposição de Silva<br />
(2001) a despeito das vantagens metodológicas da Matriz Inter-Regional de Insumo-Produto<br />
Minas Gerais/Resto do Brasil, 1996 desenvolvida pelo <strong>BDMG</strong> (2001) 2 . Esta, entretanto,<br />
restringe a decomposição regional para Minas Gerais e Resto do Brasil, comprometendo<br />
uma análise da integração industrial entre São Paulo e Minas. Para efeito de facilidade de<br />
exposição, será empregado livremente o termo “complexo industrial” para analisar um<br />
conjunto específico de setores que, por suas características tecnológicas, possuem uma<br />
forte intensidade de trocas inter-setoriais relativamente aos demais setores da matriz<br />
industrial. Neste sentido, toma-se emprestado a identificação setorial dos complexos<br />
tradicionalmente aceita na literatura brasileira, tendo como referência os trabalhos de<br />
Haguenauer (1984) e Prochnik (1987).<br />
Será priorizada nesta análise a integração intersetorial e inter-regional da indústria<br />
de transformação dos setores do complexo metal-mecânico, considerando que aí se<br />
encontram os fluxos setoriais mais intensos dentro da indústria mineira e de sua integração<br />
com a indústria paulista. Além disso, o complexo metal-mecânico pode ser considerado<br />
como o núcleo estruturante da indústria de transformação, por ser o maior difusor<br />
intersetorial de tecnologia e mediador das trocas intermediárias de todo o sistema de<br />
indústrias. A classificação setorial da matriz desagrega os 4 gêneros da metal-mecânica em<br />
8 setores industriais. No entanto, na análise dos índices de encadeamento e multiplicadores<br />
de produto e emprego incorporou-se o conjunto da indústria de transformação.<br />
As TAB. 8, 9 e 10 apresentam as matrizes de coeficientes técnicos ajustadas de Minas<br />
Gerais, São Paulo e Resto do Brasil. Foi realizada uma normalização dos elementos dos<br />
coeficientes de insumos para metal-mecânica, de tal forma que o somatório das contribuições<br />
da oferta de insumos das 3 “regiões” para cada setor nacional da indústria pertencente ao<br />
complexo é igual a 1. O principal resultado, no que concerne ao fluxo de transações do<br />
complexo metal-mecânico em nível inter-regional, confirma análise anterior referente às<br />
transações agregadas interestaduais por vias internas. A intensidade da integração produtiva<br />
entre a metal-mecânica paulista e mineira é bem superior à observada entre São Paulo e o<br />
Resto do Brasil. A compreensão da intensidade da integração envolve as duas direções do<br />
fluxo das trocas inter-regionais de insumos intermediários, excluindo as trocas relativas à<br />
2 A principal vantagem da metodologia do estudo do <strong>BDMG</strong> (2001) é a realização de um ajuste para os dados de fluxos regionais<br />
estimados inicialmente pelo método dos quocientes locacionais, através de um procedimento ad hoc que incorpora as informações<br />
sobre o comércio interestadual de Minas Gerais do CONFAZ (1999).<br />
28 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
demanda final. Ou seja, referem-se às compras e vendas inter-regionais de insumos para<br />
atender às demandas intermediárias dos setores de cada região necessárias para entregar<br />
seus produtos à demanda final nacional.<br />
Neste sentido, os setores da metal-mecânica paulista compram dos setores da metalmecânica<br />
mineira e vice-versa, de tal forma a se conformar uma verdadeira<br />
complementaridade produtiva interestadual neste “núcleo duro” da indústria de<br />
transformação. Surpreendentemente, esta relação não se verifica entre São Paulo e o Resto<br />
do Brasil, considerando que esta última “região” inclui os estados do Rio de Janeiro, Paraná<br />
e Rio Grande do Sul. A metal-mecânica do Resto do Brasil compra intensamente insumos<br />
da metal-mecânica paulista mas a recíproca não se verifica. Existe uma relação unilateral<br />
de trocas entre estas duas “regiões”, pois as compras de São Paulo em relação ao resto do<br />
Brasil são inexistentes.<br />
Surgem, portanto, três importantes evidências das informações da matriz interregional<br />
de 1996 para o complexo metal-mecânico. A primeira refere-se à progressão<br />
qualitativa das relações de troca intersetoriais entre São Paulo e Minas no sentido da<br />
complementaridade e integração produtiva do “núcleo duro” da indústria de transformação.<br />
Entretanto, a desagregação setorial desta integração mostra que as vendas de insumos de<br />
Minas se restringem aos dois setores metalúrgicos, principalmente a siderurgia básica. Neste<br />
sentido, a qualidade da integração ainda não progrediu para os elos superiores da cadeia de<br />
valores, em particular para os setores que mais avançaram em Minas nos últimos 20 anos,<br />
o automotivo e de autopeças. Inversamente, as vendas de São Paulo para Minas se<br />
concentram nos elos superiores da cadeia, especialmente os setores equipamentos eletrônicos<br />
e de telecomunicações, material elétrico e máquinas e equipamentos.<br />
A segunda refere-se, de forma indireta, à completa desintegração produtiva entre<br />
São Paulo e Rio de Janeiro, confirmando as fragilidades da indústria de transformação<br />
fluminense. A terceira, também indireta, é que os avanços dos complexos metal-mecânico<br />
paranaense e gaúcho nos anos 90 ainda não se refletiram nas relações de trocas bilaterais<br />
com a indústria metal-mecânica paulista, que aparece como vendedora unilateral relevante<br />
em todos os setores superiores do complexo: equipamentos eletrônicos e de<br />
telecomunicações, material elétrico, máquinas e equipamentos, automotivo e autopeças.<br />
Do ponto de vista das transações intersetoriais dentro da metal-mecânica mineira, as<br />
fortalezas e fragilidades são evidentes. As fortalezas são: primeiro, as intensas transações<br />
de compra e venda dos setores localizados na base do complexo – siderurgia, produtos<br />
metalúrgicos e metálicos não-ferrosos – com os setores dos elos superiores do complexo;<br />
segundo, o significativo desenvolvimento da cadeia automotiva, que envolve fortes relações<br />
de compras entre os setores automotivo e de autopeças, compras e vendas inter-firmas<br />
dentro do setor de autopeças e algum nível de compras dos dois setores da cadeia em<br />
relação ao setor de máquinas e equipamentos, mesmo que em níveis inferiores às compras<br />
dos setores congêneres ao setor de máquinas e equipamentos paulista. As fragilidades, por<br />
sua vez, são: primeiro, a pequena participação nas trocas intersetoriais do complexo dos<br />
setores material elétrico e equipamentos eletrônicos e de telecomunicações, com relações<br />
menos intensas do que o observado na metal-mecânica paulista, inclusive intrasetorialmente;<br />
segundo, o setor de máquinas e equipamentos participa menos intensamente<br />
nas trocas intra e inter-setoriais do complexo do que o seu congênere paulista, indicando as<br />
dificuldades de desenvolvimento deste setor na indústria mineira além de sua integração<br />
com os setores de base mínero-metalúrgicos.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 29<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
1.4.2. Encadeamentos intersetoriais e inter-regionais da indústria de<br />
transformação<br />
A análise dos encadeamentos leva em conta o conjunto dos setores da economia de<br />
cada região, mesmo que o foco analítico esteja voltado para a indústria de transformação. As<br />
TAB. 11 a 15 apresentam os principais resultados para 26 setores industriais desta indústria,<br />
com a exclusão dos setores borracha e diversos.<br />
A TAB. 11 apresenta os índices puros de ligação inter-regional (IPLI). A vantagem<br />
deste índice em relação ao índice tradicional de Rasmussen-Hirschman é a incorporação do<br />
valor absoluto da produção em seu cálculo, medindo tanto o nível de interação intersetorial<br />
de cada setor, via coeficientes técnicos, como sua influência pelo nível de produção setorial<br />
(Guilhoto et al., 1996). Além da normalização feita por Silva (2001) para a média igual a 1,<br />
todos os índices normalizados foram divididos pelo valor do maior índice dos 26 setores da<br />
indústria de transformação, de tal forma que os valores apresentados na tabela variassem<br />
entre 0 e 1.<br />
Vários aspectos interessantes emergem dos resultados apresentados. O primeiro é que<br />
a siderurgia básica aparece como o único setor da indústria mineira de transformação entre<br />
os 26 setores (de um total de 78) que possuem maior poder de encadeamento inter-setorial e<br />
inter-regional. Isto mostra o pequeno poder de propagação setorial da indústria mineira no<br />
contexto nacional, além de suas ligações mais estreitas com a indústria paulista.<br />
O segundo aspecto é a ampla presença dos setores do agronegócio entre os de maior<br />
poder de encadeamento, 7 em 26, sendo 5 entre os 10 maiores. Este resultado confirma os<br />
diversos estudos na literatura sobre a relevância deste complexo para a economia brasileira.<br />
O desenvolvimento da agroindustrialização, através de cadeias por produto ou grupos de<br />
produtos agrícolas, nos anos 70 e 80, se constituiu na última etapa do processo de modernização<br />
da agricultura brasileira, resultando em um complexo produtivo baseado em fortes ligações<br />
inter-setoriais (Lemos, 1992). Chama a atenção a ausência dos setores da agroindústria mineira<br />
dentre os 7 setores agro-industriais com maior poder de encadeamento na economia brasileira,<br />
na medida em que o Estado possui o maior rebanho bovino do país e é o maior produtor de<br />
leite e café. Em contraste, existe uma grande presença de setores agro-industriais do “Resto<br />
Brasil”, ratificando a relevância das cadeias agro-industriais nos estados da Região Sul e do<br />
Centro-Oeste.<br />
Finalmente, o terceiro aspecto relevante é a dominância dos setores paulistas nos dois<br />
complexos tecnologicamente mais dinâmicos da indústria de transformação, o metal-mecânico<br />
e o químico-farmacêutico, que possuem 14 dos 26 setores de maior poder de encadeamento,<br />
sendo que destes 14 setores 9 são de São Paulo. Este fato se constitui em mais uma forte<br />
evidência do papel estruturante da indústria de transformação paulista na economia brasileira,<br />
mantendo-se como o único centro urbano-industrial polarizador de todo macro espaço do<br />
território nacional.<br />
Os índices puros de ligação intra-regional (TAB. 12) confirmam a interpretação sobre<br />
a indústria mineira realizada nas seções anteriores. Em primeiro lugar, os elevados níveis de<br />
encadeamentos inter-setoriais dos setores automotivo e autopeças indicam a consolidação<br />
destes novos setores no complexo metal-mecânico mineiro ao longo dos últimos vinte anos.<br />
Da mesma forma, a fragilidade dos setores material elétrico e equipamentos eletrônicos e de<br />
telecomunicações no complexo estadual fica evidenciada, ocupando o setor de máquinas e<br />
equipamentos uma posição intermediária se comparado ao seu congênere paulista.<br />
30 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Em segundo lugar, a despeito do pequeno poder de encadeamento inter-regional do<br />
complexo agro-industrial mineiro, seu efeito irradiador na economia mineira é bem significativo,<br />
particularmente em função de seus efeitos de encadeamento para trás na agropecuária. No<br />
entanto, os setores ligados aos dois produtos agrícolas mais importantes do Estado, leite e café,<br />
possuem um baixo poder de encadeamento, reforçando as preocupações anteriores.<br />
Em terceiro lugar, chama a atenção alguns aspectos dos setores dos demais complexos<br />
mineiros. O resultado mais surpreendente do poder de encadeamento da indústria mineira<br />
encontra-se nos setores do complexo químico, que não se constitui na área de especialização<br />
industrial do Estado. Em que pese esta observação, 3 dos 5 setores deste complexo apresentam<br />
um nível de encadeamento semelhante ao de seu congênere do complexo paulista, especialmente<br />
os setores de elementos químicos (inorgânicos) e químicos diversos (orgânicos). Como<br />
apresentado nas seções 2 e 3, de fato a indústria química mineira cresceu a taxas significativas<br />
nos anos 80 e 90, o que explica o aumento de sua participação em torno de 7% na indústria<br />
química nacional na última década. Este fato merece um estudo mais cuidadoso, mas existem<br />
fortes evidências de que os investimentos do II PND realizados no segmento de insumos<br />
químicos ligados a agropecuária (fertilizantes e defensivos) tiveram impactos relevantes na<br />
economia estadual. Mais recentemente têm também ocorrido uma rápida expansão da indústria<br />
plástica em virtude do maior adensamento da cadeia automotiva. Outro aspecto interessante,<br />
mesmo que não surpreendente, é a importância dos efeitos de encadeamentos para frente do<br />
setor de minerais não-metálicos na cadeia estadual da construção civil, o que reforça o<br />
entendimento da necessidade de manter a boa posição de Minas neste setor em nível nacional.<br />
Por fim, fica claro, pelos dados, a desagregação dos setores do complexo têxtil no Estado, que<br />
apresentam de forma generalizada um baixo poder de encadeamento na economia estadual.<br />
O último aspecto da análise integrada, inter-regional e intersetorial, refere-se aos<br />
multiplicadores de produção e emprego que, em grandes linhas confirmam o diagnóstico<br />
precedente. As TAB. 13 e 14 apresentam os multiplicadores de produção dos setores da indústria<br />
de transformação mineira e paulista, respectivamente. O multiplicador inter-regional de produção<br />
mede os efeitos diretos e indiretos da variação de 1 unidade monetária de demanda final de um<br />
setor i de uma região j sobre a produção (em unidades monetárias) de cada uma das n regiões da<br />
matriz inter-regional.<br />
Os efeitos dos multiplicadores em nível inter-regional evidenciam, por um lado, a existência<br />
de um elevado nível de integração produtiva entre os setores dos complexos metal-mecânico paulista<br />
e mineiro, pois as variações setoriais de um Estado geram um significativo efeito multiplicador sobre<br />
ambas economias estaduais. Os maiores efeitos do aumento de demanda dos setores mineiros sobre<br />
a economia paulista são daqueles setores localizados nos elos superiores do complexo, de maior<br />
agregação de valor: material elétrico, equipamentos eletrônicos, automotivo e autopeças. Os efeitos<br />
inversos, ou seja, da demanda dos setores paulistas sobre a economia mineira ocorre principalmente<br />
nos setores de base do complexo, a siderurgia básica e produtos metalúrgicos. E num grau menor<br />
ocorre nos setores automotivo e autopeças, que indica um relativo grau de complementaridade na<br />
cadeia de suprimentos interestaduais entre montadoras e fornecedores.<br />
Por outro lado, as evidências baseadas nos efeitos dos multiplicadores de produção indicam<br />
uma maior integração produtiva entre São Paulo e o “Resto do Brasil” para os setores dos<br />
demais complexos da indústria de transformação, muito embora a agregação de todos os demais<br />
estados da federação em uma única região pode superestimar os efetivos níveis de integração<br />
interestaduais. Os casos mais contundentes desta integração são os setores dos complexos<br />
químico-farmacêutico e agroindustrial, nos quais os aumentos das demandas setoriais de São<br />
Paulo geram impactos significativos sobre as economias do restante do país. Deve-se mencionar<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 31<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
que, neste caso, as trocas intra-setoriais do complexo químico paulista com os pólos<br />
petroquímicos do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador, como também as compras das<br />
indústrias alimentícias e fumageira paulistas dos setores de processamento primário dos<br />
complexos agro-industriais do Centro-Oeste e Paraná. Por sua vez, os únicos setores industriais<br />
paulistas destes complexos geradores de impactos substanciais sobre a economia mineira são os<br />
setores de moagem e torrefação de café e de laticínios, que possuem fortes ligações para trás<br />
com a cafeicultura e pecuária leiteira do Triângulo Mineiro e Sul de Minas.<br />
Finalmente, as TAB. 15 e 16 mostram os efeitos multiplicadores sobre a geração de<br />
empregos, em números absolutos, nas economias regionais a partir da variação de demanda de<br />
um setor i da região j no valor de 1 milhão de reais. Em função do nível de integração produtiva<br />
nacional da indústria de transformação de São Paulo, os efeitos multiplicadores de emprego dos<br />
setores industriais paulista são significativos e bem superiores aos dos setores mineiros, que<br />
possuem um limitado nível de integração com outros estados da federação além de São Paulo.<br />
Neste sentido, os efeitos multiplicadores da indústria mineira possuem poucos vazamentos<br />
para fora da economia estadual, ficando autocontidos em nível intra-regional, enquanto os<br />
multiplicadores de emprego dos setores da indústria paulista possuem fortes vazamentos interregionais.<br />
Além destas diferenças inter-regionais, um aspecto comum que chama atenção, tanto<br />
na indústria paulista como mineira, são as fortes diferenças intersetoriais na geração de empregos,<br />
sendo que os setores dos complexos mais intensivos em trabalho, como o agroindustrial e têxtil,<br />
apresentam multiplicadores superiores aos dos setores dos complexos mais dinâmicos, porém<br />
intensivos em capital, especialmente o metal-mecânico e o químico-farmacêutico.<br />
32 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 33<br />
TABELA 8<br />
MATRIZ DE COEFICIENTES TÉCNICOS AJUSTADA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SETORES SELECIONADOS, 1996<br />
SÃO PAULO<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
SIDERURGIA METALURGIA OUTROS MÁQUINAS E MATERIAL EQUIPAMENTOS AUTOM.,ÔNIBUS PEÇAS/OUTROS<br />
NÃO FERROSOS METALÚRGICOS TRATORES ELÉTRICO ELETRÔNICOS E CAMINHÕES VEÍCULOS<br />
SÃO PAULO<br />
1 SIDERURGIA 0,2472 0,0070 0,3120 0,1289 0,0564 0,0379 0,0784 0,0596<br />
2 PROD. METALÚRGICOS NÃO FERROSOS 0,0172 0,8101 0,1051 0,0741 0,2655 0,1009 0,0167 0,0764<br />
3 OUT. PROD. METALÚRGICOS 0,0492 0,0631 0,2140 0,3955 0,1651 0,1992 0,0942 0,2744<br />
4 MÁQUINAS E TRATORES 0,0740 0,0858 0,0752 0,1084 0,1762 0,1255 0,0864 0,1204<br />
5 MATERIAL ELÉTRICO 0,0073 0,0090 0,0089 0,0995 0,2707 0,2615 0,0118 0,0203<br />
6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0,0027 0,0021 0,0017 0,0162 0,0153 0,2467 0,0018 0,0044<br />
7 AUTOM.,CAMINHÕES E ÔNIBUS 0,0017 0,0030 0,0033 0,0084 0,0031 0,0035 0,0449 0,0179<br />
8 OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS 0,0018 0,0082 0,0051 0,0734 0,0092 0,0088 0,6298 0,3834<br />
MINAS GERAIS<br />
1 SIDERURGIA 0,5981 0,0112 0,2736 0,0952 0,0382 0,0157 0,0357 0,0429<br />
2 PROD. METALÚRGICOS NÃO FERROSOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
3 OUT. PROD. METALÚRGICOS 0,0004 0,0000 0,0009 0,0004 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002<br />
4 MÁQUINAS E TRATORES 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
5 MATERIAL ELÉTRICO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
7 AUTOM.,CAMINHÕES E ÔNIBUS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
8 OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
RESTO DO BRASIL<br />
1 SIDERURGIA 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
2 PROD. METALÚRGICOS NÃO FERROSOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
3 OUT. PROD. METALÚRGICOS 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000<br />
4 MÁQUINAS E TRATORES 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000<br />
5 MATERIAL ELÉTRICO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
7 AUTOM.,CAMINHÕES E ÔNIBUS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
8 OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
TOTAL (Produção Nacional) 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000<br />
FONTE: SILVA, 2001. Elaboração Própria.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
34 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TABELA 9<br />
MATRIZ DE COEFICIENTES TÉCNICOS AJUSTADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SETORES SELECIONADOS, 1996<br />
MINAS GERAIS<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
SIDERURGIA METALURGIA OUTROS MÁQUINAS E MATERIAL EQUIPAMENTOS AUTOM.,ÔNIBUS PEÇAS/OUTROS<br />
NÃO FERROSOS METALÚRGICOS TRATORES ELÉTRICO ELETRÔNICOS E CAMINHÕES VEÍCULOS<br />
SÃO PAULO<br />
1 SIDERURGIA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
2 PROD. METALÚRGICOS NÃO FERROSOS 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000<br />
3 OUT. PROD. METALÚRGICOS 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0006 0,0006 0,0001 0,0002<br />
4 MÁQUINAS E TRATORES 0,0040 0,0040 0,0035 0,0043 0,0122 0,0095 0,0044 0,0060<br />
5 MATERIAL ELÉTRICO 0,0028 0,0024 0,0030 0,0577 0,1608 0,1564 0,0044 0,0083<br />
6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0,0013 0,0009 0,0006 0,0098 0,0086 0,1572 0,0002 0,0018<br />
7 AUTOM.,CAMINHÕES E ÔNIBUS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000<br />
8 OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS<br />
MINAS GERAIS<br />
0,0001 0,0001 0,0001 0,0006 0,0013 0,0014 0,0006 0,0002<br />
1 SIDERURGIA 0,8554 0,0287 0,6142 0,2561 0,1090 0,0693 0,1245 0,1232<br />
2 PROD. METALÚRGICOS NÃO FERROSOS 0,0173 0,8157 0,1055 0,0746 0,2667 0,1016 0,0168 0,0768<br />
3 OUT. PROD. METALÚRGICOS 0,0460 0,0616 0,1984 0,3805 0,1613 0,1943 0,0892 0,2656<br />
4 MÁQUINAS E TRATORES 0,0652 0,0711 0,0623 0,0909 0,1608 0,1122 0,0740 0,1034<br />
5 MATERIAL ELÉTRICO 0,0023 0,0024 0,0025 0,0344 0,0950 0,0912 0,0035 0,0061<br />
6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0,0010 0,0008 0,0007 0,0059 0,0059 0,0893 0,0006 0,0016<br />
7 AUTOM.,CAMINHÕES E ÔNIBUS 0,0013 0,0021 0,0027 0,0071 0,0029 0,0031 0,0413 0,0153<br />
8 OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS<br />
RESTO DO BRASIL<br />
0,0029 0,0096 0,0063 0,0776 0,0146 0,0135 0,6403 0,3913<br />
1 SIDERURGIA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
2 PROD. METALÚRGICOS NÃO FERROSOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
3 OUT. PROD. METALÚRGICOS 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000<br />
4 MÁQUINAS E TRATORES 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000<br />
5 MATERIAL ELÉTRICO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
7 AUTOM.,CAMINHÕES E ÔNIBUS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
8 OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
TOTAL (Produção Nacional) 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000<br />
FONTE: SILVA, 2001. Elaboração Própria.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 35<br />
TABELA 10<br />
MATRIZ DE COEFICIENTES TÉCNICOS AJUSTADA DO RESTO DO BRASIL - SETORES SELECIONADOS, 1996<br />
RESTO DO BRASIL<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
SIDERURGIA METALURGIA OUTROS MÁQUINAS E MATERIAL EQUIPAMENTOS AUTOM.,ÔNIBUS PEÇAS/OUTROS<br />
Ñ FERROSOS METALÚRGICICOS TRATORES ELÉTRICO ELETRÔNICOS E CAMINHÕES VEÍCULOS<br />
SÃO PAULO<br />
1 SIDERURGIA 0,0000 0,0002 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002<br />
2 PROD. METALÚRGICOS NÃO FERROSOS 0,0003 0,0124 0,0017 0,0014 0,0041 0,0017 0,0003 0,0013<br />
3 OUT. PROD. METALÚRGICOS 0,0052 0,0061 0,0208 0,0401 0,0182 0,0214 0,0105 0,0289<br />
4 MÁQUINAS E TRATORES 0,0329 0,0337 0,0298 0,0434 0,0827 0,0565 0,0385 0,0516<br />
5 MATERIAL ELÉTRICO 0,0047 0,0042 0,0048 0,0756 0,2111 0,2013 0,0073 0,0127<br />
6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0,0007 0,0006 0,0005 0,0035 0,0042 0,0483 0,0007 0,0012<br />
7 AUTOM.,CAMINHÕES E ÔNIBUS 0,0003 0,0004 0,0004 0,0019 0,0006 0,0006 0,0267 0,0077<br />
8 OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS<br />
MINAS GERAIS<br />
0,0006 0,0021 0,0011 0,0236 0,0035 0,0032 0,2094 0,1267<br />
1 SIDERURGIA 0,0703 0,0022 0,1418 0,0598 0,0265 0,0187 0,0395 0,0276<br />
2 PROD. METALÚRGICOS NÃO FERROSOS 0,0001 0,0034 0,0005 0,0003 0,0011 0,0004 0,0001 0,0003<br />
3 OUT. PROD. METALÚRGICOS 0,0007 0,0007 0,0034 0,0052 0,0021 0,0025 0,0016 0,0036<br />
4 MÁQUINAS E TRATORES 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0001 0,0002 0,0005 0,0004<br />
5 MATERIAL ELÉTRICO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000<br />
7 AUTOM.,CAMINHÕES E ÔNIBUS 0,0000 0,0001 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0041 0,0012<br />
8 OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS<br />
RESTO DO BRASIL<br />
0,0000 0,0005 0,0002 0,0067 0,0002 0,0003 0,0629 0,0379<br />
1 SIDERURGIA 0,7811 0,0176 0,4522 0,1709 0,0709 0,0377 0,0780 0,0791<br />
2 PROD. METALÚRGICOS NÃO FERROSOS 0,0172 0,8106 0,1046 0,0742 0,2643 0,1009 0,0168 0,0765<br />
3 OUT. PROD. METALÚRGICOS 0,0460 0,0586 0,1981 0,3690 0,1557 0,1875 0,0894 0,2578<br />
4 MÁQUINAS E TRATORES 0,0348 0,0385 0,0338 0,0493 0,0851 0,0596 0,0409 0,0560<br />
5 MATERIAL ELÉTRICO 0,0012 0,0013 0,0013 0,0180 0,0496 0,0477 0,0019 0,0033<br />
6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 0,0024 0,0019 0,0015 0,0137 0,0136 0,2058 0,0017 0,0039<br />
7 AUTOM.,CAMINHÕES E ÔNIBUS 0,0002 0,0003 0,0003 0,0010 0,0004 0,0004 0,0074 0,0025<br />
8 OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS 0,0010 0,0043 0,0026 0,0416 0,0056 0,0053 0,3617 0,2194<br />
TOTAL (Produção Nacional) 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000<br />
FONTE: SILVA, 2001. Elaboração Própria.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 11<br />
ÍNDICES PUROS DE LIGAÇÃO INTER-REGIONAL (IPLI) DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA<br />
SÃO PAULO (SP), MINAS GERAIS (MG) E RESTO DO BRASIL (RB), 1996<br />
SETOR 1 REGIÃO IPLI 2<br />
Beneficiamento de Vegetais RB 1,00<br />
Automotivo SP 0,96<br />
Papel e Celulose SP 0,89<br />
Alimentos Processados SP 0,85<br />
Abate de Animais RB 0,84<br />
Alimentos Processados RB 0,71<br />
Máquinas e Equipamentos SP 0,68<br />
Material Elétrico SP 0,61<br />
Óleos Vegetais RB 0,57<br />
Produtos Metalúrgicos RB 0,57<br />
Peças de Veículos SP 0,54<br />
Siderurgia MG 0,49<br />
Siderurgia RB 0,48<br />
Químicas Diversos RB 0,48<br />
Produtos Metalúrgicos SP 0,44<br />
Mineral Não - Metálico RB 0,44<br />
Têxtil RB 0,42<br />
Madeira e Mobiliário RB 0,42<br />
Farmacêutico SP 0,37<br />
Químicos Diversos SP 0,37<br />
Elementos Químicos SP 0,35<br />
Peças de Veículos RB 0,34<br />
Laticínios SP 0,33<br />
Têxtil SP 0,33<br />
Artigos Plásticos SP 0,32<br />
Vestuário RB 0,30<br />
Vestuário RB 0,30<br />
BRASIL - -<br />
FONTE: Silva, 2001, p. 50.<br />
1 Exclusive Refino de petróleo<br />
2 Selecionados 27 do total de 81 índices, com valor máximo normalizado 2,61 igual a 1,00<br />
36 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 12<br />
ÍNDICES PUROS DE LIGAÇÃO INTRA-REGIONAL (IPLI) DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO<br />
DE SÃO PAULO E MINAS GERAIS<br />
COMPLEXO/SETOR1 IPLR2 SÃO PAULO IPLI2 Metal - Mecânico<br />
MINAS GERAIS<br />
Siderurgia 0,19 0,52<br />
Metal Não - Ferroso 0,20 0,21<br />
Produtos Metálicos 0,43 0,49<br />
Máquinas e Equipamentos 0,54 0,44<br />
Material Elétrico 0,50 0,13<br />
Equipamentos Eletrônicos 0,27 0,08<br />
Automotivo 1,00 1,00<br />
Autopeças 0,53 0,71<br />
Químico<br />
Elementos Químicos 0,27 0,25<br />
Refino Petróleo 0,15 0,28<br />
Químicos Diversos 0,31 0,30<br />
Farmacêutico e Veterinário 0,31 0,12<br />
Artigos Plásticos 0,23 0,05<br />
Papel e Gráfica<br />
Madeira e Mobiliário 0,13 0,24<br />
Papel, celulose e Gráfica 0,52 0,24<br />
Construção<br />
Mineral Não - Metálicos 0,32 0,37<br />
Têxtil<br />
Têxtil 0,32 0,05<br />
Vestuário 0,32 0,19<br />
Calçados 0,11 0,04<br />
Agroindustrial<br />
Café 0,02 0,17<br />
Benefiamento de Vegetais 0,10 0,68<br />
Abate de Animais 0,12 0,60<br />
laticínios 0,23 0,24<br />
Açucar 0,18 0,18<br />
Óleos Vegetais 0,08 0,38<br />
Alimentos Processados 0,58 0,86<br />
FONTE: Silva, 2001, p.52<br />
1 Exclusive Borracha e Indústrias Diversas.<br />
2 Valor Máximo Normalizado de São Paulo e Minas Gerais de 2,62 e 2,05 igual respectivamente a 1,00.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 37<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 13<br />
MULTIPLICADORES DE PRODUÇÃO: EFEITO DA VARIAÇÃO DA DEMANDA SETORIAL DE MINAS GERAIS<br />
SOBRE ECONOMIAS ESTADUAIS<br />
COMPLEXO/SETOR1 MG<br />
Metal - Mecânico<br />
EFEITO SOBRE MG EFEITO SOBRE SP EFEITO SOBRE RB EFEITO SOBRE BR<br />
Siderurgia 2,44 0,11 0,05 2,60<br />
Metal Não - Ferroso 2,07 0,12 0,05 2,23<br />
Produtos Metálicos 2,17 0,10 0,04 2,33<br />
Máquinas e Equipamentos 1,66 0,11 0,03 1,81<br />
Material Elétrico 1,93 0,29 0,03 2,27<br />
Equipamentos Eletrônicos 1,44 0,19 0,04 1,67<br />
Automotivo 1,96 0,18 0,05 2,19<br />
Autopeças 2,16 0,14 0,04 2,34<br />
Químico<br />
Elementos Químicos 1,89 0,10 0,05 2,64<br />
Refino Petróleo 1,70 0,08 0,12 1,90<br />
Químicos Diversos 1,79 0,19 0,10 2,08<br />
Farmacêutico e Veterinário 1,64 0,15 0,05 1,84<br />
Artigos Plásticos 1,64 0,23 0,10 1,94<br />
Papel e Gráfica<br />
Madeira e Mobiliário 1,82 0,14 0,10 2,06<br />
Papel, celulose e Gráfica 1,73 0,40 0,08 2,21<br />
Construção<br />
Mineral Não - Metálicos 1,91 0,11 0,06 2,08<br />
Têxtil<br />
Têxtil 1,73 0,21 0,29 2,23<br />
Vestuário 1,64 0,42 0,16 2,22<br />
Calçados 1,64 0,47 0,09 2,21<br />
Agroindustrial<br />
Café 2,37 0,08 0,03 2,49<br />
Benefiamento de Vegetais 2,10 0,10 0,04 2,24<br />
Abate de Animais 2,24 0,10 0,04 2,37<br />
laticínios 2,30 0,10 0,04 2,44<br />
Açucar 2,23 0,15 0,06 2,53<br />
Óleos Vegetais 2,45 0,10 0,06 2,61<br />
Alimentos Processados 2,17 0,13 0,05 2,34<br />
FONTE: Silva, 2001, p.62 - 63<br />
1 Exclusive Borracha e Indústrias Diversas<br />
38 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 14<br />
MULTIPLICADORES DE PRODUÇÃO: EFEITO DA VARIAÇÃO DA DEMANDA SETORIAL DE SÃO PAULO<br />
SOBRE ECONOMIAS ESTADUAIS BRASILEIRAS<br />
COMPLEXO/SETOR1 SP<br />
Metal - Mecânico<br />
EFEITO SOBRE SP EFEITO SOBRE MG EFEITO SOBRE RB EFEITO SOBRE BR<br />
Siderurgia 1,60 0,82 0,18 2,60<br />
Metal Não - Ferroso 1,99 0,09 0,15 2,23<br />
Produtos Metálicos 1,77 0,45 0,10 2,33<br />
Máquinas e Equipamentos 1,60 0,14 0,07 1,80<br />
Material Elétrico 2,03 0,12 0,12 2,27<br />
Equipamentos Eletrônicos 1,55 0,04 0,07 1,67<br />
Automotivo 1,97 0,12 0,09 2,19<br />
Autopeças 2,06 0,18 0,10 2,33<br />
Químico<br />
Elementos Químicos 1,80 0,04 0,20 2,04<br />
Refino Petróleo 1,30 0,10 0,50 1,90<br />
Químicos Diversos 1,70 0,05 0,33 2,08<br />
Farmacêutico e Veterinário 1,57 0,02 0,25 1,85<br />
Artigos Plásticos 1,68 0,04 0,22 1,94<br />
Papel e Gráfica<br />
Madeira e Mobiliário 1,63 0,04 0,38 2,06<br />
Papel, celulose e Gráfica 2,03 0,03 0,18 2,24<br />
Construção<br />
Mineral Não - Metálicos 1,77 0,09 0,22 2,08<br />
Têxtil<br />
Têxtil 1,89 0,02 0,32 2,24<br />
Vestuário 2,03 0,02 0,18 2,22<br />
Calçados 1,92 0,03 0,26 2,21<br />
Agroindustrial<br />
Café 1,63 0,33 0,52 2,49<br />
Benefiamento de Vegetais 1,53 0,06 0,66 2,25<br />
Abate de Animais 1,74 0,06 0,57 2,37<br />
laticínios 1,96 0,35 0,14 2,45<br />
Açucar 2,31 0,04 0,19 2,54<br />
Óleos Vegetais 1,58 0,06 0,96 2,60<br />
Alimentos Processados 0,73 0,04 0,57 2,35<br />
FONTE: Silva, 2001, p. 62 - 63<br />
1 Exclusive Borracha e Indústrias Diversas<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 39<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 15<br />
MULTIPLICADORES DE EMPREGO: EFEITO DA VARIAÇÃO DA DEMANDA SETORIAL DE<br />
MINAS GERAIS NO VALOR 1 MILHÃO DE REAIS SOBRE A GERAÇÃO DE EMPREGOS<br />
NAS ECONOMIAS ESTADUAIS BRASILEIRAS, 1996<br />
COMPLEXO/SETOR1 MG<br />
Metal - Mecânico<br />
EFEITO SOBRE MG EFEITO SOBRE SP EFEITO SOBRE RB EFEITO SOBRE BR<br />
Siderurgia 87,00 15,00 13,00 114,00<br />
Metal Não - Ferroso 73,00 15,00 12,00 100,00<br />
Produtos Metálicos 117,00 17,00 14,00 148,00<br />
Máquinas e Equipamentos 95,00 17,00 13,00 125,00<br />
Material Elétrico 83,00 23,00 15,00 121,00<br />
Equipamentos Eletrônicos 62,00 16,00 11,00 90,00<br />
Automotivo 71,00 17,00 12,00 100,00<br />
Autopeças 96,00 18,00 14,00 128,00<br />
Químico<br />
Elementos Químicos 117,00 17,00 14,00 148,00<br />
Refino Petróleo 56,00 12,00 13,00 81,00<br />
Químicos Diversos 75,00 18,00 14,00 107,00<br />
Farmacêutico e Veterinário 89,00 17,00 13,00 119,00<br />
Artigos Plásticos 79,00 19,00 15,00 113,00<br />
Papel e Gráfica<br />
Madeira e Mobiliário 177,00 18,00 19,00 214,00<br />
Papel, celulose e Gráfica 99,00 31,00 19,00 149,00<br />
Construção<br />
Mineral Não - Metálicos 111,00 17,00 14,00 142,00<br />
Têxtil<br />
Têxtil 180,00 18,00 23,00 122,00<br />
Vestuário 225,00 28,00 21,00 273,00<br />
Calçados 135,00 36,00 20,00 190,00<br />
Agroindustrial<br />
Café 188,00 15,00 12,00 214,00<br />
Benefiamento de Vegetais 174,00 16,00 12,00 202,00<br />
Abate de Animais 188,00 16,00 12,00 216,00<br />
laticínios 168,00 16,00 12,00 196,00<br />
Açucar 168,00 18,00 14,00 200,00<br />
Óleos Vegetais 168,00 15,00 13,00 196,00<br />
Alimentos Processados 147,00 17,00 13,00 177,00<br />
FONTE: Silva, 2001, p.75<br />
1 Exclusive Borracha e Indústrias Diversas<br />
40 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 16<br />
MULTIPLICADORES DE EMPREGO: EFEITO DA VARIAÇÃO DA DEMANDA SETORIAL DE SÃO PAULO<br />
NO VALOR 1 MILHÃO DE REAIS SOBRE A GERAÇÃO DE EMPREGOS NAS ECONOMIAS<br />
ESTADUAIS BRASILEIRAS, 1996<br />
COMPLEXO/SETOR1 MG<br />
Metal - Mecânico<br />
EFEITO SOBRE SP EFEITO SOBRE MG EFEITO SOBRE RB EFEITO SOBRE BR<br />
Siderurgia 50,00 33,00 32,00 114,00<br />
Metal Não - Ferroso 63,00 7,00 30,00 100,00<br />
Produtos Metálicos 96,00 20,00 33,00 148,00<br />
Máquinas e Equipamentos 85,00 9,00 32,00 125,00<br />
Material Elétrico 81,00 8,00 31,00 120,00<br />
Equipamentos Eletrônicos 60,00 4,00 25,00 89,00<br />
Automotivo 66,00 7,00 27,00 100,00<br />
Autopeças 84,00 10,00 33,00 127,00<br />
Químico<br />
Elementos Químicos 101,00 6,00 36,00 145,00<br />
Refino Petróleo 38,00 7,00 35,00 81,00<br />
Químicos Diversos 66,00 5,00 36,00 107,00<br />
Farmacêutico e Veterinário 75,00 4,00 39,00 119,00<br />
Artigos Plásticos 75,00 5,00 33,00 113,00<br />
Papel e Gráfica<br />
Madeira e Mobiliário 139,00 7,00 68,00 213,00<br />
Papel, celulose e Gráfica 101,00 5,00 41,00 147,00<br />
Construção<br />
Mineral Não - Metálicos 96,00 8,00 141,00 141,00<br />
Têxtil<br />
Têxtil 78,00 4,00 121,00 121,00<br />
Vestuário 232,00 4,00 272,00 272,00<br />
Calçados 138,00 5,00 190,00 190,00<br />
Agroindustrial<br />
Café 103,00 53,00 214,00 214,00<br />
Benefiamento de Vegetais 82,00 10,00 201,00 201,00<br />
Abate de Animais 114,00 11,00 215,00 215,00<br />
laticínios 107,00 55,00 195,00 195,00<br />
Açucar 152,00 6,00 199,00 199,00<br />
Óleos Vegetais 64,00 10,00 196,00 196,00<br />
Alimentos Processados 95,00 7,00 177,00 177,00<br />
FONTE: Silva, 2001, p.74<br />
1 Exclusive Borracha e Indústrias Diversas<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 41<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
1.5. Estrutura Estrutura industrial industrial e comércio comércio exterior exterior<br />
Uma pergunta relevante na análise da indústria mineira é até que ponto sua estrutura foi<br />
afetada pela abertura comercial dos anos 90. E se foi, em qual intensidade relativamente à estrutura<br />
brasileira em seu conjunto e aos diferentes setores industriais. Também relevante neste ponto é<br />
como o comércio exterior pós-abertura afetou a composição do produto industrial mineiro e se<br />
esta eventual alteração seguiu a mesma direção das mudanças de composição de produto da<br />
indústria brasileira causada por este novo cenário externo.<br />
Um indicador simples e esclarecedor da primeira questão é o de coeficiente de comércio<br />
exterior, decomposto em coeficiente de importação (m) e de exportação (x). Tendo em vista os<br />
objetivos de verificar os efeitos estruturais causados pelo comércio exterior, o cálculo deste<br />
coeficiente teve como denominador comum o valor bruto da produção, tanto para as exportações<br />
como para as importações 3 . As TAB. 17 e 18 apresentam os resultados para os gêneros da indústria<br />
para Minas Gerais e Brasil.<br />
O ponto esclarecedor é que as importações afetaram de forma significativa a produção<br />
industrial brasileira e mineira, pois ocorre uma drástica alteração do coeficiente de importação de<br />
1989, último ano anterior à abertura, e os coeficiente calculados para os anos pós-abertura, o de<br />
1994 que capta os efeitos do primeiro choque da abertura no início dos 90, o de 1997 que capta o<br />
segundo choque após o Plano Real e, finalmente, o de 2001, que capta o choque da desvalorização<br />
cambial de 1999. Observa-se que este coeficiente é ascendente e contínuo ao longo destes anos,<br />
mesmo após a desvalorização, pois as mudanças de preços relativos entre as importações e o valor<br />
da produção industrial doméstica causadas pela apreciação do dólar mais que compensaram a<br />
queda do quantum importado a partir de janeiro de 1999. Considerando que este aumento do<br />
coeficiente de importação foi bem mais do que proporcional ao crescimento do coeficiente de<br />
exportação, mesmo após a desvalorização, conclui-se que houve efetiva substituição relativa de<br />
produção industrial interna pela produção externa importada, sendo que a indústria brasileira foi<br />
relativamente menos afetada do que a mineira, tendo em vista o menor crescimento relativo do<br />
coeficiente de exportação estadual. Este coeficiente cresceu para a indústria de transformação no<br />
período 1989-2001 41%, enquanto o coeficiente de importação cresceu nada menos do que 396%,<br />
ficando pela primeira vez na história recente da economia estadual, 1960-2001, com o nível<br />
absoluto inferior ao de importação. No caso da indústria brasileira o crescimento do coeficiente<br />
de exportação foi superior ao da mineira, principalmente após a desvalorização, crescendo no<br />
período 102%, o que, no entanto esteve distante do crescimento de 372% do coeficiente dos bens<br />
importados.<br />
A segunda questão revelada pelos dados refere-se aos efeitos setoriais diferenciadas sobre<br />
a estrutura industrial. Os setores mais afetados foram evidentemente os menos competitivos,<br />
muitos deles protegidos, até então, por elevadas tarifas de importação, quais sejam, os de bens de<br />
capital mecânicos e de material elétrico, eletrônico e de comunicações, que são os de maior<br />
conteúdo tecnológico da estrutura industrial e, dessa forma, os maiores difusores inter-industriais<br />
de inovações tecnológicas. Em função das dificuldades inerentes à industrialização tardia brasileira<br />
e mais ainda da economia mineira, estas duas indústrias compõem uma gama de setores que o<br />
3 Usualmente o coeficiente de importação é calculado pela razão entre valor das importações sobre o consumo aparente, que<br />
equivale ao valor bruto da produção adicionado pelas importações e subtraído pelas exportações.<br />
42 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Estado brasileiro, e o setor público estadual em particular, envidaram grandes esforços para sua<br />
implantação sob um regime de forte proteção à competição externa. Observe-se que pela posição<br />
relativa menos desenvolvida da indústria estadual, o aumento do coeficiente de importação destas<br />
indústrias em Minas foram de proporções gigantescas, sem aumentos proporcionais do coeficiente<br />
de exportação setorial. Os coeficientes de importação destas duas indústrias passaram,<br />
respectivamente, de 0,09 e 0,36 em 1989 para 0,83 e 1,26 em 2001, ao mesmo tempo que o<br />
coeficiente de exportação passa, neste período, de 0,04 e 0,08 para 0,11 e 0,12. Ou seja, enquanto<br />
as importações saltaram, respectivamente, para 83% e 126% da produção mineira destes bens, as<br />
exportações não ultrapassaram o patamar de 11% e 12%. Outros dois setores de reconhecida<br />
fragilidade da indústria brasileira, e mais ainda mineira, são das indústrias química e farmacêutica,<br />
que tiverem seus coeficientes de importação aumentados em mais de 3 vezes nestes 12 anos,<br />
chegando a atingir os níveis de 30% e 62% da respectiva produção mineira. Por sua vez, o coeficiente<br />
de exportação da indústria farmacêutica estadual chegou até a decrescer do já reduzido percentual<br />
anterior, enquanto o da química não ultrapassou a casa dos 8%. A única indústria de peso em que<br />
a estrutura industrial interna não foi seriamente impactada pela abertura foi a de material de<br />
transportes, tanto no Brasil como em Minas, pois o aumento do coeficiente de importação foi<br />
relativamente proporcional à ampliação do coeficiente de exportação. Desta forma, a abertura<br />
reforçou até o início desta década os setores das chamadas commodities industriais, especialmente<br />
nos segmentos siderúrgico, papel e celulose e agroindustriais.<br />
A terceira questão colocada como relevante na relação estrutura industrial e comércio exterior<br />
é a referente à importância das fontes de demanda externa, importações e exportações para a<br />
mudança da composição setorial da indústria brasileira e, particularmente, mineira. Uma forma<br />
de captar esta importância é a equação de decomposição de crescimento de Chenery (Chenery et<br />
al., 1986) 4 . A TAB. 19 mostra os resultados para o período 1997-2001, que cobre o último choque<br />
cambial da economia brasileira. Em geral, a fonte de variação da demanda doméstica teve o maior<br />
impacto sobre a mudança da composição setorial, tanto da indústria mineira como da indústria<br />
brasileira, já que o choque cambial veio combinado com uma significativa retração da economia.<br />
No entanto, a variação positiva das exportações e a variação negativa das importações decorrentes<br />
das desvalorização do Real são componentes importantes para explicar as mudanças de composição<br />
do produto industrial.<br />
No caso mais geral da economia nacional, os setores que perderam participação relativa no<br />
produto foram os bens de capital mecânicos, madeira e mobiliário, borracha, farmacêutico, alimentos<br />
e bebidas, enquanto os que mais aumentaram foram os setores da indústria extrativa mineral,<br />
química, plásticos e material elétrico, eletrônica e de comunicações, em que a variação negativa<br />
da demanda nos primeiros e positiva nos segundos explicam parte considerável destas mudanças<br />
de composição setorial. Em relação ao setor mecânico, observa-se que a retração das exportações<br />
e mais ainda das importações, foram fatores que contribuíram para a retração na estrutura industrial,<br />
ao passo que em alimentos a forte expansão das exportações atenuou os efeitos negativos de<br />
retração da demanda interna. De outro lado, a grande retração das importações contribuiu, no<br />
caso dos setores tradicionais, ou para atenuar os impactos negativos da contração da demanda<br />
interna, como em alimentos e bebidas, ou para favorecer a posição relativa dos setores na estrutura<br />
industrial, como em têxtil, vestuário e calçados.<br />
4 Adaptando aos objetivos aqui propostos, este exercício de decomposição seria dado pela fórmula:<br />
∆vbp i = ∆dd i + ∆x i - ∆m i onde a taxa de variação da participação valor da produção do setor i na estrutura industrial (∆vbp i ) é igual<br />
aos três componentes da demanda: 1) taxa de variação da demanda doméstica em relação ao VBP do setor i (∆dd i ); 2) a diferença<br />
entre a taxa de variação das exportações em relação ao VBP do setor i e a taxa de variação das exportações em relação ao VBP total<br />
(∆x i ); 3) e a diferença entre a taxa de variação das importações em relação ao VBP do setor i e a taxa de variação das importações<br />
em relação ao VBP total (∆m i ).<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 43<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Em relação às mudanças de composição de produto da indústria mineira, a maior perda<br />
de participação foi de material de transportes, causada tanto pela perda de demanda doméstica<br />
como de exportações, que não parecem ter sido favorecidas pela desvalorização cambial. O<br />
outro setor impactado negativamente foi o de madeira e mobiliário, cuja expansão das exportações<br />
e retração das importações não foram suficientes para contraporem à forte redução de demanda<br />
doméstica. Dos setores que mais aumentaram suas participações, o mais relevante para a<br />
economia estadual é o de extração mineral, favorecido pela expansão simultânea das demandas<br />
de exportações e interna. Os demais que apresentaram maiores taxas positivas de variação,<br />
químico, plásticos e eletro-eletrônico, tiveram a demanda doméstica como o componente<br />
determinante. É também revelador que a variação positiva da mecânica estadual se deu por<br />
uma conjunção de fatores negativos, com as fortes retrações simultâneas da demanda interna e<br />
das importações, sendo que esta última foi de tal magnitude que suplantou a primeira e acabou<br />
por favorecer os produtores locais.<br />
TABELA 17<br />
COEFICIENTE DE IMPORTAÇÃO (m) - MINAS GERAIS E BRASIL<br />
1989 1994 1997 2001<br />
GÊNERO MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL<br />
Extrativa Mineral 0,3474 0,4135 0,2808 0,4302 0,2035 0,6257 0,2271 0,4825<br />
Produtos de Minerais<br />
Não-Metálicos 0,0107 0,0107 0,0246 0,0246 0,0436 0,0436 0,0429 0,0421<br />
Metalúrgica 0,0218 0,0225 0,0467 0,0467 0,0903 0,0903 0,1120 0,1150<br />
Mecânica 0,0087 0,0678 0,6723 0,2388 0,7734 0,4323 0,8316 0,5171<br />
Mat. Elétrico e de<br />
Comunicações 0,3586 0,0969 0,8635 0,2801 1,2547 0,3376 1,2595 0,4804<br />
Material de Transporte 0,0592 0,0406 0,0872 0,1306 0,1234 0,2173 0,1901 0,2562<br />
Madeira e Mobiliário 0,0123 0,0042 0,0495 0,0177 0,0375 0,0243 0,0329 0,0238<br />
Papel, Papelão, Editorial<br />
e Gráfica 0,0247 0,0232 0,0365 0,0365 0,0755 0,0585 0,0462 0,0548<br />
Borracha 0,0354 0,0557 0,1308 0,1308 0,1840 0,1840 0,3017 0,2824<br />
Química 0,0569 0,0623 0,1304 0,1304 0,2383 0,2383 0,2991 0,2694<br />
Produtos Farmacêuticos<br />
e Veterinários 0,2717 0,0603 0,2716 0,1037 0,3738 0,1520 0,6227 0,2691<br />
Produtos de Matérias<br />
Plásticas 0,0074 0,0124 0,0483 0,0483 0,0699 0,0699 0,0786 0,0757<br />
Têxtil 0,0234 0,0234 0,0996 0,0996 0,1789 0,1789 0,1799 0,1307<br />
Vestuário, Calçados e Art.<br />
de Tecidos 0,0425 0,0180 0,0741 0,0248 0,0826 0,0469 0,0704 0,0389<br />
Produtos Alimentares 0,0318 0,0260 0,0441 0,0409 0,0479 0,0436 0,0284 0,0307<br />
Bebidas 0,0583 0,0379 0,0501 0,0400 0,1130 0,0455 0,1003 0,0497<br />
Indústria de Transformação 0,0393 0,0408 0,0994 0,1017 0,1540 0,1545 0,1951 0,1926<br />
FONTE: Elaboração dos autores através de SECEX/ALICE e IBGE - PIA 1989, 1994, 1997 e 2000<br />
44 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 18<br />
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO (X) - MINAS GERAIS E BRASIL<br />
1989 1994 1997 2001<br />
GÊNERO MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL<br />
Extrativa Mineral 0,9897 0,2516 0,9830 0,3548 0,6214 0,4820 0,8510 0,4762<br />
Produtos de Minerais<br />
Não-Metálicos 0,0150 0,0261 0,0409 0,0603 0,0686 0,0618 0,0722 0,0861<br />
Metalúrgica 0,1696 0,1325 0,2627 0,2278 0,2178 0,2030 0,2525 0,2215<br />
Mecânica 0,0379 0,0567 0,1402 0,1215 0,0894 0,1386 0,1087 0,1810<br />
Mat. Elétrico e de<br />
Comunicações 0,0819 0,0679 0,1247 0,1140 0,1235 0,0832 0,1170 0,1631<br />
Material de Transporte 0,3580 0,1346 0,1459 0,1606 0,1480 0,1858 0,1468 0,3426<br />
Madeira e Mobiliário 0,0025 0,0622 0,0314 0,2953 0,0241 0,1350 0,0306 0,2888<br />
Papel, Papelão, Editorial e<br />
Gráfica 0,6970 0,0813 0,2737 0,1307 0,4469 0,0885 0,6337 0,1291<br />
Borracha 0,0068 0,0669 0,0959 0,1598 0,1633 0,1574 0,0941 0,2436<br />
Química 0,0364 0,0585 0,0623 0,0658 0,1072 0,0843 0,0839 0,1007<br />
Produtos Farmacêuticos e<br />
Veterinários<br />
Produtos de Matérias<br />
0,0229 0,0204 0,0174 0,0263 0,0121 0,0277 0,0150 0,0463<br />
Plásticas 0,0066 0,0143 0,0286 0,0411 0,0457 0,0253 0,0597 0,0373<br />
Têxtil 0,0189 0,0699 0,0286 0,0980 0,0309 0,0997 0,0850 0,1413<br />
Vestuário, Calçados e Art.<br />
de Tecidos 0,0240 0,0976 0,0546 0,1563 0,0625 0,1641 0,1314 0,2521<br />
Produtos Alimentares 0,0195 0,1762 0,2251 0,2260 0,2742 0,1980 0,2249 0,2783<br />
Bebidas 0,0003 0,0091 0,0001 0,0195 0,0068 0,0124 0,0007 0,0398<br />
Indústria de Transformação 0,1251 0,0964 0,1666 0,1445 0,1721 0,1371 0,1761 0,1951<br />
FONTE: Elaboração dos autores através de SECEX/ALICE e IBGE - PIA 1989, 1994, 1997 e 2000<br />
TABELA 19<br />
FONTES DE VARIAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL: 1997- 2001<br />
Var. Part. Relativa Dem. Doméstica Exportações Importações<br />
GÊNEROS MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL<br />
Extrativa Mineral 0,9853 0,3533 0,8643 0,2588 0,0794 0,0920 -0,0417 -0,0025<br />
Produtos de Minerais<br />
Não-Metálicos 0,1029 0,1566 0,1095 0,1301 0,0021 0,0395 0,0087 0,0130<br />
Metalúrgica 0,0877 0,1431 0,1481 0,1442 -0,0491 0,0121 0,0113 0,0132<br />
Mecânica -0,0716 0,0209 -0,1532 -0,2613 -0,0294 0,0347 -0,1110 -0,2475<br />
Mat. Elétrico e de<br />
Comunicações 0,1493 0,6120 0,1411 0,5589 0,0395 0,0486 0,0313 -0,0045<br />
Material de Transporte 0,0637 -0,1777 -0,0087 -0,1622 0,0481 -0,0201 -0,0244 -0,0045<br />
Madeira e Mobiliário -0,1544 -0,0501 -0,1664 -0,0938 0,0237 0,0516 0,0116 0,0078<br />
Papel, Papelão, Editorial e<br />
Gráfica 0,0877 0,2099 0,0856 0,1230 0,0039 0,0712 0,0019 -0,0158<br />
Borracha -0,1087 0,4126 -0,0946 0,5410 -0,0170 -0,0270 -0,0030 0,1014<br />
Química 0,5006 0,5070 0,5235 0,5415 0,0146 0,0267 0,0374 0,0612<br />
Produtos Farmacêuticos e<br />
Veterinários -0,0344 0,0297 -0,0046 0,0100 0,0049 0,0556 0,0348 0,0359<br />
(Continua...)<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 45<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 19 (Continuação)<br />
FONTES DE VARIAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL: 1997- 2001<br />
46 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Var. Part. Relativa Dem. Doméstica Exportações Importações<br />
GÊNEROS MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL<br />
Produtos de Matérias<br />
Plásticas 0,2259 0,3741 0,2294 0,3340 0,0079 0,0623 0,0114 0,0222<br />
Têxtil 0,0530 0,0379 -0,0165 -0,0852 -0,0021 0,0809 -0,0716 -0,0421<br />
Vestuário, Calçados e Art.<br />
de Tecidos 0,0460 0,0216 0,0420 -0,0685 0,0056 0,0765 0,0017 -0,0135<br />
Produtos Alimentares -0,0706 0,1065 -0,0413 0,1742 -0,0321 -0,0704 -0,0027 -0,0026<br />
Bebidas -0,0158 0,2100 -0,0245 0,1438 0,0172 0,0521 0,0085 -0,0141<br />
Total 0,0998 0,1107 0,0975 0,1046 0,0015 0,0059 -0,0008 -0,0002<br />
FONTE: Elaboração dos autores a partir de SECEX/ALICE, IBGE - PIA 1997 e 2000<br />
Nota: Resultados dos componentes da demanda ajustados pela taxa de variação da composição setorial.
1.6. 1.6. Setores-chave Setores-chave da indústria indústria mineira: mineira:<br />
empresas líderes no contexto nacional<br />
As principais características dos setores da indústria de transformação mineira foram<br />
analisadas nas seções precedentes, tendo como foco a forma de inserção do Estado na divisão<br />
inter-regional do trabalho na indústria brasileira de transformação. Foram contemplados a posição<br />
relativa da indústria mineira na estrutura industrial nacional, seu desempenho comparativo e os<br />
efeitos dos encadeamentos industriais intersetorial e inter-regional.<br />
O próximo passo do diagnóstico industrial é um estudo detalhado do que se considera<br />
como “setores-chave”, considerados como o agrupamento de setores com a maior capacidade de encadeamento<br />
simultâneo das trocas intersetoriais dentro da economia estadual e das trocas inter-regionais em nível da economia<br />
nacional e, especialmente, com a indústria de transformação paulista. Em geral as análises tradicionais<br />
de insumo-produto identificam setores-chave a partir do poder de encadeamento individual dos<br />
setores. Mesmo sendo um exercício acadêmico válido, este procedimento é insuficiente para a<br />
identificação dos fatores estruturantes da dinâmica industrial. O substrato essencial da concepção<br />
que confere à indústria de transformação o papel de motor do crescimento do conjunto da economia,<br />
discutida na seção 1, é a idéia schumpeteriana de que o processo de disseminação do progresso<br />
tecnológico no aparato produtivo ocorre a partir da ação articulada de um agrupamento de setores,<br />
estruturados a partir de um mesmo sistema ou paradigma tecnológico. Este denominador<br />
tecnológico básico comum possibilita um mecanismo virtuoso de retroalimentação intersetorial,<br />
de tal forma que os setores pertencentes ao mesmo agrupamento se reforçam mutuamente.<br />
A análise das trocas intersetoriais pela matriz de insumo-produto é uma ferramenta valiosa para<br />
captar esta concepção. No entanto, a dinâmica intersetorial é apenas parcialmente captada não apenas<br />
por se tratar de um modelo de equilíbrio estático, mas também por analisar o conjunto dos setores<br />
apenas em sua individualidade, sem captar sua ação integrada enquanto um grupo tecnologicamente<br />
articulado dentro do sistema produtivo. Muitas vezes o poder de encadeamento de um setor é<br />
individualmente pequeno, apesar de muitas vezes cumprir um papel decisivo de estruturação e<br />
capacitação tecnológica dentro do agrupamento. Este é o caso típico do setor de bens de capital,<br />
representado em sua maior parte na classificação industrial de dois dígitos como “mecânica”. Pelo fato<br />
de produzir capital fixo de investimento, suas vendas na matriz de insumo-produto são direcionadas<br />
para a demanda final, ao invés das vendas intermediárias intersetoriais. Neste sentido, boa parte de seu<br />
poder de irradiação sistêmica dos bens de capital não é captada pelos modelos de insumo-produto.<br />
Tendo em vista estas limitações metodológicas, o esforço desenvolvido neste estudo é o de<br />
buscar uma análise setorial mais integrada, em que a idéia genérica de “complexo” contribui no<br />
sentido de captar a concepção de agrupamento setorial enquanto um conjunto de setores<br />
tecnologicamente integrados. Os resultados obtidos indicam a existência de dois agrupamentos<br />
fundamentais, captados mesmo que parcialmente, pelos modelos de trocas intersetoriais da seção<br />
4: o agrupamento dos setores do complexo metal-mecânico e o agrupamento dos setores do complexo<br />
agro-industrial. O fato dos setores-chave da economia mineira estarem contidos nestes dois complexos<br />
não causa surpresa, considerando que as melhores oportunidades da industrialização estadual<br />
surgiram das bases de recursos naturais do território mineiro, tanto das minas que estabeleceram a<br />
base exportadora inicial para a estruturação do complexo metal-mecânico, como dos campos das<br />
gerais, que propiciaram a expansão da lavoura comercial e da pecuária. A exploração destas<br />
oportunidades criou as atuais vantagens comparativas da indústria mineira. Neste sentido,<br />
consideramos ser o adensamento setorial destes dois complexos a estratégia decisiva no<br />
aprofundamento destas vantagens já construídas.<br />
A questão mais relevante para a formulação de políticas de aprofundamento da industrialização<br />
mineira via adensamento setorial de cadeias é analisar a liderança das empresas mineiras no contexto de<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 47<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
competição no mercado nacional, inclusive no plano da substituição competitiva das importações. Por<br />
empresas mineiras, consideramos aquelas sediadas na esfera do território estadual, independente de operarem<br />
com unidades locais ou plantas industriais em outros estados da federação e da origem de seus capitais,<br />
quer sejam de origem local, nacional e multinacional. Como um fato consagrado na literatura da teoria da<br />
firma, sabe-se que a localização física da sede concentra não apenas os recursos tangíveis de uma planta de<br />
produção, mas principalmente os recursos intangíveis não transportáveis para unidades de produção de<br />
outras localidades, principalmente aqueles relacionados à capacitação da empresa, na forma de capacidade<br />
empresarial e de gestão, capacidade tecnológica e capacidade de governança corporativa. Estas capacitações<br />
resultam na concentração na sede dos recursos humanos mais qualificados (como o pessoal de P&D) e na<br />
centralização das decisões estratégicas e dos lucros do conjunto das unidade locais de produção sob sua<br />
jurisdição, o que explica porque a relocalização da sede é uma decisão bem mais complexa do que a<br />
relocalização de plantas. Se estas empresas forem subsidiárias de grupos econômicos nacionais ou<br />
multinacionais, estas vantagens aglomerativas intra-empresa na sede são evidentemente reduzidas, mas<br />
não eliminadas, dependendo da estrutura organizacional do grupo, que pode proporcionar maior ou menor<br />
autonomia de decisão das empresas filiadas. Por exemplo, o fato do grupo FIAT centralizar em Minas<br />
Gerais suas divisões operacionais da América Latina significa vantagens de concentração de recursos<br />
intangíveis de capacitação no Estado, mesmo que a sede multinacional do grupo seja Turim. Mesmo<br />
tendo consciência da complexidade da relação entre grupo e empresa, a escolha da empresa como unidade<br />
de análise é um avanço em relação à análise centrada no estabelecimento ou unidade de produção, como<br />
tem sido prática usual nos estudos sobre organização industrial no Brasil.<br />
Neste sentido, o estudo sobre liderança de empresas mineiras foi baseado na base de dados da<br />
PIA-Empresas do IBGE, que fornece um conjunto de informações consolidadas sobre as empresas,<br />
incluindo as informações das unidades locais de produção em outros estados da federação, afora o<br />
Estado que abriga a sede da empresa. O aspecto relevante é que as informações sobre as variáveis<br />
escolhidas são centralizadas na sede. Por exemplo, se a USIMINAS possuir unidades de produção<br />
em localidades fora do Estado de Minas Gerais, os dados de valor das vendas líquidas, custos<br />
operacionais, investimentos e outros são contabilizados na sede em Belo Horizonte. De outro lado,<br />
os dados da unidade de produção da Danone e da BSN do Brasil em Poços de Caldas são contabilizados<br />
na sua sede em São Paulo. Desta forma, a escolha da unidade de referência empresa possibilita o<br />
entendimento do poder de liderança empresarial das unidades da federação no mercado nacional de<br />
cada setor de atividade, refletindo a capacidade de centralização do capital industrial dos estados.<br />
As variáveis escolhidas foram aquelas consideradas mais relevantes para captar este poder de<br />
liderança nacional das empresas sediadas em diferentes estados do país. Para isto foram definidos 4<br />
grupos de variáveis para indicar setorialmente o tamanho das empresas, o poder de concentração do<br />
mercado, o poder das empresas de administração dos preços e de definição de margens de lucro e,<br />
finalmente, o nível de eficiência e desempenho econômico das empresas. No grupo “tamanho das<br />
empresas” foram construídas as variáveis valor médio das vendas líquidas, número médio de pessoal<br />
ocupado e participação percentual das empresas da unidade da federação nas vendas nacionais. No<br />
grupo “concentração do mercado”, utilizou-se os tradicionais coeficientes de taxa de concentração<br />
das 4 e 8 maiores empresas estaduais nas vendas nacionais (CR-4 e CR-8). Estes coeficientes de<br />
poder de mercado são complementados pelas variáveis do grupo capacidade de fixação de preços e<br />
margens de lucro, representadas pelo mark-up (razão preço e custos correntes) e margem de valor<br />
agregado (razão valor da transformação industrial e valor bruto da produção). Finalmente, no grupo<br />
“desempenho econômico” foram construídos 3 coeficientes, produtividade média do trabalho (razão<br />
valor da transformação industrial e pessoal ocupado), salário médio do pessoal ocupado e taxa de<br />
investimento líquido (razão investimento líquido e valor da transformação industrial). A classificação<br />
setorial utilizada foi a CNAE 3 dígitos da industria de transformação, que possui 44 setores do<br />
complexo metal-mecânico e 9 setores agro-industriais5 . Para facilitar a análise, alguns setores metalmecânico<br />
foram agregados, passando este complexo para 29 setores.<br />
5 O setor Produção de Álcool pertencente à divisão CNAE 23 foi agregado ao setor Fabricação e Refino de Açúcar.<br />
48 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
1.7. 1.7. Liderança Liderança de empresas empresas dos dos setores setores metalmetalmecânico Para efeito da análise setorial do complexo metal-mecânico é realizada uma<br />
distribuição dos grupos setoriais (a 3 dígitos) de acordo com as divisões da CNAE (2<br />
dígitos), de tal forma a adapta-la à classificação anterior do IBGE a 2 dígitos, gêneros da indústria,<br />
utilizada nas seções 1.4.1 e 1.9:<br />
1. Metalurgia básica (Setores: Siderúrgicas Integradas, Metalurgia de Não-Ferrosos, Ferro-<br />
Gusa/Ferro-Ligas e Fundição);<br />
2. Mecânica - Fabricação de Produtos de Metal (Setores: Estruturas Metálicas e Caldeiraria<br />
Pesada, Forjaria e Estamparia, Outros Produtos de Metal) e Mecânica – Fabricação de<br />
Máquinas e Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Específicos; Máquinas e<br />
Equipamentos Gerais, Tratores e Máquinas Agrícolas, Máquinas-Ferramenta, Máquinas<br />
e Equipamentos para as Indústrias Extrativa Mineral e Construção);<br />
3. Eletro-eletrônica – Fabricação de Máquinas e Equipamentos (Computadores e<br />
Periféricos, Geradores e Transformadores, Equipamentos para Distribuição e Controle<br />
de Energia Elétrica, Aparelhos e Equipamentos de Comunicações, Máquinas e<br />
Equipamentos de Automação Industrial, Material Eletrônico Básico); e Eletroeletrônica<br />
- Aparelhos e Instrumentos (Eletrodomésticos, Produtos Elétricos Diversos,<br />
Aparelhos e Instrumentos Médico-Hospitalares, Odontológicos e de Laboratório,<br />
Aparelhos Ópticos, Fotográficos e Cinematográficos);<br />
4. Material de Transporte (Automóveis e Utilitários, Caminhões, Ônibus e Cabines, Peças<br />
e Acessórios, Material Elétrico para Veículos Automotores, Embarcações e Outros<br />
Equipamentos de Transporte, Veículos Ferroviários e Aeronaves).<br />
1.7.1. Indústria metalúrgica<br />
O setor dominante desta indústria é o de “Siderúrgicas Integradas”, dada a sua importância<br />
nas relações inter-industriais, fornecendo insumos de uso difundido para o conjunto do sistema de<br />
indústrias. Em função de sua elevada escala produtiva, detêm um grau expressivo de indivisibilidade<br />
técnica, além de vantagens de integração vertical relacionadas à redução de custos de transação.<br />
Por isto, possui um padrão de competição em que o tamanho médio das empresas é muito superior<br />
a da maioria das outras estruturas de mercado, ficando abaixo apenas da indústria química e<br />
farmacêutica, automotiva e alguns segmentos da eletro-eletrônica. No caso de países semiindustrializados,<br />
como o Brasil, as empresas deste setor são relativamente maiores, se comparadas<br />
às suas congêneres nas estruturas de mercado dos países industrializados, pois a estrutura industrial<br />
é desequilibrada em função do peso relativamente menor de outras indústrias de base, como a<br />
química e a de bens de capital, especialmente os segmentos de telecomunicações e eletrónica.<br />
Afora estas diferenças relativas aos problemas da industrialização tardia, esta indústria possui<br />
mundialmente um padrão competitivo que se enquadra bem na classificação tradicional de<br />
oligopólio concentrado, no sentido deste mercado operar com um reduzido número de grandes<br />
empresas, fortemente integradas verticalmente, que utilizam como principais armas de barreiras à<br />
entrada o nível de indivisibilidade técnica, que requer elevado investimento de instalação, e as<br />
vantagens de integração, já que essa é considerada uma indústria tecnologicamente madura.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 49<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Os dados dos 4 grupos de variáveis confirmam que estas características estruturais não<br />
apenas continuam prevalecendo na indústria siderúrgica brasileira mas tenderam a se acentuar<br />
após o processo de privatização no inicio dos anos noventa, quando houve uma consolidação de<br />
mercado das empresas líderes via fusões e aquisições, resultando em maior mundialização das<br />
empresas, quer seja na forma de maior integração de capitais com líderes mundiais quer seja<br />
através da maior integração comercial na cadeia internacional de produtos siderúrgicos.<br />
No grupo de variáveis de tamanho (TAB. 20) observa-se que o tamanho médio das empresas<br />
é muito superior ao de outros setores do complexo metal-mecânico, apenas comparável às do<br />
setor automotivo, especialmente o coeficiente de valor médio de vendas, pela natureza capitalintensivo<br />
do setor. Este elevado tamanho das empresas indica o poder de mercado das líderes,<br />
como mostram os indicadores de taxa de concentração (CR-4 e CR-8) de forma que o espaço para<br />
a participação de empresas de menor porte neste mercado, as chamadas empresas marginais, parece<br />
inexistente. (TAB. 21) Por outro lado, o poder de fixação de preços via administração de margens<br />
de lucro e mark-up (TAB. 22) é significativo - 3,76 - mas bem inferior ao de outros setores que<br />
operam em mercados oligopolísticos, como o automotivo, e mesmo em mercados mais<br />
concorrenciais, bem como dos setores de segundo processamento da agroindústria. Na verdade, a<br />
dificuldade de elevação do mark-up decorre da natureza destes produtos, mais homogêneos e com<br />
um escopo estreito para a diferenciação entre os concorrentes, mesmo com uma diversificação de<br />
tipos de produto relativamente ampla, o que permite uma acomodação das líderes em segmentos<br />
de mercado, como o de aços planos, aços não-planos comuns e aços não-planos especiais. O<br />
indicador que melhor expressa esta baixa capacidade de diferenciação é a margem de valor agregado,<br />
bem inferior ao dos setores acima mencionados. Esta margem, relativamente menor, reflete também<br />
o alto grau de integração vertical do setor siderúrgico, que reduz a proporção relativa do valor<br />
agregado na esfera estritamente produtiva. Ao mesmo tempo o grau de verticalização é responsável<br />
pela elevada eficiência e desempenho do setor, (TAB. 23) que possui um dos mais altos níveis de<br />
salário médio e taxa de investimento do complexo metal-mecânico, uma evidência que o processo<br />
de consolidação do capital das empresas líderes, através de fusões, aquisições e associações, foi<br />
acompanhado por um amplo processo de reestruturação produtiva e elevação da produtividade.<br />
Atualmente 8 empresas de grande porte lideram o mercado nacional de produtos de aço,<br />
das quais 5 estão sediadas em Minas (USIMINAS, BELGO-MINEIRA, ACESITA, AÇOMINAS<br />
E MANNESMAN), 1 no Rio de Janeiro (CSN), 1 no Rio Grande do Sul (GERDAU), 1 em São<br />
Paulo (COSIPA) e 1 no Espirito Santo (CST). Em que pese que os dados da PIA contabilizam a<br />
Gerdau no Rio, o núcleo de decisão do grupo Gerdau continua localizado no Rio Grande do Sul 6 .<br />
Quatro grupos destas empresas (USIMINAS-COSIPA, CSN, GERDAU-AÇOMINAS E CST) são<br />
controladas por capitais de origem nacional, a maioria deles com forte associação a capitais de<br />
siderúrgicas estrangeiras, enquanto os grupos das outras três (USINOR-ACESITA, BELGO<br />
MINEIRA e MANNESMAN) são de origem estrangeira, mas estabelecidas há anos no país, com<br />
exceção do grupo USINOR-ACESITA. Todas possuem significativa inserção no comercio exterior<br />
e estão na fronteira internacional de melhor prática tecnológica e organizacional. As 5 empresas<br />
sediadas em Minas dividem com as 2 sediadas no Rio e Rio Grande do Sul uma participação de<br />
mais de 70% no mercado nacional de produtos de aço. Considerando que a USIMINAS controla<br />
efetivamente a COSIPA, com 49% do capital votante, esta participação passa para nada menos<br />
do que 90%. Em termos de diversificação de produtos, as empresas mineiras possuem o mix mais<br />
diversificado, pois atuam com liderança em todos segmentos de mercado: a USIMINAS é<br />
especializada em laminados planos comuns, a BELGO em laminados não-planos comuns -<br />
concorrendo mais diretamente com a GERDAU, a ACESITA em laminados planos especiais, a<br />
6 Onde reside a maioria dos diretores, oriundos da família GERDAU.<br />
50 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
MANNESMAN em laminados não-planos especiais e, finalmente, a AÇOMINAS em blocos semiacabados<br />
e acabados de aço. Entretanto, a recente aquisição da AÇOMINAS pelo GRUPO<br />
GERDAU lhe proporciona uma vantagem comparativa de integração horizontal significativa de<br />
diversificação de produto, sobretudo em relação à BELGO MINEIRA no segmento de produtos<br />
de aço não-planos mais elaborados.<br />
Mesmo considerando que o processo de reestruturação e consolidação do capital pósprivatização<br />
resultou no controle de capital da ACESITA por uma multinacional, o grupo francês<br />
USINOR, e o controle da AÇOMINAS por um grupo de origem gaúcha, o GERDAU, não parece<br />
que houve transferência de poder de decisão no setor siderúrgico de Minas Gerais para outras<br />
unidades e nem mesmo para estrangeiros. O fenômeno que parece em curso é muito mais um<br />
processo de mundialização de capitais do setor, onde os investimentos cruzados de capital entre<br />
os big players resultam em crescente centralização de capitais em nível mundial. As mais recentes<br />
associações com o capital estrangeiro de duas das líderes nacionais, CSN e CST, apontam também<br />
nesta direção.<br />
Os dois outros setores ligados à metalurgia de ferrosos são o setor de ferro-gusa e ferroligas,<br />
sub-dividido nos segmentos que produzem, respectivamente, ligas de ferro (gusa) e ligas<br />
metálicas (ferro e outros metais não-ferrosos) a serem incorporadas ao aço e ferros fundidos, e o<br />
setor de fundição, que produz produtos fundidos metálicos na forma de peças modeladas, de<br />
diversos tamanhos e finalidades. São setores que constituem, de forma independente, elos da<br />
cadeia produtiva das usinas siderúrgicas integradas, o que resulta na perda das vantagens já<br />
mencionadas de ganhos de escala da verticalização. São, portanto, estruturas de mercado que<br />
atuam nas franjas não atendidas pelas siderúrgicas integradas, o que resulta em baixos requerimentos<br />
de capital inicial e significativa mobilidade de entrada e saída de produtores no mercado. Os<br />
indicadores de tamanho das empresas, concentração, poder de mercado e eficiência-desempenho<br />
evidenciam estas características de uma estrutura de mercado competitiva, com grande número<br />
de empresas de pequeno porte, muitas vezes atomísticas, baixo mark-up, baixa produtividade do<br />
trabalho e salários menores do que a média do complexo metal-mecânico.<br />
A exceção são as ligas de ferro a base de outros metais, alguns nobres e raros, como o<br />
níquel, o manganês e o nióbio, pois não seria factível a integração destas ligas no fluxo continuo<br />
da siderurgia integrada. Assim, estas ligas com metais nobres constituem verdadeiros nichos de<br />
mercado, cujo principal instrumento de barreira à entrada é o controle das jazidas dos minerais<br />
que são as bases destes metais e a técnica de concentração e purificação do mineral. Os nichos de<br />
ferro-ligas são controlados por grandes empresas líderes internacionais e nacionais, como a ANGLO-<br />
AMERICAN E O GRUPO VOTORANTIN (ligas de níquel), CVRD (manganês) e a CBMM do<br />
grupo Moreira Salles (nióbio). Por sua vez, o nicho de ferro-ligas à base de silício possui barreiras<br />
à entrada bem menores, dado a relativa abundância do quartzo, mineral que fornece a base para a<br />
constituição deste material, sendo que 90% das reservas no Brasil estão em Minas Gerais. É esta<br />
heterogeneidade do segmento de ferro-ligas, com rebates no segmento de fundição, que explica<br />
que os indicadores médios do setor agregado gusa e ferro-ligas e de fundição não representam a<br />
segmentação de mercado, refletida na significativa taxa de concentração dos 8 maiores produtores<br />
(CR-8) destes dois setores (TAB. 21).<br />
O coeficiente de participação no mercado nacional mostra que as empresas mineiras possuem<br />
significativa presença no setor de gusa e ferro-ligas, enquanto que a participação no setor de fundição,<br />
que chegou a 25% em 1987 (<strong>BDMG</strong>, 1989: 137), caiu para 13,4% em 2000. Como já alertava o<br />
Diagnóstico <strong>BDMG</strong> de 89, as empresas mineiras de fundição estavam defasadas tecnologicamente<br />
em relação a outros estados da federação, que ganham significativa participação de mercado durante<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 51<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
os anos 90 e apresentam taxas de investimento bem mais elevadas (TAB. 21 e 23), “tendo em vista<br />
as mudanças no perfil de consumo dos fundidos, com uma crescente substituição dos ferrosos pelos<br />
não-ferrosos e o uso mais intensivo de fundidos de menor peso e de maior qualidade” (Ibid.: 139).<br />
Por outro lado, o Diagnóstico alertava também para os problemas do segmento de gusa relativo à<br />
“dificuldade crescente de obtenção de carvão de florestas nativas e do alto custo do reflorestamento”,<br />
que poderia inviabilizar o pólo guseiro no Estado e favorecer sua transferência para Carajás. Apesar<br />
desta ameaça aparentemente não ter se concretizado, expresso na manutenção da participação de<br />
Minas no mercado nacional e na taxa de investimento relativamente elevada (TAB. 20, 21 e 23), a<br />
proposição do Diagnóstico, de integração para frente do segmento guseiro, através do estabelecimento<br />
à jusante de semi-acabados de lingotes de aço, continua uma estratégia válida para aumentar as<br />
vantagens locacionais deste segmento no Estado. No caso de ferro-ligas, as maiores dificuldades<br />
encontram-se nos nichos de mercado de ligas à base de metais cujas jazidas encontram-se em exaustão<br />
no Estado. Segundo o Diagnóstico, os casos mais graves são o do níquel, cuja extração tende<br />
crescentemente a se concentrar nas jazidas de Niquelândia em Goiás, com 74% das reservas<br />
brasileiras, e de Carajás no Pará (com 11,5%), e do manganês, com o deslocamento da extração para<br />
Urucum no Mato Grosso do Sul (com 53% das reservas), Carajás (com 28%) e Serra do Navio no<br />
Amazonas (com 10%) (Ibid: 134-143).<br />
Finalmente o setor de metalurgia de não-ferrosos possui a presença de empresas de porte<br />
considerável e ligadas a grandes grupos econômicos nacionais e internacionais com forte atuação<br />
na área de mineração e metalurgia de metais não-ferrosos, cabendo papel de destaque ao alumínio,<br />
produto derivado da bauxita e de uso difundido na estrutura industrial. Os indicadores de poder<br />
de mercado (concentração, mark-up e margem de valor agregado) e eficiência/desempenho<br />
(produtividade, salário) são semelhantes aos do setor de siderurgia integrada, exceto o de tamanho<br />
médio das empresas e taxa de investimento, pois se trata também de uma estrutura oligopolística<br />
com expressiva indivisibilidade técnica e vantagens de integração vertical para trás, neste caso<br />
ganhando especial relevância o controle das fontes dos minerais-base de cada segmento do setor,<br />
como as jazidas de bauxita, zinco, cobre e titânio.<br />
A participação das empresas sediadas em Minas nas vendas setoriais é significativa, de<br />
23,5%, ficando abaixo apenas das empresas sediadas em São Paulo, com 40%, e em outros estados,<br />
27,9%, correspondendo este último percentual aos projetos da fronteira mineral da Região Norte,<br />
como ALUMAR e ALBRÁS, o primeiro uma associação de capital entre a americana ALCOA,<br />
sediada em Minas, e a anglo-saxônica BILLITON, do grupo SHELL e sediada no Rio de Janeiro, e o<br />
segundo sob o controle da CVRD. Entre os big players que atuam na produção de não-ferrosos<br />
ainda estão o GRUPO VOTORANTIN, sediado em São Paulo, que possui presença nos segmentos de<br />
alumínio, através da subsidiaria Companhia Brasileira de Alumínio - CBA, e de zinco, através de<br />
duas subsidiárias com presença em Minas, a Companhia Mineira de Metais - CMM e a recém<br />
adquirida Paraibuna de Metais – CPM, comprada do grupo Paranapanema. Além destas, participam<br />
da liderança no segmento de alumínio a canadense ALCAN, sediada em São Paulo e com planta<br />
em Ouro Preto, e uma associação entre a BILLITON e a VALESUL do grupo CVRD, sediada no Rio. As<br />
vantagens locacionais da fronteira mineral do Norte parecem evidentes no caso do mercado externo,<br />
sendo que os projetos de associação de capitais entre os big players de não-ferrosos indicam esta<br />
nova direção geográfica dos investimentos. No entanto, a estagnação dos mercados de não-ferrosos<br />
dos países industrializados indica, por sua vez, a importância de se manter participação no mercado<br />
interno brasileiro, ainda considerado um mercado em expansão, mesmo com a crescente tendência<br />
de substituição destes metais, principalmente o alumínio, por novos materiais ou plásticos. Neste<br />
caso, a manutenção da presença destas empresas no Sudeste ainda traz importantes vantagens<br />
locacionais de acesso ao maior centro de consumo do mercado nacional.<br />
52 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 20<br />
TAMANHO MÉDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAÇÃO (%)<br />
O MERCADO NACIONAL - INDÚSTRIA METALÚRGICA - 2000<br />
Siderurg. Integ. Gusa e Ferro-ligas Metais Não-Ferr. Fundição<br />
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG 1.133.144 3.984 35,04 57.071 267 44,74 138.142 550 23,49 1.896 76 13,40<br />
SP 736.140 3.137 13,66 20.560 144 26,06 66.156 333 40,00 3.323 88 31,49<br />
RJ 2.089.903 5.982 38,77 31.227 1 246 1 2,85 1 97.438 264 8,28 10.413 226 15,05<br />
PR - - - 3.718 2 56 2 0,24 2 705 52 0,05 2.534 80 3,66<br />
RS - - - 43.547 181 6,26 6.639 58 0,31 7.753 184 14,94<br />
Outras 2,026,605 3 3,412 3 12.533 37.821 240 19,27 184.292 259 27,86 5.343 124 21,45<br />
Brasil 1.347.538 4.224 100,00 34.319 196 100,00 88.208 320 100,00 3.941 105 100,00<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Fabric. de Tubos de Aço" cujo os dados não estão diponíveis.<br />
2 exclusive "Fabric. de Gusa" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
3 calculado através dos resíduos<br />
QUADRO 1<br />
QUADRO DE LEGENDAS<br />
ABREVIATURA NOME DA VARIÁVEL DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL UNIDADE<br />
Tam. Méd. Tamanho Médio VBP Setor j / Total de Empresas Setor j R$ mil<br />
Pess. Ocup. Pessoal Ocupado Pessoal Ocupado Setor j / Total de Empresas Setor j -<br />
Merc. Nac. Particip. no Mercado Nac. VBP Setor j no Estado / VBP Setor j Brasil %<br />
Produtiv. Produtividade VTI Setor j / Pessoal Ocupado Setor j R$<br />
Salário Médio Salário Médio Massa Salarial Setor j / Pessoal Ocupado Setor j R$<br />
Taxa Invest. Taxa de Investimento Investimento em Capital Setor j / VTI Setor j %<br />
Mark-up Mark-up VBP Setor j / Custos Operacionais + Gastos c/ Pessoal -<br />
Margem V.A. Margem de Valor Agregado VTI Setor j / VBP Setor j -<br />
CR-4 CR-4 VBP 4 maiores empresas Setor j / VBP Setor j Brasil %<br />
CR-8 CR-8 VBP 8 maiores empresas Setor j / VBP Setor j Brasil %<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 53<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 21<br />
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO - INDÚSTRIA METALÚRGICA - 1996<br />
Siderurg. Integ. Gusa e Ferro-ligas Metais Não-Ferr. Fundição<br />
UF CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8<br />
MG 32,36 37.55 1 21,43 25,13 6,69 9,14 2,81 3,88<br />
SP 18,93 19.16 2 13,65 18,80 38,50 45,46 6,50 11,04<br />
RJ 30.15 3 30.15 3 5,51 5,73 8,61 9,19 8,76 8.91 4<br />
PR - - 2,26 2.33 5 ... ... 1,96 1.96 6<br />
RS ... ... 5,44 5,66 0.22 7 0.22 7 4,29 5,56<br />
Outras ... ... 7,96 10,97 23,05 24,25 50,36 52,11<br />
Brasil 60,81 82,74 28,19 40,63 46,36 66,24 53,63 62,62<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 1996. Elaboração Própria.<br />
1 o estado possui apenas 7 empresas no setor.<br />
2 o estado possui apenas 5 empresas no setor.<br />
3 o estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
4 o estado possui apenas 5 empresas no setor.<br />
5 o estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
6 o estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
7 o estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
TABELA 22<br />
PODER DE MERCADO - INDÚSTRIA METALÚRGICA - 2000<br />
Siderurg. Integ. Gusa e Ferro-ligas Metais Não-Ferr. Fundição<br />
UF Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem<br />
V.A. V.A. V.A. V.A.<br />
MG 3,61 0,83 7,90 0,88 3,46 0,83 3,05 0,93<br />
SP 3,12 0,87 4,43 0,93 3,62 0,87 2,26 0,89<br />
RJ 4,22 0,75 3,51 1 0,90 1 2,91 0,75 2,16 0,83<br />
PR - - 4,39 2 0,98 2 2,27 0,93 2,16 0,85<br />
RS - - 7,77 0,97 4,26 0,90 2,35 0,87<br />
Outras ... ... 4,49 0,88 4,96 0,85 2,37 0,89<br />
Brasil 3,76 0,75 5,68 0,90 3,79 0,84 2,36 0,88<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Fabric. de Tubos de Aço" cujo os dados não estão diponíveis.<br />
2 exclusive "Fabric. de Gusa" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
54 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 23<br />
DESEMPENHO ECONÔMICO - INDÚSTRIA METALÚRGICA - 2000<br />
Siderurg. Integ. Gusa e Ferro-ligas Metais Não-Ferr. Fundição<br />
UF Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG 240.205 22.898 2,50 188.859 13.237 6,18 208.619 18.398 2,49 23.218 4.938 2,26<br />
SP 193.890 21.703 14,43 132.826 14.560 3,32 171.935 18.436 4,63 33.435 8.849 4,12<br />
RJ 308.166 28.860 13,27 115.375 1 16.517 1 1,95 1 275.707 20.491 4,93 38.322 8.657 2,89<br />
PR - - - 65.582 2 9.996 2 0,01 2 12.546 3.828 2,21 26.655 6.571 5,23<br />
RS - - - 232.654 16.409 1,61 103.885 11.483 0,86 36.629 8.832 4,23<br />
Outras n.d. n.d. n.d. 138.079 9.856 4,04 606.334 23.960 1,87 38.131 9.178 5,74<br />
Brasil 256.781 24.923 9,20 158.109 13.188 4,55 537.220 18.937 3,37 32.979 7.996 4,09<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Fabric. de Tubos de Aço" cujo os dados não estão diponíveis.<br />
2 exclusive "Fabric. de Gusa" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
1.7.2. Indústria mecânica<br />
A indústria mecânica representa o núcleo duro dos bens de capital, que são complementados<br />
pelos segmentos de máquinas e equipamentos da indústria eletro-eletrônica e veículos pesados da<br />
indústria de material de transportes. Sua organização baseia-se em setores fornecedores<br />
especializados de máquinas e equipamentos para a ampla gama de segmentos da estrutura produtiva,<br />
industrial e agrícola, se constituindo nos principais difusores e disseminadores de tecnologia do<br />
sistema de indústrias. Dentro da matriz tecnológica estes setores são usuários de setores intensivos<br />
em ciência, que são geradores por excelência de sistemas tecnológicos oriundos diretamente da<br />
fronteira do conhecimento científico. O sistema de tecnologias do paradigma da microeletrônica<br />
tem se constituído nos últimos 20 anos na principal fonte de capacitação tecnológica da indústria<br />
de bens de capital mecânicos, cujos principais fornecedores são os setores de informática e<br />
processamento de dados. Neste sentido, o principal indicador de capacitação tecnológica da indústria<br />
nacional de bens de capital é o nível de absorção da microeletrônica em seus processos produtivos<br />
e produtos.<br />
De acordo com o diagnóstico de capacitação tecnológica da indústria brasileira realizado<br />
pelo IPEA no inicio dos anos 90, “no setor de bens de capital mecânicos a difusão da tecnologia<br />
microeletrônica causou um aumento do gap tecnológico, o qual prejudicou a capacidade de<br />
competição das empresas brasileiras” (Furtado, 1994: 55-56). Contribuiu para o aprofundamento<br />
desta defasagem, no final dos anos 80 e início dos 90, a drástica redução das encomendas do setor<br />
público de bens de capital e, pelo menos num primeiro momento, a abertura externa, que expôs à<br />
competição internacional as fragilidades da indústria doméstica, especialmente o seu baixo nível<br />
de especialização. O sistema pregresso de proteção induziu a um excessiva integração vertical das<br />
empresas, dificultando a exploração de economias de especialização, forma típica de vantagens<br />
competitivas neste setor. Ocorreram, portanto, dois gargalos simultâneos que a indústria teve que<br />
se defrontar. Por um lado, a necessidade de atualização tecnológica dada pelo esforço de adoção<br />
das novas tecnologias da microeletrônica, como Controle Numérico Computadorizado (CNC),<br />
Controle Estatístico de Processo (CEP) e Requerimentos de Planejamento de Material (MRP).<br />
Por outro lado, o esforço de desverticalização das linhas de produção para se adequar aos padrões<br />
internacionais, dado que a trajetória da indústria nos anos 70 e 80 foi de excessiva verticalização<br />
e passividade tecnológica. O principal impacto negativo desta passividade dentro do conjunto da<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 55<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
estrutura industrial deve-se ao fato que o ritmo lento de inovação de produto no setor limita<br />
significativamente seu papel de difusor inter-setorial de progresso técnico, eliminando em grande<br />
parte os benefícios que adviriam da interação produtor-usuário, que fica parcialmente truncada<br />
(Furtado, 1994: 49). Estes dois esforços do lado da oferta se deram sob dois choques de demanda.<br />
O primeiro foi a queda brusca das compras governamentais, que possuíam um forte efeito de<br />
encadeamento intra-setorial. O segundo foi o aumento repentino da competição das importações,<br />
que contribuiu para eliminar um amplo conjunto de empresas marginais da indústria nacional.<br />
Assim, este processo contribuiu para aprofundar ainda mais a heterogeneidade interna<br />
entre as empresas estabelecidas, que se manifesta pela discrepância de tamanho econômico e<br />
capacitação tecnológica das empresas, com importante rebate geográfico, considerando que as<br />
empresas líderes estão concentradas em São Paulo e, em menor medida, nos estados da região<br />
Sul. Para se ter uma idéia desta heterogeneidade, observa-se diferenças altamente expressivas<br />
entre as empresas líderes de cada setor da indústria e as chamadas empresas marginais,<br />
numericamente significativas, mas irrelevantes nas vendas totais. Dependendo do setor de<br />
atuação, o faturamento de uma empresa líder de bens de capital no Brasil varia entre 100 milhões<br />
e 500 milhões de reais. Se comparado aos setores industriais de base, como siderurgia e química,<br />
e de duráveis de consumo de massa, como automóveis, estas cifras podem ser consideradas<br />
modestas, haja vista que as líderes nacionais destes setores faturam anualmente não menos que<br />
2 bilhões de reais. No entanto, se comparado com as empresas não líderes dentro da indústria<br />
observa-se que o faturamento da maioria delas não ultrapassa 1 milhão de reais, em geral com<br />
menos de 30 pessoas ocupadas.<br />
Sendo uma indústria com significativa presença de empresas com capital de origem<br />
nacional, o processo de capacitação passa, em geral, pela via do licenciamento junto a empresas<br />
líderes mundiais, pois parte substantiva das vantagens comparativas destas empresas da fronteira<br />
mundial está baseada em conhecimento tácito de aprendizado acumulado, tanto no<br />
desenvolvimento do desenho de engenharia básica e na manufatura dos bens (learning by doing),<br />
como na interação com as empresas clientes (learning by interaction). Os estudos sobre o setor<br />
evidenciam que, sob este novo ambiente competitivo, o acesso diferenciado à tecnologia<br />
internacional se ampliou entre as líderes nacionais e as chamadas empresas marginais, que ficaram<br />
mais enfraquecidas sob um ambiente de mercado interno deprimido e competição externa. Tudo<br />
leva a crer que a reestruturação defensiva das líderes nacionais iniciou-se na primeira metade<br />
dos anos 90, sendo que a pesquisa de campo do IPEA de empresas líderes revelou que “as<br />
empresas de bens de capital mecânico estudadas demonstraram uma notável capacidade de<br />
incorporar inovações de processo. A importância que essas novidades adquiriram decorre, em<br />
grande parte, da introdução nas linhas de produção de novas safras de equipamentos com partes<br />
eletrônicas” (Ibid.: 49).<br />
Os dois grupos de indicadores de concentração e poder de mercado, TAB. 25 e 26, são os<br />
que melhor evidenciam a forma de liderança setorial, que pode variar de acordo com as<br />
características estruturais dos setores. Os setores de Tratores e Máquinas Agrícolas e de Máquinas<br />
e Equipamentos para Extração Mineral e Construção se destacam por apresentarem um poder<br />
de mercado elevado das suas empresas líderes, combinando poder de concentração das vendas,<br />
com CR-4 e CR-8 acima, respectivamente, de 50% e 65%, e poder de administração dos preços,<br />
com mark-up em torno de 5,0 e margem de valor agregado acima de 95%. Este poder de<br />
administração dos preços reflete não apenas significativo controle sobre as vendas, mas<br />
capacidade de estabelecer barreiras à entrada via diferenciação de produtos. Estes setores<br />
produzem bens de capital seriados de grande porte, com processo produtivo capital-intensivos<br />
e com escopo para diferenciação de produtos, aproximando do que a literatura denomina de<br />
oligopólio concentrado-diferenciado, pois auferem simultaneamente economias de escala e de<br />
56 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
escopo. Os grupos de indicadores de tamanho das firmas e desempenho, TAB. 24 e 27, também<br />
corroboram nesta caracterização, apresentando tamanho médio bem acima dos demais setores<br />
da mecânica e níveis de produtividade elevados, evidenciando, respectivamente, estruturas de<br />
mercado com um pequeno número de empresas de grande porte e a natureza capital-intensivo dos<br />
setores.<br />
O maior contraste com este tipo de estrutura de mercado são os três setores<br />
pertencentes ao segmento de produtos metálicos da indústria mecânica, que estão fora núcleo<br />
duro desta indústria mecânica, constituídos pelos setores de máquinas e equipamentos. Estes<br />
setores tipificam uma estrutura de mercado que se assemelha a um oligopólio competitivo.<br />
De um lado, estes setores podem ser considerados como uma estrutura competitiva pelo fato<br />
das barreiras à entrada serem relativamente baixas, pois produzem produtos homogêneos<br />
com tecnologias de processo disponíveis no mercado e requerimentos de capital inicial bem<br />
abaixo da média indústria mecânica, características que são evidenciadas pelo pequeno poder<br />
de administração dos preços (TAB. 30), pequeno tamanho médio das firmas (TAB. 28) e<br />
nível de produtividade relativamente baixo (TAB. 31). Por outro lado, eles se caracterizam<br />
como um oligopólio pelo fato de possuírem internamente firmas de grande porte com<br />
capacidade de praticar uma política de mark-up diferenciado em relação a empresas de menor<br />
porte, consideradas marginais no sentido que podem ser eliminadas em caso de ajuste estrutural<br />
de oferta decorrente de restrição de demanda. Em geral, estas líderes setoriais auferem ganhos<br />
de integração vertical à montante com empresas siderúrgicas controladoras de seus capitais,<br />
o que lhes proporcionam acesso direto ao seu insumo básico, o aço, como ocorre, por exemplo,<br />
com subsidiária da Usiminas que atua neste segmento, a USIMEC. O de poder de concentração<br />
de mercado é um bom indicador deste tipo de liderança setorial. Como mostra a TAB. 29, as<br />
quatro maiores empresas controlam entre 20 a 30% do mercado, suficiente para controlarem<br />
as fatias ou nichos cuja demanda origina-se de clientes diferenciados e mais exigentes em<br />
termos de qualidade do produto, especialmente as grandes empresas montadoras do setor<br />
automotivo.<br />
Os três outros setores de máquinas e equipamentos podem ser caracterizados como<br />
uma estrutura de mercado intermediária, pois o poder de concentração de mercado das<br />
empresas líderes é inferior aos dois primeiros, mas superior aos dos setores do segmento de<br />
produtos metálicos (CR-8 entre 30 e 50% - TAB. 25), enquanto o tamanho médio deste<br />
setores também reflete esta posição (TAB. 24). Estas empresas possuem ao mesmo tempo<br />
significativa capacidade de diferenciação de produtos, oriunda principalmente de<br />
conhecimento tácito acumulado no processo produtivo e nas relações com os usuários, o que<br />
lhes possibilitam um relativo poder de administração dos preços (TAB. 26). O setor de<br />
Máquinas e Equipamentos Específicos é principalmente produtor de bens de capital sob<br />
encomenda, o que confere maior importância ao conhecimento tácito, sobrelevando assim a<br />
importância do papel da diferenciação de produto como principal instrumento competitivo e<br />
reduzindo o papel do nível absoluto de concentração, como mostram as taxas de CR-4 e CR-<br />
8. O setor de Máquinas-Ferramenta se caracteriza, em contraste, pela produção seriada ao mesmo<br />
tempo que possui o maior conteúdo tecnológico da indústria mecânica, sendo considerado o maior<br />
difusor de tecnologia de toda a estrutura industrial. Neste sentido, sua capacitação tecnológica envolve<br />
significativo aprendizado cumulativo no desenvolvimento de projetos de engenharia de seus produtos<br />
e grande atualização tecnológica em seus processos de produção. Neste sentido, possui significativas<br />
barreiras à entrada, tanto em termos de requerimentos de capital para desenvolvimento de produtos<br />
como de capacitação tecnológica acumulada e, por isto, possui um nível absoluto de concentração<br />
relativamente alto, com um número relativamente reduzido de firmas, refletindo o pequeno espaço<br />
para as empresas marginais.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 57<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A distribuição geográfica da indústria mecânica, TAB 24 e 28, indica que as empresas<br />
estão fortemente concentradas no Estado de São Paulo, principalmente nos setores do<br />
segmento duro desta indústria, o de máquinas e equipamentos. Nada menos do que 68% das<br />
vendas internas de máquinas-ferramenta no país são produzidas por empresas paulistas, sendo<br />
que o restante das vendas está nas mãos de empresas gaúchas (21,53%) e catarinenses (5,63%) 7 .<br />
As oito maiores empresas paulistas detêm 51,36% deste mercado, sendo as maiores empresas<br />
de máquinas-ferramenta do país, enquanto as oito maiores gaúchas possuem 13,96% 8 (TAB<br />
25). Evidentemente que esta elevada concentração espacial do principal setor difusor de<br />
tecnologia na estrutura industrial fragiliza sobremaneira os efeitos inter-setoriais de<br />
disseminação tecnológica das demais economias regionais. Uma dimensão mais ampla desta<br />
fragilidade ocorre quando consideramos o elevado coeficiente de importação deste setor,<br />
acima de 50%, que opera como restrição externa aos encadeamentos tecnológicos do conjunto<br />
da estrutura industrial do país. Os rebates desta forte dependência externa são mais agudos<br />
nas estruturas industriais estaduais onde o setor de máquinas-ferramenta é praticamente<br />
inexistente, como ocorre com a economia mineira, fluminense e paranaense, onde nem mesmo<br />
é possível se pensar em complementaridade intra-setorial entre os bens de capital importados<br />
e a produção local. Neste caso, a dinâmica das inovações tecnológicas de processo passam ao<br />
largo dos encadeamentos intersetoriais da estrutura industrial regional.<br />
A hegemonia das empresas paulistas na produção doméstica de bens de capital se<br />
reproduz para os demais setores da indústria mecânica, vindo em segundo lugar as empresas<br />
do Rio Grande do Sul, em terceiro as de Santa Catarina e em quarto as do Paraná. Minas<br />
Gerais divide com o Rio de Janeiro o último lugar dentre as unidades da federação que possuem<br />
empresas com alguma produção minimamente relevante na mecânica. De fato, as empresas<br />
destes dois estados lideram apenas os setores do segmento de produtos metálicos, em função<br />
das sinergias de integração vertical à jusante das empresas siderúrgicas integradas, que dividem<br />
entre si o mercado nacional de produtos de aço, inclusive os metálicos acabados 9 . As empresas<br />
fluminenses lideram os três mercados de metálicos, com 42,48% das vendas de Estruturas<br />
Metálicas e Caldeiraria Pesada, 57,69% das vendas de Forjaria e Estamparia e 57,56% das<br />
vendas de Produtos Metálicos Diversos. Em seguida, vem as empresas mineiras com presença<br />
significativa nos setores de Estruturas Metálicas e Caldeiraria, 18,22%, e Forjaria e Estamparia,<br />
19,63%, onde as subsidiárias das empresas siderúrgicas são muito competitivas, especialmente<br />
a USIMEC-USIMINAS, A MANNESMAN-DEMAG e a BELGO-BEKAERT. A única participação<br />
significativa das empresas mineiras no segmento de Máquinas e Equipamentos é no setor de<br />
Extração Mineral e Construção, 14,66%, no entanto bem inferior à participação de mercado<br />
das empresas, 74,84%, o que indica na verdade uma presença bem menos significativa do<br />
que o peso da economia mineira nos complexos mínero-metalúrgico e da construção 10 .<br />
7 A informação de Santa Catarina encontra-se em outros estados da federação.<br />
8 A maior empresa é a Romi, uma associação de capital nacional da família Romi com o grupo Bradesco. Sua receita líquida em 2001<br />
foi de R$128 milhões, o que indica um tamanho de empresa considerada média, se comparada a outros setores da indústria. Isto<br />
reflete os altos requerimentos de especialização desta estrutura de mercado, que foram intensificados nos anos 90 (Gazeta<br />
Mercantil, 2002).<br />
9 Os dados das empresas do Grupo Gerdau sediadas no Rio, especialmente a Metalúrgica Gerdau, são contabilizados neste estado.<br />
10 Ver capítulo subsequente sobre cadeias produtivas neste volume.<br />
58 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Há que se destacar a significativa presença dos estados sulinos nos dois segmentos de<br />
bens de capital, especialmente nos setores do segmento de máquinas e equipamentos. As<br />
empresas do Rio Grande do Sul estão bem posicionadas não apenas no estratégico setor de<br />
máquinas-ferramenta mas lideram o setor de Tratores e Máquinas Agrícolas, enquanto ocupam<br />
o segundo e terceiro lugar, respectivamente, dos setores de Máquinas de Uso Geral e Máquinas<br />
Específicas. As empresas de Santa Catarina, por sua vez, ocupam o segundo lugar em Máquinas<br />
Específicas, e o terceiro nos setores de Máquinas de Uso Geral e Máquinas-Ferramenta. O<br />
Paraná possui empresas com presença significativa apenas em Máquinas e Equipamentos<br />
Agrícolas e, secundariamente, em Máquinas de Uso Específico.<br />
TABELA 24<br />
TAMANHO MÉDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAÇÃO (%) NO MERCADO NACIONAL<br />
INDÚSTRIA MECÂNICA DE PRODUTOS METÁLICOS, 2000<br />
Estrut. Metal. e Calderaria Forjaria e Estamparia Prod. Metal<br />
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG 7.455 179 18,22 10.457 116 19,63 6.874 104 4,78<br />
SP 4.597 191 7,67 5.080 88 5,60 11.994 125 7,09<br />
RJ 6.039 105 42,48 6.432 98 57,69 13.656 120 57,56<br />
PR 4.835 96 6,05 4.556 1 102 1 2,50 1 9.339 105 4,21<br />
RS 8.297 111 11,87 5.155 101 8,03 11.301 154 11,18<br />
Outras 4.183 89 13,71 3.471 70 6,52 16.318 118 15,18<br />
Brasil 5.846 121 100,00 5.515 100 97 11.928 125 100,00<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Fabric. de Tanques, Caldeiras e Reserv. Metal," cujo os dados não estão disponíveis<br />
TABELA 25<br />
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO - INDÚSTRIA MECÂNICA DE PRODUTOS METÁLICOS, 1996<br />
Estrut. Metal. e Calderaria Forjaria e Estamparia Prod. Metal<br />
UF CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8<br />
MG 14,41 17,06 2,72 3,80 1,84 2,31<br />
SP 9,86 14,68 20,61 28,69 7,62 12,63<br />
RJ 17,16 18,05 2,69 3,51 11,64 12,79<br />
PR 2,86 3,80 0,88 1,15 1,80 2,43<br />
RS 4,52 5,85 3,11 4,66 4,27 6,19<br />
Outras 2,74 4,23 1,70 2,52 6,93 7,90<br />
Brasil 32,12 38,92 20,61 28,69 17,05 23,84<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 1996. Elaboração Própria.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 59<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 26<br />
PODER DE MERCADO - INDÚSTRIA MECÂNICA DE PRODUTOS METÁLICOS, 2000<br />
Estrut. Metal. e Calderaria Forjaria e Estamparia Prod. Metal<br />
UF Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem<br />
V.A. V.A. V.A.<br />
MG 2,55 0,90 0,42 0,92 4,07 0,94<br />
SP 2,93 0,94 0,24 0,88 3,83 0,94<br />
RJ 1,51 0,88 3,06 0,89 3,81 0,90<br />
PR 2,95 0,87 3,621 0,921 4,94 0,96<br />
RS 3,25 0,89 2,77 0,90 3,41 0,92<br />
Outras 3,93 0,94 3,45 0,92 5,65 0,96<br />
Brasil 2,78 0,92 2,77 0,89 4,02 0,94<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive “Fabric. de Tanques, Caldeiras e Reserv. Metál.” cujo os dados não estão disponíveis.<br />
TABELA 27<br />
DESEMPENHO ECONÔMICO: INDÚSTRIA MECÂNICA DE PRODUTOS METÁLICOS, 2000<br />
Estrut. Metal. e Calderaria Forjaria e Estamparia Prod. Metal<br />
UF Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG 37,656 8,160 0.81 82,707 8,882 0.65 62,176 8,080 2.28<br />
SP 54,041 11,056 1.84 50732 11,725 2.75 90,517 12,983 2.54<br />
RJ 21,283 8,381 2.04 58,657 9,032 2.43 102,714 12,420 0.55<br />
PR 43,667 6,673 1.70 41.222 1 6.143 1 5,28 1 85,302 9,770 2.37<br />
RS 66,644 9,832 1.40 45,931 9,118 3.84 67,632 10,784 4.32<br />
Outras 44,231 6,382 5.03 45,852 7,279 8.61 133,282 13,046 0.98<br />
Brasil 44,490 9,019 2.06 54,187 10,421 2.85 90,186 12,151 2.20<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive “Fabric. de Tanques, Caldeiras e Reserv. Metál.” cujo os dados não estão disponíveis<br />
60 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 61<br />
TABELA 28<br />
TAMANHO MÉDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAÇÃO (%) NO MERCADO NACIONAL - INDÚSTRIA MECÂNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 2000<br />
Máq./Equip. Específicos Máq./Equip. Gerais Tratores e Máqu. Agrícolas Máq. Ferramenta Máq./Equip. Ext. Mineral<br />
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG 7.983 1 213 1 3,17 1 9.935 186 6,32 8.983 80 2,30 2.102 62 0,92 20.196 134 14,66<br />
SP 17.911 179 64,45 14.404 82 61,37 14.896 152 36,17 13.602 149 67,61 53.224 240 74,84<br />
RJ 8.260 1 195 1 1,99 1 5.742 142 2,13 1,296 2 51 2 0.04 2 2,841 1 34 1 0.50 1 3.244 52 0,59<br />
PR 15.913 1 141 1 5,99 1 11.842 120 5,23 54.053 54 15,54 3.649 63 3,82 7.001 73 0,95<br />
RS 8.309 126 7,47 19.154 144 14,22 27.155 211 40,78 20.575 150 21,53 19.755 138 3,58<br />
Outras 19.974 1 231 1 16,92 1 10.643 101 10,72 6.221 80 5,17 5.864 90 5,63 9.120 181 5,38<br />
Brasil 15.724 179 100,00 13.405 136 100,00 18.741 154 100,00 11.583 125 100,00 31.051 182 100,00<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive “Fabric. Armas e Equip. Militares” que não possuem representatividade nestes estados.<br />
2 calculado através dos resíduos<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
62 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TABELA 29<br />
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO - INDÚSTRIA MECÂNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , 1996<br />
UF Máq./Equip. Específicos Máq./Equip. Gerais Tratores e Máq. Agrícolas Máq. Ferramenta Máq./Equip. Ext. Mineral<br />
CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8<br />
MG 1.97 2.59 1.44 1.99 0.63 0.78 0.45 1 0.45 1 13.63 14.73<br />
SP 15.47 22.02 18.08 23.27 43.66 50.12 29.71 40.84 53.15 63.47<br />
RJ 1.54 2.04 4.73 5.56 ... ... 6.01 6.01 2 3.00 3.00 3<br />
PR 4.47 5.15 2.93 3.91 11.37 11.48 4 1.95 2.61 1.00 5 1.00 5<br />
RS 2.85 4.07 11.25 12.71 9.99 11.95 12.58 13.96 ... ...<br />
Outras 9.82 11.55 5.17 5.71 4.21 4.81 2.90 3.68 4.45 5.24<br />
Brasil 19.08 28.46 24.36 34.04 50.39 65.21 34.73 51.36 57.07 72.36<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 1996. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive “Fabric. Armas e Equip. Militares” que não possui representatividade nestes estados.<br />
2 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
3 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
4 o Estado possui apenas 7 empresas no setor.<br />
5 o Estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
6 o Estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 63<br />
TABELA 30<br />
PODER DE MERCADO - INDÚSTRIA MECÂNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 2000<br />
Máq./Equip. Específicos Máq./Equip. Gerais Tratores e Máq. Agrícolas Máq. Ferramenta Máq./Equip. Ext. Mineral<br />
Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem<br />
UF V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.<br />
MG 1,741 0,801 2,07 0,88 7,33 0,98 2,65 0,90 4,43 0,95<br />
SP 3,20 0,93 3,28 0,96 4,39 0,96 2,81 0,95 5,36 0,98<br />
RJ 2,33 1 0,92 1 3,71 0,96 ... ... ... ... 2,39 0,86<br />
PR 5,23 1 0,96 1 4,04 0,95 10,47 0,99 3,36 0,97 4,91 0,99<br />
RS 3,05 0,93 5,83 0,97 6,33 0,98 4,08 0,96 4,22 0,92<br />
Outras 2,93 1 0,91 1 7,11 0,98 5,62 0,96 4,15 0,97 2,67 0,89<br />
Brasil 3,15 0,93 3,62 0,96 5,75 0,97 3,11 0,95 4,86 0,96<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Fabric. Armas e Equip. Militares" que não possui representatividade nestes estados.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
64 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TABELA 31<br />
DESEMPENHO ECONÔMICO: INDÚSTRIA MECÂNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 2000<br />
Máq./Equip. Específicos Máq./Equip. Gerais Tratores e Máq. Agrícolas Máq. Ferramenta Máq./Equip. Ext. Mineral<br />
UF Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG 30.1921 8.0801 (1,48) 1 46.717 13.253 1,12 109.558 9.065 0,34 30.653 6.394 4,94 143.188 16.269 0,09<br />
SP 93.683 16.406 2,29 97.204 17.666 1,47 93.964 12.394 1,16 86.483 19.609 1,87 216.255 22.128 2,48<br />
RJ 39.122 1 9.991 1 0,87 1 67.135 9.826 2,90 ... ... ... ... ... ... 53.313 12.448 4,13<br />
PR 108.032 1 15.622 1 2,30 1 93.984 13.596 1,91 305.894 17.486 0,93 56.021 10849 1,28 94.956 13.209 0,01<br />
RS 62.051 12.003 2,61 129.113 11.472 (0,24) 126.012 11.727 5,79 131.734 18.083 4,03 131.240 18.110 7,07<br />
Outras 79.358 1 15.136 1 5,51 1 103.277 7.853 2,79 75.060 8.035 1,78 63.016 9.710 2,24 45.149 9.260 1,55<br />
Brasil 81.762 14.929 2,72 94.206 15.073 1,40 118.137 12.014 3,04 87.668 17.723 2,37 164.682 18.336 2,23<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Fabric. Armas e Equip. Militares" que não possuem representatividade nestes estados.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
1.7.3. Indústria eletroeletrônica<br />
A indústria eletroeletrônica possui dois segmentos bem distintos. O primeiro é constituído<br />
pelo segmento de máquinas e equipamentos elétricos e eletrônicos que compõem junto com a<br />
indústria mecânica e o setor de veículos pesados de material de transportes a categoria de uso<br />
denominada de bens de capital. O segundo é constituído pelo segmento de aparelhos e<br />
instrumentos, que essencialmente compõem a categoria de uso de bens de consumo durável<br />
para consumo final.<br />
a) Segmento de máquinas e equipamentos<br />
Como descrito no início desta seção, este segmento está desagregado em 6 setores que<br />
essencialmente são fornecedores para uma gama variada de setores da matriz de produção,<br />
constituindo atualmente o seu sub-segmento eletrônico no núcleo duro de geração de inovações<br />
tecnológicas para o conjunto do sistema de indústrias. A introdução da microeletrônica, através<br />
do domínio e capacitação do ciclo completo de circuitos integrados, abrangendo as fases de<br />
projeto e fabricação de chip, mudou radicalmente a base técnica da produção de bens de<br />
capital, que mundialmente realizou a transição de máquinas eletromecânicas para máquinas<br />
microeletrônicas, controladas por chip dedicados. Assim, estas mudanças radicais da eletrônica<br />
impactaram diretamente os setores de máquinas e equipamentos da indústria mecânica, a<br />
qual é usuária dos componentes eletrônicos na matriz tecnológica de relações intersetoriais.<br />
Da mesma forma que este segmento da mecânica se constitui no principal difusor tecnológico<br />
da estrutura industrial, pode-se afirmar que as máquinas e componentes microeletrônicos se<br />
constituem nos principais geradores inter-industriais de tecnologia. Estudos recentes do<br />
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC, indicam que aí reside a maior<br />
fragilidade da estrutura industrial do Brasil, que apresenta sérias deficiências nos setores de<br />
Eletrônicos Básicos, especialmente os componentes vitais de semicondutores e circuito<br />
integrado digital, e Automação Industrial, que ao lado destes componentes básicos é o setor<br />
menos desenvolvido da indústria eletro-eletrônica nacional. Esta debilidade explica os elevados<br />
volumes de importações destes bens, que também causaram crescentes índices de substituição<br />
de produção nacional nos anos 90, graças também a uma política errática de tarifas aduaneiras.<br />
Em decorrência da substituição de produção interna por importados eletrônicos a balança<br />
comercial da indústria eletro-eletrônica atingiu o maior déficit em valor absoluto neste período<br />
entre todos os tipos de bens importados, inclusive petróleo, sendo que em 1996 totalizou<br />
valores recordes de US$ 8 bilhões.<br />
Em tese, a estrutura de mercado destes setores seria do tipo oligopólio concentradodiferenciado,<br />
pois são setores baseados na ciência com elevados requerimentos de capital inicial<br />
para capacitação tecnológica inicial como condição de entrada ao mesmo tempo em que exigem<br />
uma elevada taxa de investimentos correntes para permanecer como empresa estabelecida nestes<br />
mercados, haja vista que a taxa de obsolescência tecnológica é elevada e o esforço de capacitação<br />
permanente. Ao contrário de outras estruturas oligopólicas com tecnologias maduras, em que a<br />
diferenciação de produtos sede terreno para a concentração absoluta de mercado como estratégia<br />
de sobrevivência, como na indústria automotiva, nestes setores o esforço de diferenciação via<br />
capacitação tecnológica é que abre caminho para a concentração das vendas, que nos países<br />
industrializados tem atingido níveis elevados. Assim, este tipo de estrutura de mercado em<br />
ambientes competitivos desenvolvidos abriga um pequeno número de firmas de grande porte,<br />
que operam em cadeias produtivas internacionais. No caso de ambientes competitivos periféricos,<br />
como o brasileiro, a estrutura de mercado tende a ser menos concentrada pelo pouco<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 65<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
desenvolvimento ou ausência de setores e sub-setores estratégicos, como o de semicondutores.<br />
Consequentemente, o tamanho médio das estabelecidas locais é menor, mesmo que pertençam<br />
a empresas multinacionais de grande porte. Ao contrário da indústria mecânica, os setores de<br />
máquinas e equipamentos eletro-eletrônicos são constituídos por empresas líderes cujo capital<br />
é em sua maior parte de origem estrangeira, que em sua maioria são world players, operando<br />
localmente com subsidiárias menores, compatíveis com o tamanho e nível de diversificação<br />
de produto do mercado doméstico.<br />
Os indicadores de tamanho, concentração, poder de mercado e desempenho para estes<br />
setores, TAB. 32 a 35, evidenciam as condições periféricas deste segmento industrial acima<br />
descritas. Mesmo, por exemplo, as empresas dos setores de maior tamanho médio,<br />
Computadores e de Telecomunicações, possuem um porte local muito inferior às suas<br />
congêneres que operam em mercados nacionais de economias industrializadas. No entanto,<br />
estes mercados em economias periféricas são muitos segmentados, em que as líderes atuam<br />
nos segmentos de produtos mais sofisticados, fornecendo para clientes de grande porte ou<br />
em nichos, com produtos específicos, semelhantes a bens sob encomenda. No caso de<br />
computadores existe uma clara liderança de uma subsidiária de empresa multinacional, Hewlett-<br />
Packart, e uma empresa nacional, a Itautec, com vendas líquidas em 2001 no valor de R$ 1,9<br />
bilhões e R$ 1,0 bilhões, respectivamente. A terceira colocada, a empresa nacional TCE,<br />
apresenta vendas líquidas pelo menos 10 vezes menor, no valor de R$ 114,0 milhões 11 . No<br />
caso de telecomunicações, esta situação se repete. As três líderes do mercado são<br />
multinacionais, NEC, Alcatel Telecoms e Nortel Networks, com vendas líquidas acima de<br />
R$ 1,1 bilhões. As empresas subsequentes no ranking apresentam um patamar substancialmente<br />
mais baixo de valor de vendas, todas abaixo de R$ 200 milhões. Esta segmentação se reflete<br />
na taxa de concentração, inferior ao esperado em estruturas de mercado como estas, com CR-<br />
4 e CR-8 variando entre 33% e 59%. O mark-up e margem de valor agregado também estão<br />
aquém do esperado para a média da indústria, dado o número excessivo de empresas marginais,<br />
que em mercados desenvolvidos não teriam espaço competitivo para sobreviverem. Porém, a<br />
natureza capital-intensivo e requerimentos de qualificação destes setores explicam os elevados<br />
níveis de produtividade do trabalho e salário médio, semelhantes ao dos setores siderúrgico e<br />
automotivo.<br />
Este padrão competitivo marcado pela segmentação tende a se repetir nos dois setores<br />
de equipamentos elétricos, Geradores e Transformadores e Equipamentos de Energia Elétrica.<br />
Duas multinacionais, SIEMENS e ABB, dominam os segmentos de equipamentos de geração,<br />
transformação e transmissão, a primeira com vendas líquidas em 2001 acima de R$ 3 bilhões<br />
e a segunda acima de R$ 1 bilhão. No caso dos segmentos de condutores e componentes<br />
elétricos, uma líder é nacional, do GRUPO WEG, e duas são estrangeiras, Furukawa e Pirelli<br />
Energia Cabos, com vendas líquidas variando entre R$ 955 milhões e R$ 540 milhões. Em<br />
todos estes casos as empresas concorrentes subsequentes no ranking apresentam vendas bem<br />
inferiores, algumas delas podendo ser líderes de alguns nichos. Os indicadores de tamanho<br />
vão refletir este padrão competitivo de forma ainda mais intensa do que em computadores e<br />
telecomunicações, ao passo que as taxas de concentração, mark-up e margem de valor agregado<br />
são semelhantes, enquanto os níveis de produtividade são inferiores.<br />
11 As estratégias tecnológicas das empresas nacionais de computadores são essencialmente imitativas, em que o esforço de capacitação<br />
está restrito ao desenvolvimento e engenharia de produto. Neste sentido, a dimensão do esforço tecnológico não se assemelha,<br />
nem termos relativos e muito menos absoluto, ao que é realizado pelas líderes mundiais (Furtado, 1994: 36).<br />
66 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
A diferença dos setores de Automação Industrial e Eletrônicos Básicos em relação<br />
aos anteriores é que seus segmentos mais nobres estão praticamente ausentes da estrutura<br />
intra-setorial doméstica, que tendeu a se concentrar em alguns nichos, aqueles em que a<br />
Lei de Informática foi mais efetiva. Em eletrônicos básicos, são muito frágeis os segmentos<br />
estratégicos de semicondutores, circuito integrado digital e circuitos eletrônicos, enquanto<br />
que em automação o único setor que os estudos consideram como consolidado é o de<br />
automação bancária. Os equipamentos de automação que fornecem estritamente para a<br />
indústria de transformação estão ausentes 12 . Isto explica porque as duas empresas líderes<br />
do setor de automação são empresas nacionais especializadas na produção de equipamentos<br />
de automação bancária, PROCOMP e Banco 24 Horas, a primeira com vendas líquidas em<br />
2001 no valor de R$ 650 milhões e a segunda no valor de R$ 180 milhões. As líderes de<br />
eletrônicos básicos, por sua vez, são empresas estrangeiras que se beneficiam da Zona<br />
Franca de Manaus para realizarem no Brasil atividade limitadas a montagem de<br />
componentes, como ocorre com a LG Philips e SANSUNG. Os 4 grupos de indicadores<br />
vão refletir estas limitações da indústria eletrônica nacional em seus dois setores<br />
tecnologicamente mais nobres e estratégicos na economia mundial. Os indicadores de<br />
tamanho médio e salário médio evidenciam esta fragilidade setorial, haja vista que seus<br />
níveis são comparáveis ao de ferro-gusa e ferro-ligas, mercado considerado marginal na<br />
indústria metalúrgica.<br />
A distribuição geográfica das empresas (TAB. 32) revela a forte concentração deste<br />
segmento no Estado de São Paulo, de forma ainda mais intensa do que o segmento de<br />
máquinas e equipamentos mecânicos. Aparentemente, na maioria setores as empresas<br />
paulistas compartilham as vendas com as empresas sediadas na Zona Franca de Manaus,<br />
contabilizado nos indicadores como “outras” unidades da federação, especialmente em<br />
Computadores, Telecomunicações 13 , Eletrônicos Básicos e Geradores e Transformadores.<br />
No entanto, uma análise mais apurada da origem de capital das empresas líderes mostra<br />
que a maioria das firmas com origem de capital em São Paulo ou no exterior possuem<br />
subsidiárias na Zona Franca com identidade jurídica própria, condição fundamental para<br />
obterem isenção fiscal. Este é o caso, por exemplo, da Itautec em computadores, da<br />
PROCOMP em automação, da LG PHILIPS e SAMSUNG em componentes eletrônicos<br />
básicos, da Thomson Multimidia em equipamentos de telecomunicações. Como vários<br />
estudos já mostraram, as operações das empresas dos setores da eletrônica mais intensivos<br />
em conhecimento na Zona Franca se restringem em sua maior parte a atividades de montagem<br />
de peças e componentes, com baixa agregação de valor. Os indicadores de produtividade<br />
do trabalho e salário médio evidenciam o pequeno conteúdo do processo de manufatura na<br />
Zona Franca. A TAB. 35 mostra que à exceção de setor de computadores, que parece estar<br />
ocorrendo agregação efetiva de valor, nos demais setores a hipótese de simples montagem<br />
parece se confirmar. Em telecomunicações, a produtividade e salário médio das empresas<br />
da Zona Franca são, respectivamente, 13% e 51% das paulistas; em eletrônicos básicos,<br />
68% e 47% e em geradores, 41% e 58%.<br />
12 O maior obstáculo para a atração de empresas multinacionais no setor de automação industrial é o pequeno tamanho do mercado<br />
doméstico, de porte insuficiente para a obtenção de escala mínima eficiente em termos para a produção destes maquinários. Por<br />
outro lado, a difusão em larga escala da automação no processo produtivo da indústria brasileira requereria das empresas usuárias<br />
escalas de produção suficientes para compensar os elevados investimentos de adoção (Furtado, 1994).<br />
13 Neste setor a significativa participação da Zona Franca decorre de problema de agregação, já que o sub-setor de áudio e vídeo<br />
encontra-se aí incluído.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 67<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A ausência de empresas destes setores eletro-eletrônicos nos quatro outros estados é<br />
evidenciada pelo indicador de participação no mercado nacional. As empresas sulinas<br />
possuem alguma presença em geradores e transformadores e equipamentos elétricos, com<br />
empresas classificadas entre as quatro maiores de seus respectivos sub-setores: no Rio Grande<br />
do Sul destacam-se a STEMAC em geração e transmissão, e a EBERLE e INTRAL em motores<br />
e componentes elétricos; no Paraná localiza-se a FURUKAWA, líder nacional em condutores<br />
elétricos; e em Santa Catarina encontra-se a WEG, empresa de capital nacional líder em motores<br />
e componentes elétricos. As empresas mineiras só possuem alguma participação em equipamentos<br />
elétricos, 5,56%, automação industrial, 5,05% e eletrônicos básicos, 5,82%. Como esperado,<br />
esta pequena participação reflete a presença de empresas consideradas marginais nestes mercados,<br />
ressalvando-se o sub-setor de condutores elétricos, onde a ALCOA FIOS, de origem canadense,<br />
e a CABELTE, de origem lusitana, ocupam, respectivamente, a quinta e sete posições deste<br />
segmento de mercado.<br />
68 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 69<br />
UF<br />
TABELA 32<br />
TAMANHO MÉDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAÇÃO (%) NO MERCADO NACIONAL - INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA<br />
DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000<br />
Computadores e Geradores e Equip. Energia Elétrica Telecomunicações Automação Industrial Eletrônicos Básicos<br />
Periféricos Transformadores<br />
Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG 1.195 1 42 1 0,05 1 4.084 102 1,38 7.992 124 6,03 28.725 4 109 4 1,15 4 18.562 6 228 6 5.05 6 11.259 144 4,24<br />
SP 80.873 220 40,01 20.406 160 47,66 13.281 138 77,61 184.233 465 63,66 18.936 183 81,21 40.402 247 71,85<br />
RJ - - - 1.720 3 51 3 0,22 3 6.632 129 1,67 19.669 4 268 4 0,79 4 3,223 7 65 7 1.32 7 4,367 7 38 7 0.30 7<br />
PR 30.395 1 168 1 1,63 1 28.914 319 9,76 10.302 164 5,18 5.463 5 90 5 0,14 5 18.195 6 126 6 4.95 6 5.392 65 1,29<br />
RS 47.219 2 251 2 2,53 2 25.260 252 13,11 6.993 97 3,96 34.749 4 114 4 0,52 4 4.318 82 4,70 34.060 263 5,82<br />
Outras 166.925 316 55,79 32.432 357 27,78 8.846 84 5,56 196.433 444 33,45 5.784 114 2,76 21.931 201 16,50<br />
Brasil 101.145 241 100,00 22.018 211 100,00 11.701 132 100,00 149.019 386 100,00 14.689 155 100,00 29.536 209 100,00<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Fabric. Máq. e Equip. p/ Escritorio" que não possuem representatividade nestes estados.<br />
2 exclusive "Fabric.Computadores" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
3 exclusive "Fabric.Eletrodos, Alarmes e afins" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
4 exclusive "Fabric. Apar. Receptores de Rádio e TV" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
5 exclusive "Fabric. Apar. Telefonia e Transmissores" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
6 exclusive "Fabric. de Equip. Eletrônicos de Controle da Produção" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
7 calculado através dos resíduos<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
70 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
UF<br />
TABELA 33<br />
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO - INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 1996<br />
Computad. e Periféricos Gerad. e Transformad. Equip. Energia Elétrica Telecomunicações Automação Industrial Eletrônicos Básicos<br />
CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8<br />
MG 1,47 1.50 1 0,68 0.72 2 3,22 4,31 0,50 0,57 5,19 5.19 15 15,60 16.13 16<br />
SP 40,80 55,96 33,35 38,12 46,24 52,56 22,61 25,90 27,12 39,71 21,15 29,91<br />
RJ ... ... 0,19 0.19 3 2,58 3.27 4 0,70 0,89 0.22 10 0.22 10 15,68 18.84 11<br />
PR 2.00 5 2.00 5 2,47 2,80 11,75 12,09 5,98 6,06 9,94 9.94 12 0,88 0.88 13<br />
RS 2,92 2.92 6 13,74 14,65 1,93 2.06 7 0,84 0.88 7 3,99 5,21 1.30 15 1.30 15<br />
Outras 14,93 21,12 19,27 23,91 2,33 2,88 29,20 48,87 4,83 4.84 16 7,12 7,79<br />
Brasil 40,80 59,38 47,13 59,35 51,63 60,83 33,43 57,56 30,97 46,04 37,80 52,31<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 1996. Elaboração Própria.<br />
1 o Estado possui apenas 5 empresas no setor.<br />
2 o Estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
3 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
4 o Estado possui apenas 7 empresas no setor.<br />
5 o Estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
6 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
7 o Estado possui apenas 5 empresas no setor.<br />
8 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
9 o Estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
10 o Estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
11 o Estado possui apenas 5 empresas no setor.<br />
12 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
13 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
14 o Estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
15 o Estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
16 o Estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 71<br />
TABELA 34<br />
PODER DE MERCADO INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000<br />
Computad. e Periféricos Gerad. e Transformad. Equip. Energia Elétrica Telecomunicações Automação Industrial Eletrônicos Básicos<br />
UF Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem<br />
V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.<br />
MG 2,191 0,971 3,78 0,96 4,62 0,98 11,974 0,984 4,666 0,966 4,88 0,95<br />
SP 8,18 0,97 3,49 0,96 3,92 0,97 5,78 0,93 3,58 0,95 4,63 0,95<br />
RJ - - 2,133 0,88 3 3,07 0,94 2,54 4 0,85 4 ... ... ... ...<br />
PR 7,98 1 0,98 1 5,44 0,98 4,79 0,98 3,95 5 0,95 5 2,54 6 0,97 5 3,88 0,90<br />
RS 5,44 2 0,98 2 3,56 0,92 3,48 0,89 7,45 4 0,99 4 2,36 0,93 4,88 0,96<br />
Outras 3,92 0,82 4,05 0,95 3,18 0,87 14,80 0,99 4,13 0,96 6,35 0,97<br />
Brasil 5,05 0,89 3,78 0,96 3,91 0,96 7,25 0,87 3,13 0,94 4,88 0,95<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Fabric. Máq. e Equip. p/ Escritorio" que não possui representatividade nestes estados.<br />
2 exclusive "Fabric.Computadores" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
3 exclusive "Fabric.Eletrodos, Alarmes e afins" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
4 exclusive "Fabric. Apar. Receptores de Rádio e TV" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
5 exclusive "Fabric. Apar. Telefonia e Transmissores" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
6 exclusive "Fabric. de Equip. Eletrônicos de Controle da Produção" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
72 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TABELA 35<br />
DESEMPENHO ECONÔMICO INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000<br />
Computadores e Geradores e Equip. Energia Elétrica Telecomunicações Automação Industrial Eletrônicos Básicos<br />
Periféricos Transformadores<br />
UF Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG 27.8321 8.4601 0,001 38.820 6.241 0,44 62.856 8.563 (0,21) 260.4984 16.1724 1,344 78.9246 8.8106 (2,33) 6 74.420 7.455 0,93<br />
SP 356.961 23.556 1,70 123.301 22.000 0,77 92.986 14.447 1,20 371.297 29.907 0,88 118.274 15.656 2,93 155.621 17.347 3,64<br />
RJ - - - 29.972 3 9.305 3 0,36 3 48.164 8.546 (1,42) 62.724 4 11.138 4 1,47 4 ... ... ... ... ... ...<br />
PR 177.631 1 14.711 1 0,13 1 89.066 11.603 1,37 61.283 7.763 0,06 48.701 5 7.055 5 0,34 5 140.833 6 23.073 6 0,08 6 74.746 11.388 1,36<br />
RS 185.253 2 21.841 2 2,88 2 92.302 12.998 (0,20) 64.138 8.641 3,65 302.687 4 26.752 4 0,17 4 49.185 13.143 1,08 124.065 13.959 6,18<br />
Outras 436.013 30.443 0,27 87.236 12.839 5,70 92.185 13.042 0,42 48.900 15.287 1,02 48.900 7.720 3,21 105.329 8.299 18,46<br />
Brasil 373.182 26.065 0,97 100.080 16.030 2,07 85.412 12.947 1,06 340.780 24.309 1,03 91.653 14.336 2,43 134.791 14.246 6,14<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Fabric. Máq. e Equip. p/ Escritorio" que não possuem representatividade nestes estados.<br />
2 exclusive "Fabric.Computadores" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
3 exclusive "Fabric.Eletrodos, Alarmes e afins" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
4 exclusive "Fabric. Apar. Receptores de Rádio e TV" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
5 exclusive "Fabric. Apar. Telefonia e Transmissores" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
6 exclusive "Fabric. de Equip. Eletrônicos de Controle da Produção" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
) Segmento de aparelhos e instrumentos<br />
Este é um segmento da eletroeletrônica há muito consolidado no Brasil, constituindo os<br />
bens de consumo duráveis chamados leves de consumo final, especialmente o setor de<br />
Eletrodomésticos e de Produtos Elétricos, parte destes direcionados para o setor de construção.<br />
No caso dos setores Aparelhos Médicos e Aparelhos Ópticos, estão divididos em bens duráveis<br />
de consumo final para as famílias, como lentes e óculos, e bens duráveis de consumo para os<br />
serviços de saúde, especialmente de uso hospitalar, e serviços industriais, como ocorre com o<br />
subsetor Instrumentos de Medição e Precisão.<br />
O setor de Eletrodomésticos é considerado maduro tecnologicamente, mas pelas<br />
características de bens duráveis possui algum esforço de diferenciação de produto, mesmo que<br />
o esgotamento de inovações tecnológicas de produto faça com que as empresas líderes utilizem<br />
de seu poderio econômico para a concentração absoluta desta estrutura de mercado, considerando<br />
que são world players de um setor bem internacionalizado. Tanto é assim que a taxa de concentração<br />
das 4 e 8 maiores empresas é das mais elevadas do conjunto do complexo metal-mecânico,<br />
atingindo, respectivamente à elevados níveis de 66% e 78% (TAB. 37). No entanto, sua<br />
característica de um oligopólio competitivo, com alguma diferenciação de produto, se mantém,<br />
haja vista que não existem elevadas barreiras à entrada de empresas marginais de menor porte,<br />
restritas a mercados regionais. Em geral o poder econômico das líderes é exercido via amplitude<br />
de suas redes de distribuição e comercialização em nível nacional. Observa-se que o tamanho<br />
médio das empresas, R$ 50 milhões, é pequeno relativamente à taxa de concentração das líderes,<br />
que reflete o grande porte destas empresas (TAB. 36). O valor médio das vendas líquidas das 4<br />
maiores em 2001, todas de capital estrangeiro, foi de R$ 825 milhões, sendo a maior empresa<br />
líder, MULTIBRAS, teve vendas líquidas de R$ 1,6 bilhões. Os elevados mark-up e margem de<br />
valor agregado e nível de produtividade, TAB. 38 e 39, refletem este poderio de mercado.<br />
Considerando que os eletroportáteis estão contabilizados fora deste setor 14 , a Zona Franca de<br />
Manaus possui uma participação menor do que esperado, de 10%. As empresas paulistas controlam<br />
nada menos do que 67% do mercado nacional, enquanto as empresas paranenses ocupam a<br />
segunda posição, com 17%, com a presença da ELETROLUX, não havendo mais espaço neste<br />
mercado para empresas de outras unidades da federação.<br />
No setor de Produtos Elétricos, a estrutura de mercado é relativamente menos concentrada,<br />
com o controle de 56% das vendas líquidas pelas 8 maiores empresas. Isto reflete um menor<br />
tamanho médio das empresas, de R$ 22,2 milhões, mas com mark-up próximo ao do setor de<br />
eletrodomésticos. A concentração geográfica é também semelhante, voltando as empresas<br />
paranaenses a ocuparem a segunda posição, enquanto as empresas fluminense possuem também<br />
alguma presença neste mercado.<br />
Por fim, as estruturas de mercado de Aparelhos Médicos e Aparelhos Ópticos são<br />
semelhantes, com taxas de concentração semelhantes ao setor de Produtos Elétricos, em que as<br />
8 maiores empresas controlam mais 50% do mercado, mas com níveis inferiores de mark-up e<br />
tamanho médio das empresas. Neste caso, a predominância das empresas paulistas é<br />
relativamente menor, de 51% e 46%, respectivamente. Em Aparelhos Médicos as empresas<br />
fluminenses e mineiras aparecem com importante participação no mercado nacional,<br />
respectivamente com 22% e 18%, sendo que as empresas mineiras atuam efetivamente no subsetor<br />
de Instrumentos de Medição e Precisão, onde a NANSEN ocupa o terceiro lugar neste<br />
14 Foram incluídos no setor de telecomunicações, no sub-setor de áudio e vídeo.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 73<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
nicho de mercado no país. Este é um mercado em que a política de incentivos poderia fortalecer<br />
a posição relativa das empresas de Minas Gerais, havendo escopo para diversificá-las para<br />
aparelhos médicos e odontológicos propriamente ditos, considerando que o complexo de serviços<br />
médicos e hospitalares em Belo Horizonte é bem desenvolvido nacionalmente, o que ofereceria<br />
aos estabelecidos e novos entrantes um mercado regional dinâmico e com escala extra-regional.<br />
As empresas estabelecidas no Estado possuem significativa liderança nacional, se tomarmos como<br />
referência o indicador de participação das 4 maiores no mercado nacional, de 15,6%, equivalente<br />
a das empresas fluminenses e não muito inferior às paulistas.<br />
TABELA 36<br />
TAMANHO MÉDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAÇÃO (%) NO MERCADO NACIONAL -<br />
INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000<br />
Eletrodomésticos Prod. Elétricos Apar. Médicos Apar. Ópticos<br />
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG 30,863 241 4.41 659 1 88 1 3,08 1 40,253 430 18.03 1286 3 50 3 1,14 3<br />
SP 63,036 429 66.96 20,846 168 62.39 9,656 101 51.05 8,729 122 46.34<br />
RJ 3,786 79 0.46 1.218 2 345 2 8,12 2 16,478 286 22.15 18.973 4 296 4 16,78 4<br />
PR 83,427 602 17.04 35,971 150 13.74 448 44 0.20 5,917 5 84 5 1.05 5<br />
RS 7,619 201 1.09 11.107 1 144 1 2,83 1 3,167 74 0.85 8.608 3 87 3 9,14 3<br />
Outras 35,067 320 10.03 23,609 181 9.52 9,569 161 7.72 18,228 151 25.56<br />
Brasil 50,991 379 100.00 22,224 164 100.00 11,625 149 100.00 11,628 132 100.00<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive “Fabric. Pilhas, Baterias e afins” cujo os dados não estão disponíveis.<br />
2 exclusive “Fabric. Pilhas, Baterias e afins” cujo os dados não estão disponíveis, e “Fabric. de Equip. de Iluminação”<br />
que não possui representatividade no estado.<br />
3 exclusive “Fabric. de Relógios e Cronômetros” cujo os dados não estão disponíveis.<br />
4 exclusive “Fabric. de Relógios e Cronômetros” que não possui representatividade no estado.<br />
5 Esta UF não possui representatividade na “Fabric. de Relógios e Cronômetros” e os dados sobre “Fabric. de Materiais<br />
Ópticos” não estão disponíveis, mas foi possível estimar atrvés dos resíduos.<br />
TABELA 37<br />
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO - INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 1996<br />
UF Eletrodomésticos Prod. Elétricos Apar. Médicos Apar. Ópticos<br />
CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8<br />
MG 3.26 3.301 0.46 0.61 15.60 16.13 4.84 4.952 SP 55.64 61.20 35.43 44.89 21.15 29.91 13.53 18.82<br />
RJ 1.14 1.163 8.36 8.444 15.68 18.84 7,45 8.14<br />
PR 17.59 17.625 7.19 7.87 0.886 0.886 ... ...<br />
RS 2.29 2.53 2.64 2.96 1.30 7 1.30 7 6.98 8 6.98 8<br />
Outras 5.60 7.98 3.96 4.84 7.12 7.79 34.64 49.36<br />
Brasil 66.14 78.15 38.88 56.32 37.80 52.31 35.09 55.12<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 1996. Elaboração Própria.<br />
1 o estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
2 o estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
3 o estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
4 o estado possui apenas 7 empresas no setor.<br />
5 o estado possui apenas 7 empresas no setor.<br />
6 o estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
7 o estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
8 o estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
74 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 38<br />
PODER DE MERCADO - INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000<br />
Eletrodomésticos Prod. Elétricos Apar. Médicos Apar. Ópticos<br />
UF<br />
Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem<br />
V.A. V.A. V.A. V.A.<br />
MG 7.41 0.98 6,101 0,951 3.00 0.97 3,313 0,973 SP 5.20 0.98 4.30 0,95 4.00 0.97 4.08 0,96<br />
RJ 3.12 0.98 7,902 0,962 2.75 0.95 3,554 0,974 PR 5.66 0.98 7.55 0,96 1.64 0.96 5 5<br />
RS 2.93 0.95 4,251 0,961 2.14 0.87 3,543 0,973 Outras 5.55 0.96 6.43 0,95 4.39 0.97 5.85 0,98<br />
Brasil 5.31 0.98 5.00 0.95 3.44 0.96 4.69 0.97<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive “Fabric. Pilhas, Baterias e afins” cujo os dados não estão disponíveis.<br />
2 exclusive “Fabric. Pilhas, Baterias e afins” cujo os dados não estão disponíveis, e “Fabric. de Equip. de Iluminação”<br />
que não possui representatividade no estado.<br />
3 exclusive “Fabric. de Relógios e Cronômetros” cujo os dados não estão disponíveis.<br />
4 exclusive “Fabric. de Relógios e Cronômetros” que não possui representatividade no estado.<br />
5 Esta UF não possui representatividade na “Fabric. de Relógios e Cronômetros” e os dados sobre “Fabric. de Materiais<br />
Ópticos” não estão disponíveis.<br />
TABELA 39<br />
DESEMPENHO ECONÔMICO - INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000<br />
UF Eletrodomésticos Prod. Elétricos Apar. Médicos Apar. Ópticos<br />
Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG 125,530 9,684 3.17 105.0591 8.4271 3,371 90,593 16,954 3.51 24.7473 4.7903 2,293 SP 144,064 15,847 5.02 118,274 15,182 2.64 92,646 14,199 4.73 68,990 9,960 5.16<br />
RJ 47,009 9,588 0.07 268.8472 16.1432 4,882 54,717 11,821 2.06 22.2414 10.5284 0,104 PR 136,099 14,955 1.39 230,268 15,302 0.26 9,776 4,640 - ... 5 ... 5 ... 5<br />
RS 35,749 8,174 0.96 74.6331 10.8891 1,141 37,237 9,724 0.14 97.3203 18.3173 7,013 Outras 104,782 11,237 1.47 125,329 9,885 1.79 57,921 7,996 1.22 119,272 11,985 2.05<br />
Brasil 131,588 14,467 3.90 131,157 14,224 2.40 75,291 13,271 3.61 86,518 11,080 3.16<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive “Fabric. Pilhas, Baterias e afins” cujo os dados não estão disponíveis.<br />
2 exclusive “Fabric. Pilhas, Baterias e afins” cujo os dados não estão disponíveis, e “Fabric. de Equip. de Iluminação”<br />
que não possui representatividade no estado.<br />
3 exclusive “Fabric. de Relógios e Cronômetros” cujo os dados não estão disponíveis.<br />
4 exclusive “Fabric. de Relógios e Cronômetros” que não possui representatividade no estado.<br />
5 Esta UF não possui representatividade na “Fabric. de Relógios e Cronômetros” e os dados sobre “Fabric. de Materiais<br />
Ópticos” não estão disponíveis.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 75<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
1.7.4. Indústria de material de transportes<br />
A indústria de Material de Transportes há muito tem a característica de uma indústria<br />
mundial, onde efetivamente ocorre a luta competitiva pelo mercado global. Sua organização<br />
industrial é bem delimitada, na forma centro-radial, em que as empresas âncora, montadoras do<br />
veículo final, se integram em uma cadeia vertical de fornecedores através de uma hierarquia<br />
bem definida, que progride verticalmente de produtores de partes e componentes específicos<br />
para produtores de produtos acabados compostos por módulos ou conjuntos sistêmicos, por<br />
isto mesmo denominados de sistemistas. Ou seja, existe uma estrutura de coordenação bem<br />
definida nas relações intersetoriais de insumo-produto, em que a empresa-âncora exerce<br />
efetivamente uma relação oligopsônica com seus fornecedores. As relações contratuais vão<br />
refletir este poder econômico da empresa-âncora, na definição do preço, especificação, qualidade<br />
e prazo de entrega do produto, o que resulta formas contratuais recorrente de duração variada,<br />
dependendo da especificidade do ativo tecnológico do produto.<br />
Esta forma de organização industrial explica porque a evolução das estruturas de mercado<br />
dos setores de cada cadeia vai ser ditado em grande medida pelo processo de competição que as<br />
empresas âncora estabelecem entre si, quer seja no segmento automotivo, de aeronaves, de<br />
embarcações ou locomotivas. Tendo em vista que o Brasil só possui vantagens comparativas no<br />
mercado mundial nos segmentos automotivo e de aeronaves, a análise a seguir estará restrita a<br />
estes segmentos, especialmente ao segmento automotivo, em que as empresas sediadas em<br />
Minas Gerais possuem presença competitiva no mercado nacional e internacional.<br />
A estrutura de mercado dos setores montadores de veículos deste dois segmentos é o<br />
caso clássico de oligopólio concentrado-diferenciado, que combina no processo competitivo o<br />
esforço de diferenciação de produto com o de redução de custos via exploração economias de<br />
larga escala. Estas duas armas competitivas definem no longo prazo os ganhadores e perdedores,<br />
tendo em vista que o poder econômico em si não é eficiente como instrumento de competição<br />
já todas os competidores são de grande porte e bem estruturados financeiramente. Uma forma<br />
de ampliação de participação no mercado via redução de preços resultaria em perdas<br />
generalizadas para todos os contendores, pois a reação seria em forma de guerra de preços, que<br />
comprometeria individualmente as margens de lucro de todas as firmas. Desta forma, este tipo<br />
de estrutura oligopólica opera através de uma estratégia de “maximização conjunta” dos lucros<br />
da indústria, na forma de acordos tácitos de colusão que permitem administrar as margens<br />
médias de mark-up de todas firmas. A evolução interna da concentração das vendas e centralização<br />
do capital resulta deste processo combinado de eficiência do esforço inovativo de produto e<br />
exploração de ganhos de escala técnica.<br />
É conhecido na literatura especializada que atualmente o segmento da indústria automotiva<br />
encontra-se maduro tecnologicamente e que a velocidade de introdução de novos produtos tem<br />
sido muito mais incremental do que radical, ao passo que, paradoxalmente, o escopo para<br />
exploração de economias técnicas de escala ampliou-se significativamente com a difusão no<br />
processo produtivo da indústria dos bens da capital da microeletrônica. Este duplo fenômeno<br />
explica porque a característica de mercado concentrado tem prevalecido sobre a característica<br />
de diferenciação de produto nesta estrutura industrial, o que tem levado, como última<br />
consequência, em forte centralização de capital de toda a cadeia produtiva, incluindo as empresas<br />
fornecedoras. A crescente automação dos processos de montagem tem possibilitado a chamada<br />
produção enxuta e, assim, a ampla difusão de sistemas organizacionais de interação estreita e<br />
contínua dentro da cadeia, facilitando o processo de cooperação produtor-usuário. Isto abriu<br />
76 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
cominho para diversas formas de cruzamento de capitais entre as empresas, quer seja das<br />
montadoras com seus fornecedores diretos, quer seja horizontalmente entre os fornecedores de<br />
grande porte, que passam a atuar em diversas linhas de peças e componentes. O resultado é que<br />
esta indústria tem vivido desde o início dos anos 90 um intenso processo de reestruturação,<br />
sendo atualmente muito mais concentrada e centralizada do que anteriormente.<br />
A indústria automotiva brasileira tem refletido este processo já que se constitui atualmente<br />
em uma importante plataforma de produção mundial. A maior particularidade no mercado<br />
nacional é que nem todos os world players estavam estabelecidos quando iniciou o processo de<br />
reestruturação. Aqueles estabelecidos há mais tempo possuem vantagens significativas sobre<br />
os novos entrantes, desde a inserção da marca até a rede de nacional de comercialização e<br />
assistência técnica, aspectos críticos para o sucesso do negócio nesta estrutura de mercado.<br />
Observa-se, TAB. 41, que a taxa de concentração dos 4 maiores fabricantes (CR-4) de automóveis<br />
em 1996 atingia a quase totalidade das vendas do setor, o que possivelmente tendeu a reduzir<br />
ao longo dos últimos anos com os novos entrantes mas não alterou o controle substantivo do<br />
mercado pelos estabelecidos. No caso de caminhões e ônibus, o CR-4 é relativamente mais<br />
baixo, mas ainda assim muito elevado principalmente quando consideramos a taxa de<br />
concentração pelos 8 maiores fabricantes (CR-8). Esta diferença deve-se em parte à segmentação<br />
no setor entre caminhões pesados e leves, sub-mercados dominados por empresas diferentes,<br />
que possuem em comum o fato do controle de seus capitais serem vinculados a empresas<br />
montadoras de automóveis. Além disso, os segmentos de ônibus e, especialmente, carrocerias<br />
são bem menos concentrados, que refletir no indicador médio de concentração. Por isto nota-se<br />
um forte contraste entre o tamanho médio e pessoal ocupado médio do setor automobilístico<br />
com o setor de caminhões e ônibus e os dois setores de peças e componentes, sendo que estas<br />
diferenças replicam nos indicadores de poder de mercado (mark-up) e desempenho (produtividade<br />
do trabalho e salário médio), como mostram as TAB. 40, 42 e 43 15 .<br />
No caso do setor de Peças e Acessórios os CR-4 e CR-8 são baixos, mesmo levando em<br />
conta o conjunto dos setores do complexo metal-mecânico. Neste sentido, o processo articulado<br />
de concentração de mercado e centralização do capital dos anos 90 não está refletindo nestas<br />
taxas. A primeira razão para isto é o nível de agregação deste setor, que incluí uma gama variada<br />
e heterogênea de produtos e de produtores. Na base da cadeia existe na verdade um significativo<br />
número de produtores, chamados de segundo e terceiro níveis, fornecedores de peças e<br />
componentes para produtores, os de primeiro nível, que realizam a montagem de conjuntos e<br />
sub-conjuntos a serem entregues às montadoras. A segunda razão está relacionada à forma de<br />
organização jurídica das firmas de primeiro nível, que tendem a possuir razões sociais diferentes<br />
por tipo de produto ou conjunto e por localização geográfica, inclusive por razões de incentivos<br />
fiscais. O fato do setor de Material Elétrico para Autos ter um nível adequado de desagregação<br />
evidencia melhor o nível de concentração efetiva do mercado em autopeças, apresentando CR-<br />
4 e CR-8 de 66% e 83%, respectivamente, que podem ser considerados muito elevados.<br />
A distribuição geográfica dos setores da cadeia automotiva, TAB. 40, evidencia também<br />
sua tendência a apresentar elevados níveis de concentração espacial, condição fundamental<br />
para ganhos de economias externas de aglomeração. O fato que mais chama atenção é que a<br />
guerra fiscal entre as unidades da federação na década de 90 para atração desta cadeia não teve<br />
um efeito significativo para a sua desconcentração do Estado de São Paulo, principalmente se<br />
15 Para o setor automobilístico disponíveis apenas para São Paulo.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 77<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
levarmos em conta que mais de 20% da produção de automóveis já se encontrava em Minas<br />
Gerais. O segundo fato relevante é a pequena participação das empresas sediadas em Minas no<br />
mercado nacional de autopeças, 7,07%, depois de todo esforço de mineirização de fornecedores<br />
realizado pela Fiat e o governo do Estado nos anos 90. As empresas mineiras possuem uma<br />
participação inferior a das empresas gaúchas, sendo desproporcional ao peso do Estado no setor<br />
automobilístico. Estão pouco presentes na cadeia local importantes segmentos de fornecedores,<br />
tais como fabricantes de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão, para o<br />
sistema de freios e para o sistema de direção e suspensão. O Paraná apresenta também dificuldades<br />
semelhantes relativas à intensidade de adensamento de sua cadeia local, enquanto que no caso do<br />
Rio Grande do Sul os sub-setores de especialização local estão diretamente relacionados ao setor<br />
de caminhões e ônibus, inclusive carrocerias, que possui 15% do mercado nacional.<br />
À luz de pesquisas anteriores tratadas na literatura 16 , pode-se afirmar que as atividades<br />
relacionadas aos níveis mais altos da cadeia produtiva da indústria automobilística, sobretudo<br />
aquelas de maior valor agregado, associadas à engenharia mais complexa de fabricação ou montagem<br />
de veículos, estão localizadas nas proximidades da microrregião de São Paulo, se beneficiando da<br />
complexidade do tecido industrial do Estado, que se mostra altamente integrado. Portanto, a<br />
relevância do Estado paulista não se limita à quantidade de plantas e de elos da cadeia produtiva<br />
da indústria automobilística e, consequentemente, ao volume total de emprego gerado. Sua posição<br />
também de destaca em virtude da qualidade das atividades realizadas, tais como atividades de<br />
projeto de produto, o que demonstra um maior enraizamento espacial da cadeia produtiva. Isto se<br />
torna mais evidente quando se considera o fato de que, nos novos sítios de localização das plantas<br />
do setor automotivo, os componentes e autopeças de maior complexidade são gerados, na maioria<br />
das vezes, em suas matrizes localizadas no Estado de São Paulo. Uma explicação para esse fenômeno<br />
está no fato de que, com o sistema de produção modular, os novos sítios das unidades produtivas<br />
realizam poucas operações internamente, se constituindo algumas vezes mais em depósitos de<br />
peças e componentes para viabilizar o just-in-time com a montadora no local do que uma nova<br />
plataforma de produção. Assim, uma parte significativa dos componentes e das peças é processada<br />
em outras plantas fabris, as quais permanecem localizadas nos sítios originais. Ou, em alguns<br />
casos, verifica-se também a discrepância das atividades relacionadas a um único produto entre as<br />
plantas de uma mesma empresa, as quais estão distribuídas em espaços distintos.<br />
No caso do setor de aeronaves os dados confirmam a grande concentração desta atividade<br />
em São Paulo, onde se encontra a empresa âncora nacional do setor, a EMBRAER. No entanto, os<br />
dados fechados para Minas não revelam que o Estado possui atuação no nicho de helicópteros,<br />
através da HELIBRÁS, com vendas líquidas em 2001 da ordem de R$ 95 milhões, que pode se<br />
constituir em um foco particular de política seletiva de incentivos na indústria de material de<br />
transportes no Estado.<br />
16 Ver, por exemplo, Ferreira e Lemos (2002).<br />
78 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 79<br />
TABELA 40<br />
TAMANHO MÉDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAÇÃO (%) NO MERCADO NACIONAL<br />
INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTES, 2000<br />
Automóveis Caminh. e Ônibus Peças e Acessórios Mat. Elét.- Auto Embarcações e outros Veic. Ferroviários Aeronaves<br />
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG ... ... 11.102 1 162 1 0,73 1 17,374 190 7.07 16,884 282 4.26 2.040 4 65 4 0,26 4 2,747 130 2.71 ... ... ...<br />
SP 2,777,611 8,103 72.71 36,382 624 65.95 34,407 277 77.87 77,450 647 91.20 8,302 111 12,97 33,186 260 87.31 472,530 910 93.91<br />
RJ ... ... ... 6.471 1 156 1 0,56 1 6,376 125 0.88 - - - 8.256 2 162 2 4,90 2 ... ... ... 63,578 355 4.59<br />
PR ... ... ... 8.683 1 150 1 1,42 1 17,223 114 4.52 ... ... ... 2.685 3 38 3 0,25 3 ... ... ... - - -<br />
RS ... ... ... 4,456 516 15,17 25,825 230 7.79 ... ... ... 4.417 4 48 4 0,69 4 - - - ... ... ...<br />
Outras ... ... ... 13.362 1 173 1 4,22 1 5,827 94 1.87 33,264 590 3.73 73.639 236 80,54 ... ... ... ... ... ...<br />
Brasil 2,056,929 5,401 100.00 73,990 377 100,00 27,076 230 100.00 61,495 561 100.00 26,890 150 100,00 20,272 251 100.00 307,496 657 100.00<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 inclui apenas “Fabric. de Carrocerias e Reboques”. Dados para “Fabric. de Caminhões e Ônibus” não estão disponíveis.<br />
2 exclusive “Fabric. de Outros Equipamentos de Transporte” cujo os dados não estão disponíveis.<br />
3 exclusive “Constr. de Embarcações” que não possui representatividade neste Estado.<br />
4 exclusive “Constr. de Embarcações” cujo os dados não estão disponíveis.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
80 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TABELA 41<br />
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO - INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTES, 1996<br />
Automóveis Caminh. e Ônibus Peças e Acessórios Mat. Elét.-auto Embarcações e outros Veic. Ferroviários Aeronaves<br />
UF CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8<br />
MG ... ... 1,59 1,62 5,00 6,40 ... ... 0,31 0.31 8 2.96 9 2.96 9 ... ...<br />
SP 77,22 77.30 1 60,53 66,29 14,01 24,20 64,44 77,53 13,79 15,94 64,39 64.39 10 67,62 68.60 4<br />
RJ - - 1,63 1.71 2 0,74 0,95 ... ... 14,98 15,63 ... ... 23.78 5 23.78 5<br />
PR - - 9,66 10,15 0,48 0,64 - - 2,83 2.90 6 - - - -<br />
RS - - 11,76 13,62 6,27 7,33 0.12 3 0.12 3 ... ... - - ... ...<br />
Outras ... ... 3,15 3,38 1,49 1,92 9,19 9.19 4 46,34 52,14 5,43 5.43 7 ... ...<br />
Brasil 99,12 100,00 67,94 81,75 14,01 24,51 66,27 82,63 55,00 70,84 87,58 97,84 94,30 98,44<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 1996. Elaboração Própria.<br />
1 o Estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
2 o Estado possui apenas 7 empresas no setor.<br />
3 o Estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
4 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
4 o Estado possui apenas 7 empresas no setor.<br />
5 o Estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
6 o Estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
7 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
8 o Estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
9 o Estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
10 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 81<br />
TABELA 42<br />
PODER DE MERCADO INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTES, 2000<br />
Automóveis Caminh. e Ônibus Peças e Acessórios Mat. Elét.-auto Embarcações e outros Veic. Ferroviários Aeronaves<br />
UF Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem<br />
V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.<br />
MG ... ... 2,874 0,904 2,85 0,86 4,19 0,94 3,751 0,941 1,68 0,87 ... ...<br />
SP 6,06 0,98 4,71 0,95 3,72 0,93 4,94 0,97 3,25 0,93 2,45 0,82 9,73 0,99<br />
RJ ... ... 2,75 4 0,96 4 2,71 0,96 - - 1,80 2 0,71 2 ... ... 3,80 0,94<br />
PR ... ... 3,26 4 0,95 4 6,90 0,97 ... ... 6,34 3 0,94 3 ... ... - -<br />
RS ... ... 4,86 0,96 3,69 0,94 ... ... 5,91 1 0,95 1 - - - ...<br />
Outras ... ... 4,321 0,97 4 3,55 0,90 3,77 0,98 9,71 0,98 ... ... ... ...<br />
Brasil ... ... 5,27 0,84 3,70 0,93 4,89 0,96 6,56 0,96 2,69 0,82 9,20 0,99<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Constr. de Embarcações" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
2 exclusive "Fabric. de Outros Equipamentos de Transporte" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
3 exclusive "Constr. de Embarcações" que não possui representatividade neste estado.<br />
4 inclui apenas "Fabric. de Carrocerias e Reboques", dados para "Fabric. Caminhões e Ônibus" não estão disponíveis.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
82 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TABELA 43<br />
DESEMPENHO ECONÔMICO INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTES, 2000<br />
Automóveis Caminh. e Ônibus Peças e Acessórios Mat. Elét.- Auto Embarcações e outros Veic. Ferroviários Aeronaves<br />
UF Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG ... ... ... 61.6014 11.2544 0,054 78.485 13.644 10,63 56.478 6.961 2,54 29.7221 4.7451 2,811 18.353 5.767 4,25 ... ... ...<br />
SP 336.773 34.491 3,38 242.696 28.467 2,76 115.767 16.677 3,47 115.878 13.234 4,71 69.047 11.928 2,12 104.293 20.227 4,03 515.060 33.585 0,55<br />
RJ ... ... ... 40.0284 9.8364 0,834 48.825 11.545 10,85 - - - 35.9992 8.6402 0,512 ... ... ... 168.872 22.669 1,55<br />
PR ... ... ... 55.2234 11.3134 (0,04) 4 146.412 11.293 2,06 ... ... ... 66.0413 6.0423 0,453 ... ... ... - - -<br />
RS ... ... ... 120.198 14.252 1,37 105.491 15.218 5,04 ... ... ... 88.4511 7.4961 0,461 - - - ... ... ...<br />
Outras ... ... ... 75.2914 10.3054 1,934 56.073 7.928 10,69 55.220 8.561 5,21 305.650 15.470 3,00 ... ... ... ... ... ...<br />
Brasil ... ... ... 173.692 21.058 2,39 109.154 15.679 4,19 106.714 12.393 4,64 174.329 12.812 2,78 90.737 17.946 4,04 472.059 32.230 0,59<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Constr. de Embarcações" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
2 exclusive "Fabric. de Outros Equipamentos de Transporte" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
3 exclusive "Constr. de Embarcações" que não possui representatividade neste estado.<br />
4 inclui apenas "Fabric. de Carrocerias e Reboques". Dados para "Fabric. de Caminhões e Ônibus" não estão disponíveis.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
1.8. Liderança de empresas dos setores<br />
agroindustriais<br />
agroindustriais<br />
A análise da liderança de empresas do complexo agroindustrial será baseada na classificação<br />
a três dígitos da CNAE, constituída por nove setores à jusante da agricultura e 2 setores à montante:<br />
Carnes, Frutas e Legumes, Óleos e Gorduras, Laticínios, Moagem de Cereais, Açúcar e Álcool,<br />
Café, Alimentos Diversos e Bebidas (agroindústria); e químicos inorgânicos e defensivos agrícolas<br />
(insumos químicos) 17 .<br />
1.8.1. Agroindústria<br />
Como analisado em Lemos (1992), a agroindústria possui uma organização produtiva no<br />
formato de cadeias por produtos, em que pese que os avanços tecnológicos da década de 90,<br />
especialmente da biotecnologia, tenham flexibilizado em parte esta rigidez mono-produto das<br />
cadeias. Neste sentido, a análise das estruturas de mercado e liderança de empresas segue em<br />
grande parte esta característica organizacional, em que a estratégia de crescimento das empresas<br />
agroindustriais tende a seguir o controle vertical de uma ou mais cadeias. No entanto, nos segmentos<br />
finais de segundo processamento de produtos preparados e fabricados de alimentos com o uso de<br />
vários ingredientes, existe uma estratégia horizontal de crescimento das empresas, em que a rigidez<br />
da cadeia mono-produto é claramente quebrada. O nível de agregação a três dígitos não possibilita,<br />
porém, esta análise mais refinada das estruturas de mercado18 . Mesmo assim, ao longo da análise<br />
tomar-se-á o cuidado de salientar estas diferenças, quando se fizer necessário.<br />
Com exceção dos setores de Alimentos Preparados, Diversos e Bebidas, as firmas dos<br />
demais setores da agroindústria têm sua origem a partir de uma cadeia mono-produto, condição<br />
fundamental para sua acumulação de capital inicial para posterior diversificação em produtos<br />
finais de segundo processamento, que abre caminho para seu esforço de horizontalização. Assim,<br />
a estrutura de mercado original do segmento de primeiro processamento da agroindústria é de<br />
oligopólio competitivo, ou seja, são mercados que possuem uma liderança bem definida de grandes<br />
empresas que dominam uma parcela não desprezível destes mercados, ao mesmo tempo em que<br />
existe espaço nestas estruturas concorrenciais para a existência de empresas de pequeno e médio<br />
portes, que possuem alguma facilidade de entrada e saída sem incorrerem em custos irrecuperáveis<br />
elevados. Isto é possibilitado pela natureza de produtos homogêneos oriundos da agricultura, que<br />
exigem um nível de capacitação tecnológica relativamente baixo, pois os métodos de processamento<br />
são baseados em tecnologias tangíveis, na forma de máquinas e equipamentos, disponíveis no<br />
mercado.<br />
A heterogeneidade de tamanho das empresas é também significativa entre os setores, TAB.<br />
44, em função das diferentes oportunidades de mercado de cada cadeia. O setor de Óleos e<br />
Gorduras é o que possui o maior tamanho médio, estando fortemente integrado à cadeia<br />
internacional de soja e derivados, sendo as exportações um espaço privilegiado de expansão setorial<br />
e atuação das empresas líderes. Por isto mesmo é o setor agroindustrial mais concentrado, com<br />
CR-4 e CR-8 próximos aos de “oligopólio concentrado” (TAB. 45), que tem possibilitado<br />
17 A CNAE não disponibiliza a informação desagregada de “adubos e fertilizantes” no setor de Químicos Inorgânicos. O setor de<br />
Máquinas e Equipamentos Agrícolas foi analisado na Indústria Mecânica.<br />
18 O nível de desagregação mais adequado de análise é a 4 dígitos da classificação industrial, conforme Lemos (1992).<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 83<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
mark-ups muito elevados, 14,44, bem acima da média dos setores do complexo metal-mecânico<br />
(TAB. 46). O aumento de ganhos de escala via significativa ampliação da escala técnica eficiente<br />
mínima significou nos últimos anos maiores requerimentos de capital e elevado nível de<br />
produtividade do trabalho (TAB. 47). Espacialmente, reflete o forte crescimento nesta cadeia das<br />
empresas sediadas nos estados do Centro-Oeste, contabilizados em “outros”, ao mesmo tempo em<br />
que as empresas sediadas em São Paulo ainda mantêm uma participação significativa. A elevada<br />
participação no mercado nacional das 4 maiores empresas paulistas e do Centro-Oeste, de 37% e 25%,<br />
respectivamente reflete esta liderança regional espacialmente concentrada. Por outro lado, as empresas<br />
do Paraná e, em maior medida do Rio Grande do Sul, perdem muita posição relativa e se tornam<br />
parceiros menores nesta cadeia. No caso de Minas Gerais, a participação estadual de 2% no mercado<br />
reflete a presença de apenas uma empresa de grande porte, a CARGILL.<br />
Em seguida vêm os setores de Carnes e de Açúcar e Álcool, que operam em suas cadeias com<br />
empresas de tamanho médio bem abaixo daquele das empresas da cadeia de óleos, mas mesmo assim<br />
de tamanho significativo para os parâmetros da agroindústria, em torno de R$ 45 milhões. Como se<br />
sabe, as empresas líderes do setor de carnes experimentaram nos anos 80 uma estratégia de verticalização<br />
à jusante em direção a produtos preparados de carne, com diversificação horizontal da carne de aves e<br />
suínos para a bovina. Nos anos 90 esta diversificação se completa para uma linha mais completa de<br />
produtos preparados. Mesmo assim os níveis de concentração são moderados, indicando que a maioria<br />
dos produtores de menor porte continuam restritos à primeira transformação, ou seja, o abate de animais.<br />
No caso do setor de Açúcar e Álcool os níveis de concentração também são moderados, mas neste<br />
caso a principal razão é o escopo limitado de diversificação e principalmente de diferenciação, ao passo<br />
que a heterogeneidade intra-setorial das empresas é menor. No caso de carnes, o domínio do mercado<br />
nacional é claramente das empresas catarinenses (“outros”), especialmente a SADIA, PERDIGÃO e<br />
SEARA, que atuam como pessoas jurídicas próprias no Estado de São Paulo. No caso de cadeia sucroalcooleria,<br />
o domínio das usinas paulistas é muito consolidado, com presença marginal de empresas<br />
nordestinas (“outros”).<br />
A presença de empresas de menor porte ao lado das empresas líderes é ainda mais<br />
pronunciado nos setores de Laticínios, de Moagem e Frutas e Legumes, como mostra o indicador<br />
de tamanho médio. No entanto, as taxas de concentração, CR-4 e CR-8, são relativamente elevadas,<br />
indicando uma forte segmentação nestes mercados, especialmente o de laticínios, entre empresas<br />
líderes que dominam as vendas de produtos diferenciados de marca no mercado nacional, e<br />
empresas de pequeno porte, que atuam em mercado regionais com uma linha de produtos<br />
tradicional, com baixos requerimentos tecnológicos. Mesmo assim, os mark-up médio e níveis de<br />
produtividade do trabalho ainda são elevados, pelo significativo peso das líderes na produção<br />
setorial nacional. Estas características dos dois setores estão, neste caso, bem demarcadas<br />
setorialmente. Em laticínios, as empresas paulistas são líderes e dominam parte significativa do<br />
mercado nacional, como indicam as taxas de concentração das 4 e 8 maiores do Estado. As mineiras,<br />
por sua vez, apresentam um descompasso entre a significativa participação do conjunto na produção<br />
nacional, 26%, e a participação das líderes, de apenas 9%, e isto graças ao peso isolado da Itambé.<br />
O caso do setor de moagem, especialmente trigo, este quadro é parecido, mas agora entre as<br />
empresas paulistas e gaúchas.<br />
A situação mais gritante da fragilidade das empresas mineiras ocorre no setor de Café, pois<br />
a liderança do Estado na produção primária deste produto não corresponde à liderança no elo<br />
industrial de moagem, torrefação e produtos derivados, onde as empresas paranaenses e paulistas<br />
exercem clara liderança. As taxas de concentração das 4 e 8 maiores por Estado denunciam esta<br />
realidade, que surge como um gargalo importante da agroindústria estadual. Este gargalo é de<br />
84 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
difícil superação haja vista a elevada concentração das líderes do mercado nacional, entre os<br />
maiores níveis da agroindústria brasileira. Observa-se a grande heterogeneidade de mark-up e<br />
níveis de produtividade segundo a origem estadual de capital das empresas que revelam cabalmente<br />
as desvantagens das empresas mineiras do setor.<br />
Como era de se esperar, nos setores de produtos alimentares preparados, Alimentos Diversos,<br />
e Bebidas, existe uma ampla variedade de produtos que dificultam uma análise mais cuidadosa.<br />
De qualquer forma São Paulo possui significativa participação haja vista que este tipo de indústria<br />
tende a ter um comportamento weberiano de estar próximo ao mercado final de consumo,<br />
principalmente no caso de bebidas. A participação das empresas mineiras nestes dois setores no<br />
mercado nacional é claramente minoritária.<br />
TABELA 44<br />
TAMANHO MÉDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAÇÃO (%) NO MERCADO NACIONAL<br />
AGROINDÚSTRIA, 2000<br />
Carnes Frutas e Legumes Óleos e Gorduras<br />
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG 13.061 235 3,23 13.573 206 3,79 242,369 1 185 1 2.02 1<br />
SP 58.799 547 32,18 48.818 265 66,91 347.008 567 43,46<br />
RJ 8.699 199 1,24 1.440 46 0,26 - - -<br />
PR 35.934 361 7,35 11.082 82 1,69 223.642 551 9,34<br />
RS 42.968 419 13,49 10.708 204 5,71 58.166 207 3,89<br />
Outras 60.757 583 42,50 16.727 353 21,65 137.346 355 41,29<br />
Brasil 46.389 463 100,00 26.267 265 100,00 184.238 398 100,00<br />
Laticínios Moagem Cereais Açúcar e Álcool<br />
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG 26.075 161 26,27 18.991 129 7,37 18.685 364 1,72<br />
SP 59.246 399 40,21 46.781 235 41,77 87.305 365 70,46<br />
RJ 10.827 107 1,52 20.296 195 0,61 17.884 2 281 2 0,94 2<br />
PR 41.093 231 7,84 21.148 143 9,31 35.551 451 4,90<br />
RS 56.205 253 8,34 23.581 128 20,14 - - -<br />
Outras 12.814 102 14,81 15.176 107 20,62 31.883 890 21,97<br />
Brasil 29.286 193 100,00 25.171 147 100,00 56.028 572 100,00<br />
Café Alim. Diversos Bebidas<br />
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG 10.464 112 9,95 2.572 85 2,38 16.230 197 3,09<br />
SP 22.304 143 26,19 30.828 247 59,05 45.860 243 29,47<br />
RJ 6.709 104 2,63 8.500 117 6,57 157.922 654 25,89<br />
PR 52.466 286 29,33 6.852 117 3,12 21.059 177 3,45<br />
RS 19,203 1 114 1 1.07 1 9.780 152 5,30 30.774 202 5,85<br />
Outras 11.489 137 30,83 14.178 180 23,57 34.142 219 32,24<br />
Brasil 17.198 146 100,00 15.938 172 100,00 43.567 251 100,00<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 calculado através dos resíduos<br />
2 exclusive "Prod. de Álcool" cujo os dados não estão disponíveis<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 85<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
86 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TABELA 45<br />
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO - AGROINDÚSTRIA, 1996<br />
Carnes Frutas e Legumes Óleos e Gorduras Laticínios Moagem Cereais Açúcar e Álcool Café Alim. Diversos Bebidas<br />
UF CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8<br />
MG 1,05 1,59 2,38 2,77 ... ... 7,01 8,59 5,82 6,72 1,36 2,05 7,32 8,25 3,16 3,83 3,47 3,88<br />
SP 6,46 10,00 40,01 52,00 37,30 41,91 39,63 49,14 24,16 31,56 8,32 14,23 34,36 39,11 12,78 19,66 30,28 39,27<br />
RJ 2,85 4,47 0,91 0.951 - - 1,32 1,70 1,08 1.083 3,16 3,60 1,54 2,28 9,67 10,02 7,04 8,24<br />
PR 10,06 10,86 1,66 1.712 13,08 16,23072988 4,86 5,37 2,96 4,26 3,10 4,70 21,29 23,72 2,35 3,26 3,97 4,12<br />
RS 6,28 8,74 3,60 4,06 6,62 7,70 5,06 5,70 9,78 13,25 - - 1.004 1.004 2,13 3,33 2,51 3,14<br />
Outras 26,28 30,80 6,57 10,52 24,44 28,65 3,11 4,55 4,24 7,05 4,58 7,40 8,42 13,54 16,18 19,26 9,97 13,59<br />
Brasil 30,97 40,82 40,01 52,00 51,65 66,82 39,63 52,94 25,79 38,00 8,68 15,13 48,15 59,53 23,98 34,94 32,21 45,88<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 1996. Elaboração Própria.<br />
1 este Estado possui apenas 6 empresas no setor.<br />
2 este Estado possui apenas 5 empresas no setor.<br />
3 o Estado possui apenas 4 empresas no setor.<br />
4 o Estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 87<br />
TABELA 46<br />
PODER DE MERCADO - AGROINDÚSTRIA - 2000<br />
Carnes Frutas e Legumes Óleos e Gorduras Laticínios Moagem Cereais Açúcar e Álcool Café Alim. Diversos Bebidas<br />
UF Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem<br />
V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.<br />
MG 6,31 0,95 4,31 0,93 ... ... 9,74 0,97 8,67 0,96 3,20 0,90 6,23 0,97 4,09 0,96 4,72 0,98<br />
SP 7,73 0,97 5,82 0,91 12,10 0,97 5,64 0,97 6,04 0,95 7,27 0,94 6,02 0,97 4,70 0,96 7,30 0,97<br />
RJ 4,32 0,96 3,05 0,92 - - 8,61 0,97 5,44 0,91 3,961 0,911 5,77 0,98 4,73 0,95 5,91 0,97<br />
PR 8,06 0,97 9,44 0,97 13,80 0,97 8,26 0,97 9,93 0,98 4,90 0,92 5,28 0,93 4,38 0,96 5,49 0,98<br />
RS 7,40 0,97 6,38 0,96 9,55 0,96 11,28 0,97 8,95 0,96 - - ... ... 4,88 0,96 7,03 0,98<br />
Outras 6,64 0,96 5,50 0,96 12,90 0,96 9,28 0,97 8,84 0,97 3,58 0,90 7,09 0,96 5,00 0,96 7,61 0,97<br />
Brasil 7,09 0,96 5,72 0,93 12,44 0,94 7,46 0,97 7,44 0,96 5,68 0,96 11,92 0,94 4,77 0,96 6,72 0,97<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Prod. de Álcool" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 47<br />
DESEMPENHO ECONÔMICO - AGROINDÚSTRIA, 2000<br />
Carnes Frutas e Legumes Óleos e Gorduras<br />
UF Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG 52.844 4.233 0,34 61.320 6.251 2,49 ... ... ...<br />
SP 103.948 7.056 1,37 168.441 10.695 3,40 592.349 19.164 0,41<br />
RJ 41.781 5.638 0,45 28.869 5.122 0,69 - - -<br />
PR 96.557 6.327 1,03 131.024 7.302 0,40 393.161 10.976 0,33<br />
RS 98.964 7.106 1,30 50.516 4.234 1,95 270.042 12.105 (1,31)<br />
Outras 100.178 8.148 2,23 45.384 4.429 2,77 371.522 9.676 1,99<br />
Brasil 96.460 7.249 1,66 92.165 6.813 3,08 440.387 13.111 0,83<br />
Laticínios Moagem Cereais Açúcar e Álcool<br />
UF Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG 157.685 7.894 2,13 142.050 7.912 2,59 141.622 7.620 0,47<br />
SP 144.124 13.727 1,91 189.764 15.445 1,79 224.375 11.781 1,62<br />
RJ 97.775 5.438 1,32 94.999 6.725 3,15 58.0431 7.2631 0,951 PR 172.582 10.746 5,33 144.806 7.854 0,83 153.638 14.371 1,41<br />
RS 215.009 8.153 6,62 176.844 9.181 1,66 - - -<br />
Outras 121.670 6.581 1,81 136.692 7.314 1,54 32.096 4.261 1,86<br />
Brasil 147.638 10.173 2,60 163.998 10.677 1,69 97.342 6.971 1,59<br />
88 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Café Alim. Diversos Bebidas<br />
UF Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG 90.302 7.967 0,57 28.861 4.257 1,61 80.863 10.199 0,90<br />
SP 151.058 14.174 1,25 120.105 13.891 2,04 182.959 16.761 1,03<br />
RJ 63.479 6.594 0,58 68.904 8.402 1,95 233.766 16.291 0,47<br />
PR 169.745 13.427 0,42 56.083 7.752 1,70 116.588 13.086 1,98<br />
RS ... ... ... 61.818 7.444 2,59 148.954 12.031 (0,42)<br />
Outras 80.966 5.780 1,73 75.298 8.405 1,65 151.652 10.611 4,11<br />
Brasil 112.131 9.220 1,07 89.057 10.404 1,95 168.889 13.531 1,82<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
1 exclusive "Prod. de Álcool" cujo os dados não estão disponíveis.<br />
1.8.2. Insumos químicos<br />
Dois setores compõem os insumos químicos à montante do agronegócio, os defensivos<br />
agrícolas e os químicos inorgânicos, constituídos em grande parte pela fabricação de<br />
intermediários para fertilizantes e fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e<br />
potássios. Os defensivos agrícolas compõem um dos segmentos dos produtos químicos<br />
orgânicos finais, dominados pelas grandes empresas multinacionais da indústria química. São
produzidos a partir de princípios ativos que requerem elevados investimentos para seu<br />
desenvolvimento, sendo em geral protegidos por patentes. A introdução da biotecnologia<br />
no segmento de defensivos tem contribuído ainda para a elevação dos investimentos em<br />
pesquisa e desenvolvimento, se constituindo, portanto em um setor com elevadas barreiras<br />
à entrada, altamente capital-intensivo. É um setor baseado na ciência com intensa<br />
diferenciação de produto, fator decisivo para a elevada concentração desta indústria,<br />
tipicamente com uma estrutura de mercado de world players. Os indicadores de tamanho<br />
médio, taxa de concentração, mark-up e produtividade refletem estas características<br />
estruturais do setor, que é parte de uma cadeia produtiva mundial (TAB. 48, 49, 50 e 51).<br />
A participação quase absoluta das empresas sediadas produtoras de defensivos no Estado<br />
de São Paulo é a faceta geográfica da natureza concentrada e verticalizada da indústria<br />
química de produtos orgânicos, em que a quase totalidade dos princípios ativos utilizados<br />
é de insumos importados. Este é um setor onde não haveria espaço para uma política<br />
industrial focalizada no Estado de Minas Gerais.<br />
Em contraste, o setor de inorgânicos possui significativa segmentação interna, havendo<br />
espaço para ampliar a participação das empresas sediadas no Estado. As empresas são de<br />
menor porte, mas as líderes ocupam um considerável espaço no mercado nacional. Os<br />
segmentos de fosfatados e potássios possuem localização weberiana determinada pela fonte<br />
de matéria-prima, o que explica as vantagens comparativas locacionais do estados nestes<br />
dois segmentos. No caso dos nitrogenados, dependem da cadeia petroquímica, onde o Estado<br />
não possui participação, estando a liderança deste mercado dividido entre as empresas sediadas<br />
em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os indicadores de tamanho médio, taxa de concentração<br />
e poder de mercado vão refletir esta segmentação dentro do setor.<br />
TABELA 48<br />
TAMANHO MÉDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAÇÃO (%)<br />
NO MERCADO NACIONAL -INDÚSTRIA DE INSUMOS QUÍMICOS, 2000<br />
Químicos Inorgânicos Defensivos Agrícolas<br />
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.<br />
Méd. Ocup. Nac. Méd. Ocup. Nac.<br />
MG 29.770 159 6,13 ... ... ...<br />
SP 85.850 198 54,58 274.498 401 83,15<br />
RJ 80.138 460 10,76 ... ... ...<br />
PR 40.255 85 5,77 118.636 279 9,98<br />
RS 55.910 133 5,01 12.084 85 0,61<br />
Outras 50.833 151 17,75 ... ... ...<br />
Brasil 64.183 191 100,00 191.684 330 100,00<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 89<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 49<br />
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO - INDÚSTRIA DE INSUMOS QUÍMICOS<br />
UF Químicos Inorgânicos Defensivos Agrícolas<br />
CR-4 CR-8 CR-4 CR-8<br />
MG 7,38 8,02 ... ...<br />
SP 22,36 34,18 55,78 71,69<br />
RJ 13,81 16,27 ... ...<br />
PR 3,01 3,32 4,74 4.741<br />
RS 3,78 4,53 3,43 3.512<br />
Outras 8,76 11,39 0.943 0.943<br />
Brasil 27,64 41,39 57,39 76,99<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 1996. Elaboração Própria.<br />
1 o estado possui apenas 5 empresas no setor.<br />
2 o estado possui apenas 5 empresas no setor.<br />
3 o estado possui apenas 3 empresas no setor.<br />
TABELA 50<br />
PODER DE MERCADO - INDÚSTRIA DE INSUMOS QUÍMICOS, 2000<br />
Químicos Inorgânicos Defensivos Agrícolas<br />
UF<br />
Mark - up<br />
Margem<br />
V.A.<br />
Mark - up<br />
Margem<br />
V.A.<br />
MG 4.14 0.75 ... ...<br />
SP 5.83 0.95 9.52 0.98<br />
RJ 2.27 0.92 ... ...<br />
PR 17.56 0.94 10.37 0.97<br />
RS 9.37 0.97 5.29 0.98<br />
Outras 7.52 0.93 ... ...<br />
Brasil 5.31 0.90 10.19 0.92<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
TABELA 51<br />
DESEMPENHO ECONÔMICO: INDÚSTRIA DE INSUMOS QUÍMICOS, 2000<br />
UF<br />
Químicos Inorgânicos<br />
Produtiv. Salário Taxa<br />
Defensivos Agrícolas<br />
Produtiv. Salário Taxa<br />
Médio Invest. Médio Invest.<br />
MG 158,892 11,554 6.88 ... ... ...<br />
SP 394,439 22,785 3.51 672,855 41,217 1.08<br />
RJ 132,929 22,593 13.05 n.d. n.d. n.d.<br />
PR 467,038 13,455 (3.15) 411,377 18,325 1.82<br />
RS 401,293 16,945 (0.61) 139,323 18,039 0.89<br />
Outras 317,347 15,133 7.96 ... ... ...<br />
Brasil 303,567 19,533 4.76 616,290 36,942 1.16<br />
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaboração Própria.<br />
90 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
1.9. Os desafios do complexo metal-mecânico: a<br />
fragilidade fragilidade do setor setor de bens bens de capital<br />
capital<br />
O objetivo nesta seção é analisar o que se considera os gargalos cruciais para uma melhor<br />
inserção competitiva da indústria mineira no contexto nacional, para a qual os setores complexo<br />
metal-mecânico cumprem um papel decisivo.<br />
Dentre as dificuldades já detectadas, duas são particularmente graves: a primeira é a fragilidade<br />
do setor de bens de capital no Estado, ao passo que a segunda refere-se ao baixo desenvolvimento<br />
dos setores eletro-eletrônicos e de telecomunicações. Enquanto a segunda dificuldade estaria em<br />
grande parte fora do âmbito de uma política industrial focalizada na superação de gargalos do aparato<br />
produtivo 19 , haja vista que não vislumbramos como razoável uma estrutura industrial completa em<br />
nível regional, a primeira dificuldade merece ser contemplada, pois acreditamos ser o cerne de uma<br />
progressão tecnológica das relações intersetoriais da economia mineira, de tal forma a aumentar o<br />
poder estruturante e dinâmico do complexo metal-mecânico mineiro em nível intra-estadual. Em<br />
tese, o setor de bens de capital local deveria ser o principal difusor interno de tecnologia para o<br />
conjunto da estrutura produtiva da economia mineira, mesmo que de forma subordinada e<br />
complementar ao setor de bens de capital nacional e, principalmente, internacional. Após ter atingido<br />
uma relativa importância na estrutura estadual nos fins dos anos setenta, chegando a participar com<br />
8,7% do VTI estadual em 1980, foi fortemente impactado pela abertura externa nos anos 90, resultando<br />
em uma redução para 2,5% do VTI estadual em 1999.<br />
As informações da pesquisa realizada pelo SINDIMIC (2001) sobre o setor mecânico mineiro,<br />
baseadas nas tabulações especiais da PIA–IBGE de 1997, serão utilizadas para um diagnóstico<br />
mais detalhado, mesmo que preliminar, sobre as dificuldades do setor de bens de capital no Estado.<br />
A principal limitação das informações refere-se ao fato de contemplar apenas os bens de capital<br />
contidos na classificação do gênero mecânico, que inclui os bens de capital estritamente mecânicos<br />
para as indústrias de transformação e extrativa mineral, para a agropecuária e para a construção<br />
civil. São excluídos, dessa forma, as máquinas e equipamentos da indústria eletro-eletrônica, além<br />
dos bens de capital para transporte, sub-setor do gênero material de transportes. De qualquer<br />
forma todos estes setores excluídos foram contemplados na seção 1.7, cuja referência da base de<br />
dados foi a empresa e não a unidade local de produção, como ocorre na presente seção.<br />
1.9.1. A reestruturação do setor de bens de capital no Brasil<br />
Conforme Resende e Anderson (1999), a consolidação do setor de bens de capital ocorreu,<br />
especialmente, durante o II PND, que priorizou os investimentos em bens de capital pesados, que<br />
pode se desenvolver via demanda induzida interna, especialmente dos vultuosos investimentos<br />
do setor público. Nos anos 80, segundo estes autores, a indústria de bens de capital brasileira já se<br />
encontrava bem diversificada e consolidada, inclusive no segmento de Máquinas-Ferramenta (MF)<br />
convencionais, sendo considerada à época a mais avançada dentre os países retardatários.<br />
Entretanto, existiam características que a distinguiam das indústrias de bens de capital dos principais<br />
países industrializados, começando pelo peso relativo que possuía na estrutura produtiva brasileira<br />
19 Nas recomendações finais serão apontados possíveis nichos de uma política focalizada na indústria eletro-letrônica.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 91<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
bem inferior aos observados em estruturas industriais maduras (Resende, 1995, p. 15-17). Isto<br />
se refletia, como esperado, na sua competitividade externa, restrita a categorias menos<br />
sofisticadas tecnologicamente (Erber, 1985). Como salientam Resende e Anderson (2001, p.<br />
27), essas características da indústria brasileira de bens de capital decorrem do supracitado<br />
padrão de sua instalação e expansão. Esse padrão não viabilizou a gênese e o desenvolvimento<br />
de um setor de bens de capital que operasse no vértice de um sistema nacional de inovações -<br />
fonte geradora de um movimento endógeno de desenvolvimento e difusão do progresso técnico<br />
que apresentasse segmentos capazes de se manterem na fronteira em termos de capacitação<br />
tecnológica, custos de produção e qualidade de produtos, conforme se observa para os principais<br />
países industrializados.<br />
Assim, o próprio conteúdo inferior das importações brasileiras de bens de capital vis-à-vis<br />
as exportações apontam esta fragilidade estrutural, especialmente de máquinas-ferramenta 20 .<br />
Estas deficiências estruturais da indústria de bens de capital nacional apontadas pelos autores<br />
estabeleceram um modus operandi baseado na complementaridade das importações em relação à<br />
produção doméstica, beneficiada pela proteção seletiva, tornando neste sentido viável sua<br />
expansão sustentada. Dessa forma, até fins da década dos 80, a expansão da indústria de bens<br />
de capital se caracterizava pela elevação conjunta do quantum importado. Desta forma, “até o<br />
final da década de 80, a complementaridade supracitada não permitia um descolamento muito<br />
grande das importações em relação à produção doméstica de bens de capital” (Resende e<br />
Anderson, 1999, p. 36).<br />
O fato que interessa destacar é que no novo contexto econômico dos anos 90, “a inserção<br />
e articulação da produção de bens de capital nas cadeias das relações interindustriais foram<br />
alteradas”. As principais mudanças, segundo estes autores são: as importações dessa categoria<br />
de bens perdem sua característica de complementaridade e de alavanca da produção doméstica;<br />
ao mesmo tempo, seu papel nos ganhos de produtividade da indústria nacional fica mais<br />
importante ainda; no entanto, as importações agora passam a ter um caráter competitivo com a<br />
produção doméstica, em função da eliminação proteção tarifária e não tarifária. O resultado<br />
mais relevante destas mudanças é o descasamento entre o aumento das importações e da<br />
produção doméstica, a qual começa a experimentar taxas negativas de crescimento concomitantes<br />
ao aumento do quantum importado, de tal forma que o coeficiente de importações de bens de<br />
capital começam a crescer a um ritmo superior ao coeficiente de importação do conjunto da<br />
economia. Assim:<br />
“essas diferenças sugerem a maior sensibilidade da indústria dessa categoria de bens<br />
em relação aos efeitos da abertura em toda a economia. A reestruturação recente da<br />
indústria de bens de capital caracteriza-se pela redução da linha de produtos e<br />
desverticalização da produção, além da adoção de novas técnicas organizacionais e de<br />
estratégias defensivas, que implicaram redução de pessoal.” (CRUZ E VERMULM,<br />
1993, p. 607).<br />
20 As importações são principalmente de produtos tipo fresadoras a comando numérico, retificadoras, máquinas de cortar e retificar<br />
engrenagens, alguns tipos de tornos com comando numérico e centros de usinagem. As exportações são de produtos tipo tornos<br />
paralelos tipo universal, tornos horizontais automáticos monofusos e máquinas (inclusive prensas) para forjar, prensar ou<br />
martelar, cujo valor médio é inferior ao dos produtos importados (Vermulm, 1995, p. 151).<br />
92 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Isto porque até o final dos anos 80, o sistema de proteção impunha elevados índices de<br />
nacionalização e elevada verticalização das empresas dessa indústria, o que, segundo estes<br />
autores, reduzia as possibilidades de obtenção de economias de especialização e afetava sua<br />
competitividade.<br />
A mudança do padrão de articulação importação/produção doméstica – antes<br />
caracterizada pela complementaridade produtiva e comercial, hoje assume o caráter de competição<br />
substitutiva - aumenta os requerimentos do exterior para o fornecimento de máquinas,<br />
equipamentos, peças e componentes para a produção doméstica. O impacto em termos de pressão<br />
competitiva sobre indústria de bens de capital nacional é contraditório. No entanto existe relativo<br />
consenso que o resultado líquido é um de processo que tem mais de destruição de empresas<br />
nacionais do que de criação de competitividade entre as sobreviventes. Assim, os ganhos, no<br />
curto e médio prazos, de eficiência microeconômica decorrentes da racionalização, desverticalização<br />
e modernização da estrutura produtiva no setor de bens de capital devem ser suplantados pelas<br />
perdas, no longo prazo, pelo enfraquecimento e/ou desaparecimento de segmentos com elevado<br />
conteúdo tecnológico e alto grau de difusão de inovações (Laplane e Sarti, 1998, p. 47-53).<br />
Os ajustes e redirecionamentos resultam em aumento do conteúdo importado dos bens<br />
produzidos pela economia brasileira, com perda de participação da indústria doméstica de bens de<br />
capital nos anos 90 já que, segundo Resende e Anderson (1999), ocorreu aumento do coeficiente<br />
de importação (importações/consumo aparente) para todos cinco segmentos de bens de capital<br />
analisados. No caso dos bens de capital para transporte, por exemplo, essa relação cresceu 11,2<br />
vezes neste período. Segundo os autores, as evidências são de relativa estabilização desta relação<br />
a partir de 1995/1996 para quatro dos cinco segmentos (bens de capital para construção civil,<br />
energia elétrica, transporte e agricultura). Concluem também que os segmentos de bens de capital<br />
para transporte e aqueles tipicamente industriais foram os que sofreram os maiores impactos na<br />
produção doméstica. Os bens de capital industriais apresentaram, em 1997, o maior coeficiente<br />
importado, em torno de 65,5%, “sendo o único segmento que não apresentava evidências de<br />
estabilização do coeficiente de importação após 1995” (Ibid., p. 39).<br />
Dois últimos aspectos salientados pelos autores merecem ser destacados: o primeiro é que<br />
um dos efeitos importantes da pressão competitiva externa levou a indústria brasileira de bens de<br />
capital à especialização em bens menos sofisticados, deslocando para o exterior a oferta de<br />
segmentos de bens de capital de maior conteúdo tecnológico e importantes na difusão de progresso<br />
técnico para as relações interindustriais do sistema produtivo doméstico; o segundo é que este<br />
rebaixamento da especialização veio junto com o encolhimento da indústria nacional de bens de<br />
capital, de tal forma que o conseqüente aumento da participação de máquinas e equipamentos<br />
importados na formação bruta de capital fixo leva a uma maior sensibilidade do investimento no<br />
Brasil às restrições externas.<br />
1.9.2. A fragilidade do setor de bens de capital na economia mineira<br />
Como foi evidenciado na seção 1.7, Minas possui atualmente uma posição competitiva<br />
desfavorável na indústria brasileira de bens de capital. Os efeitos do ajuste na especialização e<br />
encolhimento da indústria nacional possivelmente afetaram de forma diferenciada a capacidade<br />
de produção de bens de capital das economias estaduais, pois este é um setor industrial em que as<br />
economias de especialização são particularmente relevantes, ao mesmo tempo em que existe uma<br />
significativa aderência locacional no desenvolvimento das especializações. Neste sentido, a<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 93<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
distribuição geográfica das empresas na seção 1.7 indicou que houve uma reconcentração<br />
espacial do setor nas unidades da federação que possuíam, no período pré-ajuste, maiores<br />
ganhos aglomerativos, em termos de capacidade empresarial e tamanho das empresas líderes,<br />
nível de capacitação tecnológica, especialização em segmentos, grupos ou linhas de produto<br />
de maior elaboração tecnológica e integração para frente com indústrias usuárias mais<br />
competitivas.<br />
Os dados das unidades locais de produção sobre as participações estaduais no VTI da<br />
indústria mecânica nacional no período 1980/99 mostram que o Estado possivelmente<br />
começou a perder posição relativa ainda na década dos 80. Mas o grande impacto sobre a<br />
produção mineira de bens de capital parece ocorrer nos primeiros três anos da abertura, 1990/<br />
92, de tal forma que a participação do Estado na produção estadual decresce de 7,04% para<br />
2,66% em 1992. Parece, no entanto, ocorrer um processo de acomodação ao choque das<br />
importações ao longo da década, pois a mecânica mineira experimenta uma relativa recuperação<br />
na produção nacional, mesmo que oscilante, crescendo de 2,66% em 1992 para 6,61% em<br />
1997, mas decrescendo para 5,12 % em 1999. Por outro lado, os estados que apresentam<br />
maiores ganhos líquidos de participação na indústria setorial nacional, no período 1980/99,<br />
são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. À medida que o Rio continuou a perder<br />
posição relativa, ocorre de fato uma reconcentração espacial da indústria nacional de bens de<br />
capital mecânicos em São Paulo (59,21%), Rio Grande do Sul (11,38%), Santa Catarina<br />
(6,61%), Minas Gerais (6,61%) e Paraná (5,44%), que passam a concentrar, em 1997, mais<br />
de 90% do total da indústria.<br />
O processo de concentração espacial da indústria fica mais contundente, e a posição<br />
de Minas mais vulnerável, se os dados forem desagregados segundo as duas divisões e os 13<br />
grupos ou setores da indústria mecânica. A industria é decomposta, como se sabe, em duas<br />
divisões bem distintas: fabricação de máquinas e equipamentos; e fabricação de produtos de<br />
metal (exclusive máquinas e equipamentos). A primeira contém o núcleo de geração<br />
tecnológica, pois compreende os grupos de máquinas-ferramenta, máquinas e equipamentos<br />
de uso geral, máquinas e equipamentos específicos (inclusive para extração mineral) e máquinas<br />
e equipamentos agrícolas. A segunda divisão industrial é composta de peças e componentes<br />
como capital fixo, dentre os quais se destacam fabricação de estruturas metálicas e caldeiraria<br />
pesada, fabricação de tanques, caldeiras e reservatórios metálicos, forjaria e estamparia.<br />
A mecânica mineira é especializada nesta segunda divisão industrial, que concentra<br />
64,53% do VTI estadual e participa com 12,1 % do VTI nacional, ficando apenas abaixo de<br />
São Paulo, com 56,64%. A desagregação por setores mostra, na verdade, que o Estado é<br />
especializado na fabricação de estruturas metálicas e caldeiraria pesada, forjaria e estamparia,<br />
que atendem principalmente às demandas dos setores metalúrgico e automotivo. Na divisão<br />
de máquinas e equipamentos, a única especialização estadual é no grupo fabricação de<br />
máquinas e equipamentos para extração mineral e construção civil, ao passo que possui uma<br />
participação mínima no VTI nacional de máquinas e equipamentos agrícolas (1%), sendo<br />
inexistente a produção de máquinas-ferramenta na mecânica mineira. Com exceção de São<br />
Paulo, que participa de forma majoritária de todos os 13 grupos, os demais estados produtores<br />
são relativamente especializados, mesmo que em diferentes níveis. Como já observado na<br />
análise das empresas, a mecânica gaúcha é a mais diversificada dentre os estados do Sul, pois<br />
além de ser especializada nacionalmente nos grupos fornecedores de seus complexos produtivos<br />
– máquinas e equipamentos agrícolas (34,57%) e fabricação de artigos de cutelaria (22,34%)<br />
– possui uma expressiva participação em máquinas-ferramenta (16,15%), máquinas e<br />
94 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
equipamentos de uso geral (16%) e armas, munições e equipamentos militares (29,57%). O<br />
Paraná possui grande especialização no grupo de máquinas e equipamentos agrícolas (14,1%),<br />
fornecedor de seu principal complexo produtivo, o agro-industrial; enquanto Santa Catarina é<br />
especializada principalmente em máquinas e equipamentos de uso geral.<br />
Em suma, como era de se esperar, a divisão de máquinas e equipamentos é a mais<br />
concentrada espacialmente, haja vista que São Paulo e os estados sulinos concentram nada<br />
menos do que 88% do VTI nacional, cabendo à mecânica mineira um papel restrito de alta<br />
especialização em componentes e peças consumidas pelos segmentos de peso da metalmecânica<br />
estadual, na divisão de produtos de metal. A quase ausência da divisão de máquinas<br />
e equipamentos na mecânica estadual, e de forma literal no segmento de máquinasferramenta,<br />
significa dizer que a indústria mineira não possui um núcleo endógeno de geração<br />
tecnológica, mesmo para cumprir uma função complementar às importações inter-regionais<br />
e internacionais de bens de capital. Do ponto de vista da capacitação tecnológica para o<br />
crescimento de longo prazo, isto significa construir um sistema estadual de inovação sem<br />
vértice difusor.<br />
Esta especialização da mecânica mineira restrita, em sua grande parte, à fabricação de<br />
peças e componentes de metal resulta na proliferação de empresas de pequeno porte, defasadas<br />
tecnologicamente (SINDIMIC, 2001), que compromete seu nível de eficiência e<br />
competitividade. Dois indicadores básicos evidenciam estes problemas na área de poder de<br />
mercado e capacitação tecnológica das firmas de bens de capital no Estado: tamanho médio<br />
das plantas (VTI/unidades locais) e produtividade do trabalho (VTI/pessoal ocupado). Minas<br />
Gerais possui as unidade produtivas de menor tamanho médio e a menor produtividade média<br />
do trabalho em comparação com seus concorrentes mais diretos. Os percentuais de<br />
superioridade da relação tamanho médio e produtividade dos estados concorrentes em relação<br />
aos indicadores mineiros são, respectivamente: São Paulo 59,1% e 38,9%; Santa Catarina<br />
72,4% e 52,3%; Rio Grande do Sul 42,3% 27,3%; e Paraná 27% e 30,9%. Tomando-se um<br />
grupo da divisão de máquinas e equipamentos em que Minas possui alguma participação,<br />
comparado com outros concorrentes diretos, pode-se reforçar estas evidências das desvantagens<br />
competitivas da mecânica estadual. Para este objetivo, usou-se o grupo máquinas e<br />
equipamentos de uso geral, em que o tamanho médio das plantas mineiras é R$ 438 mil e a<br />
produtividade de 22,3 reais por pessoa ocupada, contra R$ 3,05 milhões e 53,3 das plantas<br />
gaúchas e R$ 2,75 milhões das catarinenses.<br />
Chama a atenção ainda o número extremamente elevado de micro e pequenas unidade<br />
de produção: ou seja, do total de 5.682 unidades de produção da mecânica estadual, 5.515<br />
tinham menos de 50 pessoas ocupadas, 97,06%, enquanto 3.959 delas possuíam menos de 5<br />
empregados, ou seja, 69,68% do total.<br />
As participações das unidades de produção dos estratos inferiores de tamanho<br />
concentram-se na divisão fabricação de produtos de metal, onde 4.706 são micro ou pequenas<br />
unidades, 97,70% do total, restando apenas 85 médias e 21 grandes unidades produtivas, ou<br />
1,77% e 0,44% do total, respectivamente.<br />
Assim, a indústria mecânica estadual apresenta um nível elevado de especialização,<br />
pois apenas 16 das 45 classes de indústrias possuíam 88,68% das unidades de produção e<br />
84,23% do pessoal ocupado. A maior concentração destas unidades se verifica na divisão<br />
fabricação de produtos de metal.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 95<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Como afirma o relatório do SINDIMEC (2001, p.36):<br />
“a própria crise no setor contribuiu significativamente para esta proliferação de pequenas empresas,<br />
através da reestruturação produtiva e organizacional daquelas situadas nos patamares médio<br />
intermediário, superior e nas grandes empresas, em função dos ajustes estruturais que tiveram de<br />
realizar, para adequação aos novos padrões de demanda, de concorrência, especialmente externa.<br />
Esta reestruturação acarretou a dispensa de inúmeros engenheiros, técnicos e outros profissionais<br />
com experiência e competência no setor, que constituíram as suas próprias empresas, muitas delas<br />
inclusive competindo com aquelas de origem/aprendizado destas pessoas. Trata-se aparentemente<br />
de um “paradoxo” do desemprego no setor”.<br />
Este diagnóstico das unidades de produção dos setores da mecânica estadual é convergente com<br />
aquele realizado para as empresas acima de 30 pessoas ocupadas, ficando porém mais evidente o processo<br />
de fragilização e exclusão das micro e pequenas empresas presentes nas unidades de produção até 29<br />
pessoas ocupadas. Assim, fica mais patente ainda o problema das empresas mineiras possuírem uma<br />
escala de produção extremamente baixa, fora dos padrões de competitividade de suas congêneres de São<br />
Paulo e estados sulinos, que já se encontram em desvantagens comparativas em relação às empresas<br />
exportadoras dos países industrializados, participantes majoritárias da oferta interna de bens de capital<br />
para o mercado doméstico. Na seção 1.11, de recomendações finais, serão indicadas algumas oportunidades<br />
visando melhorar nacionalmente a posição competitiva das empresas mineiras de bens de capital.<br />
96 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
1.10. A agroindustrialização restrita<br />
O processo de industrialização induzido de Minas Gerais em direção ao complexo metalmecânico<br />
caminhou no sentido de ampliar e diversificar a base industrial no Estado com uma<br />
suposição implícita: a de que o desenvolvimento agroindustrial ocorreria de forma quase automática<br />
pela expansão de sua base produtiva agropecuária. A criação do parque agroindustrial do Triângulo<br />
Mineiro, fruto da virtuosa combinação dos bons atributos locacionais e dos fortes estímulos<br />
creditícios das décadas de 70 e 80, amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos e pela<br />
equalização dos preços de combustíveis, propiciou que o Estado desenvolvesse um parque<br />
processador dinâmico, estruturado como um entreposto comercial e manufatureiro agroindustrial<br />
da base agropecuária do Centro-Oeste.<br />
O dinamismo do parque agroindustrial do Triângulo Mineiro, no entanto, não se reproduziu<br />
em outras regiões cujo desenvolvimento agrícola orientou-se pelas estratégias de diversificação<br />
da pauta agropecuária mineira em direção à fruticultura irrigada, baseada nos grandes projetos de<br />
irrigação, nem para as regiões de base produtiva de explorações tradicionais como café e carnes.<br />
No caso dos grandes projetos de irrigação do Norte de Minas (Projetos Gorutuba e Jaíba),<br />
a pressuposição de que estes gerariam condições economicamente suficientes para a estruturação<br />
de agroindústrias processadoras do produto local não se efetivou plenamente, sendo que a ausência<br />
das agroindústrias processadoras é um gargalo para o desenvolvimento destes pólos de agricultura<br />
irrigada. 21 No caso das agroindústrias processadoras de café e de carnes, a expressividade da base<br />
agropecuária estadual não assegurou que os investimentos de transformação agroindustrial se<br />
sediassem preferencialmente no Estado de Minas Gerais.<br />
A consequência da suposição do “crescimento natural” da agroindústria mineira foi o<br />
fortalecimento de uma agricultura orientada para o mercado com uma estrutura agroindustrial<br />
estadual incapaz de absorver e realimentar adequadamente o crescimento da base agropecuária.<br />
Ou seja, a dimensão da agroindústria mineira está muito aquém do que permite sua base<br />
agropecuária. Esta percepção é respaldada pela avaliação da importância relativa da agroindústria<br />
vis-à-vis a base agropecuária mineira.<br />
O Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária mineira ocupa o segundo posto no país<br />
(13,4% do VBP nacional), o VBP agropecuário de origem animal ocupa o primeiro lugar nacional<br />
(14,8%) e o VBP de origem vegetal (12,5%) o quarto lugar. (TAB. 52). Minas Gerais é o principal<br />
produtor de café, com 42% da produção nacional e de leite, 30% da produção brasileira, possui o<br />
segundo maior rebanho bovino para corte (12% do nacional) e posição de destaque em diversos<br />
produtos da agropecuária, como frutas e outros animais. (QUADRO 2)<br />
A despeito desta posição de destaque, o parque agroindustrial no Estado ocupa uma posição<br />
intermediária no cenário nacional e não têm sido capaz de utilizar a vantagem comparativa da<br />
produção estadual na consolidação de um segmento agroindustrial de liderança no país.<br />
21 A respeito, ver Rodrigues, 2001.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 97<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A mensuração deste gap agroindustrial pode ser inferida a partir da análise dos dados da<br />
produção agropecuária e da estrutura agroindustrial de Minas Gerais. 22<br />
QUADRO 2<br />
PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE MINAS GERAIS E VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL<br />
DA CADEIA AGROINDUSTRIAL RELACIONADA: PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO BRASIL, 1999<br />
Produtos % Produção Setores % do VBP nacional da<br />
agropecuários Nacional -1999 agroindustriais agroindústria de MG -1999<br />
Café em coco 47% Torrefação e moagem de café 10.5%<br />
Leite 30% Laticínios 28.1%<br />
Rebanho Bovino 12% Abate/Carne e pescado 5.3%<br />
Rebanho Suíno 11% Curtimento de couro 6.9%<br />
Frangos 8%<br />
Grãos 6% Óleos 13.2%<br />
Feijão 14% Massas, biscoitos e outros 9.1%<br />
Milho 13%<br />
Soja 4%<br />
Arroz 3%<br />
Cana-de-açúcar 5% Fabricação e refino de açúcar 2.5%<br />
Produção de álcool 5.5%<br />
Batata 35% Conservas e sucos 6.8%<br />
Abacaxi 31%<br />
Tomate (mesa) 20%<br />
Alho 15%<br />
Banana 9%<br />
FONTE: ANUALPEC 2001; AGRIANUAL 2001. IBGE/PIA 1999. Elaboração do autor<br />
TABELA 52<br />
VALOR DA PRODUÇÃO ANIMAL E PRODUÇÃO VEGETAL BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO<br />
CENSO AGROPECUÁRIO DE 1995-1996 - VALOR DA PRODUÇÃO (1.000 R$)<br />
UF Total Animal Vegetal<br />
Valor Part.relativa Valor Part.relativa Valor Part.relativa<br />
SP 8,412,369 17.6% 2,402,695 12.8% 6,009,674 20.8%<br />
MG 6,409,087 13.4% 2,793,248 14.8% 3,615,839 12.5%<br />
RS 6,169,907 12.9% 2,315,792 12.3% 3,854,115 13.3%<br />
PR 5,562,875 11.6% 1,838,207 9.8% 3,724,668 12.9%<br />
SC 3,270,470 6.8% 1,669,333 8.9% 1,601,137 5.5%<br />
GO 2,582,846 5.4% 1,334,232 7.1% 1,248,614 4.3%<br />
MS 2,181,819 4.6% 1,462,458 7.8% 719,361 2.5%<br />
BA 2,102,241 4.4% 704,627 3.7% 1,397,614 4.8%<br />
MT 1,984,847 4.2% 697,694 3.7% 1,287,153 4.4%<br />
PE 1,229,492 2.6% 516,567 2.7% 712,925 2.5%<br />
ES 1,082,501 2.3% 223,081 1.2% 859,420 3.0%<br />
PA 1,026,712 2.1% 437,215 2.3% 589,497 2.0%<br />
Demais Estados 5,763,078 12.1% 2,424,432 12.9% 3,338,646 11.5%<br />
Brasil 47,788,244 100.0% 18,829,581 100.0% 28,958,663 100.0%<br />
FONTE: IBGE. Censo Agropecuário 1995/96.<br />
22 Para a caracterização da estrutura agropecuária e agroindustrial mineira utilizou-se os dados do Censo Agropecuário de 1995/96 e<br />
da Pesquisa Industrial Anual –PIA/ IBGE de 1996 a 1999. Foram utilizados também os dados dos rankings industriais e agroindustriais<br />
de publicações especializadas para identificação e classificação das empresas agroindustriais de Minas Gerais.<br />
98 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
1.10.1. Caracterização da base agroindustrial de Minas Gerais<br />
A caracterização do setor agroindustrial pressupõe algumas mediações metodológicas. Uma<br />
forma de mensurá-lo é a partir os dados de unidade local de produção da Pesquisa Industrial<br />
Anual (PIA-IBGE). Foram tomados como referência os dados referentes à indústria alimentar<br />
abertos a três dígitos na CNAE (incluindo o grupo de fumo e da produção de álcool) 23 . O recorte<br />
adotado caracteriza o setor agroindustrial mineiro pela concentração setorial, medida em termos<br />
de Valor Bruto da Produção Industrial (VBP). Os quatro principais sub-setores agroindustriais<br />
respondem por 74% do VBP agroindustrial do Estado. O setor de Laticínios (32,3% do VBP<br />
agroindustrial) é o maior, mais de duas vezes superior ao VBP do segundo setor em importância,<br />
o de Óleos (15,9%), seguido pelo setor de “Outros produtos alimentícios”, que abrange a produção<br />
de massas e biscoitos (14,6%) e na quarta posição o setor de Abate e Processamento de Carnes<br />
(11,1% - TAB. 53).<br />
TABELA 53<br />
CARACTERIZAÇÃO SETORIAL DO SETOR AGROINDUSTRIAL EM MINAS GERAIS SEGUNDO NÚMERO<br />
DE UNIDADES LOCAIS DE PRODUÇÃO, PESSOAL OCUPADO, VBP E VTI, 1999<br />
Grupos Agroindustriais No. de Pessoal VBP VTI<br />
Unidades Ocupado (R$1.000,00) (R$1.000,00)<br />
Abate/Carne e pescado 169 15,060 918,081 252,674<br />
Conservas e sucos 51 2,424 310,283 120,385<br />
Oleos 19 560 1,312,208 242,521<br />
Laticínios 902 19,818 2,671,367 940,081<br />
Fabricação e refino de açúcar 16 3,285 194,174 71,405<br />
Torrefação e moagem de café 137 2,735 268,685 59,344<br />
Outros prod.alimentícios (Massas e biscoitos) 2,069 35,398 1,206,240 570,195<br />
Bebidas 154 6,404 552,032 314,120<br />
Fumo 21 1,814 473,230 263,035<br />
Curtimento de couro 65 2,655 145,562 33,812<br />
Produção de álcool 14 3,354 206,979 97,408<br />
Total 3,617 93,507 8,258,841 2,964,980<br />
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. 1999. Elaboração do Autor<br />
É importante ressaltar que a identificação do gap agroindustrial mineiro em relação à sua<br />
base agropecuária só faz sentido se referenciado com a estrutura dos estados que possuem base<br />
agropecuária com porte comparável ao Estado, ou seja , São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.<br />
A primeira referência analítica é a identificação da especialização estadual, dada pela<br />
importância relativa do grupo agroindustrial (laticínios, abate, café, etc.) no total do segmento<br />
agroindustrial, medida pelo Valor Bruto da Produção (VBP) ou pelo Número de Unidade Locais<br />
de produção (NUM) em relação aos estados referenciais. Um dos recursos metodológicos para<br />
23 Foram excluídos da análise setores de base agroindustrial pertencentes a outros complexos como madeira, celulose e papel e<br />
indústria têxtil. Os dados referem-se às unidades locais de produção (podem pertencer às empresas com sede fiscal em outros<br />
estados).<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 99<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
avaliar o grau de especialização relativa dos estados em relação à estrutura nacional é o Quociente<br />
de Localização (QL) 24 . Os dados do QL-VBP, comparados aos estados de referência indicam que<br />
Minas Gerais é fortemente especializada em Laticínios e possui especialização expressiva no setor<br />
de Fumo e Óleos e um menor grau de especialização em café. (TAB. 54).<br />
É interessante notar que a especialização agroindustrial em Fumo e Óleos, concentrada no<br />
parque agroindustrial do Triângulo Mineiro, processa matéria-prima vinda de outras regiões,<br />
especialmente do Centro-Oeste, ou seja, são agroindústrias não vinculadas à proximidade da base<br />
agrícola. No caso da indústria de processamento de café, essa tem um QL-VBP acima da unidade,<br />
mas menor do que nos outros três setores em que o Estado é especializado. A questão que se coloca<br />
é que, dada a posição de liderança de Minas Gerais na produção nacional de café (respondendo por<br />
47% da produção nacional em 1999), o peso de sua agroindústria cafeeira é muito menor do poderia<br />
supor sua base agrícola.<br />
A comparação entre o peso da agroindústria mineira no Brasil (medido pelo VBP<br />
agroindustrial) e a participação do Estado na produção agropecuária demonstra que os segmentos<br />
agroindustriais de carnes, couro, sucos e conservas, são proporcionalmente muito menores do que<br />
a relevância de sua base agropecuária.<br />
TABELA 54<br />
QUOCIENTE DE LOCALIZAÇÃO AGROINDUSTRIAL, SEGUNDO O VBP - MINAS GERAIS, SÃO PAULO,<br />
PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL, 1999<br />
Grupos Agroindustriais MG SP PR RS<br />
Abate/Carne e pescado 0.55 0.55 1.08 1.41<br />
Conservas e sucos 0.71 1.69 0.20 0.45<br />
Oleos 1.37 0.49 2.97 0.84<br />
Laticínios 2.93 0.72 0.80 0.85<br />
Açúcar 0.26 1.88 0.61 0.00<br />
Café 1.10 1.32 1.93 0.07<br />
Massas, biscoitos e outros 0.95 1.42 0.53 0.49<br />
Bebidas 0.49 1.08 0.55 0.74<br />
Fumo 1.40 0.05 0.35 5.66<br />
Couro 0.72 0.52 0.93 3.74<br />
Alcool 0.57 1.67 0.76 0.00<br />
Total Agroindústria 1.00 1.00 1.00 1.00<br />
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. 1999. Elaboração do Autor<br />
Quando analisados o resultado do QL-NUM, observa-se que apenas o setor de laticínios é<br />
proporcionalmente maior, em termos de unidades de produção, em relação ao padrão nacional,<br />
estando sendo o setor de café um pouco acima da média nacional. A cadeia do leite guarda<br />
proporcionalidade entre a base de transformação agroindustrial (laticínios) e a base primária<br />
(produção de leite) no Estado, embora o peso do grupo de laticínios de Minas Gerais em relação<br />
ao Brasil tenha caído de 29,5% em 1996 para 28,1% em 1999 (TAB. 55).<br />
24 Quando a contribuição de cada setor industrial no total estadual (seja do VBP Agroindustrial, ou do número de Unidades Locais<br />
de Produção- NUM) é comparada com a mesma razão nacional, obtêm-se um Quociente Locacional - QL. No Quociente<br />
Locacional, o valor igual à unidade indica similaridade ao padrão nacional. Valores superiores à unidade indicam que determinado<br />
setor tem um peso proporcionalmente maior do que a média nacional, indicando especialização. Alternativamente valores<br />
inferiores à unidade indicam que o estado não possui especialização no setor industrial relacionado.<br />
100 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 55<br />
QUOCIENTE DE LOCALIZAÇÃO AGROINDUSTRIAL, SEGUNDO O NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO<br />
MINAS GERAIS, SÃO PAULO, PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL, 1999<br />
Grupos Agroindustriais MG SP PR RS<br />
Abate/Carne e pescado 0,64 0,83 1,45 2,02<br />
Conservas e sucos 0,42 1,28 0,52 0,94<br />
Oleos 0,23 0,65 1,37 2,40<br />
Laticínios 1,53 1,01 1,16 0,75<br />
Açúcar 0,32 1,33 1,37 0,24<br />
Café 1,05 0,86 1,41 0,48<br />
Massas, biscoitos e outros 1,00 1,01 0,93 0,87<br />
Bebidas 0,67 0,94 0,86 1,81<br />
Fumo 0,42 0,59 0,70 1,64<br />
Couro 0,80 0,81 1,48 3,74<br />
Alcool 0,39 1,72 1,20 0,00<br />
Total Agroindústria 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. 1999. Elaboração do Autor<br />
TABELA 56<br />
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS SETORES AGROINDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS EM RELAÇÃO AO TOTAL<br />
NACIONAL, SEGUNDO O NÚMERO DE UNIDADES LOCAIS DE PRODUÇÃO E VBP - 1996-1999<br />
Grupos Agroindustriais<br />
1996 1999 Coef. Var 99/96<br />
NUM VBP NUM VBP NUM VBP<br />
Abate/Carne e pescado 10% 5.8% 11% 5.3% 11.3% -8.4%<br />
Conservas 7% 3.9% 7% 6.8% 3.7% 73.5%<br />
Oleos 2% 6.3% 4% 13.2% 62.7% 107.6%<br />
Laticínios 24% 29.5% 25% 28.1% 5.6% -4.9%<br />
Fabricação e refino de açúcar 5% 3.8% 5% 2.5% 8.3% -35.5%<br />
Torrefação e moagem de café 20% 9.1% 17% 10.5% -11.0% 15.1%<br />
Outros produtos alimentícios 17% 9.4% 17% 9.1% -1.3% -2.8%<br />
Bebidas 10% 6.1% 11% 4.7% 8.3% -21.9%<br />
Fumo 9% 35.2% 7% 13.4% -20.8% -61.8%<br />
Curtimento de couro 13% 8.4% 13% 6.9% 4.6% -17.9%<br />
Produção de álcool 4% 2.1% 7% 5.5% 47.2% 160.6%<br />
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. 1999. Elaboração do Autor<br />
Uma outra referência analítica relevante é a comparação do porte médio das unidades locais<br />
de produção (dada pela razão do VBP e o número de estabelecimentos).<br />
O parque agroindustrial mineiro tem um porte médio inferior à média nacional (bem como<br />
dos principais estados agroindustriais) para a maioria dos setores agroindustriais. A agroindústria<br />
mineira tem porte médio superior ao padrão nacional apenas para os setores agroindustriais de<br />
Óleos, Fumo e Laticínios, embora nestes dois últimos seja superado pelo Rio Grande do Sul.<br />
(TAB. 57) O porte médio da indústria de Café em São Paulo e Paraná é respectivamente 3,5 e 3<br />
vezes superior ao porte médio dessa indústria em Minas Gerais. No entanto, quando se toma<br />
como referencia a unidade empresa ao invés de unidade produtiva, como na seção 1.8, o Estado<br />
possui o menor tamanho médio para todos os setores vis-à-vis os estados concorrentes.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 101<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Em suma, o gap agroindustrial mineiro pode ser caracterizado pelo número insuficiente de<br />
agroindústrias processadoras, pela pequena escala industrial de suas unidades de processamento e<br />
pela pouca diversificação da base agroindustrial.<br />
TABELA 57<br />
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO MÉDIO PARA SETORES AGROINDUSTRIAIS, MINAS GERAIS, SÃO PAULO,<br />
PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL E BRASIL - 1999 - EM R$ 1.000,00<br />
Setores Agroindustriais<br />
102 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Valor Bruto da Produção (VBP) médio por estados - 1999<br />
MG SP PR RS Brasil<br />
Abate/Carne e pescado 5,432 9,927 11,848 10,832 10,981<br />
Conservas e sucos 6,084 11,319 3,425 4,217 6,274<br />
Oleos Vegetais/animais 69,064 20,317 61,673 9,728 19,710<br />
Laticínios 2,962 2,632 2,687 4,292 2,684<br />
Fabricação e refino de açúcar 12,136 50,933 16,959 120 26,398<br />
Torrefação e moagem de café 1,961 6,853 6,472 688 3,265<br />
Outros prod.alimentícios (Massas e biscoitos) 583 2,050 867 835 1,062<br />
Bebidas 3,585 13,177 7,780 4,843 8,386<br />
Fumo 22,535 1,330 8,497 56,950 11,702<br />
Curtimento de couro 2,239 3,833 3,937 6,104 4,334<br />
Produção de álcool 14,784 23,415 16,160 - 17,637<br />
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. 1999.<br />
As tendências recentes da agroindústria mineira indicam que o crescimento da escala<br />
(medido pelo VBP) ocorre nas agroindústrias alimentares de padrão substitucionista<br />
(Goodman,D; Sorj,B.; Wilkinson, J. 1990), de transformação intensa da matéria-prima agrícola,<br />
tendo o grupo de Óleos obtido a extraordinária taxa de crescimento anual de 28% a.a. no<br />
período 1996-1999. Como se tratam de indústrias alimentares de intensa descaracterização do<br />
produto agrícola, respondem mais por dinâmicas de consumo urbano-industrial do que condições<br />
geradas em sua base agrícola (TAB. 58).<br />
TABELA 58<br />
TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO (1996/99) DO VBP DOS GRUPOS<br />
AGROINDUSTRIAIS - MINAS GERAIS E BRASIL<br />
Grupos Agroindustriais Brasil Minas Gerais<br />
Abate/Carne e pescado 12% 10%<br />
Conservas/Sucos 5% 20%<br />
Oleos Vegetais/animais 6% 28%<br />
Laticínios 2% 1%<br />
Fabricação e refino de açúcar 12% 0%<br />
Torrefação e moagem de café 4% 8%<br />
Massas, biscoitos e outros prod. Alim. 8% 7%<br />
Bebidas 3% -3%<br />
Fumo 5% -18%<br />
Curtimento de couro 8% 3%<br />
Produção de álcool -9% 16%<br />
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. 1999.
1.10.2. A base empresarial da agroindústria mineira<br />
Outra dimensão importante de análise do parque agroindustrial é a relevância de sua base<br />
empresarial, representada pelas sedes fiscais das agroindústrias e onde se localiza o centro decisório<br />
da empresa. A visão geral da análise de liderança de empresas foi realizada na seção 1.8, sendo<br />
que agora se fará uma análise dos grupos econômicos, que congregam empresas pessoa jurídica<br />
sob o mesmo controle de capital.<br />
A análise das estratégias dos grandes grupos agroindustriais nacionais do sul do país, com alcance<br />
de mercado internacional, como por exemplo, a SADIA, PERDIGÃO e CEVAL, demonstra que a<br />
expansão de sua base produtiva preserva as relações construídas em sua base geográfica de origem, em<br />
boa medida explicada pela manutenção da sua importância local legitimada pelas forças políticas regionais<br />
e pelos programas públicos de incentivo de que se beneficiaram, e que reforçam a manutenção de sua<br />
rede de relações sociais. 25 Em suma, é relevante o grau de aderência regional de suas estratégias de<br />
investimento e localização.<br />
Um recurso metodológico usual para avaliação da base empresarial estadual é a análise dos<br />
rankings empresariais das publicações especializadas.<br />
O ranking de liderança empresarial respalda a hipótese do gap agroindustrial mineiro. A<br />
listagem das 100 maiores empresas do agronegócio brasileiro (Agroanalysis/FGV) relaciona as<br />
maiores empresas nacionais envolvendo os três agregados primários da indústria à montante,<br />
agropecuária e os setores de transformação industrial e distribuição à jusante. Deste grupo, 44<br />
empresas referem-se às indústrias de transformação agroindustrial. Das 100 maiores do agribusiness<br />
nacional, o Estado de Minas Gerais abriga sete empresas, quarta posição ao lado de Santa Catarina<br />
e Rio de Janeiro, em um ranking liderado pelo Estado de São Paulo com 43 empresas. Das sete<br />
empresas mineiras, duas podem ser classificadas como agroindústria alimentar, o que colocaria o<br />
Estado em sétimo lugar neste ranking, atrás de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa<br />
Catarina, Rio de Janeiro e Alagoas, uma colocação modesta dada a importância agropecuária<br />
mineira.<br />
GRÁFICO 2<br />
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS ENTRE AS 100 MAIORES DO AGRIBUSINESS E 44 MAIORES<br />
AGROINDÚSTRIAS ALIMENTARES POR UF BRASIL - 2001<br />
FONTE: Agroanalysis, dez 2001<br />
25 Sobre agroindústria sulina ver Carvalho Jr. (1997) e Nogueira (1998)<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 103<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A base das 100 maiores do agribusiness, no entanto, é restrita pois não inclui o setor cooperativo<br />
que possui, em Minas Gerais, evidente importância em termos de parque agroindustrial .<br />
No ranking das 50 maiores cooperativas agropecuárias do país, Minas Gerais tem 6<br />
cooperativas, atingindo 12% do total em relação à receita operacional líquida, evidenciando que<br />
o porte das cooperativas centrais mineiras é elevado em relação ao tamanho médio nacional. No<br />
entanto, considerados os dados relativos a empresas e cooperativas agroindustriais, reforça-se a<br />
percepção de que Minas ocupa uma posição intermediária na liderança destes setores, posto inferior<br />
ao que sua base agropecuária permite.<br />
TABELA 59<br />
RANKING DAS 50 MAIORES COOPERATIVAS BRASILEIRAS: NÚMERO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO<br />
E SOMA TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (EM R$ 1MILHÃO), 2001<br />
UF Cooperativas Rec. Oper. Líquida<br />
Número Part. Relat. R$1,000,000 Part. Relat.<br />
SP 10 20% 4,243 33%<br />
PR 17 34% 4,070 32%<br />
MG 6 12% 1,586 12%<br />
RS 11 22% 1,477 11%<br />
SC 4 8% 1,128 9%<br />
GO 2 4% 345 3%<br />
Total 50 100% 12,849 100%<br />
FONTE: FGV. Agroanalysis. Out. 2001<br />
1.10.3. Obstáculos e Oportunidades para a Agroindústria Mineira<br />
Pelo lado da oferta, o porte e a relevância da base agropecuária mineira, que tem ao seu<br />
dispor uma plataforma de pesquisa agrícola estadual altamente capacitada, sugere que existe uma<br />
margem expressiva para o crescimento da agroindústria processadora estadual. No lado da<br />
demanda, prospecções do INDI apontam a existência de um campo diversificado de oportunidades<br />
para um mercado demandante de produtos agroindustriais. (QUADRO 3)<br />
QUADRO 3<br />
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO AGROINDUSTRIAL EM MINAS GERAIS<br />
Subsetores Agroindustriais Mercado Investimento (R$1000)<br />
Laticínios Demandante 500<br />
Queijaria Demandante 200<br />
Processamento de Suínos Demandante 1.600<br />
Cachaça (3000 l/d) Demandante 600<br />
Banana Passa(2500 kg/d) Demandante 320<br />
Processamento de Vegetais (800 kg/d) Demandante 250<br />
104 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
(Continua...)
QUADRO 3 (Continuação)<br />
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO AGROINDUSTRIAL EM MINAS GERAIS<br />
Subsetores Agroindustriais Mercado Investimento (R$1000)<br />
Processamento de Frutas Demandante 300<br />
Farinha de Mandioca (20 t/d) Demandante 300<br />
Cervejas (5000 l/d) Local 250<br />
Processamento de Vegetais Demandante 250<br />
Polpa de Frutas Demandante<br />
Suco Pasteurizado (4 t/d) Demandante 700<br />
Suco Integral (5 t/d) Demandante 1.500<br />
Suco pronto para beber (5 t/d) Demandante 2.500<br />
Concentrado de Frutas Demandante 10.000<br />
Horticultura Disputado US$2.000 /ha<br />
Café (especiais) 4,75 /ha<br />
Frutas Demandante US$6.500<br />
FONTE: INDI<br />
O potencial de realização das oportunidades de investimento e crescimento agroindustrial das<br />
diversas cadeias agroindustriais de base agropecuária mineira não garante, no entanto, que o investimento<br />
agroindustrial se localize nos limites estaduais. O diagnóstico das oportunidades de investimento em<br />
diversas cadeias realizado pelo INDI indica que parcela relevante dos segmentos à jusante de diversos<br />
sub-sistemas agroindustriais regionais está localizada fora do Estado 26 . Segundo o INDI, no setor de<br />
Laticínios, mesmo Minas sendo líder em número de laticínios no País, ainda exporta leite “in natura” para<br />
outros estados. No setor de Massas Alimentícias, Minas Gerais produz cerca de 10% e consome cerca de<br />
15% da produção nacional. Em relação ao processamento de grãos, são grandes as oportunidades de<br />
investimento na Região Noroeste, pois mesmo a região concentrando a maior produção de soja em Minas<br />
Gerais, o processamento industrial ainda restrito. Em relação ao processamento de carnes observa-se que<br />
a industrialização de carnes é ainda insuficiente para suprir o mercado mineiro, abastecido em mais de<br />
60% por indústrias de outros Estados. No caso do café, embora Minas Gerais lidere a produção de café e<br />
tenha receita anual de cerca de US$1,0 bilhão/ano, as maiores torrefações do País estão em outros estados.<br />
Evidencia-se, portanto, que a existência de uma base agropecuária estadual desenvolvida não é<br />
condição suficiente para garantir que o parque agroindustrial no Estado seja da mesma magnitude.<br />
O exemplo da indústria catarinense de aves e suínos oferece uma boa referência de instrumentos<br />
de desenvolvimento agroindustrial baseado em programas específicos de incentivo que permitiram a<br />
criação de uma estrutura agroindustrial dinâmica e de alcance de mercado internacional.<br />
O caso de Santa Catarina indica a existência de um aparato institucional focalizado para o crescimento<br />
das maiores agroindústrias de aves e suínos do país. Na primeira metade da década de 70, vigorou o<br />
FUNDESC, fundo de desenvolvimento estadual que, em associação com iniciativas de estímulos<br />
municipais, teve ampla utilização pelas principais empresas da indústria de carnes, como a SADIA,<br />
PERDIGÃO e CEVAL. Estas empresas ampliaram sua base operacional geográfica beneficiando-se de<br />
outros fundos como o Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), o Programa de Desenvolvimento<br />
de Mato Grosso (PRODEI) e o Fundo do Centro-Oeste (FCO).<br />
No caso mineiro, existe um aparato legal, PROE-AGROINDÚSTRIA (Programa de Apoio de<br />
Apoio a Implantação de Agroindústrias Estratégicas), regulamentado em 1998, que deve pode ser peça<br />
fundamental para reduzir o hiato agroindustrial do Estado.<br />
26 Disponível em http:\\www.indi.mg.gov.br<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 105<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
1.11. Proposições para políticas<br />
O principal aspecto evidenciado pelo diagnóstico da indústria é o pequeno tamanho relativo<br />
das empresas mineiras comparativamente às empresas paulistas, mas também às empresas gaúchas<br />
e paranaenses. Situação similar à do Rio de Janeiro, com exceção das empresas estatais ou exestatais<br />
há anos estabelecidas, que carece também de liderança de empresas de grande porte para<br />
puxar o desenvolvimento industrial do Estado. As empresas mineiras com clara liderança nacional<br />
originam-se de setores da base exportadora tradicional do Estado, especialmente da indústria<br />
extrativa mineral e da indústria metalúrgica. No caso do setor automotivo, foram evidenciados os<br />
problemas de adensamento setorial da cadeia, em função da pouca presença de empresas de porte<br />
considerável nos segmentos de peças e componentes, já que esta cadeia possui uma empresa<br />
âncora à jusante capaz de liderar a inserção do Estado no mercado automotivo nacional e mundial.<br />
No âmbito do complexo metal-mecânico esta fragilidade da empresa mineira é ainda mais<br />
evidenciada nas indústrias mecânica e eletro-eletrônica. Mesmo assim, é no complexo agroindustrial<br />
que possivelmente o empreendedor schumpeteriano está mais ausente, sendo este fato paradoxal<br />
frente ao relativo dinamismo da agropecuária mineira.<br />
A política de fortalecimento do poder econômico das empresas sediadas no Estado não<br />
deve ter, entretanto, um recorte de origem regional ou de origem nacional dos capitais que controlam<br />
as empresas. Mais importante que a origem do capital são os efeitos multiplicadores da ação<br />
efetiva destas empresas no território econômico estadual. Neste sentido, o governo estadual deveria<br />
ter uma ação deliberada de incentivos à consolidação do capital na indústria estadual, através de<br />
fusões, aquisições, associações e investimentos cruzados de capitais, que possibilitassem o<br />
adensamento setorial de diversos segmentos industriais fragilizados da economia mineira.<br />
Consideramos que este adensamento setorial deveria ser de natureza focalizada, privilegiando<br />
os complexos metal-mecânico e agroindustrial, se constituindo, assim, em uma estratégia decisiva<br />
no aprofundamento das vantagens já construídas da indústria estadual. A questão mais relevante<br />
para a formulação de uma política de aprofundamento da industrialização estadual deveria, portanto,<br />
ser via adensamento setorial de cadeias e adensamento setorial horizontal das indústrias, que<br />
envolveriam, inclusive, a substituição competitiva das importações. Consequentemente, os atuais<br />
fundos setoriais do Estado deveriam ser reexaminados, visando o redirecionamento para uma<br />
política industrial focalizada.<br />
1.11.1. Adensamento setorial das cadeias<br />
Em função do diagnóstico realizado, o adensamento setorial das cadeias deveria privilegiar<br />
a cadeia automotiva e as cadeias de carnes, laticínios e café em que a agropecuária estadual possui<br />
significativas vantagens comparativas. Poderia ser acrescida a cadeia de frutas, dado os pólos de<br />
irrigação já implantados no norte e noroeste do Estado.<br />
O maior gargalo na cadeia automotiva é nos setores de peças e componentes, pois os dados<br />
indicam que os esforços de seleção dos fornecedores realizados pela Fiat, com o apoio dos fundos<br />
estaduais, não foram suficientes para eliminar alguns elos frágeis da cadeia, principalmente se o<br />
foco de análise for a empresa e não as unidades de produção estabelecidas no território estadual.<br />
106 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Viu-se na análise setorial desta cadeia, que as empresas encontram-se fortemente concentradas<br />
em São Paulo, o que se torna um gargalo para a consolidação da cadeia local.<br />
Nas cadeias de laticínios e café uma estratégia que parece premente é de consolidação de<br />
capital das cooperativas locais, que devem ser incentivadas a realização de fusões, incorporações<br />
e associações de capital no âmbito geográfico de suas bases agropecuárias regionais, de tal forma<br />
a se capacitarem a tornarem players do mercado nacional e internacional, neste último caso em<br />
relação à cadeia cafeeira. Na cadeia de carnes a situação é bem mais complexa, haja visto a<br />
ausência no Estado de empresas especializadas de grande porte, hoje condição considerada<br />
necessária para atuação no mercado nacional. De qualquer forma é um setor que merece atenção<br />
especial da política industrial do Estado, que envolveria inclusive medidas voltadas para a redução<br />
do mercado informal de carnes, reforço da rastreabilidade da carne e capacitação do setor frigorífico<br />
para o atendimento de demandas mais sofisticadas do consumo urbano. Possivelmente, o seu<br />
devido equacionamento, envolveria a política regional de desenvolvimento de aglomerações<br />
produtivas ou clusters, especialmente na região do Triângulo Mineiro.<br />
Outra situação não menos complexa é da cadeia de frutas, que deve ser equacionada também<br />
como uma questão de política regional de aglomerações produtivas, mas que envolveria também a<br />
atração de empresas de grande porte para as proximidades dos pólos de irrigação.<br />
1.11.2. Adensamento setorial horizontal<br />
Trata-se aqui de uma política de adensamento setorial pela expansão horizontal de algumas<br />
indústrias em que o Estado pode explorar oportunidades de consolidação de vantagens ou<br />
oportunidades de desenvolvimento de nichos de mercado. Duas indústrias merecem aqui um<br />
tratamento privilegiado em termos de formulação de uma política de fortalecimento de capital<br />
das empresas: a indústria mecânica e a indústria eletro-eletrônica.<br />
Um setor a ser privilegiado é o de Máquinas e Equipamentos para Extração Mineral e<br />
Construção, pelo peso na economia estadual das cadeias de extração de minerais metálicos, ferrosos<br />
e não-ferrosos, e de construção. As empresas sediadas no Estado possuem em torno de 15% do<br />
mercado nacional, estando esta participação sob o controle de 4 empresas de porte médio. Seguindo<br />
esta mesma linha de consolidação de posições estão os setores de Estruturas Metálicas e Caldeiraria<br />
Pesada e Forjaria e Estamparia, onde as empresas mineiras possuem presença significativa no<br />
mercado nacional, de 18,22% e 19,63%, respectivamente. Neste caso, as subsidiárias das empresas<br />
siderúrgicas são muito competitivas 27 , o que facilita uma política de expansão de participação nas<br />
vendas, inclusive que envolvam as compras governamentais do governo estadual e governos<br />
municipais.<br />
Na linha de exploração de nichos de mercado, as empresas mineiras estabelecidas possuem<br />
condições de crescimento de participação em equipamentos elétricos automação industrial, e<br />
eletrônicos básicos, particularmente no sub-setor de condutores elétricos, onde a Alcoa Fios, de<br />
origem canadense, e a CABELTE, de origem lusitana, ocupam, respectivamente, a quinta e sete<br />
posições deste nicho de mercado. Em Aparelhos Médicos e Instrumentos de Medição as empresas<br />
mineiras aparecem com importante participação no mercado nacional, de 18%, sendo que as empresas<br />
mineiras atuam efetivamente no sub-setor de Instrumentos de Medição e Precisão, onde a NANSEN<br />
ocupa o terceiro lugar neste nicho de mercado no país. Este é um mercado em que a política de<br />
incentivos poderia fortalecer a posição relativa das empresas de Minas Gerais, havendo escopo<br />
para diversificá-las para aparelhos médicos e odontológicos propriamente ditos, considerando<br />
27 Especialmente a USIMEC-USIMINAS, a MANNESMAN-DEMAG e a BELGO-BEKAERT.<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 107<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
que o complexo de serviços médicos e hospitalares em Belo Horizonte é bem desenvolvido<br />
nacionalmente, o que ofereceria aos estabelecidos e novos entrantes um mercado regional dinâmico<br />
e com escala extra-regional. As empresas estabelecidas no Estado possuem significativa liderança<br />
nacional, se tomarmos como referência o indicador de participação das 4 maiores no mercado<br />
nacional, de 15,6%, equivalente a das empresas fluminenses e não muito inferior às paulistas.<br />
Por fim, uma terceira linha poderia ser seguida no esforço de adensamento horizontal das<br />
indústrias mecânica e eletro-eletrônica. Seria a estratégia de atrair empresas que ocupassem buracos<br />
reconhecidos da estrutura industrial brasileira, como, por exemplo, em componentes eletrônicos<br />
básicos e automação industrial. São setores em que a Zona Franca de Manaus teria pouca<br />
capacidade de competir em função das sinergias necessárias de proximidade a localidades que<br />
possuem elevada aglomeração científica e tecnológica em áreas específicas, que a cidade de Belo<br />
Horizonte poderia eventualmente oferecer. Este tipo de operação envolveria evidentemente a<br />
atração de world players ainda ausentes do mercado brasileiro.<br />
1.11.3. Capacitação em indústrias limpas de novos sistemas tecnológicos<br />
Uma complementação da política industrial mineira, mas de fundamental importância pelos<br />
seus efeitos de transbordamentos tecnológicos, deveria ser direcionada para as chamadas indústrias<br />
limpas de novos sistemas tecnológicos, não claramente identificadas em um nível de agregação de<br />
dados da indústria como o utilizado neste diagnóstico. As indústrias de informática e biotecnologia<br />
já existentes com alguma força no Estado se enquadram nesta categoria. São atividades em que a<br />
esfera propriamente industrial e de serviços de confundem, sendo que o requisito fundamental<br />
para sua competitividade é a densidade urbana, especialmente de capacitação científica. Neste<br />
caso, as ações estaduais deveriam estar em sintonia fina tanto com as políticas de incentivos e<br />
atração municipais, especialmente da capital do Estado, como de políticas no âmbito estadual de<br />
ciência e tecnologia, na direção sugerida no volume 7 deste estudo.<br />
O potencial científico e tecnológico da Universidade Federal de Minas Gerais e de<br />
importantes instituições do aparato de pesquisa estadual e federal sediadas na capital mineira<br />
(CETEC, EPAMIG) evidencia a oportunidade estratégica de estimular a implantação de arranjos<br />
institucionais que sejam capazes de promover a articulação entre universidade e empresa para as<br />
indústrias de base tecnológica, como a biotecnologia e os setores da indústria de tecnologia da<br />
informação, favorecendo o surgimento de inovações organizacionais como parques tecnológicos<br />
e científicos. As condições propicias para implementação de um parque tecnológico na capital<br />
mineira, em função de sua base científica, estrutura industrial e da oferta de serviços urbanos<br />
podem ser aproveitadas. É uma janela de oportunidade existente no cenário nacional e cujo<br />
tempo de tomada de decisão estratégica é crítico, em função da competição com outros centros<br />
metropolitanos do país, sugerindo uma ação determinada do Estado neste sentido, seja através de<br />
uma política de incentivos ou de construção de mecanismos de financiamento e atração de capital<br />
de risco.<br />
108 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
1.12. 1.12. Referências Referências Bibliográficas<br />
Bibliográficas<br />
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. Economia mineira – 1989:<br />
diagnóstico e perspectivas. Belo Horizonte, v.5, 1989.<br />
CARVALHO JÚNIOR, Luiz C. As estratégias de crescimento das empresas líderes e o padrão de<br />
concorrência das indústrias avícola e suinícola brasileiras. 1997. 253 f. Tese (Doutorado em<br />
Engenharia da Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.<br />
CHENERY, H.; ROBINSON, S.; SYRQUIN, M. Industrialization and growth. Washington,<br />
D.C.: Oxford University Press, 1986.<br />
CRUZ, C.; VERMULM, R. A competitividade da indústria de máquinas-ferramenta. In:<br />
ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, XXI, 1993, Belo Horizonte. Anais... Belo<br />
Horizonte: ANPEC, 1993. p.23-45.<br />
ERBER, F. A política cientifica e tecnológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.<br />
LEMOS, M. The agrofood system in semi-industrialized countries: the Brazilian case. 1992. 398 f..<br />
Thesis (PhD in Economics) - University of London, England.<br />
FERREIRA, F.; LEMOS, M. A nova configuração geográfica da indústria automotiva no<br />
Brasil. ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, XXX, 2002, Nova Friburgo. Anais...<br />
Nova Friburgo: ANPEC, 2002. 1-20.<br />
FNP CONSULTORIA. Agrianual. São Paulo: FNP, 2001.<br />
______. Anualpec. São Paulo: FNP, 2001.<br />
FURTADO, A. (Coord.). Capacitação tecnológica, competitividade e política industrial: uma<br />
abordagem setorial e por empresas líderes. Brasília: IPEA, 1994. (Texto para discussão, n.<br />
348).<br />
GAZETA MERCANTIL. Balanço anual. São Paulo, n. 26, Jun. 2002.<br />
GOODMAN, D.; SORJ, B.; WILKINSON, J. Da lavoura às biotecnologias. São Paulo: Campus,<br />
1990.<br />
INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Revista<br />
Agroanalysis. Rio de Janeiro, v. 21, n. 10, out. 2001.<br />
______. Revista Agroanalysis. Rio de Janeiro, v. 21, n. 12, dez. 2001.<br />
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo agropecuário de<br />
1995/96. Rio de Janeiro: IBGE, 1996.<br />
______. Pesquisa industrial anual. 1996,1997,1998,1999. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.<br />
LAPLANE, M.; SARTI, M. Investimento direto estrangeiro e o impacto na balança comercial dos anos<br />
90. Campinas, 1998. Mimeografado.<br />
MOREIRA, M. A indústria brasileira nos anos 90: o que já se pode dizer. São Paulo: IPE /<br />
USP, 2000. (Seminário interno, n. 10).<br />
Capítulo 1 - Estrutura e dinâmica 109<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
NOGUEIRA, ALEXANDRE S. Padrão de concorrência e estrutura competitiva da indústria suinícola<br />
catarinense. 1998. 139 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal de<br />
Santa Catarina, Florianópolis.<br />
RESENDE, M. F. Industrialização periférica e dinâmica da industria de bens de capital: um estudo<br />
econométrico do caso brasileiro. 1995. 158 f. Dissertação (Mestrado em Economia) –<br />
CEDEPLAR-UFMG, Belo Horizonte.<br />
RESENDE, M. F.; ANDERSON, P. Mudanças estruturais na indústria de bens de capital. Brasília:<br />
IPEA, 1999. (Texto para discussão, n. 658).<br />
RODRIGUES, L. Potencial da agricultura irrigada como indutora do desenvolvimento<br />
regional: o caso do Projeto Jaíba no Norte de Minas Gerais. Revista Econômica do Nordeste,<br />
Fortaleza, v. 32, n. 2, abr./jun. 2001.<br />
SINDIMEC. Estudo do segmento de bens mecânicos sob encomenda da Região Metropolitana de Belo<br />
Horizonte. Belo Horizonte, 2001. (Relatório de Pesquisa).<br />
VERMULM, R. O setor de bens de capital no Brasil. In: SCHWARTZMAN, S. Ciência e<br />
tecnologia no Brasil: política industrial, mercado de trabalho e instituições de apoio. Rio de<br />
Janeiro: FGV, 1995.<br />
110 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI<br />
VOLUME VI<br />
INTEGRANDO A INDÚSTRIA<br />
PARA O FUTURO<br />
CAPÍTULO 2<br />
CADEIAS PRODUTIVAS RELEVANTES<br />
Victor Prochnik<br />
(Professor do Instituto de Economia e do Mestrado em Ciências Contábeis da UFRJ,<br />
e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Cadeias Produtivas)<br />
Bruno Ottoni Vaz<br />
(Aluno do Instituto de Economia da UFRJ e bolsista do Programa PIBIC/CNPq)
Este trabalho é dedicado à memória de Lia Haguenauer; que tanto nos ensinou.<br />
Os autores também agradecem a Paulo Gonzaga M. de Carvalho, todos os<br />
entrevistados e o apoio do <strong>BDMG</strong>. Colaboraram os membros do grupo de<br />
pesquisa em Cadeias Produtivas - www.ie.ufrj.br/cadeiasprodutivas, bolsistas<br />
da FAPERJ Marcélle Gonçalves de Valença e Bruno Folly Guimarães e<br />
Silva e a assistente de pesquisa Renata Celeste Guberfain.
SUMÁRIO<br />
2.1. DIREÇÕES PARA O CRESCIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS ......................................... 117<br />
2.1.1. Ciclos de investimento e a oportunidade de definições para os rumos<br />
do crescimento econômico ................................................................................................................................... 117<br />
2.1.2. Oportunidades de investimento na economia brasileira e prioridades para Minas Gerais ....................... 118<br />
2.2. OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO E CADEIAS PRODUTIVAS ................................................ 122<br />
2.2.1. Cadeias produtivas ................................................................................................................................................. 122<br />
2.2.2. Estudo das oportunidades de investimento através da metodologia<br />
das cadeias produtivas ........................................................................................................................................... 123<br />
2.3. A PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA BRASILEIRA .............................................. 125<br />
2.3.1. Estrutura comparada da produção do Brasil e dos estados de Minas Gerais,<br />
Rio de Janeiro e São Paulo ................................................................................................................................... 125<br />
2.3.2. Origem comparada da produção do Brasil e dos estados de Minas Gerais,<br />
Rio de Janeiro e São Paulo ................................................................................................................................... 126<br />
2.3.3. Destino comparado da produção do Brasil e dos estados de Minas Gerais,<br />
Rio de Janeiro e São Paulo ................................................................................................................................... 130<br />
2.4. A EVOLUÇÃO RECENTE DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ..... 135<br />
2.4.1. Evolução do produto industrial .......................................................................................................................... 135<br />
2.4.2. Evolução recente do comércio internacional ................................................................................................... 137<br />
2.5. AS CADEIAS PRODUTIVAS DE MINAS GERAIS E OPORTUNIDADES<br />
DE INVESTIMENTO ................................................................................................................................................... 139<br />
2.5.1. A cadeia produtiva da construção civil ............................................................................................................. 139<br />
2.5.2. A cadeia produtiva metal-mecânica ................................................................................................................... 142<br />
2.5.3. A cadeia produtiva química ................................................................................................................................. 148<br />
2.5.4. A cadeia produtiva de têxtil e calçados ............................................................................................................. 151<br />
2.5.5. A cadeia produtiva agroindustrial ....................................................................................................................... 152<br />
2.6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS .............................................................................. 155<br />
2.6.1. Uma hierarquia de programas de incentivo ao investimento e ao aprimoramento<br />
tecnológico .............................................................................................................................................................. 155<br />
2.6.2. As jornadas do desenvolvimento ........................................................................................................................ 159<br />
2.7. APÊNDICE: A DELIMITAÇÃO DE CADEIAS PRODUTIVAS PARA O BRASIL E ESTADOS<br />
DE MINAS GERAIS, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO ............................................................................... 161<br />
2.7.1. O método de delimitação de cadeias produtivas ............................................................................................. 161<br />
2.7.2. Características técnicas das matrizes utilizadas e do emprego do método Haguenauer ............................ 162<br />
2.8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................................................... 169
2.1. Direções para o crescimento industrial de<br />
Minas Gerais<br />
2.1.1. Ciclos de investimento e a oportunidade de definições para os<br />
rumos do crescimento econômico<br />
Este capítulo apresenta a estrutura e a evolução recente da indústria de Minas Gerais,<br />
segundo suas cadeias produtivas. Ele compara as cadeias produtivas deste Estado, tanto com as<br />
cadeias produtivas de São Paulo e do Rio de Janeiro, como com as cadeias produtivas da economia<br />
brasileira. Ele também destaca, no Estado de Minas Gerais, as oportunidades de investimento na<br />
indústria, procurando mostrar algumas das frentes abertas para o seu crescimento futuro.<br />
As oportunidades de investimento e as políticas para o desenvolvimento industrial são<br />
muito variadas, por causa da diversidade da economia mineira. Neste estudo são propostas, por<br />
exemplo, políticas para a sociedade da informação em Minas Gerais e habitação popular. Por esta<br />
razão, nas conclusões, as propostas feitas no decorrer do texto são agregadas segundo uma<br />
taxonomia de cadeias produtivas.<br />
Uma das características da taxonomia proposta é a incorporação de uma classe de ações de<br />
governo voltada exclusivamente para as cadeias cujas atividades são exercidas principalmente<br />
pelos segmentos mais pobres da população. Mas as ações de Governo sugeridas no texto só serão<br />
eficientes se contarem com efetivo apoio político para sua execução. Assim, a última conclusão é<br />
a de uma ação explícita neste sentido, a retomada das Jornadas do Desenvolvimento.<br />
Essa discussão sobre ações de governo e das direções que tomou a evolução recente da<br />
indústria do Estado e das alternativas de desenvolvimento futuro é relevante no atual contexto<br />
econômico. Primeiramente, porque Minas Gerais atravessa um período de baixa cíclica de<br />
investimentos, momento propício para a definição das novas direções que o desenvolvimento<br />
futuro tende a tomar.<br />
Em contraste, durante um ciclo de crescimento, os projetos de investimento tendem a ser<br />
interligados. Eles aproveitam as mesmas oportunidades tecnológicas e comerciais, muitas vezes<br />
ampliadas por externalidades abertas pelos projetos de investimentos já em andamento e/ou por<br />
estratégias de concorrência empresarial. Assim, durante o ciclo de crescimento, costumam ser<br />
menores as possibilidades de mudanças de rumo nas direções de crescimento, devido ao<br />
entrelaçamento das atividades em que estão sendo realizados os investimentos. De fato, a TAB. 1<br />
mostra que Minas Gerais atravessa um período marcado pela pouca intensidade de investimentos,<br />
após ter sido beneficiada pelo miniciclo de crescimento entre os anos de 1995 a 1998.<br />
Uma segunda razão para a importância das discussões sobre o próximo ciclo de investimentos<br />
é a expectativa de que, na economia nacional, um bom número de grandes projetos poderão vir a<br />
ser implantados. Nesse contexto, a possibilidade de atrair uma parcela significativa do gasto em<br />
investimento deve despertar o interesse de Minas Gerais 2 .<br />
Para Giambiagi (2002), entretanto, existe suficiente capacidade ociosa, na economia nacional,<br />
para que o início do ciclo de crescimento não necessite de aportes significativos à capacidade<br />
produtiva. Mas outras indicações apontam em direções diferentes. Por exemplo, para diversos<br />
2 Os dados de investimento apresentados na TAB. 1 devem ser vistos mais como uma tendência geral do investimento no Estado, pois<br />
incorporam apenas projetos industriais apoiados pelo INDI – Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 117<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
autores, como Alem et al (2002) e Frishtak & Cavalcanti (2001), a superação da restrição externa<br />
requer importantes investimentos, tanto para incentivar as exportações, como para apoiar a<br />
substituição competitiva de importações. Especificamente, no caso da cadeia eletrônica, Alem et<br />
al (2002) sugerem que a política industrial se volte para atrair grandes fabricantes internacionais.<br />
Eles também afirmam que, entre outros, alguns requisitos a serem considerados para essa política<br />
são: “(...) 1. grandes investimentos em infra-estrutura (água e energia); (...) 3. necessidade de<br />
grandes investimentos em bens de capital (quase todos sem produção doméstica).” – Alem et al<br />
(2002, p. 22).<br />
TABELA 1<br />
INVESTIMENTOS GERADOS POR PROJETOS INDUSTRIAIS DECIDIDOS E APOIADOS PELO<br />
INDI, MINAS GERAIS - 1990/2001<br />
ANO INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS APOIADOS PELO INDI 1<br />
(US$ MILHÕES)<br />
1990 656,4<br />
1991 489,1<br />
1992 851,6<br />
1993 566,8<br />
1994 388,8<br />
1995 982,7<br />
1996 1264,4<br />
1997 1768,9<br />
1998 1407,0<br />
1999 442,4<br />
2000 385,7<br />
2001 n.d.<br />
FONTES: 1 Anuário Estatístico de Minas Gerais 2000/01 - Fundação João Pinheiro, Governo de Minas Gerais, pág. 256<br />
Portanto, dada a possibilidade de um novo ciclo de investimentos para o País e havendo<br />
indicações sobre sua potencial relevância, cabe perguntar que direções deveriam ser<br />
privilegiadas e quais são as possibilidades de desenvolvimento que se abrem para o Estado<br />
de Minas Gerais. A próxima seção apresenta um quadro geral sobre as direções que podem ser<br />
seguidas. As demais seções discutem as possibilidades concretas de desenvolvimento industrial<br />
para Minas Gerais.<br />
2.1.2. Oportunidades de investimento na economia brasileira e<br />
prioridades para Minas Gerais<br />
Na discussão sobre as perspectivas de crescimento para a indústria brasileira, são destacadas<br />
outras duas questões estreitamente relacionadas, que Minas Gerais precisa levar em consideração:<br />
a inserção internacional do seu parque fabril e a desejada continuação do aumento da produtividade,<br />
que vem ocorrendo desde o início da década de noventa. Por exemplo, Moreira (1999) mostra que<br />
a distância das empresas, em relação à fronteira da best practice, ainda é muito grande. Para realizar<br />
esses ganhos de produtividade, é necessário formar empresas de porte internacional, capazes de<br />
competir no mercado global.<br />
118 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Para Castro (2002), entre vários outros 3 , agora é necessário um impulso exportador para<br />
retirar o País (e as empresas também) do grupo de risco internacional. Nesse esforço, as empresas<br />
devem deixar os mercados de produtos maduros que, internacionalmente, já estão saturados, e<br />
procurar os mercados mais dinâmicos. Para isto, é necessário aumentar o conteúdo tecnológico<br />
dos seus produtos.<br />
A proposta de Castro (2002) traz um desafio para a política industrial do Estado de Minas<br />
Gerais. Isto porque, segundo Medeiros (2002, p. 5), “... a matriz [de insumo-produto] deixa clara a<br />
fragilidade da estrutura produtiva de Minas Gerais: exporta commodities intensivas em produtos<br />
primários, minerais e intermediários de baixo-valor agregado e altamente vulneráveis à oscilação<br />
de preços internacionais, e adquire, fora do estado, bens e serviços de maior conteúdo tecnológico.”<br />
Frischtak & Cavalcanti (2001) e Alem et al (2002) discutem a substituição competitiva de<br />
importações. A substituição é dita competitiva porque se espera que as empresas venham a produzir,<br />
no Brasil, tanto para o mercado nacional como para o mercado externo. Os dois trabalhos destacam<br />
a cadeia química e a cadeia de insumos do setor de produtos eletrônicos como prioritárias para a<br />
substituição competitiva.<br />
Mas a participação de Minas Gerais, na produção dessas cadeias, é particularmente pequena.<br />
Como os estabelecimentos industriais, em muitos setores, dessas cadeias costumam se localizar<br />
em pólos de produção, o número de empresas já instaladas (path dependence) e a infra-estrutura<br />
técnica disponível são fatores de atração relevantes de novos investimentos. Nesses setores,<br />
potencialmente dinâmicos, Minas Gerais está em relativa desvantagem.<br />
Outra via de desenvolvimento, freqüentemente indicada para o Brasil, e, conseqüentemente,<br />
para Minas Gerais, é o crescimento econômico voltado para atender ao mercado interno. Essa<br />
formulação é, em geral, associada a propostas para diminuir as desigualdades econômicas. Para os<br />
diversos proponentes desse modelo de desenvolvimento econômico, existem várias alternativas,<br />
muito diferentes entre si, para reativar o mercado interno, em nível nacional, entre as quais,<br />
modificações institucionais, como o aumento do salário mínimo e outras medidas legais; incentivos<br />
ao investimento; reorganização do sistema financeiro; programas de obras governamentais e reforma<br />
agrária. Essas modificações dependem de decisões ainda não tomadas. Por essa razão, a curto<br />
prazo, as duas outras estratégias são mais pragmáticas.<br />
Note-se que a preocupação de Medeiros (2002) com o baixo valor agregado da produção de<br />
Minas Gerais e o pequeno conteúdo tecnológico das suas exportações pode ser estendida para as<br />
três estratégias mencionadas, exportação, substituição competitiva de importações e crescimento<br />
voltado para o mercado interno. Em qualquer um desses casos, a política do governo para o<br />
investimento deve privilegiar, concomitantemente, o aumento do valor agregado e o aprimoramento<br />
técnico de produtos e processos.<br />
Mais ainda, o aprimoramento produtivo e tecnológico amplia a competitividade das empresas<br />
e, conseqüentemente, sua capacidade de conquistar novos mercados. Há, portanto, um círculo<br />
virtuoso entre aumento dos investimentos e desenvolvimento tecnológico. Por essa razão, a<br />
taxonomia proposta no final deste trabalho leva essas duas variáveis em consideração.<br />
Entretanto, como a capacidade de busca e captação de projetos por parte do governo é<br />
um recurso escasso, é importante ponderar a prioridade das alternativas acima apresentadas.<br />
A primeira prioridade, a ser levada a cabo imediatamente, deve ser a busca de oportunidades<br />
de investimento associadas à substituição competitiva de importações. Isto também devido<br />
3 Frischtak & Cavalcanti (2002), por exemplo, propõem um “sistema nacional de exportações”.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 119<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
ao agravamento das contas externas, que ocorre na atual conjuntura. De fato, a crise externa<br />
bloqueia importações e abre novos mercados para a produção interna de muitos produtos<br />
anteriormente importados. Seria útil, para aumentar o nível de investimentos no Estado, que o<br />
governo participasse, ativamente, da atração de projetos desse tipo.<br />
Aparentemente, uma onda de substituição de importações já está ocorrendo no País em<br />
2002. Notícias do jornal Valor Econômico (3 de junho de 2002) informam que o volume de<br />
importações vem caindo bem mais rápido do que a produção interna. Como essas duas variáveis<br />
costumam estar relacionadas, a queda relativa das importações parece indicar a substituição<br />
crescente de produtos anteriormente importados. Outro indicador relevante é que a diminuição<br />
mais significativa das importações foi observada em setores onde já se esperava que ocorresse um<br />
processo de substituição. Segundo o mesmo jornal, a queda das importações se concentra nos<br />
setores de equipamentos eletrônicos, peças e outros veículos, material elétrico e elementos químicos.<br />
No caso do setor eletroeletrônico, as importações, no primeiro semestre de 2002, diminuíram<br />
35% em relação ao primeiro semestre de 2001. Elas passaram de US$ 7,2 bilhões, no primeiro<br />
semestre de 2001, para US$ 4,7 bilhões, em 2002 (www.abinee.org.br).<br />
A segunda alternativa, exportações, também é favorecida pela situação atual. Mas, em uma<br />
situação de recessão, parte do crescimento das exportações pode ser conseguido pela ocupação de<br />
capacidade ociosa. Assim, embora sem o caráter de premência que envolve a primeira alternativa,<br />
a busca por projetos exportadores também deve ser considerada prioritária.<br />
A terceira alternativa é a de mais longo prazo. À medida que se configura uma situação de<br />
recessão econômica, o interesse em investir para atender o mercado interno é bem menor.<br />
Novamente, essa regra geral pode não ser válida quando são analisados projetos específicos. Novos<br />
projetos podem ser viáveis se visarem substituir empreendimentos tidos como mais ineficientes.<br />
Também se pode argumentar que a terceira alternativa, buscar projetos que visam,<br />
prioritariamente, atender ao mercado interno, é a mais importante. Primeiramente, porque o<br />
comércio exterior brasileiro representa uma parte relativamente pequena do movimento econômico,<br />
não tendo se mostrado, até agora, capaz de sustentar o crescimento do produto nacional. Em<br />
segundo lugar, porque é no desenvolvimento do mercado interno que se criam as capacitações<br />
para a ampliação da competitividade.<br />
Por fim, cabe sugerir que, nas três estratégias, um papel de destaque deve ser dado para as<br />
cadeias produtivas intensivas em tecnologia. Segundo Lall (2002), a estrutura econômica se move<br />
na direção dos setores intensivos em tecnologia, porque esses setores crescem mais rapidamente<br />
do que a média da indústria. Além disso, segundo o mesmo autor, nas cadeias de produtos intensivos<br />
em tecnologia estão as maiores oportunidades de aprendizado e as maiores taxas de crescimento<br />
da produtividade. Elas são mais flexíveis do que as demais cadeias. Nelas, também, são gerados<br />
os spillovers mais intensos.<br />
O aspecto a ser destacado é de que os fluxos tecnológicos entre cadeias tendem a ser mais<br />
intensos nos sentidos das cadeias intensivas em tecnologia para as maduras e tradicionais e, também,<br />
das maduras para as tradicionais. A existência desses vetores de conhecimento e tecnologia e o<br />
fato de essas variáveis estarem na base da vantagem competitiva moderna valorizam o papel dos<br />
setores intensivos em tecnologia.<br />
Outra característica relevante das atividades intensivas em tecnologia é a dificuldade de<br />
iniciar o seu desenvolvimento, de forma sustentada, em uma dada região. Segundo Lall (2002), a<br />
operação dessas cadeias é intensiva na acumulação de conhecimento, predominantemente tácito.<br />
O processo é path dependent, isto é, o sucesso é fruto de esforço cumulativo.<br />
120 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
O caso do complexo eletrônico, em geral, e da eletrônica, em particular, é interessante<br />
porque há uma movimentação, em Minas, para promover o uso das tecnologias da informação e<br />
telecomunicações através do Plano de Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicações em<br />
Minas Gerais (PDTIC MG). Sugere-se a ampliação do escopo deste Plano, no sentido de transformálo,<br />
também, em uma política industrial de atração de novos investimentos.<br />
Essas e outras propostas são discutidas no restante deste trabalho. De fato, neste estudo,<br />
busca-se apontar as oportunidades de investimento associadas às trajetórias acima descritas. Assim,<br />
este capítulo analisa as cadeias produtivas de Minas Gerais, examinando sua evolução recente e<br />
aspectos do seu potencial de crescimento, tendo em vista as questões acima assinaladas.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 121<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
2.2. Oportunidades de investimento e cadeias<br />
produtivas<br />
Esta seção apresenta o conceito de cadeia produtiva e algumas das suas aplicações,<br />
relacionadas ao estudo das oportunidades de investimento, a discussão continua trabalho anterior –<br />
Prochnik & Haguenauer (2002).<br />
2.2.1. Cadeias produtivas<br />
Uma cadeia produtiva é uma seqüência de setores econômicos, unidos entre si por<br />
relações significativas de compra e venda, na qual os produtos são crescentemente elaborados.<br />
As cadeias produtivas resultam da crescente divisão do trabalho e da maior interdependência<br />
entre os agentes econômicos. Por um lado, as cadeias são criadas pelo processo de desintegração<br />
vertical e especialização técnica e social. Por outro lado, as pressões competitivas por maior<br />
integração e coordenação entre as atividades, ao longo das cadeias, ampliam as articulações<br />
entre os agentes.<br />
A rigor, o termo cadeia produtiva se refere mais a situações em que há apenas uma seqüência<br />
aproximadamente linear de setores, como é o caso de muitas cadeias de agronegócios. Mas o<br />
entrelaçamento de cadeias é comum. Muitas cadeias se repartem e outras se juntam. Não há por<br />
que presumir que a teia de cadeias produtivas se espalhe, de maneira uniforme, sobre a estrutura<br />
econômica. Ao contrário, as cadeias de uma economia regional podem ser agregadas em conjuntos,<br />
ou blocos, de forma que o valor médio das compras e vendas entre os setores constituintes de um<br />
bloco seja maior do que o valor médio das compras e vendas desses mesmos setores com os<br />
setores de outros blocos.<br />
Esses blocos são as macro cadeias, ou complexos industriais. Neste estudo, usa-se,<br />
simplesmente, o termo cadeia produtiva, para designar tanto as macro estruturas como as cadeias<br />
mais localizadas. O termo complexo industrial é usado como sinônimo de cadeia.<br />
Para estudar cadeias produtivas, a tarefa inicial é o esforço de delimitação das cadeias<br />
produtivas, que segue metodologia proposta por Lia Haguenauer em Haguenauer, Prochnik,<br />
Guimarães e Araújo Jr. (1986) e revista, pela mesma autora, em Haguenauer e Prochnik (2000).<br />
Por isto, o método empregado é denominado de Método Haguenauer.<br />
A delimitação de macro cadeias é um exercício de identificação de clusters, em uma matriz<br />
de trocas entre setores, desenvolvida a partir da matriz de insumo-produto. O processo de<br />
delimitação gera uma base de dados sobre as cadeias e seus inter-relacionamentos. A interpretação<br />
dessa informação permite discutir as características estruturais da economia em análise.<br />
Posteriormente, busca-se agregar, à base de dados, informação sobre o crescimento dos setores<br />
considerados, para analisar tanto a dinâmica do crescimento das cadeias como as mudanças na<br />
composição intra e intercadeias.<br />
Em Haguenauer et al (1986), foram encontradas cinco grandes cadeias, então denominadas<br />
de macrocomplexos (construção civil, metal-mecânico, químico, têxtil/ calçados e agroindustrial)<br />
e uma cadeia mais isolada (papel e gráfica). Os macrocomplexos foram segmentados, por sua vez,<br />
em 22 microcomplexos. Cada microcomplexo estava completamente inserido dentro de um<br />
macrocomplexo.<br />
122 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Neste trabalho, por exemplo, chegou-se às mesmas estruturas, mas com composições setoriais<br />
um pouco diferentes das anteriormente encontradas (as diferenças são explicadas na seção 2.7.2).<br />
Como também explicado nesta seção, optou-se por incluir a cadeia papel e gráfica na cadeia<br />
agroindustrial.<br />
Por último, note-se que há uma tendência de conjugar os termos cadeias produtivas e clusters<br />
(aglomerações) em definições complementares. Nessa ótica, os clusters estariam nos nós das cadeias.<br />
No entanto, essa visão nos parece equivocada. As estruturas de produção local também se apóiam<br />
em cadeias produtivas, como mostram os próprios estudos sobre agrupamentos produtivos.<br />
Assim, os estudos sobre aglomerações locais também são, na maior parte das vezes, trabalhos<br />
sobre cadeias produtivas. Neste capítulo, as cadeias produtivas referidas são cadeias localizadas<br />
e/ou mais restritas, em termos de composição setorial e alcance geográfico.<br />
2.2.2. Estudo das oportunidades de investimento através da<br />
metodologia das cadeias produtivas<br />
A análise de cadeias produtivas procura articular conjuntos de setores econômicos,<br />
estabelecendo padrões de comportamento e linhas de causalidade. O objetivo da utilização das<br />
cadeias produtivas e dos complexos industriais é exatamente este, o de pesquisar padrões de<br />
interdependência, afastando-se, nesse sentido, da tradição de análise setorial.<br />
Em particular, nota-se que cresce a interdependência entre os setores, reforçando a importância<br />
do conceito de cadeia produtiva. Por exemplo, segundo Hammond (2001), os determinantes da<br />
competitividade, agora, podem ser encontrados nas formas de relacionamento entre empresas, ao<br />
longo das cadeias e, não, ao nível das empresas consideradas individualmente. O autor se refere à<br />
cadeia têxtil, mas suas proposições também se aplicam às demais cadeias industriais:<br />
“Proposição 1: os setores de varejo, confecções e têxteis são crescentemente ligados como um<br />
canal através de relações de informação e distribuição. Então, o canal, em vez da firma, se<br />
torna a base para a competição.<br />
Proposição 2: para os fabricantes de têxteis e confecções, a chave para o sucesso é a<br />
habilidade de introduzir elos de informação sofisticados, capacidades de previsão e sistemas<br />
de administração — isto é, gestão da cadeia de fornecimento.<br />
Proposição 3: a fábrica pode gerar benefícios competitivos só se outras mudanças mais<br />
fundamentais na gestão da cadeia de fornecimento tiverem sido previamente introduzidas.”<br />
— Hammond (2001, 4/8).<br />
Muitas questões têm sido estudadas no nível de análise das macrocadeias. Entre estas,<br />
pode ser citado o padrão de especialização da economia regional, as formas de articulação<br />
interindustriais, a composição do crescimento conjunto das várias indústrias e cadeias, as decisões<br />
de investimento em bloco e, em particular, de diversificação, identificação de indústrias motrizes<br />
e de setores estratégicos, etc.<br />
Por exemplo, estudo recente sobre oportunidades de investimento na Região Nordeste —<br />
Haguenauer e Prochnik (2000) — observou que as cadeias nordestinas são mais atrasadas do que<br />
as brasileiras em três sentidos diferentes: 1) no Nordeste, é maior a participação relativa de cadeias<br />
de produtos tradicionais; 2) as cadeias da Região Nordeste são mais esgarçadas, havendo diversas<br />
brechas dentro delas e 3) dentro de cada cadeia nordestina, em comparação com a mesma cadeia<br />
para a economia brasileira, é maior a participação das atividades mais tradicionais da cadeia.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 123<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A análise de processos regionais de investimento é uma das aplicações mais úteis do conceito<br />
de cadeia produtiva. De fato, entre os principais determinantes das decisões de investimento<br />
estão o crescimento recente e as perspectivas de crescimento da demanda, nos setores clientes, e<br />
a disponibilidade de oferta local de insumos, nos setores fornecedores.<br />
No estudo sobre a Região Nordeste, a análise das oportunidades de investimento chegou a<br />
resultados muito variados, indicando que essas são muito diversificadas. O mesmo ocorre em Minas<br />
Gerais. A rica base mineral e o grande potencial para agricultura, no Estado, assim como a existência de<br />
uma indústria bastante diversificada fazem com que as oportunidades de investimento sejam várias.<br />
Por essa razão, em vez de apontar oportunidades de investimento pontuais, este trabalho<br />
procura agregar as oportunidades de investimento segundo alvo de política pública, em uma<br />
tipologia. A tipologia proposta, apresentada na seção de conclusões (seção 2.6), também leva em<br />
consideração, além das oportunidades de investimento, a inserção internacional da cadeia produtiva<br />
e as possibilidades de aprimoramento tecnológico e de aumento da produtividade.<br />
A tipologia foi criada para orientar a política de Governo. Para cada tipo de cadeia, propõe-se<br />
uma política diferente. Essa tipologia orienta a análise realizada neste trabalho. Na seção final, que<br />
apresenta as conclusões, são apresentadas propostas de programas diferenciados por tipo de cadeia.<br />
Por último, note-se que, entre os fatores que impulsionam o desenvolvimento econômico,<br />
especial atenção tem sido dada à introdução e difusão de progresso técnico e do conhecimento,<br />
globalização e ao papel das instituições. A globalização e a difusão de tecnologia se articulam à<br />
análise de cadeias na tipologia proposta na seção 2.6.<br />
Finalmente, pode-se tecer alguns comentários sobre como a análise de cadeias produtivas<br />
considera o papel das instituições. Esse aspecto é visível quando se tem em conta a diferença entre o<br />
conceito de cadeia e o alcance dos estudos sobre cadeias produtivas. Enquanto o conceito de cadeia<br />
produtiva é bastante restrito, incluindo apenas a seqüência de atividades de transformação, os estudos<br />
sobre cadeias produtivas abordam todo o entorno das cadeias, incluindo serviços especializados,<br />
organizações e programas governamentais, consumo, trabalho e instituições. Em particular, reconhecese<br />
tanto a relevância das organizações locais e das regras formais como a das regras informais.<br />
Por exemplo, quanto às atividades de serviços, o conceito de cadeia produtiva, em seu<br />
sentido estrito, não as abrange porque as atividades de serviço consomem relativamente poucos<br />
produtos industriais. Assim, não se caracterizam, propriamente, cadeias de transformação. Mas o<br />
estudo das cadeias produtivas abrange a dinâmica das demais atividades e instituições estreitamente<br />
relacionadas com essa transformação.<br />
Assim, em muitos casos, se observa a criação de instituições bilaterais ou coletivas que<br />
potencializam os efeitos para frente ou para trás. As parcerias entre empresas e a organização de<br />
supply chain management são formas de buscar ampliar os resultados da operação conjunta de empresas<br />
postadas ao longo das cadeias. Centros de pesquisa regionais, organizações de feiras de vendas de<br />
produtos e/ou de aquisição de insumos especializados e máquinas têm o mesmo efeito, aumentando<br />
a eficiência dos processos ou as vendas dos produtos finais.<br />
Enfim, há uma ampla variedade de iniciativas conjuntas que busca explorar as vantagens<br />
do esforço coletivo. Nos ambientes em que essas estratégias são mais bem-sucedidas, o crescimento<br />
da produção é maior e as oportunidades de investimento mais numerosas.<br />
Observe-se que, ao lado dos fatores citados, que operam ao nível mesoeconômico, a análise<br />
de novas oportunidades de investimento, neste estudo, também leva em consideração os<br />
condicionantes macroestruturais (disponibilidade de financiamento, custo da mão-de-obra, etc.)<br />
e o comportamento dos agentes (empresas locais, empresas de outras regiões, etc.).<br />
124 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
2.3. A participação de Minas Gerais na economia<br />
brasileira<br />
Neste estudo, foram delimitadas cadeias produtivas para os estados de Minas Gerais, do<br />
Rio de Janeiro e de São Paulo. A estas, foram agregados os resultados obtidos por Haguenauer<br />
et al (2001), para o Brasil. Nos quatro casos, chegou-se à delimitação de cinco grandes cadeias,<br />
construção civil, metal-mecânica, química, têxtil e calçados e agroindústria. A metodologia<br />
está apresentada na seção 2.7.<br />
2.3.1. Estrutura comparada da produção do Brasil e dos estados de<br />
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo<br />
A TAB. 2 apresenta a participação relativa das cadeias produtivas estaduais no valor agregado<br />
da economia brasileira. Em geral, elas mostram que cerca de um décimo da atividade das cadeias<br />
produtivas brasileiras ocorre no Estado de Minas Gerais e, também, no Estado do Rio de Janeiro.<br />
Aproximadamente um terço dessa atividade econômica é realizada em São Paulo — note-se que<br />
a atividade das cadeias produtivas abrange praticamente toda atividade industrial (com exceção<br />
das indústrias diversas), agropecuária e construção civil.<br />
TABELA 2<br />
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR AGREGADO DAS CADEIAS PRODUTIVAS<br />
REGIONAIS NA RESPECTIVA CADEIA BRASILEIRA<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BRASIL<br />
Construção civil 13,1 9,9 17,3 100,0<br />
Metal-mecânica 16,0 7,5 56,9 100,0<br />
Química 4,0 17,2 32,7 100,0<br />
Têxtil 5,6 9,0 54,6 100,0<br />
Agroindústria 11,5 4,9 28,0 100,0<br />
Total cadeias 11,5 8,9 32,3 100,0<br />
Serviços 8,8 14,3 29,1 100,0<br />
TOTAL 9,8 12,3 30,3 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
A TAB. 3 mostra a distribuição do valor agregado das cadeias produtivas nos três Estados<br />
e no País. Em Minas Gerais, as cadeias cuja participação do valor agregado no total da economia<br />
é maior do que a brasileira são: a metal-mecânica, construção civil e agroindústria.<br />
São Paulo também é mais especializado na metal-mecânica, mas, dentro dessa cadeia, as<br />
especializações de São Paulo e Minas Gerais são bastante diferenciadas, como visto adiante,<br />
neste trabalho. A economia fluminense, por sua vez, é mais especializada na cadeia química e nos<br />
setores de serviços.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 125<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Outra cadeia que merece destaque é a química, por ter reduzida expressão no Estado. Mais<br />
ainda, parte significativa da química de Minas Gerais é especializada no atendimento à atividade<br />
agropecuária. Por isto, como explicado na seção sobre metodologia de delimitação de cadeias<br />
produtivas, a indústria farmacêutica mineira foi incluída na cadeia agropecuária e, não, na cadeia<br />
química, como em outros estados.<br />
A dimensão relativamente reduzida dos setores de serviços, em Minas Gerais, decorre, em<br />
parte, da especialização do Estado em setores produtores de commodities. Estratégias de crescimento<br />
que visem adicionar maior valor agregado a esses setores também levarão a um crescimento mais<br />
que proporcional dos setores de serviços mais intensivos em conhecimento, como propaganda,<br />
serviços de logística, serviços ligados à moda, etc.<br />
São Paulo, além da proeminente participação na cadeia metal-mecânica, também detém<br />
grande parte da atividade brasileira da cadeia têxtil e de confecções. Como esta cadeia costuma<br />
procurar áreas de salários mais baixos, fases de desconcentração geográfica da industria de São<br />
Paulo, beneficiam investimentos produtivos em várias regiões de Minas Gerais.<br />
Outra atividade da economia paulista que foge ao padrão do Estado é a construção civil,<br />
que tem participação, em São Paulo, menos intensa do que no Brasil.<br />
TABELA 3<br />
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR AGREGADO DAS CADEIAS PRODUTIVAS NO VALOR AGREGADO<br />
DO RESPECTIVO ESTADO, REGIÃO OU VALOR AGREGADO DA ECONOMIA BRASILEIRA<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BRASIL<br />
Construção civil 33,5 32,6 15,7 29,3<br />
Metal-mecânica 27,1 16,3 34,3 19,4<br />
Química 5,3 29,3 15,4 15,1<br />
Têxtil 2,0 4,1 6,8 4,0<br />
Agroindústria 32,2 17,7 27,9 32,1<br />
Total cadeias 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Cadeias produtivas 44,3 27,4 40,2 37,8<br />
Serviços 55,7 72,6 59,8 62,2<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
As cadeias de maior dimensão, na economia brasileira, são as cadeias agroindustrial e<br />
construção civil. Minas Gerais diferencia-se da especialização brasileira, pois concentra 27% do<br />
seu valor adicionado na metal-mecânica, enquanto no Brasil este valor é de 19,4%.<br />
2.3.2. Origem comparada da produção do Brasil e dos estados de Minas<br />
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo<br />
A TAB. 4 mostra a origem dos insumos consumidos na produção. Para cada cadeia e estado,<br />
os insumos são classificados segundo sua origem: se na própria região, em outro estado ou no exterior.<br />
Minas Gerais segue um padrão intermediário ao do Rio de Janeiro, em geral mais aberto a<br />
compras de outros estados e países, e de São Paulo, mais fechado. Nota-se, também, que há um<br />
126 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
padrão consistente, em todas cadeias de Minas Gerais e, também, no setor de serviços, os insumos<br />
do próprio Estado compõem entre 60% (química) e 75% (construção civil) do consumo para<br />
produção, os de outros Estados 21 e 32% respectivamente e, os importados, 3% e 14%.<br />
O padrão do Rio de Janeiro é bastante diferenciado. Na construção civil e no setor de<br />
serviços, as compras são mais internalizadas do que em outros estados. Já na metal-mecânica e na<br />
agroindústria, as compras interestaduais são maiores do que as compras intra-estaduais.<br />
São Paulo, por sua vez, tem um terceiro padrão. As cadeias são ainda mais autônomas do<br />
que as cadeias de Minas Gerais. Apenas na cadeia química as compras internas são inferiores a<br />
70% das compras totais.<br />
TABELA 4<br />
ORIGEM DOS INSUMOS DE PRODUÇÃO DAS CADEIAS DE MINAS GERAIS,<br />
RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO – 1996<br />
MG RJ SP<br />
Construção Civil Estadual 74,8 91,7 82,8<br />
Outros estados 21,3 7,7 15,4<br />
Internacional 3,9 0,6 1,8<br />
Total 100,0 100,0 100,0<br />
Metal-Mecânico Estadual 62,3 38,5 76,0<br />
Outros estados 26,9 49,7 15,7<br />
Internacional 10,8 11,8 8,3<br />
Total 100,0 100,0 100,0<br />
Química Estadual 59,6 72,7 66,8<br />
Outros estados 26,1 9,3 24,5<br />
Internacional 14,3 18,0 8,7<br />
Total 100,0 100,0 100,0<br />
Têxtil Estadual 61,5 63,4 72,8<br />
Outros estados 27,4 33,8 19,3<br />
Internacional 11,1 2,8 7,8<br />
Total 100,0 100,0 100,0<br />
Agroindústria Estadual 64,7 51,6 72,1<br />
Outros estados 32,2 41,1 25,0<br />
Internacional 3,2 7,3 2,9<br />
Total 100,0 100,0 100,0<br />
Cadeias Produtivas Estadual 65,2 60,5 74,5<br />
Outros estados 27,3 29,5 19,8<br />
Internacional 7,4 10,0 5,7<br />
Total 100,0 100,0 100,0<br />
Serviços Estadual 65,0 95,4 78,2<br />
Outros estados 28,8 1,5 19,2<br />
Internacional 6,1 3,1 2,6<br />
Total 100,0 100,0 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
2.3.2.1. Importações de outros estados<br />
A TAB. 5 aborda a mesma questão, origem das compras de insumos, por outro ângulo. Ela<br />
mostra a dimensão relativa das compras interestaduais nos três Estados. Nota-se que tanto o<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 127<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Estado de Minas Gerais como o do Rio de Janeiro são o destino de cerca de um sétimo das vendas<br />
interestaduais de insumos para produção. São Paulo, realizando um pouco mais de dois terços das<br />
compras, é o grande mercado intersetorial.<br />
TABELA 5<br />
PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES INTERESTADUAIS NO TOTAL DAS IMPORTAÇÕES<br />
INTERESTADUAIS DOS TRÊS ESTADOS<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP TRÊS ESTADOS<br />
Construção civil 21,1 7,9 71,0 100,0<br />
Metal-mecânica 17,8 29,1 53,4 100,0<br />
Química 8,4 12,0 78,6 100,0<br />
Têxtil 7,7 28,1 64,2 100,0<br />
Agroindústria 14,9 18,4 66,7 100,0<br />
Cadeias produtivas 15,4 20,5 64,1 100,0<br />
Serviços 13,8 1,7 84,5 100,0<br />
TOTAL 14,9 14,7 70,4 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
A TAB.6 mostra que, em todos os estados analisados, as compras de insumos são concentradas<br />
nas cadeias metal-mecânica e agroindustrial. Estas são exatamente as cadeias produtivas nas quais a<br />
economia de Minas Gerais é relativamente mais especializada. O grande volume de importações<br />
indica existência de oportunidades de investimento para o adensamento dessas cadeias.<br />
Na maior das cadeias produtivas, na construção civil a participação das compras é bem menor,<br />
indicando que a cadeia, no Estado, é bem integrada. Novas oportunidades de investimento, neste<br />
caso, estão mais correlacionadas com o aumento da competitividade da cadeia e conseqüente<br />
ampliação do mercado inter-regional. Na seção 2.5, é discutida uma proposta para o aumento da sua<br />
eficiência técnica.<br />
Entretanto, ainda existe, na construção civil, oportunidades de investimento no adensamento<br />
da cadeia. Um indicador dessa possibilidade é a maior abertura, para outros estados, das compras<br />
interestaduais, quando comparadas com abertura dos outros dois estados (TAB. 6). Por exemplo,<br />
parte do granito extraído em Minas Gerais é beneficiado no Espírito Santo e retorna cortado e polido<br />
para consumidores mineiros.<br />
Finalmente, a TAB. 6 informa que as compras interestaduais de insumos têxteis e químicos<br />
são relativamente menos importantes. No caso da cadeia têxtil, isto se deve à sua pequena participação<br />
no valor agregado da economia de Minas Gerais. A cadeia têxtil, relativamente às demais cadeias, é<br />
bastante aberta para compras em outros estados e há, presentemente, por exemplo, uma discussão<br />
sobre a viabilidade de se implantar um programa de cultivo do algodão.<br />
A fronteira agrícola do Centro-Oeste vem se expandindo e se apresenta como um novo<br />
concorrente para a agricultura mineira. Os baixos custos apresentados, nessas áreas, no<br />
desenvolvimento de determinadas culturas, devem ser levados em consideração no momento de se<br />
investir nesse setor em Minas. Atividades em que Minas é naturalmente mais competitiva requerem<br />
investimentos de menor porte, como o café. Investimentos no plantio de algodão e soja, culturas nas<br />
quais a região é muito competitiva, requerem novos investimentos em pesquisa, para tornarem-se<br />
mais atraentes.<br />
128 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 6<br />
ESTRUTURA DAS IMPORTAÇÕES INTERESTADUAIS<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP TRÊS ESTADOS<br />
Construção Civil 15,5 4,4 12,6 11,3<br />
Metal-Mecânica 39,8 49,2 28,6 34,4<br />
Química 7,6 8,0 17,0 13,9<br />
Têxtil 2,2 6,2 4,5 4,5<br />
Agroindústria 34,8 32,3 37,3 35,9<br />
Cadeias Produtivas 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Cadeias Produtivas 71,4 96,4 62,9 69,1<br />
Serviços 28,6 3,6 37,1 30,9<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
2.3.2.2. Importações de outros países<br />
A TAB. 7 mostra a participação das importações das cadeias produtivas estaduais na<br />
respectiva cadeia brasileira. Sendo adquiridas como insumos de processos produtivos, são, portanto,<br />
importações de matérias-primas e produtos intermediários. Novamente, em todos os casos, São<br />
Paulo é o principal destino das importações. Minas Gerais está no extremo oposto, sendo o estado<br />
que menos importa insumos e matérias-primas do exterior.<br />
O valor das importações mineiras e fluminenses do complexo metal-mecânico foram<br />
semelhantes em 1996. A base da indústria metal-mecânica é bastante desenvolvida em Minas e<br />
esse nível de importações está relacionado com a concentração do final da cadeia em torno a uma<br />
única indústria, a automobilística. A concentração em torno a essa atividade possibilita a existência<br />
de elos frágeis, que são complementados com importações.<br />
TABELA 7<br />
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS IMPORTAÇÕES DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS<br />
NA RESPECTIVA CADEIA BRASILEIRA<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BRASIL<br />
Construção civil 11,3 1,8 24,3 100,0<br />
Metal-mecânica 12,7 12,4 49,9 100,0<br />
Química 3,6 17,9 22,0 100,0<br />
Têxtil 3,6 2,8 30,7 100,0<br />
Agroindústria 6,5 14,4 33,8 100,0<br />
Cadeias produtivas 8,0 13,1 34,8 100,0<br />
Serviços 7,7 9,1 29,5 100,0<br />
TOTAL 7,9 12,1 33,5 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
A TAB. 8 apresenta a estrutura das importações para produção. O padrão dos três estados,<br />
nesse aspecto, é semelhante. As maiores importações ocorrem na cadeia metal-mecânica, onde<br />
são classificadas as máquinas e os componentes eletroeletrônicos. Estes dois setores, juntamente<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 129<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
com os insumos químicos, são precisamente os que estão na fronteira atual da substituição<br />
competitiva de importações, como comentado anteriormente, e merecem atenção especial.<br />
A menor participação desses setores na economia de mineira coloca um desafio para este<br />
Estado. Isto porque o crescimento acelerado da substituição de importações tende a desfavorecer<br />
o desenvolvimento industrial de Minas, em relação aos estados mais propícios à localização desses<br />
setores com grande potencial de investimento.<br />
A estrutura das importações revela que 58% das importações de Minas Gerais têm como<br />
destino o complexo metal-mecânico. Apesar de São Paulo e do Rio de Janeiro também apresentarem<br />
grande especialização de importações para esse complexo, o maior percentual é o mineiro. Este<br />
dado enfatiza o esgarçamento do complexo metal-mecânico em Minas e no Brasil.<br />
TABELA 8<br />
130 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
ESTRUTURA DAS IMPORTAÇÕES<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BRASIL<br />
Construção civil 10,6 1,0 5,2 7,4<br />
Metal-mecânica 58,4 34,6 52,3 36,5<br />
Química 15,2 46,0 21,2 33,5<br />
Têxtil 3,3 1,5 6,4 7,2<br />
Agroindústria 12,5 16,9 15,0 15,4<br />
Total cadeias 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Cadeias produtivas 76,2 81,7 78,5 75,6<br />
Serviços 23,8 18,3 21,5 24,4<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
2.3.3. Destino comparado da produção do Brasil e dos estados de Minas<br />
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo<br />
2.3.3.1. Destino dentro do País e respectivo Estado<br />
A TAB. 9 mostra a estrutura da produção vendida para demanda final. Em Minas Gerais,<br />
destacam-se as baixas participações das cadeias química e têxtil. A cadeia química vende pouco<br />
para a demanda final porque está muito relacionada com a cadeia agroindustrial. As baixas vendas<br />
da cadeia têxtil, por sua vez, indicam o porte relativamente pequeno do setor de confecções.<br />
Note-se que, na construção das matrizes de insumo-produto, é usual a estimativa da produção<br />
informal de alguns setores, entre os quais o de confecções. Por isto, o baixo valor das vendas da<br />
cadeia têxtil não é uma conseqüência de uma possível subestimativa do setor de confecções.<br />
A demanda final do complexo metal-mecânico em Minas Gerais concentra-se em apenas<br />
três setores: fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, siderurgia e extrativa mineral. Esses<br />
setores concentram 92% da demanda final do complexo. O primeiro setor participa com<br />
aproximadamente 51% de demanda final, enquanto o segundo, 32%, e o terceiro, 9%.<br />
Dentre os demais setores, encontram-se fabricação de máquinas, eletroeletrônicos e material<br />
elétrico. O fato da demanda final desses setores em Minas ser tão baixo, sendo que estes são bens<br />
de consumo final, indica que o complexo metal-mecânico em Minas Gerais apresenta falhas.
A falta de complementaridade dos setores de um complexo gera ganhos em pesquisa &<br />
desenvolvimento, na aquisição de insumos e nas inovações. Assim, a possibilidade de substituição<br />
competitiva de importações se apresenta como uma saída para o adensamento dessa cadeia,<br />
ampliando a competitividade da indústria mineira.<br />
Os três setores da agroindústria que têm maior valor de vendas para demanda final em<br />
Minas Gerais são agropecuária, abate e preparação de carnes e indústria do café. As participações<br />
desses setores são 37%, 20% e 14%, respectivamente. Somando-se à demanda final desses três<br />
setores obtém-se 71% da demanda final para a agroindústria de Minas.<br />
TABELA 9<br />
ORIGEM DA DEMANDA FINAL SEGUNDO COMPLEXOS (PERCENTAGEM)<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP BRASIL<br />
Construção Civil 37,7 22,7 28,0 32,9<br />
Metal-Mecânica 34,4 27,7 31,9 21,8<br />
Química 3,3 20,5 9,2 6,8<br />
Têxtil 1,2 6,3 5,9 5,8<br />
Agroindústria 23,4 22,8 25,0 32,7<br />
Cadeias Produtivas 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Cadeias Produtivas 48,1 45,9 46,6 40,9<br />
Serviços 51,9 54,1 53,4 59,1<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002).<br />
Os dados acima discutidos, tanto para a agroindústria, quanto para a metal-mecânica,<br />
apontam para uma concentração excessiva das cadeias mineiras nos setores da base do complexo.<br />
Na agroindústria, o terceiro setor em vendas para demanda final é a indústria do café que, apesar<br />
de não se constituir num setor de base da cadeia, é um produto no qual Minas é especializado. No<br />
caso da metal-mecânica, os setores que mais vendem para demanda final também são de base,<br />
com exceção do setor automobilístico.<br />
Na agroindústria de São Paulo e do Rio de Janeiro, o setor que mais vende para demanda<br />
final é outras indústrias alimentares e de bebidas, com respectivamente 30% e 32%. Este setor<br />
localiza-se no topo da cadeia e por isso concentra um grande volume de vendas para demanda<br />
final. Também é importante notar que a agropecuária aparece em segundo lugar em ambos os<br />
estados.<br />
A TAB. 10 mostra que São Paulo é o maior exportador para outros estados, seguido de<br />
Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As vendas interestaduais de Minas decorrem da sua posição<br />
privilegiada nas indústrias de base, com exceção da cadeia química e, também, da competitividade<br />
de algumas indústrias (como, por exemplo, automóveis e fertilizantes).<br />
São Paulo é o maior exportador interestadual e, simultaneamente, o maior importador dentre<br />
os três estados analisados, o que evidencia sua característica de centro dinâmico da economia<br />
brasileira, apresentando competências inexistentes em outras regiões e servindo como elo de algumas<br />
cadeias nacionais.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 131<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Minas Gerais é o segundo maior exportador interestadual, dentre os três estados, e suas<br />
vendas concentram-se em duas cadeias, construção civil e agroindústria. É importante lembrar<br />
que o complexo metal-mecânico também é uma atividade na qual o Estado é muito competitivo.<br />
Entretanto, a concentração de suas vendas em um único setor, o automobilístico, faz com que o<br />
segmento mineiro apresente valores pequenos, comparativamente ao paulista.<br />
TABELA 10<br />
PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS INTERESTADUAIS NO TOTAL DE VENDAS INTERESTADUAIS<br />
DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO TOTAL<br />
Construção Civil 43,6 1,4 55,3 100,0<br />
Metal-Mecânica 23,3 6,4 64,1 100,0<br />
Química 17,1 32,2 65,4 100,0<br />
Têxtil 20,5 2,7 77,8 100,0<br />
Agroindústria 29,3 6,6 65,4 100,0<br />
Cadeias Produtivas 25,5 11,1 64,8 100,0<br />
Serviços 14,0 7,1 78,0 100,0<br />
TOTAL 21,2 9,6 69,8 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
No perfil das vendas interestaduais, apresentado na TAB. 11, observa-se que as cadeias<br />
que mais vendem produtos para outros estados são a metal-mecânica e a agroindústria. No<br />
nível das cadeias produtivas, o perfil de exportações interestaduais de Minas Gerais é<br />
relativamente semelhante ao de São Paulo, com maior participação nas cadeias metal-mecânica<br />
e agroindústria. As vendas do Rio de Janeiro, por sua vez, são concentradas nas cadeias metalmecânica<br />
e química.<br />
TABELA 11<br />
ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES INTERESTADUAIS<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP<br />
Construção Civil 11,7 0,9 5,9<br />
Metal-Mecânica 34,5 20,0 37,4<br />
Química 11,2 57,9 16,8<br />
Têxtil 3,9 1,2 5,9<br />
Agroindústria 38,6 20,1 34,0<br />
Cadeias Produtivas 100,0 100,0 100,0<br />
Cadeias Produtivas 74,9 72,6 57,6<br />
Serviços 25,1 27,4 42,4<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
132 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
A TAB. 12 confirma a maior desconcentração das vendas de Minas Gerais e São Paulo, em<br />
relação às vendas do Rio de Janeiro, e acrescenta outro fato relevante. Tanto Minas Gerais como<br />
São Paulo são economias mais abertas para o comércio interestadual do que o Rio de Janeiro.<br />
TABELA 12<br />
COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES INTERESTADUAIS<br />
NA PRODUÇÃO DO ESTADO DE ORIGEM<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP<br />
Construção Civil 18,2 0,7 14,7<br />
Metal-Mecânica 37,2 15,9 34,0<br />
Química 50,1 28,5 37,5<br />
Têxtil 51,8 3,9 30,0<br />
Agroindústria 40,7 14,2 36,2<br />
Cadeias Produtivas 35,5 16,1 32,4<br />
Serviços 17,3 5,6 23,3<br />
TOTAL 28,1 10,6 27,8<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
2.3.3.2. Exportações internacionais<br />
As exportações de Minas Gerais são concentradas nas cadeias metal-mecânica e<br />
agroindustrial (TAB. 13). A TAB. 4, por sua vez, mostra que as exportações, como destino da<br />
produção, são mais importantes para Minas Gerais do que São Paulo e Rio de Janeiro. A cadeia<br />
metal-mecânica é particularmente intensiva em exportações. A competitividade internacional de<br />
diversos segmentos da cadeia deve ser vista como alavanca para o seu adensamento, pelas<br />
oportunidades de investimento que ela pode abrir.<br />
TABELA 13<br />
ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES ESTADUAIS E BRASILEIRA<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP BRASIL<br />
Construção Civil 1,8 1,8 0,9 10,3<br />
Metal-Mecânica 69,9 57,1 55,2 38,0<br />
Química 4,5 31,5 10,2 10,0<br />
Têxtil 1,6 2,7 5,5 8,0<br />
Agroindústria 22,2 6,9 28,3 33,6<br />
Outros 0,0 0,0 0,0 0,1<br />
Cadeias Produtivas 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Cadeias Produtivas 99,9 84,0 80,4 86,3<br />
Serviços 0,1 16,0 19,6 13,7<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 133<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 14<br />
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO 1<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP BRASIL<br />
Construção Civil 0,7 0,2 0,5 3,4<br />
Metal-Mecânica 25,3 7,3 15,4 11,6<br />
Química 8,5 2,9 7,4 4,2<br />
Têxtil 9,4 1,2 8,1 10,7<br />
Agroindústria 8,3 0,8 9,6 7,0<br />
Cadeias Produtivas 11,6 2,6 9,7 7,0<br />
Serviços 0,0 0,4 2,0 1,1<br />
TOTAL 6,1 1,4 5,6 4,1<br />
Nota: 1 o coeficiente de exportações é a participação percentual das exportações no valor bruto da produção.<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
134 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
2.4. A evolução recente das cadeias produtivas<br />
do Estado de Minas Gerais<br />
2.4.1. Evolução do produto industrial<br />
A economia brasileira cresceu lentamente, no final da década de noventa. Na indústria, o<br />
crescimento foi quase nulo, como mostra a TAB. 15 — note-se que as tabelas desta seção não<br />
contém dados sobre o setor agropecuário.<br />
No período 1996/2000, o pior resultado foi o de São Paulo, cujo produto industrial declinou<br />
mais de 7%. O maior declínio deste Estado é mais uma evidência do processo de desconcentração da<br />
indústria paulista. Esse processo avançou mais nos setores tradicionais. Parcela significativa da indústria<br />
de calçados, por exemplo, migrou para o Nordeste, beneficiada pelos baixos salários, incentivos fiscais<br />
e boas condições de produção encontrados naquela região — Une & Prochnik (2000). Os investimentos<br />
em fiação e tecelagem, no Nordeste, também cresceram muito, no mesmo período — Prochnik (2002).<br />
O Rio de Janeiro, por sua vez, se beneficiou do avanço na base da cadeia química, através<br />
do aumento da extração de petróleo e de seu refino, mas sem conseguir integrar essa produção<br />
para os setores mais à frente na cadeia.<br />
Em Minas Gerais, como mostram as TAB. 16 e TAB. 17, cresceu o produto das cadeias da<br />
construção civil, metal-mecânica e química. A evolução favorável da cadeia da construção civil é<br />
explicada pelo crescimento da produção de minerais não-metálicos (produtos de vidro, cimento e<br />
cal), que contrabalançou o declínio da fabricação de móveis.<br />
A cadeia agroindustrial de Minas Gerais declinou no período de 1996-2000. A taxa para o<br />
Estado é menor do que a observada no Brasil, durante o mesmo período. Esse fato deve-se à<br />
rápida expansão da agroindústria do Centro-Oeste no período. Essa nova fronteira agrícola aparece<br />
como uma forte concorrente às agroindústrias de Minas e São Paulo.<br />
Na cadeia metal-mecânica, a evolução entre os microcomplexos é variada 4 . Mas o quadro<br />
geral é de maior esgarçamento, principalmente nos setores após a base da cadeia. Em uma ponta,<br />
cresce a produção siderúrgica e, na outra, apesar da queda da produção automobilística, aumenta<br />
a produção de peças e componentes. Entretanto, cai a produção dos setores intermediários mais<br />
próximos à base da cadeia, isto é, a indústria mecânica e a fabricação de outros produtos<br />
metalúrgicos, como estruturas metálicas e produtos forjados.<br />
Examinando os microcomplexos, nota-se que, na produção de bens de capital, aumenta a<br />
fabricação de máquinas de uso geral e diminui a fabricação de motores, bombas, tanques e caldeiras.<br />
Também cai a produção de estruturas metálicas, possivelmente devido à retração da construção<br />
pesada, principalmente obras industriais, no final da década. No microcomplexo automobilístico,<br />
aumenta a integração da cadeia produtiva. Apesar da queda da produção de automóveis (entre 1996<br />
e 2000, a taxa foi de -2,8% ao ano), cresce a produção de peças e componentes (5,9% ao ano) e de<br />
material elétrico para veículos.<br />
A cadeia química, por sua vez, se expande no final dos anos 90. O aumento da produção da<br />
cadeia química é derivado do crescimento dos seguintes setores: refino de petróleo, plásticos e<br />
fertilizantes.<br />
4 Os dados mencionados nos próximos parágrafos são oriundos da Pesquisa Industrial Anual - PIA/IBGE.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 135<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
As cadeias cuja produção declina são a têxtil e a agroindustrial. Na têxtil, a produção cai em<br />
todos os elos, com destaque para o setor de calçados. Na agroindustrial, por um lado, diminuem a<br />
produção de bebidas (-11,7% ao ano, entre 1996/2000), produtos alimentícios (9,9%), produtos<br />
de fumo (-31,3%), abate e preparação de carnes (-14,7%) e indústria do café (-15,2%) e leite e<br />
laticínios (-6,1%). Por outro lado, aumenta a fabricação de produtos farmacêuticos (9,2%), sabões<br />
e limpeza (10,8%), celulose, papel e produtos de papel (20,7% ao ano) e açúcar (9,1%).<br />
TABELA 15<br />
TAXA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO DO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO<br />
INDUSTRIAL - 1996/2000<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP BR<br />
Construção Civil 4,5 -2,9 0,1 2,4<br />
Metal-Mecânica 2,4 -0,8 -2,7 -0,6<br />
Químico 11,3 15,1 3,2 6,6<br />
Têxtil -3,9 -10,5 -7,8 -3,7<br />
Agroindustrial -6,6 -7,7 -5,2 -3,7<br />
TOTAL 0,9 3,2 -1,8 0,4<br />
FONTE: IBGE - PIA 1999 e PIA 2000<br />
TABELA 16<br />
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL POR CADEIA<br />
PRODUTIVA PARA O BRASIL E O ESTADO DE MINAS GERAIS - 1996/2000<br />
CADEIAS PRODUTIVAS MG BR<br />
Construção Civil 7,0 8,0 8,2 8,9<br />
Metal-Mecânico 51,3 54,5 32,9 31,7<br />
Químico 8,1 12,0 22,4 28,4<br />
Têxtil 6,0 5,0 8,0 6,8<br />
Agroindustrial 27,0 19,9 27,6 23,4<br />
Serviços Industriais 0,5 0,6 0,9 0,8<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTE: IBGE - PIA 1999 e PIA 2000<br />
TABELA 17<br />
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL POR CADEIA<br />
PRODUTIVA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DE SÃO PAULO - 1996/2000<br />
CADEIAS PRODUTIVAS RJ SP<br />
Construção Civil 4,6 3,6 4,8 5,2<br />
Metal-Mecânico 29,6 25,3 37,9 36,6<br />
Químico 33,1 51,1 25,2 30,8<br />
Têxtil 5,3 3,0 6,2 4,9<br />
Agroindustrial 25,9 16,6 24,9 21,7<br />
Serviços Industriais 1,5 0,4 1,0 0,9<br />
Total 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTE: IBGE - PIA 1999 e PIA 2000<br />
136 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
2.4.2. Evolução recente do comércio internacional<br />
As tabelas seguintes mostram a evolução recente das exportações e importações das cadeias<br />
produtivas do Brasil e dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O período foi<br />
segmentado em duas fases, até 1999 e 1999/2001.<br />
Nas duas cadeias mais importantes para Minas Gerais, o comportamento das exportações é<br />
inverso ao comportamento das exportações brasileiras. Enquanto, no Brasil, após 1999, as<br />
exportações nas cadeias metal-mecânica e agroindustrial crescem mais rapidamente, em Minas, as<br />
exportações dessas duas cadeias diminui. No caso da cadeia metal-mecânica, a queda das exportações<br />
se deve à diminuição das vendas externas do setor automotivo e à perda de participação das<br />
exportações minerais para as exportações oriundas da área mineral de Carajás. No caso da<br />
agroindústria, a queda se deve ao fraco dinamismo da cultura do café, frutas, entre outros produtos.<br />
Nas demais cadeias, as exportações de Minas Gerais acompanham, em geral, os movimentos<br />
das exportações da economia brasileira. O mesmo acontece, em todas cadeias, no caso das importações.<br />
As exportações da agroindústria mineira apresentaram um crescimento médio de 5,6% no período<br />
de 1994-1999. Mas a tendência se reverte para o período posterior, 1999-2001. Neste período, há uma<br />
desvalorização cambial que deveria resultar em um aumento das exportações. Um fator que contribuiu<br />
para a queda nas exportações mineiras de produtos agrícolas é a ascensão do Centro-Oeste.<br />
As exportações mineiras de têxteis, no período de 1994-1999, cresceram 4,6% ao ano. No<br />
período de 1999-2001, essa taxa passa para 41,3%. O grande aumento das exportações têm como<br />
um de seus principais fatores a desvalorização cambial, ocorrida no ano de 1999. Além disso, o<br />
dado evidencia a competitividade da indústria têxtil mineira.<br />
TABELA 18<br />
CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES DO BRASIL E DE MINAS GERAIS<br />
CADEIAS PRODUTIVAS<br />
1994-1999<br />
BRASIL<br />
1999-2001<br />
MINAS GERAIS<br />
1994-1999 1999-2001<br />
Construção civil 4,3 10,1 4,2 4,1<br />
Metal-mecânica 1,7 11,5 -1,3 -6,7<br />
Química 1,9 12,4 6,8 3,0<br />
Têxtil -3,3 14,7 4,6 41,3<br />
Agroindústria 2,0 6,9 5,6 -7,6<br />
Outros 9,3 12,2 19,4 18,4<br />
Total 2,0 10,1 2,3 -2,7<br />
FONTE: Secex, estimado pelo CEDEPLAR<br />
TABELA 19<br />
ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br />
CADEIAS PRODUTIVAS<br />
1994<br />
BRASIL<br />
1999 2001 1994<br />
MINAS GERAIS<br />
1999 2001<br />
Construção civil 10,4 11,6 11,7 23,0 25,2 28,8<br />
Metal-mecânica 36,0 35,5 36,4 48,6 40,7 37,4<br />
Química 9,3 9,2 9,6 3,0 3,7 4,1<br />
(Continua...)<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 137<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 19 (Continuação)<br />
ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br />
CADEIAS PRODUTIVAS<br />
1994<br />
BRASIL<br />
1999 2001 1994<br />
MINAS GERAIS<br />
1999 2001<br />
Têxtil 8,0 6,1 6,6 1,0 1,2 2,4<br />
Agroindústria 33,6 33,6 31,7 23,7 27,8 25,0<br />
Outros 2,7 3,9 4,0 0,7 1,5 2,3<br />
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Total (US$ Milhões) 43.545 48.011 58.223 5.693 6.382 6.048<br />
FONTE: Secex, estimado pelo CEDEPLAR<br />
TABELA 20<br />
CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL DAS IMPORTAÇÕES DO BRASIL E DE MINAS GERAIS<br />
CADEIAS PRODUTIVAS<br />
BRASIL<br />
1994-1999 1999-2001<br />
MINAS GERAIS<br />
1994-1999 1999-2001<br />
Construção civil 0,3 14,2 -0,6 13,8<br />
Metal-mecânica 10,7 7,3 10,7 5,8<br />
Química 11,0 8,1 16,0 7,3<br />
Têxtil 1,0 -5,0 7,4 -5,6<br />
Agroindústria 1,7 -6,7 -0,9 -8,4<br />
Outros 9,1 5,9 8,1 5,9<br />
Total 8,3 6,3 8,9 5,2<br />
FONTE: Secex, estimado pelo CEDEPLAR<br />
TABELA 21<br />
ESTRUTURA DAS IMPORTAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br />
CADEIAS PRODUTIVAS<br />
1994<br />
BRASIL<br />
1999 2001 1994<br />
MINAS GERAIS<br />
1999 2001<br />
Construção civil 10,7 7,3 8,4 12,4 7,9 9,3<br />
Metal-mecânica 43,5 48,6 49,5 51,5 56,0 56,6<br />
Química 23,3 26,5 27,4 14,1 19,4 20,2<br />
Têxtil 4,7 3,3 2,7 4,4 4,1 3,3<br />
Agroindústria 13,5 9,9 7,6 12,8 8,0 6,1<br />
Outros 4,2 4,3 4,3 4,7 4,5 4,6<br />
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Total (US$ Milhões) 33.079 49.210 55.576 3.223 4.926 5.456<br />
FONTE: Secex, estimado pelo CEDEPLAR<br />
138 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
2.5. As cadeias produtivas de Minas Gerais e<br />
oportunidades de investimento<br />
2.5.1. A cadeia produtiva da construção civil<br />
A cadeia da construção civil é formada pelo setor da construção e de materiais de construção,<br />
que rumam para este grande setor. No Brasil, o setor da construção civil responde por 81% do<br />
valor agregado da cadeia. Entre as cadeias, é possível distinguir os segmentos da madeira, cimento,<br />
cerâmica e vidro. Muitos minerais não-metálicos também são vendidos diretamente à construção<br />
civil, passando, apenas, por uma fase de beneficiamento, após a extração.<br />
Também existem cadeias de materiais de construção que têm origem em outras cadeias.<br />
Em um nível bastante agregado, destacam-se os setores de materiais de construção metálicos<br />
(produtos em aço, alumínio, cobre, etc.) e de insumos químicos.<br />
As características econômicas do setor da construção são bem conhecidas. O setor é<br />
intensivo na geração de emprego e no uso de matérias-primas nacionais. Tradicional, no recurso à<br />
tecnologia, se constitui no maior mercado intersetorial da indústria.<br />
TABELA 22<br />
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL<br />
NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E NO BRASIL<br />
MINAS GERAIS 1 RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BRASIL<br />
Construção civil 84,0 89,1 73,7 81,6<br />
Serrarias e fabricação de artigos<br />
de madeira e mobiliário 1,2 3,8 7,2 6,9<br />
Fabricação de minerais não-metálicos 14,8 5,6 16,4 8,4<br />
Extrativa mineral (exceto combustíveis) 0,0 1,5 2,7 3,2<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Nota: 1 Os dados não discriminam entre minerais metálicos e não-metálicos. A indústria extrativa mineral, em Minas Gerais, está<br />
na cadeia metal-mecânica.<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
2.5.1.1. O setor da construção civil<br />
A discussão sobre o setor da construção deve se centrar na discussão sobre como ampliar<br />
sua eficiência e baixar os custos das obras. Por um lado, porque, em geral, as empresas de construção<br />
crescem incrementalmente, sendo mais raros, em comparação com outros setores onde há um<br />
patamar mínimo de operação, grandes projetos de investimento.<br />
Por outro lado, o gasto em construção civil é uma parcela significativa de qualquer projeto<br />
de investimentos, público ou privado. Como a construção civil, no Brasil, é muito ineficiente,<br />
existem amplas oportunidades para a diminuição dos custos das obras, o que ofereceria vantagens<br />
significativas para potenciais investidores.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 139<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
O Brasil, em geral, e Minas Gerais, em particular, estão em uma posição privilegiada para<br />
desenvolver novos produtos e técnicas para aprimorar a construção civil. Isto porque há, no País<br />
e, especialmente, em Minas, ampla disponibilidade de insumos de excelente qualidade, cujo<br />
aproveitamento ainda pode ser aprimorado.<br />
Mas o setor da construção civil é um setor tradicional, no qual várias características estruturais<br />
cooperam para tornar menor sua produtividade. Entre elas, por exemplo, estão: as obras são feitas<br />
ao ar livre, em regime de produção unitária e, cada uma, em local diferente; as empresas enfrentam<br />
ciclos de demanda muito acentuados, o que dificulta a retenção de conhecimento e a sua replicação.<br />
É conhecido o caso da construção de edificações, que tem problemas de baixa qualidade e<br />
precária eficiência técnica. Os ganhos do segmento de edificações construídas para o mercado<br />
imobiliário, em oposição aos conjuntos de habitação popular, são originários, principalmente, dos<br />
processos especulativos que envolvem a valorização dos terrenos e a diferenciação artificial do<br />
produto, isto é, dos apartamentos. Assim, a eficiência na construção de edificações não é um<br />
elemento competitivo relevante, embora, com as altas taxas de juros, a diminuição do tempo de<br />
construção tenha se tornado um objetivo comum. Mas o custo do financiamento da aquisição de<br />
máquinas também é maior, e, com os baixos salários vigentes, a mecanização e automação, no<br />
setor, se dá a passos lentos.<br />
Devido a essas características, o setor da construção é, predominantemente, pouco inovador<br />
e, prioritariamente, importador de tecnologia de outros setores ou dos segmentos de obras<br />
tecnicamente mais especializadas. Os fluxos de progresso técnico para a construção civil se derivam<br />
do emprego de máquinas mais modernas, uso de novos insumos e mudanças nos processos<br />
construtivos. A questão de como aumentar a eficiência na construção civil requer, portanto, soluções<br />
integradoras.<br />
São bastante conhecidos os efeitos do emprego de novas máquinas e insumos sobre o<br />
progresso técnico na construção civil. Mas os fluxos de conhecimento dentro do setor da construção<br />
requerem algumas observações.<br />
A introdução e difusão de processos construtivos com maior qualidade e mais eficazes se<br />
derivam de programas de habitação popular, onde são menores as possibilidades de ganho oriundos<br />
da especulação imobiliária e do embelezamento da planta de construção e maiores as vantagens<br />
da adoção da padronização, economias de escala e introdução de novos métodos, em geral.<br />
Assim, o investimento na construção popular pode ser não apenas uma forma de atender a<br />
uma necessidade da população como, também, um meio através do qual se pressione, por maior<br />
qualidade e eficiência, um setor tradicionalmente avesso à adoção de novas técnicas.<br />
O mesmo ocorre em relação às obras públicas. As novas técnicas, ferramentas e máquinas<br />
são, usualmente, introduzidas e testadas nas obras maiores, pelas empresas líderes, sendo,<br />
posteriormente, difundidas para obras menores, realizadas por firmas sem o mesmo know-how<br />
técnico. Desse modo, também há um importante fluxo de progresso técnico entre os diferentes<br />
segmentos da construção. Novos produtos são introduzidos, primeiro, na construção pesada e,<br />
depois, são difundidos para a construção popular e para o setor de edificações privadas. Outro<br />
aspecto que pode impulsionar a adoção de novas técnicas e melhorar o padrão da construção civil<br />
no País é um eventual crescimento do custo da mão-de-obra.<br />
Por último, cabe mencionar, como origem de inovações dentro do setor da construção, as<br />
obras especializadas, como construção metálica, construção submarina, etc. No caso de Minas<br />
Gerais, recomenda-se um programa de apoio à pesquisa em métodos construtivos com vistas à<br />
140 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
melhoria da produtividade e qualidade da indústria de materiais de construção e edificações, com<br />
destaque para a construção especializada, como a construção metálica e componentes pré- moldados<br />
de concreto, onde se identificam vantagens, e com ênfase na difusão de inovações.<br />
É útil que o programa se articule ao Fórum da Competitividade da Indústria da Construção<br />
Civil do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Mas, dada sua relevância para<br />
Minas Gerais, cabe sugerir que o programa tenha um forte apoio na esfera estadual. Uma<br />
possibilidade é um programa de apoio, através da FAPEMIG, a centros de estudo da construção civil<br />
popular e construção pesada, em faculdades de engenharia e arquitetura de Minas Gerais. Em São<br />
Paulo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado tem uma tradicional atuação nesta área.<br />
Mas o vínculo dos institutos de pesquisa a universidades pode ser mais útil, uma vez que essas<br />
instituições costumam ter maior capacidade financeira para dar suporte à pesquisa continuada.<br />
Outra possibilidade é a vinculação dos institutos a consórcios de empresas, que viriam a cooperar<br />
na manutenção dos centros, em troca de suporte na recepção de tecnologia transferida.<br />
O gasto em pesquisa, em um programa dessa natureza, tem custos relativamente baixos,<br />
seus resultados demoram a aparecer e podem gerar inúmeros benefícios. Todas essas características<br />
operam no sentido de interessar, ao Estado, dar partida a um programa de pesquisas nesta área,<br />
mesmo que as condições macroeconômicas não indiquem a viabilidade de um aumento significativo<br />
da construção popular ou dos gastos públicos em obras a curto prazo.<br />
De fato, atualmente, a construção popular é praticamente inviável, devido à inexistência<br />
de linhas de crédito compatíveis com baixo poder aquisitivo da população e com alto patamar<br />
das taxas de juro. Entretanto, uma possível fase de crescimento da economia conjugada a uma<br />
política de redistribuição de renda e de financiamento habitacional pode alterar, com rapidez, o<br />
quadro atual.<br />
2.5.1.2. Materiais de construção<br />
Atrás do setor da construção civil, na cadeia produtiva, estão os segmentos que produzem<br />
materiais de construção e, ainda mais atrás, a extração de minerais para a construção civil. A<br />
tendência geral da cadeia produtiva é a de aumento do valor agregado da produção de insumos da<br />
construção relativamente ao valor agregado pela construção civil propriamente dita.<br />
Nesses segmentos, existe um amplo leque de oportunidades de investimento, incluindo<br />
muitas possibilidades para micro e pequenas empresas. Os mesmos institutos de pesquisa<br />
universitários, encarregados de estudar a construção civil, podem apoiar esses segmentos através<br />
de muitas práticas participativas, como seminários, redes de tecnologia, exibição de resultados de<br />
pesquisa, transferência de tecnologia, etc.<br />
Estudos apontam ainda, como obstáculo ao desenvolvimento dos setores produtores de<br />
materiais de construção e de mineração das matérias-primas não-metálicas, do setor de materiais<br />
de construção. Devido ao grande número de micro e pequenas empresas, a participação do<br />
SEBRAE/MG pode ser útil no apoio à resolução desse problema.<br />
Entre os materiais de construção, foi visto, por executivos da cadeia, como promissor, o<br />
segmento de artefatos de concreto. Entre os minerais, por sua vez, houve menção a pedras<br />
decorativas, como a ardósia, cujas exportações são significativas, e o granito. Quanto a este último,<br />
foi informado que a agregação de valor, em Minas Gerais, é muito baixa. Existem casos em que os<br />
blocos são transportados para o Espírito Santo em bruto, para lá serem cortados em placas e<br />
enviados de volta, para clientes em Minas Gerais.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 141<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Os materiais elétricos também apresentam boas oportunidades de investimento. Eles são<br />
mencionados na seção sobre a cadeia metal-mecânica.<br />
Outro setor relevante da cadeia da construção é o setor de cerâmica. O Brasil é um grande<br />
produtor e consumidor mundial de cerâmicas de revestimento. Em 1999, o Brasil foi o maior<br />
consumidor mundial desses produtos (10,2% do consumo mundial). Seguem-se China, Espanha,<br />
EUA e Itália. Os mercados mais dinâmicos, ou seja, com maiores taxas de crescimento da demanda,<br />
no período de 95/99, foram México (100%), China (70,3%), EUA (65,1%), Brasil (48,9%), Espanha<br />
(38,4%) e Formosa (37,5%). Mas, entre os maiores mercados, apenas os EUA são um grande<br />
importador. Cerca de 67% do consumo aparente é coberto por importações.<br />
As importações brasileiras são reduzidas. Por isto, não há chance de investimentos para<br />
substituição de importações. Parte do parque industrial do setor se situa em São Paulo, relativamente<br />
próximo ao Estado de Minas Gerais. Essa localização também dificulta a implantação de novos<br />
investimentos, que teriam que concorrer com os produtores paulistas. Os novos investimentos da<br />
indústria estão se dirigindo para o Nordeste, devido aos custos de transporte entre os locais de<br />
produção atual e esse mercado.<br />
Também cabe observar que Minas Gerais tem duas fábricas de grande porte de cerâmicas e<br />
azulejos que abastecem adequadamente o mercado local. Assim, não há espaço para novos investimentos,<br />
com exceção da produção de pisos, que Minas Gerais importa, pagando altos custos de frete.<br />
Por último, note-se que pode haver investimento para exportação, preferencialmente voltados<br />
para o mercado dos Estados Unidos, maior importador mundial. Mas os produtores de Santa<br />
Catarina e de São Paulo estão organizados em pólos de produção e as vantagens desse tipo de<br />
organização não são facilmente superáveis. Assim, à exceção da produção de pisos, o setor de<br />
cerâmica não deve se constituir em prioridade para a política de investimentos de Minas Gerais.<br />
2.5.2. A cadeia produtiva metal-mecânica<br />
A cadeia metal-mecânica é a mais importante cadeia industrial do Estado. O capítulo 1<br />
deste trabalho aponta o sucesso de Minas Gerais no desenvolvimento de longo prazo da cadeia<br />
metal-mecânica. Entre 1960 e 1999, a participação da cadeia, no produto estadual, aumenta de<br />
37,5% para 51%. Mais ainda, o crescimento dessa cadeia se dá em meio à forte transformação<br />
estrutural, com o progressivo aumento da participação dos setores a jusante, entre os quais se<br />
destaca a fabricação de automóveis e outros veículos.<br />
O desenvolvimento da metal-mecânica, no Estado, é fruto do processo de reversão da<br />
polarização de São Paulo. Esse movimento beneficiou, principalmente, Minas Gerais e o Paraná,<br />
alcançando, também, outros estados, como a recente implantação da indústria automobilística na<br />
Bahia e no Rio de Janeiro.<br />
A TAB. 23 evidencia, como o principal problema da cadeia metal-mecânica de Minas Gerais,<br />
o porte relativamente pequeno dos setores intermediários. Essa fragilidade está associada à<br />
existência de uma forte complementaridade entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Minas<br />
Gerais vende, para São Paulo, insumos primários ou pouco elaborados, e compra da indústria<br />
paulista produtos mais elaborados, peças, componentes e máquinas.<br />
Um dos setores mais problemáticos é a indústria mecânica. Por um lado, afetado pela<br />
liberalização das importações e, por outro lado, pela queda da demanda do mercado sob encomenda,<br />
principalmente estatal. As maiores empresas do setor se voltaram para novos segmentos e adaptaram<br />
seu processo produtivo, principalmente para fornecer para a Petrobrás e para exportação.<br />
142 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Ainda de acordo com os entrevistados, as oportunidades de investimento, na cadeia metalmecânica,<br />
são muito pontuais. Foram citadas oportunidades em produtos de aço inoxidável, bens<br />
de capital para mineração, fundidos de ferro e aço e na construção metálica.<br />
TABELA 23<br />
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA METAL-MECÂNICA<br />
NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E NO BRASIL<br />
MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO1 SÃO PAULO1,2 BRASIL1 Fabricação de automóveis,<br />
caminhões e ônibus<br />
Fabricação e manutenção de<br />
30,0 1,4 15,2 13,0<br />
máquinas e tratores 12,4 14,5 20,5 29,2<br />
Fabricação de outros veículos,<br />
peças e acessórios<br />
Fabricação de aparelhos e<br />
nd 4,0 16,8 nd<br />
equipamentos de material eletrônico<br />
Fabricação de aparelhos e<br />
0,1 4,3 12,5 13,9<br />
equipamentos de material elétrico 1,8 5,4 13,2 8,8<br />
Fabricação de outros produtos<br />
metalúrgicos 9,7 21,3 13,8 17,3<br />
Metalurgia dos não-ferrosos 3,3 5,6 2,3 6,1<br />
Siderurgia 30,2 43,5 5,8 11,8<br />
Extrativa mineral<br />
(exceto combustíveis) 12,6 0,0<br />
Extração de petróleo e gás natural,<br />
carvão e outros combustíveis nd 0,0 0,1<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Notas: 1 a indústria extrativa mineral foi alocada à cadeia da construção civil. Os dados não discriminam entre minerais<br />
metálicos e não-metálicos.<br />
2 A extração de petróleo e gás foi alocada à cadeia metal-mecânica — ver nota metodológica.<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
Uma discussão pormenorizada do esgarçamento da cadeia metal-mecânica de Minas Gerais<br />
é encontrada no Capítulo 1 deste volume, de autoria do Prof. Mauro Borges Lemos. Já para os<br />
setores da base da cadeia metal-mecânica, uma análise detalhada é apresentada no volume V<br />
deste trabalho, assinado pelo Prof. Germano de Paula.<br />
Dada a contribuição destes autores, a próxima seção enfoca dois aspectos específicos da<br />
cadeia metal-mecânica de Minas Gerais: o setor de componentes eletrônicos e a possibilidade de<br />
desenvolvimento de um segmento de instrumentos para apoio à proteção ao meio ambiente.<br />
Quanto ao primeiro, embora seu porte, no Estado, seja muito pequeno, este setor é, não apenas<br />
um importante difusor de novas tecnologias, como, também, apresenta a maior oportunidade de<br />
substituição competitiva de importações.<br />
Quanto ao segmento de instrumentos para apoiar a proteção ao meio ambiente, note-se<br />
que existem outras possibilidades semelhantes, em que há potencial de mercado para desenvolver<br />
um setor de instrumentos, associado a uma atividade de serviços. Dois exemplos são os<br />
instrumentos médicos e odontológicos. Por isto, a proposta feita é, também, um exemplo de um<br />
conjunto mais amplo de possibilidades relativamente semelhantes.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 143<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
2.5.2.1. Perspectivas para o complexo eletrônico no Estado de Minas<br />
Gerais 5<br />
O complexo eletrônico abrange os setores que produzem bens de consumo eletrônicos (rádio,<br />
TV, videocassetes, etc.), equipamentos de telecomunicações, produtos de informática (computadores<br />
e seus componentes), software e serviços de telecomunicações e processamento de dados.<br />
Observando apenas os segmentos industriais, a TAB. 23 mostra que o setor de fabricação<br />
de aparelhos e equipamentos de material eletrônico tem dimensão muito reduzida, em Minas<br />
Gerais, respondendo apenas por 0,1% do valor agregado pelo conjunto de cadeias produtivas. Em<br />
comparação, o mesmo setor, no Rio de Janeiro, detém 6,3% de participação no valor agregado das<br />
cadeias produtivas no Estado e, em São Paulo, 12,5%.<br />
A TAB. 24, por sua vez, apresenta a distribuição das 200 maiores empresas de tecnologia<br />
da informação por unidades selecionadas da Federação. Empresas de bens de consumo eletrônico<br />
não foram consideradas. A participação do Estado de Minas Gerais, em termos de número de<br />
empresas, é pequena. Entre as 200 maiores, apenas onze são de Minas Gerais (relação completa<br />
na TAB. 25). Em termos de faturamento e número de empregados, a participação de Minas Gerais<br />
é ainda menor.<br />
TABELA 24<br />
DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS, FATURAMENTO E NÚMERO DE EMPREGADOS<br />
DAS 200 MAIORES EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELO ESTADO DE ORIGEM - 2001<br />
144 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Nº EMPRESAS FATURAMENTO Nº EMPREGADOS<br />
Minas Gerais 5,5% 2,5% 2,6%<br />
Rio de Janeiro 12,0% 33,0% 27,0%<br />
São Paulo 62,5% 55,9% 54,6%<br />
Outros Estados 20,0% 8,6% 15,8%<br />
Total (%) 100,0% 100,0% 100,0%<br />
Total 200 US $ 51,8 bilhões 240.224<br />
FONTE: Info Exame (2002)<br />
O pequeno porte do setor dificulta a geração de externalidades e o acúmulo de conhecimento<br />
e, conseqüentemente, diminui a atratividade de novos investimentos.<br />
TABELA 25<br />
MAIORES EMPRESAS PRIVADAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES<br />
DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br />
NOME POSIÇÃO ENTRE AS VENDAS Nº EMPREGADOS<br />
200 MAIORES (US$ MILHÕES)<br />
TELEMIG CELULAR 25 478,6 2.014<br />
MAXITEL 36 292,5 nd<br />
CTBC TELECOM 38 275,6 925<br />
ENGESET 74 82,6 2.026<br />
(Continua...)
TABELA 25 (Continuação)<br />
MAIORES EMPRESAS PRIVADAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES<br />
DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br />
NOME POSIÇÃO ENTRE AS VENDAS Nº EMPREGADOS<br />
200 MAIORES (US$ MILHÕES)<br />
CTBC CELULAR 76 81,1 208<br />
RM SISTEMAS 128 23,9 435<br />
DELTATRONIC 160 11,2 130<br />
MICROCITY 164 10,3 61<br />
ATT/PS 169 9,2 124<br />
MSA-INFOR 174 8,7 79<br />
GRUPO A&C 188 6,9 245<br />
FONTE: Info Exame (2002)<br />
Em Minas Gerais, existem dois pólos de fabricação de produtos eletrônicos, um em Santa<br />
Rita do Sapucaí e municípios vizinhos, outro no entorno da capital.<br />
Segundo os entrevistados, o pólo de Santa Rita do Sapucaí tem duas desvantagens. A primeira<br />
se refere ao porte das empresas, em geral pequenas e médias, com estrutura administrativa deficiente.<br />
A outra é a concorrência com o pólo de Campinas, que oferece infra-estrutura científica e tecnológica<br />
superior.<br />
Mas há, também, algumas vantagens. O pólo é muito próximo da cidade de São Paulo<br />
(cerca de 120 km) e a gestão do cluster é eficiente. Note-se, também, que o pólo de Santa Rita do<br />
Sapucaí é um dos cinco clusters selecionados pelo programa Cresce Minas, elaborado pela FIEMG,<br />
para receber apoio do Estado.<br />
Embora não se compare à infra-estrutura de Campinas, o pólo de Santa Rita do Sapucaí<br />
também se apóia em um conjunto de instituições locais de ensino e pesquisa. Essas são fortemente<br />
comprometidas com o desenvolvimento econômico local. Por exemplo, o gestor do pólo é o Pró-<br />
Reitor da Faculdade de Engenharia de Itajubá.<br />
Entre as empresas maiores, atualmente, a empresa francesa ALSTON está em Itajubá e, segundo<br />
entrevistados, a empresa ERICSON está estudando uma parceria na região.<br />
De fato, técnicos entrevistados para este trabalho acreditam que a entrada de uma grande<br />
empresa, possivelmente estrangeira, poderia alavancar o desenvolvimento do pólo. Esta exerceria<br />
o papel de estruturante. Mas enfatizaram a necessidade de forte participação do Governo no processo<br />
de atração de empresas desse porte. Citaram, como exemplo dessa dificuldade, o fracasso na<br />
atração para Minas do fabricante norte-americano de computadores DELL e da segunda fábrica da<br />
EMBRAER. No primeiro, o Estado perdeu a concorrência para o Rio Grande do Sul e, no segundo,<br />
para São Paulo. Os entrevistados também ressaltaram que algumas empresas do pólo de Santa<br />
Rita do Sapucaí estão sendo atraídas para a Bahia, devido aos incentivos fiscais oferecidos, o que<br />
pode prejudicar a consolidação dessa aglomeração industrial.<br />
Outras formas de desenvolvimento possível é a cooperação tecnológica. A cooperação<br />
tecnológica abrange desde acordos técnicos até a formação de joint ventures. A maior empresa do<br />
pólo de Santa Rita do Sapucaí, atualmente, é uma joint venture entre uma empresa de Taiwan<br />
(PHIHONG) e outra brasileira (PWM), para a produção de carregadores de celulares.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 145<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
O pólo da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) tem empresas com porte<br />
maior, como a JABIL (hardware) e a ENGETRON (produção de no breaks). Com a vantagem de ser um<br />
grande centro urbano, com maior infra-estrutura técnica e científica do que Santa Rita do Sapucaí,<br />
a RMBH tem maiores chances de atrair investimentos em uma empresa estruturante do que a<br />
Região do Sul de Minas Gerais.<br />
Uma das vantagens do pólo da RMBH é a maior disponibilidade de empresas de software e<br />
de serviços de processamento de dados. Isto porque, no complexo eletrônico, há uma forte interrelação<br />
entre os setores de serviços e os setores industriais. Isto porque, devido à convergência<br />
tecnológica, os produtos eletrônicos são intensivos no uso de software e outros serviços de<br />
teleinformática.<br />
O agrupamento de empresas de software, serviços, produção de hardware, órgãos do Governo<br />
do Estado e universidades produziu uma comunidade com interesse em promover o<br />
desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação em Minas Gerais. A Secretaria de<br />
Estado de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, no seu Programa de Tecnologias da Informação<br />
e Comunicação, congregou essa comunidade, que formulou o Plano de Desenvolvimento das<br />
Tecnologias da Informação e Comunicações em Minas Gerais (PDTIC-MG).<br />
O PDTIC-MG tem três grandes objetivos até 2004: “1) colocar Minas Gerais em posição<br />
de destaque no cenário das Tecnologias da Informação e Comunicações, em sintonia com a posição<br />
ocupada no ranking econômico nacional; 2) fortalecer o sistema de Pesquisa e Desenvolvimento e<br />
3) impulsionar a universalização do acesso”. PDTIC (2001, p.1).<br />
O PDTIC, entretanto, não se constitui numa política industrial. Seu foco são ações na<br />
infra-estrutura, suporte institucional e consumo. Mas essas ações são complementares. Portanto,<br />
seria útil ampliar a articulação entre a promoção de novos empreendimentos e o apoio ao<br />
desenvolvimento científico e tecnológico. Em particular, no caso da eletrônica, é necessário, como<br />
disse um entrevistado, formar um grupo tarefa, para fazer o trabalho de prospecção.<br />
A proposta deste trabalho é a de ampliação do PDTIC-MG, para incorporar a dimensão de<br />
política industrial, e a sua implantação como um programa estadual semelhante ao programa<br />
federal Sociedade da Informação (www.socinfo.gov.br).<br />
Cabe, portanto, fazer algumas observações sobre o SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.<br />
Este programa foi instituído pela Presidência da República, em 1999, e é coordenado pelo Ministério<br />
da Ciência e Tecnologia (MCT). Sua proposta é enfatizar a inovação tecnológica. Para isto, ele<br />
pretende implantar uma infra-estrutura de telecomunicações avançada (uma rede de alta velocidade<br />
para pesquisa), que sirva de apoio à criação de novas aplicações e de subsídio para testes. Com as<br />
aplicações, espera-se promover o desenvolvimento de sistemas para ampliar a competitividade<br />
das empresas instaladas no Brasil, prover políticas sociais (educação, saúde, etc.), diminuir a exclusão<br />
digital e aumentar a eficiência do governo (através do governo eletrônico).<br />
Alguns participantes do trabalho de criação do PDTIC foram entrevistados sobre a<br />
pertinência de criação, em nível estadual, de um programa semelhante ao Sociedade da Informação,<br />
como desdobramento do PDTIC. Eles foram, sem exceção, favoráveis à iniciativa e, entre as<br />
diversas informações úteis, destacaram pontos importantes, que expomos a seguir:<br />
• Existe a necessidade de se fazer um grande diagnóstico do nível de uso do capital intelectual<br />
por parte do parque industrial mineiro. Acredita-se que o grau de difusão das tecnologias<br />
146 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
da informação e comunicação, em Minas Gerais, é baixo. O empresariado mineiro, além<br />
de conservador, não está a par nem do potencial dessas tecnologias nem das oportunidades<br />
de financiamento existentes. O emprego atual das tecnologias da informação e<br />
comunicação é, principalmente, para substituir ‘força muscular’ por operação automatizada<br />
e, não, para usar os dados e a informação que essas tecnologias geram.<br />
• A educação à distância foi apontada como oportunidade de grande importância para um<br />
esforço conjunto das instituições e governo do Estado de Minas Gerais.<br />
• Alguns entrevistados lamentaram que o PDTIC não chegou a ser colocado em prática.<br />
Para isto, é necessário que seja feita alocação de verbas, orçamento, cronograma de<br />
aplicações e, principalmente, que haja um forte compromisso do governo com o Plano.<br />
• Diversas iniciativas isoladas poderiam ser beneficiadas e participar de um programa<br />
estadual para a sociedade da informação, ampliando o alcance do PDTIC. Entre essas,<br />
destacam-se os núcleos do SOFTEX, programa de Parques Tecnológicos e a Rede<br />
Metropolitana de Alta Velocidade, além do Programa de Reciclagem para Professores,<br />
da UFMG.<br />
A essas iniciativas, certamente deve-se agregar a participação dos órgãos públicos<br />
encarregados da promoção do investimento produtivo, para fomentar o desenvolvimento do<br />
complexo eletrônico, em geral, e a atração de empresas estruturantes, em particular. Note-se que<br />
a conjuntura econômica é bastante propícia para essa última iniciativa. Como visto anteriormente,<br />
aparentemente há, na economia brasileira, um processo de substituição competitiva de importações<br />
em curso. As importações de produtos eletroeletrônicos caíram 35%, no primeiro semestre de<br />
2002, em relação a igual período de 2001. A TAB. 26 detalha, por segmento, a queda das<br />
importações.<br />
ÁREAS<br />
TABELA 26<br />
IMPORTAÇÕES DO SETOR ELETROELETRÔNICO - JANEIRO/ JUNHO DE 2002<br />
US$ MILHÕES<br />
2001 2002<br />
VAR.%<br />
Automação Industrial 468,2 372,9 -20,4%<br />
Componentes 3.506,5 2.391,4 -31,8%<br />
Equipamentos Industriais 611,5 695,0 13,7%<br />
GTD 107,6 104,2 -3,1%<br />
Informática 551,3 390,2 -29,2%<br />
Material de Instalação 297,8 212,6 -28,6%<br />
Telecomunicações 1.502,1 397,8 -73,5%<br />
Utilidades Domésticas 209,8 142,8 -31,9%<br />
TOTAL 7.254,7 4.707,0 -35,1%<br />
FONTE: Disponível em http:\\www.abinee.org.br<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 147<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
2.5.2.2. Demanda por melhor qualidade ambiental como<br />
oportunidade de investimento<br />
A crescente demanda por uma melhor qualidade do meio ambiente também tem a capacidade<br />
de gerar oportunidades de investimento diversificadas. Segundo o especialista Carlos Eduardo<br />
Frickmann Young, é difícil delimitar a indústria de equipamentos e produtos para controle e<br />
aprimoramento do meio ambiente porque muitos itens são de uso variado, como tubos, usados em<br />
saneamento, válvulas, equipamento de decantação, etc.<br />
Mas o controle ambiental se dá em vários níveis e, nos níveis mais sofisticados, os<br />
equipamentos são mais especializados. Por exemplo, se, no tratamento primário e secundário da<br />
água, são usadas técnicas simples como grades, para separar resíduos do líquido, e fossas, no<br />
chamado tratamento terciário a complexidade e sofisticação dos equipamentos (tratar contaminação<br />
por metais pesados, por exemplo) é muito maior.<br />
No setor ambiental, a tendência é de rápida evolução da tecnologia e crescente especialização<br />
das técnicas e dos profissionais. Assim, na prática, na área ambiental, há uma conjunção entre a<br />
sofisticação dos equipamentos, complexidade da tecnologia e graduação profissional. O setor<br />
ambiental, portanto, forma uma área de progresso técnico.<br />
Mas, segundo o Prof. Young, em muitos casos, há uma distância entre a estrutura técnicocientífica<br />
e os organismos de proteção ao meio ambiente. Ele sugere uma política do governo não<br />
apenas de incentivo a investimentos na produção de equipamentos e produtos para o meio ambiente,<br />
mas uma política integrada, envolvendo um tratamento conjunto das questões de formação<br />
profissional, oferta de produtos e serviços, regulamentação, etc.<br />
Na formulação e condução dessa política, deveriam participar universidades, instituições<br />
de apoio à pesquisa e os órgãos estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente. A dimensão<br />
de fomento à produção deveria incluir atividades como incentivo à formação de incubadoras de<br />
empresas (prestadoras de serviços e montadoras de equipamento pró-meio ambiente), certificação<br />
de produtos, suporte à transferência de tecnologia, apoio ao patenteamento, disseminação de<br />
informação técnica a empresas para permitir adaptação de produtos tradicionais para o uso na<br />
proteção do meio ambiente, etc.<br />
2.5.3. A cadeia produtiva química<br />
A cadeia produtiva da química é relativamente reduzida, em Minas Gerais. Um dos poucos<br />
segmentos relevantes é o de fertilizantes, localizado no Triângulo Mineiro e Região Sul de Minas<br />
Gerais. Segundo Fernando Lage, no momento, não há novas oportunidades de investimento no<br />
setor.<br />
Do ponto de vista da atração de novos investimentos, o segmento de cosméticos e perfumes<br />
é, atualmente, atrativo. Segundo os entrevistados, ‘Minas Gerais já tem longa história em<br />
cosméticos’. Existe abundância de mão-de-obra especializada e empresas conhecidas, como a<br />
Skala, em Uberaba, Água de Cheiro e L’aqua de Fiori, na RMBH. Além de concordarem que o<br />
setor pode crescer, os entrevistados afirmaram que o setor é intensivo em emprego e suas compras<br />
são multiplicadoras de atividade, ao envolverem insumos como plásticos e embalagem.<br />
Outros segmentos interessantes para novos investimentos são os de biotecnologia e de<br />
plásticos. As duas seções seguintes detalham as oportunidades de investimento para esses<br />
segmentos.<br />
148 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 27<br />
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA DA QUÍMICA NOS ESTADOS<br />
DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO E NO BRASIL<br />
MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BRASIL<br />
Fabricação de produtos farmacêuticos<br />
e de perfumaria 0,0 16,9 22,3 13,8<br />
Indústria de transformação de material<br />
plástico 2,4 5,8 22,5 11,4<br />
IIndústria da borracha 0,0 3,6 15,4 6,2<br />
Fabricação de produtos químicos<br />
diversos 25,3 11,2 34,8 15,3<br />
Fabricação de elementos químicos<br />
não-petroquímicos<br />
Refino de petróleo e indústria<br />
36,7 4,0 26,3 14,1<br />
petroquímica<br />
Extração de petróleo e gás natural,<br />
35,6 14,6 1,0 42,1<br />
carvão e outros combustíveis 0,0 43,9 0,0 10,9<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTE: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
2.5.3.1. O aglomerado de biotecnologia<br />
Há consenso, entre todos entrevistados e, também, na literatura técnica, sobre a vocação<br />
de Minas Gerais para o desenvolvimento da biotecnologia. Por exemplo, o aglomerado de<br />
biotecnologia na Região Metropolitana de Belo Horizonte foi escolhido, pelo programa Cresce<br />
Minas (www.cresceminas.org.br), como um dos cinco aglomerados a serem privilegiados pela<br />
política de desenvolvimento industrial do Estado 6 .<br />
O fator locacional relevante, no caso da biotecnologia, é a infra-estrutura científica e<br />
tecnológica. Segundo uma pesquisa do CEDEPLAR-UFMG, existe uma grande concentração de<br />
professores-doutores — cerca de 160 — em áreas correlacionadas com a biotecnologia, na mesma<br />
universidade. O agrupamento tem forte efeito multiplicador. Em decorrência da sua atividade,<br />
outros centros de estudos em biotecnologia estão emergindo em universidades espalhadas por<br />
Minas Gerais. Essa é uma vantagem de Belo Horizonte, onde está o principal pólo de biotecnologia<br />
da América Latina.<br />
Em Belo Horizonte, também está localizada a Fundação Biominas, única incubadora privada<br />
do Brasil, voltada para o desenvolvimento de empresas emergentes de biotecnologia. Até maio de<br />
2002, dezesseis empresas passaram pela incubadora, tendo seis delas se graduado.<br />
A Fundação Biominas completou, recentemente, um levantamento das empresas que<br />
mantêm atividades relacionadas com biotecnologia no Brasil. Ela concluiu que “(...) existem, no<br />
País, pelo menos 354 empresas identificadas como elos de produção biotecnológica (...)”. (Lobato,<br />
P. — Os Resultados da Pesquisa Tecnológica — Relatório Biotecnologia, Gazeta Mercantil, 13<br />
de maio de 2002, p. C-3). A receita conjunta dessas empresas corresponde a uma participação, no<br />
PIB, entre 0,9% e 1,5%.<br />
Analisando as empresas por estado de localização, a pesquisa concluiu que “(...) depois de<br />
São Paulo, que concentra 42% dos negócios, Minas Gerais já vem em segundo lugar, com 29%,<br />
uma participação muito distante da do Rio de Janeiro, terceiro colocado com apenas 9% das<br />
empresas.” (Lobato, P. op. Cit.)<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 149<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Entre as empresas do pólo de biotecnologia, a Biobrás, que produz insulina e recentemente<br />
foi adquirida por uma empresa dinamarquesa, e a Vallée, produtora de vacinas para gado em<br />
maior porte, implantaram fábricas em Montes Claros, atraídas por incentivos fiscais.<br />
2.5.3.2. O setor de plásticos<br />
Embora não tenha sido mencionada, tanto nas entrevistas realizadas, como na literatura<br />
consultada, a vocação, em Minas Gerais, para a instalação de um pólo petroquímico, pode indicar<br />
a possibilidade de investimentos na produção de alguns tipos de plásticos.<br />
Esse potencial não advém do nível atual de demanda, cujas perspectivas de crescimento<br />
não são boas, como afirmou um entrevistado. De fato, segundo ele, o investimento mínimo, hoje,<br />
para fazer uma nova fábrica, é muito alto, requerendo um mercado substancial. Esse seria apenas<br />
o caso da instalação de uma indústria estruturante, estratégica. Por exemplo, o investimento da<br />
Polo, empresa que faz o plástico BOPE e concorre com a Votorantim, é de cerca de 40 milhões de<br />
dólares. A empresa importa, de outros estados, a sua principal matéria-prima, o polipropileno.<br />
TABELA 28<br />
PRINCIPAIS SEGMENTOS IMPORTADORES NO SETOR DE PLÁSTICOS (US $ MILHÕES, 2000)<br />
SEGMENTO DA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS IMPORTAÇÕES<br />
Chapas de Plásticos Não-Alveolados (sem suporte ou não reforçado)<br />
Artefatos Divs.Plástico (Escritório, Escolares, Vestuário e Acessórios, Guarnições<br />
p/móveis e Objetos de Ornamentação, Arruelas/Correias, Art Laboratório, Farmácia<br />
173<br />
e Bolsas p/Colostomia, Ileostomia, etc.) 145<br />
Embalagens de Plástico (caixas, caixotes, sacos, engradados, bolsas, etc.) 97<br />
Chapas de Plásticos Auto-Adesivas 71<br />
Manilhas, Canos,Tubos e Conexões de plásticos (rígido, flexível e outros) 63<br />
Chapas Plásticos Alveolares, Plásticos Estratificados (com suporte ou reforçados ) 56<br />
Artigos de uso Domésticos (mesa, copa cozinha) e Pessoal (de higiene) 15<br />
Produtos para a Ind. de Material Elétrico 14<br />
Revestimento de Pavimentos de Plásticos 10<br />
Calçados Material Plástico p/Segurança Industrial e Pessoal, Inclusive para Esporte 10<br />
Total 653<br />
FONTE: SECEX, calculado por Souza (2002)<br />
Mas com o progressivo encarecimento das importações, há espaço para a ampliação do<br />
processo de substituição competitiva de importações, como mostra o trabalho de Souza (2002),<br />
que relaciona seis segmentos cujas importações são significativas. Para a autora, as principais<br />
chances de substituição competitiva de importações ocorrem nesses segmentos.<br />
Note-se, também, que a estrutura da indústria de plásticos é caracterizada pela presença de<br />
poucas grandes empresas e um grande número de pequenas e médias. Assim, mesmo que não seja<br />
visível, atualmente, o mercado para investimentos de grandes empresas, é útil buscar atrair empresas<br />
menores, principalmente se essas operarem processos mais intensivos em tecnologia ou fornecerem<br />
insumos sofisticados capazes de contribuir para a competitividade ou mesmo atração de outras,<br />
situadas mais abaixo sobre as cadeias produtivas.<br />
150 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
2.5.4. A cadeia produtiva de têxtil e calçados<br />
Segundo os dados disponíveis e as entrevistas realizadas, existem quatro questões centrais<br />
na inserção competitiva da cadeia têxtil mineira. A primeira diz respeito à distância em relação à<br />
origem da principal matéria-prima, o algodão. Atualmente, o principal pólo produtor de algodão,<br />
no Brasil, está na Região Centro-Oeste, distante das fábricas, implicando num custo de transporte<br />
significativo.<br />
A segunda questão relevante é sobre as fibras sintéticas. A evolução dos produtos têxteis<br />
tem sido na direção da crescente participação de matéria-prima sintética e artificial. Mas a indústria<br />
de Minas Gerais é especializada em produtos a base de algodão. As fibras sintéticas são, em<br />
grande parte, importadas de outros estados.<br />
A terceira questão é o baixo peso relativo do setor de confecções. Como mostra a TAB. 29,<br />
a participação do setor de confecções, no valor agregado da cadeia têxtil, em comparação com<br />
São Paulo e Brasil, é muito pequena.<br />
TABELA 29<br />
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA TÊXTIL NOS ESTADOS<br />
DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO E NO BRASIL<br />
MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BRASIL<br />
Fabricação de artigos do vestuário<br />
e acessórios<br />
Fabricação de calçados e de artigos<br />
12,0 61,7 31,1 34,8<br />
de couro e peles 32,0 8,1 15,0 19,2<br />
Indústria têxtil 56,0 30,2 53,9 46,0<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
A resultante das três questões mencionadas, importação de algodão e de fibras sintéticas<br />
e pequeno desenvolvimento do setor de confecções, é o nível baixo de autonomia média da<br />
cadeia têxtil em Minas Gerais (40%). A diferença, em relação a São Paulo e Brasil, é maior<br />
pelo lado das compras, pois a cadeia têxtil mineira compra, na própria cadeia, apenas 27%<br />
das suas compras totais, enquanto a cadeia têxtil de São Paulo realiza, na cadeia, 80% das<br />
suas compras.<br />
A quarta e última questão é a modernização do setor têxtil de Minas Gerais. Trabalho<br />
do <strong>BDMG</strong> (1999) informa que as pequenas e médias empresas do setor têxtil estão mais<br />
defasadas do que as empresas maiores. Assim, ao lado de financiar os projetos das grandes<br />
empresas têxteis, é útil examinar, mais detidamente, os problemas das empresas menores.<br />
Principalmente sua inserção em nichos específicos de mercado.<br />
É discutível, entretanto, se os quatro problemas apontados deveriam ter a mesma<br />
prioridade de política industrial. Iniciando-se pela questão das fibras sintéticas e artificiais,<br />
note-se que esses setores são intensivos em escala e a instalação de novos empreendimentos,<br />
em Minas Gerais, pode não ser factível, por provocar excesso de capacidade.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 151<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Sobre um maior apoio à plantação de algodão, observe-se, a esse respeito, que os incentivos<br />
fiscais dados à Região Centro-Oeste não atingem o Estado de Minas Gerais, tornando-se difícil a<br />
equiparação de vantagens competitivas.<br />
Quanto aos setores de fiação e tecelagem, a pesquisa do <strong>BDMG</strong> refere-se a pequenas e<br />
médias empresas. Como há um processo de concentração em curso, nesses segmentos, a viabilidade<br />
do investimento em empresas de menor porte deve ser analisado caso a caso.<br />
Entre as quatro questões assinaladas, diversas razões contribuem para um interesse em<br />
formular uma política de apoio e incentivo ao setor de confecções. O comércio internacional de<br />
confecções vem aumentando mais rapidamente do que o comércio internacional global, enquanto<br />
este último, por sua vez, vem crescendo mais do que o comércio internacional de produtos têxteis<br />
(fiação e tecelagem). De fato, entre 1995 e 2000, o comércio internacional de confecções cresceu<br />
5,9 % ao ano; o comércio internacional, para todos os produtos, cresceu a uma taxa anual de<br />
4,6%, e o de produtos têxteis aumentou apenas 2,6 % ao ano.<br />
Há interesse, entre as empresas de Minas Gerais, em seguir essa tendência e trabalhar no<br />
sentido de aprimorar seus produtos. Pesquisa do <strong>BDMG</strong> (1999) sobre o setor têxtil do Estado de<br />
Minas Gerais aponta que “A expectativa do setor para o curto prazo é de ampliação das vendas de<br />
produtos de maior valor agregado, como vestuário e produtos para o lar, principalmente as pequenas<br />
e médias empresas, que estão se organizando em consórcios ou associações para viabilizar o<br />
acesso ao mercado externo”. (<strong>BDMG</strong>, 1999)<br />
Minas Gerais apresenta diversas vantagens competitivas no setor de confecções, como<br />
disponibilidade de mão-de-obra relativamente barata, capacitação técnica e matéria-prima<br />
(significando, portanto, o adensamento da cadeia). Some-se a isso o fato do segmento de confecções<br />
ser uma das poucas atividades industriais na qual a produtividade, na década de 90, não se expandiu<br />
significativamente. Dado que sugere a existência de muitas oportunidades para investimentos<br />
competitivos.<br />
Finalmente, os entrevistados apresentaram-se céticos quanto às perspectivas de um maior<br />
desenvolvimento do setor de calçados. A migração da indústria de calçados para a Região Nordeste,<br />
comentada anteriormente, também atingiu empresas de Minas Gerais.<br />
2.5.5. A cadeia produtiva agroindustrial<br />
Na comparação com as cadeias dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, nota-se que a<br />
mais relevante cadeia de Minas Gerais é a agroindustrial. Seu valor agregado é um pouco menor<br />
do que a metade do valor agregado pela cadeia agroindustrial paulista e um pouco menor do que<br />
o dobro da cadeia agroindustrial do Rio de Janeiro.<br />
Os entrevistados demonstraram preocupação com a cadeia agroindustrial que, segundo<br />
eles, “(...) vive grande decadência”. Essa questão, entretanto, é abordada no primeiro capítulo<br />
deste volume.<br />
Cabe, entretanto, um comentário sobre o setor de papel, cujas perspectivas são promissoras,<br />
de acordo com os entrevistados. Eles apontam que o Estado possui uma fábrica de celulose,<br />
localizada próxima ao Estado de São Paulo, grande consumidor de papel. Por essa razão, a<br />
seção 2.5.5.1 apresenta mais dados sobre o setor de produção de papel.<br />
152 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 30<br />
DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA AGROINDUSTRIAL<br />
NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO E NO BRASIL<br />
MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO BRASIL<br />
Outras indústrias alimentares<br />
e de bebidas 5,4 39,0 21,2 9,6<br />
Fabricação de produtos farmacêuticos<br />
e de perfumaria 2,2 0,0 0,0 0,0<br />
Indústria de papel e gráfica 3,8 32,6 17,2 7,9<br />
Indústria da borracha 0,9 0,0 0,0 0,0<br />
Beneficiamento de produtos de origem<br />
vegetal, inclusive fumo<br />
Fabricação e refino de óleos vegetais<br />
6,7 3,4 4,0 5,9<br />
e de gorduras para alimentação 5,2 0,0 2,6 2,3<br />
Abate e preparação de carnes<br />
Resfriamento e preparação do leite<br />
5,7 4,0 2,3 4,7<br />
e laticínios n.d. 6,2 6,1 0,0<br />
Indústria do açúcar 2,6 3,8 3,8 1,2<br />
Indústria do café 4,2 0,9 0,5 1,7<br />
Agropecuária 63,4 10,0 42,3 66,7<br />
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)<br />
2.5.5.1. Papel<br />
O setor de papel é favorável a novos investimentos. Por um lado, há uma tendência, no<br />
mundo e no Brasil, de aumento do consumo do produto. Por outro, as firmas brasileiras são<br />
competitivas e tem condições de melhorar sua participação, tanto no mercado interno como nas<br />
exportações globais.<br />
O mercado mundial cresceu, nos anos 90, a uma taxa anual média de 3,1%. As regiões de<br />
maior crescimento foram Ásia/Oceania (5,3%) e América Latina (3,4%). Apenas na China o<br />
consumo de papel cresceu 11% a.a.<br />
A produção mundial está concentrada em quatro países (Estados Unidos, Japão, Canadá e<br />
China), que fabricaram mais de 53% do papel consumido no mundo, em 1999. Note-se, entretanto,<br />
que há uma tendência à desconcentração da produção. Na década de 90, a produção, na Coréia do<br />
Sul, cresceu 8% ao ano e, na Indonésia, 19% a.a.<br />
A produção brasileira cresceu, no mesmo período, apenas 4,4% a.a., taxa inferior, portanto,<br />
à observada na produção mundial. Mas há grandes diferenças entre os segmentos. O principal<br />
obstáculo à ampliação da produção nacional ocorre no segmento de papel para imprensa, no qual,<br />
como mencionado adiante, a produção brasileira está em ampla desvantagem. Nos demais<br />
segmentos, a produção nacional vem crescendo rapidamente e é internacionalmente competitiva<br />
em muitos segmentos. As exportações brasileiras são concentradas nos segmentos de papéis especiais<br />
e papéis para imprimir/escrever. O aumento das exportações, principalmente nesses dois segmentos,<br />
fez com que, entre 1990 e 1999, a participação das exportações na produção nacional tenha<br />
aumentado de 20% para 29%.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 153<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
O comércio mundial de papel vem crescendo mais rapidamente que a produção. No início<br />
da década de 90, o comércio mundial de papel equivalia a 23% da produção mundial e, em 1999,<br />
chegou a 29% da produção. Os cinco maiores exportadores (Canadá, Finlândia, Estados Unidos,<br />
Suécia e Alemanha) vêm perdendo participação no comércio mundial, abrindo espaço para novos<br />
países, com destaque para a Indonésia e a Coréia do Sul.<br />
No Brasil, o consumo per capita ainda é muito baixo. Enquanto o brasileiro consumia 37<br />
kilos de papel por ano, em 1997, o consumo per capita, nos países desenvolvidos, superava os 200<br />
kilos por ano. Mais importante ainda é observar que o consumo de papel é bastante elástico em<br />
relação à renda. Assim, com o País retomando o crescimento econômico, o consumo de papel<br />
aumentará rapidamente.<br />
Para ampliar a competitividade e a produção nacional, existem, pelo menos, dois gargalos<br />
relevantes. O primeiro ocorre no segmento de papel de imprensa, que é importado sem pagar<br />
nenhum imposto, enquanto o sucedâneo nacional paga impostos e taxas diversas como o PIS e a<br />
COFINS. Espera-se que esse obstáculo termine com a aprovação de uma lei específica, que está<br />
tramitando no Congresso Nacional.<br />
Outro problema é o porte relativamente pequeno das empresas nacionais. No setor, em<br />
nível internacional, por contraste, crescem as escalas mínimas necessárias para novos<br />
empreendimentos. Nesse aspecto, para ganhar escala, o setor deveria passar por um processo de<br />
fusões, com a formação de grupos empresariais mais robustos.<br />
Os segmentos mais viáveis para novos investimentos são os de papel para imprensa, papel<br />
para imprimir e escrever e papéis especiais. Tanto em papel para imprensa como no segmento de<br />
papel para imprimir e escrever, as importações são significativas.<br />
No primeiro caso, há um problema legal, acima mencionado, a ser superado. Mas no caso<br />
do papel para imprimir e escrever, novos investimentos já são viáveis. Principalmente se realizados<br />
através da aquisição de máquinas que fazem o beneficiamento de papéis já processados, sem<br />
revestimento. Nesse caso, o gasto em um novo projeto é menor, aumentando sua viabilidade<br />
econômica.<br />
Outras oportunidades de investimento estão associadas a potenciais mudanças nas<br />
preferências dos consumidores e na tecnologia. De fato, no mercado do papel, observa-se uma<br />
freqüente mudança no perfil de demanda. Por exemplo, no Brasil, por um lado, acabou o consumo<br />
de sacolas de supermercado e papel mata-borrão. Por outro lado, são cada vez mais usados os<br />
filtros de papel e as fraldas descartáveis.<br />
As modificações de produtos revelam mudanças tecnológicas e nas preferências dos<br />
consumidores. A continuidade desse movimento, principalmente no segmento de papéis especiais,<br />
assegura que, freqüentemente, estão se abrindo novas oportunidades de investimento.<br />
154 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
2.6. Conclusões e recomendações de políticas<br />
2.6. Conclusões e recomendações de políticas<br />
Este capítulo tem duas propostas, gerais, que se aplicam a todas cadeias produtivas.<br />
A primeira é sobre a organização de programas governamentais para apoiar o investimento e o<br />
aprimoramento técnico. Sugere-se que os programas devem variar segundo o tipo de cadeia<br />
produtiva. A taxonomia de cadeias produtivas, apresentada na seção 2.7, é usada para mostrar<br />
características dos programas que podem ser seguidos.<br />
A segunda conclusão diz respeito à dimensão política dos programas propostos. Na prática,<br />
observa-se que esses programas, muitas vezes, fracassam devido à sua baixa prioridade política. Por<br />
isso, propõe-se retomar uma iniciativa antiga do <strong>BDMG</strong> e do Governo de Minas Gerais, as Jornadas<br />
do DesenvolvimentO. O ponto alto das Jornadas do Desenvolvimento, como visto a seguir, está em<br />
um encontro das autoridades estaduais, incluindo o Governador, com as lideranças locais, pactuando<br />
o programa de desenvolvimento para as cadeias produtivas relevantes para a região.<br />
2.6.1. Uma hierarquia de programas de incentivo ao investimento e<br />
ao aprimoramento tecnológico<br />
Foi argumentado, no início do trabalho, que é importante aliar a política de incentivo ao<br />
investimento com a política de aprimoramento técnico/produtivo das cadeias produtivas. Por um<br />
lado, esse aprimoramento amplia a competitividade de empresas, setores e cadeias, leva à conquista<br />
de mercados e abre novas oportunidades de investimento. Por outro lado, certos investimentos<br />
são decisivos para alavancar a capacidade da cadeia em ampliar sua competitividade. Por exemplo,<br />
a cadeia eletrônica seria beneficiada pela entrada de uma empresa estruturante, e a cooperação<br />
técnica, entre as empresas do pólo de calçados de Nova Serrana, poderia ser maior se houvesse<br />
mais empresas produtoras de insumos, ferramentas ou mesmo bens de capital para esse segmento<br />
industrial.<br />
Assim, existe um círculo virtuoso entre ampliação da competitividade e a realização de<br />
novos investimentos.<br />
Também foi visto que existe uma ampla variedade de oportunidades de investimento no<br />
Estado de Minas Gerais. Para entender esse quadro rico e variado, é útil recorrer-se à taxonomia<br />
de cadeias produtivas proposta a seguir, que procura indicar tanto a extensão da cooperação<br />
técnica como o grau de desenvolvimento econômico da cadeia.<br />
2.6.1.1. Tipologia para discutir o investimento e o aprimoramento<br />
técnico e organizacional nas cadeias produtivas<br />
Para discutir, de forma associada, as oportunidades de investimento e o aprimoramento<br />
tecnológico e organizacional dentro das cadeias produtivas, é preciso levar em consideração a<br />
diversidade dos agentes e a intensidade das formas de cooperação. Nesse caso, propõe-se uma<br />
tipologia de cadeias produtivas, segundo o grau de desenvolvimento econômico de suas atividades.<br />
Essa tipologia é usada, na próxima seção, para classificar e analisar as políticas públicas de apoio<br />
ao aumento da competitividade e investimento.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 155<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
• Trabalhadores por conta própria ou micro empresas informais: caracterizam as cadeias<br />
muito atrasadas, como, por exemplo, agricultura em minifúndios ou aglomerações de<br />
grupos de costureiras, em favelas ou bairros pobres. A produtividade e qualidade, nesses<br />
casos, são muito baixas. A produção é artesanal. Sua vantagem advém,<br />
predominantemente, do baixíssimo custo da mão-de-obra ou de habilidades artísticas ou<br />
culturais (por exemplo, artesanato). Usualmente, os trabalhadores ou suas pequenas<br />
organizações são inteiramente dominados pelo circuito comercial ou pelos clientes, através<br />
do financiamento das suas atividades.<br />
• Empresas pequenas, informais ou formais: caracterizam as aglomerações industriais<br />
tradicionais, como pólos de confecções, calçados e de produção de materiais de construção.<br />
Um exemplo significativo é o pólo de calçados, em Nova Serrana. O trabalho é realizado<br />
em organizações formalmente estruturadas, embora, muitas vezes, sem sequer registro<br />
legal. Apesar do baixo nível de produtividade e qualidade e do desconhecimento de<br />
métodos de gestão, já há uma preocupação inicial com essas questões (por exemplo,<br />
interesse em se saber como melhor calcular custos e preços, como medir a qualidade dos<br />
insumos adquiridos e a rapidez da produção; neste último caso, para informar, aos clientes,<br />
os prazos de entrega). Há um grau mínimo de automação, por exemplo, um<br />
microcomputador e acesso à Internet, para utilização de serviços bancários e envio de<br />
mails. As empresas da ponta da cadeia produtiva recorrem a estruturas de comercialização<br />
informal, como o comércio de sacoleiros, ou vendem para pequenas lojas.<br />
• Empresas médias: estão, nesta classe, tanto agrupamentos de empresas maiores, de setores<br />
tradicionais, como agrupamentos de empresas menores, de setores intensivos em<br />
tecnologia. São agrupamentos de empresas cujo porte e capacitação lhes permitem a<br />
adoção de ações coletivas. Portanto, formam clusters, isto é, agrupamentos de empresas<br />
que exibem estruturas de interação e produção mais sofisticadas. Por exemplo, organizam<br />
feiras, elegem e pressionam políticos, desenvolvem ações de atração, para o local, sobre<br />
vendedores de bens de capital e insumos, etc. Muitas já recorrem à organização em células<br />
de produção, serviços de consultoria de gestão, etc. Seus serviços administrativos são<br />
automatizados e parte da produção também. Suas vendas podem alcançar qualquer ponto<br />
do mercado nacional, mas as exportações, em geral, são esporádicas. Em Minas Gerais,<br />
um exemplo é o do pólo de Santa Rita do Sapucaí, discutido neste trabalho.<br />
• Empresas grandes: compostos por grandes firmas, estes agrupamentos são definidos muito<br />
mais por relações de compra do que pelo compartilhamento de espaço geográfico<br />
determinado. A relação entre as empresas busca seguir as regras do just-in-time externo,<br />
isto é, com adoção de regras e controles de qualidade e eficiência. Parte das operações de<br />
compra e venda é automatizada. Atingem o mercado nacional e, muitas vezes, são<br />
costumeiramente exportadores e/ou importadoras. Possivelmente, o exemplo mais<br />
conhecido, em Minas Gerais, é o da FIAT Automóveis.<br />
Note-se, também, que, em muitas cadeias, empresas maiores se relacionam, diretamente,<br />
com grande número de empresas menores, formando aglomerações com empresas de tamanho<br />
misto. Por exemplo, empresas dos pólos de confecção compram suas matérias-primas de grandes<br />
empresas têxteis e, algumas vezes, vendem para grandes cadeias varejistas. Às vezes, existe grande<br />
dependência das empresas pequenas em relação às grandes. Por exemplo, quando as grandes<br />
fornecem os insumos e know-how, organizam a produção (por exemplo, ditam padrões de produto<br />
e de qualidade) e, também, compram o produto final das pequenas. Quanto maior a dependência,<br />
mais importante é realizar a análise integrada.<br />
156 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
2.6.1.2. Aplicação da tipologia a uma hierarquia de programas de<br />
política industrial<br />
Antes de apresentar a tipologia, cabe enfatizar que o foco da proposta são as cadeias<br />
produtivas e, não, agrupamentos de indústria. Por exemplo, quando se propõe um programa para<br />
a Sociedade da Informação ou para a cadeia da construção civil, está-se propondo uma política<br />
que, embora enfatizando os agrupamentos existentes, atravessa todo Estado.<br />
Trabalhadores por conta própria ou micro empresas informais: este caso é relevante porque<br />
nele a política industrial é, na prática, uma política de rendas. Do ponto de vista estrito da<br />
contribuição para a produção para o mercado interno e externo, essa é a classe de cadeias<br />
quantitativamente menos relevante. Um caso particular e potencialmente exportador é o do<br />
artesanato, muitas vezes realizado nesse nível de organização.<br />
Outro caso, mais comum, é da facção, em que cooperativas de trabalhadores realizam as<br />
atividades mais intensivas em mão-de-obra, por encomenda de empresas exportadoras maiores.<br />
Muitas vezes, essas cooperativas são, predominantemente, de mulheres, que realizam o trabalho<br />
perto de suas residências, onde podem cuidar dos filhos menores. Também estão nessa classe<br />
trabalhadores da construção civil (obras de reforma, pequenas construções) e a agricultura familiar.<br />
Nessa classe da tipologia, o custo do investimento por oportunidade de negócio é muito<br />
pequeno e os principais obstáculos costumam ser de natureza organizacional. Por exemplo, muitas<br />
vezes, a produção é dominada pelo circuito financeiro. Nesse contexto, o microcrédito é uma<br />
política eficiente de incentivo ao desenvolvimento das atividades.<br />
O aprimoramento técnico, no caso dessas cadeias, é, substancialmente, relacionado a<br />
mudanças no processo de trabalho, com adoção de novas ferramentas ou, no máximo, máquinas<br />
de pequeno porte. Assim, o ensino profissional e outras formas de aprendizado direto são muito<br />
relevantes para o aumento da produtividade.<br />
Por exemplo, junto à cultura do algodão orgânico, em Tauá, Estado do Ceará, atua a<br />
ESPLAR, uma ONG conhecida por seu trabalho junto a culturas orgânicas. A ESPLAR tem um<br />
escritório na região, que organiza visitas de apoio técnico, onde agentes treinados (outros<br />
agricultores), por exemplo, ensinam aos agricultores como fazer as curvas de nível no terreno de<br />
cultura. Mas, muitas vezes, existem necessidades sistêmicas cuja superação requer um apoio mais<br />
consistente. Em Tauá, a ESPLAR implantou e gerencia um laboratório de controle da praga do<br />
Bicudo.<br />
Na prática, observa-se que existe, no Brasil, uma grande diversidade de organizações<br />
oferecendo programas de apoio a comunidades mais pobres. Entre essas, encontram-se grandes<br />
empresas, em programas de gestão social, agências de todos os níveis do governo, ONGs e outras<br />
instituições privadas como o SEBRAE. A principal característica dessa oferta é a falta de<br />
coordenação entre os agentes. Na verdade, essas organizações, muitas vezes, competem entre si.<br />
Uma proposta é a de organização de agências locais, que reúnam toda a diversidade de<br />
organizações que se interessam por executar programas junto às comunidades mais carentes, que<br />
formam esse tipo de cadeia produtiva. Nessas agências, seria realizada a coordenação entre os<br />
ofertantes e o planejamento do atendimento à cadeia produtiva e à comunidade — Prochnik<br />
(2002).<br />
A) Empresas pequenas, informais ou formais: neste grupo estão as cadeias de empresas<br />
pequenas de setores tradicionais, como calçados, confecções, materiais de construção<br />
(telhas, por exemplo) e pequenas minerações. Nesse nível de organização, as vendas<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 157<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
podem alcançar outros estados. Quando os produtos são mais simples e a produção<br />
informal, a distribuição comercial também segue canais menos sofisticados, como as<br />
redes de sacoleiras.<br />
Mas já há possibilidade concreta de produção para exportação, através de cooperativas, ou,<br />
mais comumente, para exportadores. No último caso, as empresas colaboram para as exportações,<br />
terceirizando a produção de firmas maiores, que têm os contratos com os clientes finais. Portanto,<br />
elas fazem, predominantemente, atividades de montagem de peças.<br />
Nessa classe da tipologia, em geral, os investimentos são incrementais, requerendo uma<br />
oferta de crédito com alta capilaridade.<br />
As vantagens competitivas essenciais são espúrias, como pagamento de baixos salários,<br />
informalidade da produção e recurso a matérias-primas mais baratas e acabamento menos<br />
sofisticado. A política do governo, para o aprimoramento da cadeia produtiva, nesse nível de<br />
organização, assume o caráter de extensionismo industrial.<br />
Outro exemplo seria o pólo de calçados de Nova Serrana (Crocco, 2002). O tipo de<br />
organização que gerencia ou lidera esse processo é diferente do anterior, porque essa aglomeração<br />
industrial já tem capacitação técnica para organizar o processo de aprimoramento tecnológico. No<br />
caso de Nova Serrana, “... o CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL — o sindicato<br />
patronal local — tem uma ação destacada no sentido de integração entre as empresas. Dentre as<br />
suas atividades, se destacam o aluguel de um equipamento de CAD para as empresas; a construção<br />
de um laboratório de testes para aferir a qualidade dos calçados produzidos pelos filiados; a oferta<br />
de cursos de treinamento de mão-de-obra e a criação, em conjunto com o CEFET, de um curso de<br />
técnicos em calçados.” — Crocco (2002, p. 5)<br />
As estratégias de intervenção bem-sucedidas procuram aliar programas de governo às<br />
instituições locais. Em particular, é útil formar um conselho local, do qual participem as principais<br />
lideranças empresariais e dos trabalhadores, para funcionar como elo entre o programa de governo<br />
e a economia local.<br />
B) Empresas médias: este grupo é composto por cadeias de empresas pequenas, de setores<br />
mais intensivos em tecnologia, ou empresas médias e grandes, de setores maduros ou<br />
tradicionais, fabricando produtos mais sofisticados.<br />
Os produtos podem atingir o mercado nacional ou até mesmo serem exportados. Na<br />
exportação, elas costumam se encaixar na categoria que vende para produtores em Original Equipment<br />
Manufacturing(OEM) 7 .<br />
Seu nível de autonomia, frente aos exportadores, é, portanto, muito baixo. A política<br />
industrial e comercial deve procurar formas de conseguir o up-grade para a categoria seguinte,<br />
ODM, Original Design Manufacturing, que são empresas em que o fornecedor realiza não apenas as<br />
atividades do fornecedor para firmas OEM, como, também, fornece o desenho e especificações e<br />
gerencia a logística da produção. O fornecedor, entretanto, segue os requisitos do comprador<br />
quanto à embalagem e seus rótulos, incluindo o uso da marca do importador.<br />
7 Produtor em Original Equipment Manufacturing (OEM) é a empresa cliente, que contrata a produção, fornece o desenho,<br />
especificações do produto e sua qualidade, incluindo as da embalagem e do empacotamento, e coloca sua marca. O fornecedor<br />
controla a produção e o cliente controla a distribuição. Em relação à montagem, o produtor é mais autônomo e o seu aprendizado<br />
é mais favorecido. O aprendizado incide tanto sobre operação de produção, como, também, sobre características das operações<br />
dos elos para trás e para frente na cadeia produtiva.<br />
158 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Quanto ao apoio ao investimento, esse grupo está no extrato inferior das empresas que têm<br />
acesso ao crédito dos órgãos oficiais. Para elas, a simplificação de rotinas, diminuição de prazos<br />
de atendimento e descentralização da oferta de crédito democratizam a difusão do crédito.<br />
Em Minas Gerais, como mencionado anteriormente, um exemplo é o do pólo de Santa Rita<br />
do Sapucaí. O pólo já conta com um sistema de planejamento próprio. As instituições de ensino<br />
locais mantêm intensa troca de experiências com as empresas, na maioria das vezes formadas por<br />
ex-alunos — Lemos & Diniz (1998).<br />
O que difere esse grupo do anterior é o maior comprometimento com atividades coletivas<br />
e um nível técnico mais sofisticado. Na prática, essas variáveis são difíceis de medir. Algumas<br />
diferenças, entretanto, são significativas. Por exemplo, nesse grupo há maior recurso ao<br />
conhecimento científico. A Universidade, portanto, assume um papel de maior relevância, em<br />
comparação com centros técnicos que costumam apoiar a classe anterior.<br />
Empresas grandes: são essas empresas as que devem implantar o supply chain management,<br />
isto é, o lean retailing (Hammond, 2001). Nesse caso, a política do governo abrange apoio ao<br />
financiamento do investimento e da atividade tecnológica, infra-estrutura tecnológica, defesa da<br />
concorrência e apoio à comercialização externa e à participação em algumas iniciativas, como<br />
consórcios de empresas e universidades. Esses consórcios são particularmente interessantes no<br />
caso do desenvolvimento ou adaptação de novas tecnologias, como é, na cadeia têxtil, o caso do<br />
HARVARD CENTER FOR TEXTILE AND APPAREL RESEARCH, em pesquisas sobre<br />
comércio eletrônico, logística empresarial, etc.<br />
Nas perspectivas de exportação, também se aplica, nesse caso, a discussão sobre upgrade das<br />
empresas, realizada no item anterior. A categoria seguinte ao ODM é o OBM, Original brandname<br />
manufacturing, onde o fornecedor vende o produto com embalagem e rótulo, seguindo suas próprias<br />
especificações e marcas de comércio. Algumas empresas já conseguiram esse aprimoramento e estão<br />
investindo no exterior. Esses casos devem ser melhor estudados, pois essa é a direção que se preconiza.<br />
2.6.2. As jornadas do desenvolvimento<br />
A segunda proposta é uma retomada das Jornadas do Desenvolvimento. As Jornadas do<br />
Desenvolvimento foram idealizadas pelo então Presidente do <strong>BDMG</strong>, Dr. Hindenburgo Pereira<br />
Diniz. Elas começaram em 1967, após a consecução, pelo Banco, do primeiro Diagnóstico da<br />
Economia Mineira, e duraram aproximadamente até 1975.<br />
As Jornadas do Desenvolvimento foram eventos que marcaram o apoio do Estado de Minas<br />
Gerais a programas de desenvolvimento econômico para suas principais regiões. Elas se<br />
constituíram, principalmente, em uma mobilização do Governo para respaldar o planejamento<br />
realizado para uma dada região e buscavam assegurar condições políticas para sua efetiva<br />
implantação.<br />
Uma Jornada do Desenvolvimento é precedida pelo planejamento participativo para a região.<br />
Nessa fase, são discutidas as principais linhas de ação para o desenvolvimento regional e acordadas<br />
as participações das diversas instâncias do Governo.<br />
O evento central é uma visita programada, do Governador, políticos mineiros e técnicos do<br />
governo federal e estadual a uma cidade-pólo, por alguns dias. Nessa visita, são debatidas questões<br />
pertinentes à economia nacional, estadual e local, enfatizando esta última. Muitas vezes, o grupo<br />
também vai conhecer algumas das maiores empresas da região.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 159<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Mas o principal significado de uma Jornada do Desenvolvimento é político. Seu evento<br />
confirma o apoio do Estado ao plano de desenvolvimento previamente alinhavado, para todos os<br />
agentes participantes. Esse apoio é fundamental, porque a implantação de um plano de<br />
desenvolvimento econômico local ou regional pode encontrar muitos obstáculos e resistências<br />
não relacionados com a disponibilidade de financiamento das atividades previstas. Mas se o plano<br />
tem o suporte direto e claro do Governo do Estado, essas resistências são muito mais facilmente<br />
enfrentadas.<br />
Assim, fica claro que, para o desenvolvimento econômico estadual, não basta a proposição<br />
de planos de governo para o desenvolvimento, como as propostas da seção precedente. É necessário<br />
divisar também um mecanismo de apoio político e de sinalização, para os agentes envolvidos, da<br />
intensidade desse apoio. A reedição das Jornadas do Desenvolvimento é um instrumento poderoso<br />
nesse sentido.<br />
160 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
2.7. Apêndice: a delimitação de cadeias<br />
produtivas para o Brasil e estados de<br />
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro<br />
O método de delimitação de cadeias produtivas. Este trabalho apresenta a delimitação<br />
de cadeias produtivas para o Brasil e os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os<br />
exercícios de delimitação são feitos a partir das matrizes de insumo-produto para as respectivas<br />
regiões. Foram usadas matrizes de insumo-produto indicadas pela TAB. 31.<br />
TABELA 31<br />
FONTE DE DADOS UTILIZADA PARA DELIMITAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS<br />
REGIÃO MATRIZ INSUMO-PRODUTO<br />
Brasil IBGE (2000)<br />
Minas Gerais FIPE (2001)<br />
São Paulo Haddad, E. & Domingues, E. (2001)<br />
Rio de Janeiro CIDE (2002)<br />
FONTE: Elaboração do autor<br />
Nos quatro casos, a delimitação das cadeias produtivas foi feita com base em dados para<br />
1996. Mas as classificações por setor, adotadas nas diferentes matrizes, não são iguais. A<br />
compatibilização entre as classificações é discutida na próxima seção.<br />
2.7.1. O método de delimitação de cadeias produtivas<br />
Para delimitar cadeias produtivas, foi utilizada a metodologia proposta em Haguenauer,<br />
Prochnik, Guimarães e Araújo Jr. (1986) e aperfeiçoada em Haguenauer e Prochnik (2000). É<br />
preciso esclarecer que o método foi proposto e aperfeiçoado pela primeira autora, Lia Haguenauer.<br />
Por essa razão, ele é denominado, aqui, de método Haguenauer. Como visto a seguir, a delimitação<br />
de macrocadeias se assemelha a um exercício de identificação de clusters (agrupamentos).<br />
A delimitação das cadeias produtivas é realizada em dois passos consecutivos. O primeiro<br />
consiste em estimar uma matriz de transações entre setores, diferente, em vários aspectos abaixo<br />
relacionados, da matriz de compras e vendas intersetoriais (D x B) x P, onde (D x B) é a matriz de<br />
coeficientes técnicos diretos e P é o vetor de produção por setor.<br />
Na matriz estimada, procura-se manter apenas as transações que denotam o processo de<br />
transformação das matérias-primas, pelas sucessivas etapas de produção. Deseja-se representar a<br />
especificidade dos diferentes processos industriais, enfatizando a coesão entre os setores<br />
componentes das cadeias.<br />
As atividades e setores eliminados são os seguintes:<br />
• Vendas de materiais auxiliares (combustíveis, energia, etc.).<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 161<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
• Vendas de embalagens (sacaria, vidro, etc.).<br />
• Compra e venda de serviços.<br />
• Vendas de bens de capital. Isto porque as compras de bens de capital não são proporcionais<br />
ao nível de atividade do processo de transformação.<br />
• Produtos para escritório (alguns tipos de vendas de materiais elétricos, etc.).<br />
Diversas razões explicam os passos de identificação da matriz de transações usada para<br />
delimitar cadeias produtivas. Eles são apresentados e discutidos em Haguenauer et al (1986);<br />
Haguenauer & Prochnik (2000) e Haguenauer et al (2001) e, por essa razão, não são aqui discutidos.<br />
O segundo passo é classificar, na matriz de transações assim obtida, os setores em cadeias<br />
produtivas. A técnica empregada é bastante direta: a cada setor, são considerados relacionados os<br />
setores que são seus maiores clientes e fornecedores. Para isto, tanto pelo lado das compras como pelo<br />
lado das vendas, é escolhido um limite de compras (ou vendas) acumulado, para considerar os setores<br />
selecionados. Nos exercícios de delimitação realizados, foi sempre considerado o limite de 50%. Assim,<br />
a cada setor, foram associados, pelo lado das suas vendas (compras), seus clientes (fornecedores), em<br />
ordem de importância decrescente de compras (vendas). A associação de novos setores para quando o<br />
volume de compras (vendas) conjuntas dos setores escolhidos iguala ou ultrapassa o limite de 50% das<br />
vendas do setor em consideração. Desta forma, as cadeias produtivas são constituídas por conjuntos<br />
de setores que realizam, entre si, grande parte de suas transações de compra e venda.<br />
Foi necessário escolher um limite para as compras e vendas porque observa-se, na estrutura<br />
econômica representada pela matriz de transações, que cada setor transaciona, em maior ou menor<br />
grau, com todos os demais. Assim, a decisão de qual é o ponto de corte entre as cadeias é,<br />
necessariamente, arbitrária.<br />
Mas o método empregado não garante, em diversos casos relevantes, a total separação<br />
entre as cadeias. Assim, é necessário efetuar cortes arbitrários entre setores, para se chegar a<br />
cadeias produtivas constituídas de sentido analítico. Nos gráficos, as relações que estão dentro do<br />
limite de 50%, mas associam setores de cadeias produtivas diferentes (portanto, que sofreram<br />
cortes arbitrários) são apresentadas por linhas tracejadas.<br />
Por essa razão, uma das características centrais do algoritmo Haguenauer é a sua clareza. À<br />
medida que os critérios são mais explícitos (em relação a métodos alternativos, como a análise<br />
fatorial, por exemplo), o trabalho do analista de dados é mais simples. A clareza no método facilita<br />
a interpretação e debate dos resultados.<br />
Por último, note-se a semelhança entre os resultados alcançados nos diferentes exercícios<br />
de delimitação. Como visto na próxima seção, as diferenças, de caso para caso, na composição<br />
setorial de cada cadeia, são pequenas. O método Haguenauer, portanto, parece ser bastante robusto,<br />
o que é outra característica positiva que recomenda o seu emprego.<br />
2.7.2. Características técnicas das matrizes utilizadas e do emprego do<br />
método Haguenauer<br />
Nesta seção, são explicadas as peculiaridades do processo de delimitação de cadeias<br />
produtivas em cada caso.<br />
Para a economia brasileira, a delimitação dos complexos foi realizada por Haguenauer et al<br />
(2001). Neste caso, o único procedimento adicional adotado foi o de agregar algumas cadeias<br />
162 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
encontradas por esta autora, para melhor comparar a estrutura da economia brasileira com as dos<br />
estados selecionados. A decisão da cadeia maior, na qual se insere a cadeia mais restrita, foi<br />
tomada tendo em vista as relações de compra e venda estabelecidas pela cadeia mais restrita.<br />
Assim, enquanto Haguenauer et al (2001) separam um “complexo eletrônico”, neste trabalho<br />
o complexo eletrônico foi agregado ao complexo metal-mecânico. No mesmo sentido, o setor<br />
“indústria papel e gráfica” foi incluído no complexo agroindustrial, diferentemente da delimitação<br />
feita por Haguenauer (texto para discussão 786), que considerou este setor como um complexo<br />
em si, ou uma cadeia colapsada.<br />
As matrizes de insumo-produto para Minas Gerais e para São Paulo resultaram de estimativas<br />
realizadas pela FIPE/USP, a partir da matriz brasileira e dados regionais. A mesma metodologia<br />
foi empregada em ambos os casos. Por isto, tanto os problemas encontrados, no emprego do<br />
método de delimitação, como as soluções divisadas, foram as mesmas.<br />
O principal problema adveio do fato de ambas matrizes terem sido calculadas a partir de<br />
uma matriz de transações intersetoriais para o Brasil. Não existem, portanto, as matrizes setorproduto<br />
e produto-setor. Isso dificulta o emprego do método Haguenauer, pois os produtos a<br />
serem eliminados têm que ser estimados.<br />
Este é o caso das vendas de anúncios e serviços gráficos, que devem ser zeradas. Mas,<br />
como essa atividade tem uma participação muito reduzida, dentro do setor “indústria de papel e<br />
gráfica”, optou-se por não modificar os valores das vendas do setor “indústria de papel e gráfica”.<br />
As vendas de óleos combustíveis também devem ser zeradas (matéria-prima auxiliar). Mas<br />
a participação deste produto, nas vendas do setor refino do petróleo e indústria petroquímica, é<br />
significativa. Por isto, suas vendas foram estimadas e o valor resultante subtraído das vendas do<br />
setor refino de petróleo e indústria petroquímica.<br />
Algumas vendas de produtos não podem ser caracterizadas como fazendo parte de uma<br />
cadeia produtiva. As vendas de vidro, para a indústria de bebidas, são para embalar o produto.<br />
Mas o produto embalado não é constituído de vidro. Logo, essas vendas não devem ser levadas<br />
em consideração dentro de uma análise de complexos.<br />
De forma semelhante, os produtos que tipicamente devem ter algumas de suas vendas<br />
desconsideradas são: produtos de material elétrico, artigos de plástico, papel, celulose, papelão e<br />
artefatos, álcool de cana e cereais, outros produtos têxteis, outros produtos metalúrgicos e artigos<br />
de vidro.<br />
Os setores fabricação de aparelhos de material elétrico, indústria de transformação de<br />
material plástico e outros metalúrgicos são constituídos por um único produto. Logo, nesses casos,<br />
só foi preciso anular normalmente os valores das vendas desses setores, como se fossem os produtos.<br />
Nos setores de elementos químicos e de indústria têxtil, que são compostos por mais de um<br />
produto, foi utilizado o mesmo método do setor refino do petróleo e indústria petroquímica (com<br />
relação ao produto óleos combustíveis). Mas, ao invés de desconsiderar todas as vendas dos<br />
produtos, como feito com o produto óleos combustíveis, só não foram levadas em consideração<br />
as vendas que não fazem parte de uma cadeia produtiva, como a venda de outros produtos têxteis<br />
para a agropecuária, que é a venda de sacos apenas para embalar os grãos.<br />
No caso dos minerais não-metálicos, que não é constituído apenas pelo produto artigos de<br />
vidro, o objetivo inicial era encontrar quanto das vendas de fabricação de minerais não-metálicos<br />
de São Paulo para cada setor era na verdade venda de artigos de vidro.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 163<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A necessidade de se encontrar essa proporção deve-se ao fato de que, na elaboração de<br />
complexos, nem todas as vendas de artigos de vidro devem ser levadas em consideração. Vidros<br />
são amplamente consumidos, mas, do ponto de vista dos complexos, as compras devem ser levadas<br />
em consideração quando os produtos consumidos são utilizados como insumos (tornando-se parte<br />
integral do produto), pois desta maneira caracteriza-se a existência de uma cadeia produtiva. Os<br />
valores de vendas deveriam então ser anulados, quando não fizessem parte de uma cadeia.<br />
O processo utilizado para se encontrar quanto das vendas de minerais não-metálicos era, na<br />
realidade, venda de artigos de vidro (os dados não constavam da matriz insumo produto SP 1996),<br />
foi de utilização da mesma proporção encontrada na pesquisa industrial anual (PIA), de 1996. É<br />
feita, portanto, a hipótese de que a relação produção de vidro/produção de minerais não-metálicos,<br />
nos dados da PIA, é igual à relação em São Paulo e que essa proporção é igual para todos os setores.<br />
Note-se, também, que as versões disponíveis da matriz de São Paulo e de Minas Gerais são<br />
ainda preliminares. Por essa razão, na matriz de transações referente a Minas Gerais, os setores<br />
fabricação de outros veículos, peças e acessórios e leite e laticínios, que ainda apresentam algumas<br />
inconsistências, não foram incluídos nos complexos. Esses setores foram agregados em um setor<br />
à parte, denominado de “outros”. De forma semelhante, na Matriz de São Paulo, ainda existem<br />
alguns resíduos que impedem a igualdade do valor bruto da produção calculado na linha e na<br />
coluna. Esses resíduos foram alocados a uma linha, junto da linha de valor agregado, denominada<br />
de “outros”.<br />
Por último, existe a questão de como alocar o setor “indústrias diversas”. Este setor foi<br />
agregado ao setor serviços, tanto por sua pequena participação no produto dos setores de serviços<br />
(na matriz para o Brasil, a participação do setor “indústrias diversas”, no setor “serviços”, é de<br />
apenas 0,66%), como pela composição do setor de serviços. Este setor, por exemplo, já inclui<br />
algumas atividades com características bastante próximas às industriais, como a oferta de serviços<br />
de utilidade pública.<br />
2.7.2.1. Classificação dos setores por cadeia produtiva<br />
Com a aplicação do método Haguenauer, são encontradas as cadeias produtivas e delimitadas<br />
suas composições em termos de setores. O método tem se mostrado bastante robusto, pois os<br />
diversos exercícios de delimitação têm chegado às mesmas cadeias, com composição setorial<br />
bastante semelhante. As cadeias produtivas e suas respectivas composições setoriais estão na<br />
TAB. 32.<br />
Nesse sentido, este trabalho não foi exceção. Na delimitação de cadeias produtivas, nas<br />
matrizes insumo-produto de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, foram encontradas as<br />
mesmas cinco grandes cadeias, construção civil, metal-mecânica, química, têxtil e agroindústria.<br />
Nos três exercícios, assim como no referente à matriz para o Brasil, cuja delimitação em<br />
cadeias foi feita por Haguenauer (2001), a cadeia papel e gráfica foi colocada na cadeia<br />
agroindustrial. Esse procedimento é justificado pelos dados existentes (o setor agroindústria é seu<br />
principal fornecedor) e, também, porque não há uma preocupação com o número relativamente<br />
pequeno de setores das matrizes de insumo-produtos. Isto porque, como o trabalho compara<br />
quatro matrizes diferentes, a diversidade de situações encontradas é bem ampla, mesmo com o<br />
elevado grau de agregação das matrizes.<br />
Desde o primeiro estudo — Haguenauer et al (1986) —, procurou-se delimitar cadeias mais<br />
ou menos abrangentes, de forma que as do segundo tipo, os microcomplexos, são parte das do<br />
164 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
primeiro tipo, os macrocomplexos. Nesse contexto, a cadeia papel e gráfica sempre foi considerada<br />
um objeto à parte, pois não tinha dimensões suficientes para se constituir num macrocomplexo,<br />
nem seus setores são muito inter-relacionados com outros setores, de forma a constituir um<br />
microcomplexo.<br />
Mas as diferentes cadeias da cadeia agroindustrial, como café, óleos vegetais e carnes,<br />
também têm essa propriedade, são relativamente independentes das demais cadeias agroindustriais.<br />
Por essa razão também, e dado o interesse em se trabalhar com reduzido número de cadeias, a<br />
cadeia papel e gráfica foi considerada dentro da cadeia agroindustrial. Assim, os quatro exercícios<br />
de delimitação considerados levam às mesmas cinco cadeias produtivas.<br />
Quanto à composição setorial das cadeias, houve um pequeno número de diferenças entre<br />
os quatro exercícios. Embora em baixo número, algumas dessas diferenças têm significado<br />
econômico relevante e são, a seguir, apresentadas. A TAB. 32 apresenta as composições setoriais<br />
resultantes de todos exercícios de delimitação.<br />
Na matriz de Minas Gerais, o setor de farmacêutica e perfumaria foi localizado na cadeia<br />
agroindustrial e, não, na cadeia química, como nos outros casos. Isso se deve ao tipo de atividade<br />
predominante neste setor mineiro, mais voltado para a saúde animal.<br />
Também em Minas Gerais, a extração de minerais, que nos demais estados e no Brasil está<br />
na cadeia da construção civil, foi alocada à cadeia metal-mecânica. Ao contrário dos demais<br />
estados e do Brasil como um todo, em Minas Gerais a extração de minerais metálicos é mais<br />
importante do que a extração de minerais não-metálicos.<br />
Por último, o setor indústria da borracha que, nos demais estados e no Brasil, está na cadeia<br />
química, foi considerado na cadeia agroindustrial em Minas Gerais, porque suas compras são<br />
oriundas principalmente desta cadeia.<br />
Em São Paulo, o setor de extração de petróleo e gás está na cadeia metal-mecânica, enquanto,<br />
nos demais estados e no Brasil, o setor é a base da cadeia química. O motivo é a inexistência de<br />
extração de petróleo e gás no Estado de São Paulo, em 1996. Há, entretanto, produção de carvão,<br />
que também pertence ao mesmo setor, mas tem seus principais clientes na cadeia metal-mecânica.<br />
A matriz do Rio de Janeiro segue uma metodologia um pouco diferente quanto à sua<br />
composição em setores. Foram considerados três setores adicionais, não encontrados nos demais<br />
estados e no Brasil: indústria fonográfica, ourivesaria e equipamentos hospitalares. Indústria<br />
fonográfica está na cadeia química, ourivesaria e equipamentos hospitalares estão na cadeia metalmecânica.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 165<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
BRASIL<br />
CONSTRUÇÃO<br />
CIVIL<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
MINAS GERAIS<br />
CONSTRUÇÃO<br />
CIVIL<br />
166 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
SÃO PAULO<br />
CONSTRUÇÃO<br />
CIVIL<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
RIO DE JANEIRO<br />
CONSTRUÇÃO<br />
CIVIL<br />
33 Construção civil 33 Construção civil 33 Construção civil 2.1 Construção civil<br />
13 Serrarias e<br />
fabricação de artigos<br />
de madeira e<br />
mobiliário<br />
4 Fabricação de<br />
minerais<br />
não-metálicos<br />
2 Extrativa mineral<br />
(exceto combustíveis)<br />
13 Serrarias e<br />
fabricação de artigos<br />
de madeira e<br />
mobiliário<br />
4 Fabricação de<br />
minerais<br />
não-metálicos<br />
13 Serrarias e<br />
fabricação de artigos<br />
de madeira e<br />
mobiliário<br />
4 Fabricação de<br />
minerais<br />
não-metálicos<br />
2 Extrativa mineral<br />
(exceto combustíveis)<br />
2.2 Serrarias e<br />
fabricação de artigos<br />
de madeira e<br />
mobiliário<br />
2.3 Cimento<br />
2.4 Vidro<br />
2.5 Outros minerais<br />
não-metálicos<br />
2.6 Extrativa mineral<br />
METAL-MECÂNICA METAL-MECÂNICA METAL-MECÂNICA METAL-MECÂNICA<br />
11 Fabricação de<br />
automóveis,<br />
caminhões e ônibus<br />
8 Fabricação e<br />
manutenção de<br />
máquinas e tratores<br />
10 Fabricação de<br />
aparelhos e<br />
equipamentos de<br />
material eletrônico<br />
9 Fabricação de<br />
aparelhos e<br />
equipamentos de<br />
material elétrico<br />
9 Fabricação de<br />
aparelhos e<br />
equipamentos de<br />
material elétrico<br />
7 Fabricação de outros<br />
produtos metalúrgicos<br />
6 Metalurgia dos<br />
não-ferrosos<br />
11 Fabricação de<br />
automóveis,<br />
caminhões e ônibus<br />
8 Fabricação e<br />
manutenção de<br />
máquinas e tratores<br />
10 Fabricação de<br />
aparelhos e<br />
equipamentos de<br />
material eletrônico<br />
9 Fabricação de<br />
aparelhos e<br />
equipamentos de<br />
material elétrico<br />
9 Fabricação de<br />
aparelhos e<br />
equipamentos de<br />
material elétrico<br />
7 Fabricação de outros<br />
produtos metalúrgicos<br />
6 Metalurgia dos<br />
não-ferrosos<br />
TABELA 32<br />
CADEIAS PRODUTIVAS E RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES SETORIAIS<br />
11 Fabricação de<br />
automóveis,<br />
caminhões e ônibus<br />
8 Fabricação e<br />
manutenção de<br />
máquinas e tratores<br />
12 Fabricação de outros<br />
veículos, peças e<br />
acessórios<br />
10 Fabricação de<br />
aparelhos e<br />
equipamentos de<br />
material eletrônico<br />
10 Fabricação de<br />
aparelhos e<br />
equipamentos de<br />
material eletrônico<br />
9 Fabricação de<br />
aparelhos e<br />
equipamentos de<br />
material elétrico<br />
7 Fabricação de outros<br />
produtos metalúrgicos<br />
5 Siderurgia 5 Siderurgia 6 Metalurgia dos<br />
não-ferrosos<br />
2 Extrativa mineral<br />
(exceto combustíveis)<br />
3.1 Automóveis,<br />
caminhões e<br />
ônibus<br />
3.2 Indústria naval<br />
3.3 Equipamentos<br />
hospitalares<br />
3.4 Ourivesaria e<br />
bijuteria<br />
3.4 Ourivesaria e<br />
bijuteria<br />
3.5 Máquinas e<br />
equipamentos<br />
3.6 Máquinas e<br />
equipamentos<br />
3.7 Equipamentos<br />
eletrônicos<br />
5 Siderurgia 3.8 Material elétrico<br />
3 Extração de petróleo<br />
e gás natural, carvão<br />
e outros combustíveis<br />
3.9 Outros<br />
metalúrgicos<br />
3.10 Outros dos<br />
metalúrgicos<br />
3.11 Siderurgia<br />
3.12 Petróleo e gás
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
BRASIL<br />
19 Fabricação de<br />
produtos<br />
farmacêuticos e de<br />
perfumaria<br />
20 Fabricação de<br />
produtos<br />
farmacêuticos e de<br />
perfumaria<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
MINAS GERAIS<br />
20 Indústria de<br />
transformação de<br />
material plástico<br />
18 Indústria de<br />
transformação de<br />
material plástico<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
SÃO PAULO<br />
19 Fabricação de<br />
produtos<br />
farmacêuticos e de<br />
perfumaria<br />
20 Fabricação de<br />
produtos<br />
farmacêuticos e de<br />
perfumaria<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
RIO DE JANEIRO<br />
QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA<br />
15 Indústria da borracha 16 Fabricação de<br />
elementos químicos<br />
diversos<br />
18 Fabricação de<br />
produtos químicos<br />
diversos<br />
16 Fabricação de<br />
elementos químicos<br />
diversos<br />
17 Refino de petróleo e<br />
indústria petroquímica<br />
3 Extração de petróleo<br />
e gás natural, carvão<br />
e outros combustíveis<br />
22 Fabricação de<br />
artigos do vestuário e<br />
acessórios<br />
17 Refino de petróleo e<br />
indústria<br />
petroquímica<br />
3 Extração de petróleo<br />
e gás natural, carvão<br />
e outros combustíveis<br />
22 Fabricação de<br />
artigos do vestuário e<br />
acessórios<br />
4.1 Indústria<br />
Fonográfica<br />
4.2 Perfumaria<br />
15 Indústria da borracha 4.3 Farmacêutica<br />
18 Fabricação de<br />
produtos químicos<br />
diversos<br />
16 Fabricação de<br />
elementos químicos<br />
diversos<br />
17 Refino de petróleo e<br />
indústria petroquímica<br />
22 Fabricação de<br />
artigos do vestuário e<br />
acessórios<br />
4.4 Artigos plásticos<br />
4.5 Indústria da<br />
borracha<br />
4.6 Petroquímica<br />
4.7 Químico diversos<br />
4.8 Elementos químicos<br />
4.9 Refino do petróleo<br />
TÊXTIL TÊXTIL TÊXTIL TÊXTIL<br />
23 Fabricação de<br />
calçados e de artigos<br />
de couro e peles<br />
23 Fabricação de<br />
calçados e de artigos<br />
de couro e peles<br />
23 Fabricação de<br />
calçados e de artigos<br />
de couro e peles<br />
5.1 Artigo Vestuário<br />
5.2 Fabricação calçados<br />
21 Indústria têxtil 21 Indústria têxtil 21 Indústria têxtil 5.3 Indústria têxtil<br />
AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL<br />
30 Outras indústrias<br />
alimentares e de<br />
bebidas<br />
14 Indústria de papel e<br />
gráfica<br />
25 Beneficiamento de<br />
produtos de origem<br />
vegetal, inclusive fumo<br />
29 Fabricação e refino<br />
de óleos vegetais e<br />
de gorduras para<br />
alimentação<br />
26 Abate e preparação<br />
de carnes<br />
30 Outras indústrias<br />
alimentares e de<br />
bebidas<br />
19 Fabricação de<br />
produtos<br />
farmacêuticos e de<br />
perfumaria<br />
14 Indústria de papel e<br />
gráfica<br />
TABELA 32 (Continuação)<br />
CADEIAS PRODUTIVAS E RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES SETORIAIS<br />
30 Outras indústrias<br />
alimentares e de<br />
bebidas<br />
14 Indústria de papel<br />
e gráfica<br />
25 Beneficiamento de<br />
produtos de origem<br />
vegetal, inclusive fumo<br />
15 Indústria da borracha 29 Fabricação e refino<br />
de óleos vegetais e<br />
de gorduras para<br />
alimentação<br />
25 Beneficiamento de<br />
produtos de origem<br />
vegetal, inclusive fumo<br />
26 Abate e preparação<br />
de carnes<br />
6.1 Outros alimentares<br />
6.2 Indústria de bebidas<br />
6.3 Indústria gráfica<br />
6.4 Celulose e papel<br />
6.5 Beneficiamento de<br />
produtos vegetais<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 167<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
BRASIL<br />
TABELA 32 (Continuação)<br />
CADEIAS PRODUTIVAS E RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES SETORIAIS<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
MINAS GERAIS<br />
24 Indústria do café 26 Abate e preparação<br />
de carnes<br />
168 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
SÃO PAULO<br />
CADEIAS<br />
PRODUTIVAS<br />
RIO DE JANEIRO<br />
AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL<br />
28 Indústria do açúcar 6.7 Abate bovinos e<br />
suínos<br />
1 Agropecuária 28 Indústria do açúcar 24 Indústria do café 6.8 Indústria laticínios<br />
24 Indústria do café 1 Agropecuária 6.9 Fabricação de açúcar<br />
1 Agropecuária 6.10 Indústria do café<br />
6.11 Agropecuária<br />
SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS<br />
31 Indústrias diversas 31 Indústrias diversas 31 Indústrias diversas 7.1 Indústrias diversas<br />
32 Serviços industriais<br />
de utilidade pública<br />
32 Serviços industriais<br />
de utilidade pública<br />
32 Serviços industriais<br />
de utilidade pública<br />
7.2 Serviços de reparação<br />
36 Comunicações 36 Comunicações 36 Comunicações 7.2 Comunicações<br />
35 Transporte 35 Transporte 35 Transporte 7.4 Saúde privada<br />
39 Serviços prestados 39 Serviços prestados 39 Serviços prestados 7.5 Educação privada<br />
às empresas<br />
às empresas<br />
às empresas<br />
34 Comércio 34 Comércio 34 Comércio 7.6 Alojamento e<br />
alimentação<br />
38 Serviços prestados 38 Serviços prestados 38 Serviços prestados 7.7 Energia elétrica<br />
às famílias<br />
às famílias<br />
às famílias<br />
40 Aluguel de imóveis 40 Aluguel de imóveis 40 Aluguel de imóveis 7.8 Água e esgoto<br />
41 Administração 41 Administração 41 Administração 7.9 Distribuição de gás<br />
pública<br />
pública<br />
pública<br />
42 Serviços privados 42 Serviços privados 42 Serviços privados 7.10 Administração<br />
não-mercantis<br />
não-mercantis<br />
não-mercantis<br />
pública<br />
37 Instituições<br />
37 Instituições<br />
37 Instituições<br />
7.11 Transporte aéreo<br />
financeiras<br />
financeiras<br />
financeiras<br />
7.12 Transporte ferroviário<br />
7.13 Transporte hidroviário<br />
7.14 Transporte rodoviário<br />
7.15 Serviços prestados<br />
às empresas<br />
7.16 Comércio<br />
7.17 Serviços prestados<br />
às famílias<br />
7.18 Aluguel imóveis<br />
7.19 Serviços nãomercantis<br />
7.20 Instituições<br />
financeiras<br />
7.21 Dummy financeiro<br />
OUTROS SETORES OUTROS SETORES<br />
27 Resfriamento e<br />
preparação do leite<br />
e laticínios<br />
12 Fabricação de outros<br />
veículos, peças e<br />
acessórios<br />
27 Resfriamento e<br />
preparação do leite<br />
e laticínios<br />
12 Fabricação de outros<br />
veículos, peças e<br />
acessórios<br />
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)
2.8. Referências Bibliográficas<br />
ALEM, A. C.; BARROS, J. R. M. E GIAMBIAGI, F. Bases para uma política industrial<br />
moderna. Estudos e Pesquisas, XIV Fórum Nacional. Rio de Janeiro, n. 22, maio 2002.<br />
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Relatório da<br />
Pesquisa Indústria Têxtil em Minas Gerais Tecidos Planos. Belo Horizonte, 1999.<br />
BATISTA, J. C. Desvalorização cambial e as exportações brasileiras para os Estados Unidos.<br />
Revista Brasileira de Comércio Exterior, Rio de Janeiro, n. 70, FUNCEX. Disponível em:<br />
Acesso em: 19 set. 2002.<br />
CASTRO, A.B. Implicações da Sociedade da Informação nos países em desenvolvimento. Mimeografado.<br />
Disponível em: Acesso em: 15 set. 2002.<br />
CROCCO, M. A. O pólo calçadista de Nova Serrana, Cluster - Revista Brasileira de<br />
Competitividade, v.1, n.2, ago/nov. 2001.<br />
COUTINHO, L. A Especialização regressiva: um balanço do desempenho industrial pósestabilização.<br />
In: VELLOSO, R. (Org.) Brasil: desafios de um país em transformação. Rio<br />
de Janeiro: Fórum Nacional/ José Olympio, 1997.<br />
ERBER, F. S. A transformação dos regimes de acumulação: desenvolvimento tecnológico e<br />
intervenção do Estado nos países industrializados e no Brasil. 1986. Tese (Concurso para<br />
Professor Titular) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.<br />
ERBER, F. S. O padrão de desenvolvimento industrial e tecnológico e o futuro da indústria<br />
brasileira. Revista de Economia Contemporânea, Instituto de Economia da UFRJ, Rio de Janeiro,<br />
v. 5, p. 179-206, 2001.<br />
FERRAZ, J.; KUPFER, D.; HAGUENAUER, L. Made in Brazil, São Paulo: Campus, 1996.<br />
FLEURY, P. Supply Chain Management: conceitos, oportunidades e desafios da implementação.<br />
Disponível em: Acesso em: 15 jun. 2002.<br />
FRISCHTAK, C. R.; CAVALCANTI, M. A. Crescimento econômico, balança comercial e a<br />
relação câmbio-investimento. INAE - Instituto Nacional de Altos Estudos. Estudos e<br />
Pesquisas, XIII Fórum Nacional, n. 1. Disponível em: Acesso<br />
em: 15 set. 2002.<br />
FRISCHTAK, C. R.; CAVALCANTI, M. A. Crescimento econômico, resposta exportadora<br />
e poupança. Estudos e Pesquisas, n. 21, XIV Fórum Nacional Rio de Janeiro, maio, 2002.<br />
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS. Terceiro Relatório de Andamento<br />
do Modelo Econométrico de Insumo-Produto para o Estado de Minas Gerais. São Paulo: Faculdade<br />
de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, 2001.<br />
GIAMBIAGI, F. Restrições ao Crescimento da Economia Brasileira: uma Visão de Longo<br />
Prazo. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 17, jun. 2002.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 169<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
GONÇALVES, R. Competitividade internacional e integração regional: a hipótese da<br />
inserção regressiva. Revista de Economia Contemporânea, Instituto de Economia da UFRJ, Rio<br />
de Janeiro, v. 5, p. 13-34, 2001.<br />
GONZAGA, P. A. Indústria brasileira pós-abertura: houve uma especialização regressiva?<br />
Economia & Conjuntura - Revista do Instituto de Economia da UFRJ, Rio de Janeiro, nov.<br />
2001.<br />
HADDAD, E.; DOMINGUES, E. Matriz inter-regional de insumo-produto São Paulo/resto do<br />
Brasil. São Paulo: Departamento de Economia da USP, 2001. (Mimeo.).<br />
HAGUENAUER, L.; PROCHNIK, V. Oportunidades de Investimento nas Cadeias Produtivas do<br />
Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2000.<br />
___________, L. et al. Complexos industriais na economia brasileira. Rio de Janeiro: IEI/UFRJ,<br />
1986. (Texto para Discussão, n. 84).<br />
___________, L. et al. Evolução das cadeias produtivas brasileiras na década de 90. Disponível<br />
em: Acesso em: 20 mai. 2002 (Texto para Discussão, n. 786)<br />
HAMMOND, J. Managing the Apparel Supply Chain in the Digital Economy, apresentação em<br />
Powerpoint no Sloan Industry Centers Meeting:Corporate Strategies for the Digital Economy. Cambridge,<br />
MA, 10 de abril de 2001.<br />
INFO 200 - as maiores empresas de tecnologia do Brasil. Info Exame, n. 197, ago. 2002<br />
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Matriz insumo-produto<br />
para o Brasil. Rio de Janeiro, 1996.<br />
LALL, S. Globalization and development Perspectives for emerging nations preparado para o seminário<br />
do 50 aniversário do BNDES 50 th Rio de Janeiro, Brazil, September 12, 2002.<br />
LEMOS, M. B.; DINIZ, C. C. Sistemas regionais de inovação: o caso de Minas Gerais. Nota<br />
técnica, n. 06/98, projeto de pesquisa Globalização e Inovação Localizada: Experiências<br />
de Sistemas Locais no Âmbito do Mercosul e Proposições de Políticas de C&T, Instituto de<br />
Economia da UFRJ, 1998. (Mimeo.).<br />
MEDEIROS, C. M. Retomada do crescimento – no Brasil e em Minas Gerais. Algumas<br />
proposições preliminares para Debate. In: SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA<br />
MINEIRA. Diamantina,10 jun. 2002. Disponível em: http://www.cedeplar.ufmg.br/ Acesso<br />
em: 9 set. 2002.<br />
MOREIRA, M. M. A Indústria brasileira nos anos 90. O que já se pode dizer? In:<br />
GIAMBIAGI, F. e MOREIRA, M. (Orgs.) A economia brasileira nos anos 90. Rio de Janeiro:<br />
BNDES, 1999. p. 293-332.<br />
PDTIC - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Programa de Tecnologias<br />
da Informação e Comunicação.<br />
PROCHNIK, V. Cadeia têxtil/confecções. Nota técnica inicial, versão preliminar. Estudo<br />
de competitividade por cadeias integradas: um esforço coordenado de criação de estratégias compartilhadas,<br />
Convênio Unicamp-IE/UFRJ para o MDIC, 2002.<br />
170 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
PROCHNIK, V. & HAGUENAUER, L. (2002) Cadeias Produtivas e oportunidades de<br />
investimento no nordeste brasileiro, Revista de Análise Econômica. n.38, FEA/UFRGS.<br />
RIO DE JANEIRO. Centro de Informações e dados (2002). Matriz insumo-produto para o<br />
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1996.<br />
SOUZA, M. C. Cadeia: transformados plásticos. Versão para discussão em seminário. Estudo<br />
de competitividade por cadeias integradas: um esforço coordenado de criação de estratégias compartilhadas,<br />
Convênio Unicamp-IE/UFRJ para o MDIC, 2002.<br />
___________, M. C. Cadeia: transformados plásticos; projeto Estudo da competitividade de<br />
cadeias integradas no Brasil: impactos das Zonas de Livre Comércio, Unicamp, Instituto de<br />
Economia, Campinas, 2002. (Mimeo.).<br />
UNE, M. & PROCHNIK, V. (2000) Desafios para a nova cadeia de calçados nordestina,<br />
capítulo 8 de HAGUENAUER, L. & PROCHNIK, V. Identificação de Cadeias Produtivas e<br />
oportunidades de investimento no nordeste do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Fortaleza<br />
WORLD INVESTMENT REPORT 2001. United Nations conference on trade and development.<br />
Programme on transnational corporations. NewYork, 2001.<br />
Capítulo 2 - Cadeias produtivas relevantes 171<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
172 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI<br />
VOLUME VI<br />
INTEGRANDO A INDÚSTRIA<br />
PARA O FUTURO<br />
CAPÍTULO CAPÍTULO 3<br />
AGLOMERAÇÕES AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS<br />
PRODUTIVAS<br />
LOCAIS<br />
LOCAIS<br />
Marco Aurélio Crocco<br />
(Ph.D e Professor do Cedeplar/FACE/UFMG)<br />
Rangel Galinari<br />
(Assistente de Pesquisa do Cedeplar/FACE/UFMG)
SUMÁRIO<br />
31. INTRODUÇÃO............................................................................................................................................................... 177<br />
3.2. CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DE AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS ............... 180<br />
3.3. IDENTIFICAÇÃO DAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS EM MINAS GERAIS ... 181<br />
3.4. TAXONOMIA DAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS MINEIRAS E<br />
SUGESTÃO DE POLÍTICAS .................................................................................................................................... 190<br />
3.4.1. Sugestão de políticas de desenvolvimento ........................................................................................................ 193<br />
3.5. ANÁLISE SETORIAL DAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS .......................................... 197<br />
3.5.1. O complexo metal-mecânico ............................................................................................................................... 197<br />
3.5.2. O complexo da construção civil ......................................................................................................................... 219<br />
3.5.3. O complexo químico ............................................................................................................................................. 225<br />
3.5.4. O complexo têxtil, vestuário e calçados ............................................................................................................ 229<br />
3.5.5. O complexo agro-industrial ................................................................................................................................. 238<br />
3.5.6. O setor de papel e gráfica ..................................................................................................................................... 245<br />
APÊNDICE 1: Critérios de identificação de aglomerações produtivas locais .......................................................... 246<br />
APÊNDICE 2: Tabelas ....................................................................................................................................................... 248<br />
3.6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................................... 252
3.1. Introdução<br />
A partir dos anos 70, dois fatores alteraram substancialmente o ambiente competitivo das<br />
empresas. Em primeiro lugar, a emergência de um novo paradigma tecnológico, centrado na<br />
microeletrônica, determinou um aumento da intensidade do conhecimento utilizado no processo<br />
produtivo dos mais variados setores. Tão grande foi esse impacto que o final do século passado<br />
ficou conhecido como a Era do Conhecimento. Em segundo lugar, a onda liberalizante determinou o<br />
desmantelamento parcial de barreiras comerciais e de investimento tradicionais. Esses dois fatores<br />
implicaram não somente um aumento da intensidade da competição, mas, também, uma<br />
transformação desta última, implicando na necessidade de requisitos mais complexos e sofisticados<br />
para a sobrevivência das empresas (Mytelka & Farinelli 2000, Mytelka 1999).<br />
Dentro desse contexto, observou-se, no decorrer dos anos 80, que a região nordeste da<br />
Itália, conhecida como Terceira Itália, apresentou indicadores de desempenho econômico altamente<br />
significativos. Uma característica marcante dessa experiência era o elevado peso que pequenas e<br />
médias empresas possuíam no setor industrial da região, fato este que atraiu a atenção de vários<br />
estudiosos, tanto de economia, quanto de políticas públicas (Piore & Sabel 1984, entre outros).<br />
Além disso, esses estudos mostraram que esta região apresentava um número significativo de<br />
empresas operando em um mesmo setor industrial, possibilitando um rápido crescimento<br />
econômico, tanto das empresas, quanto da região; o desenvolvimento de nichos de mercados para<br />
tais indústrias; acesso ao mercado externo e novas oportunidades de emprego na local. Estudos<br />
posteriores ({Best 1990 906 /id}, Schmitz 1995; Humphrey e Schmitz 1995, entre outros)<br />
mostraram que essa experiência não era única. Em diversas regiões do mundo e em distintos<br />
setores industriais, padrões semelhantes de desenvolvimento foram observados - Baden-<br />
Württemberg, no sudoeste da Alemanha; Jutland-west, na Dinamarca; Vale do Silício, nos EUA.<br />
Todas essas experiências mostraram que, para enfrentar um ambiente globalizado, de<br />
maior e mais sofisticada competição, empresas locais tiveram que não só se adaptar<br />
crescentemente aos padrões internacionais de qualidade, velocidade de resposta e flexibilização<br />
(Schmitz & Nadvi 1999), mas, também, alterar significativamente sua forma de operação. Esta,<br />
possível devido à aglomeração de empresas de um mesmo setor em uma mesma região, significou<br />
intensificar formas de cooperação tanto verticais - com fornecedores e consumidores -, quanto<br />
horizontais - com concorrentes. Tais aglomerações foram chamadas de clusters. O importante a<br />
ser destacado é que tais experiências mostraram claramente um novo elemento a ser considerado<br />
nas análises tanto de economia industrial, quanto de economia regional, qual seja: a possibilidade,<br />
surgida em função da proximidade física de empresas, de uma interação cooperativa no sentido<br />
da superação de problemas comuns.<br />
É possível encontrar na literatura econômica várias definições de cluster:<br />
[Clusters podem] ser entendidos fundamentalmente como sendo aglomerações espaciais<br />
de firmas, fornecedores e serviços correlatos... (Mytelka & Farinelli, 2000);<br />
Um cluster é uma aglomeração significativa de firmas em uma área espacialmente<br />
delimitada que possui uma clara especialização, na qual a especialização e o comércio<br />
entre firmas são substanciais (Altemburg & Meyer-Stamer, 1999);<br />
Cluster é uma concentração setorial e espacial de firmas (Schmitz & Nadvi, 1999);<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 177<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Neste trabalho, será usado o termo aglomerações produtivas locais para identificar um<br />
conjunto de empresas de um mesmo setor industrial ou agropecuário concentrado<br />
espacialmente. A intensidade de cooperação e integração produtiva dentro dessas aglomerações<br />
será o fator determinante para sua diferenciação. O que se quer evidenciar é a diferenciação entre<br />
os conceitos de clusters e redes. De acordo com UNCTAD (1998, p. 2-3),<br />
O termo 'redes' é comumente usado para descrever cooperações formais e informais entre<br />
firmas. Tais relações podem tomar diversas formas como, por exemplo, as ligações entre<br />
firmas através da troca de conhecimento, relações comerciais e de competição. Cluster é um<br />
conceito espacial. Firmas estão localizadas próximas umas das outras, mas isto, porém,<br />
não significa automaticamente colaboração entre elas. A proximidade física de industrias é<br />
muito comum em países em desenvolvimento devido ao fenômeno de aglomeração espontânea,<br />
da mesma forma que formam as políticas para criação do que os britânicos chamaram de<br />
"distritos industriais" e os franceses chamaram de "zonas industriais". Esses são simples<br />
agrupamentos de firmas díspares e serviços localizados próximos fisicamente. Existe, no<br />
entanto, a necessidade de transformar esses clusters em pólos de crescimento locais/regionais<br />
baseados nos benefícios gerados tanto pela proximidade física quanto pelo desenvolvimento<br />
de redes, aumentando, desta forma, a competitividade tanto da firma quanto do sistema.<br />
É importante ter claro que a participação de empresas em aglomerados produtivos locais,<br />
caracterizados por vínculos entre atores localizados em um mesmo ambiente - tais como distritos<br />
e pólos industriais, clusters, redes e outros - tem auxiliado empresas dos mais variados tamanhos<br />
e, particularmente, micros, pequenas e médias empresas a superarem barreiras ao seu crescimento.<br />
As vantagens associadas a esses tipos de arranjo referem-se à possibilidade de se explorar de<br />
maneira eficaz a chamada "eficiência coletiva" da aglomeração. Essa eficiência seria composta<br />
por dois grupos de fatores determinantes para a competitividade dessas aglomerações. O primeiro<br />
deles pode ser chamado de fatores espontâneos e são também conhecidos como economias de<br />
aglomeração passivas, originalmente expostos por Marshall em seus "Princípios". Exemplos desses<br />
seriam: a disponibilidade de mão-de-obra especializada no interior da aglomeração (fator este que<br />
diminuiria tanto os custos de treinamento quanto os de procura por mão-de-obra); economias<br />
externas individuais e coletivas (tais como menores custos de transporte, pois os fornecedores<br />
estariam localizados no interior da aglomeração, infra-estrutura coletiva, facilidade de obtenção<br />
de informações técnicas e de mercados); cultura produtiva ou ambiente de negócios altamente<br />
relacionados entre si; acesso a fornecedores de insumos e equipamentos; e os benefícios da<br />
reputação da aglomeração como um todo.<br />
O segundo grupo de fatores seriam aqueles construídos intencionalmente pelos agentes<br />
presentes na aglomeração - empresas, setor público, associações de ensino e de classe, etc. Exemplos<br />
desses seriam: cooperação horizontal e vertical; coordenação dos agentes; esforço coletivo inovativo;<br />
especialização produtiva de firmas; capacitação coletiva da mão-de-obra; aprendizagem coletiva<br />
ou por interação e construção do ambiente econômico-sócio-cultural. Com o surgimento dessa<br />
eficiência coletiva, a aglomeração produtiva poderá se beneficiar do aumento da capacidade de<br />
negociação coletiva de insumos e componentes, podendo reduzir custos de produção e, ao mesmo<br />
tempo, exigir um maior nível de qualidade e maior especialização das plantas. Troca de informações<br />
técnicas e de mercados, emergência de centros de prestação de serviços, treinamento da mão-deobra,<br />
criação de consórcios diversos para compra e venda de bens e serviços, são todas vantagens<br />
associadas com as características típicas de distritos industriais. Tais atividades cooperativas<br />
facilitam o desenvolvimento de novos modelos, processos e organização da produção, bem como<br />
a criação e barateamento de campanhas de marketing de produto e sua distribuição tanto no<br />
mercado interno quanto no externo.<br />
178 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Entretanto, se por um lado existe hoje consenso sobre o papel da proximidade na superação<br />
pelas empresas - principalmente micro, pequenas e médias - das restrições ao crescimento,<br />
possibilitando-as competir em mercados distantes, por outro, existe também o reconhecimento<br />
de que a emergência de uma aglomeração produtiva eficiente não ocorre de forma automática<br />
(Schmitz & Nadvi 1999). Os fatores passivos que afetam a eficiência de uma aglomeração<br />
podem surgir espontaneamente, mas resultam de relações de proximidade de longo prazo,<br />
construídas em função de arranjos institucionais feitos ao longo do tempo, que inclusive facilitam<br />
o surgimento dos demais fatores decorrentes de um processo intencional. Tanto os fatores não<br />
intencionais como aqueles intencionais, não necessariamente surgem em toda e qualquer<br />
aglomeração, pois são específicos da localidade e de difícil reprodução, dado que o conhecimento<br />
gerado é de natureza essencialmente tácita, não transmissível de forma codificada em manuais<br />
de instrução ou verbalmente. Existem, desta forma, circunstâncias especiais nas quais a<br />
proximidade pode, ou não, impulsionar tanto o crescimento industrial, quanto a competitividade<br />
de empresas e regiões. Tais circunstâncias podem afetar diferentemente as aglomerações<br />
industriais locais, produzindo, desse modo, trajetórias de crescimento diferenciadas, implicando,<br />
consequentemente, graus de desenvolvimento bastante diferenciados. 1 Reconhecer tal fenômeno<br />
é fundamental para a proposição de políticas econômicas voltadas para o desenvolvimento de<br />
aglomerações industriais locais.<br />
A discussão anterior indica que, para um correto entendimento das aglomerações produtivas<br />
locais, é necessário que os aspectos de interação e cooperação sejam analisados. No entanto, o<br />
estudo que se segue não ira tratar desses aspectos de maneira aprofundada, uma vez que esse tipo<br />
de análise exigiria a realização de estudos de campo, o que foge do escopo do presente diagnóstico.<br />
A análise que se segue se concentrará, então, na identificação de aglomerações a partir de dados<br />
secundários e, na medida da disponibilidade de informações, algumas inferências sobre esses<br />
aspectos serão feitas.<br />
1 Exemplos de taxonomias de aglomerações produtivas locais podem ser vistos em Altemburg e Meyer-Stamer 1999, Mytelka e<br />
Farinelli 2000 e Cassiolato 2000, entre outros.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 179<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
3.2. Critérios de identificação de aglomerações<br />
produtivas locais<br />
Os estudos de aglomerações produtivas locais se baseiam, em sua grande maioria, em análises<br />
de casos específicos, onde a escolha da aglomeração a ser estudada não é definida por um marco<br />
analítico consensual. Poucos são os estudos que procuram definir critérios de identificação de<br />
aglomerações produtivas a partir de parâmetros amplamente aceitos. 2 Desse modo, faz-se necessário<br />
elaborar um critério através do qual seja possível identificar as aglomerações produtivas locais no<br />
Estado de Minas Gerais.<br />
A elaboração de um critério de identificação de aglomerações produtivas locais deve ser<br />
capaz de refletir a definição aqui utilizada, ou seja, um conjunto de empresas de um mesmo setor<br />
industrial ou agrícola concentrado espacialmente.<br />
Para a identificação das aglomerações é necessário elaborar um indicador que capte quatro<br />
características de uma aglomeração produtiva local: (1) em que medida determinado setor é<br />
específico dentro de uma região; (2) o seu peso em relação à estrutura industrial da região; (3) a<br />
importância do setor nacionalmente; e (4) a escala absoluta da estrutura industrial local. Para<br />
medir a primeira característica citada será utilizado o Quociente Locacional (QL) da indústria.<br />
Tradicional na literatura de economia regional, o Quociente Locacional procura comparar duas<br />
estruturas setoriais-espaciais. Ele é a razão entre duas estruturas econômicas: no numerador,<br />
temos a 'economia' em estudo e, no denominador, uma 'economia de referência'.<br />
No entanto, a literatura de economia regional reconhece que esse indicador é bastante<br />
apropriado para regiões de porte médio. Para regiões pequenas, com emprego industrial diminuto<br />
e estrutura produtiva pouco diversificada, o quociente tenderia a sobrevalorizar o peso de um<br />
determinado setor para a região. De forma simétrica, o quociente também tenderia a subvalorizar<br />
a importância de determinados setores em regiões com uma estrutura produtiva bem diversificada,<br />
mesmo que esse setor possuísse peso significativo no contexto nacional. Para resolver esse<br />
problema, foi elaborado um segundo indicador, que procura correlacionar o peso do setor<br />
nacionalmente com a o peso de toda estrutura produtiva local no contexto nacional. Tal índice foi<br />
denominado Hirschman-Herfindahl modificado (HHm).<br />
Por fim, um terceiro indicador foi utilizado para captar a importância do setor da região<br />
nacionalmente, ou seja, a participação relativa do setor no emprego total do setor no País.<br />
Estes três indicadores fornecem os parâmetros necessários para a elaboração de um único<br />
indicador de concentração de um setor industrial dentro de uma região, que será denominado de<br />
Índice de Concentração normalizado (ICn).<br />
Por fim, a última característica considerada foi a escala absoluta da estrutura industrial<br />
local. Para tanto, foi definido o parâmetro de 5000 empregos industriais na região como escala<br />
mínima para que a mesma possa ser considerada uma aglomeração produtiva local relevante.<br />
2 Para o caso brasileiro, existe apenas o trabalho de Brito e Albuquerque (2002). Para Minas Gerais, existe o trabalho da FIEMG<br />
- Cresce Minas. Em virtude das diferenças metodológicas adotadas, o presente trabalho produz resultados claramente distintos<br />
em relação a estes.<br />
180 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
3.3. Identificação das aglomerações produtivas<br />
locais em Minas Gerais<br />
Para o processo de identificação das aglomerações produtivas em Minas Gerais, foi definido,<br />
como corte inicial, a microrregião enquanto unidade geográfica básica e os setores industriais a<br />
dois dígitos conforme a classificação IBGE. Desta forma, foi efetuado o cálculo do IC para todas<br />
as 66 microrregiões do Estado para o ano de 2000.<br />
A TAB. 1 mostra o resultado final desse todo processo. De acordo com o critério adotado,<br />
em Minas Gerais todos os setores industriais possuem pelo menos uma aglomeração produtiva.<br />
No total, o Estado apresenta 40 aglomerações industriais relevantes distribuídas entre 19<br />
microrregiões, ou seja, 28,7% das microrregiões mineiras. No entanto, se faz necessário<br />
entender melhor a distribuição espacial dessas aglomerações.<br />
Como mostram os Mapas 1 e 2 abaixo, essas microrregiões se distribuem por 7 das 10 Regiões<br />
de Planejamento do Estado. A localização dessas Regiões de Planejamento reflete fortemente o<br />
processo de industrialização de Minas Gerais, bem como os efeitos que o Estado sofre de pólos<br />
econômicos localizados em outras regiões. As Regiões de Planejamento com maiores números<br />
de microrregiões possuidoras de aglomerações produtivas são a Central e Sul de Minas, ambas<br />
com 5 microrregiões. A primeira destas sofre claramente a influência da capital do Estado, possuindo<br />
aglomerações em nove dos 13 setores analisados (TAB. 1), com um total de 14 aglomerações<br />
produtivas locais relevantes. Isto mostra a diversidade de sua estrutura produtiva, determinada<br />
pela centralidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de sua proximidade com o complexo<br />
mínero-metalúrgico. De fato, todas as quatro aglomerações produtivas relevantes relativas à<br />
indústria extrativa mineral estão localizadas nesta Região de Planejamento - Belo Horizonte, Itabira,<br />
Ouro Preto e Sete Lagoas (TAB. 1). A Região de Planejamento Sul de Minas, por sua vez, possui<br />
7 aglomerações em 6 dos 13 setores. Observa-se claramente que a estrutura produtiva possui uma<br />
grande influência de São Paulo, apresentando aglomerações em setores mais modernos, tais como<br />
eletrônica, comunicações e material de transportes e comunicações.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 181<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
182 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
REGIÃO DE MICRO EXT. MIN. METALURG. MECÂNICA ELET/ TRANSP. PAPEL MAD./ BOR. FUM. QUÍMICA TÊXTIL CALÇADOS ALIM.<br />
PLANEJAMENTO MINERAL NÃO COMUM. E GRAF. MOBIL. COUR. BEB.<br />
MET.<br />
Central<br />
Sul de Minas<br />
Mata<br />
Triângulo<br />
Rio Doce<br />
Centro - Oeste<br />
de Minas<br />
Belo Horizonte 3.10 4.87 4.52 0.48 4.82 5.67 0.11 0.03 0.01<br />
Cons. Lafaiete 1.32<br />
Itabira 4.34<br />
Ouro Preto 3.29<br />
Sete Lagoas 0.88 2.08<br />
Itajubá 1.71 2.38 2.67<br />
São Lourenço<br />
S.Rita do Sapucaí 0.40<br />
São Seb. Do Paraíso 3.02<br />
Varginha 0.22 1.07<br />
Cataguases 1.18<br />
Juiz de Fora 0.79 1.12 2.27<br />
Ubá 4.87<br />
Uberaba 1.59 0.02 1.27<br />
Uberlândia 0.30 3.52 2.31<br />
Gov. Valadares 0.50<br />
Ipatinga 3.86 0.70<br />
Divinópolis 1.36 5.88<br />
Norte de Minas<br />
Montes Claros 0.05 0.24 1.14<br />
IC Médio do Setor 3.87 4.87 3.23 1.89 2.50 4.17 4.87 0.36 1.91 0.77 1.49 5.88 1.16<br />
FONTE: RAIS 2000 – Elaboração própria<br />
TABELA 1<br />
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS RELEVANTES EM MINAS GERAIS POR SETOR E MICRORREGIÕES - 2000<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
MAPA 1<br />
MAPA 2<br />
Nº de microrregiões<br />
com aglomeração<br />
Nº de setores envolvidos<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 183<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A terceira Região de Planejamento com aglomerações produtivas em suas<br />
microrregiões é a Mata, com um total de 5 aglomerações, distribuídas por 4 setores. Esta<br />
região possui como centro de referência o pólo econômico do Rio de Janeiro. Há de se<br />
ressaltar, neste caso, a concentração das aglomerações em setores tradicionais da indústria,<br />
como têxtil. As Regiões de Planejamento do Triângulo e Rio Doce possuem, em seus<br />
respectivos interiores, 2 microrregiões com aglomerações relevantes. A primeira apresenta<br />
6 aglomerações espalhadas por quatro setores, em sua maioria tradicional. Já a Região de<br />
Planejamento Rio Doce se destaca pelo elevado IC obtido pela indústria metalúrgica.<br />
Vale salientar que, dentre estas Regiões de Planejamento, somente a última é<br />
significativamente polarizada pela Região Metropolitana de Belo Horizonte (Lemos, 2000).<br />
A Região de Planejamento do Triângulo possui, como centro de referência para a sua<br />
dinâmica econômica, o pólo de São Paulo. Por fim, com apenas uma microrregião com<br />
aglomerações relevantes, viriam as Regiões de Planejamento do Centro-Oeste de Minas<br />
(2 aglomerações), centrada em setores tradicionais - calçados e têxteis - e Norte de Minas<br />
(3 aglomerações) - química e têxtil - ambas polarizadas por Belo Horizonte (Lemos, 2000).<br />
A TAB. 1 também pode ser analisada tendo como recorte os setores industriais.<br />
Inicialmente, como mostram os IC médios (ICm) por setor, os graus de concentração dessas<br />
aglomerações produtivas são bastante diferenciados. No extremo superior, pode-se observar<br />
que a indústria de calçados irá apresentar o IC médio de maior valor (5,87), indicando uma<br />
clara especialização produtiva deste setor na microrregião de Divinópolis (Nova Serrana) 3 .<br />
No outro extremo, tem-se o setor de papel e gráfica, onde o IC médio das aglomerações<br />
selecionadas se situa um pouco acima de zero. Ou seja, um pouco mais do que a média do<br />
setor para o Estado. Aliás, chama a atenção o fato de todas as aglomerações deste setor<br />
possuírem o IC menor que 1. Utilizando-se também o método de análise de cluster, pode-se<br />
agrupar os setores em 5 grupos de acordo com os respectivos ICm.<br />
Como pode ser observado na TAB. 2, o primeiro grupo seria formado apenas pelo<br />
setor de calçados com um elevadíssimo Índice de Concentração, como mencionado<br />
anteriormente. O segundo grupo seria composto de quatro setores, a saber: indústria<br />
extrativa de minerais não-metálicos (4,86); material de transporte (4,16); madeira e<br />
mobiliário (4,86) e extrativa mineral. O terceiro grupo teria em seu interior os setores de<br />
metalurgia (3,23) e material elétrico e comunicações (2,50). A maioria dos setores pode<br />
ser considerada como de baixo índice de concentração (Grupo 4). Por fim, o setor de<br />
papel e gráfica apresenta um ICm que se situa pouco acima da média do setor para o<br />
Estado (0,36).<br />
A TAB. 2 demonstra ainda que não existe uma clara relação entre o índice de<br />
concentração médio para o setor no Estado e a sua característica produtiva. Observa-se<br />
que o setor com maior grau de concentração (calçados) é um setor tradicional de pequeno<br />
conteúdo tecnológico. Já no segundo grupo, nota-se a presença de tradicionais e intensivos<br />
em capital. O mesmo padrão é observado em todos os grupos, que apresentam setores<br />
bastante distintos entre si. Isto parece indicar que os fatores determinantes para a<br />
intensidade da concentração estejam relacionados a fatores locacionais específicos de<br />
cada aglomeração.<br />
3 Uma análise detalhada de cada aglomeração será efetuada na seção seguinte.<br />
184 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 2<br />
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO MÉDIO POR SETOR INDUSTRIAL (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5<br />
ELEVADÍSSIMO ELEVADO MÉDIA PEQUENO ICM MUITO<br />
ICM ICM ICM ICM PEQUENO<br />
Calçados Minerais não- Indústria Indústria Papel e<br />
Metálicos Metalúrgica Química<br />
Têxtil<br />
Gráfica<br />
Material de Elétrico e de Mecânica<br />
Transporte Comunicações<br />
FONTE: Elaboração Própria<br />
Extrativa Mineral Borracha Fumo<br />
e Couro<br />
Madeira e Mobiliário Alimentos e Bebidas<br />
Essa percepção é bastante clara nos dois primeiros grupos acima descritos. Os setores<br />
industriais extrativa mineral e minerais não-metálicos tendem a se concentrar em regiões próximas<br />
às suas respectivas fontes de matérias-primas, resultando daí um valor elevado para o índice de<br />
concentração. O setor de material de transporte, por sua vez, relaciona-se com a localização do<br />
complexo automotivo de Minas Gerais. Como se sabe, a FIAT Automóveis utiliza em seu processo<br />
produtivo o sistema de just-in-time, o que requer uma maior proximidade física de seus fornecedores.<br />
Por fim, os setores de calçados, madeira e mobiliário são indústrias tradicionais com fracos efeitos<br />
de encadeamentos no Estado. Isto significa dizer que o surgimento de aglomerações produtivas<br />
locais relevantes nesses setores seria explicado por fatores muito específicos de suas respectivas<br />
trajetórias e, não, pela existência de fortes fatores locacionais. O que se pode dizer é que tais<br />
aglomerações se constituem enclaves industriais dentro de Minas Gerais.<br />
Além da distribuição espacial das aglomerações em relação às Regiões de Planejamento do<br />
Estado e seus respectivos ICs, é importante também observar em que medida os municípios que<br />
compõem uma microrregião participam das aglomerações produtivas ali existentes. A TAB. 3<br />
mostra estas informações.<br />
Em geral, pode-se afirmar que as aglomerações produtivas locais de Minas Gerais possuem<br />
pequenos transbordamentos para além da cidade-pólo da aglomeração - município que apresenta<br />
o maior PIB dentro da aglomeração. Conforme a TAB. 3 das 40 aglomerações identificadas em<br />
análise, 57,3% delas se encontram concentradas em espaços conformados por até 3 municípios.<br />
Apenas 20% das aglomerações estão inseridas em espaços geográficos com mais de 7 cidades.<br />
Verifica-se também que 18 das aglomerações (quase 50%) possuem efeito polarizador de 0,20, ou<br />
seja, envolvem menos do que 20% do total dos municípios de suas respectivas microrregiões.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 185<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 3<br />
GRAU DE POLARIZAÇÃO MÉDIO DAS MICRORREGIÕES - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÕES AGLOMERAÇÕES Nº DE CIDADES EFEITO TOTAL DE CIDADES EFEITO TOTAL DE<br />
NA AGLOM. POLARIZADOR PARTICIPANTES POLARIZADOR DA CIDADES<br />
DA AGLOMERAÇÃO* DE AGLOM. MICRORREGIÃO* MICRORREGIÃO<br />
Montes Claros 6 0,27 22<br />
Papel e Gráfica 1 0,05<br />
Química 5 0,23<br />
Têxtil 2 0,09<br />
Uberlândia 7 0,70 10<br />
Papel e Gráfica, Borracha, 1 0,10<br />
Fumo e Couro 4 0,40<br />
Alimentos e Bebibas 6 0,60<br />
Uberaba 1 0,14 7<br />
Mecânica 1 0,14<br />
Papel e Gráfica 1 0,14<br />
Química 1 0,14<br />
Sete Lagoas 6 0,30 20<br />
Extrativa Mineral 6 0,27<br />
Belo Horizonte 24 1,00 24<br />
Extrativa Mineral 6 0,25<br />
Mineral não Metálico 9 0,38<br />
Metalúrgica 15 0,63<br />
Mecânica 10 0,42<br />
Elet. e Com. 6 0,25<br />
Transporte 9 0,38<br />
Papel e Gráfica 4 0,17<br />
Química 15 0,63<br />
Alimentos e Bebibas 12 0,50<br />
Itabira<br />
Extrativa Mineral 7 0,39 7 0,39 18<br />
Ouro Preto 3 0,75 4<br />
Extrativa Mineral 3 0,75<br />
Elet. e Com. 1 0,25<br />
Cons. Lafaiete 4 0,50 8<br />
Metalúrgica 4 0,50<br />
Gov. Valadares 3 0,12 25<br />
Papel e Gráfica 3 0,12<br />
Ipatinga 7 0,54 13<br />
Metalúrgica 5 0,38<br />
Papel e Gráfica 2 0,15<br />
Divinópolis 7 0,64 11<br />
Têxtil 4 0,36<br />
Calçados 3 0,27<br />
São Seb. do<br />
Paraíso 2 0,14 14<br />
Elet. e Com. 2 0,14<br />
Varginha 2 0,12 16<br />
Borracha, Fumo e Couro 2 0,14<br />
Santa Rita<br />
do Sap.<br />
Elet. e Com. 3 0,20 3 0,20 15<br />
São Lourenço 4 0,27 15<br />
Papel e Gráfica 4 0,27<br />
Itajubá<br />
Elet. e Com. 1 0,08 2 0,15 13<br />
Mecânica 1 0,08<br />
Transporte 2 0,15<br />
Cataguases 6 0,43 14<br />
Têxtil 6 0,43<br />
Ubá<br />
Mobiliário e Madeira 7 0,41 7 0,41 17<br />
Juiz de Fora 16 0,48 33<br />
Papel e Gráfica 2 0,06<br />
Borracha, Fumo e Couro 7 0,21<br />
Têxtil 14 0,42<br />
FONTE: Elaboração Própria<br />
* Porcentagem sobre o total de cidades da microrregião<br />
186 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
A explicação para esse fato se deve à restrição imposta ao desenvolvimento de<br />
aglomerações produtivas em espaços periféricos, como o Brasil. Como salienta Santos et al.<br />
(2002), o processo de concentração e centralização dos núcleos urbanos no Brasil determinou<br />
o surgimento de aglomerações urbanas com entornos de subsistência, significando a<br />
incapacidade desses espaços circunvizinhos em criarem as condições necessárias para que<br />
o capital se reproduza. Esse fenômeno, válido para espaços periféricos, seria mais marcante<br />
em Minas Gerais, dado o significativo contraste, industrial e de serviços, entre seus pólos<br />
regionais e suas respectivas áreas polarizadas.<br />
Iniciando pelo norte do Estado, pode-se ver que as três aglomerações da microrregião<br />
de Montes Claros se concentram em apenas 6 das 22 cidades ali existentes. Vale ressaltar<br />
que se não fosse pela aglomeração local da indústria química, este número cairia para 2.<br />
Padrões semelhantes do efeito polarizador das aglomerações sobre a microrregião podem<br />
ser observados para as microrregiões de Uberaba (0,14), Governador Valadares (0,12),<br />
São Sebastião do Paraíso (0,14), Varginha (0,12), Santa Rita do Sapucaí (0.20), São Lourenço (0,27)<br />
e Itajubá (0,15). Estes dados indicam que essas microrregiões possuem aglomerações produtivas<br />
locais com baixa capacidade de espalhamento ou contágio intra-regional.<br />
O contraste com o quadro acima descrito seria a microrregião de Belo Horizonte.<br />
Nesta, refletindo todo o potencial polarizador e dinâmico da Região Metropolitana da capital<br />
mineira, 100% de suas cidades pertencem a alguma das 9 aglomerações produtivas ali<br />
existentes. Os destaques aqui são as aglomerações da indústria metalúrgica e química (15 cidades),<br />
alimentos e bebidas (14) e mecânica (10 cidades), refletindo-se a importância do complexo metalmecânico<br />
não só para esta microrregião, mas para o Estado como um todo. A microrregião de<br />
Ouro Preto também apresenta resultados significativos com 3 de suas 4 cidades pertencendo a<br />
alguma aglomeração produtiva (efeito polarizador de 0,75). Vale ressaltar, aqui, a importância da<br />
indústria extrativa mineral, que se estende por 3 das cidades ali existentes. A proximidade com o<br />
complexo metal-mecânico, aglomerado contíguo à microrregião de Belo Horizonte, explicaria esse<br />
resultado. As demais microrregiões apresentam um padrão similar.<br />
Com os dados da TAB. 2 sobre o efeito polarizador da aglomeração, é possível<br />
utilizar a técnica de hierarquização de clusters. Com esse procedimento estatístico é possível<br />
agrupar as microrregiões de acordo com as respectivas intensidades de polarização intraregional<br />
de suas aglomerações (TAB. 4).<br />
As 19 microrregiões foram agrupadas em 4 grupos. Como já foi dito, a microrregião<br />
de Belo Horizonte se distancia das demais tendo em vista o elevadíssimo efeito polarizador<br />
de suas aglomerações produtivas locais. Segue-se o grupo formado pelas microrregiões de<br />
Divinópolis e Ouro Preto.<br />
É também interessante comparar o efeito de polarização por setor industrial. Também<br />
com o uso da análise de cluster se pode agrupar os setores em 4.<br />
Como mostra a TAB. 5, a indústria metalúrgica é o setor que apresenta o maior efeito<br />
polarizador. Em média, suas aglomerações se expandem por até metade das cidades das<br />
microrregiões onde se encontram. Logo após, vem o grupo caracterizado por um grande<br />
efeito polarizador, composto pelas seguintes indústrias: extrativa mineral, alimentos e<br />
bebidas, madeira e mobiliário, e extrativa de minerais não metálicos. No extremo oposto, o<br />
grupo de fraco efeito polarizador seria constituído pela indústria mecânica, indústria química,<br />
material elétrico e comunicações e papel e gráfica.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 187<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 4<br />
GRAU DE POLARIZAÇÃO MÉDIO DAS MICRORREGIÕES - MINAS GERAIS - 2000<br />
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4<br />
Elevadíssima Grande Média Fraca<br />
Polarização Polarização Polarização Polarização<br />
Belo Horizonte Divinópolis Cataguases Governador Valadares<br />
FONTE: Elaboração Própria<br />
Ouro Preto Conselheiro Lafaiete Itajubá<br />
188 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Ipatinga Montes Claros<br />
Itabira Santa Rita do Sapucaí<br />
Juiz de Fora São Lourenço<br />
Uberaba São Sebastião do Paraíso<br />
Uberlândia Sete Lagoas<br />
Varginha<br />
É interessante observar que existe uma correlação entre o índice de concentração do<br />
setor e o efeito polarizador. Os dados de correlação estão apresentados na TAB. 6, onde também<br />
foi incluído o Número de Aglomerações Relevantes para cada setor. Destaca-se a correlação<br />
negativa entre a variável número de aglomerações (NAGL) e as outras duas - Índice de<br />
Concentração médio (ICm) e Efeito Polarizador (POLARI). Isto indica que, para Minas Gerais,<br />
quanto maior o número de aglomerações relevantes em um determinado setor industrial menor<br />
o seu índice de concentração e menor o seu efeito polarizador. Sem dúvida alguma, esses<br />
resultados parecem refletir a especialização produtiva do Estado. Os setores extrativa mineral<br />
e minerais não-metálicos são aqueles que apresentam valores elevados tanto para o efeito<br />
polarizador quanto para o índice de concentração. Estes setores possuem peso significativo no<br />
PIB estadual, impactando, desta forma, a variável que capta o seu efeito polarizador. Além<br />
disso, dado que as reservas naturais estão concentradas espacialmente, é de se esperar que o<br />
índice de concentração seja elevado.<br />
TABELA 5<br />
GRAU DE POLARIZAÇÃO MÉDIA POR SETOR INDUSTRIAL - MINAS GERAIS - 2000<br />
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4<br />
Elevadíssima Grande Média Fraca<br />
Polarização Polarização Polarização Polarização<br />
Alimentos e Bebidas Extrativa Mineral Indústria Têxtil Indústria Mecânica<br />
Indústria Metalúrgica Madeira e Mobiliário Material de Transporte Indústria Química<br />
Minerais Não- Indústria de Calçados Elétrico e de<br />
Metálicos Comunicações<br />
FONTE: Elaboração Própria<br />
Borracha, Fumo e Couro Papel e Gráfica<br />
Estas duas variáveis, por sua vez, apresentam uma correlação positiva. Ou seja, quanto<br />
maior o índice de concentração, maior o seu efeito polarizador. Novamente, tal resultado pode ser
explicado pelas características do setor industrial mineiro. Tendo em vista que os setores com<br />
maiores ICm, com exceção do setor calçados, são aqueles que possuem suas respectivas cadeias<br />
produtivas mais desenvolvidas, é de se esperar que esse fato seja refletido no efeito polarizador<br />
desses setores.<br />
TABELA 6<br />
ÍNDICES DE CORRELAÇÃO ENTRE EFEITO POLARIZADOR, NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES<br />
E ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO MÉDIO - MINAS GERAIS - 2000<br />
EFEITO NÚMERO DE ÍNDICE DE<br />
POLARIZADOR AGLOMERAÇÕES CONCENTRAÇÃO MÉDIO<br />
Efeito Polarizador 1.000 -0.531 0.436<br />
Número de Aglomerações -0.531 1.000 -0.603*<br />
Índice de Concentração Médio 0.436 0.603* 1.000<br />
FONTE: Elaboração Própria<br />
* Correlação significante a 0,05<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 189<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
3.4. 3.4. Taxonomia Taxonomia das aglomerações produtivas produtivas<br />
locais mineiras e sugestão de políticas<br />
Na seção 3.5, todas as 40 aglomerações produtivas locais industriais serão estudadas em<br />
detalhe. Antes, porém, seria interessante continuar dando ao leitor uma visão de conjunto das<br />
aglomerações do Estado. Nesse sentido, esta seção procurará definir uma taxonomia para tais<br />
aglomerações a partir de indicadores que serão analisados minuciosamente à frente.<br />
As seguintes variáveis são utilizadas como parâmetros para a elaboração da taxonomia:<br />
A taxa de variação do PIB, entre 1970 e 1996, do conjunto de cidades que compõem a<br />
aglomeração. Procura-se analisar a dinâmica econômica da aglomeração. Está implícita, nesta<br />
abordagem, a suposição de que a existência da aglomeração é o fator preponderante no desempenho<br />
econômico das cidades que delas fazem parte.<br />
O desempenho social da aglomeração. Para tanto, foi usado como variável a variação no<br />
percentual de pobres existentes na aglomeração. 4 A utilização desta variável reflete o entendimento<br />
de que algumas aglomerações, mesmo não apresentando um desempenho econômico e exportador<br />
expressivo, são capazes de propiciar um desenvolvimento social maior do que aquele que existiria<br />
sem a aglomeração. Tais aglomerações são fundamentais para a elaboração de políticas regionais.<br />
A terceira variável - número de agências bancárias - é utilizada aqui como uma proxy da<br />
diversidade e do tamanho do setor serviços. Esta é uma variável clássica nos estudos em economia<br />
regional. Tal densidade do setor serviços é de fundamental importância para o surgimento de<br />
serviços complexos e complementares ao setor industrial, facilitando, assim, a especialização<br />
produtiva e cooperação dentro da aglomeração.<br />
O desenvolvimento urbano também foi considerado através do grau de urbanização presente<br />
na aglomeração. Este foi calculado através da razão entre número de habitantes nos núcleos<br />
urbanos de cada cidade, pertencente à aglomeração, sobre o total de habitantes.<br />
A indicação do tipo de estrutura de governança existente é feita através da observância da<br />
existência ou não de grandes empresas. 5 Finalmente, foi também considerado a influência que os<br />
macropólos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte exercem sobre as aglomerações.<br />
Com base nos valores observados por estas variáveis, foi possível detectar 5 grupos de<br />
aglomerações, conforme mostra o QUADRO 1.<br />
O primeiro grupo é composto por apenas 3 aglomerações, a saber: Material Elétrico e<br />
Comunicações - Itajubá; Material de Transporte - Itajubá; Mecânica - Itajubá. Dois fatores chamam<br />
a atenção na análise dessas aglomerações. Em primeiro lugar, elas apresentaram uma taxa de<br />
variação do PIB, entre 1970 e 1996, elevadíssima, o que as coloca entre as mais dinâmicas das<br />
aglomerações industriais de Minas Gerais, superando em muito a taxa de crescimento do PIB<br />
estadual para o mesmo período. No entanto, esse dinamismo, embora tenha sido importante para<br />
a elevada redução do percentual de pobres nas aglomerações (mais de 35%), não foi capaz de criar<br />
uma estrutura de serviços complementar e diversificada. Isso é explicado pelo fato de essas<br />
aglomerações serem polarizadas diretamente pelo macropólo representado pela Região<br />
4 Considera-se pobre as famílias cujo chefe do domicilio possui renda inferior até 1 salário mínimo.<br />
5 Estas foram definidas aqui como sendo aquelas que possuem no ano 2000 mais de 1000 empregados formais.<br />
190 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Metropolitana de São Paulo - RMSP, que oferta os serviços produtivos mais complexos para essas<br />
aglomerações. Ou seja, poderíamos chamá-las de aglomerações de transbordamento da RMSP,<br />
especialmente do setor automotivo, caracterizando-se por serem fabricantes complementares e<br />
prestadoras de serviços para o Estado de São Paulo. No entanto, o fato de serem subordinadas<br />
diretamente ao complexo metal-mecânico paulista explica a pequena capacidade de governança<br />
local, que resulta na ausência de empresas estabelecidas localmente capazes de liderarem o<br />
adensamento local de elos das cadeias industriais.<br />
A principal característica do segundo grupo é o fato de o bom desempenho em termos<br />
econômicos e sociais estar extremamente vinculado às características urbanas do millie em que se<br />
encontram. As sete aglomerações aí presentes estão em sua totalidade localizadas na Região<br />
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. Isso explicaria a elevadíssima diversificação e<br />
complementaridade do setor de serviços e o elevadíssimo grau de urbanização. Tais fatores são<br />
determinantes para a elevada variação do PIB e da, também elevada, redução da pobreza, superando<br />
as características específicas de cada aglomeração, tais como setor industrial e tipo de governança.<br />
O terceiro grupo se caracteriza por serem, majoritariamente, aglomerações tanto polarizadas<br />
pela macrorregião de São Paulo, quanto relacionadas ao complexo agropecuário. São elas: Alimentos<br />
e Bebidas (Uberlândia); Borracha, Fumo e Couro (Uberlândia e Varginha); Mecânica (Uberaba) e<br />
Química (Uberaba). Como já mostrado na análise individual de cada aglomeração, a desagregação<br />
a cinco dígitos CNAE mostrou que os setores fabricação de produtos de fumo, fabricação de<br />
defensivos agrícolas e fabricação de diversos tipos de alimentos são importantes nas microrregiões<br />
de Uberaba e Uberlândia. Além desses fatores, esse grupo apresenta como característica marcante<br />
uma variação do PIB que pode ser considerada média quando comparada às apresentadas pelas<br />
demais aglomerações relevantes.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 191<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
192 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
QUADRO 1<br />
TAXONOMIA DAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS RELEVANTES DE MINAS GERAIS - 2000<br />
Aglomerações Aglomerações Aglomerações Associadas Aglomerações Polarizadas Aglomerações de Baixo<br />
de Transbordamento Associadas ao millie ao Setor Agropecuário pela Rede de Serviços da Dinamismo Econômico<br />
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Isoladas Região Metropolitana e Social<br />
de São Paulo de Belo Horizonte<br />
Variação do PIB* Elevadíssima Alta Média Variada Baixa<br />
Diversificação<br />
do Setor Serviços* Pequena Elevadíssima Razoável Pequena Pequena<br />
Grau de Urbanização* Médio Elevadíssimo Grande Variado Pequeno<br />
Redução de Pobres* Elevada Elevada Elevada Grande Pequena<br />
Governança Pequena Significativa Pequena Significativa Pequena<br />
Macropolarização São Paulo Belo Horizonte Majoritariamente São Paulo Majoritariamente Belo Horizonte Difusa<br />
FONTE: RAIS 2000 – Elaboração própria.<br />
NOTA: *As classificações aqui apresentadas são relativas aos valores obtidos pelo total das aglomerações.<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Aglomerações Mat. Elét. e Com. - Itajubá Alim. e Beb. - B.H. Alim. e Beb. - Uberlândia Calçados - Divinópolis Ext.Min.- Itabira<br />
Mat. de Transp.-Itajubá Mat. Elét.e Com. - B.H. Bor., Fumo, Couro - Juiz de Fora Ext. Min.- B.H. Ext.Min.- Sete Lagoas<br />
Mecânica-Itajubá Mat.de Transp. - B.H. Bor., Fumo, Couro - Uberlândia Ext.Min.- Ouro Preto Mat. Elét.e Com. - Santa Rita do Sapucaí<br />
Mecânica - B.H. Bor., Fumo, Couro - Varginha Mad. e Mobiliário - Ubá Têxtil - Cataguases<br />
Min. não Met. - B.H. Mecânica - Uberaba Mat. Elét.e Com. - Ouro Preto<br />
Química - B.H. Química - Uberaba Mat. Elét.e Com. - S.S. do Paraíso<br />
Têxtil - Juiz de Fora Metalúrgica - Belo Horizonte<br />
Metalúrgica - Cons.Lafaiete<br />
Química - Montes Claros<br />
Têxtil - Divinópolis<br />
Têxtil - Montes Claros
As aglomerações Borracha, Fumo, Couro e Produtos Diversos e Têxtil, ambas de Juiz de<br />
Fora, também integram este grupo, não só por apresentarem taxas de variação do PIB similares,<br />
mas, também, um elevadíssimo grau de urbanização (acima de 93%), que é uma outra característica<br />
deste agrupamento. Também neste caso, as políticas de desenvolvimento industrial relativa às<br />
respectivas cadeias produtivas são as mais indicadas para um maior desenvolvimento local. À<br />
semelhança do grupo 1, a pequena capacidade de governança deste agrupamento se constitui em<br />
um importante gargalo para políticas voltadas para o maior adensamento local das cadeias, pois os<br />
elos produtivos e empresariais continuam localizados na RMSP ou em regiões dinâmicas de interior<br />
paulista, como Campinas e Ribeirão Preto. No entanto, a maior distância dessas aglomerações da<br />
capital paulista, comparado às do primeiro agrupamento, tem possibilitado, paradoxalmente, um<br />
maior desenvolvimento dos serviços, o que pode ser uma vantagem comparativa deste agrupamento<br />
em termos de sua capacidade de polarização regional.<br />
O quarto agrupamento possui três características marcantes. Em primeiro lugar, apresenta<br />
uma pequena diversificação do setor serviços. Apesar disso, as aglomerações aqui agrupadas<br />
apresentaram durante a década dos 90 um grande desenvolvimento social, com uma redução do<br />
percentual de pobres de mais de 30% para quase todas as aglomerações. Por fim, das 11 aglomerações<br />
agrupadas, somente duas não são polarizadas pelo macropólo de Belo Horizonte. Essas<br />
coincidências são contrastadas com a diversidade apresentada pelos indicadores de variação do<br />
PIB, grau de urbanização, presença de grandes empresas (50% das aglomerações) e setores<br />
industriais. Tais características permitem concluir que a dinâmica do setor serviços do macropólo<br />
de Belo Horizonte funciona como um elemento inibidor do desenvolvimento do setor serviços<br />
nas respectivas aglomerações. Como este setor depende de escala para o seu desenvolvimento, a<br />
proximidade com Belo Horizonte atua, sem dúvida alguma, como um entrave para uma maior<br />
integração produtiva dentro dessas aglomerações.<br />
Por fim, o último agrupamento foi o que apresentou os piores resultados. Pequena variação<br />
do PIB, pequena diversificação do setor serviços e pequena redução de pobres (menos que 20%).<br />
Tais aglomerações (Extrativa Mineral - Itabira e Sete Lagoas; Material Elétrico e Comunicação -<br />
Santa Rita do Sapucaí; Têxtil - Cataguases) são polarizadas por diferentes macropólos. Tais<br />
resultados podem ser explicados pelas características produtivas e históricas de cada aglomeração.<br />
No caso das aglomerações de Itabira e Sete Lagoas, fica claro que o setor industrial relevante<br />
dificulta um maior desenvolvimento local, uma vez que a sua integração para trás e com o setor<br />
serviço é muito difícil. Por outro lado, embora mereça destaque, a aglomeração do setor de material<br />
elétrico e de comunicação de Santa Rita do Sapucaí ainda não conseguiu criar uma dinâmica<br />
própria que sustentasse um desenvolvimento mais acentuado, nem aprofundar suas ligações para<br />
trás e para frente com a cadeia eletroeletrônica da RMSP, de forma a impulsionar seu<br />
desenvolvimento. Por fim, o desempenho da aglomeração têxtil de Cataguases se explica pela sua<br />
débil ligação com o macropólo do Rio de Janeiro - cuja dinâmica na década dos 90 foi decepcionante<br />
e devido às dificuldades pelas quais o setor têxtil nacional passou no período em questão.<br />
A distribuição espacial das aglomerações, de acordo com a taxonomia aqui sugerida, pode<br />
ser vista no Mapa 3.<br />
3.4.1. Sugestão de políticas de desenvolvimento<br />
Existe atualmente um consenso básico na literatura econômica acerca de políticas de<br />
desenvolvimento local, qual seja, a não existência de uma única política a ser aplicada em todas as<br />
aglomerações existentes. De acordo com vários autores (Altemburg and Meyer-Stamer 1999;<br />
Cassiolato 2000; Ceglie e Dini 1999; UNCTAD 1998), as políticas de desenvolvimento local<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 193<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
devem ser elaboradas caso a caso, respeitando-se as peculiaridades de cada aglomeração e,<br />
principalmente, sua trajetória. No entanto, tais peculiaridades não impedem que linhas gerais de<br />
ação, baseadas em várias experiências, possam ser enumeradas. Nesse sentido, são apresentadas a<br />
seguir algumas dessas linhas gerais e, após a elaboração de uma taxonomia, sugestões específicas<br />
para as aglomerações do Estado de Minas Gerais.<br />
Linhas gerais 6<br />
MAPA 3<br />
i) Tendo em vista as possibilidades para o desenvolvimento de micro, pequenas e médias<br />
empresas dentro de uma aglomeração produtiva (ver Altemburg e Meyer-Stamer 1999),<br />
um importante aspecto de políticas de desenvolvimento se refere ao entendimento desse<br />
potencial por parte dos integrantes da aglomeração. Assim sendo, qualquer política de<br />
desenvolvimento local deve contar com a concordância e participação efetiva dos atores<br />
6 As linhas gerais aqui traçadas estão desenvolvidas com um maior detalhamento em Crocco et al. (2000).<br />
194 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
diretamente interessados. Esse é um aspecto fundamental, delimitando claramente<br />
o espectro de ação do setor público. Ao invés de impor uma determinada política,<br />
cabe ao setor público atuar no sentido de mostrar aos interessados os benefícios<br />
provenientes da cooperação e permitir que tenham uma participação ativa na<br />
definição dos objetivos e dos meios para a obtenção desses benefícios. Isso é<br />
fundamental para o surgimento do sentimento de confiança necessário para o pleno<br />
desenvolvimento das relações de cooperação, principalmente as horizontais. Como<br />
salientado pela UNCTAD (1998: 13),<br />
A promoção de clusters é um processo orgânico e dinâmico. Desta forma, a intervenção<br />
governamental tem de ser específica e deve levar em conta o estágio de desenvolvimento,<br />
tanto do País quanto da aglomeração. Governos não devem impor modelos de gestão, mas<br />
sim facilitar relações de parceria entre atores que normalmente não possuem interação<br />
entre si;<br />
ii) Um segundo aspecto importante em políticas de desenvolvimento de aglomerações<br />
se refere à sua coordenação. Esta última deve não somente incluir a consistência dos<br />
diversos níveis de governo (municipal, estadual e federal) e entre os setores público e<br />
privado. "Deve-se ter claro que o aspecto local da aglomeração impõe uma dinâmica<br />
bastante diferenciada em relação aos tradicionais instrumentos de política industrial,<br />
destinando aos organismos de governo local um papel decisivo na implementação<br />
das políticas. Por atuar mais próximo da aglomeração, governos locais possuem<br />
melhores condições de entender a dinâmica local - dificuldades, necessidades e culturas<br />
-, facilitando, assim, a coordenação de objetivos da política. Em outras palavras, a<br />
descentralização na formulação e implementação de políticas é essencial para o<br />
desenvolvimento de aglomerações produtivas locais" (Crocco et al., 2000, p. 87).<br />
iii)Existe um espaço especial para a ação governamental relacionada com o<br />
desenvolvimento da chamada Era do Conhecimento. Ou seja, atuar na provisão do<br />
conhecimento necessário ao desenvolvimento das aglomerações, principalmente para<br />
as pequenas e micro firmas. Essa ação não estaria apenas relacionada à área de<br />
educação formal, mas, também, ao incentivo e desenvolvimento de instituições e<br />
organismos que possam também atuar nesse sentido. Este seria o caso das associações<br />
de classe, sindicatos, organizações de comércio, até mesmo algumas organizações<br />
não-governamentais, cuja capacitação poderia ajudar no processo de coordenação e<br />
disseminação de informações;<br />
iv)Para uma maior eficácia dessas políticas, é fundamental que elas sejam direcionadas<br />
para grupos de empresas e não para empresas individuais. Ações, incentivos e benefícios<br />
coletivos devem ser priorizados. Isso é fundamental para a construção de um ambiente<br />
de confiança e cooperação (Crocco et al. 2000);<br />
v) Por fim, deve-se ter claro que ser competitivo não é um processo estático, mas, sim,<br />
um processo de manutenção dessa competitividade através de constantes melhorias.<br />
Isso implica que toda política deve conter elementos que gerem uma capacidade de<br />
um contínuo melhoramento da competitividade da aglomeração. "A capacitação para<br />
um constante monitoramento das condições da demanda, do surgimento de novas<br />
oportunidades e das medidas necessárias para o atendimento destas novas<br />
oportunidades é, nesse sentido, prioritário. Em termos da estrutura produtiva da<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 195<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
aglomeração esta política se traduz no esforço para o contínuo upgrading desta estrutura.<br />
Além disso, a construção das capacitações locais deve também ter como objetivo<br />
tornar irrelevante para o funcionamento das aglomerações possíveis ajudas públicas,<br />
necessárias em momentos iniciais do seu desenvolvimento. Ou seja, é necessário gerar<br />
um processo de capacitação cumulativa visando a autonomia do aglomeração" (Crocco<br />
et al. 2000, p. 89).<br />
Tendo essas orientações como linha geral é possível agora elaborar algumas linhas de<br />
política de desenvolvimento para as aglomerações produtivas locais de Minas Gerais, tendo<br />
em vista a taxonomia definida anteriormente.<br />
Uma política de desenvolvimento para as Aglomerações de Transbordamento da Região<br />
Metropolitana de São Paulo passa necessariamente por um aprofundamento da cadeia produtiva<br />
paulista a que elas estão ligadas. No entanto, deve-se ter claro os limites desse aprofundamento,<br />
uma vez que o centro decisório dessa aglomeração está concentrado fora do Estado. Políticas<br />
que melhorem o processo de integração com São Paulo contribuiriam para o fortalecimento<br />
dessas aglomerações, visando o surgimento de escalas de produção que gerassem rebatimentos<br />
locais menos dependentes de São Paulo.<br />
As políticas de desenvolvimento das Aglomerações Associadas ao Millieu da Região<br />
Metropolitana de Belo Horizonte englobam medidas que aprofundem a sofisticação e diversificação<br />
do setor serviços produtivos modernos na RMBH, de forma a ampliar os ganhos de economias<br />
externas de urbanização para o conjunto dessas aglomerações. Vale ressaltar aqui as políticas<br />
destinadas à ciência e tecnologia, qualificação da força de trabalho, a ampliação da escala dos<br />
serviços de apoio tecnológico, como a criação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, e<br />
da chamada infra-estrutura de negócios. Esse agrupamento tipifica claramente o que se pode<br />
denominar de aglomerações de polarização, tendo Belo Horizonte como pólo urbano<br />
estruturante do espaço regional. Esse fenômeno da existência de um lugar central de<br />
polarização regional explica uma importante diferença deste agrupamento em relação ao<br />
anterior, qual seja, a existência de uma estrutura interna de governança, na forma de empresas<br />
líderes dentro das aglomerações, que naturalmente conduzem as políticas de adensamento<br />
local das cadeias. Por esta razão, essas aglomerações prescindem de políticas industriais<br />
específicas de adensamento de cadeias, afora os gargalos setoriais das aglomerações.<br />
As Aglomerações Associadas ao Setor Agropecuário podem ser incentivadas através de<br />
políticas de adensamento de cadeias produtivas deste setor. Além disso, tais aglomerações,<br />
apesar de serem influenciadas por São Paulo, estão localizadas bem distante deste macropólo.<br />
Isso abre a possibilidade para o desenvolvimento de atividades complementares, principalmente<br />
no setor serviços, visto também a grande distância do macropólo de Belo Horizonte.<br />
Dada as dificuldades de se reproduzir em diversos espaços a densidade do setor serviços<br />
de Belo Horizonte, a sugestão de política para as Aglomerações Polarizada pela Rede de Serviços<br />
de Belo Horizonte passa necessariamente por uma maior integração com o este macropólo. Ou<br />
seja, devem ser criados instrumentos e condições que permitam as essas aglomerações usufruir<br />
mais intensamente da diversidade e complementaridade do setor de serviços do macropólo<br />
regional.<br />
Finalizando, as Aglomerações de Baixo Dinamismo devem ser vistas com muito cuidado.<br />
Apesar de serem fracas comparativamente às demais, elas são uma importante forma de geração<br />
de renda e emprego. Deste ponto de vista, elas se encaixam em políticas regionais destinadas<br />
à diminuição da desigualdade regional dentro do Estado.<br />
196 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
3.5. Análise setorial das aglomerações<br />
produtivas locais<br />
O objetivo desta seção é analisar com mais detalhe todas as aglomerações produtivas<br />
locais, tendo como corte os setores industriais. A análise de cada setor destacará a sua<br />
localização espacial de suas aglomerações, seus efeitos polarizadores, desempenho econômico<br />
e exportador, intensidade de sua integração produtiva, além de aspectos do desenvolvimento<br />
social urbano. As aglomerações serão agrupadas e analisadas de acordo com o complexo e<br />
setor a que pertencem.<br />
3.5.1. O complexo metal-mecânico<br />
Compõe esse complexo, quatro setores aqui analisados, a saber: mecânica, metalurgia,<br />
material elétrico e de comunicações e indústria extrativa mineral. Antes de se passar para a<br />
análise mais detalhada das aglomerações de cada setor industrial, dois aspectos relativos à<br />
cadeia merecem destaque. Inicialmente, deve-se ressaltar que, das 40 aglomerações produtivas<br />
locais relevantes identificadas, 13 pertencem a esse complexo, correspondendo a 32% do<br />
total. Isso reforça a já conhecida importância que esse complexo possui na economia do<br />
Estado de Minas Gerais. Além disso, 9 destas 13 aglomerações se encontram na Região de<br />
Planejamento Central. Entre as 4 aglomerações restantes, uma se encontra na Região de<br />
Planejamento Rio Doce, que é contígua à Região Central, demonstrando a relativa<br />
concentração espacial das indústrias desse complexo. As demais aglomerações se situam nas<br />
Regiões de Planejamento Sul de Minas e Triângulo.<br />
Outro aspecto que merece destaque é a relativa integração da cadeia produtiva dentro<br />
de algumas microrregiões que possuem aglomerações dessa mesma cadeia. Em três delas<br />
existem aglomerações de um setor do complexo. Esses são os casos das microrregiões de<br />
Belo Horizonte (setores extrativa mineral, metalurgia, mecânica e material elétrico e<br />
comunicações); Ouro Preto (setores mecânica e material elétrico e comunicações) e Itajubá<br />
(setores mecânica e material elétrico e comunicações).<br />
Uma vez feitas essas observações iniciais, é possível passar para a análise de cada setor<br />
industrial.<br />
3.5.1.1. A indústria extrativa mineral<br />
A indústria de extrativa mineral possui 4 aglomerações relevantes no Estado,<br />
todas elas situadas na Região de Planejamento Central. Como o Mapa abaixo mostra,<br />
estas 4 microrregiões (Belo Horizonte, Sete Lagoas, Itabira e Ouro Preto) são contíguas,<br />
indicando a existência de um único fenômeno aglomerativo. Esse fato é reforçado pela forte<br />
contigüidade entre as cidades pertencentes às aglomerações. Essa concentração espacial pode<br />
ser creditada a um fator locacional clássico: a proximidade com a fonte de matéria-prima. Ou<br />
seja, a concentração espacial das jazidas de minério no Estado determinou a conformação<br />
espacial deste setor.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 197<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Apesar dessas semelhanças, os indicadores de concentração e polarização mostram uma<br />
pequena diferenciação entre as 4 aglomerações. A microrregião de Sete Lagoas apresenta um<br />
índice de concentração de 0,88, enquanto as demais possuem valores superiores a 3 para o mesmo<br />
indicador. Além disso, as taxas de crescimento deste índice desde 1986 são bastante diferenciadas:<br />
Belo Horizonte (-34%); Ouro Preto (+95%); Sete Lagoas (+389%) e Itabira (+1463%) (TAB. 1<br />
do Apêndice 2).<br />
De forma semelhante, os indicadores do efeito polarizador também são diferenciados.<br />
Neste caso, o destaque é o elevadíssimo efeito polarizador da microrregião de Ouro Preto (0,75).<br />
A seguir, vem a microrregião de Itabira, com 0,38, Sete Lagoas (0,27) e Belo Horizonte, por<br />
último, (0,25). O resultado de Ouro Preto é determinante para a classificação deste setor no<br />
grupo denominado de grande polarização, como mostrado na TAB. 5.<br />
MAPA 4<br />
Os subsetores que mais contribuíram para o elevado grau de concentração das aglomerações<br />
podem ser visualizados na TAB. 7.<br />
Percebe-se claramente a influência de quatro atividades na determinação do índice. A mais<br />
importante, sem dúvida, é a extração de minério de ferro. Como a tabela mostra, ela possui um IC<br />
elevadíssimo em quase todas as aglomerações, sendo Sete Lagoas a exceção. Combina-se a essa<br />
atividade a extração de minério de metais preciosos e a extração de outros minerais metálicos nãoferrosos.<br />
198 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 7<br />
EXTRATIVA MINERAL (IBGE) – MINAS GERAIS – 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIO SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO > 1 IC<br />
Belo Horizonte Caeté Extração de carvão mineral 1.57<br />
Brumadinho Extração de minério de ferro 6.46<br />
Nova Lima Extração de minério de ferro 2.51<br />
Extração de minério de metais preciosos 6.07<br />
Sarzedo Extração de minério de ferro 11.05<br />
Esmeraldas Extração de pedra, areia e argila 2.38<br />
Itabira Itabira Extração de petróleo e gás natural 2.12<br />
Extração de minério de ferro 6.12<br />
Catas Altas Extração de minério de ferro 12.13<br />
Rio Piracicaba Extração de minério de ferro 10.62<br />
Santa Bárbara Extração de minério de metais preciosos 9.81<br />
Bom Jesus do Amparo Extração de pedra, areia e argila 5.73<br />
São Gonçalo do Rio Abaixo Extração de pedra, areia e argila 2.98<br />
Ouro Preto Mariana Extração de petróleo e gás natural 9.97<br />
Extração de minério de ferro 7.98<br />
Itabirito Extração de minério de ferro 1.58<br />
Ouro Preto Extração de minério de ferro 4.17<br />
Sete Lagoas Jequitibá Extração de outros minerais metálicos<br />
não-ferrosos 11.24<br />
Cachoeira da Prata Extração de pedra, areia e argila 4.71<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
Fortuna de Minas Extração de pedra, areia e argila 2.63<br />
Papagaios Extração de pedra, areia e argila 3.99<br />
Santana de Pirapama Extração de minerais para fabricação de<br />
adubos, fertilizantes e produtos ... 1.13<br />
Prudente de Morais Extração de outros minerais não-metálicos 3.36<br />
Como pode ser observado pela TAB. 2 do apêndice 2, esse segmento industrial é o que<br />
possui a menor participação relativa de micro e pequenas empresas e a maior participação de<br />
grandes empresas 7 . Estas, inclusive, estão presentes em todas as aglomerações, o que seria explicado<br />
pelo fato de o processo produtivo deste setor ser intensivo em capital. Tais dados indicam a<br />
possibilidade da governança da aglomeração estar determinada pelas grandes firmas ali existentes.<br />
O desempenho econômico da aglomeração na década dos 90 pode ser visto pela TAB. 8.<br />
Nela é comparada a taxa média de crescimento do PIB entre 1976 e 1996 da aglomeração como um<br />
todo (taxa de crescimento do PIB das cidades que fazem parte da aglomeração), com a taxa de<br />
crescimento dessa mesma variável para a cidade-pólo da aglomeração 8 e para o Estado de Minas<br />
Gerais. Chama a atenção o fato de que, no período analisado, somente a cidade-pólo de Prudente de<br />
Morais apresenta uma taxa cumulada de crescimento do PIB superior ao de Minas. No entanto, no<br />
primeiro subperíodo (1970-75) analisado, apenas uma não superou o Estado em suas taxas anuais<br />
médias. Essa diferença de desempenho pode ser explicada pela diminuição do peso do setor na<br />
produção nacional, oriundo do surgimento de novos pólos fora do Estado, fruto do II PND.<br />
7 A classificação aqui adotada segue a definida pelo Sebrae, a saber: micro, até 19 empregados; pequena, entre 20 a 99 empregados;<br />
média, entre 100 e 499; e grande, mais 500.<br />
8 Cidade-pólo da aglomeração é aqui definida como aquela que apresentou o maior PIB.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 199<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 8<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB – EXTRATIVA MINERAL – MINAS GERAIS - 1970-1996<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE PÓLO<br />
200 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Belo Horizonte 16,16 3,34 0,74 -2,59 2,21 152,97<br />
Nova Lima 26,03 3,36 0,26 -3,08 0,82 238,49<br />
Itabira 13,93 2,57 -0,78 -2,37 2,95 115,10<br />
Itabira 19,20 2,31 -0,12 -1,56 2,55 181,06<br />
Ouro Preto 10,24 13,43 1,04 0,78 0,97 251,22<br />
Ouro Preto 7,68 12,79 1,76 2,75 0,81 243,80<br />
Sete Lagoas 13,78 8,44 2,16 -3,04 5,96 264,22<br />
Prudente Morais 21,22 11,67 5,76 -6,31 10,00 599,11<br />
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21<br />
FONTE: IPEA<br />
Além disso, a comparação entre o desempenho da cidade-pólo e a aglomeração como um<br />
todo mostrou a influência destas dentro de suas respectivas aglomerações. Isto é bastante claro<br />
para as aglomerações de Sete Lagoas e Ouro Preto, onde o comportamento da cidade-pólo não<br />
determina a direção da taxa de crescimento (aumentar ou diminuir), mas, também, a significativa<br />
diferença entre os valores observados demonstra que o entorno da cidade-pólo é pouco dinâmico.<br />
Já as taxas anuais de crescimento das aglomerações de Belo Horizonte e de Itabira demonstram<br />
um processo de convergência de seus valores. Uma vez que a TAB. 8 mostra a existência de<br />
subsetores com índices de concentração relevantes fora das cidades-sede, pode-se concluir,<br />
então, que existiu um processo de homogeneização da produção por toda a região. Em outras<br />
palavras, a cidade-pólo e o seu entorno ficaram mais parecidos em termos de suas respectivas<br />
dinâmicas econômicas.<br />
A performance na década teve reflexos no desempenho exportador do setor. As<br />
aglomerações aqui analisadas certamente possuem papel determinante no desempenho<br />
exportador do setor. A participação relativa de Minas Gerais nas exportações nacionais de bens<br />
industrializados do setor é significativa apesar de declinante no decorrer da década. Em 1989,<br />
esta participação era de 50,2%, chegando a 39,7% no ano de 2001. Certamente, isso é reflexo<br />
do surgimento de outras jazidas em outras partes do País. Em relação à pauta de exportação do<br />
Estado, este setor se manteve em segundo lugar, perdendo apenas para o setor metalúrgico. A<br />
década iniciou com o setor respondendo por 28,1% da pauta de exportação do Estado e finaliza<br />
com 27,06%. Vale notar que, em sintonia com esses dados, de acordo com a Secretária de<br />
Comércio Exterior no ano de 2001 existiam na aglomeração 21 empresas exportadoras. Entre<br />
essas, destacam-se duas - Cia. Vale do Rio Doce e a Mineração Morro Velho - cujos valores de<br />
exportação foram superiores a US$ 50 milhões. Além disso, das 21 empresas, 2 possuem valores<br />
entre US$ 10 e US$ 50 milhões e, 11, entre US$ 1 e US$ 10 milhões. Isso evidência claramente<br />
a vocação exportadora das aglomerações.<br />
A integração produtiva desta aglomeração produtiva pode ser analisada através de dois<br />
indicadores. O primeiro é o índice puro de ligação inter-regional. Embora estimado para o<br />
Estado como um todo, ele pode servir de proxy dos encadeamentos produtivos da aglomeração,
tendo em vista o peso determinante que ela possui na produção do setor de calçados em<br />
Minas Gerais 9 . Tendo este indicador em vista, pode-se afirmar que a integração produtiva<br />
do setor é alta, principalmente para frente, dado o peso do complexo metal-mecânico em<br />
Minas Gerais (TAB. 17 do Apêndice 2). A ligação para trás pode ser analisada através do<br />
índice de concentração para o setor de bens de capital ou, mais especificamente, para a<br />
atividade 'fabricação de outras máquinas e equipamentos para a extração de minério e<br />
indústria', de acordo com a CNAE. Foram encontradas 4 cidades pertencentes às microrregiões<br />
em questão onde este valor foi superior à média do Estado: Belo Horizonte (9,03); Contagem<br />
(0,41); Santa Luzia (23,7) e Paraobeba (3,2109). Deve ser ressaltado que as três primeiras<br />
pertencem a microrregião de Belo Horizonte. Esse fator certamente terá influências sobre as<br />
aglomerações do setor de mecânica.<br />
A análise do desempenho social das aglomerações será feita através de dois indicadores,<br />
a saber: porcentagem de famílias pobres 10 e anos médios de estudo. A TAB. 9 apresenta os<br />
resultados observados para as aglomerações e para Minas Gerais. Em relação à porcentagem<br />
de pobres, observa-se que ocorreram em todas aglomerações reduções nesse percentual<br />
superiores às observadas para o Estado, com destaque para as aglomerações de Belo Horizonte<br />
e Ouro Preto. Apesar desse resultado, quando o parâmetro de comparação é a média das<br />
aglomerações produtivas locais do Estado, observa-se que apenas a aglomeração extrativa<br />
mineral de Belo Horizonte apresentou uma redução acima deste parâmetro. Vale ressaltar<br />
que, em 1991, os valores observados em todas as aglomerações eram bastante próximos aos<br />
observados para o Estado.<br />
Em relação aos anos médios de estudo, dois aspectos chamam a atenção. Primeiramente,<br />
são justamente aquelas aglomerações que obtiveram os piores desempenhos em relação a<br />
redução de pobres (Sete Lagoas e Itabira) que apresentaram as piores taxas de variação neste<br />
quesito, indicando uma forte correlação entre estas variáveis 11 . Além disso, nota-se que apenas<br />
Ouro Preto apresentou uma melhora na média de anos de estudo em relação à média das<br />
aglomerações industriais relevantes.<br />
Finalizando, a TAB. 10 abaixo mostra as variáveis que podem ser utilizadas para avaliar<br />
o desenvolvimento da rede urbana da aglomeração. O número de agências bancárias é utilizado<br />
aqui como uma proxy da diversidade e do tamanho do setor serviços. Esta é uma variável<br />
clássica nos estudos em economia regional. Fica claro que essas aglomerações estão localizadas<br />
em espaços urbanos com pouca diversificação do setor serviço. 12 É claro que a média de<br />
agências apresentada na tabela é fortemente influenciada pelas aglomerações que possuem a<br />
cidade de Belo Horizonte no seu interior. No entanto, mesmo recalculando essa média,<br />
excluindo a cidade de Belo Horizonte (o que significaria um valor de referência de 24 agências),<br />
as aglomerações aqui estudadas continuariam apresentando uma diversificação do setor<br />
serviços inferior à apresentada pelas demais aglomerações.<br />
9 Esta justificativa para a utilização deste índice também se aplica aos demais setores estudados neste capítulo.<br />
10 Considera-se pobre a família cujo chefe do domicilio possui renda inferior até 1 salário mínimo.<br />
11 Ver TAB. 2 do Apêndice 3.<br />
12 O número de agências apresentado na tabela se refere ao total de agências nas cidades que fazem parte da aglomeração. O valor<br />
encontrado na TAB. 10 para a microrregião de Belo Horizonte (16), por exemplo, diz respeito ao número de agências das cidades<br />
de Brumadinho, Caeté, Esmeraldas, Igarapé, Nova Lima e Sarzedo, que compõem a aglomeração da indústria extrativa mineral<br />
desta microrregião.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 201<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 9<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL<br />
MINAS GERAIS – 1991 E 2000<br />
AGLOMERAÇÕES<br />
202 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
% POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
1991 2000 VARIAÇÃO (%) 1991 2000 VARIAÇÃO (%)<br />
Belo Horizonte 44.1 22.2 - 49.8 4.9 5.3 8.9<br />
Itabira 38.3 30.1 - 21.4 4.8 5.0 3.1<br />
Ouro Preto 39.7 25.5 - 35.7 5.1 5.6 9.5<br />
Sete Lagoas 44.6 36.9 - 17.3 5.1 4.0 - 22.0<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 - 38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
TABELA 10<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL<br />
MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Belo Horizonte 16 87.1<br />
Itabira 14 83.7<br />
Ouro Preto 17 86.3<br />
Sete Lagoas 5 68.0<br />
Média das Aglomerações 88 92.8<br />
FONTE: BACEN e IBGE<br />
Dois fatores explicariam tal resultado. Em primeiro lugar, está o fato de este setor ser<br />
composto por grandes firmas, cujas sedes administrativas estão localizadas nos grandes centros<br />
urbanos fora do local de extração mineral. Por serem as atividades localizadas nas sedes as<br />
que mais demandam serviços produtivos modernos, não existiria, assim, esse tipo de demanda<br />
na localidade onde a produção é realizada. Além disso, o próprio processo produtivo desse<br />
setor industrial, por ter uma baixa agregação de valor, não demandaria serviços produtivos<br />
diversos. Essas mesmas características do processo produtivo explicariam o baixo grau de<br />
urbanização observado, uma vez que essa atividade é essencialmente não urbana.<br />
3.5.1.2. A indústria metalúrgica<br />
A indústria metalúrgica apresentou no ano de 2000 três aglomerações produtivas locais<br />
relevantes, localizadas nas Regiões de Planejamento: Metropolitana de Belo Horizonte (Belo<br />
Horizonte e Conselheiro Lafaiete) e Vale do Rio Doce, na microrregião de Ipatinga.
MAPA 5<br />
As localizações dessas aglomerações são definidas pela localização das principais fontes<br />
de matérias-primas do setor, uma vez que o mesmo se beneficia da proximidade com aquelas.<br />
Isso pode ser observado através da comparação com as localizações das aglomerações da indústria<br />
extrativa mineral. Nota-se que as aglomerações da indústria metalúrgica estão próximas, ou até<br />
mesmo são contíguas às aglomerações desta última.<br />
O efeito polarizador do setor foi, em 2000, o mais elevado, sendo, por isso mesmo,<br />
classificado como elevadíssimo na análise de cluster efetuada na segunda seção deste capítulo. A<br />
aglomeração metalúrgica da microrregião de Belo Horizonte possui, juntamente com a<br />
aglomeração da indústria química da mesma microrregião, o maior efeito polarizador entre as<br />
aglomerações estudadas (0,63). As aglomerações metalúrgicas de Conselheiro Lafaiete e de<br />
Ipatinga também apresentam o maior efeito polarizador de suas respectivas microrregiões, com<br />
0,50 e 0,38, respectivamente.<br />
O índice de concentração médio do setor (3,29), por sua vez, pode ser considerado como<br />
médio, apresentando um crescimento de 24% em relação a 1986. Os valores dos ICs para as<br />
aglomerações deste setor e suas taxas de crescimento foram as seguintes: Belo Horizonte (4,51,<br />
-2%); Ipatinga (3,86, +8%) e Conselheiro Lafaiete (1,32, +226%). Esta última chama a atenção<br />
não só pelo baixo valor apresentado, relativamente às demais, como pela significativa taxa de<br />
crescimento, devido à implementação da Açominas em Ouro Branco, em 1986. Este fato mostra<br />
que durante o período analisado essa aglomeração passou por um processo de consolidação. As<br />
taxas de crescimento das demais mostram que essas podem ser consideradas aglomerações<br />
maduras.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 203<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Apesar de possuir um elevado número de micro e pequenas empresas (TAB. 2 no Apêndice 2),<br />
existe uma característica peculiar a esse setor que é a presença de empresas com mais de 1000<br />
empregados em todas as aglomerações. Este fato se deve à presença de grandes indústrias siderúrgicas,<br />
tais como: Usiminas e Acesita, na aglomeração de Ipatinga; Açominas, em Conselheiro Lafaiete, e<br />
Mannesman, em Belo Horizonte. Embora a presença dessas empresas seja importante para as micro<br />
e pequenas empresas da aglomeração, dada a elevada integração de seus respectivos produtivos, não<br />
se pode afirmar que elas desempenham um papel de liderança e coordenação da aglomeração.<br />
A análise dos subsetores dessas aglomerações mostra uma elevada diversificação da<br />
produção, quer seja na metalúrgica básica, quer seja na fabricação de produtos de metal. A<br />
análise com a maior desagregação possível (CNAE 5 dígitos) mostrou a existência de 85<br />
aglomerações de subsetores, dentro das 3 grandes aglomerações do grande grupo da indústria<br />
metalúrgica, com índices de aglomeração superiores à 1. Destes, 21 apresentam este mesmo<br />
indicador com valores acima de 10 (o que é extremamente elevado) distribuídos por 17<br />
subsetores, como mostra a TAB. 11. Como pode ser visto, existe uma clara diferenciação entre<br />
as aglomerações de Ipatinga e Conselheiro Lafaiete, com produções concentradas em setores de<br />
metalurgia básica, e Belo Horizonte, cuja concentração é em fabricação de produtos de metal,<br />
exclusive máquinas e equipamentos.<br />
O desempenho das aglomerações pode ser avaliado através da TAB. 12. Observa-se que a<br />
aglomeração de Ipatinga foi a única a não apresentar taxas acumuladas de crescimento superiores<br />
às do Estado. A análise comparativa entre o desempenho da aglomeração e sua cidade-pólo,<br />
mostra comportamentos distintos, um para cada aglomeração. No caso de Conselheiro Lafaiete, é<br />
possível observar que as taxas caminham na mesma direção, porém com valores díspares. Isso<br />
indica que a cidade-pólo é o elemento dinamizador da aglomeração. Já no caso de Ipatinga, observase,<br />
até 1985, comportamentos distintos em valor, mas iguais na direção, refletindo o peso da<br />
cidade-pólo. Após 1985, existe uma clara tendência à aproximação dos valores e do sentido,<br />
indicando uma homogeneização produtiva entre a cidade-pólo e o seu entorno. Por fim , como já<br />
analisado, o comportamento de Belo Horizonte se diferencia do seu entorno, mostrando a dinâmica<br />
própria possuída por este último.<br />
TABELA 11<br />
INDÚSTRIA METALÚRGICA (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIO SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO > 1 IC<br />
Conselheiro Lafaiete Ouro Branco Produção de lamina dos não planos de aço 14.66<br />
Ipatinga Ipatinga Produção de laminados planos de aço 21.98<br />
204 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Fabricação de estruturas metálicas para edifícios,<br />
pontes, torres de ... 18.50<br />
Fabricação de embalagens metálicas 18.75<br />
Belo Horizonte Timóteo Produção de laminados planos de aço 10.52<br />
Belo Horizonte Produção de laminados não planos de aço 16.36<br />
Fabricação de tubos de aço com costura 18.17<br />
Fabricação de esquadrias de metal 15.81<br />
Produção de forjados de metais não ferrosos<br />
e suas ligas 11.94<br />
Fabricação de artigos de serralheria exclusive<br />
esquadrias 16.35<br />
Fabricação de ferramentas manuais 14.88<br />
(Continua...)
TABELA 11 (Continuação)<br />
INDÚSTRIA METALÚRGICA (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIO SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO > 1 IC<br />
Belo Horizonte Sabará Fabricação de artigos de funilaria e de artigos<br />
de metal para usos domésticos... 16.26<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
Betim Fabricação de pecas fundidas de ferro e aço 16.64<br />
Fabricação de obras de caldeiraria pesada 16.59<br />
Contagem Fabricação de outros tubos de ferro e aço 12.57<br />
Fabricação de outros produtos elaborados de metal 11.00<br />
Têmpera, cementação e tratamento térmico<br />
do aço, serv. de usinagem... 17.90<br />
Santa Luzia Fabricação de outros tubos de ferro e aço 21.17<br />
Produção de forjados de aço 20.62<br />
Lagoa Santa Produção de forjados de metais não ferrosos<br />
e suas ligas 18.98<br />
Vespasiano Fabricação de artefatos de trefilados 22.39<br />
TABELA 12<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB – INDÚSTRIA METALÚRGICA - MINAS GERAIS - 1976-1996<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO<br />
TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Conselheiro Lafaiete 8.30 5.05 3.73 11.34 2.61 345.50<br />
Congonhas 2.89 11.02 2.46 24.18 4.28 6999.61<br />
Ipatinga 5.60 19.01 4.87 -5.90 0.90 206.68<br />
Ipatinga 0.47 26.49 0.44 -2.97 0.76 202.75<br />
Belo Horizonte 14.48 10.07 1.19 5.83 2.79 413.64<br />
Belo Horizonte 13.34 4.70 1.53 12.35 2.91 424.95<br />
Minas Gerais 10.49 9.64 1.31 2.01 4.17 277.21<br />
FONTE: IPEA<br />
O desempenho exportador do setor, tanto no Estado, quanto no Brasil, permite classificar<br />
as aglomerações como exportadoras. No entanto, é preocupante a queda na participação do setor,<br />
tanto na pauta do Estado, quanto nacional. Em relação à primeira, essa participação caiu de<br />
42,3% para 24,9%. No caso do setor, nacionalmente, também se observa uma pequena queda<br />
entre 1989 e 2001 (de 31,6% para 27,1%). Além disso, a contribuição liquida para o saldo comercial<br />
externo de Minas (exportações/ importações) também caiu de forma significativa (de 8,26 para<br />
2,25). Por fim, a integração produtiva do setor é elevada. Destaca-se, aqui, a aglomeração de Belo<br />
Horizonte, onde o subsetor fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exclusive máquinas<br />
ferramentas, apresentou índices de concentração significativos em 3 cidades da microrregião:<br />
Betim (0,40); Contagem (7,14) e São Joaquim de Bicas (12,77). Além deste, o subsetor fabricação<br />
de máquinas ferramentas também apresentou ICs significativos para as cidades de Belo Horizonte<br />
(18,31) e Betim (4,30). Estes dados indicam que a indústria metalúrgica na aglomeração de Belo<br />
Horizonte é integrada para trás.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 205<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
O desenvolvimento social e urbano dessas aglomerações pode ser analisado com o auxílio<br />
das TAB. 12 e 13 abaixo. Embora não se possa menosprezar a elevada redução no percentual de<br />
famílias pobres, quando comparado ao desempenho do Estado como um todo, há de se ressaltar<br />
que apenas a aglomeração de Belo Horizonte apresentou um resultado superior ao apresentado<br />
pelas demais aglomerações. Esse fato, que também foi observado na análise do setor da indústria<br />
extrativa mineral, indica que não são as características do setor industrial em questão o fator<br />
determinante para o bom desempenho para o caso de Belo Horizonte, mas, sim, as características<br />
urbanas desta última.<br />
AGLOMERAÇÕES<br />
TABELA 13<br />
DESEMPENHO SOCIAL DE AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA METALÚRGICA<br />
MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
206 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
% POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
1991 2000 variações (%) 1991 2000 variações(%)<br />
Belo Horizonte 24.2 13.7 -43.4 6.4 7.0 8.4<br />
Conselheiro Lafaiete 34.3 21.5 -37.3 5.3 6.0 11.4<br />
Ipatinga 27.3 18.2 -33.3 5.7 6.2 7.8<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
De fato, como observado na TAB. 14, o grau de urbanização e, principalmente, o elevado<br />
tamanho e grau de diversificação do setor serviços de Belo Horizonte é claramente destoante das<br />
demais aglomerações. A conclusões aqui traçadas são reforçadas quando é lembrado que o processo<br />
produtivo desse setor é fortemente integrado, dificultando aqui a demanda por serviços produtivos<br />
complementares. Vale ressaltar, ainda, a fraca intensidade do setor de serviços da aglomeração de<br />
Conselheiro Lafaiete, com apenas 19 agências. Tal fator explicaria, como mostra a tabela de<br />
correlações no Apêndice 3, o fato de esta aglomeração apresentar o maior percentual de pobres e<br />
menor anos de estudos, em 2000.<br />
TABELA 14<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Belo Horizonte 418 98.8<br />
Conselheiro Lafaiete 19 92.6<br />
Ipatinga 34 98.3<br />
FONTE: BACEN e IBGE
3.5.1.3. A indústria mecânica<br />
A análise feita para a indústria mecânica no Estado apontou a existência de 3 aglomerações<br />
neste setor, distribuídas por 3 Regiões de Planejamento: Triângulo; Sul de Minas e Central.<br />
As duas primeiras, localizadas nas microrregiões de Uberaba e Itajubá, respectivamente, estão<br />
em áreas polarizadas pelo macropólo de São Paulo, e teve a sua formação fortemente<br />
influenciada pelo trasbordamento da indústria paulista. A outra aglomeração se localiza na<br />
microrregião de Belo Horizonte e teve sua formação fortemente influenciada pela existência,<br />
nas proximidades desta, da indústria extrativa mineral, metalúrgica e automotiva, que são<br />
intensivas em capital.<br />
O efeito polarizador do setor, de 0,21, foi classificado como baixo pela análise de cluster<br />
efetuada previamente. Este é distribuído entre as aglomerações da seguinte forma: aglomeração<br />
mecânica de Belo Horizonte, 0,42, sendo a mais elevada do setor; aglomeração de Uberaba,<br />
0,14; e aglomeração mecânica de Itajubá, 0,08.<br />
O índice de concentração médio do setor (1,89) também foi considerado fraco pela análise<br />
de cluster, porém apresenta um crescimento de 36% entre 1986 e 2000. Os valores dos ICs<br />
para as aglomerações desse setor e suas taxas de crescimento foram as seguintes: Belo Horizonte<br />
(0,48, -40%); Itajubá (1,71, -13%%) e Uberaba (1,59, +998%). Esta última chama a atenção<br />
pela significativa taxa de crescimento. Este resultado é explicado pelo baixo valor obtido em<br />
1986, significando que essa aglomeração passou por um processo de consolidação recente. As<br />
taxas de crescimento das demais mostram que essas também podem ser consideradas<br />
aglomerações maduras.<br />
A distribuição por tamanho de empresa, conforme mostra a TAB. 2 do Apêndice 2, mostra<br />
que esse setor possui um percentual de micro e médias empresas abaixo da média das aglomerações.<br />
No entanto, existe uma clara diferenciação entre as empresas, como pode ser observado pela<br />
TAB. 5 do Apêndice 2. O primeiro, o fato de a aglomeração de Belo Horizonte não possuir<br />
grandes empresas, destacando-se o número de pequenas empresas (cerca de 18% do total). Por<br />
outro lado, a aglomeração de Itajubá possui 7 empresas, sendo uma grande e uma média. Isso<br />
indica que o peso destas na governança desta aglomeração tende a ser mais importante.<br />
MAPA 6<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 207<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A análise dos subsetores dessas aglomerações mostra uma elevada diversificação da produção.<br />
A análise com a maior desagregação possível (CNAE 5 dígitos) mostrou a existência de 56<br />
aglomerações relevantes de subsetores dentro das 3 grandes aglomerações do grande grupo indústria<br />
mecânica, com índices de aglomeração superiores a 1. Destes, 21 apresentam este mesmo indicador<br />
com valores acima de 10 (o que é extremamente elevado), distribuídas por 18 subsetores, como<br />
mostra a TAB. 15.<br />
TABELA 15<br />
INDÚSTRIA MECÂNICA (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO >1 IC<br />
Belo Horizonte Sabará Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil 12,04<br />
Contagem Fabricação de compressores 15,35<br />
208 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais 16,79<br />
Fabricação de máquinas e equipamentos de terraplanagem 17,99<br />
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral 12,81<br />
Fabricação de computadores 23,53<br />
Vespasiano Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais 15,60<br />
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico 17,19<br />
Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais 15,04<br />
Belo Horizonte Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte 16,97<br />
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso 18,30<br />
Fabricação de aparelhos de ar condicionado 17,23<br />
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral 11,73<br />
Fabricação de máquinas-ferramenta 18,31<br />
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar 26,28<br />
Fabricação de cronômetros e relógios 26,68<br />
Santa Luzia Fabricação de outras máquinas e equipamentos para a extrç. de minérios 23,68<br />
São Joaquim Fabricação de máquinas para a ind. metalúrgica - de Bicas exclusive 12,77<br />
Uberaba Uberaba Fabricação de aparelhos de ar condicionado 22,19<br />
Itajubá Itajubá Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos 26,70<br />
Fonte: MT/RAIS, 2000<br />
Fabricação de máquinas e equipamentos para as ind. alimenta 14,7145<br />
O desempenho das aglomerações pode ser avaliado através da TAB. 16. Observa-se que<br />
todas as aglomerações e cidades-pólo obtiveram taxas de crescimento, entre 1970 e 1996, superiores<br />
às obtidas pelo Estado, demonstrando o dinamismo do setor. Já a análise comparativa entre as<br />
cidades-pólo e suas respectivas aglomerações mostrou a característica diversificada da microrregião<br />
de Belo Horizonte. Ou seja, o entorno da cidade-pólo possui uma grande diversidade produtiva,<br />
fazendo com que dinâmicas diferenciadas entre o pólo e seu entorno possam existir. Nas outras<br />
duas aglomerações, não é possível efetuar tal comparação, uma vez que a cidade-pólo é a única a<br />
fazer parte da aglomeração.
TABELA 16<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB – INDÚSTRIA MECÂNICA - MINAS GERAIS - 1976-1996<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO<br />
TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Belo Horizonte 14.12 10.36 1.21 6.05 2.81 418.49<br />
Belo Horizonte 13.34 4.70 1.53 12.35 2.91 424.95<br />
Uberaba 10.42 17.09 4.65 -4.90 4.06 330.35<br />
Uberaba 10.42 17.09 4.65 -4.90 4.06 330.35<br />
Itajubá 25.43 9.10 2.03 1.65 2.71 558.63<br />
Itajubá 25.43 9.10 2.03 1.65 2.71 558.63<br />
Minas Gerais 10.49 9.64 1.31 2.01 4.17 277.21<br />
FONTE: IPEA<br />
O desempenho exportador do setor pode ser considerado fraco, porém relativamente<br />
estável, tendo em vista suas contribuições para as exportações nacionais do setor e do Estado.<br />
Em relação ao Brasil, o peso do setor vem declinando vagarosamente. Em 1989, era de 3,6%,<br />
passou para 3,0% em 1997, para chegar, em 2001, com 2,9%. A sua contribuição para as<br />
exportações mineiras permaneceu no mesmo patamar durante a década, ou seja, 1%. Essa<br />
trajetória teve reflexos na relação exportação/ importação, que foi reduzida de 0,28 para 0,13.<br />
O fato marcante no desenvolvimento social na última década, entre as aglomerações da<br />
indústria mecânica, é a elevada redução no percentual de pobres (acima da média de todas as<br />
aglomerações), notadamente para o caso de aglomeração de Itajubá. Esta mesma aglomeração<br />
também irá apresentar a maior variação positiva em termos de anos médios de estudo (46%). O<br />
interessante aqui é o fato de essa aglomeração não possuir características urbanas que possam<br />
explicar esse desenvolvimento. O número de agências bancárias é abaixo da média das<br />
aglomerações (TAB. 18), permitindo classificar a rede de serviços como fraca e pouco<br />
desenvolvida. No entanto, a explicação para esse desempenho pode ser dada pelo crescimento<br />
do PIB, fator fortemente correlacionado com o desenvolvimento social. O que se pode inferir é<br />
que as empresas dessa aglomeração são prestadoras de serviços para as empresas localizadas<br />
em São Paulo, não tendo sido capazes de gerar encadeamentos locais que permitam uma<br />
diversificação da estrutura urbana.<br />
TABELA 17<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA MECÂNICA - MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
AGLOMERAÇÕES<br />
% POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
1991 2000 Variação (%) 1991 2000 Variação (%)<br />
Belo Horizonte 23.2 13.2 -43.1 6.6 7.2 9.3<br />
Itajubá 41.0 16.0 -61.0 4.8 7.0 46.7<br />
Uberaba 27.7 14.2 -48.7 6.3 6.7 5.9<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 209<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 18<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA MECÂNICA - MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Belo Horizonte 398 99.3<br />
Itajubá 10 91.5<br />
Uberaba 25 96.9<br />
FONTE: BACEN e IBGE<br />
3.5.1.4. A indústria de material elétrico e de comunicações<br />
A indústria de material elétrico e comunicações apresentou, em 2000, cinco aglomerações<br />
distribuídas por 2 Regiões de Planejamento. A Região de Planejamento Sul de Minas possui três<br />
aglomerações, sendo duas em microrregiões contíguas. As outras duas aglomerações, por sua vez,<br />
estão situadas no interior da Região de Planejamento Central (Mapa 7).<br />
As localizações dessas aglomerações são um reflexo direto do mais elevado conteúdo<br />
tecnológico dessa indústria. Esse fato implica na necessidade de proximidade tanto com um setor<br />
de serviços capaz de fornecer serviços sofisticados e diversificados, quanto de uma oferta de<br />
mão-de-obra com maior grau de treinamento. No caso das microrregiões de Ouro Preto e Belo<br />
Horizonte, esses fatores estariam presentes na densidade e diversidade urbana da Região<br />
Metropolitana de Belo Horizonte. Já as microrregiões de São Sebastião do Paraíso, Itajubá e Santa<br />
Rita do Sapucaí vêm conseguindo atrair esse tipo de empresas aproveitando-se do transbordamento<br />
da indústria a partir de São Paulo e da existência de centros de ensinos especializados na região.<br />
De uma forma geral, o efeito polarizador das aglomerações são modestos. Para o setor, esse<br />
indicador é de 0,18 e foi caracterizado como fraco na análise de cluster feita anteriormente. Como<br />
mostra a TAB. 3, os graus de polarização das aglomerações variam entre um valor máximo de 0,25<br />
(Belo Horizonte e Ouro Preto) até 0,07 (Itajubá).<br />
Os índices de concentração, por sua vez, apresentam valores um pouco melhores<br />
do que os apresentados para medir o grau de polarização. O IC médio do setor foi de 2,50<br />
para o ano de 2000, significando um aumento de 763% em relação a 1986 (TAB. 1 do<br />
Apêndice 2). Isto indica que este é um setor em processo de consolidação. Esta afirmativa<br />
pode ser comprovada pela análise da evolução dos ICs das aglomerações. Todas estas<br />
apresentaram taxas de crescimento positivas, destacando-se aqui as aglomerações de<br />
Santa Rita do Sapucaí, Ouro Preto e Belo Horizonte, com taxas de 3315%, 1332% e 1152%,<br />
respectivamente. Estes valores são explicados pelos baixos ICs apresentados em 1986,<br />
indicando que os anos 90 foram de construção do setor.<br />
Os diversos índices de concentração são explicados pela concentração da produção em<br />
diversos subsetores, mostrando uma elevada diversificação produtiva (TAB. 19). Como pode ser<br />
notado, existem 5 subsetores que contribuem decisivamente para o grau de concentração das<br />
aglomerações. Para a aglomeração de São Sebastião do Paraíso, estes seriam: fabricação de geradores<br />
de corrente contínua ou alternada (IC = 26,62) e fabricação de aparelhos e utensílios para sinalização<br />
e alarme (IC = 23,20). Santa Rita do Sapucaí se apoiaria nos subsetores fabricação de<br />
transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes (IC = 21,85), fabricação<br />
de material de consumo básico (10,02) e fabricação de equipamentos transmissores de rádio e<br />
televisão (IC = 21,62). Em Itajubá, destaca-se a fabricação de transformadores, indutores,<br />
conversores, sincronizadores e semelhantes, com IC de 11,8.<br />
210 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
MAPA 7<br />
A distribuição de empresas, segundo tamanho nas aglomerações desse setor, possui como<br />
característica marcante o peso das pequenas e médias empresas (TAB. 2 do Apêndice 2), principalmente<br />
nas aglomerações de Belo Horizonte, Santa Rita do Sapucaí e Ouro Preto. Já Itajubá irá se caracterizar<br />
pela grande presença de micros e médias empresas. A explicação para esse fato pode estar no próprio<br />
processo produtivo, onde existe alguma barreira a entrada, o que afastaria parcela significativa das<br />
micro empresas, sendo, porém, não significativamente capital intensivo. Esse fato indica a possibilidade<br />
de uma governança mais horizontal entre as empresas e com instituições públicas.<br />
TABELA 19<br />
INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÕES (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO >1 IC<br />
São Sebastião Monte Santo Fabricação de geradores de corrente contínua ou alternada 26,62<br />
do Paraíso de Minas Fabricação de aparelhos e utensílios para sinalização e alarme 23,20<br />
Guaxupé Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 7,00<br />
Santa Rita do Santa Rita do Fabricação de transformadores, indutores, conversores sincronizadores 21,85<br />
Sapucaí Sapucaí Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos 4,53<br />
Fabricação de material eletrônico básico 10,02<br />
Fabricação de equipamentos transmissores de rádio e televisão 21,62<br />
Fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de intercomunicação 8,49<br />
(Continua...)<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 211<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 19 (continuação)<br />
INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÕES (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO >1 IC<br />
Santa Rita do Natércia Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 6,43<br />
Sapucaí São Sebastião Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias 2,52<br />
da Bela Vista<br />
Itajubá Itajubá Fabricação de transformadores, indutores, conversores,<br />
sincronizadores... 11,85<br />
212 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 6,22<br />
Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias 9,33<br />
Belo Horizonte Contagem Fabricação de transformadores, indutores, conversores<br />
sincronizadores... 3,05<br />
Fabricação de motores elétricos 18,11<br />
Fabricação de subestações, quadros de comandos, reguladores<br />
de voltagem... 24,45<br />
Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo 18,24<br />
Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação - excusive 21,85<br />
Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão 22,70<br />
Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos 13,65<br />
Fabricação de material eletrônico básico 15,40<br />
Santa Luzia Fabricação de transformadores, indutores, conversores<br />
sincronizadores... 1,64<br />
Belo Horizonte Fabricação de subestações, quadros de comando, reguladores<br />
de voltagem... 2,11<br />
Fabricação de aparelhos e utensílios para sinalização e alarme 9,78<br />
Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos 3,52<br />
Fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de intercomunicação 17,12<br />
Mateus Leme Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias 4,10<br />
Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos 2,83<br />
Lagoa Santa Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos 1,24<br />
Ouro Preto Itabirito Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias 17,36<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
O desempenho econômico das aglomerações e cidades-pólo é mostrado na TAB. 20. Os<br />
resultados observados na tabela refletem o processo de consolidação das aglomerações. Nenhuma<br />
delas apresentou uma clara superioridade em termos de performance econômica em relação ao<br />
Estado, em todo o período analisado. Apenas dois fatos chamam a atenção. O primeiro é um<br />
claro descolamento da aglomeração de Santa Rita do Sapucaí e de sua cidade-pólo na última<br />
fase do período. Este, como já mostrado, faz parte do período no qual a aglomeração mais se<br />
consolidou, apresentando um elevadíssimo crescimento do seu grau de concentração. O segundo<br />
é o grande crescimento de Belo Horizonte entre 1985 - 1990, período em que tanto Minas<br />
Gerais quanto às demais aglomerações apresentaram taxas de crescimento do PIB insignificantes<br />
ou negativas. Isto permite concluir que o crescimento da microrregião e da cidade-pólo foi<br />
puxado por outros setores ali existentes.
TABELA 20<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDÚSTRIA DO MATERIAL ELÉTRICO E COMUNICAÇÕES<br />
MINAS GERAIS - 1970 - 1996<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO<br />
TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
São Sebastião<br />
do Paraíso 10,68 5,97 0,19 -3,13 3,80 130,17<br />
Guaxupe 13,53 4,22 0,22 -0,43 4,87 191,02<br />
Ouro Preto 5,43 9,16 -2,06 -3,57 3,87 83,46<br />
Itabirito 5,43 9,16 -2,06 -3,57 3,87 83,46<br />
Belo Horizonte 13,26 8,11 0,86 8,08 3,19 395,97<br />
Belo Horizonte 13,34 4,70 1,53 12,35 2,91 424,95<br />
Santa Rita 7,48 8,71 1,56 3,01 6,97 282,41<br />
Santa Rita 6,74 9,26 2,46 4,06 6,38 304,78<br />
Itajubá 25,43 9,10 2,03 1,65 2,71 558,63<br />
Itajubá 25,43 9,10 2,03 1,65 2,71 558,63<br />
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21<br />
FONTE: IPEA<br />
A análise das cidades-pólo deste setor mostra que, no caso da aglomeração de São Sebastião<br />
do Paraíso, a sua cidade-pólo possui uma clara participação no desempenho da aglomeração,<br />
evidenciando a dependência desta última. Por outro lado, Belo Horizonte, como já mostrado, e<br />
Santa Rita do Sapucaí, mostram possuir entornos mais diversificados e independentes.<br />
O desempenho exportador do setor mostra um processo dual. Enquanto o setor viu<br />
diminuir sua participação nas exportações nacionais do setor, caindo de 3,45 % para 2,86%,<br />
seu peso na pauta de exportação do Estado aumentou ligeiramente (de 1,23% para 1,87%, em<br />
10 anos). Vale ressaltar o aumento da contribuição liquida para o saldo comercial externo de<br />
Minas (de 0,68 para 0,47, na relação exportação / importação), apesar de o setor continuar<br />
deficitário. No conjunto das 4 aglomerações, o setor possui apenas 6 empresas exportadoras,<br />
todas com volumes inferiores a US$ 1 milhão.<br />
O desempenho social das aglomerações desse setor é marcado pela diversidade. Embora<br />
todas as aglomerações terem apresentados taxas de redução da pobreza acima da média de<br />
Minas Gerais, o desempenho entre elas é variado. De um lado, temos aglomerações como a<br />
de Santa Rita do Sapucaí, que apresenta 24% de suas famílias em situação de pobreza e, de<br />
outro, a aglomeração de Belo Horizonte, com apenas 12% de suas famílias nesta situação. Da<br />
mesma forma, observa-se um elevado esforço educacional na aglomeração de Itajubá,<br />
representado pelo aumento de 40% nos anos médios de estudo. A nota triste fica por conta<br />
das aglomerações de São Sebastião do Paraíso, Santa Rita do Sapucaí e Ouro Preto que,<br />
apesar da redução da pobreza e crescimento significativo do PIB, não conseguiram aumentar<br />
o tempo de permanência de sua população na escola, chegando mesmo a ponto de reduzi-lo,<br />
como é o caso de Ouro Preto.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 213<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Dada a correlação existente entre o número de agências e o grau de urbanização, com o<br />
percentual de pobres na aglomeração, a explicação para o fraco desempenho social de algumas das<br />
aglomerações acima pode ser explicada na porosidade e fragilidade de suas respectivas estruturas<br />
urbanas. Como mostra a TAB. 22, todas as aglomerações com fraco desempenho social<br />
apresentaram graus de urbanização relativamente baixos (comparados com os demais) e pequena<br />
diversidade e complexidade do setor serviços (baixo número de agências).<br />
TABELA 21<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO E COMUNICAÇÕES<br />
MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
Aglomerações<br />
214 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
% Pobres Anos de Estudo<br />
1991 2000 Variação (%) 1991 2000 Variação (%)<br />
Belo Horizonte 22.3 12.6 -43.5 6.7 7.4 10.0<br />
Itajubá 29.9 16.0 -46.5 5.0 7.0 40.1<br />
Ouro Preto 27.7 18.3 -33.9 6.3 5.6 -11.2<br />
Santa Rita do Sapucaí 31.4 24.4 -22.3 5.4 5.4 1.8<br />
São Sebastião do Paraíso 34.2 21.5 -37.1 5.4 5.4 0.4<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
TABELA 22<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA<br />
MATERIAL ELÉTRICO E COMUNICAÇÕES - MINAS GERAIS - 2000<br />
Aglomerações Número de Agências Grau de Urbanização<br />
Belo Horizonte 377 99.6<br />
Itajubá 10 91.5<br />
Ouro Preto 5 93.0<br />
Santa Rita do Sapucaí 8 765.3<br />
São Sebastião do Paraíso 10 85.9<br />
FONTE: BACEN e IBGE<br />
3.5.1.5. A indústria de material de transporte<br />
A indústria de material de transporte possui duas aglomerações produtivas locais relevantes<br />
em Minas Gerais, localizadas nas microrregiões de Belo Horizonte e Itajubá. Essas localizações<br />
refletem fatores locacionais claramente definidos. A aglomeração na microrregião de Belo Horizonte<br />
teria um forte atrativo que é a localização da fábrica da FIAT Automóveis, em Betim, Região<br />
Metropolitana de Belo Horizonte. Isto estimularia a instalação do setor de autopeças em torno<br />
desta região. Esse fator é particularmente importante a partir do momento em que a montadora<br />
passou a adotar o chamado sistema just-in-time. Como se sabe, este requer uma maior proximidade<br />
entre fornecedor e consumidor.
MAPA 8<br />
A aglomeração em Itajubá também pode ser creditada a fatores locacionais relacionados à<br />
indústria automotiva. Na década dos 70, tem início um processo de desconcentração espacial da<br />
indústria localizada na Região Metropolitana de São Paulo, originado pelas chamadas deseconomias<br />
de aglomeração oriundas da grande concentração industrial naquela região. As indústrias do<br />
complexo automotivo foram algumas das que procuraram sítios alternativos para instalarem novas<br />
unidades produtivas. O sul de Minas foi uma das regiões que se beneficiaram desse processo,<br />
recebendo um volume significativo de empresas do setor de transporte. Estas se beneficiariam de<br />
menores custos aglomerativos e continuariam a estar próximas a São Paulo.<br />
O setor de material de transporte possui um efeito de polarização médio de 0,26, podendo<br />
ser caracterizado como de média intensidade. Este valor é positivamente influenciado pelo<br />
grau de polarização da aglomeração situada na microrregião de Belo Horizonte. Como já visto<br />
na TAB. 3, para esta aglomeração o efeito de polarização é de 0,37, englobando 9 das 24<br />
cidades da microrregião. Mais uma vez é possível observar os efeitos da densidade urbana da<br />
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em flagrante contraste, a aglomeração de Itajubá<br />
apresenta um efeito polarizador de 0,15, significando que apenas 15% das cidades da microrregião<br />
participam da aglomeração. Tais contrastes evidenciam as diferenças entre os entornos das cidadespólo<br />
de cada aglomeração.<br />
Os índices de aglomerações também irão apresentar valores e comportamentos bem distintos.<br />
O IC médio do setor é de 4,17, sendo o quinto entre os setores, permitindo sua classificação como<br />
elevado, conforme a TAB. 4. Sua evolução em relação a meados dos 80 foi positiva em 2%.<br />
Entretanto, a análise desagregada por aglomeração mostra um quadro bastante diferenciado. A<br />
aglomeração de Belo Horizonte possui um IC de 5,67 para o ano 2000, enquanto, em 1986, esse<br />
valor era de 6,05. Ou seja, ocorreu uma redução na intensidade de aglomeração de 6%. O motivo<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 215<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
dessa redução se deve basicamente ao surto de entrada de novas empresas automotivas no Brasil,<br />
nos 90. Esse processo implica necessariamente na ampliação do setor e redução da participação<br />
relativa das aglomerações já existentes. Ainda assim, cabe destacar aqui a participação relativa da<br />
aglomeração no total do setor, de 7% para o ano 2000, valor bastante significativo.<br />
Já a aglomeração de Itajubá apresentou um IC em 2000 de 2,67, determinado fortemente<br />
por um quociente locacional de 8,3. No entanto, o seu crescimento em relação a 1986 foi<br />
significativo, ficando em cerca de 26%. Esses valores mostram que a aglomeração vivenciou da<br />
segunda metade dos anos 80 para cá um processo de consolidação significativo. Como já dito,<br />
esse processo foi determinado pela desconcentração da indústria paulista.<br />
As aglomerações desse setor também se caracterizam por apresentarem o maior percentual<br />
de grandes empresas e o segundo maior em termos de empresas médias. Esse aspecto é importante,<br />
pois pode determinar uma forma específica de governança. De fato, na aglomeração de Belo<br />
Horizonte, o papel desempenhado pela fabrica de automóveis FIAT, na coordenação do arranjo,<br />
é determinante. Como mostra Lemos et al. (2000), esta aglomeração pode ser caracterizada como<br />
um "distrito centro-radial" (Markusen, 1995), cuja estrutura é dominada por uma grande firma<br />
compradora, a qual funciona como uma âncora para a economia regional, com os fornecedores e<br />
atividades relacionadas se distribuindo ao redor desta grande firma, como aros de uma bicicleta.<br />
Embora existam várias empresas nesta aglomeração, que não são fornecedores da FIAT, não há<br />
como negar que esta empresa desempenha um papel central na dinâmica da aglomeração.<br />
A governança da aglomeração de Itajubá, por sua vez, apesar de ser dominada por grandes<br />
empresas (TAB. 7 no Apêndice 2), apresenta, como particularidade, o fato de essas empresas<br />
estarem vinculadas ao complexo automotivo paulista. Isso faz com que tais empresas, apesar de<br />
seu tamanho, não consigam atuar como elemento coordenador da aglomeração.<br />
A produção das aglomerações está concentrada no setor (classificação CNAE 3 dígitos)<br />
fabricação e montagem de veículos automotores, reboque e carrocerias. O peso de cada subsetor<br />
para o índice de concentração pode ser analisado pela TAB. 23.<br />
TABELA 23<br />
INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO >1 IC<br />
Belo Horizonte Betim Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 26,53<br />
216 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhão 9,27<br />
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor 4,06<br />
Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos automotores 3,89<br />
Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 25,32<br />
Belo Horizonte Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhão 1,70<br />
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção 1,03<br />
Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos 16,23<br />
Reparação de aeronaves 26,72<br />
Contagem Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhão 1,05<br />
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor 11,01<br />
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha 17,75<br />
Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos automotores 11,40<br />
Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos 4,65<br />
Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais 15,37<br />
Reparação de veículos ferroviários 16,49<br />
(Continua...)
TABELA 23 (Continuação)<br />
INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO >1 IC<br />
Belo Horizonte Juatuba Fabricação de peças e acessóios para o sistema motor 11,30<br />
Ibirité Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção 4,76<br />
Mateus Leme Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção 1,39<br />
São Joaquim<br />
de Bicas<br />
Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos automotores 4,41<br />
Lagoa Santa Construção e reparação de embarcações para esporte e Lazer 15,28<br />
Ribeirão<br />
das neves<br />
Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 5,21<br />
Itajubá Itajubá Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos automotores 10,99<br />
Construção e montagem de aeronaves 26,50<br />
Paraisópolis Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos automotores 17,12<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
Como pode ser notado na TAB. 23, são 6 os subsetores (CNAE 5 dígitos) mais importantes.<br />
Para a aglomeração de Belo Horizonte, estes seriam: construção, montagem e reparação de veículos<br />
ferroviários, cujos ICs foram de 25,32 em Betim e, 16,48, em Contagem; fabricação de automóveis,<br />
caminhonetes e utilitários, localizada em Betim, cujo IC é de 26,53; fabricação de peças e acessórios<br />
para veículos automotores em Contagem, IC de 17,75; recondicionamento ou recuperação de<br />
motores para veículos automotores, localizado em Belo Horizonte, cujo IC é de 16,23; e, finalmente,<br />
construção e reparação de embarcações em Lagoa Santa, com IC de 15,28. Já para a aglomeração<br />
de Itajubá, 2 subsetores se destacam: construção, montagem e reparação de aeronaves em Itajubá,<br />
com IC de 26,72; 13 e fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, localizado em<br />
Paraisópolis, com IC de 17,12.<br />
O desempenho econômico das aglomerações e cidades-pólo é mostrado na TAB. 24.<br />
TABELA 24<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDÚSTRIA DO MATERIAL DO TRANSPORTE<br />
MINAS GERAIS - 1976 - 2000<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO<br />
TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Belo Horizonte 14,35 10,25 0,85 6,56 2,81 424,45<br />
Belo Horizonte 13,34 4,70 1,53 12,35 2,91 424,95<br />
Itajubá 21,54 7,89 2,04 1,76 2,88 439,64<br />
Itajubá 25,43 9,10 2,03 1,65 2,71 558,63<br />
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21<br />
FONTE: IPEA<br />
13 Este valor se explica pelo efeito transbordamento a partir de São José dos Campos, onde está localizada a Embraer.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 217<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Em primeiro lugar, cabe destacar o fato de tanto as cidades-pólo quanto às aglomerações<br />
apresentarem taxas acumuladas de crescimento superiores às do Estado. Também chama a atenção<br />
o desempenho da aglomeração de Belo Horizonte, que foi superior ao do Estado, de 1970 até o<br />
início dos anos 90. Neste período, observa-se o processo de instalação e consolidação do complexo<br />
automotivo na região. Esse padrão não é repetido nos 6 anos posteriores, apesar de a aglomeração<br />
apresentar uma taxa anual média de crescimento do PIB muito próxima à de Minas Gerais. Mais uma<br />
vez, o comportamento da cidade-pólo não mostrou uma relação direta com o comportamento da<br />
aglomeração como um todo, evidenciando a dinâmica do entorno de Belo Horizonte. Por outro lado,<br />
a aglomeração de Itajubá irá apresentar um padrão similar a Belo Horizonte em relação ao Estado.<br />
O comportamento da cidade-pólo pode ser caracterizado por dois momentos. O primeiro, durante a<br />
década dos 70, onde as taxas médias de crescimento da cidade e da aglomeração caminham no<br />
mesmo sentido, porém com valores muito díspares. Isto significa que o entorno de Itajubá apresentou<br />
um comportamento muito inferior, evidenciando um baixo efeito polarizador da sede da aglomeração.<br />
Esse quadro é alterado a partir do início dos anos 80, quando as duas taxas passam a apresentar<br />
valores extremamente próximos, indicando uma maior integração entre a cidade sede e o seu entorno.<br />
O desempenho exportador na década passada é marcado pela queda na contribuição líquida<br />
do setor para o saldo comercial de Minas com o exterior. A relação exportação/ importação, que<br />
foi de 3,83 em 1989, foi sendo reduzida ao longo de década, passando para 1,2, em 1996, para<br />
chegar, em 2001, com 0,77. Um possível motivo para tal fato foi a acentuada abertura comercial,<br />
que impactou negativamente, e fortemente, o setor automotivo. Nota-se também uma redução da<br />
participação do setor de transporte mineiro nas exportações nacionais do setor. Enquanto em<br />
1989 este valor era de 19,55, começou-se o novo século com apenas 6,03. A mesma redução<br />
também é observada no peso do setor na pauta de exportação de Minas Gerais - 16,44 para 9,62.<br />
De qualquer forma, existem nas aglomerações 3 empresas que exportam mais de US$ 50milhões,<br />
3 na faixa entre US$ 1 e US$ 10 milhões e, 12, apresentando valores inferiores a US$ 1 milhão.<br />
A influência do macropólo de São Paulo na dinâmica da aglomeração de Itajubá pode<br />
também ser visualizada através da análise dos dados relativos ao desempenho social e configuração<br />
urbana (TAB. 25 e 26). Apesar de esta aglomeração ter apresentado taxas de crescimento do seu<br />
PIB significativas, o seu desempenho social ficou abaixo da média das aglomerações do Estado.<br />
Como já mencionado, a dinâmica dessa aglomeração é determinada pelo desempenho do setor<br />
automotivo de São Paulo, sendo as empresas aqui estabelecidas fornecedoras de insumos para<br />
esse setor. Isto implica que elas não conseguem atuar como pólo local de desenvolvimento,<br />
principalmente através do estímulo ao surgimento de um setor serviços moderno e diversificado.<br />
De fato, como mostra a TAB. 25, esta aglomeração não só possui, relativamente, um pequeno<br />
grau de urbanização, como também um número de agências bancárias diminuto, exemplificando a<br />
pequena densidade do setor serviços na região. Esse aspecto dificulta que o dinamismo do setor<br />
produza rebatimentos mais significativos para a economia local.<br />
TABELA 25<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE<br />
MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
AGLOMERAÇÕES<br />
218 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
% POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
1991 2000 Variação (%) 1991 2000 Variação (%)<br />
Belo Horizonte 23.3 13.1 -43.8 6.5 7.2 9.6<br />
Itajubá 27.7 17.7 -36.1 6.3 6.7 6.5<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE
TABELA 26<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA<br />
DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Belo Horizonte 390 99.3<br />
Itajubá 15 88.5<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
3.5.2. O complexo da construção civil<br />
Como visto no capítulo referente às cadeias produtivas, esse complexo é composto por três<br />
setores industriais, a saber: Construção Civil, Madeira e Mobiliário e Fabricação de Metais Não-<br />
Metálicos. Destes, o primeiro não foi objeto de investigação neste capítulo, uma vez que não é um<br />
setor de manufatura. Em relação aos outros dois setores, foram identificadas duas aglomerações<br />
produtivas locais relevantes, uma em cada setor. Tais aglomerações estão localizadas em Regiões<br />
de Planejamento distintas e distantes, indicando uma possível baixa integração produtiva desse<br />
complexo.<br />
3.5.2.1. A indústria de produtos minerais não-metálicos<br />
A indústria de produtos minerais não-metálicos possui apenas uma aglomeração relevante,<br />
localizada na região central do Estado, na microrregião de Belo Horizonte. Como o Mapa mostra,<br />
todas as cidades que fazem parte desta aglomeração - 9 no total - possuem plena contigüidade. A<br />
sua localização também está fortemente determinada pela proximidade das fontes de matériasprimas,<br />
além de ser predominantemente dominada por micro e pequenas empresas (TAB. 2 no<br />
Apêndice 2).<br />
O grau de polarização da aglomeração é de 0,37, indicando que mais de 1/3 das cidades<br />
da microrregião pertencem à aglomeração. Como visto na terceira parte deste capítulo, este<br />
valor permite classificar o seu grau de polarização como grande, comparativamente às demais<br />
aglomerações do Estado. O seu índice de concentração é de 4,8663, sendo o terceiro maior<br />
do Estado. Um fator determinante para esse elevado valor foi a participação relativa da<br />
aglomeração no total do emprego do setor no País que, em 2000, foi de 4%. No entanto, deve<br />
ser ressaltado que este indicador é 6% menor que o valor observado para 1986 (TAB. 1 no<br />
Apêndice 2).<br />
As categorias de produtos produzidos nesta aglomeração podem ser agrupadas em 7 grupos,<br />
cujas respectivas produções estão concentradas em 6 cidades da microrregião, conforme mostra a<br />
TAB 26. O grau de concentração da aglomeração é sustentado essencialmente por 4 subsetores:<br />
fabricação de cimento, localizada especialmente em Vespasiano (IC = 8,3126); fabricação de<br />
artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque, distribuída entre Pedro Leopoldo<br />
(IC = 15,59) e Belo Horizonte (IC = 6,34); fabricação de produtos cerâmicos, localizados em<br />
Contagem (IC = 17,45) e Santa Luzia (IC = 11,18); e, finalmente, aparelhamento de pedras<br />
e fabricação de cal e de outros produtos de minerais não-metálicos, situados em Contagem<br />
(IC = 9,28) e São José da Lapa (IC = 21,31).<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 219<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
MAPA 9<br />
O seu desempenho produtivo pode ser observado com a ajuda da TAB. 28. É significativa a<br />
superioridade em termos de crescimento do seu PIB em relação ao crescimento do Estado. No entanto,<br />
deve-se ter cuidado com esses valores. O fato de a aglomeração ter em seu interior a Região Metropolitana<br />
de Belo Horizonte, e a cidade-pólo da aglomeração ser Belo Horizonte, produz impactos sobre as taxas<br />
de crescimento do PIB, que vão muito além do desempenho do setor minerais não-metálicos.<br />
TABELA 27<br />
INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO-METÁLICOS (IBGE)<br />
MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIO SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO > 1 IC<br />
Belo Horizonte Pedro Leopoldo Fabricação de cimento 3.11<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
220 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso... 15.59<br />
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras... 1.05<br />
Fabricação de cal virgem, cal hidratada e gesso 3.61<br />
Vespasiano Fabricaçao de cimento 8.311<br />
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso... 2.02<br />
Belo Horizonte Fabricação de cimento 1.47<br />
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso... 6.3<br />
Fabricação de produtos cerâmicos refratários 1.21<br />
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras... 4.37<br />
Contagem Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso... 5.49<br />
Fabricação de produtos cerâmicos refratários 17.45<br />
Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos 9.28<br />
Rio Acima Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural... 1.95<br />
Betim Fabricação de produtos cerâmicos refratários 1.98<br />
Santa Luzia Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para usos diversos 11.18<br />
Nova Lima Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras 2.39<br />
São José da Lapa Fabricação de cal virgem, cal hidratada e gesso 21.31
TABELA 28<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO-METÁLICOS<br />
MINAS GERAIS - 1970 - 1996<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO<br />
TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Belo Horizonte Belo Horizonte 14.65 10.00 1.02 6.15 2.60 414.53<br />
13.34 4.70 1.53 12.35 2.91 424.95<br />
Minas Gerais 10.49 9.64 1.31 2.01 4.17 277.21<br />
FONTE: IPEA<br />
Apesar desse fato, algumas considerações podem ser feitas. Como pode ser observado,<br />
durante toda a década de 70 a aglomeração apresentou taxas anuais médias superiores às<br />
observadas para Minas Gerais. Vale salientar que tal desempenho não se deveu ao desempenho<br />
da cidade-pólo da aglomeração (Belo Horizonte). Principalmente na segunda metade da<br />
referida década, esta apresentou uma taxa de crescimento de seu PIB significativamente inferior<br />
ao da aglomeração, demonstrando que parte importante do setor se encontra fora dos limites<br />
da cidade-pólo. Essas mesmas taxas, nas décadas de 80 e 90, apresentaram um comportamento<br />
que refletiu os ciclos econômicos da industria brasileira como um todo. Desta forma, a<br />
aglomeração deixa de apresentar taxas elevadas de crescimento, chegando na metade da década<br />
passada com taxas de crescimento inferiores às do Estado.<br />
O desempenho exportador na década mostra que o setor possui uma maior importância<br />
no cenário nacional do que no Estado. A participação relativa na exportação do setor,<br />
nacionalmente, evoluiu de 7,88 %, em 1989, para 12,12%, em 2001. Já o peso do setor na<br />
pauta de exportação estadual, apesar de crescer no decorrer da década passada, foi sempre<br />
inferior a 1,5%. Apesar deste pequeno peso exportador, o setor sempre teve uma contribuição<br />
líquida positiva para a balança comercial de Minas, uma vez que a sua relação exportação/<br />
importação foi sempre superior a 1 (1,71, em 1989; 1,57, em 1996 e, 1,68, em 2001). Dentro<br />
da aglomeração existem cerca de 37 empresas exportadoras, a sua grande maioria concentrada<br />
na faixa inferior a US$ 1 milhão.<br />
Não se pode deixar de mencionar o fato de que na aglomeração não existe nenhum<br />
setor de bens de capital direcionado à produção de máquinas e equipamentos, relacionados<br />
às atividades da aglomeração, com índice de concentração relevante. Esse fato debilita a<br />
integração produtiva do setor, dificultando o surgimento de relações de cooperação dentro<br />
da aglomeração produtiva local.<br />
O fato de esta aglomeração incorporar parte significativa da Região Metropolitana de<br />
Belo Horizonte, exclusive esta cidade, a permite usufruir todos os benefícios da diversidade<br />
e extensão do setor serviços locais. Isto, sem dúvida, associado ao significativo crescimento<br />
do PIB apresentado anteriormente, faz com que os indicadores sociais e urbanos sejam os<br />
melhores possíveis, como pode ser visto pelas TAB. 29 e 30.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 221<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
AGLOMERAÇÕES<br />
TABELA 29<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MINERAIS<br />
NÃO-METÁLICOS MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
222 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
% POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
1991 2000 VARIAÇÃO (%) 1991 2000 VARIAÇÃO (%)<br />
Belo Horizonte 22.3 12.9 -42.2 6.7 7.3 9.5<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
TABELA 30<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA<br />
MINERAIS NÃO-METÁLICOS - MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Belo Horizonte 400 99.0<br />
FONTE: BACEN e IBGE<br />
3.5.2.2. A indústria de madeira e mobiliário<br />
A indústria de madeira e mobiliário possui apenas uma aglomeração relevante no Estado,<br />
localizada na microrregião de Ubá. No entanto, essa aglomeração produtiva local possui um elevado<br />
índice de concentração e polarização. A aglomeração envolve 7 cidades (Ubá, Rodeiro, Tocantins,<br />
Guidoval, Visconde do Rio Branco e São Geraldo), implicando um grande efeito polarizador da<br />
aglomeração de 0,41, ou seja, 41,2 % das cidades da microrregião fazem parte da aglomeração. O<br />
Mapa 10 permite uma visualização mais detalhada.<br />
MAPA 10
Como pode ser observado, essa aglomeração está na área de influência do mesopólo de Juiz de<br />
Fora que, por sua vez, é polarizada pela macrorregião do Rio de Janeiro (Lemos et al. 2000). A localização<br />
dessa aglomeração não está associada a nenhuma vantagem locacional clássica, tais como fonte de<br />
matéria-prima. De fato, parte significativa de seus insumos é proveniente de regiões localizadas fora<br />
do Estado (Crocco et al. 2001b). No entanto, dever ser ressaltado que a sua localização é privilegiada<br />
sob o ponto de vista do acesso ao mercado consumidor, uma vez que está próxima dos principais<br />
centros consumidores - Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília -, além de possuir um<br />
fácil acesso às rotas para os mercados do Norte e Nordeste.<br />
O índice de concentração médio do setor foi de 4,87 no ano 2000, que pode ser considerado<br />
como relativamente elevado. Conforme a TAB. 1 do Apêndice 2, seu crescimento, entre 1986 e<br />
2000, foi de 196%.<br />
A sua produção está concentrada em 5 tipos de produtos, conforme mostra a TAB. 31.<br />
TABELA 31<br />
INDÚSTRIA DA MADEIRA E DO MOBILIÁRIO (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO > 1 IC<br />
Ubá Rodeiro Fabricação de móveis com predominância de madeira 4.65<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
São Geraldo Fabricação de colchões 3.63<br />
Fabricaçao de móveis com predominância de madeira 2.45<br />
Tocantins Fabricação de móveis com predominância de madeira 1.09<br />
Fabricação de móveis com predominância de metal 3.46<br />
Ubá Fabricação de móveis com predominância de madeira 17.70<br />
Visconde do<br />
Rio Branco Fabricação de móveis com predominância de madeira 1.30<br />
Ubá Fabricação de móveis com predominância de metal 17.93<br />
Fabricação de móveis de outros materiais 1.33<br />
Fabricação de colchões 10.00<br />
Guidoval Fabricação de móveis com predominância de metal 2.11<br />
Divinésia Desdobramento de madeira 2.10<br />
Como pode ser notado, os subsetores que apresentaram índice de concentração maior que<br />
1 foram: fabricação de móveis, com predominância de madeira; fabricação de móveis, com<br />
predominância de metal; fabricação de móveis de outros materiais; fabricação de colchões e<br />
desdobramento de madeira. Esta relação aponta para uma diversificação produtiva dentro do<br />
setor. Sem dúvida alguma, a cidade-chave na aglomeração é Ubá, que concentra 33% dos<br />
estabelecimentos do setor no Estado e 50% do total do emprego estadual (Crocco et al. 2001b).<br />
Além disso, os valores do IC se mostraram elevados, com valores de 17,70, 17,93, 10,00 para os<br />
setores de fabricação de móveis com predominância de madeira, fabricação de móveis com<br />
predominância de metal e fabricação de colchões, respectivamente.<br />
A grande maioria das empresas é de tamanho micro e pequeno (cerca de 96%, conforme<br />
mostra a TAB. 2 no Apêndice 2). No entanto, não se pode deixar de notar que a única grande<br />
empresa da região (Itatiaia Móveis), embora não pertença ao subsetor majoritário na região<br />
(fabricação de móveis com predominância de madeira), exerce grande influência na coordenação<br />
da aglomeração, principalmente através da ação de seu proprietário (Crocco et al 2001b).<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 223<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
O desempenho econômico da aglomeração na década dos 90 pode ser verificado pela<br />
TAB. 32. Diferentemente de vários setores analisados, essa aglomeração e sua cidade-pólo não<br />
conseguiram superar a taxa de crescimento acumulado do Estado. Em apenas dois subperíodos, a<br />
aglomeração apresentou taxas superiores às observadas para o Estado: 1970-75 e 1980-85. Esse<br />
fator pode ser creditado à influência que a região, como um todo, sofre do macropólo do Rio de<br />
Janeiro. Como é sabido, esse pólo passou por um significativo período de estagnação pós-1975.<br />
Além disso, a comparação entre as taxas anuais médias entre a aglomeração e a cidade-pólo mostra<br />
uma clara dependência da primeira em relação à segunda. Esse padrão parece se alterar no último<br />
subperíodo, que pode ser creditado à instalação de indústrias de outros setores (notadamente<br />
alimentos e bebidas) em cidades do entorno da cidade-pólo. De qualquer forma, há de se destacar<br />
que a taxa de crescimento do PIB acumulado no período ficou bem abaixo da média do Estado.<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO<br />
TABELA 32<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDÚSTRIA DA MADEIRA E MOBILIÁRIO<br />
MINAS GERAIS - 1976 - 2000<br />
224 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Ubá Ubá 11.33 6.33 3.06 -0.85 3.18 202.85<br />
12.66 5.46 3.86 -1.13 1.15 186.14<br />
Minas Gerais 10.49 9.64 1.31 2.01 4.17 277.21<br />
FONTE: IPEA<br />
No entanto, a performance na década não teve reflexos no desempenho exportador do<br />
setor (TAB. 14 a 16 no Apêndice 2). Apesar da participação relativa nas exportações nacional de<br />
bens industrializados desse setor ter subido no decorrer da década passada, seus valores foram<br />
extremamente pequenos. Em 1989, Minas Gerais era responsável por 0,15% das exportações do<br />
setor de madeira e mobiliário. Após um crescimento para 1,27% em 1997, recua para 0,80 no final<br />
do século passado. Da mesma forma, suas contribuições para as exportações mineiras foram<br />
insignificantes. No inicio do período em questão, ela era de 0,01% do total das exportações do<br />
Estado, chegando ao final com 0,26%. Além disso, quando a relação exportações sobre importações<br />
é analisada, observa-se que o setor é deficitário em sua relação com o resto do mundo em toda a<br />
década passada. Em 1992, essa relação era de 0,83, indicando que o setor exportava 83% do total<br />
importado. Essa relação cai no meio da década para 0, 64, atingindo a 0,93 em 2001. Vale notar<br />
que, em sintonia com esses dados, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior no<br />
ano de 2001, existiam na aglomeração apenas 3 empresas que exportavam até US$ 1 milhão.<br />
Esses dados são um reflexo da especialização produtiva da aglomeração em produtos destinados<br />
à classe D e E (Crocco et al. 2001b).<br />
Se, por um lado, a aglomeração não apresentou um desempenho econômico de destaque, o<br />
mesmo não se pode dizer de sua performance social. Embora o percentual de famílias pobres<br />
ainda continue elevado, principalmente quando comparado à média das aglomerações (TAB. 33),<br />
não se pode deixar de ressaltar a significativa melhora na década passada (redução em 46%), o<br />
que coloca essa aglomeração entre as que apresentaram os melhores desempenhos nesta variável.<br />
No entanto, também deve ser ressaltado que essa melhoria não teve ainda reflexos na melhoria na<br />
média de anos de estudo da população local. Aliás, em relação à essa variável, o desempenho da<br />
aglomeração ficou abaixo do Estado e das demais aglomerações relevantes.
TABELA 33<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MADEIRA E MOBILIÁRIO<br />
MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
AGLOMERAÇÕES<br />
% POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
1991 2000 VARIAÇÃO (%) 1991 2000 VARIAÇÃO (%)<br />
Ubá 48.5 26.0 -46.4 4.9 5.2 5.4<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
Por fim, a aglomeração produtiva moveleira de Ubá apresenta, em 2000, características que<br />
permitem classificar seu desenvolvimento urbano como mediano. O número de agências (21) é<br />
ligeiramente inferior à média do Estado sem Belo Horizonte (24). Além disso, o seu grau de<br />
urbanização é relativamente pequeno, quando comparado com as demais aglomerações. Essas<br />
características indicam a existência de um setor serviços pouco dinâmico, fator este necessário<br />
para um aprofundamento tanto das relações de cooperação quanto de especialização dentro da<br />
aglomeração (Crocco et al. 2001b).<br />
TABELA 34<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA<br />
DE MADEIRA E MOBILIÁRIO - MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
FONTE: BACEN e IBGE<br />
Ubá 21 85.6<br />
3.5.3. O complexo químico<br />
Foram identificadas 3 aglomerações produtivas locais relevantes neste complexo, todas<br />
pertencentes a um único setor industrial (indústria química). Essas aglomerações estão espalhadas<br />
por três Regiões de Planejamento, a saber: Central, Norte de Minas e Uberaba.<br />
3.5.3.1. A indústria química<br />
O Mapa 11, abaixo, mostra as microrregiões onde se localizam as aglomerações produtivas<br />
locais da indústria química.<br />
A localização dessas aglomerações se explica por fatores diversos. No caso da aglomeração<br />
produtiva de Belo Horizonte, existiriam os fatores relacionados à densidade urbana e conseqüente<br />
diversificação de serviços. Além disso, a região possui avançados centros de pesquisa, servindo<br />
de estímulo à instalação desse tipo de indústria na região, dado o grande conteúdo tecnológico de<br />
algumas de suas atividades, notadamente a fabricação de produtos farmacêuticos, incluindo aqui<br />
a biotecnologia. A localização em Montes Claros seria explicada pelos incentivos fiscais associados<br />
à região. No caso da aglomeração de Uberaba, o fator determinante seria a vocação agrícola da<br />
região, o que facilitou a instalação de fabricantes de defensivos agrícolas e fertilizantes.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 225<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
As três aglomerações também apresentam efeitos polarizadores bastante diferenciados, a<br />
saber: Belo Horizonte, com o mais elevado e bastante significativo (0,62), refletindo, mais uma<br />
vez, os efeitos aglomerativos urbanos; Montes Claros, com um valor de 0,23; e Uberaba, com<br />
apenas 0,14. O índice de concentração médio do setor (TAB. 1), por sua vez, pode ser considerado<br />
baixo quando comparado a outras aglomerações do Estado (TAB. 4). Este indicador, mesmo<br />
apresentando um crescimento de 9% em relação a 1986, é o segundo mais baixo entre os setores<br />
industriais (0,76). Inversamente ao que acontece com o efeito polarizador, Uberaba apresenta,<br />
entre as três aglomerações locais, o maior IC (1,27). Destaca-se, neste caso, o aumento em 32%<br />
em relação a 1986 (TAB. 1 do Apêndice 3). Por fim, Montes Claros apresentou um IC de 0,24,<br />
com uma redução de 52% nos últimos 15 anos.<br />
MAPA 11<br />
As categorias de produtos produzidos nessa aglomeração apresentam uma enorme<br />
diversificação e distribuição espacial da produção. Isto pode ser verificado na TAB. 34. Como<br />
pode ser notado, para cada uma das aglomerações existem subsetores cujos índices de concentração<br />
explicariam a concentração da indústria química na respectiva região. Iniciando-se por Uberaba,<br />
observa-se a relevância de 3 subsetores: fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e<br />
artigos de perfumaria (IC = 4,05); fabricação de defensivos agrícolas (IC = 3,57) e fabricação de<br />
produtos e preparados químicos diversos (IC = 3,76). Já para Montes Claros os subsetores seriam:<br />
fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria (IC = 24,58);<br />
fabricação de produtos farmacêuticos (IC = 9,73); e fabricação de produtos químicos orgânicos<br />
(8,60). A densidade urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte também terá influências<br />
sobre a diversidade de subsetores com índices de aglomeração relevantes para essa aglomeração.<br />
Destacam-se, aqui, a fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins (IC = 22,35)<br />
e a fabricação de produtos farmacêuticos (IC = 19,93). Além desses chamam a atenção os seguintes<br />
subsetores: fabricação de produtos químicos inorgânicos, fabricação de fibras, fios, cabos e<br />
filamentos contínuos artificiais e sintéticos, fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza<br />
e artigos de perfumaria e, por fim, fabricação de produtos de plástico.<br />
226 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 35<br />
INDÚSTRIA QUÍMICA (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIO SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO > 1 IC<br />
Uberaba Uberaba Fabricação de fertilizantes fosfatados nitrogenados e potássicos 2.20<br />
Fabricação de outros defensivos agrícolas 3.57<br />
Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos 4.05<br />
Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou... 3.76<br />
Fabricação de laminados planos e tubulares plástico 2.85<br />
Montes Claros Brasília de Minas Fabricação de outros produtos químicos orgânicos 3.71<br />
Coração de Jesus Fabricação de outros produtos químicos orgânicos 6.26<br />
Mirabela Fabricação de outros produtos químicos orgânicos 4.18<br />
Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos 24.58<br />
São João da Lagoa Fabricação de outros produtos químicos orgânicos 8.61<br />
Montes Claros Fabricação de medicamentos para uso humano 4.09<br />
Fabricação de medicamentos para uso veterinário 9.73<br />
Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou... 1.02<br />
Belo Horizonte Belo Horizonte Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos 9.49<br />
Fabricação de medicamentos para uso humano 1.15<br />
Fabricação de produtos de limpeza e polimento 1.63<br />
Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos 9.82<br />
Fabricação de produtos diversos 7.26<br />
Betim Fabricação de produtos petroquímicos básicos 2.92<br />
Fabricação de intermediários para resina e fibras 6.18<br />
Fabricação de produtos farmoquímicos 2.30<br />
Fabricação de adesivos e selantes 2.89<br />
Fabricação de laminados planos e tubulares plástico 12.88<br />
Fabricação de artefatos diversos de plástico 5.85<br />
Fabricação de produtos diversos 8.55<br />
Brumadinho Fabricação de intermediários para fertilizantes 6.79<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
Contagem Fabricação de gases industriais 1.86<br />
Fabricação de produtos petroquímicos básicos 2.23<br />
Fabricação de laminados planos e tubulares plástico 9.49<br />
Fabricação de embalagem de plástico 8.64<br />
Fabricação de artefatos diversos de plástico 8.96<br />
Fabricação de produtos diversos 2.02<br />
Ibirité Fabricação de embalagem de plástico 1.40<br />
Fabricação de artefatos diversos de plástico 1.03<br />
Igarapé Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou... 1.11<br />
Lagoa Santa Fabricação de medicamentos para uso veterinário 3.47<br />
Fabricação de materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos 4.80<br />
Fabricação de produtos de limpeza e polimento 6.78<br />
Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos 4.70<br />
Mateus Leme Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 22.35<br />
Fabricação de embalagem de plástico 1.26<br />
Fabricação de artefatos diversos de plástico 4.25<br />
Nova Lima Fabricação de intermediários para fertilizantes 1.11<br />
Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou... 1.92<br />
Raposos Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos 5.38<br />
Ribeirão das Neves Fabricação de medicamentos para uso humano 13.36<br />
Fabricação de laminados planos e tubulares plástico 3.44<br />
Sabará Fabricação de produtos farmoquímicos 19.94<br />
Fabricação de medicamentos para uso humano 17.51<br />
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 6.02<br />
Fabricação de artefatos diversos de plástico 1,52<br />
Santa Luzia Fabricação de medicamentos para uso humano 3.16<br />
Fabricação de produtos de limpeza e polimento 2.21<br />
S. Joaquim de Bicas Fabricação de artefatos diversos de plástico 1,91<br />
Vespasiano Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos 15.18<br />
Fabricação de embalagem de plástico 1.76<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 227<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
As empresas deste segmento industrial, que pertencem às aglomerações aqui relacionadas,<br />
são em sua grande maioria micro e pequenas. De fato, apenas 2 empresas grandes foram<br />
detectadas. Como pode ser observado na TAB. 10 do Apêndice 2, a proporção de empresas de<br />
tamanho médio e grande nessas aglomerações está abaixo da média observada para todas aqui<br />
estudadas.<br />
O seu desempenho produtivo pode ser observado com a ajuda da TAB. 36. Ressalta-se,<br />
aqui, o fato de que todas as aglomerações e cidades-pólo apresentaram taxas de crescimento<br />
acumuladas maiores do que Minas Gerais.<br />
A aglomeração de Montes Claros mostrou ser a mais estável, apresentando, apenas em<br />
um período, taxa anual média de crescimento abaixo do Estado (1985 a 1990). Isto demonstra<br />
o papel anticíclico desempenhado pelos incentivos fiscais. No entanto, a cidade-pólo da região<br />
(Montes Claros) também apresentou um desempenho sempre superior ao observado na<br />
aglomeração, indicando o seu peso determinante para o resultado obtido por esta. Isto mostra a<br />
característica de enclave que possui esta cidade para a região.<br />
Em contraste com esta análise, a aglomeração de Belo Horizonte apresentou uma<br />
performance muito próxima à do Estado, indicando o seu peso para Minas como um todo. Além<br />
disso, é bastante distinto o desempenho da cidade-pólo (Belo Horizonte) e o detectado para a<br />
aglomeração, indicando um efeito polarizador mais dinâmico e diversificado. Ou seja, a<br />
intensidade da conformação urbana de Belo Horizonte consegue extrapolar suas fronteiras,<br />
gerando entornos com dinâmicas próprias.<br />
O desempenho exportador na década passada mostrou que o setor possui uma maior<br />
importância no cenário nacional do que no Estado. A participação relativa na exportação do<br />
setor nacionalmente, tanto no início, quanto no final do período, girou em torno de 5%. Já para<br />
Minas, a sua participação na pauta de exportações não chegou a 4%. Além disso, apesar de<br />
aumentar sua contribuição líquida para a balança comercial com o exterior do Estado, se manteve<br />
negativa.<br />
TABELA 36<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDÚSTRIA QUÍMICA - MINAS GERAIS - 1976 - 1996<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
228 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Belo Horizonte 14,34 10,08 1,05 5,91 2,84 410,10<br />
Belo Horizonte 13,34 4,70 1,53 12,35 2,91 424,95<br />
Montes Claros 12,25 10,23 2,67 -1,48 6,10 312,88<br />
Montes Claros 14,74 10,64 2,69 -1,13 5,95 374,87<br />
Uberaba 13,19 21,80 5,85 -6,08 5,10 44,03<br />
Uberaba 10,42 17,09 4,65 -4,90 4,06 330,35<br />
Minas Gerais 10,42 17,09 4,65 -4,90 4,06 330,35<br />
FONTE: IPEA<br />
Em relação ao desenvolvimento social das aglomerações produtivas locais desse setor,<br />
chama atenção o relativo atraso da aglomeração de Montes Claros. Embora superior à média do<br />
Estado, a redução no percentual de pobres ficou bem abaixo do observado para a média das
demais aglomerações. Para o ano de 2000, o percentual de pobres encontrado (35%) é o segundo<br />
mais alto entre as aglomerações. Uma explicação para esse fato pode ser encontrada nas<br />
características urbanas. Como a TAB. 38 mostra, na aglomeração de Montes Claros, além do<br />
menor grau de urbanização, observa-se um deficiente setor serviços. O fato de a região possuir<br />
incentivos fiscais poderia explicar tal fato. Embora existam empresas de tecnologia relativamente<br />
avançadas na aglomeração, essas não interagem com a região, reforçando a característica de enclave.<br />
Serviços complementares são buscados em outras regiões, ficando a unidade produtiva local apenas<br />
como um centro produtor de produto finais.<br />
TABELA 37<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA<br />
MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
% POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
AGLOMERAÇÕES 1991 2000 VARIAÇÃO (%) 1991 2000 VARIAÇÃO (%)<br />
Belo Horizonte 23.4 13.7 -41.5 6.4 7.0 8.8<br />
Montes Claros 49.3 34.9 -29.2 4.9 5.5 12.7<br />
Uberaba 24.5 14.2 -42.0 6.3 6.7 6.0<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
TABELA 38<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES<br />
DA INDÚSTRIA QUÍMICA - MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Belo Horizonte 417 99.0<br />
Montes Claros 15 87.4<br />
Uberaba 25 96.9<br />
FONTE: BACEN e IBGE<br />
3.5.4. O complexo têxtil, vestuário e calçados<br />
Este complexo apresenta 5 aglomerações produtivas espalhadas por três Regiões de<br />
Planejamento, a saber: Mata, Centro-Oeste de Minas e Norte de Minas. Destas, apenas a Região<br />
Centro-Oeste de Minas apresenta aglomerações em mais de um setor industrial (Vestuário e<br />
Calçados). No entanto, não se pode dizer que tais indústrias sejam complementares, dadas as<br />
diferenças nos respectivos processos produtivos. Como será visto a seguir, a localização dessas<br />
aglomerações está relacionada a fatores não necessariamente ligados a vantagens locacionais,<br />
mas, sim, a fatores históricos.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 229<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
3.5.4.1. A indústria de calçados<br />
Como já salientado anteriormente, a indústria de calçados possui apenas uma aglomeração<br />
no Estado, localizada na microrregião de Divinópolis. No entanto, essa aglomeração produtiva<br />
local possui um elevadíssimo índice de concentração, sendo o maior do Estado. A aglomeração<br />
envolve 3 cidades - Nova Serrana, Perdigão e São Gonçalo do Pará -, possuindo um efeito<br />
polarizador que pode ser considerado como médio, conforme a análise de cluster feita na parte 3.<br />
Para este indicador, o valor obtido foi de 0,27, indicando que apenas 27,3% das cidades da<br />
microrregião fazem parte da aglomeração. O Mapa 12, abaixo, permite uma visualização mais<br />
detalhada.<br />
MAPA 12<br />
Como pode ser observado, essa aglomeração sofre forte influência da Região Metropolitana<br />
de Belo Horizonte, estando dentro da área de polarização desta (Lemos et al. 2000). A sua<br />
localização não está associada a nenhuma vantagem locacional clássica, tais como fonte de matériaprima.<br />
De fato, parte significativa de seus insumos é proveniente de regiões localizadas fora do<br />
Estado (Crocco et al. 2001). No entanto, dever ser ressaltado que a sua localização é privilegiada<br />
sob o ponto de vista do acesso ao mercado consumidor, uma vez que está eqüidistante dos principais<br />
centros consumidores - Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília -, além de possuir um fácil acesso aos<br />
mercados do Norte e Nordeste.<br />
O índice de concentração médio do setor, como mostrado, foi o mais elevado do Estado,<br />
apresentando um crescimento de 184% entre 1986 e 2001 (TAB. 1 do Apêndice 3). Essa variação<br />
pode ser explicada pelo significativo crescimento do subsetor de fabricação de tênis de qualquer<br />
material, nas décadas de 80 e 90. Hoje cerca de 55% dos estabelecimentos dessa atividade no<br />
Brasil estão localizados em Nova Serrana (Crocco et al. 2001a).<br />
230 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Os subsetores que contribuíram para a do índice de concentração podem ser visualizados<br />
na TAB. 39.<br />
TABELA 39<br />
INDÚSTRIA DE CALÇADOS (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO >1 IC<br />
Divinópolis Perdigão Fabricação de calçados de couro 1,39<br />
Fabricação de tênis de qualquer material 2,19<br />
Fabricação de calçados de outros materiais 3,55<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
Nova Serrana Fabricação de tênis de qualquer material 8,80<br />
Fabricação de calcados de plástico 20,79<br />
Fabricação de calçados de outros materiais 9,05<br />
São Gonçalo do Pará Fabricação de calçados de outros materiais 4,88<br />
Os setores que apresentaram índice de concentração maior que 1 foram fabricação de<br />
calçados de couro, fabricação de tênis de qualquer natureza, fabricação de calçados de plástico e<br />
fabricação de calçados de outros materiais. Essa relação aponta para uma diversificação produtiva<br />
dentro do setor. Há de ser ressaltada a forte presença da cidade de Nova Serrana, que pode ser<br />
considerada como a cidade-pólo da aglomeração. É justamente nesta cidade onde os valores do<br />
IC se mostraram mais elevados, com valores de 8,80, 20,79 e 9,05 para os setores de fabricação de<br />
tênis de qualquer material, fabricação de calçados de plástico e fabricação de calçados de outros<br />
materiais, respectivamente.<br />
Apesar de elevado índice de concentração, essa única aglomeração produtiva de calçados<br />
do Estado não foi capaz de integrar a sua cadeia produtiva. Como mostram os dados abaixo, os<br />
efeitos de encadeamento desse setor no Estado são significativamente baixos. Esse resultado<br />
ajuda a explicar o também baixo efeito polarizador dessa aglomeração.<br />
Uma característica marcante dessa aglomeração é a existência quase que exclusiva de<br />
micro e pequenas empresas, cujo percentual somado chega a 98,5%. Essa característica é de<br />
fundamental importância, pois, como salienta Crocco et al. (2001a), implica na necessidade de<br />
criação de instituições de coordenação dentro da aglomeração. Esse processo de criação se<br />
torna mais difícil, pois não existiria um candidato natural a essa função. No caso dessa<br />
aglomeração, o Sindicato patronal local é que vem atuando nesse sentido (Crocco et al. 2001a).<br />
No entanto, apesar desse fator, o desempenho econômico da aglomeração foi destacado<br />
(TAB. 40). Observa-se que as taxas de crescimento acumuladas no período de 1970 a 1996,<br />
tanto da aglomeração, quanto de sua cidade-pólo, foram superiores à observada em Minas Gerais.<br />
A cidade-pólo da aglomeração (Nova Serrana) vem apresentando taxas médias anuais superiores<br />
ao Estado desde 1985. Comparando-se o desempenho da cidade-pólo com o resultado obtido<br />
para a aglomeração, observa-se que, até o início dos anos 90, a primeira sempre teve um<br />
dinamismo superior ao observado para a aglomeração. Entre 1990 e 1996, a aglomeração como<br />
um todo obteve um resultado ligeiramente superior ao da cidade-pólo, indicando um possível<br />
início de um processo de relocalização das indústrias do setor para além das fronteiras de Nova<br />
Serrana.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 231<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 40<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDÚSTRIA DE CALÇADOS - MINAS GERAIS - 1976 - 1996<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Divinópolis 7,14 13,82 0,02 5,91 10,15 483,63<br />
Nova Serrana 7,77 25,76 0,66 9,35 8,79 1025,95<br />
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21<br />
FONTE: IPEA<br />
No entanto, a performance na década não teve reflexos no desempenho exportador do<br />
setor. Isso pode ser observado pelas TAB. 14, 15 e 16 do Apêndice 2. A participação relativa nas<br />
exportações nacional de bens industrializados desse setor subiu de modestos 1,12 %, no ano de<br />
1989, para outros também modestos 3,01%. Suas contribuições para as exportações mineiras<br />
alcançam ínfimos 1,36 % do total para o ano de 2001. Além disso, quando a relação exportações<br />
sobre importações é analisada, observa-se que o setor é deficitário em sua relação com o resto do<br />
mundo na maior parte da década passada. Em 1992, essa relação estava em 0,97, indicando que<br />
o setor exportava 97% do total importado. Essa relação cai no meio da década para 0,76, atingindo<br />
1,87, em 2001. Embora possa ser detectado um esforço exportador nesse setor, pode-se dizer que<br />
ele é muito modesto em vista do volume exportador das demais aglomerações desse mesmo setor<br />
em outros Estados, como o Vale dos Sinos e a região de Franca, por exemplo. De fato, de acordo<br />
com dados da Secretária de Comércio Exterior no ano de 2001, existiam na aglomeração 49<br />
empresas que exportavam até US$ 1 milhão, 1 exportando entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões.<br />
Embora importante, esse esforço ainda é pequeno, tendo em vista o universo de mais de 500<br />
estabelecimentos na aglomeração. Esses dados são um reflexo da especialização produtiva da<br />
aglomeração em produtos destinados às classes D e E (Crocco et al. 2001a). Apenas no período<br />
recente essa trajetória começa a ser modificada, embora com resultados ainda pouco significativos.<br />
O desempenho social dessa aglomeração possui uma característica bastante interessante.<br />
Se, por um lado, ocorreu uma significativa redução dos níveis de pobreza, por outro, também<br />
ocorreu uma significativa redução da média de anos de estudo (TAB. 41). Uma possível explicação<br />
para esse fato seria a característica produtiva da aglomeração. Como o setor de calçados possui<br />
pequenas barreiras à entrada e apresentou durante a década passada um considerável dinamismo<br />
econômico, pode-se inferir que parte da população deixou os estudos para entrar na indústria de<br />
calçados, uma vez que esta não requer níveis de escolaridade elevados.<br />
TABELA 41<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA<br />
MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
% POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
AGLOMERAÇÕES 1991 2000 VARIAÇÃO (%) 1991 2000 VARIAÇÃO (%)<br />
Divinópolis (Nova Serrana) 30.1 16.5 -45.2 6.4 4.7 -22.1<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
232 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
A configuração urbana, por sua vez, se mostra precária, como pode ser verificado pelo<br />
número de agências bancárias na região. Isso seria o resultado de dois fatores interligados.<br />
Primeiramente, como mostra Crocco et al. (2001a), o baixo conteúdo tecnológico, tanto de produtos<br />
como de processos produtivos, aliado a uma baixa especialização produtiva na aglomeração, faz<br />
com que a demanda por serviços modernos seja diminuta. Além disso, a proximidade com Belo<br />
Horizonte também dificulta o surgimento de um setor de serviços mais sofisticado, tendo em<br />
vista a diversidade oferecida por esta cidade. Esses dois fatores combinados explicariam a não<br />
existência de um setor de serviços dinâmico.<br />
TABELA 42<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA<br />
DE CALÇADOS MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Divinópolis (Nova Serrana) 5 92.1<br />
FONTE: BACEN e IBGE<br />
3.5.4.2. A indústria têxtil e de vestuário<br />
A indústria têxtil e de vestuário possui quatro aglomerações produtivas locais relevantes,<br />
de acordo com os critérios aqui adotados. Essas aglomerações estão distribuídas pelo Estado:<br />
uma ao norte, na microrregião de Montes Claros; uma na microrregião de Divinópolis e outras<br />
duas nas microrregiões Juiz de Fora e Cataguases, ambas pertencentes à Região de Planejamento<br />
Zona da Mata.<br />
Essas aglomerações possuem trajetórias bastante distintas. Como já mencionado, Juiz de<br />
Fora e Cataguases são duas microrregiões polarizadas pelo Rio de Janeiro, recebendo daí influências,<br />
tanto positivas e negativas. Essa polarização condicionou o desenvolvimento local ao desempenho<br />
econômico da cidade do Rio de Janeiro. Foi durante a fase em que esta foi um pólo dinâmico que<br />
esse setor se instalou na região. Naquele momento, a proximidade com o Rio de Janeiro funcionou<br />
como elemento de atração, pois significava uma proximidade com um grande mercado consumidor.<br />
Já a aglomeração de Montes Claros foi constituída através em dois elementos distintos. Sua<br />
origem é anterior ao surgimento da SUDENE e da política de incentivos fiscais para a região.<br />
Embora incipiente e tecnologicamente pouco desenvolvida, ela surge influenciada pela produção<br />
de algodão na região. No entanto, ela só irá se expandir e modernizar quando a região se torna área<br />
de influência da SUDENE. Já a aglomeração de Divinópolis se encontra na área de influência de<br />
Belo Horizonte e aproveita os transbordamentos deste pólo.<br />
Como visto na terceira parte deste capítulo, o setor têxtil e vestiário apresenta um efeito<br />
polarizador de 0,33, sendo caracterizado como de média intensidade, comparativamente ao Estado.<br />
Esse valor médio, no entanto, não é uniforme entre as aglomerações do setor. Juiz de Fora e<br />
Cataguases possuem efeitos idênticos (0,43). De fato, essas duas aglomerações são, de fato, uma<br />
única. Como o Mapa 13 mostra, apenas uma das cidades pertencentes às duas aglomerações (Rio<br />
Preto) não está ligada de forma contígua com as demais. Todas as outras 19 cidades possuem<br />
fronteiras com, pelo menos, uma cidade pertencente à aglomeração.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 233<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A aglomeração de Divinópolis também irá apresentar um efeito de polarização de 0,36,<br />
englobando 4 das 11 cidades da microrregião. A aglomeração de Montes Claros, por sua vez,<br />
apresenta um padrão claramente distinto. Seu efeito polarizador é de 0,09, significando que apenas<br />
2 cidades da microrregião pertencem à aglomeração.<br />
Enquanto os incentivos fiscais para a microrregião de Montes Claros ajudam a explicar o<br />
seu pequeno efeito polarizador, uma vez que ele incentiva a formação de enclaves, ele também<br />
ajuda a entender por que os respectivos índices de concentração apresentaram uma evolução<br />
claramente diversa. Como a TAB. 1 mostrou, o índice de concentração médio do setor foi, em<br />
2000, de 1,49, apresentando uma redução de 6% em relação a 1986. Todas as aglomerações<br />
isoladamente apresentaram ICs baixos, sendo Juiz de Fora o mais elevado, com 2,27. No entanto,<br />
a evolução desse indicador mostra dois padrões claramente distintos. Todas as aglomerações, com<br />
exceção de Montes Claros, apresentaram uma redução do IC, com destaque para a queda de 35%<br />
no valor de Juiz de Fora. Montes Claros, por sua vez, apresentou, no mesmo período, um crescimento<br />
de 1057%. Isso se deve a dois fatores. O primeiro é o baixíssimo valor para o ano de 1986 (0,10).<br />
O segundo seria a distorção causada pelos incentivos fiscais, uma vez que isolou a região de<br />
problemas que afetaram o setor de uma forma geral.<br />
MAPA 13<br />
Os diversos índices de concentração são explicados pela concentração da produção em<br />
diversos subsetores, mostrando uma elevada diversificação produtiva.<br />
234 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Como pode ser notado na TAB. 43, é possível identificar 8 subsetores com ICs relevantes:<br />
tecelagem em algodão (Cataguases, 5,52); fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos<br />
(Cataguases, 3,70, e Divinópolis, 26,40); fabricação de outros artefatos têxteis, incluindo tecelagem<br />
(Cataguases, 3,43, e Itaúna, 6,94); tecelagem de fios e filamentos contínuos e artificiais ou sintéticos<br />
(Montes Claros, 26,40); fabricação de artefatos de cordoaria (Juiz de Fora, 26,42); fabricação de<br />
tecidos de malha (Juiz de Fora, 21,75); fabricação de meias (Juiz de Fora, 21,75); e, por fim,<br />
confecções de peças interiores do vestuário (Juiz de Fora, 10,07).<br />
TABELA 43<br />
INDÚSTRIA TÊXTIL DO VESTUÁRIO E ARTEFATOS DE TECIDOS (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO > 1 IC<br />
Cataguases Cataguases Fiação de algodão 1.15<br />
Tecelagem de algodão 5.52<br />
Leopoldina Fabricação de outros artefatos têxteis incluindo tecelagem 3.43<br />
Confecção de outras peças do vestuário 1.77<br />
Dona Euzébia Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos 3.70<br />
Confecção de outras peças do vestuário 2.90<br />
Confecção de roupas profissionais 2.43<br />
Itamarati de Minas Confecção de peças interiores do vestuário 2.58<br />
Argirita Confecção de outras peças do vestuário 3.17<br />
Confecção de outras peças do vestuário 1.76<br />
Laranjal Confecção de roupas profissionais 2.74<br />
Fabricação de acessórios para segurança industrial e pessoal 1.05<br />
Divinópolis Fiação de algodão 2.31<br />
Confecção de outras peças do vestuário 1.14<br />
Divinópolis Itaúna Tecelagem de algodão 1.49<br />
Fabricação de artigos de tecido de uso doméstico incluindo tecelagem 6.94<br />
São Gonçalo do Para<br />
São Sebastião<br />
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos 24.83<br />
do Oeste Confecção de outras peças do vestuário 1.04<br />
Montes Claros Montes Claros Tecelagem de fios e filamentos contínuos artificiais ou sintéticos 26.40<br />
Francisco Sá Confecção de peças interiores do vestuário 1.88<br />
Juiz de Fora São João Fabricação de outros artefatos têxteis incluindo tecelagem 1.37<br />
Nepomuceno Confecção de outras peças do vestuário 3.11<br />
Santos Dumont Fabricação artefatos têxteis a partir de tecidos 1.49<br />
Fabricação de meias 3.57<br />
Coronel Pacheco Fabricação de artefatos de cordoaria 26.72<br />
Rio Preto Fabricação de tecidos de malha 20.42<br />
Juiz de Fora Fabricação de meias 21.75<br />
Maripa de Minas Confecção de peças interiores do vestuário 1.14<br />
Confecção de outras peças do vestuário 4.12<br />
Pequeri Confecção de peças interiores do vestuário 10.07<br />
Descoberto Confecção de outras peças do vestuário 4.31<br />
Goiana Confecção de outras peças do vestuário 1.47<br />
Guarara Confecção de outras peças do vestuário 1.94<br />
Mar de Espanha Confecção de outras peças do vestuário 2.66<br />
Rochedo de Minas Confecção de outras peças do vestuário 2.45<br />
Senador Cortes Confecção de outras peças do vestuário 4.25<br />
Bicas Confecção de roupas profissionais 2.08<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 235<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Chama a atenção a presença de micro e pequenas empresas nesse setor, principalmente nas<br />
aglomerações de Juiz de Fora e Divinópolis, onde não existem firma grandes. Como mencionado<br />
anteriormente, esse fato tem sérias implicações para a estrutura de governança das respectivas<br />
aglomerações.<br />
O desempenho econômico das aglomerações e cidades-pólo é mostrado na TAB. 44.<br />
TABELA 44<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB -<br />
INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO - MINAS GERAIS - 1976 - 1996<br />
Aglomeração Cidade-Pólo Taxa anual média de crescimento do PIB Taxa Acumulada<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Cataguases 6,80 9,28 1,29 0,03 3,08 169,13<br />
Cataguases 8,13 13,53 1,35 -1,50 3,32 225,60<br />
Divinópolis 15,36 9,84 1,34 -10,62 15,64 311,70<br />
Divinópolis 15,67 8,55 1,37 -15,47 26,34 363,79<br />
Montes Claros 14,37 10,17 2,30 -1,34 6,10 347,34<br />
Montes Claros 14,74 10,64 2,69 -1,13 5,95 374,87<br />
Juiz de Fora 6,15 11,24 1,29 -3,30 12,75 277,21<br />
Juiz de Fora 5,83 11,72 1,85 -7,65 17,49 280,68<br />
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21<br />
FONTE: IPEA<br />
As quatro aglomerações apresentaram padrões bem distintos em relação ao<br />
desenvolvimento econômico nas últimas três décadas. Inicialmente, observa-se que as<br />
aglomerações localizadas na área de influência do Rio de Janeiro (Juiz de Fora e Cataguases)<br />
foram a que apresentaram as menores taxas de crescimento do PIB. Cataguases é a aglomeração<br />
que apresenta o pior resultado. Em todo o período analisado, ela apresentou taxas médias anuais<br />
de crescimento inferiores às do Estado. Além disso, a cidade-pólo da região também apresentou<br />
um padrão similar, porém sempre maior do que o observado para a microrregião como um todo.<br />
Esses resultados demonstram não só a dependência da região em relação a Juiz de Fora, mas a<br />
também dependência da microrregião em relação à cidade-pólo. Já o desempenho da microrregião<br />
de Juiz de Fora não apresentou um padrão claro. Chamam a atenção as taxas de crescimento<br />
abaixo das observadas no Estado para toda a década dos 80, refletindo a decadência econômica<br />
do Rio de Janeiro. O desempenho da cidade-pólo, mostrará a forte influência que esta possui na<br />
dinâmica da região, tendo em vista que suas taxas de crescimento apresentam comportamentos<br />
similares e valores bem próximos.<br />
A aglomeração de Divinópolis apresentou taxas superiores às de Minas durante toda a<br />
década dos 70, com grande variabilidade pós-inicio dos anos 80. As taxas de crescimento da<br />
cidade-pólo, por sua vez, mostram a ocorrência de dois processos. Até 1990, é claro o peso da<br />
cidade na determinação da taxa de crescimento da microrregião, indicando a dependência desta<br />
em relação ao pólo. Na década dos 90, entretanto, as duas taxas continuam apresentando<br />
similaridades em relação ao sentido de suas variações, porém os valores passam a ser bem<br />
distintos. Isso evidencia o surgimento de outra aglomeração, com outra cidade-pólo, na<br />
microrregião, qual seja, a cidade de Nova Serrana (calçados).<br />
236 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Já a aglomeração de Montes Claros mostrou um comportamento muito peculiar. Durante<br />
todo o período em análise, tanto a microrregião, quanto o pólo, obtiveram taxas de crescimento<br />
superiores às do Estado, com exceção dos 5 anos compreendidos entre 1985 - 1990. Isso, como já<br />
dito, é explicado pelo papel que os incentivos fiscais desempenham no sentido de distanciar a<br />
dinâmica local da dinâmica nacional e estadual. Os dados relativos cidade-pólo evidenciam, mais<br />
uma vez, a sua característica de enclave.<br />
O desempenho exportador, na década passada, mostra um crescimento do peso do setor<br />
(aqui representado pelo setor têxtil) tanto nas exportações nacionais, quanto estaduais, saltando<br />
de 2,60% para 5,67% e 0,64% para 1,07%, respectivamente. Além disso, a contribuição para o<br />
saldo comercial com o exterior também aumentou (de 0,68 para 0,47 na relação exportação/<br />
importação), apesar de o setor continuar deficitário. O setor apresenta ainda uma empresa com<br />
exportações entre US$ 10 e US$ 50 milhões, localizada na aglomeração de Montes Claros<br />
(Coteminas), 3 na faixa de US$ 1 a US$ 10 milhões e 11 exportando valores até US$ 1 milhão.<br />
Por fim, o desenvolvimento social das aglomerações apresenta comportamentos claramente<br />
diferenciados. Por um lado, observa-se a aglomeração de Cataguases, que praticamente não alterou<br />
o seu percentual de pobres, além de ter reduzido a média de anos de estudo. O péssimo dinamismo<br />
econômico, tanto da aglomeração, quanto de sua cidade-pólo pode ser indicado como a principal<br />
razão para tal fato.<br />
Além disso, vale ressaltar o desempenho da aglomeração de Montes Claros, que apresentou<br />
um desempenho significativamente abaixo da média das aglomerações. Combinado com os dados<br />
de diversificação do setor serviços mostrados na TAB. 46, esse resultado reforça a conclusão de<br />
que esse setor se comporta como um enclave na região, não sendo capaz de gerar externalidades<br />
ou efeitos de transbordamento significativos.<br />
A análise das características urbanas, por sua vez, também irá mostrar padrões bem<br />
diferenciados. Em um extremo, as aglomerações de Cataguases e Montes Claros apresentam índices<br />
relativamente baixos de grau de urbanização e diversidade do setor de serviços. No outro, temos<br />
a aglomeração de Juiz de Fora, com um setor de serviços bem mais significativo, o que atuaria<br />
como um estímulo ao desenvolvimento local.<br />
TABELA 45<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO<br />
MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
% POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
AGLOMERAÇÕES 1991 2000 VARIAÇÃO (%) 1991 2000 VARIAÇÃO (%)<br />
Cataguases 31.1 31.0 -0.3 6.1 5.4 -11.6<br />
Divinópolis 34.6 16.7 -51.7 5.6 6.1 7.8<br />
Juiz de Fora 30.1 18.0 -40.2 6.5 6.9 6.6<br />
Montes Claros 40.7 31.7 -22.1 5.3 5.8 9.2<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 237<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 46<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA TÊXTIL - MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Cataguases 17 88.9<br />
Divinópolis 21 94.2<br />
Juiz de Fora 58 96.2<br />
Montes Claros 15 91.5<br />
FONTE:BACEN e IBGE<br />
3.5.5. O complexo agro-industrial<br />
Uma vez que não faz parte do escopo deste trabalho a análise do setor agropecuário, será<br />
concentrada a atenção somente para os setores Alimentos e Bebidas e Borracha, Fumo, Couro e<br />
Diversos. Assim sendo, foram detectadas 5 aglomerações industriais produtivas locais relevantes,<br />
distribuídas por 4 Regiões de Planejamento, a saber: Triângulo, Mata, Sul de Minas e Central.<br />
Dentre estas, somente na Região Triângulo foram localizadas aglomerações nos dois setores,<br />
respectivamente.<br />
3.5.5.1. A indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico<br />
A agroindústria apresentou, em 2000, duas aglomerações distribuídas por 2 Regiões de<br />
Planejamento. A Região de Planejamento do Triângulo possui uma aglomeração. A outra<br />
aglomeração, por sua vez, está situada na Região de Planejamento Metropolitana de Belo Horizonte<br />
(Mapa 14).<br />
MAPA 14<br />
238 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
A identificação de apenas duas aglomerações locais produtivas relevantes na agroindústria<br />
vem confirmar a existência de um considerável "gap" agroindustrial do Estado relativamente à<br />
sua base agropecuária.<br />
Além disso, a destacada importância de Uberlândia como parque agroindustrial reflete<br />
não somente a reorganização espacial da produção agropecuária ocorrida nos últimos 20 anos<br />
em Minas, mas, também, em nível nacional. No primeiro caso, essa microrregião se destaca<br />
como importante processadora de carnes e abate; cana-de-açúcar, farelo e rações (milho) e<br />
sucos, todas essas associadas com a base agrícola da região. No segundo caso, Uberlândia vem<br />
crescentemente se consolidando como centro processador das matérias-primas vinda de outras<br />
regiões, notadamente do Centro-Oeste, como nos casos dos óleos vegetais, moagem de trigo e<br />
carnes.<br />
No caso da microrregião de Belo Horizonte, a densidade e diversidade urbana da Região<br />
Metropolitana de Belo Horizonte explicaria a localização de uma variedade de indústrias de<br />
alimentos e bebidas.<br />
É digno de nota, entretanto, a não inclusão de aglomerações produtivas agroindustriais<br />
do complexo cafeeiro e leiteiro do Sul/Sudoeste de Minas. Em que pese a importância nacional<br />
das cooperativas regionais desses complexos, elas não foram capazes de estimular o adensamento<br />
da cadeia produtiva a jusante. Em parte, esse fato pode ser explicado pelo efeito polarizador<br />
exercido pelas agroindústrias do interior paulista, que acabam processando a maior parte do<br />
leite da região. De outro lado, grande parte do café da região é exportado in natura para outros<br />
Estados e países, sendo apenas marginalmente processado na região. De fato, como discutido<br />
em estudo recente por Lemos et al. (2002), a fragilidade da cadeia de produtiva dos complexos<br />
cafeeiro e lácteo do Sul/Sudoeste, combinada com a crise do sistema cooperativista da região,<br />
tem tido reflexos adversos na economia da região.<br />
De uma forma geral, o efeito polarizador das aglomerações é elevado. Para o setor, esse<br />
indicador é de 0,55 e foi caracterizado como o setor com o maior efeito polarizador médio na<br />
análise de cluster feita anteriormente. Os graus de polarização das aglomerações variam entre<br />
um valor máximo de 0,60, em Uberlândia, e 0,50, em Belo Horizonte.<br />
Os índices de concentração, por sua vez, apresentam valores relativamente piores do que<br />
os apresentados para medir o grau de polarização. O IC médio do setor foi de 1,16 para o ano de<br />
2000, o segundo mais baixo entre os setores analisados. Entretanto, ele apresentou um aumento<br />
de 216% em relação a 1986 (TAB. 1 do Apêndice 3). Esse crescimento foi puxado, em grande<br />
parte, pelo desempenho da aglomeração de Uberlândia. De fato, enquanto o IC de Uberlândia<br />
foi de 2,31 e apresentou taxa de crescimento positiva de 103% em relação ao de 1986, o de<br />
Belo Horizonte foi de 0,0046 e caiu em relação a 1986.<br />
Identificou-se nas duas aglomerações produtivas 31 subsetores a 5 dígitos com IC > 1<br />
(relevante) (TAB. 47). Como pode ser notado, existem 4 subsetores que contribuem<br />
decisivamente para o grau de concentração da aglomeração de Uberlândia: produção de suco de<br />
frutas e de legumes (25,18); moagem de trigo e fabricação de derivados (13,98); preparação de<br />
carne, banha e produtos de salsicheria não associados ao abate (5,97) e usinas de açúcar (5,44).<br />
A aglomeração de Belo Horizonte estaria mais apoiada no segmento de bebidas, já que, dentre<br />
os 3 maiores ICs, 2 são de subsetores de bebidas: fabricação de malte, cervejas e chopes (26,55);<br />
moagem de trigo e fabricação de derivados (13,40) e engarrafamento e gaseificação de águas<br />
minerais (11,04).<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 239<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 47<br />
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO >1 IC<br />
Uberlândia Araguari Abate de reses, preparação de produtos de carne 2,37<br />
Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia 5,97<br />
Produção de sucos de frutas e de legumes 4,81<br />
Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz 1,03<br />
Uberlândia Abate de aves e outros pequenos animais e preparaçao de produtos de... 2,91<br />
Processamento, preservação e produção de conservas de legumes 1,10<br />
Produção de óleos vegetais em bruto 4,04<br />
Preparação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos de or... 2,92<br />
Moagem de trigo e fabricação de derivados 13,98<br />
Fabricação de refrigerantes e refrescos 1,48<br />
Monte Alegre Produção de sucos de frutas e de legumes 25,18<br />
de Minas Fabricação de farinha de mandioca e derivados 1,49<br />
Fabricação de rações balanceadas para animais 1,74<br />
Tupaciguara Fabricação de produtos do laticínio 1,09<br />
Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardentes 1,34<br />
Canápolis Usinas de açúcar 5,44<br />
Indianópolis Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria 2,53<br />
Belo Ibirité Abate de reses, preparação de produtos de carne 1,10<br />
Horizonte<br />
São Joaquim<br />
Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de produtos de... 2,20<br />
de Bicas Abate de reses, preparação de produtos de carne 2,34<br />
Santa Luzia Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de produtos de... 1,25<br />
Moagem de trigo e fabricação de derivados 9,00<br />
Sabará Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia não-associada ... 1,09<br />
Contagem Moagem de trigo e fabricação de derivados 13,40<br />
Fabricação de biscoitos e bolachas 1,09<br />
Raposos Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria 3,42<br />
FONTE: MT/RAIS, 2000<br />
Juatuba Fabricação de malte, cervejas e chopes 26,54<br />
Brumadinho Engarrafamento e gaseificação de águas minerais 1,56<br />
Igarapé Engarrafamento e gaseificação de águas minerais 1,59<br />
Mário Campos Engarrafamento e gaseificação de águas minerais 11,04<br />
Ribeirão das<br />
Neves Fabricação de refrigerantes e refrescos 5,43<br />
O desempenho econômico das aglomerações e cidades-pólo é mostrado abaixo:<br />
TABELA 48<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS<br />
MINAS GERAIS - 1976 - 1996<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Belo Horizonte 10,22 20,01 -0,83 -9,70 7,30 231,59<br />
Contagem 11,33 23,49 -2,08 -12,38 4,54 185,17<br />
Uberlândia 12,20 10,73 1,30 0,49 5,86 330,19<br />
Uberlândia 14,29 12,68 1,30 0,29 6,38 422,47<br />
Minas Gerais<br />
FONTE: IPEA<br />
10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21<br />
240 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Observa-se uma clara diferença de comportamento entre as duas aglomerações analisadas.<br />
A aglomeração da indústria de alimentos de Uberlândia conseguiu apresentar taxas de crescimento<br />
do seu PIB superiores às de Minas Gerais para quase todo o período analisado. Entre 1970 e 1996,<br />
a taxa acumulada, tanto da aglomeração, quanto da cidade-pólo, foi superior à do Estado em mais<br />
de 50%. Além disso, fica claro que a cidade-pólo é determinante para o desempenho da aglomeração.<br />
A aglomeração de Belo Horizonte, por sua vez, apresentou taxas de variação do PIB inferiores às<br />
do Estado. Vale a pena ressaltar que a cidade-pólo apresentou um desempenho inferior à da<br />
aglomeração, indicando uma clara diferenciação produtiva entre os dois.<br />
O desempenho social das aglomerações pode ser feito com a ajuda das TAB. 49 e 50. Notase<br />
que ambas as aglomerações apresentam, em 2000, um percentual de pobres abaixo das médias<br />
do Estado e das aglomerações. Além disso, a taxa de redução na década também foi maior que a<br />
média de Minas Gerais.<br />
TABELA 49<br />
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA ALIMENTOS E BEBIDAS<br />
MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
AGLOMERAÇÕES % POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
1991 2000 Variação (%) 1991 2000 Variação (%)<br />
Belo Horizonte 29.9 17.4 -41.8 5.26 5.52 4.9<br />
Uberlândia 22.4 12.8 -42.9 5.96 6.61 10.8<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
De forma semelhante, pode-se afirmar que a estrutura urbana dessas aglomerações são<br />
relativamente diversificadas, o que deve ter contribuído para os resultados sociais observados.<br />
TABELA 50<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA<br />
ALIMENTOS E BEBIDAS - MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Belo Horizonte 75 97.2<br />
Uberlândia 57 96.2<br />
FONTE: BACEN e IBGE<br />
3.5.5.2. O setor de borracha, fumo, couro e indústrias diversas<br />
A análise deste grande setor é dificultada pela extrema diversidade de produtos envolvidos.<br />
Nesse sentido, a análise a seguir deve ser entendida como exploratória e suas conclusões apenas<br />
preliminares.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 241<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A análise dos dados indicou a presença de 3 aglomerações localizadas nas Regiões de<br />
Planejamento Mata (microrregião de Juiz de Fora), Triângulo (microrregião de Uberlândia) e Sul<br />
de Minas (microrregião de Varginha).<br />
O efeito polarizador médio do setor foi de 0,25, considerado como médio, quando analisado<br />
comparativamente com os demais setores. Essa média se distribui entre as aglomerações da seguinte<br />
forma: aglomeração de Uberaba (a mais importante), 0,4; Juiz de Fora, 0,21, e, Varginha, 0,14.<br />
O índice de aglomeração médio do setor ficou em 1,91, o que foi considerado como pequeno<br />
pela analise de cluster. No entanto, a sua taxa de crescimento foi significativa, sendo de 207% em<br />
relação a 1986 (TAB. 1 no Apêndice 2). A aglomeração que mais contribuiu para essa taxa foi a de<br />
Uberaba, cujo crescimento do índice para o mesmo período foi de 262%. O valor desse índice em<br />
2000 foi de 3,52, o que pode ser considerado como muito elevado. A aglomeração de Varginha<br />
também contribuiu para o crescimento do indicador do setor, apresentando uma variação positiva<br />
de 451%. Esse valor foi resultado do valor extremamente baixo observado no fim do período. Já<br />
o índice de concentração da aglomeração de Juiz de Fora permaneceu praticamente estável no<br />
período.<br />
Os subsetores que contribuíram para a obtenção de índices de aglomeração relevantes são<br />
bastante diversos, dada a amplitude da definição do setor. Como mostra a TAB. 50 abaixo, a<br />
desagregação a 5 dígitos demonstrou a existência, no interior das grandes aglomerações, de 18<br />
aglomerações com índices de concentração relevantes (maior que 1), distribuídos por 13 subsetores.<br />
A análise dos subsetores com índices de aglomeração maiores que 10 permite entender melhor as<br />
aglomerações.<br />
MAPA 15<br />
242 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 51<br />
INDÚSTRIA DA BORRACHA, FUMO, COUROS, PELES, SIMILARES E IND. DIVERSAS (IBGE)<br />
MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRO MUNICÍPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICÍPIO >1 IC<br />
Uberlândia Uberlândia Fabricação de produtos do fumo 11,47<br />
Curtimento e outras preparações de couro 1,11<br />
Recondicionamento de pneumáticos 4,85<br />
Fabricação de artefatos para caça, pesca e esporte 1,50<br />
Prata Fabricação de canetas, lápis, fitas imopressoras para máquinas 26,71<br />
Araguari Reprodução de discos e fitas 17,91<br />
Reprodução de fitas de vídeos 2,96<br />
Tupaciguara Fabricação de artefatos para caça, pesca e esporte 1,78<br />
Juiz de Fora Pequeri Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de... 8,67<br />
Rochedo<br />
de Minas Fabricação de outros artefatos de couro 12,39<br />
Bicas Fabricação de calçados de couro 2,27<br />
Matias Barbosa Reprodução de fitas de vídeos 20,56<br />
Juiz de Fora Recondicionamento de pneumáticos 4,84<br />
Fabricação de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, 22,40<br />
Guarará Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas, fabricação de artefatos... 5,44<br />
Mar de Espanha Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas, fabricação de artefatos... 1,90<br />
Varginha Monsenhor Paulo Fabricação de outros artefatos de couro 2,49<br />
FONTE: RAIS; CNAE - IBGE<br />
Varginha Fabricação de artefatos diversos de borracha 15,97<br />
Na aglomeração de Uberlândia, os seguintes subsetores são significativos: fabricação de<br />
produtos de fumo (Uberlândia); fabricação de canetas, lápis e fitas para impressora (Prata) e<br />
reprodução de discos e fitas (Araguari). Já a aglomeração de Juiz de Fora teria os seguintes<br />
subsetores: fabricação de aparelhos e instrumentos para uso médico-hospitalares (Juiz de Fora);<br />
reprodução de fitas de vídeos (Matias Barbosa) e fabricação de outros artefatos de couro<br />
(Rochedo de Minas). Por fim, para a aglomeração de Varginha, tem-se: fabricação de artefatos<br />
de borracha (Varginha). Como pode ser observado, não existe uma similaridade clara entre as<br />
aglomerações, o que dificulta uma análise mais detalhada.<br />
A TAB. 52 mostra o desempenho econômico das aglomerações entre 1970 e 1996,<br />
indicando que, neste período, todas as aglomerações e suas cidades-pólo apresentaram taxas de<br />
crescimento acumuladas superiores, ou no mínimo iguais, às obtidas pelo Estado. Da mesma<br />
forma, a análise por subperíodos mostrou que, com exceção da década dos 80, todas as<br />
aglomerações apresentaram taxas médias anuais de crescimento superiores às do Estado. Além<br />
disso, a análise comparativa do desempenho da aglomeração e da cidade-pólo indicou o mesmo<br />
padrão para as três aglomerações. O sentido da variação das taxas e seus valores é muito próximo<br />
entre a aglomeração e a cidade-pólo, indicando que o setor está concentrado nesta última. Isso<br />
indicaria que os entornos dessas cidades-pólo não são plenamente integrados aos respectivos<br />
setores.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 243<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 52<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - IND. DA BORRACHA, FUMO, COUROS, E IND. DIVERSAS<br />
MINAS GERAIS - 1976 - 1996<br />
AGLOMERAÇÃO CIDADE-PÓLO TAXA ANUAL MÉDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA<br />
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96<br />
Uberlândia 12,60 10,56 1,19 0,12 6,07 328,77<br />
Uberlândia 14,29 12,68 1,30 0,29 6,38 422,47<br />
Juiz de Fora 5,96 11,48 1,55 -7,47 16,97 268,73<br />
Juiz de Fora 5,83 11,72 1,85 -7,65 17,49 280,68<br />
Varginha 11,37 16,08 3,16 -5,69 3,97 282,40<br />
Varginha 10,86 16,57 3,38 -5,87 4,10 284,57<br />
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21<br />
FONTE: IPEA<br />
Por fim, o desempenho social e as características urbanas mostram uma clara diferenciação<br />
entre a aglomeração de Uberlândia e as demais. Esta apresentou um percentual de redução de pobres<br />
abaixo da média do Estado (a única aglomeração pesquisada que apresentou tal resultado) e praticamente<br />
manteve a mesma média em relação à média dos anos de estudo. Além disso, a diversidade do setor<br />
serviços e o grau de urbanização também foram um dos mais baixos analisados em todo estudo.<br />
TABELA 53<br />
DESEMPENHO SOCIAL DE AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA BORRACHA, FUMO E COURO<br />
MINAS GERAIS - 1991 E 2000<br />
AGLOMERAÇÕES % POBRES ANOS DE ESTUDO<br />
1991 2000 Variação (%) 1991 2000 Variação (%)<br />
Juiz de Fora 22.9 16.0 -27.9 -6.5 7.1 9.6<br />
Uberlândia 33.2 13.5 -59.3 5.3 6.7 25.4<br />
Varginha 17.8 14.9 -16.3 6.3 6.7 6.8<br />
Média das Aglomerações 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8<br />
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9<br />
FONTE: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE<br />
Por outro lado, deve ser ressaltado o bom desempenho da aglomeração de Uberlândia, que<br />
apresentou taxas elevadíssimas de redução de pobres e aumento na média de anos de estudo.<br />
TABELA 54<br />
CARACTERÍSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAÇÕES DA INDÚSTRIA BORRACHA,<br />
FUMO E COURO - MINAS GERAIS - 2000<br />
AGLOMERAÇÕES NÚMERO DE AGÊNCIAS GRAU DE URBANIZAÇÃO<br />
Juiz de Fora 50 98.3<br />
Uberlândia 64 95.3<br />
Varginha 13 93.9<br />
FONTE: BACEN e IBGE<br />
244 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
3.5.6. O setor de papel e gráfica<br />
Por fim, restaria analisar o setor de Papel e Gráfica, que não pertence a nenhum dos complexos<br />
estudados neste diagnóstico. No entanto, como não existem fatores locacionais claramente definidos<br />
para explicar a distribuição dessas aglomerações, além do fato de que, em quase todos os casos,<br />
tais aglomerações são enclaves regionais com pouquíssimos efeitos de encadeamento e baixos<br />
índices de concentração, optou-se por apenas listá-las sem uma análise mais detalhada. Ao todo,<br />
foram detectadas 8 aglomerações, distribuídas por todo o Estado. As Regiões de Planejamento e<br />
respectivas microrregiões que abrigam tais aglomerações são apresentadas no Mapa 16.<br />
MAPA 16<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 245<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Apêndice 1<br />
Critérios de identificação de aglomerações produtivas<br />
locais<br />
Para critérios de identificação de aglomerações produtivas locais, foi elaborado um indicador<br />
que fosse capaz de captar quatro características de uma aglomeração produtiva local: (1) em que<br />
medida determinado setor é específico dentro de uma região; (2) o seu peso em relação à estrutura<br />
industrial da região; (3) a importância do setor nacionalmente; e (4) a escala absoluta da estrutura<br />
industrial local. Para medir a primeira característica citada, será utilizado o Quociente Locacional<br />
(QL) da indústria. Tradicional na literatura de economia regional, o Quociente Locacional procura<br />
comparar duas estruturas setoriais-espaciais. Ele é a razão entre duas estruturas econômicas: no<br />
numerador temos a 'economia' em estudo e no denominador uma 'economia de referência (Haddad<br />
1986). Sua fórmula de cálculo pode ser expressa da seguinte forma:<br />
Indicador 1<br />
QL =<br />
246 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
E / E<br />
E<br />
i<br />
j<br />
i<br />
BR<br />
onde: E i<br />
j = Emprego do setor i na região j; 14<br />
E j = Emprego total na região j;<br />
E i<br />
BR<br />
= Emprego do setor i no Brasil;<br />
j<br />
/ E<br />
E BR = Emprego total na indústria no Brasil<br />
Alguns esclarecimentos sobre esse indicador se fazem necessário. Em primeiro lugar, a<br />
escolha do Brasil como unidade de referência e, não, o Estado de Minas Gerais, deve-se ao fato da<br />
estrutura produtiva brasileira apresentar uma maior diversificação. Caso Minas Gerais fosse<br />
escolhida, os QL estariam sendo influenciados pela especialização produtiva do Estado. Em<br />
segundo lugar, a literatura de economia regional reconhece que esse indicador é bastante apropriado<br />
para regiões de porte médio. Para regiões pequenas, com emprego industrial diminuto e estrutura<br />
produtiva pouco diversificada, o quociente tenderia a sobrevalorizar o peso de um determinado<br />
setor para a região. De forma simétrica, o quociente também tenderia a subvalorizar a importância<br />
de determinados setores em regiões com uma estrutura produtiva bem diversificada, mesmo que<br />
esse setor possuísse peso significativo no contexto nacional.<br />
14 Os dados de emprego foram calculados a partir da RAIS 2000.<br />
BR
Para resolver esse problema, foi elaborado um segundo indicador, que procura captar o real<br />
significado do peso do setor na estrutura produtiva local. Tal índice foi denominado Hirschman-<br />
Herfindahl modificado (HHm). Ele é definido da seguinte forma:<br />
Indicador 2<br />
i<br />
2<br />
2<br />
⎛ Ej<br />
⎞ ⎛ Ej<br />
⎞<br />
HHm = ⎜ ⎟<br />
i<br />
E ⎟<br />
⎜ −<br />
⎝ EBR<br />
⎠<br />
⎝<br />
Um terceiro indicador foi utilizado para captar a importância do setor da região<br />
nacionalmente, ou seja, a participação relativa do setor no emprego total do setor no País:<br />
⎠<br />
Indicador 3<br />
E<br />
PR =<br />
E<br />
Esses três indicadores fornecem os parâmetros necessários para a elaboração de um único<br />
indicador de concentração de um setor industrial dentro de uma região, que será chamado de Índice<br />
de Concentração normalizado (ICn). Para que os três indicadores fossem transformados em um único,<br />
procedeu-se à normalização de todos os três e efetuou-se a média aritmética dos resultados obtidos.<br />
Desta forma, o Índice de Concentração Normalizado pode ser assim descrito:<br />
i<br />
j<br />
BR<br />
Indicador 4<br />
QLn + HHmn + PRn<br />
ICn =<br />
2<br />
onde a letra n indica que o indicador foi normalizado.<br />
Por fim, a última característica a ser considerada foi a escala absoluta da estrutura industrial<br />
local. Para tanto, foi definido o parâmetro de 5000 empregos industriais na região como escala<br />
mínima para que a mesma possa ser considerada uma aglomeração produtiva local relevante.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 247<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
248 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro<br />
FONTE: RAIS 2000 – Elaboração própria.<br />
TABELA 1<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DO ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS<br />
LOCAIS RELEVANTES EM MINAS GERAIS POR SETOR E MICRORREGIÕES - 1986 - 2000 (%)<br />
Microrregião Extr. Min. Metalúrgica Mecânica Eletr. e Transp. Mad. e Papel Bor. Fum. Química Têxtil Calçados Alim.<br />
Mineral não-met. Comun. Mobil. e gráf. Cour. e Beb.<br />
Belo Horizonte<br />
Conselheiro<br />
-34 -6 -2 -40 1,152 -6 -37 -41 -99<br />
Lafaiete 226<br />
Itabira 1,463<br />
Ouro Preto 97 1,332<br />
Sete Lagoas 389<br />
Itajubá -13 60 26<br />
São Lourenço<br />
Santa Rita<br />
-31<br />
do Sapucaí<br />
São Sebastião<br />
3,315<br />
do Paraíso 15<br />
Varginha 451<br />
Cataguases -10<br />
Juiz de Fora -34 -1 -35<br />
Uba 106<br />
Uberaba 9,988 -28 32<br />
Uberlândia -14 282 105<br />
Governador<br />
Valadares -56<br />
Ipatinga 8 15<br />
Divinópolis -3 164<br />
Montes Claros -906 -52 1,057<br />
106 -6 24 36 763 2 106 -23 207 9 -6 164 216<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Apêndice 2
TABELA 2<br />
PARTICIPAÇÃO RELATIVA POR TAMANHO DE EMPRESA SEGUNDO SETOR INDUSTRIAL - MINAS GERAIS - 2000<br />
SETOR INDUSTRIAL<br />
TAMANHO DA EMPRESA<br />
MICRO PEQUENA MÉDIA GRANDE<br />
Extrativa Mineral 68,1 19,7 9,0 3,2<br />
Minerais não-metálicos 85,5 10,0 4,0 0,5<br />
Metalúrgica 81,7 14,5 3,2 0,5<br />
Mecânica 76,0 17,8 5,6 0,6<br />
Eletricidade e Comunicações 71,2 19,5 7,4 1,9<br />
Material Transporte 71,6 16,2 8,3 3,9<br />
Madeira e Mobiliário 77,2 19,7 2,8 0,3<br />
Papel e Gráfica 87,5 10,6 1,7 0,2<br />
Borracha Fumo e Couro 76,3 16,7 3,5 3,5<br />
Química 74,0 18,3 6,7 1,0<br />
Têxtil e Vestuário 86,8 11,0 1,8 0,4<br />
Calçados 89,5 9,4 1,1 0,0<br />
Alimentos e Bebidas 83,6 11,3 4,4 0,6<br />
Média das Aglomerações 79,2 15,0 4,6 1,3<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
TABELA 3<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO EXTRATIVA MINERAL - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Belo Horizonte 39 11 6 2<br />
Itabira 10 8 3 2<br />
Ouro Preto 29 9 5 2<br />
Sete Lagoas 50 9 3 0<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
TABELA 4<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDÚSTRIA METALÚRGICA - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Belo Horizonte 896 167 33 2<br />
Conselheiro Lafaiete 47 1 3 1<br />
Ipatinga 98 17 5 4<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 249<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
TABELA 5<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDÚSTRIA MECÂNICA - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Belo Horizonte 225 56 16 0<br />
Itajubá 5 0 1 1<br />
Uberaba 14 1 1 1<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
TABELA 6<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDÚSTRIA DO MATERIAL ELÉTRICO<br />
E DE COMUNICAÇÕES - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Belo Horizonte 109 27 9 2<br />
Itajubá 10 1 2 1<br />
Ouro Preto 0 0 0 1<br />
Santa Rita do Sapucaí 30 13 3 0<br />
São Sebastião do Paraíso 4 1 2 0<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
TABELA 7<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDÚSTRIA DO MATERIAL DE TRANSPORTE - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Belo Horizonte 145 32 15 6<br />
Itajubá 1 1 2 2<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
TABELA 8<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDÚSTRIA DE PRODUTOS<br />
MINERAIS NÃO - METÁLICOS - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Belo Horizonte 360 42 17 2<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
250 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
TABELA 9<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO - INDÚSTRIA DA MADEIRA E DO MOBILIÁRIO - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Ubá 274 70 10 1<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
TABELA 10<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO - INDÚSTRIA QUÍMICA - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Montes Claros 27 3 2 0<br />
Uberaba 50 16 5 1<br />
Belo Horizonte 503 103 33 1<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
TABELA 11<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO - INDÚSTRIA DE CALÇADOS - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Divinópolis 560 59 7 0<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
TABELA 12<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDÚSTRIA TÊXTIL DO VESTUÁRIO E<br />
ARTEFATOS DE TECIDOS - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Montes Claros 61 9 3 2<br />
Divinópolis 649 55 4 2<br />
Juiz de Fora 579 93 15 0<br />
Cataguases 50 13 5 2<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
TABELA 13<br />
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDÚSTRIA DA BORRACHA, FUMO,<br />
COUROS, PELES, SIMILARES - MINAS GERAIS - 2000<br />
MICRORREGIÃO MICRO PEQUENAS MÉDIA GRANDE<br />
Uberlândia 40 7 2 2<br />
Varginha 9 1 1 1<br />
Juiz de Fora 38 11 1 1<br />
FONTE: RAIS 2000<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 251<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
6. 6. Referências Bibliográficas<br />
BEST, M. The new competition: Institutions of Industrial Restructuring. Cambridge: Polity<br />
Press, 1990.<br />
BRITO, J.; ALBUQUERQUE, E. Clusters Industriais na Economia Brasileira: uma análise<br />
exploratória a partir de dados da RAIS. Estudos Econômicos, v. 32, n. 1, p. 71-102.<br />
CASSIOLATO, J. De aglomerações a sistemas produtivos e de inovações, em arranjos e sistemas<br />
produtivos locais e as novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico. BNDES/FINEP,<br />
2000.<br />
CEGLIE, G.; DINI, M. SME cluster and networking development in developing countries: the<br />
experience of UNIDO. In: UNIDO. Private Sector Development Branch, 1999.<br />
CROCCO, M.; SANTOS, F.; SIMÕES, R.; HORÁCIO, F. O arranjo produtivo calçadista<br />
de Nova Serrana-MG. In: TIRONI, L. F. Industrialização descentralizada: sistemas industriais<br />
locais. Brasília: IPEA, 2001a.<br />
CROCCO, M.; SANTOS, F.; SIMÕES, R.; HORÁCIO, F. O arranjo produtivo moveleiro<br />
de Ubá-MG. In: TIRONI, L. F. Industrialização descentralizada: sistemas industriais locais.<br />
Brasília: IPEA, 2001b.<br />
HUMPHREY, J.; SCHMITZ, H. Principles for promoting clusters & networks of SMEs.<br />
In: UNIDO. Small and Medium Enterprises programme, 1995.<br />
LEMOS, M.; GUERRA, L.; MORO, S. A nova configuração regional brasileira: sua geografia<br />
econômica e os determinantes locacionais da indústria. In: XXVIII Encontro Nacional de<br />
Economia, Campinas, 2000. 1 CD-ROM.<br />
MARKUSEN, A. Four structures for second tier cities. In: MARKUSEN, A.; LEE, Y.-S.;<br />
DiGIOVANNA, S. Second tier cities: rapid growth beyond the Metropolis. Minneapolis: University<br />
of Minnesota Press, 1999. p. 21-42.<br />
MYTELKA, L.; FARINELLI, F. Local clusters, innovation systems and sustained<br />
competitiveness. In: INSTITUTO DE ECONOMIA/UFRJ. Arranjos e sistemas produtivos<br />
locais e as novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000.<br />
MYTELKA, L. Competition, innovation and competitiveness: a framework for analysis.<br />
In: MYTELKA, L.. Competition, innovation and competitiveness in developing countries. Paris:<br />
O.E.C.D., 1999. p. 15-27<br />
PIORE, M.; SABEL, C. The second industrial divide: possibilities for prosperity. New York:<br />
Basic Books, 1984.<br />
SANTOS, F. et al. Sistemas produtivos locais em "espaços industriais" periféricos: os casos de Nova<br />
Serrana e da Rede de Fornecedores da Fiat. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 2002. (Texto<br />
para discussão).<br />
252 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
SCHIMTZ, H. Collective Efficiency: growth path for small scale industry. The Journal of<br />
Development Studies, v. 31, n. 4, p. 529-566, 1995.<br />
SCHMITZ, H, & Navid, K. Clustering and industrialization: introduction. World Development,<br />
v. 27, n. 9, p. 1503-14, 1999.<br />
UNCTAD. Promoting and sustaining SMEs Clusters and networks for development, issued<br />
paper by the UNCTAD secretariat, TD / B / COM. 3 / EM. 5 / 2, 1998.<br />
Capítulo 3 - Aglomerações Produtivas Locais 253<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
254 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI<br />
VOLUME VI<br />
INTEGRANDO A INDÚSTRIA<br />
PARA O FUTURO<br />
CAPÍTULO 4<br />
CONSIDERAÇÕES PARA UMA<br />
POLÍTICA INDUSTRIAL<br />
D.PE / <strong>BDMG</strong>
SUMÁRIO<br />
4.1. DIFICULDADES E OPORTUNIDADES DA ESTRUTURA INDUSTRIAL MINEIRA ..................... 260<br />
4.2. O DESAFIO FUNDAMENTAL DA INDÚSTRIA MINEIRA ................................................................... 265<br />
4.3. REFERÊNCIAS PARA UMA POLÍTICA INDUSTRIAL ESTADUAL ................................................. 266<br />
4.4. PROPOSIÇÕES PARA UMA NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL PARA MINAS GERAIS ......... 269<br />
4.4.1. Proposições de ordem geral ................................................................................................................................. 269<br />
4.4.2. As proposições específicos ................................................................................................................................... 270<br />
4.5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................................... 275
Este capítulo apresenta algumas considerações para a formulação de uma política industrial<br />
para o Estado de Minas Gerais, à luz das evidências coletadas ao longo desse estudo. Compõe-se<br />
de quatro seções. A primeira sintetiza características importantes da estrutura industrial mineira.<br />
A segunda conclui essa síntese traduzindo-a nas dificuldades e no grande desafio do setor, qual<br />
seja, o de avançar no enobrecimento da produção, na incorporação de produtos de maior sofisticação<br />
e na capacitação de atividades inovadoras. A seção 4.3 levanta referências internacionais e nacionais<br />
importantes para a formulação de uma política industrial para o Estado e, por fim, a seção 4.4<br />
apresenta proposição a respeito.<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 259<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
4.1. Dificuldades e oportunidades da estrutura<br />
industrial mineira<br />
Os estudos realizados neste volume 1 oferecem um conjunto de observações a respeito<br />
da situação atual e das perspectivas do setor industrial mineiro, com vistas à formulação de<br />
uma política industrial para o Estado.<br />
• Perda de participação relativa e de posicionamento estratégico da indústria<br />
mineira no cenário nacional<br />
Nos últimos anos, a indústria mineira vem perdendo participação relativa e posicionamento<br />
estratégico no cenário nacional, tanto em decorrência do avanço observado em outros estados<br />
da federação, e de fatores diversos que os têm favorecido, como também por conseqüência da<br />
redução da capacidade de Minas Gerais de atrair investimentos, da perda de dinamismo de<br />
alguns setores e do aproveitamento insuficiente de potencialidades setoriais e regionais. Ao<br />
final do século XX, Minas Gerais posicionava-se como a 3ª ou 4ª economia industrial do País<br />
— dependendo da fonte de dados consultada 2 —, bem atrás dos parques industriais de São<br />
Paulo e do Rio de Janeiro e em patamar semelhante ao gaúcho.<br />
Na verdade, desde o final da década de 90, o Estado atravessa uma baixa cíclica de<br />
investimentos. Após ter conseguido se beneficiar da onda de investimentos ocorrida nos primeiros<br />
anos do Plano Real, a retração dos anúncios de investimentos no território mineiro suscita<br />
preocupações e exige a atenção dos formuladores da política econômica para a reversão do<br />
quadro de pequena atratividade dos fluxos de capitais nacionais e internacionais. 3<br />
Vários fatores vêm concorrendo para essa situação: o esgotamento e, mais recentemente,<br />
a deterioração da rede de transportes; a “guerra fiscal” entre estados pela atração de<br />
investimentos, que vem marcando a trajetória da indústria brasileira nos últimos anos; o<br />
distanciamento, tanto do governo estadual quanto do setor empresarial mineiro, das discussões<br />
sobre política industrial e de financiamento que vêm sendo realizadas em nível nacional; além<br />
de dificuldades setoriais específicas ligadas à política macroeconômica desfavorável ao setor<br />
produtivo.<br />
A essas questões, somam-se outras especificidades da estrutura industrial mineira — por<br />
exemplo, o pequeno tamanho relativo de grande parte de nossas empresas, comparativamente<br />
às paulistas —, dificultando a configuração de lideranças setoriais capazes de conduzir o<br />
desenvolvimento industrial do Estado.<br />
1 Este volume é composto por três capítulos, além deste: “Estrutura e Dinâmica” (de Mauro Borges Lemos, do CEDEPLAR/UFMG);<br />
“Cadeias Produtivas Relevantes” (de Victor Prochnik e Bruno Ottoni Vaz, do IE/UFRJ) e “Aglomerações Produtivas Locais”<br />
(de Marco Aurélio Crocco e Rangel Galinari do CEDEPLAR/ UFMG).<br />
2 De acordo com as Contas Regionais do IBGE, a economia industrial mineira ocuparia, em 1999, a 4ª posição entre os estados<br />
federados, com uma participação de 9,0% do valor adicionado bruto da indústria nacional, mas, de acordo com a Pesquisa<br />
Industrial Anual, também do IBGE e referente ao mesmo ano, Minas ocuparia a 3ª posição com 9,6% daquele agregado.<br />
3 Conforme observado no capítulo 2 do volume I, dados divulgados pelo BNDES indicam que o valor dos investimentos em 2000<br />
representou aproximadamente 1/3 do observado em 1996.<br />
260 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
• A metal-mecânica e a agroindústria como as cadeias produtivas fundamentais da<br />
economia mineira<br />
Os complexos da metal-mecânica e da agroindústria foram apontados como os agrupamentos<br />
fundamentais da economia mineira. Essa conclusão não causa surpresa, dado que a nossa<br />
industrialização assentou-se no aproveitamento da base de recursos naturais existentes: tanto das<br />
minas, que estabeleceram os pilares de estruturação da indústria metal-mecânica, como dos campos<br />
das gerais, que propiciaram a expansão da lavoura comercial e da pecuária. Entretanto, é interessante<br />
verificar que, ao adentrarem-se pelo século XXI, esses setores se reafirmam como estratégicos<br />
para a manutenção de vantagens comparativas e para a obtenção de novos diferenciais de<br />
competitividade para Minas Gerais.<br />
• O complexo metal-mecânico: a integração incompleta<br />
Composto pelos setores de metalurgia básica, mecânica, eletroeletrônica e material de<br />
transportes, este agrupamento apresentou, ao longo dos anos, inegável evolução com a progressão<br />
qualitativa de suas relações de troca intersetoriais com a indústria paulista, sem dúvida, a mais<br />
desenvolvida do País.<br />
Todavia, uma análise mais detalhada dessa integração demonstrou que as vendas de insumos<br />
mineiros se restringem aos produtos metalúrgicos, principalmente aos produtos da siderurgia básica.<br />
Não se assistiu, ainda, à progressão dessa integração nos elos superiores da cadeia, especialmente<br />
para os setores que mais avançaram em Minas Gerais nas últimas duas décadas: o automotivo e o<br />
de autopeças. Por outro lado, as vendas de São Paulo para Minas se concentram nos elos superiores<br />
da cadeia, com destaque para os equipamentos eletrônicos e de telecomunicações, material elétrico<br />
e máquinas e equipamentos.<br />
Pode-se, assim, apontar duas características importantes da estrutura industrial mineira,<br />
que passam a ser tomadas aqui como focos relevantes para uma política industrial.<br />
A primeira é a fragilidade do setor de bens de capital mineiro, tendo sido constatado,<br />
além disso, uma inequívoca retração dessa indústria, nas últimas décadas. A indústria de bens de<br />
capital, em Minas, encerra os anos 90 dedicando-se quase que exclusivamente ao setor de peças e<br />
componentes (fabricação de estruturas metálicas, tanques e reservatórios metálicos, caldeiraria<br />
pesada, forjaria e estamparia, especialmente), com predominância de micro e pequenas empresas,<br />
situação essa bastante desfavorável à constituição, no Estado, de uma indústria de bens de capital<br />
especializada em produtos de maior conteúdo tecnológico.<br />
Tal situação é uma indicação clara da oportunidade de se mobilizar esforços visando a<br />
instalação, no Estado, de unidades industriais de grande porte, revertendo essa fragilidade e<br />
promovendo uma maior integração do complexo metal-mecânico mineiro.<br />
A segunda característica refere-se ao incipiente desenvolvimento dos setores de<br />
eletroeletrônicos e de telecomunicações. Concentrada em São Paulo e na Zona Franca de<br />
Manaus (neste último caso, restrita, praticamente, às atividades de montagem de peças e<br />
componentes), este setor é apontado como um dos principais gargalos da indústria nacional, devido<br />
ao seu representativo peso na conta de importações nacionais e ao seu papel decisivo no processo<br />
de modernização tecnológica de toda a economia.<br />
Em Minas Gerais, apesar da presença dos segmentos de condutores elétricos, de<br />
equipamentos elétricos, de produtos de automação industrial e de eletroeletrônicos básicos e do<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 261<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
pólo de Itajubá/Santa Rita do Sapucaí, a indústria de eletroeletrônicos pode ser caracterizada<br />
como relativamente atrasada, havendo, assim, indicações da necessidade e da oportunidade de<br />
esforços visando a atração de planta de alta tecnologia, especialmente de componentes eletrônicos.<br />
• A agroindustrialização restrita: o subaproveitamento da base agrícola<br />
A despeito da dimensão e da diversificação da base agropecuária mineira, bem como dos<br />
bons indicadores de produtividade em várias culturas, o processamento industrial dos produtos<br />
de origem vegetal e animal é restrito, ocupando o agronegócio mineiro uma posição apenas<br />
intermediária no cenário nacional. Uma comparação entre o peso da agroindústria mineira e<br />
brasileira demonstra essa evidente desproporcionalidade nos segmentos de carnes, de couros,<br />
de sucos e conservas, para citar alguns exemplos. Esse gap agroindustrial pode ser explicado<br />
tanto pelo número insuficiente de empresas processadoras, quanto pela pequena escala industrial<br />
de suas unidades e pela reduzida diversificação de seus produtos.<br />
O subaproveitamento da base agropecuária mineira reclama a formatação de programas<br />
de incentivo visando a criação de uma estrutura industrial dinâmica e internacionalmente<br />
competitiva.<br />
Nas cadeias de laticínios e café, uma estratégia premente é a consolidação do capital das<br />
cooperativas locais, com incentivo à realização de fusões, incorporações e associações, de modo<br />
a capacitá-las como atores relevantes no mercado nacional e, no caso da cadeia cafeeira, no<br />
mercado internacional.<br />
Na cadeia de carnes, a situação é mais complexa, devido à ausência no Estado de firmas<br />
especializadas de grande porte, sendo oportunas, ainda, medidas adicionais voltadas para a<br />
redução do mercado informal de carnes e a capacitação da indústria frigorífica para o atendimento<br />
de demandas mais sofisticadas do consumo urbano. Outra oportunidade é trabalhar a atividade<br />
dentro de arranjos produtivos locais.<br />
Assim como na cadeia de carnes, na cadeia de frutas também há espaço para a articulação<br />
de uma política regional baseada em aglomerações produtivas, sem prescindir da atração de<br />
empresas de grande porte para as proximidades dos pólos de irrigação como agentes de<br />
estruturação e coordenação dos pequenos produtores.<br />
• A cadeia química: oportunidades na biotecnologia<br />
A indústria química mineira encontra-se focalizada no atendimento da demanda<br />
agropecuária (fertilizantes, materiais veterinários, etc.). Os outros segmentos que alcançam<br />
relevância são os de perfumes e cosméticos, biotecnologia e plásticos, que devem ser objeto de<br />
políticas específicas do governo estadual.<br />
Devido ao alto conteúdo tecnológico de sua atividade, a biotecnologia é apontada como<br />
um dos mais promissores segmentos da nova fronteira industrial, representando uma grande<br />
oportunidade de negócio em Minas. Isto porque o Estado possui uma consolidada estrutura de<br />
ensino e pesquisa não apenas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas, também, em<br />
Viçosa, Lavras e Uberlândia, onde se observa a presença de centros de desenvolvimento de<br />
tecnologias aplicadas à agroindústria.<br />
262 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
• A cadeia têxtil: fragilidade do setor de confecções<br />
Formada, basicamente, pelas indústrias de fiação, tecelagem, malharia e de confecções, a<br />
cadeia têxtil ocupava lugar de destaque na formação do produto industrial mineiro. Entretanto,<br />
durante a década de 90, a indústria têxtil mineira, assim como a nacional, passou por um intenso<br />
e decisivo processo de modernização e de melhoria da produtividade e da qualidade de seus<br />
produtos. Processo esse acompanhado de uma forte retração da participação do setor no PIB, com<br />
um grande número de empresas sucumbindo à violenta concorrência dos produtos importados<br />
maciçamente nesse período.<br />
Por outro lado, o processo de concentração da produção têxtil foi fundamental para a<br />
obtenção da eficiência dos elos da base da cadeia (fábricas de fibras têxteis, fiações, tecelagens e<br />
malharias), hoje compostos, em boa parte, por sociedades anônimas. Na outra ponta, o final da<br />
cadeia é composto por um imenso número de pequenas e médias confecções, intensivas em mãode-obra<br />
e, em sua grande maioria, de capital fechado.<br />
O aspecto mais relevante desta cadeia em Minas Gerais é a pequena dimensão do segmento<br />
confeccionista, aquém do apresentado em São Paulo e, mesmo, na comparação com a média<br />
brasileira. Atividade importantíssima na geração de emprego, Minas Gerais apresenta condições<br />
de reverter esse quadro desde que atacados os problemas centrais do setor, quais sejam, o alto<br />
grau de informalidade; a ainda muito restrita valorização das atividades de design e marketing e a<br />
adoção de práticas industriais pouco competitivas.<br />
• A cadeia da construção civil: oportunidades para o estímulo à difusão tecnológica<br />
e aos programas de qualidade<br />
A cadeia da construção civil é composta pelo setor da construção e de materiais de<br />
construção, onde se destacam os produtos associados na indústria da madeira, cimento, cerâmica,<br />
vidros, siderurgia, minerais não-metálicos e químicos.<br />
Minas Gerais possui uma posição privilegiada em relação ao restante do País, especialmente<br />
no tocante à disponibilidade de insumos de produção, cujo aproveitamento pode ser<br />
substancialmente aprimorado. A cadeia da construção, no Estado, é praticamente completa, com<br />
seu elo final, o setor da construção civil, e praticamente todos os seus elos intermediários, que são<br />
os fornecedores de materiais de construção. Neste caso, uma exceção a ser destacada é a ausência<br />
de fabricantes de vidros.<br />
Tradicional no recurso à tecnologia, intensivo em mão-de-obra de baixa qualificação, os<br />
avanços obtidos no setor de construção derivam do emprego de máquinas e equipamentos mais<br />
modernos, do uso de novos materiais e da utilização de processos construtivos mais eficientes.<br />
Usualmente esse fluxo de progresso técnico é introduzido inicialmente na construção pesada para<br />
depois se difundir para a construção popular e para o setor de edificações pesadas. Nesta questão,<br />
Minas Gerais apresenta vantagens singulares, possuindo know-how em atividades de construção<br />
especializada, como a construção metálica e a partir de pré-moldados de concreto. De todo modo,<br />
os esforços devem estar dirigidos à disseminação de técnicas construtivas orientadas à elevação<br />
da produtividade e da eficiência do segmento de edificações, articulados com as políticas nacionais<br />
derivadas do Fórum da Competitividade da Indústria da Construção Civil do Ministério do<br />
Desenvolvimento, Indústria e Comércio.<br />
Dada a relevância, no parque produtivo mineiro, das indústrias de produtos de minerais<br />
não-metálicos, que integram esta cadeia, outra grande oportunidade de ganhos de escala é o<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 263<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
atendimento das normas de controle de qualidade dos materiais de construção. São várias as<br />
possibilidades de investimento no Estado, especialmente nos segmentos de artefatos de concreto,<br />
pedras decorativas (ardósia e granito), pisos de cerâmica e materiais elétricos.<br />
• A relevância das aglomerações produtivas locais para o dinamismo das regiões e<br />
para a estruturação da indústria mineira<br />
Foram identificadas, no Estado, 40 aglomerações produtivas espalhadas por diversas regiões<br />
e com diferentes dimensões econômicas, estágios de cooperação, atualização tecnológica e<br />
capacitação gerencial, atuando nos mais diversos setores de atividade.<br />
Verifica-se o predomínio de aglomerações em indústrias maduras, como a têxtil e confecções,<br />
calçados, extrativa mineral e de materiais de construção. Mas, também, foram identificadas<br />
aglomerações em atividades de maior conteúdo tecnológico, que exigem um setor de serviços<br />
mais sofisticado e diversificado, como as aglomerações de biotecnologia e material de transportes<br />
da RMBH e da indústria metal-mecânica na microrregião de Itajubá.<br />
Aqui se destaca a presença de pequenos pólos industriais espalhados pelo Estado, que,<br />
apesar de não se sobressaírem por sua expressão econômica, possuem um papel primordial na<br />
geração de renda e emprego, na diversificação do setor serviços, na elevação do grau de urbanização<br />
e de qualidade de vida da população local, com rebatimentos na redução do grau de pobreza da<br />
região. Esse é o caso dos arranjos produtivos de calçados em Nova Serrana, de móveis em Ubá e<br />
de confecções em Divinópolis, para citar alguns exemplos.<br />
O levantamento realizado permite concluir que as aglomerações locais constituem-se em<br />
elementos importantes de uma política industrial para Minas Gerais, tanto em direção a objetivos<br />
de interesse local ou regional, como em direção a objetivos relacionados ao aumento da<br />
competitividade industrial do Estado.<br />
Uma questão relevante a ser considerada é a funcionalidade da descentralização da política<br />
de desenvolvimento regional. A experiência tem demonstrado que as ações de política são mais<br />
eficazes quando coordenadas e implementadas em nível local, com uma maior aderência às<br />
necessidades das empresas e dos agentes envolvidos. O estímulo à estruturação e ao fortalecimento<br />
dos arranjos locais, com o adensamento das interações dos agentes envolvidos, pode elevar a<br />
“eficiência coletiva” dessa aglomeração, servindo com instrumento para a redução das<br />
desigualdades regionais, elevando o nível de vida e a qualidade do emprego na instância local e<br />
criando um pólo de desenvolvimento que, por sua vez, gera estímulos para a instalação de outras<br />
indústrias e serviços na mesma região.<br />
264 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
4.2. 4.2. O desafio desafio fundamental fundamental da indústria indústria mineira<br />
mineira<br />
Os estudos realizados apontaram que o desafio fundamental a ser enfrentado por Minas<br />
Gerais, para a consecução de um novo ciclo desenvolvimento industrial, é avançar no<br />
enobrecimento de sua produção, na incorporação de produtos de maior sofisticação e,<br />
principalmente, na capacitação de atividades inovadoras. Em outras palavras, trata-se de elevar a<br />
competitividade da indústria mineira, promovendo uma maior diferenciação de produtos, evoluindo<br />
da concorrência via-preço para a elevação da competitividade através de atividades de maior<br />
valor agregado e de produtos, processos e serviços diferenciados e inovadores.<br />
São tarefas complexas, para as quais políticas tradicionais de corte setorial ou esforços para<br />
a atração de uma grande empresa para o território estadual são insuficientes para resolvê-las. São<br />
questões próprias da lógica empresarial, sobre a qual o Poder Público, em sua dimensão nacional<br />
ou estadual, tem, naturalmente, ação limitada. Desse modo, se não cabe ao Estado direcionar as<br />
decisões empresariais, ele pode assumir o papel de viabilizar os meios e apoiar os agentes em um<br />
processo que se orientaria em função daqueles objetivos.<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 265<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
4.3. Referências para uma política industrial<br />
estadual<br />
Como unidade federativa inscrita numa realidade nacional, a macroeconomia de Minas é<br />
fundamentalmente a do País. E a construção de uma rota de desenvolvimento sustentável estadual<br />
deve, portanto, inserir-se num movimento maior da economia brasileira, não podendo se<br />
circunscrever exclusivamente no exame da economia mineira. Isso remete à necessidade de<br />
verificação do intrincado cenário conjuntural enfrentado pelo País e pelo mundo.<br />
• Minas, o Brasil e o mundo: efeitos da globalização sobre as relações de produção<br />
Apesar do ambiente de intensa incerteza no qual o Brasil se encontra submerso, algumas<br />
tendências mundiais podem ser enumeradas. A mais importante delas é a dinâmica das cadeias<br />
produtivas globais e o papel desempenhado pelas empresas mundiais. O processo de<br />
internacionalização da indústria foi inaugurado pelas grandes multinacionais que, atuando<br />
como global players, promoveram a reorganização de sua estrutura, concentrando na matriz as<br />
decisões de seu negócio, bem como as atividades de inteligência e de pesquisa e<br />
desenvolvimento. De modo geral, suas subsidiárias perderam autonomia decisória, tendo sido<br />
relegadas à posição de “braço mecânico”, responsáveis exclusivamente pela produção<br />
industrial.<br />
Adicionalmente, com a abertura dos mercados, as facilidades das tecnologias de<br />
informação e os avanços nas estratégias de logística, o fornecimento dos insumos de produção<br />
pode ser atendido por empresas em qualquer lugar do mundo, eliminando a dependência de<br />
fornecedores locais. Estes, por sua vez, devem atingir o preço e a qualidade vigentes no mercado<br />
internacional ou estarão fora das cadeias de fornecimento transacionais.<br />
Em vista dessa tendência, do ponto de vista do processo de transformação da economia<br />
industrial brasileira, o foco na empresa, que se configura como fator de transbordamento e impulso<br />
ao investimento industrial, apresenta-se como fundamental.<br />
Dois pontos básicos interessam à política industrial, tanto no plano nacional ou regional: o<br />
estímulo à elevação do potencial global de aprimoramento tecnológico industrial das empresas<br />
brasileiras, e mineiras, reduzindo custos e o tempo de incorporação e difusão do progresso técnico;<br />
e à ampliação quantitativa e qualitativamente do grau de sua internacionalização. Esta é, de fato,<br />
uma questão primordial, dada a participação pouco expressiva do País, em termos de qualidade e<br />
volume, no total do comércio mundial.<br />
• Premissas da realidade nacional<br />
Ainda que a mutação da realidade pareça ser uma constância no atual estágio de<br />
desenvolvimento industrial brasileiro, é possível identificar três premissas que podem alicerçar<br />
uma política de investimento industrial para Minas Gerais.<br />
1. Ênfase Exportadora. A abertura comercial, promovida desde o início da década de<br />
1990 e aprofundada durante o Plano Real, caracterizou-se por um substancial aumento das<br />
266 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
importações sem a proporcional expansão das exportações 4 . A tese por trás dessa passividade dos<br />
policy makers em relação às exportações era de que os ganhos de produtividade alcançados com a<br />
abertura e a exposição à concorrência externa deveriam ser os indutores do crescimento das vendas<br />
externas. A crise asiática (1997) e o agravamento do déficit externo impuseram a revisão dessa<br />
situação e a adoção de uma nova diretriz de política econômica nacional: o estímulo às exportações,<br />
que foi se afirmando como um dos principais eixos de política econômica do País. Atualmente,<br />
são inúmeras as medidas adotadas nesse sentido, abordando desde intrincadas questões tributárias<br />
e de financiamento às exportações, até medidas de simplificação e desburocratização, além da<br />
atenção às questões de negociação e de promoção comerciais com os países parceiros.<br />
Entretanto, as dificuldades em se elevar às exportações brasileiras ao nível necessário, para<br />
o que concorre também a retração econômica mundial, têm demonstrado que os anos de nãocomprometimento<br />
com a expansão de mercados internacionais para produtos brasileiros exigirão<br />
muito mais do que um “viés exportador” da indústria para a correção dos déficits comerciais. É<br />
imperativa a adoção de uma cultura exportadora no País, onde a conquista e a expansão de novos<br />
clientes no âmbito internacional sejam uma estratégia permanente da empresa nacional, aí incluídos<br />
os micro, pequenos e médios empreendimentos. Exportar, hoje, deve ser uma meta para toda<br />
empresa brasileira, não apenas das grandes firmas, havendo, assim, evidências de que a política<br />
industrial em nível federal continuará mobilizando todos os esforços e instrumentos nessa direção.<br />
Tais assertivas valem, naturalmente, para as empresas mineiras: mesmo configurando-se<br />
como a segunda economia exportadora do País, esse comércio é feito por um número pequeno de<br />
empresas que concentram a maior parte das vendas externas do Estado.<br />
2. Substituição de Importações. Num ambiente de severa restrição da oferta de dólares<br />
e conseqüente elevação do preço da moeda estrangeira, a substituição de componentes e<br />
equipamentos importados é sempre uma alternativa para se evitar o aumento do custo de produção<br />
de bens e serviços. A substituição de importações já está ocorrendo em alguns setores, como na<br />
indústria de máquinas agrícolas e de mecânica pesada, embora em outros setores, como na indústria<br />
química, não se identifica qualquer movimento nesse sentido. No entanto, a substituição de<br />
importações de bens de consumo — a chamada substituição “fácil” de importações — apresentase<br />
relativamente contida, pelo menos no curto prazo, restando ao País avançar num movimento<br />
estrutural de substituição de importações. De todo modo, esse é um processo realmente desafiador,<br />
que não se faz apenas com política cambial, devendo ser construído a partir do crescimento dos<br />
investimentos e, principalmente, da agregação da atividade tecnológica e inovativa. A política<br />
nacional, com certeza, deverá conferir ênfase a tal questão, cabendo aos formuladores de políticas<br />
regionais identificar oportunidades de negócios nessa direção.<br />
3. Aglomerações Produtivas Locais. Não é recente a preocupação dos formuladores e<br />
executores de políticas públicas de desenvolvimento regional e local em encontrar mecanismos e<br />
instrumentos eficazes para estimular o crescimento econômico dos municípios ou aglomerados<br />
de municípios. Entre as modernas alternativas propostas como base analítica para a formulação e<br />
a implementação de políticas públicas voltadas para dinamizar o crescimento da renda e do emprego<br />
em localidades e regiões, está a formação de clusters produtivos, particularmente onde haja arranjos<br />
produtivos com elevado grau de concentração de pequenos e médios empreendimentos<br />
especializados. 5<br />
4 As importações brasileiras cresceram 84,2% entre os anos de 1990-98, passando de 0,57% do total mundial para 1,05%,<br />
enquanto as exportações brasileiras apresentaram uma expansão muito pequena, passando de 0,89% do total mundial para<br />
0,94%.<br />
5 HADDAD, P. R. Clusters e Desenvolvimento Regional.<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 267<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
A dimensão espacial das políticas de desenvolvimento vem assumindo crescente importância<br />
com a consolidação de sistemas flexíveis de produção estruturados em nível local, com a presença<br />
de práticas cooperativas entre os agentes econômicos. A abordagem de aglomerações produtivas<br />
baseia-se nos benefícios proporcionados pela especialização produtiva setorial de firmas localizadas<br />
numa mesma região geográfica, atribuindo particular importância à existência de formas de<br />
colaboração implícitas e explícitas entre os agentes, que proporcionam o aumento da<br />
competitividade tanto da firma quanto do sistema como um todo.<br />
Assim, mesmo diante da realidade de cadeias produtivas globais, que assume a preocupação<br />
central das políticas de âmbito nacional, há espaços e a necessidade premente de que as políticas<br />
regionais de investimento industrial se ocupem do estímulo aos arranjos locais, registrando-se que<br />
vários estados vêm caminhando nessa direção e que mesmo as agências federais vêm articulando<br />
instrumentos adequados a esse propósito.<br />
268 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
4.4. 4.4. Proposições para uma nova política<br />
industrial para Minas Gerais<br />
Como discutido anteriormente, uma nova política industrial estadual deve considerar a<br />
atuação de seus diferentes atores e as circunstâncias nas quais se inserem. Essas circunstâncias<br />
ultrapassam as fronteiras de Minas Gerais e, mesmo, do Brasil, como é caso dos efeitos da formação<br />
de cadeias globais de produção, as estratégias das empresas multinacionais líderes, da política<br />
industrial adotada pela União e por outros países.<br />
4.4.1. Proposições de ordem geral<br />
• O alinhamento às políticas federais. Uma política de desenvolvimento regional deve<br />
estar em sintonia com a política nacional e dela capturar impulsos dinamizadores da<br />
atividade econômica estadual, bem como obter recursos de programas federais existentes,<br />
ou influenciar em políticas em gestação, nas quais atividades e empresas locais se<br />
enquadrem.<br />
• A provisão da infra-estrutura e da supra-estrutura. O suprimento adequado de infraestrutura<br />
se constitui em um elemento decisivo de estímulo ao crescimento econômico e<br />
de atração de novos investimentos, condição que, hoje, coloca o Estado em clara<br />
desvantagem frente a outras economias regionais, podendo-se afirmar que a recuperação<br />
da malha viária se apresenta como fator primordial para que se possa obter sucesso na<br />
consecução de um novo ciclo de investimentos produtivos. 6 Mas, no quadro atual, o<br />
diferencial está, cada vez mais, no que pode ser entendido a “supra-estrutura” necessária<br />
aos investimentos industriais, apoiada na construção de um sistema de serviços eficientes,<br />
alinhado com a utilização da tecnologia da informação e atenta às múltiplas possibilidades<br />
oferecidas por essa fronteira tecnológica. O adequado funcionamento no Estado de um<br />
sistema estadual de inovação passa, assim, a configurar-se como uma prioridade no<br />
contexto de uma nova política industrial para Minas Gerais, como também a política<br />
estadual de meio ambiente. 7<br />
• Consolidação de centros excelência tecnológica. Reiterando a importância de um<br />
sistema estadual de inovação, como diferencial importante para o Estado, ressalte-se<br />
que a existência da sinergia entre pesquisa tecnológica e base empresarial é indispensável<br />
para a obtenção de um casamento entre as possibilidades tecnológicas e as necessidades<br />
do mercado. É importante, além disso, adaptar as políticas tecnológicas às características<br />
econômicas e às potencialidades regionais do Estado. Nesse sentido, as atividades de<br />
pesquisa voltadas para aplicações para os complexos mínero-metalúrgico, metal-mecânico<br />
e agroindustrial, incluindo-se as atividades agropecuárias e de mineração, são segmentos<br />
prioritários para o investimento na expansão e densidade da inteligência envolvida em<br />
sua investigação. Em termos institucionais, cabe destacar a importância da divisão de<br />
trabalho entre os organismos federais e os estaduais, evitando a duplicação de esforços e<br />
a concorrência entre as diversas fontes de recursos.<br />
6 Ver volume III deste Estudo, em especial o capítulo dedicado aos transportes e logística.<br />
7 Ver capítulos específicos sobre esses temas no volume VII deste Estudo: “Inovação Tecnológica e Desenvolvimento” (de<br />
Eduardo da Mota Albuquerque e outros, do CEDEPLAR/UFMG) e “Meio Ambiente e Desenvolvimento” (de Paulo R. Haddad)<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 269<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
• Sistema de informações estratégicas para investimentos industriais. No âmbito da<br />
provisão de externalidades indutoras do aprofundamento dos esforços de modernização<br />
produtiva e tecnológica do Estado, um destaque é a atualização e aprimoramento dos bancos<br />
de dados existentes nas instituições públicas e privadas do Estado, visando um eficiente<br />
sistema de informações que, de fato, subsidie e alicerce a tomada de decisão de investimento<br />
por parte das empresas. Em linhas gerais, o sistema deve contemplar informações, sempre<br />
atualizadas, sobre o aparato de incentivo, benefícios e linhas de financiamento estaduais e<br />
federais, com a indicação das formas de acesso a esses instrumentos; divulgação das<br />
oportunidades de negócios nos diversos municípios mineiros; dados gerais e setoriais do Estado;<br />
principais instituições e suas atribuições; questões legais e de meio ambiente, etc. Esse sistema,<br />
utilizando-se das facilidades e ferramentas das modernas tecnologias de informação, deve ser<br />
formatado para disponibilizar de modo fácil, rápido e seguro um conjunto amplo de<br />
informações, necessárias para o processo de decisão empresarial, em qualquer lugar do mundo,<br />
tanto no que se refere a novos empreendimentos como no que se refere aos intercâmbios<br />
comerciais e ampliação de mercados das empresas mineiras.<br />
Outra iniciativa importante é a criação de um “centro de inteligência competitiva”, onde se<br />
estruturaria um esquema de acompanhamento constante dos principais segmentos industriais do<br />
Estado e da estratégia de suas empresas líderes, permitindo que o Governo atue em sintonia com<br />
as necessidades do empresariado mineiro, participando de modo pró-ativo da busca por soluções<br />
criativas para as dificuldades das empresas que envolvam questões institucionais com o Estado.<br />
• Sistema estadual de fomento. Minas Gerais conta com uma estrutura de apoio industrial<br />
sofisticada, que possui desde os elementos de incentivos e benefícios fiscais até a presença<br />
de instituições, como o <strong>BDMG</strong>, o INDI e a CDI, que prestam suporte aos empresários e<br />
se ocupam da indução e promoção de investimentos no Estado. É bastante oportuna a<br />
modernização de tal sistema, intensificando suas funções de promoção industrial e<br />
comercial e preparando-o para desempenhar novas funções exigidas pela realidade atual.<br />
Entre essas novas funções, está a de promover a internacionalização da empresa<br />
mineira, ponto fundamental do processo de desenvolvimento industrial mineiro em vista<br />
das tendências nacionais e internacionais. Apresentam-se, além disso, como fundamentais,<br />
o restabelecimento da coordenação institucional das diversas instituições que o compõem,<br />
sua articulação estratégica com o sistema nacional, com o propósito de aproveitar<br />
oportunidades e recursos, evitar duplicação de esforços e influenciar na concepção e<br />
estruturação de instrumentos, atuando e defendendo os interesses da economia mineira.<br />
Do mesmo modo, faz-se necessária a maior interação do sistema estadual com diversos<br />
agentes, coordenando agências municipais e regionais de desenvolvimento, associações de<br />
classe, empresas e outras instituições como, por exemplo, o SEBRAE, cujo envolvimento<br />
é imprescindível no caso das políticas voltadas para os arranjos produtivos locais.<br />
4.4.2. As proposições específicas<br />
A literatura econômica distingue dois grandes tipos de ações de política industriais: as<br />
ações de corte “horizontal” e as ações “verticais” ou “seletivas”.<br />
No primeiro caso, a política recai sobre as condições gerais do ambiente macroeconômico<br />
e da infra-estrutura produtiva. Destacam-se, entre elas, o estímulo à difusão ampla de inovações<br />
tecnológicas ou organizacionais e o suporte às empresas geradoras de emprego. No âmbito de<br />
políticas estaduais, esse tipo de ações é relativamente limitado e, usualmente, na maioria dos<br />
estados, vêm sendo baseadas na concessão de incentivos para os diversos setores de atividade de<br />
270 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
forma indiscriminada, apenas privilegiando as empresas de micro e pequeno porte, que se encontram<br />
mais vulneráveis a pressões competitivas, e as regiões menos desenvolvidas.<br />
Já as ações de caráter vertical estão relacionadas à definição de metas para os diferentes<br />
setores da indústria, podendo, inclusive, selecionar uma cadeia produtiva específica para sua atuação.<br />
Essas políticas envolvem a utilização dos diversos instrumentos para o estímulo de um alvo<br />
setorial em particular. No plano estadual ou regional, essas políticas exigem a definição de “setoresalvo”<br />
a serem privilegiados pela concessão de incentivos e benefícios que, a partir de seu<br />
desenvolvimento, gerariam uma série de impactos dinamizadores do sistema como um todo.<br />
Mesmo devendo atuar de forma complementar às políticas do tipo horizontal, procurando<br />
maximizar seus efeitos no território estadual, o rol de instrumentos à disposição do Governo do<br />
Estado de Minas Gerais para a promoção industrial é relativamente restrito, estando mais vinculado<br />
às políticas verticais e circunscrevendo-se a três grandes grupos de ações:<br />
• Indução e atração de projetos e investimentos do interesse do Estado.<br />
• Negociação, articulação e coordenação.<br />
• Regulação e fiscalização.<br />
No entanto, apesar de o desafio de avançar no enobrecimento da produção, na<br />
incorporação de produtos de maior sofisticação e na capacitação de atividades inovadoras ser o<br />
mesmo para todos os ramos industriais mineiros, a sua superação exige estratégias diferenciadas,<br />
dependendo da realidade de cada setor. Propõe-se, assim, uma estratégia fundamentada em duas<br />
principais linhas de ação: a primeira com ênfase no atendimento das cadeias produtivas<br />
“tradicionais” e, a segunda, orientada para os arranjos produtivos locais.<br />
A primeira atende às premissas de ênfase às exportações e de substituição de importações,<br />
ao mesmo tempo em que responde à tendência mundial de crescimento da importância das empresas<br />
líderes. Já a segunda linha de atuação está mais alinhada ao tratamento de arranjos locais, embora<br />
essas também possam responder aos estímulos às exportações e à substituição de importações das<br />
políticas nacionais, mesmo que não sejam esses os objetivos principais.<br />
A) Proposição para as cadeias produtivas: a focalização nas empresas líderes e o apoio à<br />
cadeia de fornecedores<br />
Para as cadeias produtivas mineiras integradas verticalmente, parte-se do pressuposto de<br />
que sua viabilidade só poderá ser obtida através da inserção dos agrupamentos como partícipes<br />
das cadeias nacionais e internacionais, dentro da organização global da produção. Nesse tipo de<br />
cadeia produtiva, o impulso dinâmico é originado na empresa-líder, em cada segmento específico,<br />
demandante do fornecimento de matérias-primas, insumos e serviços produtivos, que, através de<br />
efeitos de encadeamento para trás e para frente, arrastam os outros elos a montante e a jusante.<br />
Trata-se, na grande maioria, de empresas que já atuam como global players, ou que possuem condições<br />
de assumirem este papel, a partir de upgrade de sua gestão produtiva e tecnológica.<br />
Podem ser reconhecidos como exemplos relevantes, em Minas, desse tipo de agrupamento,<br />
e nos quais essa estratégia é claramente aplicável, as cadeias pertencentes ao complexo mínerometalúrgico,<br />
a cadeia automotiva (com as duas montadoras atualmente instaladas e o setor de<br />
autopeças e componentes para veículos) e as cadeias agroindustriais de beneficiamento de leite e<br />
laticínios; de abate e preparação de carnes e de frutas. Nelas identifica-se a presença de empresas<br />
líderes alinhadas com a best practice de sua indústria e, portanto, capazes de competir com suas<br />
congêneres nacionais e internacionais.<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 271<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
Os principais instrumentos para uma estratégia desse tipo são:<br />
• Indução e atração de projetos dinamizadores e inovadores, destacando-se<br />
aqueles ligados à indústria de alta tecnologia, como, por exemplo, componentes<br />
eletroeletrônicos; às indústrias de bens de capital e às indústrias de processamento<br />
de frutas de grande porte nas regiões irrigadas.<br />
• Prospecção e promoção comercial, em outras regiões e países, com o objetivo de<br />
consolidar os fatores de competitividade que possibilitam a expansão das empresaslíderes,<br />
incluindo a elevação do grau de internacionalização dessas empresas. Um<br />
bom exemplo de como o Estado de Minas Gerais pode trabalhar adequadamente<br />
essa ação é utilizando-se do know-how do INDI e de outras instituições, como SEBRAE-<br />
MG e a FIEMG, na contínua organização de missões empresariais, com o objetivo<br />
de intensificar a divulgação das nossas potencialidades e atrair missões de empresários<br />
para visitas de prospeção de negócios no Estado, visando ampliar as vendas de<br />
empresas mineiras. A gestão eficaz das negociações internacionais é outro ponto que<br />
merece destaque, sendo fundamental para a política industrial. É imperativo que<br />
Minas Gerais trabalhe em sintonia com o Itamaraty, participando das negociações<br />
brasileiras no exterior e defendendo os interesses mineiros, e com outras iniciativas,<br />
como o Investe Brasil. É possível ainda, em alguns casos, fundamentar estratégias<br />
de negociações próprias do Estado no âmbito do comércio de bens, serviços e<br />
tecnologias. De fato, a competência em negociações é um fator marcadamente<br />
importante no acesso a novas fatias dos mercados consumidores de produtos mineiros,<br />
através de um trabalho de eliminação de eventuais salvaguardas e entraves a<br />
exportações oriundas de Minas.<br />
Para a cadeia de fornecedores da líder, continua relevante a utilização dos instrumentos<br />
clássicos de apoio ao fomento industrial, incluindo a inserção adequada junto aos programas do<br />
Governo Federal, além dos mecanismos de regulação e fiscalização. Nesta esfera devem ser tratadas,<br />
ainda, as políticas voltadas para as micro e pequenas empresas, aproveitando-se oportunidades de<br />
negócios na rede de fornecedores de produtos e serviços das empresas líderes.<br />
B) Proposições para as aglomerações produtivas locais: viabilizar as condições essenciais<br />
para a modernização<br />
Conforme assinalado, as políticas de fomento industrial baseadas em aglomerações produtivas<br />
locais apresentam enorme potencial para a dinamização da atividade econômica, colocando-se<br />
como um acréscimo fundamental às políticas focadas em cadeias produtivas. Nesta abordagem, o<br />
padrão centralizado de formulação e operação de políticas públicas orientadas dentro de uma<br />
ordenação setorial é substituído por um padrão descentralizado, caracterizado pela horizontalidade<br />
e pelo enfoque territorial.<br />
Essa estratégia tem se mostrado, em diversas partes do mundo, bem-sucedida na conciliação<br />
de crescimento econômico e um melhor perfil distributivo da renda, onde a sinergia existente<br />
entre diversos atores locais tem possibilitado o aparecimento de alternativas de inovação, a partir<br />
do aproveitamento de condições locais e de vantagens comparativas dinâmicas, decorrentes de<br />
sua capacitação.<br />
As aglomerações identificadas no capítulo específico deste volume foram abordadas através<br />
de diversos indicadores, que mensuram a sua dinâmica econômica regional, o seu desempenho<br />
social e desenvolvimento urbano existente na localidade. O principal objetivo das políticas públicas<br />
272 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
orientadas territorialmente é viabilizar as condições essenciais para a modernização da aglomeração<br />
produtiva, com a consolidação das vantagens competitivas locais e a ampliação da ação coletiva<br />
dos agentes privados.<br />
Nesse sentido, algumas medidas são sugeridas como ponto de partida para a formulação de<br />
uma estratégia de ação local. Entre essas, se destacam:<br />
• Ações de natureza horizontal nas áreas da educação e treinamento, infra-estrutura e<br />
defesa da concorrência. Sublinha-se a importância da dotação de políticas capacitantes e<br />
de difusão de inovações para a modernização do tecido industrial, que se ocupem do<br />
suprimento de capital de risco e de apoio à pesquisa para o surgimento de externalidades<br />
que apóiem o desenvolvimento das aglomerações. Exemplos relevantes são: montagem<br />
de centros de prestação de serviços na esfera local; suporte à qualificação de recursos<br />
humanos, através da montagem de instituições dedicadas ao treinamento e formação<br />
dos trabalhadores; apoio à adoção de estratégias mercadológicas mais agressivas, entre<br />
outras.<br />
• Apoio e coordenação da interação entre as empresas, como o estímulo à cooperação<br />
através de consórcios locais/ industriais e parcerias entre o setor público e o privado.<br />
• Constituição de fóruns locais de ação e escolhas estratégicas, que podem exercer múltiplas<br />
funções e cujo papel primordial é o de manter o comprometimento dos agentes e da<br />
sociedade local com a trajetória desenhada para a aglomeração.<br />
Apesar das questões acima alinhavadas servirem como um ponto de partida para a discussão<br />
da forma de atuação do Estado em arranjos locais, há que se destacar que a grande característica<br />
dessas aglomerações é a sua individualidade. Desse modo, não há uma única política a ser aplicada<br />
em todas as aglomerações existentes, devendo-se captar as peculiaridades e a trajetória de cada<br />
aglomeração.<br />
A tendência à concentração de agentes e indústrias em aglomerações produtivas faz com<br />
que as medidas de política se tornem mais eficazes quando coordenadas e implementadas em<br />
nível local, o que significa um maior descentralização dos instrumentos de suporte tecnológico e<br />
mercadológico para as esferas locais, onde é possível identificar com maior precisão as necessidades<br />
das empresas, aumentando a eficácia das ações adotadas.<br />
É oportuno que o Estado eleja algumas aglomerações prioritárias para o estabelecimento<br />
de “projetos-piloto” que estabeleçam as melhores práticas a serem adotadas. A idéia é capacitar<br />
equipes multidisciplinares de consultores que, sediados na aglomeração produtiva em foco,<br />
construam juntamente com os atores privados locais uma estratégia e um plano de negócios<br />
viável àquela realidade. A descentralização da formulação e da implementação de políticas<br />
públicas voltadas para o apoio de aglomerações produtivas locais é essencial para o seu sucesso.<br />
É um trabalho minucioso, de construção coletiva, processo fundamental para o surgimento do<br />
sentimento de confiança necessário para o pleno desenvolvimento das relações de cooperação<br />
tão importantes para o desenvolvimento econômico e social da aglomeração.<br />
Uma alternativa de ação, visando especialmente aglomerações produtivas em fases iniciais<br />
de consolidação, é o que se poderia chamar de “extensionismo industrial”, tomando emprestado<br />
um conceito usualmente aplicado à agricultura. Nesse sentido, uma referência a ser reavaliada<br />
é a experiência das “Jornadas de Desenvolvimento”, empreendidas pelo <strong>BDMG</strong> nos 70, sem<br />
prescindir-se da articulação com instituições como o SEBRAE, que já vêm se dedicando a essa<br />
atividade.<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 273<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
C) Políticas para a Região Metropolitana de Belo Horizonte: sua consolidação como pólo<br />
urbano estruturante do setor industrial mineiro<br />
Finalmente destaca-se a importância da valorização da Região Metropolitana de Belo<br />
Horizonte, do desenvolvimento de medidas que aprofundem a sofisticação e a diversificação do<br />
setor serviços produtivos modernos na RMBH, de forma a ampliar os ganhos de economias externas<br />
de urbanização para o conjunto das atividades econômicas do Estado, fundamentais que são ao<br />
processo de industrialização.<br />
Um aspecto primordial é a adoção de políticas destinadas à ciência e tecnologia, à ampliação<br />
da escala dos serviços de apoio tecnológico e da chamada infra-estrutura de negócios, que<br />
possibilitem a consolidação da capital como pólo urbano estruturante do espaço regional.<br />
Nesse sentido, destacam-se algumas iniciativas relevantes para a consolidação da rede de<br />
serviços industriais da RMBH, como a criação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, a<br />
divulgação mais eficaz do pólo de gestão empresarial existente em Minas 8 e a divulgação das<br />
oportunidades de negócio existentes no projeto de transformação do Aeroporto Tancredo Neves<br />
em aeroporto industrial, já havendo, a propósito, a legislação federal aplicável.<br />
8 Minas Gerais conta com um pólo de gestão empresarial reconhecido no País, que congrega várias instituições de excelência como<br />
a Fundação Dom Cabral, a UFMG e a PUC, com seus respectivos centros de treinamento e extensão.<br />
274 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
4.5. Referências Referências bibliográficas<br />
AUDRETSCH, D. B. Agglomeration and location of innovative activity. Oxford Review of<br />
Economic Policy, v.14, n.2, Summer, 1998.<br />
CANO, Wilson. Questão regional e política econômica nacional. In: SEMINÁRIO<br />
DESENVOLVIMENTO EM DEBATE, 2002, 2º Ciclo: Painéis sobre o Desenvolvimento Brasileiro... Rio de<br />
Janeiro: BNDES, 2002. [mimeo].<br />
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Competitividade e Crescimento: a<br />
agenda da indústria. Brasília: CNI, 1998<br />
DINIZ, Clélio Campolina. Repensando a questão regional brasileira: tendências, desafios e<br />
caminhos. In: SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO EM DEBATE, 2002, 2º Ciclo: Painéis sobre o<br />
Desenvolvimento Brasileiro... Rio de Janeiro: BNDES, 2002. [mimeo].<br />
IEMI. Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira, v.2, n.2, São Paulo, Jul. 2002.<br />
FLEURY, Afonso & FLEURY, Maria Tereza. Abrindo as caixas pretas de uma política<br />
industrial. Jornal Valor Econômico, p. A10, 18,19 e 20/10/02.<br />
GONÇALVES, Robson R. A Política Industrial em uma Perspectiva de Longo Prazo. IPEA,<br />
Textos para a Discussão nº 590, Rio de Janeiro set/1990.<br />
SEBRAE. Pequenos negócios e desenvolvimento: propostas de políticas públicas para a<br />
redução da desigualdade e geração de riquezas. Rio de Janeiro, Ago. 2002. Disponível<br />
em: Acesso em: 24 out. 2002.<br />
SUZIGAN, Wilson. Aglomerações industriais: avaliação e sugestão de políticas. In: O futuro<br />
da indústria: oportunidades e desafios: a reflexão da universidade. Brasília: MDIC/STI, 2001.<br />
p. 49-67.<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 275<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI<br />
Patronos<br />
Frederico Penido de Alvarenga - Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN<br />
José Augusto Trópia Reis - Secretário de Estado da Fazenda - SEF<br />
Mauro Santos Ferreira - Secretário de Estado de Recursos Humanos de Administração - SERHA<br />
Murilo Paulino Badaró - Presidente do Banco de Desenvolvimento S.A. - <strong>BDMG</strong><br />
Consultor Especial<br />
João Camilo Penna<br />
Consultores Orientadores<br />
Antônio Barros de Castro<br />
Caio Márcio Marini<br />
Clélio Campolina Diniz<br />
João Carlos Ferraz<br />
Luis Aureliano Gama de Andrade<br />
Paulo Roberto Haddad<br />
Consultores Internos do <strong>BDMG</strong><br />
Camilo Cândido de Araújo Júnior<br />
Fernando Lage de Melo<br />
Francisco José de Oliveira<br />
Iran Almeida Pordeus<br />
Ismael Fernando Poli Villas Boas<br />
José Lana Raposo<br />
Júlio Onofre Mendes de Oliveira<br />
Mário José Ferreira<br />
Ofir de Vilhena Gazzi<br />
Paulo Roberto Petrocchi Ribas Costa<br />
Colaboradores como Relatores nos<br />
Workshops e Seminário de Integração<br />
Alexandre José Pinheiro Neto<br />
Alfio Conti<br />
Antônio Carvalho Neto<br />
Antônio Barros de Castro<br />
Caio Márcio Marini<br />
Camilo Cândido de Araújo Júnior<br />
Cândido Luís de Lima Fernandes<br />
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira<br />
Carlos Aníbal Nogueira Costa<br />
Carlos Aurélio Pimenta<br />
Carlos Fernando da S. Viana<br />
Carlos Maurício Ferreira<br />
Cézar Manoel de Medeiros<br />
Clélio Campolina Diniz<br />
Coronel Severo Augusto<br />
Débora Vainer Barenboim<br />
Deputado Rafael Guerra<br />
Dilma Seli Pena Pereira<br />
276 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro
Evando Mirra de Paula e Silva<br />
Fabiana Borges Teixeira Santos<br />
Fábio Wanderley Reis<br />
Fabrício Augusto de Oliveira<br />
Fernando Kelles<br />
Fernando Martins Prates<br />
Francisco Gaetani<br />
Gelmara Gonçalves de Paula Kraft<br />
Gilberto Morais Pimenta<br />
Gleison Pereira de Souza<br />
Heloísa Helena Fernandes<br />
Heloísa Regina Guimarães de Meneses<br />
Iran Almeida Pordeus<br />
Ivan Moura Campos<br />
Jacques Schwartzman<br />
João Camilo Penna<br />
José Cláudio Linhares Pires<br />
Juliana Rodrigues de Paula Chiari<br />
Juvenil Tibúrcio Félix<br />
Luiz Afonso Vaz Oliveira<br />
Márcio Damázio Trindade<br />
Márcio Favilla Lucca de Paula<br />
Maria de Fátima Chagas Dias Coelho<br />
Maria Eliana Novaes<br />
Maria Luisa Leal<br />
Marieta C. A. Vitorino<br />
Maurício Borges Lemos<br />
Mauro Borges Lemos<br />
Nelson Santos Siffert Filho<br />
Nuno Monteiro Casassanta<br />
Paulo de Tarso Resende<br />
Paulo Roberto Haddad<br />
Paulo Roberto Rocha Brant<br />
Ralfo Edmundo da Silva de Matos<br />
Renata Maria Paes de Vilhena<br />
Roberto Messias Franco<br />
Robson Napier Borchio<br />
Rodrigo Ferreira Simões<br />
Ronaldo Lamounier Locatelli<br />
Saulo Marques Cerqueira<br />
Teodoro Alves Lamounier<br />
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – <strong>BDMG</strong>, agradece a todos aqueles que, de forma direta<br />
e indireta, contribuíram para o enriquecimento da obra “Minas Gerais do Século XXI”, através de suas participações<br />
em Workshops e no Seminário de Integração.<br />
Agradece ainda, a todas as Instituições públicas e privadas, que auxiliaram na construção dos diversos volumes<br />
que compõem este Estudo.<br />
Capítulo 4 - Considerações para uma política industrial 277<br />
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos
<strong>BDMG</strong><br />
40 anos<br />
278 Minas Gerais do Século XXI - Volume VI - Integrando a Indústria para o Futuro