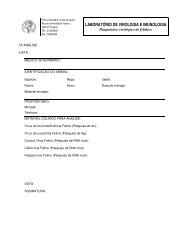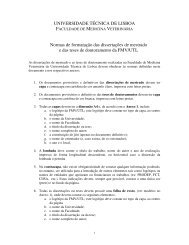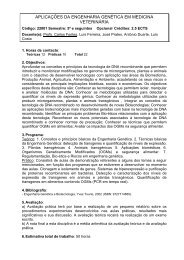A amiloodiniose (“marine velvet disease”, “coral fish disease”) é ...
A amiloodiniose (“marine velvet disease”, “coral fish disease”) é ...
A amiloodiniose (“marine velvet disease”, “coral fish disease”) é ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Departamento de Aquicultura, Instituto de Investigação das Pescas e do Mar<br />
Avenida de Brasília, 1449-006 Lisboa, PORTUGAL<br />
O presente trabalho assinala a primeira ocorrência<br />
de <strong>amiloodiniose</strong> em pregado, Psetta maxima (L). Descrevem-se<br />
as alterações comportamentais observadas, bem<br />
como o quadro sintomatológico associado à parasitose. O diagnóstico<br />
foi estabelecido com base em esfregaços a fresco,<br />
biópsias das brânquias e pele e no exame histológico das<br />
brânquias, o que permitiu identificar os trofontes e observar<br />
as alterações histopatológicas do epit<strong>é</strong>lio branquial. Foram<br />
implementadas terapêuticas utilizando o sulfato de cobre e o<br />
peróxido de hidrog<strong>é</strong>nio numa tentativa de controlar a infestação.<br />
Doença parasitária, Amyloodinium ocella -<br />
tum, Psetta maxima.<br />
This is the first report of amyloodiniosis in Psetta<br />
m a x i m a (L.). Behavioural changes are described as well as<br />
the clinical signs caused by the parasite. Definite diagnosis<br />
was made by the identification of trophonts in wet mounts of<br />
skin and gills and histopathological section of gills with parasite.<br />
Copper sulphate and hydrogene peroxid were used as<br />
treatments to control the parasitosis.<br />
Parasitic disease, Amyloodinium ocellatum,<br />
Psetta maxima.<br />
A <strong>amiloodiniose</strong> (<strong>“marine</strong> <strong>velvet</strong> <strong>disease”</strong>, <strong>“coral</strong><br />
<strong>fish</strong> <strong>disease”</strong>) <strong>é</strong> uma doença parasitária cujo agente<br />
etiológico <strong>é</strong> o dinoflagelado<br />
De distribuição cosmopolita (Lom e Dyková,<br />
1992), este dinoflagelado termofílico e eurialino foi<br />
encontrado em inúmeras esp<strong>é</strong>cies de peixes selvagens<br />
estuarinas e marinhas (Sinderman, 1990;<br />
Southgate, 1993), sendo um dos poucos parasitas<br />
que pode infestar quer os elasmobrânquios (tubarões<br />
e raias) quer os teleósteos (Lawler, 1980). Em estabulação,<br />
a sua proliferação pode originar elevada<br />
mortalidade (Needham e Wootten, 1978). As áreas<br />
atingidas incluem o Mediterrâneo, Mar Ve r m e l h o ,<br />
Golfo do M<strong>é</strong>xico, etc. (Southgate, 1993). As principais<br />
esp<strong>é</strong>cies comerciais de maricultura mais atingidas,<br />
são o robalo em Israel (Paperna, 1980) e Itália<br />
(Ghittino , 1980; Christofilogiannis, 1993) e a<br />
dourada em França (Paperna e Baudin Laurencin,<br />
1979), Israel (Paperna e Baudin Laurencin, 1979;<br />
Paperna, 1980), Itália (Barbaro e Francescon, 1985)<br />
e Jugoslávia (Paperna, 1983). Em Portugal a <strong>amiloodiniose</strong><br />
foi observada em robalo na Lagoa de Óbidos<br />
e Estuário do Sado (Menezes, 2000) e na mesma<br />
esp<strong>é</strong>cie e em dourada em piscicultura (Menezes,<br />
1994).<br />
O <strong>é</strong> um parasita que atinge<br />
principalmente as brânquias (Brown, 1934;<br />
Brown e Hovasse, 1946; Sinderman, 1990; Noga,<br />
1996) e tamb<strong>é</strong>m a pele (Lom e Dyková, 1992). A<br />
ocorrência de epizootias deste dinoflagelado em<br />
aquário tem servido de base ao estudo morfológico<br />
do parasita, do seu ciclo biológico (Brown, 1934;<br />
Brown e Hovasse 1946), a estudos ultra-estruturais<br />
das c<strong>é</strong>lulas branquiais infestadas e ao maior conhecimento<br />
sobre o efeito patog<strong>é</strong>nico do parasita (Lom e<br />
Lawler, 1973 cit. Eiras, 1994). Paperna (1980) sumariou<br />
toda a informação sobre a biologia e patogenicidade<br />
do e recentemente<br />
estudou-se a resposta imunitária e a resistência<br />
adquirida à reinfestação em peixes que sobreviveram<br />
à infestação parasitária inicial, usando o m<strong>é</strong>todo de<br />
E L I S A (enzyme-linked immunosorbent assay)<br />
(Smith ., 1994; Cecchini , 2001). A resistência<br />
à infestação pelo e n v o l v e<br />
as imunidades inata e adquirida (Dickerson e Clark,<br />
1996; Woo, 1996). Lawler (1980) e Paperna (1980)<br />
referiram que algumas esp<strong>é</strong>cies de peixes adquirem<br />
imunidade ao mediada por<br />
anticorpos específicos após uma exposição sub-letal<br />
a este parasita. É o caso da tilápia (O re o c h ro m i s<br />
aureus) (Smith ., 1994), do “tomato clown <strong>fish</strong>”<br />
(Amphiprion fre n a t u s) (Cobb ., 1998), do<br />
“hybrid striped bass” (M o rone saxatilis X M.<br />
c h ry s o p s) (Smith ., 1994) e do robalo (D i c e n -<br />
trarchus labrax) (Cecchini , 2001).<br />
Num ensaio laboratorial de crescimento, os pregados<br />
encontravam-se divididos em 4 lotes (A, B, C, e<br />
D), cada um com 9 indivíduos (peso m<strong>é</strong>dio 27 g)<br />
mantidos em pequenos circuitos fechados, com recirculação,<br />
constituídos por um tanque de fibra de<br />
vidro com aproximadamente 70 litros de água e um<br />
filtro biológico. Em três deles (A, B, e C) a água era<br />
201
Ramos, P. e Oliveira, J. M.<br />
aquecida por uma resistência, sendo as temperaturas<br />
de 27, 25 e 23 ± 1 ºC respectivamente. No tanque D<br />
a água estava à temperatura ambiente (20-22 ºC). A<br />
salinidade era de 34 ± 1 ‰ em todos os tanques.<br />
A presença de foi inicialmente<br />
revelada pela observação ao microscópio óptico<br />
de trofontes nas brânquias de um pregado que<br />
tinha morrido no tanque A, 17 dias após a introdução.<br />
Para o estabelecimento do diagnóstico definitivo,<br />
realizaram-se esfregaços a fresco e biópsias das<br />
brânquias e pele, bem como o exame histopatológico<br />
das brânquias. As brânquias foram fixadas em formol<br />
salgado neutro a 10 %, processadas rotineiramente<br />
e incluídas em parafina. Realizaram-se cortes<br />
com 5 µm e colorações com hematoxilina e eosina<br />
(H&E).<br />
Após a morte do último indivíduo dos tanques<br />
aquecidos (no dia 28 após a introdução e pertencente<br />
ao lote C), foi efectuado um pequeno ensaio terapêutico<br />
na tentativa de controlo do parasita com os pregados<br />
do lote D, os quais se encontravam<br />
parasitados. Dividiram-se em três grupos de três indivíduos.<br />
O grupo 1 serviu de testemunha não lhe<br />
sendo aplicado qualquer tratamento, o grupo 2 foi<br />
sujeito a um banho de sulfato de cobre (0.1 ppm) durante<br />
10 dias e ao grupo 3 foi aplicado um banho de<br />
peróxido de hidrog<strong>é</strong>nio (100 ppm) durante 30 minutos,<br />
com repetição 5 dias depois. Relativamente ao<br />
lote tratado com sulfato de cobre, uma vez que o ião<br />
cobre <strong>é</strong> muito tóxico e dada a dificuldade em manter<br />
a sua concentração na solução, optou-se por renovar<br />
diariamente o banho de tratamento.<br />
Os primeiros sinais observados revelaram alterações<br />
no comportamento, nomeadamente respiração<br />
rápida e superficial, aglomeração dos peixes junto<br />
dos arejadores, no fundo dos tanques, movimentos<br />
natatórios erráticos em torno das paredes do tanque e<br />
perda progressiva do apetite.<br />
Inicialmente, os sintomas eram subtis mas, com a<br />
evolução do processo, observaram-se alterações da<br />
pigmentação da pele tais como o aparecimento de<br />
manchas de despigmentação/hiperpigmentação (Fig.<br />
1), congestão e erosão das barbatanas, hipersecrecção<br />
mucosa cutânea e dilatação do ventre, culminando<br />
com a morte dos indivíduos.<br />
Verificou-se a existência de associação entre o<br />
agravamento da sintomatologia e a temperatura da<br />
água dos tanques, com evolução da infestação mais<br />
rápida e mortalidade precoce nos tanques de temperatura<br />
mais elevada.<br />
O exame ao microscópio óptico das preparações a<br />
fresco de esfregaços da pele e brânquias permitiu<br />
observar hipersecrecção de muco, congestão do epit<strong>é</strong>lio<br />
branquial e identificar morfologicamente as<br />
formas parasitárias que constituem o ciclo de vida<br />
do (Fig. 2).<br />
Observou-se a presença de trofontes, inicialmente<br />
nas brânquias (Fig. 3) e posteriormente na pele dos<br />
pregados. De forma arredondada (quando presos ao<br />
202<br />
Pregados infestados por<br />
epit<strong>é</strong>lio branquial) ou ligeiramente oval, estas c<strong>é</strong>lulas<br />
únicas, que são imóveis por não disporem de flagelos,<br />
encontravam-se envolvidas numa membrana<br />
densa, exibiam um grande núcleo esf<strong>é</strong>rico rodeado<br />
por grânulos refringentes e possuíam, no seu pólo<br />
m e n o r, um disco de fixação. Este, com um pedúnculo<br />
bastante curto irradiando projecções filiformes, os rizóides,<br />
evidenciavam uma formação semelhante a<br />
um tentáculo móvel, o estomatópode (Fig. 2-A). Foram<br />
observados quistos de forma arredondada ou<br />
oval (Fig. 2-B) e em diversas fases de multiplicação:<br />
bipartição (Fig. 2-C), tetrapartição (Fig. 2-D) e multiplicações<br />
sucessivas (Fig. 2-E). Posteriormente a<br />
parede do quisto rompeu-se e foram libertadas as c<strong>é</strong>lulas<br />
filhas (dinosporos), flageladas (Fig. 2-F), móveis<br />
e menores que a c<strong>é</strong>lula mãe.<br />
O exame histopatológico permitiu observar hiperplasia<br />
do epit<strong>é</strong>lio branquial com fusão das lamelas<br />
branquiais acompanhadas de edema, levando ao destacamento<br />
das c<strong>é</strong>lulas de suporte das brânquias (Fig.<br />
4). Observaram-se ainda alterações degenerativas,<br />
necrose das c<strong>é</strong>lulas do epit<strong>é</strong>lio branquial e depleção<br />
das c<strong>é</strong>lulas mucosas.<br />
No presente estudo verificou-se, que o lote testemunha<br />
morreu na totalidade após 48 horas, enquanto<br />
que os pregados tratados sobreviveram. Nos esfregaços<br />
efectuados após os tratamentos não foram encontrados<br />
parasitas.<br />
As formas observadas em exame a fresco e cortes<br />
histológicos, apresentam as características do<br />
descritas por Brown (1934),<br />
Brown e Hovasse (1946), Kudo (1960), Lom e<br />
Dyková (1992), Cheung (1993) e Eiras (1994) que<br />
constituem o ciclo de vida trifásico do<br />
( A m l a c h e r, 1970; Cobb , 1998):<br />
fase parasitária (trofontes), fase de divisão ou multiplicação<br />
(quistos) e fase infestante (dinosporos),<br />
idêntico ao ciclo de vida do ciliado<br />
(Noga, 1996).<br />
A presença de trofontes na pele e brânquias foi<br />
tamb<strong>é</strong>m observada por Paperna (1980) na dourada,<br />
contrariamente às observações de Noga . (1991)
Ramos, P. e Oliveira, J. M.<br />
E<br />
D<br />
F<br />
Ciclo de vida trifásico do em .<br />
Trofonte - fase parasitária (A). (aprox. X 150)<br />
Tomonte - fase de divisão ou de multiplicação (B; C e D aprox. X 150) e (E)<br />
Dinosporo - fase infestante (F). (aprox. X 750)<br />
Brânquia infestada por trofontes de<br />
(aprox., X 40).<br />
C<br />
Corte histológico de uma brânquia de<br />
infestada por Tronfonte entre as<br />
lamemas branquias. e Edema epitelial. (aprox. x100; H&E)<br />
B<br />
A<br />
203
Ramos, P. e Oliveira, J. M.<br />
em “hybrid striped bass” infestado com este parasita.<br />
Paperna e Laurencin (1979) referem que as infestações<br />
da pele são raramente observadas, mesmo em<br />
tanques maciçamente infestados, com excepção das<br />
larvas de robalo e de dourada em que a pele <strong>é</strong> o local<br />
preferido de fixação do parasita (Paperna, 1980). Por<br />
sua vez, Montgomery . (1999) referem as brânquias<br />
como sendo o local de infestação primária no<br />
Cheung . (1981) registaram<br />
a presença de trofontes em locais pouco usuais<br />
como sejam a submucosa, músculo e tecido conjuntivo<br />
da faringe e rim anterior do<br />
(L.).<br />
Dispondo de condições ambientais favoráveis<br />
como temperatura elevada e constante (Brown,<br />
1934; Eiras, 1994) e luminosidade intensa que parecem<br />
ser os factores que mais influenciam a reprodução<br />
(Eiras, 1994), o ciclo evolutivo <strong>é</strong> normalmente<br />
completado no substrato do fundo do tanque ou no<br />
próprio peixe (Sinderman, 1990), como observado<br />
no presente caso em que a hipersecrecção de muco<br />
reteve as formas de multiplicação.<br />
As imagens histopatológicas observadas por<br />
Paperna (1980) em robalo e dourada foram igualmente<br />
observadas no pregado.<br />
Uma vez feito o diagnóstico, <strong>é</strong> essencial uma<br />
intervenção rápida na implementação de um tratamento<br />
eficaz contra o e seguro<br />
para o peixe, de forma a prevenir uma perda<br />
rápida do “stock”. Embora a forma livre (dinosporo)<br />
seja susceptível à quimioterapia, a forma vegetativa<br />
(trofonte) e os estadios de esporulação (tomonte) são<br />
resistentes, o que torna a erradicação difícil (Lawler,<br />
1980; Paperna, 1983), quer por exigir tratamentos<br />
prolongados de modo a permitir que todos os trofontes<br />
e tomontes formem dinosporos (Noga, 1996),<br />
quer por exigir o controlo periódico de reinfestação<br />
e ainda, pela limitação da sua aplicação quando o<br />
peixe se destina ao consumo humano (Anónimo,<br />
1988). Se a estes factores acrescentarmos a elevada<br />
taxa de multiplicação do parasita, um ciclo de vida<br />
curto (Paperna , 1981), uma grande tolerância às<br />
variações ambientais (Schwarz e Smith, 1998) e o<br />
facto das infestações serem assincrónicas (Noga,<br />
1987), o <strong>é</strong> o protozoário<br />
ectoparasita mais patog<strong>é</strong>nico e difícil de controlar,<br />
constituindo uma s<strong>é</strong>ria preocupação para os piscicultores<br />
(Eiras, 1994).<br />
Schwarz e Smith (1998) referem m<strong>é</strong>todos de controlo<br />
da <strong>amiloodiniose</strong> de natureza física e de natureza<br />
química. Os primeiros, atrav<strong>é</strong>s da renovação e<br />
filtração da água, lavagem e desinfecção dos circuitos,<br />
visam minimizar o grau de infestação do Amylo -<br />
odinium ocellatum, removendo fisicamente os<br />
tomontes enquistados antes da libertação dos dinosporos<br />
e evitam a reinfestação (Paperna ., 1981).<br />
Há referências ao uso de banhos em água doce durante<br />
alguns minutos para desalojar os trofontes antes<br />
de implementar qualquer tratamento (Kabata,<br />
1985; Bruno ., 1997), embora seja “stressante”<br />
para o peixe (Montgomery ., 1999). Uma vez libertados,<br />
os dinosporos podem ser mortos com radiações<br />
ultra-violetas (Lawler, 1977 cit. Noga, 1996).<br />
204<br />
A diminuição da temperatura da água do tanque<br />
(Brown, 1934; Anónimo, 1988; Noga, 1996) e a redução<br />
da iluminação (Kabata, 1985; A n ó n i m o ,<br />
1988) podem ser utilizadas para atrasar o ciclo de<br />
vida do parasita e assim prolongar a vida do peixe.<br />
De realçar que, embora as infestações não surjam a<br />
menos de 17 °C (A. Colorni cit. Noga, 1996), uma<br />
vez que os tomontes páram de se dividir a baixas<br />
temperaturas, podem vir ser produzidos dinosporos<br />
quando colocados a 25 °C, mesmo após quatro meses<br />
a 15 °C (C.E. Bower cit. Noga, 1996). Os dinosporos<br />
permanecem infestantes durante pelo menos<br />
seis dias a 26 °C (Bower, 1987 cit. Noga, 1996).<br />
Embora haja pouca resposta aos tratamentos químicos,<br />
o uso do sulfato de cobre tem revelado alguma<br />
eficácia no tratamento do A m y l o o d i n i u m<br />
o c e l l a t u m ( A m l a c h e r, 1970; Ghittino , 1980;<br />
Barbaro e Francescon, 1985; Noga , 1991;<br />
Southgate, 1993; Scott, 1993; Reed e Floyd, 1994;<br />
Montgomery ., 1999; Cecchini ., 2001),<br />
sendo mesmo usado como profiláctico (Ghitino<br />
., 1980). Por<strong>é</strong>m, o sulfato de cobre tem um efeito<br />
altamente adstringente no epit<strong>é</strong>lio branquial e tóxico<br />
para o fígado (Scott, 1993). Outros produtos têm<br />
sido ensaiados: azul de metileno (Kabata, 1985;<br />
Anónimo, 1988), formalina (Paperna, 1983), acriflavina<br />
(Amlacher, 1970; Kabata, 1985) e peróxido de<br />
hidrog<strong>é</strong>nio (Montgomery ., 1999). Este último<br />
foi usado com sucesso no tratamento do Mugil ce -<br />
p h a l u s (Montgomery-Brock, 2000) e no P o l y d a c t i -<br />
lus sexfilis (Montgomery ., 1999).<br />
Embora não haja medidas de controlo específicas<br />
para esta situação, algumas regras de maneio de<br />
carácter geral, podem ser úteis no controlo das vias<br />
de infestação diminuindo, mas não eliminando, o<br />
risco de introdução do parasita: a quarentena e a<br />
vigilância do peixe que entra na piscicultura (Amlacher,<br />
1970), com uma duração de 14 (Kabata, 1985)<br />
a 20 dias (Noga, 1996); o controlo da qualidade da<br />
água que entra na piscicultura (Kabata, 1985).<br />
Os tratamentos implementados revelaram-se aparentemente<br />
eficazes sendo no entanto de ressalvar<br />
que os resultados obtidos deverão ser tomados apenas<br />
como indicadores, em virtude do reduzido<br />
número de exemplares utilizados.<br />
Este estudo tendo decorrido em condições experimentais<br />
particulares em que as temperaturas favoreceram<br />
o ciclo de vida do parasita, a infestação embora<br />
com um carácter acidental revestiu-se da maior importância,<br />
pois trata-se da primeira referência numa<br />
esp<strong>é</strong>cie relativamente importante em piscicultura.<br />
Esta esp<strong>é</strong>cie <strong>é</strong> neste momento objecto de estudos que<br />
visam a implementação da sua cultura em Portugal,<br />
em tanques de terra, no âmbito da diversificação e<br />
incremento da produtividade neste tipo de sistema.<br />
Os autores agradecem ao Dr. Jaime Menezes a revisão<br />
do texto e a Augusta Moledo, Constança Pasadas,<br />
Luís Belo e Rui Silva pela colaboração prestada<br />
na execução do trabalho.
Ramos, P. e Oliveira, J. M.<br />
AMLACHER, E., 1970. Diseases Caused by Dinoflagellates.<br />
In: Textbook of Fish Diseases. Translated by Conroy & Herman.<br />
TFH Publications, Inc., New Jersey, U.S.A., 157-162.<br />
ANÓNIMO, 1988. Parte IV. Animales de piel, de laboratorio e<br />
de zoologia. Enfermedades de los peces. In: El Manual Merck De<br />
Veterinaria. Tercera Edition. Merck & Co., Inc. Centrum, Madrid,<br />
España, 1063-1078.<br />
BARBARO, A. & FRANCESCON, A., 1985. Parassitosi da<br />
Amyloodinium ocellatum (Dinophyceae) su larve di Sparus aura -<br />
ta allevate in un impianto di riproduzione artificiale. Oebalia, XI-<br />
2, N.S., 745-752.<br />
BROWN, E. M., 1934. On Oodinium ocellatum Brown, a parasitic<br />
Dinoflagellate causing Epidemic Disease in Marine Fish.<br />
Proceedings of the Zoological Society of London, 1934, 583-607.<br />
BROWN, E. M. & HOVASSE, R., 1946. Amyloodinium ocella -<br />
t u m (Brown), a Peridian Parasitic on Marine Fishes. A C o m p l ementary<br />
Study. Proceedings of the Zoological Society of London,<br />
116, 33-46.<br />
BRUNO, D. W.; ALDERMAN, D. J. & SCHLOTFELDT, H.<br />
J., 1997. In: What should I do? European Association of Fish Pathologists.<br />
V<strong>é</strong>rsion en espanol: H. J. Schlotfeldt & M. D. Furones.<br />
Warwick Press, Dorset, U.K., 64 p.<br />
CECCHINI, S.; SAROGLIA, M.; TEROVA, G. & ALBANE-<br />
SI, F., 2001. Detection of antibody response against Amyloodini -<br />
um ocellatum (Brown, 1931) in serum of naturally infected<br />
European sea bass by an enzyme-linked immunosorbent assay<br />
(ELISA). Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 21 (3), 104-108.<br />
CHEUNG, P., 1993. Parasitic Diseases of Marine Tropical Fishes.<br />
In: Fish Medicine. Editor: Michael K. Stoskopf. W. B. Saunders<br />
Company, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A., 647-658.<br />
CHEUNG, P. J.; NIGRELLI, R. F. & RUGGIERI, G. D., 1981.<br />
Oodinium ocellatum (Brown, 1931) (Dinoflagellata) in the kidney<br />
and other internal tissues of pork <strong>fish</strong>, A n i s o t remus virg i n i c u s<br />
(L.). Journal of Fish Disease, 4, 523-525.<br />
C H R I S TOFILOGIANNIS, P., 1993. The Veterinary A p p r o a c h<br />
to Sea-bass and Sea-bream. In: A q u a c u l t u re for Ve t e r i n a r i a n s :<br />
<strong>fish</strong> husbandry and medicine. Editor: Lydia Brown. Perg a m o n<br />
Press Ltd., Oxford, England, 379-394.<br />
COBB, C. S.; LEVY, M. G. & NOGA, E. J., 1998. Development<br />
of Immunity by the Tomato Clown<strong>fish</strong> Amphiprion frenatus<br />
to the Dinoflagellate Parasite Amyloodinium ocellatum. Journal of<br />
Aquatic Animal Health, 10, 259-263.<br />
DICKERSON, H. W. & CLARK, T. C., 1996. Immune response<br />
of <strong>fish</strong>es to ciliates. Annual Review of Fish Diseases, 6, 107-120.<br />
EIRAS, J. C., 1994. PROTOZOA. In: Elementos de Ictiopara -<br />
s i t o l o g i a. Fundação Eng. António de Almeida, Porto, Portugal,<br />
15-123.<br />
GHITTINO, P.; BIGNAMI, S.; ANNIBALI, A.; BONI, L.,<br />
1980. Prima segnalasione di grave Oodiniasi in branzini (Dicen -<br />
t r a rchus labrax) allevati intensivamente in acqua salmastra. R i v.<br />
It. Piscic. Ittiop., A. XV, 4, 122-127.<br />
KABATA, Z., 1985. Diseases Caused by Protozoa. In: Parasi -<br />
tes and Diseases of Fish Cultured in the Tropics. Taylor & Francis,<br />
Ltd., Basingtoke, Hants, 121-162.<br />
KUDO, R. R., 1960. Dinoflagellata Butschli. In: Protozoology.<br />
Fourth Edition. Editor: Charles C. Thomas. Publisher, Springfield,<br />
Illinois, U.S.A., 310-332.<br />
LOM, J. & DYKOVÁ, I., 1992. Flagellates (Phylum Mastigo -<br />
phora Diesing, 1866). In: Protozoan Parasites of Fishes. Elsevier<br />
Science Publishers, Amsterdam, The Neatherlands, 25-74.<br />
L AWLER, A. R., 1980. Studies on Amyloodinium ocellatum<br />
(Dinoflagellata) in Mississipi Sound: Natural and Experimental<br />
Hosts. Gulf Research Reports, 6 (4), 403-413.<br />
MENEZES, J., 1994. Doenças em peixes cultivados no Estuário<br />
do Sado e o seu controlo. In: Seminário sobre recursos haliêu -<br />
ticos do pescado da Península de Setúbal (Setúbal, 26-27 de Abril<br />
1994). Publicações Avulsas do IPIMAR, 1, 175-186.<br />
MENEZES, J., 2000. Parasitoses. In: Manual Sobre Doenças<br />
de Peixes Ósseos. Publicações Avulsas do IPIMAR, 3, 75-11 4 .<br />
M O N T G O M E RY, D.; BROCK, J. A. & SATO, V. T., 1999.<br />
Using hydrogen peroxide for Pacific threadfin infected by Amylo -<br />
odinium ocellatum. Regional Notes, Center for Tropical and Subtropical<br />
Aquaculture. The Oceanic Institute and the University of<br />
Hawaii, 10 (2), 4-5.<br />
M O N T G O M E RY-BROCK, D. B.; SYLVESTER, J. Y.; TA-<br />
MARU, C. S. & BROCK, J., 2000. Hydrogen peroxide treatment<br />
for Amyloodinium sp. on mullet (Mugil cephalus) fry. Regional<br />
Notes, Center for Tropical and Subtropical Aquaculture. The Oceanic<br />
Institute and the University of Hawaii, 11 (4), 4-6.<br />
NEEDHAM, F. & WOOTTEN, R., 1978. The Parasitology of<br />
Teleosts. In: Fish Pathology. Editor: Ronald J. Roberts. Baillière<br />
Tindall, London, U.K, 144-182.<br />
NOGA, E. J., 1987. Propagation in Cell Culture of the Dinoflagellate<br />
Amyloodinium, an Ectoparasite of Marine Fishes. Science,<br />
36, 1302-1304.<br />
NOGA, E. J., 1996. In: Fish Diseases. Diagnosis and Tre a t -<br />
m e n t. Editora: Linda L. Duncan. Mosby- Year Book, Inc., St.<br />
Louis, Missouri, U.S.A., 105-107.<br />
NOGA, E. J.; SMITH, S. A. & LANDSBERG, J. H., 1991.<br />
Amyloodiniosis in Cultured Hybrid Striped Bass (Morone saxati -<br />
lis X M. chrysops) in North Carolina. Journal of Aquatic Animal<br />
Health, 3, 294-297.<br />
PAPERNA, I., 1980. Amyloodinium ocellatum (Brown, 1931)<br />
(Dinoflagellida) infestations in cultured marine <strong>fish</strong> at Eilat, Red<br />
Sea: epizootiology and pathology. Journal of Fish Diseases, 3,<br />
363-372.<br />
PAPERNA, I., 1983. Review of diseases of cultured warm-water<br />
marine <strong>fish</strong>. Rapp. P.-v. R<strong>é</strong>un. Cons. Int. Explor. Mer, 182, 44-<br />
48.<br />
PAPERNA, I. & BAUDIN LAURENCIN, F., 1979. P a r a s i t i c<br />
infections of sea bass, D i c e n t r a rchus labrax, and gilt head sea<br />
bream, Sparus aurata, in mariculture facilities in France. Aquacul -<br />
ture, 16, 173-175.<br />
PAPERNA, I.; COLORNI, A.; ROSS, B. & COLORNI, B.,<br />
1 9 8 1 . Diseases of Marine Fish Cultured In: Eilat Mariculture<br />
Project Based at the Gulf of Aqaba, Red Sea. European Mariculture<br />
Society Special Publication, 6, 81-91.<br />
REED, P. & FLOYD, R. F., 1994. Amyloodinium Infections of<br />
Marine Fish. University of Florida. Florida Cooperative Extension<br />
Service, Fact Sheet VM-90, 4 p.<br />
S C H WARZ, M. H. & SMITH, S. A . , 1998. Getting A c q u a i n t e d<br />
with Amyloodinium ocellatum. Commercial Fish and Shell<strong>fish</strong> Te c hn<br />
o l o g y. Vi rginia Cooperative Extension, Fact Sheet 600-200, 2 p.<br />
SCOTT, P., 1993. Therapy in Aquaculture. In: Aquaculture for<br />
Veterinarians: <strong>fish</strong> husbandry and medicine. Editor: Lydia Brown.<br />
Pergamon Press, Oxford, England, 131-152.<br />
SINDERMAN, C. J., 1990. Disease and Parasite Problems in<br />
Marine Aquaria. In: Principal Diseases of Marine Fish and Shell -<br />
<strong>fish</strong>. Second Edition. Academic Press, U.S.A., 259-277.<br />
SMITH, S. A.; LEVY, M. G. & NOGA, E. J., 1994. Detection<br />
of Anti-Amyloodinium ocellatum Antibody from Cultured Hybrid<br />
Striped Bass (Morone saxatilis X M. chrysops) during an Epizootic<br />
of Amyloodiniosis. Journal of Aquatic Animal Health, 6, 79-<br />
81.<br />
SOUTHGATE, P., 1993. Disease in Aquaculture. In: Aquacul -<br />
ture for Veterinarians: <strong>fish</strong> husbandry and medicine. Editor: Lydia<br />
Brown. Pergamon Press, Oxford, England, 91-130.<br />
WOO, P. T. K., 1996. Protective immune response of <strong>fish</strong> to<br />
parasitic flagellates. Annual Review of Fish Diseases, 6, 121-131.<br />
205