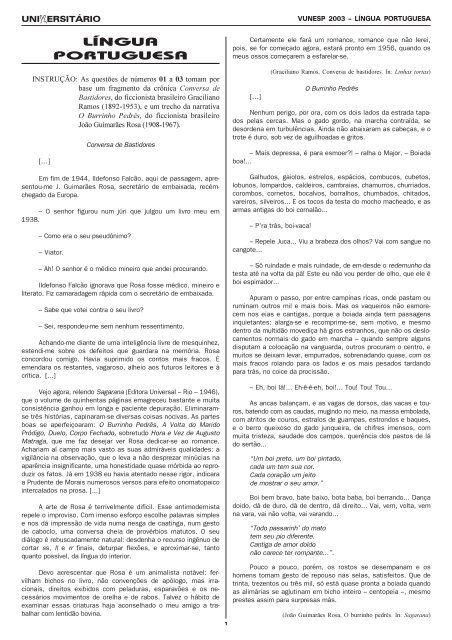LÍNGUA PORTUGUESA
LÍNGUA PORTUGUESA
LÍNGUA PORTUGUESA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIdERSITÁRIO<br />
<strong>LÍNGUA</strong><br />
<strong>PORTUGUESA</strong><br />
INSTRUÇÃO: As questões de números 01 a 03 tomam por<br />
base um fragmento da crônica Conversa de<br />
Bastidores, do ficcionista brasileiro Graciliano<br />
Ramos (1892-1953), e um trecho da narrativa<br />
O Burrinho Pedrês, do ficcionista brasileiro<br />
João Guimarães Rosa (1908-1967).<br />
[...]<br />
Conversa de Bastidores<br />
Em fim de 1944, Ildefonso Falcão, aqui de passagem, apresentou-me<br />
J. Guimarães Rosa, secretário de embaixada, recémchegado<br />
da Europa.<br />
– O senhor figurou num júri que julgou um livro meu em<br />
1938.<br />
– Como era o seu pseudônimo?<br />
– Viator.<br />
– Ah! O senhor é o médico mineiro que andei procurando.<br />
Ildefonso Falcão ignorava que Rosa fosse médico, mineiro e<br />
literato. Fiz camaradagem rápida com o secretário de embaixada.<br />
– Sabe que votei contra o seu livro?<br />
– Sei, respondeu-me sem nenhum ressentimento.<br />
Achando-me diante de uma inteligência livre de mesquinhez,<br />
estendi-me sobre os defeitos que guardara na memória. Rosa<br />
concordou comigo. Havia suprimido os contos mais fracos. E<br />
emendara os restantes, vagaroso, alheio aos futuros leitores e à<br />
crítica. [...]<br />
Vejo agora, relendo Sagarana (Editora Universal – Rio – 1946),<br />
que o volume de quinhentas páginas emagreceu bastante e muita<br />
consistência ganhou em longa e paciente depuração. Eliminaramse<br />
três histórias, capinaram-se diversas coisas nocivas. As partes<br />
boas se aperfeiçoaram: O Burrinho Pedrês, A Volta do Marido<br />
Pródigo, Duelo, Corpo Fechado, sobretudo Hora e Vez de Augusto<br />
Matraga, que me faz desejar ver Rosa dedicar-se ao romance.<br />
Achariam aí campo mais vasto as suas admiráveis qualidades: a<br />
vigilância na observação, que o leva a não desprezar minúcias na<br />
aparência insignificante, uma honestidade quase mórbida ao reproduzir<br />
os fatos. Já em 1938 eu havia atentado nesse rigor, indicara<br />
a Prudente de Morais numerosos versos para efeito onomatopaico<br />
intercalados na prosa. [...]<br />
A arte de Rosa é terrivelmente difícil. Esse antimodernista<br />
repele o improviso. Com imenso esforço escolhe palavras simples<br />
e nos dá impressão de vida numa nesga de caatinga, num gesto<br />
de caboclo, uma conversa cheia de provérbios matutos. O seu<br />
diálogo é rebuscadamente natural: desdenha o recurso ingênuo de<br />
cortar ss, ll e rr finais, deturpar flexões, e aproximar-se, tanto<br />
quanto possível, da língua do interior.<br />
Devo acrescentar que Rosa é um animalista notável: fervilham<br />
bichos no livro, não convenções de apólogo, mas irracionais,<br />
direitos exibidos com peladuras, esparavões e os necessários<br />
movimentos de orelha e de rabos. Talvez o hábito de<br />
examinar essas criaturas haja aconselhado o meu amigo a trabalhar<br />
com lentidão bovina.<br />
1<br />
VUNESP 2003 – <strong>LÍNGUA</strong> <strong>PORTUGUESA</strong><br />
Certamente ele fará um romance, romance que não lerei,<br />
pois, se for começado agora, estará pronto em 1956, quando os<br />
meus ossos começarem a esfarelar-se.<br />
[...]<br />
(Graciliano Ramos, Conversa de bastidores. In: Linhas tortas)<br />
O Burrinho Pedrês<br />
Nenhum perigo, por ora, com os dois lados da estrada tapados<br />
pelas cercas. Mas o gado gordo, na marcha contraída, se<br />
desordena em turbulências. Ainda não abaixaram as cabeças, e o<br />
trote é duro, sob vez de aguilhoadas e gritos.<br />
– Mais depressa, é para esmoer?! – ralha o Major. – Boiada<br />
boa!...<br />
Galhudos, gaiolos, estrelos, espácios, combucos, cubetos,<br />
lobunos, lompardos, caldeiros, cambraias, chamurros, churriados,<br />
corombos, cornetos, bocalvos, borralhos, chumbados, chitados,<br />
vareiros, silveiros... E os tocos da testa do mocho macheado, e as<br />
armas antigas do boi cornalão...<br />
– P’ra trás, boi-vaca!<br />
– Repele Juca... Viu a brabeza dos olhos? Vai com sangue no<br />
cangote...<br />
– Só ruindade e mais ruindade, de em-desde o redemunho da<br />
testa até na volta da pá! Este eu não vou perder de olho, que ele é<br />
boi espirrador...<br />
Apuram o passo, por entre campinas ricas, onde pastam ou<br />
ruminam outros mil e mais bois. Mas os vaqueiros não esmorecem<br />
nos eias e cantigas, porque a boiada ainda tem passagens<br />
inquietantes: alarga-se e recomprime-se, sem motivo, e mesmo<br />
dentro da multidão movediça há giros estranhos, que não os deslocamentos<br />
normais do gado em marcha – quando sempre alguns<br />
disputam a colocação na vanguarda, outros procuram o centro, e<br />
muitos se deixam levar, empurrados, sobrenadando quase, com os<br />
mais fracos rolando para os lados e os mais pesados tardando<br />
para trás, no coice da procissão.<br />
– Eh, boi lá!... Eh-ê-ê-eh, boi!... Tou! Tou! Tou...<br />
As ancas balançam, e as vagas de dorsos, das vacas e touros,<br />
batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada,<br />
com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques,<br />
e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com<br />
muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá<br />
do sertão...<br />
“Um boi preto, um boi pintado,<br />
cada um tem sua cor.<br />
Cada coração um jeito<br />
de mostrar o seu amor.”<br />
Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando... Dança<br />
doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito... Vai, vem, volta, vem<br />
na vara, vai não volta, vai varando...<br />
“Todo passarinh’ do mato<br />
tem seu pio diferente.<br />
Cantiga de amor doído<br />
não carece ter rompante...”.<br />
Pouco a pouco, porém, os rostos se desempanam e os<br />
homens tomam gesto de repouso nas selas, satisfeitos. Que de<br />
trinta, trezentos ou três mil, só está quase pronta a boiada quando<br />
as alimárias se aglutinam em bicho inteiro – centopeia –, mesmo<br />
prestes assim para surpresas más.<br />
(João Guimarães Rosa, O burrinho pedrês. In: Sagarana)
UNIdERSITÁRIO<br />
1. No artigo Conversa de Bastidores, publicado em 1946,<br />
Graciliano Ramos revela haver votado em Maria Perigosa, de<br />
Luís Jardim, e não em Contos, de Viator (pseudônimo de Guimarães<br />
Rosa), no desempate final de um concurso promovido<br />
em 1938 pela Editora José Olympio. Sem desanimar com a<br />
derrota, Guimarães Rosa veio a publicar seu livro, com modificações,<br />
em 1946, sob o título de Sagarana, que o revelou<br />
como um dos maiores escritores da modernidade no Brasil.<br />
Releia as duas passagens e, a seguir,<br />
a) interprete o que quer dizer Graciliano, no contexto, com a<br />
expressão “achando-me diante de uma inteligência livre<br />
de mesquinhez”;<br />
b) localize, numa das cinco falas de personagens do fragmento<br />
de Guimarães Rosa, um exemplo que confirme a<br />
observação de Graciliano, de que o autor de Sagarana, ao<br />
representar tais falas, “desdenha o recurso ingênuo de<br />
cortar ss, ll e rr finais”.<br />
Resolução<br />
a) Graciliano Ramos faz alusão à atitude que Guimarães<br />
Rosa assume diante do fazer literário, encarando-o<br />
como uma atividade na qual só o exercício da prática<br />
poderá levar à supressão das falhas. Motivo pelo qual<br />
se mantém impermeável às críticas.<br />
b) “– Mais depressa, é para esmoer?! – ralha o major –<br />
Boiada boa!...”<br />
Neste fragmento, o ritmo da fala, determinado pela<br />
cadência obtida pela escolha dos vocábulos e dos<br />
recursos de pontuação, substitui a “simplificação<br />
ingênua” que levaria o autor a grafar “esmoê” em<br />
lugar de “esmoer”.<br />
2. O estilo narrativo de Guimarães Rosa, como o próprio Graciliano<br />
lembra em seu artigo, é caracterizado, entre outros aspectos,<br />
pelo alto índice de musicalidade, pelo recurso a procedimentos<br />
rítmicos e rímicos característicos da poesia, como por exemplo<br />
no nono parágrafo, que pode ser lido como uma seqüência<br />
de 16 versos de cinco sílabas (As ancas balançam,/e as<br />
vagas de dorsos,/das vacas e touros,/ batendo com as caudas,/etc.)<br />
ou de 8 versos de onze sílabas (As ancas balançam,<br />
e as vagas de dorsos,/das vacas e touros, batendo com<br />
as caudas,/etc.). Depois de observar atentamente este comentário<br />
e os exemplos,<br />
a) indique, no trecho de O Burrinho Pedrês, outro parágrafo<br />
que possa ser integralmente lido sob a forma de versos<br />
regulares;<br />
b) estabeleça, com base em sua leitura, o número de sílabas<br />
de cada verso e o número de versos que tal parágrafo<br />
contém.<br />
Resolução<br />
a) Os parágrafos que podem ser reorganizados integralmente<br />
em versos regulares são o terceiro e o décimo<br />
primeiro.<br />
2<br />
VUNESP 2003 – <strong>LÍNGUA</strong> <strong>PORTUGUESA</strong><br />
b) Trata-se do terceiro parágrafo:<br />
“ga/lhu/dos,/ ga/io/los,/ es/tre/los,/ es/pá/cios,<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
com/bu/tos,/ cu/be/tos,/ lo/bu/nos,/ lom/par/dos,<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
cal/dei/ros,/ cam/braias,/ cha/mur/ros, /chu/rri/ a /dos,<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
co/rom/bos,/ cor/ne/tos,/ bo/cal/vos,/ bor/ra/lhos,<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
chum/ba/dos,/ chi/ta/dos,/ var/ei/ros,/ sil/vei/ros...<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
E os/ to/cos/ da/ tes/ta/ do/ mo/cho/ ma/chea/do,<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
e as/ ar/mas/ an/ti/gas/ do/ boi/ cor/na/lão/...”<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
– Sete versos eneassílabos (de onze sílabas).<br />
Ou do décimo primeiro parágrafo:<br />
“Boi/ bem/ bra/vo,/ ba/te/ bai/xo,<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
bo/ta/ ba/ba,/ boi/ ber/ran/do...<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Dan/ça/ doi/do,/ dá/ de/ du/ro,<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
dá/ de/ den/tro,/ dá/ di/rei/to...<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Vai,/ vem,/ vol/ta,/ vem/ na/ va/ra,<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
vai/ não/ vol/ta,/ vai/ va/ran/do...”<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
– Seis versos heptassílabos ou redondilhos maiores<br />
(de 7 sílabas).<br />
3. Muitas palavras podem atuar nas frases como representantes<br />
de diferentes classes e exercer, portanto, diferentes funções<br />
sintáticas. Tendo em mente esta informação,<br />
a) determine, com base em características formais da frase<br />
em que se encontra, a classe de palavras em que se enquadra<br />
a palavra eias, empregada por Guimarães Rosa no<br />
sétimo parágrafo do trecho citado;<br />
b) considerando que, no quarto período do antepenúltimo<br />
parágrafo de seu texto, Graciliano Ramos representou três<br />
palavras visualmente por meio das letras dobradas rr, ll e<br />
ss, reescreva esse período, substituindo tais letras dobradas<br />
pelas palavras correspondentes.
UNIdERSITÁRIO<br />
Resolução<br />
a) A palavra “eias” é um substantivo, já que sofreu o<br />
processo de derivação imprópria ao receber o artigo<br />
“os”.<br />
b) O seu diálogo é rebuscadamente natural: desdenha o<br />
recurso ingênuo de cortar “esses”, “eles” e “erres”.<br />
INSTRUÇÃO: As questões de números 04 a 07 tomam por<br />
base o poema Soneto, do poeta romântico brasileiro<br />
José Bonifácio, o Moço (1827-1886), e o<br />
poema Visita à Casa Paterna, do poeta parnasiano<br />
brasileiro Luís Guimarães Júnior (1845-<br />
1898).<br />
Soneto<br />
Deserta a casa está... Entrei chorando,<br />
De quarto em quarto, em busca de ilusões!<br />
Por toda a parte as pálidas visões!<br />
Por toda a parte as lágrimas falando!<br />
05 Vejo meu pai na sala, caminhando,<br />
Da luz da tarde aos tépidos clarões,<br />
De minha mãe escuto as orações<br />
Na alcova, aonde ajoelhei rezando.<br />
Brincam minhas irmãs (doce lembrança!...),<br />
10 Na sala de jantar... Ai! mocidade,<br />
És tão veloz, e o tempo não descansa!<br />
Oh! sonhos, sonhos meus de claridade!<br />
Como é tardia a última esperança!...<br />
Meu Deus, como é tamanha esta saudade!...<br />
(José Bonifácio, o Moço. Poesias. São Paulo:<br />
Conselho Estadual de Cultura, 1962)<br />
Visita à Casa Paterna<br />
Como a ave que volta ao ninho antigo,<br />
Depois de um longo e tenebroso inverno,<br />
Eu quis também rever o lar paterno,<br />
O meu primeiro e virginal abrigo:<br />
05 Entrei. Um Gênio carinhoso e amigo,<br />
O fantasma, talvez, do amor materno,<br />
Tomou-me as mãos, — olhou-me, grave e terno,<br />
E, passo a passo, caminhou comigo.<br />
Era esta a sala... (Oh! se me lembro! e quanto!)<br />
10 Em que da luz noturna à claridade,<br />
Minhas irmãs e minha mãe... O pranto<br />
Jorrou-me em ondas... Resistir quem há-de?<br />
Uma ilusão gemia em cada canto,<br />
Chorava em cada canto uma saudade.<br />
(Luís Guimarães Junior, Sonetos e Rimas)<br />
4. Em nota de rodapé ao Soneto de José Bonifácio, o Moço, os<br />
organizadores da edição mencionada, Alfredo Bosi e Nilo<br />
Scalzo, fazem o seguinte comentário: “Talvez tenha-se inspirado<br />
neste soneto o parnasiano Luís Guimarães Jr., ao compor<br />
o famoso ‘Visita à casa paterna’.” Releia os poemas atentamente<br />
e, em seguida,<br />
3<br />
VUNESP 2003 – <strong>LÍNGUA</strong> <strong>PORTUGUESA</strong><br />
a) enuncie o tema comum aos dois textos;<br />
b) indique dois aspectos da forma poemática (versificação,<br />
rimas, estrofes) em que haja identidade entre os dois poemas.<br />
Resolução<br />
a) Ambos os textos trabalham com o tema da nostalgia,<br />
da evocação de reminiscências: “Deserta a casa<br />
está... Entrei chorando,/De quarto em quarto, em<br />
busca de ilusões” (Soneto, José Bonifácio)<br />
“Eu quis também rever o lar paterno/o meu primeiro e<br />
virginal abrigo” (Visita à Casa Paterna, Luís Guimarães<br />
Jr.)<br />
b) O verso decassílabo:<br />
1 2 3 4 5 6<br />
“De/ser/ta a/ca/sa es/tá...<br />
7 8 9 10<br />
En/trei/ cho/ran/do (Soneto)<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
“En/trei./ Um /Gê/nio/ ca/ri/nho/so e a/mi/go<br />
e as rimas interpoladas:<br />
(Visita à Casa Paterna)<br />
“Vejo meu pai na sala caminhando<br />
Da luz da tarde aos tépidos clarões<br />
De minha mãe escuto as orações<br />
Na alcova, aonde ajoelhei rezando”<br />
(Soneto)<br />
“Como a ave que volta ao ninho antigo<br />
Depois de um longo e tenebroso inverno,<br />
Eu quis rever o lar paterno,<br />
O meu primeiro e virginal abrigo”<br />
(Visita à Casa Paterna)<br />
5. Uma das semelhanças mais notáveis entre os dois poemas<br />
está justamente nas personagens evocadas: pai, mãe, irmãs.<br />
Com base nesta informação,<br />
a) estabeleça a diferença entre Soneto e Visita à Casa<br />
Paterna quanto ao modo de aludirem ao pai de família;<br />
b) aponte, no poema de Luís Guimarães Jr., uma personagem<br />
que não é referida no de José Bonifácio.<br />
Resolução<br />
a) O texto de José Bonifácio fala do pai diretamente:<br />
“Vejo meu pai na sala, caminhando”, enquanto o de<br />
Luís Guimarães Jr. faz apenas uma alusão à figura<br />
do pai através do adjetivo “paterno”, que acompanha<br />
o substantivo “lar”: “Eu quis também rever o lar paterno”.
UNIdERSITÁRIO<br />
b) A personagem é o “Gênio carinhoso e amigo”, “o<br />
fantasma (...) do amor materno” que, personificado,<br />
conduz o poeta pelas mãos.<br />
6. Para atender a necessidades de ritmo e de rima, os poetas praticam<br />
com naturalidade e freqüência inversões e deslocamentos<br />
no padrão de disposição dos termos na oração (sujeito,<br />
verbo, complementos). Partindo desta constatação, analise<br />
a estrutura sintática das frases “Brincam minhas irmãs na<br />
sala de jantar” e “Chorava em cada canto uma saudade” e,<br />
logo após,<br />
a) reescreva-as na ordem que seus termos apresentariam de<br />
acordo com o padrão mencionado;<br />
b) demonstre as identidades que há entre as duas orações<br />
no que diz respeito às funções sintáticas dos termos que<br />
as constituem.<br />
Resolução<br />
a) Minhas irmãs brincam na sala de jantar.<br />
Uma saudade chorava em cada canto.<br />
b) Em ambas as orações encontra-se verbo intransitivo<br />
regendo adjunto adverbial de lugar.<br />
7. José Bonifácio, o Moço, era um poeta romântico, enquanto<br />
Luís Guimarães Jr. era um parnasiano com raízes românticas.<br />
Os dois poemas apresentam características que servem de<br />
exemplo para tais observações. Levando em conta este comentário,<br />
a) identifique um traço típico da poética romântica presente<br />
nos dois poemas;<br />
b) aponte, em Visita à Casa Paterna, um aspecto característico<br />
da concepção parnasiana de poesia.<br />
Resolução<br />
a) O traço romântico mais característico presente em<br />
ambos os textos é a função emotiva da linguagem,<br />
caracterizada pela abundância de pronomes possessivos<br />
e verbos de 1 a pessoa.<br />
Soneto<br />
“entrei” (1 o verso), “meu pai” (5 o verso), “De minha<br />
mãe escuto” (7 o verso), “ajoelhei” (8 o verso), “minhas<br />
irmãs” (9 o verso), “sonhos meus” (12 o verso), “Meu<br />
Deus” (14 o verso);<br />
Visita à Casa Paterna<br />
“eu quis” (3 o verso), “O meu primeiro...” (4 o verso),<br />
“Entrei” (5 o verso), “Tomou-me as mãos” (7 o verso),<br />
“olhou-me” (7 o verso), “caminhou comigo” (8 o verso),<br />
“Oh! se me lembro” (9 o verso), “Minhas irmãs e minha<br />
mãe” (11 o verso), “Jorrou-me” (12 o verso).<br />
e pela pontuação psicológica (abundância de exclamações<br />
e reticências).<br />
4<br />
VUNESP 2003 – <strong>LÍNGUA</strong> <strong>PORTUGUESA</strong><br />
b) O aspecto mais evidente da concepção parnasiana é<br />
o rigor formal:<br />
· a forma fixa soneto (2 quartetos e 2 tercetos);<br />
· métrica regular (verbos decassílabos);<br />
· presença de rimas.<br />
As questões de números 08 a 10 tomam por base o poema<br />
Lisbon Revisited, do heterônimo Álvaro de Campos do poeta<br />
modernista português Fernando Pessoa (1888-1935), e a letra<br />
da canção Metamorfose Ambulante, do cantor e compositor<br />
brasileiro Raul Seixas (1945-1989).<br />
Lisbon Revisited<br />
(1923)<br />
Não: não quero nada.<br />
Já disse que não quero nada.<br />
Não me venham com conclusões!<br />
A única conclusão é morrer.<br />
05 Não me tragam estéticas!<br />
Não me falem em moral!<br />
Tirem-me daqui a metafísica!<br />
Não me apregoem sistemas completos, não me enfileirem<br />
conquistas<br />
Das ciências (das ciências, Deus meu, das ciências!) —<br />
10 Das ciências, das artes, da civilização moderna!<br />
Que mal fiz eu aos deuses todos?<br />
Se têm a verdade, guardem-na!<br />
Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica.<br />
Fora disso sou doido, com todo o direito a sê-lo.<br />
15 Com todo o direito a sê-lo, ouviram?<br />
Não me macem, por amor de Deus!<br />
Queriam-me casado, fútil, quotidiano e tributável?<br />
Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa?<br />
Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, a vontade.<br />
20 Assim, como sou, tenham paciência!<br />
Vão para o diabo sem mim,<br />
Ou deixem-me ir sozinho para o diabo!<br />
Para que havemos de ir juntos?<br />
Não me peguem no braço!<br />
25 Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho.<br />
Já disse que sou sozinho!<br />
Ah, que maçada quererem que eu seja da companhia!<br />
Ó céu azul — o mesmo da minha infância —<br />
Eterna verdade vazia e perfeita!<br />
30 Ó macio Tejo ancestral e mudo,<br />
Pequena verdade onde o céu se reflete!<br />
Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje!<br />
Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta.<br />
Deixem-me em paz! Não tardo, que eu nunca tardo...<br />
35 E enquanto tarda o Abismo e o Silêncio quero estar sozinho!<br />
(Fernando Pessoa, Ficções do Interlúdio/4:<br />
poesias de Álvaro de Campos)
UNIdERSITÁRIO<br />
Metamorfose Ambulante<br />
Prefiro ser essa metamorfose ambulante<br />
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante<br />
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo<br />
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo<br />
05 Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes<br />
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante<br />
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo<br />
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo<br />
Sobre o que é o amor<br />
10 Sobre que eu nem sei quem sou<br />
Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou<br />
Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor<br />
Lhe tenho amor<br />
Lhe tenho horror<br />
15 Lhe faço amor<br />
eu sou um ator...<br />
É chato chegar a um objetivo num instante<br />
Eu quero viver nessa metamorfose ambulante<br />
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo<br />
20 Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo<br />
Sobre o que é o amor<br />
Sobre que eu nem sei quem sou<br />
Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou<br />
Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor<br />
25 Lhe tenho amor<br />
Lhe tenho horror<br />
Lhe faço amor<br />
eu sou um ator...<br />
Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes<br />
30 Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante<br />
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo<br />
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo<br />
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo<br />
Do que ter aquela velha velha velha velha opinião formada<br />
sobre tudo...<br />
35 Do que ter aquela velha velha opinião formada sobre tudo...<br />
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo...<br />
(Raul Seixas, Os grandes sucessos de Raul Seixas)<br />
8. O poema Lisbon Revisited (1923) e a canção Metamorfose<br />
Ambulante (1973) identificam-se por alguns aspectos formais<br />
e por focalizarem como tema a atitude de rebeldia do indivíduo<br />
aos modelos e padrões culturais que lhe são impostos.<br />
Releia-os com atenção e, a seguir,<br />
a) servindo-se de uma escala em cujos extremos estejam atitude<br />
eufórica (sensação de bem-estar e de alegria) e atitude<br />
disfórica (sensação de mal-estar, ansiedade, inquietação),<br />
demonstre qual dos dois textos está mais próximo do<br />
pólo da atitude disfórica;<br />
b) explique em que medida o verso de número 16 de Metamorfose<br />
Ambulante sintetiza o conteúdo da canção.<br />
Resolução<br />
a) O texto Lisbon Revisited é aquele que apresenta<br />
disforia, pois nele o eu-lírico tem claramente uma<br />
atitude de revolta e recusa com relação aos seus<br />
interlocutores e às convenções sociais. Isso fica<br />
patente em orações exclamativas, como:<br />
5<br />
VUNESP 2003 – <strong>LÍNGUA</strong> <strong>PORTUGUESA</strong><br />
“Que mal fiz eu aos deuses todos?”<br />
“Se têm a verdade, guardem-na!”<br />
“Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho<br />
para o diabo!”<br />
“Deixem-me em paz!”<br />
b) “...eu sou um ator”<br />
Um ator representa papéis, ou seja, vive, ainda que<br />
ficticiamente, diversas possibilidades de existência;<br />
portanto, ao nomear-se ator, o eu-lírico aponta para<br />
situação almejada de constante mudança.<br />
9. Tanto no poema de Fernando Pessoa como na canção de<br />
Raul Seixas se observa o recurso intenso às repetições. Ciente<br />
deste fato,<br />
a) localize o verso de Metamorfose Ambulante que apresenta<br />
repetição insistente de uma mesma palavra e defina o<br />
efeito expressivo obtido pelo autor com essa repetição;<br />
b) considerando que o advérbio não é uma das palavras mais<br />
repetidas ao longo de Lisbon Revisited, estabeleça a relação<br />
semântica que a repetição dessa palavra tem com a<br />
atitude do eu-poemático ante os padrões sociais.<br />
Resolução<br />
a) “Do que ter aquela velha velha velha velha opinião<br />
formada sobre tudo”.<br />
A repetição do adjetivo “velha” transmite idéia de<br />
intensidade: muito velha ou velhíssima.<br />
b) A repetição do advérbio “não” reflete a atitude do eupoemático<br />
de recusa dos padrões sociais.<br />
10. Atentando para o fato de que a função conativa da linguagem<br />
é orientada para o destinatário da mensagem,<br />
a) identifique o modo verbal que, insistentemente empregado<br />
pelo eu-poemático, torna muito intensa a orientação<br />
para o destinatário no poema de Fernando Pessoa;<br />
b) considerando que, no verso de número 12, Raul Seixas,<br />
adotando o uso popular, empregou os pronomes te e lhe<br />
para referir-se a uma mesma pessoa, apresente duas alternativas<br />
que teria o poeta para escrever esse verso segundo<br />
a norma culta.<br />
Resolução<br />
a) O modo verbal predominante empregado pelo eupoemático<br />
é o Imperativo, tanto negativo como afirmativo.<br />
b) Se hoje o odeio, amanhã lhe tenho amor. (Referindose<br />
à 3 a pessoa)<br />
Se hoje te odeio, amanhã te tenho amor. (Referindose<br />
à 2 a pessoa)
UNIdERSITÁRIO<br />
REDAÇÃO<br />
INSTRUÇÃO: Leia os seguintes trechos.<br />
Não se pode ser sem rebeldia<br />
Eu acho que os adultos, pais e professores, deveriam compreender<br />
melhor que a rebeldia, afinal, faz parte do processo da<br />
autonomia, quer dizer, não é possível ser sem rebeldia. O grande<br />
problema está em como amorosamente dar sentido produtivo, dar<br />
sentido criador ao ato rebelde e de não acabar com a rebeldia.<br />
Tem professores que acham que a única saída para a rebelião,<br />
para a rebeldia é a punição, é a castração. Eu confesso que tenho<br />
grandes dúvidas em torno da eficácia do castigo.<br />
Eu acho que a liberdade não se autentica sem o limite da<br />
autoridade, mas o limite que a autoridade se deve propor a si<br />
mesma, para propor ao jovem a liberdade, é um limite que necessariamente<br />
não se explicita através de castigos. Eu acho que a<br />
liberdade precisa de limites, a autoridade inclusive tem a tarefa de<br />
propor os limites, mas o que é preciso, ao propor os limites, é<br />
propor à liberdade que ela interiorize a necessidade ética do limite,<br />
jamais através do medo.<br />
A liberdade que não faz uma coisa porque teme o castigo<br />
não está “eticizando-se”. É preciso que eu aceite a necessidade<br />
ética, aí o limite é compromisso e não mais imposição, é assunção.<br />
O castigo não faz isso. O castigo pode criar docilidade, silêncio.<br />
Mas os silenciados não mudam o mundo.<br />
(Paulo Freire, Pedagogia dos sonhos possíveis.<br />
Org. Ana M. A. Freire. Editora Unesp)<br />
Autoridade em Ética<br />
Pode-se dizer, em tese, que a essência da ética provém da<br />
pressão da comunidade sobre o indivíduo. O homem pouco tem de<br />
gregário, e nem sempre sente, instintivamente, os desejos comuns<br />
a sua grei. Esta, ansiosa para que o indivíduo aja no seu<br />
interesse, tem inventado vários artifícios com o fim de harmonizar<br />
os interesses individuais com os seus próprios. Um destes é o<br />
governo, outro é a lei e o costume, e o outro é a moral. A moral<br />
torna-se uma força eficiente de duas maneiras: primeiro, através<br />
do louvor e da censura dos que o cercam e das autoridades; e<br />
segundo, através do autolouvor e da autocensura, os quais são<br />
chamados de “consciência”. Por meio destas várias forças —<br />
governo, lei, moral — o interesse da comunidade se faz sentir<br />
sobre o indivíduo. [...]<br />
Chego agora a meu último problema, que se relaciona com<br />
os direitos do indivíduo, em contraposição aos da sociedade. A<br />
ética, nós o dissemos, é parte de uma tentativa para tornar o<br />
homem mais gregário do que a natureza o fez. As pressões que a<br />
moral exerce sobre o indivíduo são, pode-se dizer, devidas ao<br />
gregarismo apenas parcial da espécie humana. Mas isto é uma<br />
meia verdade. Muitas de suas melhores cousas vêm do fato de<br />
não ser ela completamente gregária. O homem tem seu valor<br />
intrínseco, e os melhores indivíduos fazem contribuições para o<br />
bem geral que não são solicitadas e que, muitas vezes, chegam a<br />
sofrer reação por parte do resto da comunidade. É, pois, uma<br />
parte essencial da busca do bem geral, o permitir aos indivíduos<br />
liberdades que não sejam, evidentemente, maléficas aos outros. É<br />
isto que dá origem ao permanente conflito entre a liberdade e a<br />
autoridade, e estabelece limites ao princípio de que a autoridade é<br />
a fonte da virtude.<br />
(Bertrand Russell. A sociedade humana na ética e na política.<br />
Título original: Human society in Ethics and Politics.<br />
Tradução de Oswaldo de Araujo Souza. São Paulo:<br />
Companhia Editora Nacional, 1956)<br />
6<br />
VUNESP 2003 – <strong>LÍNGUA</strong> <strong>PORTUGUESA</strong><br />
PROPOSIÇÃO<br />
A atuação do homem na sociedade, mediada por padrões e<br />
modelos de comportamento e sujeita a atritos e tensões entre<br />
os interesses da comunidade e os dos indivíduos, pode assumir<br />
as mais variadas formas, que vão do puro e simples<br />
enquadramento até à mais exacerbada rebeldia. Os dois trechos<br />
apresentados focalizam essa questão sob os pontos de<br />
vista pedagógico (Paulo Freire) e ético (Bertrand Russell).<br />
Tomando como base de reflexão, se achar necessário, os textos<br />
mencionados, a letra de Raul Seixas e o poema de<br />
Fernando Pessoa (Álvaro de Campos), bem como sua própria<br />
experiência e opinião, escreva uma redação de gênero dissertativo<br />
sobre o tema<br />
Comentário<br />
OS PADRÕES SOCIAIS<br />
E A LIBERDADE DO INDIVÍDUO.<br />
A proposta de Redação da VUNESP solicitou uma<br />
dissertação que analisasse “Os Padrões Sociais e a Liberdade<br />
do Indivíduo”.<br />
Por ser um tema de caráter filosófico, o vestibulando<br />
provavelmente sentiria maior dificuldade em apresentar,<br />
em sua redação, uma abordagem objetiva, sobretudo na<br />
argumentação.<br />
Antes de selecionar os argumentos, no entanto, era<br />
preciso que o aluno determinasse seu posicionamento<br />
(sua tese) a respeito do tema: de que forma o grupo<br />
social impede (ou não) a existência da liberdade individual?<br />
Para auxiliar a argumentação do texto, o candidato<br />
poderia explorar as idéias apresentadas nos textos da<br />
coletânea e do exame.<br />
Em Não se pode ser sem rebeldia, Paulo Freire<br />
ressalta o lado positivo da rebeldia, já que a falta dela<br />
pode acarretar (no contexto escolar) medo, comodismo,<br />
passividade. O educador, porém, ressalta que há necessidade<br />
de existirem limites.<br />
Já em Autoridade em Ética, Bertrand Russell expõe<br />
que a ética se origina da “pressão da comunidade sobre<br />
o indivíduo”, de tal forma que esse passe a atuar em prol<br />
da coletividade.<br />
Por fim, Álvaro de Campos, em Lisbon Revisited, e<br />
Raul Seixas, em Metamorfose Ambulante, radicalizam,<br />
propondo uma ruptura: a recusa de seguir padrões.
UNIdERSITÁRIO<br />
COMENTÁRIOS<br />
Língua Portuguesa<br />
7<br />
VUNESP 2003 – <strong>LÍNGUA</strong> <strong>PORTUGUESA</strong><br />
Como nos anos anteriores, a prova da VUNESP privilegiou a abordagem de textos de diferentes épocas e estilos, com<br />
questões comparativas.<br />
Quanto à Gramática, abordaram-se questões básicas de sintaxe e de formação de palavras (derivação imprópria).<br />
A prova de Literatura privilegiou questões estilísticas (o estilo poético de Guimarães Rosa, o formalismo do estilo parnasiano<br />
e a função emotiva valorizada no estilo romântico).