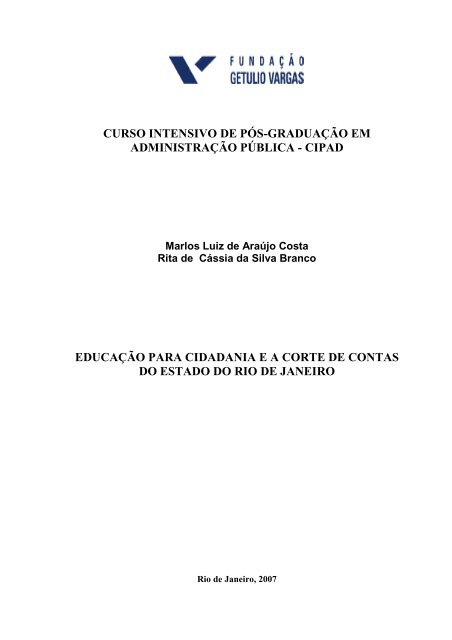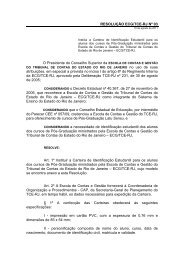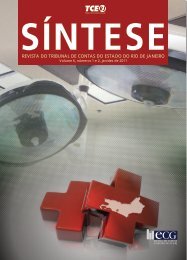Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração - ECG / TCE-RJ
Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração - ECG / TCE-RJ
Curso Intensivo de Pós-Graduação em Administração - ECG / TCE-RJ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CURSO INTENSIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM<br />
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CIPAD<br />
Marlos Luiz <strong>de</strong> Araújo Costa<br />
Rita <strong>de</strong> Cássia da Silva Branco<br />
EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA E A CORTE DE CONTAS<br />
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, 2007
EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA E A CORTE DE CONTAS<br />
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO<br />
por<br />
Marlos Luiz <strong>de</strong> Araújo Costa<br />
Rita <strong>de</strong> Cássia da Silva Branco<br />
Orientador: Vera Lúcia <strong>de</strong> Almeida Corrêa<br />
Trabalho <strong>de</strong> conclusão <strong>de</strong> curso apresentado ao<br />
<strong>Curso</strong> <strong>Intensivo</strong> <strong>de</strong> <strong>Pós</strong>-<strong>Graduação</strong> <strong>em</strong><br />
<strong>Administração</strong> Pública da Fundação Getúlio Vargas<br />
como requisito parcial para a obtenção do certificado<br />
do curso <strong>de</strong> pós-graduação, do Programa FGV<br />
Manag<strong>em</strong>ent.<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, 2007
Costa, Marlos Luiz <strong>de</strong> Araújo; Branco, Rita <strong>de</strong> Cássia da Silva.<br />
Educação para cidadania e a Corte <strong>de</strong> Contas do Estado do Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro . /<br />
Marlos Luiz <strong>de</strong> Araújo Costa. Rita <strong>de</strong> Cássia da Silva Branco.<br />
55 f., enc.<br />
Orientador: Vera Lúcia <strong>de</strong> Almeida Corrêa.<br />
Trabalho <strong>de</strong> conclusão <strong>de</strong> <strong>Curso</strong>. <strong>Curso</strong> <strong>Intensivo</strong> <strong>de</strong> <strong>Pós</strong>-<strong>Graduação</strong> <strong>em</strong><br />
<strong>Administração</strong> Pública. Fundação Getulio Vargas.<br />
1. História do Brasil. 2. Educação. 3. Cidadania. 4. Direitos Humanos. 5.<br />
Escola <strong>de</strong> Contas.
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS<br />
PROGRAMA FGV MANAGEMENT<br />
<strong>Curso</strong> <strong>Intensivo</strong> <strong>de</strong> <strong>Pós</strong>-<strong>Graduação</strong> <strong>em</strong> <strong>Administração</strong> Pública<br />
O Trabalho <strong>de</strong> Conclusão <strong>de</strong> <strong>Curso</strong><br />
EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA E A CORTE DE CONTAS DO<br />
ESTADO DO RIO DE JANEIRO,<br />
elaborado por Marlos Luiz <strong>de</strong> Araújo Costa e Rita <strong>de</strong> Cássia da Silva Branco<br />
e aprovado pela Coor<strong>de</strong>nação Acadêmica do <strong>Curso</strong> <strong>Intensivo</strong> <strong>de</strong> <strong>Pós</strong>-<strong>Graduação</strong><br />
<strong>em</strong> <strong>Administração</strong> Pública foi aceito como requisito parcial para a obtenção do<br />
certificado do curso <strong>de</strong> pós-graduação, do Programa FGV Manag<strong>em</strong>ent.<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, ____/_____/2007<br />
___________________________________________<br />
Prof. Armando dos Santos Cunha<br />
Coor<strong>de</strong>nador Acadêmico
Termo <strong>de</strong> Autenticida<strong>de</strong><br />
Os alunos Marlos Luiz <strong>de</strong> Araújo Costa e Rita <strong>de</strong> Cássia da Silva Branco,<br />
abaixo-assinados, do <strong>Curso</strong> <strong>Intensivo</strong> <strong>de</strong> <strong>Pós</strong>-<strong>Graduação</strong> <strong>em</strong> <strong>Administração</strong><br />
Pública, do Programa FGV Manag<strong>em</strong>ent, realizado no período <strong>de</strong> 07 <strong>de</strong> outubro<br />
<strong>de</strong> 2005 a 14 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2007, <strong>de</strong>claram que o conteúdo do trabalho <strong>de</strong><br />
conclusão <strong>de</strong> curso intitulado: EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA E A<br />
CORTE DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, é autêntico,<br />
original, e <strong>de</strong> sua autoria exclusiva.<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, 14 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2007<br />
_____________________________<br />
_____________________________
A viag<strong>em</strong> não acaba nunca. Só os viajantes<br />
acabam.<br />
O fim <strong>de</strong> uma viag<strong>em</strong> é apenas o começo<br />
doutra.<br />
É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez<br />
o que já se viu, ver na primavera o que se via<br />
no verão.<br />
Ver <strong>de</strong> dia o que se viu <strong>de</strong> noite, ver com sol<br />
on<strong>de</strong> primeiramente a chuva caíra.<br />
Ver a seara ver<strong>de</strong>, o fruto maduro, a pedra que<br />
mudou <strong>de</strong> lugar, a sombra que aqui não estava.<br />
É preciso voltar aos passos que foram dados,<br />
para repetir, e para traçar caminhos novos ao<br />
lado <strong>de</strong>les. É preciso recomeçar a viag<strong>em</strong><br />
s<strong>em</strong>pre.<br />
Saramago,1990
SUMÁRIO<br />
1. INTRODUÇÃO...................................................................................................................6<br />
2. CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO BRASIL – BREVE HISTÓRICO..................9<br />
2.1. Período colonial............................................................................................................9<br />
2.2. Do Brasil Império a Primeira República (1822 a 1930)........................................10<br />
2.3. A Era Vargas (1930 a 1945)......................................................................................15<br />
2.4. O Período D<strong>em</strong>ocrático (1945 a 1964)......................................................................19<br />
2.5. O Governo militar (1964-1985).................................................................................22<br />
2.6. .A cidadania após a re<strong>de</strong>mocratização.....................................................................25<br />
3. EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE.....................................................28<br />
3.1. Paulo Freire................................................................................................................28<br />
3.2. D<strong>em</strong>erval Saviani.......................................................................................................30<br />
4. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS................................................................................37<br />
4.1. A formação do conceito <strong>de</strong> pessoa............................................................................37<br />
4.2. As etapas históricas na afirmação dos Direitos Humanos.....................................40<br />
4.3. A evolução dos Direitos Humanos no Brasil...........................................................43<br />
5. TRANSFORMAÇÕES RECENTES DO ESTADO BRASILEIRO.............................46<br />
6. O TRIBUNAL DE CONTAS E A INOVAÇÃO..............................................................49<br />
7. CONCLUSÃO...................................................................................................................52<br />
BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................................54
1 INTRODUÇÃO<br />
Proclamada <strong>em</strong> 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é consi<strong>de</strong>rada o marco<br />
inicial para todo o mundo da promoção dos princípios da dignida<strong>de</strong> humana. A <strong>de</strong>claração, e<br />
posteriormente os tratados, as conferências e pactos, instituíram entre as nações um sist<strong>em</strong>a<br />
complexo <strong>de</strong> proteção e vigilância aos direitos humanos. Mas, apesar <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s avanços<br />
alcançados até hoje os direitos fundamentais ainda encontram-se <strong>de</strong>sprotegidos.<br />
A pobreza generalizada, a exclusão sócio-econômica, as guerras civis, os massacres e a fome<br />
entre outras mazelas tomam dimensões preocupantes principalmente <strong>em</strong> países como o Brasil.<br />
As assimetrias sociais, na qual está mergulhada a socieda<strong>de</strong> brasileira, a cada dia tornam-se<br />
mais evi<strong>de</strong>ntes, as políticas públicas não aten<strong>de</strong>m satisfatoriamente as <strong>de</strong>mandas da<br />
população. Diante <strong>de</strong> tal cenário, o exercício da cidadania fica comprometido.<br />
Sabe-se que qu<strong>em</strong> faz um Estado é o povo, e por isso não é apenas o Estado que garante a<br />
cidadania, mas principalmente o cidadão consciente dos seus direitos e <strong>de</strong>veres que faz com<br />
que o Estado fique a serviço da cidadania.<br />
Para que isto ocorra, o processo educativo torna-se indispensável na formação do brasileiro,<br />
uma vez que a educação - para a cidadania – t<strong>em</strong> como pressuposto promover o pleno<br />
<strong>de</strong>senvolvimento das potencialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> conhecimento, <strong>de</strong> julgamento e <strong>de</strong> escolha do<br />
educando <strong>de</strong> forma que possa viver <strong>de</strong> forma consciente <strong>em</strong> socieda<strong>de</strong>.<br />
Todos os países que resolveram ou minimizaram seus probl<strong>em</strong>as sociais como o alto índice <strong>de</strong><br />
criminalida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> corrupção, <strong>de</strong> <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s econômicas e sociais, etc., investiram <strong>em</strong><br />
educação. E <strong>em</strong>bora, com tantos alunos matriculados no primeiro segmento do ensino<br />
fundamental, o sist<strong>em</strong>a educacional brasileiro, e especificamente o fluminense, carece <strong>de</strong><br />
qualida<strong>de</strong>, pois é muito comum os alunos concluír<strong>em</strong> o ensino básico mal sabendo ler. Essa<br />
educação pública n<strong>em</strong> <strong>de</strong> longe aten<strong>de</strong> ao fim sublime da educação, que é transformar.<br />
Transformar crianças, jovens e adultos <strong>em</strong> cidadãos titulares dos três direitos que compõ<strong>em</strong> a<br />
cidadania: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais.<br />
6
Assim e com o objetivo <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrar que a educação para a construção da cidadania po<strong>de</strong>rá<br />
ser uma causa abraçada por quaisquer segmentos da socieda<strong>de</strong>, iniciamos o nosso trabalho<br />
com uma breve história do Brasil, enfocando os entraves que contribuíram para que os<br />
probl<strong>em</strong>as centrais <strong>de</strong> nosso país, como a violência urbana, o <strong>de</strong>s<strong>em</strong>prego, o analfabetismo, a<br />
má qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> educação, a oferta ina<strong>de</strong>quada dos serviços <strong>de</strong> saú<strong>de</strong> e saneamento, e as<br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s sociais e econômicas continu<strong>em</strong> s<strong>em</strong> solução.<br />
D<strong>em</strong>onstramos também que com o fim da ditadura militar <strong>em</strong> 1985, a palavra cidadania caiu<br />
na boca do povo, a Constituição <strong>de</strong> 1988 foi <strong>de</strong>nominada <strong>de</strong> Constituição Cidadã e<br />
acreditamos que também tivéramos conquistado a garantia <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong>, <strong>de</strong> participação, <strong>de</strong><br />
segurança, <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento, <strong>de</strong> <strong>em</strong>prego, <strong>de</strong> justiça social, quando na verda<strong>de</strong> somente a<br />
garantia <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> e <strong>de</strong> participação prosperaram.<br />
Traçamos uma linha evolutiva para mostrarmos que apesar <strong>de</strong> a idéia <strong>de</strong> uma igualda<strong>de</strong><br />
essencial entre todos os homens ter surgido no período <strong>de</strong>nominado <strong>de</strong> Axial (séculos VIII a<br />
II a C), foram necessários vinte e cinco séculos para que a primeira organização internacional<br />
englobasse quase a totalida<strong>de</strong> dos povos da terra e proclamasse, na abertura <strong>de</strong> uma<br />
Declaração Universal <strong>de</strong> Direitos Humanos, que todos os homens nasc<strong>em</strong> livres e iguais <strong>em</strong><br />
dignida<strong>de</strong> e direitos. Apontamos como as nossas constituições trataram da questão dos<br />
direitos humanos, <strong>de</strong>ntre os quais se encontra o direito à educação.<br />
Utilizamos a classificação <strong>de</strong> Marshall que <strong>de</strong>sdobrou a cidadania <strong>em</strong> direitos civis, políticos<br />
e sociais, sendo cidadão pleno aquele que é titular dos três direitos. Enfatizamos os direitos<br />
sociais por permitir<strong>em</strong> às socieda<strong>de</strong>s politicamente organizadas a redução dos excessos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> produzidos pelo capitalismo, garantindo um mínimo <strong>de</strong> b<strong>em</strong> estar para todos. A<br />
idéia central <strong>em</strong> que se baseiam os direitos sociais é a da justiça social. Dentre os direitos<br />
sociais encontra-se o direito à educação, que t<strong>em</strong> sido historicamente um pré-requisito para a<br />
expansão dos outros direitos, pois, a ausência <strong>de</strong> uma população educada t<strong>em</strong> sido um dos<br />
principais obstáculos à construção da cidadania civil e política.<br />
Assim, e consi<strong>de</strong>rando a dinâmica da socieda<strong>de</strong>, que muda e exige mudança do Estado e <strong>de</strong><br />
suas instituições para aten<strong>de</strong>r o fim pela qual exist<strong>em</strong>, qual seja o b<strong>em</strong> comum, o Tribunal <strong>de</strong><br />
Contas do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro, através <strong>de</strong> sua Escola <strong>de</strong> Contas, <strong>em</strong> uma função<br />
7
inovadora, transformar-se-á <strong>em</strong> um instrumento valioso na construção <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong><br />
cidadã, <strong>de</strong>senvolvendo metodologia para uma educação <strong>de</strong>mocrática e conscientizadora.<br />
Apontamos também as transformações recentes do papel do Estado e as exigências da<br />
socieda<strong>de</strong> brasileira mo<strong>de</strong>rna. Com base na Carta Magna <strong>de</strong> 1988, construímos um cenário<br />
para discutir a possibilida<strong>de</strong> da Corte <strong>de</strong> Contas <strong>de</strong> nosso estado, diante das novas exigências<br />
sociais, assumir a função <strong>de</strong> orientador educacional <strong>de</strong> políticas públicas fluminenses,<br />
voltadas para uma educação <strong>em</strong>ancipadora.<br />
Como o viés principal <strong>de</strong>ste trabalho é a educação para a cidadania, não po<strong>de</strong>ríamos <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong><br />
mencionar algumas teorias pedagógicas. Entretanto, e por não ser este trabalho um tratado<br />
sobre teorias educacionais, nos restringimos às teorias <strong>de</strong> Paulo Freire e <strong>de</strong> D<strong>em</strong>erval Saviani,<br />
pois esses dois brasileiros ao apresentar<strong>em</strong> alternativas <strong>de</strong> ensino cujo fim seria a libertação e<br />
construção <strong>de</strong> um novo indivíduo brasileiro capaz <strong>de</strong> tomar as ré<strong>de</strong>as <strong>de</strong> seu próprio <strong>de</strong>stino,<br />
transformando-se <strong>em</strong> cidadão pleno, contribuíram para a formação da concepção da educação<br />
como um ato político e transformador da realida<strong>de</strong> social.<br />
A educação para a cidadania reveste-se <strong>de</strong> extr<strong>em</strong>a importância por abordar uma questão<br />
fundamental para que possamos <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> ocupar o ranking <strong>de</strong> campeão das <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s<br />
sociais, da criminalida<strong>de</strong>, da corrupção, etc., fazendo com que esta nação cumpra o seu papel<br />
no cenário mundial ao lado <strong>de</strong> nações que superaram seus probl<strong>em</strong>as internos.<br />
Por fim, gostaríamos <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar que os autores têm consciência das amarras históricas <strong>de</strong><br />
po<strong>de</strong>r nas quais a socieda<strong>de</strong> brasileira e suas instituições estão presas. Mas, escolh<strong>em</strong>os ousar<br />
e <strong>de</strong>senvolver um trabalho que <strong>de</strong>monstre que sonhar por um país menos <strong>de</strong>sigual fruto do<br />
esforço <strong>de</strong> todos s<strong>em</strong>pre é possível, e que o sonho <strong>de</strong> hoje po<strong>de</strong>rá se tornar a realida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
amanhã, pois como disse Bernard Shaw: Imaginar é o princípio da criação. Nós imaginamos o<br />
que <strong>de</strong>sejamos, quer<strong>em</strong>os o que imaginamos e, finalmente, criamos aquilo que quer<strong>em</strong>os.<br />
8
2 CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO BRASIL – BREVE HISTÓRICO<br />
2.1 O período colonial<br />
O período <strong>de</strong> três séculos <strong>de</strong> colonização portuguesa não propiciou a formação <strong>de</strong> uma<br />
socieda<strong>de</strong> cidadã, pois a escravidão e a gran<strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong> não constituíram ambiente<br />
favorável à formação <strong>de</strong> futuros cidadãos. Os escravos não tinham os direitos civis básicos à<br />
integrida<strong>de</strong> física, à liberda<strong>de</strong>, à própria vida. Entre os escravos e senhores existia uma<br />
população legalmente livre, mas a que faltavam quase todas as condições para o exercício dos<br />
direitos civis, sobretudo a educação. Por outro lado, não se po<strong>de</strong> dizer que os senhores foss<strong>em</strong><br />
cidadãos, pois apesar <strong>de</strong> ser<strong>em</strong> livres e ter<strong>em</strong> o direito <strong>de</strong> votar e ser<strong>em</strong> votados nas eleições<br />
municipais, faltava-lhes o sentido <strong>de</strong> cidadania, a noção <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> todos perante a lei.<br />
Eram simples potentados que absorviam parte das funções do Estado, sobretudo as funções<br />
judiciárias.<br />
Os direitos civis beneficiavam a poucos, os direitos políticos a pouquíssimos, dos direitos<br />
sociais ainda não se falava. A assistência social estava a cargo da Igreja e <strong>de</strong> particulares.<br />
Outro aspecto da administração colonial portuguesa que dificultava o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong><br />
uma consciência <strong>de</strong> direitos era o <strong>de</strong>scaso pela educação primária. “(...) <strong>em</strong> 1872, meio século<br />
após a in<strong>de</strong>pendência, apenas 16% da população era alfabetizada” (CARVALHO, 2004,<br />
p.23).<br />
Quanto à educação superior, <strong>em</strong> contraste com a Espanha, Portugal nunca permitiu a criação<br />
<strong>de</strong> universida<strong>de</strong>s <strong>em</strong> sua colônia. As escolas superiores só foram admitidas após a chegada da<br />
corte, <strong>em</strong> 1808. Os brasileiros que quisess<strong>em</strong>, e pu<strong>de</strong>ss<strong>em</strong>, ir para Universida<strong>de</strong> tinham que ir<br />
para Portugal, sobretudo a Coimbra.<br />
As características <strong>de</strong> nossa socieda<strong>de</strong> colonial teve como conseqüência uma “apatia” social<br />
sendo raras as manifestações cívicas durante aquele período. Excetuadas as revoltas escravas,<br />
das quais a mais importante foi a <strong>de</strong> Palmares, quase todas as outras foram conflitos entre<br />
setores dominantes ou reações <strong>de</strong> brasileiros contra o domínio colonial.<br />
9
Chegou-se ao fim do período colonial com um país dotado <strong>de</strong> unida<strong>de</strong> territorial, lingüística,<br />
cultural e religiosa formado por uma população analfabeta, uma socieda<strong>de</strong> escravocrata, uma<br />
economia monocultura e latifundiária e um Estado absolutista, on<strong>de</strong> a gran<strong>de</strong> maioria da<br />
população estava excluída dos direitos civis e políticos e não possuía um sentimento <strong>de</strong><br />
nacionalida<strong>de</strong>.<br />
2.2 Do Brasil Império a Primeira República (1822 a 1930)<br />
Com a in<strong>de</strong>pendência <strong>em</strong> 1822, não houve modificação do panorama brasileiro, pois <strong>de</strong> um<br />
lado a herança colonial era por <strong>de</strong>mais negativa e por outro, o processo <strong>de</strong> in<strong>de</strong>pendência<br />
envolveu conflitos muito limitados. “A principal característica política brasileira foi a<br />
negociação entre a elite nacional, a coroa portuguesa e a Inglaterra, tendo como figura<br />
mediadora o príncipe D. Pedro” (CARVALHO, 2004, p.26). Essa negociação garantiu a<br />
manutenção da monarquia conservadora com a casa <strong>de</strong> Bragança e a continuida<strong>de</strong> do mo<strong>de</strong>lo<br />
social do período colonial.<br />
Com todo o seu liberalismo a Constituição outorgada <strong>de</strong> 1824, representou um avanço no que<br />
se refere aos direitos políticos ao esten<strong>de</strong>r o direito <strong>de</strong> voto à maioria da população masculina.<br />
Contudo, isso não representou um direito <strong>de</strong> cidadania, porque a maioria dos homens não<br />
tinha noção do que representava um governo representativo e o que significava escolher<br />
alguém como seu representante político.<br />
Na prática, a extensão do voto se traduziu numa disputa acirrada entre o domínio político<br />
local, pois per<strong>de</strong>r as eleições significava per<strong>de</strong>r prestígio social e po<strong>de</strong>r sobre os cargos<br />
públicos, como <strong>de</strong>legados e juizes. Assim, para garantir a manutenção do po<strong>de</strong>r local, as<br />
eleições tornaram-se espetáculos tumultuados, violentos <strong>em</strong> que se acabava ganhando<br />
literalmente no grito.<br />
A total <strong>de</strong>sorganização e incapacida<strong>de</strong> do governo <strong>em</strong> organizar as eleições favoreceu a<br />
criação <strong>de</strong> figuras especializadas <strong>em</strong> burlá-las. Po<strong>de</strong>mos citar os cabalistas (cuja função era<br />
alistar o maior número possível <strong>de</strong> votantes), os fósforos (pessoa que se passava pelo<br />
verda<strong>de</strong>iro votante) e o capanga eleitoral (cuidava da parte mais truculenta do processo).<br />
Ainda existiam a eleição “a bico <strong>de</strong> pena”, que se dava através <strong>de</strong> um preenchimento <strong>de</strong> ata,<br />
mesmo quando não aparecia nenhum eleitor.<br />
10
Nessas circunstâncias, o voto não representava o direito <strong>de</strong> participar da vida política do país<br />
era um ato <strong>de</strong> obediência forçada ao po<strong>de</strong>r local. E à medida que os votantes enten<strong>de</strong>ram a<br />
importância que o voto tinha para os políticos locais, transformaram-no <strong>em</strong> uma mercadoria a<br />
ser vendida pelo melhor preço. O encarecimento do voto e a frau<strong>de</strong> generalizada levaram à<br />
uma crescente campanha pelo voto direto com o estabelecimento <strong>de</strong> uma renda limitadora e<br />
pela proibição <strong>de</strong> voto aos analfabetos.<br />
Em 1831 o Brasil caminhou para trás per<strong>de</strong>ndo a vantag<strong>em</strong> que adquirira com a Constituição<br />
<strong>de</strong> 1824, pois a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que, apesar <strong>de</strong> introduzir o voto<br />
direto e facultativo limitou-o ao excluir os analfabetos, visto que somente 20% da população<br />
masculina era alfabetizada, e passou a exigir uma renda <strong>de</strong> 200 mil réis.<br />
A Primeira República (1889-1930) não significou gran<strong>de</strong> mudança. A Constituição<br />
republicana <strong>de</strong> 1891, eliminou apenas a exigência <strong>de</strong> renda. A principal barreira ao voto, a<br />
exclusão dos analfabetos, foi mantida assim como também foi mantida a proibição <strong>de</strong> voto às<br />
mulheres, aos mendigos, aos soldados e aos m<strong>em</strong>bros das or<strong>de</strong>nações religiosas. Foi<br />
introduzida a fe<strong>de</strong>ração nos mol<strong>de</strong>s dos Estados Unidos, o que facilitou a formação <strong>de</strong> sólidas<br />
oligarquias estaduais que conseguiram envolver todos os mandões locais, bloqueando<br />
qualquer tentativa <strong>de</strong> oposição política.<br />
Nesse cenário, as práticas eleitorais fraudulentas foram aperfeiçoadas e os eleitores<br />
continuavam a ser coagidos, comprados, enganados ou simplesmente excluídos. Mas, apesar<br />
<strong>de</strong> todas as leis que restringiam o direto do voto e <strong>de</strong> todas as práticas que o <strong>de</strong>turpavam, não<br />
houve no Brasil, até 1930, movimentos populares exigindo maior participação eleitoral. A<br />
única exceção foi o movimento pelo voto f<strong>em</strong>inino, que acabou sendo introduzido após a<br />
revolução <strong>de</strong> 1930.<br />
A herança colonial pesou mais na área dos direitos civis. O novo país herdou a escravidão,<br />
que negava a condição humana do escravo, a gran<strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong> rural, fechada à ação da lei,<br />
e um Estado comprometido com o po<strong>de</strong>r privado. Três <strong>em</strong>pecilhos ao exercício da cidadania<br />
civil.<br />
11
A escravidão era amplamente difundida no Brasil e os seus valores estavam tão enraizados <strong>em</strong><br />
toda a socieda<strong>de</strong> brasileira que até mesmos os escravos, <strong>em</strong>bora repudiass<strong>em</strong> a sua condição,<br />
quando libertos admitiam escravizar os outros. Dentro <strong>de</strong>sse panorama é importante l<strong>em</strong>brar a<br />
posição da Igreja Católica que <strong>de</strong>fendia a interpretação <strong>de</strong> que a Bíblia admitia a escravidão,<br />
pois o que se <strong>de</strong>veria evitar era escravidão da alma, causada pelo pecado, e não a do corpo. O<br />
máximo que os pensadores luso-brasileiros encontravam na Bíblia <strong>em</strong> favor dos escravos era<br />
a exortação <strong>de</strong> São Paulo aos senhores no sentido <strong>de</strong> tratá-los com justiça e eqüida<strong>de</strong>.<br />
A escravidão somente foi colocada seriamente <strong>em</strong> questão após o final da guerra contra o<br />
Paraguai, quando se mostrara perigosa para a <strong>de</strong>fesa nacional ao impedir a formação <strong>de</strong> um<br />
exército <strong>de</strong> cidadãos, o que enfraquecia a segurança interna. O principal argumento que se<br />
apresentava no Brasil <strong>em</strong> favor da abolição era, o que José Murilo <strong>de</strong> Carvalho <strong>de</strong>nominou <strong>de</strong><br />
“Razão Nacional”, utilizada por José Bonifácio e Joaquim Nabuco. Para eles a escravidão era<br />
um obstáculo à formação <strong>de</strong> uma verda<strong>de</strong>ira nação e <strong>de</strong> forças armadas po<strong>de</strong>rosas, na medida<br />
<strong>em</strong> que impedia a integração social e política do país, o <strong>de</strong>senvolvimento das classes sociais e<br />
do mercado <strong>de</strong> trabalho, causando o crescimento exagerado do Estado e do número dos<br />
funcionários públicos, falseando o governo representativo.<br />
Os valores <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> individual, base dos direitos civis, não tinham importância <strong>em</strong> nosso<br />
país, pois a <strong>de</strong>fesa pelo fim da escravidão não se fundamentava no iluminismo libertário, na<br />
ênfase nos direitos naturais, na liberda<strong>de</strong> individual. Estava pautada nos aspectos<br />
comunitários da vida religiosa e política. Insistia na supr<strong>em</strong>acia do todo sobre as partes, da<br />
cooperação sobre a competição e da hierarquia sobre a igualda<strong>de</strong>.<br />
Mas, a influência <strong>de</strong> um Estado absolutista, <strong>em</strong> Portugal, acrescida da influência da<br />
escravidão, no Brasil, <strong>de</strong>turpou essa visão comunitária da vida, resultando <strong>em</strong> apelos, quase<br />
s<strong>em</strong>pre ignorados, <strong>em</strong> favor <strong>de</strong> um tratamento benevolente dos súditos e dos escravos. O<br />
melhor que se podia obter nessas circunstâncias era o paternalismo do governo e dos<br />
senhores, que podia minorar sofrimentos, mas nunca construir uma autêntica comunida<strong>de</strong> e<br />
muito menos uma cidadania ativa.<br />
Isso se refletiu no tratamento dado aos ex-escravos após a abolição. Aos libertos não foram<br />
dadas n<strong>em</strong> escolas, n<strong>em</strong> terras, n<strong>em</strong> <strong>em</strong>prego. Passada a euforia da libertação, muitos<br />
regressaram a sua fazenda para retomar o trabalho por baixos salários. Outros se dirigiram às<br />
12
cida<strong>de</strong>s, como Rio <strong>de</strong> Janeiro, on<strong>de</strong> foram engrossar a gran<strong>de</strong> parcela da população s<strong>em</strong><br />
<strong>em</strong>prego fixo. On<strong>de</strong> havia dinamismo econômico causado pela expansão do café, como São<br />
Paulo, os <strong>em</strong>pregos foram ocupados pelos imigrantes italianos. Lá os ex-escravos foram<br />
expulsos ou relegados aos trabalhos mais brutos e mais mal pagos.<br />
As conseqüências foram duradouras para a população negra. Ela teve que enfrentar sozinha o<br />
<strong>de</strong>safio da ascensão social, e freqüent<strong>em</strong>ente precisou fazê-lo por rotas originais, como o<br />
futebol, o samba e o carnaval. Mas a escravidão não afetou somente o escavo, que não<br />
<strong>de</strong>senvolveu a consciência <strong>de</strong> seus direitos civis. Afetou também o senhor que não admitia os<br />
direitos civis dos escravos e exigia privilégios para si próprio.<br />
O outro gran<strong>de</strong> obstáculo à expansão da cidadania foi a gran<strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong> rural. Até 1930, o<br />
Brasil era um país predominant<strong>em</strong>ente agrícola. Sua economia estava baseada na exportação<br />
<strong>de</strong> café, <strong>de</strong> açúcar e <strong>de</strong> algodão. Na socieda<strong>de</strong> rural, dominavam os gran<strong>de</strong>s proprietários que<br />
antes <strong>de</strong> 1888, eram também, na gran<strong>de</strong> maioria, proprietários <strong>de</strong> escravos. Eram eles e os<br />
comerciantes urbanos que sustentavam a política do coronelismo. E foi <strong>em</strong> São Paulo e Minas<br />
Gerais que esse sist<strong>em</strong>a político atingiu a perfeição e contribuiu para o domínio que os dois<br />
estados exerceram sobre a fe<strong>de</strong>ração na primeira República.<br />
O coronelismo impedia a participação política porque negava os direitos civis. Nas fazendas<br />
imperava a lei do coronel, seus trabalhadores e <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes não eram cidadãos do Estado<br />
brasileiro eram seus súditos. Nesse sist<strong>em</strong>a político <strong>em</strong> que o coronel controlava os cargos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>legado, <strong>de</strong> juizes, <strong>de</strong> coletor <strong>de</strong> impostos, etc., a justiça e a polícia estavam postas a serviço<br />
do po<strong>de</strong>r privado. E a justiça privada ou controlada por agentes privados é a negação da<br />
justiça. Seus amigos e aliados eram protegidos, seus inimigos eram perseguidos ou ficavam<br />
simplesmente sujeitos aos rigores da lei. E daí que v<strong>em</strong> o jargão popular: para os amigos tudo,<br />
para os inimigos a lei.<br />
Isso <strong>de</strong>monstra que a lei que <strong>de</strong>via ser a garantia <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> todos, acima do arbítrio do<br />
governo e do po<strong>de</strong>r privado tornava-se apenas instrumento <strong>de</strong> castigo, arma contra os<br />
inimigos, algo a ser usado <strong>em</strong> benefício próprio. Nessas circunstâncias não po<strong>de</strong>ria haver<br />
cidadãos políticos. Mesmo que lhes fosse permitido votar, eles não teriam as condições<br />
necessárias para o exercício in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do direito político.<br />
13
A assistência social era exercida pelas irmanda<strong>de</strong>s religiosas, socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> auxílio mútuo e<br />
as santas casas <strong>de</strong> misericórdia. O governo pouco cogitava <strong>de</strong> legislação trabalhista e <strong>de</strong><br />
proteção ao trabalhador. Houve até retrocesso na legislação. A constituição republicana <strong>de</strong><br />
1891 retirou do estado a obrigação <strong>de</strong> fornecer educação primária, constante da constituição<br />
<strong>de</strong> 1824, e proibia ao governo fe<strong>de</strong>ral interferir na regulamentação do trabalho. Tal<br />
interferência era consi<strong>de</strong>rada violação da liberda<strong>de</strong> do exercício profissional.<br />
Somente <strong>em</strong> 1926, quando a constituição sofreu sua primeira reforma, é que o governo fe<strong>de</strong>ral<br />
foi autorizado a legislar sobre o trabalho. Mas, fora o Código <strong>de</strong> Menores <strong>de</strong> 1927, nada foi<br />
feito até 1930. Durante a primeira república, a presença do governo nas relações entre patrões<br />
e <strong>em</strong>pregados era questão <strong>de</strong> polícia. No campo <strong>de</strong> legislação social, apenas algumas tímidas<br />
medidas foram adotadas, a maioria <strong>de</strong>las após a assinatura pelo Brasil do tratado <strong>de</strong> Versalhes<br />
(1919) e do ingresso do país na Organização Internacional do Trabalho (OIT).<br />
O que houve <strong>de</strong> mais importante nesse período foi a criação <strong>de</strong> uma Caixa <strong>de</strong> aposentadoria e<br />
pensão para os ferroviários <strong>em</strong> 1923. Logo, o sist<strong>em</strong>a <strong>de</strong> caixas expandiu-se para outras<br />
<strong>em</strong>presas sendo o germe da legislação social da década seguinte. As poucas medidas tomadas<br />
restringiam-se ao meio urbano. No campo a pequena assistência social que existia era<br />
exercida pelos coronéis. Os gran<strong>de</strong>s proprietário eram o único recurso dos trabalhadores<br />
quando se tratava <strong>de</strong> comprar r<strong>em</strong>édios, <strong>de</strong> chamar um médico, <strong>de</strong> ser levado a um hospital e<br />
<strong>de</strong> ser enterrado.<br />
A dominação exercida pelos coronéis incluía esses aspectos paternalistas que lhe davam<br />
alguma legitimida<strong>de</strong>. Em troca do trabalho e da lealda<strong>de</strong> o trabalhador recebia proteção contra<br />
a polícia e assistência <strong>em</strong> momentos <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong>. Esses lados das relações mascaravam a<br />
exploração do trabalhador e ajuda a explicar a durabilida<strong>de</strong> dos po<strong>de</strong>r dos coronéis.<br />
A urbanização evoluiu lentamente concentrando-se <strong>em</strong> algumas capitais, principalmente do<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro e São Paulo. Em 1920 havia no Brasil 275.512 operários industriais urbanos, e<br />
<strong>em</strong>bora esse número fosse pequeno, representava alguma diversida<strong>de</strong> social e política. No<br />
Rio, a industrialização era mais antiga e o operariado, mais nacional formada por portugueses<br />
e negros, inclusive ex-escravos. Em São Paulo a maioria era composta por italianos e<br />
espanhóis.<br />
14
Surgiram movimentos operários, influenciados, <strong>em</strong> sua maioria, pelo anarquismo trazido<br />
pelos imigrantes europeus. Enfrentaram repressões comandadas pelos patrões e pelo governo.<br />
Com a criação do PCdoB <strong>em</strong> 1922, formada por ex-anarquista, a influência anarquista<br />
<strong>de</strong>clinou e o movimento operário como um todo per<strong>de</strong>u força durante a década <strong>de</strong> 20, só<br />
vindo a ressurgir após 1930. Sob o ponto <strong>de</strong> vista da cidadania o movimento operário<br />
representou um avanço inegável, sobretudo no que se refere aos direitos civis. Lutava por<br />
direitos básicos, como o <strong>de</strong> organizar-se, <strong>de</strong> manifestar-se, <strong>de</strong> escolher o trabalho, e por uma<br />
legislação trabalhista e por direitos sociais.<br />
Os anarquistas rejeitavam qualquer relação com o Estado e com a política, o Congresso e até<br />
mesmo a idéia <strong>de</strong> pátria. O Estado para eles, não passava <strong>de</strong> um servidor da classe capitalista,<br />
o mesmo se dando com os partidos políticos, as eleições e até mesmo a idéia <strong>de</strong> pátria. Assim<br />
é que os poucos direitos políticos civis conquistados não pu<strong>de</strong>ram ser postos a serviços dos<br />
direitos políticos.<br />
Ao final da colônia, antes da chegada da corte portuguesa, não havia pátria brasileira, e a<br />
colônia portuguesa estava preparada para o mesmo <strong>de</strong>stino da colônia espanhola: fragmenta-<br />
se <strong>em</strong> vários países distintos. Não havia sentimento <strong>de</strong> pátria comum entre os habitantes da<br />
colônia. A i<strong>de</strong>ntificação <strong>em</strong>otiva era com a província, o Brasil era apenas uma construção<br />
política, um ato <strong>de</strong> vonta<strong>de</strong> movido pela mente e não pelo coração.<br />
Foram as lutas contra inimigos estrangeiros que criaram alguma i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>. O principal<br />
acontecimento que contribui para a formação da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> brasileira foi a guerra contra o<br />
Paraguai, que envolveu gran<strong>de</strong>s parcelas da população. Mas até 1930, não havia povo<br />
organizado politicamente n<strong>em</strong> sentimento nacional consolidado. O povo não tinha lugar no<br />
sist<strong>em</strong>a político, seja no Império, seja na República. O Brasil era ainda para ela uma realida<strong>de</strong><br />
abstrata. E aos gran<strong>de</strong>s acontecimentos políticos nacionais ele não participava, assistia.<br />
2.3 A Era Vargas (1930 – 1964)<br />
Em 3 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1930, o presi<strong>de</strong>nte da república Washington Luís foi <strong>de</strong>posto por um<br />
movimento armado dirigido por civis e militares <strong>de</strong> três estados da fe<strong>de</strong>ração, Minas Gerias,<br />
Rio Gran<strong>de</strong> do Sul e Paraíba, pondo fim à Primeira República.<br />
15
Entre 1930 e 1937, o Brasil viveu uma fase <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> agitação política. O movimento que<br />
levou ao fim da primeira República era heterogêneo do ponto <strong>de</strong> vista social e i<strong>de</strong>ológico. Os<br />
dois blocos principais eram as dissidências oligárquicas, que queriam ajustes na situação<br />
anterior e os jovens militares civis que queriam reformas mais profundas que feriam os<br />
interesses das oligarquias . A principal era a reforma agrária.<br />
Do lado oposto, as velhas oligarquias, sobretudo a <strong>de</strong> São Paulo que procuravam bloquear as<br />
reformas. O receio dos proprietários aumentou <strong>de</strong>pois da a<strong>de</strong>são do capitão Luís Carlos<br />
Prestes ao Partido Comunista <strong>em</strong> fins <strong>de</strong> 1930, que passou a pregar uma revolução segundo o<br />
mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> 1917, feita pela aliança entre operários, camponeses e soldados. Isso era anát<strong>em</strong>a<br />
para as oligarquias e também para alguns segmentos conservadores do país que começaram<br />
difundir a idéia <strong>de</strong> que o exército era um perigo não à or<strong>de</strong>m atual, mas às próprias<br />
instituições basilares do organismo nacional.<br />
O prolongamento do governo revolucionário provocou também o crescimento da<br />
oposição, sobretudo <strong>em</strong> São Paulo, on<strong>de</strong> as elites se reuniram para pedir o fim da intervenção<br />
fe<strong>de</strong>ral no estado e a volta do país ao regime constitucionalista. Em 1932, a elite paulista<br />
revolta-se contra o governo fe<strong>de</strong>ral, na chamada Revolução Constitucionalista. Pediram o fim<br />
do governo ditatorial e a convocação <strong>de</strong> eleição para escolher uma ass<strong>em</strong>bléia constituinte.<br />
Sua causa era aparent<strong>em</strong>ente inatacável: a restauração da legalida<strong>de</strong>, do governo<br />
constitucional. Mas seu espírito era conservador: buscava-se frear as reformas, <strong>de</strong>ter o<br />
tenentismo e restabelecer o controle do governo fe<strong>de</strong>ral pelos estados.<br />
Apesar <strong>de</strong> seu conteúdo conservador, a revolta paulista foi uma <strong>de</strong>monstração <strong>de</strong> entusiasmo<br />
cívico, pois houve mobilização geral. Não favoreceu a formação da i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> brasileira, mas<br />
revelou e reforçou um forte sentimento <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> paulista. Apesar <strong>de</strong> per<strong>de</strong>r a guerra, os<br />
paulistas ganharam no campo das eleições, foi convocada eleição para ass<strong>em</strong>bléia<br />
constituinte, <strong>em</strong>1933, foi introduzido o voto secreto e criada uma justiça eleitoral, as mulheres<br />
ganharam o direito ao voto e foi introduzida a representação classista (os <strong>de</strong>putados eram<br />
escolhidos pelos sindicatos) <strong>em</strong> uma tentativa <strong>de</strong> reduzir a influência das oligarquias estaduais<br />
no congresso nacional.<br />
A constituinte confirmou Getúlio Vargas na presidência e elaborou uma constituição inspirada<br />
na <strong>de</strong> Weimar, <strong>de</strong> conteúdo liberal. Entretanto, os reformistas autoritários viam no<br />
16
liberalismo uma simples estratégia par evitar as mudanças e preservar o domínio oligárquico.<br />
Após a constitucionalização do país, a luta política recru<strong>de</strong>sceu. Formaram-se dois gran<strong>de</strong>s<br />
movimentos políticos: um à esquerda, Aliança Nacional Libertadora (ANL) li<strong>de</strong>rada por Luís<br />
Carlos Prestes, sob orientação da Terceira Internacional; outra à direita, Ação Integralista<br />
Brasileira (AIB) <strong>de</strong> orientação fascista, dirigida por Plínio Salgado.<br />
Os partidários da ANL e da AIB divergiam i<strong>de</strong>ologicamente <strong>em</strong> vários pontos mas se<br />
ass<strong>em</strong>elhavam quando mobilizavam a massa, pregavam o fortalecimento do governo central,<br />
<strong>de</strong>fendiam um estado intervencionista, <strong>de</strong>sprezavam o liberalismo, propunham reformas<br />
econômicas e sociais. Eram movimentos que atraíam setores da classe média industrial<br />
urbana, que eram os que se sentiam mais prejudicados pelo domínio oligárquico.<br />
Sob a influência do Partido Comunista, a ANL, <strong>de</strong>cidiu radicalizar sua posição promovendo<br />
uma revolução popular. S<strong>em</strong> apoio popular o governo não teve dificulda<strong>de</strong>s <strong>em</strong> reprimi-la, e<br />
a aproveitou a situação para expulsar do exército os el<strong>em</strong>entos mais radicais e para exagerar o<br />
perigo <strong>de</strong> uma revolta no país. A luta contra o comunismo serviu ainda ao governo para<br />
preparar o fim do curto experimento constitucional inaugurado <strong>em</strong> 1934.<br />
Com o apoio dos generais Góis Monteiro e Gaspar Dutra, que acreditavam que o papel do<br />
exército seria tutelar o governo e a nação, através <strong>de</strong> um projeto que incluísse propostas <strong>de</strong><br />
transformações econômicas e sociais <strong>de</strong>ntro dos limites da or<strong>de</strong>m, Vargas, <strong>em</strong> 1937 pôs fim<br />
ao regime constitucional.<br />
O golpe <strong>de</strong> 1937 e o estabelecimento do Estado Novo, cuja ban<strong>de</strong>ira era a luta contra o<br />
comunismo e a postura nacionalista e industrializante do governo, teve o apoio entusiasta do<br />
integralismo. Esse nacionalismo econômico só cresceu com o passar do t<strong>em</strong>po <strong>de</strong>vido à luta<br />
<strong>de</strong> Vargas pelo estabelecimento <strong>de</strong> uma si<strong>de</strong>rurgia nacional e pelo monopólio estatal da<br />
extração e refino <strong>de</strong> petróleo.<br />
Assim, as transformações econômicas pelas quais passaram o país a partir <strong>de</strong> 1930, explicam<br />
a pequena resistência ao Estado Novo. E a aceitação do golpe indica que os avanços<br />
<strong>de</strong>mocráticos posteriores a 1930 ainda eram frágeis. A oposição só ganhou forças por efeito<br />
das mudanças externas trazidas com o final da Segunda Guerra Mundial.<br />
17
De 1929 a 1945 o país viveu sob o regime ditatorial civil, garantido pelas forças armadas, <strong>em</strong><br />
que as manifestações políticas eram proibidas, o governo legislava por <strong>de</strong>creto, a censura<br />
controlava a imprensa, os cárceres se enchiam <strong>de</strong> inimigos do regime. Mas, se os direitos<br />
políticos foram limitados e sujeitos a vários recuos, o mesmo não aconteceu com os direitos<br />
sociais. Vasta legislação trabalhista foi promulgada, culminando na Consolidação das Leis<br />
Trabalhistas (CLT). Na área da previdência social o avanço foi notável, a partir <strong>de</strong> 1933<br />
criaram-se os institutos <strong>de</strong> aposentadorias e pensões para as diversas categorias trabalhistas,<br />
com a contínua ampliação da re<strong>de</strong> <strong>de</strong> beneficiados, esten<strong>de</strong>ndo a previdência social a quase<br />
todos os trabalhadores urbanos.<br />
Um dos aspectos do autoritarismo estado-novista, que rejeitava o conflito social, revelou-se<br />
no esforço <strong>de</strong> organizar patrões e operários, através da sindicalização obrigatória, controlada<br />
pelo governo. Só os sindicalizados gozavam <strong>de</strong> proteção do Estado contra os <strong>em</strong>presários, e<br />
somente eles podiam beneficiar-se da legislação previ<strong>de</strong>nciária. Desta forma, os operários<br />
viviam um dil<strong>em</strong>a: liberda<strong>de</strong> s<strong>em</strong> proteção ou proteção s<strong>em</strong> liberda<strong>de</strong>.<br />
Entretanto, essa legislação previ<strong>de</strong>nciária, que excluía categorias importantes <strong>de</strong><br />
trabalhadores, como os rurais, que ainda eram a maioria, revela uma concepção política social<br />
como privilégio e não como direito, na medida <strong>em</strong> que favorecia <strong>de</strong> modo particular aqueles<br />
que se enquadravam na esfera sindical corporativa montada pelo Estado. Essa política social,<br />
se traduzia <strong>em</strong> uma cidadania limitada, pois, se se protegia com legislação trabalhista,<br />
constrangia-se com a legislação sindical.<br />
O período <strong>de</strong> 1930 a 1945 foi a era dos direitos sociais. Nele foi implantado o grosso da<br />
legislação previ<strong>de</strong>nciária e trabalhista, foi a era do avanço sindical. Mas essa legislação<br />
introduzida <strong>em</strong> ambiente <strong>de</strong> baixa participação política e <strong>de</strong> precária vigência <strong>de</strong> direitos civis,<br />
tornaram duvidosa sua <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> conquista <strong>de</strong>mocrática e comprometeram <strong>em</strong> parte sua<br />
contribuição para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma cidadania ativa e reivindicadora. Nesse contexto,<br />
os direitos sociais eram vistos como um favor do governo <strong>em</strong> troca do qual <strong>de</strong>viam gratidão e<br />
lealda<strong>de</strong>. E a cidadania que resultou foi passiva e receptora.<br />
18
2.4 O Período D<strong>em</strong>ocrático (1945- 1964)<br />
Após a <strong>de</strong>rrubada <strong>de</strong> Vargas é eleito presi<strong>de</strong>nte do Brasil o general Eurico Gaspar Dutra. A<br />
Constituição <strong>de</strong> 1946 manteve as conquistas sociais do período anterior e garantiu os<br />
tradicionais direitos civis e políticos. A influência <strong>de</strong> Vargas marcou todo o período, que<br />
acabou sendo eleito pelo voto popular <strong>em</strong> 1950. Seu segundo governo foi marcado por<br />
radicalização populista e nacionalista, que contava com apoio dos trabalhadores, <strong>de</strong> sua<br />
máquina sindical, do Exército, do <strong>em</strong>presariado nacionalista, da intelectualida<strong>de</strong> e do PTB.<br />
A oposição vinha dos liberais agrupados na União D<strong>em</strong>ocrática Nacional (UDN), dos<br />
militares anticomunistas, do <strong>em</strong>presariado brasileiro ligado ao capital internacional e do<br />
próprio capital internacional, representado pelas gran<strong>de</strong>s multinacionais do petróleo.<br />
Petróleo, política sindical e trabalhadores foram as causas dos principais enfrentamentos<br />
políticos que resultaram na conspiração da oposição para <strong>de</strong>rrubar o presi<strong>de</strong>nte, exigindo a<br />
sua renúncia. Entretanto, Vargas preferiu se matar. A reação popular foi imediata e mostrou<br />
que mesmo na morte o prestígio do ex-presi<strong>de</strong>nte mantinha-se intacto, Vargas tornara-se um<br />
herói popular <strong>de</strong>vido a sua política trabalhista.<br />
Após a morte <strong>de</strong> Vargas, seguiram-se golpes e contragolpes para garantir ou impedir a posse<br />
<strong>de</strong> Juscelino Kubitschek. Apesar da oposição civil e <strong>de</strong> revoltas militares, a habilida<strong>de</strong> do<br />
novo presi<strong>de</strong>nte permitiu-lhe dirigir o governo mais dinâmico e <strong>de</strong>mocrático da história<br />
republicana. O Estado investia <strong>em</strong> obras <strong>de</strong> infra-estrutura e procurou atrair capital privado<br />
nacional e estrangeiro para promover a industrialização do país.<br />
Os conflitos do último governo <strong>de</strong> Vargas não tinham <strong>de</strong>saparecidos, mas eram amortecidos<br />
pelas altas taxas <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento econômico, que girava <strong>em</strong> torno <strong>de</strong> 10% ao ano, que<br />
distribuíam benefícios a todos, operários e patrões, industriais nacionais e estrangeiros. O<br />
salário mínimo real atingiu seus índices mais altos. Apesar <strong>de</strong> tudo, os trabalhadores rurais<br />
permaneceram <strong>de</strong> fora da legislação trabalhista e sindical.<br />
O governo <strong>de</strong> Kubitschek se traduziu <strong>em</strong> uma política <strong>de</strong> conciliação <strong>de</strong> interesses, e mesmo<br />
ao final do período, quando começaram a surgir sinais <strong>de</strong> dificulda<strong>de</strong>s, Juscelino encerrou o<br />
seu mandato <strong>em</strong> paz, elegendo o seu sucessor Jânio Quadros, <strong>em</strong> 1960. Seu governo foi curto.<br />
19
Tomou posse <strong>em</strong> janeiro <strong>de</strong> 1961 e renunciou <strong>em</strong> agosto do mesmo ano. Como os ministros<br />
militares não aceitaram a posse <strong>de</strong> seu vice-presi<strong>de</strong>nte (João Goulart), instalou-se uma crise<br />
política, renovando a disputa que dividia políticos e militares, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o governo <strong>de</strong> Vargas.<br />
Por <strong>de</strong>z dias, o país se viu à beira da guerra civil. A solução encontrada pelo Congresso foi<br />
adotar o sist<strong>em</strong>a parlamentarista, que retirava do presi<strong>de</strong>nte gran<strong>de</strong> parte <strong>de</strong> seus po<strong>de</strong>res. Mas<br />
Goulart e as forças que o apoiava buscaram reverter a situação e restaurar o presi<strong>de</strong>ncialismo.<br />
Devido a pressões políticas, o Congresso marcou um plebiscito que <strong>em</strong> 1963 <strong>de</strong>cidiu a favor<br />
do presi<strong>de</strong>ncialismo. Jango assumiu os plenos po<strong>de</strong>res <strong>de</strong> um presi<strong>de</strong>nte.<br />
A partir <strong>de</strong> então, a luta política rapidamente se radicalizou <strong>em</strong> uma oposição entre esquerda e<br />
direita. As direitas, civil e militar, começaram a se organizar e a se preparar para o confronto.<br />
O bordão do anticomunismo foi usado intensamente. Planos para <strong>de</strong>rrubar o presi<strong>de</strong>nte<br />
começaram a ser traçados, contando com a simpatia do governo norte-americano.<br />
Do lado da esquerda a unida<strong>de</strong> era frágil, o que levou à ausência <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> combativa,<br />
entretanto alguns segmentos se fizeram presentes, como os sindicatos, cuja cúpula estava sob<br />
o comando <strong>de</strong> alguns m<strong>em</strong>bros do Partido Comunista. Surg<strong>em</strong> também organizações<br />
nacionais unificadas <strong>de</strong> trabalhadores, como o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) e o<br />
Pacto <strong>de</strong> Unida<strong>de</strong> e Ação (PUA). Nesse período a União Nacional dos Estudantes (UNE)<br />
adquire gran<strong>de</strong> dinamismo e influência.<br />
Surgiram ameaças <strong>de</strong> greve <strong>em</strong> favor das reformas <strong>de</strong> base (compreendia reforma agrária,<br />
bancária, educacional e política), do movimento dos sargentos e contra o estado <strong>de</strong> sítio.<br />
Leonel Brizola, do PDT, organizou <strong>em</strong> grupo paramilitar, preparado para agir à marg<strong>em</strong> dos<br />
mecanismos legais. No Congresso, formou-se uma Frente Parlamentar Nacionalista. Surg<strong>em</strong> o<br />
Partido Comunista do Brasil (P C do B) e o Partido da Política Operária. (POLOP).<br />
A mobilização política atingiu também a Igreja Católica, que passou a investir no movimento<br />
estudantil, no movimento operário e na educação <strong>de</strong> base. A gran<strong>de</strong> novida<strong>de</strong>, no entanto,<br />
veio do campo. Os trabalhadores rurais, posseiros e pequenos proprietários entraram na<br />
política com voz própria. O movimento começou no Nor<strong>de</strong>ste <strong>em</strong> 1955, sob o nome <strong>de</strong> Liga<br />
Camponesa. Ganhou notorieda<strong>de</strong> com a a<strong>de</strong>são <strong>de</strong> Francisco Julião, que <strong>em</strong> 1960 foi a Cuba.<br />
20
A partir daí, a política da Liga se radicalizou e o movimento passou a contar com o apoio<br />
financeiro <strong>de</strong> Cuba.<br />
Essa aproximação assustou os proprietários <strong>de</strong> terras, cuja reação se tornou mais violenta. Os<br />
Estados Unidos da América também se inquietaram e começaram a dirigir para o Nor<strong>de</strong>ste<br />
pessoal e recurso da Aliança para o Progresso. Na tentativa <strong>de</strong> <strong>de</strong>smobilizar os trabalhadores<br />
do campo, <strong>em</strong> 1953, o governo promulgou o Estatuto do Trabalhador Rural, que pela primeira<br />
vez, estendia ao campo a legislação sindical e social.<br />
O sindicalismo rural, acoplado a um movimento nacional <strong>de</strong> esquerda, que reclamava<br />
mudanças estruturais, inclusive reforma agrária, parecia ameaça real. Muitos fazen<strong>de</strong>iros se<br />
prepararam para a resistência armada, e <strong>em</strong> alguns pontos do país houve conflitos violentos<br />
envolvendo fazen<strong>de</strong>iros e trabalhadores rurais.<br />
Em 1963, sargentos da Marinha e Aeronáutica se rebelaram <strong>em</strong> Brasília, pren<strong>de</strong>ndo o<br />
Presi<strong>de</strong>nte da Câmara dos Deputados e um Ministro da Supr<strong>em</strong>a Corte. A gravida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
revolta cresceu quando a UNE a o CGT <strong>de</strong>ram apoio aos sargentos.<br />
João Goulart ce<strong>de</strong>u à força da esquerda e realizou comícios populares, com o objetivo <strong>de</strong><br />
pressionar o Congresso a aprovar a reforma <strong>de</strong> base. O primeiro aconteceu no Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
<strong>em</strong> 13 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 1964. A oposição reage e também realiza comícios, sob o l<strong>em</strong>a: Marcha<br />
da família com Deus pela Liberda<strong>de</strong>. Diversas revoltas militares que se seguiram culminou<br />
com o golpe militar <strong>de</strong> 31 <strong>de</strong> março. As gran<strong>de</strong>s massas, <strong>em</strong> nome das quais falavam os<br />
lí<strong>de</strong>res da esquerda não apareceram para <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r o governo. As que apareceram foram as da<br />
classe média para celebrar a queda do presi<strong>de</strong>nte.<br />
O período <strong>de</strong> 1930 a 1937 representou um primeiro ensaio <strong>de</strong> participação popular na política<br />
nacional. Após 1945, o ambiente internacional era novamente favorável à <strong>de</strong>mocracia<br />
representativa, e isto se refletiu na Constituição <strong>de</strong> 1946. A participação do povo na política<br />
cresceu significativamente, tanto pelo lado das eleições, como da ação política organizada <strong>em</strong><br />
partidos, sindicatos, ligas <strong>de</strong> camponeses e outras associações.<br />
As práticas eleitorais ainda estavam longe <strong>de</strong> perfeição. A frau<strong>de</strong> era facilitada por não haver<br />
cédula oficial para votar, e os coronéis mantinham várias práticas antigas <strong>de</strong> compra <strong>de</strong> voto e<br />
21
coerção <strong>de</strong> eleitores. Entretanto, fazia-se progresso <strong>em</strong> direção a uma eleição limpa. A rápida<br />
urbanização do país facilitava a mudança. O eleitor urbano era muito menos vulnerável ao<br />
aliciamento e à coerção. Mas, era vulnerável aos apelos populistas, e foi ele qu<strong>em</strong> <strong>de</strong>u vitória<br />
a Vargas <strong>em</strong> 1950, a Kubitschek <strong>em</strong> 1955 e a Goulart (como vice-presi<strong>de</strong>nte) <strong>em</strong> 1960.<br />
No populismo, o povo era massa <strong>de</strong> manobra <strong>em</strong> disputas entre grupos dominantes e baseava-<br />
se <strong>em</strong> apelos paternalistas ou carismáticos, não <strong>em</strong> coerção. A relação populista era dinâmica.<br />
A cada eleição fortaleciam-se os partidos populares e aumentava o grau <strong>de</strong> in<strong>de</strong>pendência e<br />
discernimento dos eleitores. O progressivo amadurecimento <strong>de</strong>mocrático po<strong>de</strong> ser verificado<br />
na evolução partidária. Foi nesse período que surgiram partidos nacionais, <strong>de</strong> massa e com<br />
programas <strong>de</strong>finidos.<br />
Apesar do avanço da <strong>de</strong>mocracia ela foi a pique <strong>em</strong> 1964. Esse fato po<strong>de</strong> ser explicado por<br />
dois ângulos: primeiro, porque as elites, tanto da direita, quanto da esquerda, não tinham<br />
convicções <strong>de</strong>mocráticas e se envolveram <strong>em</strong> uma corrida pelo controle do governo que<br />
<strong>de</strong>ixava <strong>de</strong> lado a prática da <strong>de</strong>mocracia representativa, e segundo porque não havia<br />
organizações civis fortes e representativas que pu<strong>de</strong>ss<strong>em</strong> refrear o curso da radicalização.<br />
O golpe <strong>de</strong> 1964, pôs a per<strong>de</strong>r o que se tinha conquistado <strong>em</strong> mobilização e aprendizado<br />
político. O país entrou <strong>em</strong> nova fase <strong>de</strong> supressão das liberda<strong>de</strong>s, <strong>em</strong> novo regime ditatorial,<br />
sob o controle direto dos militares.<br />
Os direitos sociais não evoluíram durante o período <strong>de</strong>mocrático, pois apesar da legislação<br />
previ<strong>de</strong>nciária e trabalhista, os trabalhadores rurais e autônomos e as <strong>em</strong>pregadas domésticas<br />
continuaram <strong>de</strong>samparados. S<strong>em</strong> nenhuma organização, os <strong>em</strong>pregados constituíam um<br />
gran<strong>de</strong> mercado informal <strong>de</strong> trabalho <strong>em</strong> que predominavam relações pessoais que l<strong>em</strong>bravam<br />
práticas escravistas.<br />
2.5 O governo militar (1964-1985)<br />
Derrubado Goulart, os políticos civis que tinham apoiado o golpe, sobretudo os da UDN,<br />
foram surpreendidos pela <strong>de</strong>cisão dos militares <strong>em</strong> assumir o po<strong>de</strong>r diretamente. O general<br />
Castelo Branco foi imposto a um Congresso já expurgado <strong>de</strong> muitos oposicionistas. Os<br />
22
direitos civis e políticos foram duramente atingidos pelas medidas <strong>de</strong> repressão. Os<br />
instrumentos legais <strong>de</strong> repressão foram ao “atos institucionais”.<br />
O primeiro, <strong>de</strong> 09 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1964, cassou os direitos políticos, pelo período <strong>de</strong> <strong>de</strong>z anos, <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> lí<strong>de</strong>res políticos, sindicais, intelectuais e militares. O segundo, <strong>de</strong> 02 <strong>de</strong><br />
outubro <strong>de</strong> 1965, aboliu a eleição direta para presi<strong>de</strong>nte da República, dissolveu os partidos<br />
políticos, reformou o judiciário e restringiu o direito <strong>de</strong> opinião.<br />
Nova retomada autoritária aconteceu <strong>em</strong> 1968, com o Ato Institucional nº 5 (AI-5), o mais<br />
radical <strong>de</strong> todos, o que mais atingiu os direitos políticos e civis, <strong>em</strong> repressão à mobilização<br />
<strong>de</strong> alguns setores da socieda<strong>de</strong>, sobretudo os operários e os estudantes, contra o governo. O<br />
congresso foi fechado, o habeas corpus para crimes contra a segurança nacional foi suspenso<br />
e todos os atos <strong>de</strong>correntes do AI-5 foram colocados fora da apreciação judicial.<br />
Sob o general Médice, as medidas repressivas atingiram seu ponto culminante. Nova lei <strong>de</strong><br />
segurança nacional foi introduzida, incluindo a pena <strong>de</strong> morte por fuzilamento. A máquina <strong>de</strong><br />
repressão cresceu rapidamente e tornou-se quase autônoma <strong>de</strong>ntro do governo. A censura à<br />
imprensa eliminou a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> opinião, não havia reunião, os partidos eram regulados e<br />
controlados pelo governo, os sindicatos estavam sob ameaça constante <strong>de</strong> intervenção, era<br />
proibido fazer greve, o direito <strong>de</strong> <strong>de</strong>fesa era cerceado pelas prisões arbitrárias, a justiça militar<br />
julgava crimes civis, a inviolabilida<strong>de</strong> do lar e da correspondência não existia, a integrida<strong>de</strong><br />
física era violada pela tortura nos cárceres do governo, o próprio direito à vida era<br />
<strong>de</strong>srespeitado.<br />
O período militar foi a época do milagre econômico brasileiro, <strong>em</strong> que a taxa <strong>de</strong> crescimento<br />
manteve-se <strong>em</strong> torno <strong>de</strong> 10% e foi quando o Brasil conquistou no México o tricampeonato<br />
mundial <strong>de</strong> futebol. O governo Médice, que reprimia ferozmente a oposição, soube aproveitar<br />
o momento <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> exaltação patriótica para aumentar a sua popularida<strong>de</strong>. Uma onda <strong>de</strong><br />
nacionalismo xenófobo e reacionário percorreu o país.<br />
A rápida expansão da economia veio acompanhada <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s transformações na <strong>de</strong>mografia<br />
e na composição <strong>de</strong> oferta <strong>de</strong> <strong>em</strong>pregos, houve gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>slocamento da população do campo<br />
para a cida<strong>de</strong> e aumento do número <strong>de</strong> <strong>em</strong>pregados. Paralelamente, à migração para a cida<strong>de</strong><br />
23
ocorreu um <strong>de</strong>slocamento maciço <strong>de</strong> pessoas do setor primário, para o secundário e o<br />
terciário.<br />
Salvo curtas interrupções o Congresso permaneceu aberto e <strong>em</strong> funcionamento, com um<br />
sist<strong>em</strong>a bipartidário entre o partido do governo (Aliança Renovadora Nacional – ARENA) e<br />
o partido da oposição (Movimento D<strong>em</strong>ocrático Brasileiro – MDB). O eleitorado cresceu<br />
sist<strong>em</strong>aticamente durante o governo militar.<br />
Ao mesmo t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que cerceavam os direitos políticos e civis, os militares investiam na<br />
expansão dos direitos sociais. Unificaram e universalizaram a previdência com a criação <strong>em</strong><br />
1966 do Instituto Nacional <strong>de</strong> Previdência Social (INPS) e do Fundo <strong>de</strong> Assistência Rural<br />
(FUNRURAL), <strong>em</strong> 1971, que efetivamente incluía os trabalhadores do campo. As duas<br />
categorias urbanas excluídas da previdência (<strong>em</strong>pregadas domésticas e trabalhadores<br />
autônomos) foram incorporadas à previdência <strong>em</strong> 1972 e 1973, respectivamente.<br />
Para aten<strong>de</strong>r à exigência dos <strong>em</strong>presários, acabaram com a estabilida<strong>de</strong> no <strong>em</strong>prego e para<br />
compensar criaram o Fundo <strong>de</strong> Garantia por T<strong>em</strong>po <strong>de</strong> Serviço (FGTS) <strong>em</strong> 1966. Criou-se<br />
também o Banco Nacional <strong>de</strong> Habitação (BNH), cuja função era facilitar a compra da casa<br />
própria aos trabalhadores <strong>de</strong> menor renda, e como coroamento das políticas sociais, foi criado<br />
<strong>em</strong> 1974, o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS).<br />
Em 1974, o general Ernesto Geisel promoveu um lento retorno à <strong>de</strong>mocracia, processo que<br />
ficou conhecido como abertura política. O general diminuiu as restrições à propaganda<br />
eleitoral, revogou o AI- 5, restabeleceu o habeas corpus, atenuou a Lei <strong>de</strong> Segurança Nacional<br />
e permitiu o retorno <strong>de</strong> cento e vinte exilados políticos. Em 1979, o Congresso votou lei <strong>de</strong><br />
anistia e foi abolido o bipartidarismo, dando espaço a que seis novos partidos políticos<br />
surgiss<strong>em</strong>. Foi permitida eleição direta para governadores <strong>de</strong> estados. Como ato final, os<br />
militares se abstiveram <strong>de</strong> impor um general como candidato à sucessão presi<strong>de</strong>ncial <strong>de</strong> 1985.<br />
Paralelamente às medidas <strong>de</strong> abertura política, houve, a partir <strong>de</strong> 1974, a retomada e<br />
renovação <strong>de</strong> movimentos <strong>de</strong> oposição. O MDB, apesar das constantes cassações <strong>de</strong> mandatos<br />
e violação da lei, manteve-se na oposição. Os sindicatos passaram a ter nova organização e<br />
lutavam por sua in<strong>de</strong>pendência, na busca <strong>de</strong> negociações diretas com os <strong>em</strong>pregadores por<br />
meio <strong>de</strong> contratos coletivos. A socieda<strong>de</strong> também se modificou. A Igreja Católica, no espírito<br />
24
da teologia da libertação, moveu-se na direção da <strong>de</strong>fesa dos direitos humanos. Os<br />
movimentos urbanos e as associações <strong>de</strong> profissionais <strong>de</strong> classe média se expandiram.<br />
Além do MDB e da Igreja Católica, outras organizações se afirmaram como pontos <strong>de</strong><br />
resistência ao governo militar. Dentre eles a Organização dos Advogados do Brasil (OAB), a<br />
Associação Brasileira <strong>de</strong> Imprensa (ABI) e a Socieda<strong>de</strong> Brasileira para o Progresso da Ciência<br />
(SBPC). Menos organizados, mas não menos eficientes na ação oposicionista, foram os<br />
artistas e intelectuais.<br />
O auge da mobilização popular foi a campanha pelas eleições diretas, <strong>em</strong> 1984, que foi a<br />
maior da história do país. Os comícios transformaram-se <strong>em</strong> gran<strong>de</strong>s festas cívicas. A<br />
ban<strong>de</strong>ira nacional foi recuperada como símbolo cívico. O hino nacional foi revalorizado e<br />
reconquistado pelo povo. Com a eleição <strong>de</strong> Tancredo Neves chega ao fim o período <strong>de</strong><br />
governos militares, apesar <strong>de</strong> permaneceram resíduos <strong>de</strong> autoritarismo nas leis e nas práticas<br />
sociais e políticas.<br />
Os avanços nos direitos sociais e a retomada dos direitos políticos, não resultaram <strong>em</strong> avanços<br />
dos direitos civis. Foram eles que mais sofreram no período militar. Como conseqüência da<br />
abertura política esses direitos foram restituídos, mas continuaram beneficiando apenas<br />
parcela reduzida da população. A maioria continuou fora do alcance e proteção da lei e dos<br />
tribunais.<br />
2.6 A cidadania após a re<strong>de</strong>mocratização<br />
A constituinte <strong>de</strong> 1988, redigiu e aprovou a Constituição mais liberal e <strong>de</strong>mocrática que o país<br />
já teve, merecendo por isso, o nome <strong>de</strong> Constituição Cidadã. Os direitos políticos adquiriram<br />
amplitu<strong>de</strong> nunca antes atingida. Entretanto, a <strong>de</strong>mocracia política não resolveu os probl<strong>em</strong>as<br />
econômicos mais sérios do país, como a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> e o <strong>de</strong>s<strong>em</strong>prego. Continuaram os<br />
probl<strong>em</strong>as <strong>de</strong> área social, sobretudo da educação, dos serviços sociais e do saneamento.<br />
Houve ainda o agravamento dos direitos civis no que se refere à segurança individual.<br />
A Constituição <strong>de</strong> 1988, ampliou também os direitos sociais. Os indicadores básicos <strong>de</strong><br />
qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida passaram por lenta melhoria: o progresso mais importante se <strong>de</strong>u na área <strong>de</strong><br />
educação fundamental, que é fator <strong>de</strong>cisivo para a cidadania. O analfabetismo diminuiu e a<br />
25
escolarida<strong>de</strong> aumentou, entretanto, essa melhora é tímida, pois o índice <strong>de</strong> repetência ainda e<br />
muito alto, e são necessários mais <strong>de</strong> <strong>de</strong>z anos para se completar os oito anos do ensino<br />
fundamental. No campo da previdência social <strong>de</strong> positivo houve a elevação da aposentadoria<br />
dos trabalhadores rurais para o piso <strong>de</strong> um salário mínimo e a introdução da renda vitalícia<br />
mensal para idosos e <strong>de</strong>ficientes. Mas apesar dos avanços, o principal probl<strong>em</strong>a <strong>de</strong>sse direito<br />
social está no valor das aposentadorias.<br />
A maior dificulda<strong>de</strong> na área social está na persistência das gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s sociais, que<br />
caracterizam o país <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a sua in<strong>de</strong>pendência. A <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> é sobretudo <strong>de</strong> natureza<br />
regional e racial. A escandalosa <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> que concentra nas mãos <strong>de</strong> poucos a riqueza<br />
nacional t<strong>em</strong> como conseqüência níveis dolorosos <strong>de</strong> pobreza e miséria.<br />
Os direitos civis estabelecidos antes do regime militar foram recuperados após 1985 e<br />
ampliados com a Constituição <strong>de</strong> 1988. No entanto, dos direitos que compõ<strong>em</strong> a cidadania, no<br />
Brasil são os civis que apresentam maiores <strong>de</strong>ficiências <strong>em</strong> termos <strong>de</strong> seu conhecimento,<br />
extensão e garantias, e a ausência <strong>de</strong> uma educação eficiente é fator que explica o<br />
comportamento das pessoas no que se refere ao exercício <strong>de</strong> direitos civis e políticos. Os mais<br />
educados se filiam mais a sindicatos, a órgãos <strong>de</strong> classe, a partidos políticos. A falta <strong>de</strong><br />
garantia dos direitos civis se verifica sobretudo no segurança individual, à integrida<strong>de</strong> física e<br />
ao acesso à justiça.<br />
O rápido crescimento das cida<strong>de</strong>s (que favorece os direitos políticos) transformou o Brasil <strong>em</strong><br />
um país predominant<strong>em</strong>ente urbano <strong>em</strong> poucos anos. Junto com a urbanização surgiram as<br />
metrópoles com gran<strong>de</strong> concentração <strong>de</strong> populações marginalizadas, que são privadas <strong>de</strong><br />
serviços urbanos, <strong>de</strong> serviços <strong>de</strong> segurança e <strong>de</strong> justiça. Nelas a combinação <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>em</strong>prego,<br />
trabalho informal e tráfico <strong>de</strong> drogas criaram um campo fértil para a proliferação da violência,<br />
sobretudo na forma <strong>de</strong> homicídios dolosos. A precarieda<strong>de</strong> dos direitos civis lançava sombras<br />
ameaçadoras sobre o futuro da cidadania.<br />
O probl<strong>em</strong>a é agravado pela ina<strong>de</strong>quação dos órgãos encarregados da segurança pública para<br />
o cumprimento <strong>de</strong> sua função. O judiciário também não cumpre o seu papel. O acesso à<br />
justiça é limitado à pequena parcela da população, mesmo nos gran<strong>de</strong>s centros. A maioria ou<br />
<strong>de</strong>sconhece seus direitos, ou, se os conhece, não t<strong>em</strong> condições <strong>de</strong> os fazer valer <strong>de</strong>vido aos<br />
custos e à <strong>de</strong>mora do processo.<br />
26
Do ponto <strong>de</strong> vista da garantia dos direitos civis, os cidadãos brasileiros po<strong>de</strong>m ser divididos<br />
<strong>em</strong> classes. Os <strong>de</strong> primeira, que estão acima <strong>de</strong> lei e consegu<strong>em</strong> <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r seus interesses pelo<br />
po<strong>de</strong>r do dinheiro e do prestígio social. Os <strong>de</strong> segunda, que estão sujeitos às leis, e são os <strong>de</strong><br />
classe média e; os cidadãos <strong>de</strong> terceira classe, que é a gran<strong>de</strong> população marginal das gran<strong>de</strong>s<br />
cida<strong>de</strong>s. São invariavelmente pardos ou negros, analfabetos ou com educação fundamental<br />
incompleta. São parte da comunida<strong>de</strong> política nacional apenas no nome. Na prática, ignoram<br />
seus direitos civis ou os têm <strong>de</strong>srespeitado por outros cidadãos, pelo governo, pela polícia.<br />
Estes cidadãos estão entre os vinte três por cento <strong>de</strong> famílias que receb<strong>em</strong> até dois salários<br />
mínimos. Para eles vale apenas o Código Penal.<br />
27
3 EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste capítulo é apontar duas teorias pedagógicas que têm como proposta uma<br />
educação <strong>em</strong>ancipadora, cujo resultado seria a construção <strong>de</strong> cidadãos plenos, que são aqueles<br />
que <strong>de</strong>têm os direitos civis, políticos e sociais. Como não po<strong>de</strong>ria <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> ser, iniciamos por<br />
um dos expoentes da educação que teve sua vida <strong>de</strong>dicada à belíssima missão <strong>de</strong> educar,<br />
Paulo Freire.<br />
3.1 Paulo Freire "Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo". Nasceu <strong>em</strong> Recife, <strong>em</strong> 1921 e<br />
faleceu <strong>em</strong> 1997. Teve sua formação acadêmica <strong>em</strong> Direito, mas a partir da década <strong>de</strong> 40,<br />
passou a ter mais contato com o mundo da educação. Suas primeiras ativida<strong>de</strong>s educacionais<br />
foram <strong>de</strong>senvolvidas no SESI – Serviço Social da Indústria e no MCP – Movimento <strong>de</strong><br />
Cultura Popular, no qual criou o Programa <strong>de</strong> Alfabetização e a criação <strong>de</strong> círculos <strong>de</strong> cultura.<br />
Em 1963, João Goulart o convidou para <strong>de</strong>senvolver um programa nacional <strong>de</strong> alfabetização<br />
<strong>de</strong> adultos e para trabalhar com educação básica. No entanto, <strong>em</strong> 1964, Paulo Freire foi<br />
obrigado a paralisar suas ativida<strong>de</strong>s por causa do Golpe Militar e, com isso, teve a<br />
oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> escrever e publicar <strong>em</strong> 1969: A educação como prática da liberda<strong>de</strong>.<br />
De 1964 a 1980, Paulo Freire ficou exilado no Chile on<strong>de</strong> teve a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> continuar a<br />
<strong>de</strong>senvolver suas teorias e ativida<strong>de</strong>s. Em 1969, foi nomeado especialista da UNESCO, e<br />
passou a dar aulas na Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Harvad, nos EUA. E <strong>em</strong> 1970, mudou-se para Genebra,<br />
exercendo ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> consultor do Conselho Mundial <strong>de</strong> Igrejas, dando assessoria a<br />
diversos países africanos, <strong>de</strong>senvolvendo programas <strong>de</strong> alfabetização e <strong>de</strong> apoio a<br />
reconstrução <strong>de</strong>sses países.<br />
Freire foi um dos fundadores do PT <strong>em</strong> 1989. Assumiu o cargo <strong>de</strong> Secretário Municipal <strong>de</strong><br />
Educação <strong>em</strong> São Paulo até 1991. Enquanto ocupava esse cargo, tinha como marca principal,<br />
tentativas <strong>de</strong> <strong>de</strong>mocratizar as escolas para a alfabetização <strong>de</strong> jovens e adultos. Em 1992, Paulo<br />
Freire volta a realizar suas ativida<strong>de</strong>s nas universida<strong>de</strong>s escrevendo suas obras e participando<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> conferências.<br />
28
Ao analisar a socieda<strong>de</strong> capitalista enten<strong>de</strong>u que o hom<strong>em</strong> explorado, s<strong>em</strong> direito à justiça,<br />
acaba per<strong>de</strong>ndo a sua vocação natural, que é a sua humanização, e essa perda, ainda que<br />
constitua fato concreto na história, não é <strong>de</strong>stino, mas resultado <strong>de</strong> uma or<strong>de</strong>m injusta que<br />
gera a violência. Outro traço constatado por Freire, é a reprodução das mesmas condições que<br />
sofreram, isto é, os que sofreram <strong>em</strong> algum momento <strong>de</strong> sua experiência existencial acabam<br />
reproduzindo o mesmo sofrimento. Assim, se o trabalhador rural, por ex<strong>em</strong>plo, quer a reforma<br />
agrária não é para se libertar, mas para passar a ter terra, e com esta, tornar-se proprietário ou<br />
patrão <strong>de</strong> novos <strong>em</strong>pregados.<br />
Há também uma irresistível atração pelo mesmo padrão <strong>de</strong> vida da elite. Participar <strong>de</strong>stes<br />
padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação os explorados quer<strong>em</strong>, a todo<br />
custo, parecer com o opressor. Imitá-lo. Esse comportamento verifica-se, sobretudo, na classe<br />
média, cujo anseio é ser<strong>em</strong> iguais à elite.<br />
Assim, nas socieda<strong>de</strong>s cuja dinâmica estrutural conduz à dominação <strong>de</strong> consciência, a<br />
pedagogia dominante é a pedagogia das classes dominantes. A pedagogia <strong>de</strong> nosso sist<strong>em</strong>a<br />
educacional não aten<strong>de</strong> as necessida<strong>de</strong>s dos cidadãos <strong>de</strong> terceira classe, pois consiste <strong>em</strong><br />
<strong>de</strong>spejar conteúdos que são retalhos da realida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sconectados da totalida<strong>de</strong> <strong>em</strong> que se<br />
formam. A narração, <strong>de</strong> que o educador, é o sujeito, conduz educandos à m<strong>em</strong>orização<br />
mecânica do conteúdo narrado. A narração os transforma <strong>em</strong> “vasilhas” a ser<strong>em</strong> “enchidos”<br />
pelo educador.<br />
Nesta distorcida visão da educação, não há criativida<strong>de</strong>, não há transformação, não há saber.<br />
Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os<br />
homens faz<strong>em</strong> no mundo, com o mundo e com os outros. Quanto mais os educandos se<br />
exercitam no arquivamento <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósitos que lhes são feitos, tanto menos <strong>de</strong>senvolverão <strong>em</strong> si<br />
a consciência crítica. Quanto mais se lhes imponha passivida<strong>de</strong>, tanto mais ingenuamente<br />
ten<strong>de</strong>m a adaptar<strong>em</strong>-se ao mundo, à realida<strong>de</strong> parcializada nos <strong>de</strong>pósitos recebido.<br />
Essa "Educação Bancária", na qual o professor é um banco <strong>de</strong> saberes, <strong>em</strong> que os<br />
conhecimentos são <strong>de</strong>positados, faz surgir a divisão entre os que sab<strong>em</strong> e os que não sab<strong>em</strong>.<br />
29
Preocupado com esta questão, Paulo Freire, pensador comprometido com a vida, nos<br />
presenteou com uma pedagogia que t<strong>em</strong> por fim a prática da liberda<strong>de</strong>. A prática da liberda<strong>de</strong><br />
só encontrará a<strong>de</strong>quada expressão numa pedagogia <strong>em</strong> que o oprimido tenha condições <strong>de</strong><br />
reflexivamente, <strong>de</strong>scobrir-se e conquistar-se como sujeito <strong>de</strong> sua própria <strong>de</strong>stinação histórica<br />
(FREIRE, 1966). Em primeiro momento por meio <strong>de</strong> mudança da percepção do mundo, <strong>em</strong><br />
segundo lugar pela expulsão dos mitos criados e <strong>de</strong>senvolvidos pela estrutura dominante.<br />
A educação que se impõe aos que verda<strong>de</strong>iramente se compromet<strong>em</strong> com a libertação <strong>de</strong>ve<br />
ser aquela que consi<strong>de</strong>ra os homens como corpos conscientes <strong>em</strong> constante probl<strong>em</strong>atização<br />
com o mundo <strong>em</strong> que viv<strong>em</strong>. A educação libertadora, é um ato <strong>de</strong> constante conhecimento, <strong>de</strong><br />
diálogo. Rompe com os esqu<strong>em</strong>as verticais. Ato <strong>de</strong> <strong>de</strong>svelamento da realida<strong>de</strong>, busca a<br />
<strong>em</strong>ersão crítica da realida<strong>de</strong>. Quanto mais se probl<strong>em</strong>atizam os educandos, como seres no<br />
mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão <strong>de</strong>safiados. Desafiados compreen<strong>de</strong>m o <strong>de</strong>safio<br />
na própria ação.<br />
3.2 D<strong>em</strong>erval Saviani “O hom<strong>em</strong> é um ser que age e que transforma.” Nasceu <strong>em</strong> Santo<br />
Antônio <strong>de</strong> Posse – SP, <strong>em</strong> 03/02/44 (<strong>de</strong> direito, pois <strong>de</strong> fato nasceu <strong>em</strong> 25/12/43). Participou<br />
do movimento JOC - Juventu<strong>de</strong> Operária Católica. Fez o curso <strong>de</strong> Filosofia na Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Filosofia, Ciências e Letras <strong>de</strong> São Bento da PUC/SP. Trabalhava, nesta época, no Banco<br />
Ban<strong>de</strong>irantes e concluiu seu curso <strong>de</strong> Filosofia, <strong>em</strong> 1966, tendo vivenciado profundas<br />
mudanças na socieda<strong>de</strong>, causadas pelo Golpe Militar <strong>em</strong> 1964.<br />
Lecionou Filosofia <strong>em</strong> escola pública. Por volta <strong>de</strong> 1966 passou a trabalhar <strong>em</strong> um órgão da<br />
Secretaria <strong>de</strong> Educação <strong>de</strong> São Paulo. Em 1967 atuou como professor do <strong>Curso</strong> <strong>de</strong> Pedagogia<br />
da PUC/SP e ajudou a criar os <strong>Curso</strong>s <strong>de</strong> Mestrado e Doutorado <strong>em</strong> Filosofia da Educação<br />
nessa Instituição. Em 1970 foi lecionar na recém criada Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> São Carlos<br />
on<strong>de</strong> ajudou a implantar, <strong>em</strong> 1976 o Mestrado <strong>em</strong> Educação, <strong>em</strong> convênio com a Fundação<br />
Carlos Chagas. Concluiu <strong>em</strong> 1971 o Doutorado, na área <strong>de</strong> Ciências Humanas: Filosofia da<br />
Educação, na Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Filosofia Ciências e Letras <strong>de</strong> São Bento, da PUC/SP. Em 1978<br />
retornou como professor da PUC/SP e ajudou a criar o Doutorado <strong>em</strong> Educação nesta<br />
Instituição. Em 1979 ajudou a criar a ANDE – Associação Nacional <strong>de</strong> Educação. Foi o<br />
fundador da ANPED e do CEDES.<br />
30
Em 1986 concluiu a Livre Docência na área <strong>de</strong> Ciências Humanas: História da Educação na<br />
Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Educação da UNICAMP. Em 1988 participou da elaboração <strong>de</strong> um anteprojeto<br />
da LDB - Lei <strong>de</strong> Diretrizes e Bases da Educação. Em 1988 coor<strong>de</strong>nou o programa <strong>de</strong> pós-<br />
graduação da UNICAMP. Atualmente é professor na UNICAMP e também está envolvido<br />
com diversos projetos educacionais e <strong>de</strong> pesquisa.<br />
Dermeval Saviani s<strong>em</strong>pre <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>u <strong>de</strong> forma sist<strong>em</strong>ática e intransigente a escola pública. Sua<br />
ativida<strong>de</strong> intelectual, <strong>de</strong>stina-se a explicitar valores necessários à libertação dos oprimidos.<br />
Em todas as suas obras preocupou-se <strong>em</strong> analisar a prática educacional inserida num processo<br />
político-social, com um objetivo pedagógico, enquanto resposta à sua atuação como professor<br />
<strong>em</strong> sala <strong>de</strong> aula e sua interação com os alunos. A necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> articular teoria e prática<br />
levou Saviani a buscar alternativas, traduzidas ou expressas na concepção que ele <strong>de</strong>nominou<br />
<strong>de</strong> Pedagogia Histórico-Crítica.<br />
A Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) e a formação do hom<strong>em</strong> integral (indivíduo para-si)<br />
nela presente é uma pedagogia <strong>de</strong> cunho socialista e marxista. O núcleo <strong>de</strong>sta corrente<br />
pedagógica é formado pela concepção <strong>de</strong> que a natureza humana não é dada ao hom<strong>em</strong> mas é<br />
por ele produzida sobre a base da natureza bio-física. Consequent<strong>em</strong>ente, o trabalho educativo<br />
é o ato <strong>de</strong> produzir, direta e intencionalmente, <strong>em</strong> cada indivíduo singular, a humanida<strong>de</strong> que<br />
é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. (SAVIANI, 2000)<br />
A PHC surgiu no início dos anos 80, e o seu objetivo é retomar a crítica e a dialética no<br />
discurso pedagógico. Como crítica enten<strong>de</strong>-se a necessária produção <strong>de</strong> uma análise que leve<br />
<strong>em</strong> conta os condicionantes sociais e históricos que <strong>de</strong>terminam e são <strong>de</strong>terminados pela<br />
educação, ou seja, uma análise crítica não enxerga a escola ou a educação fora do universo<br />
social e histórico, pois estes são formadores da educação <strong>em</strong> cada período histórico.<br />
Por outro lado a realida<strong>de</strong> nos mostra que a socieda<strong>de</strong> se <strong>de</strong>senvolve para além da educação,<br />
ou seja, se baseia nas relações econômicas capitalistas, que por sua vez <strong>de</strong>terminam a política,<br />
a socieda<strong>de</strong>, a cultura e, também, a educação. Para esta pedagogia, a humanida<strong>de</strong> não se dá<br />
pela transmissão genética, mas é produzida social e historicamente pelos homens <strong>em</strong><br />
socieda<strong>de</strong>, e o saber é o el<strong>em</strong>ento primordial da educação, sendo necessária uma transmissão<br />
crítica <strong>de</strong>sse saber que provoque o <strong>de</strong>senvolvimento dos conhecimentos e, por conseguinte, o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da socieda<strong>de</strong> e dos indivíduos.<br />
31
Assim, o saber que diretamente interessa à educação é aquele que <strong>em</strong>erge como resultado do<br />
trabalho educativo. Entretanto, para chegar a esse resultado a educação t<strong>em</strong> que partir, t<strong>em</strong><br />
que tomar como referência, como matéria-prima <strong>de</strong> sua ativida<strong>de</strong>, o saber objetivo produzido<br />
historicamente. (SAVIANI, 2000). Esse saber histórico é fruto dos esforços dos homens para<br />
produzir as condições para sua sobrevivência (alimentos, moradia, <strong>de</strong>fesa contra inimigos<br />
entre outros) o que levou ao <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico, científico, cultural, o que<br />
possibilitou chegarmos à condição atual da socieda<strong>de</strong> capitalista.<br />
A produção <strong>de</strong>sse saber, portanto, v<strong>em</strong> se <strong>de</strong>senvolvendo através da História e é no<br />
capitalismo que a escola torna-se o meio dominante da educação. A escola, portanto, é o local<br />
<strong>em</strong> que os saberes sociais são transmitidos para as novas gerações. Entretanto, estes saberes<br />
não estão ao alcance <strong>de</strong> todos os brasileiros. São apropriados apenas por uma pequena parcela<br />
da socieda<strong>de</strong> que historicamente ocupou a posição dominante e que por sua vez luta para que<br />
esta situação permaneça como está (manutenção do status quo) e, por isso, apoiam as<br />
pedagogias que procuram esvaziar a escola dos saberes.<br />
Saviani (2000) divi<strong>de</strong> <strong>em</strong> três as tarefas da PHC com relação à educação escolar e os saberes:<br />
- Primeiro, <strong>de</strong>ve-se i<strong>de</strong>ntificar as formas mais <strong>de</strong>senvolvidas <strong>em</strong> que se expressa o saber<br />
produzido historicamente, reconhecendo as condições <strong>de</strong> sua produção e compreen<strong>de</strong>ndo as<br />
suas principais manifestações b<strong>em</strong> como as tendências atuais <strong>de</strong> transformação;<br />
- Segundo, <strong>de</strong>ve-se converter o saber objetivo <strong>em</strong> saber escolar <strong>de</strong> modo a torná-lo assimilável<br />
pelos alunos, o que exige um esforço dos professores e todos os envolvidos com a educação<br />
para que o saber social possa ser transmitido no t<strong>em</strong>po e espaço da escola.<br />
- Terceiro, <strong>de</strong>ve-se prover os meios necessários para que os alunos não apenas assimil<strong>em</strong> o<br />
saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo <strong>de</strong> sua produção b<strong>em</strong> como as<br />
tendências <strong>de</strong> sua transformação. (SAVIANI, 2000, p.14)<br />
As três tarefas da PHC indicam um posicionamento para a formação integral do ser humano:<br />
adquirir os conhecimentos social e historicamente produzidos e que, portanto, são parte <strong>de</strong> sua<br />
constituição como ser humano <strong>em</strong> socieda<strong>de</strong>, e <strong>de</strong>senvolver a consciência do processo integral<br />
<strong>de</strong> produção e reprodução dos saberes. Isso o levará a perceber a si e à socieda<strong>de</strong> <strong>em</strong> que vive<br />
nos seus meandros estruturais (econômicos) e superestruturais (cultura, política, religião,<br />
educação etc.).<br />
32
Indo além na relação entre saberes e a educação, Saviani (2000) cita que a educação escolar<br />
<strong>de</strong>ve centrar sua ação nos saberes sist<strong>em</strong>atizados na socieda<strong>de</strong>, ou seja, na ciência, e que a<br />
escola <strong>de</strong>ve ser responsável pela transmissão-assimilação <strong>de</strong>sses conhecimentos. Este é o fim<br />
a atingir, é aí que cabe encontrar a fonte natural para elaborar os métodos e as formas <strong>de</strong><br />
organização do conjunto das ativida<strong>de</strong>s da escola, isto é, o currículo.<br />
A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sist<strong>em</strong>atizado [...] A<br />
escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e<br />
não à cultura popular [...] A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos<br />
que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), b<strong>em</strong> como o próprio acesso aos<br />
rudimentos <strong>de</strong>sse saber. (SAVIANI, 2000, p.18-19)<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste processo <strong>de</strong> transmissão-assimilação, segundo o autor, não é a repetição,<br />
mas, justamente o contrário, é libertar. Mas a liberda<strong>de</strong> não se conquista s<strong>em</strong> esforço, s<strong>em</strong> o<br />
fortalecimento da internalização dos saberes, que constitu<strong>em</strong> a base sobre a qual a liberda<strong>de</strong><br />
se efetivará. Basta observarmos vários níveis e processos <strong>de</strong> aprendizag<strong>em</strong> baseados no<br />
esforço repetitivo, como na música, por ex<strong>em</strong>plo.<br />
Um músico, para adquirir a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> criar, precisa passar por um período (longo aliás) <strong>em</strong><br />
que se exercitará no instrumento repetidamente até que possa incorporar o instrumento como<br />
sua “segunda natureza”, ou seja, dominá-lo a tal ponto <strong>em</strong> que o instrumento já não seja<br />
segredo para ele, mas, ao contrário, seja uma extensão <strong>de</strong> seu próprio corpo e conhecimento.<br />
O mesmo acontece com o aprendizado para motorista. Antes <strong>de</strong> chegar a ser um bom<br />
motorista o aprendiz precisa passar pelo estágio <strong>em</strong> que os movimentos são medidos e<br />
sincronizados repetidamente, até que o motorista possa, enfim, dirigir s<strong>em</strong> se per<strong>de</strong>r <strong>em</strong><br />
pensamentos sobre a seqüência a ser feita no trânsito.<br />
A libertação só se dá porque tais aspectos foram apropriados, dominados e internalizados,<br />
passando, <strong>em</strong> conseqüência, a operar no interior <strong>de</strong> nossa própria estrutura orgânica. Po<strong>de</strong>r-se-<br />
ia dizer que o que ocorre, nesse caso, é uma superação no sentido dialético da palavra. Os<br />
aspectos mecânicos foram negados por incorporação e não por exclusão. Foram superados<br />
porque negados enquanto el<strong>em</strong>entos externos e afirmados como el<strong>em</strong>entos internos.<br />
33
Para o autor o aprendizado acontece após um caminho <strong>de</strong> incorporação dos conhecimentos à<br />
natureza humana, ou seja, o hom<strong>em</strong>, ser naturalmente biológico, vai sendo formado pela<br />
incorporação <strong>de</strong> el<strong>em</strong>entos da cultura, dos conhecimentos produzidos pelos homens ao longo<br />
da história e que, portanto, são el<strong>em</strong>entos que constitu<strong>em</strong> a própria humanida<strong>de</strong>, entendida<br />
esta como uma produção dinâmica e sócio-histórica.<br />
Os conhecimentos, a partir <strong>de</strong> sua incorporação, <strong>de</strong>ixam <strong>de</strong> ser el<strong>em</strong>entos <strong>de</strong> alienação e<br />
passam a ser el<strong>em</strong>entos <strong>de</strong> constituição da humanida<strong>de</strong> dos indivíduos; <strong>de</strong>ixam <strong>de</strong> ser<br />
el<strong>em</strong>entos externos para ser<strong>em</strong> internalizados, formando a “segunda natureza” humana (a<br />
primeira é a natureza biológica, a segunda é a natureza social e histórica).<br />
Esta incorporação à natureza humana dos conhecimentos produzidos pelos homens e<br />
transmitidos pela escola dá a esta instituição social um papel claro <strong>de</strong> ser um elo <strong>de</strong> ligação<br />
entre os conhecimentos espontâneos, cotidianos, do senso comum, para outro tipo <strong>de</strong><br />
conhecimento, sist<strong>em</strong>atizado, científico. Não significa dizer que se <strong>de</strong>spreze a cultura popular,<br />
mas apenas que se possa incorporá-la através da aquisição da cultura erudita. A cultura erudita<br />
possibilita a <strong>de</strong>codificação da cultura popular mas, segundo Saviani, o contrário, ou seja,<br />
apenas a aquisição da cultura popular não possibilita a <strong>de</strong>codificação da cultura erudita, o que<br />
t<strong>em</strong> sido causa <strong>de</strong> privilégios das classes dominantes, que <strong>de</strong>tém também a cultura erudita,<br />
que é privilegiada na socieda<strong>de</strong> capitalista.<br />
Portanto, o saber, na PHC, t<strong>em</strong> o viés <strong>de</strong> possibilitar a tomada <strong>de</strong> consciência e produzir nos<br />
homens a humanida<strong>de</strong> negada pela socieda<strong>de</strong> capitalista, baseada na alienação e reprodução<br />
dos valores burgueses. Para isso lança mão dos conteúdos historicamente acumulados pelos<br />
homens <strong>em</strong> socieda<strong>de</strong> e também da incorporação <strong>de</strong>stes conhecimentos.<br />
Como formadora do ser humano, a educação é também um processo <strong>de</strong> trabalho, mas trabalho<br />
“não-material”, ou seja, não produz objetos físicos (automóveis, por ex<strong>em</strong>plo), mas produz a<br />
formação do educando. O trabalho educativo concretiza-se na aula, e esta t<strong>em</strong> uma<br />
peculiarida<strong>de</strong> que a <strong>de</strong>staca das <strong>de</strong>mais ativida<strong>de</strong>s: ela é produzida e consumida ao mesmo<br />
t<strong>em</strong>po (produzida pelo professor e consumida pelos alunos).<br />
Ao falarmos <strong>de</strong> trabalho educativo não po<strong>de</strong>mos nos esquecer da figura principal <strong>de</strong>ste<br />
processo, que é o professor. Este, na concepção da PHC, t<strong>em</strong> um relevante papel na<br />
34
transmissão <strong>de</strong> conhecimentos para os alunos. Para que esta transmissão ocorra <strong>de</strong> maneira<br />
crítica, o educador precisa ter com o seu trabalho uma relação que implique uma consciência<br />
com o fim específico <strong>de</strong>ste trabalho, que é a formação do “indivíduo-educando-concreto” (o<br />
aluno). Não basta formar indivíduos, é preciso saber para que tipo <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>, para que tipo<br />
<strong>de</strong> prática social o educador está formando indivíduos.<br />
Dada esta relevância, o educador <strong>de</strong>ve manter uma relação consciente com seu trabalho, <strong>de</strong><br />
modo que possa realizá-lo da melhor maneira possível visando a formação do hom<strong>em</strong><br />
integral, da individualida<strong>de</strong> para-si <strong>em</strong> cada educando. Caso o educador não tenha esta relação<br />
consciente, seu trabalho acaba por reproduzir a alienação da socieda<strong>de</strong> e, portanto, seu<br />
trabalho não alcançará os objetivos propostos pela PHC.<br />
Para que o professor <strong>de</strong>senvolva na sua tarefa diária a Pedagogia Histórico-Crítica é<br />
necessário que se reconheça no educando. Quando isto acontecer a ativida<strong>de</strong> do educador não<br />
será apenas um meio para satisfazer a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sobrevivência física, mas sim a<br />
satisfação <strong>de</strong> uma necessida<strong>de</strong> vital para ele enquanto indivíduo, a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> formar<br />
outros indivíduos <strong>de</strong> maneira humanizadora.<br />
Para a PHC, portanto, o papel do professor ganha uma centralida<strong>de</strong>, pois, passam a ser<br />
responsáveis pelo trabalho educativo, que, por sua vez, t<strong>em</strong> como objetivo a formação do<br />
educando através da transmissão crítica dos conhecimentos produzidos pelos homens <strong>em</strong><br />
socieda<strong>de</strong>.<br />
Após apresentarmos resumidamente essas duas correntes pedagógicas, salta aos olhos que<br />
uma educação como prática <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> t<strong>em</strong> um sentido amplo: é sobretudo, o processo <strong>de</strong><br />
aprendizag<strong>em</strong> <strong>de</strong> uma ética atenta a integrida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cada ser humano e que respeita o direito<br />
<strong>de</strong> todos a uma existência digna. Essa educação libertária também está comprometida com a<br />
apropriação e a construção <strong>de</strong> conhecimentos, porque conhecimentos são as matérias primas<br />
s<strong>em</strong> as quais não se po<strong>de</strong> participar do processo permanente <strong>de</strong> criação e recriação da<br />
existência.<br />
Educação significa educar para a socieda<strong>de</strong>. É a socialização do patrimônio <strong>de</strong> conhecimento<br />
acumulado, o saber sobre os meios <strong>de</strong> obter o conhecimento e as formas <strong>de</strong> convivência<br />
35
social. É também educar para a convivência social e para a cidadania, para a tomada <strong>de</strong><br />
consciência e do exercício dos direitos e <strong>de</strong>veres do cidadão.<br />
Educar para a cidadania, é educar para a ética, para a solidarieda<strong>de</strong>, para a comunhão, e para a<br />
participação. Educação para a cidadania não é uma modalida<strong>de</strong> especial <strong>de</strong> educação é<br />
sinônimo <strong>de</strong> educação <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>. Isto não t<strong>em</strong> relação com recursos materiais abundantes,<br />
instalações mo<strong>de</strong>rnas e funcionais, ou métodos eficientes <strong>de</strong> ensino e avaliação . Qualida<strong>de</strong> da<br />
educação não se avalia por sua materialida<strong>de</strong>, e sim pelo conjunto <strong>de</strong> valores que são<br />
compartilhados entre educadores e educandos, estejam eles nas escolas, centros comunitários,<br />
nas organizações não governamentais, ou <strong>em</strong> qualquer outra agência comprometida com os<br />
processos <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento social.<br />
Cidadania não é lição a ser ensinada ou transmitida, mas uma série <strong>de</strong> posturas a ser<strong>em</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvidas e estimuladas. Posturas que façam germinar <strong>em</strong> cada um, a idéia e o sentimento<br />
do que é viver <strong>em</strong> função do b<strong>em</strong> comum. Educar para a cidadania é fortalecer a auto-estima<br />
das pessoas, é possibilitar o acesso <strong>de</strong> todos aos bens culturais <strong>de</strong> nossa socieda<strong>de</strong>, é<br />
<strong>de</strong>senvolver as capacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> interação e participação, o pensamento criativo e reflexivo<br />
Educar é um ato que visa à convivência social, a cidadania e a tomada <strong>de</strong> consciência política.<br />
A educação escolar, além <strong>de</strong> ensinar o conhecimento científico, <strong>de</strong>ve assumir a incumbência<br />
<strong>de</strong> preparar as pessoas para o exercício da cidadania. A cidadania é entendida como o acesso<br />
aos bens materiais e culturais produzidos pela socieda<strong>de</strong>, e ainda significa o exercício pleno<br />
dos direitos e <strong>de</strong>veres previstos pela Constituição da República.<br />
A educação para a cidadania preten<strong>de</strong> fazer <strong>de</strong> cada pessoa um agente <strong>de</strong> transformação. Isso<br />
exige uma reflexão que possibilite compreen<strong>de</strong>r as raízes históricas da situação <strong>de</strong> miséria e<br />
exclusão <strong>em</strong> que vive boa parte da população. A formação política, que t<strong>em</strong> no universo<br />
escolar um espaço privilegiado, <strong>de</strong>ve propor caminhos para mudar as situações <strong>de</strong> opressão.<br />
Muito <strong>em</strong>bora outros segmentos particip<strong>em</strong> <strong>de</strong>ssa formação, como a família ou os meios <strong>de</strong><br />
comunicação, não haverá <strong>de</strong>mocracia substancial se inexistir essa responsabilida<strong>de</strong><br />
propiciada, sobretudo, pelo ambiente escolar.<br />
36
4 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS<br />
“ (...) a parte mais bela e importante <strong>de</strong> toda a História é a revelação <strong>de</strong> que todos os seres<br />
humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distingue entre si,<br />
merec<strong>em</strong> igual respeito, como únicos entes no mundo capazes <strong>de</strong> amar, <strong>de</strong>scobrir a verda<strong>de</strong> e<br />
criar a beleza. É o reconhecimento universal <strong>de</strong> que, <strong>em</strong> razão <strong>de</strong>ssa radical igualda<strong>de</strong>,<br />
ninguém - nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação – po<strong>de</strong><br />
afirmar-se superior aos <strong>de</strong>mais” (COMPARATO, 2005 – p.1).<br />
Iniciamos esse capítulo com as belíssimas palavras <strong>de</strong> Fábio Kon<strong>de</strong>r Comparato para mostrar<br />
que quando houver a supr<strong>em</strong>acia dos direitos humanos, isto é, quando se instalar <strong>em</strong> nossa<br />
pátria uma verda<strong>de</strong>ira preocupação com o b<strong>em</strong> estar <strong>de</strong> todos haverá a redução das<br />
<strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s entre irmãos resultando <strong>em</strong> uma convivência, senão fraterna, pelos menos<br />
civilizada.<br />
4.1 A formação do conceito <strong>de</strong> pessoa<br />
É difícil precisar a gênese dos direitos humanos. A idéia <strong>de</strong> que os indivíduos e grupos<br />
humanos po<strong>de</strong>m ser reduzidos a um conceito ou categoria geral, que a todos engloba, e <strong>de</strong><br />
elaboração recente na História. Foi durante o período <strong>de</strong>nominado <strong>de</strong> Axial (séculos VIII a II<br />
A C.) que começou a surgir a idéia <strong>de</strong> uma igualda<strong>de</strong> essencial entre todos os homens. Essa<br />
concepção nasce vinculada a uma instituição social <strong>de</strong> capital importância: a lei escrita, como<br />
regra geral e uniforme, aplicável a todos os indivíduos que viv<strong>em</strong> numa socieda<strong>de</strong> organizada.<br />
A lei escrita alcançou entre os ju<strong>de</strong>us uma posição sagrada como manifestação da própria<br />
divinda<strong>de</strong>. Mas foi <strong>em</strong> Atenas que a pre<strong>em</strong>inência da lei escrita, tornou-se o fundamento da<br />
socieda<strong>de</strong> política suplantando a soberania <strong>de</strong> um indivíduo ou <strong>de</strong> grupo ou classe social.<br />
A causa principal do reconhecimento <strong>de</strong> direitos naturais <strong>em</strong> favor do indivíduo é <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m<br />
filosófica-religiosa. A igualda<strong>de</strong> essencial do hom<strong>em</strong> foi expressa mediante oposição entre a<br />
individualida<strong>de</strong> própria <strong>de</strong> cada hom<strong>em</strong> e a sua personalida<strong>de</strong>. A filosofia estóica<br />
(<strong>de</strong>senvolvida durante os séculos III A. C. a III D.C.) que discutiu e aprofundou o termo<br />
personalida<strong>de</strong>, organizou-se <strong>em</strong> torno das idéias <strong>de</strong> unida<strong>de</strong> moral do ser humano e a<br />
37
dignida<strong>de</strong> do hom<strong>em</strong>, consi<strong>de</strong>rado filho <strong>de</strong> Zeus e possuidor, <strong>em</strong> conseqüência, <strong>de</strong> direitos<br />
inatos e iguais <strong>em</strong> todas as partes do mundo, não obstante as inúmeras diferenças individuais<br />
e grupais.<br />
Na tradição bíblica, Deus é o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> pessoa para todos os homens. S<strong>em</strong> dúvida, o<br />
cristianismo, proclamando o dogma da Santíssima Trinda<strong>de</strong> (três pessoas com uma só<br />
substância) quebrou a unida<strong>de</strong> absoluta a transcen<strong>de</strong>ntal da pessoa divina. Mas, <strong>em</strong><br />
compensação Jesus <strong>de</strong> Nazaré concretizou na história o mo<strong>de</strong>lo ético <strong>de</strong> pessoa, e tornou aos<br />
homens mais acessível a sua imitação. A partir da pregação <strong>de</strong> Paulo <strong>de</strong> Tarso, o verda<strong>de</strong>iro<br />
fundador da religião cristã enquanto corpo doutrinário, rompeu-se a concepção <strong>de</strong> povo<br />
escolhido surgindo a idéia <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> todos os seres humanos diante da filiação divina.<br />
A igualda<strong>de</strong> evangélica exigia o estudo sobre a natureza comum a todos os homens, o que<br />
acabou sendo realizado a partir dos conceitos <strong>de</strong>senvolvidos pela filosofia grega. A primeira<br />
discussão conceitual entre os doutores da Igreja foi sobre a natureza <strong>de</strong> Jesus Cristo. Como<br />
dogma <strong>de</strong> fé, concluiu-se, com base nos conceitos estóicos, que Jesus Cristo apresentava<br />
uma dupla natureza: humana e divina, numa única pessoa (COMPARATO, 2005. p. 19).<br />
Boécio, no século VI, inaugurou a segunda fase da elaboração <strong>de</strong> pessoa que influenciou<br />
todo o pensamento medieval. Pessoa é a própria substância do hom<strong>em</strong> que dá ao ser as<br />
características <strong>de</strong> permanência e invariabilida<strong>de</strong>. É essa igualda<strong>de</strong> da essência da pessoa que<br />
forma o núcleo do conceito universal <strong>de</strong> direitos humanos.<br />
Essa <strong>de</strong>finição boeciana <strong>de</strong> pessoa foi integralmente adotada por Santo Tomás <strong>de</strong> Aquino, e<br />
<strong>de</strong> acordo com CANOTILHO, as concepções cristãs medievais, especialmente o direito<br />
natural tomista, ao distinguir entre lex divina, lex natura e lex positiva, abriram o caminho<br />
para a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> submeter o direito positivo às normas jurídicas naturais, fundadas na<br />
própria natureza dos homens.<br />
A terceira fase na elaboração do conceito <strong>de</strong> pessoa como sujeito <strong>de</strong> direitos universais<br />
anteriores e superiores a toda or<strong>de</strong>nação estatal adveio com a filosofia kantiana. Para Kant<br />
só o ser racional possui a faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> agir segundo a representação <strong>de</strong> leis ou princípios e<br />
existe como um fim <strong>em</strong> si mesmo. Daí <strong>de</strong>corre que todo hom<strong>em</strong> t<strong>em</strong> dignida<strong>de</strong> e não um<br />
preço, como as coisas. “Pela sua vonta<strong>de</strong> racional, a pessoa, ao mesmo t<strong>em</strong>po que se<br />
38
submete às leis da razão prática, é a fonte <strong>de</strong>ssas mesmas leis, <strong>de</strong> âmbito universal, segundo<br />
o imperativo categórico – ‘age unicamente segundo a máxima, pela qual tu possas querer,<br />
ao mesmo t<strong>em</strong>po, que ela se transforme <strong>em</strong> lei geral’”(COMPARATO – 2005. p22).<br />
A idéia <strong>de</strong> que o hom<strong>em</strong> é um fim <strong>em</strong> si mesmo implica só o <strong>de</strong>ver negativo <strong>de</strong> não<br />
prejudicar ninguém, mas necessariamente o <strong>de</strong>ver positivo <strong>de</strong> agir no sentido <strong>de</strong> favorecer a<br />
felicida<strong>de</strong> alheia, que se constitui a melhor justificativa <strong>de</strong> reconhecimento dos direitos e<br />
liberda<strong>de</strong>s individuais como também dos direitos humanos à realização <strong>de</strong> políticas públicas<br />
<strong>de</strong> conteúdo econômico e social, tal qual enunciado na Declaração Universal dos Direitos<br />
Humanos.<br />
A quarta etapa histórica na elaboração do conceito <strong>de</strong> pessoa <strong>de</strong>u-se com a <strong>de</strong>scoberta do<br />
mundo dos valores. É o fundamento último da liberda<strong>de</strong> que se assenta o mundo das<br />
preferências valorativas, isto é, cada um <strong>de</strong> nós aprecia algo, porque o objeto <strong>de</strong>ssa<br />
apreciação t<strong>em</strong> objetivamente um valor. A pessoa é, ao mesmo t<strong>em</strong>po, o legislador<br />
universal <strong>em</strong> função dos valores éticos que aprecia, e o sujeito que se submete<br />
voluntariamente a essas mesmas normas.<br />
Essa realida<strong>de</strong> axiológica transformou toda a teoria jurídica. Os direitos humanos foram<br />
i<strong>de</strong>ntificados com os valores mais importantes <strong>de</strong> convivência humana, aqueles s<strong>em</strong> os<br />
quais as socieda<strong>de</strong>s acabam perecendo por um processo irreversível <strong>de</strong> <strong>de</strong>sagregação.<br />
A quinta e última etapa abriu-se no século XX, contra a crescente <strong>de</strong>spersonalização do<br />
hom<strong>em</strong> no mundo cont<strong>em</strong>porâneo, como reflexo da mecanização e burocratização da vida<br />
<strong>em</strong> socieda<strong>de</strong>. A reflexão filosófica acentuou o caráter único, inigualável e irreprodutível da<br />
personalida<strong>de</strong> individual.<br />
As conseqüências <strong>de</strong>ssa última etapa na elaboração do conceito <strong>de</strong> pessoa para a teoria<br />
jurídica <strong>em</strong> geral e para o sist<strong>em</strong>a <strong>de</strong> direitos humanos <strong>em</strong> particular, são da maior<br />
importância. O caráter único e insubstituível <strong>de</strong> cada ser humano, portador <strong>de</strong> um valor<br />
próprio, veio <strong>de</strong>monstrar que a dignida<strong>de</strong> da pessoa existe singularmente <strong>em</strong> todo indivíduo.<br />
A Declaração Universal dos Direitos Humanos con<strong>de</strong>nsou toda a riqueza <strong>de</strong>ssa longa<br />
elaboração teórica, ao proclamar <strong>em</strong> seu art. VI, que todo hom<strong>em</strong> t<strong>em</strong> direito <strong>de</strong> ser, <strong>em</strong><br />
todos os lugares, reconhecido como pessoa.<br />
39
4.2 As etapas históricas na afirmação dos Direitos Humanos<br />
No processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento e construção dos direitos fundamentais do hom<strong>em</strong>,<br />
observam-se importantes antece<strong>de</strong>ntes históricos. A eclosão da consciência histórica dos<br />
direitos humanos só se <strong>de</strong>u após um longo trabalho centrado <strong>em</strong> torno da limitação do po<strong>de</strong>r<br />
político. O reconhecimento <strong>de</strong> que as instituições <strong>de</strong> governo <strong>de</strong>v<strong>em</strong> ser utilizadas para o<br />
serviços dos governados foi o primeiro passo <strong>de</strong>cisivo na admissão da existência <strong>de</strong> direitos<br />
que, inerentes à própria condição humana, <strong>de</strong>v<strong>em</strong> ser reconhecidos a todos e não po<strong>de</strong>m ser<br />
havidos como mera concessão dos que exerc<strong>em</strong> o po<strong>de</strong>r.<br />
Nesse sentido, <strong>de</strong>ve-se reconhecer que a proto-história dos direitos humanos começa nos<br />
séculos XI a X a C., quando se instituiu, sob Davi, o reino unificado <strong>de</strong> Israel, que<br />
estabeleceu pela primeira vez na história política <strong>de</strong> humanida<strong>de</strong>, a figura do rei-sacerdote,<br />
que se apresenta, não como <strong>de</strong>us ou legislador, mas como <strong>de</strong>legado do Deus único e o<br />
responsável supr<strong>em</strong>o pela execução <strong>de</strong> lei divina. Surgia, assim, o <strong>em</strong>brião daquilo que<br />
muitos séculos <strong>de</strong>pois passou a ser <strong>de</strong>signado como o Estado <strong>de</strong> Direito, isto é, uma<br />
organização política <strong>em</strong> que os governantes não criam direito para justificar o seu po<strong>de</strong>r,<br />
mas submet<strong>em</strong>-se aos princípios e normas editados por uma autorida<strong>de</strong> superior.<br />
Essa limitação institucional do po<strong>de</strong>r do governo foi retomada no século VI a C. com a<br />
criação das primeiras instituições <strong>de</strong>mocráticas atenienses e no século seguinte com a<br />
fundação da república romana.<br />
Com a extinção do império romano do Oci<strong>de</strong>nte, <strong>em</strong> 453 da era cristã, iniciou-se o período<br />
<strong>de</strong>nominado <strong>de</strong> Ida<strong>de</strong> Média com uma nova civilização , amálgama <strong>de</strong> instituições clássicas,<br />
valores cristãos e costumes germânicos. A Alta Ida<strong>de</strong> Média (sécs. V a X ) foi marcada pelo<br />
esfacelamento do po<strong>de</strong>r político e econômico. E com a instauração do feudalismo, que tinha<br />
como uma <strong>de</strong> suas características a concentração <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r, os direitos humanos foram<br />
esquecidos. Contra os abusos <strong>de</strong>ssa reconcentração <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r surge a Magna Carta da<br />
Inglaterra <strong>em</strong> 1215. No <strong>em</strong>brião dos direitos humanos <strong>de</strong>spontou antes <strong>de</strong> tudo o valor da<br />
liberda<strong>de</strong>. Porém não a liberda<strong>de</strong> para todos, mas <strong>em</strong> favor, principalmente dos estamentos<br />
superiores da socieda<strong>de</strong>.<br />
Na Baixa Ida<strong>de</strong> Média (sécs. XI a XV/XVI), com o surgimento das cida<strong>de</strong>s, teve início a<br />
primeira experiência histórica <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> classes, on<strong>de</strong> a <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> social já não é<br />
40
<strong>de</strong>terminada pelo direito, mas resulta principalmente das diferenças <strong>de</strong> situação patrimonial<br />
<strong>de</strong> famílias e indivíduos. E é também as cida<strong>de</strong>s o território da liberda<strong>de</strong> pessoal.<br />
Durante os dois séculos que se seguiram à Ida<strong>de</strong> Média, a Europa conheceu um<br />
extraordinários recru<strong>de</strong>scimento da concentração <strong>de</strong> po<strong>de</strong>res. Foi a época <strong>em</strong> que se<br />
elaborou a teoria da monarquia absoluta, com Jean Bodin e Thomas Hobbes, <strong>em</strong> que se<br />
fundaram os impérios coloniais ultracentralizadores. Ao mesmo t<strong>em</strong>po ressurge na<br />
Inglaterra o sentimento <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong>, <strong>de</strong>claradas na Magna Carta, generalizando-se a<br />
consciência dos perigos representados pelo po<strong>de</strong>r absoluto, tanto da realeza dos Stuart<br />
quanto na ditadura republicana do Lord Protector.<br />
A instituição-chave para a limitação do po<strong>de</strong>r monárquico e a garantia das liberda<strong>de</strong>s na<br />
socieda<strong>de</strong> civil foi o Parlamento. A partir do Bill of Rights a idéia <strong>de</strong> um governo<br />
representativo, ainda que não <strong>de</strong> todo o povo, começa a firmar-se com garantia institucional<br />
indispensável das liberda<strong>de</strong>s civis.<br />
“Todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente livres e in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes, e<br />
possu<strong>em</strong> certos direitos inatos, dos quais ao entrar<strong>em</strong> no estado <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong> não po<strong>de</strong>m, por<br />
nenhum tipo <strong>de</strong> pacto, privar ou <strong>de</strong>spojar sua posterida<strong>de</strong>; nomeadamente, a fruição da vida<br />
e da liberda<strong>de</strong>, com os meios <strong>de</strong> adquirir e possuir a proprieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> bens, b<strong>em</strong> como <strong>de</strong><br />
procurar e obter a felicida<strong>de</strong> e a segurança.”<br />
O artigo I da Declaração da Virgínia, <strong>de</strong> 1776, constitui o registro <strong>de</strong> nascimento dos direitos<br />
humanos na História. É o reconhecimento solene <strong>de</strong> que todos os homens são igualmente<br />
vocacionados, pela sua própria natureza, ao aperfeiçoamento constante <strong>de</strong> si mesmos. A<br />
“busca da felicida<strong>de</strong>” repetida na Declaração <strong>de</strong> In<strong>de</strong>pendência dos Estados Unidos da<br />
América <strong>em</strong> 1776, é a razão <strong>de</strong> ser <strong>de</strong>sses direitos inerentes à própria condição humana.<br />
Treze anos <strong>de</strong>pois, no ato <strong>de</strong> abertura da Revolução Francesa, a mesma idéia <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> e<br />
igualda<strong>de</strong> dos seres humanos é reafirmada e reforçada: “Os homens nasc<strong>em</strong> e permanec<strong>em</strong><br />
livres e iguais <strong>em</strong> direitos” (art. 1º da Declaração dos Direitos do Hom<strong>em</strong> e do Cidadão <strong>de</strong><br />
1789). A conseqüência imediata da proclamação <strong>de</strong> que todos os seres humanos são<br />
essencialmente iguais <strong>em</strong> dignida<strong>de</strong> e direitos, foi uma mudança radical nos fundamentos e<br />
legitimida<strong>de</strong> política que propiciou a formação da <strong>de</strong>mocracia mo<strong>de</strong>rna. É ainda, a<br />
Declaração da Virgínia que inova ao pregar <strong>em</strong> seu artigo II que “ Todo po<strong>de</strong>r pertence ao<br />
41
povo, e por conseguinte <strong>de</strong>le <strong>de</strong>riva. Os magistrados [governantes] são seus fiduciários e<br />
servidores responsáveis a todo t<strong>em</strong>po perante ele.”<br />
As instituições da <strong>de</strong>mocracia mo<strong>de</strong>rna liberal – limitação vertical <strong>de</strong> po<strong>de</strong>res, como os<br />
direitos individuais, e limitação horizontal, com a separação das funções legislativa,<br />
executiva e judiciária – adaptaram-se perfeitamente ao espírito <strong>de</strong> orig<strong>em</strong> do movimento<br />
<strong>de</strong>mocrático. Essa fase marca a geração dos primeiros direitos humanos.<br />
Se as <strong>de</strong>clarações <strong>de</strong> direitos norte-americanas e a <strong>de</strong>claração francesa representaram a<br />
<strong>em</strong>ancipação histórica do indivíduo, os direitos <strong>de</strong> caráter econômico e social só foi<br />
afirmado no correr do século XX, com as Constituição mexicana <strong>de</strong> 1917 e a Constituição<br />
<strong>de</strong> Weimar <strong>de</strong> 1919. Os direitos humanos <strong>de</strong> proteção ao trabalhador só pu<strong>de</strong>ram prosperar a<br />
partir do momento histórico <strong>em</strong> que os donos do capital foram obrigados e se compor com<br />
os trabalhadores. É importante ressaltar a contribuição do movimento socialista que<br />
percebeu que os flagelos sociais eram <strong>de</strong>jetos do sist<strong>em</strong>a capitalista <strong>de</strong> produção, cuja lógica<br />
consiste <strong>em</strong> atribuir aos bens <strong>de</strong> capital um valor muito superior ao das pessoas.<br />
A primeira fase <strong>de</strong> internacionalização dos direitos humanos, teve início na segunda<br />
meta<strong>de</strong> do século XIX e findou com a 2ª Guerra Mundial, manifestando-se basicamente<br />
<strong>em</strong> três setores: o direito humanitário, a luta contra a escravidão e a regulação dos direitos<br />
do trabalhador assalariado.<br />
Ao <strong>em</strong>ergir da 2ª Gran<strong>de</strong> Guerra, após quinze anos <strong>de</strong> massacre e atrocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> toda a<br />
sorte, a humanida<strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>u, mais do que <strong>em</strong> qualquer outra época da História o<br />
valor supr<strong>em</strong>o da dignida<strong>de</strong> humana. Com a Declaração Universal dos Direitos do<br />
Hom<strong>em</strong> <strong>em</strong> 1948, os direitos individuais, pela sua transcendência, extrapolam os limites<br />
<strong>de</strong> cada Estado para se tornar uma questão <strong>de</strong> interesse internacional.<br />
Após meio século do fim da 2ª Guerra Mundial diversas convenções internacionais<br />
celebradas no âmbito da Organização das Nações Unidas assentaram no plano<br />
internacional os direitos individuais <strong>de</strong> natureza civil e política, ou os direitos <strong>de</strong> conteúdo<br />
econômico e social e afirmaram a existência <strong>de</strong> novas espécies <strong>de</strong> direitos humanos:<br />
direitos aos povos e direitos da humanida<strong>de</strong>. É o aprofundamento e a <strong>de</strong>finitiva<br />
internacionalização dos direitos humanos.<br />
42
“Surge agora à vista o termo final do longo processo <strong>de</strong> unificação da humanida<strong>de</strong>. E com<br />
isso, abre-se a última gran<strong>de</strong> encruzilhada da evolução histórica: ou a humanida<strong>de</strong> ce<strong>de</strong>rá<br />
à pressão conjugada da força militar e do po<strong>de</strong>rio econômico-financeiro, fazendo<br />
prevalecer uma coesão puramente técnica entre os diferentes povos e Estados, ou<br />
construir<strong>em</strong>os enfim a civilização da cidadania mundial, com o respeito integral aos<br />
direitos humanos, segundo o princípio da solidarieda<strong>de</strong> ética” (COMPARATO, 2005<br />
p.57).<br />
É importante finalizar essa sessão com a classificação que BONAVIDES <strong>de</strong>u aos direitos<br />
fundamentais como <strong>de</strong> primeira, segunda, terceira e quarta geração. São <strong>de</strong> primeira<br />
geração, os direitos da liberda<strong>de</strong>, os direitos civis e políticos, os que têm por titular o<br />
indivíduo e que são oponíveis ao Estado; <strong>de</strong> segunda geração, os direitos sociais, culturais,<br />
econômicos, coletivos; <strong>de</strong> terceira geração: o direito ao <strong>de</strong>senvolvimento, à paz, ao meio-<br />
ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> quarta geração: o<br />
direito à <strong>de</strong>mocracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo.<br />
4.3 A evolução dos Direitos Humanos no Brasil<br />
Tornou-se costume <strong>de</strong>sdobrar a cidadania <strong>em</strong> direitos civis, políticos e sociais. Para<br />
MARSHALL, direitos civis são aqueles direitos que concretizam a liberda<strong>de</strong> individual, como<br />
os direitos à livre movimentação e ao livre pensamento, à celebração <strong>de</strong> contratos e à<br />
aquisição ou manutenção da proprieda<strong>de</strong>; b<strong>em</strong> como o direito <strong>de</strong> acesso aos instrumentos<br />
necessários à <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> todos os direitos anteriores (ou seja: o direito à justiça), garant<strong>em</strong> as<br />
relações civilizadas entres as pessoas. Sua pedra <strong>de</strong> toque é a liberda<strong>de</strong> individual.<br />
São direitos políticos, aqueles direitos que compõ<strong>em</strong>, no seu conjunto, a prerrogativa <strong>de</strong><br />
participar do po<strong>de</strong>r político; prerrogativa essa que envolve tanto a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> alguém se<br />
tornar m<strong>em</strong>bro do governo (isto é, a elegibilida<strong>de</strong>) quanto a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> alguém escolher<br />
o governo (através do exercício do voto). Finalmente, os direitos sociais equival<strong>em</strong> à<br />
prerrogativa <strong>de</strong> acesso a um mínimo <strong>de</strong> b<strong>em</strong> estar e segurança materiais, o que po<strong>de</strong> ser<br />
interpretado como o acesso <strong>de</strong> todos os indivíduos ao nível mais el<strong>em</strong>entar <strong>de</strong> participação no<br />
padrão <strong>de</strong> civilização vigente. Garant<strong>em</strong> a participação na riqueza coletiva. Eles inclu<strong>em</strong> o<br />
direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saú<strong>de</strong> e permit<strong>em</strong> às socieda<strong>de</strong>s<br />
43
politicamente organizadas <strong>de</strong> reduzir os excessos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> produzidas pelos<br />
capitalismo.<br />
É importante notar que, na ótica <strong>de</strong> nosso autor, não basta que tais direitos sejam “<strong>de</strong>clarados”<br />
e figur<strong>em</strong> nalgum texto legal para que eles se concretiz<strong>em</strong> e possam ser consi<strong>de</strong>rados <strong>em</strong><br />
plena operação na vida real. Segundo Marshall, a concretização <strong>de</strong> cada um <strong>de</strong>sses tipos <strong>de</strong><br />
direito <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da <strong>em</strong>ergência <strong>de</strong> quadros institucionais específicos. Assim, os direitos civis<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m, para que sejam respeitados e cumpridos, do <strong>de</strong>senvolvimento da profissão<br />
especializada <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensor <strong>de</strong> particulares (isto é, da profissão <strong>de</strong> advogado); da capacitação<br />
financeira <strong>de</strong> toda a socieda<strong>de</strong> para arcar com as custas dos litígios (o que implica a<br />
assistência judiciária aos pobres); b<strong>em</strong> como da conquista, por parte dos magistrados, <strong>de</strong><br />
in<strong>de</strong>pendência diante das pressões exercidas por particulares econômica e socialmente<br />
po<strong>de</strong>rosos. Já os direitos políticos só se viabilizam caso a Justiça e a Polícia cri<strong>em</strong> condições<br />
concretas para o exercício dos direitos <strong>de</strong> votar crítica.<br />
Cidadania, segundo Marshall, é a participação integral do indivíduo na comunida<strong>de</strong> política;<br />
tal participação se manifestando, por ex<strong>em</strong>plo, como lealda<strong>de</strong> ao padrão <strong>de</strong> civilização aí<br />
vigente e à sua herança social, e como acesso ao b<strong>em</strong>-estar e à segurança materiais aí<br />
alcançados. diferentes tipos <strong>de</strong> prerrogativas – os chamados direitos - que o Estado reconhece<br />
a todos os indivíduos; prerrogativas a que correspon<strong>de</strong>m correlatamente obrigações para com<br />
o Estado: isto é, os chamados <strong>de</strong>veres.<br />
No Brasil, nota-se que todas as Constituições trouxeram <strong>em</strong> seu texto <strong>de</strong>clarações <strong>de</strong> direitos,<br />
sendo que a Constituição do Império, foi a primeira Carta do mundo a positivar os direitos<br />
fundamentais. A Constituição <strong>de</strong> 1824, continha uma das mais avançadas <strong>de</strong>clarações <strong>de</strong><br />
direitos fundamentais do século XIX. Todavia, os direitos reconhecidos e garantidos só<br />
serviam à elite aristocrática, pois não se preten<strong>de</strong>u reformar a estrutura sócio-econômica da<br />
socieda<strong>de</strong>, baseada na proprieda<strong>de</strong> escrava.<br />
A Constituição <strong>de</strong> 1891 trazia os direitos e garantias individuais <strong>de</strong> modo genérico. A<br />
Constituição <strong>de</strong> 1934 passou a assegurar também os direitos <strong>de</strong> nacionalida<strong>de</strong> e os políticos.<br />
Com a Carta ditatorial <strong>de</strong> 1937, ocorre um retrocesso dos direitos fundamentais, <strong>em</strong> especial<br />
os concernentes às relações políticas. As Constituições <strong>de</strong> 1946 e <strong>de</strong> 1967 voltam a consagrar<br />
os direitos e garantias individuais, b<strong>em</strong> como os <strong>de</strong> nacionalida<strong>de</strong> e os políticos.<br />
44
Em 1968, o Ato Institucional nº 5 restringe severamente os direitos fundamentais, com uma<br />
normativida<strong>de</strong> ditatorial on<strong>de</strong> os direitos individuais mais el<strong>em</strong>entares foram cerceados.<br />
Durante quase vinte anos, era possível a <strong>de</strong>terminação <strong>de</strong> se fechar o parlamento, pren<strong>de</strong>r<br />
pessoas s<strong>em</strong> or<strong>de</strong>m judicial, cassar mandatos eletivos, suspen<strong>de</strong>r direitos políticos, <strong>de</strong>ntre<br />
outras inúmeras agressões aos direitos humanos.<br />
Após a re<strong>de</strong>mocratização, a Constituição <strong>de</strong> 1988 surge como produto da luta pela construção<br />
<strong>de</strong> um Estado D<strong>em</strong>ocrático on<strong>de</strong> fosse assegurado para todos os cidadãos, a garantia da<br />
existência dos direitos humanos fundamentais. O Título II da Carta sintetiza o conteúdo <strong>de</strong><br />
todas as manifestações mo<strong>de</strong>rnas dos direitos fundamentais da pessoa humana. Formalmente,<br />
a Constituição vigente abarca todas as gerações dos direitos fundamentais.<br />
Todavia, ainda há um longo caminho a percorrer para que os direitos formalmente garantidos<br />
pela Carta <strong>de</strong> 1988, sejam efetivamente exercidos pela maior parte da população brasileira até<br />
que seja inteiramente cumprido o objetivo fundamental da República Fe<strong>de</strong>rativa do Brasil,<br />
previsto no art. 3º, I, da Constituição, qual seja, o <strong>de</strong> construir uma socieda<strong>de</strong> livre, justa e<br />
solidária.<br />
45
5 TRANSFORMAÇÕES RECENTES DO ESTADO BRASILEIRO<br />
O Estado <strong>de</strong>ve ser encarado como processo histórico a par <strong>de</strong> outros. Quer como idéia ou<br />
concepção jurídica ou política, quer como sist<strong>em</strong>a institucional, o Estado não se cristaliza<br />
nunca numa fórmula acabada. Está <strong>em</strong> contínua mutação, através <strong>de</strong> várias fases do<br />
<strong>de</strong>senvolvimento progressivo. Os fins que se propõe impel<strong>em</strong>-no para novos mol<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
estruturação e eles próprios vão-se modificando e o mais das vezes, ampliando.<br />
Po<strong>de</strong>mos i<strong>de</strong>ntificar ao longo do século XX, três fases distintas no tocante ao exercício das<br />
funções do Estado no Brasil. A primeira fase, i<strong>de</strong>ntificada como liberal, exibe um Estado <strong>de</strong><br />
funções reduzidas, confinadas à segurança, justiça e serviços essenciais. Na segunda fase,<br />
com o Estado social ou mo<strong>de</strong>rno, a máquina estatal assume diretamente papéis econômicos,<br />
tanto como condutor do <strong>de</strong>senvolvimento, como distributivista, <strong>de</strong>stinados a diminuir algumas<br />
distorções do mercado e a amparar os contingentes que ficavam à marg<strong>em</strong> do progresso<br />
econômico. A última fase, que po<strong>de</strong>ríamos chamar <strong>de</strong> pós-mo<strong>de</strong>rna, encontra o Estado sob<br />
crítica <strong>de</strong>nsa, i<strong>de</strong>ntificado com a idéia <strong>de</strong> ineficiência, <strong>de</strong>sperdício <strong>de</strong> recursos, lentidão,<br />
burocracia e corrupção.<br />
O discurso do novo t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> que viv<strong>em</strong>os é o da privatização e do terceiro setor. No âmbito<br />
da cidadania, afloram os chamados direitos difusos, que t<strong>em</strong> por característica a pluralida<strong>de</strong><br />
in<strong>de</strong>terminada <strong>de</strong> seus titulares e a indivisibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> seu objeto. Neles se inclui por ex<strong>em</strong>plo,<br />
a proteção ao consumidor, ao meio-ambiente, aos bens históricos e artísticos.<br />
O Brasil chega à pós-mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> s<strong>em</strong> ter logrado ser liberal n<strong>em</strong> mo<strong>de</strong>rno. O Estado<br />
brasileiro s<strong>em</strong>pre foi onipresente, pois a característica do patrimonialismo s<strong>em</strong>pre foi<br />
constante <strong>em</strong> nossa cultura <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os t<strong>em</strong>pos <strong>de</strong> colônia.<br />
Nesse contexto, o “inchamento” do Estado é um processo contínuo <strong>de</strong> muitas décadas com a<br />
economia brasileira sendo impulsionada por iniciativa oficial. Após a Constituição <strong>de</strong> 1988 e,<br />
com o avanço da i<strong>de</strong>ologia neo-liberal ao longo da década <strong>de</strong> 90, o tamanho e o papel do<br />
Estado passaram para o centro do <strong>de</strong>bate.<br />
46
Com a crítica ao gigantismo do Estado internalizada e <strong>de</strong>fendida pelos setores mais elitizados,<br />
o Estado brasileiro na década <strong>de</strong> 90 sofre um conjunto amplo <strong>de</strong> reformas econômicas e<br />
institucionais, através <strong>de</strong> <strong>em</strong>endas à Constituição e por legislação infraconstitucional, e que<br />
po<strong>de</strong>m ser agrupadas <strong>em</strong> três categorias: a extinção <strong>de</strong> restrições ao capital estrangeiro, a<br />
flexibilização <strong>de</strong> monopólios estatais e a privatização.<br />
Estas transformações modificaram as bases sobre as quais se dava a atuação do Estado no<br />
domínio econômico, tanto no que diz respeito à prestação <strong>de</strong> serviços públicos como à<br />
exploração <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s econômicas. A diminuição expressiva da atuação <strong>em</strong>preen<strong>de</strong>dora do<br />
Estado transferiu sua responsabilida<strong>de</strong> principal para o campo da regulação e fiscalização dos<br />
serviços <strong>de</strong>legados à iniciativa privada e das ativida<strong>de</strong>s econômicas que exig<strong>em</strong> regime<br />
especial.<br />
Neste novo cenário <strong>em</strong> que o Estado sai <strong>de</strong> uma postura intervencionista para um<br />
posicionamento mais regulador, torna-se indispensável uma busca mais efetiva pelo exercício<br />
da cidadania, pois esta é uma exigência <strong>de</strong> maturida<strong>de</strong> da socieda<strong>de</strong> brasileira mo<strong>de</strong>rna. Sabe-<br />
se que a Constituição <strong>de</strong> 1988 ampliou os conceitos <strong>de</strong> cidadão e cidadania. Hoje, não mais<br />
se trata <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar a cidadania como a simples qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> gozar dos direitos políticos,<br />
mas conferir um núcleo mínimo e irredutível <strong>de</strong> direitos fundamentais que <strong>de</strong>v<strong>em</strong> se impor à<br />
ação dos po<strong>de</strong>res públicos e do po<strong>de</strong>r econômico.<br />
A cidadania, segundo SILVA , "consiste na consciência <strong>de</strong> pertinência à socieda<strong>de</strong> estatal<br />
como titular dos direitos fundamentais, da dignida<strong>de</strong> como pessoa humana, da integração<br />
participativa no processo do po<strong>de</strong>r, com a igual consciência <strong>de</strong> que essa situação subjetiva<br />
envolve também <strong>de</strong>veres <strong>de</strong> respeito à dignida<strong>de</strong> do outro e <strong>de</strong> contribuir para o<br />
aperfeiçoamento <strong>de</strong> todos". Ser cidadão, <strong>de</strong>ste modo, é ter consciência dos direitos e <strong>de</strong>veres<br />
constitucionalmente estabelecidos e participar ativamente <strong>de</strong> todas as questões que envolv<strong>em</strong><br />
o âmbito <strong>de</strong> sua comunida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> seu bairro, <strong>de</strong> sua cida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> seu Estado e <strong>de</strong> seu país.<br />
Destarte, a Carta <strong>de</strong> 1988 endossa esse novo conceito <strong>de</strong> cidadania, que t<strong>em</strong> na dignida<strong>de</strong> da<br />
pessoa humana seu maior sentido. Consagra-se, <strong>de</strong> uma vez por todas, os pilares universais<br />
dos direitos humanos cont<strong>em</strong>porâneos fundados na sua universalida<strong>de</strong>, indivisibilida<strong>de</strong> e<br />
inter<strong>de</strong>pendência. A Constituição da República endossa, explicitamente, uma concepção<br />
47
cont<strong>em</strong>porânea <strong>de</strong> cidadania, afinada com as novas exigências da <strong>de</strong>mocracia e fundada no<br />
duplo pilar da universalida<strong>de</strong> e indivisibilida<strong>de</strong> dos direitos humanos.<br />
A Constituição da República consigna <strong>em</strong> seu art. 205, que a "educação, direito <strong>de</strong> todos e<br />
<strong>de</strong>ver do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da socieda<strong>de</strong>,<br />
visando ao pleno <strong>de</strong>senvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua<br />
qualificação para o trabalho". Nota-se <strong>de</strong>ste modo, que não há direitos humanos s<strong>em</strong> o<br />
exercício pleno da cidadania, e que não há cidadania s<strong>em</strong> uma a<strong>de</strong>quada educação para o seu<br />
exercício, pois somente com a interação <strong>de</strong>stes três fatores – direitos humanos, cidadania e<br />
educação – é que se po<strong>de</strong>rá falar <strong>em</strong> um Estado D<strong>em</strong>ocrático assegurador do exercício dos<br />
direitos e liberda<strong>de</strong>s fundamentais <strong>de</strong>correntes da condição <strong>de</strong> ser humano.<br />
48
6 O TRIBUNAL DE CONTAS E A INOVAÇÃO<br />
A promulgação da Constituição Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> 1988, entre outras mudanças, dilatou o papel da<br />
<strong>de</strong>mocracia social e participativa, elevou a eficiência a princípio constitucional como <strong>de</strong>ver<br />
para todo o governo e ampliou as funções institucionais dos órgãos <strong>de</strong> controle externo. Estas<br />
transformações refletiram <strong>em</strong> todas as estruturas <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r e, <strong>em</strong> especial nas Cortes <strong>de</strong><br />
Contas do Brasil, que tiveram suas funções institucionais ampliadas.<br />
Posteriormente, nos anos 90, a promulgação da Emenda Constitucional n.19, estabeleceu<br />
novos princípios <strong>de</strong> <strong>Administração</strong> Pública vinculando os resultados do Estado com o<br />
atendimento ao cidadão e suas <strong>de</strong>mandas. A partir daí, o Brasil t<strong>em</strong> vivenciado gran<strong>de</strong>s<br />
transformações no setor.<br />
Assim, quando as Cortes <strong>de</strong> Contas cumpr<strong>em</strong> suas funções constitucionais, precisam ir além<br />
e assumir o seu papel na construção da <strong>de</strong>mocracia, rumo a um futuro promissor com ações<br />
e projetos inovadores para que, <strong>de</strong>ntro da legitimida<strong>de</strong> institucional, produza, efeitos<br />
concretos e <strong>de</strong> resultados tanto na fiscalização da aplicação dos recursos quanto na<br />
mensuração da eficiência da gestão e das políticas públicas.<br />
A percepção <strong>de</strong>sse entendimento é uma necessida<strong>de</strong> atual e imperiosa para o reconhecimento,<br />
o enfrentamento dos <strong>de</strong>safios, e para a adoção <strong>de</strong> ações e atitu<strong>de</strong>s estratégicas inovadoras<br />
neste milênio. O processo é <strong>de</strong>safiador e complexo, mas os Tribunais <strong>de</strong> Contas, operando<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>stes novos padrões <strong>de</strong> controle, po<strong>de</strong>rão contribuir para o fortalecimento da<br />
cidadania, adotando ações e mecanismos que permitam <strong>de</strong>senvolver uma consciência ética<br />
para que as dificulda<strong>de</strong>s ainda encontradas nas práticas da <strong>Administração</strong> Pública sejam<br />
superadas. Os Tribunais <strong>de</strong> Contas, ao exercer o Controle Externo <strong>em</strong> parceria com agentes<br />
<strong>de</strong> Controle Social, po<strong>de</strong>m ser agentes essenciais <strong>de</strong> efetivida<strong>de</strong> nas relações Estado-<br />
Socieda<strong>de</strong>.<br />
Acreditando que não exist<strong>em</strong> amarrar quando <strong>de</strong>sejamos fazer alguma coisa, i<strong>de</strong>alizamos um<br />
programa voltado para a educação a ser <strong>de</strong>senvolvido pela Escola <strong>de</strong> Contas e Gestão do<br />
Tribunal <strong>de</strong> Contas do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro, cuja proposta é engajar os profissionais da<br />
49
educação no compromisso do <strong>de</strong>senvolvimento da cidadania.<br />
Desta forma, e consi<strong>de</strong>rando as transformações pelas quais estão passando a socieda<strong>de</strong> e o<br />
Estado, o Tribunal <strong>de</strong> Contas do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro <strong>em</strong> uma postura mais que<br />
inovadora, po<strong>de</strong>mos dizer até ousada, <strong>de</strong>verá ir ao encontro daqueles que mais precisam <strong>de</strong><br />
amparo e que serão o nosso amanhã. Se serão um sonho ou pesa<strong>de</strong>lo, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da escolha que<br />
fizermos.<br />
A Escola <strong>de</strong> Contas e Gestão do Tribunal <strong>de</strong> Contas do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro, ao<br />
antecipar as <strong>de</strong>mandas da socieda<strong>de</strong> po<strong>de</strong>rá <strong>de</strong>senvolver um programa educacional a ser<br />
aplicado na re<strong>de</strong> pública <strong>de</strong> educação estadual e nos noventa e um municípios que estão sob<br />
a jurisdição do Tribunal <strong>de</strong> Contas do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
O programa teria como público alvo, professores, diretores, coor<strong>de</strong>nadores e orientadores<br />
pedagógicos da re<strong>de</strong> pública estadual. O objetivo seria capacitar e motivar os profissionais <strong>de</strong><br />
educação levando-os a perceber que apesar das dificulda<strong>de</strong>s que enfrentam diariamente no<br />
ambiente <strong>de</strong> trabalho, como baixos salários, falta <strong>de</strong> material, etc., os seus alunos, e mais<br />
precisamente o país, precisam <strong>de</strong> uma educação <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> para que possamos superar as<br />
dificulda<strong>de</strong>s que cercam a todos nós.<br />
O ponto <strong>de</strong> partida seria um concurso <strong>de</strong> monografia, sobre os <strong>de</strong>safios da educação, cuja<br />
participação ficaria restrita somente aos profissionais da educação da re<strong>de</strong> pública. Em<br />
segundo momento, convocariam todos os participantes do concurso para realizar uma<br />
pesquisa sobre a percepção que a comunida<strong>de</strong> na qual trabalham t<strong>em</strong> sobre o papel <strong>de</strong><br />
educação e que mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> escola <strong>de</strong>sejam para si e seus filhos.<br />
A partir do resultado da pesquisa, e consi<strong>de</strong>rando as múltiplas realida<strong>de</strong>s da comunida<strong>de</strong><br />
on<strong>de</strong> estão inseridas as escolas, <strong>de</strong>ve-se criar uma pedagogia flexível on<strong>de</strong> cada professor<br />
adaptasse a sua disciplina da maneira que achasse mais confortável, porque enten<strong>de</strong>mos que<br />
mais importante do que adotar esta ou aquela linha pedagógica é <strong>de</strong>spertar no professor o seu<br />
compromisso com a educação para a cidadania.<br />
Dentro da cada disciplina <strong>de</strong>v<strong>em</strong> ser incluídos t<strong>em</strong>as sobre a Constituição Fe<strong>de</strong>ral, direitos<br />
50
fundamentais, o papel do Po<strong>de</strong>r Judiciário, do Po<strong>de</strong>r Executivo e do Po<strong>de</strong>r Legislativo e<br />
outros t<strong>em</strong>as que possam levar os educandos a formar ou reformar a noção que t<strong>em</strong> sobre o<br />
estado das coisas <strong>em</strong> que viv<strong>em</strong>. Aproveitando a oportunida<strong>de</strong>, e para fortalecer o papel do<br />
Tribunal <strong>de</strong> Contas junto à população carente, <strong>de</strong>ve-se fazer uma divulgação das suas<br />
atribuições constitucionais e o relevante papel que <strong>de</strong>s<strong>em</strong>penha na fiscalização da coisa<br />
pública.<br />
Essa proposta t<strong>em</strong> o objetivo <strong>de</strong> ser mais um instrumento para a construção da uma socieda<strong>de</strong><br />
menos <strong>de</strong>sigual, como também mostrar que é possível que todas as instituições, quer públicas<br />
quer privadas, se comprometam com o b<strong>em</strong> comum <strong>de</strong> todos os brasileiros. E se a educação<br />
é o pilar sobre o qual se constrói uma socieda<strong>de</strong> melhor, não há motivos para que a<br />
preocupação com esta área fique restrita ao Po<strong>de</strong>r Executivo, através <strong>de</strong> sua secretaria <strong>de</strong><br />
educação. Todos po<strong>de</strong>m contribuir com idéias para uma educação <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>.<br />
51
7 CONCLUSÃO<br />
Tentamos mostrar com este trabalho, que preferimos chamar exercício <strong>de</strong> reflexão, que a<br />
mudança é a tônica da História da humanida<strong>de</strong>. Estamos <strong>em</strong> constante reelaboração <strong>de</strong> nós<br />
mesmos quando incorporamos novas maneiras <strong>de</strong> nos organizar – criação do Estado -, quando<br />
enten<strong>de</strong>mos que todos os homens são portadores <strong>de</strong> uma igualda<strong>de</strong> essencial – criação dos<br />
direitos humanos – ou mesmo quando perceb<strong>em</strong>os, através do sofrimento, que somente o b<strong>em</strong><br />
comum po<strong>de</strong>rá superar o caos <strong>em</strong> que está mergulhada a humanida<strong>de</strong>, <strong>em</strong> especial a socieda<strong>de</strong><br />
brasileira.<br />
Percorr<strong>em</strong>os um longo caminho <strong>de</strong> cento e setenta e oito anos <strong>de</strong> história do Brasil e<br />
verificamos que a libertação dos escravos não trouxe consigo a igualda<strong>de</strong> efetiva. Essa<br />
igualda<strong>de</strong> era afirmada nas leis, mas negada na prática. Até hoje a população negra ocupa<br />
posição inferior <strong>em</strong> todos os indicadores <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida. É a parcela menos educada da<br />
população, com os <strong>em</strong>pregos menos qualificados e menores salários e com os piores índices<br />
<strong>de</strong> ascensão social.<br />
Os progressos são inegáveis, mas falta um longo caminho. As mudanças trazidas pelo<br />
renascimento liberal <strong>de</strong>senvolveram a cultura do consumo entre os excluídos que não quer<strong>em</strong><br />
ser cidadãos, mas sim consumidores. É a cidadania pregada pelos novos liberais. E a cultura<br />
do consumo dificulta o <strong>de</strong>satamento do nó, que torna tão lenta a marcha da cidadania entre<br />
nós impedindo a redução das <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s e o fim da divisão dos brasileiros <strong>em</strong> castas<br />
separados pela educação, pela renda, pela cor.<br />
A Constituição <strong>de</strong> 1988, endossa <strong>de</strong> forma explícita a concepção cont<strong>em</strong>porânea <strong>de</strong> cidadania,<br />
afinada com as novas exigências da <strong>de</strong>mocracia e fundada no duplo pilar da universalida<strong>de</strong> e<br />
indivisibilida<strong>de</strong> dos direitos humanos, também entrega ao Estado e ao cidadão – <strong>de</strong> forma<br />
implícita – a tarefa <strong>de</strong> educar (<strong>de</strong>ver) e ser educado (direito) <strong>em</strong> direitos humanos e cidadania.<br />
Assim, os compromissos expressos na Constituição colocam-nos a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> superação<br />
das <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s educacionais observadas na socieda<strong>de</strong> brasileira, ao <strong>de</strong>finir a educação<br />
como um direito social garantindo a igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> condições para acesso e permanência na<br />
escola com um padrão mínimo <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> para todos.<br />
52
A educação <strong>de</strong>ve se dar <strong>de</strong> forma a que os princípios éticos fundamentais que o cercam sejam<br />
assimilados por todos nós, passando a orientar nossas ações, <strong>em</strong> busca da reconstrução dos<br />
direitos <strong>em</strong> nosso país. Só assim é que o efetivo exercício da cidadania e o respeito aos<br />
direitos estarão completos.<br />
Assim, perfilhando as idéias <strong>de</strong> Paulo Freire e D<strong>em</strong>erval Saviani, enten<strong>de</strong>mos que somente<br />
através da educação po<strong>de</strong>r<strong>em</strong>os alterar o curso <strong>de</strong> nossa história. Será preciso então o<br />
engajamento <strong>de</strong> homens comprometidos com a ruptura para elaborar uma pedagogia cujo<br />
objetivo seja recuperar a humanida<strong>de</strong> dos não-cidadãos.<br />
Para tornar os brasileiros cidadãos plenos é necessário que o Estado, através <strong>de</strong> seus gestores,<br />
<strong>de</strong>ve propor ações que compatibiliz<strong>em</strong> as priorida<strong>de</strong>s do governo e o querer da coletivida<strong>de</strong>.<br />
Mas, para <strong>em</strong>preen<strong>de</strong>r essas ações o Estado <strong>de</strong>ve ser ético-político, e a ética, quando estudada<br />
no âmbito da gestão pública, apresenta uma interligação profunda entre Estado e socieda<strong>de</strong>,<br />
principalmente quanto ao exercício da cidadania.<br />
Esse processo envolve muitos atores e não restam dúvidas <strong>de</strong> que o Tribunal <strong>de</strong> Contas do<br />
Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro, através <strong>de</strong> sua Escola <strong>de</strong> Contas e Gestão, se constitui <strong>em</strong> um<br />
<strong>de</strong>sses atores, diretamente envolvidos no processo <strong>de</strong> difusão <strong>de</strong> direitos, <strong>de</strong> garantia <strong>de</strong><br />
exercício <strong>de</strong> direitos e sobretudo <strong>de</strong> exercício pleno da cidadania.<br />
53
BIBLIOGRAFIA<br />
BONAVIDES, Paulo. <strong>Curso</strong> <strong>de</strong> direito constitucional. São Paulo: Malheiros. 2000.<br />
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993.<br />
_______________________________Estado <strong>de</strong> Direito. Lisboa: Gradiva Publicações, 1999.<br />
COMPARATO, Fábio Kon<strong>de</strong>r. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 4ª ed. São<br />
Paulo: Saraiva, 2005.<br />
ARVALHO, José Murilo <strong>de</strong>. Cidadania no Brasil o longo caminho. 6ª ed. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Civilização Brasileira, 2004.<br />
CHAHIN, Ali et al. E-gov.br: a próxima revolução brasileira: eficiência, qualida<strong>de</strong> e<br />
<strong>de</strong>mocracia : o governo eletrônico no Brasil e no mundo. São Paulo : Pretince Hall, 2004.<br />
DALLARI, Dalmo <strong>de</strong> Abreu. El<strong>em</strong>entos <strong>de</strong> teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva,<br />
1983.<br />
FERREIRA, Nilda Teves. Cidadania: uma questão para a educação. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Nova<br />
Fronteira, 1993.<br />
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberda<strong>de</strong>. 23ª ed. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Terra e Paz,<br />
1966.<br />
______________Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Terra e Paz, 1987.<br />
FINLEY, Moses I. D<strong>em</strong>ocracia Antiga e Mo<strong>de</strong>rna. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Graal, 1988.<br />
MACHADO, N. Cidadania e educação. São Paulo: Escrituras, 1997.<br />
MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Zahar editores, 1967.<br />
54
MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e a Constituição. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Forense, 2003.<br />
MORAES, Alexandre <strong>de</strong>. Direito Constitucional. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005.<br />
RIBEIRO, Maria <strong>de</strong> Lour<strong>de</strong>s e RODRIGUEZ, Margarida Victoria. Notas para uma<br />
releitura da Pedagogia Histórico Crítica. Disponível na internet via<br />
www.uniube.br/uniube/cursos/mestrado/revista/revista_3/artigos/notaspara.htm. (julho, 2007)<br />
SAVIANI, D<strong>em</strong>erval. Escola e D<strong>em</strong>ocracia :teorias da educação, curvatura da vara, onze<br />
teses sobre educação e política. São Paulo: Cortez editores, 1984.<br />
Estado e educação. Campinas: Papirus, 1992.<br />
_________________ Pedagogia histórico-crítica: Primeiras aproximações. 2. ed. São<br />
Paulo: Cortez/Autores Associados, 2000.<br />
SILVA, José Afonso da. <strong>Curso</strong> <strong>de</strong> Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros,<br />
1997.<br />
TENÓRIO, Fernando Guilherme. Um espectro ronda o terceiro setor, o espectro do<br />
mercado: ensaios <strong>de</strong> gestão social. 2ª ed. revisada. Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, Editora Inijuí, 2003.<br />
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos <strong>de</strong> pesquisa <strong>em</strong> administração. 2ª ed. São Paulo:<br />
Atlas, 2006.<br />
São Paulo: Atlas, 2006.<br />
. Projetos e relatórios <strong>de</strong> pesquisa <strong>em</strong> administração. 7ª ed.<br />
55