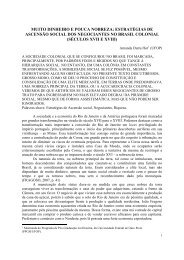You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sumário<br />
Apresentação<br />
Dossiê História e educação<br />
História da Educação no Brasil: abordagens e tendências de pesquisa<br />
Thais Nivia Fonseca<br />
Os palanques do republicano Gomes Henrique Freire de Andrade<br />
Rosana Areal e Livia Vieira<br />
Percepções acerca do ensino de História em uma escola confessional feminina (<strong>19</strong>15-<strong>19</strong>28)<br />
Ana Lage e Verônica Costa<br />
O ensino de história entre o dever de memória e o trabalho de memória:<br />
representações da Ditadura Militar em livros didáticos de história<br />
Mateus Henrique Pereira e Miriam Hermeto<br />
Seção Livre<br />
A teologia política isidoriana<br />
Sergio Alberto Feldman<br />
“Vou cantar para ver se vai valer”: a configuração da categoria MPB no repertório das<br />
intérpretes (<strong>19</strong>64-<strong>19</strong>67)<br />
Luiz Henrique Assis Garcia
A fuga escrava no jornal Astro de Minas: o conflito na relação senhor - escravo (1827-1839)<br />
Elisa Vignolo Silva<br />
Sobre os autores<br />
Normas para publicação
História da Educação no Brasil: abordagens e tendências de pesquisa<br />
Thais Nivia de Lima e Fonseca<br />
Resumo: O propósito deste artigo é apresentar uma visão panorâmica do processo de<br />
constituição da História da Educação como campo de pesquisa, concentrando o foco na<br />
análise da sua produção historiográfica mais recente, realizada nos últimos cinco anos.<br />
Resultado do amadurecimento do campo, essa produção apresenta, hoje, resultados bastante<br />
consistentes para muitos problemas de investigação, trazendo contribuições inestimáveis para<br />
o conhecimento sobre a história da educação brasileira, principalmente depois da constituição<br />
do estado nacional, no pós-independência. A renovação na historiografia da educação será<br />
enfocada considerando-se o crescimento do campo em termos quantitativos e temáticos, numa<br />
relação direta com a expansão dos programas de pós-graduação em Educação, e com a<br />
incorporação mais recente, de pesquisas realizadas em programas de pós-graduação em<br />
História. O número cada vez maior de trabalhos reflete-se visivelmente nos eventos<br />
científicos, nacionais e internacionais, nos quais a história da educação é o principal objeto,<br />
ou é parte de um conjunto de temáticas em evidência. Como espaços para onde confluem<br />
pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, e em diferentes níveis de experiência, eles são<br />
bastante férteis quando o propósito é analisar o “estado da arte” dessa historiografia. Por isso<br />
foi utilizado o material dos principais eventos científicos em que a história da educação<br />
aparece como campo específico, como instrumentos para alguns comentários acerca dessa
historiografia e sobre as possibilidades de investigação em temáticas ainda pouco<br />
consideradas.<br />
Palavras-chave: História da Educação, historiografia, Brasil<br />
History of Education in Brazil: Research Approaches and Tendencies<br />
Abstract: This paper intends to present a panoramic vision around the constitution process of<br />
the History of Education as a research field, focusing on the review of its last five years<br />
historiography. As a reflex of the field's upgrowth, today this production presents consistent<br />
results for many investigation issues, bringing priceless contributions for the knowledge about<br />
the history of brazilian education, particularly after the national state's constitution, on the<br />
post-independence period. The renovation on the education's historiography will be focused,<br />
considering the thematic and quantitative developments of the field, in a direct relation to the<br />
expansion of the Education post-graduation programs and to the recent annexation of the<br />
research done in History post-graduation programs. The increasing number of work on the<br />
field can be noticed in the national and international cientific events, where the history of<br />
education is the main topic or part of a group of themes in evidence. Those events are very<br />
useful when it comes to analyse the “state-of-the-art” historiography, once they converge<br />
researchers from all over the country and with different backgrounds. That is why those<br />
event's material were used as instruments for some comments around the possibilities to<br />
investigate themes that are still disregarded.<br />
Key-words: History of Education, historiography, Brazil
Nos últimos quinze anos têm sido elaborados importantes balanços sobre a<br />
historiografia da educação que refletem claramente a consolidação deste campo de pesquisa<br />
no mesmo período. Em praticamente todos os trabalhos desta natureza, ressalta-se a história<br />
da escrita da história da educação, desde os primeiros textos surgidos no século XIX, quando<br />
ainda nem se havia constituído algo próximo do que hoje denominamos uma “história da<br />
educação”. Também surge em destaque a análise das origens da história da educação, antes<br />
como disciplina escolar do que como campo de pesquisa, em função das políticas<br />
educacionais que, desde o final do século XIX, foram se estruturando em torno do ensino<br />
elementar e da formação dos professores. Não entrarei aqui em detalhes sobre essa trajetória,<br />
muito bem delineada em vários trabalhos 1 . Meu propósito é realizar uma visão panorâmica do<br />
processo, concentrando-me, depois, numa tentativa de análise da produção mais recente,<br />
realizada nos últimos cinco anos. Resultado do amadurecimento do campo, essa produção<br />
apresenta, hoje, resultados bastante consistentes para muitos problemas de investigação,<br />
trazendo contribuições inestimáveis para o conhecimento sobre a história da educação<br />
brasileira, principalmente depois da constituição do estado nacional, no pós-independência.<br />
A princípio voltada para a formação dos professores, a história da educação, como<br />
disciplina escolar, tratava essencialmente da história do pensamento pedagógico e das<br />
políticas públicas para a educação, principalmente nos limites dos seus projetos e da<br />
legislação. Na medida em que foi se constituindo como campo de pesquisa, ela seguiu, a<br />
princípio, essa mesma linha de abordagem, com uma problematização que deixava a desejar,<br />
uma vez que não lidava com a dimensão prática dos ideais ou dos projetos oficiais para a<br />
educação, o que levava os aportes conceituais para o campo puramente teórico, sem<br />
comprovação empírica. Era uma história descritiva, muito concentrada nas instituições<br />
dominantes como os principais sujeitos – quando não únicos – da história da educação no<br />
1 Ver referências ao final do artigo.
Brasil. Isso, sem dúvida, a aproximava de um fazer historiográfico tradicional, herdeiro da<br />
chamada “escola metódica”, que muitos denominam “positivista”. À medida que a<br />
historiografia, em outros campos de investigação, redirecionava suas abordagens,<br />
particularmente na direção das interpretações marxistas da história, os estudiosos da história<br />
da educação procuravam seguir o mesmo caminho, alterando, porém, timidamente, a sua<br />
relação com a centralidade do Estado nos processos históricos relativos à educação. No final<br />
da década de <strong>19</strong>80 é que os sinais de uma renovação mais evidente se fizeram sentir, com<br />
uma produção advinda, sobretudo, dos programas de pós-graduação das universidades, e que<br />
se repensava sob a forte influência da história cultural. Desde então, conceitos como<br />
representações, apropriações e práticas culturais passaram a ser familiares à historiografia da<br />
educação, no seio da qual foram se forjando ou se firmando outros, como o de cultura escolar,<br />
hoje central para alguns objetos de pesquisa. Os temas tradicionais de estudo não foram<br />
abandonados, mas passaram a ser tratados sob a ótica de um aparato conceitual que induzia a<br />
uma problematização mais sofisticada. Assim, a história político-administrativa da educação,<br />
a história das instituições escolares, e mesmo a história do pensamento educacional puderam<br />
ser abordados de maneira renovada. Isso sem contar a incorporação, tal como ocorrera em<br />
outros campos da pesquisa histórica, dos novos objetos.<br />
A renovação na historiografia da educação não pode ser entendida, ainda, sem se<br />
considerar o crescimento do campo em termos quantitativos, numa relação direta com a<br />
expansão dos programas de pós-graduação em Educação, e com a incorporação mais recente,<br />
de pesquisas realizadas em programas de pós-graduação em História. O número cada vez<br />
maior de trabalhos reflete-se visivelmente nos eventos científicos nos quais a história da<br />
educação ou é o principal objeto ou é parte de um conjunto de temáticas em evidência. Como<br />
espaços para onde confluem pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, e em diferentes<br />
níveis de experiência, eles são bastante férteis quando o propósito é analisar o “estado da arte”
dessa historiografia. Essa é a razão pela qual eu tomei o material dos principais eventos<br />
científicos em que a história da educação aparece como campo específico, como instrumentos<br />
para alguns comentários acerca dessa historiografia. 2 Optei por não considerar artigos<br />
publicados em periódicos, capítulos de livros ou livros completos, bem como dissertações e<br />
teses, porque esses são, invariavelmente, parte ou desdobramentos dos trabalhos constantes<br />
nestes eventos e fazem parte de uma dinâmica conhecida por todos nós, que leva à<br />
apresentação de textos em fases diversas de aprofundamento, mas que são todos resultados<br />
parciais ou finais de pesquisas que, eventualmente, acabam por ser publicadas naquelas outras<br />
formas.<br />
Uma primeira abordagem que considerei importante para iniciar esses comentários, foi<br />
partir da averiguação do interesse dos pesquisadores pelos diversos períodos da história do<br />
Brasil, considerando-se mesmo a periodização tradicional em período colonial, Império e<br />
República. Excluindo-se os trabalhos que tratam de análises mais gerais sobre a educação, de<br />
cunho filosófico ou sociológico, e alguns mais voltados para a discussão sobre o ensino de<br />
História e que não trazem uma problematização histórica clara – todos eles muito comuns<br />
nestes eventos científicos – cheguei a um total de 3.106 trabalhos inscritos e registrados nos<br />
cadernos de resumos e na programação dos eventos 3 . O gráfico a seguir expressa a situação<br />
2 Os eventos cientificos tomados para a análise, nas edições realizadas nos últimos cinco anos, foram: o<br />
Congresso Brasileiro de História da Educação, o Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, o<br />
Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas Gerais e as Reuniões Anuais da Associação<br />
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação-ANPED.<br />
3 Muitos trabalhos certamente não foram efetivamente apresentados, mas isso não é relevante para este artigo.<br />
Percebi que muitos trabalhos foram apresentados em mais de um desses eventos, sendo portanto, computados<br />
duas vezes. Separá-los mostrou-se ser tarefa difícil para a elaboração deste artigo, mesmo considerando o efeito<br />
sobre o resultado final. As tendências gerais, no entanto, não foram afetadas por este pequeno desvio. Em 2008<br />
foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte um evento científico especificamente voltado para<br />
as temáticas da história colonial, o II Encontro Internacional de História Colonial – A experiência colonial no<br />
Novo Mundo (séculos XVI-XVIII), no qual houve um simpósio temático dedicado à Educação na Colônia, onde<br />
foram apresentados 18 trabalhos, que não foram computados nesta parte do artigo.<br />
* As siglas correspondem aos seguintes eventos: CPEHEMG – Congresso de Pesquisa e Ensino de História da<br />
Educação em Minas Gerais; CBHE – Congresso Brasileiro de História da Educação; CLBHE – Congresso Luso-<br />
Brasileiro de História da Educação; ANPED – Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e<br />
Pesquisa em Educação.
encontrada. Para melhor visualização, agrupei os dados por evento, reunindo suas várias<br />
edições entre 2004 e 2009.<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Periodo<br />
Colonial<br />
Império República Total<br />
CPEHEMG 2005, 2007,<br />
2009 (bianual)*<br />
CBHE 2004, 2006, 2008<br />
(bianual)<br />
CLBHE 2004, 2006, 2008<br />
(bianual)<br />
ANPED 2004 a 2008<br />
(anual)<br />
Deste total surpreende a predominância dos estudos voltados para o período<br />
republicano, principalmente entre a última década do século XIX e a primeira metade do<br />
século XX. Foram 2.518 trabalhos sobre a educação brasileira na República, o que representa<br />
81% da produção levantada. O Império foi objeto de estudo de 483 trabalhos (15,6% do total)<br />
e o período colonial contou com apenas 105 trabalhos (3,4% do total). O desequilíbrio é<br />
grande, e creio que merece alguma reflexão que nos ajude a compreendê-lo.<br />
Período colonial<br />
Império<br />
República<br />
Total de trabalhos apresentados 2004-2009
Uma primeira questão a considerar inscreve-se na própria trajetória da história da<br />
educação brasileira como campo de pesquisa, herdeira de movimentos intelectuais e políticos<br />
que fundamentaram sua reflexão na educação escolar e nas proposições para sua organização<br />
num sistema educacional capitaneado pelo Estado e voltado à ampliação do ensino público<br />
sob a égide de idéias pedagógicas modernas. Esses movimentos, principalmente na primeira<br />
metade do século XX, inspiraram a pesquisa sobre a educação de natureza escolar, num<br />
momento em que se considerava a República como a grande responsável pela implantação de<br />
um projeto educacional moderno no Brasil. Ainda marcadas por uma interpretação<br />
reducionista – que autores como Fernando de Azevedo contribuíram para consolidar, e que<br />
quase negava a existência de educação organizada antes da República – muitas gerações de<br />
pesquisadores concentraram todos os seus esforços no estudo deste período. Passou-se algum<br />
tempo até que o Império fosse “descoberto” como um período importante da história da<br />
educação brasileira, no qual foram sendo identificadas ações importantes no sentido da<br />
construção, parcial que fosse, de uma política voltada para a educação da população livre e<br />
que modificasse “a estrutura” escolar herdada do período colonial.<br />
O que estou sugerindo, assim, é que a preferência pelo período republicano, seguido<br />
do Império, poderia ser explicado, em parte, por se fundamentar numa tradição historiográfica<br />
que colocou a escola e a ação estatal no centro dos problemas e objetos de estudo,<br />
identificando-as como mais visíveis após a constituição do Estado Nacional brasileiro, depois<br />
da independência política. A escolha desses objetos privilegiados de estudo também<br />
encontrou – ou tem encontrado – um elemento de especial motivação: a disponibilidade de<br />
fontes e a relativa facilidade de acesso a elas, em diferentes dimensões. Pelo fato de serem,<br />
em sua maioria, estudos que tratam da escola e suas relações institucionais e sociais, é<br />
inevitável que se tenha que considerar a documentação produzida no âmbito das instituições<br />
direta ou indiretamente responsáveis pela educação escolar. A razoável organização
administrativa construída em torno dessa questão gerou a produção de vasta documentação,<br />
em muitos casos ainda hoje sob a guarda de órgãos públicos responsáveis pela educação, e<br />
não raro disponíveis para a pesquisa. O conhecimento acerca dessa organização e suas<br />
funções, na relação com a estrutura político-administrativa, facilita sobremaneira o acesso às<br />
fontes e, no caso da maior parte da documentação oficial do Império e da República, também<br />
pelo fato de ser ela quase toda impressa. A disponibilidade de tipos documentais igualmente<br />
acessíveis, como jornais, revistas, fotografias, além de impressos escolares e didáticos de uma<br />
forma geral, alguns dos quais material especialmente produzido com finalidades escolares,<br />
ajuda a impulsionar a pesquisa sobre esses períodos da história da brasileira. Isso sem contar a<br />
atração exercida pelas técnicas da história oral, fartamente utilizadas em pesquisas sobre<br />
períodos mais recentes.<br />
Em consonância com a diversidade de fontes, é também grande a diversidade de temas<br />
de investigação, tendo o período republicano como marco temporal principal. Aqui, as<br />
vertentes são muitas, com uma predominância nas análises de natureza político-institucional,<br />
das relações entre as concepções e projetos pedagógicos e as práticas em alguns momentos<br />
específicos, e ultimamente as temáticas em que envolvem a discussão sobre as culturas<br />
escolares. Para o período imperial, um número significativo de estudos está voltado para o<br />
processo de escolarização, desde a implantação da primeira legislação sobre a questão,<br />
importante para a compreensão de toda a história da educação no Brasil como Estado<br />
nacional, além de trabalhos que têm como foco o pensamento de intelectuais acerca da<br />
educação, e a implantação de diferentes métodos de ensino, entre outros temas.<br />
Em relação ao período colonial, claramente minoritário na preferência e interesses dos<br />
pesquisadores em história da educação, as temáticas mais enfocadas giram em torno da<br />
atuação educacional das ordens religiosas, principalmente da Companhia de Jesus, e nos<br />
aspectos político-institucionais das reformas pombalinas da educação, realizadas em todo o
Império português, durante o reinado de D. José I, na segunda metade do século XVIII. Se são<br />
poucos os trabalhos sobre a educação neste período, mais escassos ainda são os que analisam<br />
aspectos das práticas educativas não escolares, muito disseminadas entre a população colonial<br />
até as primeiras décadas do século XIX. Ao final deste artigo, analisarei mais detidamente a<br />
historiografia em relação do período colonial, tema que considero relevante para a<br />
compreensão de processos educativos mais amplos, bem como para a compreensão de muitas<br />
das formulações legais e intelectuais posteriores, já no período do estado nacional.<br />
Abordagem obrigatória quando se trata de balanços sobre a historiografia da educação<br />
brasileira, são os grandes campos temáticos nos quais se inscrevem as pesquisas, e que<br />
podem, também, ser detectados por meio dos conjuntos de trabalhos apresentados nos eventos<br />
científicos que estou tomando como base para esta análise. Felizmente, tem se tornado hábito<br />
dos organizadores desses eventos – ao menos aqueles realizados no Brasil – quantificar os<br />
trabalhos, separados pelos eixos temáticos nos quais foram inscritos. Isso nos permite ter uma<br />
visão razoável dos temas gerais de preferência dos pesquisadores – mesmo considerando<br />
falhas de associação cometidas pelos próprios autores dos trabalhos, que nem sempre<br />
escolhem adequadamente os eixos temáticos – o que significa, ao final, perceber em que<br />
direções a pesquisa em história da educação tem sido realizada, e em torno de que<br />
problemáticas o campo tem se consolidado.<br />
Antes de analisar as relações quantitativas de incidência das pesquisas nos diferentes<br />
eixos temáticos, vejamos como os diversos eventos científicos considerados organizaram<br />
esses eixos e os denominaram. Na verdade, considerei nesta parte do artigo apenas os eventos<br />
que têm a história da educação como campo de pesquisa principal, ou seja, os congressos<br />
Brasileiro e Luso-Brasileiro de História da Educação, e o Congresso de História da Educação
ealizado bianualmente em Minas Gerais 4 . Os encontros do Grupo de Trabalho de História da<br />
Educação da ANPED não entraram nessas classificações por não se organizarem em torno de<br />
eixos temáticos como os demais. Neste caso os trabalhos são inscritos diretamente no GT<br />
História da Educação, sem pré-definições quanto a eixos específicos. Vou manter nestes<br />
comentários o mesmo critério, de considerar os eventos realizados nos últimos cinco anos,<br />
começando pelo Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas Gerais.<br />
Desde a sua primeira edição, em 2001, este encontro dos pesquisadores mineiros tem<br />
expressado a produção regional, originada fundamentalmente dos programas de pós-<br />
graduação do Estado e dos programas de iniciação científica para estudantes de graduação, e<br />
indicado as linhas de pesquisa predominantes no campo. Essas linhas têm sido agrupadas em<br />
eixos temáticos que, no geral, têm se mantido em todas as edições, com pequenas alterações<br />
em seus títulos, e são os seguintes:<br />
Fontes, categorias e métodos de pesquisa em História da Educação<br />
Intelectuais e pensamento educacional<br />
Profissão docente<br />
Gênero e etnia e geração<br />
Imprensa, impressos educacionais e educação<br />
Práticas escolares e processos educativos<br />
Instituições educacionais e/ou cientificas<br />
Ensino de história da educação<br />
Estado e políticas educacionais<br />
Historiografia da educação<br />
4 Embora limitado, esse é um recorte justificado pela inserção do meu próprio grupo de pesquisa no campo, e<br />
pela familiaridade que temos com a produção local. A produção nacional fica, assim, contemplada, nos eventos<br />
nacionais e internacionais mencionados.
Espaços educativos extra-escolares<br />
Dentre esses eixos, os que têm apresentado o maior número de trabalhos – e numa<br />
tendência de crescimento ao longo das últimas edições são, em primeiro lugar, Instituições<br />
educacionais e/ou cientificas, seguido de Imprensa, impressos educacionais e Educação e<br />
Práticas escolares e processos educativos. Muito mais numeroso nos primeiros anos, o eixo<br />
Fontes, categorias e métodos de pesquisa em História da Educação vem se mostrando menos<br />
atraente, enquanto mantêm uma certa estabilidade os eixos sobre Profissão docente,<br />
Pensamento Educacional e Políticas educacionais. Sempre minoritário, não ultrapassando a<br />
marca de 1,5% dos trabalhos inscritos, está o eixo sobre Ensino de História da Educação,<br />
sobre o qual comentarei depois. Essa configuração nos dá indicações importantes sobre as<br />
direções nas quais caminha a historiografia da educação em Minas Gerais. Estamos diante de<br />
temáticas que podem ser consideradas “clássicas”, como a história das instituições escolares,<br />
do pensamento educacional e das políticas educacionais, rediscutidas na última década sob<br />
perspectivas historiográficas e conceituais renovadas. E diante de outras que fazem parte do<br />
próprio movimento de renovação dessa historiografia da educação, que demonstram vínculos<br />
evidentes com a História cultural, sobretudo quanto ao estudo das práticas culturais e das<br />
representações, como o demonstra o crescimento importante do número de trabalhos sobre os<br />
impressos e sobre as práticas escolares e educacionais. De certa forma, o quadro geral da<br />
historiografia da educação em Minas Gerais, percebido pela análise dos trabalhos inscritos<br />
neste Congresso, indica a consonância com as tendências da historiografia da educação<br />
brasileira, mas expressa também as diversas vinculações institucionais desses pesquisadores,<br />
com os programas de pós-graduação aos quais estão vinculados como professores ou alunos, e<br />
com os grupos de pesquisa mais consolidados do Estado.
Numa perspectiva de abrangência nacional, tomei os eixos temáticos nas últimas<br />
edições do Congresso Brasileiro de História da Educação, evento que vem demonstrando sua<br />
importância para a visibilidade e para o debate das pesquisas realizadas no Brasil, em<br />
diferentes níveis. Os eixos temáticos, com algumas adaptações em seus títulos, presentes nos<br />
últimos cinco anos são:<br />
Estado e políticas educacionais e modelos pedagógicos<br />
Fontes, categorias e métodos de pesquisa em história da educação<br />
Gênero, etnia e história da educação brasileira<br />
Imprensa pedagógica<br />
Instituições educacionais e/ou cientificas<br />
Intelectuais, pensamento social e educação<br />
Cultura e práticas escolares e educativas<br />
Profissão docente<br />
Historiografia da educação brasileira e história comparada<br />
História dos movimentos sociais na educação brasileira<br />
História da profissão docente e das instituições escolares<br />
Processos educativos e instancias de sociabilidades<br />
Arquivos, centros de documentação, museus e educação<br />
Ensino de história da educação<br />
Currículo, disciplinas e instituições escolares<br />
Embora mais variado do que o anterior, este rol no congresso nacional não difere<br />
substancialmente do outro, apresentando, na verdade, alguns desdobramentos de eixos<br />
temáticos que estavam mais condensados, ou agrupados no congresso mineiro. Tomando as<br />
edições dos últimos cinco anos, percebe-se que apresentam clara predominância numérica os
trabalhos inscritos em torno dos eixos Cultura e práticas escolares e educativas, Políticas<br />
educacionais e pensamento pedagógico e História da profissão docente e das instituições<br />
escolares. Juntos, esses três eixos temáticos responderam por mais da metade dos trabalhos<br />
apresentados nessas três ultimas edições do Congresso Brasileiro de História da Educação o<br />
que, a meu ver, indica, mais uma vez, um claro movimento de renovação das temáticas mais<br />
clássicas e fundadoras da historiografia da educação e da rediscussão da pesquisa no campo a<br />
partir dos novos objetos impostos pela interface com a História cultural e, de certa forma<br />
também com a história social.<br />
No caso do Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação a mesma tendência se<br />
faz presente na definição dos eixos temáticos em torno dos quais se organizam os<br />
pesquisadores que dele têm participado:<br />
Educação, infância e família<br />
Ensino de história da educação<br />
Gênero, etnia e geração<br />
Imprensa, impressos e discursos educacionais<br />
Cultura, modelos pedagógicos e praticas educativas<br />
Historia comparada: questões metodológicas da pesquisa em educação<br />
Políticas publicas e reformas educacionais<br />
Idéias, doutrinas e modelos pedagógicos<br />
Formação, identidades e profissão docente<br />
Instituições educativas e cultura material escolar<br />
Historiografia, métodos, fontes e museologia<br />
Políticas, sistemas e instituições educacionais e cientificas<br />
Historiografia e memória da educação
Das três edições deste congresso realizadas nos últimos cinco anos, apenas daquele<br />
que ocorreu no Brasil, em Uberlândia, Minas Gerais, temos um balanço quantitativo<br />
publicado no Livro de Resumos, indicando os eixos temáticos nos quais foram inscritos o<br />
maior número de trabalhos, demonstrando em linhas gerais a mesma tendência dos demais:<br />
em primeiro lugar o eixo Cultura, modelos pedagógicos e práticas educativas, seguido de<br />
Historiografia e memória da educação e Políticas, sistemas e instituições educacionais e<br />
cientificas. Uma ligeira diferença dos eixos presentes do Luso-Brasileiro em relação aos<br />
demais eventos pode ser em parte explicada por seu caráter internacional e, mais<br />
especificamente, focado na parceria com Portugal, onde existem, evidentemente, outras<br />
tradições de pesquisa. Um exemplo disso é a preocupação da historiografia portuguesa com a<br />
discussão sobre as colônias, existentes até meados da década de <strong>19</strong>70 e, portanto, com uma<br />
presença muito marcante nos processos históricos do País, o que inclui as questões<br />
relacionadas à educação. O eixo temático sobre a história comparada, por exemplo, pode ser<br />
visto como uma necessidade neste congresso, uma vez que nele muitos pesquisadores dos<br />
dois países apresentam trabalhos realizados em parceria, decorrentes de projetos conjuntos,<br />
além de ser uma exigência que, na montagem de comunicações coordenadas, o grupo seja,<br />
necessariamente, formado de portugueses e brasileiros.<br />
Neste ponto, gostaria de voltar à questão das preferências dos pesquisadores em<br />
relação aos diferentes eixos temáticos, ou linhas de investigação no campo da História da<br />
Educação, para discutir não aqueles que têm sido os predominantes, mas ao contrário, refletir<br />
sobre os que ainda necessitam de maior investimento. Acredito que seja uma estratégia<br />
importante para apresentar possibilidades para os jovens pesquisadores e contribuir para o<br />
avanço onde a pesquisa ainda se faz de forma acanhada, apesar de apresentar importante<br />
potencial. Para esse exercício, escolhi as duas temáticas menos concorridas na preferência dos
pesquisadores, evidenciada no balanço quantitativo realizado: o ensino de História da<br />
Educação, e a história da educação no período colonial brasileiro.<br />
São claramente minoritários os trabalhos inscritos nos eventos examinados dedicados<br />
à questão do ensino de História da Educação. Novamente os dados, antes dos comentários.<br />
Mudando um pouco a forma, elaborei o quadro abaixo para demonstrar a ocorrência de<br />
trabalhos sobre este tema, inscritos nos eventos dos últimos cinco anos:<br />
Evento<br />
Congresso Brasileiro de História<br />
da Educação<br />
Congresso Brasileiro de História<br />
da Educação<br />
Congresso Brasileiro de História<br />
Ano Número de trabalhos<br />
sobre ensino de História<br />
da Educação<br />
da Educação<br />
Congresso de Pesquisa e Ensino<br />
de História da Educação em<br />
Minas Gerais<br />
Congresso de Pesquisa e Ensino<br />
de História da Educação em<br />
Minas Gerais<br />
Congresso de Pesquisa e Ensino<br />
de História da Educação em<br />
Minas Gerais<br />
Congresso Luso-Brasileiro de<br />
História da Educação*<br />
Total de<br />
trabalhos<br />
inscritos<br />
2004 06 416 1,4<br />
2006 04 318 1,3<br />
2008 20 643 3,1<br />
2005 01 86 1,2<br />
2007 00 172 0,0<br />
2009 05 103 4,9<br />
2006 15 561 2,7<br />
Reunião Anual da ANPED 2004 00 16 0,0<br />
Reunião Anual da ANPED 2005 00 16 0,0<br />
Reunião Anual da ANPED 2006 00 11 0,0<br />
Reunião Anual da ANPED 2007 00 24 0,0<br />
Reunião Anual da ANPED 2008 01 13 7,7<br />
Total 52 2379 2,1<br />
* Nos últimos cinco anos, esse foi o único Luso-Brasileiro realizado no Brasil, e que contou com o eixo temático Ensino de<br />
História da Educação. Os demais, realizados em Portugal (Évora, 2004 e Porto, 2008) não ofereceram esse eixo. Pode-se<br />
pensar que seja uma temática que interesse mais aos pesquisadores brasileiros que aos portugueses.<br />
A desproporção é evidente, demonstrada por um percentual total muito baixo, pouco<br />
mais que 2% dos trabalhos inscritos em sete congressos de porte considerável, entre 2004 e<br />
2009.<br />
%
Total de<br />
trabalhos<br />
Ensino de<br />
História da<br />
Educação<br />
Total de trabalhos apresentados sobre o Ensino de História da Educação 2004-2009<br />
Esse quadro incita a reflexão, breve que seja, sobre as razões desse desinteresse e<br />
sobre algumas possibilidades para estimular a pesquisa sobre o tema. Uma primeira<br />
consideração é que a grande tradição de pesquisa sobre o ensino, ligado em termos<br />
historiográficos à história das disciplinas escolares, ainda não se firmou na história da<br />
educação, estando muito vinculada, principalmente, ao campo do ensino de História, bastante<br />
desenvolvido no Brasil. O interesse que move este último tem uma forte relação entre a<br />
pesquisa sobre o ensino de História e a prática profissional dos pesquisadores, quase sempre<br />
também professores dessa disciplina em algum momento de suas trajetórias, principalmente<br />
nos níveis fundamental e médio. Não é incomum que o desejo de investigar mais<br />
profundamente a história da disciplina escolar tenha sua origem nas práticas profissionais e<br />
procure também produzir elementos de aplicação neste mesmo ensino. É curioso, portanto,<br />
verificar que, sendo a quase totalidade dos que se dedicam à investigação em história da<br />
educação professores da disciplina História da Educação em cursos de graduação e de pós-<br />
graduação, isso não seja um elemento motivador para a pesquisa sobre a história do ensino<br />
dessa disciplina. A atribuição de importância revela, em parte, os lugares hierárquicos das<br />
diferentes instâncias do trabalho acadêmico e pode revelar os níveis de investimento feitos em<br />
cada uma delas.
Entre as várias possibilidades de construção de objetos de pesquisa acerca do ensino<br />
de História da Educação, poderíamos tirar algum proveito dos exemplos advindos das linhas<br />
de investigação sobre a história do ensino de História. Essa disciplina escolar tem sido<br />
analisada, por exemplo, na relação com a história política, para se mencionar apenas uma de<br />
suas linhas de pesquisa mais tradicionais. A análise histórica sobre o ensino de História da<br />
Educação teria aí um campo fértil, no estudo sobre as relações com as políticas públicas e<br />
suas múltiplas ressonâncias, ou nos movimentos de apropriação dessas políticas nas práticas<br />
de ensino de História da Educação voltadas para a formação de professores. Seria possível<br />
refletir sobre as permanências e descontinuidades, sobre as relações com a cultura e com as<br />
representações políticas em épocas distintas da história brasileira, desde a implantação dos<br />
currículos para a formação de professores, no século XIX. Creio que é também importante<br />
pensar a trajetória do ensino de História da Educação por meio dos impressos escolares (livros<br />
didáticos, periódicos e bibliografia geral usada nos programas da disciplina), nos diferentes<br />
níveis de ensino: os movimentos de aproximação/afastamento das orientações oficiais; as<br />
seleções feitas pelos professores; as trajetórias de determinados “manuais” de História da<br />
Educação e sua influência na configuração curricular são, entre outras, algumas abordagens<br />
pertinentes para uma história do ensino de História da Educação. Isso sem contar as fontes<br />
escolares, fundamentais para o estudo da história das disciplinas, como cadernos de alunos,<br />
provas, exercícios, material de preparação de aulas de professores, entre outros. Não se pode<br />
deixar de mencionar, ainda, as relações, certamente significativas, entre as diversas formações<br />
dos professores de História da Educação e suas práticas de ensino, suas opções metodológicas<br />
e conceituais, suas seleções temáticas, aspectos que podem ser apreendidos por meio de<br />
fontes institucionais, além das privadas, num registro analítico ligado à perspectiva cultural.<br />
O conhecido e recente movimento de renovação da historiografia brasileira,<br />
influenciado principalmente pela História Cultural – ao qual a História da Educação também
tem se vinculado cada vez mais fortemente – tem deixado poucos vestígios no ensino da<br />
História da Educação, no que diz respeito à produção de material didático específico, por<br />
exemplo. Esse é um fenômeno também corrente nos cursos superiores de História, sinal<br />
evidente não apenas da descrença – aliás bem-vinda – na idéia de uma história universal ou<br />
nacional, mas também do quadro de fragmentação da investigação histórica contemporânea.<br />
Diante disso, nós, professores de História da Educação, nos deparamos freqüentemente com o<br />
dilema de ensinarmos confortavelmente a disciplina, nos equilibrando entre as estruturas<br />
curriculares e programáticas universalizantes e a produção historiográfica mais recente, por<br />
vezes pontual e monográfica, regionalizada e especializada, mesmo considerando os intensos<br />
intercâmbios entre pesquisadores e instituições. Por isso considero de grande relevância que a<br />
pesquisa sobre o ensino de História da Educação também se concentre nesses problemas.<br />
Em relação à história da educação no período colonial brasileiro, outro tema<br />
relativamente negligenciado pela historiografia da educação, e desta vez inscrito numa<br />
definição espaço-temporal, as considerações são de natureza diversa. Lançarei mão,<br />
novamente, dos recursos estatísticos e visuais para evidenciar o lugar ocupado pelos trabalhos<br />
inscritos nos eventos científicos, e dedicados ao estudo da educação naquele período. O<br />
quadro a seguir apresenta o percentual de trabalhos sobre a educação no período colonial,<br />
apresentados naqueles mesmos eventos que venho tomando como base para este artigo:<br />
Evento Ano Número de trabalhos<br />
Congresso Brasileiro de História<br />
da Educação<br />
Congresso Brasileiro de História<br />
da Educação<br />
sobre educação no período<br />
colonial<br />
Total de<br />
trabalhos<br />
inscritos<br />
2004 13 416 3,1<br />
2006 08 318 2,5<br />
%
Congresso Brasileiro de História<br />
da Educação<br />
Congresso de Pesquisa e Ensino<br />
de História da Educação em<br />
Minas Gerais<br />
Congresso de Pesquisa e Ensino<br />
de História da Educação em<br />
Minas Gerais<br />
Congresso de Pesquisa e Ensino<br />
de História da Educação em<br />
Minas Gerais<br />
Congresso Luso-Brasileiro de<br />
História da Educação<br />
Congresso Luso-Brasileiro de<br />
História da Educação<br />
Congresso Luso-Brasileiro de<br />
História da Educação<br />
2008 14 643 2,2<br />
2005 05 86 5,8<br />
2007 11 172 6,4<br />
2009 04 103 3,9<br />
2004 06 321 1,9<br />
2006 23 561 4,1<br />
2008 18 406 4,4<br />
Reunião Anual da Anped 2004 00 16 0,0<br />
Reunião Anual da Anped 2005 01 16 6,3<br />
Reunião Anual da Anped 2006 01 11 9,0<br />
Reunião Anual da Anped 2007 01 24 4,2<br />
Reunião Anual da Anped 2008 00 13 0,0<br />
Total 105 3106 3,4<br />
A proporção em relação ao total de trabalhos é, assim como foi observado para o tema<br />
do ensino de História da Educação, muito pequena, e demonstra um desconfortável<br />
desequilíbrio nesta produção, o que leva, no mínimo, a comprometer o conhecimento sobre as<br />
diferentes formas de educação presentes na sociedade colonial brasileira, o que significa<br />
negligenciar aproximadamente 300 anos de história. Isso certamente não é pouco!
Total de<br />
trabalhos<br />
Educação no<br />
período<br />
colonial<br />
Total de trabalhos apresentados sobre a educação no período colonial 2004-2009<br />
Entre vários aspectos, chama a atenção o contraste entre essa produção em História da<br />
Educação e aquela apresentada pela historiografia brasileira fora desse campo, que há muito<br />
se dedica ao estudo da sociedade brasileira entre os séculos XVI e primeiras décadas do<br />
século XIX. Nesta pequena produção detectada nos eventos científicos analisados, ainda<br />
predominam as temáticas da educação jesuítica e as reformas pombalinas da educação, agora<br />
tratadas mais criticamente do que há pouco tempo, incorporando aportes da renovação<br />
historiográfica brasileira dos últimos vinte e cinco anos, principalmente nos campos da<br />
história social e da história cultural, dialogando mais estreitamente com a produção mais geral<br />
sobre o período colonial no Brasil.<br />
Pode-se levantar algumas hipóteses para explicar esse baixíssimo interesse dos<br />
pesquisadores em história da educação pelo período colonial. Uma primeira possibilidade<br />
reside, como já afirmei no início deste artigo, na tradição da historiografia da educação em<br />
circunscrever seus estudos no âmbito da educação escolar presente nas instituições escolares<br />
de conformação mais recente. Ainda, a influência, nesta tradição, da idéia de que somente a<br />
República teria sido capaz de pensar a educação escolar na história brasileira, e a força de<br />
uma história da educação voltada para o estudo das idéias pedagógicas e dos projetos<br />
educacionais modernos. Além disso, a facilidade de acesso e manuseio das fontes relativas
aos dois últimos séculos, é certamente um fator de atração para este período. Em parte isso<br />
pode ser explicado pela formação de um número muito significativo dos pesquisadores em<br />
história da educação, realizada fora do campo da História e, portanto, com pouco ou nenhum<br />
treinamento no manuseio de fontes manuscritas ou organizadas em outro padrão político-<br />
administrativo.<br />
Como desdobramentos desses aspectos, vejo como fundamentais pelo menos dois: por<br />
um lado, as reticências ainda dominantes entre os pesquisadores quanto a uma dimensão não<br />
escolar da educação, necessária para a compreensão dos processos e das práticas educativas<br />
fortemente presentes nos séculos anteriores à constituição do Estado nacional no Brasil.<br />
Tomá-las como objeto de pesquisa exige a construção de problematizações em torno de<br />
situações nem sempre muito visíveis, para as quais o acesso se faz por meio de fontes de<br />
natureza diversificada, por vezes dispersa, e quase sempre manuscrita. Por outro lado, as<br />
dificuldades encontradas no processo de familiarização com a estrutura político-<br />
administrativa e jurídica do Antigo Regime em Portugal e em seus domínios, movimento<br />
indispensável para a compreensão dos processos educativos escolares e para a identificação e<br />
manuseio das fontes, também essas muito frequentemente manuscritas, e presentes tanto no<br />
Brasil quanto em Portugal, necessariamente.<br />
O avanço em relação às abordagens tradicionais, mesmo que se mantenha o estudo das<br />
ações do Estado ou da Igreja, implica na discussão sobre o caráter do processo colonizador,<br />
das relações entre as várias partes do Império português e as dinâmicas próprias de cada uma.<br />
Para a pesquisa sobre o período isso significa considerar as múltiplas possibilidades de<br />
atuação da população colonial, nas várias dimensões do que seria o “viver em colônias”,<br />
segundo a expressão de Luiz dos Santos Vilhena, professor de grego da Bahia no século<br />
XVIII. Essas possibilidades têm sido pesquisadas por muitos historiadores dedicados ao<br />
período colonial, tratando de temas que vão desde as estratégias sociais e culturais
desenvolvidas por escravos, libertos e brancos pobres, mulheres e mestiços, até as ações dos<br />
grupos mais favorecidos na busca de privilégios e de inserção social e política em seus<br />
enfrentamentos com o Estado português. Entre essas dimensões da vida colonial, está a<br />
educação, escolar ou não, e as diferentes práticas educativas presentes no cotidiano daquelas<br />
populações. Essas práticas estavam inseridas nas dinâmicas que envolviam a preparação para<br />
o trabalho manual – o aprendizado dos ofícios mecânicos – tanto para homens quanto para<br />
mulheres; a instrução elementar no aprendizado da leitura, da escrita, das operações<br />
fundamentais e do catecismo; a educação moral e religiosa, tanto em instituições especificas<br />
como os conventos, recolhimentos e seminários; a educação “secundária” voltada para a<br />
preparação para a formação religiosa ou para o ingresso nas universidades européias; na<br />
circulação de livros da mais variada natureza, das obras de caráter religioso até os manuais<br />
técnico-científicos. São, portanto, muitas possibilidades disponíveis para a construção de<br />
objetos de pesquisa sobre a educação no período colonial.<br />
Por breve que tenha sido, o exercício que procurei realizar neste artigo pode contribuir<br />
não apenas para o mapeamento da produção historiográfica da educação do Brasil nos últimos<br />
anos, como também para sugerir, sobretudo para os estudantes e jovens pesquisadores, linhas<br />
de pesquisa possíveis para o avanço da investigação no campo, principalmente naqueles<br />
grandes temas ainda carentes de maiores investimentos e reflexão. Deixei de lado, como ficou<br />
evidente, a discussão teórico-conceitual, acerca das diferentes inserções das pesquisas em<br />
história da educação nas diferentes tendências historiográficas. Esta seria uma tarefa de maior<br />
fôlego, pois demandaria uma análise pormenorizada do conteúdo dos próprios trabalhos que<br />
quantifiquei, improvável dentro dos limites deste artigo. Mas não dispensável, podendo ser<br />
realizada em outra oportunidade, mesmo que num enfoque temático mais limitado. Também<br />
há outra dimensão possível para a realização de um balanço, a análise mais refinada nas<br />
dissertações e teses, produtos finais de muitos processos iniciados na apresentação de
comunicações em eventos científicos como os que analisei. Enfim, muitos caminhos para<br />
ampliar a visibilidade da produção de um campo expandido e já consolidado. Trilhei aqui<br />
apenas um, mas confiante em sua utilidade.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. A educação escolar em<br />
perspectiva histórica, 3., 2004, Curitiba. Anais. Curitiba: SBHE, Pontificia Universidade<br />
Católica do Paraná, 2004.<br />
CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. A educação e seus sujeitos<br />
na História, 4., 2006, Goiânia. Anais. Goiânia: SBHE, Universidade Católica de Goiás, 2006.<br />
CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. O ensino e a pesquisa em<br />
história da educação, 5., 2008, Aracaju. Livro de Resumos. Aracaju: SBHE, Universidade<br />
Federal de Sergipe, Universidade Tiradentes, 2008.<br />
CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS<br />
GERAIS, 3., 2005, São João del Rei. Programação e caderno de resumos. São João del Rei,<br />
MG: Universidade Federal de São João del Rei, 2005.<br />
CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS<br />
GERAIS, 4., 2007, Juiz de Fora. Caderno de resumos. Juiz de Fora, MG: Universidade<br />
Federal de Juiz de Fora, 2007.<br />
CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS<br />
GERAIS, 5., 2009, Montes Claros. Programação e caderno de resumos. Montes Claros,<br />
MG: UNIMONTES, 2009.<br />
CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Cultura escolar,<br />
migrações e cidadania, 7., 2008, Porto. Livro de resumos. Porto: Universidade do Porto,<br />
2008.
CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Igreja, Estado,<br />
sociedade civil – instâncias promotoras de ensino, 5., 2004, Évora. Livro de resumos. Évora:<br />
Universidade de Évora, 2004.<br />
CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Percursos e desafios<br />
da pesquisa e do ensino em História da Educação, 6., 2006. Uberlândia. Programação e<br />
Resumos. Uberlândia, MG: Universidade Federal de Uberlândia, 2006.<br />
GATTI JÚNIOR; INÁCIO FILHO, Geraldo (orgs.). História da educação em perspectiva.<br />
Ensino, pesquisa, produção e novas investigações. Campinas, SP: Autores Associados;<br />
Uberlândia, MG: EDUFU, 2005.<br />
GONDRA, José Gonçalves (org.). Pesquisa em história da educação no Brasil. Rio de<br />
Janeiro: DP&A, 2005.<br />
MONARCHA, Carlos (org.). História da educação brasileira. Formação do Campo. 2 ed.<br />
Ijuí: Editora UNIJUÌ, 2005.<br />
VIDAL, Diana; FARIA FILHO, Luciano Mendes de. As lentes da história: estudos de<br />
história e historiografia da educação no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2005.
Os palanques do republicano Gomes Henrique Freire de Andrade<br />
Lívia Carolina Vieira<br />
Rosana Areal Carvalho<br />
Resumo: Gomes Henrique Freire de Andrade, médico, professor e político, ocupou parte de<br />
sua trajetória de vida, nas primeiras décadas do século XX, divulgando os ideais republicanos<br />
em vários palanques. Homem de seu tempo, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de<br />
Janeiro, influenciado pelo positivismo e pelo republicanismo, reuniu em torno de si um grupo<br />
laborioso que empunhou a bandeira da República. No âmbito educacional, suas ações foram<br />
desenvolvidas na docência do ensino superior – Faculdade de Farmácia de Ouro Preto e no<br />
Grupo Escolar de Mariana. Foi Deputado Constituinte, em 1891; Vereador, Agente Executivo<br />
e Presidente da Câmara Municipal de Mariana, Senador estadual, afastando-se da política<br />
somente após a Revolução de 30. Dirigiu um semanário local – O Germinal, porta-voz do<br />
Partido Republicano em Mariana. Até uma agremiação musical, criada por ele, União XV de<br />
Novembro, era utilizada como veículo de propagação dos valores republicanos. O presente<br />
artigo resgata algumas ações presentes nos diversos palanques que ocupou, destacando a<br />
importância de um personagem na história local.<br />
Palavras-chave: República, Educação, Política
The stages of republican Gomes Henrique Freire de Andrade<br />
Abstract: Gomes Henrique Freire de Andrade, doctor, teacher and a politician pursued part<br />
of his life story during the twenty century first decades giving out the Republican ideal. He<br />
was a aged man, graduaded in medicine by Rio de Janeiro Medical School and influenced by<br />
the Positivism and by the Republicanism he gathered round himself a laborious team that held<br />
the Republic colours. About the education subject his actions were developed during his<br />
teaching period at the Ouro Preto Pharmacy School and the Mariana Elementary<br />
School.GHFA occupied many political charge until decade 30 Revolution.He managed a<br />
local weekly "O Germinal", spokesman of Republicanism.Created an Musical Gremio,<br />
""União XV de Novembro", which was too used to spread the republican values.The article<br />
here to get backsome of his political actions in the history and to point out his importance as<br />
a character at the local history.<br />
Key words: republic, educacion, politics;<br />
Apesar de uma descendência quase nobre – bisneto do 3º. Conde de Bobadela, neto do<br />
Barão de Itabira – Gomes Henrique teve uma infância difícil, ao tornar-se órfão de pai. Sua<br />
mãe, descendente de uma família francesa, manteve os filhos com os recursos advindos da<br />
venda de quitandas e guloseimas. Assim, Gomes Henrique e seu irmão Augusto, puderam<br />
seguir os estudos superiores e desenvolver uma carreira profissional. Os estudos foram<br />
iniciados ainda no Seminário da Boa Morte, depois no Liceu de Ouro Preto e, por fim, fora<br />
das Minas Gerais: Gomes Henrique formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do<br />
Rio de Janeiro; Augusto cursou Direito, em São Paulo.<br />
Freqüentou a Corte nos anos finais do Império, de lá retornando um republicano<br />
convicto. Ainda jovem, assumiu tal posição política e ocupou vários cargos no cenário
estadual – de agente executivo a senador estadual. Os anos passados na Escola de Medicina<br />
do Rio de Janeiro coincidiram com a difusão do pensamento higienista e o papel social dos<br />
médicos na formação de uma nação civilizada.<br />
Enquanto republicano, utilizou-se de vários palanques: uma escola, uma banda de<br />
música, um jornal e vários cargos políticos. Na presidência do Partido Republicano de<br />
Mariana, liderou um grupo que, assim como ele, não dispensava nenhuma oportunidade para<br />
a propaganda republicana.<br />
Como sói acontecer, também a política o afastou do cenário público: com a Revolução<br />
de <strong>19</strong>30 e o rearranjo político, outros grupos assumiram o poder em Mariana. Gomes<br />
Henrique, com sua família, transferiu-se para Belo Horizonte. Apenas décadas mais tarde foi<br />
resgatado pela memória da cidade: e não por mera coincidência teve seu nome, mais uma vez,<br />
vinculado a uma escola.<br />
Curiosamente, pouco foi preservado sobre a vida de Gomes Henrique pelos seus<br />
familiares. Dentre seus herdeiros, foi localizado apenas um neto que mantém interesse por<br />
essa memória: Sylvestre Freire de Andrade, que tem reunido alguns objetos pessoais,<br />
fotografias e registrado as histórias de família em homenagem ao avô.<br />
Mais conhecida como Jardins, a Praça Gomes Freire, em Mariana, expõe seu busto e<br />
marca um lugar de memória.<br />
NO BRASIL<br />
A guerra contra o Paraguai foi um palco de demonstração das fragilidades do Império<br />
Brasileiro. Ali se iniciavam as famosas “questões” que iriam enfraquecer a monarquia e<br />
fragilizar a figura de D. Pedro II. A escravidão brasileira, por exemplo, depunha contra o país
e criava um sério obstáculo a inserção do Brasil no rol das grandes nações, como era o<br />
vislumbre de muitos. Mas não era um assunto fácil de ser resolvido: as justificativas eram<br />
bastante complexas, confundindo no cenário político os conservadores e os liberais.<br />
Em 1870, o Manifesto Republicano, apontava para um incerto futuro – um Brasil<br />
“moderno”? Uma sociedade multirracial e insegura quanto ao debate abolicionista: como<br />
reagiria um Brasil livre? De novo a guerra contra o Paraguai coloca o debate na ordem do dia:<br />
escravidão, exército, dimensões continentais, predomínio geopolítico. Os termos da equação<br />
se movimentavam sem que se chegasse a um resultado final.<br />
O positivismo e o republicanismo davam a dinâmica desse movimento. Alardeado<br />
pelos oficiais jovens do Exército Brasileiro na Academia Militar do Rio de Janeiro, reunia<br />
adeptos de vários matizes, unidos na oposição a um ethos católico que se enfraquecia. A idéia<br />
republicana já havia grassado em terras brasileiras durante as revoltas regenciais. Agora, esses<br />
mesmos jovens questionavam se a Monarquia era o melhor sistema para o desenvolvimento<br />
do país. O exemplo, logicamente, vinha dos Estados Unidos do Brasil. Não mais o Velho<br />
Mundo! A Europa simbolizava o império. A rápida industrialização norte-americana enchia<br />
os olhos dos jovens oficiais brasileiros que, além disso, enxergavam um papel determinante<br />
do Exército na condução política do país.<br />
O lema “ordem e progresso” expressava todas as discussões e aspirações do período.<br />
É assim que a Abolição da Escravatura e a Proclamação da República instalam-se, sem<br />
grandes rupturas, no cenário sócio-político. Refletiam, apenas, um movimento intenso que<br />
havia tomado forma ao longo das últimas décadas. Bem ao “jeitinho brasileiro”...<br />
Assim também ocorreu no âmbito educacional, como veremos. Há quem diga que os<br />
republicanos não tinham um projeto educacional. Há também os que dizem que o império era<br />
mais republicano que a República, no quesito educação. Mas não há como negar a influência<br />
positivista e científica nas escolas brasileiras. E isso também teve início durante a década de
70. Talvez, daí, uma certa incompreensão acerca da educação republicana: por um lado, tudo<br />
como antes – de acordo com a Constituição de 1891, aos estados cabia a responsabilidade<br />
com a educação primária e secundária. Por outro lado, as grandes mudanças já vinham<br />
ocorrendo e o modelo “grupo escolar”, marca registrada da República, surge em São Paulo e,<br />
rapidamente, se espalha pelos demais estados brasileiros.<br />
Entretanto, o período da Primeira República esteve permeado por inúmeras reformas<br />
educacionais. A propaganda republicana era pela “democratização da educação”, que mais<br />
que almejar uma educação para todos, trazia um caráter intencional, pois só poderiam votar<br />
aqueles que fossem alfabetizados. Além disso, uma nação que se queria civilizada precisava<br />
se organizar e instruir seus cidadãos para alcançarem o progresso. A Revolução Industrial do<br />
século XIX iniciada na Europa exigia uma mão-de-obra com um conhecimento mínimo de<br />
leitura, escrita e cálculo para conseguir executar seu trabalho. Mas como garantir a instrução a<br />
todos?<br />
É certo que o governo – fosse o federal ou o estadual – não tinha meios para garantir a<br />
instrução para todos. Também não existia nenhum mecanismo de financiamento<br />
sistematizado para a educação pública. É público e notório a preocupação com a educação,<br />
dadas as inúmeras legislações elaboradas e aplicadas. Em Minas Gerais, merece destaque a<br />
Reforma João Pinheiro, de <strong>19</strong>06, que instituiu o modelo dos grupos escolares, em detrimento<br />
das escolas isoladas.<br />
Para os positivistas, a ordem e o progresso seriam conseguidos através da educação. A<br />
exemplo de Durkheim (Educação e Sociologia), para quem a educação consistia numa<br />
socialização das gerações, a escola seria um espaço de construição de valores e transmissão<br />
das tradições. Assim, a cultura escolar poderia ser, portanto, uma forte aliada para os<br />
republicanos.
O projeto dos grupos escolares simbolizava um processo de progresso, mudanças,<br />
além de favorecer em alto grau a disciplinarização do trabalho docente e discente.<br />
DAS MINAS GERAES PARA A CORTE<br />
Gomes Henrique Freire de Andrade nasceu em Mariana – MG, em 03 de janeiro de<br />
1865, filho de Antônio Gomes Freire de Andrade e de Maria Augusta Lebet Freire de<br />
Andrade. Sua descendência remonta a Antônio Gomes Freire de Andrade (Conde de<br />
Bobadela), quem administrou a Província de Minas Gerais de 1735 até 1763. Seu pai era filho<br />
de Gomes Freire de Andrade, Coronel do Exército (Regimento de Minas) e Barão de Itabira.<br />
Ficou órfão de pai quando criança, permanecendo sobre os cuidados de sua mãe que, apesar<br />
das limitações financeiras, esmerou-se em formar seus dois filhos – um em Medicina e outro<br />
em Direito.<br />
Iniciou seus estudos no Seminário em Mariana, dando continuidade no Liceu Mineiro<br />
de Ouro Preto, cursando as disciplinas necessárias à admissão no curso superior. Daí seguiu<br />
para a Escola de Medicina do Rio de Janeiro, onde defendeu com louvor a tese sobre “raiva<br />
hidrofóbica” e colou grau em <strong>19</strong> de janeiro de 1888, sendo escolhido como orador da turma<br />
na formatura ocorrida em fins de 1887. Curiosamente, a turma escolheu a Princesa Izabel<br />
como patronesse, apesar do orador já ter se postado ao lado da República que em breve viria.<br />
Alquimia cultural, associações literárias e operárias, jornais, cafés; acalorados debates<br />
sobre o abolicionismo, o republicanismo. Bibliotecas, livrarias e tipografias, o teatro. A<br />
música, tempos de nascimento do chorinho brasileiro... Intenso comércio, ainda alimentado<br />
pelas negras de tabuleiro. A vida na e da Corte! O que mais e quanto mais teria influenciado<br />
nosso Gomes Henrique?
Dentre os grandes temas que frequentavam os espaços sociais na Corte ao final do<br />
século XIX, podemos pensar que dois atingiam particularmente nosso personagem: o<br />
higienismo e o republicanismo.<br />
A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi criada em 1808 como Escola<br />
Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, dentre um conjunto de ações que visavam<br />
preparar a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro para tornar-se uma cidade imperial. Até<br />
então, os ensinamentos médicos se davam no próprio ambiente de trabalho, ou seja, hospitais<br />
e similares. A mesma faculdade, inclusive, iniciou suas atividades nas dependências do<br />
Hospital Real Militar e Ultramar e ao longo do século XIX frequentou outros espaços<br />
médicos no Rio de Janeiro. Somente em <strong>19</strong>18 teve seu prédio próprio, construído<br />
parcialmente, e em <strong>19</strong>73 transferiu-se para o campus universitário na Ilha do Fundão.<br />
Dentre os esforços de consolidação dos saberes médicos, ao longo do século XIX,<br />
foram inúmeras as reformas de ensino implementadas na escola. Durante o período em que<br />
Gomes Henrique frequentou a faculdade, estava em vigor a chamada Reforma Sabóia,<br />
ocorrida durante a gestão do Conselheiro Vicente Cândido Figueira de Sabóia (1881-1889);<br />
considerado como período áureo da instituição.<br />
Em que pese os avanços anunciados pelo decreto de 1879, da Reforma Leôncio de<br />
Carvalho, em 1880 um grupo de professores e alunos da Faculdade de Medicina ocupou<br />
espaços públicos para denunciar a precariedade das condições de ensino na dita faculdade:<br />
prevalecia a inexistência, seja de gabinetes condizentes com a prática médica, de laboratórios,<br />
instrumentos e material adequado, seja de uma sede própria. Reclamavam também das<br />
dificuldades de relacionamento com a Santa Casa da Misericórdia, onde funcionavam as<br />
clínicas médicas.<br />
A reclamação principal estava no que concerne à inadequação do ensino:<br />
excessivamente teórico e uma gritante incipiência no desenvolvimento da medicina
experimental. Foi então que, durante a gestão Sabóia, as propostas do decreto de 1879<br />
começaram a ser implementadas.<br />
Em linhas gerais foram mantidas as propostas do plano de Leôncio de Carvalho,<br />
acrescidas de algumas modificações: além do curso de Ciências Médicas e Cirúrgicas, mas<br />
três cursos anexos seriam oferecidos – Farmácia, Obstetrícia e Ginecologia, Odontologia. O<br />
curso de Medicina permanecia com a duração de seis anos, com a publicação de uma revista<br />
bimestral e o melhor aluno ganhava, como prêmio, uma viagem à Europa. No bojo da reforma<br />
também estava uma regulamentação dos exames preparatórios exigidos para o ingresso.<br />
Estava em voga uma nova representação do saber médico, inspirada no modelo<br />
germânico, com a introdução dos estudos práticos e experimentais, em oposição ao modelo<br />
francês, predominante nas escolas de medicina desde a década de 50.<br />
Para além dos parâmetros da formação, estava a atuação social dos médicos. Um<br />
pouco mais à frente no tempo, nas primeiras décadas do século XX, é possível perceber com<br />
mais clareza os reflexos dessa formação e atuação social, na produção bibliográfica<br />
educacional escrita por médicos ou, como expressão máxima dessa realidade, a presença do<br />
médico Miguel Couto na direção da Associação Brasileira de Educação.<br />
Desde a segunda metade do século XIX é possível perceber os interesses médicos<br />
pelas questões sociais, incluindo a educação. Tais interesses estavam presentes na própria<br />
formação, como indicam os estudos de GONDRA (2000), com base nas teses defendidas para<br />
a titulação. Afirma este autor que tanto a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro – espaço<br />
de formação, como a Academia Imperial de Medicina – espaço de discussão científica,<br />
estavam imbuídas da missão civilizadora, visando reordenar a sociedade através da educação<br />
do povo. Nesse intuito, os saberes populares eram desqualificados em prol do conhecimento<br />
científico, racional.
É assim que os conhecimentos médicos invadem a escola, estabelecendo regras que<br />
iam desde a melhor localização para o prédio escolar, passando pelo mobiliário, pelos<br />
exercícios físicos, até atingir a alimentação adequada aos alunos. Tudo isso envolvia e<br />
disseminava a doutrina higienista, área da medicina que se expandia pela valorização da<br />
prevenção – prevenir a desordem, a indisciplina, as doenças. Exemplo ao extremo desse<br />
discurso está no livro O Ateneu, de Raul Pompéia, que descreve os dissabores do aluno de um<br />
colégio mantido pelo Barão de Macahubas, o médico Abílio César Borges.<br />
Em que medida esses pensamentos influenciaram a prática médica de Gomes<br />
Henrique? Os cargos políticos assumidos ao retornar a Mariana foram palco para<br />
disseminação dessa preocupação higienista? Como professor na Escola de Farmácia de Ouro<br />
Preto advogou em prol da legitimidade dos saberes médicos em detrimento dos saberes<br />
populares?<br />
Outra ordem de pensamentos muito presentes no cenário da Corte ao longo dos anos<br />
80 enfeixava-se no republicanismo. A idéia republicana consagrou-se, em 1870, com a<br />
publicação do Manifesto Republicano no primeiro número do jornal A República, em 03 de<br />
dezembro. A partir daí, a idéia vai congregar defensores em inúmeros partidos políticos,<br />
começando pela formação do Partido Republicano Paulista, em 1873. Ao longo dos anos<br />
seguintes, outros partidos se organizaram em todo o país, com menor intensidade em algumas<br />
províncias do nordeste.<br />
Interessante destacar que, se por um lado, a crítica que faziam ao império era bastante<br />
ácida, a maioria dos republicanos era contrária à idéia de revolução, muito influenciados pelo<br />
liberalismo – reformas para evitar a revolução. Conforme Quintino Bocaiúva, a evolução<br />
histórica levaria, inevitavelmente a humanidade à república. Aí estavam também os adeptos<br />
do positivismo.
Há que compreender a complexidade do período que aglutinava interesses em torno de<br />
um inimigo comum – a monarquia, mas afastava por posições díspares quanto à escravidão,<br />
por exemplo. De um lado, os cafeicultores paulistas em luta por uma posição política mais<br />
forte; de outro lado, os oficiais do Exército, entendendo que deveriam estar à frente das<br />
decisões quanto ao destino do país.<br />
O movimento abolicionista inflamava os palanques, ao mesmo tempo que os hábitos<br />
sociais e culturais sofriam as influências trazidas pelos imigrantes portugueses, italianos,<br />
alemães, poloneses, espanhóis, japoneses, etc.<br />
E tudo isso, obrigatoriamente, passava pela cidade do Rio de Janeiro. Que impactos<br />
teria isso na vida de um mineiro marianense? Teria ele já uma idéia dessa dinâmica social,<br />
experimentada na convivência em Ouro Preto, então capital da Província de Minas Gerais?<br />
Teria sido toda essa convulsão o motivo de sua escolha pela capital do império? Que razões o<br />
teriam levado a escolher a Medicina e não o curso de Direito, em São Paulo?<br />
Desprovido dos necessários recursos financeiros, atuou como jornalista enquanto<br />
cursava os estudos superiores. Tal posição favoreceu o contato com esse ambiente das<br />
agitações políticas e sociais que assolavam o Rio de Janeiro. Considerando sua trajetória ao<br />
retornar a Mariana, podemos afirmar que as idéias republicanas influenciaram suas escolhas<br />
políticas futuras. Ainda acadêmico de Medicina, recebeu um convite para ocupar uma cadeira<br />
de deputado na Assembléia Provincial. Recusou o convite com a justificativa de reservar suas<br />
colaborações para o novo regime. Não nutria grandes simpatias pelo império.<br />
Na introdução da tese que defendeu em janeiro de 1888, sobre “hydrophobia”, relativo<br />
à Cadeira de Pathologia Médica, ressalta-se o legalista, mas também o valor da pátria, da<br />
humanidade, da ciência e do positivismo comtiano:<br />
Hoje que a excelência do methodo pastoriano [refere-se a Pasteur] se divulga e se<br />
confirma, sobre a cabeça do ilustre sabio correm as bençãos de todo o mundo; seu<br />
nome entrou na perpetuidade gloriosa da Historia e a França consoagrou-o, como o
DE VOLTA ÀS MINAS<br />
maior obreiro de sua supremacia scientifica, n´esta expansão ruidosa em que o nome<br />
da Patria se alarga na Humanidade, segundo a phrase do illustre Comte.<br />
Tanto nos inspirou na escolha do assumpto, que constitue a nossa these inaugural.<br />
Trabalho de estudande, que se affez á mediania despretenciosa e independente, não<br />
se presume certamente na vã expectativa de innumerados louvores; obedece a uma<br />
disposição da lei, consagradanos Estatutos da Faculdade, e que assim se satisfaz no<br />
esforõ perseverante de quem sempre guardou, entre as vicissitudes e os labores de<br />
seis annos, a fé robusta, que não desfallece, a esperança, que conforta e a convicção<br />
sincera de bem haver cumprido as leis, que o dever impõe.<br />
De volta a Mariana para exercer sua profissão, casou-se com Maria do Carmo Breyner<br />
Freire de Andrade, com a qual teve três filhos: Augusto Gomes Freire de Andrade, Henrique<br />
Gomes Freire de Andrade e Carmem Freire de Andrade. Como médico, foi professor da<br />
Escola de Farmácia de Ouro Preto, assumindo a cadeira de Higiene e Microbiologia por 30<br />
anos. Teria sido aprovado também para a Escola de Medicina de Belo Horizonte como<br />
professor de Patologia, mas não pode assumir dada a impossibilidade de estar, diariamente, na<br />
capital.<br />
Em paralelo, iniciou uma intensa carreira política, elegendo-se deputado aos 26 anos.<br />
Foi um dos signatários da Carta Constitucional de Minas Gerais de 15 de junho de 1891 e um<br />
dos que, em 6 de dezembro de 1893, apoiaram a candidatura de Bias Fortes para a presidência<br />
do Estado de Minas Gerais.<br />
Observa-se um movimento de influência múltipla: de um lado o avanço do Partido<br />
Republicano com o crescimento do número de filiados de um lado; de outro lado a eleição de<br />
Gomes Freire como vereador da Câmara Municipal de Mariana em <strong>19</strong>05, que resultou na sua
indicação para o posto de presidente da Câmara e Agente Executivo, dando início a uma<br />
intensa trajetória política. Elegeu-se Senador em Minas, para as 5ª, 6ª e 7ª legislaturas (<strong>19</strong>07 a<br />
<strong>19</strong>18). Em virtude de sua eleição para Deputado Federal, 9ª legislatura, renunciou ao restante<br />
do mandato de Senador Estadual, dedicando-se inteiramente à cadeira de Deputado Federal<br />
entre os anos de <strong>19</strong>15 e <strong>19</strong>17.<br />
No desempenho desses cargos políticos e do forte vínculo com João Pinheiro, então<br />
Presidente do Estado, representou Minas Gerais no 3º Congresso da Instrução Secundária que<br />
ocorreu na Bahia, em <strong>19</strong>18, defendendo lá as propostas educacionais republicanas. O<br />
relacionamento entre Gomes Freire e João Pinheiro teve origem em Ouro Preto, ainda capital<br />
da Província, onde este montou sua banca de advocacia. Dessa relação próxima e amiga,<br />
credita-se a influência para as futuras iniciativas de Gomes Freire em torno da implantação de<br />
uma educação aos moldes republicanos.<br />
Há que se considerar que Gomes Freire residia e atuava profissionalmente na região de<br />
Mariana e Ouro Preto que, até 1894, era Capital da Província. Certamente, pode-se atribuir a<br />
esse ambiente tão propício as importantes alianças políticas firmadas então e o forte vínculo<br />
com o Partido Republicano Mineiro (PRM).<br />
A convivência entre os personagens foi, no mínimo, inspiradora para Gomes Freire<br />
que manteve amizade e relações política com João Pinheiro até a morte deste em outubro de<br />
<strong>19</strong>08. Os periódicos relataram inúmeras visitas de João Pinheiro à casa de Gomes Freire,<br />
deixando clara a fidelidade política mútua. O texto de O Germinal de 27 de dezembro de<br />
<strong>19</strong>14, que lançou a candidatura de Gomes Freire para Deputado Federal, trouxe o trecho que<br />
afirmava estar o mesmo<br />
filiado as doutrinas philosophicos-sociais e as formulas administrativas do imortal<br />
João Pinheiro da Silva, em cuja fileira sempre militou com enthusiasmo e lealdade<br />
sincera desde as eras academicas emanado pela identidade de ideais republicanos.
Não só a carreira política mas os atendimentos médicos de Gomes Freire também<br />
obtiveram sucesso e alcançaram repercussão positiva na cidade e na vizinhança. Contratado<br />
como médico da “Compania das Minas de Passagem” de Mariana, propriedade de ingleses,<br />
ainda atendia em consultório próprio. Seus atendimentos também privilegiavam pessoas sem<br />
condições financeiras e crianças carentes do Grupo Escolar.<br />
Acrescente-se a isso inúmeras ações relacionadas à saúde e higiene públicas enquanto<br />
ocupou o cargo de Agente Executivo.<br />
O respeitado médico e político foi professor da Escola de Farmácia de Ouro Preto por<br />
mais de 30 anos, ministrando a disciplina de “Higiene e Microbiologia”. No início dos anos<br />
30, Gomes Freire abandonou a politica e passou a residir em Belo Horizonte, onde faleceu em<br />
<strong>19</strong>38.<br />
Essa mudança pode ser atribuída a alguns fatores, incluindo os de ordem política: a<br />
Revolução de 30 alterou profundamente o jogo das forças políticas, limitando o espaço de<br />
atuação do grupo liderado por ele. Acrescente-se a isso o apoio da Igreja Católica, na figura<br />
de Dom Helvécio, na derrubada da facção republicana então no poder, que em <strong>19</strong>34,<br />
conseguiu nomear um novo prefeito para a cidade, Dr. Josaphat Macedo.<br />
Em <strong>19</strong>00, com mais 13 companheiros, fundou o jornal que inicialmente chamou-se<br />
Rio Carmo e que, em <strong>19</strong>05, passa a ser intitulado O Germinal – segundo palanque<br />
republicano. Estudos em torno da trajetória desse periódico vem sendo desenvolvidos,<br />
procurando compreender desde a escolha do nome, seu significado, até a repercussão das<br />
idéias disseminadas pelo jornal. Não há dúvidas, no entanto, de que atuava como porta-voz do<br />
Partido Republicano.<br />
Como presidente do jornal, Gomes Freire dele se utilizou como porta-voz do diretório<br />
político do Partido Republicano de Mariana para defesa da nova forma de governo – a
República. O caráter intencional do jornal fica explícito, e reafirmado, no exemplar do dia 25<br />
de dezembro de <strong>19</strong>01, nos dizeres que declara ter Rio Carmo:<br />
nascido para a defeza do povo, há sido a nossa divisa o lemma conhecido semper impendere vero, e sem<br />
animosidades, e sem armar aos applausos de quem quer que seja, por nossa vez se só temos applaudido na<br />
justa proporção em que se nos permite censurar, quando se az preciso. (...) mas ha, sobretudo, um<br />
pensamento politico mais elevado que nos domina é este a defeza intransigente da Republica, a luta pela sua<br />
regeneração.<br />
As ações de Gomes Henrique Freire de Andrade, em Mariana, nas primeiras décadas<br />
do século XX, despertaram as atenções para o fato de que o âmbito da educação estava<br />
permeado pela política e que, possivelmente, a própria criação do Grupo tenha sido uma<br />
dentre as tantas outras iniciativas para a consolidação do regime republicano. Afirmar que as<br />
relações entre política e educação compõem o cenário da escola brasileira não é nenhuma<br />
novidade, e para a República essa relação foi imprescindível.<br />
Não só a criação dos grupos escolares foi fruto dos interesses republicanos como<br />
também toda a cultura escolar esteve impregnada de iniciativas com caráter claramente<br />
intencional. Por exemplo, as festas escolares foram práticas que perseguiram o ideal de uma<br />
nação civilizada, a escola era o espaço fundamental para se criar os cidadãos. Nessas<br />
festividades as principais datas cívicas comemoradas eram: 21 de Abril consagrando o mártir<br />
da República – Tiradentes; 7 de setembro, em comemoração a Independência do Brasil; 15 de<br />
novembro, em comemoração à Proclamação da República e <strong>19</strong> de novembro em<br />
comemoração à Bandeira Nacional. Além da exaltação de “heróis” da pátria, hinos patrióticos<br />
eram executados e as autoridades discursavam. As cerimônias se constituíam, portanto, em<br />
um espaço privilegiado para a disseminação dos ideais republicanos, enquanto corporificou os<br />
símbolos, os valores e a pedagogia moral e cívica que lhe era própria.<br />
Tem-se que considerar também que o cenário político da cidade, no início do século<br />
XX, é bastante rico e complexo, e que a todo o momento estava implícito um interesse maior<br />
de se conseguir a aprovação da nova forma de governo. Por isso, a propaganda republicana
fortemente executada não pode ser deixada de lado. Um estudo mais detalhado de suas<br />
implicações e pontos de vistas vêm sendo desenvolvido a fim de compreender melhor qual<br />
concepção de educação os republicanos apresentavam a população de Mariana e a que público<br />
o jornal atendia. Pesa também a grande proximidade entre o personagem que se pretende<br />
estudar, Gomes Freire, e o jornal “O Germinal”, uma vez que ele o presidiu durante muitos<br />
anos esse.<br />
O nome do jornal é uma das primeiras questões levantadas, pois passa de “Rio Carmo”<br />
para “O Germinal” no ano de <strong>19</strong>05. O primeiro nome certamente faz alusão ao curso d`água<br />
em torno do qual surgiram as primeiras edificações que deram origem à cidade de Mariana, o<br />
Ribeirão do Carmo, mas o segundo ainda é motivo de reflexão. Que relação teria esse nome<br />
com a realidade local? Seria Emile Zola o autor preferido de Gomes Freire? Seria uma<br />
homenagem ao autor, cuja história de vida aponta para algumas semelhanças com a vida de<br />
Gomes Freire? Ambos eram órfãos de pai e foram educados pela mãe, com muitas<br />
dificuldades financeiras. Como também a semelhança no tocante ao engajamento político,<br />
característica sempre presente na vida do escritor. Cabe recordar que a mãe de Gomes Freire<br />
era de descendência francesa.<br />
Ou seria alguma alusão quanto à vida dos mineiros do carvão e os mineiros das minas<br />
de Mariana? Ou seria uma influência da amizade com Alphonsus Guimarães? Teria nosso<br />
médico político inclinações literárias? Ou a escolha do nome O Germinal denota uma posição<br />
política mais à esquerda do que os republicanos da época?<br />
Consideramos como terceiro palanque de difusão republicana o Grupo Escolar de<br />
Mariana, criado em 06 de junho de <strong>19</strong>09, pelo Decreto n.2572. Inicia as atividades em agosto<br />
do mesmo ano, quando toma posse o diretor José Ignácio de Sousa e os primeiros professores.<br />
José Ignácio foi aluno de Gomes Henrique na Escola de Farmácia, onde se formou em<br />
1898, medianamente aprovado. Talvez, influenciado pela mesma perspectiva política, a
exemplo do mestre, tenha se dedicado mais a isso do que aos rigores acadêmicos. O fato é que<br />
acompanhou Gomes Henrique no partido político, no jornal, no grupo escolar, na Câmara<br />
Municipal de Mariana. Transferiu-se para Ituiutaba no final de <strong>19</strong>17 e também tem sido<br />
objeto de outras pesquisas.<br />
Tido como patrono do Grupo Escolar de Mariana, Gomes Freire emprestou seu nome<br />
à Caixa Escolar, significativamente inaugurada no Dia da Bandeira; e ao mesmo grupo<br />
escolar, no período de <strong>19</strong>14 a <strong>19</strong>31.<br />
Sempre presente nas premiações dos exames finais, também ocupou-se da educação<br />
no cumprimento dos cargos políticos.<br />
A mudança do nome do Grupo Escolar de “Dr. Gomes Freire” para “Dom Benevides”<br />
foi resultado de disputas políticas na cidade, entre a Igreja e o governo republicano local.<br />
Iniciadas na década de 20, refletiam um movimento maior em Minas Gerais, no qual a Igreja<br />
combateu a laicização do ensino implantado por João Pinheiro. Dom Helvécio foi quem, na<br />
cidade de Mariana, assumiu a frente nesse conflito sendo referência para demais cidades de<br />
Minas Gerais.<br />
A imprensa da época revela um clima de tensão entre o poder eclesiástico e os<br />
republicanos: cada um se atribui o mérito pela construção do prédio próprio do Grupo<br />
Escolar.<br />
No círculo de suas amizades pode-se destacar Alphonsus de Guimaraens, que além de<br />
fazer referências a Gomes Freire em algumas de suas poesias, também foi colaborador em “O<br />
Germinal”. Na biografia escrita pelo neto do escritor (GUIMARAENS FILHO, <strong>19</strong>95:200)<br />
encontram-se dois capítulos dedicados a esta amizade, dos quais destaca-se o trecho:<br />
Pode dizer-se que teu grande amigo em Mariana foi o médico Dr.Gomes Freire de<br />
Andrade. Letrado, sensível, chefe político, professor, senador, interessado em tua<br />
vida, de tocante solicitude. Nos versos humorísticos que viria a escrever em Mariana<br />
há dois sonetos que falam do Dr. Gomes, como era familiarmente chamado.
O quarto palanque a Banda Musical União XV de Novembro, fundada pelo próprio<br />
Gomes Freire. Desde o nome até as participações nas festas escolares e cívicas, estava<br />
impregnada do pensamento republicano. Responsável por inúmeras apresentações em<br />
logradouros públicos, às vezes fora de Mariana, a ela coube a honra de executar, pela primeira<br />
vez, o “Hino de Mariana”, com música de Antônio Miguel e letra do poeta Alphonsus de<br />
Guimaraens.<br />
Num cenário rico e complexo, de uma intensa atividade profissional e política, um<br />
personagem comum suscita inúmeras as perguntas ainda sem resposta. Informações esparsas,<br />
dados incompletos, fontes raras... Muito por fazer, mesmo porque, nosso personagem –<br />
Gomes Henrique Freire de Andrade – muito também fez.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:<br />
CARVALHO, Carlos Henrique de. República e imprensa: as influências do positivismo na<br />
concepção de educação do professor Honório Guimarães: Uberabinha, MG: <strong>19</strong>05-<strong>19</strong>22.<br />
Uberlândia: Edufu, 2004. p.58<br />
CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas: O Imaginário da República no<br />
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, <strong>19</strong>98.<br />
CARVALHO, Rosana Areal; MARQUES, E. F.; FARIA, V. L. Grupo Escolar de Mariana:<br />
educação pública em Mariana no início do século XX. Revista HISTEDBR On-line,<br />
Campinas, v. 21, p. 2-14, 2006.<br />
______. O Grupo Escolar de Mariana e as fontes para a história da educação na Região dos<br />
Inconfidentes. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO,<br />
6., 2006. Anais do VI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, 2006.
CARVALHO, Rosana Areal; VIEIRA, L. C. Política e educação: enlaces e entrelaces no<br />
Relatório de <strong>19</strong>11 do Grupo Escolar de Mariana. In: CONGRESSO DE PESQUISA E<br />
ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS, 4., 2007. Anais. Juiz de<br />
Fora: UFJF, 2007.<br />
CHARTIER, Roger. A história cultural: entre prática e representações. Lisboa: Difel, <strong>19</strong>86.<br />
FALCON, Francisco. Por uma História Política. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS,<br />
Ronaldo (orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro:<br />
Campus, <strong>19</strong>97.<br />
FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar e urbana<br />
em Belo Horizonte na Primeira República. Passo Fundo: UPF, 2000.<br />
GATTI JÚNIOR, Décio; INÁCIO FILHO, Geraldo. História da Educação em perspectiva.<br />
Campinas: Autores Associados; Uberlândia: EDUFU, 2005.<br />
GONDRA, José. A arte de civilizar: medicina, higiene e educação na Corte Imperial. Rio de<br />
Janeiro: UERJ, 2004.<br />
GUIMARAENS FILHO, Alphonsus de. Alphonsus de Guimaraens no seu ambiente. Rio<br />
de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/Departamento Nacional do Livro, <strong>19</strong>95.<br />
LOMBARDI, J. C.; CASSIMIRO, A. P. B. S.; MAGALHÃES, L. D. R. (orgs.). História,<br />
cultura e educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.- (Coleção educação<br />
contemporânea)<br />
MAXÍMO, Círian Gouveia, CARVALHO, Carlos Henrique de. Da ordem educacional ao<br />
progresso social: concepção de educação vinculada pela imprensa (Uberlândia, MG, <strong>19</strong>20-<br />
<strong>19</strong>45) In: LOPES,Ana Amélia Borges de Magalhães; GONÇALVES, Irlen Antônio; FARIA<br />
FILHO, Luciano Mendes; XAVIER, Maria do Carmo. (Org.). História da Educação em<br />
Minas Gerais. Belo Horizonte : FCH/FUMEC, 2002. 656p., v.1
RESENDE, Maria Efigênia Lage de. Formação da estrutura de dominação em Minas<br />
Gerais: o novo PRM – 1889-<strong>19</strong>06. Belo Horizonte: UFMG, <strong>19</strong>82.<br />
SOUZA, Rosa Fátima de. Templos de Civilização: A Implantação da escola primária<br />
Graduada no Estado de São Paulo (1890-<strong>19</strong>10). São Paulo: Editora da UNESP, <strong>19</strong>98.<br />
http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br Acessado em<br />
06 de fevereiro de 2009.
Percepções acerca do ensino de História em uma escola confessional feminina (<strong>19</strong>15-<strong>19</strong>28)<br />
Verônica Albano Viana Costa<br />
Ana Cristina Pereira Lage<br />
Resumo: O estudo parte das reflexões sobre a história do ensino de história em uma instituição<br />
confessional feminina. Parte-se do pressuposto que a questão da valorização da nação é freqüente<br />
no ensino de História do período, mas verifica-se a particularidade da valorização do Império<br />
passado em detrimento da República em vigor para a escola em estudo. Utiliza-se como agentes<br />
desta pesquisa as discentes do Colégio Nossa Senhora de Sion de Campanha, Minas Gerais,<br />
representantes das elites locais, por meio da produção escrita entre <strong>19</strong>15 e <strong>19</strong>28, contida em um<br />
livro de redações de alunas, consideradas pelas freiras como melhores, de variadas séries e<br />
também com conteúdos diversos. Pretende-se dialogar especificamente com as redações de<br />
conteúdo histórico para compreender o discurso contido nestes textos, o qual dialoga<br />
constantemente com a História Sagrada. Busca-se refletir com as discussões mais recentes acerca<br />
do imaginário, das apropriações, da história da escrita e da análise do discurso.<br />
Palavras-chave: ensino feminino – ensino de história – escola confessional<br />
Perceptions sur l’enseignement de l’histoire dans une école confessionnal féminin (<strong>19</strong>15 – <strong>19</strong>28)<br />
47
Résumé : L'étude part de la réflexion sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire dans un<br />
établissement confessionnel féminin. Il a été supposé que la question de la récupération de la<br />
nation est commune dans l'enseignement de l'histoire de la période, mais il est une caractéristique<br />
de l'appréciation passée de l'Empire au détriment de la République en vigueur pour l'école à<br />
l'étude. Il est utilisé comme agents de cette recherche, les étudiants du Collège de Notre-Dame de<br />
Sion à Campanha, Minas Gerais, les représentants de l'élite local, à travers la production écrite<br />
entre <strong>19</strong>15 et <strong>19</strong>28, figurant dans un livre de mémoires d'étudiants, et mieux traitées par des<br />
religieuses de différentes séries et également avec divers contenus. Il est destiné spécifiquement<br />
parler avec le contenu éditorial de l'histoire pour comprendre la parole dans ces textes, qui<br />
dialogue avec l'Histoire Sacré. Vise à refléter le plus récent des discussions sur l'imaginaire, des<br />
appropriations, de l'histoire de l'écriture et l'analyse du discours.<br />
Mots-clé: enseignement féminin – enseignement de l’histoire – école confessionnal<br />
Este trabalho se insere na perspectiva da história do ensino de história investigada a partir<br />
da cultura escolar. Utiliza-se como fonte um caderno de redações encontrado no acervo particular<br />
da Congregação de Nossa Senhora de Sion em Campanha (MG). O caderno reúne as redações de<br />
alunas consideradas como melhores, de variadas séries e também de conteúdos diversos, escritas<br />
entre <strong>19</strong>15 e <strong>19</strong>28.<br />
A fabricação de um caderno de redações aponta para a dinâmica que envolve sujeitos,<br />
conhecimentos, comportamentos e valores, elementos constitutivos da cultura escolar. O ato de<br />
escolher determinados textos para constituir o caderno de redações e a sua produção indica um<br />
conjunto de práticas vivenciadas cotidianamente no interior da escola. Assim sendo, esse objeto<br />
48
tem um valor incomensurável, permitindo refletir acerca das múltiplas formas pelas quais os<br />
conhecimentos escolares são apropriados, bem como sobre as práticas conformadas na e pela<br />
instituição escolar.<br />
Embora o caderno apresente redações de natureza variada, pretende-se dialogar<br />
especificamente com nove redações de conteúdo histórico. A documentação aqui analisada<br />
apresenta uma dimensão singular, pois trata-se de fonte primária, uma materialização da memória<br />
no processo de ensino-aprendizagem da História. É um exemplar revestido de originalidade e que<br />
permite adentrar pelos domínios exclusivos do Colégio analisado, das representações produzidas<br />
acerca da História que, de uma maneira ampliada, compõe um certo imaginário do período,<br />
profundamente assentado na tradição católica.<br />
A opção de vincular essa pesquisa às discussões sobre o imaginário justifica-se por<br />
entender que a existência dos indivíduos é mediada por representações que têm múltiplas e<br />
complexas funções. Para Baczko (<strong>19</strong>85), as representações guiam e interferem nas ações e<br />
comportamentos, colocam-se no lugar do mundo e asseguram a coesão social e, portanto, o<br />
imaginário, composto pelo conjunto das representações compartilhadas por uma comunidade, faz<br />
com que os indivíduos percebam e organizem a sua própria existência e torna-se inteligível e<br />
comunicável por meio do discurso. Assim, enquanto uma instituição social, a escola tem estreitos<br />
vínculos com o imaginário, no qual estão ancoradas as matrizes culturais de suas práticas. Desta<br />
forma, o conjunto de nove redações de conteúdo histórico apresenta-se como um corpus<br />
documental, cujos enunciados (manuscritos) materializam o discurso. A sua abordagem será<br />
realizada por meio da análise da narrativa e das categorias de análise da História da escrita<br />
(SILVA, 2002), buscando compreendê-lo como um conjunto articulado.<br />
49
O COLÉGIO NOSSA SENHORA DE SION DE CAMPANHA<br />
O Colégio foi fundado pela congregação francesa Nossa Senhora de Sion, na cidade sul-<br />
mineira de Campanha e funcionou entre os anos de <strong>19</strong>04 e <strong>19</strong>65. A pretensão inicial da<br />
Congregação Sionense era educar meninas, na sua maioria filhas de ricos fazendeiros, vindas de<br />
todo o Estado de Minas Gerais e até de outras regiões. Eram chamadas de Meninas de Sion. As<br />
freiras praticavam também a ação de educar meninas pobres da região. Estas meninas eram<br />
chamadas de Martas ou Martinhas, em homenagem à Santa Marta. Viviam também internas no<br />
Sion e, em troca do ensino que recebiam, ajudavam na limpeza do prédio. Têm-se que ressaltar<br />
também que não poderia haver contatos entre as Meninas de Sion e as Martinhas. Como o<br />
caderno de redações encontrado refere-se somente à produção das Meninas de Sion, pretende-se<br />
aqui dialogar com as especificidades do ensino proposto para estas alunas.<br />
Segundo Manoel (<strong>19</strong>96), no Brasil do final século XIX e início do XX, a visão católica<br />
apresentava uma concepção de sociedade, poder político e relações familiares que eram<br />
convenientes à forma de vida da oligarquia brasileira. Mesmo que a educação dita liberal<br />
reforçasse o caráter individualista e o civismo como força para a implantação de uma Nação, a<br />
educação católica não fugia aos interesses da oligarquia, já que esta sempre ensinou ao católico<br />
ser ordeiro e obediente.<br />
Embora a oligarquia desejasse modernizar-se, temia a modernidade com relação à<br />
educação de suas filhas, pois tinham que educá-las de acordo com as exigências de um mundo<br />
moderno, mas levando em consideração que esta educação não poderia subverter a posição de<br />
subalternidade das mulheres. A educação dos internatos católicos era propícia para as intenções<br />
desta oligarquia.<br />
50
Por outro lado, a Igreja Católica combatia ao mundo moderno pelo investimento na<br />
educação. A educação de meninas e jovens fazia parte dos conceitos elaborados pela Igreja dita<br />
Ultramontana, pois as discentes poderiam ser, posteriormente, educadoras dos filhos e da<br />
sociedade conforme os princípios do catolicismo. Esta educação ocorreria nas escolas<br />
implantadas pelas diversas Congregações que chegaram no Brasil a partir da segunda metade do<br />
século XIX.<br />
A implantação do Colégio Sion na cidade de Campanha foi uma proposta de alguns<br />
representantes políticos e religiosos da região. Foi escolhido um imóvel um pouco retirado da<br />
cidade, um palacete que, no final do século XIX, funcionara um Hotel Sanitário, local de<br />
descanso para curar pessoas com problemas pulmonares. As aulas iniciaram no dia 16 de outubro<br />
de <strong>19</strong>04. Em diversos artigos de jornais da época encontra-se a necessidade da comunidade local<br />
em privilegiar a nova escola, demonstrando que era preciso implantar na cidade uma educação<br />
voltada para o seu desenvolvimento e progresso. Têm até um caráter redentor contra a “lethargia”<br />
presente na sociedade campanhense da época. A educação, neste momento, dialoga com o<br />
discurso político, atende às suas necessidades, quais sejam: desenvolver determinadas aptidões<br />
para apreender o discurso da ordem e alcançar o progresso. A instalação do Colégio na cidade ia<br />
de encontro às ansiedades dos políticos e da elite local, pois “salvaria” a todos do “definhamento”<br />
em que se encontrava a cidade. 5<br />
A monumentalidade do prédio também era relatada em diversos editoriais. O espaço<br />
escolar passava a exercer uma ação educativa dentro e fora dos seus limites. Ele dialogava com o<br />
espaço urbano. Ele recebia em seu interior diversos símbolos: o relógio, o sino, as fitas, cruzes,<br />
boletins, etc. A arquitetura escolar tinha que demonstrar respeitabilidade, admiração, prestígio,<br />
5 Fonte: Jornal A Campanha, <strong>19</strong>/09/<strong>19</strong>04, p.01. Acervo Centro de Estudos Campanhenses Monsenhor Lefort,<br />
Campanha/MG. (LAGE, 2007, p. 130)<br />
51
labor e disciplina. Havia também uma preocupação com a saúde e a higiene. O ambiente escolar<br />
tinha que demonstrar a ordem da missão civilizadora republicana com as condições ideais de ar,<br />
luz, mobiliário e postura dos alunos. Neste contexto, aliam-se com a mesma intencionalidade<br />
educadores, médicos, higienistas e políticos.<br />
O ambiente escolar torna-se o responsável pela melhor educação e disciplina, onde<br />
pregavam a necessidade de um afastamento do mundo externo e reclusão no universo feminino<br />
escolar. As meninas entregues às Irmãs de Sion, recebiam o ensino considerado “completo” para<br />
a sua época, nos moldes europeus. Além de receber aulas de educação física, compatível com o<br />
discurso higienista de sua época, tinham também aulas de competências básicas de leitura, escrita<br />
e cálculo; diversas matérias de natureza científica e aquelas de formação moral, cívica e<br />
instrumental.<br />
Dialogando especialmente com o período compreendido pelo caderno de redações (<strong>19</strong>15-<br />
<strong>19</strong>28) e a grade curricular proposta ao ensino primário, percebe-se uma alteração no ensino de<br />
História neste período. Até <strong>19</strong>15, todas as turmas do primário (1o. ao 4o. ano) aprendiam<br />
História do Brasil separadamente de História Sagrada e, em alguns momentos, História Antiga.<br />
A partir de <strong>19</strong>16, foi implantado uma única disciplina referente à história, a História Cívica e<br />
Moral 6 . Infelizmente não foi possível fazer tal levantamento para o mesmo período referente ao<br />
curso Normal, devido à falta de fontes. O ensino neste momento no Colégio compreendia o Curso<br />
Primário de quatro séries e o Curso Normal, este variando entre três ou quatro anos. Ocorreu<br />
6 Fonte: Livro de Resultados do curso primário do Colégio Sion. <strong>19</strong>06-<strong>19</strong>29; Acervo do Centro de Memória Cultural<br />
do sul de Minas, UEMG- Campanha. (LAGE, 2007, p. 277-280)<br />
52
ainda a introdução do curso fundamental, intermediário, de dois anos a partir de <strong>19</strong>25. É possível<br />
quantificar o número de alunas presentes no momento estudado 7 :<br />
ano primário Fundamental normal total<br />
<strong>19</strong>15 78 - 99 177<br />
<strong>19</strong>16 71 - 102 173<br />
<strong>19</strong>17 95 - 115 210<br />
<strong>19</strong>18 56 - 100 156<br />
<strong>19</strong><strong>19</strong> 86 - 80 166<br />
<strong>19</strong>20 125 - 86 211<br />
<strong>19</strong>21 124 - 60 184<br />
<strong>19</strong>22 135 - 125 260<br />
<strong>19</strong>23 100 - 85 185<br />
<strong>19</strong>24 110 - 72 182<br />
<strong>19</strong>25 100 28 73 201<br />
<strong>19</strong>26 79 57 69 205<br />
<strong>19</strong>27 56 41 62 159<br />
<strong>19</strong>28 90 41 58 189<br />
Percebe-se uma variação a cada ano no número de alunas matriculadas na instituição,<br />
provavelmente ligada às crises econômicas presentes no cenário brasileiro neste período,<br />
afetando diretamente aos fazendeiros, atividade exercida pela maioria dos pais das discentes aqui<br />
analisadas.<br />
7 Fonte: Livros de matrículas das alunas do Colégio Sion, <strong>19</strong>06 – <strong>19</strong>65. Acervo do Centro de Memória Cultural do<br />
sul de Minas, UEMG- Campanha . (LAGE, 2007, p.137-139)<br />
53
A classificação das alunas nas turmas acontecia no momento em que as notas eram<br />
lançadas nas atas de notas, como: Distinção, Plenamente e Simplesmente. A quantidade de<br />
distinções tornava possível colocar o nome da aluna gradativamente. As notas de uma<br />
determinada turma não eram lançadas de forma alfabética, mas de forma a contemplar no topo da<br />
lista a aluna que obtivesse uma maior quantidade de distinções. A distinção também pode ser<br />
analisada na necessidade do Colégio ter um caderno com as suas melhores redações.<br />
As meninas de Sion também participavam da ordem pelo seu vestuário. O uniforme não<br />
diferenciava dentro da comunidade escolar, mas era, por outro lado, motivo de distinção em<br />
relação à sociedade local. O uniforme e o enxoval deveriam ser padronizados, segundo os<br />
costumes da época. A distinção entre as turmas acontecia somente de acordo com as cores, onde<br />
cada série deveria portar uma cor diferenciada em suas faixas, cordões da cintura e cruzes do<br />
pescoço.<br />
PRÁTICAS DE ESCRITA: O CADERNO ESCOLAR<br />
Até o final do século XVIII, a escola elementar basicamente dispunha-se a ensinar a ler,<br />
entretanto, a necessidade de introduzir o aluno nas múltiplas funcionalidades da escrita<br />
possibilitou a produção de um campo disciplinar característico do modelo escolar moderno<br />
(VIDAL & GVIRTZ, <strong>19</strong>98). A partir de meados do século XIX, a alfabetização orienta-se para a<br />
leitura e também para as práticas da escrita. Nesse contexto, o caderno escolar, suporte de uma<br />
prática de escrita, apresenta-se para o aluno como um espaço destinado à realização das<br />
aprendizagens pretendidas e também como ordenação do espaço bidimensional próprio à ordem<br />
gráfica e do tempo destinado a estas aprendizagens (HEBRARD, 2001).<br />
54
Segundo Vidal (<strong>19</strong>95), a partir da última década do século XIX, os cadernos foram<br />
lentamente introduzidos nas escolas primárias brasileiras, merecendo inclusive legislação para<br />
sua introdução nas escolas isoladas. Assim, constituíram-se no principal suporte das atividades de<br />
aprendizagem dos alunos e também de controle do trabalho docente, já que também eram<br />
utilizados como instrumentos burocráticos para os registros da dinâmica do ensino pelos<br />
professores e para o acompanhamento dos inspetores escolares.<br />
Pela própria natureza do objeto e sua inserção no contexto educativo, o caderno escolar<br />
revela-se um testemunho valiosos sobre a escrita, sobre métodos e conteúdos escolares e sobre os<br />
sentidos e significados construídos pelos sujeitos envolvidos na complexa dinâmica escolar. Parte<br />
substancial do tempo escolar conforma-se sobre o caderno que assume uma variedade de formas<br />
e finalidades voltadas para os objetivos de aprendizagem e para as múltiplas modalidades de<br />
registros da vida interna da escola, entre as quais, aquelas cuja deliberada intenção é registrar a<br />
memória da produção escolar individual ou coletiva.<br />
O caderno de redações do Colégio Nossa Senhora de Sion pode ser compreendido como<br />
um lugar de registro da memória da produção dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-<br />
aprendizagem. Nessa perspectiva, esse “artefato” é portador de referências à identidade da<br />
Instituição, sendo encontrado em bom estado de conservação no acervo particular da<br />
Congregação Nossa Senhora de Sion, em Campanha, MG.<br />
Em seu conjunto, com capa dura, perfazendo 189 páginas, no total de 57 redações<br />
elaboradas por alunas de diversas séries dos cursos Primário e Normal entre <strong>19</strong>15 e <strong>19</strong>28,<br />
apresentam uma mobilidade de conteúdos, podendo supor que no caderno eram reunidos os<br />
textos que expressavam os saberes e os valores considerados significativos. Além de redações, foi<br />
encontrada em suas páginas uma prova de História Sagrada e também um trabalho de turma<br />
(como ensinar a ler). Pode-se classificá-las e quantificá-las segundo os seguintes assuntos, sendo<br />
55
que, por exemplo, uma redação de caráter histórico contém também questões morais e religiosas,<br />
assunto verificado como predominante no discurso das alunas:<br />
Assunto Quantidade<br />
Moral e/ou religioso 32<br />
Histórico 09<br />
Aspectos geográficos e urbanos 06<br />
Perfil de colegas 05<br />
Informações sobre o Colégio 02<br />
Perfil de professoras 01<br />
Prova de História da Igreja 01<br />
Trabalho de turma sobre lição de leitura<br />
elementar<br />
Total 57<br />
A escrita está organizada com letras bem traçadas, sem uma regularidade de caligrafia,<br />
pois a longevidade do caderno certamente impôs a tarefa de transcrição dos textos a diferentes<br />
pessoas. A autoria e indicação da classe da aluna/autora são inscritos sempre no final das<br />
redações. As margens estão sempre do lado direito, o que confere uma regularidade ao<br />
preenchimento das folhas. Os parágrafos são demarcados por um espaço posterior, sendo o<br />
parágrafo seguinte iniciado em outra linha rente à margem, exceto as duas últimas redações<br />
analisadas. Chama ainda atenção a ausência de títulos na maioria dos textos e o cuidado no<br />
desenho das letras maiúsculas, especialmente na escrita dos nomes de personagens históricos ou<br />
religiosos.<br />
01<br />
56
AS REDAÇÕES DE CONTEÚDO HISTÓRICO<br />
A disciplina História esteve presente nas escolas brasileiras desde o século XIX,<br />
compunha o quadro das disciplinas escolares, portanto apresentava objetivos, conteúdos<br />
selecionados, métodos próprios e saberes que foram organizados e reelaborados ao longo do<br />
processo de escolarização. No complexo campo de estruturação da História como disciplina<br />
escolar coaduna-se múltiplas dimensões do social conformando um currículo com três<br />
subdivisões: História Sagrada, História da Civilização e História Pátria (FONSECA, 2003). Nos<br />
primeiros programas de História, ainda no Império, o ensino da História sagrada era mais<br />
difundido que a História laica, portanto, os valores e comportamentos veiculados pela disciplina<br />
vinculavam-se à moral cristã. Mesmo com a implantação da República, e a conseqüente<br />
separação do Estado e da Igreja, a História permaneceu veiculando a moral cristã, em especial<br />
nas escolas confessionais (BITTENCOURT, 2004).<br />
A análise das redações permite identificar um discurso histórico associado à moral cristã.<br />
Percebe-se a educação como um local de disputa simbólica. Se a República implanta novos<br />
símbolos, relacionados ao seu ideário, a Congregação de Sion preocupa-se em ensinar e valorizar<br />
símbolos tanto religiosos, como também monárquicos. As redações consideradas de caráter<br />
histórico, em um total de nove, são classificadas da seguinte maneira:<br />
Título referência autora classe data no. páginas<br />
Christovão<br />
Colombo<br />
Visita de Colombo a<br />
Isabel de Castela e<br />
conquista da América<br />
nenhum Vinda da família real<br />
para o Brasil<br />
nenhum Execução de Ma.<br />
Antonieta<br />
Innocencia<br />
Saboia<br />
Amélia<br />
Azevedo<br />
Margarida<br />
de Azevedo<br />
Verde, 3o.<br />
ano primário<br />
Azul, 4o.<br />
ano primário<br />
Violeta, 4o.<br />
ano normal<br />
S/d 03<br />
S/d 02<br />
<strong>19</strong>16 03<br />
57
Título referência autora classe data no. páginas<br />
nenhum Separação de Portugal<br />
da Espanha<br />
nenhum Partida/ exílio de D.<br />
Pedro II<br />
nenhum Tentativa de retorno<br />
para o Brasil e morte de<br />
D. Luís, neto de Pedro II<br />
nenhum Execução de Ma.<br />
Antonieta<br />
Perfil de<br />
D. Pedro II<br />
Perfil<br />
histórico<br />
de D.<br />
Pedro II<br />
Innocencia<br />
Saboia<br />
Amélia<br />
Azevedo<br />
Cornélia<br />
Pereira<br />
Alba de<br />
Lima<br />
Branca, 1o.<br />
ano Normal<br />
Violeta, 4o.<br />
ano normal<br />
Violeta, 4o.<br />
ano normal<br />
Violeta, 4o.<br />
ano normal<br />
Histórico de D. Pedro II Irene Pereira Violeta, 4o.<br />
ano normal<br />
Histórico de D.<br />
Pedro II<br />
Dolores<br />
Meirelles<br />
Violeta, 4o.<br />
ano normal<br />
S/d 03<br />
<strong>19</strong><strong>19</strong> 01<br />
<strong>19</strong>20 04<br />
<strong>19</strong>23 02<br />
<strong>19</strong>25 06<br />
<strong>19</strong>25 08<br />
Verifica-se não haver nenhuma alusão aos governantes da República recém instalada, mas<br />
percebe-se o saudosismo com relação à Monarquia, presente tanto nas redações referentes à<br />
História de Portugal, quanto à França e ao Brasil. Verifica-se também uma continuidade no<br />
discurso das mestras de classe e no aprendizado das alunas. Assim, embora escritas em<br />
momentos distintos, percebe-se uma semelhança nas redações das alunas que escreveram acerca<br />
da morte de Maria Antonieta (<strong>19</strong>16 e <strong>19</strong>23), provavelmente utilizando o mesmo livro didático<br />
e/ou a mesma mestra. Ambas narram o momento de sua execução, no qual a personagem é<br />
encaminhada para a morte com altivez e dignidade cristã. É tomada por uma grande tristeza<br />
quando pensa em seus filhos e recebe uma flor, jogada por uma criança do povo. A grande<br />
singularidade das duas narrativas é a comparação da execução com o martírio de Jesus Cristo e a<br />
recuperação de sua coroa no Reino Celeste, como se segue:<br />
58
...Maria Antonieta que tinha sido audaz ante os soffrimentos e injurias chorou ao receber<br />
aquella esmola infantil que sahia de um coração puro e sincero: chorou de<br />
reconhecimento!<br />
Succumbiu a infame! Bradou uma voz selvatica, mas aquella lagrima de gratidão ainda<br />
mais que a altivez fará admirar a Rainha que trocou as glorias passageiras por uma coroa<br />
immortal. (Margarida de Azevedo, <strong>19</strong>16)<br />
...Num gesto gracil e meigo anjinho leva a mão á flôr aos labios e lhe envia um beijo<br />
casto e honesto. Ante esta dadiva infantil, a rainha que até então estivera serena e digna<br />
perante as injurias da plebe ignara, chora... “- Chora! Chora a traidora!” brada a multidão<br />
desenfreada, ebria de prazer. Redobram os insultos e as imprecações.<br />
Mas Deus cingia com a coroa da gloria a fronte da Rainha – Martyr! (Alba de Lima,<br />
<strong>19</strong>23)<br />
A questão da importância da Coroa, conquistada preferencialmente no mundo celestial,<br />
está presente também em outras narrativas. Assim, no momento em que escreve-se sobre a<br />
participação na Primeira Guerra Mundial, a tentativa de retorno ao Brasil e a morte de D. Luís<br />
Orléans e Bragança (1878-<strong>19</strong>20), o herdeiro da monarquia brasileira, novamente valoriza-se a<br />
coroa recebida no reino celeste:<br />
...Passaram-se annos. D. Luiz quer pela penna, quer nos campos de batalha brandindo a<br />
espada cobria de gloria immoredoura o nome da sua e da nossa patria e mostrava assim<br />
ao mundo inteiro do que era capaz um filho do Brasil. Mas a morte traiçoeira veiu roubar<br />
nos esse heroe que viveu e morreu para Deus, para o Brasil e para o Dever.<br />
E agora, o D. Luiz, do alto do ceu onde foste receber a corôa que te recusaram neste<br />
mundo vela pelo Brasil e faze com que embora republicano pela forma , seja elle um<br />
reino, onde para sempre e em tudo reine N.S.J.C. Pois assim terás conseguido o ideal<br />
que em vida não pudeste realizar de ver o Brasil unido, poderoso e feliz. (Cornélia<br />
Pereira, <strong>19</strong>20)<br />
A idéia de uma aproximação dos reinos terrenos com o reino celestial é predominante em<br />
todas as narrativas. Quando discute-se a vinda da Corte Real Portuguesa para o Brasil, em 1808,<br />
fala-se da tristeza do povo português com a vinda de D. João VI, dos ingleses protetores e de um<br />
menino (Pedro I) carregado de patriotismo para salvar a monarquia portuguesa. O texto constrói<br />
uma imagem positivada do príncipe real. O jovem Pedro reúne os atributos necessários para o<br />
exercício da autoridade real. Sua representação é portadora da força de um caráter resoluto e de<br />
59
profundos sentimentos de amor pela terra que se transformará em sua segunda pátria. A narrativa<br />
focada naquele que se transformou no “Defensor perpétuo do Brasil” busca legitimá-lo como<br />
governante e oferecê-lo como modelo de conduta para todos os brasileiros. Por outro lado, as três<br />
redações que falam de D. Pedro II enfatizam a sua importância histórica, sendo que duas fazem<br />
alusão às comemorações do centenário de seu nascimento (<strong>19</strong>25) e tomam um número maior de<br />
páginas do caderno. A tentativa de afirmação de uma tradição imperial brasileira é recorrente.<br />
Mesmo destronado, o imperador continuava no coração dos brasileiros, essa presença se<br />
materializava nas celebrações do centenário de seu nascimento ou na construção de monumentos,<br />
“lugares de memória” em sua homenagem. Segundo as três redações, D. Pedro II foi um<br />
governante exemplar, com educação impecável, correto em sua conduta, contrário à escravidão e<br />
de grande moral familiar:<br />
...Por espaço de quasi 50 annos, D. Pedro governou sabiamente o Brasil. Unindo à<br />
justiça a clemencia, preferindo aos interesses particulares o bem do povo, fez tudo<br />
prosperar, embora tivesse de sustentar mais de uma vez lutas encarniçadas como a de<br />
1852 e a de 1855. Além de patriota ardente, era um grande christão. Via opprimidos os<br />
escravos, não tinham sido também reunidos pelo sangue de um Deus? Empregou todos<br />
os meios para a total abolição da escravatura no Brasil... (Irene Pereira, <strong>19</strong>25)<br />
...Em setembro aportava em terras brasileiras, a Imperatriz; recebida em meio das mais<br />
enthusiasticas orações do povo. D. Thereza Christina doi desde então a “Mãe dos<br />
Brasileiros” o anjo e a alegria de um lar real e a benfeitora de uma nação. Em S.<br />
Cristovam levava o casal feliz uma vida austera, justamente o contrario dos costumes da<br />
época, era um verdadeiro modelo da familia christã, onde a virtude florescia,<br />
embalsamando o lar com doces aromas. ...(Dolores Meirelles, <strong>19</strong>25)<br />
Doces aromas do lar...em um Colégio onde preparava-se as alunas para um glorioso<br />
futuro como dignas esposas e mães, o exemplo da família imperial brasileira, nos moldes do<br />
cristianismo, tornava-se essencial para o imaginário da época. Neste quadro, insere-se o ensino<br />
da história proposto, mesmo já adentrando o período republicano, onde o modelo a ser seguido e<br />
60
digno de constar no caderno de redações é o da família real e cristã, quer seja esta francesa,<br />
portuguesa, brasileira ou celeste.<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
A análise das redações das alunas do Colégio Nossa Senhora reforça a relevância<br />
atribuída à educação escolarizada, sobretudo a História ensinada, como instrumento de<br />
aprendizado da política. Os saberes históricos que integravam o currículo da instituição aborda a<br />
educação moral e cívica de suas alunas mobilizando um acervo simbólico que visa conformar<br />
valores, condutas e visões de mundo. A memória histórica construída sobre os acontecimentos<br />
narrados, são portadores de representações que assumem uma dimensão mais importante que os<br />
próprios acontecimentos que lhes deram origem.<br />
Não obstante aos esforços de diversos setores republicanos em legitimar o novo regime,<br />
as redações revelam uma narrativa ancorada na tradição monárquica associada aos valores e<br />
sentimentos da doutrina católica, compondo um imaginário que se apresenta como concorrente ao<br />
imaginário republicano. A exaltação dos valores monárquicos e cristãos desqualifica e busca<br />
invalidar a legitimidade do o ideário republicano. Embora se possa argumentar que as redações<br />
que compunham o caderno eram escolhidas no sentido de reproduzir o discurso oficial da<br />
instituição, é importante ressaltar a apropriação desse discurso pelas discentes, indicando, como<br />
afirma Carvalho (<strong>19</strong>90), a força da tradição imperial e dos valores católicos profundamente<br />
assentados na cultura brasileira do período e em constante diálogo com os saberes históricos.<br />
61
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:<br />
BACZKO, B.. Imaginação social. In: Enciclopédia Einaudi. Vol. 5, Vila dos Maia, <strong>19</strong>85. p.<br />
296-332.<br />
BITTENCOURT, C. M. Fernandes. Ensino de História: Fundamentos e métodos. São Paulo:<br />
Editora Cortez, 2004.<br />
CARVALHO, J. M.. A formação das almas: O imaginário da república no Brasil. São Paulo:<br />
Companhia das letras, <strong>19</strong>90.<br />
FONSECA, T.N.L.. História & ensino de História. Belo Horizonte: Autentica. 2003.<br />
HÉBRARD, J. Por uma bibliografia material das escritas ordinárias: o espaço gráfico do caderno<br />
escolar (França — séculos XIX e XX). Trad. Laura Hansen. Revista Brasileira de História da<br />
Educação. Campinas: Autores Associados, n.1, p.115-141, jan./jun. 2001.<br />
LAGE, A.C.P. A instalação do Colégio Nossa Senhora de Sion em Campanha: uma<br />
necessidade política, econômica e social sul – mineira no início do século XX. Campinas:<br />
UNICAMP, 2007. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade<br />
Estadual de Campinas, Campinas, 2007.<br />
MANOEL, I.. A Igreja e a educação feminina (1859-<strong>19</strong><strong>19</strong>). Uma face do conservadorismo. São<br />
Paulo: Editora UNESP, <strong>19</strong>96.<br />
SILVA, A. C. L. F.. Reflexões metodológicas sobre a analise do discruso em prespectiva<br />
histórica: paternidade, maternidade, santidade e gênero. Cronos: Revista de História, Pedro<br />
Leopoldo, n. 6, p. <strong>19</strong>4-223, 2002.<br />
VIDAL, D. G.; GVIRTZ. S. O ensino da escrita e a conformação da modernidade escolar: Brasil<br />
e Argentina, 1880-<strong>19</strong>40. Revista Brasileira de Educação, Campinas: Autores Associados, n.8,<br />
<strong>19</strong>98<br />
62
O ensino de história entre o dever de memória e o trabalho de memória:<br />
representações da Ditadura Militar em livros didáticos de história 1<br />
Mateus Henrique de Faria Pereira<br />
Miriam Hermeto<br />
Resumo: O artigo analisa representações sobre a Ditadura Militar (<strong>19</strong>64-<strong>19</strong>85) em livros<br />
didáticos de história, tomando duas temáticas recorrentes nos estudos escolares sobre o tema<br />
como “escalas de observação”: a arte engajada e o Golpe de <strong>19</strong>64. A análise se desenvolve a fim<br />
de discutir como são estabelecidas as relações entre dever de memória e trabalho de memória no<br />
ensino da história brasileira recente. Finalmente, apresenta-se uma reflexão sobre como essas<br />
duas instâncias poderiam se combinar na construção de uma memória justa do passado no âmbito<br />
do ensino de história.<br />
Palavras-chave: dever de memória; trabalho de memória; livro didático; Ditadura Militar; Golpe<br />
de <strong>19</strong>64; arte engajada.<br />
L'enseignement de l'histoire entre le devoir de mémoire et le travail de mémoire:<br />
representations de la Dictature Militaire dans les livres scolaires d'histoire;<br />
1 Esse artigo é resultado dos projetos de pesquisa Livros Didáticos e Representações e Evento, Livros Didáticos e<br />
Representações, financiados, respectivamente, por UEMG/FUNEDI (2005/2006), FAPEMIG (2007 e 2008) e CNPq<br />
(2007 e 2008). Agradecemos as contribuições de Andreza Cristina Ivo Pereira, Viviane dos Reis Soares e Rúbia<br />
Fernanda Ferreira Pinto, que realizaram a pesquisa empírica com os livros didáticos, a partir da qual construímos<br />
esse texto.<br />
63
Résumé: L'article analyse des représentations sur la Dictature Militaire dans des livres<br />
didactiques d'histoire, prenant deux thématiques récurrents dans les études scolaires sur le sujet<br />
comme des "échelles d’analyse" : l'art engagé et le Coup de <strong>19</strong>64. L'étude se développe afin de<br />
discuter comme sont établis les relations entre le devoir de mémoire et le travail de mémoire dans<br />
l'enseignement de l’histoire brésilienne récente. Finalement, se présente une réflexion sur comme<br />
cettes deux instances pourraient se combiner dans la construction d'une mémoire juste de la<br />
période dans le contexte de l'enseignement d'histoire.<br />
Mots-clé: devoir de memoire; travaille de memoire; livre didatique; Dictature Militaire; Coup<br />
d’État de <strong>19</strong>64; l’éngagement artistique.<br />
Trabalhos diversos dos campos de pesquisa em Ensino de História e Historiografia têm<br />
apontado para a complexidade da relação entre história e memória na educação básica 2 . É com o<br />
intuito de contribuir para esse debate que este artigo apresenta uma análise de livros didáticos de<br />
história, produzidos desde a década de <strong>19</strong>70 3 , feita a partir da reflexão sobre a tensão entre os<br />
conceitos de dever de memória e trabalho de memória (RICOEUR, 2000).<br />
Para Paul Ricoeur, dentre outras, duas operações são fundamentais com relação à<br />
memória. Por um lado, o dever de memória, que consiste na obrigação de fazer justiça ao<br />
passado, por meio da lembrança. Por outro, o trabalho de memória, de crítica histórica, de<br />
esquecimento e luto ao mesmo tempo, que pode ser uma forma de evitar os excessos do dever de<br />
memória.<br />
2 Ver, dentre outros, BITTENCOURT (2003), CARRETERO et. alli. (2007), CITRON (<strong>19</strong>90), DELACROIX et. alli.<br />
(<strong>19</strong>99), GASPARELLO (2004), GUIMARÃES (<strong>19</strong>88), IGLÉSIAS (2000), NAPOLITANO (2003), NOIRIEL<br />
(<strong>19</strong>98), PROST (<strong>19</strong>97), SILVA e FONSECA (2007), SIMAN (2005). Para uma aproximação entre Ensino de<br />
História e Teoria da História, ver, dentre outros, SEFFNER (2000) e RICOEUR (2005)<br />
3 A seleção dos livros didáticos utilizados partiu de um levantamento prévio, por meio de informações de editoras e<br />
autores, das obras mais representativas e utilizadas no estado de Minas Gerais desde os anos <strong>19</strong>70. Levamos em<br />
consideração, também, a quantidade de aparição de determinados livros em bibliotecas públicas e escolares.<br />
64
Acreditamos que a realização de análises sobre essas operações no ensino de história é<br />
relevante, visto que ele é, por excelência, um lugar de construção, transmissão, recriação e<br />
reflexão sobre a memória – individual e coletiva. É no estudo de fatos e da vida do passado<br />
distante e/ou da história do tempo presente 4 , no ambiente escolar, que boa parte dos cidadãos<br />
toma contato com as representações da memória coletiva. E é nesse movimento que eles<br />
constroem, também, o seu repertório de lembranças individuais sobre a sociedade em que vivem,<br />
que formam sua memória individual sobre as identidades a que pertencem. No processo de<br />
educação histórica, os conhecimentos dos sujeitos se formam em uma dinâmica de cruzamentos<br />
entre a memória individual e a memória coletiva, a memória viva dos indivíduos e a memória<br />
pública.<br />
Assim, este texto procura investigar como o ensino de história, através dos livros<br />
didáticos, tem operado com essas duas possibilidades – dever e trabalho de memória – para<br />
compreender e explicar dimensões da política e da cultura na escrita da história do tempo<br />
presente no Brasil, a partir do acontecimento traumático “Ditadura Militar (<strong>19</strong>64-<strong>19</strong>85)”. Para<br />
isso, tomamos duas “escalas de observação” (REVEL, 2000): a arte engajada e o Golpe de <strong>19</strong>64,<br />
duas temáticas cuja presença é recorrente nos textos didáticos sobre a Ditadura Militar.<br />
Não pretendemos reduzir o campo de pesquisa em Ensino de História ao livro didático,<br />
porém, entendemos que ele é um dos principais meios pelos quais o processo de ensino-<br />
aprendizagem de história ocorre 5 . Por isso, ele pode se tornar uma fonte privilegiada para se<br />
pensar a relação entre ensino de história e historiografia. Nesses termos, pretende-se assumir aqui<br />
a concepção de que a história da historiografia deve refletir sobre as memórias construídas, na<br />
medida em que pode ser compreendida como “investigação sistemática acerca das condições de<br />
4 Sobre os conceitos de história do tempo presente, ver, dentre outros, IHTP (<strong>19</strong>92) e FERREIRA (2000).<br />
5 Sobre esse tema, dentre outros, ver BITTENCOURT (2001, 2003b), LAJOLO (<strong>19</strong>96), MUNAKATA (2003),<br />
VESENTINI (<strong>19</strong>84) e VILLALTA (2001).<br />
65
emergência dos diferentes discursos sobre o passado” (GUIMARÃES, 2003: 92). Não se trata<br />
apenas de mais uma reflexão fundada na idéia de “história da memória”, e sim, em grande parte,<br />
de buscar compreender a memória como matriz, e não objeto do ensino da disciplina escolar e da<br />
história acadêmica.<br />
2. ARTE ENGAJADA NA DITADURA MILITAR: TIPOS DE REPRESENTAÇÕES NOS<br />
LIVROS DIDÁTICOS<br />
Há alguns anos, tanto a historiografia quanto a produção didática na área de História vêm<br />
se ocupando de temas da história cultural. No caso das abordagens sobre a produção artístico-<br />
cultural na Ditadura Militar, as relações entre cultura e política têm sido bastante questionadas,<br />
criando um campo de investigação e reflexão sobre a chamada “arte engajada”.<br />
A fim de compreender como a arte engajada vem sendo representada nos livros didáticos<br />
de história, para refletir sobre a tensão entre o dever e o trabalho de memória no ensino de<br />
História, nesse item procuramos apontar e problematizar algumas representações acerca da arte<br />
engajada, de meados da década de <strong>19</strong>60 até meados da década de <strong>19</strong>80.<br />
Foram analisados 46 livros didáticos, editados entre <strong>19</strong>75 e 2004. Destes, há algumas<br />
reedições (chegamos a acompanhar 03 reedições de uma mesma coleção) e coleções diferentes de<br />
mesmo autor, algumas editadas concomitantemente. No recorte documental analisado, 08 livros<br />
foram editados durante a Ditadura Militar; 04, no período de redemocratização; 32, após <strong>19</strong>90; e<br />
02 não têm data de publicação indicada. Apenas 04 dos livros didáticos pesquisados não fazem<br />
qualquer menção à produção artística; mas, alguns dos que tratam da arte no período, não fazem<br />
menção à arte engajada.<br />
66
Identificamos quatro tipos de representação da arte engajada na Ditadura Militar nos<br />
livros didáticos analisados 6 . O mais freqüente é aquele que apresenta a arte engajada como uma<br />
produção que se faz em relação à censura da Ditadura. Nesse tipo de representação, muitas<br />
vezes, a arte engajada parece não ter existência absoluta, mas apenas relativa à censura. Por<br />
exemplo: “Os artistas ligados ao cinema, teatro ou música procuravam meios de burlar os<br />
censores utilizando-se principalmente de metáforas” (COSTA,<strong>19</strong>91: 289).<br />
Nesse tipo de representação, é como se a arte engajada “soubesse” claramente o caminho<br />
a tomar para enganar a censura.<br />
Chico Buarque precisou, durante um período, de utilizar-se do jogo de palavras em<br />
função do momento político. Muitas de suas canções foram censuradas, por conterem<br />
mensagens políticas que desagradavam ao governo, ou mesmo alusões às diretrizes<br />
políticas e econômicas dos governos militares (MARQUES <strong>19</strong>91: 122).<br />
A censura, por sua vez, é quase sempre tratada como um “ente” homogêneo e de caráter<br />
essencialmente político. Carlos Fico (2004) esclarece as diferenças básicas entre a censura de<br />
diversões públicas, estabelecida durante a Ditadura Militar, e a de propaganda política, muito<br />
anterior ao golpe, legalizada desde <strong>19</strong>45. O autor trata, ainda, do funcionamento de cada uma<br />
dessas censuras, destacando o caráter moral, e não apenas político, da censura de diversões<br />
públicas. Além disso, a censura não agiu da mesma maneira sobre todas as linguagens artísticas<br />
e/ou meios de comunicação. Assim sendo, o tratamento dado ao tema nesse tipo de representação<br />
da arte engajada nos livros didáticos é um reducionismo – e não apenas uma simplificação<br />
didática – da complexidade desse fato histórico.<br />
Outro tipo de representação da arte engajada que aparece comumente nos livros didáticos<br />
é a que a toma estritamente como forma de oposição e/ou resistência ao regime de exceção.<br />
6 Outras representações foram também identificadas. Mas, por serem representações isoladas e não hegemônicas, não<br />
foram apreendidas por nossa tipologia. Por exemplo, o tropicalismo é apontado em um dos livros como parte da<br />
Revolução Cultural; outro livro menciona a relação de competitividade entre os tropicalistas e a “música de protesto”<br />
nos festivais; outro afirma que a “canção de protesto” evoluiu da bossa nova.<br />
67
Neste caso, assim como no tipo anterior, a arte engajada não parece ter existido como um projeto,<br />
inclusive anteriormente ao Golpe de <strong>19</strong>64 – o que foi um fato (RIDENTI, 2000; VINCENT,<br />
<strong>19</strong>92). A arte engajada foi um projeto com vistas à construção de uma sociedade mais justa, que<br />
procurava ser uma alternativa para o sistema capitalista, pelos grupos de esquerda, e não apenas<br />
no Brasil. Nesse tipo de representação nos livros didáticos, o conteúdo de projeto social não<br />
aparece, sobressaindo-se o conteúdo de “protesto” e “resistência” ao status quo. Por exemplo:<br />
Em virtude do fechamento político, as produções artísticas em geral e várias publicações<br />
passaram a ter um engajamento político mais intenso. Canções de protesto, filmes e<br />
peças teatrais cuja temática era essencialmente política passaram a ocupar um espaço de<br />
contestação não institucional (FERREIRA, <strong>19</strong>97: 173).<br />
Ainda outra dimensão importante da chamada “produção engajada” foi também<br />
identificada como tipo de representação nos livros didáticos analisados, embora com ocorrência<br />
minoritária: a arte engajada como projeto de sociedade: “a cultura deveria demonstrar uma<br />
consciência social e de classe, visando, em ultima instância, à construção de uma utopia: um<br />
projeto global de Brasil que transformasse as estruturas socioeconômicas” (BERUTTI, 2002:<br />
259).<br />
É interessante notar que, embora trate de uma faceta importante do engajamento, esta<br />
abordagem, em geral, reduz a idéia de arte engajada à sua dimensão de ação política, quase<br />
partidária. O engajamento, na historiografia, não tem sido tratado meramente como a defesa de<br />
um posicionamento classista e/ou político-partidário, ou como uma forma de instrumentalizar,<br />
politicamente, a produção cultural. Análises de obras e trajetórias individuais definem o<br />
engajamento como o comprometimento do artista com a construção de uma dada realidade<br />
(NAPOLITANO, 2001; VILLAÇA, 2004). Essa visão de arte engajada que vem sendo produzida<br />
pela historiografia recente não chega a aparecer nos livros didáticos.<br />
68
Algumas vezes, mesmo as citações de obras ligadas a projetos de sociedade, produzidas<br />
por artistas cujas trajetórias traduziam engajamento pessoal, aparecem desvinculadas de seu local<br />
de produção e reduzem-se ao seu uso político pela sociedade. É o que se pode observar, por<br />
exemplo, na referência à canção de Geraldo Vandré, em várias reedições (<strong>19</strong>91, <strong>19</strong>97 e 2000) do<br />
livro dos Piletti, que parece tomar como fonte a memória de quem viveu o período, e não<br />
pesquisas que respaldem os dados: “Caminhando tornou-se o hino oficial de todas as<br />
manifestações contra o regime ditatorial. Mesmo proibida, era sempre cantada pelos<br />
manifestantes” (PILETTI & PILETTI, <strong>19</strong>91/<strong>19</strong>97/2000).<br />
Essa citação aponta para outro tipo de representação de arte engajada, a mais comum nos<br />
livros didáticos: a música como a arte engajada, por natureza. Isto pôde ser depreendido com um<br />
levantamento das linguagens artísticas mencionadas nos livros didáticos analisados, como arte<br />
engajada:<br />
LINGUAGENS ARTÍSTICAS NÚMERO DE OCORRÊNCIAS<br />
Música 36<br />
Cinema 27<br />
Teatro 25<br />
Literatura 05<br />
Não há menção alguma 07<br />
Provavelmente, a predominância de representações da música como arte engajada não se<br />
deve apenas ao papel que essa linguagem artística teve, nesse sentido, no período. Isso, a nosso<br />
ver, deve-se à força que dos festivais da canção ganhou no imaginário popular nacional, ao<br />
crescimento da indústria fonográfica no país desde a década de <strong>19</strong>60 e, em grande medida, à<br />
tradição de oralidade da cultura brasileira, na qual a música popular tem presença bastante forte.<br />
É mais comum lembrar-se de uma canção – que toca no rádio, que se ouve nas mais diversas<br />
ocasiões sociais – do que do trecho de uma peça de teatro ou de uma obra literária. Entretanto, é<br />
importante ressaltar que a literatura e o teatro eram consideradas, nos anos 60, as “artes<br />
69
engajadas” por natureza, as artes “da palavra” (RIDENTI, 2000; NAPOLITANO, 2001a e<br />
2001b).<br />
Assim como a música é apresentada como a arte engajada, Chico Buarque é apresentado<br />
como o artista engajado. Um levantamento quantitativo das menções a artistas nos livros<br />
pesquisados aponta 7 :<br />
ARTISTAS NÚMERO DE OCORRÊNCIAS<br />
Chico Buarque 35<br />
Geraldo Vandré 22<br />
Caetano Veloso 18<br />
Gilberto Gil 15<br />
Glauber Rocha 13<br />
Milton Nascimento 10<br />
Oduvaldo Viana Filho 10<br />
Edu Lobo 08<br />
É interessante notar que a representação de engajamento, neste caso, não é ligada<br />
exatamente ao conteúdo da obra do artista. Não se pretende negar o caráter político de resistência<br />
ou de denúncia da obra musical de Chico no período da Ditadura Militar. Entretanto, sua obra<br />
musical não foi tão explicitamente “de protesto” como a de outros compositores, como Gerado<br />
Vandré, o compositor símbolo da canção de protesto, ou Sérgio Ricardo. Tampouco, foi tão<br />
declaradamente de ação política como a de outros artistas envolvidos com projetos partidários,<br />
como Oduvaldo Viana Filho ou Gianfrancesco Guarnieri 8 .<br />
Essa representação majoritária de Chico Buarque como o cantor da resistência e do<br />
protesto parece-nos ligada, primeiro, ao uso da memória como fonte para as abordagens da arte<br />
engajada nos livros didáticos. Chico Buarque é uma dos cantores mais populares da MPB, o que<br />
faz com que suas canções estejam presentes na memória de quem escreve os livros. Em segundo<br />
lugar, acreditamos que essa imagem do cantor está relacionada ao primeiro tipo de representação<br />
7 Na tabela, constam apenas os artistas que foram mencionados mais de cinco vezes no corpus documental analisado.<br />
8 A respeito do conjunto da obra dos artistas mencionados, ver NAPOLITANO (2001b) e SOUZA (2007).<br />
70
da arte engajada apontado neste texto. Se o conteúdo da obra musical de Chico Buarque não foi<br />
tão explicitamente político ou de protesto quanto o de outros, a sua relação com a censura foi das<br />
mais conturbadas no período (com destaque para a estratégia de criação do codinome “Julinho da<br />
Adelaide”, como forma de burlar a atenção da censura). Assim sendo, o seu caso ilustra bem a<br />
idéia de que a arte engajada no Brasil foi um produto de resistência à censura na Ditadura Militar<br />
Mas o excesso de destaque para a imagem de Chico Buarque como cantor da resistência<br />
chegou a gerar anacronismo nos livros didáticos. É o que se observa, por exemplo, quando, após<br />
a transcrição dos versos de “Vai Passar”, lê-se: “Os versos acima são do compositor Chico<br />
Buarque de Holanda e pertencem à música ‘Vai Passar’, lançada no final de <strong>19</strong>84. O Brasil<br />
estava prestes a virar mais uma página da nossa história encerrando o regime militar” (COSTA,<br />
<strong>19</strong>91: 301). Como o uso da canção é o de “ilustração de um tempo”, ela pode não ser tomada<br />
apenas como produto cultural de uma época, mas como premonição de tempos futuros.<br />
De maneira geral, observamos que as referências à arte engajada nos livros didáticos não<br />
aparentam ser calcadas em pesquisa. É importante ressaltar que essa afirmativa não pretende<br />
endossar uma idéia de hierarquização dos saberes acadêmico e escolar, que toma esse último<br />
como mera simplificação ou transposição didática do primeiro. Alinhamo-nos com a concepção<br />
que toma a história como disciplina escolar que tem características específicas e não apenas<br />
relacionadas com o diálogo com a produção historiográfica 9 .<br />
A noção de engajamento que se apresenta nos livros didáticos é diferente da noção da<br />
historiografia. O destaque da dimensão política deste conceito parece-nos estar ligada, em<br />
primeiro lugar, à permanência de uma narrativa de caráter político nos livros didáticos (e no saber<br />
histórico escolar, de maneira geral). Mas também à dimensão de dever de memória que a<br />
disciplina escolar apresenta. Dar voz aos que foram silenciados pelos processos históricos,<br />
9 A este respeito, dentro outros, ver CHERVEL (<strong>19</strong>90) e BITTENCOURT (2003).<br />
71
lembrando a ação de sujeitos históricos que não estavam no poder – e, no caso dos estudos sobre<br />
a Ditadura Militar, que lutavam contra o arbítrio – vem sendo uma das funções atribuídas à<br />
História como disciplina escolar. No caso das representações da arte engajada nos livros<br />
didáticos, parece que esse dever de memória é exercido com base, essencialmente, na memória<br />
dos autores e da equipe editorial que os produzem.<br />
3. O GOLPE MILITAR DE <strong>19</strong>64: MUDANÇAS DE INTERPRETAÇÃO E SENTIDO EM<br />
LIVROS DE MESMO AUTOR<br />
Para pensar a relação entre o dever e o trabalho de memória no ensino de história, nosso<br />
objetivo nesse item é apontar e problematizar algumas representações acerca do Golpe de <strong>19</strong>64,<br />
construídas por autores de livros didáticos de história entre a década de <strong>19</strong>70 e os dias atuais,<br />
procurando refletir sobre as razões pelas quais autores de livros didáticos reescreveram as<br />
“origens” desse evento.<br />
Para isto, propomos aqui, novamente, uma pergunta sugerida por Michel de Certeau<br />
(<strong>19</strong>82), em outros termos: o que fabrica o autor de livros didáticos quando escreve a história?<br />
Sem ter a pretensão de chegar a uma resposta definidora, procuramos analisar as mudanças de<br />
sentido em obras diferentes de um mesmo autor. Não se desconsidera aqui o fato de que os livros<br />
didáticos são produzidos por uma multiplicidade de sujeitos, como aponta Munakata (2000).<br />
Entretanto, acreditamos ser válido o critério “autor” para analisar as modificações na narrativa<br />
sobre um tema no discurso didático, sobretudo porque boa parte dos professores escolhe os livros<br />
tomando o nome do autor como referência. Assim sendo, essa origem comum do discurso pode<br />
nos permitir pensar sobre as representações construídas pelo “autor” de livros didáticos quando<br />
72
escreve a história, a partir da análise da pluralidade de vozes, narrativas e interpretações<br />
produzidas pelos livros didáticos ao longo do tempo. De qualquer forma, como se poderá<br />
constatar, a categoria “autor” não é definidora da análise, que muito mais toma as representações<br />
contidas e produzidas em cada obra do que as define como pertencente ao sujeito que assina o<br />
livro.<br />
De forma geral, três causas comuns para explicar o Golpe de <strong>19</strong>64 nos livros didáticos<br />
são: a renúncia de Jânio Quadros, a política nacionalista de João Goulart e os conflitos entre a<br />
esquerda e a direita no período 10 . Elas aparecem, por exemplo, nos livros de Raymundo Campos,<br />
e Kátia Correa Peixoto Alves e Regina Célia de Moura Gomide Belisário.<br />
No primeiro livro de Raymundo Campos (<strong>19</strong>83), a renúncia de Jânio Quadros parece ter<br />
dado início à crise que levaria ao Golpe de <strong>19</strong>64. O aumento das agitações políticas –<br />
reivindicações por parte dos grupos de esquerda e de direita –, e a fraqueza do governo Goulart<br />
teriam sido as principais causas do golpe civil e militar. Contudo, no segundo livro de Campos<br />
(<strong>19</strong>91), a movimentação das forças populares e dos partidos de esquerda e a inclinação de Jango<br />
para a linha nacionalista é o que aparentemente teria gerado o Golpe Militar, dando início a uma<br />
reação das classes dominantes ao governo Goulart. Percebemos que, na segunda interpretação, o<br />
caráter conspiratório do golpe fica mais explícito, e o autor já aponta causas do golpe que não<br />
estariam ligadas de forma direta à ação individual de João Goulart.<br />
Nos quatro livros didáticos das autoras Kátia Correa Peixoto Alves e Regina Célia de<br />
Moura Gomide Belisário com os quais trabalhamos (<strong>19</strong>90, <strong>19</strong>91, <strong>19</strong>94 e <strong>19</strong>99), algumas<br />
mudanças de interpretação são visíveis. Em três deles, João Goulart teria sido o culpado pelo<br />
Golpe Militar: seu projeto nacionalista e as reformas de base que foram propostas nos comícios<br />
realizados em <strong>19</strong>64 teriam sido as causas principais do golpe. A renúncia do ministro Tancredo<br />
10 Para uma síntese das interpretações a respeito do Golpe de <strong>19</strong>64, ver, dentre outros, FICO (2004).<br />
73
Neves também aparece como umas das “origens” do golpe. A surpresa nas interpretações<br />
realizadas por essas autoras aparece na obra Nas Trilhas da História, de <strong>19</strong>99, na qual a causa<br />
central do golpe passa a ser a política desenvolvimentista da década de <strong>19</strong>50.<br />
Outra causa comumente atribuída ao Golpe de <strong>19</strong>64 é o populismo de Jango, que aparece<br />
nos livros de Cláudio Vicentino e Vanise Ribeiro.<br />
Nos três livros didáticos do autor Cláudio Vicentino (<strong>19</strong>94, <strong>19</strong>95 e 2005) que analisamos,<br />
não identificamos mudança de interpretação de um livro para outro: em todos eles, o Golpe é uma<br />
conseqüência do populismo janguista.<br />
Analisamos quatro livros de Vanise Ribeiro (<strong>19</strong>93, <strong>19</strong>96, <strong>19</strong>99a, <strong>19</strong>99b). Nos dois livros<br />
dos quais Carla Anastasia é co-autora, ambos destinados ao ensino fundamental, apontam-se<br />
como causas do Golpe de <strong>19</strong>64: as reformas de base de João Goulart; o Comício de 13 de março<br />
realizado na Central do Brasil no Estado da Guanabara, organizado pelo Comando Geral dos<br />
Trabalhadores – CGT – e pela Assessoria Sindical do presidente; o apoio do presidente à Revolta<br />
dos Marinheiros que eclodiu em 25 de março; a escolha de um novo ministro da Guerra e a<br />
anistia dos marinheiros revoltosos que haviam sido presos durante a revolta. Nos livros cuja co-<br />
autoria é diferente a mudança de interpretação é nítida. No de <strong>19</strong>93, o Golpe de <strong>19</strong>64 é<br />
apresentado como um adiamento de um golpe planejado em <strong>19</strong>61 pelos militares e por grupos<br />
conservadores. Entretanto, em <strong>19</strong>99, as causas apontadas para o golpe são a crise do governo<br />
Goulart e a não-aceitação do governo de Jango pelos golpistas.<br />
Outra causa recorrente apontada para o Golpe de <strong>19</strong>64 são os conflitos entre a esquerda e<br />
a direita no período. Esse é o tom explicativo, por exemplo, de um autor de livros didáticos que é<br />
referência para os professores: Gilberto Cotrim.<br />
Trabalhamos com oito de seus livros didáticos (<strong>19</strong>95, <strong>19</strong>96, <strong>19</strong>97, <strong>19</strong>98, <strong>19</strong>99, 2000,<br />
2002, 2004). Nas análises realizadas em todos eles, percebemos que não houve mudança alguma<br />
74
na interpretação realizada acerca do Golpe de <strong>19</strong>64. Em todos, afirma-se que a política<br />
nacionalista e reformista de Goulart, a agitação política e social na qual o país se encontrava<br />
naquele momento, bem como a radicalização das posições dos grupos de esquerda e de direita é<br />
que teriam causado o golpe. É uma das poucas permanências editoriais, de cerca de dez anos.<br />
Nos livros de Nelson Piletti encontramos ainda duas outras “imagens” para explicar o<br />
Golpe de <strong>19</strong>64 didaticamente.<br />
Nos livros cujo co-autor é José Jobson Arruda (<strong>19</strong>95 e <strong>19</strong>97), as causas apresentadas para<br />
o Golpe são: a redução de investimentos na década de 60; a crise do Estado populista (ela<br />
reaparece aqui), que atingiria seu apogeu no governo Goulart; o medo da burguesia, que,<br />
ameaçada em seus interesses econômicos, teria se voltado contra o governo; uma conspiração<br />
interna com o apoio dos Estados Unidos da América; as medidas tomadas por Jango durante seu<br />
governo; e o desrespeito à hierarquia militar. Ao contrapormos essa interpretação à apresentada<br />
por Arruda muitos anos antes (<strong>19</strong>77), em livro que assinava sozinho, percebemos a significativa<br />
semelhança entre as duas abordagens.<br />
Nos livros de Nelson Piletti cujo co-autor é Claudino Piletti (<strong>19</strong>91b e 2000) as imagens<br />
apresentadas para explicar o Golpe de <strong>19</strong>64 são outras. Tal como em Cotrim (cujos livros<br />
analisados são posteriores a esse dos Piletti), o Golpe de <strong>19</strong>64 teria sido um adiamento do golpe<br />
que havia sido planejado em <strong>19</strong>61, o qual intentava impedir a posse de João Goulart após a<br />
renúncia de Jânio Quadros.<br />
Nos livros de Nelson Piletti sem co-autoria, (<strong>19</strong>82, <strong>19</strong>91a, <strong>19</strong>93 e <strong>19</strong>96), as causas<br />
apontadas estariam bem próximas das apontadas nos títulos de co-autoria com José Jobson<br />
Arruda: teriam sido as medidas tomadas por Jango durante seu governo (convocação do<br />
plebiscito, estabelecimento do monopólio estatal sobre a importação de petróleo e seus derivados,<br />
regulamentação das remessas de lucro ao exterior, assinatura de decretos que nacionalizavam<br />
75
efinarias e desapropriavam terras para a realização da reforma agrária), e o apoio de Jango ao<br />
desrespeito à disciplina militar.<br />
Na análise que realizamos acerca do Golpe de <strong>19</strong>64, percebemos que as abordagens<br />
realizadas, muitas vezes, se concentram nas figuras de Jânio Quadros e João Goulart. Assim, um<br />
acontecimento extremamente complexo e rico de atores acaba se fechando, dada sua<br />
personificação.<br />
É interessante observar que, de acordo com as narrativas dos livros didáticos analisados, o<br />
Golpe de <strong>19</strong>64, muitas vezes, é visto como acontecimento fruto das contingências imediatas. De<br />
maneira geral, percebe-se a predominância do tempo curto sobre todas as outras possibilidades de<br />
explicação e compreensão 11 . A interpretação dos livros aponta a inabilidade de João Goulart no<br />
governo e a imprevisibilidade de Jânio Quadros como “origens” do golpe. Há inclusive boa dose<br />
de determinismo. Dado o caráter dos atores, o Golpe era inevitável. As possibilidades perdidas<br />
não são nem mencionadas 12 . A presença de civis e o papel desempenhado pelos militares na<br />
tomada do poder não costuma ser problematizada, sendo, muitas vezes, apenas citadas<br />
rapidamente pelos autores dos livros didáticos.<br />
De algum modo, a pluralidade de explicações, às vezes de um mesmo autor, em obras<br />
diferentes nos mostra também que, na escrita histórica do tempo presente, muitas vezes, há certa<br />
autonomia dos autores dos livros didáticos em relação à produção historiográfica. Nesse sentido,<br />
a reescrita da história é modificada também a partir do projeto editorial das coleções, das<br />
parcerias estabelecidas no ato da escrita da história, da demanda social escolar e das posições<br />
teóricas dos autores, algumas mais flexíveis que outras. Ao que parece, há, ainda, uma importante<br />
“dimensão subjetiva” na escritura do livro didático que passa mais pelas convicções individuais,<br />
11 Para uma análise das possibilidades temporais de interpretação do Golpe de <strong>19</strong>64, ver DELGADO (2004).<br />
12 Para uma análise das possibilidades perdidas no pré-<strong>19</strong>64, ver, dentre outros, FIGUEIREDO (<strong>19</strong>93) e<br />
FIGUEIREDO (2004).<br />
76
ligadas provavelmente à experiência histórica do acontecimento, por parte dos autores e/ou<br />
parceiros.<br />
4. REESCRITA DA HISTÓRIA, LIVROS DIDÁTICOS E MEMÓRIA: EM BUSCA DE UMA<br />
MEMÓRIA JUSTA<br />
Os livros didáticos com os quais trabalhamos nesse texto desempenham, a nosso ver, o<br />
papel de conservação e recriação da memória, ao escreverem e reescreverem continuamente a<br />
história de acontecimentos como a Ditadura Militar. Como produtos culturais e como<br />
instrumentos pedagógicos, os livros didáticos se tornaram guardiões e construtores da memória<br />
(histórica?) e do saber histórico escolar. É através de suas narrativas – que conservam,<br />
realimentam e criam a memória – que os estudantes de história podem aprender algo sobre as<br />
coisas passadas, abraçar as coisas presentes e contemplar as futuras.<br />
Os livros, ao criarem interpretações que serão muito veiculadas na sociedade, tornam-se<br />
também atores históricos que interpretaram e representaram o passado, contribuindo para a<br />
construção de uma “memória do fato”. Essas narrativas, por construírem os significados do<br />
acontecimento no tempo, são também parte do próprio evento. Ou seja, o papel determinante das<br />
ações de Jânio e Jango para o golpe e/ou de uma arte engajada na resistência à Ditadura Militar<br />
passam a ser fatos componentes mesmo desse evento traumático na memória coletiva e individual,<br />
uma vez que figuram nos livros didáticos de história.<br />
Tanto a escrita da história dos livros didáticos quanto um olhar preconceituoso a respeito<br />
desse tipo de impresso, são “filhos” de uma naturalização de um modelo de escrita da história<br />
sobre o passado. Nesse sentido, o desafio para os autores dos livros didáticos é próximo do que se<br />
77
apresenta para os historiadores contemporâneos, a saber: “a narrativa produzida pelo historiador<br />
não pode mais ser vista como desveladora de um real pré-existente e de sua verdade implícita,<br />
mas como parte de um complicado processo de elaboração e significação desse real a ser<br />
partilhado” (GUIMARÃES, 2003: 92).<br />
Percebemos que ainda é importante uma crítica sistemática, sem preconceitos, em relação<br />
à escrita da produção didática. O ensino de história, via livro didático, poderia contribuir para<br />
pensar um acontecimento sem necessariamente estabelecer uma relação de causa e conseqüência,<br />
ou mesmo dar-lhe um sentido unívoco, através da apreensão das complexidades envolvidas. O<br />
estudo da complexa relação entre memória e história, e especificamente entre dever de memória e<br />
trabalho de memória pode, assim, ajudar-nos a pensar novas formas de ação.<br />
Nesse sentido, cabe refletir de forma um pouco mais cuidadosa sobre essas noções que<br />
orientam nossas reflexões. Para Maurice Halbwachs (<strong>19</strong>90), a memória coletiva sempre se<br />
escreve no presente. É a reconstrução da história passada no tempo presente que permite, através<br />
de um jogo de lembranças e esquecimentos, estabelecer uma identidade coletiva, exaltando,<br />
muitas vezes com sensibilidade e emoção, elementos comuns a seus membros. Ela é, assim, uma<br />
reconstrução subjetiva e concreta, ao contrário da reconstrução histórica que visa à universalidade<br />
e à abstração, através do esforço de imparcialidade do historiador. O historiador interrogará o<br />
passado a partir dos problemas que ele quer “resolver”, destacando conflitos, diferenças e<br />
possibilidades. A história-saber, ou disciplina, pode se distinguir da memória por ter como base<br />
certos processos e técnicas para explorar suas fontes e pela existência de um corpo de pares que<br />
julgam o trabalho dos seus respectivos colegas (LE GOFF, <strong>19</strong>96). De qualquer maneira, cabe<br />
perguntar até que ponto essas distinções radicais nos auxiliam a ver a complexidade dos<br />
processos de representação do passado no presente. No limite essas distinções podem levar a<br />
pensar que a história só começa quando a memória termina.<br />
78
O autor destaca que a história oferece esquemas de mediação entre os pólos da memória<br />
individual e coletiva. Ricoeur discorda de Halbwachs pois acredita que não haja somente um<br />
tempo individual e outro coletivo, mas que há um terceiro tempo, um tempo histórico que a que<br />
exige um entrecruzamento da memória individual e da coletiva. Paul Ricoeur ainda coloca em<br />
suspeita a idéia de uma memória que seja histórica, pois para ele a história pode, assim, ampliar,<br />
completar, corrigir, e até mesmo recusar o testemunho da memória sobre o passado, mas não<br />
pode aboli-lo. A operação historiográfica realiza uma dupla redução da experiência viva da<br />
memória e da especulação multimilenar sobre a ordem do tempo. O filósofo destaca que esse<br />
conhecimento é baseado no tripé rastro, documento e pergunta. Nessa direção o historiador e o<br />
professor de história como cidadão e ator da história que se faz, “inclui, em sua motivação de<br />
artesão da história, sua própria relação com o futuro da cidade” (p. 505). Há, pois, um privilégio<br />
da história, através da narrativa, em escutar, criticar, corrigir e desmentir a memória coletiva de<br />
uma dada comunidade. “É sobre o caminho da crítica histórica que a memória reencontra o<br />
sentido da justiça” (p. 650).<br />
Jeanne-Marie Gagnebin na mesma direção afirma que a idéia de dever de memória pode<br />
cair na ineficácia dos bons sentimentos (2006, p. 54). Como um antídoto a autora recupera o<br />
conceito benjaminiano de rememoração, isto é, a memória ativa que transforma o presente. A<br />
fidelidade ao passado não pode ser um fim em si. A preocupação, presente nos livros analisados<br />
em nosso trabalho, com a verdade do passado deve ser acrescida da busca de um presente que<br />
possa ser também verdadeiro. No entanto, a autora destaca que o holocausto não pode ser<br />
esquecido. Acontecimentos traumáticos como o Holocausto e a Ditadura Militar nos impõem<br />
inevitavelmente um dever de memória.<br />
Ricoeur nos adverte, desse modo, que é necessário propor uma política da memória<br />
equilibrada, pois o que se vê hoje é um espetáculo inquietante que nos apresenta de um lado o<br />
79
excesso de memória e por outro lado há um excesso de esquecimento. Como não se tem nada<br />
melhor do que a memória para se assegurar de que alguma coisa ocorreu no passado o filósofo<br />
em questão distingue que a ambição da memória seria a fidelidade, enquanto que a ambição da<br />
história seria a verdade, não havendo entre essas duas ambições uma verdade sem fidelidade e<br />
uma fidelidade sem verdade. Há certas situações que há um maior entrecruzamento entre história<br />
e memória como no caso específico da Arte Engajada e do Golpe de <strong>19</strong>64 representados e<br />
analisados pelos livros didáticos de história.<br />
O autor em questão mostra que há, de fato, certas dificuldades em relação à perspectiva temporal<br />
curta, uma vez que o historiador escreve com a sua memória e a de outros em presença. 13 Há<br />
existência de vivos no momento da exploração dos documentos. Essa história questionaria o<br />
adágio: “em história tratamos quase exclusivamente de mortos de outrora” 14 . Neste sentido, a<br />
história do tempo presente precisa delimitar um fim, para que haja os mortos. Mesmo que o<br />
presente seja entendido como sendo um período flexível no qual há lembranças de vivos, é<br />
necessário um sentido de fim, de uma data de término para se instaurar um corte entre o passado<br />
e o presente, pois, para o filósofo em questão, não existiria história até os dias atuais. Sem esse<br />
corte, não seria possível delimitar o lugar dos mortos, a fim de liberar o lugar dos vivos. Mesmo<br />
com ele, aliás, os lugares ainda podem ser confundidos 15 .<br />
Para o autor de A memória, a história e o esquecimento o distanciamento entre história e<br />
memória se aprofunda na fase explicativa, em que é explorada a questão Por quê? O<br />
conhecimento histórico tenta fazer a articulação entre os eventos, estruturas e conjunturas,<br />
distribuição dos objetos pertinentes da história sobre múltiplos planos econômico, social, político,<br />
cultural, religioso. Afirma Ricoeur que “a história não é somente mais vasta que a memória, mas<br />
13 RICOEUR. Écrire L’Histoire du Temps Present, <strong>19</strong>91, p.35-42.<br />
14 RICOEUR. Le Débat, 2002, p. 59. Ver, também, RICOEUR. La mémoire, l’histoire, l’oublie, 2000, p. 441.<br />
15 RICOEUR. Le Débat, 2002, p. 59-61.<br />
80
também seu tempo é folheado” (RICOEUR, 2000, p.647). Tendo em vista as questões discutas o<br />
filósofo afirma que esta competição não pode ser decidida somente no plano epistemológico. A<br />
problemática do perdão atravessa a memória, a história e o esquecimento como horizonte<br />
escatológico de uma memória feliz. Mas, o autor adverte que a Shoah, por exemplo, é um<br />
obstáculo ao testemunho, à explicação, ao julgamento e ao perdão, fazendo vacilar o<br />
empreendimento historiográfico. Se o testemunho só é compreendido se ele reencontra a<br />
capacidade ordinária de compreensão, como iríamos compreender, explicar, aceitar<br />
acontecimentos horrendos sofridos pela humanidade? Assim, são estes acontecimentos difíceis a<br />
explicar que colocam à prova a nossa capacidade de escuta e de compreensão. Aqui, pois, está em<br />
jogo a memória que impede explicações e representações pelos traumas causados pelos<br />
acontecimentos.<br />
Para que haja algum tipo de reconciliação do presente para com o passado é preciso o<br />
trabalho, o labor, um retoque ou conserto, uma recomposição. O importante é trabalhar, laborar,<br />
elaborar, atuar de maneira dinâmica com a co-laboração. Assim o trabalho de rememoração se<br />
coloca contra a compulsão de repetição. Os livros didáticos analisados, de diversas formas,<br />
contribuem, até mesmo quando distorcem o passado, para esse difícil exercício de rememoração<br />
desse passado terrível e recente da história do Brasil.<br />
A partir das reflexões desse filósofo, compreendemos a memória como a presença do<br />
ausente, como uma ponte essencial de ligação entre o passado e o presente. É por essa razão que<br />
a memória deve ser considerada como matriz da história, pois ela é a guardiã da relação<br />
representativa do presente ao passado 16 . Refletir sobre a memória, tanto individual como coletiva,<br />
é uma forma de contribuir para que ela não reste fossilizada diante da compulsão presentista por<br />
repetição (podendo abrir-se em direção à memória do outro), e nem se perca diante de uma<br />
16 Ibidem.<br />
81
história teleológica 17 . As reflexões de Ricoeur nos lembram da função da dívida ética da história<br />
em relação ao passado. O autor defende a noção de horizonte, inserindo o perdão como uma<br />
utopia que tem uma função libertadora. Portanto, Ricoeur entende o dever e o trabalho de<br />
memória como dívidas das gerações presentes com o passado. Entendemos, assim, que é<br />
fundamental pensar criticamente e conscientemente sobre relação entre o dever e trabalho de<br />
memória no ensino de história a fim de que o mesmo possa ser uma importante fonte de ética de<br />
responsabilidade.<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Pode parecer desnecessário voltar a essa discussão – sobre história e memória, saber<br />
histórico e saber histórico escolar – que ocupa pesquisadores da área de ensino de História há<br />
algum tempo. Entretanto, acreditamos que nossa pesquisa pode trazer quatro conclusões que são<br />
contribuições para o debate.<br />
Primeiro, ela aponta para o fato de que o cuidado com a pesquisa histórica na redação de<br />
textos didáticos – que vem sendo grande, sobretudo em tempos de PNLD – parece diminuir<br />
quando se trata de abordagens didáticas relativas à história do tempo presente. Os livros didáticos<br />
parecem ceder, neste caso, à tentação da memória em detrimento da história.<br />
Segundo, no caso específico da Ditadura Militar, que foi analisado, há também uma<br />
questão que diz respeito ao “acontecimento traumático”. A operação do dever de memória torna-<br />
se, ao que parece, mais incisiva, visto que se pretende fazer justiça àqueles que não teriam<br />
aceitado passivamente o arbítrio. Mas isto dá direção maniqueísta e gera repetição de uma<br />
17 DOSSE. Ricoeur, 2004.<br />
82
memória dos “não-vencidos” nos livros didáticos, o que pode impedir a apreensão da<br />
complexidade do processo histórico.<br />
Terceiro, a confiança na memória de quem escreve os livros combinada ao intuito de<br />
cumprir o dever de memória, pode criar heróis e vilões, bem como ações para eles, que não<br />
correspondem aos fatos realmente ocorridos no passado. A pesquisa histórica sistemática sobre o<br />
tempo presente pode levar a considerar não apenas resistência ou legitimação, mas a dinâmica<br />
dos jogos de aceitação, resistência e dominação implicados na relação Estado/sociedade na<br />
Ditadura Militar.<br />
Finalmente, o excesso do dever de memória nos livros didáticos no que se refere à<br />
Ditadura Militar pode impedir que o ensino de história contribua para a realização de<br />
reconciliação crítica do presente com o passado, o que poderia contribuir para evitar “repetições”<br />
de acontecimentos e processos históricos.<br />
Segundo Ricoeur, tal reconciliação crítica se faz por meio da combinação do dever de<br />
memória com o trabalho de memória. Não se trata, portanto, de apenas fazer justiça ao que se<br />
passou, trazendo à lembrança o que teria sido silenciado, esquecido ou reprimido. Talvez uma das<br />
funções do ensino de história e da historiografia seja exatamente a de “corrigir” a memória e seus<br />
abusos, inclusive problematizando os livros didáticos. Ou seja, nem lembrar Chico Buarque como<br />
um herói de resistência à Ditadura e Jango como o culpado pelo Golpe de <strong>19</strong>64, nem esquecer o<br />
caráter engajado da produção de Chico ou o traço “populista” de Jango. Trata-se, sim, de<br />
caminhar em direção a uma memória justa, que possibilite ao presente ter a justa medida da<br />
complexidade das relações que se construíram no passado 18 .<br />
18 Sobre esse tema, ver ABEL et. alli. (2006) e BAUSSANT (2006).<br />
83
Se a história pode contribuir para o difícil exercício de reconciliação crítica com o<br />
passado, em direção à transformações no presente, o ensino de história desempenha aí um papel<br />
fundamental. Ele pode ser o lugar de compartilhar as experiências diversas – do bom e do ruim,<br />
da ação e da omissão – que permita construir outros presentes a partir da compreensão do<br />
passado. A busca de compreender o passado em sua complexidade deveria superar o excesso de<br />
lembrança/esquecimento, bem como a tentação de atribuir culpa a um ou outro sujeito. Assim,<br />
cremos, o ensino poderia contribuir para a superação de uma história puramente traumática, a fim<br />
de se caminhar em direção a outros horizontes. Não se trata de aceitar e/ou perdoar o inaceitável<br />
e/ou imperdoável, mas sim de que o ensino de história possa contribuir para se refletir sobre<br />
acontecimentos traumáticos de outrora a fim de que nada semelhante possa voltar a ocorrer. A<br />
esse respeito é impossível não recordar da afirmação de Adorno que uma das exigências da<br />
educação contemporânea é a exigência que Auschwitz não se repita e nem nada semelhante (Ver,<br />
Gagnebin, 2006). No caso brasileiro, poderíamos afirmar o mesmo a respeito da Ditadura Militar<br />
(<strong>19</strong>64-<strong>19</strong>85). Afinal, “a história demarca os limites para um futuro possível e distinto, sem que<br />
com isso possa renunciar às condições estruturais associadas a uma possível repetição dos<br />
eventos” (Koselleck, 2006, p. 145).<br />
A combinação de dever e trabalho de memória no ensino de história pode ser um<br />
instrumento de “reconciliação justa” com o passado, a fim de iluminar o presente e o futuro.<br />
Debater sobre essas questões poderia, assim, a nosso ver, contribuir para que as promessas não<br />
84
cumpridas no passado possam desabrochar, a partir da ação e da esperança, em nosso próprio<br />
tempo.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Fontes<br />
ALENCAR, Álvaro Duarte de. História do Brasil: Evolução econômica, política e social. 5ª ed.<br />
São Paulo: Saraiva. <strong>19</strong>83.<br />
______. História do Brasil: Evolução econômica, política e social. 10ª ed. São Paulo: Saraiva.<br />
<strong>19</strong>85.<br />
ALENCAR, Francisco; CARPI, Lucia; RIBEIRO, Marcus Venicio T. História da Sociedade<br />
Brasileira. Rio de Janeiro: Ao livro Técnico. <strong>19</strong>85.<br />
ALVES, Kátia Corrêa Peixoto; BELISÁRIO, Regina Célia de Moura Gomide. História. Ensino<br />
Fundamental – Volume 4. 2ª ed. Belo Horizonte: Vigília. <strong>19</strong>90.<br />
______. História. Ensino Fundamental – Volume 4. Nova edição ampliada. Belo Horizonte:<br />
Vigília. <strong>19</strong>91.<br />
______. História: Os Rumos da Humanidade. 8ª série. Belo Horizonte: Vigília. <strong>19</strong>94.<br />
85
______. Nas Trilhas da História. Ensino Fundamental. Belo Horizonte: Dimensão. vol.4. <strong>19</strong>99.<br />
BERUTTI, Flávio. História: Tempo e Espaço. 8ª série. Belo Horizonte: Formato Editorial. 2002.<br />
CAMPOS, Raymundo. História do Brasil. Ensino Médio. São Paulo: Atual. <strong>19</strong>83.<br />
______. História do Brasil. Ensino Fundamental – volume 2. São Paulo: Atual. <strong>19</strong>91.<br />
CASTRO, Julierme de Abreu e.. História do Brasil: para estudos sociais. 6ª série. São Paulo:<br />
IBEP. <strong>19</strong>81<br />
COSTA, Luís César Amad; MELLO Leonel Itausiu A. História do Brasil. 2ª ed. São Paulo.<br />
Editora Scipione, Ensino Médio. <strong>19</strong>91.<br />
______. História do Brasil. São Paulo: Scipione. Ensino Médio. <strong>19</strong>99.<br />
COTRIM, Gilberto. História e Consciência do Brasil. Ensino Médio. 2ª ed. São Paulo: Saraiva.<br />
<strong>19</strong>95.<br />
______. História e reflexão. Ensino Fundamental – Volume 4. São Paulo: Saraiva. <strong>19</strong>96.<br />
______. História Global: Brasil e Geral. Ensino Médio – Volume Único. São Paulo: Saraiva.<br />
<strong>19</strong>97.<br />
86
______. História Global: Brasil e Geral. Ensino Médio – Volume Único. 2ª ed. São Paulo:<br />
Saraiva. <strong>19</strong>98.<br />
______. História Global: Brasil e Geral. Ensino Médio – Volume Único. 5ª ed. São Paulo:<br />
Saraiva. <strong>19</strong>99.<br />
______. Saber e Fazer História: História Geral e do Brasil. 8ª série. São Paulo: Saraiva. 2000.<br />
______. História: Brasil e Geral. Ensino Médio – Volume Único. São Paulo: Saraiva. 2002.<br />
______. Saber e Fazer História: História Geral e do Brasil. Mundo Contemporâneo e Brasil<br />
República. 8ª série. 3ª ed. São Paulo: Saraiva. 2004.<br />
DARÓS, Vital. Lições de História do Brasil: Império e Republica. 6ª série São Paulo: FTD.<br />
<strong>19</strong>81.<br />
DREGUER, Ricardo; TOLEDO, ELIETE. História: Cotidiano e Mentalidade. Da hegemonia<br />
burguesa à era das incertezas: séculos XIX e XX. 2ª ed. São Paulo: Atual. 8ª série. Ensino<br />
Fundamental. 2000.<br />
FARIA, Ricardo de Moura; MARQUES, Adhemar Martins. Síntese do Brasil II Belo Horizonte:<br />
Lê. <strong>19</strong>81.<br />
FERREIRA, José Roberto Martins. História. São Paulo: FTD. s/d.<br />
______. História. São Paulo: FTD. 8ª série. Livro do Professor. <strong>19</strong>90.<br />
87
______. História. São Paulo: FTD. <strong>19</strong>97.<br />
FERREIRA, Olavo Leonel. História do Brasil. 17ª ed. São Paulo: Ática. <strong>19</strong>95.<br />
FILHO, Milton Benedicto Barbosa; STOCKLER, Maria Luiza Santiago. História do Brasil do<br />
Império à Republica. 7ª ed. São Paulo: Scipione. <strong>19</strong>93.<br />
GOMES, Paulo Miranda; MOURA, Nelson de; GONZÁLEZ, Maide Inah. História Geral da<br />
Civilização Brasileira. vol. 02. Belo Horizonte: Editora Lê. s/d .<br />
HERMIDA, Borges. História do Brasil. 6ª série São Paulo: Cia Editora Nacional. s/d.<br />
KOSHIBA, Luiz. História do Brasil. Ensino médio. 6ª ed. São Paulo: Atual. <strong>19</strong>93.<br />
MARANHÃO, Ricardo; ANTUNES, Maria Fernanda. Trabalho e Civilização: Uma História<br />
Global. O Mundo Contemporâneo (do século XIX aos dias atuais). Volume 4. São Paulo: Editora<br />
Moderna. Ensino Fundamental. <strong>19</strong>99.<br />
MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História: Os Caminhos do Homem.<br />
Belo Horizonte: Editora Lê. V. 4, 1º grau. <strong>19</strong>91.<br />
______. História: Os Caminhos do Homem. Belo Horizonte: Editora Lê. V. 4, 1º grau. <strong>19</strong>93.<br />
MOCELLIN, Renato. Brasil: para compreender a História. Curitiba: Nova Didática. 2004.<br />
88
MONTELLATO, Andrea; CABRINI, Conceição; CATELLI JÚNIOR, Roberto. História<br />
Temática. O mundo dos cidadãos. 8ª série. São Paulo: Scipione. 2000.<br />
MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História das Cavernas ao Terceiro<br />
Milênio. São Paulo: Editora Moderna. Ensino Médio. <strong>19</strong>97.<br />
NADAI, Elza; NEVES, Joana. Da Colônia à Republica. 7ª ed. São Paulo: Editora Saraiva. <strong>19</strong>85.<br />
______. História do Brasil 2: Brasil Independente. São Paulo: Saraiva. <strong>19</strong>85.<br />
______. História do Brasil: da Colônia a Republica. 9ª ed. São Paulo: Saraiva. <strong>19</strong>86.<br />
______. História do Brasil. 18ª ed. 2° grau. São Paulo: Editora Saraiva. <strong>19</strong>96.<br />
ORDONEZ, Marlene. História do Brasil. 6ª série. São Paulo: IBEP. <strong>19</strong>75.<br />
PILETTI, Nelson. História do Brasil. Ensino Médio e vestibulares. São Paulo: Ática. <strong>19</strong>82.<br />
______. História e Vida: Brasil da independência aos dias atuais. 2ª ed. São Paulo. Editora<br />
Ática, vol.2. <strong>19</strong>90.<br />
______. História do Brasil: Da Pré-História do Brasil aos Dias Atuais. 13ª ed. São Paulo:<br />
Ática. <strong>19</strong>91.<br />
______. História do Brasil: Da Pré-História do Brasil aos Dias Atuais. 15ª ed. São Paulo: Ática.<br />
<strong>19</strong>93.<br />
89
______. História do Brasil: Da Pré-História do Brasil aos Dias Atuais. Ensino Médio. 18ª ed.<br />
São Paulo: Ática. <strong>19</strong>96.<br />
PILETTI, Nelson; ARRUDA, José Jobson de A.. Toda a História: Historia Geral e Historia do<br />
Brasil. 3ª ed. Ensino Médio. São Paulo: Ática. <strong>19</strong>95.<br />
______. Toda a História: Historia Geral e Historia do Brasil. 7ª ed. Ensino Médio. São Paulo:<br />
Ática. <strong>19</strong>97.<br />
PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. História e Vida. 8ª série. 2ª ed. São Paulo: Ática. <strong>19</strong>91.<br />
______. História e Vida. 8ª série. 2ª ed. São Paulo: Ática. <strong>19</strong>97.<br />
PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. História e Vida. 8ª série. 3ª ed. São Paulo: Ática. 2000.<br />
______. História e Vida Integrada. 8ª série. São Paulo: Ática. 2002.<br />
RAMOS, Luciano. História do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 6ª série. s/d.<br />
REZENDE, Antonio Paulo; DIDIER, Maria Thereza. Rumos da História: Nossos Tempos. O<br />
Brasil e o Mundo Contemporâneo. Volume 3. São Paulo: Atual. 2° grau. <strong>19</strong>96.<br />
RIBEIRO, Vanise; VALADARES, Virgínia Trindade; MARTINS, Sebastião. História: Assim<br />
Caminha a Humanidade. 8ª série. Belo Horizonte: Editora do Brasil. <strong>19</strong>93.<br />
RIBEIRO, Vanise. Brasil: Encontros com a história. São Paulo: Editora Brasil. vol. 4. <strong>19</strong>94.<br />
90
RIBEIRO, Vanise; ANASTASIA, Carla. Brasil: Encontros com a História. Ensino Fundamental.<br />
São Paulo: Editora do Brasil. vol. 4. <strong>19</strong>96.<br />
______. Brasil: Encontros com a História. Ensino Fundamental. São Paulo: Editora do Brasil,<br />
vol. 4. <strong>19</strong>99.<br />
RIBEIRO, Vanise; TRINDADE, Virginia; MARTINS, Sebastião. História: Assim Caminha a<br />
Humanidade. São Paulo: Editora do Brasil. vol.4. <strong>19</strong>99.<br />
RODRIGUE, Joelza Ester. História em Documento: Imagem e Texto. 2º edição. São Paulo:<br />
FTD. 8ª série. Manual do Professor. 2000.<br />
______. História em Documento: Imagem e Texto. 2º edição. São Paulo: FTD. 8ª série. Manual<br />
do Professor. 2002.<br />
SANTOS, Maria Januaria Vilela. História do Brasil. 6ª série. 16 ed. São Paulo: Ática. <strong>19</strong>84.<br />
SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica do Brasil. 2º grau. 3º ed. São Paulo. Nova Geração.<br />
<strong>19</strong>94.<br />
______. História Crítica do Brasil. 2º grau. São Paulo: Nova Geração. <strong>19</strong>98.<br />
TEIXEIRA, Francisco M.P. História do Brasil. 6ª série São Paulo: Editora Ática. <strong>19</strong>80.<br />
Livros, capítulos, artigos<br />
91
ABEL O., CASTELLI-GATTINARA E., LORIGA S. et ULLERN-WEITE I. (orgs.). La juste<br />
mémoire, Lectures autour de Paul Ricœur. Genebra: Labor et Fides. 2006.<br />
BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Textos, Impressões e Livros Didáticos. In: CAMPELLO,<br />
B. S.; CALDEIRA, P. da T. & MACEDO, V. A. A.. Formas e Expressões do Conhecimento:<br />
introdução às fontes de informação. Belo Horizonte: Escola de Biblioteconomia da UFMG. <strong>19</strong>98.<br />
BAUSSANT, Michèle (org.). Du vrai au juste. La mémoire, l'histoire et l'oubli. Québec, Presses<br />
de l’Université Laval. 2006.<br />
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São<br />
Paulo: Cortez. 2004.<br />
______. Identidade nacional e ensino de história do Brasil. In: KARNAL, Leandro (org.). História<br />
na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto. 2003.<br />
______. O livro didático não é mais aquele. Nova História. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca<br />
Nacional, dez. 2003.<br />
______. Práticas de Leitura em livros didáticos. Revista da Faculdade de Educação, São Paulo,<br />
22(1): 89-110, jan./jun. <strong>19</strong>96.<br />
BOSI, Alfredo. O Tempo e os tempos. In: NOVAES, Adauto (org.). Tempo e História. São<br />
Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal da Cultura. 2006.<br />
CARRETERO, Mario; ROSA, Alberto; GONZÁLEZ, Maria Fernanda et. alli. Ensino da<br />
história e memória coletiva. Porto Alegre: ArtMed. 2007.<br />
CERTEAU, Michel. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária. <strong>19</strong>82.<br />
92
______. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes. <strong>19</strong>94.<br />
CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Editora Estação Liberdade. <strong>19</strong>96.<br />
CHAUVEAU, A.; TÉTARD, P. H. (orgs.). Questões sobre a história do presente. São Paulo:<br />
EDUSC. <strong>19</strong>99.<br />
CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa,<br />
Teoria e Educação, Porto Alegre, nº 2. <strong>19</strong>90.<br />
CITRON, Suzanne. Ensinar história hoje: a memória perdida e reencontrada. Lisboa: Livros<br />
Horizontes. <strong>19</strong>90.<br />
COSTA, Ângela Maria Soares da. Prática Pedagógica: o uso do livro didático no ensino de<br />
história. In: ENCONTROS E PERSPECTIVAS DO ENSINO DE HISTÓRIA, 3.,<strong>19</strong>99, Curitiba.<br />
Curitiba: Aos Quatro Ventos. <strong>19</strong>99.<br />
DELACROIX, Christian; DOSSE, François; GARCIA, Patrick. Les courants historiques en<br />
France. Paris: A. Colin. <strong>19</strong>99.<br />
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. <strong>19</strong>64: temporalidade e interpretações. In: REIS, Daniel<br />
Aarão Reis, RIDENTE, Marcelo e SÁ MOTTA, Rodrigo Patto. O golpe e a ditadura militar: 40<br />
anos depois (<strong>19</strong>64-2004). São Paulo: Edusc. 2004.<br />
DOSSE, François. História e Ciências Sociais. São Paulo: EDUSC. 2004.<br />
93
______. O Império dos Sentidos: a humanização das Ciências Humanas. São Paulo: EDUSC.<br />
2003.<br />
DUTRA, Eliana de Freitas; CAPELATO, M. H. Representação Política. O reconhecimento de<br />
um conceito na historiografia brasileira. In: Ciro Flamarion; Jurandir Mallerba. (Org.). O<br />
Conceito de Representação – Perspectivas Interdisciplinares. Campinas: Papirus. 2000.<br />
FERREIRA, M. M. História do Tempo Presente: Desafios. Cultura Vozes, Petrópolis, v. 3, p.<br />
111-124. 2000.<br />
FICO, Carlos.. Versões e controvérsias sobre <strong>19</strong>64 e a ditadura militar. Revista Brasileira de<br />
História. São Paulo, vol.24, n. 47. Disponível em: http://www.scielo.br. Acessado em:<br />
11/10/2005. 2004<br />
FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Democracia ou Reformas? Alternativas democráticas à<br />
crise política: <strong>19</strong>61-<strong>19</strong>64. São Paulo: Paz e Terra. <strong>19</strong>93.<br />
______. Estruturas e escolhas: era o golpe de <strong>19</strong>64 inevitável? In: <strong>19</strong>64-2004: 40 anos do golpe.<br />
Ditadura Militar e Resistência no Brasil. Rio de Janeiro: 7 letras. 2004.<br />
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Lembrar, Escrever, Esquecer. São Paulo: Ed. 34. 2006.<br />
GASPARELLO, Arlete Medeiros. Construtores de identidades: a pedagogia da nação nos<br />
livros didáticos da escola secundária brasileira. São Paulo: Iglu. 2004.<br />
GUIMARÃES, Manuel L. L. S. Memória, história e historiografia. In: BITTENCOURT, José<br />
Neves; BENCHETRIT, Sara Fassa; TOSTES, Vera Lúcia Bottrel (Orgs.). História<br />
representada: o dilema dos museus. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional. 2003.<br />
94
GUIMARÃES, Manuel L. S. Nação e civilização dos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico<br />
e o Projeto de uma História Nacional. Estudos Históricos. Caminhos da historiografia - nº 1.<br />
<strong>19</strong>88/1<br />
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice. <strong>19</strong>90.<br />
IGLÉSIAS, Francisco. Historiadores do Brasil: capítulos de historiografia brasileira. Rio de<br />
Janeiro: Ed. Nova Fronteira; Belo Horizonte: Ed. UFMG. 2000.<br />
INSTITUT D’HISTOIRE DU TEMPS PRÉSENT (IHTP). Écrire l’histoire du temps présent.<br />
Paris: CNRS. <strong>19</strong>92.<br />
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio<br />
de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio. 2006.<br />
LAJOLO, Marisa. Livro Didático: um (quase) manual de usuário. Em Aberto, Brasília, 16 (69):<br />
3-9, jan./mar. <strong>19</strong>96.<br />
LE GOFF, Jacques. História e Memória. 4ª edição. Campinas: Editora da Unicamp. <strong>19</strong>96.<br />
MIRANDA, Sonia Regina; LUCA, Tânia Regina de. O livro didático de história hoje: um<br />
panorama a partir do PNLD. Revista Brasileira de História. São Paulo, vol. 24, nº. 48. 2004.<br />
MUNAKATA, Kazumi. Histórias que os livros didáticos contam, depois que acabou a ditadura<br />
no Brasil. In: FREITAS, Marcos Cezar (org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. 5ª<br />
edição. São Paulo: Contexto. 2003.<br />
MUNAKATA, Kazumi.. Livro didático: produção e leituras. In: Abreu, Márcia. (Org.). Leitura,<br />
história e história da leitura. 1 ed. Campinas: Mercado de Letras, v. 1. 2000<br />
95
NAPOLITANO, Marcos. A arte engajada e seus públicos. Estudos Históricos, 28, FGV, Rio de<br />
Janeiro. 2001.<br />
NAPOLITANO, Marcos. História contremporânea: pensando a estranha história sem fim. In:<br />
KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo:<br />
Contexto. 2003.<br />
NAPOLITANO, Marcos. “Seguindo a canção”; engajamento político e indústria cultural na<br />
MPB (<strong>19</strong>59-<strong>19</strong>69). São Paulo: Annablume/Fapesp. 2001.<br />
NOIRIEL, Gérard. Qu’est-ce que l’histoire contemporaine?. Paris: Hachette. <strong>19</strong>98.<br />
POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.<br />
2, n. 3. (http. //www.cpdoc.fgv/revista/asp/dsp_edicao.asp?cd_edi=15) <strong>19</strong>89.<br />
PROST, Antoine. Douze leçons sur l'histoire. Paris: Le Seuil. <strong>19</strong>97.<br />
REVEL, Jacques. Microanálise e construção do social. In: ______ (org.). Jogos de escalas. A<br />
experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Editora FGV. <strong>19</strong>98.<br />
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Ed. UNICAMP. 2007.<br />
______. Remarques d’un philosophe. Écrire L’Histoire du Temps Present. Paris: Seuil. <strong>19</strong>91.<br />
______. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil. 2000.<br />
96
______. Memoire: approches historiennes, approche philosophique. ILe Débat. Paris: Galimard.<br />
2002.<br />
______. O passado tinha um futuro. In: MORIN, Edgar. A Religação dos Saberes: o desafio do<br />
século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2005.<br />
RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do PCP à era da TV.<br />
Rio de Janeiro: Record. 2000.<br />
SEFFNER, Fernando. Teoria, metodologia e ensino de História. In: GUAZZELLI, Cesar<br />
Augusto Barcellos et. al. Questões da teoria e metodologia da história. Porto Alegre: Ed.<br />
Universidade/UFRGS. p. 257-288. 2000.<br />
SILVA, Marcos; FONSECA, Selva Guimarães. Ensinar história no século XXI; em busca do<br />
tempo entendido. Campinas: Papirus. 2007.<br />
SIMAN, L. M. C. Representações e memórias sociais compartilhadas: desafios para os processos<br />
de ensino e aprendizagem da História. Cadernos CEDES, São Paulo, v. 25, n. 67, p. 348-364.<br />
2005.<br />
SOUZA, Miliandre. Do teatro militante à música engajada; a experiência do CPC da UNE<br />
(<strong>19</strong>58-<strong>19</strong>64). São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. (Coleção História do Povo<br />
Brasileiro). 2007.<br />
VESENTINI, Carlos A. A teia do fato: uma proposta de estudo sobre a memória histórica. São<br />
Paulo: HUCITEC/USP. <strong>19</strong>97.<br />
______. Escola e livro didático de História. In: SILVA, Marcos (org.). Repensando a história.<br />
Rio de Janeiro: Marco Zero: ANPUH. <strong>19</strong>84.<br />
97
VILLALTA, Luiz Carlos. O Livro Didático de História no Brasil: perspectivas de abordagem.<br />
Revista Pós-História – Revista do Programa de Pós-graduação em História da Unesp-Assis,<br />
Assis (9): 39-69. 2001.<br />
VILLAÇA, Mariana Martins. Polifonia tropical; experimentalismo e engajamento na música<br />
popular (Brasil e Cuba, <strong>19</strong>67-<strong>19</strong>72). São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP. 2004.<br />
VINCENT, Gérard. Ser comunista? Uma maneira de ser. In: PROST, Antoine; VINCENT,<br />
Gérard (org.). História da Vida Privada; Da Primeira Guerra a nossos dias; vol. 5. São Paulo:<br />
Companhia das Letras. <strong>19</strong>92.<br />
98
A teologia política isidoriana<br />
Sergio Alberto Feldman<br />
Resumo: Este artigo visa analisar a concepção isidoriana do poder. O eixo central do mesmo<br />
são as relações de poder entre a Igreja Católica e a monarquia visigótica, tendo como<br />
temporalidade, o período em que Isidoro de Sevilha, liderou o episcopado hispano-visigótico<br />
e serviu de referência a alguns dos monarcas visigodos. As fontes documentais estão<br />
centradas nas obras do bispo hispalense. A percepção da finalidade da História impregna a<br />
visão de mundo isidoriana: o rei é um servidor de Cristo e recebe um officium. Tem uma<br />
função pública que se destina a ordenar e proteger a sociedade dos fiéis e manter os dogmas e<br />
preceitos da fé, encarnados na Igreja, a única e legítima representante de Cristo. Isidoro<br />
concebe nas suas obras um modelo de príncipe, fazendo uso de alguns monarcas exemplares.<br />
Palavras chave: Isidoro de Sevilha, teologia, reino visigótico, modelo monárquico,<br />
concepção de poder<br />
Isidore of Seville’s political theology<br />
Abstract: The objective of this article is to analyze the Isidorian concept of power. Its central<br />
axis are the power relationships between the Catholic Church and the Visigoth monarchy, and<br />
99
the time line would be the period in which Isidore from Seville, led the visigothic-hispanic<br />
episcopate and was used as reference by some of the Visigoth monarchs . Document sources<br />
are centered in the works of the hispalense bishop. The perception of finality in History is<br />
embedded in the Isidorian view of the world: the king is a server of Christ and receives an<br />
officium. He has a public function and the objective is to put order and protect the society of<br />
the faithful as well as to keep and p[reserve the dogmas and precepts of faith in the Church,<br />
the sole legitimate representative of Christ. Isidore, in his works, conceives a model of prince<br />
using some exemplary monarchs.<br />
Key words: Isidore of Seville, theology, Visigothic kingdom, monarchical model, conception<br />
of power.<br />
Isidoro de Sevilha mantém uma unidade de pensamento através de toda a sua obra.<br />
Um olhar detalhado permite perceber que toda a sua obra tenta fazer uma junção entre o saber<br />
clássico e o pensamento eclesiástico tardo antigo objetivando a elevação de espírito de<br />
clérigos e letrados do reino visigótico. Seus motivos são tanto terrenos como espirituais: a<br />
ignorância era um lugar comum na Hispânia visigótica e sem algum patamar mínimo de<br />
saberes e crenças, a Cristandade não poderia evoluir e se projetar como hegemônica, no<br />
espaço peninsular. Urgia elaborar um projeto educativo para clérigos, ordenar e hierarquizar o<br />
poder espiritual e direcionar e submeter a monarquia aos projetos globais da Cristandade.<br />
O projeto global de sociedade, concebido por Isidoro foi resumido, por Fontaine como<br />
tendo como pilares, quatro tópicos principais: “Pátria Gothorum, rex rectus, civitas Dei<br />
peregrinans, e romanitas”. 1 Sua concepção de monarquia se insere neste projeto global, e<br />
1 FONTAINE, Jacques. Isidoro de Sevilla, padre de la cultura européia. In: La conversion de Roma:<br />
Cristianismo y paganismo. Madrid, <strong>19</strong>90, p. 272. Fortalecer a unidade política, direcionar os reis a serem<br />
protetores da Igreja e obedientes a mesma, restaurar e manter alguns dos resquícios dos saberes clássicos. Isso é<br />
que veremos através da análise de sua obra.<br />
100
dentro do mesmo deve ser compreendida. Política e religião são inseparáveis e existem para<br />
ordenar a sociedade cristã, na busca de seus ideais e de sua finalidade histórica.<br />
Na sua obra procura construir um modelo de rei cristão ideal e de uma monarquia que<br />
cumpra o seu papel na História, ajudando a aproximar a segunda vinda de Cristo. Com Isidoro<br />
a concepção do monarca cristão, desenvolvida a partir de Constantino, se transforma. Os<br />
monarcas do Baixo Império eram concebidos como defensores da fé e da Igreja católica: sua<br />
proteção e seu respeito pela fé cristã são os pilares da relação entre Imperium e Ecclesia.<br />
Reydellet entende que Isidoro inova ao conceber a realeza não mais como o produto<br />
do direito natural, mas como o governo do povo cristão. 2 Traz como fundamento a reflexão<br />
de Gregório Magno e Agostinho, que enfatizam a noção de função e serviço. 3 O momento<br />
histórico propicia a construção de um modelo renovado de monarca: Isidoro compreende esta<br />
situação e almeja definir uma nova concepção de monarca cristão.<br />
A unidade religiosa que se sucedeu ao III CT (589) e a conversão de Recaredo<br />
propiciou novas condições. Após a conversão do rei e da nobreza visigóticos ao catolicismo,<br />
unificando a classe dominante do reino visigodo, e consumando a aproximação dos invasores<br />
com a nobreza hispano-romana católica de origem senatorial, não tarda a se unificar todo o<br />
território, fato consumado com Suintila. 4<br />
Existem bolsões de paganismo, focos de heresia e comunidades judaicas, mas são<br />
minoritários e por vezes estão em regiões periféricas e isoladas. A unidade se direciona de<br />
maneira favorável aos propósitos da Igreja e da Monarquia.<br />
Os reinados de Liuva II, Viterico e Gundemaro serão uma fase de transição. A<br />
ascensão ao trono de Sisebuto renova em Isidoro a expectativa de diálogo com o monarca.<br />
2 REYDELLET, Marc. La royauté dans la litterature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville.<br />
Roma: École Française de Rome, <strong>19</strong>81, p. 554-555. Reydellet afirma que a novidade de Isidoro é que este<br />
concebe: “[...] la royauté non plus comme le produit du droit naturel mais comme le governement du peuple<br />
chrétien en tant que tel”.<br />
3 Id., ibid., loc. cit.. Reydellet sublinha: “L’ accent est mis ainsi sur la notion de fonction et de service”.<br />
4 REYDELLET, Marc. La conception du souverain chez Isidore. In: ISIDORIANA: Estudios sobre Isidoro de<br />
Sevilla en el XIV centenario de su nacimiento. Leon: Centro de Estudios S. Isidoro, <strong>19</strong>61, p. 457.<br />
101
Sua obra literário-religiosa servirá para nós como fonte de reflexão, pois nela se percebem<br />
suas concepções de religião, mas também de política e poder, alias indissociáveis.<br />
análise.<br />
Voltemo-nos neste momento as fontes isidorianas, para captar um ponto inicial de<br />
Na vasta criação literário-religiosa de Isidoro podemos encontrar inúmeras reflexões<br />
sobre a monarquia, que permitiriam uma análise e uma reflexão mais profunda sobre a visão<br />
do Hispalense sobre a função do monarca cristão. Optamos direcionar nosso foco, apenas a<br />
três destas obras, seguindo as sugestões de Marc Reydellet, pois acreditamos que estas obras<br />
nos ofereçam reflexões que julgamos importantes para construção da concepção isidoriana de<br />
monarquia. 5 Seriam as Etimologias, as Sentenças e as Histórias.<br />
Toda a obra de Isidoro reflete a busca de um “porque” à História, no duplo sentido da<br />
universalidade da Divina Providência e do direito público da tradição romana. 6 Convergem<br />
aqui duas tendências diametralmente opostas: o direito romano e o conceito da presença<br />
divina no processo histórico. Trata-se de uma construção ideológica. Esta visão pode ser<br />
percebida na concepção do monarca, de acordo a Isidoro. Voltemos nosso olhar a uma destas<br />
obras.<br />
A primeira obra é a “Las Historias” ou simplesmente História. 7 Trata-se de uma obra<br />
repleta de detalhes interessantes, formando um recorte ideológico 8 da presença dos visigodos<br />
5 Id., ibid., p.457-458. Delineia as fontes sobre a concepção do soberano cristão em Isidoro, citando as<br />
Etimologias, as Sentenças III, e trechos da Historia. Faremos uso destas mesmas fontes mas com uma leitura<br />
própria.<br />
6 GARCIA MORENO, Historia de España visigoda. Madrid: Cátedra, <strong>19</strong>89, p. 111. Diz que os pensadores<br />
hispano-visigodos estavam preocupados em encontrar, “un sentido a la historia contemporánea en el doble<br />
plano de la universalidad de la Divina providencia y del derecho publico de la tradición romana […].bajo el<br />
ropaje ideológico del dominio […] de la gens Gothorum, de la nación goda”.(Remontamos o texto)<br />
7 ISIDORO DE SEVILHA. De Origine Gothorum, Historia Wandalorum, Historia Sueborum. In:Cristóbal<br />
Rodríguez Alonso (ed.) Las Historias de los godos, vândalos y suevos. León: Centro de Estudios S. Isidoro,<br />
<strong>19</strong>75. Ao citar esta obra nas referências utilizaremos o nome do autor e a denominação: Las Historias. No corpo<br />
do texto usaremos o nome História.<br />
8 TEILLET, Suzanne. Des goths à la nation gothique: les origines de l’idée de nation en Occident du V e au VII e<br />
siècle. Paris: Les Belles Letres, <strong>19</strong>84. Autora ressalta, no cap. XIII, que no prólogo da sua obra, Isidoro traça o<br />
encontro da gloriosa gens Gothorum, com a Espanha, que é descrita como uma mãe fecunda. Tendo desposado<br />
antes os romanos, agora desposa a gens Gothorum, numa semelhança nada casual com a cidade de Jerusalém,<br />
viúva e abandonada que encontra um novo e vigoroso esposo: o seu Salvador e Redentor. (p. 498)<br />
102
na história do mundo antigo. Isidoro não é um historiador e seu recorte visa transmitir uma<br />
mensagem: todo gesto, todos os exemplos e cada uma das atitudes tomadas pelos personagens<br />
têm a sua razão de ter sido selecionada e descrita na obra. É uma seleção minuciosa de<br />
exemplos do que um monarca deve, e do que um monarca não deve fazer. Tudo em<br />
linguagem alegórica, repleto de “typos” ou figuras simbólicas que se assemelha a uma<br />
interpretação do texto bíblico, por um clérigo. Não é a obra de um historiador, mas sim de<br />
clérigo letrado, conhecedor da sabedoria clássica e que pretende usa-la como o veículo de<br />
uma mensagem cristã. Seus personagens são revestidos das qualidades cristãs ou dos defeitos<br />
que a Patrística, e Isidoro em específico quer ressaltar.<br />
Isidoro traz assim para sua História, um estilo alegórico, de pequenos e simbólicos<br />
textos de suas obras exegéticas, todas elas montadas e ordenadas para um público semi-<br />
letrado, pouco culto e que necessita de uma formação básica para pregar, evangelizar e<br />
expandir as crenças básicas da Cristandade, através de breves textos e modelos morais<br />
elevados. Seria uma seqüência de resumos das vidas de personagens (mini-biografias) em que<br />
se tratava de extrair modelos de vida, ações valores que se queria incutir. 9<br />
A Historia isidoriana inicia-se com a “De laude Spaniae”, um elogio e exaltação da<br />
Espanha, aonde se constrói uma identidade territorial do espaço ibérico. 10 Dentro da visão<br />
isidoriana, a Hispânia, seria uma formosa mãe, fecunda, bela e produtiva sendo por todos<br />
desejada. 11 Tomada pelos romanos, mas viúva dos mesmos é desposada pelos visigodos. Um<br />
simbólico e romântico encontro? Trata-se de uma alegoria que descreve o encontro do povo,<br />
da terra e da unidade político-religiosa almejada pelo autor. Desta maneira Isidoro traça as<br />
raízes deste encontro singular: a Espanha que espera por seu amado, o povo godo. A<br />
9 FELDMAN, Sergio Alberto. Exegese e alegoria: a concepção de mundo isidoriana através do texto bíblico.<br />
Revista de História: Dimensões. Vitória (Espírito Santo): v. 17, p. 133 – 149, 2005.<br />
10 ISIDORO DE SEVILHA. Las Historias, op. cit. , p. 168-170.<br />
11 Id., ibid., loc. cit., aonde afirma ser a Espanha mãe de príncipes e povos (principum gentiumque mater<br />
Spania); belíssima (pulcherrima); rainha das províncias (regina provinciarum); ornamento do mundo<br />
(ornamentum orbis); repleta de qualidades e belezas, que foi tomada e amada (rapit e amavit), pelo glorioso<br />
povo (gens) dos godos.<br />
103
construção não é traçada de maneira simples e aleatória: Isidoro busca no longínquo passado<br />
as glórias e as nobres origens da “Gens gothorum”. Volta-se a alegoria bíblica e trata de<br />
enobrecer as origens dos visigodos. Encontra em Magog, filho de Jafet, o ancestral bíblico<br />
para o “povo eleito”. 12<br />
A construção segue por tortuosos caminhos, geralmente sem fundamento em crônicas<br />
e nem em autores clássicos: os godos aparecem na guerra civil entre César e Pompeu, mas do<br />
lado do ultimo fortalecendo a legalidade e a “Respublica”; conflitam com os imperadores do<br />
Baixo Império, entre os quais Constantino. 13<br />
Nem a batalha de Andrinopla ou Adrianópolis é descrita como um desastre romano<br />
(ótica romano-centrista), mas sim uma justificada reação dos godos à violência dos imperiais<br />
e uma vitória dos bons e justos: a descrição da morte do imperador Valente ferido por uma<br />
flecha, sendo em seguida queimado, é um exemplo disto. 14 Na verdade trata-se de uma nova<br />
alegoria isidoriana: na sua versão os primeiros godos que se converteram ao cristianismo se<br />
tornaram católicos, mas Valente enviara um missionário (Ulfilas ou Gulfilas), clérigo ariano<br />
que viria a convertê-los: estes godos arianos teriam ardido no “fogo eterno” por sua opção<br />
ariana. A culpa disto seria de Valente que teria sido punido da mesma maneira, ardendo em<br />
chamas. 15<br />
12 Id., ibid., c. 1, p. 173. Afirma: “Gothorum antiquissimam esse gente, quorum originem quidam de magog<br />
Iafeth filio suspicantur a similitudine ultimae syllabae”. Como se pode perceber esta genealogia é traçada apenas<br />
com o fundamento da semelhança entre as três últimas letras de Magog, com godos. Uma prova nada<br />
convincente, mas uma argumentação que dá um efeito de nobreza e estirpe aos godos.<br />
13 Id., ibid., c. 3-5, p. 175-179. TEILLET, op. cit. , p. 482, diz que a presença de godos na batalha de Farsalia,<br />
entre César e Pompeu é um anacronismo, que pode ser uma invenção de Isidoro. Diz: “[...] mention<br />
anachronique qui a toute chance d’être une adaptation sinon une invention d’Isidore”. Isidoro não fundamenta e<br />
nem cita suas fontes. Constrói sua obra em busca de seus objetivos: exaltar a nobreza do “noivo” godo, diante de<br />
sua “noiva” Espanha.<br />
14 Id., ibid., c. 9, p. 187. Diz que o Imperador mereceu ser queimado vivo, pois havia entregue ao fogo eterno<br />
almas tão belas. O texto diz: “[...] ut mérito ipse ab eis vivens cremaretur incêndio qui tam pulchras animas<br />
ignibus aeternis tradiderat” E qual seria o sentido desta cruel afirmação? Valente é considerado o responsável<br />
pelo envio de Ulfilas (Gulfilas), bispo ariano que convertera os godos ao cristianismo ariano, execrado por<br />
Isidoro.<br />
15 Id., ibid., loc. cit. V. também TEILLET, op. cit., p. 483. Autora diz que este “clichê” foi passado por Jordanes,<br />
à Orósio e a Isidoro. Diz: “[...] ce cliché était également empruté a Orose por Jordanès”.<br />
104
Essa leitura permeia toda a obra: uma construção de situações e análises, em que causa<br />
e efeito, pecado e punição se sucedem. A postura e o valor dos godos são usualmente<br />
louvados: Isidoro exalta sua coragem, seu senso de liberdade e sua aptidão para governar. 16<br />
As suas razões são ideológicas e muito perceptíveis através do texto. Sua revisão da imagem<br />
dos visigodos é clara e intencional. Seu papel da queda do império ocidental é indiscutível e<br />
fundamental. A imagem de barbárie em oposição a romanitas e a civilitas precisava ser<br />
resgatada. Ele executa esta tarefa com afinco e dedicação.<br />
Um exemplo é a descrição da entrada dos godos em Roma com Alarico (410): os<br />
godos protegem e não invadem os lugares sagrados, ou seja, as Igrejas católicas. Não ferem e<br />
nem matam e nem escravizam os que se refugiaram nas Igrejas e tampouco os que clamaram<br />
em nome de Cristo e dos santos. 17 A queda de Roma se revelou um trauma criativo para<br />
Agostinho, vir a escrever sua magna obra “A Cidade de Deus”. Isidoro reinventa o papel dos<br />
visigodos e os redime desta mácula. Trata-se de um povo digno, valoroso e cristão.<br />
Na seqüência são descritos os reinados de reis visigodos. Uma das grandes ironias que<br />
o cronista franco Gregório, bispo de Tours, fazia aos visigodos, era que eram regicidas. 18 Um<br />
hábito, nada elogioso e que não servia para os propósitos de Isidoro. Assim sendo, a narrativa<br />
de Isidoro, muda o enfoque e cria outra ênfase e uma nova leitura dos fatos.<br />
Os reis godos arianos são descritos, numa seqüência quase contínua como tendo sido<br />
assassinados por algum dos seus seguidores: Alarico e Ataulfo não deixam filhos para sucedê-<br />
los, e isto é associado a profecia de Daniel (c.18); Sigerico é morto pelos seus seguidores (c.<br />
16 FONTAINE, Jacques. Conversion et culture chez les wisigoths d’Espagne. In: FONTAINE, Jacques. Culture<br />
et spiritualité en Espagne du IVe au VIIe siécle. Londres: Variorum Reprints, <strong>19</strong>86, p. 117.O autor afirma:<br />
“La trame idéologique du livre est claire: des grands thémes gothiques (la vaillance des Goths, leur sens de la<br />
liberté, leur aptitude à gouverner”. Isso não exclui os componentes romanos da cultura e das idéias. Isso pode<br />
ser visto na Laus Spaniae.<br />
17 ISIDORO DE SEVILHA. Las Historias, op. cit., c. 15, p. <strong>19</strong>5. Afirma que não tocaram os que se refugiaram<br />
nos lugares santos: “[...] et mors et captivitas indultas est qui ad sanctorum limina confugerunt”. E também<br />
pouparam aos que pronunciaram o nome de Cristo e dos santos, mesmo se fora dos locais sagrados:”[...] et<br />
nomen Christi et sanctorum nominaverunt”.<br />
18 ORLANDIS, J. Historia de España: la España visigótica. Madrid: Gredos, <strong>19</strong>77., p. 90. Cita o turonense:<br />
“[…] la detestable costumbre de dar muerte a los reyes que no les agradaban y poner en su lugar al que mejor<br />
les parecería […]”.<br />
105
20); Turismundo é assassinado por seus irmãos (c.30); Teuderico é assassinado por seu irmão<br />
Eurico (c.33); alguns reis morrem de morte natural, tais como Valia e Eurico. Qual é a<br />
importância destas descrições?<br />
Em quase todas há uma moral implícita: morrem ou são punidos pelo que fizeram.<br />
Suas atitudes explicam a morte violenta e a sua punição: nada ocorre por acaso ou por<br />
motivações dinásticas ou conflito entre a monarquia e grupos nobiliárquicos. Explicações<br />
metafísicas são um de seus eixos interpretativos para explicar os conflitos de poder. A<br />
presença de Deus e dos demônios é constante na Historia, durante este trecho, que antecede a<br />
conversão de Recaredo.<br />
Um exemplo é a descrição da batalha entre Átila rei dos hunos e uma coalizão<br />
romano-germânica: a descrição de prodígios no céu e na terra (terremotos, eclipses, cometa,<br />
coloração vermelha como sangue na parte norte do céu): tudo isso Isidoro interpreta como<br />
sendo obra divina para simbolizar a carnificina da batalha. <strong>19</strong><br />
A obra de Isidoro (Historia) difere da obra do Biclarense, 20 que tem o Império como<br />
centro e referência cronológica: o reino visigodo é o foco central e só a historia do encontro<br />
da Hispânia e dos visigodos é que interessa. Não se pode dizer que há um rompimento com a<br />
cultura clássica; Isidoro afirma implicitamente que a cultura e a civilização romanas foram<br />
assumidas e continuadas por um povo germânico, romanizado e portador de uma nobreza sem<br />
igual. 21 Os visigodos seriam superiores aos romanos e ocupariam seu vazio. Isidoro não<br />
acredita em uma ruptura absoluta, com as invasões: entendendo o Império como um “meio<br />
<strong>19</strong> Id., ibid., c. 26-27, p. 214-215. Afirma que o desastre e derrota dos hunos fora castigo celeste (caelestibus<br />
plagis). Uma clara intervenção de Deus, na História, nas batalhas e nas ações humanas. Os reis são claramente<br />
punidos por seus atos e gestos.<br />
20 JOÃO DE BICLARO. Crônica. Madrid: C S I C, <strong>19</strong>60. Trata-se de um clérigo e cronista que descreve o reino<br />
visigótico no período anterior ao III Concílio de Toledo (589), mas não extrapola o reinado de Recaredo. Tem<br />
uma ótica romano-centrista e serviu de fonte e referencia a Isidoro.<br />
21 REYDELLET, La conception, op. cit.,p. 463-464.<br />
106
cultural”, compreende que havia uma continuidade. 22 O uso da expressão provincia na laus<br />
Spaniae, reflete esta visão. 23<br />
A Historia é um livro claramente ideológico que retrata as pessoas e os fatos de<br />
acordo à visão isidoriana de mundo. Autores como Fontaine e Reydellet reforçam esta opinião<br />
em suas obras. 24 Uma das questões levantadas por ambos é a da biografia real. Reydellet<br />
entende que a galeria de reis apresentada, de maneira simbólica é retratada através de um<br />
balancete, no qual o bem é recompensado e o mal punido. A partir dos últimos reis arianos e<br />
dos reis católicos com os quais Isidoro conviveu, os fatos são acompanhados pelo retrato<br />
moral dos príncipes. 25 A nossa percepção das fontes nos leva a crer que se trata de uma<br />
ideologia, retratada através de recursos aparentemente literários e historiográficos. 26<br />
A biografia real não era uma novidade na época de Isidoro: Sidonio Apolinário<br />
escrevera sobre Teodorico II; Cassiodoro sobre Teodorico o Grande; e Gregório de Tours<br />
sobre Clóvis e a dinastia merovingia. O interesse variava, mas sempre se oferecia um modelo<br />
e um exemplo. A maldade de certos reis se associava a sua morte de maneira cruel. 27<br />
Esta semelhança com certas passagens da Bíblia, pode ser entendida. Na visão da<br />
Igreja a Bíblia oferecia resposta para fatos passados, presentes e futuros Sendo a maioria dos<br />
biógrafos de origem clerical usam de seu conhecimento exegético para escrever suas<br />
22 Id., ibid. p. 464. Reydellet afirma: “Dans la mesure où pour lui l’Empire n’est qu’ un mileu culturel, l’Empire<br />
dure encore”. Essa visão tem certos questionamentos, mas pode ser pelo menos a intenção de Isidoro, ao realizar<br />
sua imensa obra pedagógica, de tentar educar clérigos e a alta nobreza.<br />
23 ISIDORO, Las Historias, op. cit., De laude Spaniae, p. 168-169. Descreve a Hispania como a “reginae<br />
provinciarum” ou seja, a rainha de todas as províncias. Uma mistura de pertinência e de separação: continuidade<br />
e diversidade.<br />
24 REYDELLET., La royauté,op. cit., p. 523 et seqs.; La concepcion, op. cit., p. 463 et seqs.; FONTAINE,<br />
Jacques. Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique. Paris: Études Augustiniennes,<br />
<strong>19</strong>83, v. I, p. 180 et seqs., seriam os trechos que melhor analisam a obra histórica de Isidoro e no qual se<br />
baseiam a maior parte das reflexões adiante alinhavadas.<br />
25 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 526. Diz: “Quand on arrive à la période contemporaine de l’auteur, les<br />
faits sont accompagnés d’un portrait moral du prince”. Essa opinião é por nós compartilhada, como citamos no<br />
trecho anterior.<br />
26 Id., ibid., loc. cit. Reydellet reforça nossa opinião ao dizer que seja conscientemente ou não, Isidoro faz uma<br />
obra claramente permeada de uma ideologia. A sua visão de mundo e do papel dos reis está em cada trecho. Diz:<br />
“..que l’estéthique littéraire rejoint, consciemment ou non, une idéologie”.<br />
27 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 529. Afirma: “[...] mauvaise vie conduit à male mort”.<br />
107
iografias. As semelhanças entre Isidoro e o autor (ou os autores) dos livros de Samuel (I e II)<br />
e dos Reis (I e II) não é casual.<br />
Isidoro concebe a História de maneira exegética: a presença de Deus na História é<br />
absolutamente normal e perceptível para ele e outros; o Bem e o Mal são premiados ou<br />
punidos, numa moral de filmes de Hollywood, aonde os vilões são castigados no final. Assim<br />
sua leitura deve ser vista com cuidado e reserva. O texto não pode ser dissociado de seu<br />
contexto e da maneira pela qual era escrito e pela qual era entendido.<br />
Uma visão de mundo por vezes dualista permeia a obra: o Bem e o Mal fazem parte de<br />
um conflito que atravessa o mundo natural e o mescla com o sobrenatural. Os limites da<br />
realidade são tênues: as duas cidades agostinianas se encontram e se misturam.<br />
Voltemos a nossa atenção para a obra história e suas descrições de príncipes. A função<br />
da biografia é basicamente centrada em dois aspectos: colocar os reis diante de suas<br />
responsabilidades e mostrar que eles não são protagonistas da história, que estejam acima das<br />
leis divinas, sofrendo as conseqüências de suas atitudes e ações; o segundo aspecto seria a<br />
função social de servir de exemplo para seus sucessores e para os povos, sendo um modelo<br />
político e social. Neste caso Isidoro faz claramente um juízo de valor, seja direto ou<br />
simbólico, seja nas linhas ou nas entrelinhas.<br />
Em todos os reis que retrata, usa de um recurso que já utilizara no De Ortu: como<br />
nasceu, o que fez e como morreu. 28 Os reis anteriores ao período em que Isidoro viveu são<br />
brevemente descritos e sua biografias se assemelham àquelas dos personagens bíblicos no De<br />
Ortu. Isso muda no reinado do último rei ariano, Leovigildo o pai de Recaredo.<br />
O rei Leovigildo é o primeiro que foi contemporâneo de Isidoro: é descrito com louvor<br />
pelo seu papel de unificador e vencedor de batalhas e duramente criticado por sua política<br />
28 ISIDORO DE SEVILHA, De ortu et obitum patrum: Vida y muerte de los santos. Introducción, edición<br />
crítica y traducción por C. C. Gómez. Paris: Societé d’Editions “Les Belles Lettres, <strong>19</strong>85. Esta obra traz uma<br />
coletânea de mini biografias de personagens do AT e do NT. Todas têm uma estrutura simples e semelhante:<br />
nascimento, obra e morte. Nunca ultrapassam três linhas do texto, mas refletem algum valor moral e ético.<br />
108
eligiosa. 29 Isidoro dedica um capítulo a exaltar suas ações militares (c. 49) e contrapõe outro<br />
capítulo a criticar sua ação religiosa (c. 50); num terceiro capítulo (c. 51) fala da obra<br />
unificadora do rei a nível interno, mas critica a mesma, como tendo excessos e sede de poder.<br />
30 Critica a política religiosa, mas elogia seus feitos político-militares. 31 Isidoro hesita em<br />
demonstrar sua admiração e seu respeito pelos feitos do monarca: trata-o como quase um<br />
tirano, movido pelo furor da heresia ariana. 32<br />
Apesar disto deixa transparecer que Leovigildo é um modelo monárquico: funda<br />
cidades, cunha moedas, desenvolve um ritual de corte e majestade 33 e se torna de fato o<br />
fundador da monarquia toledana: se torna um símbolo na obra isidoriana. 34 Ainda que tivesse<br />
sido um herético ariano, a grandeza de sua obra permitiria a unidade do reino visigótico, a<br />
partir de seu filho e sucessor Recaredo.<br />
Isidoro se omite de dizer algo, sobre o concilio ariano e a tentativa de unificar os<br />
cristãos da península ibérica, numa Igreja nacional de orientação ariana e é “telegráfico” ao<br />
comentar sobre a revolta de Hermenegildo. 35 Sabemos que Hermenegildo foi beatificado pelo<br />
29 REYDELLET, La royauté, op. cit, p. 530.<br />
30 ISIDORO, Las Historias, op. cit., c. 49-51.<br />
31 REYDELLET, La royauté, op. cit, p. 530. Afirma que Isidoro alterna louvor e critica a Leovigildo: “Ainsi<br />
Liuvigild est loué pour son oeuvre militaire, et blamé pous as politique religieuse”. REYDELLET, La<br />
conception, op. cit.,p. 464, diz que ”Il a été visiblement séduit par l’oeuvre du grand unificateur”. Na visão de<br />
Reydellet, Isidoro descreve a grandeza de Leovigildo mesmo sendo ferozmente crítico a sua obra religiosa.<br />
32 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 531. Diz: “Liuvigild devient chez Isidore, un tyran “rempli de la fureur<br />
de l’ herésie arienne”, dautant plus dangereux qu’il agit moins par la violence que par la corruption”. Se refere<br />
a atitude de Leovigildo de tentar atrair católicos ao arianismo, que segundo Isidoro pouco resultou; obteve<br />
algumas conversões pela violência, mas só deu certo nos casos em que ocorreu suborno (corrupção). No dizer de<br />
Isidoro: “[...] plerosque sine persecutione inlectos auro rebusque decepit”. Uma utilização do poder de maneira<br />
tirânica, na ótica isidoriana. Ainda mais se foi movido no intuito de converter católicos ao arianismo.<br />
33 ISIDORO, Las Historias, op. cit., c. 51, p. 258-259. Afirma que foi Leovigildo o primeiro que se apresentou<br />
aos “seus”, (visigodos) coberto pela vestimenta real, afirmando que antes dele as roupas e o assento, eram<br />
comuns entre o primus inter pares (rei) e seus nobres: “[...] primusque inter suos regali veste opertus solio<br />
resedit, nam ante eum et habitus et consenssus communis ut genti, ita et regibus erat”.<br />
34 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 531-532. Diz que: “[...] Isidore ne soit pas resté insensible au sens de<br />
la majesté royale dont Liuvigild fit preuve”. REYDELLET, La conception, op. cit.,p. 464, diz de maneira mais<br />
incisiva, que Isidoro trata Leovigildo como um simbolo:“Il est certain qu’ aux yeux du Sevillan, Liuvigild fait<br />
figure de symbole: il est vraiment le foundateur de la royauté tolédane”.<br />
35 FONTAINE, Conversion, op. cit.,.p. 118. Isidoro concorda com o Biclarense e sua versão quase “telegráfica”:<br />
“[...] est rapide et sans aménité”. Um certo incomodo de tratar deste tema pode ser percebido. Um silêncio<br />
comprometedor que denuncia uma sensível questão. Os acordos tácitos do III CT (589) permitem vislumbrar que<br />
não se denegria a pessoa de Leovigildo e não se apoiava a tirania que havia ameaçado a estabilidade da<br />
monarquia para não inspirar futuros golpes de estado. Havia a intenção de se criar uma dinastia<br />
109
papa e que ficou sob o estigma de tirano no reino e na Igreja visigótica. Isso se explica pelo<br />
pacto entre a monarquia e a Igreja consumado no III Concílio de Toledo. O mesmo cuidado é<br />
dado ao tratar de seu irmão Leandro de Sevilha, que teve papel fundamental na revolta de<br />
Hermenegildo e se aliou com o inimigo bizantino, num colaboracionismo que pode ser<br />
entendido como traição a Hispânia e a gens Gothorum. 36 Há silêncios que falam mais do que<br />
mil palavras.<br />
O personagem-modelo que segue a Leovigildo é seu filho e sucessor Recaredo. As<br />
aclamações que foram registradas nas atas do III CT (589) deixam uma idéia do prestígio de<br />
Recaredo junto ao clero hispânico e fazem eco na obra isidoriana. Isidoro desenvolve sua<br />
narrativa descrevendo o príncipe modelo, que serviria como exemplo para seus sucessores. O<br />
propósito de parte de sua obra e do livro (História) é: propiciar “seja na forma teórica, como<br />
um tratado de ética, seja na de um relato de vida e virtudes dos reis que conseguiram, ou<br />
estiveram muito perto de conseguir, a perfeição almejada”. 37 Os personagens isidorianos<br />
modelares realizam, pelo menos parcialmente este ideal de príncipe cristão. 38<br />
Os dois monarcas mais exemplares são Recaredo e Suintila, que cada qual, de sua<br />
maneira, dão continuidade ao processo de unificação religioso e territorial. Isidoro mostra nos<br />
dois, qualidades impares e constrói seu modelo de monarca. 39 Recaredo é objeto de um<br />
panegírico, ao estilo dos panegíricos dos imperadores, e de certa forma antecipando os<br />
36 Id., ibid, p. 117-118. Fontaine afirma: “[...] rien sur la “collaboration” de Léandre avec les Byzantins, sur sa<br />
trahison du prince régnant, sur son rôle probable dans la rebellion d’ Hermenegild [...]”. Outro silêncio que fala<br />
alto: uma traição ao poder legítimo e aliança com um dos maiores inimigos do Estado.<br />
37 MARTIN, Maria Sonsoles Guerras. A teoria política visigoda. In: BONI, Luis Alberto de (org.) Idade Média:<br />
Ética e política. 2.ed., Porto Alegre: Edipucrs, <strong>19</strong>96, p. 87.<br />
38 REYDELLET, La conception, op. cit.,p. 463. Afirma: “Cet idéal du prince chrétien, Isidore, dans son historia<br />
Gothorum, nous montre comment certains rois wisigoths ont pu réaliser, tout au moins en partie”<br />
39 Id., ibid., loc. cit. O autor diz que o gênero histórico permite a Isidoro: “[...] de suggérer un idéal de la<br />
monarchie wisigothique et de souligner certains aspects proprement politiques qui n’avaient pas leur place dans<br />
le cadre moralisant des sententiae.”. Ou seja, tudo o que não se insere numa obra teológica e moralista, como as<br />
Sentenças, pode servir de complemento à construção de um modelo de monarca, num livro histórico que cumpre<br />
assim, sua função de ensinar através da História, os caminhos de Deus.<br />
110
”espelhos de príncipes medievais”. 40 Os melhores dons físicos e espirituais lhe são<br />
atribuídos: respeito pela religião, piedoso e pacifico (c. 52). 41 Administrou as províncias com<br />
equidade e moderação; era bondoso (que seu rosto refletia tal benevolência), e chegava a<br />
atrair o carinho e o afeto dos maus, tal a sua bondade; agiu de maneira liberal com os que<br />
sofreram confiscos de seu pai, restituindo seus bens, seja para os senhores como para a Igreja.<br />
42<br />
Essa liberalidade pode ser interpretada por nós, como qualidade ou como defeito:<br />
enfraquecer a monarquia devolvendo terras ao clero e a nobreza, como parte de acordos<br />
políticos.<br />
As semelhanças entre os personagens do Ortu não são casuais: há certos paralelismos<br />
na visão isidoriana de outro pai e de outro filho: David e Salomão. Leovigildo simboliza neste<br />
caso David e Recaredo pode ser compreendido como uma alegoria de Salomão. Um guerreiro<br />
e o outro pacífico; o filho muito mais sábio que o pai. Isidoro diferencia o final dos dias de<br />
Salomão que foram inadequados e em desacordo com sua trajetória de vida e os de Recaredo<br />
que seguiu coerente e modelar desde o início de seu reino até sua morte. Faz assim uma clara<br />
diferença de Recaredo com Salomão que se distancia de seus valores na hora da morte e de<br />
certo modo com seu similar imperial, Constantino, que de forma incoerente foi algumas vezes<br />
partidário do arianismo, para não falar do paganismo. 43<br />
40 FONTAINE, Conversion, op. cit., p. 118. Afirma que Recaredo é objeto de um modelar panegírico. Diz: “[...]<br />
le ton du portrait le place sur la ligne qui relie les panegyriques impériaux aux ”miroirs des princes”<br />
medievaux”.<br />
41 ISIDORO, Las Historias, op. cit., c. 52, p. 260-261. Religioso (cultu praeditus religionis), piedoso e pacifico<br />
(hic fide pius et pace praeclarus). Estas qualidades aparecem em contraste com seu pai Leovigildo, denominado<br />
irreligioso (inreligiosus), inclinado pela guerra (et bello promptissimus). O contraste não é casual e espelha uma<br />
diferenciação entre um príncipe cristianíssimo e um príncipe “ariano”.<br />
42 Id., ibid., c. 55, p. 264-267. Sua bondade era tanta que influía no ânimo de todos até dos maus. “[...] egregiae<br />
bonitatis tantamque in vultu gratiam habuit et tantam in animo begnitatem gessit, ut in omnium mentibus<br />
influens etiam malos ad affectum amoris sui adtraheret [...]” Uma idealização poucas vezes vista. A entrega de<br />
propriedades da Igreja e de alguns dos membros de famílias poderosas mostra um tipo de acordo entre partes: no<br />
III CT com a Igreja e na tentativa de obter apoio nobiliárquico para sua dinastia e a continuidade da mesma após<br />
sua morte.<br />
43 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 540. Comparando com o De Ortu, 34, 59 (Salomão) enfatiza que<br />
Recaredo se distanciou dos costumes de seu pai (Historia, c. 52) tendo “[...] paternis moribus longe dissimilis”.<br />
O autor enfatiza que, de acordo a Isidoro, Recaredo foi coerente nas suas ações: “Reccaréde, au contraire, a<br />
111
Isidoro insiste que Recaredo já havia se convertido desde o início de seu reinado. 44<br />
Isso não combina com as informações do Biclarense: Recaredo se converteu no décimo mês<br />
de seu primeiro ano de reinado. 45 Sendo João de Bíclaro a fonte mais importante de Isidoro,<br />
entende-se que esta contradição não é distração ou casualidade: trata-se de opção alegórica.<br />
Recaredo deve aparecer com coerência e cumprindo seu papel de monarca cristão exemplar.<br />
A intenção da obra não é historiográfica, mas sim educativa e ideológica.<br />
Isidoro descreve uma vida coerente, tal como os modelos bíblicos do De Ortu, aonde a<br />
hora da morte é um momento crucial: o arrependimento e a busca de Deus, mesmo que tardia<br />
pode ser a salvação. A morte de Recaredo é descrita como a conclusão de sua missão coroada:<br />
“sabendo que o reino que lhe havia sido encomendado (por Deus) para utilizar dele no<br />
objetivo da salvação (de si próprio e de seus súditos), tratou de alcançar com bons princípios<br />
um bom fim”; 46 “e desta maneira a fé da verdadeira gloria que recebeu no inicio do seu<br />
reinado, tratou de acrescentar, há pouco tempo, com a profissão pública de arrependimento”.<br />
47<br />
No entender de Reydellet isso corresponde à visão isidoriana dos últimos tempos que<br />
no microcosmo espelha o macrocosmo da escatologia: os últimos momentos da vida são<br />
fundamentais para um grande homem se unir a Deus e a sua obra. 48 Toda a coerência de uma<br />
suivi tout a long de son règne la voie droite”. Há uma razão importante a ser explicada. O final de cada<br />
personagem no De Ortu, tem um significado ético, serve como ensinamento. O mesmo se dá com Recaredo<br />
44 ISIDORO, Las Historias, op. cit., c. 52, p. 260-261. Recaredo, segundo o texto se converteu no inicio do seu<br />
reinado: “[...] In ipsis enim regni sui exordiis catholicam fidem adeptus [...]” Uma unidade com a coroa recebida<br />
no inicio de seu reino; uma unidade e coerência ao longo de todo o reinado.<br />
45 João de Biclaro, op. cit., p. 30 e 138. Diz: “Reccaredus primo regni sui anno mense X catholicus deo iuvante<br />
efficitur”. Qual a razão da diferença entre o Biclarense e Isidoro?<br />
46 ISIDORO, Las Historias, op. cit., c. 56, p. 266-267. Diz da morte e do objetivo de sua vida. Era utilizar o<br />
reino e sua função como um caminho para a salvação: “[...] sciens ad hoc illi fuisse conlatum regnum, ut eo<br />
salubriter frueretur, bonis initiis bonum finem adeptus [...]”.<br />
47 Id., ibid., loc. cit. Conclui dizendo da maneira cristã com que assume seu fim ao fazer sua profissão publica de<br />
fé: “[...] fidem enim rectae gloriae, quam initio regni percepit, novissime publica confessione paenitentiae<br />
cumulavit”. É um monarca executando muitos dos princípios teóricos de Isidoro (relatados no livro II das<br />
Sentenças) em prática. Um modelo de monarca desde o inicio de seu reinado até sua morte. A tradução no corpo<br />
do texto é fundamentada na tradução castelhana.<br />
48 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 540. Afirma em sentido menos amplo que o utilizado por nós a<br />
importância dos últimos gestos de um personagem: “D’une façon générale, l’eschatologie d’Isidore insiste sur<br />
112
vida dedicada à fé, à moderação, à justiça, e á missão apostólica de converter e salvar seu<br />
povo. Desde o inicio de seu reinado até sua morte: daí a necessidade de adiantar a sua<br />
conversão. Na obra isidoriana há o constante uso de alegorias e a inserção do sobrenatural no<br />
natural. Não se pode entender como uma adulteração dos fatos, mas uma releitura alegórica<br />
da realidade. O simbolismo é um veículo de compreensão da realidade. A exegese extrapola o<br />
texto bíblico e se superpõe a história num contexto neo-platônico cristão.<br />
Recaredo é declarado gloriosíssimo e religiosíssimo príncipe, 49 no trecho que<br />
antecede a descrição do III CT; o autor fala a seguir, de seu papel no processo de unificação e<br />
repete todo o dogma trinitário, como se pretendesse deixar claro, sua aceitação plena por<br />
todos: rei e membros do concílio. 50 .<br />
Voltemo-nos aos paralelos entre Leovigildo e Recaredo. O Hispalense contrapõe as<br />
virtudes do filho diante dos excessos do pai. Utiliza muitos verbos para definir Leovigildo e<br />
muitos adjetivos para compor a personalidade refinada e sacra do rei “apostólico”. 51 A<br />
personalidade de Recaredo é descrita em duas partes uma sobre suas ações religiosas e<br />
político-militares e a outra para descrever sua personalidade e características pessoais. 52 O<br />
filho supera o pai e complementa sua obra de maneira coerente com sua função de monarca<br />
cristão. Adiante veremos como Isidoro salienta seu outro personagem modelar, Suintila<br />
através do uso de recursos semânticos.<br />
Outro aspecto bastante difícil de analisar e concluir de maneira segura é a súbita<br />
declaração de Isidoro que após a morte de seu pai, Recaredo foi “coroado rei”. Isidoro não<br />
les derniers moments de la vie. Plusiers fois, il repete que seul compte lê dernier acte, ce qui est surtout<br />
consolant pour les ouvriers de la onzième heure”.<br />
49 Id., ibid., c. 53, p. 262-263. Numa versão é chamado de gloriosissimus princeps e na outra de religiosissimus<br />
princeps. Ambas antecedem ao sínodo e ao III CT (589) que culminou com a unidade religiosa.<br />
50 Id., ibid., loc. cit.<br />
51 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 534. Leovigildo só recebe adjetivos bastante pejorativos e de certa<br />
forma servem de crítica: furore repletus, quibusdam suorum perniciosus, inreligiosus, bello promptissimus.<br />
52 Id., ibid., loc. cit. Os adjetivos, já descrevemos antes.<br />
113
utiliza este termo em outros trechos do livro. 53 Qual o sentido desta afirmação? Não há<br />
consenso entre os autores. 54 Trata-se de sentido literal ou simbólico?<br />
Recaredo era príncipe consorte (consortes regni), junto com seu irmão Hermenegildo,<br />
nomeado ainda em vida de seu pai Leovigildo. 55 É provável que se tratasse de um<br />
coroamento “simbólico”: mesmo que Isidoro conhecesse o uso da coroa e a descrevesse nas<br />
Etimologias. 56<br />
Uma das interpretações que podem ser percebidas, utilizando a obra isidoriana é o fato<br />
de que uma coroa delimita um espaço interno e um espaço externo: dentro da Igreja (intra<br />
Ecclesiam) e fora da Igreja (extra Ecclesiam). 57 Isso permite fazer algumas tentativas de<br />
explicar este trecho. Uma seria entender a coroa que delimita o espaço dos que se incluem no<br />
reino (unificado por Leovigildo e posteriormente concluído por Suinthila) e os que se uniram<br />
pela fé (unificada por Recaredo). O objetivo é unir todos em um só corpo e uma só alma: mas<br />
o que fazer com hereges, pagãos e judeus? Ficam fora de uma coroa (espiritual) e, portanto<br />
devem ficar fora da outra coroa (súditos do reino).<br />
Reydellet acredita se tratar de um outro simbolismo. Recaredo recebeu a coroa da<br />
realeza pelo seu mérito apostólico, de ter trazido povos à fé em Cristo, ao seio da Igreja. Foi<br />
53 ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit., p. 260-261. Diz que após a morte de Leovigildo, seu filho<br />
Recaredo “regno est coronatus”. Repare que nas Historias, Isidoro descreve a ascensão de novos monarcas<br />
visigodos dizendo ora “reinar” (regnat) ora “suceder” (succedit in regnum) ou se referindo a escolha de um novo<br />
rei diz: “foi eleito príncipe” (princeps electus est). Não utiliza o termo coroa e coroação.<br />
54 VALVERDE CASTRO. Maria R. Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía<br />
visigoda: un proceso de cambio. Salamanca: Universidade de Salamanca, 2000, p. <strong>19</strong>1-<strong>19</strong>2. Esclarece que o uso<br />
da coroa não era pleno. Se fazia uso do cetro,do hábito purpúreo e da diadema. Esta se assemelhava a coroa.<br />
55 ORLANDIS, op. cit., p. 104. Isto os tornava herdeiros da coroa sem necessidade de nomeações ou cerimônias.<br />
REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 536, deixa a dúvida: se havia uma coroa ou se o diadema das moedas de<br />
Leovigildo, seria apenas uma imitação puramente formal das moedas bizantinas? E acredita que Isidoro se refere<br />
a um coroamento simbólico de Recaredo. Há diversos argumentos para tanto que nos eximiremos de debater.<br />
56 ISIDORO, Etimologias, l. <strong>19</strong>, c. 30, v. 1-3. Fala da origem das coroas. Que se tratava de: “[…] señal de<br />
victoria y signo de honor regio; se ponía en la cabeza de los reyes, significando los pueblos esparcidos por el<br />
orbe, de los cuales se rodeaba como cabeza de todos”. Na versão original: “[...] corona insigne victoriae, sive<br />
regii honoris signum; quae ideo in capite regum ponitur ad significandum circumfusos in orbe populos, quibus<br />
adcinctus quasi capit suum coronatur”.<br />
57 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 538. Diz, enfatizando, dois espaços e dois reinados (Leovigildo e<br />
Recaredo): “Isidore aime opposer intra Ecclesiam à Extra Ecclesiam, le dedans au dehors. De même, quand il<br />
nous dit que la couronne représente les peuples circumfusos in orbe, dont est ceinte la tête du roi, il implique<br />
que ce dernier est un principe de rassemblement et cela correspond d’ailleurs à la réalité visigothique depuis le<br />
règne de Liuvigild”.<br />
114
coroado pela “coroa da realeza” e não para exercer a função real. 58 Numa situação prevista e<br />
compreendida antecipadamente por Deus (onisciente e atemporal), que lhe recompensa<br />
antecipadamente, pelos seus feitos em prol da Igreja e que reparavam o que seu pai fizera. 59<br />
A coroa não se resume à coroa dos imperadores e reis, mas possui um duplo símbolo: trata-se<br />
da insígnia da realeza e ao mesmo tempo de um “oficio apostólico”, ou seja, uma missão<br />
divinamente consagrada que lhe dá uma aura sacra. 60<br />
Este é o ponto que diferencia Isidoro, de seu mestre e inspirador Gregório. O termo<br />
officium tem origem romana e se reveste de valores morais e éticos. No pensamento<br />
gregoriano, o poder é uma missão, um dever, não se trata de um privilégio pessoal. Está<br />
fundamentado na noção de serviço, para o bem de todos seus súditos. 61 Recaredo se torna na<br />
obra de Isidoro um santo coroado. 62 Qualidades que ele porta na visão isidoriana: a doçura, a<br />
generosidade, a clemência, a bondade, a graça. 63<br />
No trecho que falamos da vida e da morte, e de toda a coerência entre as duas citamos<br />
o termo salubriter. Este termo exigiria que nos alongássemos mais em sua análise. De<br />
58 Id., ibid., p. 538-539. Afirma que Recaredo, “[...] été couronné de la royauté et non pour exercer la royauté”.<br />
Uma simbologia que difere das descrições da ascensão ao trono de monarcas anteriores: Recaredo é<br />
recompensado pelo que fará, mesmo antes de fazê-lo, por Deus que o consagra. Seu zelo pela Igreja, o eleva a<br />
Coroa.<br />
59 Id., ibid., loc. cit. A coroa é comparada com a coroa de S. Pedro martirizado, um dos poucos exemplos<br />
semelhantes na obra isidoriana. A coroa do mártir alegoricamente atribuída por um mérito apostólico. Diz<br />
Reydellet que a coroação é “[...] la recompense, anticipée san doute, de son zèle pour l’Église”.<br />
60 Id., ibid., p. 539. Reydellet sintetiza numa frase um conceito amplo e refinado, que diferencia Isidoro, de seus<br />
antecessores e inspiradores (Agostinho e Gregório magno). Dá uma consistência diferente ao conceito<br />
gregoriano de officium e começa a construção de sua visão de monarca cristão: “La couronne revêt ici la double<br />
valeur d’ insigne de la royauté et de l’apostolicum officium”.<br />
61 RIBEIRO, Daniel Valle. A sacralização do poder temporal: Gregório Magno e Isidoro de Sevilha. In: SOUZA,<br />
José Antônio de C.R. de; BONI, Luis Alberto de (org.) O reino e o sacerdócio: o pensamento político na alta<br />
Idade Média. Porto Alegre: Edipucrs, <strong>19</strong>95, p. 99-100. Ribeiro cita trecho de Gregório magno (Moralia, 21, 15.<br />
PL. 76, 203, com tradução de TURRA Jr. Dante; MAFRA Johnny José que diz: “A mesma diversidade que veio<br />
do erro foi retamente ordenada pelos desígnios divinos, de tal modo que um homem seja dirigido por outro, já<br />
que nem todos vivem igualmente. Os homens justos quando estão no poder, não se vestem da força do mando,<br />
porém da igualdade de natureza; nem se vangloriam de governar os homens, mas de serví-los”. O mesmo<br />
conceito que Isidoro desenvolve nas Sentenças que justifica por causa do pecado original, que alguns mandem<br />
nos outros e os controlem para evitar que pequem. A mesma idéia de serviço e officium que dá ao cargo do<br />
monarca uma noção de função sacra e em prol dos membros da comunidade de fiéis.<br />
62 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 541. O autor diz: “Les vertus prêtées à Recarède sont celles d’un saint<br />
couronée [...] ”.REYDELLET, La conception, op. cit.,p. 465. O mesmo autor repete: “Fidèle jusqu’au bout aux<br />
exigences de sa foi, Reccared incarne l’idéal du saint couronée”.<br />
63 ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit., c.55-56, p.266-267; REYDELLET, La royauté, op. cit., p.<br />
542-543. Autor percebe em Isidoro a descrição de certo poder sobrenatural: “[...] ce ne serait pas trahir Isidore<br />
que de parler d’ un pouvoir surnaturel”.<br />
115
maneira superficial e a guisa de reflexão percebemos que na questão do officium, podemos<br />
inserir este tema: a “saúde pública”. Parece-nos que se trata da dupla idéia de fazer o bem aos<br />
seus súditos, encaminhando-os à prática de bons hábitos e nas sendas da fé verdadeira, quanto<br />
se trata da saúde pessoal do soberano; tanto no hemisfério do político quanto no hemisfério do<br />
espiritual, numa visão que unifica a saúde nos dois planos. 64<br />
Nesta concepção pode se perceber que não há espaço para judeus, hereges e<br />
dissidentes. È um caso de saúde publica. Os riscos de contaminação devem ser devidamente<br />
extirpados e excluídos da sociedade cristã e do convívio com os seguidores da fé verdadeira.<br />
Infectam a saúde publica. O modelo de Recaredo é completo e plenamente construído por<br />
Isidoro: um monarca cristão que se insere na historia, de maneira plena. Um novo conceito<br />
está criado: o monarca cristão.<br />
O terceiro personagem é Sisebuto. É de nosso conhecimento, que existiram boas<br />
relações pessoais entre o monarca e Isidoro. O Hispalense dedica duas de suas obras a<br />
Sisebuto e trata-o como “filho e Senhor”. 65<br />
O rei é considerado como um monarca letrado e discípulo de seu mentor espiritual e<br />
intelectual, sendo visto como autor de obras literárias.<br />
Compôs em c. 614, um poema astronômico (De eclipsi lunae) que alguns consideram<br />
um complemento do De Natura rerum isidoriano, a ele dedicado. Uma obra de hagiografia<br />
denominada Victa sancti Desiderii Viennensis, 66 na qual de maneira habilidosa utiliza-se de<br />
64 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 543. Diz: “Salubriter que j’ai rendu aussi vaguement que possible,<br />
contient la double idée de bienfaisance à l’egard des sujets et de la salut du souverain; le mot se réfère à la fois<br />
à la “santé“ politique du royaume et à son salut spirituel”.<br />
65 DIAZ y DIAZ, M. C. Escritores de la Península Ibérica, In: Patrologia IV: del Concilio de Calcedonia (451) a<br />
Beda: Los padres latinos. Madrid: BAC, 2000, p. 104 (de natura rerum) e p. 111 (Etimologias).<br />
66 GARCIA MORENO, op. cit., p. 147-148. Considera o monarca um representante do “Renacimiento<br />
isidoriano”.<br />
116
uma hagiografia para compor um libelo político contrário a monarquia franca, em especial<br />
criticando a rainha Brunequilda, cuja conduta moral reprovava. 67<br />
Atribui-se, a Sisebuto uma carta ao rei lombardo Adaloaldo e à sua mãe Theodolinda.<br />
68 Esta carta mostra uma face missionária do rei visigodo que assume a função de propagar a<br />
verdadeira fé e tentar converter o rei lombardo. 69 Na carta percebe-se a forte influencia de<br />
Isidoro em “seu filho e Senhor”. 70 Uma identidade perceptível nas ações e na obra literária.<br />
A descrição deste rei, na obra isidoriana, e em especial na “Historia”, não faz jus a<br />
excelente relação entre Isidoro e o seu amigo Sisebuto 71 , pois chega a ser fria e superficial. 72<br />
No texto da História, vemos o autor iniciar a descrição do reinado, com uma severa<br />
crítica a política judaica de Sisebuto. O Hispalense censura a conversão forçada dos mesmos,<br />
afirmando ter o monarca mostrado grande zelo, mas não agindo de acordo a sabedoria. 73 Sua<br />
critica é sobre o método inadequado, não sobre a atitude em si, que define como sendo um<br />
gesto de zelo religioso. Percebe-se que não há uma crítica pela conversão forçada, mas pela<br />
ingerência excessiva em assuntos eclesiásticos. 74 Garcia Moreno considera que por sua<br />
cultura e conhecimentos clássicos, o monarca assumiu uma tendência de influência tardo-<br />
67 .DIAZ y DIAZ, op. cit., p. 95-96. Autor argumenta que há duvidas sobre o saber do monarca quando se faz a<br />
análise literária da sua hagiografia. Diz que: “Es curioso como el estilo lingüístico y literario de esta obra<br />
manifiesta conocimientos inferiores a los que deja suponer el poema”.<br />
68 FONTAINE, Conversion, op. cit., p. 134. Considera que a carta foi escrita entre 616 (ascensão de Adaloaldo<br />
ao trono) e 621 (morte de Sisebuto).<br />
69 Id., ibid., loc. cit. Fontaine afirma a postura missionária do rei dizendo: “C’est un catholicisme wisigothique<br />
devenu missionaire [...]”.<br />
70 Id., ibid., loc. cit. A atitude de Sisebuto se modela, a partir de um estilo político-religioso bizantino e com<br />
intenções políticas de criar uma aliança de monarquias bárbaras católica contra Bizâncio. Fontaine desenvolve<br />
uma longa análise que demonstra a relação intima de Sisebuto com o pensamento e com as obras de Isidoro e de<br />
seu irmão Leandro de Sevilha.<br />
71 GARCIA MORENO, op. cit., p. 148. Autor salienta que “[…] el rey mantuvo una estrecha relación de<br />
amistad y colaboración, al menos en la primera parte de su reinado”. É neste período em que se escreve as<br />
obras encomendadas por Sisebuto à Isidoro.<br />
72 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 544. Diz: “Le portrait qu’Isidore fait du prince surprend par une<br />
certaine froideur”. Haveria alguma razão? Reydellet concluirá ao final do trecho que se trata de um uso<br />
pedagógico, serve para o grande propósito de toda obra de Isidoro: instruir.<br />
73 ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit., c.60, p. 270-273. Diz que os converteu no inicio do reino:<br />
“Qui initio regniIudaeos ad fidem Christianam permounens aemulationem quidem habuit, sed non secundum<br />
scientiam [...]”. E segue dizendo que deveria tê-los convertido pela razão da fé (fidei ratione oportuit)mas não<br />
condena, a atitude do rei, apenas censura a maneira que foi feita. Pois seja pela ocasião, ou seja, pela verdade,<br />
contanto que Cristo seja anunciado: “[...] sive per occasionem sive per veritatem doncc Christus adnuntietur”.<br />
74 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 544. Isidoro se serve do exemplo de Sisebuto para enunciar um<br />
princípio de política e condenar “[...] une intervention abusive du pouvoir séculier en matière ecclésiastique”.<br />
117
omana, que lhe levou a imitar os imperadores e interferir em assuntos eclesiásticos. 75 Isso<br />
pode ter sido a razão de Isidoro criticar o seu gesto precipitado.<br />
Sob outra maneira de analisar, podemos considerar que é preciso colocar esta crítica<br />
de Isidoro a Sisebuto, na devida perspectiva. Há que contextualizá-la na obra de Isidoro: a<br />
estrutura da “Historia”, tem uma montagem semelhante às obras de exegese e biografia: cada<br />
coisa está disposta num local adequado, para fazer o efeito pedagógico correto. Isidoro não<br />
podia omitir este feito, dadas às conseqüências do mesmo nas gerações seguintes. Trata de<br />
elaborar sua construção do texto de maneira que ocorra um crescendo: de um erro inicial aos<br />
grandes feitos de um monarca fiel e piedoso. O que pode se perceber é que a colocação da<br />
conversão forçada no “início do reino” sublinha uma exceção, um erro no início de seu<br />
reinado, atenuado a seguir pelos seus feitos.<br />
Na visão de Reydellet deve-se entender o texto isidoriano, neste caso, da mesma<br />
maneira que outros textos do mesmo autor: tendo as ações dispostas de maneira a se chegar a<br />
um aperfeiçoamento do príncipe. 76 A seguir Isidoro deixa este fato para trás e inicia sua<br />
construção do modelo de rei sábio. Pode-se perceber a maneira que Isidoro tenta construir<br />
uma semelhança entre Sisebuto e o rei bíblico Salomão, mostrando sua preocupação em<br />
descobrir os segredos e a natureza das coisas (De natura rerum), um modelo de príncipe<br />
sábio. 77 Lidera campanhas contra asturianos e rucones; participa pessoalmente e se sai<br />
vencedor de algumas batalhas contra os bizantinos. Neste contexto Isidoro mostra a clemência<br />
e a piedade de Sisebuto: liberta os cativos inimigos, e paga seu resgate, redimindo-os e até<br />
75 GARCIA MORENO, op. cit., p. 148. O autor descreve esta interferencia do rei, como sendo uma tendência<br />
cesaropapista: “Pero esa misma formación literaria habría permitido a Sisebuto familiarizarse, y adoptar,<br />
concepciones de la función monárquica muy enraizadas en la tradición tardorromana e imperial, con una clara<br />
tendencia centralizadora y cesaropapista, como se reflejaría en algunos de sus mas significativos actos de<br />
gobierno”. Adiante cita conflitos com o alto clero: critica o bispo Cecilio de Mentesa, o metropolitano Eusebio<br />
de Tarragona. A maior parte destes choques era devido ao seu desejo de influenciar mais na nomeação dos<br />
bispos (p.152).<br />
76 Id., ibid., loc. cit. Afirma que aqui se volta ao tema do início e do final, tal como no De Ortu e outras obras.<br />
Diz: “Nous retrouvons la le theme du “debut” e de la “fin”, du progress”.<br />
77 REYDELLET, La conception, op. cit.,p. 465. Diz que Isidoro exalta o príncipe letrado. E que não há duvida<br />
que ele vislumbra em Sisebuto “une replique de Salomon, qu’il nous dépeint lui même comme soucieux de<br />
découvrir la nature des choses [...]”.<br />
118
usando seu próprio tesouro. 78 Seu gesto é digno de um monarca cristão: piedoso e<br />
desapegado de valores materiais.<br />
A morte de Sisebuto é descrita na versão breve como tendo sido por morte natural ou<br />
envenenamento, mas corrigida na versão larga por morte natural ou uma infecção<br />
medicamentosa (excesso de um remédio). 79<br />
O terceiro exemplo de príncipe cristão virtuoso é o sucessor de Sisebuto: Suintila.<br />
Havia sido o comandante do exército em algumas das campanhas de seu antecessor. 80 O seu<br />
reinado pode ser dividido em duas fases. Na primeira se dedicou a consolidar definitivamente<br />
a presença visigoda na Península Ibérica, unificando-a e expulsando definitivamente os<br />
bizantinos. 81 Em seguida na esteira de seu sucesso tenta reforçar os aspectos imperiais de seu<br />
governo e preparar a criação de uma dinastia: associa seu filho Ricimero (Ricimiro) ao trono.<br />
Esta política lhe renderá oposição de diversos setores da nobreza e culminará com a sua<br />
deposição por uma revolta nobiliárquica em 631. 82 Isso causará uma aguda crise institucional<br />
e motivará a convocação do IV CT (633). Isidoro será o líder do IV CT e participará da<br />
reorganização institucional, sendo o autor ou o inspirador, da maioria de seus cânones,<br />
inclusive os que de alguma maneira condenam Suintila.<br />
A obra de Isidoro denominada “História” foi concluída após a primeira fase do reinado<br />
de Suintila, cerca de meia década antes do IV CT, e nela o personagem do rei vencedor e<br />
78 ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit.,c. 61, p.272-275. Afirma que foi tão clemente:que após sua<br />
vitória: “[...] ut multos ab exercitu suo hostili praeda in servitutem redactos pretio dato absolveret eiusque<br />
thesaurus redemptio existeret captivorum”. Segundo o autor Isidoro não se refere ao tesouro real ao utilizar o<br />
termo thesaurus. O termo para o tesouro real era aerarium ou fiscus. A palavra thesaurus. Serve aqui para<br />
simbolizar um tesouro que Isidoro constitui no céu: troca-se aqui do plano material para o espiritual.<br />
79 Id., ibid., c. 61, p. 274-275.<br />
80 Id., ibid., c. 61, p. 272-273. Isidoro cita que Sisebuto dominara os rucones por meio de seus generais:<br />
“Ruccones montibus arduis undique comsaeptos per duces evicit”. Um destes duces, era o Dux Riquila; outro era<br />
o Dux Suintila. GARCIA MORENO, op. cit., p. 150, diz que o Dux Suintila submetera os rucones. Há certas<br />
evidencias da importância do papel de Suintila nas campanhas bem sucedidas contra os bizantinos no reinado de<br />
Sisebuto (p. 149). V. ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit., c. 62, p. 274-275.<br />
81 GARCIA MORENO, op. cit., p. 153-154; ORLANDIS, op. cit., p. 142.<br />
82 GARCIA MORENO, op. cit., p. 155; ORLANDIS, op. cit., p 144-145.<br />
1<strong>19</strong>
unificador é exaltado de maneira exemplar. 83 A obra estava concluída: a Hispânia e os godos<br />
finalmente se uniam com plenitude. Esse era o plano da obra: da “De laude Spaniae” até a<br />
unidade se concluía um processo. A unidade religiosa de 589 (III CT) era complementada<br />
pela unidade política.<br />
Um “segundo Recaredo”, nos diria Fontaine. 84 A última pedra do edifício político<br />
construído por Leovigildo e que se tornava um reino cristão com Recaredo, se unificava com<br />
Suintila. Isidoro não economiza adjetivos e louvores ao rei vencedor: assemelha-se a César. 85<br />
O rei é qualificado de gloriosissimus. 86<br />
Imediatamente, declara que tomou o cetro do poder por graça de Deus. 87 Adiante<br />
determina que se trate do primeiro rei que governava toda a Espanha, alcançando a glória de<br />
um triunfo superior ao dos demais reis que o antecederam. 88 As virtudes régias recebem a<br />
moldura de um capitulo inteiro, curto, mas de uma amplitude de louvor sem comparação em<br />
toda a obra, talvez salvo em Recaredo.<br />
Os louvores para Recaredo são de uma grandiosidade humilde. Reydellet supõe que o<br />
Hispalense exagera, por se tratar de um monarca vivo, na época da edição da obra. 89 Se para<br />
Leovigildo havia muitos verbos e poucos adjetivos; se para Recaredo havia muitos adjetivos;<br />
83<br />
Por isso a aparente contradição de elogiar Suintila e “conspirar” ou ajudar os conspiradores a legitimar a<br />
rebelião contra Suintila. Não havia escolha ao idoso Isidoro: o Estado devia seguir sendo o veículo da<br />
cristianização e do progresso da fé verdadeira. Na pagina seguinte analisamos este contraste.<br />
84<br />
FONTAINE, Conversion, op. cit., p. 117. Diz: “[...] un second Reccared, le roiSuinthila, vient en 624 de<br />
chasser les Byzantins de leurs dernieres positions dans le sud de la péninsula [...]”.<br />
85<br />
REYDELLET, La conception, op. cit.,p. 465. O autor afirma esta idéia, pois Isidoro utiliza conceitos e<br />
terminologias semelhantes na sua Crônica (para César) e na História (para Suintila). Diz: “Ce rapprochement<br />
suggère une idealisation de Suinthila en nouveau César”.<br />
86<br />
ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit.,c. 62, p. 274-275. Inicia seu reinado com a data da ascensão<br />
e a afirmação: “gloriosissimus Suinthila”.<br />
87<br />
Id., ibid., loc. cit., aonde declara: “[…] gratia divina regni suscepit sceptra”.<br />
88<br />
Id., ibid., loc. cit. Isidoro declara sua grandiosidade e seu feito inédito de unir sob uma só coroa a Hispania:<br />
“Postquam vero apicem fastigii regalis conscendit, urbes resíduas, quas in Spaniis Romana manus agebat,<br />
proelio conserto obtinuit auctamque triumphi gloriam prae ceteris regibus felicitate mirabili reportavit, totius<br />
Spaniae intra oceani fretum monarchiam regni primus idem potitus, quod nulli retro principium est conlatum”.<br />
89<br />
REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 547. Diz: “La seule explication de possible ded’um tel décalage est<br />
que, parlant d’un roi vivant”..<br />
120
para Suintila há muitos substantivos. 90 Um rol de qualidades e virtudes: fidelidade,<br />
prudência, habilidade, exame minucioso dos juízos, atenção primordial ao governo do reino,<br />
generosidade para com todos e ainda mais com os pobres e necessitados, disposição para o<br />
perdão, tanto que mereceu ser chamado, não somente príncipe dos povos, mas também pai<br />
dos pobres. 91 Trata-se, de uma clara demonstração de um modelo real, já que Isidoro fala de<br />
regiae virtutes: está sendo modelado um ideal político. 92<br />
A contradição que salta a vista é a maneira pela qual Suintila foi deposto por uma<br />
conspiração nobiliárquica e em seguida como Isidoro teve enorme importância na<br />
remontagem do sistema efetuada no IV CT (633). Para entender como na “História” ele é<br />
tratado como pai dos pobres (pater pauperum) 93 e nas atas do concilio é denominado como<br />
tendo obtido bens com “confiscos dos pobres” (possessione rerum quas de miserorum<br />
sumtibus hauserant maneant alieni). 94 Uma mudança radical que deve ser entendida como<br />
resultado da falta de opções do alto clero e de Isidoro, diante do fato consumado da deposição<br />
de Suintila e a ascensão ao trono de Sisenando. 95 Não vamos nos estender nos detalhes dos<br />
fatos.<br />
Isidoro construiu seu modelo de rei, sob a inspiração de Martinho de Braga, que<br />
elaborara um tratado moral para ser utilizado pelos reis Suevos: “Formulae vitae honestae”.<br />
90<br />
REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 547. Diz: “Le portrait de Reccarède était une succession d’adjectifs, ici<br />
règne le substantif”.<br />
91<br />
ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit.,c. 64, p. 278-279. Além das virtudes militares, Isidoro exalta<br />
as virtudes próprias da majestade real (regias majestatis virtutes): “[...] fides, prudentia, industria, in iudicis<br />
examinatio strenua, in regendo cura praecipua, circa omnes munificentia, largus erga indigenteset inopes<br />
misericordia satis promptus, ita ut non solum princeps populorum, sed etiam pater pauperum vocari sit dignus”.<br />
92<br />
REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 547. Afirma: “Pour la première fois dans l’Histoire, apparaît ici la<br />
nótion de regiae virtutes et cela est important dans l’elaboration d’un idéal politique”.<br />
93<br />
ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit., c. 64, p. 279<br />
94<br />
VIVES, Jose. Concilios visigóticos e hispanos romanos. Madrid: CSIC, <strong>19</strong>63, p. 221 (IV CT, seqüência<br />
final); V. também: ORLANDIS, Jose; RAMOS LISSON, Domingo. Historia de los concilios de la España<br />
romana y visigoda. Pamplona: Universidad de Navarra, <strong>19</strong>86, segunda parte, cap. IV, p. 261- et seqs.<br />
95<br />
GARCIA MORENO, op. cit., p. 154 -155; ORLANDIS, Historia de España, op. cit., p 144-145. Ambos os<br />
autores concordam que se nos basearmos no Pseudo Fredegário (crônica franca não contemporânea aos fatos,<br />
podemos entender que se tratava de uma política imperial do monarca e que favorecia alguns de seus fideles<br />
regis e desfavorecia a grande maioria dos nobres. Estes confiscos não seriam contra o povo, mas sim contra<br />
alguns poderosos senhores. Isso levou a conspiração e ao fato consumado diante do qual Isidoro teve que tomar<br />
parte ativa do projeto que se consumou no IV CT.<br />
121
96 O conceito de virtudes reais configurado por Martinho, é adaptado por Isidoro: este separa<br />
as virtudes militares, das virtudes reais propriamente ditas. Isidoro não concebia o monarca<br />
como sendo apenas um comandante vencedor: estas virtudes não são apenas boas qualidade<br />
para um rei, mas simboliza a “essência da majestade”. 97 Um rei precisa delas para ser um rei<br />
verdadeiro. Algumas das virtudes descritas precisam ser analisadas e discutidas. A fidelidade<br />
(fides) não deve ser vista como a lealdade, mas como a crença na verdadeira fé: tal como<br />
Recaredo, se espera que o rei seja católico, fiel a Deus e a crença verdadeira (católica). 98 Um<br />
rei que defenda a verdadeira doutrina.<br />
A prudência (prudentia) é um valor tradicional da cultura clássica. O termo<br />
“industria” (traduzimos por habilidade), também atribuído a Suintila, só pode ser entendido se<br />
utilizarmos como referência e termo de comparação, a descrição que Isidoro faz de Gesaleico,<br />
rei do inicio do séc. VI: muito vil, incapaz e desacertado. 99 Seria a falta de iniciativa, uma<br />
apatia e certa indiferença com as coisas do reino. A virtude seguinte do unificador seria o<br />
exame extremado dos juízos (in iudicis examinatio strenua), de maneira a propiciar a<br />
verdadeira justiça: esta qualidade depende da anterior (industria) As qualidades de<br />
generosidade para com todos (munificiencia) e ainda mais com os pobres e necessitados,<br />
disposição para o perdão (misericordia) são consideradas como qualidades de imperadores do<br />
Baixo império: se insere na tradição de ervegetismo real. 100<br />
96<br />
ORLANDIS, Historia de España, op. cit., p. 100. Diz que Martinho de Braga compôs a Formulae Vitae<br />
honestae, “[…] exposición de Etica cristiana que dedicó al rey Miro [...]”. REYDELLET, La royauté, op. cit.,<br />
p. 548. Afirma que sem dúvida o modelo de Martinho lhe influenciou. “Sans doute Martin de Braga lui avait-il<br />
montré la voie avec sa Formulae Vitae honestae”.<br />
97<br />
REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 549. Reydellet diz com convicção que Isidoro concebe estas virtudes<br />
como sendo condições ou deveres de um monarca. Essas virtudes são essenciais ao rei. A função exige estas<br />
virtudes do titular do trono. Diz: “[...] veut peut-être insister sur le fait que ces vertus, non seulement sont bonnes<br />
chez un roi, mais constituent l’essence même de la majesté, c’est à dire de ce que fait le roi e le met au dessus<br />
des autres”.<br />
98<br />
Id., ibid., loc. cit., aonde diz: “[...] non pas la loyatité mais la foi religieuse ; non pas la pieté comme<br />
Reccaredequi etait fide pius, mais la rectitude de la doctrine; le roi doit être catholique”.<br />
99<br />
ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit., c. 37, p. 233. Chama-o de “[...] vilissimus, ita infelicitate et<br />
ignavia summus [...]”.<br />
100<br />
REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 551. Assemelham-se as figuras descritas por Cassiodoro em “Variae”.<br />
Trata-se de um modelo baixo imperial.<br />
122
O mesmo se daria com a atenção primordial ao governo do reino: um monarca deve<br />
ser muito envolvido com as questões dos súditos: deve reger e corrigir. Estas qualidades<br />
definidas e descritas através de Suintila podem ser revistas e compreendidas melhor, em outra<br />
obra isidoriana. Isidoro compara nas Etimologias a ação do monarca com a do sacerdote. A<br />
palavra sacerdote vem de santificar, e rei vem de reger. E conclui: não rege o que não corrige.<br />
101 O rei dotado destas três virtudes atuaria na sociedade e controlaria o comportamento<br />
social. 102<br />
Poder e atuação idealizada e desejada pela Igreja. O rei era governante por vontade<br />
divina para impor a seus súditos a vontade divina emanada através de sua representante na<br />
Terra: a Igreja. Seria uma clara divisão gelasiana das duas espadas: uma concepção que já<br />
define que o monarca deve servir a Deus, a Igreja e em sua função primordial está a repressão<br />
do pecado espalhado pelo mundo desde a Queda, com o Pecado Original. Neste ponto da obra<br />
Isidoro atinge o auge de sua definição e busca de um modelo monárquico:<br />
O final do livro é dedicado a um tema bastante sensível entre os monarcas: a sua<br />
sucessão. Isidoro se tornará o co-autor do cânone 75, do IV CT (633), que definiu a eleição<br />
dos sucessores dos reis por um colegiado composto pela nobreza e pelo alto clero.<br />
Na obra História, ele se contradiz, com esta perspectiva. Há uma aura mágica na sua<br />
descrição de Ricimero, o filho de Suintila, associado por seu pai ao trono e presumível<br />
sucessor do trono. O trecho tem um colorido “sui generis”: fala do brilho de seu rosto que<br />
demonstra sua índole sagrada e as qualidades únicas que herdou de seu pai. 103 Um retrato das<br />
suas virtudes que com certeza farão com que os céus intercedam a seu favor, quando chegue<br />
ao trono: isso nunca veio a ocorrer, pois seu pai foi deposto, como vimos.<br />
101 ISIDORO, Etimologias, op. cit., L IX, c. 3, v. 4. Diz: “La palabra rey viene de regir (reges a regendo); pues<br />
como sacerdote viene de santificar, así rey viene de regir, y no rige el que no corrige”.<br />
102 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 550. Reydellet diz: “[...] celui qui ne corrige pas ne régit pas [...] Il<br />
faut comprende que Suinthila portait un soin particulier à être un roi qui gouverne, qui régit et qui corrige”.<br />
103 ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit.,c. 65, p. 280-281. Entre algumas expressões podemos<br />
salientar: “[...] in cuius infantia ita sacrae indolis splendor emicat[...]” ou “[...] ut in eo et meritus et vultu<br />
paternarum virtutum effigies praenotetur”.<br />
123
A associação ao trono já fora feita por Liuva e Leovigildo; novamente através deste<br />
ultimo, com seus filhos Hermenegildo e Recaredo; do ultimo com seu filho e sucessor Liuva<br />
II, que acabou deposto e morto.<br />
Qual seria a posição de Isidoro e da maior parte do alto clero hispânico diante da<br />
sucessão ao trono? A participação de Isidoro e de todo o episcopado no IV CT e nas decisões<br />
relacionadas com o cânone 75 deixam dúvidas e obscurecem a compreensão da possível<br />
preferência do Hispalense. Com a exceção de Chindasvinto, não ocorreram sucessões<br />
familiares a partir de 633.<br />
Isso não significa que Isidoro fosse contrário à sucessão dinástica. Vale recordar que<br />
Bráulio de Saragossa (Zaragoza), discípulo de Isidoro, sugeriu a Recesvinto que seguisse o<br />
exemplo de David e designasse seu filho para sucedê-lo. 104 Bráulio concorda, estimula e<br />
abençoa a sucessão, em carta ao monarca. Na opinião de Lynch & Galindo, Recesvinto só<br />
decidiu nomear seu filho como sucessor após as bênçãos do bispo e sua plena aceitação. 105<br />
Isso pressupõe que a Igreja não era francamente a favor da eleição real, e que poderia mudar<br />
de postura de acordo ao momento político.<br />
Se observarmos a obra isidoriana, não vemos na História, a utilização do termo eleger<br />
salvo em uma exceção, no caso de Sigerico, do qual pouco fala, apenas que foi morto. 106 Se<br />
Isidoro considerasse a eleição como maneira correta, teria utilizado mais vezes esta expressão<br />
104 RIESCO TERRERO, L., Epistolario de San Braulio. Introducción, edición crítica y traducción, Sevilla,<br />
<strong>19</strong>75, p. 148-149. Braulio é direto e explicito. Compara a sucessão de Moisés (que designou Josué) e de David<br />
(que nomeou seu filho Salomão) à coerência que seria a sucessão de Chindasvinto por Recesvinto. Diz: “Unde<br />
celorum regem et sedium omnium rectorem supplici prece deposcimus, qui et Moysi Ihesum sucessorem et in<br />
David trono filium eius constituit Salomonem, ut clementer insinuet vestri(s) animis ea que suggerimus et<br />
perficiat auxilio omnipotentie sue que in nomine eius, a vobis petentes fieri obtamus”. Podemos perceber que<br />
Bráulio não só concorda como estimula e abençoa com a graça divina, a nomeação do filho como sucessor.<br />
105 LYNCH, Carlos; GALINDO, Pascual. San Bráulio obispo de Zaragoza (631-651): su vida y sus obras.<br />
Madrid: C S I C, <strong>19</strong>50, p. 95. Diz: “En el 649 Chindasvinto asoció a su hijo Recesvinto en el trono. Esta<br />
determinación dinástica se hizo tan sólo después de una carta en que Braulio se lo suplicó al rey”.(Destaque<br />
feito por mim)<br />
106 ISIDORO DE SEVILHA, Las Historias, op. cit., c. 20, p. 204 - 205. Diz: “[…] Gothis Siegericus princeps<br />
electus est”.<br />
124
em sua obra que tende a oferecer modelos reais, para serem seguidos. Com Suintila e seu<br />
filho, Isidoro encerra a sua “Historia”.<br />
A nossa análise prossegue com o livro das Etimologias e com as Sentenças, duas<br />
vigas mestras da obra isidoriana. Em ambas, vemos algumas definições muito importantes<br />
para tentar entender a concepção isidoriana de monarquia.<br />
Acreditamos que as “Sentenças”, obra magna de Isidoro tenha sido redigida durante o<br />
reinado de Sisebuto. Nesta obra também se encontra o essencial das idéias isidorianas sobre<br />
monarquia. No primeiro livro das Sentenças, Isidoro faz uma síntese da fé cristã definindo<br />
categorias fundamentais; no segundo descreve os vícios e as virtudes e o processo de<br />
conversão; no terceiro, parte das premissas desenvolvidas nos livros anteriores e analisa<br />
alguns aspectos da vida social, orientando e pregando à sociedade atitudes e valores.<br />
Neste terceiro livro encontramos a imagem do príncipe ideal em cinco capítulos: do 47<br />
ao 51. Nas Etimologias há também vários trechos, e definições diversas. A definição<br />
etimológica de rei e reino, feita por Isidoro pode servir de inicio para a seqüência de nossa<br />
reflexão. No trecho anterior, no qual descrevemos Suintila, definimos que o rei deve corrigir.<br />
Se “não rege o que não corrige”, a função do rei seria corrigir. Portanto o nome de rei se<br />
obtém e se mantém, quando o monarca age corretamente e perde-o quando age mal. 107<br />
Há uma clara concepção de poder e da função coerciva do Estado. No caso da<br />
Antigüidade tardia, e que prevalecerá na alta Idade Média trata-se de uma concepção negativa<br />
do Estado. Nas palavras de Bobbio, a função essencial do Estado seria “remediar a natureza<br />
má do homem” [...] “considerando-o particularmente no seu aspecto repressivo”. 108<br />
107 ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c. 48, v. 7. Afirma: “Reges a recte agendo vocati sunt ideoque<br />
recte faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur”. V. também: MARTIN, op. cit. , p. 86. Considera que a<br />
visão das Sentenças coincide com a das Etimologias, L. IX, c. 3, v. 4, apenas ampliando e complementando a sua<br />
analise, nas Sentenças. REYDELLET, La conception, op. cit.,p. 460-461, considera que: “Le nom même de rex<br />
revèle l’idéal auquel il est appelé[...]”.<br />
108 BOBBIO, Norberto A teoria das formas de governo. 6. ed. Brasília: Universidade de Brasília, <strong>19</strong>92, p. 78.<br />
125
O livro das Etimologias nos dá definições diversas sobre conceitos tais como, rex,<br />
princeps, dux, tyrannus. Uma das máximas isidorianas é a afirmação que: o nome do rei vem<br />
de agir com retidão, na qual reafirma o que disse nas Sentenças. 109 O principal dever do rei é<br />
agir com justiça e fazer o bem para os seus súditos.<br />
Haveria uma brecha visível para as revoltas e os regicídios tão típicos, caso o rei não<br />
cumprisse a sua função e se tornasse um tirano? Acreditamos que não é esta a intenção de<br />
Isidoro. 110 Nossa opinião se fundamenta no conceito do Hispalense sobre o rei mau. Isidoro<br />
considera que o rei mau é um castigo aos povos, tendo sido enviado por Deus para puni-los<br />
por sua má conduta. 111<br />
Percebe-se novamente uma forte influência bíblica: nas Escrituras, vemos que bastava<br />
o povo pecar para ser punido de alguma forma: ora por invasão, ora por domínio, ora por um<br />
governante cruel. Isidoro não se choca e não estimula a conspiração contra o poder<br />
constituído. A legitimidade do governante vigente não é contestada: trata-se da vontade divina<br />
e deve ser respeitada.<br />
O fato inegável é que Isidoro trata de construir um conceito de rei justo e<br />
fundamentado na moral e no bom serviço. Um rei que faça o mal se desvia de sua “razão de<br />
ser” e se aproxima de um tyrannus. 112<br />
Isidoro constrói uma idéia de rei santo: o modelo de Recaredo é um exemplo. Isidoro<br />
enfatiza a semelhanças dos homens santos e dos reis, dizendo que no texto bíblico, ambos são<br />
109<br />
ISIDORO, Etimologias, op. cit. , L IX, c. 3, v. 4. Já citada em nota anterior. E enfatiza ao complementar:<br />
”Rex eris, si recte facias: si non facias non eris”. Define-se aqui a maior função e a razão de ser dos monarcas:<br />
agir retamente e fazer a justiça, servindo de modelo para seus súditos.<br />
110<br />
REYDELLET, La conception, op. cit.,p.460-461, considera que: “Cette formule ne signifie pas qu’il soit<br />
legitime de déposer le mauvais roi”.<br />
111<br />
ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c. 48, v. 11. Quando os reis são bons, isto se deve ao favor de<br />
Deus; mas quando são maus, se deve aos pecados /crimes do povo. Diz: “Reges quando boni sunt, muneris est<br />
Dei, quando vero mali,sceleris est populi”. REYDELLET, La conception, op. cit.,p.460-461, concorda conosco e<br />
afirma que: “[...] la these soutenue par Isidore, selon laquelle les mauvais rois sont envoyés par Dieu pour le<br />
châtiment des peuple [...]”.<br />
112<br />
REYDELLET, La conception, op. cit., p. 461 afirma que o sentido da palavra tyrannus em Isidoro, é diferente<br />
do utilizado em outros autores. Não se trata de um governante ilegítimo, mas sim um governante mau. O autor<br />
acha que isso se deva a influência de Agostinho (Cidade de Deus, V, <strong>19</strong>). Nos afirma: “Le seul sens possible de<br />
ces formules est que le roi qui fait le mal se met en contradiction avec le signification essentielle du mot rex,<br />
révélée par la etymologie: il devient dés lors un tyrannus”.<br />
126
denominados reis. Ambos agem com retidão, controlam seus sentidos e dominam com acerto<br />
o perigo dos vícios utilizando o bom juízo de sua razão. 113 Um rei assim sendo, é o senhor de<br />
seus súditos, mas também senhor de si mesmo: não se deixa levar pelos sentidos, fraquezas,<br />
vícios, desejos carnais ou sede de poder. Um rei idealizado: um servidor de Deus, um rei<br />
santo.<br />
O rei que não faça assim não será punido na vida terrena: será punido no inferno. 114<br />
Usa de figuras alegóricas dizendo que quanto mais alto o posto e a honraria que um<br />
governante se eleva, mais perigo corre; se abusar de seu poder e agir com maldade, maior será<br />
o seu pecado. Os poderosos sofrerão terríveis tormentos: pagarão suas penas com juros. 115<br />
Para Isidoro o problema não é apenas político e ele não dissocia a política da religião:<br />
a política está inserida na religião e dela depende. O rei é um exemplo para seus súditos e<br />
influencia-os para o bem e para o mal: por isso é preciso que não peque, a fim de que seu<br />
descontrole e seu mau exemplo, não constituam um estímulo que conduza seu povo para os<br />
“vícios”, que é uma expressão semelhante a pecado. 116<br />
Se não for por imitação, o súdito também pode agir de maneira maldosa, por<br />
obediência aos monarcas. 117 Assim ao rei compete ser um homem santo e não propagar a<br />
maldade e o erro. Não precisa ser severo demais, e deve mesclar as virtudes da justiça e da<br />
113 ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c. 48, v. 7. Diz: “Nam et viros sanctos proinde reges vocari in<br />
sacris eloquiis invenimus eo quod recte agant, sensusque proprios bene regant, et motus resistentes sibi<br />
rationabili discretione componant”.<br />
114 ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c. 48, v. 6. Adverte aos que agem com soberba e prepotência,<br />
ostentando os símbolos do poder, vestidos da coroa e das vestes reais, lembrando o seu triste fim: “Qui vero<br />
prave regnum exercent, post vestem fulgentem et lumina lapillorum, nudi et miseri ad inferna torquendi<br />
descendunt”.<br />
115 ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c. 50, v. 4. Isidoro novamente enfatiza o risco do governante, não<br />
temer a Deus e nem as chamas do inferno e se desviar e sucumbir aos vícios:“[...] Reges autem, nisi solo Dei<br />
timore metuque gehennae coerceantur, libere in praeceps proruunt, et per abruptum licentiae in omne facinus<br />
vitiorum labuntur”. O termo Gehenna é hebraico e significa inferno. No versículo seguinte (5) fala do<br />
pagamento com juros aos que mais recebem, mais se exige: “Cui etenim plus committitur, plus ab eo exigitiur,<br />
etiam cum usura poenarum”.<br />
116 ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c. 50, v. 6. Isidoro afirma que o exemplo dos reis contamina os<br />
súditos: “Reges vitam subditorum facile exempli suis vel aedificant, vel subvertunt, ideoque principem non<br />
oportet delinquere, ne formam peccandi faciat peccati eius impunita licentia”.<br />
117 ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c. 50, v. 7.<br />
127
piedade. 118 O Hispalense enfatiza a grandeza da piedade, que supera a rigidez da justiça:<br />
entende a justiça, neste trecho das Etimologias no seu senso estrito.<br />
Nas Sentenças, ao qualificar a justiça, num capitulo que se denomina “A justiça dos<br />
príncipes”, 1<strong>19</strong> Isidoro volta à vertente moralista e prática. Insiste no combate a soberba e ao<br />
abuso de poder, propõe o modelo davídico: o rei ungido não se gaba de seus méritos, mas<br />
sabe de sua igualdade com o gênero humano, sendo todos os humanos, iguais e mortais. 120<br />
O poder foi criado por Deus e emana de cima para baixo: trata-se de uma necessidade<br />
para ordenar a sociedade e impedir o pecado: se for assim utilizado é bom. 121 O poder deve<br />
ser utilizado para os propósitos divinos: ordenar a sociedade, coagir e controlar o pecado e os<br />
vícios, e fazer o bem.<br />
O rei não o pode utilizar para seus próprios interesses: trata-se de um dever, de um<br />
serviço ou officium. 122 A perigosa ilusão das honras é ressaltada por Isidoro, que adverte<br />
inúmeras vezes, sobre este risco: numa delas denomina “inchação do coração”, à soberba. 123<br />
O seu fundamento são os autores latinos, tais como Sêneca, Suetônio, e Tácito que discutiram<br />
118 ISIDORO, Etimologias, op. cit., L IX, c. 3, v. 5. Isidoro qualifica a justiça e a piedade, enfatizando a<br />
severidade da primeira e dando a entender a relativa superioridade da piedade (virtude cristã). Diz: “Regiae<br />
virtutes praecipuae duae: iustitia et pietas. Plus autem in regibus laudatur pietas; nam iustiia per se severa est”.<br />
1<strong>19</strong> ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c.49 (De iustitia principum).<br />
120 MARTIN, op. cit., p. 1-4. A partir do exemplo de David descreve as qualidades do rei: humilde, coerente na<br />
justiça, ciente de sua fragilidade, bondoso com o povo, e que sabe admitir seus erros e corrigi-los, tal qual David.<br />
121 Id., ibid., p. 85. Diz que no cap. 47, do terceiro livro das Sentenças, “encontramos duas constantes do<br />
pensamento isidoriano: o poder vem diretamente de Deus e foi estabelecido por Ele para o bem comum”.<br />
ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c. 47, v.1 (veja nota seguinte).Isidoro repete no L. 3, c. 48, v. 5 que<br />
o poder que se recebeu de Deus, para reprimir o mal, é bom. Afirma: “Potesta bona est, quae a Deo donante est,<br />
ut malum timore coerceat [...]”. O poder desde que direcionado para a função de reprimir o mal, se torna bom. O<br />
negrito é nosso.<br />
122 REYDELLET, La conception, op. cit., p. 458.Segundo o autor, Isidoro repete o modelo romano de rei, que<br />
deve ordenar a sociedade, legislar; bem diferente do modelo germânico de chefe militar. Diz: . “[...] considère la<br />
royauté non pas comme une dignité mais comme un service, un officium, et qu’elle voit dans la confection des<br />
lois sa mission fondamentale; conception toute romaine d’ailleurs, aux antipodes de la tradition germanique du<br />
roi conçu comme un chef de guerre”.<br />
123 ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c.48, v. 8, diz: “[...] dumque ad culmen potestatis venerint, in<br />
apostasiam confestim labuntur, tantoque se tumore cordis extollunt, ut cunctos subditos in sui comparatione<br />
despiciant [...]”. Perceba-se a irônica expressão tumor (inchação, orgulho e vaidade) do coração. O negrito é<br />
nosso.<br />
128
o poder e desenvolveram o conceito de officium. 124 O rei não tem nenhuma superioridade<br />
sobre seus súditos.<br />
Mas se todos são iguais perante Deus, por que são diferentes na vida terrena? Qual<br />
seria a razão de ser para o poder? Isidoro concebe toda a sua visão de mundo a partir do<br />
pecado original. Afirma que por causa do pecado original, Deus impôs ao gênero humano, o<br />
castigo da servidão, que por vontade divina é imposta aos que Deus entende que não podem<br />
usufruir a liberdade. 125<br />
Essa postura entra em contradição com a doutrina do batismo: o pecado original seria<br />
perdoado pelo batismo. Isidoro complementa dizendo que apesar disto, Deus dispôs a vida<br />
dos homens, de maneira hierárquica a fim de que “a licença dos súditos para fazer o mal fosse<br />
reprimida pelo poder dos soberanos”. 126<br />
Na opinião de Reydellet trata-se de uma contradição que não tem por fundamento nem<br />
Agostinho e nem Gregório Magno. 127 O segundo enfatiza a terapêutica do pecado pelo poder<br />
aplicado de maneira adequada. 128 Isidoro entra em contradição: o poder é a conseqüência do<br />
pecado original, mas o batismo anula o pecado original e desta maneira anula o poder. Assim<br />
sendo a razão de se manter o poder ou justificá-lo se perde. Isidoro apenas diz: assim dispôs<br />
Deus. 129 Reydellet concorda com o dilema e a contradição e oferece duas maneiras de<br />
124<br />
REYDELLET, La conception, op. cit.,p. 459.<br />
125<br />
ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c. 47, v. 1. Identifica a origem do poder no pecado original. Diz:<br />
“Propter peccatum primi hominis humano generi poena divinitus illata est servitutis, ita ut quibus aspicit non<br />
congruere libertatem, his misericordius irroget servitutem”.<br />
126<br />
Id., ibid., loc. cit. Isidoro conceitua a origem do poder na repressão dos pecados, pelo rei. A razão de ser do<br />
poder, seria a repressão do mal, dos vícios, do mal. Diz: “Et licet peccatum humanae originis per baptismi<br />
gratiam cunctis fidelibus dimissum sit, tamen aequus Deus ideo discrevit hominibus vitam, alios servos<br />
constituens, alios dominos, ut licentia male agendi servorum potestate dominantium restringatur”.<br />
127<br />
REYDELLET, La conception, op. cit.,p. 459. Reydellet não vê fundamento na subordinação do homem por<br />
causa do pecado original. Nem vê apoio na doutrina de Agostinho e nem na de Gregório: “Cela peut, en effet<br />
légitimement surprendre: la Bible ne dit rien de tel, pas plus que saint Augustin ou saint Grégorie qui sont<br />
généralement la source d’Isidore dans les sententiae”.V. também REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 568-<br />
570.<br />
128<br />
REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 569. Diz: ”Gregoire insistait davantage sur le pouvoir comme remede<br />
du péche”.<br />
129<br />
ISIDORO DE SEVILHA, Sentencias, L. 3, c.47, v. 1. Diz: “[...] tamen aequus Deus[...]”. Assim dispôs<br />
Deus.<br />
129
esolver a dúvida: ou o poder não seria conseqüência do pecado original ou o batismo não<br />
anularia todas as conseqüências do pecado original. 130<br />
Há também uma outra conseqüência do pecado original que o batismo não anula: a<br />
morte. Isidoro não se aprofunda no tema e deixa claro que não pretende mostrar a origem do<br />
poder, mas apenas justificá-lo. O batismo iguala a todos os cristãos diante de Deus e propicia<br />
a criação de uma comunidade sagrada de membros: a Igreja. É o sacramento constitutivo da<br />
Igreja. Pela unção que o acompanha o cristão, se torna membro do corpo espiritual do Rei<br />
Eterno. 131 O batismo é o ponto de partida de toda a teoria isidoriana de poder. A partir da<br />
vinda de Jesus, todos os fiéis participam da realeza de Cristo: a Igreja unifica os fiéis.<br />
A teologia política isidoriana renova os conceitos existentes no Baixo Império. Um<br />
sentimento de inferioridade grassava entre as monarquias bárbaras diante do Império: este era<br />
o único universal, o único legítimo e fundamentado na História. Nas palavras de Reydellet, os<br />
reinos bárbaros sofriam de um complexo, que ele denomina “pecado original”. 132<br />
Isidoro altera esta visão, desenvolvendo um novo conceito de monarquia cristã. Isso se<br />
fundamenta na substituição do Império pela Igreja, como principio de universalidade. A idéia<br />
de Império universal era totalitária e não deixava espaço às monarquias, que se assemelhavam<br />
a rivais inferiores; a Igreja admitia a pluralidade, pois se compunha de uma infinidade de<br />
células que juntas compunham o reino ou a realeza de Cristo.<br />
Por que Isidoro fazia esta mudança? Deve haver várias razões. Uma delas nos<br />
interessa muito e vamos tentar desenvolvê-la. Além das razões políticas e da busca de unidade<br />
em todos os aspectos sociais, há razões religiosas. Os arianos e os judeus negavam de sua<br />
130<br />
REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 570. Trata-se de uma contradição quase insolúvel e que Isidoro se<br />
desvia dela e evita discuti-la.<br />
131<br />
Id., ibid., p.571. Diz: “Par l’onction qui l’accompagne, le chrétien devient membre du corps spirituel du Roi<br />
Éternel”.<br />
132<br />
Id., ibid., p. 556. Diz: “[...] il la délivra de son péché originel, du poids de son origine historique et de son<br />
statut d’infériorité en face de l’Empire”.<br />
130
maneira, a validade da Trindade, de acordo ao credo de Nicéia. Os arianos estavam vencidos e<br />
em fase de desaparição: sua ênfase era nas diferenças entre o Pai e o Filho. Já os judeus<br />
negavam a Trindade como sendo um desvio do monoteísmo do Antigo Testamento. A<br />
teologia de Isidoro é essencialmente cristológica. 133 Diferente de Gregório Magno que<br />
enfatiza a moral, Isidoro enfatizou a questão tipológica, na maior parte de sua obra, para<br />
provar a divindade de Jesus. 134 Por quê?<br />
Em primeiro lugar para combater os judeus e arianos. E em segundo lugar para<br />
construir a sua concepção político-religiosa. Isidoro não era monarquista, por ideologia. Era<br />
“realista”, pois vivia na realidade: vivia num mundo de reis. Inseri-los na cristandade e fazê-<br />
los parte do plano divino, era seu objetivo.<br />
A sua cristologia era um dos fundamentos de sua fé. Por isso estabeleceu a partir dela<br />
a doutrina política. De acordo a Isidoro, o significado da palavra Cristo era “ungido”: os reis e<br />
sacerdotes do período bíblico eram ungidos com um óleo bento. 135 Assim sendo Cristo não<br />
seria o nome próprio do Senhor: seria uma espécie de título que podia ser ostentado por reis e<br />
sacerdotes. 136<br />
O nome do Redentor era Jesus (Ieshu), que em hebraico provém do radical salvação<br />
(Ieshuá), pois veio trazer a salvação para todos os povos. 137 Por isso Isidoro insiste em juntar<br />
133 Id., ibid., p. 557. Diz: “La théologie d’Isidore est donc, avant tout, fondée sur une christologie”. E enfatiza<br />
toda a obra teológica de Isidoro, tendo como fundamento a comprovação da divindade de Jesus.<br />
134 Id., ibid.. Reydellet confirma o que frisamos no capitulo anterior: “[...] s’interesser plus à la typologie qu’à la<br />
morale: tous les principaux personnages de l’Ancien Testament sont les figures du Christ”. Isso analisamos e<br />
frisamos muito em nosso texto,referenciado anteriormente: FELDMAN, Sergio Alberto. Exegese e alegoria: a<br />
concepção de mundo isidoriana através do texto bíblico.<br />
135 ISIDORO, Etimologias, L.VII, c. 2, v. 2. Usa da tradição bíblica para explicar. Diz: “Christus namque a<br />
chrismate est appellatus, hoc est unctus. Praeceptum enim fuerat Iudaeis ut sacrum conficerent unguentum, quo<br />
perungui possent hi qui vocabantur ad sacerdotium vel ad regnum...”.<br />
136 Id., ibid., v. 4. O nome ungido ou Cristo não é exclusivo do Salvador: ”Non est autem Salvatoris proprium<br />
nomen Christus, sed communis nuncupatio potestatis”.Serve para ocupantes de cargos especiais:sacerdotes e<br />
monarcas.<br />
137 Id., ibid., v. 7. Diz: “Iesus Hebraice, Graece “sotér”, Latine autem salutaris sive salvator interpretatur, pro<br />
eo quod cunctis gentibus salutifer venit”. Não temos como anotar em grafia grega o termo “sotér”.<br />
131
os dois termos e compor o nome completo Jesus Cristo: Jesus o “Salvador” e Cristo o ungido<br />
ou o “rei”. 138 Assim não importa o rei que nos salva, mas o Rei Salvador. 139<br />
Isidoro não enfatiza a unção sacerdotal e deixa-a praticamente de lado. A realeza de<br />
Cristo é reafirmada nas “Alegorias”, quando Isidoro descreve os presentes simbólicos dos três<br />
reis magos, que simbolizam uma das facetas de seu triplo poder: o incenso simboliza<br />
divindade, a mirra sua humanidade e o ouro sua realeza. 140 Esta realeza seria ampla e<br />
irrestrita: “regem omnium saeculorum”. Ela se fundamenta na dupla natureza (humana e<br />
divina) e através do tempo e do espaço.<br />
Toda a exegese isidoriana trata de demonstrar que Cristo descende de David, e que foi<br />
anunciado pelos profetas: preenche todos os aspectos destas profecias e promessas. O “De<br />
Fide” enfatiza estas teses seguidamente, 141 indo e voltando a este tema; as “Allegoriae”<br />
também o fazem.<br />
Isidoro repete seguidamente que nunca mais surgiram reis em Israel, depois do<br />
aparecimento de Cristo: Herodes era um estrangeiro e não pertencia a descendência de David.<br />
142 Jesus Cristo não abolira esta realeza de Israel, mas a perpetuara pelos séculos: a ampliara e<br />
a tornara universal. Ele representa as virtudes e o poder do Pai, e “governa, administra e rege<br />
todas as criaturas do céu e da terra”: o governante supremo. 143 E sendo a Igreja universal e<br />
tendendo à conversão de todos os povos e se expandindo para todas as terras, em seu seio se<br />
consumaria a realeza: a Igreja é o “Regnum Christi”.<br />
138 Id., ibid., v.8. Diz: “Sicur enim Christus significat regem, ita Iesus significat salvatorem”<br />
139 Id., ibid., v.9. Diz: “Non itaque nos salvos facit quicumque rex, sed rex Salvator”.<br />
140 ISIDORO DE SEVILHA, Allegoriae, 142. ML 83, 117. Aonde descreve os magos e seus presentes: “Magi<br />
figuraverunt gentium populos lucem fidei cognituros indicantes sacramentorum muneribus Christum per thus<br />
esse Deum, per myrrham hominem passum atque sepultum, per aurum regem omnium saeculorum”.<br />
141 FELDMAN, Sergio Alberto Isidoro de Sevilha e a desmontagem do Judaísmo In: Relações de poder,<br />
Educação e Cultura na Antiguidade Idade Média. Santana do Parnaíba: Solis, 2005, v.1, p. 341-352. Neste<br />
analisamos a obra De Fide Catholica.<br />
142 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 559. Reydellet frisa alguns aspectos. Um deles é o uso de um texto de<br />
Agostinho, no qual a tese central é a desaparição da realeza em Israel após o nascimento de Cristo: “Ce texte<br />
insiste particulièrement sur la disparition de la royauté em Israël, a partir de la naissance du Christ”. Além disso,<br />
considera Herodes um “rex alienigena”, que não pertencia a casa real de Judá pois não descendia de David.<br />
143 ISIDORO, Etimologias, L.VII, c. 2, v. 24. Isidoro qualifica seu poder, como virtus (por que é temporal e<br />
espiritual). Diz: “Virtus pro eo quod omnem potestatem Patris in semetipso habeat, et omnem caeli terraeque<br />
creaturam gubernet, contineat atque regat”.<br />
132
Nas palavras de Reydellet, a realeza de Cristo se dá no interior da Igreja, na qual o<br />
”Cristo é Esposo”. 144 Inúmeros tipos são descritos para simbolizar o casal Cristo e Igreja. Um<br />
destes são Ruth e Boaz, os bisavôs do rei David, iniciador da dinastia real da qual sairia o<br />
ungido. Sendo Ruth moabita, Isidoro a denomina estrangeira, e vê nela Igreja proveniente dos<br />
gentios, e que se dirige ao Cristo; seu esposo Boaz era da tribo de Judá, representa o Cristo,<br />
verdadeiro esposo da Igreja. 145<br />
E o que simboliza esta unidade de Cristo na Igreja, através desta tipologia de um casal<br />
sagrado? A Igreja é sua representante única na Terra, já que sendo a sua esposa, se uniu a Ele,<br />
numa só carne, através da Revelação contida no Novo Testamento. 146 São dois em um só:<br />
Cristo e a Igreja são uma só realidade: o Cristo é Rei e Esposo e a Igreja é sua representante<br />
na terra e portadora de sua verdade.<br />
Só a Igreja pode interpretar as Escrituras, já que é a representante do seu esposo e Rei.<br />
Isidoro já analisara em suas obras exegéticas estas idéias. Nas “Alegorias” compara, por<br />
exemplo, Maria com a Igreja, esposa de Cristo, que sem deixar de ser Virgem, nos concebeu<br />
por virtude do Espírito Santo, e também nos deu a “luz”, permanecendo virgem. 147 Ou em<br />
outro trecho, entre muitos, diz que “o esposo é Cristo (João II), que celebra suas bodas com a<br />
Igreja, em cuja união a água se converte em vinho, por que os fiéis passam pela graça do<br />
batismo a coroa da Paixão”. 148 .<br />
144 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 560-561. O autor diz que a realeza de Cristo se consuma “à l’intérieur<br />
de l’Église dont le Christ est l’Époux”. (p. 560). E adiante complementa, a : “<br />
145 ISIDORO DE SEVILHA, Allegoriae, 82-83. ML 83, 112. Sobre Ruth diz: “Ruth alienigena, quae Israelitico<br />
viro nupsit, Ecclesiam ex gentibus ad Christum venientem ostendit”. Sobre Boaz que alegoriza o tipo de Jesus,<br />
diz:”Booz autem Christum verum Ecclesiae sponsum expressit”<br />
146 ISIDORO, Etimologias, L.VII, c. 2, v. 33. Isidoro desenvolve neste trecho a unidade de Cristo (esposo e Rei)<br />
com a Igreja (esposa e representante legal do Rei). Diz: “Sponsus, quia descendens de caelo adhaesit Ecclesiae,<br />
ut pace Novi Testamenti essent duo in carne una”.<br />
147 ISIDORO DE SEVILHA, Allegoriae, 139. ML 83, 117. Diz: “Maria autem Ecclesiam significat, quae cum<br />
sit desponsata Christo, virgo nos de Spiritu sancto concepit, virgo etiam parit (Matth. I)”.<br />
148 Id., ibid., 233, ML 83, 127. Diz de maneira alegórica que a união de Cristo esposo, com a Igreja é<br />
simbolizada no batismo e na Paixão (água que vira vinho/ sangue). Diz: “Sponsus (Joan. II) Christus est; cujus<br />
nuptiae cum Ecclesiae celebrantur, in cujus conjunctione aqua in vinum mutatur, quia credentes per lavacri<br />
gratiam transeunt ad passionis coronam”.<br />
133
Na “De Fide”, Isidoro afirma que a insígnia da realeza de Cristo seria a cruz, como<br />
anunciado por Isaías (9,6), fazendo uma alegoria da cruz e da coroa. 149 Isidoro prossegue na<br />
sua reflexão, estabelecendo a especificidade da realeza de Cristo: enfatiza de maneira ideal e<br />
através de figuras ou tipos, a importância da unção dos reis judeus. Esse era o sinal da relação<br />
especial dos reis com Deus, do pacto de Deus com a monarquia judaica, descendente da casa<br />
de David. O símbolo da unção dos reis prossegue o processo de eleição iniciado com o pacto<br />
dos Patriarcas com Deus. O novo pacto e o Cristo (ungido) não o anulam, mas o ampliam<br />
para “as gentes”, ou seja, o que era um privilégio de uma nação se torna o bem de todas. 150 A<br />
relação não é direta com a realeza bíblica, mas com o Cristo (ungido).<br />
A unção real visigoda foi instituída para sacralizar a realeza visigodo católica. Não é<br />
fácil se definir o momento exato em que os reis começaram a ser ungidos, mas com certeza a<br />
influência isidoriana é marcante: o IV CT estabeleceu por escrito as normas da sucessão real<br />
em 633 d. C., mas tudo indica que somente em 672 ocorreu a primeira unção, com Wamba.<br />
151 A necessidade de legitimar o rei e impedir os sucessivos golpes de Estado e os regicídios<br />
são alguns dos motivos desta legislação canônica e do desenvolvimento deste rito. 152<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Isidoro não desenvolveu toda esta teoria apenas para resolver as questões da<br />
estabilidade da monarquia. Esta reflexão se insere na maneira que Isidoro concebia o<br />
momento histórico. Após Cristo ter descido a Terra pela primeira vez este assumiu a plenitude<br />
149<br />
ISIDORO DE SEVILHA, De fide, op. cit., L. 1, c. 34, v. 1-2, ML 83, 483-484. Diz: “Quis enim regum<br />
potestatis insígnia in humero portat et non aut in capite coronam, aut aliqua propriae vestis ornamenta?”.<br />
150<br />
REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 562. Diz: “Mais avec le Christ, ce qui etait le privilège d’une nation<br />
devient le bien de tous”.<br />
151<br />
ORLANDIS, José. Estudios de Historia eclesiástica visigoda. Pamplona: EUNSA, <strong>19</strong>87, p. 89-90. O autor<br />
tece analises diversas sobre o tema, de maneira ampla e muito profunda.<br />
152<br />
Id., ibid., c. VI, p. 83-92.<br />
134
da realeza de Israel, para transferi-la às nações: depois dele não houve mais reis em Israel. 153<br />
A Igreja é definida por Isidoro como sendo universal (católica) e o termo grego “Eclésia”,<br />
traduzido em latim, significa “convocação”, caracterizando sua vocação de congregar a todos<br />
os povos. 154 Em toda a extensão da sua obra “De Fide”, Isidoro diferencia a limitada<br />
presença dos judeus diante da multidão de povos que a Igreja congrega: fala, por exemplo, do<br />
“povo da circuncisão” e do “povo das gentes”. 155 O que une esta imensidão de povos é a<br />
Igreja e seu rei e esposo Cristo. A interpretação do Salmo 101 serve de oportunidade para uma<br />
leitura alegórica do v. 23, aonde se fala da união de povos sob uma crença única e um só Rei:<br />
Isidoro a interpreta de maneira a justificar a unidade sob a Igreja e sob Cristo. 156<br />
Há a um só tempo uma concepção que enfoca a monarquia visigótica e outra que se<br />
insere na finalidade da História: o microcosmo reflete o macrocosmo. Cristo e o Juízo final<br />
seriam a finalidade da História: o monarca seria uma alegoria do Cristo ou ungido, numa<br />
dimensão política local.<br />
Essas alegorias se repetem por toda a obra do Hispalense. Fazendo uma alegoria que<br />
utiliza a figura de Miriam, (irmã de Moisés e Aarão), compara-a com a Sinagoga. Num trecho<br />
do 157 Livro de Números (cap. 11), Miriam se enciúma da esposa etíope de Moisés e começa a<br />
falar de maneira desrespeitosa da mesma. Deus a pune com uma doença de pele (lepra!) mas<br />
153 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 563. Diz: “[...] le Christ assume la plénitude de la royauté d’Israël<br />
pour la transférer aux nations. Après Lui il n’y a plus de rois d’Israël ”.<br />
154 ISIDORO, Etimologias, L.VIII, c. 1, v.1. Isidoro define o termo Igreja a partir do seu significado em grego,<br />
para definir seu caráter universal e convocatório. Diz: “Ecclesia Graecum est, quod in Latinum vertitur<br />
convocatio, propter quod omnes ad se vocet. Catholica, universalis (Kat’hólon), id est secundum totum”. Em<br />
seguida aclara que nenhuma das seitas heréticas tem o seu alcance e extensão.<br />
155 ISIDORO DE SEVILHA, De fide, op. cit., L. 2, c. 24, v. 4, ML 83, 531. Diz: “populum circumcisionis”e<br />
contrapõe o “populum gentium”. Isso se repete diversas vezes no texto isidoriano, principalmente no “De fide”.<br />
156 ISIDORO DE SEVILHA, De fide, op. cit., L. 2, c. 1, v. 3-4, ML 83, 499. Num longo trecho selecionamos<br />
duas citações. Numa diz que se unirão em um único grupo, diversos povos impregnados de crenças diversas e se<br />
reúnem numa mesma fé, se chamarão um reino e também um único povo de Deus. Diz: “In unum utique, id est,<br />
in unum regem, ut qui diversorum ritu simulacrorum regna multa, et populi multi dicebantur, in unam<br />
convenienda fidem, unus Dei populus, unumque regnum vocetur”. E numa segunda citação, na seqüência<br />
qualifica os “outros”, os infiéis ou Babilônia, como ele alegoriza, sendo os que vivem na casa e mulher do<br />
Diabo: “[...] Babyloniam scilicet, quae diaboli et domus, et conjux est, et Christo fidei conjugio copulari”. Os<br />
destaques são nossos.<br />
157 ISIDORO DE SEVILHA, Allegoriae, 61. ML 83, 108. Diz o bispo de Sevilha: “Maria, soror Moysi (Num.<br />
XII), Synagogae speciem praetulit, quae leprosa propter detractionem et murmurationem contra Christum<br />
exstitat ”.<br />
135
ao final do episódio, Moisés obtém o perdão e a cura da irmã que fizera maledicência. Recai<br />
sob Miriam a punição de isolamento e quarentena fora do acampamento.<br />
Este episódio serve para simbolizar, nas “Alegorias”, a figura da Igreja que reúne os<br />
gentios, na esposa etíope (representando os povos que entraram na Igreja) que desposou<br />
Cristo (figurado por Moisés). E a invejosa e ciumenta Miriam, simboliza a Sinagoga, que<br />
desata em injúrias e calúnias contra o Cristo e contra a Igreja e fica coberta de feridas e lepra.<br />
Esta unidade entre Cristo e a Igreja e entre o Rei e o esposo, se traduz também na<br />
visão da realeza por Isidoro: muitos reinos e povos formando uma unidade sob um só Rei, ou<br />
nas palavras de Reydellet, “em um só Rei”. 158<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BOBBIO, Norberto. A teoria das formas de governo. 6. ed. Brasília: Universidade de<br />
Brasília, <strong>19</strong>92.<br />
DIAZ y DIAZ, M. C. Escritores de la Península Ibérica. In: Patrologia IV: del Concilio de<br />
Calcedonia (451) a Beda: Los padres latinos. Madrid: BAC, 2000.<br />
FELDMAN, Sergio Alberto. Isidoro de Sevilha e a desmontagem do Judaísmo. In: Relações<br />
de poder, Educação e Cultura na Antiguidade Idade Média. Santana do Parnaíba: Solis,<br />
2005, v.1, p. 341-352.<br />
______. Exegese e alegoria: a concepção de mundo isidoriana através do texto bíblico.<br />
Revista de História: Dimensões. Vitória (Espírito Santo): v. 17, p. 133 – 149, 2005.<br />
158 REYDELLET, La royauté, op. cit., p. 564. O autor fala da unidade dos povos e gentes sob um Rei único, ou<br />
seja: a unidade deles em Cristo. Frisa, portanto a diferença entre estar sob o domínio de Cristo e ser uma unidade<br />
em Cristo. Diz: “Isidore revê d’une véritable République chrétienne de toutes les nations rassemblées sous un<br />
seul Roi, ou plutôt, comme il se dit si fortement, en un seul Roi”.<br />
136
FONTAINE, J. Conversion et culture chez les wisigoths d’Espagne. In: FONTAINE, J.<br />
Culture et spiritualité en Espagne du IVe au VIIe siécle. Londres: Variorum Reprints,<br />
<strong>19</strong>86.<br />
______. Isidoro de Sevilla, padre de la cultura européia. In: La conversion de Roma:<br />
Cristianismo y paganismo. Madrid, <strong>19</strong>90.<br />
______. Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique. Paris:<br />
Études Augustiniennes, <strong>19</strong>83.<br />
GARCIA MORENO, L. A. Historia de España visigoda. Madrid: Cátedra, <strong>19</strong>89.<br />
ISIDORO DE SEVILHA. Allegoriae quaedam sacre scripturae. In: MIGNE (ed.) Patrologia<br />
Latina, t. 83, c. 97-130.<br />
______. Allegoriae quaedam sacre scripturae. In: MOLINERO, L. La alegorias de la<br />
Sagrada Escritura de S. Isidoro de Sevilla. Buenos Aires: Cursos de Cultura Catolica,<br />
<strong>19</strong>36.<br />
______. Chronicon. In: MIGNE (ed.) Patrologia Latina, t. 83, c. 1017-1058.<br />
______. De Ortu et obitum patrum: Vida y muerte de los santos. Introducción, edición<br />
crítica y traducción por C. C. Gómez. Paris: Societé d’Editions “Les Belles Lettres, <strong>19</strong>85.<br />
______. Etimologias. Tradução de L. Cortés y Góngora e introdução e índices de S. M. Díaz.<br />
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, <strong>19</strong>51.<br />
______. Etimologias. Tradução de J. Oroz Reta; E. A Marcos Casquero, introdução de M. C.<br />
Díaz y Díaz. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, <strong>19</strong>82.<br />
______. De fide catholica ex veteri et novo testamento contra judaeos. In: MIGNE (ed.)<br />
Patrologia Latina, t. 83, c. 449-538.<br />
______. Las Historias de los godos, vandalos y suevos. Ed. C. Rodrigues Alonso, León:<br />
Centro de Estudios S. Isidoro, <strong>19</strong>75.<br />
137
______. Los tres libros de las “Sentencias”. In: Santos padres españoles II: San Leandro,<br />
San Isidoro, San Fructuoso. Introducciones, versión y notas de J. Campos Ruiz; I. Roca<br />
Melia. Madrid: BAC, <strong>19</strong>71.<br />
JOÃO DE BICLARO. Crônica. Madrid: C S I C, <strong>19</strong>60.<br />
LYNCH, Carlos; GALINDO, Pascual. San Bráulio obispo de Zaragoza (631-651): su vida y<br />
sus obras. Madrid: C S I C, <strong>19</strong>50.<br />
MARTIN, M. S. G. A teoria política visigoda. In: DE BONI, L. A. (org.) Idade Média: Ética<br />
e política. 2.ed., Porto Alegre: Edipucrs, <strong>19</strong>96.<br />
ORLANDIS, José. Estudios de Historia eclesiástica visigoda. Pamplona: EUNSA, <strong>19</strong>87<br />
______. Historia de España: la España visigótica. Madrid: Gredos, <strong>19</strong>77.<br />
______. Historia del reino visigodo español. Madrid: Rialp, <strong>19</strong>88.<br />
ORLANDIS, J.; RAMOS LISSON, D. Historia de los concilios de la España romana y<br />
visigoda. Pamplona: Universidad de Navarra, <strong>19</strong>86.<br />
RIESCO TERRERO, L., Epistolario de San Braulio. Introducción, edición crítica y<br />
traducción, Sevilla, <strong>19</strong>75.<br />
REYDELLET, M. La conception du souverain chez Isidore In: Isidoriana. Leon: <strong>19</strong>61.<br />
______. La royauté dans la litterature latine de Sidone Apollinaire à Isidore de Seville.<br />
Roma: Ecole Française de Rome, <strong>19</strong>81.<br />
RIBEIRO, Daniel Valle. A sacralização do poder temporal: Gregório Magno e Isidoro de<br />
Sevilha. In: SOUZA, José Antônio de C.R. de & BONI, Luis Alberto de (org.) O reino e o<br />
sacerdócio: o pensamento político na alta Idade Média. Porto Alegre: Edipucrs, <strong>19</strong>95.<br />
TEILLET, S. Des goths à la nation gothique: les origines de l’idée de nation en Occidente<br />
du V e au VII e siècle. Paris: Belles Lettres, <strong>19</strong>84.<br />
138
VALVERDE CASTRO, M. R. Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la<br />
monarquía visigoda: un proceso de cambio. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2000.<br />
VIVES, Jose (ed.) Concilios visigóticos e hispanos romanos. Madrid: CSIC, <strong>19</strong>63.<br />
.<br />
139
“Vou cantar para ver se vai valer” 159 : a configuração da categoria MPB no<br />
repertório das intérpretes (<strong>19</strong>64-<strong>19</strong>67)<br />
Luiz Henrique Assis Garcia<br />
Resumo: A proposta deste artigo é investigar a configuração da categoria MPB através da<br />
análise de práticas musicais e escolhas estéticas realizadas por cantoras que participaram do<br />
momento de sua elaboração inicial, ocorrido num contexto de importantes transformações na<br />
história da música popular brasileira: a revisão crítica do projeto modernizador lançado pela<br />
bossa nova e a efervescência dos embates em torno do “nacional” e do “popular”.<br />
Para tanto, considero a sigla MPB, criada em meados dos anos <strong>19</strong>60, como signo em aposta<br />
(SAHLINS), que deve ser abordado no contexto de sua elaboração e uso, e não como<br />
expressão sinônima de “música popular brasileira”. Um exame do repertório em disco de<br />
cantoras como Nara Leão, Elis Regina, Maria Bethânia, Flora Purim e Gal Costa, entre <strong>19</strong>64 e<br />
<strong>19</strong>67, mostra um leque de escolhas que revela intercâmbios e ajuda a entender o ecletismo<br />
que cerca o emprego da emergente categoria.<br />
Palavras- Chave: Cantoras - História da MPB - categoria em aposta<br />
159 Trecho de Reza (Ruy Guerra - Edu Lobo)<br />
140
“Vou cantar para ver se vai valer”: the configuration of the category MPB in the female<br />
interprets’ repertoire (<strong>19</strong>64-<strong>19</strong>67)<br />
Abstract: This article intends to investigate the configuration of the category MPB through<br />
the analysis of musical practices and aesthetical options performed by female singers that<br />
actuated at the moment of its early elaboration, occurred in a context of important<br />
transformations in the history of brazilian popular music: the critical revision of modernizing<br />
project launched by bossa nova and the blossoming of engagements around the “national” and<br />
the “popular”.<br />
In order to do it, I consider the acronym, bred in middle of the 60s, as a sign-in-bet<br />
(SAHLINS), that should be approached in the context of its elaboration and use, and not as<br />
synonym expression for “brazilian popular music”. An examination of the repertoire in record<br />
of female singers as Nara Leão, Elis Regina, Maria Bethânia, Flora Purim and Gal Costa,<br />
between <strong>19</strong>64 and <strong>19</strong>67, shows a number of choices that discloses interchanges and helps to<br />
understand the diversification that rounds the emergent category.<br />
Key- Words: Female singers - MPB's history - sign-in-bet<br />
Nas prateleiras das lojas de discos novos ou usados (CDs e/ou LPs), nas colunas dos<br />
críticos especializados, nos catálogos de gravadoras ou sites de música na internet, consagrou-<br />
se uma expressão que abarca uma gama considerável da produção musical realizada no Brasil:<br />
MPB. No entanto, é preciso evitar tomar a sigla de forma irrefletida. É necessário refletir<br />
sobre seus diferentes usos, e entendê-los como constitutivos dos significados – muitas vezes<br />
contraditórios – que lhe são socialmente atribuídos. Em alguns momentos, ela aparece<br />
141
identificada a certa geração de compositores e intérpretes, em outros a um gênero, e, ainda,<br />
enquanto categoria que abarca literalmente toda a música considerada popular e brasileira.<br />
A proposta deste artigo é investigar a configuração desta categoria através da análise<br />
de práticas musicais e escolhas estéticas realizadas por cantoras que participaram do momento<br />
de sua elaboração inicial, ocorrido num contexto de importantes transformações na história da<br />
música popular brasileira: a revisão crítica do projeto modernizador lançado pela bossa nova e<br />
a efervescência dos embates em torno do “nacional” e do “popular” (NAPOLITANO, 2002:<br />
70). Vale ressaltar, portanto, que adoto a sigla MPB, criada em meados dos anos <strong>19</strong>60, como<br />
categoria em aposta a ser discutida no contexto de sua elaboração e uso, e não como<br />
expressão sinônima de “música popular brasileira”, já que esta pode ser usada para fazer<br />
referência à música urbana não erudita desde a modinha em fins do XVIII, ou, no contexto da<br />
fonografia, desde as primeiras gravações de samba nas primeiras décadas do século XX<br />
(BASTOS, <strong>19</strong>96: 175).<br />
Se o recorte proposto demarca um período marcado por antagonismos, é necessária a<br />
critica de uma visão que imputa fronteiras bem definidas entre movimentos musicais<br />
classificados como antagônicos, desconsiderando certas nuances, tanto no que diz respeito à<br />
sua suposta “unidade interna” quanto à oposição mutuamente excludente dos mesmos. Um<br />
exame do repertório em disco de cantoras como Nara Leão, Elis Regina, Maria Bethânia,<br />
Flora Purim e Gal Costa, entre <strong>19</strong>64 e <strong>19</strong>67, mostra um leque de escolhas que revela<br />
intercâmbios e ajuda a entender o ecletismo da então emergente categoria MPB.<br />
A CATEGORIA MPB COMO SIGNO EM APOSTA<br />
142
Para o antropólogo Marshall SAHLINS, o mundo simbólico é marcado por conflitos<br />
de natureza social e política, há disputas em torno dos significados e das possibilidades de<br />
instituí-los. A cultura, longe de ser uma estrutura estanque e estática, está sempre em<br />
transformação, ainda que esta esteja destinada a preservar a mesma estrutura: “quanto mais as<br />
coisas permanecem as mesmas, mais elas se transformam!”. Inserida na história, alterada por<br />
eventos (mesmo aparentemente insignificantes!), a cultura vai se redefinindo através da ação<br />
dos homens: “Toda reprodução da cultura é uma alteração, tanto que, na ação, as categorias<br />
através das quais o mundo atual é orquestrado assimilam algum novo conteúdo empírico.”<br />
(SAHLINS, <strong>19</strong>90: 181).<br />
Assim, na sua antropologia histórica (ou seria o inverso?) é possível perceber uma<br />
dialética estrutura/evento, onde a cultura funciona como síntese entre estabilidade e mudança.<br />
Ele faz desta forma uma crítica das distinções ocidentais entre história e estrutura,<br />
estabilidade e mudança, como contrários “lógicos e ontológicos”. Em sua análise, “(...) o<br />
evento é inserido em uma categoria preexistente e a história está presente na ação corrente.”<br />
(SAHLINS, <strong>19</strong>90: 182). Para entender a invenção dentro da cultura, ele atribui uma<br />
responsabilidade pessoal pela autoria das categorias ao sujeito na ação: afirma a<br />
potencialidade inventiva do uso instrumental dos símbolos.<br />
O signo teria então um valor no sistema, diferente do seu valor no uso instrumental<br />
pelo sujeito ativo (na ação). Na competitividade pelos símbolos (escassos), a práxis social os<br />
põem em constante risco. O sujeito faz uma aposta objetiva (baseada na desproporção entre<br />
as palavras e as coisas) de que poderá obter legitimidade para seu uso “interessado” dos<br />
signos. Nota-se aqui a valorização do conceito de interesse [ = inter est (Latim): isso faz uma<br />
diferença] articulado à ação que pressupõe um nível de imprevisibilidade do mundo social.<br />
SAHLINS enfatiza inclusive que ela pode ter efeitos imprevistos, uma vez que “a ação<br />
simbólica é um composto duplo, constituído por um passado inescapável e um presente<br />
143
irredutível” (SAHLINS, <strong>19</strong>90: 189). Neste sentido, considero que a categoria MPB segue<br />
sendo um signo em aposta, de modo que a chave para compreendê-la historicamente está<br />
exatamente na investigação das tentativas de definir seu sentido.<br />
Em seu texto Adeus à MPB, Carlos SANDRONI levanta algumas questões sobre a<br />
gênese da categoria. Até os anos <strong>19</strong>40, o uso da expressão “música popular” era marcado pelo<br />
viés folclorista, remetendo ao mundo rural. Mesmo Mário de Andrade, pioneiro no estudo da<br />
música urbana, costumava denominá-la “popularesca”, em contraste com a anterior.<br />
(SANDRONI: 2004, 27-28). Entretanto, com o ganho de relevância social da música urbana<br />
veiculada por rádio e disco a partir dos anos <strong>19</strong>30, motivando uma nova forma de produção<br />
intelectual sobre a música, realizada por autores “do meio” como Almirante, Ari Barroso e<br />
Francisco Guimarães, o Vagalume. Seriam estes, nas palavras de SANDRONI, “os primeiros<br />
intelectuais orgânicos da música popular urbana no Brasil” (SANDRONI, 2004:27). Com eles<br />
o uso do qualificativo “popular” passou a ser aplicado à produção musical urbana.<br />
Essa concepção se consolidaria inclusive pela aceitação do próprio movimento<br />
folclórico desenvolvido entre os anos <strong>19</strong>40-<strong>19</strong>60, estabelecendo uma distinção analítica entre<br />
“folclore” e “popular”: a primeira, rural, anônima e não-mediada; a segunda, urbana, autoral e<br />
mediada (SANDRONI, 2004:28). Para os folcloristas, porém, embora a música popular<br />
apresentasse traços que remetessem ao “povo”, estava “contaminada pelo comércio e pelo<br />
cosmopolitismo”, e, portanto, não atingia a profundidade da música folclórica, o autêntico<br />
reservatório da identidade nacional (SANDRONI, 2004:28).<br />
Durante a década de <strong>19</strong>60, a expressão música popular brasileira, em meio ao intenso<br />
debate ideológico do período, acabou sendo transmutada na sigla MPB. Recorro agora a<br />
alguns autores que, recentemente, vêm discutindo essa transformação. Martha ULHÔA define<br />
MPB como gênero dentro da música brasileira popular (ULHÔA, 2000: 2):<br />
144
Enquanto prática musical ela emergiu do samba urbano carioca das décadas de ‘30<br />
e ’40, agregou outros ritmos regionais, como o baião nos anos 50, passou pela Bossa<br />
Nova, Tropicalismo e festivais da canção nos anos 60, para se consolidar como<br />
categoria na década de ’70. (ULHÔA, 2000: 4)<br />
Em outro artigo, ULHÔA procura uma aproximação antropológica, considerando a<br />
pertinência da escuta dos usuários da MPB para definir os critérios de avaliação do gênero.<br />
(ULHÔA, 2002: 5). Ela entende ser um elemento complicador o fato do termo MPB ser<br />
aplicado simultaneamente por um grupo sonoro 160 restrito que distinguiria sua “linha<br />
evolutiva” e pela indústria fonográfica para referir-se a um segmento de mercado, com<br />
prestígio mas menor índice de vendas. SANDRONI também observa que, ao final dos anos<br />
<strong>19</strong>90, a sigla MPB tornara-se uma etiqueta mercadológica (SANDRONI, 2004:30). Assim,<br />
MPB é um rótulo ambíguo, pois se em sentido restrito remete a um repertório e produção<br />
musicais ligados a um grupo específico, em sentido amplo “parece abarcar a totalidade da<br />
‘Música Popular Brasileira’” (ULHÔA, 2002: 4).<br />
(...) nos anos <strong>19</strong>60s emerge a categoria eclética do que seria denominado<br />
posteriormente como MPB, uma categoria que identifica não mais um ritmo<br />
específico, mas uma postura estética, ligada a um projeto de modernização da<br />
música popular (...) [e os artistas que participaram de sua construção] (...) mediam a<br />
tradição do samba e ritmos regionais à inserção no mundo da produção musical<br />
globalizada (ULHÔA, 2002: 4)<br />
Marcos NAPOLITANO oferece uma perspectiva histórica sobre o conceito que<br />
considero de bastante validade para a discussão que estou propondo. Ele constata um ciclo de<br />
renovação musical radical que tem como marcos a bossa nova e tropicalismo. No bojo deste<br />
ciclo ocorrem o surgimento e consagração da MPB:<br />
(...) sigla que sintetizava a busca de uma nova canção que expressasse o Brasil como<br />
projeto de nação idealizado por uma cultura política influenciada pela ideologia<br />
nacional-popular e pelo ciclo de desenvolvimento industrial, impulsionado a partir<br />
dos anos 50 (NAPOLITANO, 2002: 1)<br />
160 Conceito proposto pelo antropólogo John BLACKING para caracterizar “um grupo de pessoas que<br />
compartilha uma linguagem musical comum, junto com conceitos sobre música e seus usos” (ULHOA, 2002:2).<br />
145
NAPOLITANO segue a posição de Charles PERRONE ao considerar a MPB um<br />
“complexo cultural” e não um gênero musical específico. Considera que houve, desde a bossa<br />
nova, um processo que chama de “institucionalização” da MPB, que deslocou o “lugar social”<br />
da canção, mas “(...) não significou uma busca de identidade e coerência estética rigorosa e<br />
unívoca”. Para ele as canções de MPB “(...) seguiram sendo objetos híbridos, portadores de<br />
elementos estéticos de natureza diversa, em sua estrutura poética e musical” (NAPOLITANO,<br />
2002: 2).<br />
Enquanto SANDRONI privilegia um recorte mais longo e enfatiza os muitos sentidos<br />
atribuídos ao conceito de “música popular”, os trabalhos de ULHÔA e NAPOLITANO se<br />
voltam, ainda que por vieses diferentes, à problemática relacionada mais diretamente ao<br />
emprego da sigla MPB a partir da década de 60. Mas é possível identificar em todos eles a<br />
natureza escorregadia da categoria, que escapa à definição tradicional de gênero musical e<br />
solicita expressões como “postura estética” ou “complexo cultural”. Ao mesmo tempo,<br />
sinalizam uma posição que incorpora a dinâmica histórica e trata a questão para além da<br />
crítica e teoria musicais, considerando que a disputa simbólica aí envolve atores e contextos<br />
diversos, inclusive o público e o mercado.<br />
Daí a pertinência de propor aqui o entendimento da categoria MPB como signo em<br />
aposta, considerando-a num contexto de negociações que envolveram a incorporação estética<br />
de elementos musicais locais, regionais ou internacionais, a re-valorização de certos gêneros e<br />
tradições e o re-posicionamento dos compositores e/ou intérpretes em relação ao mercado,<br />
contudo sem a perda do prestígio de sua “aura” artística. Os músicos, ainda que em vieses<br />
diferentes, compartilharam o entendimento de que a modernização da música popular<br />
brasileira não deveria ser refratária em relação à tradição. Por outro lado, estiveram em geral<br />
distantes de uma leitura “folclorista”, essencialista e excludente em relação a outras tradições<br />
ou inovações, mesmo que não fossem “nacionais”. A MPB constituiu uma história e uma<br />
146
geografia em transformação, na medida em que ia incorporando sonoridades que remetiam a<br />
espaços, tradições e inovações negligenciadas no projeto de modernização da canção iniciado<br />
pela bossa nova.<br />
Sendo assim, uma aproximação que focaliza as escolhas dos repertórios de discos de<br />
cantoras num momento em que a categoria começava a ser difundida pode ser de grande valia<br />
para favorecer um melhor entendimento da mesma, na medida em que algumas intérpretes<br />
daquele período estiveram na “linha de frente” dos embates estéticos e políticos daquele<br />
período, como mostrarei a seguir.<br />
A MPB NO REPERTÓRIO DAS INTÉRPRETES<br />
Antes de investigar a discografia selecionada, julgo ser adequado fazer alguns<br />
apontamentos para apoiar a discussão. Eles visam articular algumas reflexões sobre a canção<br />
e o canto como objetos de estudo ao exame de alguns aspectos específicos do funcionamento<br />
da indústria fonográfica no período abordado neste artigo.<br />
A canção se define basicamente na refinada coordenação de informações musicais<br />
contidas nas melodias e suas correspondentes letras, configurando a forma mais característica<br />
e difundida da música popular brasileira. Nas belas palavras de WISNIK: “Meio e mensagem<br />
do Brasil, pela tessitura densa de suas ramificações e pela sua penetração social, a canção<br />
popular soletra em seu próprio corpo as linhas da cultura (...)” (WISNIK, <strong>19</strong>87:123).<br />
Em seu pormenorizado estudo sobre a composição de canções, Luiz TATIT identifica<br />
o cancionista ao malabarista. Ao compor, ele procura “(...) equilibrar a melodia no texto e o<br />
texto na melodia (...)” (TATIT, <strong>19</strong>98: 9). Sua habilidade é a de um “gesticulador que manobra<br />
147
sua oralidade, e cativa, melodicamente, a confiança do ouvinte.” (TATIT, <strong>19</strong>98: 9). Ao<br />
transformar a fala em canto, ou prover as palavras que produzem a fala no canto, o<br />
cancionista procura solidificar em um conjunto memorizável o mesmo material utilizado para<br />
“(...) a produção efêmera da fala cotidiana.” (TATIT, <strong>19</strong>98: 11). Para o autor, o pronto<br />
reconhecimento do ouvinte com a canção – e a conseqüente identificação com o artista - vem<br />
da própria agregação da música à linguagem verbal, na entoação com a qual o cancionista<br />
projeta na música uma naturalidade, ou seja:<br />
(...) nunca se sabe exatamente como ele aprendeu a tocar, a compor, a cantar, parece<br />
que sempre soube fazer tudo isso. Se despendeu horas de exercícios e dedicação foi<br />
em função de um trabalho que não deu trabalho. Foi o tempo de exteriorizar o que já<br />
estava pronto (...) (TATIT, <strong>19</strong>98: 17)<br />
Sua íntima conexão com a cultura oral faz com que seu conteúdo seja algo de fácil<br />
transmissão e memorização (dentro do horizonte flexível e de improvisação próprios da<br />
mesma), o que se nota na adoção de uma série de procedimentos mnemônicos, como a<br />
repetição do refrão, ou a associação entre o estrato lírico e melódico (a letra amarrada à<br />
melodia, os aspectos timbrísticos influenciando a escolha de palavras e a formação dos<br />
versos) com o arranjo e, em especial, com a harmonia (certa rima coincidindo com certa<br />
passagem harmônica, por exemplo). Lembro que a canção apresenta tal flexibilidade de<br />
execução que pode mesmo dispensar o uso de quaisquer instrumentos musicais que não a voz<br />
e o próprio corpo. Suas possibilidades de difusão, portanto, são bem maiores e mais baratas<br />
que as de um livro ou jornal.<br />
Sob este viés, o estudo de Paul ZUMTHOR, ainda que debruçado sobre período<br />
bastante diverso, oferece um arcabouço teórico bastante útil para refletir sobre a canção. Para<br />
ele, não é a mera presença da letra que define a canção, mas a presença de um índice de<br />
oralidade, quer dizer:<br />
148
(...) tudo o que, no interior de um texto, informa-nos sobre a intervenção da voz<br />
humana em sua publicação – quer dizer na mutação pela qual o texto passou (...) de<br />
um estado virtual à atualidade e existiu na atenção e na memória de certo número de<br />
indivíduos. (ZUMTHOR, <strong>19</strong>93:35)<br />
O texto da canção não se destina apenas à leitura, evidenciando em si a “ligação<br />
habitual entre a poesia e a voz” (ZUMTHOR, <strong>19</strong>93:36). É a voz que realiza a canção, “(...)<br />
discurso definido pela singularidade da arte vocal que o implica” (ZUMTHOR, <strong>19</strong>93:37).<br />
Dito isto, fica claro que a voz não se resume a um meio de enunciação da letra, mas constitui<br />
o instrumento que torna possível a canção no momento mesmo da performance. A atenção se<br />
volta então não só para o que está sendo cantado, mas para a maneira da voz fazer soar as<br />
palavras e sons, fonemas e sílabas, vogais e consoantes. Heloísa VALENTE considera a voz<br />
(e as partes do corpo que participam na sua emissão) como instrumento musical<br />
extremamente versátil, com o qual o cantante consegue expressar os vários aspectos que<br />
compõem o universo da música, como timbre, volume, altura (do grave/baixo ao agudo/alto) e<br />
ritmo (VALENTE, <strong>19</strong>99:104-115).<br />
É preciso assinalar que aqui trato especialmente da canção inserida no contexto da<br />
indústria cultural e dos meios de comunicação de massa, o que tem razoável influência em sua<br />
elaboração, difusão e apreensão. Basicamente, refiro-me aos processos tecnológicos que<br />
promovem a ruptura de limitações de espaço e tempo em grande escala. Ressalta-se aí a<br />
possibilidade de registrar os sons e separá-los de seus emissores originais no tempo e no<br />
espaço, aquilo que SCHAFER denominou esquizofonia (SCHAFER, 2001: 131-133). Com o<br />
rádio surgiu a possibilidade de transmissão à distância. SCHAFER ainda observa que, se nos<br />
primeiros tempos ouvia-se rádio seletivamente, depois os programas passaram a ser ouvidos<br />
displicentemente. Para ele, o rádio “(...) tornou-se a canção dos pássaros da vida moderna, a<br />
paisagem sonora ‘natural’ (...)” (SCHAFER, 2001: 137). O gravador e o fonógrafo trouxeram<br />
também alterações para as estratégias de composição, pois a possibilidade de ouvir repetidas<br />
149
vezes um disco abona a necessidade de repetir temas com a finalidade de acionar a memória<br />
do ouvinte (SCHAFER, 2001: 137).<br />
Através destes meios, ela passou a ter um alcance ainda maior, potencializando a<br />
desterritorialização, que, em escala e grau reduzidos, sempre fez parte da canção enquanto<br />
formato musical, uma vez que os cantadores sempre foram – e de certa forma ainda<br />
continuam sendo - andarilhos. A circulação da informação musical, por si só, anterior aos<br />
modernos meios de comunicação de massa, foi fundamental para a constituição do que<br />
chamamos música popular brasileira (VIANNA, <strong>19</strong>95: 104). O discurso musical possui de<br />
fato um nível de abstração que o distingue. Tal flexibilidade faz da música uma linguagem<br />
bastante aberta às transações e reapropriações por parte dos sujeitos, facilitando a confecção<br />
de novos sentidos para um mesmo construto sonoro. Isso transparece na discussão realizada<br />
pelo crítico Edward W. SAID a respeito do elemento transgressivo na música: “(...) o<br />
elemento transgressivo na música é sua habilidade nômade de se prender, ela própria, e<br />
tornar-se parte das formações sociais, de alterar suas articulações e sua retórica de acordo com<br />
a ocasião, e com a audiência (...)” (SAID, <strong>19</strong>92: 118-1<strong>19</strong>).<br />
Por outro lado, a forma de organização destes meios agiu muitas vezes como força<br />
homogeneizadora, tornando a “escuta” mais controlada. Hermano VIANNA mostra como o<br />
rádio – e especialmente a Rádio Nacional – atuou de forma significativa na transformação do<br />
samba no ritmo associado à identidade nacional brasileira, culminando na criação do samba<br />
exaltação, cujo modelo mais bem acabado é Aquarela do Brasil (VIANNA, <strong>19</strong>95: 110). Jesus<br />
MARTÍN BARBERO, por sua vez, demonstra como o rádio, em toda América Latina, atuou<br />
como instrumento do Estado na construção da hegemonia das identidades nacionais<br />
(MARTÍN BARBERO, <strong>19</strong>97:230). Como coloca VALENTE, o rádio “pode ser considerado a<br />
primeira parede sonora do nosso século, pois fecha o indivíduo no familiar (...)” (VALENTE,<br />
<strong>19</strong>99:57). Para a autora, a paisagem sonora do século XX estaria, a partir de então, marcada<br />
150
pela presença da voz “mediatizada”, afastada de seu local de produção, de sua fonte de<br />
origem: o corpo humano (VALENTE, <strong>19</strong>99:56).<br />
Apoiando-se em ZUMTHOR, VALENTE, considera que a “ausência do volume do<br />
corpo”, da presença física do intérprete, é “a única dimensão da performance que desaparece<br />
na mediatização técnica” (VALENTE, <strong>19</strong>99:121) 161 . Isto significa, antes de mais nada, que as<br />
qualidades subjetivas da performance podem ser apreciadas mesmo nas gravações em disco, e<br />
que a audição da mesma faixa não suscitará necessariamente a mesma interpretação. O<br />
emprego do conceito de performance permite assinalar a realização de um processo<br />
comunicativo que requer um público que interpreta gestos, movimentos, intenções presentes<br />
no momento mesmo em que ocorre o evento poético – no caso da canção, poético-musical.<br />
Como afirma FRITH, trata-se de uma experiência de sociabilidade, na medida em que o<br />
artista depende de uma platéia que corresponda envolvendo-se no evento, realizando, ela<br />
própria, uma performance (FRITH, <strong>19</strong>96: 206).<br />
Vale notar que, se na era de ouro do rádio os intérpretes eram mais valorizados que os<br />
compositores, os anos 60 vêem surgir o compositor – intérprete com um peso preponderante.<br />
Mudança significativa e concomitante é o deslocamento do foco das vendas, do compacto<br />
simples para o LP de 33 1/3 rotações por minuto, acompanhado pelo surgimento das fitas<br />
cassete. A ênfase deslocou-se do intérprete para o compositor que executa seu próprio<br />
material, articulando-se à lógica da rotulação das composições por movimentos culturais e<br />
não gêneros, na medida em que permitia ao mercado musical organizar o consumo em torno<br />
deles:<br />
(...) No período anterior, dos discos de 78 e 45 rpm e dos compactos, a indústria<br />
vendia “músicas” gravadas de certos gêneros, um subproduto da atividade de<br />
161 Trata-se de uma consideração aplicável aos aspectos tecnológicos do período em questão, pois a própria<br />
autora adverte que o uso do sampler e da manipulação digital do som permite hoje a fabricação de uma voz sem<br />
corpo emissor.<br />
151
músicos e cantores. A partir do LP, a indústria passa a vender o produto dos artistas,<br />
isto é, compositores conhecidos relacionados a movimentos culturais determinados.<br />
Isso permite maior estabilidade da demanda, pois assegura o estabelecimento de<br />
uma certa fidelização do consumidor. (ALMEIDA & PESSOTI, 2000: 93-94)<br />
A essa fusão de papéis – uma tendência difundida internacionalmente - os italianos<br />
denominaram cantautore, e uma expressão aproximada em português seria a que emprega<br />
TATIT: cancionista. Aliás, é bastante pertinente a observação deste autor sobre a ascensão e<br />
domínio da figura do compositor masculino da década de 60 para 70, uma vez que o<br />
fenômeno corresponderia à necessidade de um corpo por trás da voz, de um dono da voz,<br />
acentuada durante um período de autoritarismo político, em que a ausência de uma “voz”<br />
deixou de ser apenas uma metáfora. Entretanto, cabe a ressalva de que as cantoras<br />
identificadas com a configuração da MPB conseguiram, mesmo sem compor, associar suas<br />
“vozes” às canções – via performance - de modo a reivindicar uma certa “posse” sobre elas, o<br />
que transparece na preocupação de caracterizar a interpretação como ato criativo,<br />
compartilhado por cantoras de estilos bem diversos, como Elis Regina e Nara Leão.<br />
Um exame do repertório de algumas das principais intérpretes do período entre <strong>19</strong>64-<br />
<strong>19</strong>67 permite colher evidências sobre o delineamento do que começava então a ser conhecido<br />
como MPB. Seguindo uma proposição de NAPOLITANO, creio que se deve evitar uma visão<br />
simplificada da MPB emergente, considerando-se a “(...) gama variada de perspectivas<br />
musicais e poéticas (...)” que abrigava (NAPOLITANO, 2001: 105), sem identificá-la<br />
esquematicamente como “canção de protesto”. A opção por discos de intérpretes possibilita a<br />
visualização do quadro a partir das escolhas de canções de autores diferentes, evidenciando<br />
suas afinidades ao co-habitarem num mesmo LP.<br />
Cabe observar que o padrão de produção para um long-playing procurava atingir uma<br />
homogeneidade que expressasse a personalidade musical da intérprete, a sua marca própria,<br />
como as próprias capas dos discos evidenciam. Não é acaso muitos LPs serem intitulados<br />
152
apenas com o próprio nome da cantora, ou então com uma formulação assertiva sobre seu<br />
estilo musical. A título de amostra: Nara (Nara Leão -Elenco, <strong>19</strong>64), Opinião de Nara<br />
(Philips, <strong>19</strong>64), Samba – eu canto assim (Elis Regina - Philips, <strong>19</strong>65) e Flora é M.P.M. (Flora<br />
Purim - RCA, <strong>19</strong>64). Escolhi as três cantoras pelos estilos distintos e pela participação<br />
peculiar de cada uma na história da MPB. Nara manteve o estilo econômico e intimista de<br />
orientação bossanovista, mas tornou-se, com o show Opinião, a principal intérprete de<br />
canções engajadas da época. Elis, por outro lado, interpretava de modo bem expressivo, até<br />
mesmo épico, sendo influenciada por cantoras de rádio e crooners de boate. Teve papel<br />
decisivo no lançamento e registro da obra de vários compositores que despontavam então no<br />
novo cenário da MPB. Flora, por fim, apresentava um estilo diferenciado, muito influenciado<br />
pela improvisação jazzística e, em termos da intensidade da interpretação, intermediário em<br />
relação às outras duas. Selecionando um LP de cada cantora, organizei um quadro<br />
comparativo dos respectivos repertórios, indicando os títulos e créditos de composição:<br />
Quadro 1:<br />
153
Nara<br />
Elenco, <strong>19</strong>64.<br />
Marcha da quarta-feira<br />
de cinzas (Carlos Lyra –<br />
Vinicius de Moraes)<br />
Diz que fui por aí<br />
(H. Rocha - Zé Keti)<br />
O morro (Feio não é<br />
bonito) (Gianfrancesco<br />
Guarnieri – Carlos Lyra)<br />
Canção da terra<br />
(Ruy Guerra - Edu<br />
Lobo)<br />
O sol nascerá<br />
(Élton Medeiros -<br />
Cartola)<br />
Luz negra (Hiraí<br />
Barros – Nelson Cavaquinho)<br />
Berimbau<br />
(Baden Powell -<br />
Vinicius de Moraes)<br />
Vou por aí (Baden<br />
Powell – Aloysio de Oliveira)<br />
Maria Moita (Carlos<br />
Lyra – Vinicius de Moraes)<br />
Réquiem por um amor<br />
(Ruy Guerra - Edu<br />
Lobo)<br />
Consolação<br />
(Baden Powell -<br />
Vinicius de Moraes)<br />
Naná (Moacyr Santos<br />
– Vinicius de Moraes)<br />
Flora é M.P.M.<br />
RCA, <strong>19</strong>64.<br />
A morte de um deus<br />
de sal (Roberto Menescal -<br />
Ronaldo Bôscoli)<br />
Cartão de visita<br />
(Carlos Lyra - Vinicius de<br />
Moraes)<br />
Sabe você (Carlos<br />
Lyra - Vinicius de Moraes)<br />
Definitivamente (Edu<br />
Lobo)<br />
Se fosse com você<br />
(Waldir Gama)<br />
Maria Moita (Carlos<br />
Lyra - Vinicius de Moraes)<br />
Hava Nagila<br />
(A. Z. Idelson)<br />
Reza<br />
(Ruy Guerra - Edu<br />
Lobo)<br />
Samba do carioca<br />
(Carlos Lyra - Vinicius de<br />
Moraes)<br />
Primavera (Carlos<br />
Lyra - Vinicius de Moraes)<br />
Borandá (Edu Lobo)<br />
Nem o mar sabia<br />
(Roberto Menescal - Ronaldo<br />
Bôscoli)<br />
Samba - eu canto<br />
assim Philips,<strong>19</strong>65.<br />
Reza (Ruy Guerra -<br />
Edu Lobo)<br />
Menino das laranjas<br />
(Théo de Barros)<br />
Por um amor maior<br />
(Ruy Guerra - Francis<br />
Hime)<br />
João Valentão<br />
(Dorival Caymmi)<br />
Maria do Maranhão<br />
(Nelson L. e Barros - Carlos<br />
Lyra)<br />
Resolução (Lula<br />
Freire - Edu Lobo)<br />
Sou sem paz<br />
(Adylson Godoy)<br />
Pot-pourri<br />
Consolação (Baden Powell -<br />
Vinicius de Moraes)<br />
Berimbau (Baden Powell-<br />
Vinicius de Moraes)<br />
Tem dó (Baden Powell-<br />
Vinicius de Moraes)<br />
Aleluia (Ruy Guerra<br />
- Edu Lobo)<br />
Eternidade (Adylson<br />
Godoy - Luiz Chaves)<br />
Preciso aprender a<br />
ser só<br />
(Paulo Sergio Valle -<br />
Marcos Valle)<br />
Último canto (Ruy<br />
Guerra - Francis Hime)<br />
154
A primeira observação que cumpre fazer é sobre os autores recorrentes. Temos dois<br />
dos principais compositores identificados à vertente nacionalista da bossa nova, Carlos Lyra<br />
(9 ocorrências) e Vinícius de Moraes (13), figurando no repertório dos três LPs,<br />
predominantemente como parceiros. Neste aspecto, vale destacar o repertório do musical<br />
Pobre menina rica utilizado por Nara (Maria Moita) e, especialmente, por Flora (as 5 canções<br />
da dupla). Seus demais parceiros, Guarnieri e Nelson Lins e Barros, como o próprio Lyra,<br />
eram nomes importantes nas fileiras da arte engajada. Outra parceria importante é a de<br />
Vinícius com Baden Powell, cujas canções Berimbau e Consolação figuram nos LPs de Nara<br />
e Elis. Vale lembrar que as duas pertencem ao projeto que veio a ser denominado de “afro-<br />
sambas” 162 . Outro autor recorrente é Edu Lobo (8, sendo seu parceiro mais freqüente Ruy<br />
Guerra), naquele momento o mais prestigiado da geração de jovens compositores da<br />
emergente MPB. Além da recorrência dos autores, há repetição, bem menos significativa, de<br />
algumas canções: Reza , Maria Moita e os dois “afro-sambas”.<br />
As diferenças mais significativas entre os repertórios dos LPs, são, por sua vez,<br />
reveladoras da personalidade musical de cada intérprete e de seu posicionamento ante os<br />
debates então correntes na música popular. No disco de Nara, a presença de composições de<br />
sambistas tradicionais, como Zé Kéti, Cartola e Nelson Cavaquinho, assinalam a opção pela<br />
aproximação com o samba “autêntico”, com “o morro”, defendida pela vertente nacionalista<br />
que queria romper com o elitismo, as letras descompromissadas e a influência da música<br />
norte-americana. Opção que Nara explicitaria no próprio espetáculo Opinião, no trecho em<br />
que se apresenta como alguém que sempre viveu em Copacabana mas que não aceita se<br />
prender a um certo estilo de música (bossa nova): “Eu quero cantar toda música que ajude a<br />
162 Segundo Baden, Berimbau foi composta por volta de <strong>19</strong>60, mas incorporada por Vinícius no conjunto dos<br />
“afro-sambas”, que seriam reunidos no LP Os Afrosambas. Forma, <strong>19</strong>66. Entrevista a O Pasquim, n°35, 09-<br />
15/02/<strong>19</strong>70, p.15.<br />
155
gente a ser mais brasileiro, que faça todo mundo querer ser mais livre”. 163 Noto que um crítico<br />
como Flávio RÉGIS considerava o show e o disco Opinião de Nara como um resumo do<br />
programa dos novos compositores, em relação às fontes da cultura popular 164 . Não há, porém,<br />
uma ruptura com o repertório e os timbres bossanovistas, que não, portanto, considerados<br />
incompatíveis com a proposta de engajamento.<br />
Entre as da lista de Elis, figuram algumas canções lentas, sem cunho político,<br />
interpretadas com intensidade emocional - o que se evidencia no uso de ornamentos vocais e<br />
na duração estendida das notas, procedimento que TATIT denomina de passionalização<br />
(TATIT, <strong>19</strong>90: 42). É o caso de Eternidade e Preciso aprender a ser só. Tais características<br />
também se apresentam na interpretação de Elis para canções engajadas, ressaltando seu<br />
caráter épico, como em Reza. Esse modelo de interpretação, que seria consagrado pela<br />
performance de Elis em Arrastão (Edu Lobo e Vinícius de Morais) no I Festival Nacional de<br />
Música Popular Brasileira da TV Excelsior em <strong>19</strong>65, representava uma afronta aos ideais<br />
estéticos bossanovistas. No provocativo ensaio Da Jovem Guarda a João Gilberto (<strong>19</strong>66), o<br />
crítico e poeta Augusto de CAMPOS não só constatava esta oposição, mas procurava através<br />
dela criticar o desvio da MPB dos procedimentos intimistas de interpretação da bossa, que a<br />
Jovem Guarda estaria preservando (CAMPOS, <strong>19</strong>68:112). A própria maneira “enxuta” de<br />
interpretar da bossa nova estaria inserida numa perspectiva não apenas estética, de<br />
contraposição ao exagero e expressionismo “operístico” dos cantores tradicionais, mas<br />
adequada à evolução dos meios eletroacústicos que tornara “(...) desnecessário o esforço<br />
físico da voz para a comunicação com o público (...)” (CAMPOS, <strong>19</strong>68: 54).<br />
Usando como exemplo a própria Elis Regina, CAMPOS condena o canto<br />
melodramático e exagerado. Para ele, tal postura estaria contrariando o ideal de concisão e<br />
precisão da interpretação joãogilbertiana. Por outro lado, para um crítico favorável a Elis, a<br />
163 VÁRIOS. Show Opinião. Philips LP, <strong>19</strong>65.<br />
164 RÉGIS, Flávio. "A nova geração do samba". Revista Civilização Brasileira, n° 7, maio <strong>19</strong>66, pp. 367-368.<br />
156
ênfase gestual e o excesso de efeitos vocais empregados pela cantora procuravam imprimir às<br />
canções uma alta dose de emocionalismo, aí identificados ao cantar “popular”, “autêntico”.<br />
Seria um elogio ao canto afro-brasileiro de “força primitiva” ao qual “o disco e o rádio<br />
negaram valor artístico” 165 . A questão da interpretação tornara-se um ponto chave dos<br />
embates estéticos, e alguns emepebistas estavam aí rompendo claramente com as proposições<br />
bossanovísticas. Esta “teatralização da canção”, executada de modo a apresentar letra e voz<br />
combinados a gestos e ações, tornara-se comum em peças teatrais e programas de televisão,<br />
operando como uma “coreografia do engajamento”. É o que transparece na análise da fusão<br />
dos aspectos visuais e sonoros na interpretação de Maria Bethânia para a canção Carcará<br />
(CONTIER, <strong>19</strong>98:36). Esta discussão ressalta por contraste o elitismo que pairava nas<br />
colocações do poeta concretista, que rejeitava procedimentos que o engajamento político<br />
vinculava simbolicamente à cultura popular.<br />
Outro elemento marcante era o espaço dado por Elis a novos compositores. Além das<br />
de Edu, há canções de Francis Hime, com letras de Ruy Guerra, e Menino das laranjas, de<br />
Théo de Barros. As mudanças de andamento e divisões rítmicas características, bem como o<br />
arranjo feito por Paulo Moura, mostram o estilo desenvolvido por ela no “Beco das Garrafas”,<br />
em shows em que cantava acompanhada por trios de piano, baixo e bateria, evidenciando uma<br />
leitura do samba inspirada no hot-jazz - daí o surgimento da expressão samba-sessions para<br />
caracterizar a performance musical daqueles trios. É significativo que se trata de uma canção<br />
com forte cunho político, abordando o trabalho infantil e as injustiças e contrastes sociais no<br />
meio urbano, sintetizadas de forma arguta no bordão que imita a fala dos meninos: “Compra<br />
laranja, doutor / Ainda dou uma de quebra pro senhor”.<br />
Já no disco de Flora Purim, a diferença que chama mais atenção é a presença de uma<br />
canção em hebraico, Hava Nagila, a única do repertório dos três LPs composta em outra<br />
165 “Fino da Bossa”. Realidade, São Paulo: Abril, n º 5, ago. <strong>19</strong>66, p.10.<br />
157
língua que não o português. Pelo contraste, ela ressalta a preferência absoluta das intérpretes<br />
pelo repertório de procedência “nacional” e “popular”. O arranjo, principalmente a seção<br />
rítmica, contudo, segue o padrão samba-jazz do “Beco das Garrafas”. Aliás, este é o padrão<br />
dominante no disco, cuja coordenação musical ficou sob as baquetas do baterista /<br />
percussionista Dom Um Romão. A cantora demonstra em muitos trechos de canções a<br />
habilidade de improviso (especialmente nas variações rítmicas em torno das divisões<br />
silábicas) e a exploração da amplitude de seu registro vocal que depois viriam a ser marcantes<br />
em seu trabalho desenvolvido nos Estados Unidos a partir dos anos 70. Estes dois elementos<br />
evidenciam a abordagem da voz como instrumento musical, que a escolha do repertório<br />
procura ressaltar. Por isso, talvez, a presença de duas canções da dupla Menescal e Bôscoli, da<br />
ala jazzificada , Zona Sul, “marítima” e “sorridente” da bossa nova. Contudo, estão arranjadas<br />
de modo a aproximá-las do restante do repertório. De qualquer forma, elas demonstram<br />
compatibilidade dentro de um LP com forte presença de canções engajadas, deixando entrever<br />
que a cisão entre as correntes da bossa não era tão nítida, por exemplo, na perspectiva de<br />
arranjadores e instrumentistas.<br />
Por esta seleção é possível perceber a variedade de opções do repertório “engajado”.<br />
Há composições identificadas à vertente nacionalista da bossa nova, há sambas de morro e<br />
trabalhos da nova geração de compositores que, ainda que fossem influenciados pela bossa,<br />
buscavam caminhos diferentes. Quando se tratava da determinação da “autenticidade” do<br />
samba, várias leituras eram possíveis – mesmo a aproximação feita por Nara em direção ao<br />
samba “de morro” apresenta-o permeado por padrões de arranjo bossanovistas e convivendo<br />
com composições de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, por exemplo. Os afro-sambas, por sua<br />
vez, não podem ser interpretados como mero desenvolvimento dentro da bossa nacionalista,<br />
pois rompem com alguns de seus padrões, especialmente na sua concepção rítmica e execução<br />
violonística:<br />
158
Os ‘afro-sambas’ consistem na criação de uma célula harmônico-percutiva,<br />
particularmente propícia à execução no violão, que sustenta um ritmo agressivo,<br />
vigoroso, acentuado, inspirado diretamente nos candomblés da Bahia. Uma<br />
estilização do material do batuque e do samba ‘primitivo’ baiano, suporte para<br />
melodias de frases curtas e cadências recorrentes, como um mantra ritual, que<br />
assume ares políticos ao enfocar a predominância de valores éticos (e estéticos)<br />
básicos, calcados na experiência ‘popular’. (NAPOLITANO, 2001: 115)<br />
Talvez seja possível pensar que, da mesma maneira que a batida da bossa nova<br />
pretendia sintetizar o som da escola de samba, a batida de afro-samba do violão de Baden<br />
Powell pretendia sintetizar o som dos rituais de candomblé da Bahia. Neste sentido, o trabalho<br />
da dupla se aproxima da abordagem feita por Edu Lobo do material folclórico nordestino,<br />
incorporando sua inspiração rítmica e melódica à estrutura harmônica elaborada a partir de<br />
procedimentos presentes na bossa nova e no jazz:<br />
Em linhas gerais, poder-se-ia definir o paradigma lançado pela obra de Edu Lobo,<br />
entre <strong>19</strong>64 e <strong>19</strong>65, como uma tentativa de uma canção épica nacional-popular,<br />
matizada nos efeitos contrastantes (poéticos e melódicos) e apoiada em acordes<br />
menos óbvios (uso constante da sétima e da nona) e arranjos mais funcionais e<br />
menos ornamentais. Por outro lado, Edu Lobo não dava prioridade ao gênero<br />
‘samba’ e seus efeitos rítmicos mais exuberantes. Daí, talvez, decorra a sensação de<br />
economia de meios e sutilezas que tem ao ouvir suas canções, sobretudo quando<br />
interpretadas por ele mesmo. (NAPOLITANO, 2001: 113)<br />
A presença das composições de Edu no repertório das três cantoras evidencia seu<br />
prestígio naquele momento. Intelectuais nacionalistas consideravam Edu o exemplo a ser<br />
seguido. Seu trabalho, especialmente em parceria com letristas como Ruy Guerra, Guarnieri<br />
ou Vinícius de Moraes, completava a “subida ao morro” com a “ida ao sertão” (Reza,<br />
Borandá, entre outras) na geografia da canção engajada. Daí ser apontado como antídoto ao<br />
deslocamento para fora protagonizado pela bossa nova: “A grande novidade trazida por Edu é<br />
159
que nele a influência do jazz foi definitivamente substituída pela música erudita de autores<br />
modernos brasileiros, acima de tudo o Villa-Lobos das Bachianas.” 166<br />
Tal afirmação questionável em face de depoimentos do próprio Edu Lobo. Em uma<br />
entrevista de <strong>19</strong>71, ele recusa o rótulo de “erudito” e afirma que nunca fez “pesquisa” e que a<br />
crítica se equivocava: “o sujeito passa a achar que você tem uma cultura musical que você não<br />
tem” 167 . Como já foi mostrado, foi primeiramente através da bossa nova o contato de Edu<br />
com Villa-Lobos. Havia uma tentativa de limar a presença envenenadora do jazz na obra de<br />
Edu para conferir-lhe atestado de “nacional e popular”. Mas como aponta NAPOLITANO,<br />
Edu mescla temas épicos com um tratamento sutil, o que pode ser visto como evidência da<br />
continuidade da influência da bossa e do jazz em seu processo criativo (NAPOLITANO,<br />
2001: 111). É exatamente esta gama de influências entrecruzadas que se apresenta nas<br />
gravações feitas pelas cantoras, ressaltando uma ou outra característica de acordo com a<br />
afinidade das mesmas com o estilo de cada uma.<br />
Vale lembrar que Edu ainda dividiria um disco com Maria Bethânia pelo selo Elenco<br />
em <strong>19</strong>66, trazendo, entre outras canções, Candeias, que Gal gravaria em seu disco de estréia,<br />
Veleiro e Pra dizer adeus (ambas com Torquato Neto) que Elis gravaria no mesmo ano em<br />
seu LP seguinte, Elis. Neste mesmo disco, a cantora gravou composições de Caetano e Gil.<br />
Exatamente as duas primeiras - Roda (G.Gil/ João Augusto) e Samba em paz (C. Veloso)<br />
exaltam o povo e posicionam-se favoravelmente a uma transformação social da qual o próprio<br />
samba - como expressão síntese do “popular” – é protagonista. Diz a canção de Caetano: “O<br />
samba vai vencer/ quando o povo perceber/ que é o dono da jogada”. Em tom de desafio,<br />
Roda cobra engajamento e preconiza a justiça social: “(...) Quero ver quem vai ficar/ quero<br />
ver quem vai sair (...) Se lá embaixo há igualdade/ Aqui em cima há de haver (...)”.<br />
166 RÉGIS, Flávio.op.cit., p. 368.<br />
167 Entrevista de Edu Lobo em O Pasquim, n° 103, 24-30/06/<strong>19</strong>71.<br />
160
O alinhamento de Gil e Caetano com a herança da bossa nova e as novas posições da<br />
canção engajadas é evidente em seus primeiros LPs, como se pode ouvir em Domingo,<br />
dividido pelo último com Gal, que ainda não trazia o sobrenome Costa na capa e no texto da<br />
contracapa. Canções de amor como Coração vagabundo e Nenhuma dor (C. Veloso/Torquato<br />
Neto) utilizam-se de procedimentos harmônicos e poéticos recorrentes na bossa nova. Em<br />
canções de Caetano como Um dia, Quem me dera e Remelexo, os acordes dissonantes e a<br />
“batida” aparecem ainda combinadas com elementos melódicos, arranjos (a cargo de Dori<br />
Caymmi, Francis Hime e Roberto Menescal) e temas que remetem à Bahia, denotando<br />
especialmente a influência da imagética e da sonoridade “litorâneas” de Dorival Caymmi.<br />
Surgem plantas, mares, flautas que emulam a brisa da praia, percussão, rodas de<br />
samba e expressões como “Valha-me Deus! Nossa Senhora!” (em Remelexo) e referências<br />
explícitas à paisagem local, como em Um dia: “No Raso da Catarina / Nas águas de<br />
Amaralina / Na calma da calmaria / Longe do mar da Bahia / limite da minha vida / Vou<br />
voltando pra você”. Completando o repertório, Gal canta composições de Edu Lobo<br />
(Candeias) e Sidney Miller (Maria Joana), esta última um belo exemplar de canção<br />
participante, com balanço bossanovista e letra engajada, idealizando o universo popular<br />
através da celebração do samba - “não é de nada quem não é de samba” - e fazendo a<br />
denúncia da injustiça social – “não vive bem quem nunca teve dinheiro / Não tem casa pra<br />
morar”.<br />
Importante notar, para todos os casos, que a interferência da performance das<br />
intérpretes deve ser considerada re-significadora das obras. Isto fica bem nítido quando são<br />
comparadas as versões de Flora e Elis para Reza - a primeira mais balançada, ágil,<br />
improvisada; a segunda, mais arrastada e dramática - ou de Nara e Elis para Berimbau – uma<br />
mais intimista, a outra mais energética. As cantoras aproximaram as composições de sua<br />
própria personalidade musical, o que de certo modo apara algumas diferenças que ficam mais<br />
161
audíveis nas interpretações dos próprios compositores. Suas performances revelam, portanto,<br />
semelhanças e contrastes dentro do repertório de canções engajadas, ingredientes disponíveis<br />
para apropriações que demonstravam divergências e interseções. Revelam também a<br />
proximidade entre os compositores e intérpretes de uma geração, inclusive aqueles que viriam<br />
a protagonizar o movimento tropicalista a partir de <strong>19</strong>67.<br />
A análise dos repertórios e gravações, dentro do recorte proposto, permite detectar<br />
uma situação limite, em que categorizações anteriores, como bossa nova e samba, começaram<br />
a ser questionadas. Daí o título de Samba-eu canto assim, que combina perfeitamente com o<br />
gesto expressivo de apresentação, com a mão estendida, da fotografia de Elis na capa do<br />
disco. Como o texto do encarte identifica o conteúdo do LP como música popular brasileira e<br />
moderna, pode-se entender que esta é a qualificação dada ao samba que ela canta. O título do<br />
LP de Flora, por outro lado, enfatiza a “moderna” e esquece a “brasileira”. Encontram-se<br />
presentes nos LPs, de forma significativa, modos diferentes de realização do “nacional”, do<br />
“popular” e do “brasileiro”. Entre termos tentados, abreviaturas permutadas e siglas lançadas<br />
como dados na mesa de jogo, insinuava-se a necessidade de uma nova categoria que pudesse<br />
compatibilizar os elementos da equação, para a qual as identificações de gênero ou<br />
movimento começavam a se mostrar insuficientes. Acabaria sendo: MPB.<br />
DISCOGRAFIA:<br />
COSTA, Gal; VELOSO, Caetano. Domingo. Philips LP, <strong>19</strong>67.<br />
LEÃO, Nara. Nara. Elenco LP, <strong>19</strong>64.<br />
_____. Opinião de Nara. Philips LP, <strong>19</strong>64.<br />
162
LOBO, Edu; BETHÂNIA, Maria. Edu Lobo e Maria Bethânia. Elenco LP, <strong>19</strong>66.<br />
PURIM, Flora. Flora é MPM. RCA Victor LP, <strong>19</strong>65.<br />
REGINA, Elis. Samba eu canto assim. Philips LP, <strong>19</strong>65.<br />
______. Elis. Philips LP, <strong>19</strong>66.<br />
VÁRIOS. Show Opinião. Philips LP, <strong>19</strong>65.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
ALMEIDA, Paulo Henrique de; PESSOTI, Gustavo C. A evolução da indústria fonográfica e<br />
o caso da Bahia, Bahia Análise & Dados , Salvador - BA SEI v.9 n.4, Março 2000, p.93-96.<br />
BASTOS, Rafael Menezes. A “origem do samba” como invenção do Brasil (Por que as<br />
canções tem música?). Revista Brasileira de Ciências Sociais, n º 31, ano 11, jun. <strong>19</strong>96,<br />
pp.156-177.<br />
CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. São Paulo: Perspectiva, <strong>19</strong>68.<br />
CONTIER, Arnaldo. Edu Lobo e Carlos Lyra: o nacional e o popular na canção de protesto<br />
(anos60). Revista Brasileira de História. São Paulo: ANPUH, v.18, n º35, <strong>19</strong>98, pp.13-52.<br />
FRITH, Simon. Performing rites: on the value of popular music. Cambridge/<br />
Massachusetts: Harvard University Press, <strong>19</strong>96.<br />
GARCIA, Luiz Henrique Assis. Na esquina do mundo: trocas culturais na música popular<br />
brasileira através da obra do Clube da Esquina (<strong>19</strong>60-<strong>19</strong>80). Belo Horizonte: UFMG, 2007.<br />
Tese (Doutorando) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de<br />
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.<br />
163
MARTÍN BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, <strong>19</strong>97.<br />
NAPOLITANO, M. Seguindo a canção: engajamento político e indústria cultural na MPB.<br />
São Paulo, Anna Blume/FAPESP, 2001.<br />
______. História e música. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.<br />
SAID, Edward W. Elaborações musicais. Rio de Janeiro: Imago, <strong>19</strong>92.<br />
SANDRONI, Carlos. Adeus à MPB. In: CAVALCANTE, Berenice (et al.). Decantando a<br />
República v.1. São Paulo: Fundação Perseu Abramo / Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.<br />
SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, <strong>19</strong>90.<br />
SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo. São Paulo: Editora Unesp, 2001.<br />
TATIT, Luiz. O cancionista: composição de canções no Brasil. São Paulo: EDUSP, <strong>19</strong>98.<br />
______. Canção, estúdio e tensividade. Revista USP, dez./jan./fev., <strong>19</strong>90, pp, 41-44.<br />
ULHÔA, Martha Tupinambá de. Pertinência e música popular – em busca de categorias para<br />
análise da música brasileira popular. In: Actas del III CONGRESSO LATINOAMERICANO<br />
DE LA ASSOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA MÚSICA<br />
POPULAR, 2000.<br />
______. Categorias de avaliação estética da MPB – lidando com a recepção da música<br />
brasileira popular. In: Actas del IV CONGRESSO LATINOAMERICANO DE LA<br />
ASSOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA MÚSICA POPULAR,<br />
2002.<br />
164
VALENTE, Heloísa de Araújo D. Os canto da voz: entre o ruído e o silêncio. São Paulo:<br />
Annablume, <strong>19</strong>99.<br />
VIANNA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, <strong>19</strong>95.<br />
WISNIK, José Miguel. Algumas questões de música e política no Brasil. In: BOSI, Alfredo<br />
(org.). Cultura brasileira: temas e situações. São Paulo: Ática, <strong>19</strong>87.<br />
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. São Paulo: Companhia das Letras, <strong>19</strong>93.<br />
165
A fuga escrava no jornal Astro de Minas: o conflito na relação senhor - escravo (1827-1839)<br />
168<br />
Elisa Vignolo Silva<br />
Resumo: Nesse artigo apresentaremos os anúncios de escravos foragidos do jornal Astro de<br />
Minas, que circulou na região de Minas Gerais e adjacências, entre os anos de 1827 e 1839. A<br />
partir desses anúncios de escravos foragidos, que evidenciam o conflito das relações senhor-<br />
escravo procurou-se discutir a organização senhorial para recapturar o escravo foragido e a<br />
presença de maus tratos como indício de uma ruptura da relação paternalista.<br />
Palavras- chave: Anúncio; escravo foragido; relação senhor- escravo, conflito.<br />
Abstract: This article reports to fugitive slaves advertisements in the ASTRO DE MINAS<br />
journal which spread out from 1827 to 1839 in the region of Minas Gerais.<br />
From these advertisements, that notice the conflict in relationship between masters and slaves,<br />
we tried to discuss the master organization for fugitive slaves capture and the announcement<br />
of badly treatments as broken paternal arrangement indication.<br />
Key-words: Advertisement; fugitive slaves; paternal relationship; conflict.<br />
168 Esse artigo é parte da dissertação de mestrado defendida em 2009, intitulada “Alforriados e “Fujões”: a<br />
relação senhor - escravo na região de São João del-Rei (1820-1840)”.<br />
166
Os jornais mineiros do século XIX costumavam ter uma parte dedicada a anúncios<br />
diversos, tais como a venda de moradas, animais e escravos. Outros anúncios encontrados<br />
com freqüência são os de escravos que haviam fugido de seus proprietários, esses anúncios<br />
são praticamente a única fonte onde podemos encontrar o registro de fugas escravas. 169 Em<br />
São João del-Rei, entre os anos de 1827 e 1844, foram publicados doze periódicos. 170 Dentre<br />
eles, optamos por estudar os anúncios de escravos foragidos do jornal Astro de Minas, essa<br />
escolha justifica-se por este ter sido o primeiro periódico publicado e o que circulou por um<br />
período maior - de 1827 a 1839 - além do que, grande parte de seus exemplares foi preservado<br />
e micro filmado pela Biblioteca Nacional.<br />
O Astro de Minas era impresso na tipografia de Batista Caetano de Almeida, cidadão<br />
importante da sociedade são-joanense, sendo, inclusive, o fundador da primeira biblioteca<br />
pública de Minas Gerais. 171 O redator do Astro de Minas era o Padre José Antônio Marinho,<br />
que teve sua instrução nos seminários brasileiros, e não em Portugal como era de costume na<br />
época, fato que provavelmente contribuiu para sua postura política liberal. 172 Além desse<br />
periódico, Marinho também redigiu o Jornal da Sociedade Promotora de Instrução Pública;<br />
Oposição Constitucional e o Americano. (MOREIRA, 2006, p. 58-61)<br />
O Astro de Minas tinha tiragens às terças, quintas, e sábados, e, em geral, cada jornal<br />
apresentava quatro páginas. Os avisos ficavam na última página do periódico e anunciavam<br />
assuntos diversos como a venda de escravos e de moradas, o extravio de animais e,<br />
169 Exemplo de autores que trabalharam com essa modalidade de fonte: FREYRE, Gilberto. O escravo nos<br />
anúncios de jornais brasileiros do século XIX. Recife: Imprensa Universitária. <strong>19</strong>63; MOTT, Luiz. Os<br />
escravos nos anúncios de jornal em Sergipe. Anais do V Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Águas de<br />
São Pedro, Associação Brasileira de Estudos Populacionais, vol.1, <strong>19</strong>86; REIS, Liana Maria. Escravos e<br />
Abolicionismo na Imprensa Mineira – 1850-1888. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: Departamento de<br />
História / FAFICH/UFMG, <strong>19</strong>93; SCHWARCZ, Lilia Moritz. Retrato em branco e negro: jornais, escravos e<br />
cidadãos em São Paulo no final do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, <strong>19</strong>87.<br />
170 Ver: CAMPOS, Maria Augusta de Amaral. A marcha da civilização: as vilas oitocentistas de São João del-<br />
Rei e São José do Rio das Mortes. <strong>19</strong>98. Dissertação (Mestrado) – FAFICH/UFMG, <strong>19</strong>98.<br />
171 Ver: VELLASCO, Ivan de Andrade. O cenário e as fontes. In: As seduções da ordem: violência,<br />
criminalidade e administração da justiça: Minas Gerais – século <strong>19</strong>. São Paulo: EDUSC, 2004.<br />
172 Para saber mais sobre a posição política da imprensa em Minas Gerais, ver: MOREIRA, Luciano da Silva.<br />
Imprensa e Política: Espaço público e cultura política na província de Minas Gerais 1828-1842. Belo<br />
Horizonte, FAFICH/UFMG: dissertação de Mestrado, 2006.<br />
167
principalmente, os avisos de escravos foragidos. Estes últimos, geralmente, continham o<br />
nome do proprietário, a idade do escravo, de onde fugiu, quando fugiu, sua etnia, sua<br />
ocupação, suas características físicas, tais como marcas e ferimentos e a roupa que<br />
provavelmente vestia no dia em que sumiu. Ao final do anúncio, além de acrescentar<br />
informações diversas, o senhor geralmente prometia pagar os custos de quem capturasse o<br />
foragido e, por vezes, prometia gratificações. Vejamos um exemplo de aviso:<br />
A Antônio Teixeira Pinto, morador em Pouso Alto, fugiu um escravo crioulo de<br />
nome Vicente, idade 22 a 25 anos, estatura alta, cara comprida, e grande, nariz<br />
chato, dentes arruinados, fala fina; fulla, pés grandes, tem um sinal em uma das<br />
sobrancelhas. Quem delle souber queira remetter a seo Sr, que dará alvíssaras além<br />
das despesas. 173<br />
Entendemos que os anúncios fossem um meio eficaz para trazer os cativos de volta,<br />
afinal, em praticamente todas as semanas de existência do Astro de Minas, era anunciado pelo<br />
menos um escravo foragido. No entanto, os periódicos não nos fornecem dados concretos para<br />
sabermos se os avisos ajudavam a localizar o fugitivo. Pudemos constatar alguns avisos de<br />
agentes das cadeias informando que haviam sido capturados e presos escravos foragidos. Por<br />
exemplo: “Acha-se na cadeia de Tamanduá um negro inda boçal de nome José Nação<br />
Cassange, estatura pequena, delgado de corpo, rosto comprido, olhos pequenos, sem barba; e<br />
diz que seu senhor chama-se Manoel Ferreira, foi apanhado no distrito de [Uberaba].” 174<br />
Também foi localizado um aviso do proprietário do escravo fugitivo comunicando, a quem<br />
estivesse em busca de seu cativo, que já o havia localizado:<br />
173 Astro de Minas, nº 612, quinta-feira, 27/10/1831.<br />
174 Astro de Minas, nº 740, sábado, 25/08/1832.<br />
175 Astro de Minas, nº 1094, 5ª-feira, 20/11/1834.<br />
Antônio Francisco Teixeira Coelho faz ciente aos seus agentes que dirigiu para os<br />
sertões em diligência de prenderem um escravo do mesmo que lhe fugira em<br />
principio de agosto P.P, e que este já se acha preso, e dessa mesma parte aos seus<br />
amigos que nessa diligência se havia empenhado. 175<br />
168
Através dos avisos também pudemos perceber que havia uma ajuda mútua entre os<br />
senhores escravista para capturarem os foragidos. Existem alguns anúncios em que os<br />
senhores sequer registram a promessa do pagamento das despesas com a captura do escravo,<br />
como é o caso de Antônio José Pacheco, que mesmo sendo seu escravo um alfaiate, não<br />
prometeu recompensas e nem mesmo o pagamento das despesas com a captura ou as<br />
informações sobre seu escravo. 176 Já D. Teresa de Jesus Pinto pede por caridade que lhe dêem<br />
notícias de sua escrava já um tanto idosa que lhe havia fugido, prometendo em troca,<br />
“agradecer segundo suas possibilidades.” 177 O mais freqüente eram os avisos em que havia a<br />
promessa de pagar somente as despesas com a captura. Mesmo assim, houve senhores que<br />
prometeram gratificações generosas, como podemos perceber neste aviso: “o abaixo assinado,<br />
administrador da dita fazenda, se compromete a dar alvíssaras 40$000 rs., além de pagar as<br />
despesas, a quem o apresentar na mesma fazenda, ou preso em qualquer Cadeia – Francisco<br />
dos Antunes Guimarães.” 178<br />
O Capitão João Pedro Diniz Junqueira avisou, em abril de 1829, que tinha um escravo<br />
pardo de nome Domingos, de 18 a 20 anos, foragido. Junqueira pedira a quem o encontrasse<br />
que o devolvesse, e, se assim o fizesse, receberia além das despesas, 20 réis de gratificação. 179<br />
Embora não dê para saber se esse senhor recapturou seu escravo, pudemos perceber, em outro<br />
aviso, feito alguns meses depois pelo mesmo Cap. Junqueira, sua solidariedade a outro<br />
proprietário que também tivera um escravo foragido:<br />
176 Astro de Minas, nº 822, 5ª-feira, 07/03/1833.<br />
177 Astro de Minas, nº 678, 5ª-feira, 29/03/1832.<br />
178 Astro de Minas, nº 900, 3ª-feira, 20/08/1833.<br />
179 Astro de Minas, nº 215, 5ª-feira, 02/04/1829.<br />
180 Astro de Minas, nº 320, sábado, 05/12/1829.<br />
Apareceu na [Treituba] um moleque novo, que apenas diz que seu Sr. chama-se<br />
Estevão, e que mora longe, é de estatura baixa, ponta de buço, e tem uma falta de<br />
cabelo em um lado da cabeça, e chama-se José, foi preso no Angahi fazenda do<br />
Coronel João Pedro Diniz Junqueira, quem for seu dono queira mandar procurálo.<br />
180<br />
169
Além do Cap. Junqueira, outros senhores anunciaram em folha pública ter localizado<br />
um escravo de outro proprietário. Vejamos o seguinte aviso:<br />
No dia 11 de março apareceram em casa do Cap. João Rodrigues Correa de Barros,<br />
morador na fazenda da Lagoinha Freguesia de Baependy, dois escravos novos, os<br />
quais não sabem dizer de quem são, por não saberem bem falar; um, de nação<br />
Cabinda, e outro, Congo, quem for seu dono pode procurá-los, que se lhes entregará<br />
dando os sinais. 181<br />
Na frase recorrente nos avisos “quem delle souber queira remetter a seo dono,” já<br />
estão subentendidas tanto a fuga quanto a organização dos senhores na busca por seus<br />
escravos foragidos. Afinal, recapturar um escravo fugitivo significava muito mais do que<br />
sanar os prejuízos do senhor: serviria de exemplo aos demais cativos e poderia evitar novas<br />
fugas. Como a manutenção da ordem escravista era um interesse de todos os proprietários de<br />
escravos, podemos inclusive, dizer que era função da sociedade como um todo a recaptura de<br />
um escravo fugido.<br />
O auxílio aos senhores para recapturarem seus escravos podia vir, inclusive, de regiões<br />
distantes, como é o caso do seguinte anúncio:<br />
Acha-se na cadeia da cidade de Cuiabá, Província de Mato-Grosso, um homem<br />
pardo de nome Venâncio, estatura ordinária, e alguma barba: o qual sendo preso pela<br />
Patrulha de Polícia a 22 de dezembro de 1832 declarou ser escravo de Joaquim<br />
Thomaz de Aquino, morador no Rio Grande, nas Lavras do Funil da Província de<br />
Minas Gerais. Portanto, faz-se o presente anúncio para que chegando a notícia ao<br />
seu Senhor, este o mande receber apresentando documento que o habilite. 182<br />
Na sociedade estudada houve uma solidariedade, uma ajuda mútua entre os senhores<br />
de diversas regiões, a fim de se preservar a ordem escravista. Entretanto, a freqüente fuga<br />
escrava, evidente através da recorrência de avisos de cativos foragidos, demonstra que,<br />
mesmo envoltos em diversos mecanismos de dominação, os escravos não deixaram de fugir,<br />
e, às vezes, até para regiões distantes como foi o caso do escravo do anúncio acima.<br />
181 Astro de Minas, nº 215, 5ª-feira, 02/04/1829.<br />
182 Astro de Minas, nº 917, sábado, 28/09/1833.<br />
170
Possivelmente muitos dos proprietários nunca chegaram a ver novamente seus<br />
escravos, fato que pode ser constatado nos avisos em que os senhores mencionam que<br />
procuram há muitos anos seus cativos desaparecidos: “a Melquiadeo José da Silveira Ferraz<br />
fugiu há sete anos o escravo José Nação Moçambique;” 183 “a Domingos José Dantas de<br />
Amorim fugiu há quatro anos o crioulo Florêncio;” 184 “Haverá uns cinco anos, que fugiu do<br />
Padre Julião Antônio da Silva Resende o escravo Joaquim Ventura, preto da Costa;” 185 “há<br />
mais de ano que o Coronel Severino [Eulogio] Ribeiro não vê seu crioulo Alexandre.” 186<br />
A fuga de um escravo, mesmo que por um período curto, certamente significava um<br />
prejuízo tanto econômico quanto para a autoridade do senhor escravista. Os proprietários,<br />
provavelmente, laçaram mão de práticas paternalistas concedendo certos benefícios aos<br />
escravos para que estes permanecessem submissos no cativeiro. Visto dessa forma, a fuga de<br />
um escravo de determinada fazenda pode ter ajudado aos cativos que lá ficaram a<br />
reivindicarem melhores condições dentro do cativeiro, 187 ou mesmo, a fuga podia ser uma<br />
estratégia do escravo de reivindicar algo que seu senhor não lhe queria conceder. 188 No<br />
entanto, devido às especificidade de cada sujeito, não podemos afirmar que melhor condição<br />
de cativeiro garantiria a submissão dos escravos.<br />
O PATERNALISMO NOS ANÚNCIOS DE JORNAIS<br />
183<br />
Astro de Minas, nº 784, 5ª-feira, 06/12/1832.<br />
184<br />
Astro de Minas, nº 808, sábado, 02/02/1833.<br />
185<br />
Astro de Minas, nº 1034, 5ª-feira, 03/07/1834.<br />
186<br />
Astro de Minas, nº 918, 3ª-feira, 01/10/1833.<br />
187<br />
A esse respeito Eduardo Silva divide as fugas em: fugas reivindicatórias e fugas rompimento (SILVA 2005,<br />
p. 63).<br />
188<br />
“Nesses casos, as fugas não são uma estratégia direta para a liberdade de fato, ou seja, eles não buscam sumir<br />
definitivamente da vista do senhor, mas simplesmente colocar-se em posição melhor para influenciar seus<br />
próprios destinos, colocados em xeque por ameaças de venda ou por morte de senhor. (...).” (MATTOS, <strong>19</strong>85,<br />
p.170)<br />
171
A fim de facilitar a identificação do escravo, por aquele que o encontrasse, os senhores<br />
faziam uma breve descrição das principais características físicas dos foragidos. As descrições<br />
englobavam os aspectos naturais à pessoa do escravo, as cicatrizes decorrentes de castigos<br />
físicos, de ferimentos acidentais ou de doenças, além de relatarem os sinais de nação, a roupa<br />
que vestiam ou mesmo, que levaram na ocasião da fuga. Ressaltamos que não são em todos os<br />
avisos que encontramos essa variedade de descrição, sendo que alguns poucos se limitavam a<br />
apenas dizer o nome do escravo e o valor da gratificação paga a quem o localiza-se.<br />
Entendemos que o excesso de maus tratos infligidos aos escravos no cativeiro pode ter<br />
sido um dos motivos que os levaram a fugir. Essa asseveração tem como base o estudo de<br />
Sílvia Hunold Lara (<strong>19</strong>88). A autora se fundamenta em fontes empíricas, e, principalmente,<br />
nas considerações de determinados jesuítas 189 para afirmar que o castigo medido e pedagógico<br />
não levaria à insurgência escrava (LARA, <strong>19</strong>88, p. 49-56). Vejamos uma passagem na qual<br />
Lara analisa o jesuíta Benci:<br />
O discurso desse jesuíta sobre os castigos aconselhava basicamente moderação; ou<br />
seja, cuidado para que o excesso das punições não levasse o escravo a escapar do<br />
domínio senhorial (por fuga, suicídio ou morte), para que o poder não fosse<br />
prejudicado com seu exercício brutal, para que a punição, atemorizando o escravo,<br />
tornasse efetiva a sua sujeição. Assim, mais que uma forma humanitária da relação<br />
senhor-escravo, Benci pretendia orientar o sentido de preservar, com segurança, a<br />
continuidade do domínio senhorial. (LARA, <strong>19</strong>88, p. 50)<br />
Lara demonstrou que, principalmente a partir da década de <strong>19</strong>70, a historiografia<br />
passou a perceber que o caráter violento da escravidão não excluía necessariamente o seu<br />
aspecto paternalista. (LARA, <strong>19</strong>88, p. 97-113). Desse modo, o proprietário de escravos<br />
poderia ser ao mesmo tempo, paternalista, benevolente, ou mesmo, violento e cruel com seus<br />
189 Rafael de Bivar Marquese (2004) também analisa o discurso dos jesuítas sobre o governo dos escravos na<br />
América. Marquese busca identificar, através de textos de intelectuais contemporâneos a escravidão, entender o<br />
pensamento escravista e os mecanismos utilizados pelos senhores a fim de tornar mais lucrativo o sistema<br />
escravista. Ver: MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do Corpo, missionários da mente: senhores, letrados e<br />
o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.<br />
172
escravos. Entretanto, a violência deveria seguir certos limites a fim de se evitar que os<br />
escravos se insurgissem contra o cativeiro.<br />
Márcia Amantino (2007) estudou 1.047 anúncios de escravos foragidos publicados ao<br />
longo do ano de 1850 no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro. A autora identificou em<br />
409 anúncios informando sobre as condições de saúde e do corpo do escravo foragido.<br />
Através deles, Amantino discutiu diversos aspectos da saúde dos escravos foragidos.<br />
(AMANTINO, 2007, p. 1380). Mesmo não sendo o objetivo de Amantino analisar,<br />
especificamente nesse artigo, os motivos que levaram os escravos a fugir, a autora faz a<br />
seguinte consideração:<br />
Para concluir, pode-se afirmar que as evidências de condições patológicas<br />
levantadas a partir dos anúncios de fujões aqui discutidos, pela sua natureza e pela<br />
freqüência em que ocorrem, parecem reforçar a hipótese de que um dos grandes<br />
motivos que levavam o escravo a fugir eram os maus-tratos, infligidos, talvez, com<br />
intenção de marcar o corpo como lição àquele e a outros rebeldes. Como maus-tratos<br />
consideramos não só os castigos físicos, mas também a má alimentação e a quebra<br />
nos direitos adquiridos. (AMANTINO, 2007, p. 1393)<br />
Assim, entre as descrições dos escravos nos anúncios do periódico Astro de Minas<br />
levantamos aquelas que servem de indício da existência de maus-tratos no cativeiro para, a<br />
partir daí, discutir o código paternalista, no qual o senhor deveria respeitar determinadas<br />
regras estabelecidas no âmbito privado das relações escravistas a fim de manter seu domínio<br />
sobre os seus escravos.<br />
Consideramos como vestígios de maus tratos, os relatos dos senhores que explicitaram<br />
as marcas provenientes de torturas físicas, de acidentes de trabalho e as que demonstram<br />
serem decorrentes de doenças. Nessa quantificação dos escravos anunciados,<br />
desconsideramos aqueles relatos que mencionam o fato de o escravo ter os pés rachados e a<br />
falta de dentes. Assim, entendemos que os maus tratos poderiam estar descritos de três<br />
173
formas: as descrições que explicitam o castigo físico, <strong>19</strong>0 as que aparentam serem em<br />
decorrência de acidentes de trabalho e as decorrentes de doenças.<br />
A título de exemplo, transcrevemos as seguintes marcas que evidenciam a presença de<br />
castigos físicos: “(...) marca em forma de cruz no meio do peito”; <strong>19</strong>1 “falta-lhe parte de um<br />
dedo na mão direita”; <strong>19</strong>2 “tem um olho arregalado por causa de uma queimadura”; <strong>19</strong>3 “tem as<br />
mãos aleijadas por causa de uma queimadura”; <strong>19</strong>4 “cicatriz na garganta de golpe de<br />
navalha”; <strong>19</strong>5 “com uma orelha a menos”; <strong>19</strong>6 “com bastantes cicatrizes nas pernas e braços”; <strong>19</strong>7<br />
“faltam-lhe as unhas dos dedos grandes dos pés”; <strong>19</strong>8 “tem dois sinais na cabeça de brechas”; <strong>19</strong>9<br />
“tem a falta de um olho, sinal de um golpe no beiço de cima,”; 200 “com falta de parte de um<br />
dedo da mão esquerda”; 201 “tem uma cicatriz de uma facada, que levou pouco abaixo do<br />
estomago”; 202 “tem uma perna cortada, anda de muletas”; 203 “com uma tortura em um dedo da<br />
mão”; 204 “com sinais de castigo nas costas e nádegas”; 205 “sinais de ferro na testa”; 206 “com<br />
muitos sinais de açoites nas costas.” 207<br />
Em muitos dos sinais de ferimentos, há indícios de que foram causados por acidentes<br />
de trabalho, ou mesmo em decorrência da prática repetitiva do ofício que exerciam.<br />
Apresentamos os seguintes exemplos: “tem no dedo polegar da mão direita o sinal de um<br />
<strong>19</strong>0 A menção ao fato de o escravo ter algum membro torto também foi incluído, na forma de castigo físico, como<br />
no seguinte caso: “tem uma perna arcada por ter sido quebrada.” Astro de Minas, nº 1003, 3ª-feira, 22/04/1834.<br />
<strong>19</strong>1 Astro de Minas, nº 148, 3ª-feira, 28/10/1828.<br />
<strong>19</strong>2 Astro de Minas, nº 1<strong>19</strong>, 5ª-feira, 21/08/1828.<br />
<strong>19</strong>3 Astro de Minas, nº 222, sábado, 18/04/1829.<br />
<strong>19</strong>4 Astro de Minas, nº 251, sábado, 27/06/1829.<br />
<strong>19</strong>5 Astro de Minas, nº 396, 5ª-feira, 03/06/1830.<br />
<strong>19</strong>6 Astro de Minas, nº 399, 5ª-feira, 10/06/1830.<br />
<strong>19</strong>7 Astro de Minas, nº 535, sábado, 30/04/1831.<br />
<strong>19</strong>8 Astro de Minas, nº 608, 3ª-feira, 18/10/1831.<br />
<strong>19</strong>9 Astro de Minas, nº 707, 5ª-feira, 07/06/1832.<br />
200 Astro de Minas, nº 730, 3ª-feira, 31/07/1832.<br />
201 Astro de Minas, nº 758, sábado, 06/10/1832.<br />
202 Astro de Minas, nº 758, sábado, 06/10/1832.<br />
203 Astro de Minas, nº 1132, 5ª-feira, <strong>19</strong>/02/1835.<br />
204 Astro de Minas, nº 1<strong>19</strong>4, 3ª-feira, 14/07/1835.<br />
205 Astro de Minas, nº 1<strong>19</strong>6, sábado, 18/07/1835.<br />
206 Astro de Minas, nº 1208, 5ª-feira, 20/08/1835.<br />
207 Astro de Minas, nº 1293, 3ª-feira, 08/03/1836.<br />
174
golpe na “juneta” principal do mesmo dedo, que tem dura”; 208 “tem um sinal de golpe de<br />
machado em um pé”; 209 “aleijado de uma mão, e seu ofício é carpinteiro"; 210 “é alfaiate tem o<br />
dedo calejado de tesoura”; 211 “queimadura nas costas, é ferrador e arrieiro”; 212 “calos nas<br />
mãos de puxar linhas de sapateiro, de que é perfeito oficial”; 213 “tem uma cicatriz no pulso de<br />
um dos braços causado de um “puxavante,” por ser o dito tocador de tropa, outra dita na<br />
canela estendida ao comprido. ” 214<br />
Também consideramos como prova circunstancial de maus-tratos algumas marcas<br />
decorrentes de doenças, como é o caso da recorrente referência: “com sinais de bexiga”; 215<br />
“teve uma fístula na cara”; 216 “teve um formigueiro na barriga, de que lhe ficarão sinais”; 217<br />
“tem o rosto comido de bexigas”; 218 “com sinais de fístula no queixo da parte direita, a qual<br />
ainda não está bem sã, e o rosto daquela parte alguma coisa inflamado”; 2<strong>19</strong> “tem no tornozelo<br />
uma chaga.” 220<br />
Seria enfadonho e triste repetirmos todas as descrições de maus tratos, até porque elas,<br />
por vezes, se assemelham. Entretanto, acreditamos que as citações acima ilustrem bem o que a<br />
fonte nos apresenta. Poderíamos inclusive, ser questionados quanto à separação que fizemos<br />
de os maus-tratos serem em decorrência de castigos físicos, acidentes de trabalho ou de<br />
doenças. Principalmente porque a falta de um dedo pode ser indício de um acidente de<br />
trabalho, e não de um castigo físico, a ausência de um olho pode ser decorrente de uma<br />
doença, e o golpe de faca pode ter sido deflagrado em uma briga com outro cativo. No<br />
208 Astro de Minas, nº 217, 3ª-feira, 07/04/1829.<br />
209 Astro de Minas, nº 262, 5ª-feira, 23/07/1829.<br />
210 Astro de Minas, nº [ ], [ ], [ ]/08/1830.<br />
211 Astro de Minas, nº 822, 5ª-feira, 07/03/1833.<br />
212 Astro de Minas, nº 845, 5ª-feira, 18/04/1833.<br />
213 Astro de Minas, nº 1458, sábado, 01/04/1837.<br />
214 Astro de Minas, nº 1461, sábado, 15/04/1837.<br />
215 Astro de Minas, nº 394, sábado, 29/05/1830.<br />
216 Astro de Minas, nº 395, 3ª-feira, 01/06/1830.<br />
217 Astro de Minas, nº 517, 5ª-feira, 17/03/1831.<br />
218 Astro de Minas, nº 600, 5ª-feira, 29/09/1831.<br />
2<strong>19</strong> Astro de Minas, nº 646, sábado, 14/01/1832.<br />
220 Astro de Minas, nº 1044, sábado, 26/07/1834.<br />
175
entanto, na maioria dos anúncios não há uma pormenorização das causas das marcas no corpo<br />
dos escravos. Assim, inferimos ser acidente de trabalho quando o senhor explicita um ofício<br />
que poderia ter como conseqüência a referida marca. Consideramos castigo físico quando há<br />
indícios para tal, e claro, quando há a referência literal de a marca ser em decorrência de<br />
tortura. No caso das doenças, há a menção clara a sua existência, como é o caso das fístulas,<br />
das bexigas e dos formigueiros, no entanto, alguns desses podem ter sido em decorrência de<br />
algum castigo físico.<br />
Consideramos que a presença de algumas marcas de doenças e de acidentes de<br />
trabalho indique a ocorrência de maus-tratos. Temos também como fundamento para essa<br />
assertiva as análises de Gilberto Freyre. Esse autor foi pioneiro no Brasil a analisar a<br />
escravidão a partir dos anúncios de jornais. 221 Ainda na década de <strong>19</strong>30, Freyre apresentou<br />
uma conferência sobre o assunto e, posteriormente, um ensaio. Tempos depois, aprofundou no<br />
tema, ao recolher mais de dez mil anúncios de escravos foragidos, e publicou em <strong>19</strong>63 o livro:<br />
“O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX.” Freyre, quando analisa as<br />
deformações físicas dos escravos fugitivos anunciados, faz as seguintes considerações:<br />
O certo é que os anúncios de negros fugitivos, no Jornal do Commercio, do Rio, no<br />
Diário de Pernambuco, no Diário do Rio de Janeiro, em outras gazetas brasileiras<br />
do tempo do Império, por nós examinados, estão cheios de negros de “pernas<br />
cambaias”, “joelho tocando um no outro”, “pernas tortas para dentro”, “joelhos<br />
metidos para dentro”, “pernas e braços exageradamente finos”, “zambos”,<br />
arqueados, peitos estreitos, cabeças puxadas para trás ou achatadas de lado. O fato<br />
de virem da África para o Brasil em viagens que duravam meses, e aos magotes, uns<br />
por cima dos outros, nos porões úmidos, tantos negros ainda moleques e<br />
molequinhos, torna admissível que fossem efeitos de raquitismo algumas daquelas<br />
freqüentes deformações das pernas e da cabeça. Também o regime de trabalho e de<br />
alimentação em certas fazendas e para certo número de escravos – trabalho desde<br />
quase a madrugada até o sol posto, debaixo de telheiros acachapados e acrescidos de<br />
alimentação deficiente e de dormida no chão, em senzalas úmidas e fechadas –<br />
221<br />
“Vários historiadores já atentaram para a importância desse material, mas foi Gilberto Freyre quem o<br />
trabalhou de forma mais sistemática.<br />
“Anunciologia” (ou “ciência dos anúncios”) foi o nome adotado por Freyre para caracterizar o que ele<br />
mesmo se propunha a trabalhar. Através dos anúncios referentes a escravos, Freyre buscou reconstituir as<br />
características da população negra residente no Brasil, verificando sua constituição física e psicológica. Dessa<br />
maneira e a partir desse trabalho, esse autor trouxe importantes contribuições, na medida em que, além de<br />
descrever os tipos de negros residentes no Brasil, reconstituiu vocábulos e mesmo costumes da época.”<br />
(SCHWARCTZ, <strong>19</strong>87, p. 137)<br />
176
talvez favorecesse o raquitismo, apesar de todo o desfavor dos trópicos. (FREYRE,<br />
<strong>19</strong>63, p. 221-222)<br />
Portanto, com base nessa passagem do livro de Gilberto Freyre consideramos estas<br />
deformações, que por vezes estão detalhadas nos anúncios, como indicativas de maus-tratos<br />
sofridos pelos escravos no cativeiro. E visto a dificuldade em demarcar a origem de certos<br />
sinais no corpo do escravo, resolvemos simplificar a quantificação e agrupar os anúncios de<br />
escravos foragidos em dois níveis: os que mencionam a ocorrência de maus-tratos; e os que<br />
não mencionam. Vejamos a tabela resultante desta quantificação:<br />
TABELA 1 Ocorrência de maus tratos nos anúncios de escravos foragidos do periódico Astro de Minas<br />
Maus tratos Total %<br />
Menciona 128 44%<br />
Não menciona 166 56%<br />
Total 294 100<br />
Fonte: dados obtidos a partir das informações constantes no conjunto de avisos de escravos<br />
foragidos do jornal Astro de Minas.<br />
Com essa quantificação, percebemos que o número de escravos foragidos que<br />
apresentavam algum sinal de maus-tratos é significativo, chegando à quase metade dos<br />
anúncios analisados. No entanto, devemos ponderar quanto ao fato de que nem toda forma de<br />
tortura física deixara marcas no corpo do escravo, além do que, nem todos os senhores devem<br />
ter relatado os vestígios de maus-tratos de seus cativos. Assim, podemos inferir que o número<br />
de fugitivos que sofreram maus-tratos no cativeiro pode ter sido ainda maior. Entretanto, não<br />
é nossa pretensão extrapolar as informações que a fonte nos traz, por isso, nos deteremos a<br />
analisar o fato de 44% de os escravos foragidos apresentarem indícios de maus-tratos.<br />
Freyre, ao analisar as marcas de castigos ou de punições nos escravos foragidos,<br />
afirma que “não nos deve horrorizar demasiadamente, nos escravos fugidos, marcas nas<br />
nádegas de castigo ou sinais de punição; lubambos nos pés; correntes nos pés. Tais castigos<br />
faziam parte da rotina de todo um complexo sistema de relações de escravos com seus<br />
177
senhores.” (FREYRE, <strong>19</strong>63, p. 33). Nessas relações, o autor entende que o castigo tinha uma<br />
função pedagógica, de educação do cativo, e não só o escravo era educado dessa forma<br />
violenta na sociedade patriarcal, mas também o filho do senhor. Vejamos novamente nas<br />
palavras do autor:<br />
Mas esse patriarca que punia igualmente os filhos. Dentro do sistema patriarcal<br />
brasileiro, o menino branco e senhoril – o sinhozinho – era também castigado com<br />
palmatória, com vara de marmelo; preso nas cafuas; posto de joelho sobre o grão de<br />
milho. O castigo ao escravo, como o castigo ao filho de família fazia parte de um<br />
sistema de educação, de assimilação e de disciplina – o patriarcal – que não podia<br />
desmanchar-se em ternuras para com os necessitados de educação, de assimilação e<br />
de disciplina. Para se integrarem nos papéis ou nas funções que deviam<br />
desempenhar nesse sistema, escravo e menino precisavam ser disciplinados,<br />
assimilados e educados pelos brancos e pelos adultos à maneira da época, que era<br />
uma maneira da qual ninguém concebia que estivesse ausente a palmatória ou o<br />
chicote; o castigo que doesse no corpo; a punição cruamente física.” (FREYRE,<br />
<strong>19</strong>63, p. 32-33)<br />
Assim, Freyre entende que as marcas de castigos físicos nos escravos são em<br />
decorrência de uma tentativa de educar o cativo, e que fazia parte da relação patriarcal<br />
presente na sociedade brasileira de então. Entretanto, esse autor não considera que a violência<br />
pedagógica praticada contar o escravo devesse ser medida e ponderada a fim de que o escravo<br />
não se rebelasse. Em outras palavras, Freyre não faz considerações sobre o fato de que o<br />
castigo com fins pedagógicos deveria ter certos limites e que se por acaso extrapolados<br />
poderia levar o escravo a fugir.<br />
Entendemos que a violência física praticada contra os escravos de forma desmedida,<br />
sem o caráter pedagógico, poderia romper com a relação paternalista estabelecida entre os<br />
dominados e os dominantes. E assim, seria um dos fatores que acabou por culminar com a<br />
fuga dos escravos. A violência física medida, com um caráter pedagógico, determinada pelo<br />
costume, era integrante do sistema paternalista, e a ruptura com essas características,<br />
acabaram por levar a uma conseqüente quebra da relação paternalista dos senhores com seus<br />
escravos que pudessem culminar com uma possível fuga do cativo.<br />
178
Assim, entendemos que o exagero nos castigos e as más condições do cativeiro podem<br />
ter causado essa ruptura na relação paternalista entre senhores e escravos. O paternalismo,<br />
entendido aqui como um elemento que engloba simultaneamente as atitudes bondosas e as<br />
cruéis dos dominantes com seus dominados, pode ter sido negligenciado pelos senhores.<br />
Podemos questionar o porquê dessa negligência não ter ocasionado a fuga de todos os cativos<br />
de um mesmo senhor? Como resposta a esta pergunta, poderíamos pensar que a relação<br />
paternalista estabelecida entre os senhores e seus cativos, era uma relação personalizada,<br />
individualizada, e que, por isso, alguns escravos de um mesmo plantel acabaram fugindo, e<br />
outros não.<br />
Assim, os anúncios de escravos foragidos do jornal Astro de Minas é clarificador no<br />
que tange ao conflito implícito as relações escravistas, afinal, essa fonte evidência a<br />
recorrência das fugas escravas, a organização senhorial em busca do foragido e as marcas dos<br />
maus tratos no corpo dos cativos. Entretanto, os anúncios não deixam de ser uma fonte<br />
produzida pelos senhores escravistas, que mesmo trazendo a tona certos aspectos não<br />
abordados por outras fontes que se referem a escravos, ainda assim não trazem aos nossos<br />
dias a versão dos escravos.<br />
FONTES IMPRESSAS<br />
Microfilmes da Biblioteca da Fundação de Ensino Superior (FUNREI/ São João Del Rei).<br />
BIBLIOTECA da Fundação de Ensino Superior. Astro de Minas, nov. de 1827 a jun. de 1839.<br />
Caixas: 17; 18; <strong>19</strong>; 20; 21.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
179
ALADRÉN, Gabriel. Alforria, paternalismo e etnicidade em Porto Alegre, 1800-1835. Anos<br />
90, Porto Alegre, v. 15, n. 27, p. 125-160, jul. 2008.<br />
AMANTINO, Márcia. As condições físicas e de saúde dos escravos fugitivos anunciados no<br />
Jornal do Commercio (RJ) em 1850. História, Ciência, Saúde - Manguinhos, Rio de<br />
Janeiro, v.14, n.4, p. 1377-1399, out.-dez. 2007. Disponível em: <<br />
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v14n4/14.pdf Acesso em 24/02/2009>. Acesso em: 04 mai.<br />
2009.<br />
______. Os escravos fugitivos em Minas Gerais e os anúncios do jornal “O Universal – 1825-<br />
1832. Locus Revista de História, Juiz de Fora, v. 12, n. 2, 2006. p. 59-74.<br />
ASSIS, Machado de. 50 Contos. Seleção, introdução e notas John Gledson. São Paulo:<br />
Companhia das Letras, 2007.<br />
CASTRO, Hebe M. Mattos. Laços de família e direitos no final da escravidão. In: NOVAES,<br />
Fernando A.; ALENCASTRO, Luiz Felipe de (orgs.). História da vida privada no Brasil:<br />
Império .7. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. v.2.<br />
______. As cores do silêncio: significado da liberdade no sudeste escravista- Brasil século<br />
XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, <strong>19</strong>95.<br />
______. A escravidão moderna nos quadros do império português: o antigo regime em<br />
perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; BICALHO Maria Fernanda Baptista; GOUVÊA,<br />
Maria de Fátima (Orgs.). O antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa<br />
(séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.<br />
______. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar,<br />
2000. Coleção: Descobrindo o Brasil.<br />
FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias e tráfico<br />
atlântico – Rio de Janeiro, c.1790 - c.1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, <strong>19</strong>97.<br />
FREYRE, Gilberto. O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX. Recife:<br />
Imprensa Universitária, <strong>19</strong>63.<br />
______. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia<br />
patriarcal. São Paulo: Círculo do Livro, [s/d].<br />
180
______. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do<br />
urbano. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, <strong>19</strong>51.<br />
GENOVESE, Eugene D. A terra prometida: o mundo que os escravos criaram. Rio de<br />
Janeiro: Paz e Terra, <strong>19</strong>88.<br />
______. O mundo dos senhores de escravos: dois ensaios de interpretação. Rio de Janeiro:<br />
Paz e Terra, <strong>19</strong>79.<br />
CHALHOUB. Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão<br />
na corte. São Paulo: Companhia das Letras, <strong>19</strong>90.<br />
GONÇALES, Andréa Lisly. Alforrias na comarca de Ouro Preto (1808-1870). População e<br />
família (Centro de Estudos de Demografia Histórica da América Latina/CEDHAL), 3 (2000),<br />
p. 157-80.<br />
______. ‘Cartas de Liberdade’: registros de alforria em Mariana no século XVIII. Anais do<br />
VII SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA (Diamantina), 1 (<strong>19</strong>95), p. <strong>19</strong>7-218.<br />
______. Ás margens da liberdade: estudo sobre as práticas de alforria em Minas colonial e<br />
provincial. São Paulo: USP, <strong>19</strong>99. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo,<br />
<strong>19</strong>99.<br />
GONÇALVES, Andréa Lisly; ARAÚJO, Valdei Lopes (org). Estado, região e sociedade:<br />
contribuições sobre a história social e política. Belo Horizonte: Argumentum, 2008.<br />
GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. A princesa do oeste e o mito da decadência de<br />
Minas Gerais. São João Del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002.<br />
LARA, Sílvia Hunoldt. Campos da violência – escravos e senhores na capitania do Rio de<br />
Janeiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, <strong>19</strong>88.<br />
______. Gorender escraviza história. Folha de S. Paulo, 12 de janeiro de <strong>19</strong>91, Caderno<br />
Letras, p. F-2.<br />
______. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. Tese<br />
de Livre Docência. Campinas: Unicamp, 2004.<br />
181
LATIF, Miran de Barros. As Minas Gerais. Rio de Janeiro: Agir, <strong>19</strong>78.<br />
LENHARO, Alcir. As tropas da moderação: abastecimento da corte na formação política do<br />
Brasil, 1808.1842. SP: Símbolo, <strong>19</strong>79.<br />
MOTT, Luiz. Os escravos nos anúncios de jornal em Sergipe. Anais do V ENCONTRO<br />
NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, Águas de São Pedro, Associação Brasileira<br />
de Estudos Populacionais, v.1, <strong>19</strong>86.<br />
MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, <strong>19</strong>88.<br />
MOREIRA, Luciano da Silva. Imprensa e política: espaço público e cultura política na<br />
província de Minas Gerais 1828-1842. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte:<br />
Fafich/UFMG, 2006.<br />
PAIVA, Eduardo França. Escravidão e universo cultural na colônia: Minas Gerais, 1716-<br />
1789. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.<br />
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês em 1835. ed.<br />
revista e ampliada. São Paulo: Cia das Letras, 2003.<br />
______(org.). Escravidão e invenção da liberdade: estudo sobre o negro no Brasil. São<br />
Paulo: Brasiliense, <strong>19</strong>88.<br />
REIS, J. J.; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista.<br />
São Paulo: Companhia das Letras, <strong>19</strong>89.<br />
REIS, Liana Maria. Escravos e abolicionismo na imprensa mineira – 1850-1888. Belo<br />
Horizonte: UFMG, <strong>19</strong>93. Dissertação (Mestrado) – Departamento de História da Faculdade<br />
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,<br />
<strong>19</strong>93.<br />
______. Vivendo a liberdade: fugas e estratégias no cotidiano escravista mineiro. Cadernos<br />
de História. Belo Horizonte, PUC Minas, <strong>19</strong>95. p.16-23.<br />
SCHWARCZ, Lília Moritz.. Retrato em branco e negro: jornais, escravos e cidadãos em<br />
São Paulo no final do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, <strong>19</strong>87.<br />
182
SLENES, Robert. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família<br />
escrava – Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, <strong>19</strong>99.<br />
SOUZA, Laura de Mello e. Coartação: problemática e episódios referentes a Minas Gerais no<br />
século XVIII. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (Org.). Brasil: colonização e escravidão.<br />
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. p.275-295.<br />
THOMPSON, E.P. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional. Trad.<br />
Rosaura Eichemberb. São Paulo: Cia das Letras, <strong>19</strong>98.<br />
183
SOBRE OS AUTORES<br />
Thais Nivia de Lima e Fonseca possui graduação em História pela Universidade Federal de<br />
Minas Gerais (<strong>19</strong>85), mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais<br />
(<strong>19</strong>96), doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo (2001) e pós-doutorado<br />
na Universidade Federal Fluminense e na Universidade de Lisboa (2006). É professora<br />
adjunto de História da Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e do Programa de<br />
Pós-Graduação em Educação (linha História da Educação) da mesma instituição, e também é<br />
pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação (UFMG), no qual<br />
desenvolve pesquisa sobre educação escolar e práticas educativas no período colonial.<br />
Lívia Carolina Vieira possui graduação em História pela Universidade Federal de Ouro<br />
Preto (2008). Tem experiência na área de História da Educação, atuando principalmente nos<br />
seguintes temas: educação- república- grupos escolares, educação- política- grupos escolares.<br />
Atualmente é mestradanda do Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade<br />
Federal de São Carlos, na linha de Fundamentos da Educação.<br />
Rosana Areal Carvalho é licenciada em História pela Universidade Federal do Mato Grosso<br />
e doutorado em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo (2000). Atualmente<br />
exerce o cargo de professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto, como docente e<br />
pesquisadora na área de História da Educação.<br />
Verônica Albano Viana Costa é graduada em História pela Universidade Federal de Minas<br />
Gerais (<strong>19</strong>86). Professora de História do ensino fundamental e do ensino médio nas redes<br />
particular e pública do Estado de Minas Gerais. Atualmente é mestranda no Programa de Pós<br />
graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais na linha de<br />
pesquisa História da Educação.<br />
Ana Cristina Pereira Lage possui graduação em História pela Universidade Federal de<br />
Minas Gerais (<strong>19</strong>90) e mestrado em Educação (História, Filosofia e Educação) pela<br />
Universidade Estadual de Campinas (2007). Atualmente é doutoranda em História da<br />
Educação, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais , Tendo<br />
realizado o estágio de doutoramento intercalar na Universidade de Lisboa. É professora do<br />
Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH). Tem experiência no ensino e pesquisa em<br />
História, atuando principalmente nos seguintes temas:ensino de historia e história da educação<br />
Miriam Hermeto é bacharel em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da<br />
Universidade Federal de Minas Gerais - FAFICH/UFMG (<strong>19</strong>94), licenciada em História pela<br />
mesma instituição (<strong>19</strong>97) e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade<br />
Federal de Minas Gerais - FAE/UFMG(2002). Atualmente é doutoranda no Programa de Pós-<br />
Graduação em História da FAFICH/UFMG e professora da Fundação Educacional de<br />
Divinópolis da Universidade do Estado de Minas Gerais (FUNEDI/UEMG). Tem experiência<br />
docente na Educação Básica e, como pesquisadora e consultora, atua principalmente nas áreas<br />
de Ensino de História e História do Brasil República, nos seguintes campos de pesquisa:<br />
história cultural, currículo de história, história do livro e da leitura (livro didático), patrimônio<br />
cultural, cognição.<br />
Mateus Henrique de Faria Pereira Professor do curso de graduação em História da<br />
Universidade Federal de Ouro Preto (<strong>UFOP</strong>), onde leciona as disciplinas de História do Brasil<br />
Contemporâneo e Prática do Ensino de História. Doutor em História pela Universidade<br />
184
Federal de Minas Gerais (2006), onde também se graduou em História (<strong>19</strong>99). Durante o<br />
doutorado, em 2004-2005, realizou Doutorado Sanduíche no Centre DHistoire Culturelle Des<br />
Societes Contemporaines na Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines e foi<br />
pesquisador convidado na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Seus<br />
interesses de pesquisas incluem temáticas referentes à História do Livro e da Leitura; Estudos<br />
Culturais e História Cultural; Teoria da História e Filosofia; Historiografia; Ensino de<br />
História; História das Religiões; História do Brasil República e História Contemporânea;<br />
Representações do Passado; Teoria e Metodologia das Ciências Humanas e Sociais;<br />
Interdiciplinariedade, Transdiciplinariedade e Ciências Humanas.<br />
Sergio Alberto Feldman possui graduação em Historia Geral (General History) pela<br />
Universidade de Tel Aviv (Tel Aviv University - <strong>19</strong>75), mestrado em História Social pela<br />
Universidade de São Paulo (<strong>19</strong>86) e doutorado em História pela Universidade Federal do<br />
Paraná (2004). Atualmente é professor adjunto 2 da Universidade Federal do Espírito Santo.<br />
Tem experiência na área de História, com ênfase em Historia Iberica Medieval e em História<br />
Judaica, atuando principalmente nos seguintes temas: antiguidade tardia, Cristianismo e<br />
Judaísmo, visigodos, anti semitismo e Isidoro de Sevilha.<br />
Luiz Henrique Assis Garcia graduado (licenciatura- <strong>19</strong>97), Mestre (2000) e Doutor (2007)<br />
em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da UFMG.<br />
Atualmente é coordenador de pesquisa do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) em Belo<br />
Horizonte (MG) e pesquisador colaborador do Centro de Coonvergência de Novas Mídias<br />
(CCNM) - UFMG. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Social da<br />
Cultura, atuando principalmente nos seguintes temas: história da música popular brasileira,<br />
história do Brasil republicano, trocas culturais e cidades.<br />
Elisa Vignolo Silva é Mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (2009).<br />
Especialista em História e Cultura Afro-Brasileira, PUC-Minas (2007). Bacharel e Licenciada<br />
em História pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2006). Atualmente<br />
trabalha na diretoria de Inclusão e Cidadania do Instituto Inhotim.<br />
185
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO<br />
• Os artigos devem ser acompanhados de resumo, abstract ou Résumé entre 250 a 300<br />
palavras, espaço simples, em parágrafo único e de três (03) palavras-chave, key-words ou<br />
Mots clés que caracterizam o seu conteúdo.<br />
• As resenhas devem ser apresentadas em no máximo seis (06) laudas.<br />
• O artigo deverá ser submetido sem numeração de páginas.<br />
1. O texto deverá ter as seguintes configurações:<br />
• Fonte Times New Roman<br />
Tamanho da Fonte: 12<br />
Título: 12, centralizado, sem caixa alta, observando maiúsculas e minúsculas.<br />
Nome do autor: 12, com entrada pelo nome, na margem direita do texto. A titulação e demais<br />
informações sobre o autor e /ou co-autor deverá constar em nota de roda-pé, pelo sistema<br />
numérico arábico.<br />
Subtítulos: 12, em caixa alta sem negrito, à margem esquerda do texto.<br />
Texto: tamanho da fonte: 12<br />
• Configuração de Página (margens): Superior – 3 cm, inferior – 2 cm, esquerda – 3 cm,<br />
direita – 2 cm<br />
• Espaçamento: No texto entre linhas: espaço duplo<br />
Da margem superior ao título: dois espaços duplos<br />
Do título para o nome do autor: dois espaços duplos<br />
Do nome do autor para o corpo do texto: dois espaços duplos<br />
Do corpo do texto para o subtítulo: dois espaços duplos<br />
Do subtítulo para o corpo do texto: espaço duplo<br />
2. Referências, Citações e Outros:<br />
• As referências e citações bibliográficas devem aparecer no corpo do texto, conforme<br />
normas da ABNT de outubro de 2002.<br />
* Citações com até 3 linhas, no corpo do texto, entre aspas, seguidas pela referência, no<br />
sistema autor, data, página, entre parêntesis. (SILVA, <strong>19</strong>99:32)<br />
* Citações com mais de 3 linhas, em novo parágrafo com recuo de 4 cm, espaço simples,<br />
tamanho de letra tamanho 10, sem aspas, sem itálico, seguidas pela referência, no sistema<br />
autor, data, página, entre parêntesis.<br />
• Usar o sobrenome do autor em caixa alta, somente ao final de citações que estiverem<br />
entre aspas e dentro de parêntesis, o que equivale dizer que no texto, quando aparecer citações<br />
de autores, devem ser escritos somente com iniciais maiúsculas. Ex.: Conforme Silva (<strong>19</strong>99),<br />
o instituto de linguagem...<br />
• As subpartes do texto, se numeradas, devem vir à margem esquerda, sem recuo, seguindo<br />
as orientações da ABNT.<br />
• As referências bibliográficas devem constar ao final do trabalho, conforme normatização<br />
da ABNT de outubro de 2002.<br />
• As notas deverão ser apenas de caráter explicativo; deverão ser resumidas e colocadas ao<br />
final do artigo; e as remissões para o final do artigo devem ser feitas pelo sistema numérico<br />
arábico, sobrescrita ao texto a que se refere.<br />
• O autor deverá encaminhar, para o endereço abaixo, três cópias impressas, sendo que em<br />
duas das cópias não deverá constar nem nome do(s) autor (es), nem o da instituição à qual<br />
186
está (estão) filiado(s), nem qualquer outro tipo de referência que possa identificá-lo(s), e na<br />
terceira, o nome e a instituição de filiação deverão estar presentes.<br />
Universidade Federal de Ouro Preto - <strong>ICHS</strong><br />
Departamento de História - <strong>LPH</strong> – Revista de História<br />
Rua do Seminário, s/nº - Centro Cep: 35.420-000<br />
Mariana – MG<br />
187