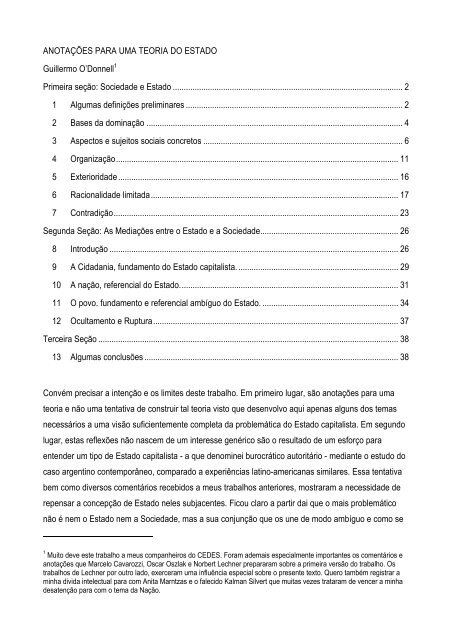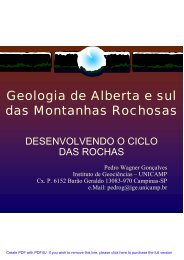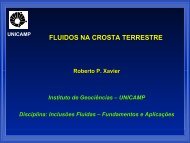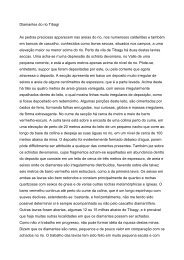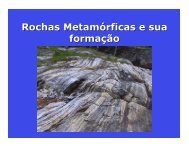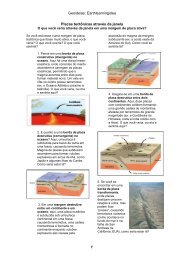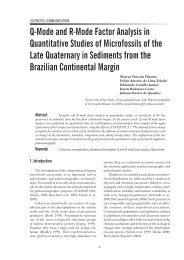ANOTAÇÕES PARA UMA TEORIA DO ESTADO Guillermo O ...
ANOTAÇÕES PARA UMA TEORIA DO ESTADO Guillermo O ...
ANOTAÇÕES PARA UMA TEORIA DO ESTADO Guillermo O ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>ANOTAÇÕES</strong> <strong>PARA</strong> <strong>UMA</strong> <strong>TEORIA</strong> <strong>DO</strong> ESTA<strong>DO</strong><br />
<strong>Guillermo</strong> O’Donnell 1<br />
Primeira seção: Sociedade e Estado ......................................................................................................... 2<br />
1 Algumas definições preliminares ................................................................................................... 2<br />
2 Bases da dominação ..................................................................................................................... 4<br />
3 Aspectos e sujeitos sociais concretos ........................................................................................... 6<br />
4 Organização................................................................................................................................. 11<br />
5 Exterioridade ................................................................................................................................ 16<br />
6 Racionalidade limitada................................................................................................................. 17<br />
7 Contradição.................................................................................................................................. 23<br />
Segunda Seção: As Mediações entre o Estado e a Sociedade............................................................... 26<br />
8 Introdução .................................................................................................................................... 26<br />
9 A Cidadania, fundamento do Estado capitalista. ......................................................................... 29<br />
10 A nação, referencial do Estado.................................................................................................... 31<br />
11 O povo. fundamento e referencial ambíguo do Estado. .............................................................. 34<br />
12 Ocultamento e Ruptura................................................................................................................ 37<br />
Terceira Seção ......................................................................................................................................... 38<br />
13 Algumas conclusões .................................................................................................................... 38<br />
Convém precisar a intenção e os limites deste trabalho. Em primeiro lugar, são anotações para uma<br />
teoria e não uma tentativa de construir tal teoria visto que desenvolvo aqui apenas alguns dos temas<br />
necessários a uma visão suficientemente completa da problemática do Estado capitalista. Em segundo<br />
lugar, estas reflexões não nascem de um interesse genérico são o resultado de um esforço para<br />
entender um tipo de Estado capitalista - a que denominei burocrático autoritário - mediante o estudo do<br />
caso argentino contemporâneo, comparado a experiências latino-americanas similares. Essa tentativa<br />
bem como diversos comentários recebidos a meus trabalhos anteriores, mostraram a necessidade de<br />
repensar a concepção de Estado neles subjacentes. Ficou claro a partir dai que o mais problemático<br />
não é nem o Estado nem a Sociedade, mas a sua conjunção que os une de modo ambíguo e como se<br />
1 Muito deve este trabalho a meus companheiros do CEDES. Foram ademais especialmente importantes os comentários e<br />
anotações que Marcelo Cavarozzi, Oscar Oszlak e Norbert Lechner prepararam sobre a primeira versão do trabalho. Os<br />
trabalhos de Lechner por outro lado, exerceram uma influência especial sobre o presente texto. Quero também registrar a<br />
minha divida intelectual para com Anita Marntzas e o falecido Kalman Silvert que muitas vezes trataram de vencer a minha<br />
desatenção para com o tema da Nação.
verá desorientador em vários sentidos fundamentais. Em terceiro lugar, por ser o Estado burocrático<br />
autoritário um tipo histórico de Estado capitalista necessitei tratar alguns dos temas mais gerais deste<br />
Estado, ao menos aqueles que me permitissem voltar em continuação ao plano mais especifico do<br />
burocrático autoritário. Esta é uma das razoes além das de minhas insuficiências para que estas<br />
páginas sejam nada mais que as anotações anunciadas no titulo. Estas reflexões são pois um momento<br />
na elaboração de instrumentos conceituais para entender melhor não apenas um tipo de Estado mas<br />
ainda - e sobretudo - processos históricos penetrados por lutas que assinalam a implantação os<br />
impactos e o colapso deste Estado. Mas para chegar a isso pareceu me necessário neste trabalho,<br />
começar pelo outro lado, salientando algumas características comuns a todo Estado capitalista para só<br />
no final, esboçar as principais características diferentes de um tipo de Estado que tende a corresponder<br />
à textura de uma sociedade muito diferente dos casos clássicos e mais puramente capitalistas. Nestas<br />
paginas tais diferenças só podem ser assinaladas em suas características mais decisivas, mas também<br />
mais gerais. A exploração detalhada de suas conseqüências, bem como o destaque de contrastes mais<br />
específicos entre diversos casos latino-americanos não cabe neste trabalho. Isto é matéria do estudo<br />
acima mencionado, razão pela qual estas anotações são parciais, também no sentido de que são<br />
interrompidas antes de chegar aquele plano de especificidade histórica. Porém, como instrumento<br />
elaborado precisamente a partir do estudo colocado nesse plano, e com vistas a seu avanço a<br />
esperança é que possam contribuir à junção entre detalhe e teoria de que necessitamos tanto - e não<br />
apenas como pura conveniência do progresso intelectual.<br />
Primeira seção: Sociedade e Estado<br />
1 Algumas definições preliminares 2<br />
Primeiramente, será necessário desenvolver passo a passo uma definição de Estado. Entendo por<br />
Estado o componente especificamente político da dominação numa sociedade territorialmente<br />
delimitada. Por dominação (ou poder) entendo, a capacidade, atual e potencial, de impor regularmente<br />
a vontade sobre outros, inclusive mas não necessariamente contra a sua resistência. Portanto, entendo<br />
o político em sentido próprio ou especifico, como uma parte analítica 3 do fenômeno mais geral da<br />
2 Utilizarei aqui algumas contribuições - clássicas e contemporâneas - e mencionarei debates surgidos em vários contextos.<br />
Sendo um exercício de erudição pedante citar mesmo incompletamente essa enorme bibliografia. Esta razão, e outras mais<br />
conjunturais, me levaram a mencionar apenas as contribuições recentes e pouco acessíveis, que influenciaram diretamente<br />
na minha argumentação.<br />
3 Um ponto crucial destes e outros argumentos posteriores num conjunto determinado, as partes concretas são aquelas que<br />
se podem desagregar do mesmo, sendo ainda captáveis pelos sentidos (por exemplo à perna de uma mesa). Aspectos<br />
analíticos são aqueles que podem ser abstraídos intelectualmente mas que não são passíveis da operação acima (por<br />
exemplo, a forma dessa mesa). Quando falar de aspectos daqui para frente entenda-se que a referência é analítica.<br />
2
dominação, aquela que se encontra apoiada pela supremacia no controle dos meios de coerção física 4<br />
em um território excludente delimitado 5 . Combinando estes critérios, o conceito de Estado resulta<br />
equivalente ao plano do especificamente político e este, por sua vez, é um aspecto do fenômeno mais<br />
amplo da dominação social.<br />
A dominação relacional é uma modalidade de vinculação entre sujeitos sociais. É por definição<br />
assimétrica, já que é uma relação de desigualdade 6 . Esta assimetria surge do controle diferenciado de<br />
certos recursos, graças aos quais é habitualmente possível conseguir o ajuste dos comportamentos, e<br />
das abstenções do dominado à vontade - expressa, tácita ou presumível - do dominante. Não faz<br />
sentido tentar um inventário exaustivo desses recursos, mas é útil distinguir alguns que são muito<br />
importantes para sustentar a dominação. O primeiro é o controle dos meios de coerção física,<br />
mobilizáveis por si mesmos ou por meio de terceiros. Outro é o controle dos recursos econômicos. Um<br />
terceiro é o controle dos recursos de informação no sentido amplo, inclusive de conhecimentos<br />
científicos e tecnológicos.O ultimo que interessa assinalar é o controle ideológico, mediante o qual o<br />
dominado assume como justa e natural a relação assimétrica de que é parte e, portanto, não a entende<br />
nem questiona como dominação.<br />
Esta enunciação, serve para sublinhar alguns pontos que nos permitirão desembocar em temas mais<br />
interessantes. O primeiro deles é que o controle de qualquer desses recursos permite o exercício da<br />
coerção, consistindo em submeter o dominado a severas sanções. O segundo é que o recurso mais<br />
eficiente em termos de manutenção da dominação é o controle ideológico, que implica no<br />
consentimento do dominado a esta relação 7 , por outro lado, a coação é o recurso mais custoso, porque<br />
desnuda explicitamente a dominação e pressupõe que - pelo menos - fracassou o controle ideológico, a<br />
coação é entretanto fundamental, como ultima ratio de suporte à dominação. O terceiro ponto, é que<br />
habitualmente existe uma alta correlação entre o controle desses recursos, é altamente provável que<br />
quem controla os recursos "A" e "B" controle simultaneamente "C" e "D", ou pelo menos tenha nos<br />
4<br />
A seguir usarei indistintamente os termos coação ou coerção física.<br />
5<br />
Outras relações de dominação não incluem este suporte. Nem por isso deixam de sê-Io mas não consistem em dominação<br />
política, de acordo às definições que estou propondo. É claro que embora sejam relações de dominação parecem estas<br />
relações não políticas de dominação. Isto se reflete na linguagem comum e em algumas correntes intelectuais que<br />
consideram relações políticas, por exemplo, às estabelecidas em algumas associações como a família ou um clube. Nestas<br />
pode se fazer política num sentido que ainda não estudamos (o da competição pela conquista de posições desde as quais<br />
seja possível o exercício do poder) mas nelas não se encontra presente o componente especifico da supremacia coercitiva<br />
sobre um território excludente delimitado.<br />
6<br />
Alguns esclarecimentos necessários sugeridos por comentários recebidos à primeira versão deste trabalho. Primeiro nem<br />
toda relação social é uma relação de dominação - aqui privilegio esta última porque o tema que queremos tratar é o Estado<br />
que como veremos é uma esfera especifica da dominação. Segundo uma situação de desigualdade não impede<br />
necessariamente que os sujeitos sociais por ela vinculados possam empreender ações cooperativas, das quais (embora<br />
provavelmente em graus diferentes determinados por sua desigualdade) devêm benefícios ou vantagens a cada qual.<br />
7<br />
Este é o fundamento da virtualidade de severas sanções, emergente do controle ideológico questionar o que é justo, ou<br />
natural numa ordem social dada é pensar o proibido - sofrer a dissonância de sugerir o pecaminoso ou incorrer em<br />
ingratidão, para os que ocupam as posições superiores de uma ordem social justa.<br />
3
primeiros uma base eficaz para estender o âmbito de sua dominação sobre os restantes.<br />
Estes recursos são a base de toda dominação, não apenas política; a característica específica desta é<br />
a supremacia dos meios de coerção física em um território delimitado excludente 8 .<br />
2 Bases da dominação<br />
O controle dos recursos de dominação não está distribuído aleatoriamente. Em cada momento são<br />
muito variados os fatores que determinam o acesso desigual a tais recursos. Não apenas é inútil tentar<br />
um inventário desses fatores, mas além disso tal característica nos faria perder de vista (buscando uma<br />
precisão empírica inútil, no plano em que nos colocamos), que existe um grande diferenciador do<br />
acesso aos recursos de dominação, tanto diretamente como enquanto gerador de situações, que por<br />
sua vez permitem esse acesso.<br />
Esse grande diferenciador é a classe social, ou, mais precisamente, a articulação desigual (e<br />
contraditória) da sociedade em classes sociais. Por classe social entendo, como primeira aproximação,<br />
posições na estrutura social determinada por modalidades comuns de exercício do trabalho, da criação<br />
e apropriação do valor. Veremos que a determinação dessas modalidades não e só econômica, mas<br />
que há outras dimensões, também constituindo-se intrinsecamente - entre elas a que defini como<br />
estatal ou política.<br />
O Estado que nos interessa aqui é o Estado capitalista. A modalidade de apropriação do valor criado<br />
pelo trabalho, constitui as classes fundamentais do capitalismo, através e mediante a relação social<br />
estabelecida por tal criação e apropriação. Os mecanismos e conseqüências mais ostensivos dessa<br />
relação são econômicos. A relação de dominação principal - embora não única - numa sociedade<br />
capitalista é a relação de produção entre capitalista e trabalhador assalariado, mediante a qual é<br />
gerado e apropriado o valor do trabalho. Este é o coração da sociedade civil, seu grande princípio de<br />
ordenação contraditória.<br />
Essa apropriação não é simplesmente uma relação de desigualdade. É um ato de exploração, que<br />
implica também em que seja uma relação inerentemente conflitiva (ou para dizê-lo diferentemente,<br />
contraditória), independentemente de que seja, ou não reconhecida como tal pelos sujeitos sociais.<br />
Este é um dos pontos notáveis do controle ideológico: sua vigência encobre o conflito inerente a certas<br />
relações sociais. Isto sugere que, embora seus planos mais ostensivos sejam econômicos, a relação<br />
que nos ocupa também está impregnada de controle ideológico. Este último, do mesmo modo que o<br />
econômico, constitui essa relação, não como algo que lhe vêm de fora para reforçá-la eventualmente,<br />
8 Convém enfatizar que tanto o elemento de supremacia da coação como o do territorial são necessários para definir a<br />
especificidade do político-estatal. Uma quadrilha de rua e certo tipo de paternidade mantêm e exercem a supremacia dos<br />
meios de coação sobre as pessoas sujeitas á sua órbita de interação, mas tal dominação carece do elemento de<br />
territorialidade excludente. Por outro lado, a dominação política não é coação mais territorialidade.<br />
4
mas como componente que já esta aí, originariamente, contribuindo para concretizar sua vigência.<br />
Veremos que o mesmo pode argumentar-se acerca do político.<br />
Em que sentido as classes sociais são o grande diferenciador do acesso desigual aos recursos de<br />
dominação? Em primeiro lugar, diretamente a posição de classe determina em grande medida por si<br />
mesma essa desigualdade. Mas, ademais dessa posição surgem probabilidades diferenciadas de<br />
alcançar situações (prestígio social, educação, acesso à informação, capacidade para ser "escutado"<br />
socialmente e influir ideologicamente, disponibilidade de recursos para dirigi-los no plano propriamente<br />
político, entre outros), que por sua vez permitem atingir o controle de outros recursos de dominação.<br />
Esta não é, como tampouco as anteriores, uma estipulação definidora. Postula certas causalidades,<br />
hierarquizadas na importância e ordem de sua contribuição, a distribuição diferenciada de recursos de<br />
dominação, para a qual deveria existir, se é correta, apoio empírico razoável. E tal é o caso 9 .<br />
Mas, voltemos ao político propriamente dito. Há relações sociais ostensivamente requeridas por ordens<br />
apoiadas pela supremacia da coação sobre um território, por exemplo, as disposições que regem a<br />
prestação de serviços nas Forças Armadas, ou a sentença de um Juiz. Há outras que aparecem como<br />
relações "privadas", que vinculam os sujeitos sociais sem que assumam o Estado, nem seu poder<br />
coativo. São relações tipicamente contratuais, entendidas como aquelas em que, mediando ou não um<br />
documento escrito, as partes convencionam uma gama de obrigações e direitos. Mas o caráter privado<br />
dessa relação é só uma aparência. Na imensa maioria dos casos, as classes podem recorrer a um<br />
"algo mais" que subjaz à habitual probabilidade de vigência e execução do contrato. Esse plus é o<br />
Estado, cujas instituições podem ser invocadas, com o propósito de que ponham os recursos que<br />
possam mobilizar, e não só a coação, a serviço da vigência de certa interpretação do contrato. São<br />
poucos os contratos em que é necessário acudir a isto. Mas, em todos, a garantia de sua efetivação<br />
resulta da possibilidade de realizar tal invocação, tácita, porém fundamentalmente, já que de outra<br />
maneira a relação contratual não se concretizaria e, se o fizesse, não haveria possibilidade de<br />
demandar o seu cumprimento. Por outro lado, faltando este componente, a única possibilidade de<br />
alcançar a confirmação do contrato seria a coerção que as partes pudessem aplicar diretamente, a "lei<br />
das selvas", antagônica ao entrecruzamento previsível de relações, inerente a toda sociedade, mesmo<br />
a de menor complexidade.<br />
Os contratos costumam pressupor um acordo de vontades livremente adotado por partes que, face à<br />
legislação pertinente à relação, aparecem como iguais; A esta igualdade costuma-se dizer "formal",<br />
porque não obsta que a relação real que vincula os sujeitos chegue a ser extremamente desigual. O<br />
9 Para uma recapitularão da evidência sobre este ponto ver Frank Parkin Class Inequality and Polilical Order. New York,<br />
1971, também J H Westergard, Sociology the Myth of Classlessness ', em Robin Blackburn (org) Ideology in Social Science<br />
Readings in Criticai Social Theory, Fontana Glasgow 1972.<br />
5
caso crucial é o da venda da força de trabalho, ato de igualdade formal que possibilita a apropriação do<br />
valor criado pelo trabalho. Subjaz também a esta relação contratual a garantia implícita pela<br />
possibilidade de invocação ao Estado, no caso de descumprimento, para a efetivação de uma relação<br />
social desigual e contraditória. Esta capacidade de invocação (ou, em outras palavras, essa presença<br />
tácita e subjacente do Estado), e constitutiva da relação, ela não poderia existir - "seria outra coisa" -<br />
sem este componente. E tal papel, não apenas é desempenhado no caso - trivial - em que a invocação<br />
se realiza, mas também, mais permanente e fundamentalmente, em todas as relações dotadas da<br />
possibilidade de realizar tal invocação. Esta, ao tornar-se claro que há recursos de poder<br />
territorialmente delimitados que sustentam a relação sob a ameaça de sanções severas, marca desde<br />
as origens, os limites do que as partes podem decidir (e descumprir), e governa suas expectativas,<br />
acerca da vigência efetiva e das modalidades de execução da relação.<br />
Isto significa que a fiança prestada pelo Estado a certas relações sociais, inclusive as relações de<br />
produção, que são o coração de uma sociedade capitalista e de sua articulação contraditória em<br />
classes sociais, não é uma garantia externa nem a posteriori dessas relações. É parte intrínseca e<br />
constitutiva das mesmas, tanto como outros elementos - econômicos, de informação e controle<br />
ideológico - que são aspectos que só podemos distinguir analiticamente na própria relação. E isto<br />
significa, por sua vez, que as dimensões do Estado, ou do especificamente político, não são - como<br />
tampouco o é "o econômico" - nem uma coisa, instituição ou "estrutura"; são aspectos de uma relação<br />
social.<br />
3 Aspectos e sujeitos sociais concretos<br />
É necessário abordar um ponto que se tem prestado a confusões. É certo que os atores sociais<br />
costumam vivenciar a "intervenção do Estado" como algo exterior e a posterior, incorporado a suas<br />
relações quando algo nelas "falhou". Isto reflete no plano da consciência comum, o que inúmeros<br />
autores sublinharam o capitalismo é o primeiro caso histórico de separação entre a coerção 10<br />
econômica e a extra-econômica. Entre outros, o senhor de escravos e o senhor feudal concentravam<br />
recursos de poder econômico, de informação, coerção física e ideológica. Ao contrário, na sua relação<br />
com o trabalhador, o capitalista não concentra diretamente todos esses recursos. Porém, este contraste<br />
tem sido exagerado e não se traçaram algumas distinções necessárias. Em primeiro lugar, é um erro<br />
deduzir deste contraste que o capitalista só conserva a coerção econômica. Ele costuma exercer<br />
controle ideológico, embora não o monopolize, mesmo quando seu conteúdo e modos de realização<br />
sejam diferentes dos de outras situações históricas. Além disso, possivelmente haja aumentado o seu<br />
10 Por exemplo punições econômicas sob a forma de multa. A ultima ratio da superioridade na coação continua operando<br />
através da possibilidade de que outras sanções revertam a esta esfera, no caso de terem sido ineficazes e primeiras.<br />
6
controle dos recursos de informação, especialmente devido ao fracionamento da situação de trabalho<br />
em que é colocado o trabalhador, com a conseqüente dificuldade para reconstruir o seu significado<br />
social desde tal perspectiva.<br />
No entanto, o que mais interessa destacar é que a característica do capitalismo não é apenas que o<br />
trabalhador esteja destituído dos meios de produção, mas também que o capitalista está destituído dos<br />
meios de coação. Surgem disso várias conseqüências importantes. A separação entre o capitalista e os<br />
meios de coação, não implica que esta esteja ausente da relação social que o vincula ao trabalhador<br />
assalariado. Já vimos que ela é uma presença virtual que costuma entrar em ação quando algo<br />
"falhou". Tal ação é a efetivação da garantia de sua vigência, mediante a mobilização de recursos de<br />
poder que, por sua vez, têm como sustento de ultima instância a supremacia nos meios de coação<br />
sobre um dado território. Este terceiro sujeito social são as instituições estatais. Elas costumam acionar<br />
essa fiança das relações de dominação (inclusive das relações capitalistas de produção), quando o que<br />
é promessa virtual e subjacente às mesmas e invocado para que se efetive. Entramos aqui num<br />
território em que é preciso avançar com cuidado.<br />
Devemos distinguir entre a gênese e as condições de vigência das relações capitalistas de produção 11 .<br />
Nos dois casos podemos encontrar a especificidade da sociedade capitalista, mas de diferentes modos.<br />
Quanto à sua gênese, o vendedor da força de trabalho é livre, não apenas no sentido de que esta<br />
destituída dos meios de produção, mas também no sentido que não é levado a tal relação de forma<br />
coercitiva - no que difere da situação do escravo e do servo. O que leva o trabalhador a tal relação é<br />
uma coerção econômica, resultante de que, carente dos meios de produção, seu único modo de contar<br />
com meios de subsistência é convertendo-se em trabalhador assalariado. Esta coerção econômica é<br />
além disso difusa, nem as instituições estatais obrigam a venda da força de trabalho, nem os<br />
capitalistas podem, por si próprios ou valendo-se dessas instituições, impor tal obrigação a nenhum<br />
sujeito social concreto. A necessidade de fazê-lo, portanto, não aparece imposta por ninguém,<br />
"simplesmente", a sociedade está articulada de tal maneira que o trabalhador carente de meios de<br />
produção não poderia subsistir se não o fizesse.A ausência de coação para vender a força de trabalho<br />
é condição necessária para a aparência (formal) da igualdade entre as partes. Ademais, junto à<br />
coerção econômica difusa, é uma das raízes principais do controle ideológico, derivado da capacidade<br />
de dominação na sociedade capitalista (novamente em contraste com outras experiências históricas,<br />
em que as formas de coerção - econômica e física - são transparentes em si mesmas e no sujeito<br />
social que as aplica).<br />
Neste sentido genético, o econômico e a coerção econômica, são primários às relações capitalistas de<br />
11 Adoto neste ponto as reflexões de Marcelo Cavarozzi sobre uma versão anterior deste trabalho.<br />
7
produção. Mas, por outro lado, uma vez que se vende e compra a força de trabalho, se está celebrando<br />
um contrato que formaliza relações que também estão constitutivamente impregnadas por aspectos<br />
extra-econômicos - inclusive os políticos estatais de que nos ocupamos aqui. A fiança coercitiva da<br />
relação é constitutiva da mesma, isto, junto à necessária 12 destituição do capitalista dos controles<br />
diretos da coação, implica na cisão de um terceiro sujeito social que concentra tais recursos e tem<br />
capacidade para mobilizá-los. Este sujeito não é "todo" o Estado, mas a sua parte que se cristaliza ou<br />
objetiva nas instituições. O ponto fundamental é que, se isto é assim, o Estado - como aspecto dessas<br />
relações e complexo objetivo de instituições - é o fiador de tais relações, e não dos sujeitos sociais que<br />
mediante as mesmas se constituem. Isto significa que, o Estado não apóia diretamente o capitalista<br />
(nem como sujeito concreto nem como classe) mas à relação social que o faz capitalista. Outra<br />
implicação e que o Estado é primariamente coercitivo, no sentido de que não apenas a coerção física é<br />
a ultima ratio daquela fiança, mas também de que a separação entre o capitalista e os meios de coação<br />
é a origem do Estado capitalista e de suas instituições. Esta Primazia (genética) do coercitivo no Estado<br />
é - análoga à primazia, também genética, do econômico nas relações capitalistas de produção, o que<br />
não significa que tais relações sejam puramente econômicas nem que o Estado seja só coação. Que<br />
quer dizer isto?<br />
Em primeiro lugar, se a emergência de um terceiro que põe uma fiança em ultima instância coercitiva,<br />
esta implícita nas relações capitalistas de produção, o Estado já e por isso mesmo um Estado<br />
capitalista, antes de perguntar-se se favorece, ou é instrumentado por esta ou aquela classe ou fração<br />
de classe. Segundo, a objetivação dessa cisão nas instituições estatais implica, também<br />
necessariamente, que estas não sejam, nem atuem como um capitalista concreto, que ao sê-lo ficasse<br />
separado dos recursos coativos controlados por aquelas instituições. As relações capitalistas de<br />
produção pressupõem um terceiro sujeito social que aparece e atua como um não-capitalista, embora<br />
seja a objetivação de um Estado que é por isso mesmo capitalista. Em terceiro lugar, se o Estado é a<br />
garantia das relações de produção, então o é de ambos sujeitos sociais que se constituem como tais<br />
mediante estas relações. O Estado é a garantia do trabalhador assalariado enquanto classe, e não<br />
apenas da burguesia. Isto implica - lógica e praticamente - que em certas circunstâncias o Estado seja<br />
protetor do primeiro frente ao segundo. Mas não como árbitro neutro, e sim para repô-lo como classe<br />
subordinada que deve vender força de trabalho, e, portanto reproduzir a relação social que o Estado<br />
garante.<br />
Na medida em que as instituições estatais são a cristalização dos recursos coercitivos que o capitalista<br />
não controla, aparecem como um não-capitalista que, ademais, não garante às classes vinculadas às<br />
relações de produção senão indiretamente, através do apoio à contínua reposição de capitalistas e<br />
12 Por definição uma sociedade em que não predomina esta destituição não é capitalista<br />
8
trabalhadores assalariados enquanto classes. Isto supõe que o Estado seja a expressão de um<br />
interesse mais geral que o dos sujeitos sociais de cuja relação emana. Mas este interesse não é neutro<br />
ou igualitário, é o da reprodução de uma relação social que articula desigual e contraditoriamente a<br />
sociedade. Isto equivale a dizer que o Estado em seu conjunto - como aspecto e como objetivações - é<br />
uma forma de articulação daqueles sujeitos sociais. Neste sentido, o Estado é uma generalidade (a<br />
particularidade daqueles sujeitos e seus interesses), mas é uma generalidade parcializada (devido ao<br />
viés estrutural da modalidade de articulação entre aqueles sujeitos). O que, por sua vez, implica que o<br />
Estado seja mediação instalada e emanada em uma relação entre sujeitos sociais. Esta é a razão pela<br />
qual o Estado é habitualmente, ademais de coação, uma mediação consensualmente articuladora de<br />
sujeitos sociais. Porém, do Estado como organização do consenso nos ocuparemos na segunda parte.<br />
Recapitulemos. Na gênese das relações capitalistas de produção acha-se uma coerção econômica<br />
difusa que não pode ser imputada nem aos capitalistas concretos nem às instituições estatais; só pode<br />
ser descrita como uma modalidade de articulação geral da sociedade. Por sua vez, na medida em que<br />
se estabelece a relação, nem o capitalista exerce a coação, nem este ou as instituições estatais podem<br />
obrigar coercitivamente à contínua venda da força de trabalho; o trabalhador assalariado está sempre<br />
livre para concluí-la 13 . Finalmente, o Estado aparece como uma objetivação institucional que concentra<br />
o controle de recursos coercitivos em última instância, e como um não-capitalista que apenas garante<br />
as classes através do apoio às relações sociais que as constituem como tais. O caminho percorrido nos<br />
permite acrescentar duas precisões.<br />
A primeira é que, quando falamos de capitalistas e trabalhadores assalariados, não estamos no plano<br />
das relações inter-individuais mas no das classes sociais 14 . Isto permite entender o significado da<br />
primazia genética do econômico nas relações de produção, e do coercitivo no Estado. Este primado é<br />
analítico, não histórico nem concreto, porque em cada momento da sociedade capitalista, como<br />
totalidade imersa num tempo histórico, confluem os dois planos de gênese e de vigência efetiva<br />
daquelas relações e do Estado. De fato, não haveria venda de força de trabalho sem coerção<br />
econômica, mas, por outro lado, não haveria as classes fundamentais do capitalismo (nem, portanto,<br />
sociedade capitalista) se tal venda não estivesse já se efetuando. E, por sua vez, estas relações<br />
vigentes não são apenas econômicas; já vimos que incluem outras dimensões, inclusive a estatal,<br />
como seu aspecto co-constitutivo. Quanto ao Estado capitalista, o é porque emana de uma relação<br />
social que implica a separação entre os meios de coação e os capitalistas; mas, por outro lado, sua<br />
13 Esta é por certo outra diferença fundamental, em comparação com outras experiências históricas. O capitalista também<br />
está livre para finalizar a relação, pois conserva consigo um instrumento fundamental de coação econômica.<br />
14 Cada. trabalhador assalariado pode ter a esperança de deixar de sê-lo. Embora reduzida estatisticamente, a probabilidade<br />
de "mobilidade social ascendente" no capitalismo é outro contraste com as demais experiências históricas; que ajuda - como<br />
expectativa de fuga individual daquela posição de classe a encobrí-lo enquanto dominação. Por outro lado, fora desse nível<br />
individual, o capitalismo pressupõe a existência de uma classe de "livres" compradores e vendedores da força de trabalho.<br />
9
condição de fiador da relação, e não dos sujeitos sociais concretos, faz dele um fenômeno não apenas<br />
coercitivo. Portanto, o respectivo primado genético do econômico e do coercitivo é analítico, e não um<br />
fator histórica ou ontologicamente anterior às outras dimensões co-constitutivas das relações de<br />
produção e do Estado capitalista.<br />
A segunda precisão é que o político em sentido estrito, ou estatal, é um aspecto inerente às relações de<br />
dominação, especialmente às relações capitalistas de produção. Porém, além disso, a efetivação da<br />
sua garantia supõe a emergência de um sujeito concreto, as instituições estatais, que aparecem como<br />
forma não-capitalista, mais geral e exterior aos sujeitos diretos daquelas relações. Na medida, então,<br />
em que a garantia implícita só pode ser efetivada em certas ocasiões, e que a modalidade de<br />
efetivação está originalmente ligada à relação social e só indiretamente ao capitalista como sujeito<br />
social, as instituições estatais aparecem como interesse exterior e mais geral que os das partes diretas<br />
daquela relação.<br />
Podemos agora sistematizar algumas afirmações. Assinalei o propriamente político como um aspecto<br />
co-constitutivo de certas relações sociais, entre elas as relações capitalistas de produção. Assinalei<br />
também que, na medida em que o propriamente político ou estatal pode ser invocado para assegurar<br />
essa relação, mesmo que tal invocação não se realize em cada caso, aquele aspecto contribui uma<br />
fiança crucial para a vigência de tal relação. Essa relação constitui, conjuntamente, ao capitalista e ao<br />
trabalhador assalariado, como classes sociais. Isto, por sua vez, supõe a articulação de um sistema de<br />
dominação social, traduzido no acesso diferenciado a diversos recursos. Além disso, aquela<br />
constituição mútua necessária das classes é a relação social que cria o capital e permite a sua<br />
reprodução dinâmica enquanto processo de acumulação. Isto significa que os planos que acabo de<br />
mencionar são aspectos que se supõem recíproca e necessariamente, das relações sociais que<br />
definem a especificidade de uma sociedade capitalista. Isto por sua vez supõe que um desses<br />
aspectos, o estatal ou propriamente político, é simultaneamente fiança das relações capitalistas de<br />
produção, da articulação de classes de tal sociedade, da diferenciação sistemática do acesso a<br />
recursos do poder (ou sistema de dominação) e da geração e reprodução do capital 15 . Este é o sentido<br />
da afirmação de que o estatal ou propriamente político é originariamente constituinte dessas relações<br />
sociais e que, portanto, é errado buscá-lo "fora" ou "depois" das mesmas relações. Se assim é, decorre<br />
ademais que o Estado não pode senão ser como aquilo que co-constitui: uma relação social<br />
inerentemente contraditória 16 . Voltaremos a este ponto.<br />
15<br />
Quando a seguir referir-me à fiança que o Estado fornece à sociedade qua capitalista, deverá entender-se que aludo a<br />
este conjunto de aspectos.<br />
16<br />
Podemos também expressá-lo do modo seguinte: como emanação analítica de uma relação contraditória das classes,<br />
garantida e - como veremos - organizada com sua contribuição, o Estado capitalista é um dos âmbitos sociais dessa<br />
contradição e, ao mesmo tempo, uma tendência constante para o seu ocultamente.<br />
10
Por outro lado, a mencionada fiança opera num tecido de relações sociais que se desdobra num tempo<br />
histórico. Isto nos conduz a outro corolário: ela existe ao redor, e como parte, da reprodução dinâmica<br />
do conjunto formado pelas relações capitalistas de produção, a estrutura de classes, o sistema de<br />
dominação, e a criação e acumulação de capital. Com o termo "dinâmica" quero indicar dois pontos:<br />
que estas relações se reproduzem cambiantemente no decurso do tempo e que, no que refere à<br />
reprodução do capital, este é um processo de acumulação.<br />
4 Organização<br />
O Estado é um aspecto de certas relações sociais. Esta é sua característica fundamental, de que<br />
dependem seus outros atributos. Já que as relações capitalistas de produção pressupõem que a classe<br />
dominante não possui os recursos de coação, o Estado tende a objetivar-se em instituições<br />
principalmente coercitivas. Nos termos dos sujeitos sociais concretos, a relação entre capitalista e<br />
trabalhador implica a cisão de um terceiro, que são as instituições estatais. Mas o plano do Estado<br />
como aspecto (da sociedade) é fundamental, porque confundir o Estado com essas instituições seria<br />
subsumir um fenômeno mais amplo, naquela parte sua que é concretamente objetivada. A partir desta<br />
confusão, a relação capitalista - trabalhador apareceria como apenas "econômica", enquanto que, como<br />
outra conseqüência da mesma causa, o estatal apareceria intervindo de fora, e só eventualmente ao<br />
interior dessa relação. A cisão que se produz assim entre a sociedade e o Estado, e a externalidade<br />
recíproca a que os condena, é o fundamento principal do mascaramento do Estado como fiador da<br />
dominação na sociedade, e de sua opacidade. Estes são os temas que começaremos a examinar.<br />
Devo agora explicitar algo que permaneceu implícito nas páginas anteriores. Enquanto fiador da<br />
sociedade capitalista, o Estado é o articulador e organizador da sociedade, independente de sua<br />
condição de suporte co-ator da vigência de certas relações de dominação.<br />
Num primeiro sentido, o Estado é, como fiador daquelas relações, o limite negativo das conseqüências<br />
socialmente destrutivas de sua reprodução 16 . Ou seja, a existência do capitalista em competição com<br />
outros capitalistas, sujeitos todos às necessidades da acumulação, supõe que individualmente<br />
tenderiam a uma exploração excessiva (do ponto de vista do encobrimento de sua dominação e da<br />
reprodução da força de trabalho), e além disso, ficariam entregues a uma concorrência também<br />
"excessiva", que eliminaria de sua classe - agonizando assim os antagonismos implícitos na<br />
reprodução do capital - uma boa parte dos capitalistas.<br />
Por outro lado, a competição ao redor da acumulação do capital, determina que o burguês não se<br />
ocupe de decisões e investimentos necessários para a conquista das condições sociais que permitem,<br />
16 Sobre este ponto ver E Altvater, "Rémarques sur quelques problèmes theoriques postes par l’interventionisme etatique ',<br />
em 1.N. Vincent (org) L’Etat, Maspero Pans, 1975 págs 135-170<br />
11
entre outras coisas, a reprodução do sistema de classes, a acumulação e a resolução de certos<br />
problemas "gerais" (tipicamente, as tarefas do Estado liberal na educação, saúde, obras de infraestrutura<br />
física, e ademais, as intervenções diretamente "econômicas" do Estado capitalista moderno).<br />
Estas, diferentemente das anteriores, não são limites negativos à atuação dos capitalistas, mas um<br />
condicionamento do contexto social, de que "alguém" deve ocupar-se 17 .<br />
Observe-se que tanto as interposições de limites negativos, como as intervenções de ajuste social,<br />
aparecem ante os setores como algo externo a suas relações "privadas", o que acontece paralelamente<br />
à aparente exterioridade do Estado vis-à-vis as relações de produção. Além disso, como são decisões<br />
que, em contraste à do capitalista, não costumam orientar-se à conquista do lucro para o agente,<br />
aparecem como expressão de uma racionalidade distinta àquela do capitalista. Em acréscimo, na<br />
medida em que se interpõem como limite negativo ou como condicionante do contexto social, encarnam<br />
uma racionalidade mais geral e neste sentido "superior" à do capitalista individual. Finalmente, a<br />
interposição de limites negativos pode ser vivenciada por certos capitalistas (inclusive por todos eles)<br />
como ação não só externa, mas igualmente hostil, da parte desse "alguém" que a impõe.<br />
Especialmente, uma boa parte dos limites negativos específicos de cada país são resultado de lutas<br />
das classes dominadas, para as quais são experiências de vitória, vivenciadas inversamente pela<br />
burguesia.<br />
Esse "alguém", que se ocupa de tais planos, são as instituições estatais. A existência dessas<br />
instituições e seu peso monótono na sociedade é uma das razões para que o Estado seja<br />
experimentado como exterioridade. Já vimos outras razões, mas chegamos a um ponto que vale a<br />
pena enfatizar. Essa aparência de exterioridade fundamenta-se no mascaramento da dominação, que<br />
subjaz às relações capitalistas de produção, e que determina que o Estado só apareça (como<br />
instituição), quando eventualmente invocado para apoiá-las. Mas, ademais, fundamenta-se em que,<br />
principalmente na sua interposição de limites negativos, as instituições apareçam como encarnação de<br />
uma racionalidade mais geral e não-capitalista. Embora devamos ainda examinar essa modalidade de<br />
atuação, isto nos permite entender porque o Estado tende a aparecer face aos próprios capitalistas,<br />
como uma força exterior e movida por uma racionalidade diversa. A partir de sua condição primordial de<br />
fiador de uma relação, o Estado capitalista não é diretamente o Estado "dos" capitalistas, e nem mesmo<br />
pelas razões que acabo de assinalar, costuma ser vivenciado como tal pelos mesmos. Porém, as<br />
objetivações não são apenas instituições concretizadas em organizações complexas e burocráticas.<br />
Podem ser também formalizações que cristalizam relações sociais típicas. O contrato de compra e<br />
17 Não creio que seja possível estendermo-nos muito mais, ao nível de generalidade em que nos situamos aqui sobre estas<br />
modalidades de intervenção. Por certo, as diferenças entre essas modalidades são de muita importância no estudo de casos<br />
históricos específicos.<br />
12
venda da força de trabalho supõe a igualdade formal das partes, através de um caráter legalmente<br />
tipificado - trabalhador/empregador - que prescinde das condições reais de cada um 18 . O produto dessa<br />
relação é corporificado em mercadorias que circulam pela mediação do dinheiro. A moeda só pode ser<br />
meio de circulação como equivalente genérico das mercadorias. Isto supõe que todo sujeito deva ser<br />
considerado "igual frente à moeda", cuja posse outorga direito e acesso a mercadorias, “apenas”<br />
limitado pela quantidade que dela possua e não por sua posição de classe.<br />
Por outro lado, para ser objeto de intercâmbio, a força de trabalho deve aparecer como uma mercadoria<br />
entre outras, trocadas por moeda, para a qual acudam sujeitos sociais formalmente iguais e livres (ou<br />
seja, não levados coercitivamente ao contrato de trabalho); os quais, por sê-lo, sustentam a validade e<br />
o cumprimento do contrato que celebram.<br />
A igualdade formal do sujeito social frente à moeda, e na relação contratual (inclusive a de venda da<br />
força de trabalho), são exatamente paralelas. O intercâmbio de mercadorias pela mediação do dinheiro<br />
é um momento crucial na circulação do capital. O acordo de vontades, entre sujeitos formalmente<br />
iguais, é um ponto notável do tecido de organização da sociedade capitalista por parte do Estado. Sua<br />
objetivação é o Direito moderno, racional-formal no sentido weberiano, que consagra o sujeito social<br />
como sujeito jurídico, no plano da igualdade correspondente ao plano da circulação do capital. Dinheiro<br />
e direito racional-formal são abstrações reais, no sentido de que, por um lado, derivam de uma relação<br />
social a qual transformam, e de que, por outro lado, são um plano não puramente mítico, que se vincula<br />
contraditoriamente com o anterior 19 .<br />
O direito racional-formal nasceu e expandiu-se juntamente com o capitalismo. Isto expressa uma<br />
relação profunda esse direito é a codificação formalizada da dominação na sociedade capitalista,<br />
mediante a criação do sujeito jurídico, implícito na aparência da vinculação livre e formalmente igual, do<br />
intercâmbio da força de trabalho e, em geral, da circulação de mercadorias.<br />
Como os aspectos restantes que estamos considerando, o direito racional-formal contém ambigüidades<br />
que expressam a sua vinculação contraditória com os níveis profundos da sociedade. Por um lado,<br />
esse direito faz do trabalhador assalariado algo diferente do servo e do escravo um sujeito que, em<br />
certos planos, tem direito igual aos das outras classes - inclusive o de invocar as instituições estatais<br />
18 Isto não implica no desconhecimento da complexidade introduzida por modalidades tais como a negociação coletiva ou<br />
políticas estatais orientadas a proteger os trabalhadores. Essas transferem a esfera da igualdade formal das relações ler<br />
individuais entre trabalhador e capitalista para o conjunto dos mesmos sem alterar o pressuposto de igualdade formal que<br />
sobejais ao intercâmbio da mercadoria - força de trabalho - que assim se coletiviza parcial e distorcidamente sob a lógica<br />
abstraia e formalizante do capital.<br />
19 Ver sobre este ponto a obra de Lúcio Colletti, From Rousseau to Lenin NLB Editions,Londres 1972 págs 231- 236 que<br />
desenvolve este argumento acercada mistificação das mercadorias que na esfera, em que se coloca a economia política<br />
vulgar aparecem tal como verdadeiramente são na superfície aparente da sociedade. Do mesmo modo que a critica do eco<br />
norma política é a teoria que descobre a ligação contraditória dessas aparências com seu substrato a teoria do Estado tem<br />
que ser a critica de sua própria superfície aparente.O paralelismo não e casual um e outro são partes - embora o primeiro<br />
esteja muito mais desenvolvido - de uma teoria critica da sociedade capitalista.<br />
13
para que esses se efetivem. Mas, por outro lado, o sujeito jurídico criado pelo direito racional-formal é a<br />
entidade abstrata - despojada de qualquer atributo que não o de ser tal sujeito formalmente igual - que<br />
contrata, livre e, portanto validamente, a venda de sua força de trabalho. Em acréscimo, o direito<br />
também codifica a dominação, ao consagrar e tornar apoiada, coercitivamente, a propriedade privada;<br />
especialmente a dos meios de produção, apropriados e utilizados em um mercado integrado por tais<br />
sujeitos jurídicos abstratamente iguais. Isto, por sua vez, implica formalizar a articulação da sociedade<br />
de modo a consagrar a destituição do trabalhador dos meios de produção; o qual fica então, sem<br />
necessidade de coação, forçado a vender a sua força de trabalho.<br />
Este direito é a cristalização mais formalizada da contribuição do Estado à sociedade capitalista. Isto,<br />
não apenas porque cria o sujeito social descarnado, implícito nas relações capitalistas e na apropriação<br />
privada dos meios de produção. Mas também porque, como formalização cognoscível, ensina<br />
preventivamente às partes os limites de seus direitos e deveres, diminuindo, portanto, a necessidade de<br />
intervenção ostensiva para invocar em ultima instância a fiança coercitiva do Estado. Graças a isto, tal<br />
intervenção aparece movida não pelos agentes de um sistema de dominação, mas por sujeitos<br />
juridicamente iguais, que apenas se limitam a exigir o cumprimento do que contrataram livremente e na<br />
base de situações abstratamente tipificadas nas normas legais 20 .<br />
Por isso, o direito racional-formal é algo mais que ensino preventivo e caminho regularizado para a<br />
efetivação da garantia do Estado. Ao cristalizar os planos que correspondem à esfera da circulação, e<br />
fazê-los previsíveis como conjuntos de direitos e deveres, o direito é também um tecido organizador da<br />
sociedade e da dominação que articula.<br />
Esta abstração corresponde à emergência e reprodução de uma relação de poder - a que liga o<br />
capitalista ao trabalhador - na qual o pólo dominante desprendeu-se do controle direto dos recursos de<br />
coação. A exploração que se realiza através das relações capitalistas de produção fica então oculta por<br />
uma aparência dupla: a de igualdade (formal), das partes e da livre vontade com que as mesmas<br />
podem ou não entrar em relação. O capitalismo supõe tanto a separação entre o trabalhador e os<br />
meios de produção como a separação entre o capitalismo e os meios de coação. Ambas são<br />
requeridas para que a relação subjacente se transforme numa relação de intercâmbio entre iguais<br />
abstratos, medida pelo equivalente universal que é o dinheiro. É assim que, regulada pelo direito, a<br />
relação pode aparecer como relação apenas econômica: um intercâmbio, como o de outras<br />
mercadorias, intermediado pelo dinheiro.<br />
Já que as relações sociais fundamentais do capitalismo aparecem desligadas de qualquer coação, é<br />
20 Percebe-se ademais, que por isto mesmo o direito aparece como fundamento por um lado, e por outro lado como<br />
mecanismo de reposição, quando ameaça ser alterado de urna certa ordem de uma regularidade socialmente valorizada de<br />
articulação da sociedade. Ver de Norberto Lechner. Poder y Ordem. La Estratégia de Ia Minoria Consistente , (FLACSO<br />
mimeografiado Santiago de Chile, 1977) sobre o peso implícito da ordem garantida pelo Estado.<br />
14
difícil reconhecer nelas o seu aspecto principalmente coercitivo, que é o Estado. Portanto, este, por sua<br />
vez, costuma ser captado naquilo que lhe é derivado e secundário em suas objetivações como direito e<br />
como conjunto de instituições. Estas tendem então a aparecer como plenitude do Estado e, na medida<br />
em que são o momento de objetivação de uma relação social que se perdeu de vista, também como<br />
uma força estranha aos sujeitos sociais movida por uma racionalidade exterior. Aquilo que é<br />
principalmente um aspecto das relações de dominação, fica reduzido a sua superfície objetivada em<br />
instituições. Dito de outro modo, a reificação ou coisificação do Estado capitalista em suas instituições é<br />
a modalidade típica de sua aparência - razão pela qual a crítica deste Estado deve começar por<br />
descobri-lo como aspecto da dominação na sociedade. Do mesmo modo que o dinheiro e a mercadoria,<br />
as instituições estatais são um fetiche. Emanação e ao mesmo tempo ocultação da relação<br />
contraditória subjacente, o fetiche não aparece apenas como poder exterior. Também é um<br />
determinante da consciência comum e sua modalidade de exteriorização tende a reger uma percepção<br />
do mundo social, que é em si mesma uma máscara da realidade subjacente. Não se atinge o capital<br />
partindo do dinheiro, mas das relações de produção. Tampouco se chega ao Estado capitalista partindo<br />
das instituições, mas das relações capitalistas de dominação.<br />
Esta cisão aparente entre sociedade e Estado é outra especificidade do capitalismo que - insistamos -<br />
tem fundamento real na diferenciação de um terceiro sujeito social que presta um suporte<br />
principalmente coativo. Ela supõe uma cisão paralela entre o "privado" e o "público". Os sujeitos da<br />
sociedade civil são as partes "privadas", as instituições estatais são a encarnação do "público". Este é<br />
outro campo em que o direito tem importância fundamental. De fato, nele se situam os sujeitos sociais<br />
como partes privadas, face às instituições estatais. A sociedade civil e os sujeitos que a constituem<br />
ficam assim reduzidos à sua aparência nas relações capitalistas de produção, a agentes que, não<br />
condicionados por nenhuma coação, reproduzem relações de intercâmbio, movidos por uma<br />
racionalidade limitada ao econômico. Por outro lado, as instituições estatais permanecem como<br />
instância superior, mediadora dessas relações. É assim que o sujeito do direito torna-se o mesmo da<br />
superfície aparente da sociedade capitalista à parte "privada” , reduzida à reprodução cotidiana do<br />
fundamentalmente econômico, contraposta à esfera do publico de um Estado fetichizado.<br />
Antes de internar-nos em outros problemas, recapitularemos alguns dos pontos centrais do argumento.<br />
Isto pode ser necessário, porque demasiado freqüentemente a teoria do Estado fica aprisionada à<br />
aparência fetichizada do Estado capitalista. A partir disso, uma série de falsos problemas e disjuntivas<br />
não pode ser superada. A chave central é captar primeiro, o Estado como uma dimensão analítica na<br />
sociedade civil, e só depois (como conseqüência da cisão necessária de um terceiro sujeito social,<br />
manifesta na especificidade daquele aspecto) como um conjunto de objetivações.<br />
15
5 Exterioridade<br />
Que se haja diferenciado o sujeito social que efetiva a fiança coativa (e que, portanto, seja a sua<br />
concreção institucional neste plano, mas apenas nele, externa às partes) não impede que a relação<br />
social esteja constituída conjunta e originariamente por diversos aspectos, entre os quais encontra-se o<br />
estatal ou político em sentido estrito, e a coação física. Estas são questões que devem ser<br />
cuidadosamente diferenciadas. Insistamos então que as relações de dominação - inclusive a que<br />
vincula capitalistas e trabalhadores - não são simplesmente econômicas. São também políticas e,<br />
suposta certa “normalidade”, igualmente ideológica (pelo menos). O plano concreto de objetivação em<br />
sujeitos sociais e institucionais é secundário e derivado (embora tenha importantes efeitos próprios) do<br />
entrecruzamento daqueles aspectos como conjuntamente constitutivos de uma relação social. Isto tem<br />
várias conseqüências. Uma, é que se os sujeitos sociais se constituem mediante e na condição sua de<br />
portadores de relações sociais, as classes não são um fenômeno apenas econômico, porque não o são<br />
tampouco as relações capitalistas de produção que as plasmam enquanto tais. Outra, é que se o<br />
estatal, ou político em sentido estrito, é um aspecto das relações sociais de dominação, a oposição<br />
entre o "privado" e o "publico" ou estatal é falsa. E a - terceira conseqüência - no sentido especifico de<br />
que não apenas o "privado" está impregnado pelo político-estatal, mas também porque ao ser este<br />
constitutivo da sociedade, é parte (analiticamente distinguível) desta ultima. Em outras palavras - e isto,<br />
embora re-expresse reflexões anteriores, é fundamental -, o Estado ou o político não está "fora" da<br />
sociedade, é sua parte intrínseca.<br />
Por outro lado, sabemos que o Estado emana de uma relação social, que supõe a cisão de um terceiro<br />
sujeito social. Vimos também que esse sujeito não e apenas a objetivação da vigência efetiva de fiança<br />
coercitiva subjacente a tais relações. É também organizador da dominação, através dos limites<br />
negativos e do condicionamento do contexto social, deixado aos cuidados das instituições estatais.<br />
Também o é mediante a sua objetivação no direito.<br />
Mas, além disso, o direito é a consagração da exterioridade aparente do Estado, vis-à-vis os sujeitos<br />
sociais. Vimos que as relações capitalistas de produção geram um sujeito (as instituições estatais) que<br />
aparece como um não-capitalista, exterior aos sujeitos diretos das relações capitalistas de produção.<br />
Vimos também que esse terceiro sujeito não é o fiador direto das classes, mas das relações que as<br />
constituem como tais. Esta é a origem da cisão aparente entre o Estado e a sociedade ou, e que é<br />
equivalente, entre o político e o econômico. Esta cisão é aparente, porque é uma emergência do<br />
entrecruzamento inerente do político e do econômico (bem como de outros planos) como aspectos<br />
daquelas relações. Mas também é, a seu modo, real, porque no plano dos sujeitos sociais, concretos,<br />
emerge efetivamente um terceiro que não é nem capitalista nem trabalhador, nem atua com a<br />
racionalidade de ambos. Isto é, por sua vez, o fundamento de que se produza uma transformação, que<br />
16
é a base da ocultação do Estado capitalista enquanto dominação. Em primeiro lugar, trata-se de<br />
subsunção dessas instituições como o "todo" do Estado. Em segundo lugar, trata-se da aparência de<br />
que elas apenas intervêm eventualmente, e sem desvios sistemáticos, sobre as relações sociais.<br />
Quando se deixa de ver o Estado em sua condição primordial de fiador nas (e das) relações sociais de<br />
dominação (especialmente das relações capitalistas de produção), esfuma-se o seu componente coator<br />
e tudo parece dever-se a uma coerção econômica difusa. Ademais, ao apagar-se aquela condição<br />
primordial, os recursos concentrados nas instituições estatais (inclusive a capacidade de coação)<br />
podem aparecer vinculados a um interesse geral e abstrato. Em outras palavras, a venda da força de<br />
trabalho, a quem não dispõe de recursos de coação, supõe o controle destes últimos por um terceiro<br />
sujeito que, como a coação ficou apagada daquela relação, pode então aparecer aplicando-a<br />
neutralmente. A soma destes dois movimentos é uma subtração. A dominação e seu suporte coercitivo<br />
tendem a esfumar-se, tanto da sociedade quanto do Estado. O que permanece é uma "ordem"<br />
juridicamente cristalizada, a que podem apelar todos os sujeitos, livres e iguais, e expostos à coerção<br />
apenas quando tentam violá-la<br />
6 Racionalidade limitada<br />
O Estado capitalista é um fetiche; quando aparece subsumido em suas objetivações é, portanto,<br />
desligado de sua inserção primordial na sociedade. Mas isto não obsta que devamos levar em conta a<br />
imensa importância do que suas instituições fazem ou deixam de fazer. No nível de análise em que se<br />
situam estas páginas, o problema principal é o de se é correto afirmar que essas instituições, momento<br />
de objetivação plena do Estado, expressam desde o seu próprio plano a condição inerentemente<br />
capitalista deste e - se assim é - de que modo o fazem. Este tema prestou-se a demasiados simplismos<br />
e falsos dilemas, de modo que devemos penetrá-lo com cuidado. De início, devemos partir da critica à<br />
pretensão de racionalidade realmente superior, que se costuma postular desde essas instituições.<br />
Margareth Wirth levanta a pergunta pertinente "A tese segundo a qual o Estado deve garantir a<br />
reprodução do capitalismo coloca, em primeiro lugar, a questão sobre como o Estado - de modo diverso<br />
dos capitalistas individuais - poderia conhecer as condições dessa reprodução social. A burocracia do<br />
Estado não "sabe" (do mesmo modo que não o sabem os capitalistas individuais) quais são as medidas<br />
"objetivamente necessárias para a manutenção do sistema nos casos concretos dados" 21 .<br />
Esta afirmação parte de uma realidade colocada ou não no ápice do sistema institucional do Estado, o<br />
ser humano está sujeito a agudas limitações cognitivas, relacionadas com suas próprias carências e<br />
com a multidimensionalidade do mundo social. Isto determina que a sua seja uma "racionalidade<br />
limitada". Ou seja, que não possa realmente buscar nem encontrar soluções ótimas. Sua capacidade<br />
21 Margareth Wirth “Contribution à la Critique de la théorie monopoliste d’Etat em J M Vicent, L Éiat , p 123.<br />
17
de atenção é restrita, a agenda de problemas que pode considerar é estreita, a busca de informação<br />
sofre custos crescentes, os critérios que orientam essa busca são desviados por fatores inconscientes<br />
e por rotinas operacionais, é a informação está longe de fluir livremente 22 . Como conseqüência, o<br />
método típico de tomada de decisões é através do ensaio e erro, baseado no encontro de soluções<br />
sub-ótimas (simplesmente "satisfatórias"), que supõem uma teoria rudimentar das conexões causais<br />
que regem os problemas que se trata de resolver.<br />
Estes dados não são congruentes com a auto-imagem hegeliana do burocrata, coincidente com a de<br />
alguns de seus críticos equivocados. Tampouco indicam alguma fração da burguesia, que "controlaria"<br />
o Estado como instrumento sagazmente colocado a serviço dos seus interesses. Como é possível, no<br />
entanto, responder afirmativamente à pergunta com que iniciamos este capítulo?<br />
O Estado afiança e organiza a reprodução da sociedade capitalista, porque se encontra para isso numa<br />
relação de "cumplicidade estrutural" 23 . O Estado é parte da sociedade, como aspecto seu, inclusive, e<br />
primordialmente, das relações capitalistas de produção. O Estado já é por isso capitalista sem que<br />
sejam necessárias decisões e volições de seus agentes para que chegue a sê-lo. A sociedade<br />
capitalista tende sistemática e habitualmente à sua reprodução enquanto tal. O mesmo acontece com o<br />
Estado; aspecto da mesma sociedade. De que modo o faz? Primeiro, como direito, enquanto<br />
cristalização codificada da igualdade formal e da propriedade privada. Segundo, como presença tácita<br />
de recursos de poder, prontos para entrar em ação caso a relação de dominação que suportam "falhe"<br />
por alguma razão. Terceiro, como um dos ancoradouros para a ideologia da sociedade capitalista, que<br />
se apaga da consciência comum enquanto dominação é exploração. Quarto, porque a cisão verossímil<br />
do Estado como instituição face à sociedade capitalista é, em si mesma, um plano de sua cumplicidade<br />
estrutural, já que reborda a superfície aparente da sociedade capitalista enquanto abstrato socialmente<br />
real - e ao fazê-lo a oculta e se oculta a si mesmo como dominação. Estas razões fazem do Estado<br />
cúmplice estrutural da vigência e reprodução da sociedade capitalista, da qual é, repitamos, aspecto coconstitutivo<br />
24 .<br />
Até onde chegamos com estas reflexões? A que o Estado ou o especificamente político é o mesmo<br />
enfoque com que a sociedade tende a reproduzir-se como capitalista. Este é um problema diferente do<br />
22<br />
As referencias a limitações cognitivas que farei nesta secção baseiam-se principalmente nas investigações de Herbert<br />
Simon e seus colaboradores, conforme, especialmente, James March y Herbert Simon, Organizations N York, 1958 e<br />
Richard Cyert y James March, A Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall Englewood Chffs, 1963. Também são<br />
relevantes embora seja difícil concordar com seus modelos normativos, as conceituações macromentalistas' (p ex , os<br />
trabalhos de Charles Lmdblom The Science of Muddlmg TYhrough' Public Administration Rewew, 19, N ' 2, 1959 e Aaron<br />
Wildavsky, The Politics of Budgetary Proceis, Little, Brown & Co Boston, 1964) e da ' política burocrática" (p ex Grahan<br />
Allison, Essence of Decisions: Explaining the Cuban Missile Crisis Little, Brown & Co , Boston.<br />
23<br />
O conceito é de Claus Offe 'Structural Problems of the capitalist State" em Klaus von Beyme (org), German Political<br />
Studies, Vol l, Sage Publications, Londres, 1974.<br />
24<br />
Este ponto é enfatizado por Margareth Wirth, ' Contribution", op cit<br />
18
que as instituições estatais fazem ou não fazem (mais precisamente, do que fazem ou deixam de fazer<br />
as pessoas com papeis institucionais que lhes permitam "falar" em nome do Estado e mobilizar seus<br />
recursos). Este plano deriva-se do que acabamos de referir, já que só pode ser propriamente entendido<br />
da perspectiva do Estado, como aspecto co-constitutivo da sociedade. No entanto, este é o terreno em<br />
que se costuma situar a discussão da questão que nos propusemos abordar. Portanto, se as nossas<br />
reflexões acerca da fetichização do Estado não estão erradas, não é surpreendente que exista, nesse<br />
plano, descolado de sua realidade subjacente, resposta possível a tal pergunta.<br />
Essas instituições acionam concretamente um viés sistemático para o afiançamento e a reprodução de<br />
sua sociedade capitalista, que já está impresso no Estado de que são as objetivações. Quando e como<br />
atuam? Fundamentalmente, em duas ocasiões uma, enquanto administração burocrática que cumpre<br />
tarefas reutilizadas de organização geral da sociedade, outra, como resposta a situações percebidas<br />
como "crises".<br />
O que fazem essas instituições e como atuam? Comecemos pela administração rotinizada. Esta, junto<br />
com o Direito (com o qual se superpõe em grande parte, na medida em que este participa dessa<br />
rotinização, e por outro lado, porque a maioria de tal administração ocorre através da aplicação de<br />
normas jurídicas), é o tecido habitual e pouco visível das múltiplas decisões diárias de suporte e<br />
organização da sociedade. Esse funcionamento, apesar de eficiências e incongruências, supõe<br />
sistematicamente, em seu conteúdo real e na agregação diária dos impactos daquelas decisões, essa<br />
sociedade em sua articulação de classes e em sua composição por sujeitos jurídicos abstratamente<br />
iguais, capazes de apropriar-se privadamente dos meios de produção, ou seja, enquanto sociedade<br />
capitalista. E, ao pressupô-la, a ratificam tácita porém decisivamente, mediante a miríade de decisões<br />
pelas quais a "Penélope" burocrática re-empreende diariamente um tecido que é a imagem e<br />
semelhança do de ontem (em que cada ontem foi também capitalista). Esta repetição "natural” , como<br />
prolongação óbvia do passado, é, como a rotina do trabalho (da qual nada participa por acaso), uma<br />
das contribuições fundamentais do Estado objetivado na burocracia à reprodução da sociedade<br />
capitalista. A trama de sustentação e organização estatal da sociedade é tecida também por suas<br />
instituições, em rotinas diárias que pressupõem a sociedade enquanto capitalista. Se a compreensão<br />
do aspecto estatal requereu um esforço analítico, a reiteração dessas rotinas é como que um rumor<br />
surdo, de difícil identificação.<br />
Outro plano em que atuam as instituições estatais é enquanto reação (e, ocasionalmente, como<br />
tentativa de prevenção) de "crises" ou "problemas" 25 . Porém, o que é uma crise? Algo que, por alguma<br />
razão, percebe-se que "anda mal", e que alguma instituição estatal encarrega-se de "solucionar" uma<br />
25 Sobre a emergência desenvolvimento e resolução de problemas ou questões sociais ver Oscar Oszlak e <strong>Guillermo</strong><br />
O'Donnell, "Estado y Políticas Publicas en América Latina Sugerencias para su Estudio", CEDES/GE CLACSO, N •<br />
19
greve, um índice "excessivo" de inflação, uma queda da taxa de investimento, ou demandas para que<br />
certos recursos econômicos do Estado sejam alocados ao programa A e não ao B. Mais geralmente,<br />
crises e problemas aparecem politicamente como rupturas da "ordem" e, economicamente, como<br />
obstáculos interpostos à acumulação do capital. Em outras palavras, a determinação do que seja uma<br />
crise não é feita de modo neutro porque as crises são crises da sociedade capitalista.<br />
Crises e problemas definem-se como tais em função de certas concepções básicas acerca do que é,<br />
em contraste, a "normalidade". Assim, por exemplo, a exploração da força de trabalho se oculta como<br />
normalidade, a menos que uma taxa excessiva ameace a reprodução da força de trabalho, ou que, por<br />
qualquer razão, ocasione "desordem". Só então se apresenta à atenção dos sujeitos, e tende a gerar<br />
ações corretivas e/ou coercitivas. Do mesmo modo, a dinâmica da acumulação do capital implica em<br />
que a burguesia continuamente se devore e se recomponha internamente. Mas isto só aparece como<br />
problema quando algum grupo reclama, em condições que lhe permite ser escutado, que se reduzam<br />
tais efeitos e que se apóie esse grupo para que sobreviva como capitalista (ou quando alguns<br />
funcionários tomam a iniciativa de tutelar este ou outro grupo).<br />
Não vale a pena insistir em outros exemplos. O importante é que a própria definição de crise ou<br />
problema pressupõe uma "ordem" (que já identificamos como relação de dominação) é uma<br />
"normalidade" de reprodução do capital (que é uma realidade de exploração sustentada por essa<br />
ordem). Em outras palavras, está implícita uma neutralidade da sociedade enquanto capitalista, que<br />
seria restaurada dinamicamente mediante a "solução" a cada problema. Este é outro plano de<br />
cumplicidade estrutural traduzido, primeiro na rotina de Penélope e, segundo, na recomposição de uma<br />
"normalidade" cujas rupturas surgem das contradições subjacentes, que ajuda a ocultar.<br />
Assinalei que, ao contrário das ilusões dos tecnocratas, o ser humano atende a problemas que se lhe<br />
impõem como tais dentro de um campo de atenção, de disponibilidade de tempo, e de capacidade de<br />
processamento da informação sumamente limitado. A expansão e diferenciação das instituições<br />
estatais, bem como a crescente complexidade do direito, são tentativas de atribuir esses, e outros<br />
recursos escassos, à grande quantidade de problemas colocados pelo desenvolvimento contraditório<br />
da sociedade. Assim como o indivíduo "fatora" os problemas, atendendo-os "um de cada vez",<br />
isolando-os mediante a cláusula do "ceteris paribus", de dimensões alheias ao esquema causal<br />
rudimentar que utiliza 26 , o crescimento e a diferenciação das instituições estatais são o "ceteris paribus"<br />
coletivo dos problemas e das crises. Do mesmo modo, a criação de instâncias de coordenação e<br />
comando são tentativas sempre sub-ótimas de superação de algumas das conseqüências negativas da<br />
dispersão institucional resultante. Este fracionamento é afim ao fracionamento da sociedade. Neste<br />
26 Estas são outras razões levantadas pelos autores já citados na sua demonstração de que a tomada de decisões<br />
corresponde a uma racionalidade limitada e não a ótimos.<br />
20
sentido, o mapa - a distribuição e densidade - das instituições estatais em cada caso histórico é o mapa<br />
das suturas das áreas que as contradições subjacentes romperam em sua superfície. Estas instituições<br />
nem estão aí nem atuam, em função de um grande desígnio de racionalidade, que conheceria melhor<br />
que os capitalistas as condições de sua reprodução. A arquitetura institucional do Estado e de suas<br />
decisões (e não-decisões), é, por um lado, expressão de sua cumplicidade estrutural e, por outro lado,<br />
o resultado contraditório e substantivamente irracional da modalidade também contraditória e<br />
substantivamente irracional, de existência e reprodução de sua sociedade.<br />
As limitações de atenção e de processamento da informação determinam que, para que as instituições<br />
do Estado se dêem conta de um problema, alguém deve colocá-lo "de fora", ou que, de "dentro" das<br />
últimas, alguém o defina como tal. Está muito distante das consciências dos sujeitos sociais e, mais<br />
ainda, da agenda de problemas das instituições estatais, abranger "tudo o que interessa". A capacidade<br />
de colocar um problema ou de definir uma situação como crise, significa poder. Mais precisamente,<br />
supõe contar com recursos consideráveis de dominação. O trabalhador pode exercer coletivamente o<br />
seu poder, por exemplo, para impor severas sanções mediante uma greve - embora isto possa<br />
mobilizar recursos reativos - que canalizem em resposta sanções ainda mais severas. É certo que,<br />
sobre a base do diferenciador de acesso aos recursos, implícito em uma classe dominante, os<br />
capitalistas costumam deter uma capacidade ainda maior de colocar os "seus" problemas, com menor<br />
probabilidade de ocasionar sanções reativas. Da mesma maneira, o controle dos recursos e canais de<br />
informação, bem como a "autoridade" que resulta de um discurso congruente com a normalidade da<br />
sociedade capitalista, permitem levantar privilegiadamente questões e definições das crises.<br />
Igualmente, apenas uma visão grosseiramente instrumentalista do Estado poderia surpreender-se de<br />
que, desde essas mesmas instituições, possa surgir a iniciativa da sua colocação.<br />
Mas, quais são os problemas que entram na agenda da atenção das instituições estatais, em que<br />
sentido são definidos como tais, quem são as partes "autorizadas" para o seu debate, e quais as<br />
modalidades de sua resolução? Isto é o resultado de lutas em que se recolocam contínua e<br />
completamente a importância das bases de dominação que se encontram em jogo. São também<br />
resultado silencioso de outras lutas, suprimidas antes de chegar à consciência dos sujeitos pela<br />
capacidade da dominação social e pela complexidade estrutural do Estado. Por isso, o Estado, como<br />
toda relação social, é uma relação de forças. É por isso também, seu direito e suas instituições, apesar<br />
da aparência de neutralidade que recompõem continuamente, estão entrecruzados pelas lutas e<br />
contradições da sociedade.<br />
Se o Estado - ademais do que assinalei nas seções anteriores - inclui estes planos de cumplicidade<br />
estrutural, e se as crises e problemas que chegam à agenda de suas instituições foram filtradas (não<br />
apenas em números, mas também em caracterização), estes problemas tenderão a aparecer sob a<br />
21
feição de seus efeitos e causas mais imediatas. Por exemplo, esta ou aquela associação de classe<br />
reclama o seu subsidio, sem o qual suas empresas serão deficitárias, há uma greve fabril, uma<br />
localidade exige que uma estrada futura seja projetada nas proximidades. O problema aparece<br />
levantado pelo lado de seus efeitos imediatos, e as causas que o provocam costumam ser entendidas<br />
nas suas conexões mais próximas 27 . Também os conflitos, com suas derrotas e trunfos das classes<br />
dominantes, costumam tecer-se ao redor de um raio limitado e distorcinador de suas causas e<br />
conseqüências. Quase tudo ocorre na superfície da sociedade, a partir da qual -já sabemos - é difícil<br />
chegar às causas subjacentes que, com o ruído de suas manifestações como "crises", impõem-se à<br />
capacidade de atenção dos sujeitos, e não aparecem no que são verdadeiramente os modos<br />
contraditórios de reprodução da sociedade capitalista.<br />
As medidas adotadas podem ou não ser "correias"; podem atenuar ou alimentar o conflito especifico<br />
que se quis resolver ou prevenir; podem ou não ser implementadas, e serem mais ou menos<br />
ostensivamente incongruentes com as que foram adotadas antes, ou com as que adotem outra<br />
instituição estatal. O fracionamento do sistema institucional do Estado e a racionalidade limitada de<br />
seus agentes supõem que estas disjuntivas costumam ocorrer simultaneamente, também, na<br />
agregação do que o conjunto dessas instituições faça ou deixe de fazer.<br />
A cumplicidade estrutural do Estado e a base desigual dos recursos com que cada um consegue fazerse<br />
escutado pelas instituições estatais supõem que muitas decisões estejam orientadas pela intenção<br />
de favorecer esta ou aquela fração ou grupo da burguesia. Porém, como é evidente, esta é uma ponta<br />
do iceberg o determinante é que o tratamento habitual dos problemas (já tratados, por outro lado) em<br />
seu contorno mais superficial e imediato, implica em ratificar a textura da sociedade capitalista Isto,<br />
além da tarefa de Penélope, é o que permite entender porque em meio à cacofonia de incongruências,<br />
erros e acertos sempre parciais e precários, as instituições estatais costumam contribuir à garantia e<br />
organização da reprodução da sociedade enquanto capitalista 28 .<br />
A resposta à pergunta inicial e, pois, que o Estado objetivado nas instituições apóia e organiza a<br />
27 Segundo Margareth Wirth”Cotribution " op cit p 124, ' as deficiências não aparecem como deficiências sociais' mas<br />
particulares não é fácil ver a causa - longínqua ou imediata - desta crise (A) construção linear do encadeamento de causas e<br />
efeitos não permite entender a estrutura contraditória das causas da crise" .Estas observações são confirmadas pelos<br />
estudos empíricos das organizações visa as citações anteriores, às quais devemos acrescentar que tanto a identificação das<br />
causas dos "problemas", como a atribuição das possíveis conseqüências das decisões destinadas a solucioná-los<br />
costumam ser "simplistas" e baseadas em informação 'que é de difícil obtenção e contabilidade duvidosa" (Richard Cyert e<br />
James March A behavioral op cit págs 80-81) Isto reforça a tendência a funcionar num esquema causal rudimentar' inclusive<br />
no que respeita a limitar-se a conexões causais muito próximas ao problema detectado .Para organizações que não<br />
costumam escolher' os seus problemas mas saltar de crise em crise (ibid pág 102, numa coincidência significativa com a<br />
colocação de Margareth Wirth, 'Contribution " op CU) o que supõe que habitualmente apenas se consegue uma<br />
aproximação à superfície dessas crises.<br />
28 Nada mais errado, portanto que o conceito do Estado como entidade monolítica que impede o reconhecimento por um<br />
lado de que suas instituições costumam interiorizar o peso relativo das classes subordinadas mas que por outro lado isto<br />
não apenas não obstaculiza mas e condição de possibilidade para o mosaico de instituições decisões e não decisões em<br />
que se concretiza a cumplicidade estrutural do Estado.<br />
22
eprodução da sociedade capitalista, através do caos aparente de decisões e abstrações, as quais,<br />
enquadradas por uma racionalidade restrita, pressupõem tacitamente, e ratificam praticamente, a<br />
textura profunda dessa sociedade. Nenhuma magia unge os seus agentes com uma nacionalidade<br />
superior. Simplesmente porque o iceberg participa da realidade profunda do mar, tende a navegar -<br />
quase em linha reta e senír o mapa nem sextante - na direção de suas correntes.<br />
Podemos agora conectar o que dissemos recém com o já assinalado acerca da racionalidade nãocapitalista,<br />
que parece orientar as intervenções estatais. É claro que a pretensão de ter uma<br />
racionalidade "superior" é falsa. Mas continua sendo certo que, embora a racionalidade do funcionário<br />
seja tão limitada como a do capitalista, a sua motivação não é imediatamente capitalista, já que não se<br />
orienta continuamente ao lucro per se. Por outro lado, as decisões em que se renova o voto tácito de<br />
fidelidade à sociedade capitalista costumam ocorrer em meio a choques de interesses "particulares".<br />
Estes são os termos concretos em que se colocam, e resolvem, as condições de reprodução da<br />
sociedade. Frente a eles o funcionamento estatal costuma expressar em sua decisão um interesse<br />
"mais geral". Por certo, este interesse não e um interesse verdadeiramente geral. Mas, a<br />
verossimílitude dessa crença (e da que dela decorre, de um Estado acima da sociedade à qual arbitra<br />
imparcial e soberanamente) tem amarração real na maior generalidade da motivação, que ademais não<br />
é imediatamente capitalista, através da qual o funcionário processa o fracionamento da sociedade.<br />
Por outro lado, num plano ainda mais abstrato, a imagem do funcionário como agente do interesse<br />
geral é ratificada pelo nível tácito mais básico que discutimos há pouco apesar de sua racionalidade<br />
limitada, a agregação das decisões e abstenções estatais costuma realmente contribuir ao interesse<br />
geral da reprodução da sociedade capitalista. As instituições estatais completam, assim, sua imposição<br />
face à sociedade. Não apenas são os fetiches da cisão aparente (mas fundamento de características<br />
reais da sociedade) entre Estado e sociedade, ademais, apesar da racionalidade restrita, aparecem por<br />
cima da sociedade. Dela são, agora sim, a organização publica e coercitivamente suportada de uma<br />
superfície que encobre, parcialmente costurada pelas instituições estatais, as rupturas que a constituem<br />
no que é. É assim que o Estado, coisifícado em suas instituições, torna-se máscara da sociedade,<br />
aparência de força externa movida por uma racionalidade superior, a qual se mostra (e se acredita)<br />
encarnação de uma ordem justa, a que serve como árbitro neutro.<br />
7 Contradição<br />
O Estado é inerentemente contraditório. O é porque é primordialmente parte analítica de uma relação<br />
contraditória. Mas isto não é suficiente. O Estado ou o político tem sua própria especificidade, que<br />
permite distinguí-lo como aspecto constitutivo da sociedade global, porque devolve àquela relação uma<br />
contradição própria. O exposto na seção anterior permite-nos iniciar a abordagem deste tema.<br />
A relação capitalista de produção pressupõe a emergência de um terceiro sujeito social. Essa<br />
23
exterioridade, como momento de seu sentido pleno, é o fundamento de sua habitual percepção como<br />
"ator" descolado de tal relação. Isto, por sua vez, é a origem da fetichização das relações estatais. A<br />
qual permite que as relações capitalistas de produção apareçam como não-coercitivas e puramente<br />
econômicas ao mesmo tempo em que a coação das instituições estatais desaparece em seu vínculo<br />
inerente com tais relações. A cisão entre o público e o privado é a condição de possibilidade das<br />
relações capitalistas de produção, porque só assim podem aparecer acordos livres entre sujeitos iguais,<br />
é o suporte coercitivo estatal como não inerente aos mesmos. Mas isto gera a necessidade de<br />
mediações entre o público e o privado, ou entre o Estado e a Sociedade Civil. Como recuperar os<br />
sujeitos da sociedade civil de sua fragmentação e cotidiariedade, de tal modo que, sem descobri-las<br />
enquanto dominação, as instituições estatais possam sustentar-se no argumento verossímil de que<br />
aquilo que fazem ou deixam de fazer está orientado por interesse mais geral que o daquelas partes<br />
"privadas"?<br />
Como legitimar a coação, justificar a coerção inclusive contra as classes dominantes e, definitivamente<br />
fundamentar o dever político de obediência à "ordem" que o Estado garante e organiza? Já vimos que o<br />
fundamento real do poder que exercem as instituições estatais lhes é exterior, emana das relações<br />
capitalistas de produção, como fiança destas. Do mesmo modo, o Estado fetichizado tem que dever<br />
sua legitimação a um fundamento que não seja a sociedade civil - pela razão elementar de que essa<br />
fetichização a reduziu ao privado, como opacidade cotidiana fundamentalmente econômica.<br />
A superação do hiato entre a sociedade civil e o Estado é necessária para que o poder exercido pela<br />
primeira não se revele como tal e, finalmente, como fiança deste àquela dominação. Se as instituições<br />
estatais não pudessem obter habitualmente a obediência dos sujeitos sociais, e não tivessem algum título<br />
geralmente aceito para aplicar a "ultima ratio" da coação, não exerceriam a fiança, da qual são<br />
momentos objetivados. Porém, se essa obediência e título aparecessem fundados na relação que<br />
afiançam, a desnudariam, uma vez que essas instituições não podem aparecer como base de seu<br />
próprio poder, sem abdicar de sua legitimidade mesma, e nem desnudar-se como dominação 29 . O<br />
Estado capitalista tem que aparecer como um fetiche distinto da sociedade civil, mas nem esta nem<br />
aquele poderiam ocultar-se como dominação, se tal cisão não fosse superada através de mediações<br />
que fundamentam o poder estatal fora de suas instituições e da dominação na sociedade. A<br />
contradição do Estado capitalista é ser o hiato e, simultaneamente, necessidade de mediação com a<br />
sociedade civil. Estas mediações que examinaremos na seção seguinte são a expressão ambígua e, em<br />
ultima instância, contraditória de tudo isso.<br />
29 Ou em outras palavras o Estado é uma fenomenal condensação da dominação embora para se-lo verdadeiramente – ou<br />
seja, ale de ser pura coeção, insustentável senão o curtíssimo prazo- é necessário que não apareça como tal, nem em suas<br />
instituições, nem no direito, nem nas relações sociais, das quais emana.<br />
24
Em acréscimo, o fundamento do poder não é necessariamente o seu referencial (o sujeito ou interesse<br />
coletivo a que se supõe sirva). Na verdade, o capitalista enquanto classe é beneficiário imediato da<br />
fiança estatal, já que ela se dirige às relações sociais de produção, e estas por sua vez implicam na<br />
continua reposição de uma classe de capitalistas, que compram força de trabalho a uma classe de<br />
trabalhadores formalmente livres. A classe dominante tampouco costuma aparecer como beneficiária<br />
direta do Estado fetichizado. Tal como na realidade profunda, o beneficiário aqui tem que ser um referente<br />
mais geral que essas classes. No entanto, o enclausuramento no privado e fundamentalmente no<br />
econômico, que tal cisão determina para a sociedade civil, implica que tampouco esta possa ser o<br />
referencial a que se possa imputar a generalidade de interesses a que as instituições estatais parecem<br />
servir.<br />
A única possibilidade de que o poder exercido pelas instituições estatais tenha fundamento e referencial,<br />
é que tal cisão seja superada, mas isto seria a negação da necessária separação entre o Estado e a<br />
sociedade capitalista. A falsidade profunda dessa cisão emerge assim na própria tendência necessária<br />
à sua superação.<br />
Com isto, passamos à segunda seção deste trabalho, em que trataremos das principais mediações<br />
estabelecidas entre o Estado e a sociedade. Ali poderemos encontrar outros componentes do Estado<br />
capitalista que, embora dependam do plano primordial que analisamos nesta secção, também são<br />
indispensáveis para entendê-lo adequadamente. Depois de considerar essas mediações, tentaremos<br />
recuperar alguns aspectos centrais da totalidade resultante do caminho que acabamos de percorrer, e<br />
do qual nos ocuparemos em uma seção seguinte.<br />
No entanto, será necessário um esclarecimento prévio, forçado pela intenção originária destas reflexões.<br />
Os casos históricos que as suscitaram caracterizam-se pela supressão das mediações que<br />
analisaremos a seguir. Ao contrario dos casos "normais", nos quais, através da vigência dessas<br />
mediações o Estado capitalista torna-se também organizador do consenso, naqueles ocorre à<br />
conjunção evidente entre uma dominação de classe e a fiança coercitiva do Estado. Neles, o Estado<br />
capitalista demonstra que é antes capitalista que nacional, popular ou de seus cidadãos. Seu<br />
componente coercitivo, ligado à dominação de classe, é, como tratei de argumentar nesta secção, o<br />
esqueleto estruturado do Estado, evidenciado quando consenso social e legitimação estatal são<br />
sacrificados para salvar a dominação. Emanação de uma relação contraditória, o Estado capitalista é<br />
intrinsecamente essa contradição mesma, inclusive expressando e "retornando", com sua<br />
especificidade própria, as relações de forças cambiantes com que se verifica historicamente. Mas, além<br />
disso, o Estado capitalista é também a tendência necessária a falsa superação - ocultadora - de tal<br />
contradição, com exceção das conjunturas em que se joga a espinha dorsal inegociável, da própria<br />
sobrevivência das relações sociais, das quais se é parte intrínseca. Aqui, para salvar-se, a dominação<br />
25
estatal e social deve correr o risco imenso de desnudar-se como tal - contrafação exata da dureza de<br />
suas vitórias eventuais.<br />
Segunda Seção: As Mediações entre o Estado e a Sociedade<br />
8 Introdução<br />
Sabemos que o Estado é primordialmente um aspecto de certas relações sociais e que as instituições<br />
"públicas" e o Direito são as suas principais objetivações. Já vimos também a verdadeira imbricação do<br />
Estado dá-se com tais relações, e somente através delas com os seus sujeitos sociais. Isto supõe ser o<br />
Estado uma instância mais geral que estes sujeitos, referida a um interesse que, sendo pela<br />
manutenção de tais relações, lhes é também mais geral. Esta característica do Estado é transposta à<br />
sua aparência ante a consciência comum, onde emerge como uma generalidade sistematicamente<br />
voltada a uma relação de dominação, mas como una generalidade indiferenciada e imparcial. Isto é o<br />
que analisaremos a seguir.<br />
A condição do Estado como fiador e organizador da sociedade qua capitalista tende a ser negada pelas<br />
mediações que religam o Estado e a sociedade sob formas que ignoram as clivagens de classe e que<br />
confinam a sociedade ao "privado" e ao fundamentalmente econômico. Tais mediações são instâncias<br />
generalizadoras, postas sobre o fracionamento da sociedade como um bastidor, que oculta traços que<br />
não se devem mostrar no grande cenário político. A competição interburguesa e a desarticulação das<br />
classes subordinadas tendem a gerar sistemas de solidariedade inferiores aos que o Estado não pode<br />
deixar de supor - na medida em que pretende comandar um conjunto populacional territorialmente<br />
delimitado. Seja através da miríade de grupos e coalizões resultantes do fracionamento da sociedade,<br />
ou através de alinhamentos que expressariam as suas clivagens mais profundas, as agrupações<br />
emanadas diretamente da sociedade não podem forjar solidariedades que encampem o conjunto da<br />
população. Ademais, na medida em que os alinhamentos principais se façam ao redor de divisões de<br />
classe, e não estejam envoltos por algum tipo de solidariedade roais geral, a contribuição do Estado à<br />
sociedade qua capitalista estaria manifesto - o que não determina que tal Estado seja inviável mas,<br />
como veremos adiante, reduzindo o controle ideológico e desnudando-o correlativamente, como<br />
coerção.<br />
Todo Estado pressupõe uma comunidade política, no sentido de que esta é condição necessária para<br />
uma dominação consensualmente aceita, sendo sua reconstituição contínua uma das metas<br />
tendenciais das instituições estatais. Por comunidade política refiro-me às solidariedades coletivas<br />
vigentes em grande parte de uma população territorialmente limitada, resultantes da crença de que<br />
26
compartem importantes valores e interesses e de que é possível propor metas comuns imputáveis a<br />
tais valores e interesses. Assim como em seu substrato profundo o Estado é uma instância mais geral<br />
do que os sujeitos;que se constituem pela relação social da qual ele é um aspecto, a ligação do Estado<br />
com a comunidade política é outra forma de generalidade: uma modalidade de articulação dos sujeitos<br />
em um território, sob modalidades que se dão a um nível de generalidade equivalente ao do Estado.<br />
As instituições estatais exercem poder quando apóiam as suas decisões com a capacidade de impor<br />
severas sanções (não apenas coercitivas). Sob que título podem pretender tal capacidade? Ainda mais:<br />
sob que título pode pretender-se que cada sujeito cumpra o dever político de ajuste dos seus<br />
compromissos (inclusive o de obedecer a comandos explícitos) sem que se necessite pôr em<br />
movimento tal capacidade de coerção? Este é, certamente, um dos temas clássicos da teoria política.<br />
Mas não desde sempre, e sim desde que o poder já não pode justificar-se como direito tradicional de<br />
mando, expressão de direitos intangíveis da monarquia, ou braço secular de um poder espiritual<br />
superior. O Estado capitalista é o primeiro Estado que necessita postular o fundamento do seu poder<br />
em algo que lhe é externo. É a partir de dois processos intimamente relacionados - a expansão do<br />
Capitalismo na Europa e a reivindicação burguesa vitoriosa de somente obedecer a um poder formado<br />
consensualmente - que se pôs o problema crucial da obrigação política. Hobbes, Locke e Rousseau<br />
deram-lhe respostas diferentes, mas o resultado prático foi que o seu substrato deve encontrar-se em<br />
que, de alguma maneira, o sujeito aparece formando a vontade à qual ajusta os seus comportamentos<br />
e/ou porque é do seu interesse racional fazê-lo.<br />
Entendo por fundamento do Estado a sustentação de seu controle dos recursos de dominação e de sua<br />
pretensão, apoiada portais recursos, de ser habitualmente obedecido. Entendo por referencial do<br />
Estado os sujeitos e as relações sociais, a cujos interesses de vigência e reprodução o Estado serve. O<br />
Estado capitalista, em sua realidade profunda, não é o seu próprio fundamento e referencial. Ambos lhe<br />
são externos: situam-se ao nível - analítico - da sociedade, fundamento e referencial do Estado. Tal<br />
como já vimos em outros níveis, esta realidade profunda repercute na modalidade da aparição do<br />
Estado ante a consciência comum. De fato, do mesmo modo em que o Estado costuma aparecer<br />
coisificado em instituições, o fundamento de seu direito a mandar e coagir, bem como de sua<br />
expectativa de obediência generalizada, também lhe são externos. Do mesmo modo o "para quem", o<br />
referencial a que tais instituições aparecem servindo, costuma aparecer externo às mesmas.<br />
A possibilidade de aceitação difundida do controle dos recursos de dominação pelas instituições<br />
estatais exige que o fundamento e o referencial dessa capacidade lhes sejam externos. Mas a<br />
sociedade tampouco costuma aparecer como tal fundamento e referencial. Primeiro, porque o seu<br />
fracionamento não chega a gerar solidariedades coletivas ao nível das supostas pelo Estado, que é<br />
uma generalidade abrangente da população de um território. Segundo, porque se a sociedade fosse<br />
27
fundamento e referencial, o Estado apareceria como fiador e organizador da dominação de classe que<br />
ali se exerce, e assim o Estado não encobriria essa dominação e devolveria diretamente à sociedade a<br />
contradição fundamental da qual emana. Esse fundamento e referencial, que não são nem a sociedade<br />
nem o Estado coisificado em suas instituições, são outras modalidades de constituições de sujeitos<br />
coletivos, nas quais costumam fixar-se solidariedades de um nível de generalidade correspondente ao<br />
do Estado. Estas são as mediações entre o Estado e a sociedade que começamos a analisar.<br />
Entendo por fundamento do Estado a sustentação de seu controle dos recursos de dominação e de sua<br />
pretensão, apoiada por tais recursos, de ser habitualmente obedecido. Entendo por referencial do Estado<br />
os sujeitos e as relações sociais, a cujos interesses de vigência e reprodução o Estado serve. O Estado<br />
capitalista, em sua realidade profunda, não é o seu próprio fundamento e referencial. Ambos lhe são<br />
externos: situam-se ao nível – analítico - da sociedade, fundamento e referencial do Estado. Tal como já<br />
vimos em outros níveis, esta realidade profunda repercute na modalidade da aparição do Estado ante a<br />
consciência comum. De fato, do mesmo modo em que o Estado costuma aparecer coisificado em<br />
instituições, o fundamento de seu direito a mandar e coagir, bem como de sua expectativa de<br />
obediência generalizada, também lhe são externos. Do mesmo modo o "para quem", o referencial a que tais<br />
instituições aparecem servindo, costuma aparecer externo às mesmas.<br />
A possibilidade de aceitação difundida do controle dos recursos de dominação pelas instituições estatais<br />
exige que o fundamento e o referencial dessa capacidade lhes sejam externos. Mas a sociedade tampouco<br />
costuma aparecer como tal fundamento e referencial. Primeiro, porque o seu fracionamento não chega a<br />
gerar solidariedades coletivas ao nível das supostas pelo Estado, que é uma generalidade abrangente da<br />
população de um território. Segundo, porque se a sociedade fosse fundamento e referencial, o Estado<br />
apareceria como fiador e organizador da dominação de classe que ali se exerce, e assim o Estado não<br />
encobriria essa dominação e devolveria diretamente à sociedade a contradição fundamental da qual<br />
emana. Esse fundamento e referencial, que não são nem a sociedade nem o Estado coisificado em suas<br />
instituições, são outras modalidades de constituições de sujeitos coletivos, nas quais costumam se fixar<br />
solidariedades de um nível de generalidade correspondente ao do Estado. Estas são as mediações entre o<br />
Estado e a sociedade que começamos a analisar.<br />
Boa parte das atuações das instituições estatais e do que transcorre através da normatividade do Direito,<br />
é o entrelaçamento dessas mediações e, com elas, a organização consensual das articulações da<br />
sociedade. Na medida em que isto se dá, o Estado capitalista é um fator crucial de coesão da sociedade<br />
global 30 ; sua condição de fiança e organização da sociedade qua capitalista completa-se com o consenso<br />
30<br />
Entendo por sociedade global o conjunto formado pela sociedade, Estado e suas mediações, que nos ocupam nesta<br />
seção.<br />
28
na sociedade e seu correlato de legitimação do Estado fetichizado nas instituições. O resultado é um<br />
amplo controle ideológico, com hegemonia, exercício pleno mas encoberto da dominação na sociedade,<br />
apoiado por um Estado que aparece como custódio e epítome de um sentido compartilhado de vida em<br />
comum, suposto como natural e eticamente justo.<br />
Por outro lado, porém, é através dessas mediações que o Estado capitalista devolve à sociedade a sua<br />
própria contradição específica. Indiquei no final da seção anterior que o Estado é tanto cisão aparente<br />
da sociedade como tendência a superá-la. Mais especificamente, a contradição que lhe é própria é que a<br />
sua forma "normal" de repor tais mediações é postulado de igualdade - abstrata e concreta, como veremos<br />
- em seu fundamento e referencial, ao mesmo tempo em que não pode deixar de ser um viés sistemático<br />
para a vigência e reprodução das relações sociais contraditórias das quais emana. Por isso, o Estado<br />
capitalista é uma oscilação permanente entre a hegemonia e o descobrimento de sua verdadeira<br />
imbricação na sociedade.<br />
Outra característica dessas mediações é que se constituem em recuperação da privacidade e<br />
fracionamento do ser-na-sociedade, modalidades de constituição de identidades coletivas. Dessa<br />
maneira, o sujeito social, síntese de uma privacidade despolitizada, regressa ao plano da política e do<br />
público - sob suas formas predeterminadas, em identidades diferentes à de sua realidade primordial, de sujeito<br />
plasmado por relações de dominação na sociedade. Depois de despolitizar a sociedade, isolando-a no<br />
econômico e no privado, o Estado, condensação do político, o recria, parcial e distorcidamente, em seu<br />
entrelaçamento, por mediações que negam a primazia fundante da sociedade. Estas mediações elaboram<br />
identidades que se relacionam com o nível "público", como parte dos fundamentos e referenciais coletivos<br />
do Estado. Operários, empregados e donas de caía podem ser também cidadãos e membros da nação;<br />
ou seja, são postos como algo mais que o que são em sua prática cotidiana, sob modalidades que se<br />
constituem em negação dessa cotidianidade. Do mesmo modo que o Estado, as mediações que nos ocupam<br />
são generalidades; porém generalidades particularizadas, que só podem ser compreendidas a partir do<br />
nível primordial - a sociedade - que negam em sua realidade profunda. 31<br />
9 A Cidadania, fundamento do Estado capitalista.<br />
O Estado capitalista é a primeira forma de dominação política que postula o seu fundamento na<br />
igualdade de todos os sujeitos em seu território. Esses sujeitos são cidadãos e o Estado capitalista é<br />
normalmente um Estado de cidadãos.<br />
O cidadão é aquele que tem direito ao desempenho de atos que resultam na constituição do poder das<br />
31 No nível em que se situa este trabalho só posso ocupar-me das mediações mais gerais e não de outras mais concretas e<br />
historicamente variáveis, como as organizações corporativas ou os partidos políticos. Espero, entretanto, que seja claro,<br />
desde a perspectiva proposta, que o sentido destas últimas depende em boa parte das mais gerais a que me limito aqui.<br />
29
instituições estatais, na eleição dos governantes que podem mobilizar os recursos e reclamar a<br />
obediência da cidadania, e na pretensão de recorrer a procedimentos juridicamente estabelecidos,<br />
para amparar-se de intenções que considerar arbitrárias. Historicamente, a cidadania desenvolveu-se<br />
conjuntamente com o capitalismo, o Estado moderno e o Direito racional - formal. Isto não é casual: o<br />
cidadão corresponde exatamente ao sujeito jurídico capaz de contrair obrigações livres.<br />
O pressuposto desse Direito é a igualdade abstrata dos sujeitos, prescindindo de que sejam<br />
proprietários de algo mais que sua força de trabalho. O capitalismo tem que engendrar o sujeito livre e igual<br />
ante o Direito, o contrato e a moeda, sem o que não poderia existir sua ação seminal: a compra e venda da<br />
força de trabalho e a apropriação do valor. Esta liberdade efetiva (na esfera abstrata em que está posta)<br />
e ilusória (em relação à posição de classe) implica como paralelo seu a igualdade abstrata da cidadania. E<br />
não apenas logicamente: na prática, os esforços para limitar a participação na comunidade política (em<br />
conseqüência na cidadania) aos "proprietários" não demoraram em ser arrasados. Quem deve aparecer<br />
abstratamente igual para contratar tende a aparecer abstratamente igual para constituir o poder político: o<br />
sujeito livre no mercado intermediado pelo capital-dinheiro é a correspondência exata do eleitor. Isto fez do<br />
Estado capitalista o primeiro que deve tender a aparecer fundado em algum nível de igualdade de todos os<br />
sujeitos.<br />
Tal igualdade é um progresso imenso em relação à não participação na comunidade política do escravo<br />
e do servo, bem como às regressões contemporâneas na vigência da cidadania. Por outro lado, no<br />
entanto, como postulação de uma igualdade abstrata que seria o fundamento do Estado, a cidadania é<br />
a negação da dominação na sociedade. A cidadania é a máxima abstração possível ao nível político. Todo<br />
cidadão, independente de sua posição de classe, recorre à formação do poder estatal corporificado no<br />
Direito e nas instituições. Com isto, tal abstração converte-se em fundamento de um poder voltado à<br />
reprodução da sociedade e da dominação de classe que a articula.<br />
Se cada um, enquanto cidadão, aparece constituindo o poder das instituições estatais e resolvendo que<br />
governantes mobilizarão os seus recursos, então o substrato da obrigação política é a co-participação na<br />
formação da vontade manifesta nessas instituições. Isto supõe que a democracia é a forma normal de<br />
organização política da sociedade capitalista. A liberdade do cidadão, no exercício do seu direito de eleição<br />
do governante, pressupõe a existência de opções colocáveis em condições limitadas mas realmente<br />
pluralistas. A mobilização dos recursos de poder pelo Estado pode então se fazer sobre a base de que o<br />
direito a fazê-lo foi conferido por "Iodos" - os cidadãos. Em acréscimo, a competitividade entre partidos<br />
implícita na cidadania e seu corolário de democracia política, permite a articulação de interesses que<br />
embora "filtrados” no sentido mencionado na seção anterior - sustentam uma crença fundamental para a<br />
legitimação das instituições estalais: a de que não há interesses sistematicamente negados por estas. Isto<br />
30
por sua vez é o correlato da crença de que não existe uma classe dominante. 32<br />
A cidadania é o fundamento mais congruente do Estado, tal como aparece na superfície da sociedade<br />
capitalista. O é por ser a modalidade mais abstrata de mediação entre o Estado e a sociedade. Mas, por<br />
isso mesmo, a cidadania não pode ser referencial do Estado. O que fazem e deixam de fazer as instituições<br />
estatais deve referir-se a algum interesse geral (que tem seu substrato real em ser o Estado um interesse<br />
mais geral que o dos sujeitos aos quais contribui a vincular como aspecto de sua relação). Este interesse<br />
não pode ser imputado à entidade abstrata do cidadão - com a exceção limite de continuar a sê-lo. Em outras<br />
palavras, se a condição totalmente desencarnada da cidadania é o que lhe permite ser o fundamento<br />
igualitário do Estado, é também, por outro lado, o que impede imputar-lhe um interesse geral, ao nível<br />
concreto do que fazem ou deixam de fazer as instituições estatais.<br />
Uma das diferenças entre o Estado e o capital é que este aparece no momento totalmente abstrato da<br />
moeda; por sua parte, o Estado corporifica -se em instituições que, embora postulem um fundamento<br />
abstrato, não podem deixar de ser, por ações, omissões e impactos, uma esfera concreta habitualmente<br />
perceptível como tal.<br />
Um sujeito inteiramente desencarnado não pode ser portador de interesses concretos. Por isso a<br />
cidadania, atributo de participação na comunidade política, é criatura da sociedade capitalista, no<br />
mesmo nível em que é posta ante a consciência comum: o da igualdade abstrata pressuposta pela<br />
circulação do capital - porém apenas como fundamento. Isto implica, certamente, a vigência de direitos que<br />
competem aos dominados enquanto cidadãos, inclusive o de organizarem-se politicamente e portanto<br />
"pesarem mais" na sociedade e no interior do aparato estatal; porém, por outro lado, contribui a ratificar a<br />
textura aparente da sociedade capitalista, e portanto a reproduzi-la.<br />
10 A nação, referencial do Estado.<br />
A que interesses, de que grau de generalidade, abrangente da população do território que delimitam,<br />
servem as instituições estatais? Aos da nação. A nação é a curva de solidariedade, que une o "nós"<br />
definido pela participação comum no território delimitado pelo Estado. O Estado demarca uma nação<br />
frente a outras no cenário internacional. Esta demarcação tende a engendrar um "nós" 33 , definido por<br />
contraposição e diferença em relação aos "eles" de tal cenário. Em outras palavras, o Estado tende a ser<br />
32<br />
Ver de Perry Anderson, sobre este ponto, a sua contribuição crucial ao controle ideológico, "The Antinomies of António<br />
Gramsci", New Lefi Review, n.' 100, 1976.<br />
33<br />
Não estou interessado aqui na questão genética de saber se este ou aquele Estado tende a postular a nação, seja<br />
reconhecendo-a em sua pré-existência ou "re-inventando-a'' como postulação quando não existe. Certamente,o grau em<br />
que a nação efetivamente existe tem conseqüências importantes, embora não possamos descer aqui a este nível de<br />
especificidade.<br />
31
co-extensivo com uma nação 34 . Este é, normalmente, um fator de coesão baseado no reconhecimento<br />
deste "nós", como pretensão aceitável de vigência real.<br />
Por sua parte, o Estado, refeito em suas instituições, aparece como um Estado-para-a-nação. E isto com<br />
um significado duplo. Primeiro, como delimitação da nação frente a outros Estados nacionais. Segundo,<br />
para o interior do território, como pretensão, respalda em última análise por sua supremacia coercitiva de<br />
ser o agente privilegiado de custódia, interpretação e conquista dos interesses gerais da nação.<br />
O referencial das instituições estatais, a coletividade a cujos interesses serviriam, não é a sociedade<br />
mas a nação. A invocação dos interesses desta última é o que justifica impor decisões contra a vontade<br />
dos sujeitos, inclusive contra segmentos das classes dominantes, em beneficio da preservação do significado<br />
homogeneizador da nação. Portanto, a impostação do Estado à frente e acima da sociedade completa-se<br />
quando se transpõe ao plano da nação.<br />
É daqui que as instituições estatais pretendem encarnar uma racionalidade que, muito mais que as<br />
condições da sociedade, só os seus agentes poderiam alcançar. Tal racionalidade não poderia pertencer<br />
às "partes" da sociedade que, agora sim, poderá aparecer fragmentada sem contradizer a sua superfície<br />
aparente. Ao contrário, esta fragmentação é condição de possibilidade para que o Estado fetichizado flutue<br />
acima da sociedade ao mesmo tempo em que fala da e à nação.<br />
Esta inserção entre Estado e nação permite entender a postura hegeliana dos agentes estatais. Eles são<br />
mais que custódios do interesse geral da nação; são a sua síntese ativa, porque dificilmente podem<br />
decifrar esse interesse os membros da nação, que são os mesmos sujeitos submetidos à particularização<br />
da sociedade. Vimos que o Estado é a segregação transmutada da sociedade; entendemos agora que<br />
quando o Estado liga-se à nação, a sociedade pode ficar acantonada no "privado" e no econômico. Esta<br />
inversão expropria da sociedade o seu sentido primordial como sociedade global e, portanto, como local<br />
fundante da dominação. Pela mesma razão o político evapora-se da sociedade (como Estado e como luta<br />
pelo controle dos recursos estatais de dominação), para permanecer atado ao plano homogeneizador e<br />
indiferenciado de Estado e nação.<br />
A postulação da nação como coletividade superior aos interesses particularizados da sociedade facilita algo<br />
fundamental: o reconhecimento de desigualdades que continuam evidentes, embora negando-as<br />
naquilo que é mais problemático à reprodução do sistema de dominação: o seu caráter de contradições. A<br />
vigência de solidariedades nacionais que teriam precedência sobre a sociedade é a negação dessas<br />
contradições como tais. Além disso, a conjunção entre Estado e nação sacraliza o que continua<br />
34 A existência e/ou possibilidade de postular de modo verossímil á nação não dependem (embora estes tornem mais ou<br />
menos difícil tal postulação) de uma comunidade de idioma, religião, raça, algum passado comum, ou fatores que alguns se<br />
esforçaram por encontrar. Sobram os exemplos que demonstram que nenhuma dessas é condição necessária nem<br />
suficiente para a emergência da nação.<br />
32
inocultável: as desigualdades e "imperfeições" sociais não resultam da negação sistemática de interesses<br />
(porque os interesses de todos estão incluídos no arco homogeneizador da nação) e são parte do "modo<br />
de ser" da nação, o qual pode em todo caso ser corrigido, mas não negado. Demandas e interesses por<br />
"justificados" que sejam devem ajustar-se a estes parâmetros, uma vez que ao não fazê-lo negar-se-ia a<br />
realidade que prevalece na nação. Cada interesse "privado" deve dar lugar aos interesses coletivos<br />
superiores, derivados do que cada um é na nação. Como poderia prevalecer o interesse de alguma<br />
daquelas "partes" sobre o interesse de todos que é o ser da nação? Mas, certamente a sacralização do<br />
modo histórico de ser da nação costuma constituir-se também na reprodução da sociedade qua capitalista.<br />
Insistamos: as decisões estatais invocam os interesses da nação e os condensam numa simbologia que<br />
as rememora continuamente. Ao flutuar sobre as fissuras da sociedade, e ao negar a sua articulação<br />
contraditória, isto supõe - e portanto ratifica - a sociedade qua capitalista. Assim, a nação ocupa o espaço<br />
deixado vazio pelo acantonamento da sociedade, colocando-se como principal referencial do Estado. Este<br />
aparece, em conseqüência, como um Estado-para-a-nação, e não como um Estado de e para a sociedade. O<br />
Estado é o "resumo oficial", a fachada majestosa da sociedade, quando dela se afasta, reaparecendo como<br />
síntese ativa da nação.<br />
Na medida em que a nação nega as fissuras estruturais da sociedade, torna-se análoga à cidadania. Mas<br />
se esta é uma mediação abstrata, a nação alude inevitavelmente aos atos, omissões e impactos<br />
concretos das instituições estatais. As conseqüências de assumir certa posição em um fórum<br />
internacional, de alocar recursos para minorar uma catástrofe, de subsidiar certas atividades ou de<br />
modificar a regulamentação do trabalho, afetam a sujeitos que são membros da nação. Pelas razões<br />
analisadas, estes dificilmente chegam a uma compreensão cabal das conexões causais e da forma dos<br />
impactos pertinentes. Mas nem por isso tais atividades deixam de ser percebidas em suas conseqüências<br />
importantes para os interesses concretos desses sujeitos.<br />
A cidadania é o fundamento ótimo, embora não possa ser o referencial, porque é uma generalidade<br />
abstrata. A nação, por sua vez, é uma generalidade concreta, o que permite imputar-lhe o interesse<br />
geral que é o referencial do Estado reificado. Dizer que a nação é uma generalidade concreta significa<br />
duas coisas: primeiro, que é uma homogeneização indiferenciada com respeito às clivagens da<br />
sociedade. Segundo, que, apesar disso, o sujeito social ao qual a nação se refere - o membro-da-nação - não<br />
é o sujeito descarnado da cidadania e do Direito racional-formal.<br />
Ser membro da nação é ver-se como integrante de uma identidade coletiva superior às clivagens de<br />
classe. Mas é sustentar também a expectativa de que os seus interesses não serão negados<br />
sistematicamente, e de que se dispõe de um título de beneficiário - concreto e reconhecido - do interesse geral<br />
que as instituições estatais afirmam servir. Ou seja, as conseqüências do que as instituições estatais fazem<br />
ou deixam de fazer pressupõem uma identidade coletiva que, por um lado, continue negando as fissuras<br />
33
da sociedade e que, por outro lado, não seja abstrata. Esta é a maneira de re-expressar a contradição que o<br />
Estado devolve à sociedade: não pode ficar integralmente sub-sumido na igualdade abstrata da cidadania e<br />
deve, ao contrário, aparecer mediatizado por um referencial que é a postulação de uma generalidade<br />
concreta. As instituições estatais são um viés sistemático que deve referir-se a um interesse geral, o qual por<br />
sua vez pressupõe a inexistência deste viés.<br />
O discurso das instituições estatais é, portanto, equalizante e homogeneizador com referência à cidadania<br />
e aos membros da nação, ao mesmo tempo em que a agregação dos impactos de seus atos e<br />
omissões é a negação prática desse discurso. Esta contradição (nem sempre ou necessariamente<br />
óbvia) é conseqüência do fato do Estado não poder ter a sociedade por fundamento ou referencial sob pena<br />
de desnudá-la e desnudar-se enquanto dominação. E de que, por outro lado, o seu fundamento ótimo na<br />
cidadania -porque inteiramente abstrato, - não pode por isso ser o seu referencial. Portanto, se o Estado não<br />
encontra à nação já posta, necessita inventá-la, postulando-a. O Estado capitalista tende a ser o Estado<br />
nacional.<br />
Se o Estado fetichizado é verossímil como Estado-para-a-nação e como Estado de cidadãos 35 , é então,<br />
ademais de coerção, organizador do consenso. Já mencionei que isto é correlato à legitimação das<br />
instituições estatais, e à sua conseqüência - a hegemonia. Mas esta é apenas uma possibilidade que,<br />
ademais, não tem ponto de equilíbrio: apesar das mediações da cidadania e da nação, a sociedade pode<br />
impor os seus próprios sistemas de solidariedade. Inclusive antes disso, o Estado capitalista costuma ligar-se<br />
a uma mediação menos potável que as anteriores: a do povo ou do popular.<br />
11 O povo. fundamento e referencial ambíguo do Estado.<br />
Nesta seção reduziremos o nível de abstração. Ocupar-me-ei do povo ou popular, outra solidariedade<br />
coletiva que costuma mediar entre Estado e sociedade. Conforme as definições que proporei, esta<br />
dimensão costuma estar presente em certo grau em todo Estado capitalista, embora a sua importância<br />
relativa tenha sido sem dúvida maior nos casos latino-americanos a que se dirigem estas reflexões, que<br />
nos capitalismos centrais. Argumentarei mais adiante - desenvolvendo-o em outro trabalho focalizando<br />
diretamente o Estado burocrático-autoritário - que essa maior importância relaciona-se estreitamente à<br />
menor vigência da cidadania como mediação efetiva entre Estado e sociedade. Isto, por sua vez, parece<br />
ser função de uma menor extensão e densidade do capitalismo, que não chegou a aperfeiçoar, como nos<br />
países centrais, o conjunto de aparências abstratas do qual como vimos, a cidadania é um dos<br />
35 A conexão entre os dois níveis resulta de que quem é membro da nação costuma ser, por esse título, cidadão. O sujeito<br />
da comunidade política normalmente postulada pelo Estado capitalista é fundamento (cidadania) e referencial (nação) do<br />
Estado. Ou, o que é equivalente, é respectivamente uma generalidade abstrata e uma generalidade concreta, postas ao<br />
mesmo nível abrangente do Estado e mediando - real embora ocultamente, como vemos - entre este último e o seu<br />
fundamento e referencial profundo: a sociedade.<br />
34
componentes 36 .<br />
De qualquer modo, como o componente popular não deixa de estar presente em todos os casos, creio<br />
que se justifica tratá-lo brevemente nestas páginas.<br />
O membro da nação tem título de participação nas conseqüências das conquistas dos interesses gerais<br />
de uma nação. Essas conseqüências repartem-se, no entanto, de modo evidentemente desigual. Deste<br />
fato costumam emanar demandas de justiça substantivas, pelas quais os cidadãos e membros da<br />
nação, baseados no discurso de igualdade implícito no Estado e sociedade capitalistas, pretendem<br />
minorar tais desigualdades. A postulação indiferenciada do interesse geral da nação é insuficiente para<br />
encobrir as evidências de desigualdades. Isto costuma conduzir à pretensão de que as instituições<br />
estatais atuam em sentido equalizador - isto é, favorecendo ou amparando os relativamente destituídos.<br />
Os pobres, as pessoas comuns, os desprivilegiados são, quando reconhecidos coletivamente como tais, o<br />
povo ou o popular.<br />
De imediato encontramos uma primeira ambigüidade do popular. Por um lado, estabelece um arco de<br />
solidariedades acima das clivagens de classe, na medida em que abarca genericamente aos que se<br />
reconhecem destituídos. Mas, por outro lado, a demanda por justiça substantiva orientada<br />
diferencialmente a beneficiá-los não pode senão exercer-se contra os que são também parte da nação:<br />
os ricos, poderosos, que têm mais e, às vezes, as instituições estatais que parecem excessivamente<br />
orientadas aos interesses destes últimos.<br />
O grau em que uma parte da população se reconhece como povo, assim como a simultaneidade da<br />
vigência da cidadania e da nação, é uma variável que se deve analisar em situações históricas<br />
especificas. Porém, sempre que o popular tem vigência efetiva, torna-se um âmbito de solidariedade<br />
menos abrangente que o da nação. O popular costuma ser território de lutas políticas definidas por seu<br />
conteúdo: o não-popular, o qual reúne, pelo menos, parte das classes dominantes 37 . No seu limite, as<br />
lutas ao redor do popular implicam a pretensão de que seu âmbito é o da "verdadeira" nação, fusão entre o<br />
nacional e o popular: quem se situasse fora desse campo não seria em realidade parte da nação. Ademais,<br />
as suas demandas podem afetar os limites de reprodução da sociedade qua capitalista. Isto pode tocar de<br />
perto (e expor demasiado) as contradições que o Estado capitalista não pode resolver nem assumir como<br />
tais.<br />
O ponto fundamental é que a confrontação do discurso igualitário e imparcial do Estado capitalista com<br />
a evidência de desigualdades - embora não descobertas em suas causas profundas - recoloca<br />
36<br />
Insistem sobre este ponto Norberto Lechner, "La Crisis...", Op. cit. e Marcelo Cavarozzi. num trabalho em andamento<br />
sobre as origens históricas da questão da democracia na América Latina.<br />
37<br />
Ernesto Laclau analisa o popular como terreno principal da luta política ("Para uma Teoria do Populismo", em Teoria da<br />
Ideologia no Pensamento Marxista, Paz e Terra. 1979).<br />
35
continuamente a possibilidade de re-emergência do popular. Esta é a sua segunda ambigüidade. Por um<br />
lado, na medida em que continua reunindo sujeitos sociais por razões diferentes às de sua verdadeira<br />
condição de dominados e explorados na sociedade, torna-se outra linha de ocultamento desta sociedade.<br />
Ademais, na medida em que - dependendo dos contextos e períodos históricos - parte significativa<br />
dessas demandas pode ser absorvida sem explodir os marcos da sociedade qua capitalista, o Estado<br />
pode aparecer como acolhedor do popular. Em acréscimo, o Estado põe-se frente às classes como<br />
fiador e organizador das relações sociais que as constituem como tais, pelo que - como vimos na<br />
primeira seção - torna-se igualmente no custódio das classes subordinadas. Do mesmo modo, com seu<br />
nível fetichizado, o acolhimento - ou a antecipação - pelo Estado das demandas dos relativamente<br />
destituídos, invocadas a partir desta condição, facilita a reprodução destes enquanto classes<br />
subordinadas. Em primeiro lugar, por tornar verossímil a pretensão do Estado de ser um Estado "para todos",<br />
inclusive a de ser um Estado benevolamente orientado, em suas decisões mais notáveis e popularizadas para<br />
os desprivilegiados da nação. Em segundo lugar, promovendo as condições de vida das classes subordinadas<br />
aproximadamente compatíveis, em cada caso histórico com a vigência das relações de produção e com a<br />
acumulação do capital 38 . As instituições estatais podem aparecer assim, em casos próximos ao pólo da<br />
hegemonia, não apenas como síntese ativa da nação mas também como tutores esforçados - embora<br />
cronicamente falidos - de suas classes subordinadas. Porém (e este é o outro termo da ambigüidade) a<br />
tendência para a contínua recolocação de questões de justiça substantiva pré-define ao não-popular como<br />
adversário, e portanto reduz a nação abrangente e homogênea, que é o referencial ideal do Estado.<br />
Ademais, a impossibilidade eventual para satisfazer as demandas levantadas, agregada a respostas que<br />
não podem cerrar o hiato entre o discurso igualitário e as desigualdades observáveis, pode colocar uma<br />
carga "excessiva" para a acumulação do capital. Ainda mais: este pode ser um dos campos da prática<br />
social em que as classes populares descubram-se a si mesmas como tais. Por isso, o popular é<br />
simultaneamente uma cobertura sobre a realidade profunda da sociedade (e em conseqüência, sobre a<br />
do Estado), e ponto possível de trânsito ao seu descobrimento.<br />
Por isso também o popular é uma mediação menos potável para o Estado capitalista, e para a<br />
38 Inclusive violando os pressupostos de igualdade abstrata do Direito racional-formal. Isto ocorre de modo típico na<br />
regulamentação de algumas relações trabalhistas, que supõem a convivência social de alguma tutela estatal sobre os<br />
trabalhadores. Porem", não menos tipicamente, estes distanciamentos dos supostos puros do Direito racional-formal<br />
começam por situar às classes subordinadas como tais, para só tutelar depois as condições de sua reprodução, igualmente<br />
enquanto classes subordinadas. Isto é tudo incluído sob um discurso que nega como contraditória a relação social assim<br />
custodiada. Na verdade, os benefícios que podem derivar-se desta e outras tutelas, e os freqüentes conflitos que provocam<br />
com segmentos das classes dominantes, são um dos principais ancoradouros da crença legitimadora num Estado que não<br />
nega sistematicamente nenhum interesse, e que, ademais, promove a "justiça social" substantiva acima das classes<br />
dominantes. O que espero que seja claro, é certo, embora no sentido limitado de que, conforme o significado profundo do<br />
Estado como fiador e organizador de uma relação social de dominação, ocorre dentro dos limites da reposição das classes<br />
subordinadas enquanto tais.<br />
36
dominação em que se insere, que as demais mediações, da cidadania e da nação. O popular não é a<br />
mediação abstrata da cidadania nem a mediação concreta porém indiferenciada de nação. Os seus<br />
conteúdos são mais concretos que os desta última. Também são menos genéricos, já que o arco que<br />
engloba o povo é mais estreito que o da nação, pretensão de solidariedade abrangente do conjunto da<br />
população. Por outro lado, os conteúdos do popular são mais genéricos e menos concretos que os<br />
deriváveis da posição de classe. Ambiguamente situado entre cidadania e nação por um lado, e classe<br />
por outro, o popular pode ser tanto fundamento como referencial das instituições estatais. O mandato<br />
destas à ordenação e à coerção pode aparecer conferido pelo povo, não apenas (e às vezes não<br />
tanto) 39 pela generalidade abstrata da cidadania. O Estado aparece então como um Estado fundado<br />
principalmente nos relativamente desprivilegiados. Quando esse é o fundamento, tal costuma ser<br />
também o referencial postulado do Estado; suas instituições passam a servir principalmente ao povo, aos<br />
destituídos que necessitam mais do que ninguém do seu cuidado tutelar. No entanto, o Estado capitalista<br />
somente, pode ser realmente 40 um Estado popular em circunstâncias históricas muito especiais e de<br />
breve duração. Esse Estado não pode deixar de ser o que está determinado por sua realidade profunda:<br />
emanação, fiança, e organizador de uma relação de dominação, a qual parcializa estruturalmente<br />
aquilo que os seus momentos objetivados, Direito e instituições, recolocam sobre a sociedade.<br />
12 Ocultamento e Ruptura<br />
Nenhuma sociedade é "puramente" capitalista, embora a sua condição como tal tenda a subordinar suas<br />
outras dimensões. Em particular, a abrangência de uma população delimitada territorialmente, realizada<br />
pelo Estado em nome da nação, costuma incluir, em grau variável, outras clivagens - étnicas, linguísticas,<br />
regionais, religiosas - cuja conexão com as de classe deve ser avaliada cuidadosamente em cada caso. Isto,<br />
além das razões que examinamos nas páginas anteriores, reforça a tendência a ocultar a emergência -como<br />
questão central na consciência dos sujeitos - da sociedade civil (inclusive a do Estado como parte analítica desta)<br />
enquanto nível fundante da realidade social global. Em especial, as mediações examinadas acima costumam<br />
estender uma cobertura integrativa sobre os bastidores estruturalmente desintegrados da sociedade civil,<br />
sustentando o cenário imponente de um Estado fetichizado. Porém já vimos que tais mediações, cada uma a seu<br />
modo, são também a expressão, e modalidade de retorno à sociedade civil, da contradição fundamental<br />
39 Insistindo sobre um ponto anterior, tal ocorreu em certos casos latino-americanos, em períodos precedentes à emergência<br />
do Estado burocrático autoritário. Esta parece ser a norma nos capitalismos tardios e dependentes (em muitos casos com a<br />
complicação adicional de uma forte vigência de solidariedades étnicas e regionais). O capitalismo coexiste neles com outras<br />
formas históricas, e se reproduz de maneira particularmente desigual, com o que a superfície abstrata da sociedade<br />
capitalista (com o seu correlato da cidadania) não chega a incluir o conjunto das relações sociais<br />
40 Ou seja, como postulação verossímil de um fundamento e referencial popular, cujos impulsos sociais agregados não<br />
sejam demasiado inconsistentes com essa postulação. Não é qualquer invocação ao povo que faz do Estado, nos termos<br />
especificados, um Estado popular.<br />
37
da qual emana o Estado, e da contradição derivada que ela, em sua reificação necessária, constitui por sua<br />
conta ao aparecer separado de sua origem.<br />
Por outro lado, cidadania, nação e povo - novamente cada um a seu modo - são por si mesmos<br />
contraditórios, ademais do que já vimos como específico a cada um deles, porque o seu efeito encobridor<br />
não pode existir sem que sejam eles - e contribuam a fazer do Direito e do aparato estatal -âmbitos para<br />
a presença prática das classes subordinadas. Transcendendo o seu fracionamento cotidiano à sociedade civil<br />
em tais âmbitos - embora estejam orientados a encobrir e portanto a reproduzir a "ordem" existente - essas<br />
classes podem reconhecer-se e constituir-se política e ideologicamente como tais. Isto, por sua vez, abre a<br />
possibilidade de que descubram o fundamento de sua condição. A partir daí passamos a um nível de<br />
especificidade que não corresponde a este momento da análise.<br />
Terceira Seção<br />
13 Algumas conclusões<br />
Nas seções precedentes percorremos dois vetores indispensáveis à compreensão do Estado<br />
capitalista. Na primeira seção tratamos do ponto crucial: o Estado como aspecto analítico da sociedade,<br />
particularmente cristalizado no Direito e nas instituições. Ali o entendemos como primordialmente coercitivo.<br />
Porém vimos também que a tendência necessária a fetichização do Estado, e à cisão aparente entre este e a<br />
sociedade, supõe a tendência também necessária à geração de mediações entre esta e aquele. Por isso nos<br />
ocupamos na segunda seção das principais mediações: cidadania, nação e povo. Vimos ali que o Estado<br />
também é, normalmente, a organização do consenso como constitutivo de solidariedades coletivas que<br />
costumam ocultar as rupturas da sociedade, e os vieses sistemáticos do Estado. Disto costuma derivar-se a<br />
legitimação das instituições estatais, que encontram em suas mediações o fundamento e referencial<br />
generalizadamente verossímeis.<br />
Embora seja essa a conseqüência habitual de tais mediações, também o são o modo em que o estatal<br />
expressa a sua contradição própria, que retorna a uma sociedade de cuja contradição fundante ao nível<br />
das relações de produção ele é aspecto co-constitutivo. O Estado capitalista não pode deixar de ser, na<br />
agregação de seus supostos, ao longo do tempo e através da sociedade, um viés reprodutor da sociedade<br />
capitalista, da qual participa em sua realidade profunda. Porém para que tais mediações tenham vigência<br />
efetiva - para que não sejam um discurso sem eco - devem sustentar-se numa ideologia de igualdade:<br />
abstrata no fundamento da cidadania, concreta porém indiferenciada no referente à nação, e<br />
eventualmente mais concreta e menos indiferenciada no âmbito do popular. O correlato é a postulação<br />
do Estado como árbitro e tutor imparcial. Em sua expressão mais atenuada, a contradição aparece como<br />
38
perpétua incongruência entre fundamentos e referenciais postulados, por um lado, e a evidência de profundas<br />
desigualdades, por outro lado. Isto não implica necessariamente em que estas sejam entendidas em suas<br />
causas profundas - ou seja, como contradições. Mas a sua evidência, enquanto tais desigualdades, tensiona<br />
duplamente o Estado na insolúvel questão de ser ao mesmo tempo viés estrutural e discurso de igualdade.<br />
Resultam desta tensão, ademais das razões que anotei na primeira seção, avanços e recuos, bem como<br />
ações de correção da desigualdade por parte das instituições estatais. Elas podem ser o ancoradouro para a<br />
legitimação, embora também espaço aberto para o reconhecimento das contradições inerentes à<br />
sociedade capitalista. O que parece evidente - se estas reflexões não são demasiado equivocadas - c que a<br />
segunda possibilidade passa fundamentalmente pelo campo da política e da ideologia' e que. apesar do<br />
peso imponente do Estado fetichizado, o local decisivo de reprodução e possível superação da dominação é<br />
a sociedade.<br />
Finalmente, não há uma necessidade metafísica para a existência das mediações que tratamos aqui.<br />
Porém a sua inexistência ou supressão eventual implicam que, embora o Estado já não devolva então à<br />
sociedade a contradição que acabo de sublinhar, mostra muito mais diretamente a sua inserção na contradição<br />
social fundamental. Então, falha como organizador de consenso, e revela-se em seu componente primordial -<br />
coercitivo e coativo'-'• e em seu significado fundamental de emanação e fiança das relações principais de<br />
dominação na sociedade. Despojado de seus componentes "normais" de mediações e consenso, esse<br />
Estado, "autoritário" em diversas variantes, mostra que é antes Estado capitalista que nacional, popular ou<br />
de cidadãos. No entanto, a face imponente de coerção é seu fracasso como organização de consenso, e<br />
portanto como legitimação de suas instituições e como contribuição à hegemonia na sociedade.<br />
Espero que estas anotações, centradas nos supostos de dominação referidos ao pólo do consenso e do<br />
capitalismo como forma histórica amplamente imposta, tenham aberto caminho às tentativas que se seguirão<br />
para entender, por contraste, casos do Estado capitalista em que tais supostos estão ausentes, ou onde<br />
foram drasticamente suprimidos.<br />
39