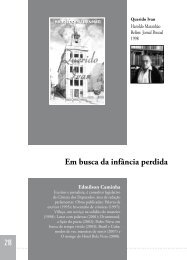Lei de responsabilidade fiscal A compensação de ... - Aslegis
Lei de responsabilidade fiscal A compensação de ... - Aslegis
Lei de responsabilidade fiscal A compensação de ... - Aslegis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
16<br />
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias<br />
<strong>de</strong> caráter continuado<br />
Contribuição efetiva para a administração pública,<br />
instrumento <strong>de</strong> retórica ou um caso <strong>de</strong> auto-engano?<br />
Wé<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Oliveira<br />
Consultor <strong>de</strong> Orçamento e Fiscalização<br />
Financeira da Câmara dos Deputados<br />
A <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong> Fiscal, recém-aprovada pela Câmara dos Deputados,<br />
está prestes a introduzir uma inovação que terá gran<strong>de</strong> repercussão na administração<br />
pública. Trata-se das medidas <strong>de</strong> controle da geração e <strong>de</strong> <strong>compensação</strong><br />
das chamadas <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado, disciplinadas no art.<br />
17 1 , as quais, durante as discussões políticas, permaneceram em um plano subalterno,<br />
razão por que as suas conseqüências foram percebidas apenas por alguns poucos.<br />
O Po<strong>de</strong>r Executivo fe<strong>de</strong>ral tem <strong>de</strong>fendido que <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> duração continuada<br />
(tipicamente <strong>de</strong>spesas com pessoal e da segurida<strong>de</strong> social: saú<strong>de</strong>, assistência e<br />
previdência social) só possam ser aumentadas ou criadas se forem gerados recursos,<br />
por redução <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas ou aumento <strong>de</strong> receitas.<br />
Essa idéia básica tem sido transmitida à mídia, e por ela repercutida,<br />
1 Art. 17. Consi<strong>de</strong>ra-se obrigatória <strong>de</strong> caráter continuado a <strong>de</strong>spesa corrente <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong><br />
lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal <strong>de</strong> sua<br />
execução por um período superior a dois exercícios.<br />
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> que trata o caput <strong>de</strong>verão ser instruídos<br />
com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e <strong>de</strong>monstrar a origem dos recursos para seu custeio.<br />
§ 2º Para efeito do atendimento do parágrafo anterior, o ato será acompanhado <strong>de</strong> comprovação<br />
<strong>de</strong> que a <strong>de</strong>spesa criada ou aumentada não afetará as metas <strong>de</strong> resultados fiscais previstas no<br />
anexo referido no § 1º do art. 4º, <strong>de</strong>vendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados<br />
pelo aumento permanente <strong>de</strong> receita ou pela redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa.<br />
§ 3º Para efeito do parágrafo anterior, consi<strong>de</strong>ra-se aumento permanente <strong>de</strong> receita o proveniente<br />
da elevação <strong>de</strong> alíquotas, ampliação da base <strong>de</strong> cálculo, majoração ou criação <strong>de</strong> tributo ou<br />
contribuição.<br />
§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e<br />
metodologia <strong>de</strong> cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame <strong>de</strong> compatibilida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>spesa com as<br />
<strong>de</strong>mais normas do plano plurianual e da lei <strong>de</strong> diretrizes orçamentárias.<br />
§ 5º A <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> que trata este artigo não será executada antes da implementação das<br />
medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.<br />
§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong>stinadas ao serviço da dívida nem ao<br />
reajustamento <strong>de</strong> remuneração <strong>de</strong> pessoal <strong>de</strong> que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.<br />
§ 7º Consi<strong>de</strong>ra-se aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa a prorrogação daquela criada por prazo <strong>de</strong>terminado.
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado<br />
17<br />
como uma medida <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> extremo bom senso. Seria, se o que<br />
estivesse sendo regulamentado fosse exatamente aquilo que tem sido, equivocadamente,<br />
propagado: <strong>de</strong>spesas só serão aumentadas se houver aumento <strong>de</strong> arrecadação.<br />
No entanto, não é essa a idéia que está normatizada pela <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong><br />
Fiscal .<br />
Quando se <strong>de</strong>tiverem a ler e interpretar cuidadosamente o que nela está escrito,<br />
muitos dos que aprovaram as disposições do art. 17 2 , ou que as <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>m e as<br />
tem divulgado, perceberão que o que se está criando são regras <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> duração continuada dúbias, imprecisas e a tal ponto restritivas que a<br />
<strong>compensação</strong> proposta será metodologicamente inaplicável, geradora <strong>de</strong> instabilida<strong>de</strong><br />
jurídica, questionável do ponto <strong>de</strong> vista da constitucionalida<strong>de</strong>, ineficaz - pois<br />
não alcançará os objetivos pretendidos e engessará <strong>de</strong> forma prejudicial a administração<br />
pública - e, exatamente por tudo isso, <strong>de</strong>sprovida do bom senso apregoado.<br />
Explicação passo a passo do processo <strong>de</strong> criação <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa obrigatória<br />
<strong>de</strong> caráter continuado<br />
Para trazer à luz as implicações que estão por trás das exigências do art. 17,<br />
optamos por apresentar um exemplo hipotético <strong>de</strong> aplicação passo a passo, na forma<br />
como pensada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão .<br />
1. Suponhamos que no mês <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2000 um prefeito <strong>de</strong>seje instituir,<br />
por lei, um programa <strong>de</strong> bolsa-escola, que garantirá a toda criança que esteja em<br />
ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> freqüentar o ensino básico uma bolsa <strong>de</strong> R$ 70,00 por mês. Esse programa<br />
seria uma típica <strong>de</strong>spesa obrigatória <strong>de</strong> caráter continuado 3 .<br />
2. O § 1º do art. 17 4 exige que o prefeito apresente as estimativas dos custos<br />
do programa no exercício em que <strong>de</strong>va entrar em vigor e nos dois seguintes, e<br />
<strong>de</strong>monstre <strong>de</strong> on<strong>de</strong> virão os recursos. Essas são exigências <strong>de</strong> bom senso, exeqüíveis,<br />
que não justificam maiores resistências 5 .<br />
2 As regras <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> do art. 17 foram objeto <strong>de</strong> embate entre os técnicos do Ministério<br />
do Planejamento, Orçamento e Gestão e a equipe <strong>de</strong> consultores da Câmara dos Deputados,<br />
prevalecendo, por <strong>de</strong>cisão política, a opinião do Ministério, no sentido <strong>de</strong> exigir a <strong>compensação</strong> na<br />
forma como proposta no art. 17.<br />
3 Consi<strong>de</strong>ra-se obrigatória <strong>de</strong> caráter continuado a <strong>de</strong>spesa corrente <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> lei, medida<br />
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal <strong>de</strong> sua execução<br />
por um período superior a dois exercícios.<br />
4 Art. 17, § 1º Os atos que criarem ou aumentarem <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> que trata o caput, <strong>de</strong>verão ser<br />
instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e <strong>de</strong>monstrar a origem dos recursos para<br />
seu custeio.<br />
5 A Constituição Fe<strong>de</strong>ral, ao dispor, no art. 195, § 5º, que “nenhum benefício ou serviço<br />
relativo à segurida<strong>de</strong> social po<strong>de</strong>rá ser criado, estendido ou majorado sem a correspon<strong>de</strong>nte fonte <strong>de</strong><br />
custeio total”, já pressupõe a prévia estimativa dos custos da nova legislação e a indicação da fonte<br />
<strong>de</strong> recursos.
18 3.<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
O § 2º 6 <strong>de</strong>termina que, para efeito do disposto no § 1º (ou seja <strong>de</strong>monstrar<br />
a origem dos recursos), a lei que criar o programa <strong>de</strong>verá estar acompanhada <strong>de</strong><br />
comprovação <strong>de</strong> que as metas <strong>de</strong> resultados fiscais (as <strong>de</strong> 2000, 2001 e 2002, estabelecidas<br />
na LDO aprovada em junho <strong>de</strong> 1999) não serão afetadas, <strong>de</strong>vendo os<br />
efeitos financeiros da lei ser compensados, nos períodos seguintes, por aumento<br />
permanente <strong>de</strong> receita, redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa ou ambos.<br />
Comprovação <strong>de</strong> não-comprometimento das metas<br />
4. Aqui começam as dúvidas quanto à aplicação do dispositivo. O prefeito<br />
se perguntaria: como comprovo que as metas não serão comprometidas? Há basicamente<br />
três formas:<br />
• a primeira é <strong>de</strong>monstrar que a <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong>corrente do programa foi consi<strong>de</strong>rada<br />
no Anexo <strong>de</strong> Metas Fiscais da LDO e, portanto, sua execução não as afetará;<br />
• a segunda seria apresentar previsões atualizadas <strong>de</strong> receitas e <strong>de</strong>spesas,<br />
com base em dados recentes <strong>de</strong> execução orçamentária, comprovando que é possível<br />
incluir a nova <strong>de</strong>spesa sem afetar as metas estabelecidas em junho <strong>de</strong> 1999, na<br />
LDO; 7<br />
• a terceira é comprovar que <strong>de</strong>spesas inicialmente consi<strong>de</strong>radas no estabelecimento<br />
das metas serão cortadas para dar lugar à que está sendo criada, ou que<br />
novas receitas serão geradas. 8<br />
Por quanto tempo <strong>de</strong>verá o aumento ser compensado?<br />
5. Atendida essa primeira exigência (comprovar que as metas <strong>de</strong> 2000, 2001<br />
e 2002 não serão afetadas), <strong>de</strong>ve-se cumprir a segunda: compensar os efeitos da lei<br />
nos períodos seguintes. O prefeito então iria se perguntar: quais períodos seguintes?<br />
6. Vem à tona o primeiro e mais evi<strong>de</strong>nte problema do mecanismo <strong>de</strong> com-<br />
6 Art. 17, § 2º Para efeito do atendimento do parágrafo anterior, o ato será acompanhado <strong>de</strong><br />
comprovação <strong>de</strong> que a <strong>de</strong>spesa criada ou aumentada não afetará as metas <strong>de</strong> resultados fiscais<br />
previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, <strong>de</strong>vendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes,<br />
ser compensados pelo aumento permanente <strong>de</strong> receita ou pela redução <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa obrigatória <strong>de</strong><br />
caráter continuado.<br />
7 Nesse caso, enten<strong>de</strong>mos que será necessário respaldar as alterações nas previsões <strong>de</strong> receitas<br />
e <strong>de</strong>spesas mediante uma lei alterando a LDO, em seu Anexo <strong>de</strong> Metas Fiscais. Não fosse assim,<br />
que órgão atestaria a valida<strong>de</strong> das previsões? Deveria ser concedida a um outro órgão, que não o<br />
Po<strong>de</strong>r Legislativo, a prerrogativa <strong>de</strong> atestar, para fins <strong>de</strong> permitir aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas, modificações<br />
em previsões que embasaram o estabelecimento das metas fiscais, consignadas em lei e <strong>de</strong> cumprimento<br />
obrigatório?<br />
8 Nessa hipótese também seria necessário uma lei alterando o Anexo <strong>de</strong> Metas Fiscais, para<br />
registrar os cortes que serão efetuados e incorporar às previsões as receitas que serão geradas.
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado<br />
19<br />
pensação proposto no art. 17. A redação confusa e imprecisa do § 2º dá margem a<br />
entendimentos bem diferentes acerca da expressão “períodos seguintes”, com conseqüências<br />
bastante distintas. A pergunta do prefeito seria respondida diferentemente<br />
por aqueles que já se <strong>de</strong>tiveram na interpretação do § 2º.<br />
7. Os técnicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão respon<strong>de</strong>m:<br />
nos anos para os quais existam metas <strong>de</strong> resultados fiscais (2000, 2001, 2002),<br />
se o prefeito comprovar que elas não serão afetadas 9 , a <strong>compensação</strong> só precisará<br />
ser efetuada nos “períodos seguintes”: os anos <strong>de</strong> 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.....e,<br />
assim por diante, in<strong>de</strong>finidamente, pelo tempo que durar a <strong>de</strong>spesa 10 (esta é a interpretação<br />
que nos parece correta em termos redacionais, mas não do ponto vista <strong>de</strong><br />
sua exeqüibilida<strong>de</strong>).<br />
8. Outros interpretam que “períodos seguintes” são apenas os dois seguintes<br />
ao da entrada da lei em vigor, enten<strong>de</strong>ndo-se que a <strong>compensação</strong> só <strong>de</strong>ve ser necessária<br />
nos anos <strong>de</strong> 2001 e 2002 11 , e que no <strong>de</strong> 2000 exige-se apenas a comprovação<br />
<strong>de</strong> que a meta não será afetada.<br />
9. A terceira interpretação é: se as metas não forem afetadas, não será necessário<br />
realizar a <strong>compensação</strong>; se forem, a <strong>compensação</strong> será exigida, mas apenas<br />
pelos próximos três anos. Aqueles que interpretaram o § 2º <strong>de</strong>ssa maneira o fizeram<br />
<strong>de</strong> uma forma lógico-sistemática, porque não acreditam que o objetivo seja outro<br />
que não esse. Mas, infelizmente, sua interpretação está baseada mais no que gostariam<br />
que fosse do que naquilo que está efetivamente escrito.<br />
10. Ou seja, trata-se <strong>de</strong> interpretações completamente diferentes: a primeira<br />
enten<strong>de</strong> que a <strong>compensação</strong> <strong>de</strong>ve acontecer por um período in<strong>de</strong>finido, que po<strong>de</strong> se<br />
esten<strong>de</strong>r por 10, 20, 30 anos 12 ; a segunda enten<strong>de</strong> que a <strong>compensação</strong> <strong>de</strong>verá acontecer<br />
somente nos dois exercícios seguintes ao da entrada da lei em vigor, 2001 e<br />
2002; e a terceira, que a <strong>compensação</strong> não é obrigatória, só o sendo no caso <strong>de</strong> as<br />
metas serem afetadas, e apenas nos anos <strong>de</strong> 2000, 2001 e 2002.<br />
9 A exigência <strong>de</strong> que as metas não serão afetadas <strong>de</strong>ve ser cumprida, se não por uma das três<br />
formas apresentadas, pela implementação imediata <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas<br />
ou aumento permanente <strong>de</strong> receitas.<br />
10 Na gran<strong>de</strong> maioria dos casos não há um prazo <strong>de</strong>terminado.<br />
11 Percebe-se o quão confusa é a redação, dando margem a uma interpretação que evi<strong>de</strong>nciaria<br />
a falta <strong>de</strong> coerência do dispositivo: se a primeira exigência ( comprovação <strong>de</strong> que as metas para<br />
2000, 2001 e 2002 não serão afetadas) foi atendida, por que compensar os efeitos da lei em 2001 e<br />
2002?<br />
12 Imagine por quanto tempo <strong>de</strong>veria ser compensada a <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong>corrente da contratação<br />
<strong>de</strong> um servidor público. O tempo em que permanecer como aposentado <strong>de</strong>veria ser consi<strong>de</strong>rado, ou<br />
não?
20 Como<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
compensar o aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa?<br />
11. Vamos continuar a discussão da aplicação do exemplo consi<strong>de</strong>rando a<br />
interpretação do Executivo (aliás, não se trata <strong>de</strong> interpretação, mas sim, verda<strong>de</strong>iramente,<br />
<strong>de</strong> intenção). Portanto, nos anos <strong>de</strong> 2003, 2004, 2005, 2006.... os custos<br />
do programa <strong>de</strong>verão ser compensados. O prefeito perguntaria: como? Resposta:<br />
aumento permanente <strong>de</strong> receita, redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa, ou ambos. Mais<br />
perguntas virão.<br />
12. O que é redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa? Para essa pergunta não se<br />
encontrará nenhuma resposta no art. 17 nem em qualquer outra parte da lei. Por<br />
enquanto, a interpretação é livre.<br />
13. Dizem os técnicos: redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa é ....,ora, redução<br />
permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa, e dão alguns exemplos: fechamento <strong>de</strong> órgãos públicos,<br />
redução <strong>de</strong> benefícios da segurida<strong>de</strong> social (saú<strong>de</strong>, assistência e previdência social),<br />
corte <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas com pessoal. Observe-se que estamos diante <strong>de</strong> um novo<br />
conceito, sem <strong>de</strong>finição e diferente do <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa obrigatória <strong>de</strong> caráter continuado.<br />
14. E o que é aumento permanente <strong>de</strong> receita? O § 3º 13 respon<strong>de</strong> com muita<br />
clareza, sem margem para dúvidas: elevação <strong>de</strong> alíquota, ampliação da base cálculo,<br />
majoração ou criação <strong>de</strong> tributo, ou seja: aumento da carga tributária 14 .<br />
15. Então o prefeito já sabe o que precisará fazer para compensar os custos<br />
do programa bolsa-escola: <strong>de</strong>verá promover uma redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas<br />
ou elevar alíquotas, ampliar a base <strong>de</strong> cálculo, majorar <strong>de</strong> qualquer outra forma<br />
tributo ou contribuição, ou criá-los (o que lhe é possível apenas em termos <strong>de</strong> taxa).<br />
Implicações subjacentes às exigências <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> nos §§ 2º e 3º do<br />
art. 17<br />
16. O prefeito estaria diante <strong>de</strong> difíceis opções políticas, mesmo dispondo<br />
<strong>de</strong> recursos em caixa: cortar <strong>de</strong>spesas permanentes (fechar órgãos, cortar <strong>de</strong>spesas<br />
<strong>de</strong> pessoal, reduzir benefícios sociais) ou aumentar a carga tributária do município.<br />
Se o prefeito já po<strong>de</strong>ria ter <strong>de</strong> enfrentar resistências ao seu programa <strong>de</strong> bolsaescola,<br />
imagine agora as resistências que terá <strong>de</strong> vencer sendo obrigado a compensar<br />
os efeitos financeiros do programa <strong>de</strong>ssa forma. Precisará <strong>de</strong> apoio político e da<br />
13 Art. 17, § 3º Para efeito do parágrafo anterior, consi<strong>de</strong>ra-se aumento permanente <strong>de</strong><br />
receita a proveniente da elevação <strong>de</strong> alíquotas, ampliação da base <strong>de</strong> cálculo, majoração ou criação<br />
<strong>de</strong> tributo ou contribuição.<br />
14 “Aumento” que po<strong>de</strong> levar à queda da arrecadação, em <strong>de</strong>corrência, <strong>de</strong>ntre outros<br />
fatores, da evasão <strong>fiscal</strong>.
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado<br />
21<br />
população não apenas para o programa, mas também para corte permanente <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesa ou aumento da carga tributária, medidas muito mais difíceis <strong>de</strong> serem aceitas.<br />
17. Se por um lado alcança-se o objetivo do Ministério <strong>de</strong> “impedir, na<br />
origem, a geração <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas que embutam <strong>de</strong>sequilíbrios para orçamentos futuros<br />
(exemplo: LOAS)” 15 , por outro, percebe-se facilmente o quão difícil será aprovar<br />
a lei sobre o programa e o quanto isto enrijece a administração municipal.<br />
18. O Ministério cita o exemplo da LOAS, mas parece esquecer-se que o<br />
alcance das disposições do art. 17 vão muito além: tais exigências se aplicam à<br />
contratação 16 (ainda que para reposição <strong>de</strong> aposentadorias) <strong>de</strong> professores, agentes<br />
<strong>de</strong> saú<strong>de</strong>, policiais, fiscais, reajustamento <strong>de</strong> salários <strong>de</strong> carreiras específicas,<br />
a<strong>de</strong>quação <strong>de</strong> planos <strong>de</strong> carreiras, instituição <strong>de</strong> programa <strong>de</strong> renda mínima, aumentos<br />
reais do valor dos benefícios previ<strong>de</strong>nciários (o que acontecerá no caso <strong>de</strong><br />
ser concedido aumento real ao salário mínimo), criação <strong>de</strong> novos tipos <strong>de</strong> serviços<br />
<strong>de</strong> saú<strong>de</strong> 17 , bem como a qualquer outra <strong>de</strong>spesa que venha a ser entendida como<br />
obrigatória <strong>de</strong> caráter continuado.<br />
19. A solução para esse enrijecimento passaria por uma terceira possibilida<strong>de</strong><br />
(não aceita pelo Ministério) 18 . O prefeito po<strong>de</strong>ria incrementar a eficiência <strong>de</strong> sua<br />
arrecadação, combater a sonegação, ampliar o número <strong>de</strong> contribuintes, ou adotar<br />
medidas que promovessem o <strong>de</strong>senvolvimento da economia do município, gerando<br />
crescimento do PIB e da arrecadação. 19 Mas as receitas originadas <strong>de</strong>ssas alternativas<br />
não po<strong>de</strong>rão ser utilizadas para custear um futuro programa bolsa-escola: a lei<br />
exige <strong>compensação</strong> obrigatoriamente por meio <strong>de</strong> fonte <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong>rivadas da<br />
elevação da carga tributária ou da redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas.<br />
15 Nota Técnica nº 28/SPPN, <strong>de</strong> 18.11.99. Por que é que <strong>de</strong>spesas da LOAS (<strong>Lei</strong> Orgânica<br />
da Assistência Social) estariam embutindo já na sua criação <strong>de</strong>sequilíbrios para orçamentos futuros<br />
? Não há, a priori, esse <strong>de</strong>sequilíbrio. Se, no futuro, as condições orçamentárias que hoje<br />
comportam as <strong>de</strong>spesas da LOAS se <strong>de</strong>teriorarem, os governantes e a socieda<strong>de</strong> da época farão a<br />
escolha entre aumento <strong>de</strong> receitas ou redução dos benefícios. Trata-se <strong>de</strong> uma simples presunção,<br />
e não <strong>de</strong> uma condição intrínseca a esse tipo <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa, que, aliás, não é caracterizada por<br />
rigi<strong>de</strong>z constitucional, sendo passível <strong>de</strong> redução por atos legais e normativos ou <strong>de</strong> controle por<br />
meio do não-reajustamento <strong>de</strong> valores.<br />
16 Segundo o art. 21, “É nulo <strong>de</strong> pleno direito o ato que provoque aumento da <strong>de</strong>spesa com<br />
pessoal e não atenda as exigências dos arts. 16 e 17 <strong>de</strong>sta <strong>Lei</strong> Complementar, e o disposto no inciso<br />
XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição”<br />
17 O art. 24 excetua do cumprimento das exigências do art. 17 a expansão quantitativa dos<br />
serviços, mas não a expansão qualitativa, on<strong>de</strong> se enten<strong>de</strong> compreendidos novos tipos <strong>de</strong> serviços.<br />
18 Na redação original do Substitutivo apresentado pelo relator à Comissão Especial, antes<br />
do <strong>de</strong>staque supressivo apresentado pelo Governo, havia a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar como receita<br />
permanente “aquela <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong> incremento da arrecadação suficiente para garantir, com base nos<br />
dados verificados nos últimos doze meses, as metas <strong>de</strong> resultados fiscais previstas no anexo próprio<br />
da lei <strong>de</strong> diretrizes orçamentárias”.<br />
19 O próprio <strong>de</strong>senvolvimento do País como um todo (ou do Estado) po<strong>de</strong>ria levar ao <strong>de</strong>senvolvimento<br />
do município e ao crescimento <strong>de</strong> sua arrecadação.
22 A<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
inviabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> efetuar, na prática, a <strong>compensação</strong><br />
20. Se ainda assim o prefeito quiser, obstinadamente, implantar o programa<br />
bolsa-escola, <strong>de</strong>pararia com dificulda<strong>de</strong>s técnicas quase intransponíveis: como fazer<br />
para estimar os efeitos da <strong>compensação</strong> e os custos do programa bolsa-escola<br />
num período <strong>de</strong> tempo in<strong>de</strong>finido? Que metodologia usar? Como é que <strong>de</strong>ve ser<br />
feita a <strong>compensação</strong>: ano a ano ou pelo total?<br />
21. Pela lógica <strong>de</strong>fendida pelo Ministério - a <strong>de</strong> que recursos permanentes<br />
sejam gerados para custear as <strong>de</strong>spesas obrigatórias, garantindo o equilíbrio orçamentário<br />
<strong>de</strong> longo prazo - o mais razoável é supor que o objetivo seja a <strong>compensação</strong><br />
dos custos do programa ano a ano, ainda que não se saiba por quanto tempo.<br />
22. Mas tal forma <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> é extremamente difícil <strong>de</strong> ser levada a<br />
cabo: imagine a dificulda<strong>de</strong> - para não dizer impossibilida<strong>de</strong> - <strong>de</strong> se projetar um<br />
corte <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas ou aumento <strong>de</strong> receitas que seja equivalente, ano a ano, aos custos<br />
do programa. Complique um pouco mais essa dificulda<strong>de</strong>, exigindo que a projeção<br />
se dê por períodos longos, que po<strong>de</strong>m ser <strong>de</strong> 10, 20, 30 anos 20 (como nos<br />
casos <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas com pessoal ou benefícios previ<strong>de</strong>nciários) e ficará evi<strong>de</strong>nte a<br />
impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> realizá-la efetivamente 21 .<br />
23. Esse objetivo é tão difícil que a próprio “Projeto <strong>de</strong> <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong><br />
Fiscal” apresentado originalmente pelo Executivo previa que a <strong>compensação</strong>,<br />
se não pu<strong>de</strong>sse se dar no mesmo período <strong>de</strong> duração da <strong>de</strong>spesa, po<strong>de</strong>ria ser feita com<br />
base em estimativas expressas em “valores presentes”, calculadas segundo os pa-<br />
20 Se fosse <strong>de</strong>spesa com pessoal, <strong>de</strong>veríamos também consi<strong>de</strong>rar o período da aposentadoria?<br />
Se fosse aumento <strong>de</strong> benefício previ<strong>de</strong>nciário, teríamos que consi<strong>de</strong>rar a fruição do benefício<br />
por um eventual pensionista?<br />
21 A previsão <strong>de</strong> receitas <strong>de</strong>correntes, por exemplo, <strong>de</strong> um aumento <strong>de</strong> alíquotas em muitos<br />
casos terá que consi<strong>de</strong>rar o comportamento da economia. Como se po<strong>de</strong> preten<strong>de</strong>r fazer previsões <strong>de</strong><br />
taxas <strong>de</strong> crescimento do PIB por tão longo tempo ? O Po<strong>de</strong>r Executivo Fe<strong>de</strong>ral não consegue acertar<br />
taxas para os próximos 4 anos. Como se po<strong>de</strong> preten<strong>de</strong>r que municípios façam previsões <strong>de</strong> longuíssimo<br />
prazo? Aqui se tem o mote para evi<strong>de</strong>nciar o paradoxo da <strong>compensação</strong> pretendida. O que irá garantir<br />
o “equilíbrio orçamentário <strong>de</strong> longo prazo” pretendido não é um aumento <strong>de</strong> alíquota. Será o<br />
crescimento econômico ou, no mínimo, a permanência das atuais condições <strong>de</strong> arrecadação por<br />
muitos e muitos anos (qualquer consi<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> que as condições econômicas do município permanecerão<br />
imutáveis - variaçao anual nula - é simplesmente um exercício <strong>de</strong> simplificação, irreal).<br />
Então, ao se propor um aumento <strong>de</strong> receita mediante elevação <strong>de</strong> alíquotas, a chave para calibrar a<br />
elevação necessária serão as premissas consi<strong>de</strong>radas para fazer a previsão do comportamento da<br />
economia do município, do Estado ou do País. Fica evi<strong>de</strong>nte que muito mais relevante que exigir<br />
elevação <strong>de</strong> alíquotas é exigir rigor na metodologia <strong>de</strong> previsão <strong>de</strong> receitas, cuja confiabilida<strong>de</strong> é<br />
inversamente proporcional à extensão do período <strong>de</strong> previsão. Não há sentido algum em aceitar<br />
como efetiva <strong>compensação</strong> aumentos projetados <strong>de</strong> receitas baseados em previsões inconseqüentes.<br />
Assim, havendo rigor nas premissas adotadas, previsões <strong>de</strong> aumento <strong>de</strong> arrecadação <strong>de</strong>correntes do<br />
crescimento econômico são tão aceitáveis como fonte para custeio <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> caráter continuado<br />
quanto a elevação <strong>de</strong> alíquotas, que representam um “plus” sobre essas previsões.
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado<br />
23<br />
drões geralmente aceitos. 22 A previsão <strong>de</strong> uma possibilida<strong>de</strong> como essa (estimativas<br />
pelo valor presente) significa uma aceitação cabal da inviabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se conceber um<br />
sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> longa duração, como pretendido pelo Ministério. Afinal,<br />
que sentido em termos <strong>de</strong> equilíbrio orçamentário haveria em fazer a <strong>compensação</strong><br />
com base em valores presentes, compensando uma <strong>de</strong>spesa, digamos, <strong>de</strong> 1000 por<br />
ano durante 20 anos com receitas <strong>de</strong> 4000 por 5 anos? On<strong>de</strong> estaria a consistência da<br />
<strong>compensação</strong> ? Nos 5 primeiros anos haveria receitas em excesso em relação à <strong>de</strong>spesa,<br />
que seriam gastas em outras finalida<strong>de</strong>s 23 ; nos 15 seguintes, <strong>de</strong>spesas sem a equivalente<br />
receita e, consequentemente, <strong>de</strong>sequilíbrio orçamentário, tudo o que o Ministério<br />
quer evitar com a exigência <strong>de</strong> <strong>compensação</strong>.<br />
24. Desse modo, voltando à pergunta do prefeito, quanto à questão sobre<br />
como, efetivamente, compensar os efeitos do programa e que metodologia utilizar,<br />
não há resposta. Ele <strong>de</strong>verá fazer a <strong>compensação</strong> como enten<strong>de</strong>r melhor, e esperar<br />
que o Tribunal <strong>de</strong> Contas ou seus opositores não a venham questionar.<br />
25. O problema subseqüente será que, ante tantas dúvidas e dificulda<strong>de</strong>s<br />
sobre a aplicação do art. 17, certamente pairará sobre o programa o risco <strong>de</strong>, a<br />
qualquer momento, sua execução vir a ser questionada juridicamente, por motivações<br />
políticas ou não, sob a alegação <strong>de</strong> que a <strong>compensação</strong> não foi a<strong>de</strong>quadamente<br />
realizada nem, <strong>de</strong> fato, implementada 24 .<br />
A ineficácia do mecanismo, o engessamento da administração pública,<br />
a insegurança jurídica<br />
26. Portanto, não há, metodologicamente, como aplicar a <strong>compensação</strong> por<br />
“períodos seguintes” in<strong>de</strong>finidos, ficando qualquer forma utilizada sujeita a contestação,<br />
para bem ou para o mal, segundo os interesses políticos do momento. A<br />
administração pública fica excessivamente engessada: a cada contratação (ainda<br />
que <strong>de</strong> meia dúzia) <strong>de</strong> professores, por exemplo, medidas <strong>de</strong> redução permanente<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas (as quais também ninguém sabe com se faria para dimensioná-las) ou<br />
22 Ver art. 22 do PLRF.<br />
23 O excesso <strong>de</strong> receita não po<strong>de</strong>ria ser vinculado à <strong>de</strong>spesa, pois há proibição expressa <strong>de</strong><br />
vinculação na Constituição (art 167, IV), <strong>de</strong> forma que acabaria sendo gasto em outra finalida<strong>de</strong>.<br />
24 Com base na exigência do § 5º do art. 17 (a <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> que trata este artigo não será<br />
executada antes da implementação das medidas <strong>de</strong> <strong>compensação</strong>) e na redação do art. 15 ( que<br />
consi<strong>de</strong>ra irregular, não autorizada e lesiva às finanças públicas a geração <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa que não<br />
obe<strong>de</strong>ça às disposições do art. 17).
24<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
aumento da carga tributária serão exigidas 25 26 . Por fim, não há nenhuma garantia <strong>de</strong><br />
que um eventual aumento da carga tributária, forçosamente aumentada para aten<strong>de</strong>r<br />
à exigência <strong>de</strong> <strong>compensação</strong>, não venha a ser reduzida logo a seguir, por diminuição<br />
<strong>de</strong> alíquotas ou outra medida qualquer.<br />
Saindo do exemplo prático e aprofundando a análise do sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong><br />
27. Mas por que o Executivo <strong>de</strong>fen<strong>de</strong> esse dispositivo? Para enten<strong>de</strong>r claramente<br />
seria necessário saber como se chegou a essa redação, o que significaria<br />
esten<strong>de</strong>r <strong>de</strong>masiadamente esse texto 27 . Basta dizer que essa não é nem a redação do<br />
projeto original nem a do Substitutivo apresentado pelo relator. É uma proposta<br />
híbrida, obtida pelo Executivo durante a votação na Comissão Especial, e muito<br />
pouco amadurecida.<br />
28. Tal proposta, <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> apelo retórico para o controle dos gastos públicos,<br />
é, na verda<strong>de</strong>, uma ilusão, um auto-engano.<br />
29. O Executivo fixou-se, <strong>de</strong> uma forma que po<strong>de</strong>ríamos chamar precipitada,<br />
na exigência <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> pelo período que durasse o aumento, por redução<br />
permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas ou aumento permanente <strong>de</strong> receitas, enten<strong>de</strong>ndo-a como a<br />
única medida , entre a proposta <strong>de</strong> seu projeto original e outras apresentadas pelo<br />
relator, capaz <strong>de</strong> “impedir, na origem, a geração <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas que embutam <strong>de</strong>sequilíbrios<br />
para orçamentos futuros (exemplo: LOAS)”<br />
A <strong>compensação</strong> perfeita, i<strong>de</strong>al e ... utópica<br />
30. Uma das poucas propostas que efetivamente impediria <strong>de</strong>sequilíbrios<br />
para orçamentos futuros seria aquela que vinculasse <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter<br />
continuado a uma <strong>de</strong>terminada receita ou parcela <strong>de</strong> receita.<br />
25 No caso do Po<strong>de</strong>r Judiciário então chega-se à beira da inexequibilida<strong>de</strong> absoluta : o<br />
Judiciário não tem iniciativa <strong>de</strong> elevação <strong>de</strong> alíquotas, ampliação <strong>de</strong> base <strong>de</strong> cálculo ou majoração<br />
<strong>de</strong> tributos ou contribuições, a não ser sobre as taxas que institui e recolhe, as quais possuem <strong>de</strong>stinação<br />
específica, e a margem para redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas evi<strong>de</strong>ntemente não será suficiente para<br />
provimento <strong>de</strong> cargos <strong>de</strong> juízes e admissão <strong>de</strong> funcionários necessários à expansão e melhoria da<br />
prestação jurisdicional. Andará o Judiciário a reboque do Executivo ? Inevitavelmente, a autonomia<br />
e a in<strong>de</strong>pendência do Judiciário será limitada pelas exigências <strong>de</strong>sse sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong>. A<br />
inconstitucionalida<strong>de</strong> não tardará em ser argüida.<br />
26 Aliás, as <strong>de</strong>spesas com pessoal já são bastante controladas. Po<strong>de</strong>r-se-ia até mesmo excluílas<br />
da exigência <strong>de</strong> <strong>compensação</strong>, flexibilizando as administrações públicas, sem que isso significasse<br />
perda <strong>de</strong> controle sobre sua geração. São vários os controles sobre as <strong>de</strong>spesas com pessoal:<br />
exige-se autorização específica na LDO para a concessão <strong>de</strong> qualquer vantagem ou aumento <strong>de</strong><br />
remuneração, e prévia e suficiente dotação orçamentária; proibi-se aumentos quando a <strong>de</strong>spesa tiver<br />
alcançado o sub-limite <strong>de</strong> 95% do limite fixado na LRF e aumentos nos últimos 180 dias do final do<br />
mandato; cada ente e os respectivos Po<strong>de</strong>res <strong>de</strong>verão obe<strong>de</strong>cer a limites para suas <strong>de</strong>spesas e prevendo-se<br />
sanções para a hipótese <strong>de</strong> a <strong>de</strong>spesa ultrapassá-los, e uma série <strong>de</strong> regras para reduzi-las.<br />
27 Ver texto “Como se chegou à redação do art. 17”.
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado<br />
25<br />
31. A <strong>compensação</strong> seria simples e efetiva: se a receita aumentasse a <strong>de</strong>spesa<br />
vinculada correspon<strong>de</strong>nte também po<strong>de</strong>ria aumentar; se diminuísse, a <strong>de</strong>spesa<br />
também teria <strong>de</strong> diminuir. Ou seja, só seria <strong>de</strong>spendido com cada <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> caráter<br />
continuado, e obrigatório, exatamente o montante arrecadado com a respectiva<br />
receita vinculada.<br />
32. Seria o mundo i<strong>de</strong>al para os que querem uma garantia <strong>de</strong> equilíbrio<br />
constante e distante. Mas tal proposta é exatamente, e apenas isto: uma i<strong>de</strong>alização,<br />
uma utopia. Ninguém do Po<strong>de</strong>r Executivo Fe<strong>de</strong>ral ousaria fazê-la, por duas razões<br />
principais e bastante conhecidas.<br />
33. A primeira é porque significaria uma vinculação <strong>de</strong> receitas, flagrantemente<br />
inconstitucional 28 . A segunda é que vinculações <strong>de</strong> receitas enrijessem <strong>de</strong>masiadamente<br />
o gerenciamento das finanças e das políticas públicas, a alocação <strong>de</strong><br />
recursos e a mudança <strong>de</strong> priorida<strong>de</strong>s, e seus efeitos negativos superam os supostos<br />
benefícios <strong>de</strong> equilíbrio <strong>fiscal</strong>. São con<strong>de</strong>nadas por quase todos os gran<strong>de</strong>s economistas<br />
do País, principalmente do Governo Fe<strong>de</strong>ral: não é a toa que o Executivo<br />
Fe<strong>de</strong>ral tem lutado tanto por emendas constitucionais que <strong>de</strong>svinculam recursos,<br />
para fazer face à inversão <strong>de</strong> priorida<strong>de</strong>s conjuntural, em direção ao pagamento <strong>de</strong><br />
juros.<br />
34. Desse modo, não havendo como obter o i<strong>de</strong>al, ilusoriamente, retoricamente,<br />
preten<strong>de</strong>-se, sem o <strong>de</strong>vido processo <strong>de</strong> reflexão e discussão aprofundadas,<br />
implantar um sistema “quase-i<strong>de</strong>al”: aumento permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas? só se houver<br />
redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas ou aumento permanente <strong>de</strong> receitas. É uma<br />
tentativa <strong>de</strong> se alcançar os efeitos da vinculação i<strong>de</strong>al por meio <strong>de</strong> uma “quasevinculação”,<br />
que, como não po<strong>de</strong>ria <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> ser, é construída com “quase-<strong>de</strong>finições”<br />
( redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa? o que é isto em termos objetivos?), prazos<br />
in<strong>de</strong>finidos (períodos seguintes? o que é isto? objetivamente quantos anos durariam<br />
esses períodos seguintes?), metodologias inexistentes (<strong>compensação</strong> dos efeitos<br />
financeiros? como fazê-la a longo prazo?) e resulta em um mecanismo inaplicável.<br />
Filosófico apenas.<br />
Sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong>: contribuição efetiva para a administração<br />
pública ou instrumento <strong>de</strong> retórica?<br />
35. Tal sistema, quando transplantado para o mundo real mostra-se, como já<br />
dissemos, inviável e inaplicável metodologicamente, financeiramente, politicamente<br />
e juridicamente. Inexeqüível do ponto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> equilíbrio <strong>fiscal</strong> <strong>de</strong> longo prazo:<br />
28 Art. 167, IV, da Constituição: “São vedados... a vinculação <strong>de</strong> receita <strong>de</strong> impostos a órgão,<br />
fundo ou <strong>de</strong>spesa, ressalvadas...”
26<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
• se não existe metodologia para se fazer a <strong>compensação</strong>, não há, <strong>de</strong> fato,<br />
equilíbrio <strong>fiscal</strong> <strong>de</strong> longo prazo;<br />
• se não há vinculação do aumento <strong>de</strong> receita à <strong>de</strong>spesa aumentada, não há<br />
<strong>compensação</strong> <strong>de</strong> fato: um aumento <strong>de</strong> alíquota hoje, po<strong>de</strong> ser facilmente neutralizado<br />
por uma redução amanhã;<br />
• se não há vinculação e há a exigência <strong>de</strong> que a <strong>de</strong>spesa só po<strong>de</strong> ser executada<br />
<strong>de</strong>pois <strong>de</strong> implementada a <strong>compensação</strong> 29 , qual seria a conseqüência jurídica da neutralização<br />
do aumento <strong>de</strong> receita criado pela elevação <strong>de</strong> uma alíquota que venha <strong>de</strong>pois a<br />
ser reduzida? A <strong>de</strong>spesa vai ser interrompida? Não.<br />
• se a <strong>de</strong>spesa não vai ser interrompida quando a receita for reduzida, a exigência<br />
<strong>de</strong> <strong>compensação</strong> <strong>de</strong>monstra sua fragilida<strong>de</strong> e inexequibilida<strong>de</strong> técnica e transformase<br />
numa formalida<strong>de</strong> com objetivos <strong>de</strong> restrição.<br />
36. Inexeqüível do ponto <strong>de</strong> vista prático e carente da consistência técnica<br />
necessária a uma efetiva medida <strong>de</strong> controle da geração <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong><br />
caráter continuado, o sistema proposto no art. 17 só consegue ser <strong>de</strong>fendido com<br />
base em uma argumentação que resi<strong>de</strong> mais nas dificulda<strong>de</strong>s políticas que serão<br />
criadas para o aumento <strong>de</strong> gastos continuados.<br />
37. Não importa se não há regras claras para se fazer a <strong>compensação</strong>. O que<br />
importa é impedir a geração <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas que embutam <strong>de</strong>sequilíbrios em orçamentos<br />
futuros, dificultando tanto quanto possível a aprovação dos atos que criem ou aumentem<br />
as <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> caráter continuado (afinal, não é fácil aprovar cortes <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas<br />
sensíveis como pessoal ou segurida<strong>de</strong> nem, muito menos, aumentar a carga tributária),<br />
ao exigir que se tomem, imediatamente, <strong>de</strong> qualquer forma, medidas <strong>de</strong> redução <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesas ou <strong>de</strong> aumento <strong>de</strong> tributos.<br />
38. Não resi<strong>de</strong> a argumentação na <strong>de</strong>fesa <strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong> equilíbrio <strong>de</strong> consistência<br />
técnica refinada e aplicável como é o pay-as-you-go, 30 fonte <strong>de</strong> inspiração do<br />
sistema originalmente proposto, mas do qual a proposta do Executivo se afastou radicalmente.<br />
39. As exigências dos §§ 2º e 3º do art. 17 constituem mais normas retóricas, <strong>de</strong><br />
elevadas e nobres intenções, do que uma contribuição efetiva para o disciplinamento<br />
das finanças públicas, para não dizer <strong>de</strong>letérias, ante seus efeitos colaterais negativos,<br />
os quais não estão no mundo da filosofia, mas no mundo real.<br />
29 Art. 17, § 5º A <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> que trata este artigo não será executada antes da implementação<br />
das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.<br />
30 O pay-as-you-go é um mecanismo do processo orçamentário norte-americano que visa<br />
compensar os efeitos <strong>de</strong> legislação <strong>de</strong> aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas ou redução <strong>de</strong> receitas sobre as metas <strong>de</strong><br />
déficit, seja pela exigência <strong>de</strong> legislação compensatória ou pelo corte <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas, se necessário. Ver<br />
texto “Porque a proposta <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> não mais reflete sua fonte inspiradora: o pay-as-you-go”.
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado<br />
27<br />
Exemplos recentes do engessamento da formulação <strong>de</strong> políticas públicas<br />
40. A esse conjunto <strong>de</strong> exigências nem o próprio Po<strong>de</strong>r Executivo fe<strong>de</strong>ral,<br />
teoricamente insuspeito em termos responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong>, conseguiria se sujeitar,<br />
se as regras <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> estivessem em vigor. Exemplos <strong>de</strong>ssa dificulda<strong>de</strong> não<br />
faltam.<br />
41. A “mo<strong>de</strong>rnização” do serviço público empreendida nos últimos anos,<br />
com a adoção <strong>de</strong> política <strong>de</strong> ajustamentos salariais específicos realizados nos quadros<br />
<strong>de</strong> carreiras típicas <strong>de</strong> Estado e a implantação das agências reguladoras (ANP,<br />
ANEEL, ANA, ANATEL), teria sido extremamente difícil, quase impossível, se o<br />
sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> do art. 17 estivesse vigorando. Afinal para rea<strong>de</strong>quar planos<br />
<strong>de</strong> carreira e remunerações específicas e contratar pessoal ter-se-ia que reduzir<br />
<strong>de</strong>spesa ou aumentar receitas, <strong>de</strong> forma permanente 31 .<br />
42. Se já é difícil para o Governo conviver com a acusação <strong>de</strong> investir pouco<br />
no social, imagine-se como po<strong>de</strong>ria ele cortar <strong>de</strong>spesas da segurida<strong>de</strong>, ou então<br />
como cortaria <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> pessoal, <strong>de</strong> um lado, para aumentar pessoal, <strong>de</strong> outro; ou<br />
como aumentaria a carga tributária quando o anseio e a pressão empresarial são<br />
justamente no sentido contrário.<br />
43. Outro exemplo é a intenção do Ministério da Previdência e Assistência<br />
Social <strong>de</strong> incorporar 37 milhões <strong>de</strong> contribuintes ao regime geral <strong>de</strong> previdência.<br />
Se tal <strong>de</strong>sejo tornar-se realida<strong>de</strong>, o aumento da arrecadação propiciado pelos novas<br />
contribuições 32 não po<strong>de</strong>ria ser utilizado para criação, extensão ou majoração <strong>de</strong><br />
benefícios e serviços da segurida<strong>de</strong> social 33 . Não po<strong>de</strong>ria também ser empregado<br />
para aumentar o valor real 34 dos benefícios já existentes, meta que certamente <strong>de</strong>ve<br />
ser perseguida a longo prazo. Ou se imagina que a socieda<strong>de</strong> brasileira <strong>de</strong>va contentar-se<br />
em, a longo prazo, receber benefícios sociais <strong>de</strong> terceiro mundo e nunca<br />
<strong>de</strong> primeiro?<br />
44. Mais exemplos: recentemente noticiou-se que o Executivo fe<strong>de</strong>ral preten<strong>de</strong><br />
aumentar o teto <strong>de</strong> pensões <strong>de</strong> ex-combatentes: <strong>de</strong> aproximadamente 1.250<br />
para 8.500 reais. Não po<strong>de</strong>ria fazê-lo sem compensar o aumento do gasto. A inten-<br />
31 Art. 21. É nulo <strong>de</strong> pleno direito o ato que provoque aumento da <strong>de</strong>spesa com pessoal e não<br />
atenda as exigências dos arts. 16 e 17 <strong>de</strong>sta <strong>Lei</strong> Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37<br />
e no § 1º do art. 169, da Constituição.<br />
32 Não se está falando <strong>de</strong> majoração <strong>de</strong> contribuição, mas do efetivo aumento <strong>de</strong> arrecadação<br />
pela incorporação <strong>de</strong> contribuintes à margem do sistema, o que não é a mesma coisa que ampliação<br />
<strong>de</strong> base <strong>de</strong> cálculo.<br />
33 Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à segurida<strong>de</strong> social po<strong>de</strong>rá ser criado,<br />
majorado ou estendido sem a indicação da fonte <strong>de</strong> custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da<br />
Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.<br />
34 Aumento real, significa que é superior ao “necessário para preservar o seu valor real”. O<br />
art. 24 diz que “fica dispensado da <strong>compensação</strong> referida no art. 17 o reajustamento <strong>de</strong> benefício ou<br />
serviço, a fim <strong>de</strong> preservar o seu valor real”.
28<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
ção do Governo Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> contratar 1.000 novos Agentes da Polícia Fe<strong>de</strong>ral, <strong>de</strong>ntro<br />
do novo Plano <strong>de</strong> Segurança Nacional, <strong>de</strong>verá vir acompanhada <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong><br />
<strong>compensação</strong>.<br />
45. O Governo cogita conce<strong>de</strong>r reajuste salarial aos militares e continuar os<br />
ajustes na remuneração <strong>de</strong> carreiras específicas. Não po<strong>de</strong>rá fazê-lo, se não apresentar<br />
as medidas <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> 35 .<br />
46. Dois outros exemplos são ainda mais ilustrativos das conseqüências negativas<br />
da <strong>compensação</strong> como está proposta: duas recentes medidas provisórias -<br />
uma que rea<strong>de</strong>quou a carreira dos Auditores-Fiscais da Receita Fe<strong>de</strong>ral, e outra que<br />
incorporou gratificações aos vencimentos dos Delegados da Polícia Fe<strong>de</strong>ral - certamente<br />
não po<strong>de</strong>riam ser editadas, pois teriam <strong>de</strong> trazer também medidas <strong>de</strong> redução<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas ou <strong>de</strong> aumento <strong>de</strong> receitas 36 . Tais medidas provisórias não foram<br />
editadas pelo simples <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> conce<strong>de</strong>r aumento a essas carreiras ou porque o<br />
Governo foi objeto <strong>de</strong> pressões irresistíveis. Não. No caso da Receita Fe<strong>de</strong>ral, havia<br />
a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fortalecer a <strong>fiscal</strong>ização e aumentar a arrecadação, compromisso,<br />
aliás, constante dos entendimentos com o FMI, patrono do equilíbrio <strong>fiscal</strong>.<br />
No caso da Polícia Fe<strong>de</strong>ral, havia a necessida<strong>de</strong> premente <strong>de</strong> tomar medidas para<br />
fortalecer o combate ao narcotráfico. Ambas são medidas meritórias do ponto <strong>de</strong><br />
vista dos objetivos <strong>de</strong> políticas públicas e nenhuma <strong>de</strong>las será financiada com cortes<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas ou aumentos <strong>de</strong> receitas a ela diretamente “vinculados”. Serão acomodadas<br />
no orçamento, por corte <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas ou crescimento das receitas, <strong>de</strong>corrente<br />
do crescimento econômico e da arrecadação, que po<strong>de</strong>rá vir a elevar-se pela<br />
maior eficiência da Receita Fe<strong>de</strong>ral, beneficiada pelo aumento salarial.<br />
47. Será bastante ilustrativa a interpretação objetiva que o Po<strong>de</strong>r Executivo<br />
irá fazer do sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> que está criando ao ter que reeditar, <strong>de</strong>pois<br />
que a <strong>Lei</strong> estiver em vigor, as medidas provisórias que reorganizou a carreira dos<br />
Auditores-Fiscais da Receita Fe<strong>de</strong>ral e <strong>de</strong>terminou o pagamento <strong>de</strong> gratificações<br />
35 O § 6º do art. 17 só dispensa da <strong>compensação</strong> a revisão anual e geral <strong>de</strong> remuneração, na<br />
forma do art. 37, X da Constituição.<br />
36 Exigências do § 5º do art. 17.
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado<br />
29<br />
aos Delegados da Polícia Fe<strong>de</strong>ral. Que medidas <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> irá propor? 37<br />
48. Será que o Executivo não se apercebeu <strong>de</strong> que também a União estará sujeita<br />
às normas que tão ardorosamente está <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ndo? Está-se auto enganando, ao patrocinar<br />
a implantação <strong>de</strong> regras às quais não conseguirá (por inviáveis) se submeter?<br />
Será o Po<strong>de</strong>r Executivo da União o primeiro a <strong>de</strong>srespeitar a <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong><br />
Fiscal, dando aos seus críticos a satisfação <strong>de</strong> ver suas profecias realizadas?<br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> renúncia <strong>de</strong> receita é diferente da <strong>compensação</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado. Por quê?<br />
49. Argumento chave nessa crítica (construtiva, pois <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>mos a lei <strong>de</strong><br />
responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong>, mas não o engessamento da administração pública) é a<br />
postura contraditória do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em relação<br />
à <strong>compensação</strong>, no que se refere a renúncia <strong>de</strong> receitas e <strong>de</strong>spesas obrigatórias<br />
<strong>de</strong> caráter continuado.<br />
50. O projeto original do Executivo previa tanto para renúncia <strong>de</strong> receitas<br />
quanto para aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> longo prazo a mesma sistemática <strong>de</strong> <strong>compensação</strong><br />
38 . E o Ministério <strong>de</strong>fendia essa posição. O Substitutivo do relator, <strong>de</strong> forma<br />
coerente, apresentava basicamente as mesmas exigências para renúncia <strong>de</strong> receitas<br />
e para aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado. O Executivo rejeitou<br />
terminantemente a proposta do relator para o aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas e fez apro-<br />
37 Esses aumentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas enquadram-se no conceito <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa obrigatória <strong>de</strong> caráter<br />
continuado: são <strong>de</strong> execução superior a dois exercícios e foram <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> medida provisória.<br />
Qual será a saída a ser encontrada pelo Executivo para reeditá-las sem <strong>de</strong>terminar as medidas <strong>de</strong><br />
<strong>compensação</strong> que também <strong>de</strong>verão entrar imediatamente em vigor ? As alternativas vislumbradas<br />
são: interpretar que, especificamente, no caso <strong>de</strong> reedição <strong>de</strong> medidas provisórias editadas pela<br />
primeira vez antes da publicação da <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong> Fiscal, não se aplicam as exigências do<br />
art. 17; a segunda é interpretar que essas exigências não se aplicam às medidas provisórias, pelas<br />
suas características <strong>de</strong> urgência e relevância, tornando sem efeito o que está escrito no caput do art.<br />
17 no que se refere a medida provisória. De qualquer modo, não há dúvidas que medidas <strong>de</strong> <strong>compensação</strong><br />
serão exigidas quando da apreciação da medida provisória pelo Congresso e <strong>de</strong> sua conversão<br />
em lei. E , <strong>de</strong> acordo com a proposta <strong>de</strong> emenda constitucional que regula a edição <strong>de</strong> medidas<br />
provisórias, essa apreciação <strong>de</strong>verá ocorrer <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> sessenta dias. O Governo que se prepare para<br />
dar outra interpretação ao art. 17 ou modificá-lo, pois não será fácil encontrar formas <strong>de</strong> compensar<br />
os aumentos dados a essas duas carreiras fundamentais da administração pública (não dá para<br />
imaginar a hipótese <strong>de</strong> que possam vir a ser revertidos os aumentos).<br />
38 Nota Técnica nº 28 SPPN, <strong>de</strong> 18.11.99, assim se pronunciou o Ministério do Planejamento,<br />
Orçamento e Gestão a respeito da renúncia <strong>de</strong> receitas. “O espírito do mecanismo <strong>de</strong> <strong>compensação</strong>,<br />
que <strong>de</strong>ve ser mantido, é <strong>de</strong> que <strong>de</strong>vem ser atendidas ambas as condições (constar do orçamento<br />
e não afetar as metas fiscais e ter seus efeitos compensados) e não “uma das seguintes condições”,<br />
isto é: a) a renúncia <strong>de</strong> receita <strong>de</strong>ve sempre constar do orçamento. Isso não po<strong>de</strong> ser opcional, pois<br />
renunciar à receita é equivalente a realizar novas <strong>de</strong>spesas...b) o mecanismo <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> não<br />
<strong>de</strong>ve ser opcional, pois é importante para coibir a guerra <strong>fiscal</strong> e para garantir o equilíbrio <strong>fiscal</strong>.<br />
Vale lembrar que o orçamento apenas faz o registro, não faz <strong>compensação</strong> e não é garantia <strong>de</strong> equilíbrio<br />
<strong>fiscal</strong>, especialmente para os exercícios seguintes. Por essa razão, é também fundamental que<br />
a <strong>compensação</strong> seja exigida pelo período em que seus efeitos se verificarem”.
30<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
var a redação que está sendo objeto <strong>de</strong> crítica, mas para a renúncia aceitou-a. Essa<br />
diferença <strong>de</strong> posição não <strong>de</strong>correu <strong>de</strong> entendimentos políticos. O Executivo, se<br />
quisesse, também po<strong>de</strong>ria ter aprovado para a renúncia <strong>de</strong> receitas o mesmo mecanismo<br />
<strong>de</strong> <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado.<br />
51. Quanto à renúncia <strong>de</strong> receitas, segundo o projeto aprovado, <strong>de</strong>ver-se-á<br />
provar que a renúncia foi consi<strong>de</strong>rada na estimativa da receita na lei orçamentária<br />
e que não afetará as metas <strong>de</strong> resultados, ou compensá-la, nos próximos três anos,<br />
por aumento <strong>de</strong> receita proveniente da elevação <strong>de</strong> alíquotas, ampliação da base <strong>de</strong><br />
cálculo, majoração ou criação <strong>de</strong> tributo ou contribuição.<br />
As inconstitucionalida<strong>de</strong>s<br />
Argumentação final contra o sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> proposto<br />
52. Embora não seja o objetivo primeiro <strong>de</strong>sse estudo <strong>de</strong>monstrá-las, as<br />
inconstitucionalida<strong>de</strong>s latentes do sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> proposto no art. 17 terminam<br />
por fulminar os argumentos que ainda restam em <strong>de</strong>fesa da sua introdução<br />
na <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong> Fiscal.<br />
A limitação do po<strong>de</strong>r dos Municípios e Estados <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir sobre a<br />
aplicação <strong>de</strong> suas rendas<br />
53. A inconstitucionalida<strong>de</strong> po<strong>de</strong>rá ser argüida em várias frentes. A primeira,<br />
já levantada, mas pouco <strong>de</strong>batida, resi<strong>de</strong> na afronta ao inciso III do art. 30 da<br />
Constituição: “Compete aos Municípios ... instituir e arrecadar os tributos <strong>de</strong> sua<br />
competência, bem como aplicar suas rendas...”. Respeitadas as disposições constitucionais,<br />
cabe ao município <strong>de</strong>cidir e legislar sobre a aplicação <strong>de</strong> suas rendas. A<br />
competência para legislar sobre direito financeiro e orçamento é concorrente (art.<br />
24), limitando-se a competência da União a estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º).<br />
54. Não cabe a uma lei complementar, como preten<strong>de</strong> a <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong><br />
Fiscal, no art. 17, <strong>de</strong>terminar que recursos os municípios (e os Estados) po<strong>de</strong>m<br />
ou não <strong>de</strong>stinar a <strong>de</strong>terminadas <strong>de</strong>spesas. É uma evi<strong>de</strong>nte inconstitucionalida<strong>de</strong>.<br />
55. Po<strong>de</strong>rá o município ser impedido, por uma lei complementar, <strong>de</strong> aplicar<br />
recursos <strong>de</strong>correntes do crescimento da arrecadação ou da elevação das transferências<br />
constitucionais advindos do seu crescimento econômico, do Estado (via participação<br />
na arrecadação do ICMS) ou do País (via Fundo <strong>de</strong> Participação dos Municípios),<br />
ou mesmo da sua firme atuação em prol da arrecadação <strong>de</strong> suas receitas, na<br />
contratação <strong>de</strong> servidores ou no atendimento <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas sociais pela criação <strong>de</strong><br />
novos benefícios, por exemplo, ou em qualquer outra <strong>de</strong>spesa obrigatória <strong>de</strong> caráter<br />
continuado ? Enten<strong>de</strong>mos que não.<br />
56. Mas tal impedimento está expresso, clara e taxativamente, no § 3º do art.
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado<br />
31<br />
17: apenas receitas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> elevação <strong>de</strong> alíquotas, ampliação da base <strong>de</strong> cálculo,<br />
majoração ou criação <strong>de</strong> tributo ou contribuição po<strong>de</strong>m ser utilizadas para compensar<br />
e custear <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado, entre elas <strong>de</strong>spesas<br />
com pessoal (art. 21) e benefícios e serviços relativos à segurida<strong>de</strong> (art. 24). O<br />
mesmo raciocínio se aplica aos Estados.<br />
A possibilida<strong>de</strong> real <strong>de</strong> o Po<strong>de</strong>r Executivo <strong>de</strong>cidir sobre propostas <strong>de</strong><br />
remuneração do Po<strong>de</strong>r Legislativo<br />
57. Um outro ângulo da inconstitucionalida<strong>de</strong> refere-se ao Po<strong>de</strong>r Legislativo.<br />
Embora revele-se apenas após um olhar mais aguçado sobre as implicações<br />
constitucionais da <strong>compensação</strong> que preten<strong>de</strong> o Executivo instituir, ela é tão ou<br />
mais evi<strong>de</strong>nte que a ingerência na autonomia dos Estados e Municípios para <strong>de</strong>cidir<br />
sobre a aplicação <strong>de</strong> suas receitas.<br />
58. A Constituição Fe<strong>de</strong>ral reservou ao Po<strong>de</strong>r Legislativo fe<strong>de</strong>ral no inciso<br />
IV do art. 51 e no inciso XIII do art. 52, a competência privativa para “dispor sobre<br />
sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção <strong>de</strong><br />
cargos, empregos e funções <strong>de</strong> seus serviços, e a iniciativa <strong>de</strong> lei para a fixação da<br />
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei <strong>de</strong> diretrizes<br />
orçamentárias”. E, para garantir a autonomia e in<strong>de</strong>pendência do Legislativo,<br />
estabeleceu, no art. 48, que não é exigida a sanção do Presi<strong>de</strong>nte da República para<br />
o especificado nos arts. 49, 51 e 52.<br />
59. O mandamento constitucional é <strong>de</strong> que o Po<strong>de</strong>r Legislativo, observados<br />
os parâmetros estabelecidos na lei <strong>de</strong> diretrizes orçamentárias, propõe e <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>,<br />
sozinho, sobre sua política <strong>de</strong> remuneração (inclusive subsídios dos parlamentares),<br />
respeitadas as <strong>de</strong>mais normas constitucionais e os parâmetros estabelecidos na<br />
lei <strong>de</strong> diretrizes orçamentárias.<br />
60. Ora, a <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong> Fiscal, ao exigir que aumentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas<br />
com pessoal sejam compensados por aumento permanente <strong>de</strong> receita - mediante<br />
elevação <strong>de</strong> alíquotas, ampliação da base <strong>de</strong> cálculo, majoração ou criação <strong>de</strong><br />
tributos ou contribuições - ou redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas e condicionar a<br />
implementação do aumento à implementação das medidas <strong>de</strong> <strong>compensação</strong>, está<br />
subvertendo completamente a vonta<strong>de</strong> constitucional.<br />
61. Se ao Po<strong>de</strong>r Executivo não é dada a prerrogativa <strong>de</strong> sancionar leis sobre<br />
remuneração emanadas privativamente do Legislativo, a ele cabe sancionar, com<br />
po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> veto, leis sobre alterações tributárias, leis sobre benefícios da segurida<strong>de</strong><br />
e outras leis necessárias à redução permanente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas, <strong>de</strong> cuja implementação<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá a vigência da lei sobre remuneração aprovada pelo Po<strong>de</strong>r Legislativo.<br />
62. O Legislativo teria suas políticas <strong>de</strong> pessoal atreladas ou à redução per-
32<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
manente <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa - cuja <strong>de</strong>finição o texto da lei não explicita, mas é subentendida<br />
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como referente, entre outras,<br />
a <strong>de</strong>spesas com pessoal, segurida<strong>de</strong> (ínfimas no Legislativo) e fechamento <strong>de</strong><br />
órgãos (praticamente inexistentes) - ou ao aumento <strong>de</strong> carga tributária, sobre a qual<br />
o Legislativo tem a iniciativa, mas não a <strong>de</strong>cisão sobre sua inserção no or<strong>de</strong>namento<br />
jurídico, que cabe ao Presi<strong>de</strong>nte da República, sancionando-a ou vetando-a<br />
63. Vendo-se “obrigado” pela <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong> Fiscal a, por exemplo,<br />
aumentar receita por alterações na legislação tributária, o Legislativo ficaria na<br />
<strong>de</strong>pendência <strong>de</strong> o Executivo sancionar ou não as alterações para que uma lei sobre<br />
remuneração <strong>de</strong> pessoal, <strong>de</strong> sua iniciativa privativa, pu<strong>de</strong>sse produzir efeitos. A<br />
competência privativa e exclusiva do Legislativo nessa área seria efetiva e drasticamente<br />
corrompida.<br />
64. As implicações inconstitucionais do art. 17 tornam-se cristalinas: uma<br />
lei complementar estará, <strong>de</strong> forma sub-reptícia, transferindo para o Po<strong>de</strong>r Executivo<br />
<strong>de</strong>cisões sobre política <strong>de</strong> pessoal do Po<strong>de</strong>r Legislativo, num flagrante atentado<br />
à vonta<strong>de</strong> constitucional <strong>de</strong> que tais <strong>de</strong>cisões pertençam inteiramente a esse Po<strong>de</strong>r.<br />
A necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> iniciativa <strong>de</strong> leis <strong>de</strong> outro Po<strong>de</strong>r para que leis sobre<br />
remuneração do Judiciário possam entrar em vigor<br />
65. Outra abordagem da inconstitucionalida<strong>de</strong> refere-se à intervenção, por<br />
lei complementar (não respaldada por mandamento constitucional), na autonomia<br />
administrativa do Po<strong>de</strong>r Judiciário. A Constituição, no art. 96, confere ao Supremo<br />
Tribunal Fe<strong>de</strong>ral, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais <strong>de</strong> Justiça, observado o<br />
art. 169, a prerrogativa <strong>de</strong> propor ao Po<strong>de</strong>r Legislativo “a criação e a extinção <strong>de</strong><br />
cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem<br />
vinculados, bem como a fixação do subsídio <strong>de</strong> seus membros e dos juízes ...<br />
ressalvado o disposto no art. 48, XV”.<br />
66. Nessa abordagem se configura uma situação mais esdrúxula ainda. Se<br />
for necessário cumprir a exigência do art. 17 <strong>de</strong> compensar um aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa<br />
com pessoal com aumento <strong>de</strong> receita, obrigatoriamente <strong>de</strong>rivada da elevação <strong>de</strong><br />
alíquotas, ampliação da base <strong>de</strong> cálculo ou majoração <strong>de</strong> tributo ou contribuição,<br />
cuja iniciativa o Po<strong>de</strong>r Judiciário não tem (a não ser em alguns casos específicos<br />
relativos a taxas), a proposta, se aprovada pelo Po<strong>de</strong>r Legislativo, terá sua implementação<br />
condicionada a que, primeiro, um dos outros Po<strong>de</strong>res proponha projeto<br />
<strong>de</strong> lei alterando a legislação tributária e, finalmente, que o Presi<strong>de</strong>nte da República<br />
sancione a lei.<br />
67. Corrompem-se disposições constitucionais ao exigir-se, na prática, em situações<br />
que não serão raras, iniciativa <strong>de</strong> dois Po<strong>de</strong>res para que a implementação da lei
<strong>Lei</strong> <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> <strong>fiscal</strong><br />
A <strong>compensação</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter continuado<br />
33<br />
proposta pelo Judiciário entre em vigor. De um lado, o Judiciário propondo a legislação<br />
sobre remuneração; <strong>de</strong> outro, o Legislativo ou o Executivo propondo as medidas <strong>de</strong><br />
<strong>compensação</strong> necessárias. É uma evi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>turpação do texto da Constituição, que<br />
significa efetiva redução da autonomia administrativa do Po<strong>de</strong>r Judiciário.<br />
Conclusão<br />
O que acontecerá com o sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> ?<br />
68 As inconsistências do sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> reforçam a impressão <strong>de</strong> que,<br />
mais importante do que introduzir um sistema <strong>de</strong> disciplinamento da geração <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas<br />
<strong>de</strong> pessoal, segurida<strong>de</strong> e outras <strong>de</strong> caráter continuado, consistente e efetivo, é impedir,<br />
na origem, a geração <strong>de</strong> tais <strong>de</strong>spesas, exigindo-se, ainda que <strong>de</strong> forma obscura e<br />
inconsistente, que <strong>de</strong>spesas sejam reduzidas ou tributos sejam aumentados, dificultando,<br />
ao máximo, do ponto <strong>de</strong> vista político, o aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas obrigatórias <strong>de</strong> caráter<br />
continuado.<br />
69. Se não há consistência técnica no que se está propondo, em pouco tempo da<br />
mesma lógica se valerão os governantes para aplicar a lei e “<strong>de</strong>sengessar” suas administrações.<br />
Interpretações “criativas” surgirão, formas <strong>de</strong> contornar as dificulda<strong>de</strong>s políticas<br />
e legais serão encontradas, inconstitucionalida<strong>de</strong>s serão argüidas, ou simplesmente<br />
será o sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> ignorado.<br />
70. Será gerada uma confusão jurídico-administrativa até que interpretações da<br />
lei venham, forçadamente, aplicar os §§ 2º e 3º da forma mais exeqüível 39 , ou então os<br />
dispositivos tornar-se-ão letra morta, abrindo o caminho para que tantas outras disposições<br />
que não se <strong>de</strong>seja ver respeitadas também sejam <strong>de</strong>scumpridas.<br />
71. Tudo isto po<strong>de</strong>ria <strong>de</strong>s<strong>de</strong> já ser evitado, discutindo-se, politicamente e <strong>de</strong><br />
forma aprofundada, um sistema viável, não necessariamente o proposto pelo relator à<br />
Comissão Especial, o qual, contudo, no momento, parece-nos ser o mais a<strong>de</strong>quado,<br />
ante a celerida<strong>de</strong> que se está impondo à tramitação da <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Responsabilida<strong>de</strong> Fiscal.<br />
72. Ao final, o sistema <strong>de</strong> <strong>compensação</strong> se revelará, então, mais como um instrumento<br />
<strong>de</strong> retórica, um auto-engano do Po<strong>de</strong>r Executivo, em vez <strong>de</strong> uma efetiva contribuição<br />
para a administração pública. Estaremos per<strong>de</strong>ndo uma excelente oportunida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> disciplinar <strong>de</strong> forma clara e eficaz a criação e o aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> caráter<br />
continuado e obrigatórias, sendo essa a contribuição (negativa, assinale-se), do mecanismo<br />
<strong>de</strong> <strong>compensação</strong> proposto no art. 17.<br />
39 No estágio em que se encontra a tramitação da lei e com a urgência requerida pelo Governo<br />
para sua aprovação, uma das poucas soluções para tornar o art. 17 exeqüível é modificar sua<br />
redação ou “aceitar” uma interpretação no sentido <strong>de</strong> que, se não houver prejuízo para as metas <strong>de</strong><br />
resultados, não precisa o aumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa ser compensado, tal como está estabelecido para renúncia<br />
<strong>de</strong> receitas.
34 Uso da água do rio São Francisco e<br />
privatização da CHESF:<br />
um tema em <strong>de</strong>bate<br />
José <strong>de</strong> Sena Pereira Júnior e<br />
Álvaro Gustavo Castello Parucker<br />
Consultores Legislativos da Câmara dos Deputados<br />
O propósito do presente artigo é o <strong>de</strong> contribuir para a discussão sobre o uso<br />
da água do rio São Francisco, assunto que se tornou momentoso <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a manifestação<br />
da intenção do governo fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> privatizar a Companhia Hidro Elétrica do<br />
São Francisco (CHESF), bem como das <strong>de</strong>mais subsidiárias da empresa Centrais<br />
Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS, holding do setor elétrico nacional.<br />
A fim <strong>de</strong> melhor situar a discussão proposta, faremos um breve histórico do<br />
uso da hidroeletricida<strong>de</strong> no Brasil, para que se possa enten<strong>de</strong>r a importância do uso<br />
das águas para a produção energética no país; isso não quer dizer, entretanto, que<br />
sejamos favoráveis ao privilégio <strong>de</strong>sse uso sobre os <strong>de</strong>mais, ou que nos estejamos<br />
esquecendo da fundamental importância da utilização dos recursos hídricos para a<br />
própria manutenção da sobrevivência humana.<br />
Breve histórico do setor elétrico no Brasil<br />
As primeiras experiências envolvendo o uso <strong>de</strong> eletricida<strong>de</strong> feitas no Brasil<br />
iniciaram-se na segunda meta<strong>de</strong> do século passado, contemporaneamente às<br />
aplicações iniciais <strong>de</strong>ssa forma <strong>de</strong> energia nos Estados Unidos e Europa.<br />
De início circunscrita ao campo das curiosida<strong>de</strong>s científicas, a energia elétrica<br />
passou a ser encarada, principalmente a partir do final da década <strong>de</strong> 1870,<br />
como uma forma <strong>de</strong> energia comercialmente útil, sobretudo na iluminação urbana,<br />
mas também nas áreas <strong>de</strong> comunicações, metalurgia e indústria química leve.<br />
No Brasil, a primeira instalação <strong>de</strong> iluminação elétrica permanente foi inaugurada<br />
em 1879, na estação central da Estrada <strong>de</strong> Ferro Dom Pedro II (atualmente<br />
Central do Brasil).<br />
A década <strong>de</strong> 1880 marcou o início efetivo da expansão do uso da eletricida<strong>de</strong><br />
no Brasil, com a inauguração, no ano <strong>de</strong> 1883, do primeiro serviço <strong>de</strong> iluminação<br />
elétrica da América do Sul, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Campos, no Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
e da instalação da primeira usina hidrelétrica do país, com o aproveitamento <strong>de</strong><br />
uma queda d’água <strong>de</strong> um afluente do rio Jequitinhonha, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Diamantina
35<br />
(MG). A seguir, a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Porto Alegre, no Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, tornou-se, no ano<br />
<strong>de</strong> 1887, a primeira capital a contar com serviço <strong>de</strong> iluminação pública elétrica,<br />
com o início das ativida<strong>de</strong>s da usina termelétrica da Companhia Fiat Lux. No ano<br />
<strong>de</strong> 1889, por iniciativa do industrial Bernardo Mascarenhas, foi inaugurada a hidrelétrica<br />
<strong>de</strong> Marmelos-Zero, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Juiz <strong>de</strong> Fora (MG), com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
suprir uma fábrica <strong>de</strong> tecidos e possibilitar a iluminação da cida<strong>de</strong>.<br />
Entre os anos <strong>de</strong> 1890 e 1900, houve a instalação <strong>de</strong> várias pequenas usinas,<br />
principalmente <strong>de</strong> geração termelétrica, visando ao atendimento das <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong><br />
iluminação pública, mineração, beneficiamento <strong>de</strong> produtos agrícolas e suprimento<br />
<strong>de</strong> indústrias têxteis e serrarias. No ano <strong>de</strong> 1900, já haviam <strong>de</strong>z <strong>de</strong>ssas pequenas<br />
usinas, com cerca <strong>de</strong> doze mil quilowatts <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> instalada total.<br />
A entrada em operação, no ano <strong>de</strong> 1901, da usina <strong>de</strong> Parnaíba, a primeira da<br />
companhia São Paulo Tramway, Light and Power, marcou o início da inflexão da<br />
geração <strong>de</strong> energia elétrica do país em favor da hidreletricida<strong>de</strong>. A seguir, no ano<br />
<strong>de</strong> 1905, a Light instalou-se também no Rio <strong>de</strong> Janeiro, então capital e maior centro<br />
urbano do Brasil, por meio da Rio <strong>de</strong> Janeiro Tramway, Light and Power e, após<br />
uma rápida eliminação <strong>de</strong> seus concorrentes nacionais, garantiu, nessas duas cida<strong>de</strong>s,<br />
o monopólio não apenas dos serviços <strong>de</strong> iluminação elétrica, como também <strong>de</strong><br />
transporte coletivo, fornecimento <strong>de</strong> gás e telefonia.<br />
Em 1911, instalou-se, na região <strong>de</strong> Sorocaba, a São Paulo Electric Company,<br />
a fim <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r à rápida expansão do consumo <strong>de</strong> eletricida<strong>de</strong> ali verificada e que<br />
não era passível <strong>de</strong> atendimento por parte da São Paulo Light. Já no ano seguinte,<br />
constituiu-se, no Canadá, a Brazilian Traction, Light and Power, empresa holding<br />
que reunia as três companhias <strong>de</strong> energia elétrica atuantes no Brasil. Nessa época já<br />
havia, entretanto, diversas pequenas usinas <strong>de</strong> geração termelétrica e hidrelétrica,<br />
pertencentes a empresas <strong>de</strong> caráter local, unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> consumo doméstico em áreas<br />
agrícolas e instalações autoprodutoras <strong>de</strong> estabelecimentos industriais.<br />
A década <strong>de</strong> 1920 caracterizou-se, para o setor elétrico brasileiro, pela construção<br />
<strong>de</strong> usinas <strong>de</strong> maior capacida<strong>de</strong> instalada, <strong>de</strong>stinadas a aten<strong>de</strong>r a um mercado<br />
em rápida expansão, pela concentração e centralização das empresas concessionárias<br />
e, no final do período, pela virtual <strong>de</strong>snacionalização do setor, consolidada<br />
pela chegada ao país da American Foreign Power Company (Amforp), do grupo<br />
norte-americano Electric Bond and Share Corporation, para atuar principalmente<br />
no interior do Estado <strong>de</strong> São Paulo e em algumas capitais do Nor<strong>de</strong>ste e do Sul do<br />
Brasil, on<strong>de</strong>, entre os anos <strong>de</strong> 1927 e 1930, incorporou diversas empresas concessionárias<br />
locais.<br />
Na década <strong>de</strong> 1930 foi criado o Departamento Nacional da Produção<br />
Mineral (DNPM), com uma Diretoria <strong>de</strong> Águas; extinguiu-se a cláusula-ouro como
36<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
base para a fixação das tarifas <strong>de</strong> energia elétrica e, em 10 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1934, promulgou-se<br />
o Código <strong>de</strong> Águas (Decreto n° 24.643), para regular o setor <strong>de</strong> águas e<br />
energia elétrica. O Código <strong>de</strong> Águas, atribuiu à União o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> autorizar ou<br />
conce<strong>de</strong>r o aproveitamento da energia hidráulica e <strong>de</strong> exercer um controle mais<br />
rigoroso sobre as concessionárias, por meio da <strong>fiscal</strong>ização técnica, financeira e<br />
orçamentária; fez a distinção entre a proprieda<strong>de</strong> do solo e a das quedas d’água e<br />
outras fontes <strong>de</strong> energia hidráulica – que passaram a ser proprieda<strong>de</strong> da União – e<br />
estabeleceu o preceito <strong>de</strong> fixação das tarifas sob a forma <strong>de</strong> serviço pelo custo.<br />
Em 1937, com a implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas e a ampliação<br />
do intervencionismo estatal na economia, <strong>de</strong>u-se a proibição explícita <strong>de</strong> qualquer<br />
novo aproveitamento hidráulico por companhias estrangeiras e, no ano <strong>de</strong><br />
1939, criou-se o Conselho Nacional <strong>de</strong> Águas e Energia Elétrica (CNAEE), <strong>de</strong>stinado<br />
a tratar do suprimento <strong>de</strong> energia, da tributação dos serviços <strong>de</strong> eletricida<strong>de</strong> e<br />
da <strong>fiscal</strong>ização das empresas concessionárias do setor.<br />
Ainda assim, até a década <strong>de</strong> 1950, o setor <strong>de</strong> energia elétrica do Brasil<br />
estava predominantemente entregue à iniciativa privada, encontrando-se as concessões<br />
para o fornecimento <strong>de</strong> energia nas principais cida<strong>de</strong>s do país em mãos <strong>de</strong><br />
operadoras estrangeiras. Prova disso é que o grupo Light, que respondia, em 1930,<br />
por 44,1% da energia elétrica gerada no país, ampliou essa participação, no ano <strong>de</strong><br />
1940, para 53,7%, enquanto que as concessionárias pertencentes ao grupo Amforp<br />
contribuíam, em 1945, com 12,6% da capacida<strong>de</strong> total <strong>de</strong> geração elétrica instalada<br />
no Brasil.<br />
Nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial, a <strong>de</strong>manda crescente<br />
por eletricida<strong>de</strong>, constantes impasses, em relação à política tarifária, entre os governos<br />
e as empresas privadas e a prolongada estiagem ocorrida nos anos iniciais<br />
da década <strong>de</strong> 1950 levaram a freqüentes racionamentos no fornecimento <strong>de</strong> energia<br />
em todo o país.<br />
Nesse ambiente, e com o crescimento dos sentimentos nacionalistas no país, o<br />
Estado brasileiro acabou por assumir o controle efetivo do setor, sob a argumentação<br />
<strong>de</strong> tratar-se <strong>de</strong> um monopólio natural e por ser o suprimento <strong>de</strong> energia elétrica um<br />
serviço público essencial à socieda<strong>de</strong> e ao <strong>de</strong>senvolvimento econômico nacional.<br />
Assim, se em alguns países, como nos Estados Unidos, o Estado preferiu<br />
não atuar diretamente no setor elétrico, restringindo sua ação a uma regulamentação<br />
severa sobre as empresas concessionárias <strong>de</strong> serviços públicos, no Brasil, como<br />
em outros países, tais como a Inglaterra e a França, os governos assumiram a responsabilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> prover a socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> energia elétrica, por intermédio <strong>de</strong> empresas<br />
integradas, que atuavam nas etapas <strong>de</strong> geração, transmissão e distribuição <strong>de</strong><br />
energia elétrica.
Uso da água do rio São Francisco e privatização da CHESF:<br />
um tema em <strong>de</strong>bate<br />
37<br />
O primeiro passo no caminho da estatização do setor elétrico brasileiro foi<br />
dado pelo Decreto-lei n° 8.031, <strong>de</strong> 3 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1945, com a criação da Companhia<br />
Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> economia mista ligada<br />
ao Ministério da Agricultura, e que teve sua primeira constituição aprovada em<br />
assembléia <strong>de</strong> acionistas realizada em 15 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 1948.<br />
Com a construção e a inauguração, no ano <strong>de</strong> 1955, pela CHESF, da primeira<br />
usina hidroelétrica <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> porte do Nor<strong>de</strong>ste – a usina <strong>de</strong> Paulo Afonso, atualmente<br />
<strong>de</strong>signada <strong>de</strong> Paulo Afonso I, com capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> 184 megawatts<br />
–, ganhou força o movimento pela constituição <strong>de</strong> novas empresas <strong>de</strong> economia<br />
mista no setor, tendo sido então criadas, entre outras, as empresas Centrais Elétricas<br />
<strong>de</strong> Minas Gerais (Cemig), Companhia Hidrelétrica do Rio Pardo (Cerp) – posteriormente<br />
absorvida pelas Centrais Elétricas <strong>de</strong> São Paulo (Cesp) –, a Companhia<br />
<strong>de</strong> Energia Elétrica do Paraná (Copel).<br />
A postura <strong>de</strong> crescente intervencionismo do governo fe<strong>de</strong>ral na ativida<strong>de</strong><br />
econômica do país levou à criação, em 1961, das Centrais Elétricas Brasileiras S.<br />
A. (ELETROBRÁS) para a coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> todo o setor elétrico, que se consolidou,<br />
durante as décadas <strong>de</strong> 1960 e 1970, pela criação das subsidiárias Eletrosul<br />
(1968) e Eletronorte (1972) e com a assunção do controle da CHESF e <strong>de</strong> Furnas<br />
Centrais Elétricas (Furnas).<br />
Desta forma, aproveitando-se do vasto potencial hidráulico aqui existente,<br />
privilegiou-se a geração hidroelétrica no país, a fim <strong>de</strong> reduzir a <strong>de</strong>pendência nacional<br />
em relação ao petróleo importado, que vinha então aumentando <strong>de</strong> maneira<br />
significativa.<br />
O problema é que as “taxas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto”, que representavam o valor do<br />
dinheiro no tempo, utilizadas no planejamento do setor elétrico, por não terem sido<br />
cuidadosamente estudadas, causaram uma distorção em favor da hidroeletricida<strong>de</strong>,<br />
contribuindo, posteriormente, para a <strong>de</strong>scapitalização das empresas do setor, em<br />
razão do menosprezo aos custos <strong>de</strong> capital.<br />
No início da década <strong>de</strong> 1980, apareceram os primeiros sinais da crise do<br />
setor elétrico nacional, com a inadimplência das empresas. Tal situação veio a piorar<br />
no <strong>de</strong>senrolar daquela década, <strong>de</strong>ntro do contexto da crise econômica brasileira,<br />
com a crescente escassez <strong>de</strong> recursos estatais para novos investimentos, em razão<br />
da contenção tarifária utilizada como ferramenta em tentativas malsucedidas <strong>de</strong><br />
controle inflacionário. Tudo isso levou ao aumento da inadimplência das empresas<br />
brasileiras <strong>de</strong> energia.<br />
Várias tentativas <strong>de</strong> sanar tais problemas foram realizadas no final da década<br />
<strong>de</strong> 1980 e início da década <strong>de</strong> 1990, por meio do Plano <strong>de</strong> Recuperação Setorial<br />
(PRS), do Plano <strong>de</strong> Revisão Institucional do Setor Elétrico (Revise) e da proposta
38<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
<strong>de</strong> criação da Empresa Supridora <strong>de</strong> Energia Elétrica (ENSE), que compraria toda<br />
a energia elétrica gerada e ficaria responsável pela transmissão e revenda do produto<br />
às empresas distribuidoras. Nenhum <strong>de</strong>sses planos foi, contudo, implementado,<br />
pois não se cuidava dos pontos fulcrais do problema: a incapacida<strong>de</strong> do Estado<br />
para prover os recursos necessários à expansão das ativida<strong>de</strong>s da área <strong>de</strong> energia<br />
elétrica no Brasil e a prática generalizada do calote pelos Estados em relação à<br />
União, pelos Municípios em relação aos Estados e pelos gran<strong>de</strong>s consumidores em<br />
relação aos três primeiros.<br />
Parecia claro, então, que se fazia imperioso modificar a situação reinante no<br />
setor elétrico nacional e, a partir <strong>de</strong> 1993, introduziram-se diversas alterações na<br />
legislação referente à energia elétrica no país, a fim <strong>de</strong> permitir a participação <strong>de</strong><br />
capitais privados, tanto nacionais quanto estrangeiros, o aumento da competição e<br />
o início da privatização das empresas <strong>de</strong> energia elétrica, visando a atrair os investimentos<br />
necessários à mo<strong>de</strong>rnização e ampliação dos empreendimentos do setor.<br />
Após o início das privatizações das companhias elétricas estatais, o governo<br />
optou por um processo <strong>de</strong> cisão das suas subsidiárias, a fim <strong>de</strong> separar as unida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> geração das <strong>de</strong> transmissão, em mo<strong>de</strong>lo semelhante ao adotado para a privatização<br />
do setor elétrico na Inglaterra, visando também, com isso, a obter preços maiores<br />
pelas empresas nos leilões <strong>de</strong> privatização.<br />
Tendo-se realizado inicialmente na privatização da subsidiária Eletrosul, a<br />
cisão <strong>de</strong> empresas foi também o mecanismo escolhido pelo Governo Fe<strong>de</strong>ral ao<br />
anunciar a privatização das <strong>de</strong>mais subsidiárias componentes do Sistema Eletrobrás<br />
– Furnas, Eletronorte e CHESF.<br />
A privatização da CHESF e o uso múltiplo das águas do São Francisco<br />
No que diz respeito à CHESF, contudo, tal intenção do governo esbarrou em<br />
gran<strong>de</strong> oposição <strong>de</strong> vários segmentos da população nor<strong>de</strong>stina, especialmente da<br />
classe política. Tal reação <strong>de</strong>ve-se ao fato <strong>de</strong> a CHESF estar inserida num contexto<br />
assaz particular: a geração <strong>de</strong> energia a partir das águas do rio São Francisco, que é,<br />
para o Nor<strong>de</strong>ste, a principal – e, em vários casos, a única – fonte <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> porte<br />
capaz <strong>de</strong> regularizar o abastecimento <strong>de</strong> água da região.<br />
Nessa dicotomia resi<strong>de</strong> o principal drama do Nor<strong>de</strong>ste: necessita da energia<br />
gerada a partir dos potenciais hidráulicos do rio São Francisco, mas não po<strong>de</strong> prescindir<br />
<strong>de</strong> suas águas para aten<strong>de</strong>r às suas necessida<strong>de</strong>s mais vitais. Esse drama po<strong>de</strong><br />
ser avaliado quando se sabe que, dos cerca <strong>de</strong> 11.000 MW gerados pela CHESF,<br />
mais <strong>de</strong> 90% provêem dos potenciais hidráulicos do São Francisco, das usinas <strong>de</strong><br />
Sobradinho, Moxotó, Xingó, Itaparica e Paulo Afonso I, II, III e IV, todas situadas<br />
no baixo curso do rio.
Uso da água do rio São Francisco e privatização da CHESF:<br />
um tema em <strong>de</strong>bate<br />
39<br />
Um dos problemas mais cruciais da privatização da CHESF está no valor<br />
que po<strong>de</strong> ser alcançado pela empresa, o qual <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> diretamente da manutenção,<br />
ou mesmo da ampliação da capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> suas usinas hidrelétricas. Por<br />
seu turno, da constância das atuais vazões <strong>de</strong> água do rio São Francisco <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> a<br />
manutenção da capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> geração elétrica <strong>de</strong>ssas unida<strong>de</strong>s.<br />
Portanto, não careceriam <strong>de</strong> razão rumores segundo os quais, nos editais <strong>de</strong><br />
privatização da CHESF, seria garantida uma vazão mínima das águas do São Francisco,<br />
a fim <strong>de</strong> se manter constante a atual capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> suas usinas.<br />
Quanto aos aspectos econômicos, estaria, portanto, solucionada a questão.<br />
Condicionantes legais e técnicos da privatização da CHESF<br />
Entretanto, a garantia absoluta <strong>de</strong> vazão mínima nas usinas hidrelétricas da<br />
CHESF não po<strong>de</strong>, segundo a legislação relativa à gestão <strong>de</strong> águas ora vigente no<br />
país, ser dada a quem adquiri-las, como mostrado a seguir.<br />
A <strong>Lei</strong> n° 9.433, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 1997, estabelece claramente os limites da<br />
outorga dos direitos <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> recursos hídricos no país, como se po<strong>de</strong> <strong>de</strong>preen<strong>de</strong>r<br />
da leitura dos artigos 13, 15 e 18 daquele texto legal, a seguir transcritos:<br />
“Art. 13. Toda outorga estará condicionada às priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> usos<br />
estabelecidas nos Planos <strong>de</strong> Recursos Hídricos e respeitará a classe em que o corpo<br />
<strong>de</strong> água estiver enquadrado e a manutenção <strong>de</strong> condições a<strong>de</strong>quadas ao transporte<br />
aquaviário, quando for o caso.<br />
Parágrafo único. A outorga <strong>de</strong> uso dos recursos hídricos <strong>de</strong>verá preservar<br />
o uso múltiplo <strong>de</strong>stes.” (grifou-se)<br />
............................................................................................................<br />
“Art. 15. A outorga <strong>de</strong> direito <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> recursos hídricos po<strong>de</strong>rá ser suspensa<br />
parcial ou totalmente, em <strong>de</strong>finitivo ou por prazo <strong>de</strong>terminado, nas seguintes circunstâncias:<br />
I – não cumprimento pelo outorgado dos termos <strong>de</strong> outorga;<br />
II – ausência <strong>de</strong> uso por três anos consecutivos;<br />
III – necessida<strong>de</strong> premente <strong>de</strong> água para aten<strong>de</strong>r a situações <strong>de</strong> calamida<strong>de</strong>,<br />
inclusive as <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong> condições climáticas adversas;<br />
IV – necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se prevenir ou reverter grave <strong>de</strong>gradação ambiental;<br />
V – necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se aten<strong>de</strong>r a usos prioritários, <strong>de</strong> interesse coletivo,<br />
para os quais não se disponha <strong>de</strong> fontes alternativas;<br />
VI – necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> serem mantidas as características <strong>de</strong> navegabilida<strong>de</strong> do<br />
corpo <strong>de</strong> água.” (grifou-se)<br />
............................................................................................................<br />
“Art. 18. A outorga não implica a alienação das águas, que são
40<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
inalienáveis, mas o simples direito <strong>de</strong> seu uso.” (grifou-se)<br />
Para suprimir <strong>de</strong>finitivamente qualquer dúvida que ainda possa subsistir a<br />
esse respeito, transcreve-se a seguir o artigo 143 do Decreto n° 24.643, <strong>de</strong> 20 <strong>de</strong><br />
julho <strong>de</strong> 1934 (Código <strong>de</strong> Águas), em vigor, sobre as condições a serem satisfeitas<br />
para o aproveitamento <strong>de</strong> energia hidráulica no país:<br />
“Art. 143. Em todos os aproveitamentos <strong>de</strong> energia hidráulica serão satisfeitas<br />
exigências acauteladoras dos interesses gerais:<br />
a) da alimentação e das necessida<strong>de</strong>s das populações ribeirinhas;<br />
b) da salubrida<strong>de</strong> pública;<br />
c) da navegação;<br />
d) da irrigação;<br />
e) da proteção contra as inundações;<br />
f) da conservação e livre circulação do peixe;<br />
g) do escoamento e rejeição das águas.”<br />
Parece claro que o edital <strong>de</strong> privatização da CHESF – ou <strong>de</strong> qualquer outra<br />
empresa do setor elétrico – não po<strong>de</strong>rá conter condições ou garantias em <strong>de</strong>sacordo<br />
com a legislação vigente. Portanto, a se respeitar o or<strong>de</strong>namento legal do país, não<br />
há como assegurar a qualquer adquirente <strong>de</strong> parte ou da totalida<strong>de</strong> da CHESF uma<br />
cota fixa, por prazo <strong>de</strong>terminado, <strong>de</strong> fornecimento <strong>de</strong> água para fins <strong>de</strong> geração <strong>de</strong><br />
energia elétrica.<br />
Tal afirmativa, apesar <strong>de</strong> parecer, à primeira vista, algo peremptória, baseiase<br />
na rápida expansão da <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> água para outros usos que, em virtu<strong>de</strong> da<br />
legislação vigente, têm priorida<strong>de</strong> superior à da geração <strong>de</strong> energia elétrica, principalmente<br />
a realização <strong>de</strong> agricultura irrigada e o fornecimento <strong>de</strong> água potável às<br />
populações nor<strong>de</strong>stinas, sejam urbanas ou rurais.<br />
Além disso, vale lembrar que a maioria dos afluentes do rio São Francisco é<br />
<strong>de</strong> domínio estadual (conforme o inciso I do art. 26, ressalvado o disposto no inciso<br />
III do art. 20, da Constituição Fe<strong>de</strong>ral). Decorre daí que boa parte da vazão gerada<br />
nas bacias hidrográficas <strong>de</strong>sses rios po<strong>de</strong> ou po<strong>de</strong>rá estar comprometida com outros<br />
usos, sem a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ação do Governo Fe<strong>de</strong>ral, pois cabe aos Estados<br />
conce<strong>de</strong>r outorgas <strong>de</strong> direito <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> recursos hídricos nesses afluentes.<br />
Dá suporte a essa tese a rápida expansão da agricultura irrigada em áreas<br />
banhadas por alguns dos mais importantes afluentes do São Francisco, todos <strong>de</strong><br />
domínio estadual, como os rios Gorutuba, Jaíba, das Velhas e Ver<strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>, em<br />
Minas Gerais, e os rios Gran<strong>de</strong> e Corrente, no oeste da Bahia. Por se tratarem <strong>de</strong><br />
rios <strong>de</strong> domínio estadual, a <strong>de</strong>rivação <strong>de</strong> suas águas in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> outorga ou controle,<br />
por parte <strong>de</strong> órgãos fe<strong>de</strong>rais.<br />
Tecnicamente, portanto, não há como a União oferecer garantia <strong>de</strong> vazões
Uso da água do rio São Francisco e privatização da CHESF:<br />
um tema em <strong>de</strong>bate<br />
41<br />
nas hidrelétricas do São Francisco, por não <strong>de</strong>ter o domínio sobre parte substancial<br />
das águas <strong>de</strong> sua bacia hidrográfica.<br />
A esses argumentos, acrescente-se a erraticida<strong>de</strong> do regime <strong>de</strong> chuvas no<br />
Semi-árido, que constitui a maior parte da Região Nor<strong>de</strong>ste. É inegável que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
tempos remotos, estiagens severas castigam essa região, fazendo da carência <strong>de</strong><br />
recursos hídricos para usos fundamentais, como o abastecimento humano, a<br />
<strong>de</strong>sse<strong>de</strong>ntação <strong>de</strong> animais e a prática agrícola, um fato <strong>de</strong> caráter quase permanente.<br />
A situação <strong>de</strong> exceção que, pela legislação citada, garante priorida<strong>de</strong> ao<br />
abastecimento humano e à irrigação sobre a geração <strong>de</strong> eletricida<strong>de</strong>, é indicada, <strong>de</strong><br />
maneira indiscutível, pela seqüência <strong>de</strong> secas que assolam o Nor<strong>de</strong>ste, conhecida<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> os primeiros tempos coloniais. Os primeiros registros <strong>de</strong> seca no Nor<strong>de</strong>ste<br />
foram feitos ainda no período <strong>de</strong> domínio holandês, por volta <strong>de</strong> 1640. Ao longo <strong>de</strong><br />
nossa história, são inúmeros os registros <strong>de</strong> estiagens severas na região (1721-<br />
1727, 1877, 1926, 1982, 1997-1998, etc.), culminando com a seca recém terminada,<br />
que teve ampla cobertura dos meios <strong>de</strong> comunicação e obrigou o Governo<br />
Fe<strong>de</strong>ral a montar um programa emergencial para amenizar seus efeitos, com gastos<br />
próximos a um bilhão <strong>de</strong> reais.<br />
O drama das secas e seus efeitos sociais, com periodicida<strong>de</strong> mais ou menos<br />
<strong>de</strong>cenal, caracteriza claramente a situação excepcional, que prioriza o uso da água<br />
do rio São Francisco para o abastecimento humano e para a agricultura irrigada.<br />
Mais uma vez, vislumbra-se a impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> garantir vazões para a geração <strong>de</strong><br />
energia elétrica.<br />
O clima do Semi-árido é extremamente favorável à fruticultura, sendo esta<br />
a ativida<strong>de</strong> que po<strong>de</strong>rá alavancar o <strong>de</strong>senvolvimento do Nor<strong>de</strong>ste e reduzir ou eliminar<br />
o quadro <strong>de</strong> miséria que prevalece na maioria <strong>de</strong> sua população. A produção<br />
<strong>de</strong> frutas tropicais e mediterrâneas, pelo seu alto valor agregado e pelo potencial <strong>de</strong><br />
expansão <strong>de</strong> sua colocação no mercado internacional é um dos setores mais lucrativos<br />
da agricultura. No Semi-árido, po<strong>de</strong>m-se realizar até três colheitas anuais <strong>de</strong><br />
frutas, o que coloca o Brasil em situação privilegiada perante nossos tradicionais<br />
concorrentes, como Israel, Estados Unidos (Califórnia), Chile e Espanha.<br />
Para esse tipo <strong>de</strong> agricultura, é fundamental a garantia <strong>de</strong> disponibilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> água e, para viabilizá-la, impossível será o comprometimento da maior parte da<br />
vazão do rio São Francisco com a geração <strong>de</strong> energia elétrica. No Semi-árido,<br />
incluindo o próprio vale do São Francisco e <strong>de</strong> seus afluentes, a área <strong>de</strong> terras<br />
potencialmente irrigáveis ultrapassa um milhão <strong>de</strong> hectares. Isto leva a crer que a<br />
<strong>de</strong>manda futura <strong>de</strong> água para irrigação po<strong>de</strong>rá chegar aos mil metros cúbicos por<br />
segundo (normalmente, consi<strong>de</strong>ra-se a <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> um litro por segundo por hecta-
42<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
re). A essa <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>vem-se somar outras, como o abastecimento humano e<br />
industrial que, embora requerendo menores volumes, não são <strong>de</strong>sprezíveis. Só a<br />
expansão da agricultura irrigada po<strong>de</strong>rá consumir meta<strong>de</strong> dos 2.060 metros cúbicos<br />
por segundo regularizados pela barragem <strong>de</strong> Sobradinho e que movimentam as<br />
usinas situadas a sua jusante. A capacida<strong>de</strong> atual <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> energia elétrica<br />
será, nesse cenário, reduzida à meta<strong>de</strong>.<br />
No tocante à <strong>de</strong>manda para abastecimento público humano, <strong>de</strong>ve-se ressaltar<br />
a situação precária que já se afigura em várias gran<strong>de</strong>s cida<strong>de</strong>s nor<strong>de</strong>stinas.<br />
Recife já não dispõe <strong>de</strong> manancial suficiente para abastecer <strong>de</strong> água cerca <strong>de</strong> 40%<br />
<strong>de</strong> sua população. Fortaleza, nos períodos <strong>de</strong> estiagem, tem <strong>de</strong> racionar a distribuição<br />
<strong>de</strong> água a seus habitantes. Várias cida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> médio porte, como Campina Gran<strong>de</strong><br />
e Caruaru, vivem dramas similares, senão mais <strong>de</strong>sesperantes.<br />
Pela sua localização geográfica, com seu curso atravessando uma parte consi<strong>de</strong>rável<br />
do Semi-árido, o rio São Francisco é o manancial óbvio para aumentar a<br />
oferta <strong>de</strong> água, para eliminar os efeitos das secas periódicas, para propiciar o recurso<br />
natural indispensável ao <strong>de</strong>senvolvimento da Região Nor<strong>de</strong>ste.<br />
Outras alternativas estudadas até agora, como o bombeamento a partir da<br />
bacias do rio Tocantins, do Paraná ou dos rios do oeste do Piauí e do Maranhão,<br />
revelam-se mais complexas, por serem mais distantes e se situarem em cotas topográficas<br />
muito mais baixas. Os custos com obras civis e os gastos com energia<br />
elétrica para bombeamento seriam muito superiores aos verificados quando se consi<strong>de</strong>ra<br />
o rio São Francisco como alternativa.<br />
Disto se conclui que, no caso da região Nor<strong>de</strong>ste, não há como fugir à <strong>de</strong>pendência<br />
atual e futura das águas do rio São Francisco; daí, temerário seria o<br />
comprometimento <strong>de</strong> suas águas, a médio ou longo prazos, com um único uso, que<br />
é a geração <strong>de</strong> energia elétrica.<br />
A discussão leva, inevitavelmente, à questão <strong>de</strong> se transpor ou não parte das<br />
águas do rio São Francisco para irrigação e abastecimento <strong>de</strong> outras regiões do<br />
Nor<strong>de</strong>ste. A transposição, por outro lado, <strong>de</strong>manda gran<strong>de</strong>s quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> energia<br />
elétrica, pressionando a já apertada matriz energética nor<strong>de</strong>stina.<br />
Aí está, portanto, o cerne da questão, exposto à luz do dia: o Nor<strong>de</strong>ste precisa<br />
<strong>de</strong>sesperadamente das águas do São Francisco para seu abastecimento, para<br />
sua irrigação, para sua sobrevivência, enfim, mas não po<strong>de</strong> prescindir, ao menos<br />
por ora, sequer <strong>de</strong> uma pequena parcela da energia gerada pelas usinas hidrelétricas<br />
nele instaladas, a fim <strong>de</strong> não comprometer seu abastecimento <strong>de</strong> energia e o ritmo<br />
<strong>de</strong> seu <strong>de</strong>senvolvimento econômico. Como, então, escapar <strong>de</strong>sse dilema?<br />
A solução mais rápida e menos traumática para a região Nor<strong>de</strong>ste estaria, a<br />
nosso ver, em uma alteração paulatina, porém significativa, da matriz energética
Uso da água do rio São Francisco e privatização da CHESF:<br />
um tema em <strong>de</strong>bate<br />
43<br />
nor<strong>de</strong>stina, com a utilização maciça do gás natural, tanto aquele produzido nos<br />
campos <strong>de</strong> petróleo e gás existentes nas bacias sedimentares da região, como o<br />
importado sob forma <strong>de</strong> gás natural liquefeito, para a geração <strong>de</strong> energia em usinas<br />
termelétricas.<br />
A importação <strong>de</strong> energia elétrica <strong>de</strong> origem hidráulica, via integração do<br />
sistema distribuidor com outras regiões, é outra solução que já está sendo colocada<br />
em prática, com o sistema CHESF recebendo energia produzida pela hidrelétrica<br />
<strong>de</strong> Tucuruí, no rio Tocatins.<br />
Outras fontes <strong>de</strong> geração elétrica também po<strong>de</strong>rão ser consi<strong>de</strong>radas, tais<br />
como a energia eólica, a energia solar e a nuclear. O problema está em que a geração<br />
<strong>de</strong> energia elétrica a partir da energia eólica, bem como a partir do aproveitamento<br />
da energia solar, ainda está em fase <strong>de</strong> pesquisas, não havendo ainda certeza<br />
quanto à sua economicida<strong>de</strong> para uso em gran<strong>de</strong> escala, quando comparada a outras<br />
fontes <strong>de</strong> energia. No caso da energia nucleoelétrica, a dificulda<strong>de</strong> resi<strong>de</strong> nos<br />
altos custos incorridos com a construção <strong>de</strong> tais centrais energéticas, bem como na<br />
pressão exercida por entida<strong>de</strong>s ambientalistas, tendo em vista os potenciais riscos<br />
envolvidos em sua operação.<br />
Não há dúvida <strong>de</strong> que é possível, ao menos a médio prazo, com a substituição<br />
<strong>de</strong> parcela consi<strong>de</strong>rável da energia elétrica hoje gerada a partir <strong>de</strong> potenciais<br />
hidráulicos, liberar uma parte das águas do São Francisco para suprir necessida<strong>de</strong>s<br />
consi<strong>de</strong>radas mais essenciais, quais sejam o abastecimento para<br />
<strong>de</strong>sse<strong>de</strong>ntação e higiene humanas, <strong>de</strong>sse<strong>de</strong>ntação <strong>de</strong> rebanhos e irrigação <strong>de</strong> lavouras,<br />
sem que se causasse qualquer prejuízo ao abastecimento <strong>de</strong> energia elétrica<br />
da região Nor<strong>de</strong>ste.<br />
Se a alteração da matriz energética do Nor<strong>de</strong>ste é necessária e inevitável,<br />
dada a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se utilizar as águas do rio São Francisco para fins mais<br />
nobres, para os quais não existem alternativas <strong>de</strong> abastecimento, mais uma vez<br />
caracteriza-se a inconveniência e até a inviabilida<strong>de</strong> da privatização das usinas<br />
hidrelétricas da CHESF. Primeiro, porque terão <strong>de</strong> ser buscadas alternativas para a<br />
manutenção e expansão da oferta <strong>de</strong> energia elétrica. Segundo, porque sua matériaprima<br />
básica, a água que passa pelas turbinas, fatalmente será reduzida.<br />
Se não é recomendável e nem factível do ponto <strong>de</strong> vista técnico assegurar<br />
vazões permanentes nas usinas da CHESF, menos sentido faz privatizar essas usinas<br />
sem estudos mais aprofundados <strong>de</strong> como <strong>de</strong>verá evoluir a matriz energética do<br />
Nor<strong>de</strong>ste. Na hipótese <strong>de</strong> se concretizarem as privatizações, é certo que, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
pouco tempo, o Governo Fe<strong>de</strong>ral terá <strong>de</strong> in<strong>de</strong>nizar os seus eventuais adquirentes<br />
pela perda da capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> geração das usinas. Isto porque, do ponto <strong>de</strong> vista<br />
legal e técnico, não há, portanto, como o Governo Fe<strong>de</strong>ral assegurar a qualquer
44<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
empresa, privada ou estatal, vazões mínimas nas usinas hidrelétricas instaladas no<br />
rio São Francisco.<br />
A questão envolvendo o uso das águas do rio São Francisco para a geração<br />
<strong>de</strong> energia elétrica versus a satisfação das <strong>de</strong>mais necessida<strong>de</strong>s dos cidadãos nor<strong>de</strong>stinos<br />
é tão séria e tantos protestos gerou, que o governo fe<strong>de</strong>ral, sentindo o peso<br />
das argumentações e a força das pressões contrárias, adiou sine die o processo <strong>de</strong><br />
cisão da CHESF e também o da Eletronorte. Mesmo a privatização <strong>de</strong> Furnas,<br />
inicialmente julgada como menos problemática e prevista para ocorrer em agosto<br />
do ano passado, enfrentou também forte oposição, principalmente do governo e<br />
das <strong>de</strong>mais forças políticas do Estado <strong>de</strong> Minas Gerais e, até o presente momento,<br />
ainda não chegou a seu termo.<br />
Conclusões<br />
De tudo o que foi exposto, algumas conclusões importantes po<strong>de</strong>m ser extraídas.<br />
A primeira <strong>de</strong>las é que a estatização do setor elétrico brasileiro ocorreu em<br />
razão <strong>de</strong> o governo haver consi<strong>de</strong>rado como <strong>de</strong> importância estratégica para o país,<br />
no período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, um setor <strong>de</strong> atuação<br />
integrada – compreen<strong>de</strong>ndo a geração, transmissão e distribuição – a fim <strong>de</strong><br />
possibilitar o <strong>de</strong>senvolvimento econômico nacional <strong>de</strong> forma mais harmônica, mais<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte e <strong>de</strong> maneira a reduzir as imensas <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>s regionais, já então<br />
existentes.<br />
Contudo, em razão <strong>de</strong> vários equívocos cometidos na execução do planejamento<br />
inicial, bem como <strong>de</strong> freqüentes mudanças nos rumos da política energética<br />
brasileira, mas principalmente por causa da utilização <strong>de</strong> valores claramente ina<strong>de</strong>quados<br />
<strong>de</strong> taxas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconto, que calculavam o valor do capital investido no tempo,<br />
o setor elétrico estatal foi sendo paulatinamente <strong>de</strong>scapitalizado, não restando, ao<br />
final, outra alternativa que não o recurso ao capital privado, via transferência do<br />
controle acionário, para a revitalização da produção energética brasileira.<br />
O problema é que em vez <strong>de</strong> se <strong>de</strong>finir primeiramente o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
privatização a ser adotado, a criação do novo ente regulador para o setor e a<br />
criação da legislação e das normas regulamentares próprias para a nova situação<br />
das concessões <strong>de</strong> energia elétrica no Brasil, <strong>de</strong>u-se início ao processo, com a<br />
venda <strong>de</strong> algumas empresas distribuidoras <strong>de</strong> eletricida<strong>de</strong> para investidores privados.<br />
Daí <strong>de</strong>correu boa parte dos dissabores enfrentados pelos consumidores do<br />
país, como interrupções no fornecimento <strong>de</strong> energia e a piora da qualida<strong>de</strong> dos<br />
serviços prestados.<br />
A se prosseguir com o processo <strong>de</strong> privatização do setor elétrico brasileiro,<br />
nos dias atuais, <strong>de</strong>ve-se introduzir uma série <strong>de</strong> modificações em relação ao que foi
Uso da água do rio São Francisco e privatização da CHESF:<br />
um tema em <strong>de</strong>bate<br />
45<br />
feito anteriormente pois, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o seu princípio, já se criou um novo órgão, a ANEEL,<br />
para cuidar da <strong>fiscal</strong>ização e regulação do setor, bem como um razoável volume <strong>de</strong><br />
leis e normas regulamentares capazes <strong>de</strong> dar base legal para a ação daquela autarquia,<br />
no sentido <strong>de</strong> se garantir que os novos concessionários dos serviços <strong>de</strong> energia<br />
elétrica prestem seus serviços <strong>de</strong> forma a<strong>de</strong>quada, regular, segura e eficiente, respeitando<br />
os direitos dos consumidores brasileiros.<br />
A<strong>de</strong>mais, em situações particulares, tais como a da CHESF, outros aspectos<br />
<strong>de</strong>verão ser consi<strong>de</strong>rados antes <strong>de</strong> se dar seguimento ao processo, tendo-se em vista<br />
as peculiarida<strong>de</strong>s relativas aos usos prioritários da água na região Nor<strong>de</strong>ste.<br />
Portanto, cremos ser da maior importância, antes <strong>de</strong> qualquer ação no sentido<br />
<strong>de</strong> se privatizar a CHESF, seja em bloco ou fracionada, estudar com bastante<br />
serieda<strong>de</strong> uma forma <strong>de</strong> solucionar, <strong>de</strong> maneira <strong>de</strong>finitiva, o dilema vivido atualmente,<br />
que po<strong>de</strong>rá vir a exacerbar-se no futuro – caso nada se faça para equacionar<br />
o problema –, entre o uso da água para suprimento das necessida<strong>de</strong>s relativas ao<br />
sustento e à sobrevivência humana, ou para geração <strong>de</strong> energia elétrica, sem que<br />
uma das opções prejudique a outra.<br />
Cremos que isso po<strong>de</strong>rá ser conseguido mediante substancial alteração na<br />
matriz energética do Nor<strong>de</strong>ste, baseada principalmente no consumo mais intensivo<br />
<strong>de</strong> gás natural para geração em usinas termelétricas, liberando, assim, as águas do<br />
rio São Francisco para o atendimento <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong>s para as quais não existem<br />
alternativas, quais sejam o abastecimento para <strong>de</strong>sse<strong>de</strong>ntação e higiene humanas,<br />
<strong>de</strong>sse<strong>de</strong>ntação <strong>de</strong> rebanhos e irrigação <strong>de</strong> lavouras, numa região comprovadamente<br />
carente <strong>de</strong> recursos hídricos.<br />
Essa é, certamente, a maneira mais a<strong>de</strong>quada para garantir que a região<br />
Nor<strong>de</strong>ste possa dispor, concomitantemente, dos recursos hídricos e da energia elétrica<br />
necessários a seu <strong>de</strong>senvolvimento harmonioso e sustentado e à melhoria da<br />
qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> sua população.
46<br />
Seguro obrigatório <strong>de</strong> veículos, um<br />
direito <strong>de</strong>sconhecido<br />
Eduardo Bassit Lameiro da Costa<br />
Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados<br />
Área <strong>de</strong> Finanças<br />
O Seguro Obrigatório <strong>de</strong> Veículos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a sua criação, ainda que esporadicamente,<br />
sempre foi criticado. A partir do segundo semestre <strong>de</strong> 1999, contudo,<br />
essas críticas intensificaram-se, em função, principalmente, <strong>de</strong> ações judiciais questionando<br />
sua existência.<br />
Des<strong>de</strong> então, vários artigos têm abordado a matéria, a sua maioria, porém,<br />
com visão parcial ou distorcida do assunto. Pesquisas <strong>de</strong> opinião que visavam a<br />
enriquecer referidas reportagens <strong>de</strong>monstraram um surpreen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>sconhecimento<br />
das características básicas <strong>de</strong>sse seguro por parte dos que foram consultados -<br />
ressalte-se, todos eles potenciais beneficiários <strong>de</strong> suas coberturas - in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente<br />
da classe social ou econômica à qual pertenciam.<br />
O que se verifica é que o DPVAT - como é chamado o Seguro Obrigatório<br />
<strong>de</strong> Veículos - apesar <strong>de</strong> garantir toda a socieda<strong>de</strong>, com ônus apenas para os proprietários<br />
<strong>de</strong> veículos, não é tão conhecido pela população quanto outros direitos,<br />
como 13º salário, férias, FGTS, seguro-<strong>de</strong>semprego, aposentadoria, etc.<br />
Esse <strong>de</strong>sconhecimento, aliado à falta <strong>de</strong> transparência na gestão do seguro,<br />
que é repartida entre o Po<strong>de</strong>r Público e as seguradoras, tem levado muitos ao equívoco,<br />
no nosso enten<strong>de</strong>r, <strong>de</strong> exigir, <strong>de</strong> forma açodada, a extinção do DPVAT, ao<br />
invés <strong>de</strong> propor o seu aperfeiçoamento e maior divulgação à socieda<strong>de</strong>. Esses críticos<br />
<strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>ram tanto a proteção que o mesmo, bem ou mal, vem conferindo à<br />
socieda<strong>de</strong>, como a <strong>de</strong>stinação, prepon<strong>de</strong>rantemente social, dos seus recursos.<br />
Para se ter uma idéia, em 1998, foram captados pelo DPVAT cerca <strong>de</strong> 1 bilhão <strong>de</strong><br />
reais, e, em 1999, 1,15 bilhão, sendo que <strong>de</strong>sses valores o Fundo Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong><br />
recebeu, aproximadamente, 1 bilhão <strong>de</strong> reais.<br />
Nesse cenário, é preciso esclarecer que o DPVAT - Seguro Obrigatório <strong>de</strong><br />
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores <strong>de</strong> Via Terrestre ou por sua carga,<br />
a pessoas transportadas ou não - foi instituído pela <strong>Lei</strong> nº 6.194, <strong>de</strong> 19 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong><br />
1974, e tem sua origem no Decreto-<strong>Lei</strong> nº 73, <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 1966, que<br />
estabelece, na alínea “b” do artigo 20, os <strong>de</strong>nominados “seguros obrigatórios”, <strong>de</strong>ntre
Seguro obrigatório <strong>de</strong> veículos, um direito <strong>de</strong>sconhecido<br />
47<br />
eles o <strong>de</strong> “responsabilida<strong>de</strong> civil dos proprietários <strong>de</strong> veículos automotores <strong>de</strong> vias<br />
terrestre, fluvial, lacustre e marítima, <strong>de</strong> aeronaves e dos transportadores em geral”.<br />
A <strong>Lei</strong> nº 6.194/74 transformou esse seguro obrigatório, aplicável aos veículos<br />
automotores <strong>de</strong> via terrestre, <strong>de</strong> seguro <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> civil em seguro<br />
<strong>de</strong> danos pessoais, na forma hoje vigente.<br />
O seguro DPVAT tem sido objeto <strong>de</strong> uma série <strong>de</strong> regulamentações ao longo<br />
<strong>de</strong> sua vigência, sendo que, pela <strong>Lei</strong> nº 8.212, <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 1991, que “dispõe<br />
sobre a organização da Segurida<strong>de</strong> Social, institui Plano <strong>de</strong> Custeio e dá outras<br />
providências”, ficou <strong>de</strong>terminado às seguradoras que operam nesse seguro, o<br />
repasse ao SUS - Sistema Único <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong>, <strong>de</strong> 50% do valor total dos prêmios<br />
recolhidos para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados<br />
em aci<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> trânsito (art. 27, parágrafo único).<br />
Pelo Decreto nº 2.867, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1998, ficou <strong>de</strong>terminado que<br />
este repasse se efetivasse diretamente ao Fundo Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> - FNS, por<br />
intermédio da re<strong>de</strong> bancária arrecadadora.<br />
Pela <strong>Lei</strong> nº 9.503, <strong>de</strong> 23 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 1997, que “institui o Código <strong>de</strong><br />
Trânsito Brasileiro” (art. 78, parágrafo único), o equivalente a 10% dos recursos<br />
do FNS, ou seja, 5% do total, será repassado mensalmente ao Departamento<br />
Nacional <strong>de</strong> Trânsito - DENATRAN para aplicação exclusiva em programas<br />
<strong>de</strong>stinados à prevenção <strong>de</strong> aci<strong>de</strong>ntes.<br />
Desse modo, cabendo 45% ao FNS e 5% ao DENATRAN, às seguradoras,<br />
com os restantes 50%, compete o pagamento das in<strong>de</strong>nizações por morte<br />
ou por invali<strong>de</strong>z permanente <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong> aci<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> trânsito, bem como o<br />
reembolso das <strong>de</strong>spesas com assistência médica, até o limite estipulado, quando<br />
essas ocorrerem com médico ou hospital privado não vinculado ao SUS.<br />
Porém, <strong>de</strong>ssa parte que cabe às seguradoras, outras <strong>de</strong>stinações <strong>de</strong> recursos<br />
são efetuadas, sem explicação plausível para tanto, constituindo-se, na verda<strong>de</strong>, na<br />
causa principal das críticas contun<strong>de</strong>ntes que são formuladas ao DPVAT.<br />
Sob o amparo <strong>de</strong> resolução do Conselho Nacional <strong>de</strong> Seguros Privados –<br />
CNSP, percentual equivalente a 3,35% do total arrecadado com o DPVAT é distribuído<br />
para a Superintendência <strong>de</strong> Seguros Privados - SUSEP, para o Sindicato dos<br />
Corretores <strong>de</strong> Seguros - SINCOR e para a Fundação Escola Nacional <strong>de</strong> Seguros -<br />
FUNENSEG. Também são transferidos recursos para a Associação Brasileira <strong>de</strong><br />
Departamentos <strong>de</strong> Trânsito - ABDETRAN e para a Fe<strong>de</strong>ração Nacional das Empresas<br />
<strong>de</strong> Seguros Privados - FENASEG.<br />
As coberturas do DPVAT, até 29 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 2000, eram:<br />
- por morte: R$ 5.081,79 por vítima;<br />
- por invali<strong>de</strong>z permanente: R$ 5.081,79 por pessoa;
48<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
- <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> assistência médica (DAMS): até R$ 1.524,54 por pessoa.<br />
A partir <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2000, conforme <strong>de</strong>cisão da própria SUSEP, os valores<br />
das in<strong>de</strong>nizações por morte e por invali<strong>de</strong>z permanente foram aumentados para R$<br />
6.245,09, permanecendo inalterado, porém, o valor para reembolso das <strong>de</strong>spesas<br />
médicas. Uma vez que a existência do DPVAT vem sendo seriamente questionada<br />
e a elevação do valor das in<strong>de</strong>nizações ocorre sem alteração do custo <strong>de</strong>sse seguro,<br />
é lícito supor, ressalvada uma improvável coincidência a respeito, que esse aumento<br />
é um sinal <strong>de</strong> que até os responsáveis pela gestão do seguro obrigatório também<br />
já reconhecem que ele precisa ser revisto, sob pena <strong>de</strong> vir a ser extinto.<br />
Os procedimentos existentes para pagamento das in<strong>de</strong>nizações por morte,<br />
invali<strong>de</strong>z permanente ou reembolso <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas médicas e suplementares são os<br />
seguintes:<br />
A) a vítima ou beneficiário po<strong>de</strong> se dirigir a qualquer das seguradoras conveniadas<br />
para solicitar a in<strong>de</strong>nização;<br />
B) as exigências quanto à documentação se restringem à apresentação dos<br />
seguintes documentos:<br />
I - no caso <strong>de</strong> morte:<br />
- certidão <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong> policial sobre a ocorrência;<br />
- certidão <strong>de</strong> óbito;<br />
- documento comprobatório da qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> beneficiário;<br />
II - no caso <strong>de</strong> invali<strong>de</strong>z permanente:<br />
- além da ocorrência policial, prova <strong>de</strong> atendimento à vítima por hospital,<br />
ambulatório ou médico-assistente;<br />
- relatório do médico-assistente atestando o grau <strong>de</strong> invali<strong>de</strong>z do órgão ou<br />
membro atingido;<br />
III - no caso <strong>de</strong> reembolso <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> assistência médica:<br />
- além da ocorrência policial, prova <strong>de</strong> atendimento da vítima por hospital,<br />
ambulatório ou médico-assistente.<br />
De acordo com as normas em vigor, o pagamento das in<strong>de</strong>nizações pelas<br />
companhias seguradoras não <strong>de</strong>ve ultrapassar o prazo <strong>de</strong> cinco dias úteis.<br />
O mais importante, do ponto <strong>de</strong> vista social, quanto ao seguro DPVAT, refere-se<br />
a algumas <strong>de</strong> suas especiais características:<br />
- regido pela teoria do risco, obriga o pagamento das in<strong>de</strong>nizações in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente<br />
da existência <strong>de</strong> culpa;<br />
- a importância segurada não é dividida, são pagas tantas in<strong>de</strong>nizações quantas<br />
forem as vítimas;
Seguro obrigatório <strong>de</strong> veículos, um direito <strong>de</strong>sconhecido<br />
49<br />
- as in<strong>de</strong>nizações são pagas mesmo que <strong>de</strong>terminado veículo produza vítima<br />
em mais <strong>de</strong> um aci<strong>de</strong>nte durante o ano;<br />
- as in<strong>de</strong>nizações são pagas à vítima ou aos seus her<strong>de</strong>iros legais, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente<br />
da i<strong>de</strong>ntificação do veículo; e<br />
- as in<strong>de</strong>nizações são pagas mesmo que para o veículo não tenha sido contratado<br />
o seguro.<br />
Por outro lado, não po<strong>de</strong>mos nos esquecer do custo anual do DPVAT: R$<br />
51,62 para os automóveis <strong>de</strong> passeio. O prêmio médio pago, no ano <strong>de</strong> 1999, foi <strong>de</strong><br />
R$ 50,97, levando-se em conta que, da frota total brasileira, segundo números estimados<br />
pelos Departamentos Estaduais <strong>de</strong> Trânsito (DETRAN), uma parcela expressiva<br />
(22,6 milhões <strong>de</strong> veículos) pagou o seguro. Muito embora este valor corresponda<br />
ao que normalmente se gasta para encher apenas um tanque <strong>de</strong> combustível,<br />
muitos ainda consi<strong>de</strong>ram elevado o custo do seguro obrigatório <strong>de</strong> veículos.<br />
Da mesma forma, paradoxalmente, criticam o baixo valor das suas coberturas,<br />
<strong>de</strong>sconhecendo que uma coisa está atrelada à outra.<br />
Diante dos argumentos expostos, não resta a menor dúvida, pelo menos na<br />
nossa visão, que o DPVAT, principalmente pelas suas características como seguro,<br />
tem a <strong>de</strong>sempenhar relevante função social. A sua simples extinção, portanto, mais<br />
prejuízos do que benefícios traria à socieda<strong>de</strong>.<br />
Isto, contudo, não significa que o DPVAT não <strong>de</strong>va ser questionado ou que<br />
seu <strong>de</strong>sempenho e gestão não possam melhorar. Por certo que sim, caso este seguro<br />
venha a ser objeto <strong>de</strong> maior e melhor divulgação à socieda<strong>de</strong>. Igual raciocínio,<br />
quanto ao aprimoramento do DPVAT, também é válido se o seguro vier a dispor <strong>de</strong><br />
controle mais eficaz que permita a comparação entre os valores repassados ao Fundo<br />
Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> e os efetivamente gastos pelos hospitais conveniados com as<br />
vítimas <strong>de</strong> aci<strong>de</strong>ntes automobilísticos.<br />
Desse modo, <strong>de</strong>cisões quanto à eventual elevação do percentual dos recursos<br />
que cabe ao FNS, aumento dos prêmios do DPVAT, majoração dos valores das<br />
coberturas, alteração dos percentuais hoje repassados às instituições ou, inclusive,<br />
quanto à sua extinção, po<strong>de</strong>riam ser melhor analisadas, com a necessária transparência<br />
das suas reais conseqüências para a socieda<strong>de</strong>.
50 Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas<br />
da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
e em gastos sociais<br />
Fernando Álvares Correia Dias<br />
José Fernando Cosentino Tavares<br />
Consultores <strong>de</strong> Orçamento e <strong>de</strong> Fiscalização<br />
Financeira da Câmara dos Deputados<br />
I – Introdução<br />
Quando este texto foi escrito, tramitava no Congresso Nacional a Proposta<br />
<strong>de</strong> Emenda à Constituição nº 85, <strong>de</strong> 1999. A PEC previa a <strong>de</strong>svinculação, <strong>de</strong> órgão,<br />
fundo ou <strong>de</strong>spesa, <strong>de</strong> 20% da arrecadação <strong>de</strong> impostos e contribuições sociais da<br />
União e seus adicionais e acréscimos, no período <strong>de</strong> 2000 a 2007 1 . A Desvinculação<br />
<strong>de</strong> Receitas da União – DRU, <strong>de</strong> que trata a PEC, substitui o Fundo <strong>de</strong> Estabilização<br />
Fiscal – FEF, extinto em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1999.<br />
O que distingue a DRU significativamente do FEF é a <strong>de</strong>terminação <strong>de</strong> que<br />
a base <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> transferências a estados, DF e municípios não seja reduzida 2 ,<br />
referindo-se às repartições constitucionais das receitas do imposto sobre operações<br />
financeiras inci<strong>de</strong>nte sobre o ouro, do imposto <strong>de</strong> renda e do imposto sobre produtos<br />
industrializados, do imposto territorial rural e da contribuição social do Salárioeducação<br />
3 .<br />
Era provável sua aprovação em meados <strong>de</strong> março, na forma <strong>de</strong> substitutivo<br />
oriundo da Câmara. A proposta orçamentária para 2000, embora encaminhada em<br />
final <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1999, tinha sido elaborada já levando em conta os efeitos <strong>de</strong>ssa<br />
PEC. Com isso, a aprovação do orçamento foi protelada para que não fosse sancionado<br />
antes da promulgação da Emenda Constitucional.<br />
A cada prorrogação <strong>de</strong>sse Fundo, e agora com a proposta <strong>de</strong> <strong>de</strong>svinculação,<br />
renova-se a polêmica. Há os que se posicionam a favor das vinculações, pois <strong>de</strong>fen-<br />
1 O substitutivo reduziu o período <strong>de</strong> vigência <strong>de</strong>sse mecanismo para até 2003.<br />
2 Com o Fundo <strong>de</strong> Estabilização Fiscal, até o fim do ano passado parte das transferências<br />
constitucionais vinham sendo objeto da <strong>de</strong>svinculação. Negociação em andamento entre o governo<br />
fe<strong>de</strong>ral e os estados po<strong>de</strong>rá resultar na <strong>de</strong>volução, em 2000, da diferença dos valores retidos pelo FEF<br />
em <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1999. Quanto aos municípios brasileiros, sua perda em 1999 totalizou menos <strong>de</strong> R$<br />
360 milhões, pois a EC nº 17/97 estabeleceu compensações calculadas em percentuais crescentes da<br />
base <strong>de</strong> repartição das receitas.<br />
3 No substitutivo foi acrescentado que a cota-parte fe<strong>de</strong>ral da receita do salário-educação<br />
também seria preservada integralmente.
Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
51<br />
e em gastos sociais<br />
<strong>de</strong>m o aumento dos gastos ditos sociais 4 . Há, do outro lado, os que <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>m o<br />
ajuste <strong>fiscal</strong> e, em conseqüência, a <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> quaisquer receitas, inclusive<br />
aquelas do orçamento da segurida<strong>de</strong> social.<br />
Esses últimos buscam negar o impacto <strong>de</strong>sse mecanismo na estrutura do<br />
orçamento e dos gastos públicos 5 . Argumentam que não haverá redução <strong>de</strong> recursos<br />
<strong>de</strong>stinados à Previdência Social, porque o gasto com aposentadorias e pensões<br />
é incomprimível: não só tudo o que se arrecada sob forma <strong>de</strong> contribuições previ<strong>de</strong>nciárias<br />
será gasto com benefícios, como existe déficit consi<strong>de</strong>rável (da or<strong>de</strong>m<br />
<strong>de</strong> R$ 10 bilhões, estimados para 2000), que continuará a ser coberto pelo orçamento<br />
6 . Para respon<strong>de</strong>r a suspeitas <strong>de</strong> que a DRU <strong>de</strong>svia recursos <strong>de</strong> suas finalida<strong>de</strong>s<br />
sociais, <strong>de</strong>monstram que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1996 até a proposta <strong>de</strong> 2000, as dotações dos<br />
Ministérios da Saú<strong>de</strong> e da Educação vêm crescendo. Por fim, afirmam que a DRU<br />
não significa elevação no montante <strong>de</strong> receitas disponíveis para o governo fe<strong>de</strong>ral,<br />
e que não há centavo, obtido com a <strong>de</strong>svinculação, <strong>de</strong>stinado ao pagamento <strong>de</strong><br />
juros. Tudo isso é verda<strong>de</strong>.<br />
Depois <strong>de</strong> <strong>de</strong>screvermos resumidamente os mecanismos em questão, procuraremos<br />
mostrar que efetivamente <strong>de</strong>terminadas funções sociais do governo não<br />
<strong>de</strong>ixam <strong>de</strong> ser atendidas por existir a DRU, mas mostraremos também on<strong>de</strong> esse<br />
mecanismo propicia a poupança <strong>de</strong> recursos, antes vinculados, para a formação do<br />
saldo primário positivo que o ajuste <strong>fiscal</strong> exige. Este trabalho seria enriquecido se<br />
tivéssemos tido a oportunida<strong>de</strong> ainda <strong>de</strong> apresentar e comentar, nesse contexto,<br />
dados sobre o rápido crescimento recente das receitas vinculadas ao orçamento da<br />
segurida<strong>de</strong> social.<br />
4 Assim como contra a <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas dos fundos <strong>de</strong> participação <strong>de</strong> estados e<br />
municípios. São gastos sociais aqueles com saú<strong>de</strong>, previdência e assistência social, educação e trabalho<br />
– predominantemente as <strong>de</strong>spesas do Fundo <strong>de</strong> Amparo ao Trabalhador - FAT.<br />
5 Ver, a propósito, a “Nota à Imprensa sobre DRU”, <strong>de</strong> 27/01/00, em que o Ministério do<br />
Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Internet, buscou respon<strong>de</strong>r a “matérias vinculadas na imprensa<br />
hoje e ontem”. Chama a atenção equívoco cometido no item 4., on<strong>de</strong> se consi<strong>de</strong>ra que toda a<br />
arrecadação da CPMF se vincula à Saú<strong>de</strong>, quando parte <strong>de</strong> fato é <strong>de</strong>stinada à Previdência. Uma afirmação<br />
ambígua da Nota é a <strong>de</strong> que “A DRU objetiva tão somente dar uma maior flexibilida<strong>de</strong> à alocação<br />
<strong>de</strong> recursos, não significando elevação no montante <strong>de</strong> receitas públicas disponíveis para o governo<br />
fe<strong>de</strong>ral”. No passado foram também registradas imperfeições na comunicação oficial; por exemplo,<br />
contrariamente ao que se afirmou em alguns documentos quando da prorrogação do FEF (pela Emenda<br />
Constitucional - EC nº 10/96), a União continuou a ser favorecida com 5,6% do total da receita do IR,<br />
e não apenas com a parcela retida nas fontes em relação aos pagamentos efetuados pela administração<br />
fe<strong>de</strong>ral. Encontra-se, adiante, uma <strong>de</strong>scrição <strong>de</strong>sses dois componentes.<br />
6 Esse raciocínio po<strong>de</strong> ser estendido à previdência dos servidores públicos fe<strong>de</strong>rais, porque as<br />
receitas da contribuição para o respectivo plano <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> são menos <strong>de</strong> 1/5 das <strong>de</strong>spesas.
52<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
II – Mecanismos <strong>de</strong> <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da união: o Fundo <strong>de</strong><br />
Estabilização Fiscal e a DRU<br />
O FEF prece<strong>de</strong>u a adoção do Plano Real, então com a nome <strong>de</strong> Fundo Social<br />
<strong>de</strong> Emergência 7 , tendo sido prorrogado duas vezes, como vemos abaixo.<br />
TABELA I<br />
MECANISMOS DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO,<br />
1994-2003<br />
LEGISLAÇÃO E VIGÊNCIA<br />
Denominação Legislação Exercícios<br />
Fundo Social <strong>de</strong> Emergência – FSE ECR nº 1/94 1994 e 1995<br />
Fundo <strong>de</strong> Estabilização Fiscal – FEF 1 EC nº 10/96 1996 e 1º sem. 1997<br />
Fundo <strong>de</strong> Estabilização Fiscal (prorrogação) – FEF 2 EC nº 17/97 2º sem. 1997 a 1999<br />
Fonte: Desvinculação Legislação citada. <strong>de</strong> Recursos Elaboração da União dos autores<br />
– DRU PEC nº 85/99 2000 a 2003<br />
Cessados os efeitos da inflação sobre os orçamentos, mecanismo <strong>de</strong>ssa natureza<br />
tornou-se indispensável para assegurar: (a) senão o equilíbrio, ao menos a<br />
melhoria das contas públicas, a começar pelas fe<strong>de</strong>rais, enquanto não se materializassem<br />
financeiramente as reformas constitucionais pretendidas; e (b) maior flexibilida<strong>de</strong><br />
na elaboração e na execução dos orçamentos da União, mesmo que a maior<br />
parte dos recursos liberados acabasse se <strong>de</strong>stinando ao <strong>de</strong>senvolvimento das<br />
mesmas ações às quais antes estivessem vinculados 8 .<br />
Nem o FSE nem o FEF chegaram a constituir exatamente um fundo, como<br />
enten<strong>de</strong> a legislação orçamentária e financeira e a contabilida<strong>de</strong> pública. Os recursos<br />
<strong>de</strong>svinculados foram – e continuarão sendo, com a DRU – apenas uma fonte<br />
ordinária 9 . A partir <strong>de</strong> 1996, aten<strong>de</strong>ndo ao que dispôs a EC nº 10/96, as Demonstrações<br />
da Execução Orçamentária da União, publicadas pela Secretaria do Tesou-<br />
7 A proposição original do FSE diferia em aspectos importantes da Emenda finalmente aprovada.<br />
Comparativamente, o substitutivo tornou menores o aumento da carga tributária e as perdas <strong>de</strong> receitas dos<br />
governos subnacionais e maiores o percentual <strong>de</strong> <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas e a perda do Fundo <strong>de</strong> Amparo<br />
ao Trabalhador; foi ainda bem mais racional quanto à criação ou ampliação <strong>de</strong> incidências tributárias.<br />
8 A questão da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas e fontes, para livre uso no mesmo exercício ou no seguinte,<br />
evoluiu muito <strong>de</strong>s<strong>de</strong> então. Outras formas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sapropriação foram implementadas. Foge aos propósitos<br />
<strong>de</strong>ste trabalho esgotar o assunto.<br />
9 A técnica orçamentária supõe que receitas e <strong>de</strong>spesas sejam classificadas, <strong>de</strong>ntre outros critérios,<br />
segundo a fonte <strong>de</strong> recursos, refletindo a vinculação constitucional ou legal das receitas e, nas <strong>de</strong>spesas, a<br />
origem dos recursos que as custearão. A fonte vincula parcelas <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas receitas às <strong>de</strong>spesas em que<br />
po<strong>de</strong>m ser usadas. A fonte ordinária é aquela <strong>de</strong> livre utilização ou grau nulo <strong>de</strong> vinculação, po<strong>de</strong>ndo os<br />
recursos correspon<strong>de</strong>ntes ser redirecionados para quaisquer <strong>de</strong>spesas autorizadas na lei orçamentária.
Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
53<br />
e em gastos sociais<br />
ro Nacional – STN, passaram a incluir o <strong>de</strong>monstrativo da origem <strong>de</strong>sses recursos.<br />
Pouco mudou do FSE para o FEF 10 . Contudo, o FEF 2 foi negociado em<br />
1997 pelo Po<strong>de</strong>r Executivo com algum sacrifício para a União, que se obrigou a<br />
ressarcir os municípios em percentuais crescentes da arrecadação do Imposto <strong>de</strong><br />
Renda - IR consi<strong>de</strong>rada na formação da base <strong>de</strong> cálculo do fundo <strong>de</strong> participação<br />
dos municípios (FPM) 11 .<br />
Já a DRU traz diferenças significativas em relação a seu antecessor. As mais<br />
importantes são as seguintes: (a) a União passa a entregar aos fundos <strong>de</strong> participação<br />
<strong>de</strong> estados e municípios e aos fundos regionais <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento (FNO,<br />
FNE e FCO) a totalida<strong>de</strong> das transferências constitucionais, ou seja, nenhuma incidência<br />
específica do IR reverte exclusivamente para a União. Isso significa, relativamente<br />
a 1999, uma perda para a União estimada em R$ 2 bilhões; (b) apenas<br />
contribuições sociais, além <strong>de</strong> impostos, são objeto da <strong>de</strong>svinculação; (c) a <strong>de</strong>svinculação<br />
é linear, em proporção da arrecadação. Isso em parte se <strong>de</strong>ve a que (i)<br />
calcula-se o valor <strong>de</strong>svinculado sobre toda a arrecadação; (ii) nenhuma incidência<br />
específica reverte exclusivamente para o montante <strong>de</strong>svinculado; e (d) o prazo <strong>de</strong><br />
vigência da DRU (2000 a 2003, abrangendo o período do próximo plano plurianual)<br />
seria bem maior que o dos “fundos” anteriores 12 .<br />
O Quadro I mostra o volume <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong>svinculados por força do FSE e<br />
FEF nos seis exercícios financeiros em que vigoraram, bem como da DRU, e quanto<br />
foi usado. Já a Tabela II mostra a estrutura e a composição dos Fundos e da DRU.<br />
10 É interessante observar que a Emenda Constitucional <strong>de</strong> Redação - ECR n° 1/94, ao instituir<br />
o FSE, estabeleceu que seus recursos seriam “... aplicados no custeio das ações dos sistemas <strong>de</strong><br />
saú<strong>de</strong> e educação, benefícios previ<strong>de</strong>nciários e auxílios assistenciais <strong>de</strong> prestação continuada ....”,<br />
mascarando-se o propósito primeiro <strong>de</strong> <strong>de</strong>svincular recursos do orçamento da segurida<strong>de</strong> social, ainda<br />
que generalizasse seu emprego em “... outros programas <strong>de</strong> relevante interesse econômico e social”. Já<br />
na EC nº 10/96, que instituiu o FEF, acrescentou-se o vocábulo “prioritariamente” à redação. Com isso<br />
diminuíram as críticas quanto à <strong>de</strong>stinação dos recursos <strong>de</strong>svinculados.<br />
11 Determinou a EC nº 17/97 que a União repassaria ao municípios 1,56%, 1,875% e 2,5% da<br />
arrecadação do IR consi<strong>de</strong>rada na constituição do FPM, respectivamente no segundo semestre <strong>de</strong> 1997,<br />
em 1998 e em 1999.<br />
12 Deve-se consi<strong>de</strong>rar que, quanto maior o prazo, menos freqüentes as negociações do Executivo<br />
com o Congresso Nacional, no caso <strong>de</strong> vir a ser necessária nova prorrogação da DRU. Na PEC<br />
original, seu prazo <strong>de</strong> vigência era ainda superior (correspon<strong>de</strong>nte ao dos dois próximos planos plurianuais).
54<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
QUADRO I<br />
DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO, 1994-2000<br />
EXECUÇÃO COM RECURSOS DO FEF/DRU<br />
(R$ milhões)<br />
1994 – FSE (1) Exercício Receita Desvinculada Empenhos Liquidados<br />
... 12.568<br />
1995 – FSE ... 24.807<br />
1996 – FEF 26.316 (2) 24.354<br />
1997 – FEF 28.391 (3) 23.923<br />
1998 – FEF 35.369 (4) 32.304<br />
1999 – FEF 31.080 (5) 24.909<br />
2000 – DRU (6) 41.509 41.509<br />
Fonte: Portarias da STN; Balanços Gerais da União; e consultas ao SIAFI. Elaboração dos autores.<br />
(1) Os valores registrados no SIAFI até junho foram convertidos em reais com base na URV do<br />
último dia do semestre, por <strong>de</strong>terminação legal. O valor seria bem maior em reais se usada URV média<br />
do período, mensais ou diárias.<br />
(2) Em janeiro e fevereiro não foram <strong>de</strong>duzidos dos fundos <strong>de</strong> participação os 5,6% do IR, nem<br />
o IR-fonte da União, por atraso na aprovação da EC nº 10/98. A respeito <strong>de</strong>sses dois componentes do<br />
FEF, ver Tabela II.<br />
(3) Por atraso na aprovação da EC nº 17/97 (somente veio a ocorrer em novembro), o percentual<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>svinculação, no caso do IR, foi substancialmente inferior entre julho e o primeiro <strong>de</strong>cêndio <strong>de</strong><br />
novembro.<br />
(4) Houve mudança <strong>de</strong> critério no cálculo da parcela do IR excluído <strong>de</strong> repartição com estados,<br />
municípios e fundos, com base na Nota Técnica nº 6/96, da então Assessoria <strong>de</strong> Orçamento e Fiscalização<br />
Financeira da Câmara.<br />
(5) Não integraram a base <strong>de</strong> cálculo do FEF as receitas do INSS e da CPMF.<br />
(6) Dados da proposta orçamentária.
Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
55<br />
e em gastos sociais<br />
Mecanismo<br />
e Vigência<br />
FSE<br />
ECR nº 1/94<br />
(1994 - 95) (1)<br />
FEF 1<br />
EC nº 10/96<br />
(1996 - 6/1997)<br />
FEF 2<br />
EC nº 17/97<br />
(7/1997 - 1999)<br />
DRU<br />
PEC nº 85/99<br />
(2000 - 2007)<br />
TABELA II<br />
DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO, 1994-2003<br />
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DOS FUNDOS E DA DRU<br />
Recursos Exclusivos da<br />
União via Fundo/DRU (1)<br />
1. IRRF - União (3)<br />
2. 5,6% do IR (4)<br />
3. Parcela do IOF (5) e ITR<br />
4. Adicional do CSLL <strong>de</strong><br />
instituições financeiras (6)<br />
5. PIS <strong>de</strong> instituições<br />
financeiras (7)<br />
1. IRRF- União (3)<br />
2. 5,6% do IR (4)<br />
3. Parcela do IOF (5)<br />
4. Adicional do CSLL <strong>de</strong><br />
instituições financeiras (6)<br />
5. PIS <strong>de</strong> instituições<br />
financeiras (7)<br />
1. IRRF- União (3)<br />
2. 5,6% do IR (4)5 3. Parcela do<br />
IOF (4)<br />
4. Adicional do CSLL <strong>de</strong><br />
instituições financeiras (6)<br />
5. PIS <strong>de</strong> instituições<br />
financeiras (7)<br />
Nenhum<br />
1. Impostos, após <strong>de</strong>dução <strong>de</strong>:<br />
a) IRRF- União<br />
b) 5,6% do IR<br />
Base <strong>de</strong> Cálculo dos 20% (2) Compensações a<br />
Municípios<br />
c) Transferências constitucionais do IR e IPI,<br />
calculadas, no caso do IR, sem a) e b)<br />
d) Parcelas do IOF e ITR<br />
e) Adicional do CSLL<br />
2. Contribuições<br />
1. Impostos, após <strong>de</strong>dução <strong>de</strong>:<br />
a) IRRF- União<br />
b) 5,6% do IR<br />
c) Transferências constitucionais do IR, do<br />
IPI e do ITR, calculadas, no caso do IR, sem<br />
a) e b)<br />
d) Parcela do IOF<br />
e) Adicional do CSLL<br />
2. Contribuições<br />
1. Impostos, após <strong>de</strong>dução <strong>de</strong>:<br />
a) IRRF - União<br />
b) 5,6% do IR<br />
c) Transferências constitucionais do IR, do<br />
IPI e do ITR, calculadas, no caso do IR, sem<br />
a) e b)<br />
d) Parcela do IOF<br />
e) Adicional do CSLL<br />
2. Contribuições<br />
1. Impostos, <strong>de</strong>les <strong>de</strong>duzidas as transferências<br />
constitucionais<br />
2. Contribuições sociais<br />
Nenhuma<br />
Nenhuma<br />
Da arrecadação do IR,<br />
excluído o IRRF –<br />
União (8) :<br />
- 1,56% (7- 12/1997);<br />
- 1,875 (1998);<br />
- 2,5% (1999)<br />
Nenhuma<br />
Fonte: Legislação citada e Notas Técnicas da Consultoria <strong>de</strong> Orçamento da Câmara dos Deputados. Elaboração dos autores.<br />
(1) O Po<strong>de</strong>r Executivo, no momento <strong>de</strong> criação do FEF, tinha também como objetivo elevar<br />
globalmente as receitas, e para tanto foram editadas, em fins <strong>de</strong> 1993, medidas provisórias alterando a<br />
legislação tributária, posteriormente convertidas nas leis citadas adiante. O ganho <strong>de</strong> receita estimado,<br />
no caso das alterações da legislação do IR, seria inteiramente apropriado para o FSE. Mesmo com as<br />
mudanças havidas posteriormente, que praticamente suprimiram os acréscimos <strong>de</strong> tributação introduzidos<br />
pela legislação citada, não foi reduzido o percentual <strong>de</strong> referência para a apropriação das receitas<br />
pelo FSE/FEF, tendo-se mantido (o teto <strong>de</strong>) 5,6%.<br />
(2) 20% do produto da receita <strong>de</strong> todos os impostos e contribuições da União, instituídos ou a<br />
serem criados, até 1999. Contudo, antes <strong>de</strong> se proce<strong>de</strong>r a esta <strong>de</strong>svinculação, eram calculados e <strong>de</strong>duzidos:<br />
(i) dos recursos do imposto <strong>de</strong> renda que restam após os abatimentos indicados, as transferências<br />
aos fundos <strong>de</strong> participação e aos fundos regionais;(ii) do imposto sobre produtos industrializados IPI,<br />
as transferências aos fundos <strong>de</strong> participação e aos fundos regionais; e (iii) a partir <strong>de</strong> 1996, da receita
56<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
do ITR, a parcela <strong>de</strong> 50% pertencente aos Municípios. Os 20% são <strong>de</strong>duzidos, por outro lado, dos<br />
recursos do PIS-PASEP vinculados ao pagamento do seguro-<strong>de</strong>semprego e ao BNDES e antes do<br />
cálculo das transferências relativas ao IOF-ouro e dos recursos vinculados à manutenção e ao <strong>de</strong>senvolvimento<br />
do ensino.<br />
(3) O produto da arrecadação do imposto <strong>de</strong> renda retido na fonte sobre pagamentos efetuados<br />
pela União, inclusive suas autarquias e fundações, não se computando a citada arrecadação para o<br />
cálculo das transferências aos fundos <strong>de</strong> participação e aos fundos regionais, nem das <strong>de</strong>spesas com a<br />
manutenção e o <strong>de</strong>senvolvimento do ensino. (A CF <strong>de</strong>termina, reciprocamente, que pertence aos Estados<br />
e ao DF o produto da arrecadação do IR inci<strong>de</strong>nte na fonte sobre rendimentos pagos por eles, suas<br />
autarquias e suas fundações.)<br />
(4) Este componente teve montante limitado a 5,6% da arrecadação do IR: a parcela da receita<br />
do tributo <strong>de</strong>corrente das alterações produzidas pelas <strong>Lei</strong>s n°s 8.848, 8.849 e 8.894, <strong>de</strong> 1994, e modificações<br />
posteriores, que não se computava para o cálculo das transferências aos fundos <strong>de</strong> participação<br />
e aos fundos regionais, nem dos recursos para a manutenção e o <strong>de</strong>senvolvimento do ensino. Esse<br />
parâmetro –teto foi estabelecido em percentual porque todos os <strong>de</strong>mais componentes do Fundo po<strong>de</strong>riam<br />
ser i<strong>de</strong>ntificados e avaliados pelo sistema <strong>de</strong> arrecadação da SRFl e comunicados à STN, para<br />
apropriação. As incidências ou parcelas que integraram o FEF podiam ser divididas em dois grupos:<br />
um, para o qual os valores <strong>de</strong> receitas eram, originalmente, i<strong>de</strong>ntificáveis sem dificulda<strong>de</strong>, e outro que,<br />
dada a ausência <strong>de</strong> informações específicas, eram estimados. Assim, podiam ser precisamente avaliadas:<br />
(i) a arrecadação do IRRF sobre os pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações<br />
(em gran<strong>de</strong> parte relativos a salários); (ii) a parcela relativa ao diferencial da alíquota da CSLL das<br />
instituições financeiras; (iii) as receitas da contribuição para o PIS das instituições financeiras; e (iv) o<br />
efeito sobre as receitas das alterações na legislação do IOF previstas na <strong>Lei</strong> nº 8.894/94. Eram estimados,<br />
dada a falta <strong>de</strong> informações específicas, os ganhos <strong>de</strong> receita do IR <strong>de</strong>correntes das mudanças<br />
introduzidas pelas <strong>Lei</strong>s n°s 8.848 e 8.849, <strong>de</strong> 1994, e suas posteriores modificações. A citada legislação<br />
havia alterado provisoriamente as alíquotas progressivas do imposto <strong>de</strong> renda da pessoa física -<br />
IRPF <strong>de</strong> 15% e 25% para 15%, 26,6% e 35%, e elevado as alíquotas e a base <strong>de</strong> cálculo das retenções<br />
na fonte sobre fundos estrangeiros e divi<strong>de</strong>ndos.<br />
(5) A parcela da receita do imposto sobre operações financeiras <strong>de</strong>corrente da alteração produzida<br />
pela <strong>Lei</strong> n° 8.894/94, e suas modificações posteriores, não se computando essa parcela para o<br />
cálculo das <strong>de</strong>spesas com a manutenção e o <strong>de</strong>senvolvimento do ensino.<br />
(6) A parcela da receita <strong>de</strong>corrente da elevação temporária para 30% da alíquota da contribuição<br />
social sobre o lucro líquido aplicável sobre resultados <strong>de</strong> instituições financeiras, sujeita a alteração<br />
por lei ordinária.<br />
(7) A parcela da receita da contribuição para o Programa <strong>de</strong> Integração Social <strong>de</strong>vida pelas<br />
instituições financeiras, com aplicação da alíquota <strong>de</strong> 0,75%, sujeita a alteração por lei ordinária, sobre<br />
a receita bruta operacional, antes da <strong>de</strong>stinação <strong>de</strong> recursos para financiar o seguro-<strong>de</strong>semprego e as<br />
aplicações financeiras pelo BNDES.<br />
(8) As percentagens, aplicadas sobre a arrecadação do IR consi<strong>de</strong>rada para o cálculo do FPM,<br />
<strong>de</strong>scontado apenas o IR-fonte arrecadado pela União relativo a seus próprios pagamentos (IRRF-União),<br />
foram estabelecidas <strong>de</strong> forma a compensar o abatimento <strong>de</strong> 5,6% das receitas do IR e parte do <strong>de</strong>sconto<br />
do IRRF-União, que assim passaram a valer totalmente apenas para o fundo <strong>de</strong> participação dos Estados.<br />
III – O <strong>de</strong>bate sobre a legalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> a proposta orçamentária ter sido<br />
elaborada sob o pressuposto da <strong>de</strong>svinculação<br />
Alguns setores <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ram a idéia <strong>de</strong> que o orçamento não po<strong>de</strong>ria tramitar<br />
enquanto não fosse promulgada a Emenda Constitucional que estabelecia a <strong>de</strong>svin-
Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
57<br />
e em gastos sociais<br />
culação <strong>de</strong> receitas nele prevista: estava em <strong>de</strong>sacordo com a Constituição e com<br />
<strong>de</strong>cisão do Tribunal <strong>de</strong> Contas da União 13 . De fato, recentemente a EC nº 20, <strong>de</strong><br />
1998, proibira a utilização <strong>de</strong> recursos das contribuições <strong>de</strong> empregadores e trabalhadores<br />
à segurida<strong>de</strong> social para fins outros que não o pagamento <strong>de</strong> benefícios<br />
previ<strong>de</strong>nciários, e o TCU enten<strong>de</strong>u (Decisão nº 620, <strong>de</strong> 1998) que não se aplicava<br />
às receitas da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira a <strong>de</strong>dução<br />
<strong>de</strong> 20% para o FEF. O orçamento anterior, <strong>de</strong> 1999, havia sido aprovado <strong>de</strong> acordo<br />
com essas duas regras.<br />
Outros, aceitando que a proposta orçamentária já incorporasse os efeitos da<br />
<strong>de</strong>svinculação, argumentaram com interpretação mais elástica do art. 67 da lei <strong>de</strong><br />
diretrizes orçamentárias. Ele prevê que a proposta orçamentária possa conter receitas,<br />
e <strong>de</strong>spesas correspon<strong>de</strong>ntes, condicionadas a alterações na legislação, ainda que,<br />
a rigor, apenas para “propostas <strong>de</strong> alterações na legislação tributária e das contribuições<br />
que sejam objeto <strong>de</strong> projeto <strong>de</strong> lei ou <strong>de</strong> medida provisória que esteja em tramitação<br />
no Congresso Nacional.” Essa interpretação mais flexível consistiria em também<br />
consi<strong>de</strong>rar receitas as fontes em que cada item da arrecadação se <strong>de</strong>sdobra.<br />
No entanto, o mais forte argumento a favor da PEC, e <strong>de</strong> que a tramitação do<br />
projeto <strong>de</strong> lei do orçamento prosseguisse, foi o <strong>de</strong> que, sem a <strong>de</strong>svinculação, os<br />
resultados fiscais almejados para o exercício <strong>de</strong> 2000 e seguintes correriam o risco<br />
<strong>de</strong> não se viabilizar, e a LDO não seria cumprida em relação ao superávit mínimo<br />
para o exercício. Em situações <strong>de</strong> menor urgência, o FEF e suas prorrogações ganharam<br />
aprovação. Além disso, a DRU preservaria as receitas estaduais, municipais<br />
e regionais, ou seja, não significaria aumento dos recursos fe<strong>de</strong>rais disponíveis.<br />
Foi principalmente nesses termos que o Executivo <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>u a iniciativa. Contudo,<br />
o substitutivo que vier a sair da Comissão <strong>de</strong> Orçamento provavelmente não<br />
admitirá a <strong>de</strong>svinculação da contribuição <strong>de</strong> empregadores e trabalhadores para o<br />
INSS.<br />
IV – Principais efeitos da <strong>de</strong>svinculação e sua contribuição para atingimento<br />
da meta <strong>de</strong> superávit primário<br />
Não cabe aqui <strong>de</strong>bater vantagens e <strong>de</strong>svantagens <strong>de</strong> vinculações <strong>de</strong> receitas<br />
13 Para que se promovessem as correções, haveria duas hipóteses: a) <strong>de</strong> o Po<strong>de</strong>r Executivo<br />
encaminhar nova proposta (§ 5º do art. 166 da CF e Resolução nº 2/95 – CN); b) <strong>de</strong> o Po<strong>de</strong>r Legislativo<br />
emendar a proposta orçamentária, conforme dispõe o § 3º do art. 166 da CF. Sua <strong>de</strong>volução ao<br />
Executivo por iniciativa do Congresso não seria cabível, por ter o Parlamento todos os meios legais e<br />
materiais para obter informações sobre a matéria e promover as alterações necessárias. Entretanto,<br />
dificilmente se po<strong>de</strong>ria modificar a proposta a ponto <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r aos preceitos constitucionais em vigor<br />
e ainda assegurar que a meta <strong>de</strong> superávit primário prevista na LDO fosse alcançada.
58<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
orçamentárias, tema recorrente em finanças públicas. A Constituição <strong>de</strong> um lado<br />
veda a vinculação <strong>de</strong> receitas <strong>de</strong> impostos a órgão, fundo ou <strong>de</strong>spesa (art. 167, IV)<br />
– com as <strong>de</strong>vidas exceções –, e ao mesmo tempo <strong>de</strong>termina que as principais contribuições<br />
sociais financiem exclusivamente a segurida<strong>de</strong> (art. 195).<br />
A vantagem para a União do mecanismo do FEF estava em que (a) esterilizou<br />
ou <strong>de</strong>stinou ao atendimento <strong>de</strong> gastos fe<strong>de</strong>rais receitas vinculadas cuja administração<br />
cabia a entida<strong>de</strong>s situadas fora da órbita do Tesouro, como são os casos<br />
principalmente <strong>de</strong> estados, municípios e fundos regionais, o Fundo <strong>de</strong> Amparo ao<br />
Trabalhador – FAT e o Banco Nacional <strong>de</strong> Desenvolvimento Econômico e Social –<br />
BNDES. Desta forma, reduziu seu déficit <strong>fiscal</strong>, enquanto se aguardava, primeiro,<br />
a aprovação <strong>de</strong> reformas constitucionais, e <strong>de</strong>pois seus resultados; e (b) liberou<br />
receitas do orçamento da segurida<strong>de</strong> social para gastos <strong>de</strong> natureza <strong>fiscal</strong> 14 . O pagamento<br />
<strong>de</strong> juros e amortização da dívida são <strong>de</strong>spesas próprias do orçamento <strong>fiscal</strong>,<br />
com raras e específicas exceções.<br />
De início, a <strong>de</strong>svinculação teve como efeito predominante redistribuir fontes<br />
<strong>de</strong>ntro do próprio orçamento da segurida<strong>de</strong> social; a <strong>de</strong>speito do FEF, até 1998<br />
esse orçamento ainda recebia transferência <strong>de</strong> recursos do orçamento <strong>fiscal</strong>. Com o<br />
rápido aumento da arrecadação <strong>de</strong> contribuições sociais, evoluiu-se para uma situação<br />
em que, a partir <strong>de</strong> 1999, receitas da segurida<strong>de</strong> passaram a financiar gastos<br />
crescentes <strong>de</strong> caráter <strong>fiscal</strong> 15 , entre eles o superávit primário da União, cuja meta<br />
vem sendo fixada em lei.<br />
A DRU, por sua vez, <strong>de</strong>verá aten<strong>de</strong>r a uma situação ainda mais grave, revelada<br />
a partir <strong>de</strong> 1999 16 . Com a adoção <strong>de</strong> um severo programa <strong>de</strong> ajuste <strong>fiscal</strong>,<br />
voltado para a obtenção <strong>de</strong> superávits primários expressivos 17 , a permanência <strong>de</strong><br />
mecanismos <strong>de</strong> <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas é essencial, para coadjuvar o corte <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesas fe<strong>de</strong>rais. Des<strong>de</strong> esse exercício as receitas da segurida<strong>de</strong> social vêm sendo<br />
redirecionadas não para gastos fiscais, e sim para assegurar saldos positivos nas<br />
contas públicas.<br />
14 O Orçamento da União compõe-se dos orçamentos <strong>fiscal</strong> e da segurida<strong>de</strong> social, que se<br />
confun<strong>de</strong>m em um só documento; também faz parte da lei orçamentária o Orçamento <strong>de</strong> Investimento<br />
das estatais, este sim uma peça separada.<br />
15 A lei orçamentária <strong>de</strong> 1999 registra, no artigo 4º, parágrafo único, o fato <strong>de</strong> que o orçamento<br />
da segurida<strong>de</strong> social transferia para o orçamento <strong>fiscal</strong> pouco menos <strong>de</strong> R$ 500 milhões.<br />
16 Como não havia ainda substitutivo para o projeto <strong>de</strong> lei orçamentária, todos os valores aqui<br />
apresentados refletem as estimativas <strong>de</strong> receitas e as <strong>de</strong>spesas fixadas na proposta do Executivo, a<br />
menos que se afirme diferentemente.<br />
17 Em 1994, a União (exceto estatais) apurou superávit primário <strong>de</strong> 3,25% do PIB. Na fase do<br />
ajuste gradual, <strong>de</strong> 1995 a 1997, esse resultado piorou rapidamente, na média próximo a zero. Em 1998,<br />
houve superávit primário fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> 0,56% do PIB. Já em 1999, foi <strong>de</strong> 2,29% do PIB, e a meta para<br />
2000 é <strong>de</strong>, no mínimo, 2,65% do PIB.
Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
59<br />
e em gastos sociais<br />
Há na proposta R$ 41,5 bilhões consignados nas fontes 175 e 176 (recursos<br />
da <strong>de</strong>svinculação dos impostos e contribuições sociais e i<strong>de</strong>m, condicionados), que<br />
fazem parte das receitas ditas fiscais (em contraposição às receitas da segurida<strong>de</strong>).<br />
Desses recursos, como mostra o Quadro II, R$ 15,2 bilhões são provenientes do<br />
próprio orçamento <strong>fiscal</strong> (20% das receitas <strong>de</strong> impostos) 18 e R$ 26,3 bilhões do<br />
orçamento da segurida<strong>de</strong> social (20% das receitas das contribuições sociais que a<br />
proposta atribuiu ao orçamento da segurida<strong>de</strong>) 19 . Atenuando uma eventual perda<br />
<strong>de</strong> recursos da segurida<strong>de</strong>, R$ 12,9 bilhões dos recursos <strong>de</strong>svinculados “retornam”,<br />
i.e., são alocados ao orçamento da segurida<strong>de</strong>, enquanto R$ 28,6 bilhões se reorientam,<br />
segundo a proposta, para o orçamento <strong>fiscal</strong>.<br />
QUADRO II<br />
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2000<br />
ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DESVINCULADOS -<br />
FONTES 175 E 176<br />
(R$ milhões)<br />
Orçamento Origem Destinação Transferência<br />
Fiscal 15.241 28.606 13.365<br />
Segurida<strong>de</strong> 26.268 (1) 12.903 -13.365<br />
Total 41.509 41.509 0<br />
Fonte: PL nº 20/99 e Informações Complementares. Elaboração dos autores.<br />
(1) As tabelas estão sendo apresentadas na lei orçamentária <strong>de</strong> forma a que esse montante<br />
<strong>de</strong>svinculado da segurida<strong>de</strong> integre o rol <strong>de</strong> receitas do orçamento <strong>fiscal</strong>, evitando-se formalmente a<br />
apuração <strong>de</strong> resultado em que o orçamento da segurida<strong>de</strong> social transfira recursos ao <strong>fiscal</strong>.<br />
A proposta orçamentária implicava em superávit primário das contas fe<strong>de</strong>rais<br />
em 2000 <strong>de</strong> R$ 28,5 bilhões, equivalentes a 2,65% do PIB. É fácil ver por esses<br />
números o papel fundamental do mecanismo da DRU para que a meta seja alcançada.<br />
Não estivessem <strong>de</strong>svinculadas as receitas da segurida<strong>de</strong> social, a <strong>de</strong>stinação<br />
legal <strong>de</strong> cada uma das contribuições sociais estaria mantida e os recursos acabari-<br />
18 Dos quais R$ 14,5 bilhões referem-se a impostos e R$ 0,7 bilhão a receitas da dívida ativa,<br />
multas e juros <strong>de</strong> mora <strong>de</strong> tributos e contribuições.<br />
19 Esse valor po<strong>de</strong> estar superestimado, pois a proposta orçamentária i<strong>de</strong>ntificou como da<br />
segurida<strong>de</strong> social algumas receitas tipicamente fiscais, principalmente a contribuição social do Salário-educação,<br />
<strong>de</strong> valor significativo (cerca <strong>de</strong> R$ 2,4 bilhões, dos quais pouco menos <strong>de</strong> R$ 500<br />
milhões <strong>de</strong>svinculados, como veremos adiante). Alguns itens, como a contribuição para o fundo <strong>de</strong><br />
saú<strong>de</strong>, não sofrem <strong>de</strong>svinculação, por se tratarem <strong>de</strong> recursos diretamente arrecadados; no caso das<br />
contribuições rurais, o percentual <strong>de</strong> <strong>de</strong>svinculação é menor que 20%, já que incluem também recursos<br />
diretamente arrecadados.
60<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
am por ser aplicados predominantemente em gastos com previdência, saú<strong>de</strong> ou<br />
assistência social – i.e., não po<strong>de</strong>riam ser poupadas nem aplicadas no serviço da<br />
dívida pública fe<strong>de</strong>ral. Com isso, as <strong>de</strong>spesas não financeiras do orçamento da segurida<strong>de</strong><br />
social aumentariam em R$ 13,4 bilhões 20 , o que seria impossível compensar<br />
com corte equivalente nas <strong>de</strong>spesas do orçamento <strong>fiscal</strong>. Com a DRU, receitas<br />
do orçamento da segurida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixarão <strong>de</strong> ser usadas, contribuindo para produzir<br />
quase 47% do superávit pretendido.<br />
V - Composição dos recursos <strong>de</strong>svinculados<br />
Mostramos no Quadro III os principais itens <strong>de</strong> receita dos orçamento <strong>fiscal</strong><br />
e da segurida<strong>de</strong> social que compõem os recursos <strong>de</strong>svinculados:<br />
QUADRO III<br />
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2000<br />
PRINCIPAIS RECURSOS DESVINCULADOS<br />
(R$ milhões)<br />
Origem dos Recursos Desvinculados Fontes 175 e 176 %<br />
Contribuições <strong>de</strong> empregadores e trabalhadores<br />
COFINS<br />
CPMF<br />
PIS/PASEP<br />
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)<br />
Demais contribuições sociais<br />
Total <strong>de</strong>svinculado das contribuições sociais<br />
Imposto <strong>de</strong> Renda<br />
IPI<br />
Imposto <strong>de</strong> Importação<br />
Outros impostos<br />
Total <strong>de</strong>svinculado dos impostos<br />
Total Fonte: PL nº 20/99 e Informações Complementares. Elaboração dos autores.<br />
10.597<br />
7.072<br />
3.433<br />
1.782<br />
1.314<br />
2.070<br />
26.268<br />
8.204<br />
3.872<br />
1.562<br />
1.603<br />
15.241<br />
41.509<br />
25,5<br />
17,0<br />
8,3<br />
4,3<br />
3,2<br />
5,0<br />
63,3<br />
19,8<br />
9,3<br />
3,8<br />
3,9<br />
36,7<br />
100,0<br />
Algumas observações ajudam a situar a composição dos recursos <strong>de</strong>svinculados:<br />
(a) as contribuições sociais respon<strong>de</strong>m por mais <strong>de</strong> 63% dos recursos <strong>de</strong>svinculados;<br />
(b) a participação na composição <strong>de</strong>sses recursos <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> do volume<br />
20 De fato, R$ 12,7 bilhões, pois, como veremos adiante, cerca <strong>de</strong> R$ 700 milhões correspon<strong>de</strong>m<br />
a inversões financeiras que o FAT não efetuará no BNDES. Esse valor po<strong>de</strong>ria ser ainda menor se,<br />
em relação a vinculações que não fossem constitucionais, houvesse contingenciamento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas e<br />
subseqüente exce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> arrecadação. Tudo consi<strong>de</strong>rado, ao menos a contribuição das receitas da<br />
segurida<strong>de</strong> social para o superávit seria da or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> 45%.
Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
61<br />
e em gastos sociais<br />
das receitas. Assim, o principal componente individual é proveniente da <strong>de</strong>svinculação<br />
<strong>de</strong> receitas das contribuições previ<strong>de</strong>nciárias (quase 26%). Essa <strong>de</strong>svinculação<br />
é claramente inócua, pois a Previdência geral é <strong>de</strong>ficitária, os benefícios são<br />
<strong>de</strong>spesa irredutível e o INSS é o agente arrecadador das contribuições. A troca <strong>de</strong><br />
fontes – <strong>de</strong> receitas da citada contribuição para recursos <strong>de</strong>svinculados –, nessas<br />
circunstâncias pareceria mera formalida<strong>de</strong>; (c) mais <strong>de</strong> 36% são oriundos <strong>de</strong> recursos<br />
<strong>de</strong>svinculados <strong>de</strong> impostos. Gran<strong>de</strong> parte <strong>de</strong>sses recursos seria <strong>de</strong> qualquer<br />
forma <strong>de</strong> livre utilização (esses valores são calculados <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> <strong>de</strong>duzidas as transferências<br />
constitucionais). Sua <strong>de</strong>svinculação em pouco altera a situação financeira<br />
do Tesouro Nacional, afetando principalmente os recursos <strong>de</strong>stinados à manutenção<br />
e <strong>de</strong>senvolvimento do ensino, mas também a apuração dos recursos do PIN/<br />
PROTERRA, vinculados a investimentos fe<strong>de</strong>rais em <strong>de</strong>terminada região do País;<br />
(d) a COFINS e a CSLL, somadas, contribuem com cerca <strong>de</strong> R$ 8,4 bilhões, equivalentes<br />
a 20% dos recursos <strong>de</strong>svinculados. Essas duas contribuições usualmente<br />
custeiam gastos da saú<strong>de</strong> e da assistência social, sendo que a CPMF é insuficiente<br />
para tampar os buracos da Previdência e da Saú<strong>de</strong>; e (e) com 4% <strong>de</strong> participação,<br />
está outra categoria <strong>de</strong> receita que efetivamente importa: as contribuições ao PIS e<br />
ao PASEP, <strong>de</strong>stinadas nas proporções <strong>de</strong> 60% diretamente ao FAT e <strong>de</strong> 40%, indiretamente,<br />
como inversão financeira a cargo do BNDES. Nesse caso, os recursos<br />
são efetivamente redirecionados para outros gastos que, caso não existisse a <strong>de</strong>svinculação,<br />
não po<strong>de</strong>riam ser custeados com tais receitas.<br />
VI – Efeitos da PEC nº 85 nas <strong>de</strong>spesas custeadas com receitas vinculadas.<br />
Os exemplos da educação, do Fundo Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong>, do Fundo <strong>de</strong><br />
Amparo ao Trabalhador e da Previdência Social Geral<br />
Um esclarecimento inicial: não existe maneira inquestionável <strong>de</strong> aferir com<br />
precisão até que ponto a <strong>de</strong>svinculação impõe a órgão, fundo ou <strong>de</strong>spesa diminuição<br />
<strong>de</strong> recursos, ou que funções fe<strong>de</strong>rais ficam por isso prejudicadas. Isso só seria<br />
possível se apenas uma fonte financiasse cada ação <strong>de</strong> governo ou órgão. Se, ao<br />
contrário, retiram-se-lhes recursos <strong>de</strong> fontes vinculadas, mas aportam-se montantes<br />
<strong>de</strong> outras fontes, como dizer se essas outras fontes estariam presentes, caso não<br />
tivesse havido a <strong>de</strong>svinculação? Daí porque todas as conclusões que se seguem<br />
<strong>de</strong>vem ser vistas com alguma cautela, exceto duas: (1) como um todo, o orçamento<br />
da segurida<strong>de</strong> social ce<strong>de</strong> recursos que, segundo a Constituição, <strong>de</strong>veriam ser gastos<br />
com saú<strong>de</strong>, previdência e assistência social, sem que se possa i<strong>de</strong>ntificar on<strong>de</strong><br />
se dá a perda; (2) o FAT abre mão <strong>de</strong> recursos para gastos com o seguro-<strong>de</strong>semprego<br />
e outras ações a seu encargo, e <strong>de</strong> seu patrimônio aplicado no BNDES.
62<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
O efeito da PEC nº 85/99 na Educação <strong>de</strong>corre principalmente da diminuição<br />
dos recursos <strong>de</strong>stinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, na medida<br />
em que 20% da base <strong>de</strong> cálculo (receita dos impostos) é <strong>de</strong>svinculada. Como se<br />
vê no Quadro IV, os recursos para a MDE, que seriam <strong>de</strong> R$ 8 bilhões com o fim do<br />
FEF, representam na proposta para 2000 apenas R$ 5,3 bilhões, com perda <strong>de</strong> R$<br />
2,6 bilhões.<br />
QUADRO IV<br />
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2000<br />
CÁLCULO DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-<br />
MENTO DO ENSINO (MDE)<br />
(R$ milhões)<br />
Sem<br />
Desvinculação<br />
Receita <strong>de</strong> Impostos (1) 72.875 72.875 0<br />
Desvinculação (-) 0 - 14.575 -14.575<br />
Transferências Constitucionais (-) - 28.683 - 28.683 0<br />
Base <strong>de</strong> Cálculo dos Recursos 44.192 29.617 14.575<br />
Recursos para a MDE (18% Base) 7.955 5.331 2.624<br />
Fonte: PL nº 20/99 e Informações Complementares. Elaboração dos autores.<br />
(1) Não inclui juros, multas, nem dívida ativa.<br />
Com a PEC<br />
nº 85/99<br />
Diferença<br />
A<strong>de</strong>mais, os recursos da contribuição social do Salário-educação seriam<br />
parcialmente <strong>de</strong>svinculados, representando outra perda para o setor 21 . Segundo a<br />
forma <strong>de</strong> cálculo da parcela do Salário-educação que caberia à União, na PEC nº<br />
85/99, apenas 13,3% da arrecadação seriam <strong>de</strong>stinados à União, já que a <strong>de</strong>svinculação<br />
<strong>de</strong> 20% incidiria sobre o valor total arrecadado. Portanto, sem a <strong>de</strong>svinculação<br />
a União teria R$ 812 milhões (1/3 ou 33,3%) e com a <strong>de</strong>svinculação apenas R$<br />
324 milhões (13,3%, ou seja, 80% - 2/3)), per<strong>de</strong>ndo R$ 488 milhões. Por outro<br />
lado, quase R$ 2 bilhões da fonte 175 retornariam para a função Educação, bem<br />
como lhe seriam alocados R$ 114 milhões da fonte 100, conforme mostra o Quadro V.<br />
21 Como visto anteriormente, no substitutivo prevaleceu que não haverá <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong>sse<br />
item <strong>de</strong> receita.
Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
63<br />
e em gastos sociais<br />
QUADRO V<br />
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2000<br />
CÁLCULO DAS PERDAS DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO COM A DRU<br />
(R$ milhões)<br />
Perda <strong>de</strong> recursos vinculados à MDE 2.624<br />
Perda <strong>de</strong> recursos com a <strong>de</strong>svinculação do Salário-educação 488<br />
Aporte para a função Educação – fonte 175 (-) - 1.869<br />
Alocação <strong>de</strong> recursos ordinários – fonte 100 (-) - 114<br />
Perda líquida com a <strong>de</strong>svinculação (1) 1.129<br />
Fonte: PL nº 20/99 e Informações Complementares. Elaboração dos autores.<br />
(1) O resultado pressupõe que todas as <strong>de</strong>mais fontes, inclusive empréstimos externos, que<br />
custeiam as <strong>de</strong>spesas com Educação na proposta são vinculadas, e não po<strong>de</strong>riam ter <strong>de</strong>stinação diversa.<br />
É o caso também dos recursos da segurida<strong>de</strong> para <strong>de</strong>spesas com a merenda escolar (fontes 121 e<br />
122), somando R$ 310 milhões, que não po<strong>de</strong>m ser supridas com recursos para a MDE.<br />
Mesmo com a PEC nº 85/99, o Fundo Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> não per<strong>de</strong> com a<br />
<strong>de</strong>svinculação: apesar do corte <strong>de</strong> 20% da arrecadação da CPMF <strong>de</strong>stinada ao FNS 22<br />
(R$ 1,8 bilhão), está sendo contemplado na proposta com R$ 2,6 bilhões <strong>de</strong> recursos<br />
<strong>de</strong>svinculados da própria Contribuição e <strong>de</strong> outros tributos, e ainda com quase<br />
R$ 0,5 bilhão <strong>de</strong> recursos ordinários do Tesouro, como vemos no Quadro VI.<br />
QUADRO VI<br />
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2000<br />
CÁLCULO DO GANHO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE COM A DRU<br />
(R$ milhões)<br />
Desvinculação da parcela da CPMF da Saú<strong>de</strong> 1.807<br />
Aporte para o FNS da fonte 175 (-) - 2.421<br />
Aporte para o FNS da fonte 176 (-) - 143<br />
Alocação <strong>de</strong> recursos ordinários – fonte 100 (-) - 443<br />
Alocação <strong>de</strong> recursos ordinários Condicionados – fonte 106 (-) - 10<br />
Saldo positivo, apesar da <strong>de</strong>svinculação 1.210<br />
Fonte: PL nº 20/99 e Informações Complementares. Elaboração dos autores.<br />
22 A Emenda Constitucional nº 21, <strong>de</strong> 1999, <strong>de</strong>terminou que, da arrecadação da CPMF, <strong>de</strong><br />
uma alíquota <strong>de</strong> 0,38% nos 12 primeiros meses, e <strong>de</strong> 0,30% nos 24 restantes, o equivalente a 0,20%<br />
fosse <strong>de</strong>stinado a ações e serviços <strong>de</strong> saú<strong>de</strong> (que a norma não <strong>de</strong>fine), sendo o exce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>stinado a<br />
pagamentos <strong>de</strong> benefícios previ<strong>de</strong>nciários.
64<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
No caso do FAT, temos perda com a <strong>de</strong>svinculação da arrecadação do PIS/<br />
PASEP, no valor <strong>de</strong> R$ 1.781 milhões, e nenhum retorno para o Fundo (Quadro<br />
VII). Lembremos que os recursos do PIS/PASEP, antes da <strong>de</strong>svinculação, repartem-se<br />
na proporção <strong>de</strong> 60% para os pagamentos pelo FAT, e <strong>de</strong> 40%, ainda que<br />
pertencendo ao patrimônio do FAT, <strong>de</strong>stinados a financiar programas <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
econômico a cargo do BNDES.<br />
QUADRO VII<br />
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2000<br />
CÁLCULO DAS PERDAS DO FAT E DO BNDES COM A DRU<br />
(R$ milhões)<br />
Desvinculação <strong>de</strong> recursos do PIS/PASEP 1.781<br />
Perda do Fundo <strong>de</strong> Amparo ao Trabalhador 1.069<br />
Perda <strong>de</strong> inversões do Fundo <strong>de</strong> Amparo ao Trabalhador no BNDES 712<br />
Aporte para o FAT – fontes 175 e 176 (-) 0<br />
Alocação <strong>de</strong> recursos ordinários – fontes 100 e 106 (-) 0<br />
Perda líquida com a <strong>de</strong>svinculação 1.781<br />
Fonte: PL nº 20/99 e Informações Complementares. Elaboração dos autores.<br />
O efeito da PEC nº 85/99 na Previdência Social Geral, a cargo do INSS, é<br />
resultado da <strong>de</strong>svinculação da arrecadação das contribuições dos empregadores e<br />
trabalhadores para a segurida<strong>de</strong> social, no valor <strong>de</strong> R$ 10,6 bilhões. Por outro<br />
lado, R$ 7,9 bilhões da fonte 175 retornam para a função Previdência, bem como<br />
R$ 1,3 bilhão da fonte 100 são alocados nessa Função:<br />
QUADRO VIII<br />
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2000<br />
CÁLCULO DAS PERDAS DO INSS COM A DRU<br />
(R$ milhões)<br />
Desvinculação da Contribuição <strong>de</strong> Empregadores e Trabalhadores 10.596<br />
Desvinculação da CPMF 1.626<br />
Aporte para o INSS - fonte 175 (-) - 2.578<br />
Alocação <strong>de</strong> recursos ordinários ao INSS – fonte 100 (-) - 811<br />
Perda líquida com a <strong>de</strong>svinculação 8.833<br />
Fonte: PL nº 20/99 e Informações Complementares. Elaboração da Consultoria.
Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
65<br />
e em gastos sociais<br />
Em relação ao INSS, a programação constante da proposta <strong>de</strong>stina-lhe ainda recursos<br />
da COFINS e da CSLL, totalizando R$ 15,2 bilhões. Esse aporte <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong><br />
duas outras fontes da segurida<strong>de</strong> é esclarecedor em relação ao mecanismo da DRU:<br />
o retorno <strong>de</strong> fonte 175 (e mesmo a alocação da fonte ordinária a ela somada) é<br />
substancialmente inferior ao que é abatido às receitas da contribuição <strong>de</strong> trabalhadores<br />
e trabalhadores, ampliando o déficit do INSS. Receitas <strong>de</strong> COFINS e <strong>de</strong><br />
CSLL, que não fora a DRU financiariam outras ações <strong>de</strong> caráter discricionário,<br />
suprem <strong>de</strong>spesas obrigatórias.<br />
VIII – Revertendo a <strong>de</strong>svinculação das contribuições previ<strong>de</strong>nciária e<br />
classificando como <strong>fiscal</strong> a contribuição do salário-educação: os novos números<br />
Prevalecendo a interpretação segundo a qual a PEC nº 85/99, quando aprovada,<br />
não revogaria o art. 167, XI, da Constituição (com redação dada pela EC nº<br />
20, <strong>de</strong> 1998), estará vedada a <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas <strong>de</strong> contribuições previ<strong>de</strong>nciárias<br />
<strong>de</strong> empregadores e trabalhadores e obrigado o seu uso na previsão <strong>de</strong> pagamentos<br />
<strong>de</strong> benefícios. Acertando ainda erro da proposta, <strong>de</strong> classificação das receitas<br />
da contribuição social do Salário-educação, que <strong>de</strong> fato integram o orçamento<br />
<strong>fiscal</strong>, o novo Quadro <strong>de</strong> origem e <strong>de</strong>stinação <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong>svinculados seria o<br />
seguinte:<br />
QUADRO IX<br />
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2000, CORRIGIDA<br />
ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DESVINCULADOS -<br />
FONTES 175 E 176<br />
(R$ milhões)<br />
Orçamento Origem Destinação Transferência<br />
Fiscal 15.729 (1) 28.606 12.877<br />
Segurida<strong>de</strong> 15.183 (2) 2.306 (2) -12.877<br />
Total 30.912 30.912 0<br />
Fonte: PL nº 20/99 e Informações Complementares. Elaboração dos autores.<br />
(1) Inclui as receitas da contribuição do Salário-educação.<br />
(2) Exclui da proposta os valores <strong>de</strong>svinculados <strong>de</strong> receitas das contribuições previ<strong>de</strong>nciárias e<br />
<strong>de</strong>spesas em montante equivalente.<br />
Passaria a haver R$ 30,9 bilhões consignados nas fontes 175 e 176. Desses<br />
recursos, como mostra o Quadro IX, R$ 15,7 bilhões seriam provenientes do orça-
66<br />
Impacto da <strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> receitas da União no orçamento fe<strong>de</strong>ral<br />
e em gastos sociais<br />
mento <strong>fiscal</strong> e agora apenas R$ 15,2 bilhões do orçamento da segurida<strong>de</strong> social.<br />
Com a exclusão das receitas previ<strong>de</strong>nciárias tanto <strong>de</strong> fontes como <strong>de</strong> usos dos recursos<br />
<strong>de</strong>svinculados, o retorno <strong>de</strong>sses recursos ao orçamento da segurida<strong>de</strong> cai<br />
para R$ 2,3 bilhões, mas a importância da DRU para a viabilida<strong>de</strong> da proposta e do<br />
ajuste permanece a mesma. Praticamente não cai a contribuição da <strong>de</strong>svinculação<br />
das receitas da segurida<strong>de</strong> para o superávit primário <strong>de</strong> R$ 28,5 bilhões, que passa<br />
a ser <strong>de</strong> 45%, exclusivamente pelo fato <strong>de</strong> as receitas da contribuição do Salárioeducação<br />
terem sido reclassificadas.<br />
IX – Observações finais: separação entre as receitas totais e da segurida<strong>de</strong><br />
Quem examinar a proposta orçamentária perceberá que, no orçamento <strong>fiscal</strong>,<br />
as receitas correntes sobre as quais a DRU inci<strong>de</strong> (impostos, multas e juros <strong>de</strong><br />
mora e receita da dívida ativa tributária) são apresentadas em termos brutos, isto é,<br />
sem a <strong>de</strong>dução da <strong>de</strong>svinculação dos R$ 15,2 bilhões. Já no orçamento da segurida<strong>de</strong><br />
social, pela primeira vez, as receitas correntes sobre as quais a DRU inci<strong>de</strong><br />
(contribuições sociais) são apresentadas em termos líquidos, ou seja, já <strong>de</strong>duzida a<br />
<strong>de</strong>svinculação <strong>de</strong> R$ 26,3 bilhões. Esse último valor soma-se às receitas do orçamento<br />
<strong>fiscal</strong>, na rubrica contribuições sociais, ou seja, a proposta orçamentária<br />
parte do princípio <strong>de</strong> que os recursos <strong>de</strong>svinculados pertencem ao orçamento <strong>fiscal</strong>.<br />
Caso não houvesse a <strong>de</strong>svinculação, as receitas <strong>de</strong> contribuições do orçamento da<br />
segurida<strong>de</strong> social seriam, na proposta, <strong>de</strong> R$ 131,8 bilhões, e não R$ 105,5 bilhões.<br />
Esse registro levanta outra vez antiga questão: po<strong>de</strong>-se efetivamente dizer<br />
que o orçamento <strong>fiscal</strong> transfere receitas, <strong>de</strong> quase R$ 15,3 bilhões, para o orçamento<br />
da segurida<strong>de</strong> social, como diz a proposta? (ou <strong>de</strong> R$ 4,7 bilhões, após<br />
correção nos mol<strong>de</strong>s do Quadro IX). Se, como em anos anteriores (mesmo na vigência<br />
do FEF), os recursos <strong>de</strong>sse Fundo não se <strong>de</strong>duzissem das receitas do orçamento<br />
da segurida<strong>de</strong>, a situação se inverteria, e o orçamento da segurida<strong>de</strong> estaria<br />
<strong>de</strong> fato financiando o orçamento <strong>fiscal</strong> 23 .<br />
Outro aspecto importante <strong>de</strong>sta discussão, para aqueles que se interessam<br />
por procedimentos <strong>de</strong> classificação orçamentária, é que as multas e juros <strong>de</strong> mora<br />
<strong>de</strong> contribuições (COFINS, CPMF, PIS/PASEP e CSLL) constam na proposta – e<br />
nada indica que <strong>de</strong>ixarão <strong>de</strong> constar na lei – como receitas do orçamento <strong>fiscal</strong>,<br />
embora sejam acessórios <strong>de</strong> contribuições da segurida<strong>de</strong> social. São valores signi-<br />
23 Na verda<strong>de</strong>, pelo fato <strong>de</strong> os recursos do FEF não terem sido tratados como receitas do<br />
orçamento <strong>fiscal</strong>, constou do texto da lei do orçamento <strong>de</strong> 1999 que a segurida<strong>de</strong> estaria financiando<br />
gastos <strong>de</strong> natureza <strong>fiscal</strong>. Um exame mais aprofundado das razões para que a proposta encaminhada<br />
pelo Po<strong>de</strong>r Executivo ao Congresso em relação a 1999 não contivesse semelhante dispositivo, e o<br />
projeto aprovado pelo Congresso, sim, está fora do alcance <strong>de</strong>ste trabalho.
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
67<br />
ficativos, como as multas e juros da COFINS, <strong>de</strong> mais <strong>de</strong> R$ 1,3 bilhão. A forma <strong>de</strong><br />
classificação usada se justificaria por serem recursos administrados pela Secretaria<br />
da Receita Fe<strong>de</strong>ral – SRF para o custeio do aperfeiçoamento das ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
<strong>fiscal</strong>ização. É igualmente curioso constatar que está inscrita como <strong>fiscal</strong> a receita<br />
<strong>de</strong> participação do seguro obrigatório- Dpvat, <strong>de</strong> quase R$ 700 milhões, que é<br />
diretamente arrecadada pelo Fundo Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong>.
68<br />
Do direiro da língua portuguesa<br />
(Direito Vernacular)<br />
Alceu <strong>de</strong> Castro Romeu<br />
Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados<br />
Área <strong>de</strong> Redação<br />
Ex-Perito Internacional - ONU<br />
Introdução 1<br />
Trata-se <strong>de</strong> estabelecer, na cultura jurídica pátria, âmbito jurídico, afeto à área<br />
idiomático-vernacular: o Direito do Vernáculo, ou Direito da Língua Portuguesa, ou<br />
Direito do Idioma Português.<br />
Idéias novas normalmente implicam certa resistência a sua instituição; contudo,<br />
o presente enfoque se respalda em tantas evidências, que se torna insuspeita sua<br />
postura e inelutável sua aceitação. Quanto mais não seja, pelo elementar fato <strong>de</strong> ter<br />
sido nosso vernáculo, ao menos há séculos, 2 disciplinado pelo Direito, quer aqui,<br />
quer alhures – como em Portugal, <strong>de</strong> cujo nome, aliás, seu próprio nome <strong>de</strong>riva.<br />
É o caso, entre outros, <strong>de</strong> sucessivas reformas ortográficas e <strong>de</strong> nomenclaturas<br />
gramaticais, estabelecidas no Direito objetivo, ao longo do tempo, coisa que<br />
ocorreu e ocorre também em outros idiomas, a exemplo <strong>de</strong> alguns euro-oci<strong>de</strong>ntais,<br />
como o alemão e o espanhol.<br />
Por outra, há absoluto paralelismo entre este âmbito do Direito e quaisquer<br />
outros, a começar pelas fontes que a todos indistintamente alimentam: lei, doutrina<br />
e jurisprudência.<br />
<strong>Lei</strong><br />
Quanto à legislação objetiva, elenco exemplificativo <strong>de</strong> diplomas legais pertinentes<br />
a esse âmbito do Direito é:<br />
1) Convenção Ortográfica entre Brasil e Portugal, <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />
1943, assinada em Lisboa;<br />
1 O autor agra<strong>de</strong>ce aos colegas Consultores Legislativos Alessandro Gagnor Galvão e Catarina<br />
Guerra Gonzales Cursino dos Santos, Área <strong>de</strong> Redação da Coleg, ex-companheiros <strong>de</strong> estudos <strong>de</strong><br />
alemão no GIEVE – Grupo Interlegislativo <strong>de</strong> Estudos Vernaculares, tanto quanto a Cristiano Viveiros<br />
<strong>de</strong> Carvalho, Área <strong>de</strong> Direito Tributário da Coleg, Mestrando em Ciência Jurídica pela UnB, pela<br />
profícua troca <strong>de</strong> idéias e revisão. Ao eximi-los inteiramente das improprieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ste escrito, dá-lhes<br />
crédito pelos acertos que possa conter.<br />
2 Esse assunto se retoma ao final do trabalho.
Do direiro da língua portuguesa<br />
69<br />
2) Decreto nº 14.533, <strong>de</strong> 18 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 1944, que promulga a convenção supra;<br />
3) Decreto Legislativo nº 9, <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 1957, que aprova o texto da<br />
dita convenção;<br />
4) Decreto-lei nº 8.286, <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1945;<br />
5) <strong>Lei</strong> nº 2.623, <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1955, que o revoga, ao restabelecer o<br />
sistema ortográfico do Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa –<br />
PVOLP;<br />
6) <strong>Lei</strong> nº 5.765, <strong>de</strong> 18 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong> 1971, que aprova alterações na ortografia<br />
da língua portuguesa e dá outras providências;<br />
7) Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1990,<br />
assinado em Lisboa;<br />
8) Decreto Legislativo nº 54, <strong>de</strong> 18 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1995, que aprovou o disposto<br />
nesse Acordo;<br />
9) Parecer conjunto da Aca<strong>de</strong>mia Brasileira <strong>de</strong> Letras e da Aca<strong>de</strong>mia das<br />
Ciências <strong>de</strong> Lisboa, segundo o que se conferiu na Convenção <strong>de</strong> 1943, sobre a<br />
mencionada <strong>Lei</strong> nº 2.623;<br />
10) A própria publicação do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa<br />
– VOLP, ora em sua edição <strong>de</strong> 1999, promovida pela Aca<strong>de</strong>mia Brasileira <strong>de</strong> Letras,<br />
conforme o disposto no art. 3º da <strong>Lei</strong> nº 5.765.<br />
É <strong>de</strong> ressaltar que o art. 3º do Acordo no item 7 acima citado reza: ‘O Acordo<br />
Ortográfico da Língua Portuguesa entrará em vigor em 1º <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 1994,<br />
após <strong>de</strong>positados os instrumentos <strong>de</strong> ratificação <strong>de</strong> todos os Estados junto do Governo<br />
da República Portuguesa.’<br />
Como a referência implica cinco países (Timor ainda não era in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte),<br />
<strong>de</strong>mais <strong>de</strong> Portugal e Brasil: Angola, Cabo Ver<strong>de</strong>, Guiné-Bissau, Moçambique<br />
e São Tomé e Príncipe, quando todos os <strong>de</strong>positarem, estaremos novamente ante<br />
situação pela qual a França passou pela última vez há poucos anos e a Alemanha<br />
está passando (transição <strong>de</strong> 7 anos, a partir <strong>de</strong> 1988), qual seja, em face <strong>de</strong> nova<br />
alteração no disciplinamento jurídico vernacular. Isto é, continuando-se no âmbito<br />
do Direito: nova legislação positiva a disciplinar o idioma <strong>de</strong> Camões.<br />
Doutrina<br />
Quanto à doutrina, é ampla, geral e irrestrita. Trata-se, em sua expressão<br />
princeps, da figura da Gramática, do estudo do fenômeno sociolingüístico, tanto<br />
enquanto ciência pré-jurídica – Lingüística, como enquanto jurídica – Direito<br />
Vernacular. Afinal, a qualida<strong>de</strong> da doutrina está menos na qualificação jurídica ou<br />
não jurídica do doutrinador, que em sua capacida<strong>de</strong> pessoal intrínseca doutrinária.
70<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
(Entre inúmeros outros exemplos, sabe-se que Nélson Hungria, maior autorida<strong>de</strong><br />
brasileira em Direito Penal, o Pontes <strong>de</strong> Miranda do Direito Criminal, com quem<br />
compôs – cada qual em sua área <strong>de</strong> atuação – o arcabouço <strong>de</strong> nosso Direito Privado,<br />
era médico.)<br />
Não há diploma <strong>de</strong> doutrinador; logo, nem <strong>de</strong> gramático. Também, a doutrina<br />
jurídica, sem que <strong>de</strong>ixe <strong>de</strong> sê-lo, não é apanágio exclusivo <strong>de</strong> advogados, nem a<br />
da matemática, <strong>de</strong> matemáticos. Apenas há esperança <strong>de</strong> que sejam mais bem <strong>de</strong>senvolvidas<br />
por advogados e matemáticos, respectivamente, o que tem que se provar,<br />
nada obstante, caso a caso. Isso é fato cediço em ramos (apenas didáticos) do<br />
Direito (que é uno), como no Direito Econômico ou no Direito Contábil, em que há<br />
excelentes doutrinadores que não são bacharéis em Direito; por vezes, nem mesmo<br />
economistas ou contadores.<br />
No caso – a língua –, trata-se dum fenômeno social, até mesmo ontológico,<br />
que perquire a exata natureza humana 3 , e pois a ser estudado enquanto fato da<br />
socieda<strong>de</strong> a que pertence. Porque Ex facto Jus oritur, o Direito se origina do fato,<br />
retratando-o, refletindo-o e assim também não po<strong>de</strong>ria <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> sê-lo no Direito do<br />
Vernáculo. Até porque o Direito não exatamente cria ciência não jurídica, senão<br />
disciplina ciência pré-jurídica, e suas criações disciplinativas, aí propriamente jurídicas,<br />
na expressão <strong>de</strong> suas figuras, conceitos e instituições, são instrumentos abstratos<br />
– presunções e ficções <strong>de</strong> Direito –, constructos que não visam senão ao<br />
disciplinamento das relações sociais. E nada mais relação social que o idioma!<br />
O Direito, ao or<strong>de</strong>nar, proíbe <strong>de</strong>limitando; ao disciplinar, censura discriminando;<br />
isto é, ao colorir a oposição fato–norma, respalda-se em relações sociais<br />
fáticas, para estremá-las, sedimentando transitoriamente algumas, que ‘recomenda’,<br />
em <strong>de</strong>trimento doutras, que ‘con<strong>de</strong>na’.<br />
Daí <strong>de</strong>fluir ser o português instrumental campo por excelência do Direito<br />
Vernacular, por ser o lugar on<strong>de</strong> se busca dar certa uniformida<strong>de</strong> aos fatos do idioma,<br />
em benefício da ‘correspondência’ semântica, correição morfológica e colocação<br />
sintática. Por isso, à Poesia, fonte originária <strong>de</strong> criação lingüística, e mesmo à<br />
prosa literária, mãe do estilo, aplicar-se a regra jurídica vernacular, <strong>de</strong> forma – se<br />
tanto – ‘atenuada’.<br />
Assim, o Direito Vernacular é menos questão <strong>de</strong> feitio da escrita, que dum<br />
modus operandi <strong>de</strong> estabelecer, nos limites dum tempo e dum espaço, regras comuns<br />
à cultura dum povo, para lidar com os fatos lingüísticos que este povo é, com<br />
precípuo fito <strong>de</strong> vernacularmente melhor comunicar-se.<br />
3 A respeito é exemplar o verso <strong>de</strong> Höl<strong>de</strong>rlin: ‘Seit wir ein Gespräch sind…’ Des<strong>de</strong> que somos<br />
[os humanos] uma conversa …’
Do direiro da língua portuguesa<br />
71<br />
Ainda, po<strong>de</strong>m as normas do Direito do Idioma carecer <strong>de</strong> sanções diretas,<br />
po<strong>de</strong>ndo a sanção provir do <strong>de</strong>srespeito à norma no contexto fático, por via reflexa.<br />
4 Isso é usual no mundo jurídico, ante a inelutável unida<strong>de</strong> do Direito posto.<br />
Jurisprudência<br />
Em relação à jurisprudência, tanto dos tribunais como ‘administrativa’, <strong>de</strong><br />
plano há reconhecer que toda e qualquer jurisprudência é questão por excelência <strong>de</strong><br />
interpretação <strong>de</strong> texto; como tal, também <strong>de</strong> Direito da Língua Portuguesa. O magistrado,<br />
que incumbentemente; a autorida<strong>de</strong> administrativa, que competentemente;<br />
o advogado, que tentativamente; e o leigo, que apropriadamente interpreta: todos,<br />
sem exceção, vinculam-se ao Direito do Vernáculo.<br />
Nessa linha, se no passo legislativo se escreveu ‘pô<strong>de</strong>’, não se entenda ‘po<strong>de</strong>’,<br />
porque isso vai <strong>de</strong> encontro ao disposto no art. 1° da <strong>Lei</strong> n° 5.765 – combinado com<br />
o art. III da Convenção Ortográfica Brasil-Portugal, <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1943,<br />
bem como com o Parecer da Aca<strong>de</strong>mia Brasileira <strong>de</strong> Letras e da Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong><br />
Ciências <strong>de</strong> Lisboa, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1971 –, que excepcionou as duas formas da<br />
regra <strong>de</strong> abolição, que estabelecera, do acento circunflexo diferencial da letra ‘o’<br />
das palavras homógrafas <strong>de</strong> outras em que essa letra é aberta.<br />
Sirva o exposto acima para consignar ‘abertura <strong>de</strong> horizontes’, ao estabelecer-se<br />
o haver do Direito Vernacular, <strong>de</strong>finido como ‘a disciplina jurídica da língua<br />
portuguesa’, tendo por finalida<strong>de</strong>, social e transitoriamentemente, norteá-la. Naturalmente,<br />
sem censura à criativida<strong>de</strong> <strong>de</strong> seus falantes, porque assim o português<br />
encontre seus sempre renovados melhores momentos, como expressão das pátrias<br />
que encerra. Esse Direito – como acima <strong>de</strong>finido – po<strong>de</strong> cumprir seu objetivo, ao<br />
estabelecer, ante as e por ocasião das sincronicida<strong>de</strong>s do uso do idioma, <strong>de</strong>nominadores<br />
comuns <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempenho dos usuários, juridicamente postos, para que a eles,<br />
usuários, haja referenciais comuns <strong>de</strong> comunicação no efeito.<br />
Três pertinentes observações, entre tantas outras, respaldam conclusão <strong>de</strong><br />
que o Direito do Vernáculo é, à evidência, um fato, cuja presença é inafastável:<br />
1) O próprio alfabeto do idioma é estabelecido na legislação, bastando confrontar<br />
a base I, 1°, do Acordo Ortográfico, <strong>de</strong> 1990, a ainda entrar em vigor, com<br />
o item I.1 do Formulário Ortográfico, <strong>de</strong> 1943, vigente. Na primeira, temos vinte e<br />
sete letras (conta-se o cê cedilha); no segundo, ‘fundamentalmente’ vinte e três, não<br />
4 Em exemplo caricatural, quem paga dívida <strong>de</strong> cem reais com cheque brasileiro, em que se lê<br />
‘ein hun<strong>de</strong>rt [alemão] reales [espanhol],’ passa por <strong>de</strong>sonesto. Para começar, a lei prescreve seja escrito<br />
em português, duma sorte; e <strong>de</strong>termina que nesse idioma ‘100’ se escreva ‘cem’ e não ‘hun<strong>de</strong>rt’,<br />
doutra.
72<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
contando-se, entre as ‘fundamentais’, o cê cedilhado, o capa, o dáblio e o ípsilon; 5<br />
2) De modo <strong>de</strong>cisivo, embora <strong>de</strong> modo não estritamente cogente, o próprio<br />
elenco <strong>de</strong> palavras da língua, que constava do Pequeno Vocabulário Ortográfico da<br />
Língua Porguesa – PVOLP, que agora consta do Vocabulário Ortográfico da Língua<br />
Porguesa – VOLP, e que à evidência tudo indica constará <strong>de</strong> tantos outros<br />
VOLPs no futuro 6 ; e<br />
3) A Nomenclatura Gramatical Brasileira – NGB, ora vigente, sobre que<br />
tanto se tem a dizer, é diploma legislativo, tendo-se estabelecido por portaria do<br />
então Ministério <strong>de</strong> Educação e Cultura – MEC, sendo Ministro Clóvis Salgado da<br />
Gama, na década dos cinqüentas, especificamente via Portaria Ministerial <strong>de</strong> n°<br />
152, <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1.957 (Publicação no D.O.U., em 30-4-57, pág. 10.838). Foi<br />
elaborada por comissão, formada pelos professores Antenor Nascente, Cândido<br />
Jucá (filho), Carlos Henrique da Rocha Lima, Celso Ferreira da Cunha e Clóvis do<br />
Rêgo Monteiro, mais a assistência da então Diretoria do Ensino Secundário. 7 A<br />
citação vale em respeito à sua memória, bem como vem em auxílio <strong>de</strong> quem se<br />
interesse em pesquisar.<br />
Desvelamento do Direito Vernacular<br />
Observe-se que o ‘ocultamento social’ do Direito do Vernáculo encontra<br />
eco em outras áreas menos tradicionais da Ciência do Direito, por vezes com certa<br />
in<strong>de</strong>sejável perda <strong>de</strong> rumo da doutrina jurídica a eles afeta. Os exemplos dos Direitos<br />
Contábil – há apenas poucas décadas surgido em França, pelas mãos <strong>de</strong> René<br />
Savatier, renomado civilista, <strong>de</strong>ão da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Poitiers – e Econômico são<br />
emblemáticos disso.<br />
Tudo se passa nesses casos como se o doutrinador doutrinasse ‘malgré lui’<br />
ou ‘malgré la doctrine même’, ou seja, doutrina-se como que não se sabendo (ou<br />
soubesse) ou ao menos não se consi<strong>de</strong>rando (ou consi<strong>de</strong>rasse) por inteiro, por ocasião<br />
<strong>de</strong> seu exercício, o vínculo umbilical entre o <strong>de</strong>terminativo, jurídico, e o substantivo,<br />
ramo do Direito, a que se refere. O doutrinador parece ignorar estar ante<br />
cincunstância legislativamente regrada: em face do Direito, pois.<br />
V.g., a correção monetária, do ponto <strong>de</strong> vista da Economia, não trazia conse-<br />
5 O alemão – para que se coteje –, língua igualmente indo-européia, tem legalmente vinte e<br />
sete: não se conta o cê cedilha e acrescenta-se-lhe o ‘Eszett”, equivalente a dois esses, <strong>de</strong> grafia assemelhada<br />
ao beta grego.<br />
6 É conhecido o emblemático caso da palavra imexível, antes no VOLP inexistente e que<br />
abonou-se a partir da edição <strong>de</strong> 1988 <strong>de</strong>le (à pág. 409).<br />
7 Na <strong>de</strong>corrente redação <strong>de</strong>finitiva do chamado ‘Anteprojeto <strong>de</strong> Simplificação e Unificação<br />
da Nomenclatura Gramatical Brasileira’ a comissão foi assessorada pela Aca<strong>de</strong>mia Brasileira <strong>de</strong><br />
Filologia, na expressão dos professores Antônio Chediak, Serafim da Silva Neto e Sílvio Elia.
Do direiro da língua portuguesa<br />
73<br />
qüências jurídicas; porém, do ponto <strong>de</strong> vista do Direito Econômico, a correção,<br />
disciplinada em lei, o fazia. Há diversos índices econômicos <strong>de</strong> inflação. Uns não<br />
têm e outros têm implicações jurídicas, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo do or<strong>de</strong>namento jurídico, ante<br />
o qual se encontram. A <strong>de</strong>limitação do conceito dum <strong>de</strong>terminado ativo fixo em<br />
Contabilida<strong>de</strong> Bancária, se estudado e estabelecido econômico-contabilmente, com<br />
finalida<strong>de</strong>s gerenciais, não importa cogência jurídica; mas o Direito Contábil Bancário,<br />
outrossim, ao exigir que o banco escriture segundo normas jurídicas próprias,<br />
sanciona seu <strong>de</strong>scumprimento. Em português, po<strong>de</strong>-se escrever ‘Vou à sua casa.”<br />
ou ‘Vou a sua casa.’; ‘Puxou a espada.’ ou ‘Puxou da espada.’: é questão <strong>de</strong><br />
intencionalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estilo; não se trata <strong>de</strong> <strong>de</strong>srespeito ao Direito do Idioma. Não se<br />
po<strong>de</strong>, no entanto, escrever ‘pô<strong>de</strong>’, quando se quer ‘po<strong>de</strong>’, como já visto, ou ‘pólo’,<br />
por ‘polo’, etc. Aí se dá questão <strong>de</strong> Direito da Língua <strong>de</strong> Camões (com significativas<br />
conseqüências em relação à interpretação do texto). Até mesmo por haver<br />
previsão legal explícita para o fato.<br />
Há diversos estudos <strong>de</strong> doutrina <strong>de</strong> Ciência pré-jurídica, na expressão dos<br />
diversos caminhos pela ciência não jurídica trilhados, como os há tantos outros <strong>de</strong><br />
doutrina <strong>de</strong> Ciência do Direito, espraiados pelos variados campos e inumeráveis<br />
áreas <strong>de</strong> seus andares. Os problemas se põem por haver sensíveis áreas <strong>de</strong><br />
‘overlapping’ entre esses campos, por ambos po<strong>de</strong>rem ter sua diferença específica<br />
concomitantemente referida a dois gêneros próximos. No caso da língua portuguesa:<br />
dum lado, o Direito Vernacular, enquanto Ciência do Direito, aplicado à língua<br />
<strong>de</strong> Drummond e Machado; doutro, a Ciência da Lingüística, enquanto ciência doutro<br />
rigor, aplicada à língua <strong>de</strong> Cabral e Pessoa.<br />
Trata-se <strong>de</strong> duas vocações, a jurídica e a lingüística, que às vezes se<br />
cruzam, quando o esgarçado fio condutor da <strong>de</strong>limitação entre ambas dificulta, mas<br />
não impossibilita, sua diferenciação. Exemplo princeps disso no Direito Civil seria<br />
estudo do divórcio à luz da Ciência do Direito, em <strong>de</strong>terminado país, a par <strong>de</strong> ante<br />
as ciências da Sociologia, da Antropologia Cultural, da Religião, e até mesmo da<br />
Teologia.<br />
Por exemplo, como discriminar estudo sobre ‘circunflexização’ do verbete<br />
forma (fôrma), com respeito à diferença entre sua forma verbal (forma) e substantiva<br />
(forma = mol<strong>de</strong>)? Um critério seria o objetivo que com ele se pretenda: se for<br />
estudar, interpretar, mudar legislação da língua portuguesa, doutrina jurídica aplicada;<br />
se for comparar os efeitos da acentuação no texto, quanto a possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
significação, no âmbito das línguas neolatinas, lingüística aplicada.<br />
Há casos mais ou menos ‘puros’: estudo para proposta <strong>de</strong> mudança da nomenclatura<br />
gramatical, em lei disposta – pois, jurídico –, em contraponto a trabalho<br />
para estudar a substantivação do adjetivo em português, contemplando o modo
74<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
como esse (adjetivo) exprime aquele (substantivo) com a qualida<strong>de</strong> que ele (adjetivo)<br />
imprima – pois, lingüístico.<br />
Da Virgulação das Orações Subordinadas Adverbiais Desenvolvidas<br />
Conexas<br />
Este tópico tem por escopo aplicação do Direito Vernacular ao assunto em<br />
epígrafe. Não se contemplarão orações subordinadas adverbiais justapostas nem<br />
reduzidas. Ainda, nos exemplos a seguir, que à evidência ao trabalho se aplicam, os<br />
conectivos nunca são elípticos.<br />
O Direito Vernacular, como outros âmbitos do Direito, po<strong>de</strong>-se dar quando<br />
a legislação específica seja praticamente inexistente, relativamente alentada ou benevolamente<br />
abundante. Exemplo da primeira hipótese po<strong>de</strong>ria tratar do caso da<br />
regência preposicional do infinitivo, nos casos em que a preposição se encontre em<br />
contração com artigo. Exemplo da segunda po<strong>de</strong> tratar do assunto virgulação, na<br />
vertente abaixo em apreço. Exemplo da última po<strong>de</strong>ria versar sobre hifenização, no<br />
caso dos prefixos: para especificar, na expressão do prefixo ‘ad’.<br />
Os três tópicos po<strong>de</strong>m-se utilizar para <strong>de</strong>senvolver ângulos <strong>de</strong> aproximação,<br />
prismas <strong>de</strong> enfoque, quanto ao assunto que aqui se aborda: Direito Português.<br />
Vejamos o segundo: afinal, In medio virtus.<br />
Do Assunto<br />
O problema da virgulação interoracional, quanto às orações subordinadas,<br />
dá-se por excelência no plano das adverbiais.<br />
Em comparação com o idioma alemão, 8 cujo disciplinamento jurídico da<br />
virgulação é bem mais <strong>de</strong>talhado e abrangente, 9 o português, et pour cause, requer<br />
amplos recursos doutrinários nesse estudo. Em Direito, menor o <strong>de</strong>talhamento legislativo,<br />
maiores as lacunas e as hipóteses interpretativo-integrativas correspon<strong>de</strong>ntes e, por via<br />
<strong>de</strong> conseqüência, também os estudos doutrinários. Sabe-se que não tão-só a interpretação,<br />
senão ainda a integração, se dão em respeito ao arcabouço jurídico da disciplina,<br />
que, se menos pormenorizado, dá vazão a maior liberda<strong>de</strong> do intérprete.<br />
No efeito, quanto à pontuação em geral – <strong>de</strong> que a vírgula é espécie –, a<br />
última seção do Formulário Ortográfico – Instruções para a Organização do Voca-<br />
8 O autor estuda em conjunto alemão e espanhol no oficioso Grupo Interlegislativo <strong>de</strong> Estudos<br />
Vernaculares – GIEVE, <strong>de</strong> que se incumbe. Esse Centro congrega as duas consultorias do Senado<br />
Fe<strong>de</strong>ral: Legislativa (Conleg) e <strong>de</strong> Orçamentos, Fiscalização e Controle (Conorf); e as co-irmãs da<br />
Câmara dos Deputados: Legislativa (Coleg) e <strong>de</strong> Orçamento e Fiscalização Financeira (COFF), em<br />
proposta <strong>de</strong> aperfeiçoamento pedagógico-cultural do setor.<br />
9 Exemplo da regra geral <strong>de</strong> que todas os idiomas, cotejados entre si, apresentam, conforme a<br />
área <strong>de</strong> estudo apreciada, maiores ou menores diferenças, nenhum sendo superior ou inferior a outro.
Do direiro da língua portuguesa<br />
75<br />
bulário Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado unanimemente pela Aca<strong>de</strong>mia<br />
Brasileira <strong>de</strong> Letras, em 12 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1943 –, <strong>de</strong> n° XVII, intitulada Sinais<br />
<strong>de</strong> Pontuação, trata <strong>de</strong> Aspas (item 50), Parênteses (item 51), Travessão (item 52) e<br />
Ponto Final (item 53). Por outra, as bases – <strong>de</strong> I a XXI – do citado Acordo Ortográfico<br />
da Língua Portuguesa, <strong>de</strong> 1990, que, embora ainda não esteja em vigor, po<strong>de</strong>ria,<br />
tivesse sobre o assunto versado, apontar alguns horizontes norteadores sobre o<br />
tema, sobre vírgula propriamente calam.<br />
No entanto, há exemplos emblemáticos na doutrina, em que se consi<strong>de</strong>ra, à<br />
unanimida<strong>de</strong>, a virgulação <strong>de</strong> rigor.<br />
É o caso das orações coor<strong>de</strong>nadas adversativas,<br />
‘Comi, mas não gostei’.<br />
Também, o das orações coor<strong>de</strong>nadas explicativas,<br />
‘Creio que choveu, pois a rua estava molhada.’<br />
A exceção, sempre possível para esse e outros exemplos, para o caso <strong>de</strong><br />
construções poéticas, literárias ou esdrúxulas, é <strong>de</strong>spicienda. Em princípio, as<br />
enunciações,<br />
*’Comi mas não gostei’ 10 e<br />
*’Creio que choveu pois a rua estava molhada’<br />
são agramaticais.<br />
Outrossim, há outros, em que a não-virgulação é que é praticamente obrigatória.<br />
É o que se dá com a separação intra-oracional do sujeito e seu complemento,<br />
‘O caçador matou o leão.’<br />
Também da separação interoracional entre orações principal e subordinada<br />
substantiva,<br />
‘O caçador disse que matou o leão.’<br />
São, pois, agramaticais,<br />
*’O caçador, matou o leão’ e<br />
*’O caçador disse, que matou o leão.’<br />
De regra, as orações subordinadas substantivas não se separam por vírgulas:<br />
a justificativa disso é que, por serem integrantes, completam o sentido da principal;<br />
as adjetivas, po<strong>de</strong>m ou não se separar por esse sinal: quando restritivas, não se<br />
separam, ocorrendo o oposto, em sendo explicativas. Esses fatos, assaz conhecidos,<br />
tão-só aqui trazidos à baila, sem mais, em contraponto ilustrativo, não dão<br />
motivo a maiores alvoroços na área da pontuação, já intra, já interoracional. O<br />
problema residiria nas orações subordinadas adverbiais.<br />
10 Os asteriscos marcam a agramaticalida<strong>de</strong>.
76<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
Da Doutrina<br />
Veja-se o que diz a respeito Rocha Lima, no item 15 <strong>de</strong> suas colocações sobre o<br />
uso da vírgula, 11 quando asserta <strong>de</strong>ver-se virgular, entre outros:<br />
“15 – Para separar as orações subordinadas adverbiais (iniciadas pelas conjunções<br />
subordinativas não-integrantes), quer antepostas, quer pospostas à principal.<br />
Exemplos:<br />
‘Juro que ela sentiu certo alívio, quando os nossos olhos se encontraram …’<br />
(Machado <strong>de</strong> Assis)<br />
‘Enquanto o senhor escarneceu o feitio das minhas botas, estava no seu ofício e<br />
no seu direito. Das botas acima, não.’<br />
(Camilo Castelo Branco)”<br />
Sua postura nesse sentido se reforça quando no item 17, logo a seguir, prescrevendo<br />
virgulação para as orações reduzidas, ao observar que as <strong>de</strong> infinitivo po<strong>de</strong>m ser<br />
tanto adverbiais como substantivas 12 , exclui essas da regra, que àquelas reserva,<br />
exemplificando no lanço camoniano:<br />
‘Pera servir-vos, braço às armas feito;<br />
Pera cantar-vos, mente às Musas dada …’<br />
É <strong>de</strong> notar que o ilustre gramático postula a colocação <strong>de</strong> vírgula tanto no caso<br />
em que a oração adverbial suce<strong>de</strong>, como quando, em or<strong>de</strong>m inversa, antece<strong>de</strong> a principal.<br />
13<br />
Não é outra a manifestação <strong>de</strong> Carlos Eduardo Pereira sobre o tema, senão<br />
assertar que 14 ‘quando [as orações adverbiais] exprimem circunstâncias dispensáveis<br />
ao sentido’ das subordinantes [principais], po<strong>de</strong>m separar-se por vírgula, para<br />
efeito <strong>de</strong> ‘clareza ou ênfase’. Há, pois, duas condições. A segunda – clareza ou<br />
ênfase – pertenceria à subjetivida<strong>de</strong> do estilo; a primeira – exprimir circunstâncias<br />
dispensáveis ao sentido –, no entanto, merece pon<strong>de</strong>ração. Por isso, e para fins <strong>de</strong><br />
Direito Vernacular comparado entre o espanhol e o português, cabe analisar o disposto<br />
na alentada obra <strong>de</strong> Torrego, em sua nova edição ampliada. 15<br />
11 Rocha Lima, Gramática normativa da língua portuguesa, 5° ed. F. Briguiet & Cia. Editores,<br />
Rio, 1960, pág. 546; 28° ed., José Olympio Editora S.A., Rio, 1987, pág. 426.<br />
12 Como as participiais po<strong>de</strong>m ser adjetivas ou adverbiais e as <strong>de</strong> gerúndio, tão-somente<br />
adverbiais.<br />
13 Sobre virgulação obrigatória <strong>de</strong> adverbiais intercaladas, veja-se Luft, Celso Pedro, ‘A vírgula’,<br />
1ª ed., Ed. Ática, São Paulo, 1996, págs. 29 a 31. (Edição póstuma.)<br />
14 Pereira, Carlos Eduardo. ‘Gramática expositiva’. São Paulo, Companhia Editora Nacional,<br />
1956, pág. 379.<br />
15 Torrego, Leonardo Gomez. ‘Gramática didáctica <strong>de</strong>l español’. Madrid, Ediciones SM, 1998,<br />
edición corregida e aumentada, pág. 297.
Do direiro da língua portuguesa<br />
77<br />
Esse autor consi<strong>de</strong>ra argumentos verbais os ‘complementos necesarios para<br />
el verbo; es <strong>de</strong>cir, el verbo los rige o exige. Sin ellos, o la oración es agramatical o<br />
el verbo presenta otro significado.’ E acresce que no elenco daqueles ‘se encuentran<br />
(…) los complementos adverbiales, que la gramática tradicional trataba entre los<br />
complementos circunstanciales’. Exemplifica com ‘María resi<strong>de</strong> en Madrid.’ Porque<br />
‘María resi<strong>de</strong>’ exige a compleição <strong>de</strong> ‘en Madrid’. E com ‘Esa casa cuesta<br />
mucho.’ Por análoga razão. Contrario sensu, id. ibid., chama <strong>de</strong> adjuntos os ‘complementos<br />
no exigidos por el verbo; sin ellos, la oración es gramatical y el verbo<br />
no cambia <strong>de</strong> significado. Entre ellos se encuentran los complementos<br />
circunstanciales propriamente dichos (…)’. Exemplifica com ‘Ayer [ontem] vi a<br />
Juan en el parque.’ Distingue, pois, complemento adverbial <strong>de</strong> complemento circunstancial<br />
propriamente dito (para nós, adjunto adverbial). Aquele completa e<br />
esse não completa o sentido do verbo. Não se diz ‘Maria resi<strong>de</strong>’ ou ‘Esta casa<br />
custa’ impunemente. Faltam-lhes os advérbios complementantes <strong>de</strong> sentido. Dizse<br />
com certeza ‘Vi a João’: oração que dispensa ‘Ontem’ e ‘no parque.’<br />
O Direito Vernacular brasileiro, vd. a NGB, seguiu percurso inverso ao do<br />
espanhol. Torrego escreve que da passagem da gramática tradicional [sic] espanhola<br />
para a, diga-se, não tradicional, diferençou-se complementos integrantes, aqueles,<br />
e acessórios, esses, para usar doutra nomenclatura, ambos efeitos se verificando<br />
em função da predicação verbal. Na NGB, a diferenciação não se fez e, ao invés,<br />
em percurso inverso, consi<strong>de</strong>raram-se ambos, adjunto e complemento adverbial,<br />
como um só – adjunto. Esse, contudo, não é o espírito, a Mens Legis, mas só a letra,<br />
da NGB, como adiante se verá. .<br />
Pereira (seu livro é <strong>de</strong> 1956, um ano antes do advento da nova Nomenclatura),<br />
ao condicionar a virgulação optativa das orações subordinadas adverbiais a que<br />
traduzam ‘expressão <strong>de</strong> circunstâncias dispensáveis ao sentido [do verbo]’ vai ao<br />
encontro <strong>de</strong> Torrego, diferençando as orações subordinadas adverbiais com função<br />
<strong>de</strong> adjunto adverbial, <strong>de</strong>snecessárias reitere-se à compleição do sentido do verbo,<br />
das com função <strong>de</strong> complemento adverbial, pelo verbo exigidas. Ao opcionalmente<br />
virgular aquelas, abona tanto ‘Vi a João, quando estive no parque’, como ‘Vi a João<br />
quando estive no parque’, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo do estilo mais ou menos ‘enfático ou claro’<br />
do redator; ao não virgular essas, abona ‘Maria resi<strong>de</strong> on<strong>de</strong> quer’, tão-só sem vírgula.<br />
Com isso, acaba por esten<strong>de</strong>r avant la lettre os conceitos intra-oracionais (termos<br />
oracionais) <strong>de</strong> adjunto e complemento adverbiais à dimensão interoracional,<br />
justamente com respeito, como não po<strong>de</strong>ria <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> ser, às orações adverbiais.
78<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
Para não nos alongarmos, basta-nos ainda citar Bechara, 16 como <strong>de</strong>fensor<br />
da virgulação das subordinadas adverbiais, quando antece<strong>de</strong>rem a principal, quando<br />
sejam intercaladas, e quando, ao suce<strong>de</strong>rem-lhe, tenham certa extensão. Isto é, o<br />
critério <strong>de</strong> virgulação das adverbiais pospostas à subordinante é sua certa extensão<br />
(não serem curtas, pois) e não sua função sintática <strong>de</strong> compleição verbal.<br />
Ante esse pot-pourri <strong>de</strong> propostas doutrinárias <strong>de</strong> escol, parece possível<br />
tentativamente <strong>de</strong>linear alguns balizamentos sobre o tema. De plano, há acordos e<br />
<strong>de</strong>sacordos. Acordo, quanto à virgulação das orações subordinadas adverbiais intercaladas<br />
bem como quanto às que antecedam a oração subordinante. Virgulam-se.<br />
Desacordo, quanto às orações subordinadas adverbiais que sucedam a subordinante.<br />
Ao passo que uns, virgulam-nas sempre: é o caso <strong>de</strong> Rocha Lima, ao menos pelo que<br />
vimos até este ponto; outros, virgulam-nas tão-só opcionalmente. Nesse caso, têm-se<br />
as propostas <strong>de</strong> Eduardo Pereira e <strong>de</strong> Evanildo Bechara. Pereira virgula opcionalmente<br />
as adverbiais pospostas quando sejam adjuntos adverbiais e, além disso, <strong>de</strong>sejar-selhes<br />
dar clareza e ênfase. Bechara virgula-as, também opcionalmente, bastando apenas,<br />
porém, que extensas sejam, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente <strong>de</strong> serem adjuntivas ou complementares<br />
ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>sejar-se enfatizá-las ou clarificá-las.<br />
Como as acepções <strong>de</strong> clareza e ênfase bem assim as <strong>de</strong> extensão são elementos<br />
assaz subjetivos, po<strong>de</strong>-se inferir valer por ora a hipótese <strong>de</strong> Pereira, supra citada,<br />
para o caso da virgulação opcional. Isto é, as orações subordinadas adverbiais pospostas<br />
à subordinante – quando adjuntivas –, po<strong>de</strong>m virgular-se, na <strong>de</strong>pendência do<br />
estilo, estilo este cujos critérios estéticos pertencem à subjetivida<strong>de</strong> do escritor.<br />
Da Legislação<br />
Para propor que a doutrina venha a preencher lacuna jurídica, ante a<br />
NGB, sirva-nos a<strong>de</strong>ntrar os aspectos doutrinários <strong>de</strong> Rocha Lima assim como<br />
comentar o exemplo <strong>de</strong> Torrego.<br />
Rocha Lima, na Gramática Normativa citada em nota anterior, 5ª edição, à<br />
págs. 172 a 174, ao tratar das conjunções subordinadas, não obstante sua<br />
retrotranscrita norma virgular ‘as orações subordinadas adverbiais (iniciadas pelas<br />
conjunções subordinativas não integrantes)’, dá os seguintes exemplos <strong>de</strong> orações<br />
subordinadas adverbiais à subordinante pospostas: 17<br />
16 Bechara, Evanildo, ‘Lições <strong>de</strong> português pela análise sintática’, 15° ed. revista, Padrão<br />
Livraria Ed. Ltda., Rio, 1992, pág. 145.<br />
17 São essas as nove orações adverbiais, previstas na NGB, em or<strong>de</strong>m alfabética. Os colchetes<br />
<strong>de</strong>stacam-nas. (Acrescentam-se, mais adiante neste estudo, as locativas e as modais, comentando-se<br />
aquelas.)
Do direiro da língua portuguesa<br />
79<br />
causal: ‘Ele foi-se embora, [porque não podia pagar a pensão.]’;<br />
comparativas: ‘Este dicionário é mais completo [do que o meu.]’;<br />
‘Nada o preocupava tanto, [quanto a educação dos filhos.]’;<br />
concessiva: ‘Comprarei o livro, [embora o ache caríssimo.]’;<br />
condicional: ‘Irei a casa, [se pu<strong>de</strong>r.]’;<br />
conformativa: ‘Resolvi o problema, [conforme o professor me ensinou.]’;<br />
consecutivas: ‘Ele foi tão generoso, [que me <strong>de</strong>ixou pasmado.]’;<br />
final: ‘Ele mentiu [para que o <strong>de</strong>ixassem sair.]’;<br />
‘Insisto [porque me <strong>de</strong>volvas os documentos.]’;<br />
proporcionais: ‘O ruído aumentava [à proporção que penetrávamos na selva.]’;<br />
temporal: ‘Restituir-lhe-ei os livros, [tanto que você <strong>de</strong>les precise.]’.<br />
Como se observa, <strong>de</strong> encontro ao comando normativo, as orações comparativas<br />
virgularam-se ora sim, ora não, ao passo que as subordinadas finais e as proporcionais<br />
não se virgulam, o que dá à norma maior alcance e extensão. Nessa conformida<strong>de</strong>,<br />
na 28º edição do mesmo livro, à págs. 162 a 164, on<strong>de</strong> se repetem quase todos os<br />
exemplos da 5ª, a exceção <strong>de</strong> fundo é justamente a das comparativas, que passam a<br />
não se virgularem <strong>de</strong> todo (‘A prata vale menos [do que o ouro]’, ‘Nada é tão importante<br />
[como a verda<strong>de</strong>]’). Disso po<strong>de</strong>-se concluir que a regra <strong>de</strong> virgularem-se as<br />
adverbiais obrigatória e indiscriminadamente se flexibiliza com respeito às finais,<br />
proporcionais e comparativas. 18<br />
Por outra, o exemplo escolhido por Torrego para ilustrar complemento adverbial,<br />
‘Maria resi<strong>de</strong> em Madri’, se transladado da perspectiva intra para a interoracional,<br />
redundará em oração subordinada adverbial locativa – tipo ‘Maria resi<strong>de</strong> on<strong>de</strong> quer’<br />
–, categoria não prevista na NGB.<br />
Para contornar o problema, alguns doutrinadores analisam a construção por<br />
via <strong>de</strong> artifícios tais como ‘Maria resi<strong>de</strong> no lugar em que quer’, criando oração adjetiva<br />
restritiva. Assumem que o redator redigira algo que no texto não se acha; logo, algo<br />
que efetivamente não redigiu. Ocorre que esse é caso típico <strong>de</strong> lacuna jurídica na<br />
NGB – o que lhe não é em absoluto <strong>de</strong>sdouro, monumento que é das letras jurídicas<br />
pátrias –, figura prevista na teoria geral do Direito bem como na <strong>Lei</strong> <strong>de</strong> Introdução<br />
do Código Civil (LICC), 19 que se po<strong>de</strong> preencher. É caso em que o fato aí está,<br />
sem norma jurídica que possa subsumi-lo. Isso acontece, quando o conceito legal,<br />
mesmo tendo sofrido interpretação lógico-extensiva, não consegue subsumir o ele-<br />
18 Lembre-se, não sendo escopo do presente comentar, que esse autor consi<strong>de</strong>ra as proporcionais<br />
e as consecutivas em grupo que <strong>de</strong>nomina <strong>de</strong> correlativas, nesse caso (e nalguns outros) foi voto<br />
vencido na elaboração da NGB, porém com argumentos <strong>de</strong> sólidas premissas.<br />
19 Lacunas legislativas fazem parte do jogo do Direito.
80<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
mento fático – propriamente vida do Direito. Nesses casos, não cabe distorcê-los, aos<br />
fatos, para fazê-los caber na norma, qual como o corpo - fático – no leito <strong>de</strong> Procusto. 20<br />
Contrario sensu, a idéia é ‘criar’ norma, em respeito a mens legis – da NGB no caso<br />
–, que é sem dúvida bem classificar orações subordinadas – vivas –, reflexos dos<br />
fatos lingüísticos trazidos à luz pelos lusófonos, irrespectivamente <strong>de</strong> serem adjuntivas<br />
ou completivas. O Direito (NGB) não po<strong>de</strong> se esquivar <strong>de</strong> enfrentar o fato, muito<br />
menos na expressão do intérprete. Refugiar-se no brocardo castelhano ‘Yo no creo en<br />
brujas, pero que las hay las hay’. As locativas, antes que bruxas medievas, são realida<strong>de</strong>s<br />
fáticas da concretu<strong>de</strong> mesma do falar lusófono diuturno.<br />
Nessa conformida<strong>de</strong>, não foi outra a colocação <strong>de</strong> Macambira, 21 ao consi<strong>de</strong>rar<br />
‘on<strong>de</strong>’, ‘don<strong>de</strong>’, ‘aon<strong>de</strong>’, ‘por on<strong>de</strong>’ e ‘para on<strong>de</strong>’, conjunções locativas, o que,<br />
segundo ele, no que tem razão, Griesbach-Schulz, em sua Grammatik <strong>de</strong>r Deutscen<br />
Sprache, abona. Gama Kury 22 , mantendo o nome ‘oração locativa’, postula no entanto<br />
serem orações adverbiais introduzidas por advérbio. Porque a função adverbial <strong>de</strong><br />
‘on<strong>de</strong>’ permanece intra-oracionalmente, ou seja, em ‘Maria resi<strong>de</strong> [on<strong>de</strong> quer.], ‘on<strong>de</strong>’,<br />
<strong>de</strong>mais <strong>de</strong> subordinar ‘on<strong>de</strong> quer’ a ‘resi<strong>de</strong>’, tem função adverbial em ‘on<strong>de</strong> quer’.<br />
Segundo esse raciocínio, então, a locativa seria oração subordinada justaposta (sem<br />
conectivo). Daí não caber propor-se ‘on<strong>de</strong>’ como conectivo e como advérbio, em<br />
dupla categoria, aten<strong>de</strong>ndo-se às posições <strong>de</strong> ambos os doutrinadores. Em ambas as<br />
hipóteses classificatórias, no entanto, a locativa é complemento, não adjunto adverbial,<br />
que é o que interessa ao presente escrito.<br />
Muito se po<strong>de</strong>ria discorrer sobre virgulação das orações sob estudo. Para<br />
concluir, no entanto, veja-se o que se tem até o presente, em síntese do que até<br />
agora se viu, em termos <strong>de</strong> exemplos vívidos do idioma, extraídos <strong>de</strong> ilustres<br />
doutrinadores e <strong>de</strong> não menos ilustres escritores luso-brasileiros: 23<br />
causal: ‘Não me aflijo [porque posso esperar.]’ (Ma);<br />
‘Ele foi-se embora, [porque não podia pagar a pensão.]’ (RL);<br />
comparativa: ‘Não és tão hábil [quanto se pensava.]’ (Ma);<br />
20 Personagem da mitologia grega que ‘a<strong>de</strong>quava’ o corpo dos mortais, cortando-lhes as pernas,<br />
ou encumpridando-as, para que lhe coubessem no leito.<br />
21 Macambira, José Rebouças. ‘A Estrutura Morfo-Sintática do Português’. São Paulo, 6ª Ed.,<br />
Livraria Editora Pioneira, 1990, págs. 109 e 340.<br />
22 da Gama Kury, Adriano. Novas Lições <strong>de</strong> Análise Sintática. São Paulo, 2ª Ed., Editora<br />
Ática, 1986, pág. 100.<br />
23 Ma refere-se a Macambira, op. cit., p. 340. RL, à Rocha Lima, op. cit., págs. 172 a 174. DL,<br />
à Martins, Dileta Silveira e Zilberknop, Lúblia Scliar, Português Instrumental, Porto Alegre, Ed. Prodil,<br />
11ª ed., 1979, pág. 267. GK, à Kury, Adriano da Gama, op. cit., págs. 92 a 103. Sa, à Sacconi, Luiz<br />
Antonio, Nossa Gramática, São Paulo, Atual Ed., 25ª ed., 1999, pág. 385.
Do direiro da língua portuguesa<br />
81<br />
‘Ela é tão inteligente [como a irmã.]’ 24 (DL);<br />
‘Venho apertar nos braços um parente, que me honra tanto<br />
com a inteligência, [quanto seus avós me honraram com a<br />
lança.]’ 25 (GK);<br />
concessiva: ‘Todos os dias vem ao mundo marrecos, perus e pintos [sem<br />
que isso ponha comichões na pena dos novelistas.]’ 26 (GK);<br />
‘Comprarei o livro, [embora o ache caríssimo.]’ (RL);<br />
condicional: ‘Eles não prosseguirão nas obras [sem que o governo lhes<br />
pague.]’ (GK);<br />
‘Irei a casa, [se pu<strong>de</strong>r.]’ (RL);<br />
conformativa: ‘Cada um colhe [conforme semeia.]’ (Sa);<br />
‘Resolvi o problema, [conforme o professor me ensinou.]’<br />
(RL);<br />
consecutiva: ‘Esperei tanto [que acabei comovendo a todos.]’ (Ma);<br />
‘Ele foi tão generoso, [que me <strong>de</strong>ixou pasmado.]’ (RL);<br />
final: ‘Ele mentiu [para que o <strong>de</strong>ixassem sair.]’ (RL);<br />
‘Era preciso que minha mãe me repreen<strong>de</strong>sse, [para que eu<br />
fosse mais zeloso.]’ 27 (GK);<br />
locativa: 28 ‘Os mortos ficam bem [on<strong>de</strong> caem.]’ 29 (GK);<br />
‘Há sempre luz e calor [por on<strong>de</strong> passas.]’ (Ma)<br />
modal: 30 ‘Eu <strong>de</strong>ixo a vida [como <strong>de</strong>ixa o tédio do <strong>de</strong>serto o poento<br />
Caminheiro.]’ (GK);<br />
‘Todos estavam exaustos, [<strong>de</strong> modo que se recolheram<br />
logo.]’ (GK);<br />
proporcional: ‘O ruído aumentava [à proporção que penetrávamos na<br />
selva.]’ (RL);<br />
‘As criaturas são mais perfeitas, [à proporção que são<br />
capazes <strong>de</strong> amor.]’ 31 (GK);<br />
24 Elipse do verbo da principal na subordinada, fato não raro nas comparativas.<br />
25 Castelo Branco, Camilo. Amor <strong>de</strong> Perdição, in Obra Seleta, v. I, ed. <strong>de</strong> Jacinto do Prado<br />
Coelho, Rio <strong>de</strong> Janeiro, Aguilar, 1960, pág. 809.<br />
26 Lobato, Monteiro, Urupês, Outros Contos e Coisas, São Paulo, Ed. Nacional, 2ª ed., 1945,<br />
pág. 548.<br />
27 Barreto, Lima, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Rio <strong>de</strong> Janeiro, Tip. Rev. dos<br />
Tribunais, 2ª ed. 1917, pág. 30.<br />
28 Vd. acima sua ‘dupla’ classificação, conexas versus justapostas.<br />
29 Assis, Machado <strong>de</strong>, Memorial <strong>de</strong> Ayres, Nova H. Garnier, 1908, pág. 10.<br />
30 Não previstas na NGB. Esse doutrinador, que as postula ante apreciáveis razões, nos brinda<br />
com dois exemplos <strong>de</strong>las.<br />
31 Aires, Matias, Reflexões sobre a Vaida<strong>de</strong> dos Homens, Rio <strong>de</strong> Janeiro, J. <strong>Lei</strong>te Ribeiro, s.d.,<br />
Fac-símile da 1ª ed., Lisboa , 1752, pág. 169.
82<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
temporal: ‘A gente vive somente [enquanto ama.]’ (Sa, 387);<br />
‘Restituir-lhe-ei os livros, [tanto que você <strong>de</strong>les precise.]’<br />
(RL).<br />
Há, à evidência e à exaustão, pletora <strong>de</strong> exemplos para ambos os lados,<br />
tanto se virgulando como não se virgulando as subordinadas. À exceção das locativas,<br />
que nos dois exemplos não se virgularam, a coisa beiraria à licenciosida<strong>de</strong> poética,<br />
se disso se tratasse. Trata-se tão-só porém <strong>de</strong> permissibilida<strong>de</strong> estilística.<br />
Don<strong>de</strong>, segundo as premissas <strong>de</strong>sse panorama, po<strong>de</strong>r-se tentativamente concluir<br />
virgularem-se em princípio as orações subordinadas <strong>de</strong>senvolvidas conexas,<br />
quando intercaladas ou quando antece<strong>de</strong>ndo a subordinante. Contrario sensu , quando<br />
àquela estejam pospostas, são apenas opcionalmente virguláveis, na <strong>de</strong>pendência<br />
das intenções do escritor, que, ao fazê-lo, com isso quererá enfatizá-las ou, vista<br />
sua extensão, graficamente separá-las, ou ainda quiçá propriamente produzir algum<br />
outro efeito <strong>de</strong> estilo, a<strong>de</strong>quado à nuança <strong>de</strong> sentido que pretenda dar.<br />
A exceção por excelência se daria com as locativas. Virguláveis quer estejam<br />
no início, quer no meio do período, virgulam-se também ao final <strong>de</strong>le. Porque,<br />
ao contrário das outras orações subordinadas co-irmãs, que são adjuntivas, são<br />
completivas.<br />
Resumo e Conclusão<br />
Disso tudo, resta peremptoriamente consignar que este trabalho é exato o<br />
oposto <strong>de</strong> outorgar a bacharéis a exclusivida<strong>de</strong> na elaboração da doutrina <strong>de</strong> Direito<br />
Vernacular 32 . Ao invés, ela a ninguém é exclusiva, nem mesmo aos gramáticos, o<br />
que quer que isso signifique. O que interessa é ser ou não a doutrina uma boa<br />
doutrina e isso <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> seu valor intrínseco, do mérito e da capacida<strong>de</strong> do<br />
doutrinador, o que quer que ele seja ou venha a sê-lo, mas nunca dos títulos, diplomas<br />
ou <strong>de</strong>nominações que tenha obtido ou venha a obter.<br />
Também aqui não se discute da necessida<strong>de</strong> ou <strong>de</strong>snecessida<strong>de</strong> do Direito<br />
da Língua Portuguesa, nem se versa sobre se o Direito do Idioma Português é bom,<br />
ruim, ou algo <strong>de</strong> permeio. Tampouco se cogita sobre a hipótese <strong>de</strong> ser ou não ser o<br />
Direito Vernacular um ramo do Direito. Por fim, não se indaga, estabelecido fosse<br />
o Direito do Vernáculo como ramo do Direito, se seria ramo ‘in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte’, autônomo<br />
ou o que valha.<br />
A proposta que aqui se veicula é a <strong>de</strong> fazer <strong>de</strong>sabrochar, aflorar, <strong>de</strong>socultar,<br />
32 Ou propostas <strong>de</strong> projetos <strong>de</strong> leis ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisões judiciárias ou administrativas.
Do direiro da língua portuguesa<br />
83<br />
<strong>de</strong>svelar um fato semi-oculto. A existência do Direito Vernacular, como um dos<br />
âmbitos inafastáveis do Direito. É um fato propriamente ontológico; logo, inelutável.<br />
Para começar, não há argumentos contra. Até porque praticamente não é questão<br />
argumentativa, mas visual. Nem um cego, que leia em braille, po<strong>de</strong> disso duvidar.<br />
Veja-se exemplo. Por simples questão <strong>de</strong> gênero próximo e diferença específica,<br />
‘metalurgia selênica’ seria a ciência que estuda os metais da lua. Porque se trata<br />
<strong>de</strong> gênero próximo: <strong>de</strong> metais e não <strong>de</strong> formigas; e porque se trata <strong>de</strong> diferença<br />
específica: metais da lua e não da terra. Quem perquire, mutatis mutandis sobre<br />
como se <strong>de</strong>va acentuar ‘pó’, palavra com certeza portuguesa, ou como classificar<br />
pronomes portugueses, ou como utilizar as aspas ou o ponto em português, ou se<br />
existe a palavra ‘<strong>de</strong>svelação’ ou ‘imexível’ no vocabulário do idioma português,<br />
ao buscar resposta a suas dúvidas, na legislação que trata da língua portuguesa, e<br />
na doutrina que inegavelmente se estriba na legislação, e na jurisprudência que<br />
trate dos fatos da língua portuguesa à luz do Direito, em que constelação do conhecimento<br />
humano, em que ciência, em que gênero próximo está: Entomologia,<br />
Geografia ou Direito? E mais, a<strong>de</strong>ntrando a Ciência do Direito, com que âmbito se<br />
<strong>de</strong>para: Direito Espacial, Direito Ecológico ou Direito Vernacular?<br />
Há inúmeras teorias sobre o papel do Direito na socieda<strong>de</strong>, e tantas outras<br />
sobre a boa ou má utilização do Direito por <strong>de</strong>terminados estamentos sociais em<br />
<strong>de</strong>trimento <strong>de</strong> outros. Por exemplo, o Marquês <strong>de</strong> Pombal, 33 no último quartel do<br />
século XVIII, exarou medidas legais <strong>de</strong> proteção à língua portuguesa no Brasil,<br />
invadido nos dois séculos anteriores pela chamada língua geral, o tupi. 34 Fala-se até<br />
em absurda pena <strong>de</strong> morte, à época da colônia, para quem falasse o tupi e não o<br />
português. Algo assemelhado, ao que se lê, embora em grau infinitamente menor,<br />
até porque a<strong>de</strong>quado aos novos tempos, às contemporâneas leis francesas <strong>de</strong> proteção<br />
daquela língua contra a invasão do ‘franglês’. Este trabalho não colima tomar<br />
partido contra ou a favor <strong>de</strong>sses acontecimentos, tão-só constatar a presença do<br />
Direito Vernacular em diversos passos da história da civilização oci<strong>de</strong>ntal. Vejamse,<br />
entre outros, recentes avanços do inglês em ex-colônias francesas no norte da<br />
África ou as consentidas traduções oficiais para o inglês <strong>de</strong> peças legislativas em<br />
países bálticos – em especial as referentes ao comércio exterior –, com apoio <strong>de</strong><br />
organizações <strong>de</strong> países <strong>de</strong> fala inglesa. O Parlamento norte-americano teria <strong>de</strong>cidi-<br />
33 Agra<strong>de</strong>ce-se ao Dr. Eurico Antônio Gonzales Cursino dos Santos, sociólogo, PhD em Sociologia<br />
na Alemanha, Professor <strong>de</strong> Sociologia na Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília – Unb e profissional indiretamente<br />
vinculado à Coleg, por troca <strong>de</strong> idéias sobre essa importante figura política da história <strong>de</strong><br />
Portugal. 34 Segundo correta opinão dos Consultores Gerobal Guimarães e Álvaro Gustavo Castelo<br />
Parucker, da Coleg (o primeiro, autorida<strong>de</strong> em tupi), simplesmente não existe tupi-guarani, senão tupi<br />
e guarani.
84<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
do, por diferença <strong>de</strong> um voto, à época da In<strong>de</strong>pendência, que seria o inglês e não o<br />
alemão a língua daquele País. 35 Ainda, este País tem, <strong>de</strong>ntre mais <strong>de</strong> cinquenta,<br />
vinte e cinco Estado, em que o inglês é lingua oficial. 36 Em Luxemburgo, ao menos<br />
em sua Capital, fato constatado pelo autor in loco, tudo se vê escrito em francês, ao<br />
passo que as pessoas entre si falam luxemburguês, assaz assemelhado ao alemão.<br />
Na ocasião, disseram-lhe que as leis se redigiam em francês, idioma oficial da nação.<br />
Compreenda-se a complexida<strong>de</strong> do Direito Vernacular em países <strong>de</strong> tal sorte.<br />
Enfim, acresça-se saber-se diversos países terem mais <strong>de</strong> um idioma oficial.<br />
O que aqui se preten<strong>de</strong> limitada e tão-somente é abertura <strong>de</strong> horizontes,<br />
dirigida sobremodo aos estudiosos do idioma <strong>de</strong> Guimarães Rosa, porque melhor<br />
se situem na óbvia, repita-se, óbvia situação <strong>de</strong> nossa língua, auto-evi<strong>de</strong>nte e havida<br />
<strong>de</strong> há muito tempo, na expressão <strong>de</strong> seu disciplinamento pelo Direito. Há que abrir<br />
portas para que, quando se estu<strong>de</strong> o português, não se venha a ignorar que, a começar<br />
pelo nome, como abaixo se verá, o Direito alastra-se pelos meandros da língua<br />
portuguesa e a tendência – para o bem ou para o mal, ou melhor, para o mal e para<br />
o bem e para o ‘bemmal’ e para o ‘malbem’, para a vida, enfim, que o Direito ten<strong>de</strong><br />
a administrar, a medida que ela mais e mais se torna transglobalmente complexa –<br />
é que aumente sua influência na área. Haja vista a insidiosida<strong>de</strong> do Direito das<br />
relações hauridas na Internet, apenas para exemplificar com esse momento infoglobalizado<br />
da história contemporânea. É um fato!<br />
O Direito tem regras próprias. Não é uma ciência anárquica. Não se po<strong>de</strong><br />
impunemente integrar lacunas jurídicas da NGB <strong>de</strong>sregradamente. Há propor sua<br />
integração, em total respeito ao arcabouço da própria NGB, ao todo da legislação,<br />
à Constituição Fe<strong>de</strong>ral mesma e, enfim, aos valores da cultura da Nação, que nossa<br />
Magna Carta reflete.<br />
Por exemplo, há todo um espírito <strong>de</strong> diferençar-se na NGB complementos<br />
<strong>de</strong> adjuntos. A começar pelos nomes, em que se dá oposição entre os adjuntos<br />
adnominais e os complementos nominais. Nessa linha, não há poque não diferenciar-se<br />
entre adjuntos adverbiais e complementos adverbiais.<br />
Com relação à transposição <strong>de</strong> classificação <strong>de</strong> termos intra-oracionais para<br />
dimensão interoracional, <strong>de</strong> igual modo, e.g., basta cotejar-se na NGB: objeto direto,<br />
objeto indireto, etc., ou seja, termos da oração, por um lado; com subordinada<br />
substantiva objetiva direta, objetiva indireta, etc., ou seja, orações do período, por<br />
outro. Em <strong>de</strong>corrência, porque não dar completu<strong>de</strong> ao todo, com relação à funções<br />
35 Ao menos isso foi referido, embora sempre informalmente, ao autor, por norte-americanos,<br />
seus colegas, durante os anos em que trabalhou na ONU.<br />
36 Segundo fax para o autor do Information Resource Center, Embaixada dos E.E.U.U. no<br />
Brasil. Agra<strong>de</strong>ce-se à Sra. Dulce Maria Baptista pelo envio.
Do direiro da língua portuguesa<br />
85<br />
circunstanciais (leia-se adverbiais), consi<strong>de</strong>rando-as, intra e interoracionalmente,<br />
tanto nas suas dimensões <strong>de</strong> adjunção como nas <strong>de</strong> completamento?<br />
São aspectos jurídicos da questão, que implicam interpretações e integrações<br />
também jurídicas, pois, por parte dos intérpretes. Não cabe em Direito dizer que a<br />
lei está ‘certa’, ‘errada’, ou o que valha. Melhor cabe interpretá-la, integrá-la, para<br />
que cumpra seu papel ante os fatos, razão <strong>de</strong> sua vida.<br />
Os valores da cultura refletem-se no arcabouço jurídico da comunida<strong>de</strong>. Para<br />
ilustrá-lo, em termos <strong>de</strong> Direito Vernacular comparado, 37 veja-se Engel, ao exemplificar<br />
subordinadas adverbiais locativas (Lokalangaben), categoria que abona: 38<br />
‘[Wo heute die Strasse verläuft,] haben wir früher noch Kartoffeln angebaut.’<br />
‘Wir haben, [wo heute die Strasse verläuft,] früher noch Kartoffeln angebaut.’<br />
‘Wir haben früher noch Kartoffeln angebaut, [wo heute die Strasse verläuft.]’<br />
‘Antes produzíamos batatas [on<strong>de</strong> hoje correm as avenidas.]’<br />
Os valores teutônicos, quanto à sintaxe, importam separar as orações 39 por<br />
vírgulas, irrespectivamente <strong>de</strong> serem adjuntivas ou completivas. Portanto, as locativas<br />
ou não locativas se virgulam enquanto orações, pelo simples fato <strong>de</strong> sê-lo e nada<br />
mais.<br />
À alma, ao gênio, ao ‘Weltanschauung’ lusófono, causa-lhe estranhesa separar<br />
o sujeito <strong>de</strong> seu complemento, quer intra, quer interoracionalmente; quer adverbiais,<br />
quer verbais. Daí, e.g., não serem as orações substantivas objetivas diretas<br />
separadas por vírgulas nesse idioma.<br />
São apenas duas posições, ab initio, diferentes. Duas premissas maiores.<br />
Ambas estão certas. Nenhuma das duas está ‘errada’. Só retratam dois valores,<br />
ambos legítimos. Em questão <strong>de</strong> Direito, como dizia Paulo Men<strong>de</strong>s Campos, há<br />
leis, como a vacina, que não pegam, a par das que pegam. Se, num país <strong>de</strong> língua<br />
portuguesa, se fizesse uma lei, comandando virgular aquelas orações, separando<br />
assim o sujeito <strong>de</strong> seu complemento, não pegaria.<br />
Este trabalho retrata, melhor, transcreve pletora <strong>de</strong> aporias. Há aporias <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> livros <strong>de</strong> doutrina <strong>de</strong> Direito Vernacular, assim como as há entre livros <strong>de</strong> doutrina<br />
<strong>de</strong> Direito do Idioma Português. Isso lhes dignifica e enobrece. Daí ficar claro que o<br />
37 A propósito, como se viu anteriormente, o Direito Vernacular chega ao plano do Direito<br />
Internacional, haja vista os tratados e acordos entre países sobre o assunto, como é o caso da Comunida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Países <strong>de</strong> Língua Portuguesa, êmula da Comunida<strong>de</strong> Britânica <strong>de</strong> Nações.<br />
38 Engel, Ulrich, Deutsche Grammatik, Heil<strong>de</strong>lberg, Julius Groos Verlag, 3ª ed., 1996, pág. 223.<br />
39 Consi<strong>de</strong>rando a oração (evento) como um nome (conceito) expandido, ou, vice-versa, o<br />
nome como uma oração reduzida, daí resulta que no idioma <strong>de</strong> Goethe os processos no discurso se<br />
<strong>de</strong>stacam, separando-se via virgulação e dispondo-se, então, conforme os modos em que se articulam.
86<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
presente estudo não contém críticas negativas, antes reconhece a gran<strong>de</strong>za <strong>de</strong> nossos<br />
doutrinadores – os aqui citados e os aqui não citados, que tantos outros são –, também<br />
expressa em sua obra, nas ocasiões em que criaram diplomas legislativos. Até porque<br />
as aporias, as vacilações, as dúvidas e quejandos pertencem sobremodo ao mundo do<br />
Direito, sendo-lhe quase que como essência. Direito não se dá nas nuvens. É na terra<br />
que se tem dúvidas, mas que se <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>; que se faz, mas que se erra; que se arrisca, mas<br />
que se ganha (ou per<strong>de</strong>). Por isso, o ensino-aprendizado dá-se pelo diálogo. As pessoas,<br />
se apren<strong>de</strong>m, apren<strong>de</strong>m juntas, trocando idéias entre si. Espera-se que esta<br />
<strong>de</strong>spretenciosa colocação venha a <strong>de</strong>spertar o leitor, para que <strong>de</strong>sfrute o prazer <strong>de</strong><br />
percorrer novas veredas, em face do portal do Direito Vernacular, que lhe se abre,<br />
reitere-se ad nauseam, em duplo prisma: o do Direito, como gênero próximo; o da<br />
língua portuguesa, como diferença específica.<br />
Sem maiores comentários, termina-se com o seguinte, que fala <strong>de</strong> per si.<br />
“O art. 35 das disposições transitórias da Constituição Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> 18 <strong>de</strong><br />
setembro <strong>de</strong> 1946 prescrevia: ‘O Governo nomeará comissão <strong>de</strong> professores, escritores<br />
e jornalistas, que opine sobre a <strong>de</strong>nominação do idioma nacional’. Em <strong>de</strong>corrência,<br />
nomeou-se a seguinte comissão: Dr. Afonso <strong>de</strong> Taunay, Dr. Cláudio <strong>de</strong> Sousa,<br />
Embaixador José Carlos <strong>de</strong> Macedo Soares, Dr. Levi Carneiro e Professor Pedro<br />
Calmon, da Aca<strong>de</strong>mia Brasileira <strong>de</strong> Letras; Pe. Augusto Magne, Professor Clóvis<br />
Monteiro, Professor Júlio Nogueira e Professor Sousa da Silveira, da Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong><br />
Filologia; Dr. Gilberto Freyre e Dr. Gustavo Capanema, ambos Deputados, esse ex-<br />
Ministro da Educação; Dr. Herbert Moses, Presi<strong>de</strong>nte da Associação Brasileira <strong>de</strong><br />
Imprensa, Professor Inácio Manuel Azevedo do Amaral, Reitor da Universida<strong>de</strong><br />
do Brasil, Pe. Leonel Franca, Reitor da Universida<strong>de</strong> Católica, e Gen. Fortes <strong>de</strong><br />
Oliveira, Inspetor Geral do Ensino Militar. Foi presi<strong>de</strong>nte o Embaixador Macedo<br />
Soares, vice, o Dr. Cláudio <strong>de</strong> Sousa e relator o Professor Sousa da Silveira. Esse<br />
apresentou alentado relatório, aprovado unanimente pela Comissão, ao então Ministro<br />
da Educação, Professor Ernesto <strong>de</strong> Sousa Campos, cuja conclusão foi a seguinte:<br />
‘À vista do que fica exposto a Comissão reconhece e proclama esta verda<strong>de</strong>:<br />
o idioma nacional do Brasil é a língua portuguesa.<br />
E, em conseqüência opina que a <strong>de</strong>nominação do idioma nacional do Brasil<br />
continue a ser: Língua Portuguesa.<br />
Esta <strong>de</strong>nominação, além <strong>de</strong> correspon<strong>de</strong>r à verda<strong>de</strong> dos fatos, tem a vantagem<br />
<strong>de</strong> lembrar, em duas palavras – Língua Portuguesa –, a história <strong>de</strong> nossa origem<br />
e a base fundamental <strong>de</strong> nossa formação <strong>de</strong> povo civilizado.
Do direiro da língua portuguesa<br />
87<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro, 15 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1946.’” (Adaptou-se o texto à nova ortografia.)<br />
Portanto, é graças a disposição legal, jurídica, <strong>de</strong> Direito, pois, disposta na<br />
Magna Carta, no Estatuto Maior, na Lex Legum ou <strong>Lei</strong> das <strong>Lei</strong>s, no mais alto<br />
diploma jurídico duma nação, que V.Sa. e eu, caro leitor, somos falantes nativos <strong>de</strong><br />
português.<br />
Você sabia?
88<br />
Parques, pólos tecnológicos e<br />
incubadoras: balanço da experiência<br />
brasileira e <strong>de</strong> outros países<br />
Walkyria Menezes <strong>Lei</strong>tão Tavares<br />
Consultora Legislativa da Câmara dos Deputados<br />
Área <strong>de</strong> Comunicações, Informática e Ciência e Tecnologia<br />
A partir da década <strong>de</strong> oitenta, assistimos à implantação em nosso País <strong>de</strong><br />
empreendimentos com o objetivo <strong>de</strong> aproximar os resultados da pesquisa e <strong>de</strong>senvolvimento<br />
realizados no meio acadêmico do segmento empresarial e <strong>de</strong> alavancar<br />
a criação <strong>de</strong> novas empresas, bem como mo<strong>de</strong>rnizar e aumentar a competitivida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> empresas existentes.<br />
Tais arranjos institucionais seguiram, inicialmente, mo<strong>de</strong>los importados dos<br />
países <strong>de</strong>senvolvidos, que foram, ao longo dos anos, sendo adaptados a nossa realida<strong>de</strong>.<br />
Desse processo <strong>de</strong> adaptação surgiram iniciativas que guardam semelhanças<br />
com diversos tipos <strong>de</strong> empreendimentos em funcionamento naqueles países,<br />
mas que receberam <strong>de</strong>nominações distintas. Assim sendo, tratamos, num primeiro<br />
momento, <strong>de</strong> apresentar os conceitos relacionados com o tema, consagrados pelos<br />
estudiosos da matéria, tanto em nível local como internacional.<br />
I – Conceituação<br />
O termo tecnópoles, utilizado para <strong>de</strong>signar as cida<strong>de</strong>s tecnológicas, criadas<br />
na década <strong>de</strong> sessenta, no Japão e na França, ao longo dos anos, passou também a ser<br />
usado para <strong>de</strong>nominar outras iniciativas <strong>de</strong> aproximação do segmento empresarial<br />
dos agentes que realizam e promovem pesquisa e <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico,<br />
inseridas em estratégias <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento econômico local ou regional.<br />
No processo <strong>de</strong> difusão <strong>de</strong>ssas experiências, os conceitos foram se modificando<br />
e adquirindo contornos distintos, muito <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> características locais e<br />
surgiram outras <strong>de</strong>nominações: parques científicos e tecnológicos, pólos tecnológicos<br />
e centros <strong>de</strong> inovação. O termo “incubadoras <strong>de</strong> empresas”, embora utilizado nos<br />
Estados Unidos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a década <strong>de</strong> 50, para nomear iniciativas <strong>de</strong> estímulo à criação<br />
e <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> novas empresas, passou a ser amplamente empregado, na medida<br />
em que este tipo <strong>de</strong> empreendimento difundiu-se em vários países da Europa e<br />
no Japão, na década <strong>de</strong> 80, e mais recentemente em países em <strong>de</strong>senvolvimento.<br />
Em nível internacional, são adotadas, segundo a OCDE – Organização <strong>de</strong>
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
89<br />
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, as seguintes nomenclaturas 1 :<br />
1 – Centro <strong>de</strong> inovação<br />
Empreendimento baseado no oferecimento <strong>de</strong> infra-estrutura para a instalação<br />
e crescimento <strong>de</strong> firmas. Seus outros objetivos seriam: <strong>de</strong>senvolvimento do<br />
processo <strong>de</strong> inovação em uma dada região, cooperação entre pesquisadores e indústria,<br />
fornecimento <strong>de</strong> treinamento técnico e gerencial e fortalecimento do <strong>de</strong>senvolvimento<br />
econômico das regiões, por meio <strong>de</strong> sua interligação a re<strong>de</strong>s internacionais<br />
que permitam a troca <strong>de</strong> informações e a cooperação entre empresas.<br />
2 – Parque científico ou <strong>de</strong> pesquisa (science or research parks)<br />
Um parque científico ou <strong>de</strong> pesquisa po<strong>de</strong> ser caracterizado como um conjunto<br />
complexo <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s realizadas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma área geográfica limitada, em<br />
torno <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong> ou centro <strong>de</strong> pesquisa, na qual pesquisa <strong>de</strong> alto valor<br />
agregado é combinada com capital e infra-estrutura industrial por empreen<strong>de</strong>dores. A<br />
Associação Internacional <strong>de</strong> Parques Científicos (IASP) <strong>de</strong>fine estes empreendimentos<br />
como sendo resultado <strong>de</strong> um acordo formal com os centros <strong>de</strong> pesquisa universitários,<br />
com o objetivo <strong>de</strong> promover a instalação e o crescimento <strong>de</strong> empresas <strong>de</strong> base<br />
tecnológica, sendo o principal mecanismo utilizado a transferência <strong>de</strong> especialistas<br />
técnicos e gerenciais para estas firmas. Em alguns países, os parques científicos também<br />
objetivam atrair empresas estabelecidas para sua área geográfica.<br />
3 - Parque tecnológico<br />
Maiores do que os parques científicos (science parks), o parque tecnológico<br />
ou tecnópole é uma zona <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> econômica composta por universida<strong>de</strong>s, centros<br />
<strong>de</strong> pesquisa, unida<strong>de</strong>s industriais e <strong>de</strong> serviços, que realizam suas ativida<strong>de</strong>s com<br />
base em pesquisa e <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico. Os parques tecnológicos possuem<br />
área geográfica limitada, porém estão fortemente ligados a gran<strong>de</strong>s empresas e à<br />
infra-estrutura <strong>de</strong> pesquisa pública, tanto em nível local como internacional. No Japão<br />
e na França, o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> tecnópole adotado esten<strong>de</strong>-se por toda área urbana<br />
circundante. Nos Estados Unidos, o conceito <strong>de</strong> parque tecnológico difere um pouco,<br />
na medida em que seu principal objetivo é promover a sinergia entre as instituições <strong>de</strong><br />
pesquisa e setores industriais, criando centros <strong>de</strong> competência.<br />
4 – Incubadora <strong>de</strong> empresas<br />
A OCDE <strong>de</strong>fine três categorias <strong>de</strong> incubadoras <strong>de</strong> empresas <strong>de</strong> acordo com<br />
sua finalida<strong>de</strong>:<br />
1 OCDE (1997), “Technology Incubators: Nurturing Small Firms”, obtido no site http://<br />
www.oecd.org
90<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
4.1 – Geral/Uso Misto - o principal objetivo <strong>de</strong>ssas incubadoras é promover<br />
continuamente o crescimento econômico e industrial regional por meio do <strong>de</strong>senvolvimento<br />
<strong>de</strong> negócios em geral. Embora essas incubadoras abriguem empresas<br />
intensivas em conhecimento, elas também incluem firmas com baixo nível<br />
tecnológico que atuam nos setores <strong>de</strong> serviços e <strong>de</strong> manufatura leve. O principal<br />
foco do suporte oferecido pela incubadora é o acesso a fontes locais ou regionais <strong>de</strong><br />
recursos financeiros, gerenciais, técnicos e <strong>de</strong> marketing.<br />
4.2 – Incubadoras <strong>de</strong> Desenvolvimento Econômico - sua principal meta é o<br />
atingimento <strong>de</strong> objetivos econômicos, tais como a criação <strong>de</strong> empregos e a<br />
restruturação industrial. Resultam, freqüentemente, <strong>de</strong> iniciativas governamentais,<br />
que preten<strong>de</strong>m apoiar a criação <strong>de</strong> novas empresas e o crescimento <strong>de</strong> empresas<br />
existentes capazes <strong>de</strong> gerar novos empregos. Em alguns países, estes esforços são<br />
direcionados para segmentos específicos da população, tais como jovens, <strong>de</strong>sempregados<br />
há muito tempo, mulheres e minorias. Nos Estados Unidos, exemplos<br />
incluem o fortalecimento <strong>de</strong> micro e pequenas empresas.<br />
4.3 – Incubadoras tecnológicas - seu objetivo primordial é o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
<strong>de</strong> empresas <strong>de</strong> base tecnológica 2 . São normalmente localizadas no campus<br />
universitário, ou próximo <strong>de</strong>le, e em parques científicos ou tecnológicos, sendo<br />
caracterizadas por forte interação com universida<strong>de</strong>s, agências <strong>de</strong> transferência <strong>de</strong><br />
tecnologia, centros <strong>de</strong> pesquisa, laboratórios nacionais e pessoal <strong>de</strong> pesquisa e <strong>de</strong>senvolvimento<br />
altamente especializado. A promoção da transferência e da difusão<br />
<strong>de</strong> tecnologia, bem como o encorajamento do “empreen<strong>de</strong>dorismo” entre acadêmicos<br />
e pesquisadores, são outros objetivos visados por essas iniciativas.<br />
No Brasil, a <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> pólo tecnológico mais referenciada em artigos<br />
publicados é a apresentada por Me<strong>de</strong>iros et alli em 1992 3 :<br />
“Pólo tecnológico, ou pólo científico tecnológico, é um mecanismo <strong>de</strong> gestão,<br />
<strong>de</strong>stinado ao <strong>de</strong>senvolvimento, consolidação e marketing das novas tecnologias,<br />
<strong>de</strong>finido por quatro elementos:<br />
·· instituições <strong>de</strong> ensino e pesquisa que se especializaram em pelo menos<br />
uma das novas tecnologias;<br />
·· aglomerado <strong>de</strong> empresas envolvidas nesses <strong>de</strong>senvolvimentos;<br />
2 Empresa que fundamenta sua ativida<strong>de</strong> produtiva no <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> novos produtos e<br />
processos, baseado na aplicação sistemática <strong>de</strong> conhecimentos científicos e tecnológicos e na utilização<br />
<strong>de</strong> técnicas consi<strong>de</strong>radas avançadas ou pioneiras<br />
3 Me<strong>de</strong>iros, J. A. et alli, Pólos, Parques e Incubadoras, A busca da mo<strong>de</strong>rnização e<br />
competitivida<strong>de</strong>, 1992.
Parques, pólos tecnológicos e incubadoras: balanço da experiência<br />
91<br />
brasileira e <strong>de</strong> outros países<br />
·· projetos conjuntos <strong>de</strong> inovação tecnológica (empresa-universida<strong>de</strong>), usualmente<br />
estimuladas pelo governo dado o caráter estratégico dos <strong>de</strong>senvolvimentos<br />
a eles associados;<br />
·· estrutura organizacional apropriada (mesmo informal).”<br />
Com base na experiência brasileira, os autores apresentaram três configurações<br />
básicas <strong>de</strong> pólos tecnológicos:<br />
·· Pólo tecnológico com estrutura organizacional informal: as empresas e as<br />
instituições <strong>de</strong> ensino e pesquisa estão dispersas pela cida<strong>de</strong>. Apesar da ausência <strong>de</strong><br />
estrutura organizacional formal, estão presentes ações sistematizadas e projetos<br />
conjuntos que proporcionam alguma interação entre esses agrupamentos. Eventualmente<br />
há uma incubadora para abrigar as empresas nascentes;<br />
·· Pólo tecnológico com estrutura organizacional formal: as empresas e as<br />
instituições <strong>de</strong> ensino e pesquisa estão dispersas pela cida<strong>de</strong>, mas existe uma entida<strong>de</strong><br />
gestora, formalmente constituída, encarregada <strong>de</strong> acelerar a criação <strong>de</strong> empresas,<br />
facilitar seu funcionamento e promover a integração entre os parceiros envolvidos<br />
no processo <strong>de</strong> inovação tecnológica. Eventualmente há uma incubadora para<br />
abrigar as empresas nascentes;<br />
·· Parque tecnológico: as empresas estão reunidas num mesmo local, <strong>de</strong>ntro<br />
do campus da universida<strong>de</strong> ou em área próxima (distância inferior a 5Km). Existe<br />
uma entida<strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nadora do pólo, concebida para facilitar a integração universida<strong>de</strong>-empresa<br />
e para gerenciar o uso <strong>de</strong> facilida<strong>de</strong>s existentes no pólo. Estão disponíveis,<br />
para venda e locação, terrenos e/ou prédios, os quais abrigam uma incubadora<br />
ou condomínio <strong>de</strong> empresas.<br />
As incubadoras foram <strong>de</strong>finidas como um núcleo que abriga, usualmente,<br />
microempresas <strong>de</strong> base tecnológica. Trata-se <strong>de</strong> um espaço comum, subdividido<br />
em módulos, que costuma localizar-se próximo a universida<strong>de</strong>s e centros <strong>de</strong> pesquisa<br />
para que as empresas possam se beneficiar <strong>de</strong> seus laboratórios e recursos<br />
humanos. As empresas instaladas, além <strong>de</strong> compartilhar espaço físico, têm acesso<br />
a infra-estrutura técnica e administrativa.<br />
Outro conceito introduzido à época pelos mesmos autores é o <strong>de</strong> pólo <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>rnização tecnológica. Trata-se <strong>de</strong> arranjo que agrega esforços no sentido <strong>de</strong><br />
transferir o conhecimento disponível nas instituições <strong>de</strong> ensino e pesquisa para o<br />
conjunto da economia, isto é, para os setores chamados tradicionais. Esse conceito<br />
aproxima-se da experiência francesa dos Centros Regionais <strong>de</strong> Inovação Tecnológica<br />
e <strong>de</strong> Transferência <strong>de</strong> Tecnologia (CRITT). Tais agrupamentos buscam trazer o<br />
conhecimento para setores pre<strong>de</strong>finidos, fazendo com que as empresas consigam<br />
melhorar sua qualida<strong>de</strong> e produtivida<strong>de</strong>.
92<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
II – Experiência Internacional<br />
A prática <strong>de</strong> aproximar universida<strong>de</strong>s que realizam pesquisa da indústria<br />
privada teve seu início nos Estados Unidos com a instalação, em 1951, do Stanford<br />
Research Park e, em 1959, do Research Triangle Park, na Carolina do Norte. O<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong>stas iniciativas provocou o nascimento <strong>de</strong> diversas parcerias<br />
entre o setor público e o privado, com o objetivo <strong>de</strong> criar base <strong>de</strong> pesquisa capaz <strong>de</strong><br />
suportar o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> novas empresas. O sucesso <strong>de</strong>sses empreendimentos,<br />
bem como das iniciativas bem conhecidas do Vale do Silício (na Califórnia) e<br />
da Estrada 28 (próxima a Boston) transformaram a experiência americana em<br />
paradigma para a instalação <strong>de</strong> pólos e parques científicos e tecnológicos em outros<br />
países, em especial na Europa.<br />
A participação do governo, direcionada para setores consi<strong>de</strong>rados<br />
prioritários para a economia americana, foi fundamental para a consolidação <strong>de</strong>sses<br />
empreendimentos. Contribuíram ainda fortemente para o seu sucesso a disponibilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> capitais <strong>de</strong> risco e uma estreita vinculação com laboratórios <strong>de</strong><br />
pesquisa acadêmica.<br />
No Japão, o governo também implementou estratégia <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
que contemplou a criação <strong>de</strong> parques tecnológicos, <strong>de</strong>ntro do plano <strong>de</strong> redistribuição<br />
<strong>de</strong> centros <strong>de</strong> criação <strong>de</strong> tecnologia e <strong>de</strong> realocação <strong>de</strong> indústrias.<br />
Cida<strong>de</strong>s tecnológicas (tecnópoles) foram implantadas naquele país com o<br />
objetivo <strong>de</strong> criar simbiose entre as atmosferas do campo e da cida<strong>de</strong>, reproduzindo<br />
seu dinamismo em áreas menores e visando a revitalização <strong>de</strong> regiões carentes. As<br />
tecnópoles japonesas foram planejadas para funcionar junto a cida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> médio<br />
porte e contam com todas as facilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> moradia e <strong>de</strong> transporte, agrupando<br />
indústrias, centros <strong>de</strong> pesquisa e <strong>de</strong>senvolvimento e complexos habitacionais.<br />
Na França, foi adotado mo<strong>de</strong>lo semelhante <strong>de</strong> tecnópoles, tendo sido montadas<br />
nos arredores das gran<strong>de</strong>s cida<strong>de</strong>s as chamadas “villes nouvelles”. Embora<br />
também estimulem o <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico em setores pre<strong>de</strong>finidos, essas<br />
aglomerações urbanas visam, sobretudo, aliviar as cida<strong>de</strong>s maiores do excesso <strong>de</strong><br />
população e dos problemas a ele associados. Numa concepção mais simples do que<br />
as tecnópoles, a França investiu fortemente, a partir da década <strong>de</strong> sessenta, na construção<br />
<strong>de</strong> pólos tecnológicos (technopoles), sendo o primeiro <strong>de</strong>les localizado em<br />
Nice, pólo tecnológico <strong>de</strong> Sophie-Antipolis, seguido por mo<strong>de</strong>los similares em<br />
Toulouse e Grenoble.<br />
No Reino Unido, foi instituído, em 1970, o primeiro parque científico<br />
(Cambridge Science Park) e, durante a década <strong>de</strong> 80, observou-se rápido crescimento<br />
do número <strong>de</strong> parques instalados. Tal crescimento <strong>de</strong>veu-se, em parte, à<br />
instalação <strong>de</strong> parques não ligados a universida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> política governamental
Parques, pólos tecnológicos e incubadoras: balanço da experiência<br />
93<br />
brasileira e <strong>de</strong> outros países<br />
<strong>de</strong> reconversão <strong>de</strong> regiões dominadas pela recessão ou em <strong>de</strong>clínio industrial.<br />
A Alemanha adotou o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> centro <strong>de</strong> inovação, sendo que o primeiro<br />
<strong>de</strong>les foi criado em Berlim em 1983. Embora esses centros difiram dos parques<br />
científicos e tecnológicos, pois não oferecem serviços compartilhados, são projetados<br />
para <strong>de</strong>senvolver estreitas ligações com universida<strong>de</strong>s e centros <strong>de</strong> pesquisa, com o<br />
objetivo <strong>de</strong> apoiar o <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico das empresas neles instaladas.<br />
Observa-se, atualmente, naquele país, tendência <strong>de</strong> os centros <strong>de</strong> inovação expandirem-se,<br />
passando a possuir características <strong>de</strong> parque, ou <strong>de</strong> integrarem-se a parques<br />
existentes.<br />
Em geral, os parques científicos e tecnológicos europeus, com exceção <strong>de</strong><br />
alguns na França, ten<strong>de</strong>m a ser menores do que os americanos, que envolvem várias<br />
centenas <strong>de</strong> firmas e milhares <strong>de</strong> empregados, conforme é exemplificado no Quadro<br />
I apresentado a seguir. O Quadro II apresenta dados sobre o número <strong>de</strong> centros<br />
<strong>de</strong> inovação, parques e pólos tecnológicos instalados nos países da Europa nos<br />
quais esse movimento é mais presente.<br />
Quanto às incubadoras <strong>de</strong> empresas, fenômeno existente nos Estados Unidos<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> a década <strong>de</strong> 60, somente começaram a ser implantadas em outros países<br />
nos últimos anos.<br />
Inicialmente concebidas como uma forma <strong>de</strong> revitalizar regiões em <strong>de</strong>clínio<br />
econômico, mediante o suporte a empreen<strong>de</strong>dores interessados na criação <strong>de</strong> novas<br />
empresas, as incubadoras tornaram-se instrumento relevante para a melhoria da<br />
competitivida<strong>de</strong> regional e nacional, a partir da adoção <strong>de</strong> nascentes empresas <strong>de</strong><br />
base tecnológica.
94<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
Quadro I – Parques científicos e tecnológicos nos Estados Unidos e na Europa<br />
Parque Ano <strong>de</strong> criação Número<br />
<strong>de</strong> empresas<br />
Stanford Research Park (EUA) 1951 162 26.000<br />
Research Triangle Park (EUA) 1959 71 34.000<br />
Charleston University Reasearch Park (EUA) 1968 29 12.000<br />
Metro Tech. (EUA) 1988 18 14.000<br />
Irvine Spectrum (EUA) 1978 2.000 32.000<br />
Lousiania Bimedical Development Park (EUA) 1991 20 15.000<br />
Sophie Antipolis (França) 1969 1.034 16.200<br />
Cambridge Science Park (Inglaterra) 1970 72 3.600<br />
Tetrapole Grenoble (França) 1972 600 12.000<br />
Nancy Brabois Innovation (França) 1977 250 15.000<br />
Villeneuve D’Ascq Technopole (França) 1986 2.497 22.259<br />
Milano Centrale Servizi, Milan (Itália) 1985 40 5.000<br />
Area Science Park, Trieste (Itália) 1982 35 790<br />
Technopoliis, Bari (Itália) 1984 53 500<br />
Fonte: OCDE (1997)<br />
País<br />
Fonte: OCDE, 1997.<br />
Quadro II – Parques científicos tecnológicos nos países da União Européia<br />
Ano<br />
Número <strong>de</strong> centros <strong>de</strong><br />
inovação/parques/pólos<br />
Número <strong>de</strong> empresas<br />
Número <strong>de</strong><br />
empregados<br />
Número <strong>de</strong><br />
empregados<br />
Áustria 1993 28 Centros <strong>de</strong> inovação 350 EBT e 45 Institutos 2.800<br />
Dinamarca 1995 5 parques 180 firmas 1.025<br />
Finlândia 1994 9 parques 800 firmas 8.000<br />
Alemanha 1992 124 centros <strong>de</strong> inovação<br />
França 1995 35 parques 7.160 firmas 145.834<br />
Reino Unido 1995 46 parques 1.250 firmas 23.229<br />
Itália 1997 23 parques 147 firmas 6.900<br />
Holanda 1993 7 parques 280 firmas 3.000<br />
Espanha 1995 15 parques 311 firmas 8.307<br />
Tal mudança ocorreu <strong>de</strong> forma mais acentuada a partir da década <strong>de</strong> 80,<br />
quando o conceito <strong>de</strong> incubação passou a estar ligado à pesquisa e <strong>de</strong>senvolvimento<br />
tecnológico. A partir daquele momento, as incubadoras <strong>de</strong> empresa tornaram-se<br />
importante foco das políticas <strong>de</strong> inovação e <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico nos<br />
países <strong>de</strong>senvolvidos, <strong>de</strong>vido à crescente relevância por eles atribuída às pequenas<br />
e médias empresas, que possuem gran<strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> novos empregos
Parques, pólos tecnológicos e incubadoras: balanço da experiência<br />
95<br />
brasileira e <strong>de</strong> outros países<br />
e po<strong>de</strong>m ainda contribuir para a implementação <strong>de</strong> mudanças estruturais nos setores<br />
produtivos e estimular o <strong>de</strong>senvolvimento econômico.<br />
Na década <strong>de</strong> 90, observou-se o direcionamento dos esforços na construção<br />
<strong>de</strong> incubadoras para áreas <strong>de</strong> tecnologia <strong>de</strong> ponta, em especial biotecnologia,<br />
tecnologia da informação e tecnologia ambiental, as chamadas incubadoras<br />
tecnológicas, embora continue existindo gran<strong>de</strong> quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> incubadoras <strong>de</strong> empresas<br />
voltadas para os setores tradicionais da economia ou atuando <strong>de</strong> forma mista.<br />
Segundo dados da OCDE 4 , existiam, em 1992, cerca <strong>de</strong> 2.000 incubadoras<br />
<strong>de</strong> empresas em funcionamento em diferentes partes do mundo. Dados mais recentes,<br />
<strong>de</strong> 1995, resultantes <strong>de</strong> levantamento realizado pelo PNUD 5 , apontam 1.500<br />
incubadoras instaladas. Essa diferença po<strong>de</strong> ser explicada pelas dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
caracterização <strong>de</strong>stas iniciativas e pelas variações nos conceitos adotados nos diversos<br />
países. Muitas vezes, torna-se difícil isolar os processos <strong>de</strong> incubação quando<br />
fazem parte, na prática, da estrutura <strong>de</strong> uma universida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> um parque científico<br />
e tecnológico ou até <strong>de</strong> um centro <strong>de</strong> inovação.<br />
A NBIA – National Business Incubation Association realizou em 1998 levantamento<br />
que catalogou 587 incubadoras nos Estados Unidos 6 . Segundo o levantamento,<br />
<strong>de</strong>ste montante, 51% são mantidas por agências governamentais ou<br />
organizações privadas sem fins lucrativos e têm como principal objetivo a criação<br />
<strong>de</strong> empregos, a diversificação econômica e a expansão da base <strong>de</strong> recolhimento <strong>de</strong><br />
impostos. As incubadoras relacionadas ao mundo acadêmico representam 27% do<br />
total, são afiliadas <strong>de</strong> universida<strong>de</strong>s ou escolas <strong>de</strong> nível superior e colégios técnicos<br />
e têm os mesmos objetivos das anteriores, porém oferecem aos alunos e professores<br />
oportunida<strong>de</strong>s para iniciar seus próprios negócios. Outro subconjunto <strong>de</strong>tectado<br />
pelo levantamento é constituído por 16% do total e agrega incubadoras formadas<br />
a partir <strong>de</strong> esforços do governo, organismos sem fins lucrativos e entida<strong>de</strong>s<br />
privadas, sendo que essa parceria viabiliza o acesso a recursos governamentais e a<br />
especialistas e financiamentos oriundos do setor privado. Outro subconjunto suportado<br />
pelo setor privado, porém com claro objetivo <strong>de</strong> obtenção <strong>de</strong> lucro, representa<br />
6% do total <strong>de</strong> incubadoras americanas. O setor privado neste caso busca<br />
obter retorno econômico pelo investimento nas empresas incubadas. Os 5% restantes<br />
são incubadoras apoiadas por fontes não convencionais, tais como grupos religiosos,<br />
câmaras <strong>de</strong> comércio, organizações artísticas, entre outras.<br />
4 OCDE (1997), “Technology Incubators: Nurturing Small Firms”, obtido no site http://<br />
www.oecd.org.<br />
5 Me<strong>de</strong>iros, J. A.,”Incubadoras <strong>de</strong> empresa, lições da experiência internacional”, Revista <strong>de</strong><br />
Administração, São Paulo, v.33, n.2, p. 5-20, abril/junho <strong>de</strong> 1998.<br />
6 Dados obtidos no site da NBIA na Internet (www.nbia.org)
96<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
Outra informação do levantamento realizado pela NBIA que merece <strong>de</strong>staque<br />
é a <strong>de</strong>stinação das incubadoras: 47% são gerais ou <strong>de</strong> uso misto; 25% são<br />
tecnológicas; 10% atuam na área <strong>de</strong> manufatura; 9% são focadas no apoio ao<br />
surgimento <strong>de</strong> empresas num setor específico (por exemplo biomédica, alimentos,<br />
moda, etc..); 6% voltadas para a área <strong>de</strong> serviços e os restantes para outros<br />
segmentos.<br />
Por último, cabe enfatizar que as incubadoras norte-americanas criaram até<br />
hoje 19.000 empresas, que ainda se encontram em ativida<strong>de</strong>, e geraram 245.000<br />
empregos.<br />
Na Europa, on<strong>de</strong> a experiência <strong>de</strong> incubação <strong>de</strong> empresas é mais recente, a<br />
Comissão da Comunida<strong>de</strong> Européia estabeleceu, em 1984, a EBN - European<br />
Business Innovation Network, composta <strong>de</strong> 120 centros <strong>de</strong> inovação (BIC - Business<br />
Innovation Centres), localizados em 17 países. Levantamento realizado em 1995<br />
<strong>de</strong>terminou que 79% dos BIC abrigam algum mecanismo <strong>de</strong> incubação.<br />
A França é o país da Europa que possui maior número <strong>de</strong> incubadoras instaladas.<br />
De acordo com a ANCE - Agence Nationale pour le Dévelopement et la<br />
Création <strong>de</strong>s Enterprises, existem 210 incubadoras na França, mantidas direta ou<br />
indiretamente por governos locais (comunida<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>partamentos, regiões), bem como<br />
por investidores privados. A agência estima que existam 2.500 empresas instaladas<br />
nas incubadoras, responsáveis pela criação <strong>de</strong> 10.000 empregos. Um total <strong>de</strong> 5.000<br />
firmas (e correspon<strong>de</strong>ntes 23.000 empregos) que ainda se encontram em operação<br />
foram gerados pelas incubadoras francesas.<br />
Na Alemanha, as incubadoras fazem parte da estrutura dos 200 centros <strong>de</strong><br />
inovação em operação naquele país e centram sua atuação em três principais<br />
tecnologias: informação e comunicação, software e meio ambiente. No período <strong>de</strong><br />
1983 a 1996, cerca <strong>de</strong> 6.500 firmas foram criadas nos centros <strong>de</strong> inovação, sendo<br />
que 82% <strong>de</strong>las são empresas <strong>de</strong> base tecnológica, meta<strong>de</strong> <strong>de</strong>las resultantes <strong>de</strong> spinoffs<br />
<strong>de</strong> universida<strong>de</strong>s e centros <strong>de</strong> pesquisa.<br />
No Reino Unido, o processo <strong>de</strong> incubação é geralmente centralizado pelos<br />
parques científicos e tecnológicos. Em 1995, existiam cerca <strong>de</strong> 1.250 firmas instaladas<br />
em 48 parques, empregando mais <strong>de</strong> 23.000 pessoas.<br />
A instalação <strong>de</strong> incubadoras é um fenômeno recente no Japão, sendo que<br />
esses empreendimentos fazem parte da estrutura dos centros <strong>de</strong> inovação e dos<br />
parques científicos e tecnológicos. Em 1994, havia 45 incubadoras em operação<br />
naquele país. Apesar <strong>de</strong> oferecerem serviços técnicos e gerenciais comparáveis aos<br />
disponíveis nas incubadoras da Alemanha e dos Estados Unidos, as incubadoras<br />
japonesas apresentam clara <strong>de</strong>svantagem em relação àquelas iniciativas no tocante<br />
ao acesso a financiamento, em especial capital <strong>de</strong> risco.
Parques, pólos tecnológicos e incubadoras: balanço da experiência<br />
97<br />
brasileira e <strong>de</strong> outros países<br />
III – Estágio <strong>de</strong> Desenvolvimento no Brasil<br />
Um dos exemplos mais significativos <strong>de</strong> pólo tecnológico brasileiro é o<br />
Pólo <strong>de</strong> São José dos Campos, que se formou sem que houvesse uma entida<strong>de</strong><br />
formalmente <strong>de</strong>signada para sua implantação e sem preocupação com a criação <strong>de</strong><br />
empreendimento para coor<strong>de</strong>nar as parcerias que se estabeleceram naturalmente.<br />
Foi, no entanto, fundamental para seu <strong>de</strong>senvolvimento a instalação, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
São José dos Campos, do Centro Tecnológico da Aeronáutica, a partir <strong>de</strong> 1950, e<br />
do Instituto <strong>de</strong> Pesquisas Espaciais, em 1961. O parque industrial que se consolidou<br />
em torno <strong>de</strong>ssas duas instituições engloba <strong>de</strong>s<strong>de</strong> empresas multinacionais <strong>de</strong><br />
médio e gran<strong>de</strong> porte, empresas nacionais <strong>de</strong> setores tradicionais, bem como empresas<br />
<strong>de</strong> base tecnológica que atuam nos setores aeroespacial, <strong>de</strong> material <strong>de</strong> <strong>de</strong>fesa<br />
e <strong>de</strong> eletrônica embarcada.<br />
Segundo Me<strong>de</strong>iros e Perillo 7 , a capacitação tecnológica que se gerou e consolidou<br />
em São José dos Campos teve sua origem no interesse governamental em<br />
<strong>de</strong>senvolver esses setores, estratégicos para o <strong>de</strong>senvolvimento nacional, e que tiveram,<br />
portanto, forte apoio governamental via financiamentos diretos ou por meio<br />
do uso do po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> compra estatal. É claro que também contribuíram para seu<br />
sucesso a habilida<strong>de</strong> e o pioneirismo das pessoas que li<strong>de</strong>ravam os projetos e a<br />
preocupação constante em repassar as tecnologias para a indústria, superando-se<br />
barreiras institucionais e burocráticas.<br />
Outro exemplo que se inclui na formatação <strong>de</strong> pólo com estrutura informal é<br />
o Pólo <strong>de</strong> Campinas, cida<strong>de</strong> que há muitos anos possui relevância no cenário científico<br />
e tecnológico do Pais, <strong>de</strong>vido à pesença <strong>de</strong> importantes instituições <strong>de</strong> ensino<br />
e pesquisa. A construção da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Campinas, iniciada em 1966, é consi<strong>de</strong>rada<br />
por muitos um verda<strong>de</strong>iro marco para a consolidação da cida<strong>de</strong> como um<br />
dos principais pólos tecnológicos brasileiros.<br />
A Unicamp <strong>de</strong>sempenhou papel <strong>de</strong> vanguarda, absorvendo pesquisadores<br />
altamente qualificados, que retornavam <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> doutoramento no exterior,<br />
e rompendo a rigi<strong>de</strong>z do sistema universitário vigente naquela época. Assim se<br />
implantou um projeto mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> universida<strong>de</strong>, que enfatiza a pesquisa, a pósgraduação<br />
e a produção científica e tecnológica. O sucesso <strong>de</strong> estratégias <strong>de</strong> obtenção<br />
<strong>de</strong> financiamento para a montagem <strong>de</strong> laboratórios sofisticados foi outro fator<br />
<strong>de</strong> alavancagem do <strong>de</strong>senvolvimento da universida<strong>de</strong>. Devido aos resultados obtidos,<br />
reconhecidos inclusive internacionalmente, por exemplo, com a pesquisa e<br />
7 Me<strong>de</strong>iros, J. A. e Perillo, S. A., Implantação e Consolidação <strong>de</strong> um Pólo Tecnológico: O caso<br />
<strong>de</strong> São José dos Campos, Revista <strong>de</strong> Administração <strong>de</strong> Empresas, São Paulo, 30 (2), P. 35-45, Abr./<br />
Jun. 1990.
98<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
<strong>de</strong>senvolvimento no campo da física, passou a <strong>de</strong>sempenhar papel <strong>de</strong> âncora do<br />
pólo tecnológico <strong>de</strong> Campinas 8 .<br />
Desenvolvido inicialmente em torno da Unicamp, o pólo se consolidou a<br />
partir da instalação <strong>de</strong> centros <strong>de</strong> pesquisa e laboratórios, como o Centro <strong>de</strong> Pesquisa<br />
e Desenvolvimento da Telebrás, em 1980, o Centro <strong>de</strong> Tecnológico para a<br />
Informática, em 1984, e o Laboratório Nacional <strong>de</strong> Luz Síncroton, em 1993. A<br />
competência <strong>de</strong>ssas entida<strong>de</strong>s nas áreas <strong>de</strong> física, telecomunicações e informática<br />
atraiu diversas empresas para a região.<br />
Assim como no caso <strong>de</strong> São José dos Campos, foi fundamental a<br />
implementação <strong>de</strong> políticas ativas do governo fe<strong>de</strong>ral que apoiaram com investimentos<br />
maciços a formação <strong>de</strong> recursos humanos altamente qualificados, a realização<br />
<strong>de</strong> pesquisa e <strong>de</strong>senvolvimento e promoveram intensa interação com empresas<br />
locais.<br />
Mais recentemente, pólos com estrutura informal passaram a contar com<br />
entida<strong>de</strong>s coor<strong>de</strong>nadoras. Em São José dos Campos, foi instituída, em 1990, a<br />
Polovale - Fundação Pólo Tecnológico <strong>de</strong> São José dos Campos e Vale do Paraíba,<br />
com o objetivo <strong>de</strong> criar e gerir pólos tecnológicos naquela região. Em Campinas,<br />
foi criada, em 1986, a CIATEC – Companhia <strong>de</strong> Desenvolvimento do Pólo <strong>de</strong> Alta<br />
Tecnologia <strong>de</strong> Campinas, cuja entida<strong>de</strong> gestora foi formada pela Unicamp e pela<br />
Prefeitura <strong>de</strong> Campinas. A CIATEC possui duas áreas urbanizadas e com serviços<br />
públicos industriais instalados, prontas para receber empresas <strong>de</strong> base tecnológica.<br />
Pólos com estrutura formal e parques tecnológicos somente começaram a<br />
surgir no País a partir <strong>de</strong> 1984, com o apoio do Programa <strong>de</strong> Implantação <strong>de</strong> Parques<br />
Tecnológicos, coor<strong>de</strong>nado pelo CNPq – Conselho Nacional <strong>de</strong> Desenvolvimento<br />
Científico e Tecnológico.<br />
Os primeiros pólos resultantes <strong>de</strong>sse apoio, enquadrados na categoria <strong>de</strong><br />
pólos tecnológicos com estrutura formal, surgiram em São Carlos, Campina Gran<strong>de</strong><br />
e Florianópolis. No Rio <strong>de</strong> Janeiro, foram criados os Pólos Bio-Rio e Riotec,<br />
que, apesar do nome, po<strong>de</strong>m ser enquadrados como parques tecnológicos.<br />
As incubadoras são fenômeno mais recente no País. A partir <strong>de</strong> 1990, a<br />
maioria dos pólos passou a contar com esquemas <strong>de</strong> incubação, que somente existiam<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início nos parques tecnológicos, e observou-se também o surgimento<br />
<strong>de</strong> incubadoras <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> arranjos institucionais mais simples.<br />
1991.<br />
8 Me<strong>de</strong>iros, J. A. et alli, Pólos Tecnológicos em São Paulo, Ciência Hoje, v. 13, n. 73, jun.
Parques, pólos tecnológicos e incubadoras: balanço da experiência<br />
99<br />
brasileira e <strong>de</strong> outros países<br />
De acordo com Barbieri 9 , a idéia <strong>de</strong> incubadora não se restringiu, no entanto,<br />
a apoiar empresas baseadas em novas tecnologias. Existem incubadoras que não<br />
distinguem o tipo <strong>de</strong> tecnologia da empresa incubada. O exemplo mais notável<br />
<strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> empreendimento no Brasil é o “Projeto Incubator”, <strong>de</strong>senvolvido pela<br />
FIESP, que apoia empresas nascentes, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente <strong>de</strong> seu <strong>de</strong>senvolvimento<br />
ser baseado em novas tecnologias ou em setores tradicionais. As primeiras incubadoras<br />
apoiadas pelo projeto estão localizadas no Brás, zona leste <strong>de</strong> São Paulo, e<br />
em Itu, no interior do Estado.<br />
Quanto aos pólos <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnização tecnológica, Barbieri exemplifica com a<br />
experiência <strong>de</strong> Americana e cida<strong>de</strong>s vizinhas, que nasceu com o objetivo <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnizar<br />
o setor têxtil, principal ativida<strong>de</strong> econômica da região. O pólo resultou do<br />
projeto “Pólo <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rnização para a Eficiência Coletiva”, objeto <strong>de</strong> convênio<br />
entre os sindicatos da indústria <strong>de</strong> tecelagem da região, Secretaria <strong>de</strong> Ciência e<br />
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado <strong>de</strong> São Paulo e SEBRAE. O<br />
aporte <strong>de</strong> conhecimentos técnicos é oriundo da USP - Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo,<br />
do IPT - Instituto <strong>de</strong> Pesquisa Tecnológica do Estado <strong>de</strong> São Paulo e do SENAI –<br />
Serviço Nacional <strong>de</strong> Aprendizagem Industrial.<br />
O primeiro levantamento 10 realizado no país, em 1992, <strong>de</strong>tectou a existência<br />
<strong>de</strong> 12 pólos científico-tecnológicos, dos quais <strong>de</strong>z possuíam incubadoras, e 10<br />
pólos <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnização tecnológica.<br />
A partir <strong>de</strong> então, observou-se crescimento significativo no número <strong>de</strong> empreendimentos.<br />
Segundo dados da ANPROTEC, instituição que congrega as entida<strong>de</strong>s<br />
envolvidas com programas <strong>de</strong> incubadoras, parques tecnológicos e pólos/<br />
tecnópoles, obtidos em pesquisa realizada em 1999, estão em funcionamento 100<br />
incubadoras, espalhadas pelas diversas regiões do País (55 no Su<strong>de</strong>ste, 29 no Sul,<br />
13 no Nor<strong>de</strong>ste, 1 no Centro-Oeste e 2 no Norte) 11 .<br />
Quanto à natureza jurídica das entida<strong>de</strong>s gestoras <strong>de</strong>sses empreendimentos,<br />
cabe <strong>de</strong>stacar que 17% pertencem à administração pública fe<strong>de</strong>ral, 11% à administração<br />
pública estadual, 11% à administração municipal, 58% são privadas sem fins<br />
lucrativos e 3% possuem outra natureza jurídica. Cabe <strong>de</strong>stacar que parte dos empreendimentos<br />
classificados como privados sem fins lucrativos são direta ou indi-<br />
9 Barbieri, J.C., “Pólos Tecnológicos e <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rnização”, Revista <strong>de</strong> Administração <strong>de</strong> Empresas,<br />
São Paulo, v.34, n.5, p.31-21, set./out.1994.<br />
10 Me<strong>de</strong>iros, J. A. et alli, Pólos, Parques e Incubadoras, A busca da mo<strong>de</strong>rnização e<br />
competitivida<strong>de</strong>, 1992.<br />
11 ANPROTEC – Associação Nacional <strong>de</strong> Entida<strong>de</strong>s Promotoras <strong>de</strong> Empreendimentos <strong>de</strong><br />
Tecnologias Avançadas, “Panorama 99 – As incubadoras <strong>de</strong> Empresas no Brasil”.
100<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
retamente vinculados a instituições <strong>de</strong> natureza pública, por exemplo fundações <strong>de</strong><br />
direito privado criadas por entida<strong>de</strong>s públicas.<br />
Quanto à <strong>de</strong>stinação <strong>de</strong> seus esforços, o levantamento <strong>de</strong>tectou que as incubadoras<br />
po<strong>de</strong>m ser classificadas da seguinte forma: 64% atuam em setores intensivos<br />
em tecnologia (incubadoras tecnológicas), 22% em setores tradicionais (incubadoras<br />
tradicionais) e 14% nos dois segmentos (incubadoras mistas). Embora esses dados<br />
apontem uma tendência <strong>de</strong> diminuição relativa do número <strong>de</strong> incubadoras tecnológicas<br />
em relação ao total <strong>de</strong> empreendimentos, em confronto com os anos <strong>de</strong> 1997 e 1998,<br />
observa-se ainda uma maior concentração <strong>de</strong> esforços na área tecnológica.<br />
No tocante à natureza dos vínculos estabelecidos pelas iniciativas que participaram<br />
do levantamento, verificou-se que 57% das incubadoras possuem vínculo<br />
formal com universida<strong>de</strong>s e centros <strong>de</strong> pesquisa, enquanto que 23% possuem vínculo<br />
informal e os restantes 20% não possuem qualquer tipo <strong>de</strong> vínculo com aquelas<br />
instituições.<br />
A pesquisa revelou ainda que, em julho <strong>de</strong> 1999, as incubadoras brasileiras<br />
abrigavam 800 empresas nascentes. Ao longo dos anos, o movimento proporcionou<br />
a criação <strong>de</strong> 320 empresas graduadas que permaneceram em média 2,5 anos no<br />
esquema <strong>de</strong> incubação, sendo que 48% <strong>de</strong>las atuam nas áreas <strong>de</strong> software,<br />
informática, eletro-eletrônica e telecomunicações. O levantamento não conseguiu<br />
obter informações claras sobre o número <strong>de</strong> empresas graduadas que permaneceram<br />
no mercado ou que encerraram suas ativida<strong>de</strong>s. No universo <strong>de</strong> respostas obtidas<br />
<strong>de</strong> apenas 18 incubadoras, a taxa <strong>de</strong> sobrevivência foi calculada em 84%.<br />
IV – Avaliação<br />
A relativa juventu<strong>de</strong> dos arranjos institucionais discutidos no presente trabalho<br />
po<strong>de</strong>, talvez, explicar o pequeno número <strong>de</strong> avaliações sobre seu funcionamento<br />
produzidas até o momento atual. Mesmo nos Estados Unidos, país no qual o<br />
fenômeno é mais antigo, não se produziram análises qualitativas sobre os resultados<br />
dos investimentos realizados neste tipo <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s, embora levantamentos<br />
divulgados pelas principais associações que congregam parques, pólos e incubadoras<br />
em países <strong>de</strong>senvolvidos enfatizem com números seu importante papel na criação<br />
<strong>de</strong> novas empresas e na geração <strong>de</strong> empregos.<br />
A situação não é diferente em nosso País. Em 1995, A<strong>de</strong>lino Me<strong>de</strong>iros 12 ,<br />
em estudo contratado pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvol-<br />
12 Me<strong>de</strong>iros, J. A., Incubadoras <strong>de</strong> empresa, lições da experiência internacional. Revista <strong>de</strong><br />
Administração, São Paulo, v.33, n.2, p. 5-20, abril/junho <strong>de</strong> 1998.
Parques, pólos tecnológicos e incubadoras: balanço da experiência<br />
101<br />
brasileira e <strong>de</strong> outros países<br />
vimento avaliou algumas incubadoras, com o objetivo <strong>de</strong> comparar a experiência<br />
brasileira com a <strong>de</strong> seis outros países. Naquela oportunida<strong>de</strong>, foram analisadas as<br />
16 iniciativas mais antigas (criadas no período <strong>de</strong> 1986 a 1993) que surgiram já<br />
adotando o formato típico <strong>de</strong> incubadora.<br />
Cada incubadora tinha em média 9,9 empresas, com 5,6 pessoas trabalhando<br />
em cada uma (incluindo os donos), que permaneciam incubadas por 3,4 anos.<br />
Na coor<strong>de</strong>nação das entida<strong>de</strong>s gestoras estavam alocadas em média 6,2 pessoas.<br />
O grau <strong>de</strong> auto-sustentação das incubadoras foi outro fator estudado. O autor<br />
constatou, naquela ocasião, que 69% <strong>de</strong>las cobriam com suas receitas ( pagamentos<br />
feitos pelas empresas) parcela inferior a um terço <strong>de</strong> seus custos operacionais<br />
(pessoal, encargos, <strong>de</strong>spesas correntes, manutenção <strong>de</strong> equipamentos, etc.). Tais<br />
dados <strong>de</strong>monstram a <strong>de</strong>pendência das incubadoras em relação às instituições <strong>de</strong><br />
apoio. Segundo os especialistas, esta é uma característica observada mesmo nos<br />
países que li<strong>de</strong>ram este movimento no mundo, embora consi<strong>de</strong>rem que os projetos<br />
maduros <strong>de</strong>vam cobrir pelo menos dois terços <strong>de</strong> seus custos operacionais com<br />
receitas próprias.<br />
De um ponto <strong>de</strong> vista mais qualitativo, Me<strong>de</strong>iros afirmou em seu estudo que<br />
as incubadoras brasileiras apresentam fragilida<strong>de</strong>s que vão <strong>de</strong>s<strong>de</strong> questões estruturais<br />
até problemas do dia a dia. Exemplificou afirmando que, em alguns casos, a<br />
infra-estrutura física foi mal dimensionada e a equipe <strong>de</strong> apoio administrativo da<br />
incubadora mal preparada. Em certos empreendimentos, interesses políticos momentâneos<br />
sobrepujaram as necessida<strong>de</strong>s previamente <strong>de</strong>tectadas, chegando-se a<br />
situações absurdas nas quais prédios foram construídos ou reformados (e até inaugurados)<br />
e simplesmente não foram habitados por empresas, <strong>de</strong>vido a mudanças <strong>de</strong><br />
orientação na instituição responsável pela incubadora. Falhas na prestação <strong>de</strong> serviços<br />
especializados às empresas é outro entrave apontado ao bom funcionamento<br />
<strong>de</strong> algumas incubadoras.<br />
Outra fragilida<strong>de</strong>, esta apontada por Barbieri 13 , na criação <strong>de</strong> pólos, parques<br />
e incubadoras no Brasil, que faz com que a experiência brasileira difira bastante<br />
da experiência internacional, é a crônica ausência <strong>de</strong> capital <strong>de</strong> risco 14 para<br />
apoiar esses empreendimentos.<br />
13 Barbieri, J.C., “Pólos Tecnológicos e <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rnização”, Revista <strong>de</strong> Administração <strong>de</strong><br />
Empresas, São Paulo, v.34, n.5, p.31-21, set./out.1994.<br />
14 Capital à procura <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> investimentos <strong>de</strong> alto risco, associados a ganhos<br />
potenciais elevados. Em relação às inovações, apresentam-se sob a forma <strong>de</strong> participação na criação <strong>de</strong><br />
novas empresas especializadas em novas idéias ou tecnologias.
102<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
Nos países <strong>de</strong>senvolvidos, a criação <strong>de</strong> novas empresas <strong>de</strong> base tecnológica<br />
tem sido facilitada pela existência <strong>de</strong> fontes privadas <strong>de</strong> capital <strong>de</strong> risco e pela<br />
participação governamental nas ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> risco associadas ao processo <strong>de</strong> inovação<br />
tecnológica. Nos Estados Unidos, este tipo <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>, que é fundamentalmente<br />
<strong>de</strong> caráter privado, ganhou impulso, durante a década <strong>de</strong> 60, com a aprovação<br />
do Small Business Investment Act, que atribui ao segmento das micro e pequenas<br />
empresas incentivos nas esferas fe<strong>de</strong>ral, estadual e local. Em outros países, os<br />
governos tiveram uma atuação mais acentuada em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> uma presença<br />
menor da iniciativa privada.<br />
No Brasil, as empresas privadas <strong>de</strong> capital <strong>de</strong> risco, têm atuado pouco nos<br />
segmentos relacionados com a inovação tecnológica, <strong>de</strong>stinando seus recursos quase<br />
exclusivamente para investimentos mais seguros, envolvendo gran<strong>de</strong>s empresas.<br />
Na área pública, existem mecanismos <strong>de</strong> investimentos em capital <strong>de</strong> risco.<br />
A FINEP – Financiadora <strong>de</strong> Estudos e Projetos possui dois programas que prevêem<br />
a aplicação <strong>de</strong> capital <strong>de</strong> risco em empresas nacionais. Tanto o ADTEN – Programa<br />
<strong>de</strong> Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Nacional, como o ACN -<br />
Programa <strong>de</strong> Apoio à Consultoria Nacional mantêm operações <strong>de</strong> risco, mediante<br />
participação acionária, participação nos resultados do projeto ou participação nos<br />
resultados da empresa. A utilização <strong>de</strong>stes programas, no entanto, ainda é pequena,<br />
<strong>de</strong>vido, em gran<strong>de</strong> parte, ao fato <strong>de</strong> que a maioria das operações são contratadas<br />
com financiamentos reembolsáveis.<br />
O BNDESPAR também opera modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> risco para capitalização <strong>de</strong><br />
pequenas empresas <strong>de</strong> base tecnológica, em fase <strong>de</strong> implantação ou <strong>de</strong> expansão.<br />
Também, nesse caso, a aplicação <strong>de</strong> capital <strong>de</strong> risco é ainda incipiente.<br />
Outros tipos <strong>de</strong> apoio financeiro têm sido colocados à disposição tanto das<br />
entida<strong>de</strong>s gestoras <strong>de</strong> pólos, parques e incubadoras, como das empresas incubadas.<br />
No âmbito fe<strong>de</strong>ral, cabe <strong>de</strong>stacar que o CNPq continua apoiando essas iniciativas<br />
por meio <strong>de</strong> dois programas. O programa RHAE- Programa <strong>de</strong> Recursos<br />
Humanos em Áreas Estratégicas - apóia as empresas incubadas com alocação <strong>de</strong><br />
bolsas <strong>de</strong> estudo. O PCDT - Programa <strong>de</strong> Competitivida<strong>de</strong> e Difusão Tecnológica,<br />
apoia as entida<strong>de</strong>s gestoras <strong>de</strong> pólos, parques e incubadoras, mediante a concessão<br />
<strong>de</strong> bolsas <strong>de</strong> estudo e a alocação <strong>de</strong> recursos para custeio e capital. Esse último<br />
programa apoiou 9 entida<strong>de</strong>s gestoras em 1997 e 12 em 1998, estando, no momento,<br />
em fase <strong>de</strong> avaliação dos resultados antes do lançamento <strong>de</strong> um novo edital.<br />
Instituições <strong>de</strong> ensino e pesquisa, governos estaduais e municipais e entida<strong>de</strong>s<br />
ligadas ao setor privado, como a FIESP e o SEBRAE, também têm atuado no<br />
apoio aos diversos tipos <strong>de</strong> empreendimentos.<br />
Apesar das dificulda<strong>de</strong>s apontadas em seu estudo, Me<strong>de</strong>iros consi<strong>de</strong>rou que
Parques, pólos tecnológicos e incubadoras: balanço da experiência<br />
103<br />
brasileira e <strong>de</strong> outros países<br />
o caso brasileiro registra avanços importantes, sendo necessários, no entanto, alguns<br />
ajustes.<br />
Também é essa a opinião <strong>de</strong> Erasmo Gomes 15 que constatou a existência <strong>de</strong><br />
um conjunto <strong>de</strong> mitos em torno do fenômeno pólos tecnológicos. Segundo ele,<br />
alguns <strong>de</strong>fensores da idéia consi<strong>de</strong>ram que fatores apontados como necessários,<br />
tais como proximida<strong>de</strong> física <strong>de</strong> universida<strong>de</strong>s e instituições <strong>de</strong> pesquisa, sinergia<br />
entre os recursos humanos, incentivo aos empreen<strong>de</strong>dores, potencial local <strong>de</strong> ciência<br />
e tecnologia, mecanismos <strong>de</strong> estreitamento da relação universida<strong>de</strong>-empresa,<br />
etc., são também condições suficientes para o sucesso <strong>de</strong>sses empreendimentos.<br />
No entanto, essa afirmativa não é verda<strong>de</strong>ira, nem mesmo para países <strong>de</strong>senvolvidos,<br />
nos quais os resultados ainda não comprovaram nem a eficiência nem a eficácia<br />
do mecanismo.<br />
Com relação à experiência brasileira, o autor apontou no mesmo artigo alguns<br />
problemas que vêm dificultando a consolidação <strong>de</strong>sses arranjos institucionais.<br />
Em primeiro lugar, <strong>de</strong>tectou a inexistência <strong>de</strong> políticas públicas consistentes<br />
dirigidas a apoiar as entida<strong>de</strong>s gestoras dos pólos tecnológicos e suas empresas. A<br />
inserção <strong>de</strong>ssas entida<strong>de</strong>s na agenda política dos governos é muito <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte dos<br />
atores políticos individuais (prefeitos, governadores, secretários, dirigentes <strong>de</strong> agências<br />
<strong>de</strong> fomento, etc.).<br />
Como <strong>de</strong>sdobramento <strong>de</strong>ssa condição, observa-se, em muitos casos, a<br />
<strong>de</strong>scontinuida<strong>de</strong> das iniciativas. As ações que se <strong>de</strong>stinam a apoiar os empreendimentos<br />
têm seguido dois caminhos: ou se estabelece uma relação <strong>de</strong> clientelismo<br />
entre as partes ou simplesmente assiste-se à falta <strong>de</strong> continuida<strong>de</strong> dos apoios. Essa<br />
constatação serve para reafirmar a importância <strong>de</strong> se inserir o apoio a essas iniciativas<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> políticas públicas, que envolvam as três esferas <strong>de</strong> governo, e incluam<br />
<strong>de</strong>ntro dos programas <strong>de</strong> fomento ações <strong>de</strong> acompanhamento e avaliação, que<br />
garantam continuida<strong>de</strong> aos projetos que obtiverem bons resultados.<br />
Ainda no âmbito do apoio financeiro, a ina<strong>de</strong>quação dos instrumentos é<br />
outro fator que tem dificultado a consolidação das empresas incubadas. A necessida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> oferecer garantias reais em contrapartida aos empréstimos torna as linhas<br />
<strong>de</strong> crédito pouco operacionais.<br />
No que se refere ao relacionamento com as universida<strong>de</strong>s e institutos <strong>de</strong><br />
pesquisa, Erasmo Gomes <strong>de</strong>screveu também algumas fragilida<strong>de</strong>s dos casos brasileiros<br />
que analisou. A participação das universida<strong>de</strong>s e institutos locais tem-se<br />
15 Gomes, Erasmo, “”Imaginário e Realida<strong>de</strong> em Torno dos Parques e Pólos Tecnológicos:<br />
Elementos para Reflexão”, Revista Econômica do Nor<strong>de</strong>ste, Fortaleza, v.29, n.4, p.481-503, outubro<strong>de</strong>zembro<br />
1998.
104<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
limitado, em alguns casos, às instâncias meramente normativas das entida<strong>de</strong>s<br />
gestoras. O relacionamento com as universida<strong>de</strong>s e institutos <strong>de</strong> pesquisa, com vistas<br />
à utilização <strong>de</strong> suas instalações e recursos tecnológicos, é, na maioria das vezes,<br />
informal, baseado em contatos pessoais.<br />
Outra observação que merece <strong>de</strong>staque é a baixa capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mobilização<br />
dos diversos agentes locais por parte das entida<strong>de</strong>s gestoras. Falta <strong>de</strong> legitimida<strong>de</strong><br />
institucional, conflitos políticos e <strong>de</strong> interesses entre os atores e representação<br />
institucional meramente formal são alguns dos motivos que po<strong>de</strong>m explicar esse<br />
fato.<br />
O papel e o <strong>de</strong>sempenho institucional das entida<strong>de</strong>s gestoras vêm sendo<br />
drasticamente reduzidos, ao longo do tempo. Embora pretendam uma atuação muito<br />
mais abrangente, as entida<strong>de</strong>s, na maioria dos casos, têm operado apenas como<br />
incubadoras.<br />
Mesmo no papel <strong>de</strong> incubadoras, essas entida<strong>de</strong>s não têm <strong>de</strong>sempenhado<br />
seu papel a contento na opinião do autor. A inexistência <strong>de</strong> informações sistematizadas<br />
sobre as empresas localizadas nos pólos tecnológicos dificulta o acompanhamento<br />
e a análise do estágio <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento e dos resultados para o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
tecnológico, industrial e econômico dos empreendimentos e inibem mudanças<br />
na forma <strong>de</strong> atuação e nos critérios <strong>de</strong> admissão <strong>de</strong> empresas.<br />
V – Conclusão<br />
Da análise da experiência internacional, po<strong>de</strong>-se extrair como ponto <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque<br />
o fato <strong>de</strong> que há uma forte presença do Estado, nas diversas esferas administrativas,<br />
na criação e no apoio à consolidação <strong>de</strong> pólos, parques, incubadoras e <strong>de</strong><br />
outros empreendimentos com características semelhantes. A inserção <strong>de</strong> mecanismos<br />
e instrumentos <strong>de</strong> promoção e fomento a ativida<strong>de</strong>s realizadas por essas entida<strong>de</strong>s<br />
em políticas <strong>de</strong> inovação tecnológica ou em planos <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento locais<br />
ou regionais é outra característica presente na maioria dos países observados.<br />
No Brasil, a maioria das iniciativas mais recentes <strong>de</strong> criação <strong>de</strong> parques e<br />
pólos tecnológicos e <strong>de</strong> incubadoras não está inserida em políticas nacionais e nem<br />
mesmo em planos locais ou regionais. O papel do Estado, <strong>de</strong> indutor <strong>de</strong> projetos na<br />
área, não tem sido <strong>de</strong>sempenhado <strong>de</strong> forma constante e articulada com os outros<br />
agentes.<br />
Outro nível <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarticulação que se percebe está presente na ação dos diversos<br />
órgãos <strong>de</strong> fomento que não conseguem atuar <strong>de</strong> forma a garantir a continuida<strong>de</strong><br />
dos apoios e nem conseguem adaptar seus instrumentos tradicionais para dar<br />
suporte a iniciativas que envolvem altos riscos e necessitam <strong>de</strong> continuida<strong>de</strong>.<br />
Como resultado, assiste-se ao nascimento <strong>de</strong> empreendimentos que <strong>de</strong>pen-
Parques, pólos tecnológicos e incubadoras: balanço da experiência<br />
105<br />
brasileira e <strong>de</strong> outros países<br />
<strong>de</strong>m muitas vezes <strong>de</strong> iniciativas pessoais e não encontram respaldo em todos os<br />
segmentos que envolvem o funcionamento <strong>de</strong>sses arranjos institucionais. Essa característica<br />
atrelada à própria natureza dos investimentos nesse tipo <strong>de</strong> empreendimento,<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>morada maturação, dificultam sua consolidação.<br />
A falta <strong>de</strong> avaliação dos resultados obtidos ao longo dos anos é outra fragilida<strong>de</strong>,<br />
que afeta tanto o funcionamento dos pólos, parques tecnológicos e incubadoras,<br />
como também dificulta a re<strong>de</strong>finição da forma <strong>de</strong> atuação dos diversos agentes<br />
que viabilizam sua existência.<br />
Outra conclusão que parece aflorar do conjunto <strong>de</strong> informações coletadas<br />
sobre outros países é a relevância da participação do capital privado, na forma <strong>de</strong><br />
capital <strong>de</strong> risco, na viabilização dos processos <strong>de</strong> incubação que, <strong>de</strong> outra forma,<br />
têm poucas chances <strong>de</strong> sucesso. Em nosso país, o setor privado não tem tradição <strong>de</strong><br />
investir em negócios que possuam forte componente <strong>de</strong> incerteza, embora possam<br />
apresentar altos retornos financeiros.
106<br />
Os direitos sociais e a crise do Estado<br />
contemporâneo<br />
Sérgio Ricardo Watanabe<br />
Consultor <strong>de</strong> Orçamento e Fiscalização<br />
Financeira da Câmara dos Deputados<br />
I - Introdução<br />
Este trabalho procurará refletir acerca do efeito da crise do Estado social<br />
sobre os direitos humanos, particularmente sobre os direitos sociais. Para tanto,<br />
será traçado um breve histórico recapitulando a evolução dos mo<strong>de</strong>los estatais, a<br />
partir do Estado liberal, com os seus mo<strong>de</strong>los correspon<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> cidadania. A<br />
partir da cronologia assim construída, serão relacionadas as práticas próprias <strong>de</strong><br />
cada paradigma estatal com os direitos do homem.<br />
A situação contemporânea dos direitos humanos no cenário estatal será o<br />
centro <strong>de</strong>ste artigo, o qual <strong>de</strong>stacará que estão atualmente ocorrendo duas lutas. A<br />
primeira refere-se à construção <strong>de</strong> direitos pelos novos sujeitos, ou seja, dos direitos<br />
que <strong>de</strong>veriam ser positivados; a segunda lida com a questão do atual refluxo dos<br />
direitos sociais, ou seja, dos direitos que <strong>de</strong>vem ser mantidos. Verificar-se-á que<br />
essas duas missões não po<strong>de</strong>m ser dissociadas do exercício <strong>de</strong> uma cidadania ativa.<br />
II - A lenta construção dos direitos<br />
Norberto Bobbio afirma que o momento atual não <strong>de</strong>manda esforços para se<br />
terem justificações sobre a fundamentação dos direitos humanos, mas sim para se protegerem<br />
os já existentes 1 . Com efeito, diante <strong>de</strong> reiteradas práticas <strong>de</strong> violações <strong>de</strong><br />
direitos, a questão da eficácia perpassa toda essa questão e é, <strong>de</strong> fato, a mais relevante<br />
na atualida<strong>de</strong>.<br />
Os direitos humanos não estão restritos ao universo já positivado por meio <strong>de</strong><br />
legislações nacionais ou por meio <strong>de</strong> <strong>de</strong>clarações postas por entida<strong>de</strong>s supranacionais 2 .<br />
Sua construção se dá por meio das lutas sociais e, mais ainda, pela conscientização da<br />
importância <strong>de</strong>sses direitos pelos próprios sujeitos que protagonizam os conflitos.<br />
Os direitos humanos, nessa perspectiva, não são consi<strong>de</strong>rados dádivas que<br />
1 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Campus, 1992. p. 24.<br />
2 NOLETO, Mauro Almeida. Subjetivida<strong>de</strong> Jurídica: A Titularida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Direitos em Perspectiva<br />
Emancipatória. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 108.
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
107<br />
alguém externo à socieda<strong>de</strong>, seja Deus, seja o Leviatã, conce<strong>de</strong>u aos homens. Foram,<br />
antes, frutos <strong>de</strong> muitos sacrifícios <strong>de</strong>correntes do movimento histórico <strong>de</strong><br />
reivindicações e <strong>de</strong> lutas da socieda<strong>de</strong>.<br />
Paradoxalmente, ao se admitir a dimensão histórica e mutável dos direitos<br />
humanos, surge naturalmente a idéia <strong>de</strong> modificação 3 ou mesmo <strong>de</strong> extinção <strong>de</strong> alguns<br />
<strong>de</strong>les já positivados, pois estão sujeitos a fluxos e refluxos <strong>de</strong>correntes das lutas<br />
travadas por todos os sujeitos. Esse perigo está sendo enfrentado atualmente, materializado<br />
pela crise do Estado social e pela globalização cultural e econômica, com a<br />
imposição <strong>de</strong> um único mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento para todos os Estados.<br />
Diante <strong>de</strong>sse cenário, retomando a idéia <strong>de</strong> Bobbio, o principal trabalho a ser<br />
perseguido é o <strong>de</strong> se dar eficácia aos direitos já conquistados e positivados. Essa<br />
ênfase, porém, não po<strong>de</strong> <strong>de</strong>scartar aqueles que surgem do conflito, <strong>de</strong>correntes do<br />
sentimento <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong> que motivam as lutas sociais, e ainda não positivados.<br />
III – Os direitos humanos e o Estado<br />
Os direitos humanos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sua origem, estiveram direta ou indiretamente<br />
ligados à figura do Estado. De fato, Norberto Bobbio 4 afirma que a primeira geração<br />
dos direitos, ou seja, a dos direitos individuais, po<strong>de</strong> ser chamada como a dos<br />
direitos à liberda<strong>de</strong>, que têm o objetivo <strong>de</strong> limitar a ação do Estado. A segunda<br />
geração, formada pelos direitos sociais, propõe um agir positivo do Estado, ou seja,<br />
a obtenção <strong>de</strong> uma liberda<strong>de</strong> por meio do Estado. A terceira geração, composta<br />
pelos direitos dos povos, refere-se principalmente ao direito à auto<strong>de</strong>terminação e<br />
ao <strong>de</strong>senvolvimento sustentável; portanto, intimamente ligados ao conceito <strong>de</strong> Estado.<br />
Esses direitos, por se ligarem a essa figura, acompanharam os mo<strong>de</strong>los estatais<br />
correspon<strong>de</strong>ntes. Cada geração <strong>de</strong> direitos teve como lugar inicial <strong>de</strong> exercício<br />
uma visão <strong>de</strong> Estado diferente. Assim, <strong>de</strong>ve ser lembrado que o Estado contemporâneo<br />
tomou historicamente a forma <strong>de</strong> Estado Liberal, produto das revoluções<br />
burguesas dos séculos XVIII e XIX; e <strong>de</strong> Estado Social, que começou a se construir<br />
a partir <strong>de</strong> fins do século XIX e se esten<strong>de</strong>u até a década <strong>de</strong> setenta <strong>de</strong>ste século 5 .<br />
Os direitos civis e políticos nasceram quando o mo<strong>de</strong>lo liberal <strong>de</strong> Estado era<br />
o dominante. Seu mo<strong>de</strong>lo teórico se baseia na crença <strong>de</strong> o Estado ser o garantidor<br />
3 Esse fenômeno ocorreu com o direito à proprieda<strong>de</strong>. No período do Estado liberal, esse direito<br />
era consi<strong>de</strong>rado absoluto; atualmente, está subordinado à sua função social.<br />
4 BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 32-33.<br />
5 FARIA, José Eduardo (org.). Direito e Globalização Econômica: Implicações e Perspectivas.<br />
São Paulo: Malheiros, 1998. p. 16.
108<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
dos direitos individuais contra abusos provenientes <strong>de</strong>le mesmo 6 , com a criação <strong>de</strong><br />
esferas individuais <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> 7 . Sua execução tinha por pressuposto o monopólio<br />
estatal da coerção e da jurisdição; em contrapartida, <strong>de</strong>ixava os campos econômico<br />
e social nas mãos da socieda<strong>de</strong> civil.<br />
A justificativa dos direitos <strong>de</strong> origem liberal tem centro no indivíduo. Nasceu<br />
com os contratualistas mo<strong>de</strong>rnos, que consi<strong>de</strong>ram a formação da socieda<strong>de</strong><br />
como fruto da vonta<strong>de</strong> dos homens, por meio <strong>de</strong> um pacto livremente acordado. No<br />
âmbito jurídico, esses direitos manifestaram-se por meio do jusnaturalismo <strong>de</strong> cunho<br />
racional. Tornou-se, <strong>de</strong>ssa forma, a doutrina dos direitos do homem o principal<br />
pressuposto do Estado liberal 8 .<br />
Ao ser o <strong>de</strong>fensor dos direitos individuais, <strong>de</strong> inspiração burguesa,<br />
esse Estado operava com uma lógica <strong>de</strong> exclusão, pois a igualda<strong>de</strong> jurídicoformal<br />
<strong>de</strong>les <strong>de</strong>corrente é insuficiente para fazer frente à <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> material.<br />
Com efeito, a mentalida<strong>de</strong> predominante nos operadores jurídicos restringia-se a<br />
uma lógica formal <strong>de</strong> aplicação do direito, com o objetivo <strong>de</strong> garantir a “segurança<br />
jurídica” necessária à classe em ascensão.<br />
Quanto aos direitos políticos, a cidadania <strong>de</strong>sse mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
Estado, ao abranger a civil e a política, exercidas por intermédio do voto, po<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scartar todas as <strong>de</strong>mais formas <strong>de</strong> manifestação popular 9 . Essa característica era<br />
mais grave quando o direito <strong>de</strong> voto era restrito. Mesmo, porém, no mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
sufrágio universal, a <strong>de</strong>sinformação e a alienação levam a uma cidadania passiva, o<br />
que enseja uma “<strong>de</strong>mocracia <strong>de</strong>legativa”, ou seja, “quem vence a eleição governa<br />
como quiser” 10 .<br />
As lutas operárias foram o principal motor que mudou esse mo<strong>de</strong>lo 11 . A<br />
postulação <strong>de</strong> direitos ao trabalho, à educação, à previdência, à habitação e à saú<strong>de</strong>,<br />
os chamados direitos sociais, trouxe consigo a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se ter uma postura<br />
intervencionista do Estado para que ocorresse essa viabilização. Surge o Estado<br />
Social, que possui “a missão <strong>de</strong> favorecer, no quadro nacional, o crescimento econômico<br />
do país e a proteção social dos indivíduos” 12 .<br />
6 Ibid., p. 17.<br />
7 A noção <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rada é a <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> negativa, dos mo<strong>de</strong>rnos, em oposição à<br />
liberda<strong>de</strong> positiva, dos antigos, conforme a célebre diferenciação <strong>de</strong> Benjamin Constant.<br />
8 BOBBIO, Norberto. Liberda<strong>de</strong> e Democracia. São Paulo: Brasiliense:1984. p. 10<br />
9 SANTOS, Boaventura <strong>de</strong> Sousa. Pela Mão <strong>de</strong> Alice: O Social e o Político na Pós-<br />
Mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> . São Paulo: Cortez, 1997. p. 238.<br />
10 CAMPILONGO, Celso Fernan<strong>de</strong>s. Crise do Estado, Mudança Social e Transformação do<br />
Direito no Brasil. São Paulo em Perspectiva , São Paulo, Vol. 8, n. 2, abr.-jun 1994. p. 16.<br />
11 SANTOS, Boaventura <strong>de</strong> Sousa. op. cit., p. 244.<br />
12 FARIA, José Eduardo. op.cit., p. 17.
Os direitos sociais e a crise do Estado contemporâneo<br />
109<br />
Ao ser o principal avalista dos direitos sociais, o Estado também é o seu<br />
principal financiador. Assim, cresceu a participação estatal na economia em níveis<br />
impensáveis no Estado liberal. A razão era que as políticas públicas se tornaram um<br />
dos principais instrumentos <strong>de</strong> política distributiva; o Estado custeava <strong>de</strong> sistemas<br />
previ<strong>de</strong>nciários a pesados investimentos em infra-estrutura. Nesse cenário, a teoria<br />
<strong>de</strong> Keynes autorizava o Estado a acumular déficits com o intuito <strong>de</strong> alavancar a economia,<br />
<strong>de</strong> eliminar o <strong>de</strong>semprego e <strong>de</strong> garantir novas prerrogativas aos cidadãos.<br />
A chamada “legislação social” forneceu a base legal para esse mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
Estado. Assim, paralelamente às obrigações impostas ao Estado, outras o foram ao<br />
setor privado, com a regulação <strong>de</strong> suas ativida<strong>de</strong>s.<br />
Deve-se ressaltar que esse mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Estado somente se realizou nos países<br />
centrais; nos países periféricos como o Brasil, ele nunca chegou a se realizar plenamente.<br />
IV - A crise do Estado social: Neoliberalismo, crise <strong>fiscal</strong> e globalização<br />
A crise do Estado social foi a <strong>de</strong>rrocada do mo<strong>de</strong>lo burocrático <strong>de</strong> solidarieda<strong>de</strong><br />
13 . Ao assumir papéis crescentes, o Estado acabou por se revelar incapaz <strong>de</strong><br />
suportar os constantes <strong>de</strong>sequilíbrios nas suas finanças. Configurou-se a crise <strong>fiscal</strong>.<br />
O remédio encontrado foi a redução da intervenção estatal na economia e a<br />
diminuição das prerrogativas oferecidas pelo Estado social. Propagan<strong>de</strong>ou-se que<br />
o Estado já não mais tinha condições <strong>de</strong> impor soluções; portanto, a saída seria<br />
reduzi-lo. Iniciou-se o processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>smonte das estruturas do Estado social.<br />
Diante da obrigação <strong>de</strong> sanear suas finanças, os governos, principalmente<br />
os dos países periféricos, buscam efetuar reformas para reduzir suas estruturas e<br />
<strong>de</strong>spesas. Como o Estado alega não mais ter recursos para investimentos, passouse<br />
a necessitar cada vez mais <strong>de</strong> capitais privados.<br />
Ao buscar impor uma solução única para a crise, o Consenso <strong>de</strong> Washington<br />
foi um marco que <strong>de</strong>limitou as bases do neoliberalismo para a América Latina. De<br />
acordo com seus ditames, impostos pelo Fundo Monetário Internacional - FMI,<br />
Banco Interamericano <strong>de</strong> Desenvolvimento - BID e Banco Mundial, os or<strong>de</strong>namentos<br />
jurídicos nacionais não <strong>de</strong>veriam oferecer obstáculos ao capital e a economia<br />
<strong>de</strong>veria ser estabilizada por intermédio das privatizações 14 .<br />
13 SANTOS, Boaventura <strong>de</strong> Sousa. Pela Mão <strong>de</strong> Alice: O Social e o Político na Pós-<br />
Mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> . São Paulo: Cortez, 1997. p. 249.<br />
14 DALLEGRAVE NETO, José Afonso. O Estado neoliberal e seu impacto sócio-jurídico. In<br />
MACCALÓZ, Salete Maria et al. Globalização: Neoliberalismo e Direitos Sociais. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Destaque, 1998. p. 80.
110<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
A partir <strong>de</strong>sse receituário, facilita-se o entendimento das razões que levaram<br />
à interligação das economias, pois a <strong>de</strong>sregulamentação dos mercados tornou muito<br />
mais simples a migração <strong>de</strong> capitais <strong>de</strong> uma economia para outra. Em curtos<br />
espaços <strong>de</strong> tempo, capitais inflam e <strong>de</strong>struem economias. Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> produção<br />
são transferidas para países nos quais a mão-<strong>de</strong>-obra possui parcos direitos e é mal<br />
remunerada. Está-se frente ao fenômeno da globalização econômica.<br />
A <strong>de</strong>finição do que seja globalização é um trabalho muito difícil; porém,<br />
<strong>de</strong>staca-se por ser um processo bem sucedido pelo qual <strong>de</strong>terminada condição ou<br />
entida<strong>de</strong> local torna-se hegemônica em todo o mundo 15 . Conseqüentemente, todas<br />
as <strong>de</strong>mais concepções que seriam rivais, passam a ser <strong>de</strong>signadas como locais.<br />
Existem, por conseguinte, dois fenômenos paralelos no processo <strong>de</strong> globalização.<br />
O primeiro é o localismo globalizado, ou seja, a adoção <strong>de</strong> um <strong>de</strong>terminado<br />
padrão local como predominante globalmente. Em sentido oposto, existe o globalismo<br />
localizado, caracterizado por ser a imposição das práticas globalizadas sobre<br />
a socieda<strong>de</strong> local. A primeira forma <strong>de</strong> globalização é típica dos países centrais; a<br />
segunda é a que é imposta aos países periféricos 16 .<br />
O principal efeito <strong>de</strong> todo o cenário exposto é o inquestionável enfraquecimento<br />
do Estado. Os governos não mais <strong>de</strong>têm a soberania jurídica plena que se<br />
concretiza na auto<strong>de</strong>terminação, pois a adoção <strong>de</strong> quaisquer legislações está sujeita<br />
à a<strong>de</strong>quação ao cenário internacional. Essa perda <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> regulatória é mais<br />
contun<strong>de</strong>nte nos Estados periféricos que, com suas economias débeis, são os <strong>de</strong>stinatários<br />
do globalismo localizado e das imposições do i<strong>de</strong>ário neoliberal.<br />
O enfraquecimento da soberania estatal reflete imediatamente no conceito<br />
<strong>de</strong> monismo jurídico, pois o Direito do Estado passa a competir com as <strong>de</strong>mais<br />
formas <strong>de</strong> regulação. Segundo Celso Campilongo, teórico do Direito, “o Estado<br />
pós-social enfrenta o <strong>de</strong>safio da construção <strong>de</strong> uma teoria do pluralismo jurídico” 17 .<br />
A maioria dos teóricos não acredita, porém, no fim do Estado. Boaventura<br />
<strong>de</strong> Sousa Santos, professor da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Coimbra, acredita que as alterações<br />
que está sofrendo e as que virão a acontecer não serão tão profundas a ponto <strong>de</strong> que<br />
se possa supor um colapso próximo, sequer uma substituição por uma outra forma<br />
política diferente 18 . Outros, especificamente, postulam que ele adotará novas fun-<br />
15 SANTOS, Boaventura <strong>de</strong> Sousa. Por uma Concepção Multicultural <strong>de</strong> Direitos Humanos.<br />
Lua Nova: Revista <strong>de</strong> Cultura e Política, São Paulo, nº 39. 1997. p. 107-108.<br />
16 Ibid, p. 110.<br />
17 CAMPILONGO, Celso Fernan<strong>de</strong>s. Crise do Estado, Mudança Social e Transformação do<br />
Direito no Brasil. São Paulo em Perspectiva , São Paulo, Vol. 8, n. 2, abr.-jun. 1994. p. 19.<br />
18 SANTOS, Boaventura <strong>de</strong> Sousa. Pela Mão <strong>de</strong> Alice: O Social e o Político na Pós-<br />
Mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> . São Paulo: Cortez, 1997. p. 250.
Os direitos sociais e a crise do Estado contemporâneo<br />
111<br />
ções e um novo estatuto, conseqüência <strong>de</strong> uma jurisdição internacional mais efetiva 19 .<br />
V - Os direitos sociais e o Estado pós-social 20<br />
O que se percebe a partir do fenômeno <strong>de</strong> enfraquecimento<br />
do Estado Social é que ocorre uma perda da sua capacida<strong>de</strong> regulatória, tanto no<br />
âmbito interno quanto no externo. Não há como dissociar essa tendência da análise<br />
da eficácia dos direitos humanos, pois, conforme referenciado anteriormente, o<br />
Estado sempre esteve no centro das preocupações <strong>de</strong>sse tema.<br />
O principal efeito do advento do Estado pós-social foi o refluxo nos direitos<br />
sociais positivados. Sob o argumento da crise <strong>fiscal</strong>, os governos reduziram as parcelas<br />
dos gastos públicos <strong>de</strong>stinadas ao seu custeio, o que retirou parte da efetivida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sses direitos. Mais ainda, <strong>de</strong>vido ao fenômeno da globalização econômica, as<br />
legislações procuram reduzir o universo <strong>de</strong>ssas garantias e as levar ao mínimo indispensável.<br />
Essas modificações, já problemáticas nos países centrais, vieram a ser mais<br />
profundas nos países periféricos. A razão é que nesses as promessas do Estado<br />
social ainda não haviam sido cumpridas; portanto, ainda são crônicos os <strong>de</strong>srespeitos<br />
não apenas aos direitos sociais, mas também aos individuais.<br />
Os governos afirmam não terem mais recursos para investir em previdência,<br />
educação, habitação e saú<strong>de</strong>. Não mais se interessam em tutelar o trabalho. Acresça-se<br />
a isso a caracterização dos direitos sociais como “normas programáticas”, ou<br />
seja, normas que <strong>de</strong>vem apenas orientar a ação do Estado; não são cogentes. Como<br />
se trata <strong>de</strong> simples diretrizes, enten<strong>de</strong>-se que sua aplicação <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> do po<strong>de</strong>r discricionário<br />
dos governantes que, assim, reduzem os dispêndios <strong>de</strong>stinados à <strong>de</strong>fesa<br />
e manutenção <strong>de</strong>sses direitos. Atitu<strong>de</strong>s como essa geram um “vácuo” da presença<br />
estatal, o que enseja o <strong>de</strong>svirtuamento dos próprios direitos <strong>de</strong> cunho liberal.<br />
O <strong>de</strong>smantelamento dos direitos trabalhistas é um típico exemplo do retrocesso<br />
que os direitos sociais estão sofrendo. Sob o argumento <strong>de</strong> que é necessário<br />
atrair investimentos, os países periféricos estão tentando reduzir o custo <strong>de</strong> sua mão-<strong>de</strong>obra;<br />
para isso, reduzem ou eliminam encargos que visam custear benefícios aos trabalhadores,<br />
retiram garantias contra <strong>de</strong>spedida arbitrária e outras prerrogativas sociais.<br />
19 BEDIN, Gilmar Antonio. Estado, Cidadania e Globalização do Mundo: algumas reflexões e<br />
possíveis <strong>de</strong>sdobramentos. In: OLIVEIRA, O<strong>de</strong>te Maria <strong>de</strong> (org.). Relações Internacionais e Globalização:<br />
Gran<strong>de</strong>s Desafios. Ijuí: Unijuí, 1998, p. 139.<br />
20 Celso Fernan<strong>de</strong>s Campilongo utiliza a expressão “Estado pós-social” para i<strong>de</strong>ntificar o Estado<br />
que está se configurando a partir da crise do Estado Social. Neste trabalho, a <strong>de</strong>speito <strong>de</strong> ainda não<br />
estarem completamente <strong>de</strong>finidos os contornos do que seria exatamente sua configuração, será adotada<br />
essa nomenclatura, principalmente porque ainda não há outra disponível.
112<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
A flexibilização e a <strong>de</strong>sregulamentação dominam o cenário dos direitos trabalhistas.<br />
Paradigmática é a situação brasileira, que <strong>de</strong>nunciou a convenção nº 158/82 da Organização<br />
Internacional do Trabalho - OIT, que proíbe a dispensa imotivada 21 . A <strong>de</strong>núncia<br />
<strong>de</strong>ssa convenção obe<strong>de</strong>ceu a imperativos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m econômica. Com efeito, ao <strong>de</strong>positar<br />
o instrumento <strong>de</strong> <strong>de</strong>núncia na Repartição Internacional do Trabalho - OIT, em Genebra,<br />
em 20/11/1996, o Brasil alegou a incompatibilida<strong>de</strong> da convenção com seu “programa<br />
corrente <strong>de</strong> reforma econômica e social e mo<strong>de</strong>rnização” 22 . A referida <strong>de</strong>núncia foi formalizada<br />
no direito interno por meio do Decreto nº 2.100, <strong>de</strong> 20/12/1996.<br />
Essa não foi a primeira vez que o Brasil <strong>de</strong>nunciou uma convenção da OIT<br />
vigente no país. Houve o prece<strong>de</strong>nte da Convenção/OIT nº 81, que tratava da inspeção<br />
do trabalho na indústria e no comércio. Denunciada em 1971, o Decreto Presi<strong>de</strong>ncial<br />
nº 95.461, <strong>de</strong> 11/12/1987, revogou o Decreto <strong>de</strong> <strong>de</strong>núncia e restabeleceu a<br />
plena vigência da convenção em nosso país 23 .<br />
O direito à saú<strong>de</strong> também é objeto <strong>de</strong> restrições. A <strong>de</strong>speito da conhecida<br />
precarieda<strong>de</strong> do sistema <strong>de</strong> saú<strong>de</strong>, incapaz <strong>de</strong> reduzir o gasto médico para as camadas<br />
mais pobres, questionam-se cada vez mais as características <strong>de</strong> universalida<strong>de</strong> e <strong>de</strong><br />
gratuida<strong>de</strong> no atendimento do Sistema Único <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> – SUS 24 .<br />
Como se observa, o refluxo dos direitos sociais está ocorrendo sob a hipertrofia<br />
do princípio do mercado, o qual tenta reduzir a eficácia dos princípios do estado e<br />
da comunida<strong>de</strong> 25 . Nesse contexto, diante da fetichização do valor econômico, vem<br />
ocorrendo a implantação <strong>de</strong> um “direito alternativo às avessas” 26 , no qual, sob o pretexto<br />
<strong>de</strong> que o reconhecimento dos direitos sociais po<strong>de</strong> gerar inflação, arruinar a<br />
empresa ou inviabilizar a administração, o Judiciário afasta a aplicação da legislação<br />
social. Ou seja, a criação legislativa e a própria aplicação do direito estão subordinadas<br />
a valores <strong>de</strong>correntes do universo econômico.<br />
Adotou-se como prática corrente para forçar <strong>de</strong>terminados comportamentos<br />
nesse cenário a “aplicação seletiva das normas” 27 . Essa figura trata da ameaça feita<br />
21 MACCALÓZ, Salete Maria et al.Globalização: Neoliberalismo e Direitos Sociais. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: Destaque, 1998. p. 16.<br />
22 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A proteção Internacional dos Direitos Humanos<br />
e o Brasil. Brasília: UnB. 1998. P. 122.<br />
23 Ibid. p. 124.<br />
24 FALCÃO, Daniela. SUS não consegue reduzir o gasto médico dos mais pobres. Folha <strong>de</strong> São<br />
Paulo. São Paulo, 30 set. 1998, São Paulo, p.1.<br />
25 SANTOS, Boaventura <strong>de</strong> Sousa. Pela Mão <strong>de</strong> Alice: O Social e o Político na Pós-<br />
Mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> . São Paulo: Cortez, 1997. p. 87.<br />
26 CAMPILONGO, Celso Fernan<strong>de</strong>s. Os <strong>de</strong>safios do Judiciário: Um enquadramento teórico. In<br />
FARIA, José Eduardo (org). Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros,<br />
1998. p. 38.<br />
27 I<strong>de</strong>m. Crise do Estado, Mudança Social e Transformação do Direito no Brasil. São Paulo em<br />
Perspectiva , São Paulo, Vol. 8, n. 2, abr.-jun. 1994. p. 19.
Os direitos sociais e a crise do Estado contemporâneo<br />
113<br />
pelos que <strong>de</strong>tém o po<strong>de</strong>r coercitivo <strong>de</strong> aplicar realmente a lei se o seu <strong>de</strong>stinatário não<br />
se portar <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada maneira. Assim, ao mesmo tempo em que se <strong>de</strong>scumpre a<br />
legislação garantidora <strong>de</strong> direitos, normas repressivas são utilizadas como armas<br />
para calar aqueles que buscam efetivar, mesmo por mecanismos extra-estatais, a<br />
eficácia <strong>de</strong>sses direitos.<br />
A principal conclusão que se po<strong>de</strong> tirar <strong>de</strong>sse cenário é a <strong>de</strong> que os direitos<br />
sociais positivados estão ameaçados pela prática <strong>de</strong>corrente do i<strong>de</strong>ário neoliberal.<br />
A razão principal é que eles estão vinculados à figura estatal, são financiados por<br />
recursos públicos e pressupõem a soberania do Estado para ditar a legislação. Ao<br />
partir da perspectiva histórica <strong>de</strong> aquisição <strong>de</strong> direitos, forçoso é reconhecer que se<br />
está diante <strong>de</strong> um retrocesso, a menos que a própria socieda<strong>de</strong> crie mecanismos<br />
para recompor essas prerrogativas ou a criar novas que, <strong>de</strong> alguma forma, venham<br />
a substituí-las.<br />
O Judiciário exerce também papel importante nesse contexto, pois é enxergado<br />
como (e é <strong>de</strong> fato) parte do Estado. Apesar <strong>de</strong> a concretização dos direitos<br />
humanos ter como pressuposto a exigência <strong>de</strong> uma lógica material, que <strong>de</strong>manda<br />
uma ação dos juízes como co-partícipes da implantação <strong>de</strong>sses direitos, a maioria<br />
dos tribunais ainda se mantém impermeável a essa realida<strong>de</strong>, e ainda opera com<br />
uma lógica formal que é absolutamente ina<strong>de</strong>quada às necessida<strong>de</strong>s atuais. Como<br />
conseqüência imediata <strong>de</strong>ssa situação, a maioria da população passa a ver com<br />
<strong>de</strong>scrédito a atuação do Judiciário; portanto, não mais recorre a ele e prefere resolver<br />
seus litígios por meio <strong>de</strong> mecanismos extrajudiciais, o que muitas vezes se<br />
concretiza na simples aceitação da vonta<strong>de</strong> do mais forte.<br />
VI - A cidadania pós-social e os direitos humanos<br />
O enfraquecimento da soberania estatal leva ao reconhecimento <strong>de</strong> que o<br />
monismo jurídico já não mais po<strong>de</strong> ter pretensões <strong>de</strong> regular sozinho a socieda<strong>de</strong>.<br />
Campilongo afirma que a realida<strong>de</strong> pós-social trabalha com um autêntico pluralismo<br />
jurídico, às vezes sob os auspícios do próprio Estado 28 .<br />
A <strong>de</strong>slegalização e a <strong>de</strong>sregulamentação do mercado, procedimentos que<br />
fazem parte do i<strong>de</strong>ário neoliberal, são um dos vértices do novo pluralismo. Diante<br />
da incapacida<strong>de</strong> crescente <strong>de</strong> o Estado exercer a regulação, <strong>de</strong>slegalizar representa<br />
<strong>de</strong>volver à socieda<strong>de</strong> a “capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> impor suas próprias regras do jogo” 29 . Sob<br />
28 CAMPILONGO, Celso Fernan<strong>de</strong>s. Crise do Estado, Mudança Social e Transformação do<br />
Direito no Brasil. São Paulo em Perspectiva , São Paulo, Vol. 8, n. 2, abr.-jun. 1994. p. 20.<br />
29 I<strong>de</strong>m. p. 19.
114<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
o manto <strong>de</strong>ssa aparente emancipação, porém, escon<strong>de</strong>-se um viés totalmente anti<strong>de</strong>mocrático,<br />
pois as <strong>de</strong>cisões que afetarão a vida <strong>de</strong> milhares <strong>de</strong> pessoas po<strong>de</strong>rão<br />
vir a ser tomadas em salas fechadas por agentes que não <strong>de</strong>têm legitimida<strong>de</strong> representativa<br />
alguma.<br />
Outro ponto que caracteriza a cidadania pós-social é a entrega, pelo Estado,<br />
<strong>de</strong> parte <strong>de</strong> sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong>cisória à socieda<strong>de</strong> civil. Exemplos <strong>de</strong>ssa <strong>de</strong>legação<br />
encontram-se na negociação direta entre patrões e empregados, entre donos <strong>de</strong> escolas<br />
particulares e pais <strong>de</strong> alunos e entre fornecedores e consumidores. Apesar <strong>de</strong><br />
ser ressaltado que essa prática po<strong>de</strong> levar no longo prazo a um aprendizado <strong>de</strong>mocrático,<br />
alerta-se que um jogo sem árbitros propicia <strong>de</strong>cisões unilaterais, sempre<br />
tomadas pela parte mais forte em <strong>de</strong>trimento da hipossuficiente. Apenas os grupos<br />
mais articulados e com maior po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> pressão po<strong>de</strong>rão resistir e manter seus direitos;<br />
aos <strong>de</strong>mais, resta a resignação pura e simples aos <strong>de</strong>sígnios do mais forte.<br />
Como outra prática <strong>de</strong> <strong>de</strong>sregulação não consentida formalmente pelo Estado,<br />
tem-se o “Estado paralelo”. Trata-se <strong>de</strong> procedimentos que se utilizam da “aplicação<br />
seletiva da lei”, da ausência <strong>de</strong> regulamentação dos direitos estabelecidos na<br />
Constituição e da alegação da ausência <strong>de</strong> recursos para que sejam implementadas<br />
políticas públicas 30 . Como se percebe, há a quebra do estado <strong>de</strong> direito, típica <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>mocracias <strong>de</strong> “baixa intensida<strong>de</strong>”.<br />
Conclui-se que a cidadania pós-social é uma cidadania <strong>de</strong>sregulada, na qual o<br />
Estado procura se retirar do centro da arena política e ce<strong>de</strong>r espaços para os elementos<br />
da socieda<strong>de</strong> civil. Se por um lado, como já ressaltado, essa omissão estatal leva<br />
a uma provável imposição da vonta<strong>de</strong> do mais forte, po<strong>de</strong> também ensejar a possibilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> ser edificada uma cidadania baseada nas perspectivas <strong>de</strong> emancipação.<br />
A <strong>de</strong>fesa dos direitos humanos, nesse contexto, per<strong>de</strong> muito da sua característica<br />
“burocrática”, ou seja, passa a não mais <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r somente da intervenção<br />
estatal. A exigência pela sua realização, bem como pelo advento <strong>de</strong> novos direitos,<br />
ganha o espaço público das ruas. Aparece nos movimentos que reivindicam moradia,<br />
emprego e condições <strong>de</strong> vida mais <strong>de</strong>centes.<br />
A conscientização, produto <strong>de</strong> uma cidadania ativa, <strong>de</strong>corre da experiência<br />
adquirida por intermédio da realida<strong>de</strong> cotidiana, <strong>de</strong> lutas para esta adquirir novas<br />
feições. Os conflitos para essas conquistas pressupõem engajamentos não apenas<br />
físicos, mas também intelectuais, que permitam a construção <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong>s próprias<br />
dos seus participantes.<br />
30 SANTOS apud CAMPILONGO, Celso Fernan<strong>de</strong>s. Crise do Estado, Mudança Social e Transformação<br />
do Direito no Brasil. São Paulo em Perspectiva , São Paulo, Vol. 8, n. 2, abr.-jun. 1994. p. 19.
Os direitos sociais e a crise do Estado contemporâneo<br />
115<br />
Deve-se citar, porém, a preocupação, já manifestada neste trabalho, com os<br />
grupos <strong>de</strong> menor capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mobilização, os quais, no cenário do Estado pós-social,<br />
po<strong>de</strong>m sofrer refluxos em seus direitos. Para esses, a pauta <strong>de</strong> direitos já positivados<br />
ganha relevância como ponto <strong>de</strong> referência para que seja exigido do Estado o cumprimento<br />
<strong>de</strong> seus <strong>de</strong>veres. Surge daí a re<strong>de</strong>scoberta do espaço do Judiciário como lugar<br />
privilegiado <strong>de</strong> luta pelos direitos, como “locus privilegiado <strong>de</strong> confronto dos vários<br />
grupos e sujeitos sociais” 31 .<br />
A preservação dos direitos sociais, assim, faz parte das exigências <strong>de</strong>sses sujeitos,<br />
que não <strong>de</strong>ixam <strong>de</strong> exigir do Estado o cumprimento das metas da cidadania social.<br />
Esses pleitos partem do pressuposto <strong>de</strong> que o Estado, apesar <strong>de</strong> enfraquecido, não está<br />
fadado a <strong>de</strong>saparecer em um futuro próximo; é, ainda, o principal <strong>de</strong>stinatário <strong>de</strong>sses<br />
pedidos.<br />
VII - Conclusão<br />
A cidadania pós-social é caracterizada por sua <strong>de</strong>sregulação, produto do atual<br />
enfraquecimento da soberania estatal. Esse fato ocasionou um refluxo dos direitos sociais,<br />
patrocinados pelo Estado, e, nos países periféricos, também um refluxo geral na<br />
eficácia dos direitos individuais.<br />
Nesse contexto, a permanência da cidadania passiva, característica do Estado<br />
liberal, não possibilitará conquistas <strong>de</strong> novos direitos, nem a manutenção dos que estão<br />
sendo atacados, quer na sua eficácia, quer na sua positivação. A razão <strong>de</strong>ssa impossibilida<strong>de</strong><br />
resi<strong>de</strong> no fato <strong>de</strong> que esse mo<strong>de</strong>lo está baseado em um Estado cuja única participação<br />
permitida aos cidadãos, para que seja formada sua vonta<strong>de</strong>, é a do sufrágio.<br />
Assim, verifica-se que a manutenção dos direitos atacados pelas práticas pertinentes<br />
ao mo<strong>de</strong>lo neoliberal, bem como o reconhecimento <strong>de</strong> novos, somente será possível<br />
por meio <strong>de</strong> uma cidadania ativa. As lutas empreendidas pelos novos movimentos<br />
sociais, assim, configuram um dos modos pelos quais se projeta essa participação. Direitos<br />
humanos, nessa concepção, não po<strong>de</strong>m ser dissociados do seu processo <strong>de</strong> interiorização,<br />
do seu processo <strong>de</strong> materialização.<br />
Percebe-se, assim, a insuficiência do mo<strong>de</strong>lo positivado nas <strong>de</strong>clarações como<br />
expressão unitária do que sejam direitos humanos. Com efeito, o movimento histórico<br />
ensina que contextos como o vivido atualmente necessitam <strong>de</strong> algo além do <strong>de</strong>scrito nas<br />
leis. Se não existir a vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> preservação ou <strong>de</strong> conservação <strong>de</strong> direitos, esses<br />
po<strong>de</strong>m ser extintos pela simples vonta<strong>de</strong> dos governantes <strong>de</strong> plantão, pois não encontrarão<br />
resistência na socieda<strong>de</strong>.<br />
31 LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. São Paulo: Nova Cultural-Brasiliense, 1985. p. 40.
116<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
A pauta dos direitos positivados não po<strong>de</strong> ser dispensada. Ao contrário, ela e os<br />
direitos instituídos em cada or<strong>de</strong>namento são sempre pontos <strong>de</strong> referência aos qual<br />
todos os que tenham seus direitos feridos po<strong>de</strong>m recorrer. Mais ainda, a “consciência<br />
<strong>de</strong> direitos se encontra tanto melhor partilhada quando são <strong>de</strong>clarados, quando o po<strong>de</strong>r<br />
afirma garanti-los, quando as marcas da liberda<strong>de</strong> se tornam visíveis pelas leis” 32 . Essa<br />
afirmação é extremamente importante para os grupos com menor capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> organização,<br />
além <strong>de</strong> serem as principais prerrogativas <strong>de</strong> que se po<strong>de</strong> dispor contra o arbítrio.<br />
31 NOLETO, Mauro Almeida . Subjetivida<strong>de</strong> Jurídica: A Titularida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Direitos em Perspectiva<br />
Emancipatória. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. P. 100.
Os direitos sociais e a crise do Estado contemporâneo<br />
117<br />
VIII - Bibliografia<br />
APOSTOLOVA, Bistra Stefanova. Po<strong>de</strong>r Judiciário: do Mo<strong>de</strong>rno ao Contemporâneo.<br />
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998.<br />
BEDIN, Gilmar Antonio. Estado, Cidadania e Globalização do Mundo:<br />
algumas reflexões e possíveis <strong>de</strong>sdobramentos. In: OLIVEIRA, O<strong>de</strong>te Maria <strong>de</strong><br />
(org.). Relações Internacionais e Globalização: Gran<strong>de</strong>s Desafios. Ijuí: Unijuí,<br />
1998, pp. 123-150.<br />
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Campus, 1992.<br />
_____. Liberda<strong>de</strong> e Democracia. São Paulo: Brasiliense:1984.<br />
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A proteção Internacional dos<br />
Direitos Humanos e o Brasil. Brasília: UnB. 1998.<br />
CAMPILONGO, Celso Fernan<strong>de</strong>s. Crise do Estado, Mudança Social e Transformação<br />
do Direito no Brasil. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, Vol. 8, n. 2,<br />
pp. 15-20, abr.-jun. 1994.<br />
_____. Os <strong>de</strong>safios do Judiciário: Um enquadramento teórico. In FARIA,<br />
José Eduardo (org). Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo:<br />
Malheiros, 1998, pp. 30-51.<br />
DORNELLES, João Ricardo W. O que são Direitos Humanos. São Paulo:<br />
Brasiliense. 1997.<br />
FALCÃO, Daniela. SUS não consegue reduzir o gasto médico dos mais<br />
pobres. Folha <strong>de</strong> São Paulo. São Paulo, 30 set. 1998, São Paulo, p.1.<br />
FARIA, José Eduardo (org). Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça.<br />
São Paulo: Malheiros, 1998.<br />
_____. Direito e Globalização Econômica: Implicações e Perspectivas.<br />
São Paulo: Malheiros, 1998.<br />
LIMA, Renato Sérgio <strong>de</strong>. Acesso à Justiça e Reinvenção do Espaço Público.<br />
São Paulo em Perspectiva. São Paulo, Vol. 11, n. 3, pp. 86-91, jul.set 1997.<br />
LIMA TRINDADE, José Damião <strong>de</strong>. In: SÃO PAULO (Estado). Procuradoria<br />
Geral do Estado. Grupo <strong>de</strong> Trabalho <strong>de</strong> Direitos Humanos. Direitos Humanos:<br />
Construção da Liberda<strong>de</strong> e da Igualda<strong>de</strong>. São Paulo: Centro <strong>de</strong> Estudos da<br />
Procuradoria Geral do Estado. 1998. p. 21-166.<br />
LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. São Paulo: Nova Cultural-Brasiliense,<br />
1985.<br />
MACCALÓZ, Salete Maria et al. Globalização: Neoliberalismo e Direitos<br />
Sociais. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Destaque, 1998.<br />
NOLETO, Mauro Almeida. Subjetivida<strong>de</strong> Jurídica: A Titularida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Direitos em Perspectiva Emancipatória. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris<br />
Editor, 1998.
118 RIANI,<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
Flávio. Economia do Setor Público. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997.<br />
SANTOS, Boaventura <strong>de</strong> Sousa. Pela Mão <strong>de</strong> Alice: O Social e o<br />
Político na Pós-Mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong>. São Paulo: Cortez, 1997.<br />
_____. Por uma Concepção Multicultural <strong>de</strong> Direitos Humanos. Lua Nova:<br />
Revista <strong>de</strong> Cultura e Política, São Paulo, nº 39. pp. 105-124. 1997.
500 anos – uma revisita<br />
119<br />
Gerobal Guimarães<br />
Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados<br />
Uma visita faz-se planejada ou fortuitamente. A revisita consiste no reviver<br />
uma visita com outro enfoque, com espírito <strong>de</strong> observação mais aguçado, com a<br />
mente mais aberta. Revisitemos, pois, a História, num pulo <strong>de</strong> 500 anos.<br />
Sempre que um homem, uma obra, uma idéia, um evento completa um<br />
período cheio <strong>de</strong> tempo – um século, um milênio, etc., – a socieda<strong>de</strong> diretamente<br />
envolvida predispõe-se a uma revisitação em análises mais ou menos profundas,<br />
mais ou menos conseqüentes.<br />
Nessa revisitação, não raro, constata-se que acontecimentos importantes são<br />
relegados ao esquecimento ou a minúsculos escaninhos da história e que eventos<br />
banais, pelas conseqüências, tornam-se mais e mais <strong>de</strong>terminantes.<br />
É nessa direção que encaminhamos a nossa revisita.<br />
Por volta da terceira década do século XVI, Diego Garcia 1 <strong>de</strong>screvia que<br />
encontrara em ilhas situadas frente ao forte Espírito Santo, pouco acima da atual<br />
cida<strong>de</strong> argentina <strong>de</strong> Rosário, alguns índios que se auto<strong>de</strong>nominavam “guarinïs” 2 .<br />
Estes índios, segundo Martim Afonso <strong>de</strong> Sousa 3 , entendiam a língua dos carijós,<br />
tida então como idêntica, senão a própria “língua geral” da costa brasileira.<br />
Dessa constatação <strong>de</strong>correu a universalização do termo “guarani” para <strong>de</strong>nominar<br />
os índios que falavam a “língua geral” e que viviam em terras <strong>de</strong> Castela.<br />
Ora, a <strong>de</strong>nominação consistia num achado, uma vez que o gentílico “carijó”<br />
que <strong>de</strong>screvia os índios que falavam a “língua geral”, mas que viviam ao sul <strong>de</strong> São<br />
Vicente e eram muito bem conhecidos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Cananéia até a lagoa dos Patos, no<br />
1 GARCIA, D. – 1856 - Memoria <strong>de</strong> la navegación que hice etc. en el año <strong>de</strong> 1526. Revista<br />
do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil – Tomo 15, Rio <strong>de</strong> Janeiro – RJ.<br />
2 GUASCH,A. (S.J.)(Pe.) & ORTIZ, D. (S.J.) (Pe.) – 1991 – Diccionario Castellano – Guarani<br />
– Guarani- Castellano, 7ª ed. Centro <strong>de</strong> Estudios Paraguayos “Antonio Guasch”, Assunção, Paraguai<br />
LEMOS BARBOSA,A. (Pe.) 1951 – Pequeno Vocabulário Tupi – Português – Livraria<br />
São José – Rio <strong>de</strong> Janeiro, RJ.<br />
3 in Diário <strong>de</strong> Navegação <strong>de</strong> Pero Lopes <strong>de</strong> Sousa – ( 1530-1532) – 1927 – Série Eduardo<br />
Prado, comentado por Eugênio <strong>de</strong> Castro, Vol. I, Rio <strong>de</strong> Janeiro, RJ.
120<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
extremo sul do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, não servia, dada a incerteza quanto à verda<strong>de</strong>ira<br />
localização da linha divisória estabelecida pelo Tratado <strong>de</strong> Tor<strong>de</strong>silhas.<br />
Diego Garcia estivera na Ilha <strong>de</strong> Santa Catarina (Desterro, hoje Florianópolis)<br />
e no porto ou rio dos Patos (hoje Massiambu), naquele mesmo Estado e convivera,<br />
portanto, com os carijós.<br />
On<strong>de</strong> se localizava o forte Espírito Santo, entretanto, não haveria dúvidas.<br />
Era um aci<strong>de</strong>nte materializado e contruído por espanhóis.<br />
Assim, em <strong>de</strong>corrência, ficariam os castelhanos com os “guaranis” e os<br />
portugueses com os “tupis” e a linha <strong>de</strong> Tor<strong>de</strong>silhas, além <strong>de</strong> política, passava a ser<br />
também antropológica e, <strong>de</strong> maneira assaz forçada, lingüística. Daí em diante, as<br />
sonhadas primazias castelhanas sobre os lusos, ou vice-versa, <strong>de</strong>veriam esten<strong>de</strong>r-se<br />
também no campo da lingüística, isto é, do guarani sobre o tupi 4 , ou vive-versa.<br />
A conseqüência é que, tratando-se <strong>de</strong> “novos” selvagens, haveria a necessida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> enviar “novos” catequistas, controlados por Castela. Estava armado o cenário<br />
para o dissentimento secular entre a Colônia do Sacramento e as Missões. Era<br />
a semente que, frutificando, <strong>de</strong>saguaria nas constantes escaramuças entre espanhóis<br />
e portugueses em que, ironicamente, tupis e guaranis morriam a mancheias.<br />
O paralelismo se impunha: a um Anchieta com sua Arte, respondiam com<br />
Montoya e sua Arte, <strong>de</strong>calcada na primeira; ao Vocabulário da Língua Brasílica,<br />
respondiam os castelhanos com seu Vocabulario <strong>de</strong> la Lengua Guarani. É interessante<br />
que, embora pertencendo todos à Companhia <strong>de</strong> Jesus, os religiosos enviados<br />
às terras guaranis sempre estiveram a reboque daqueles encarregados <strong>de</strong> catequizar<br />
os tupis.<br />
Pela estrutura <strong>de</strong>senhada pelos castelhanos, o vice-reino do Peru conseguia<br />
o que Pachacútec e seu filho não alcançaram: reduzir os guerreiros a escravos;<br />
transformar um povo soberano em servil.<br />
Nos últimos dias, temo-nos aproximado <strong>de</strong> pessoas quaisquer e feito, <strong>de</strong><br />
chofre, a pergunta: o que é que você é?<br />
Alguns não enten<strong>de</strong>m a pergunta e respon<strong>de</strong>m com outra indagação: como<br />
assim?, em que sentido?<br />
Outros, imbuídos talvez <strong>de</strong> atmosfera em que estiveram vivendo há pouco,<br />
respon<strong>de</strong>m: Advogado, Jardineiro, Motorista, Flamenguista, Peeme<strong>de</strong>bista,<br />
Mangueirense, etc., etc. Muito rara e dificilmente respon<strong>de</strong>m: brasileiro, goiano ...<br />
Imaginem-se, há quinhentos anos, alguém perguntar: quem és tu? E o<br />
4 Para o conhecimento <strong>de</strong> uma cronologia <strong>de</strong>talhada quanto ao uso dos termos carijó, guarani,<br />
tupi e suas variantes, seja como gentílico, seja como adjetivação <strong>de</strong> línguas, é indispensável compulsar<br />
a magistral obra <strong>de</strong>:
500 anos – uma revisita<br />
121<br />
interlocutor respon<strong>de</strong>r: eu sou um guarani, isto é, sou da nação guarani! ...<br />
De estupi<strong>de</strong>z em estupi<strong>de</strong>z, <strong>de</strong> ignorância em ignorância, <strong>de</strong> estultícia<br />
em estultícia, a querela, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> percorrer todos os caminhos da insensatez, <strong>de</strong>sembocou<br />
numa forma <strong>de</strong> armistício, resolvendo-se, mais do lado (já agora) brasileiro,<br />
forjar uma língua tupi-guarani, para mostrar que uma não teria precedência<br />
sobre a outra e, por extensão, nem lusos, nem castelhanos <strong>de</strong>veriam, em outros<br />
campos, disputar precedência.<br />
Ora, se ainda existem discussões sobre o grau <strong>de</strong> evolução <strong>de</strong> uma ou outra<br />
língua e, portanto, suas ida<strong>de</strong>s relativas, todos são unânimes em constatar que a<br />
diferença entre a língua tupi e a língua carijó, isto é, a língua guarani, é mais<br />
acentuada que a existente, entre o Espanhol e o Português e, portanto, a<br />
individualização como línguas in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes não requer favor ou esforço.<br />
Não obstante a assertiva acima, qualquer pessoa, com um mínimo conhecimento<br />
<strong>de</strong> uma das duas línguas, sabe que guarinï significa “guerreiro” tanto em<br />
tupi como em guarani, ou melhor, em carijó, e que aqueles “guaranis” <strong>de</strong>scritos<br />
por Garcia não passavam, portanto <strong>de</strong> “guerreiros”, isto é, um <strong>de</strong>stacamento carijó<br />
que para ali teria sido escalado, para servir <strong>de</strong> sentinela avançada das fronteiras do<br />
território carijó.<br />
Nunca é <strong>de</strong>mais lembrar que o glorioso império inca estendia-se, ao longo<br />
dos An<strong>de</strong>s, até a altura da atual cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Santiago, capital do Chile, o que significa,<br />
grosso modo, a mesma latitu<strong>de</strong> do estuário do Prata ou do forte Espírito Santo.<br />
Quem conhece minimamente o costume dos índios e, <strong>de</strong> resto, <strong>de</strong> todos os<br />
povos, sabe que a prática <strong>de</strong> distribuir observadores, sentinelas, forças <strong>de</strong> <strong>de</strong>fesa,<br />
ou fixar povoados ao longo da fronteira é, historicamente, imemorial.<br />
Des<strong>de</strong> 1468 5 , para não recuar muito, a fronteira oeste do território carijó era<br />
alvo da cobiça dos incas que, na transição do governo Pachacútec ou Pachacútec<br />
Inca Yupanqui para seu filho Amaro Yupanqui ou Amaro Inca Yupanqui, foi alvo<br />
<strong>de</strong> ataque em que os carijós, através <strong>de</strong> seus guarinïs, imprimiram ao exército do<br />
“conquistador do mundo e rei dos reis” ou “marco <strong>de</strong> nova era”, fragorosa <strong>de</strong>rrota.<br />
Durante o governo <strong>de</strong> Tito Cusi Huallpa ou Huayna Cápac, por volta <strong>de</strong> 1522<br />
ou 1523, os carijós, agora não somente com seus guarinïs mas também com os<br />
<strong>de</strong>mais componentes <strong>de</strong> sua socieda<strong>de</strong>, tentaram forçar as fronteiras do império inca,<br />
aparentemente em busca da “terra sem males” ou seu “utópico paraíso, on<strong>de</strong>, segundo<br />
suas crenças, ninguém envelhecia ou falecia”, como observa Wal<strong>de</strong>mar Espinoza<br />
5 in Diário <strong>de</strong> Navegação <strong>de</strong> Pero Lopes <strong>de</strong> Sousa – ( 1530-1532) – 1927 – Série Eduardo<br />
Prado, comentado por Eugênio <strong>de</strong> Castro, Vol. I, Rio <strong>de</strong> Janeiro, RJ.<br />
EDELWEISS, F. G. – 1947 – Tupis e Guaranis – Estudos <strong>de</strong> Etnonímia e Lingüística. Publicações<br />
do Museu da Bahia, nº 7. Salvador, Bahia.
122<br />
Ca<strong>de</strong>rnos <strong>Aslegis</strong> 9<br />
Soriano, fonte do que aqui se fala sobre os incas, e foram contidos. Os que caíram<br />
prisioneiros foram transladados para Vilcanota, on<strong>de</strong> passaram a ser conhecidos como<br />
chiriguaná, o que significa na língua quêchua, os “escarmentados <strong>de</strong> frio” (vem a<br />
propósito registrar que os dicionários nacionais trazem o termo “quíchua” em lugar<br />
<strong>de</strong> quêchua, ainda que saibam que em quêchua não existe a vogal i !).<br />
Note-se ainda que no Peru, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os tempos <strong>de</strong> Potosi, para os espanhóis, os<br />
termos chiriguano e guarani eram sinônimos.<br />
A origem do termo “cariós” ou “carijós” parece ser quêchua 6 <strong>de</strong> “carv”<br />
(distante) + “wasz” (casa) ou caru + hasi, o que significa “casa distante”, ou “morada<br />
longínqua” ou, como gentílico, “aqueles que moram muito longe”<br />
A observação <strong>de</strong> que se encontravam “com os <strong>de</strong>mais componentes <strong>de</strong> sua<br />
socieda<strong>de</strong>” é em parte gratuita, vez que era costume comum, não somente entre os<br />
carijós como entre os tupis e mesmo entre os incas, a participação <strong>de</strong> toda a socieda<strong>de</strong><br />
na marcha <strong>de</strong> guerra; isto é, que, além dos guerreiros “guarinï ”, marchassem<br />
mulheres, crianças e velhos, na retaguarda e servindo à intendência, ou como responsáveis<br />
pela logística.<br />
O fato <strong>de</strong> a história dizer e registrar que “tupis” e “carijós” eram inimigos<br />
encerra verda<strong>de</strong> temporalmente pontual, em termos <strong>de</strong> momento, e inverda<strong>de</strong> histórica,<br />
uma vez que, sempre que surgisse um personagem simultaneamente inimigo<br />
<strong>de</strong> uma ou outra facção, era sempre possível a formação <strong>de</strong> uma confe<strong>de</strong>ração e a<br />
disputa doméstica era esquecida ou, pelo menos, adiada. Nem se estranhe, em plena<br />
Baía da Guanabara, uma casa carijó ou uma “carioca” funcionando como embaixada,<br />
vez que, entre os carijós, habitantes <strong>de</strong> São Vicente para o Sul, e os<br />
tupinambás do Rio <strong>de</strong> Janeiro, havia os tupiniquins, <strong>de</strong> ambos inimigos.<br />
Tupis e carijós, antes, durante e <strong>de</strong>pois da chegada dos “peró” 7 e dos<br />
“casiana” 8 falavam línguas diferentes, emanadas, porém, <strong>de</strong> um mesmo tronco ou<br />
língua-mãe e, analogicamente, do ponto <strong>de</strong> vista étnico, representavam galhos do<br />
mesmo tronco, o que tornava penoso, ou mesmo impossível, para um adventício,<br />
<strong>de</strong>terminar-lhes língua ou nação.<br />
A atribuição da <strong>de</strong>nominação “guarani” ao povo carijó, <strong>de</strong>sprezando a realida<strong>de</strong>,<br />
servia apenas a propósitos geopolíticos e fazia eco à disputa que, silenciosa<br />
ou estri<strong>de</strong>ntemente, exercitavam os súditos dos pouco cristãos reis católicos<br />
6 SORIANO , W. E. – 1990 - Los Incas – Economía, Sociedad y Estado en la era <strong>de</strong>l<br />
Tahuantinsuyo – 2ª Ed. Amaru Editores, Lima, Peru.<br />
7 CHAMORRO ATAYUPANQUI, A.M. – 1991 – Diccionario Castellano-QJZSWA<br />
(QUECHUA) (Sistema Mayoñan) – Consejo Nacional <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología – CONCYTEC – Lima,<br />
Peru.<br />
8 <strong>de</strong>signação que os tupis davam aos portugueses
500 anos – uma revisita<br />
123<br />
castelhanos e dos intranqüilos súditos da sereníssima majesta<strong>de</strong> lusitana.<br />
É evi<strong>de</strong>nte que hoje não se po<strong>de</strong> retirar e nem fazer reparo à <strong>de</strong>nominação<br />
que assumiram os ilustres <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes dos carijós – guarinïs –, partícipes do<br />
esforço pelo progresso <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s espaços das terras do cone sul, em território<br />
argentino, paraguaio, boliviano e brasileiro.<br />
A eles, a seus irmãos tupis e a todos os povos que aqui viviam há mais <strong>de</strong><br />
quinhentos anos, a<strong>de</strong>mais, <strong>de</strong>ve ser creditado o “tempero” especial <strong>de</strong> que se servem<br />
as línguas espanhola e portuguesa para, pela boca latino-americana, apresentarem-se,<br />
no concerto das nações, com mais doçura e com mais jovialida<strong>de</strong> e com<br />
não menos incisão e veemência.<br />
A tentativa <strong>de</strong> divisão, a busca pela implantação do antagonismo <strong>de</strong>verá<br />
restar inútil.<br />
Lenta e inexoravelmente, tupis, tapuias, guaranis ou carijós, e todas as<br />
mesclas que a história, recente ou remota, ensejou, perseguirão um só <strong>de</strong>stino: o<br />
dos povos livres.<br />
A aparência <strong>de</strong> sua pele, esturricada ou escarmentada, é <strong>de</strong>vida apenas ao<br />
esforço <strong>de</strong> dominar os trópicos e aqui construir uma gran<strong>de</strong> civilização; enfrentar<br />
os abutres e lutar por um lugar ao sol.<br />
Decididamente, não é pela ida<strong>de</strong>; afinal, pela concepção dos lusos e<br />
castelhanos, e <strong>de</strong> resto, <strong>de</strong> todos os europeus, só têm 500 anos.
124