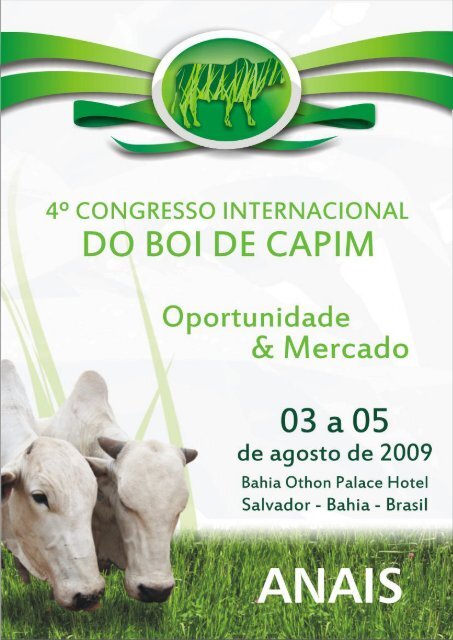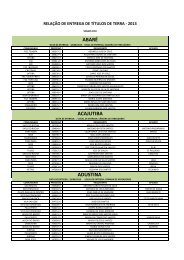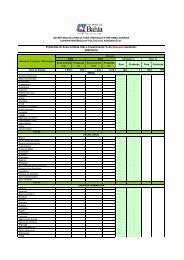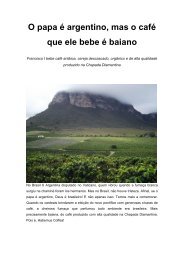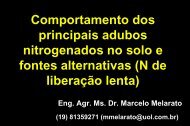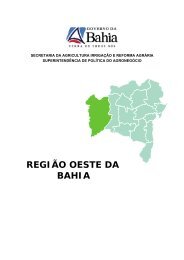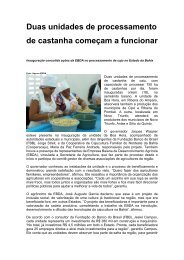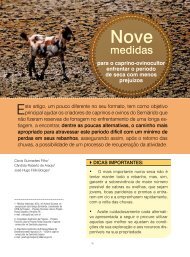comissão organizadora - Seagri
comissão organizadora - Seagri
comissão organizadora - Seagri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
COMISSÃO ORGANIZADORA<br />
Presidente: Jaime Fernandes Filho - ABEXPO<br />
Coordenador Geral: Almir Mendes de Carvalho Neto - ABEXPO<br />
COMISSÃO CIENTÍFICA<br />
Coordenador Científico: Prof. MSc. Guilherme Augusto Vieira – Curso de Agronegócios CAIRÙ – UNIME<br />
MEMBROS<br />
Prof. PhD Ronaldo Lopes Oliveira - Coordenador do Curso de Zootecnia - Universidade Federal da Bahia<br />
– UFBA Departamento de Produção Animal<br />
Prof. DSc. Danilo Gusmão de Quadros – Curso de Agronomia – UNEB –Barreiras<br />
Prof. DSc. Fabiano Ferreira da Silva – Curso de Zootecnia – UESB - Itapetinga<br />
Profa. DSc. Ana Karina Cavalcante – Curso de Medicina Veterinária – UNIME – Bahia<br />
Prof.MSc. Bruno Lopes Bastos – MV Autônomo – Bahia
O 4º Congresso Internacional de Boi de Capim será realizado no Bahia Othon Palace Hotel,<br />
no período de 03 a 05 de agosto de 2009, em Salvador-Bahia, e manterá a tradição de ser<br />
um dos maiores eventos relativo à cadeia produtiva da carne, e traz nesta edição como tema<br />
central “Oportunidade e Mercado”.<br />
Espera-se nesta nova edição superar os números das edições anteriores e para isso será montada<br />
uma grandiosa estrutura para receber um público de participantes e investidores de<br />
aproximadamente 500 pessoas, dentre eles personalidades de cunho nacional e internacional.<br />
Estaremos lançando nesta edição novas atividades como: mini-cursos e submissão de trabalhos<br />
técnicos e seleção de cases de sucesso.
Análise de desestruturaçao das fezes bovinas pelo besouro coprófago<br />
(Scarabaeidae) em Barreiras-Ba, na época chuvosa do ano................................................................................................................................... 06<br />
Análise microbiológica de leite informal comercializado em itapetinga, bahia.................................................................................................... 08<br />
Aspectos comportamentais de novilhos nelore recebendo suplementação mineral ou protéica em pastejo na época seca.................................... 10<br />
Aspectos metodológicos dos períodos discretos no comportamento ingestivo de novilhos a pasto....................................................................... 12<br />
Avaliação da qualidade físico-química de leite produzido com ordenha manual com vacas mestiças................................................................... 14<br />
Avaliação do comportamento ingestivo de touros jovens e vacas com cria ao pé em pastejo................................................................................ 16<br />
Avaliação físico-quimica de leite cru: período das águas x período da seca........................................................................................................... 18<br />
Características físicas da carcaça de novilhos nelore suplementados com sal mineral ou proteinado em pastagem de brachiaria brizantha ....... 20<br />
Comportamento ingestivo de fêmeas aneloradas em diferentes estágios reprodutivos .......................................................................................... 22<br />
Comportamento ingestivo de fêmeas aneloradas em meio e final de gestação em regime de pastejo ................................................................... 24<br />
Comportamento ingestivo de novilhos e novilhas em pastejo contínuo de brachiaria decumbens ........................................................................ 26<br />
Comportamento ingestivo de novilhos e vacas sem bezerro ao pé em pastagens de “brachiaria decumbens” ...................................................... 28<br />
Comportamento ingestivo de novilhos nelore recebendo suplementação mineral ou protéica em pastejo<br />
mineral ou protéica em pastejo .............................................................................................................................................................................. 30<br />
Comportamento ingestivo de vacas aneloradas em diferentes condições reprodutivas em pastagens ................................................................... 32<br />
Comportamento ingestivo de vacas holandesas a pasto: metodologia .................................................................................................................. 34<br />
Comportamento ingestivo de vacas leiteiras zebuínas a pasto: metodologia .........................................................................................................36<br />
Consumo da forragem e suplemento de novilhos nelore recebendo suplementação mineral ou protéica<br />
em pastejo de brachiaria brizantha na época das aguas......................................................................................................................................... 38<br />
Consumo da forragem e suplemento de novilhos nelore recebendo suplementação mineral ou protéica em pastejo<br />
de brachiaria brizantha na época seca do ano.......................................................................................................................................................... 40<br />
Contagem bacteriana total de leite cru ordenhado manualmente no ano de 2008 ................................................................................................. 42<br />
Contagem de células somáticas de leite com ordenha manual............................................................................................................................... 44<br />
Contagem de células somáticas e contagem bacteriana total do leite cru tipo c da região de maiquinique, bahia. .............................................. 46<br />
Contagem de células somáticas em leite cru do tanque de resfriamento no ano de 2009...................................................................................... 48<br />
Conversão e eficiência alimentar de novilhos nelore recebendo suplementação mineral ou protéica em pastejo<br />
de brachiária brizantha na época das águas........................................................................................................................................................... 50<br />
Conversão e eficiência alimentar de novilhos nelore recebendo suplementação mineral ou protéica em pastejo<br />
de brachiária brizantha na época seca do ano.......................................................................................................................................................... 52<br />
Densidade populacional de perfilhos da brachiaria decumbens, consorciada com arachis pintoi ou sobre adubação nitrogenada....................... 54<br />
Desempenho de novilhos nelore recebendo suplementação mineral ou protéica em pastejo<br />
de brachiaria brizantha na época das aguas............................................................................................................................................................ 56<br />
Desempenho de novilhos nelore recebendo suplementação mineral ou protéica em pastejo<br />
de brachiaria brizantha na época seca do ano......................................................................................................................................................... 58<br />
Digestibilidade aparente dos nutrientes em novilhos nelore recebendo suplementação mineral<br />
ou protéica em pastejo de brachiária brizantha na época das águas........................................................................................................................ 60
Discretização de séries temporais no comportamento ingestivo de vacas holandesas utilizando somatrotopina bovina recobinante.................... 62<br />
Efeito da subsolagem associada a adubação na capacidade de suporte em pastagem degradada de brachiaria decumbens stapf. ........................ 64<br />
Fontes de nitrogênio em suplementos protéicos para recria de novilhos em pastagem de capim-brachiaria.......................................................... 66<br />
Índices reprodutivos em rebanhos leiteiros no município de maiquinique, bahia1................................................................................................. 78<br />
Influência dos estágios produtivos sobre o comportamento ingestivo de vacas aneloradas ................................................................................... 70<br />
Inseminação artificial em tempo fixo em vacas mestiças leiteiras (3/8 holandês x 5/8 gir).................................................................................... 72<br />
Intervalo entre partos de bufálas leiteiras murrah x mediterrâneo........................................................................................................................... 74<br />
Levantamento da escarabeidofauna associados às fezes bovinas em pastagem artificial e vegetação nativa<br />
de cerrado na época chuvosa do ano ....................................................................................................................................................................... 76<br />
Levantamento de plantas nativas do cerrado com potencial forrageiro................................................................................................................... 78<br />
Levantamento de plantas tóxicas em angical e riachão das neves - bahia............................................................................................................... 80<br />
Metodologia dos aspectos do comportamento ingestivo de vacas leiteiras a pasto................................................................................................ 82<br />
Metodologia para o estudo do comportamento ingestivo de vacas leiteiras a pasto............................................................................................... 85<br />
Ordenha mecânica x ordenha manual: comparação entre os valores de contagem<br />
de células somáticas (ccs) e contagem bacteriana total (cbt).................................................................................................................................. 87<br />
Peso e rendimento de carcaça de novilhos nelore suplementados com sal mineral<br />
ou proteinado em pastagem de brachiaria brizantha................................................................................................................................................ 89<br />
Presença ou ausência do bezerro sobre o comportamento ingestivo de fêmeas aneloradas em pastagens.............................................................. 91<br />
Produção de matéria seca das cultivares de brachiaria em resposta a adubação fosfatada no estabelecimento...................................................... 93<br />
Produção de matéria seca de cultivares de brachiaria em resposta a adubação fosfatada no verão........................................................................ 95<br />
Propriedades físico-química do leite de búfalas, criadas na região de maiquinique – bahia................................................................................... 97<br />
Qualidade físico-química de leite cru ordenhado manualmente ............................................................................................................................ 99<br />
Qualidade microbiológica de leite cru ordenhado manualmente e refrigerado...................................................................................................... 101<br />
Qualidade microbiológica do leite de búfalas criadas na região de maiquinique – ba........................................................................................... 103<br />
Sazonalidade de partos em bufálas leiteiras murrah x mediterraneo criadas em sistemas extensivo no sul da bahia........................................... 105<br />
Taxa de concepção de vacas mestiças leiteiras com estro sincronizado reutilizando implantes<br />
de norgestomet e inseminadas em hora marcada................................................................................................................................................... 107<br />
Utilização da somatrotopina bovina recobinante em vacas holandesas: aspectos do comportamento ingestivo.................................................. 109<br />
Utilização da uréia protegida no suplemento sobre os períodos discretos no comportamento ingestivo de bovinos a pasto............................... 111<br />
Valor cultural de sementes comerciais de brachiaria spp. No comércio de barreiras – ba.................................................................................... 113<br />
Variação do lucro de novilhos nelore suplementados a pasto sobre diferentes valores de venda da arroba do boi gordo................................... 115<br />
Vigor de sementes de brachiaria brizantha cv. Marandu comercializadas em barreiras – ba............................................................................... 117
ANÁLISE DA DESESTRUTURAÇÃO DAS FEZES BOVINAS PELO BESOURO<br />
COPRÓFAGO (SCARABAEIDAE) EM BARREIRAS – BA, NA ÉPOCA CHUVOSA DO<br />
ANO<br />
Marcela da Silva Dourado Castro 1 , Danilo Gusmão de Quadros 2 , Oziel Pinto Monção 1 ,<br />
Jamara Marques Jácome 1 , Thaynara Ivanka 1<br />
1 Estudante de graduação de Engenharia Agronômica da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - Campus IX<br />
2 Docente da UNEB – Campus IX. Professor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB / Núcleo de Estudo e<br />
Pesquisa em Produção Animal (NEPPA). BR 242, km 4, s/n. Lot. Flamengo. Barreiras – BA. 47800-000. E-mail:<br />
uneb_neppa@yahoo.com.br Website: www.neppa.uneb.br<br />
INTRODUÇÃO<br />
Ao removerem a massa fecal e incorporá-la ao solo, os besouros coprófagos alteram<br />
as propriedades físicas e químicas deste auxiliando ao melhor desenvolvimento de plantas.<br />
Esse comportamento quebra o ciclo reprodutivo das moscas e nematódeos que utilizam as<br />
massas fecais para alimentação e desenvolvimento de suas proles.<br />
A utilização das fezes dos animais por seus parasitos, a exemplo da mosca–dos–<br />
chifres, é um dos problemas que a pecuária enfrenta. A mosca-dos-chifres (Haematobia<br />
irritans) alimenta-se do sangue dos bovinos, sugando-os 24 horas por dia, gerando um alto<br />
estresse ao animal. A irritação causada pela picada das moscas compromete a alimentação<br />
e a digestão do animal parasitado, diminuindo a sua produtividade (leite/carne) (BIANCHIN<br />
& ALVES, 2002). Elas se reproduzem rapidamente, depositando seus ovos nas fezes<br />
frescas dos animais que serão usadas como berçário e fonte de alimentação. O uso de<br />
inseticidas para o controle da mosca está perdendo a eficácia, pois está selecionando<br />
indivíduos resistentes e eliminando os competidores e predadores naturais da H. irritans,<br />
fazendo com que aumente sua população resistente aos produtos químicos (BARROS,<br />
2004).<br />
O presente trabalho teve como objetivo analisar atividade do besouro coprófago no<br />
enterrio das fezes bovinas através do grau de desestruturação/incorporação das fezes no<br />
solo e da idade das placas fecais em pastagem manejada sob lotação continua, no<br />
município de Barreiras – Bahia, na época chuvosa do ano.<br />
METODOLOGIA<br />
O experimento foi conduzido na zona rural da cidade de Barreiras (12° 09' 10" S e<br />
44° 59' 24" O, 452 m de altitude), região do oeste baiano. Foram analisadas semanalmente,<br />
entre 08h e 09h, 100 placas fecais depositadas em pastagem de capim-estrela-africana. O<br />
trabalho foi conduzido no período de janeiro de 2009 a abril de 2009, totalizando 1200<br />
placas fecais analisadas.<br />
As placais fecais foram classificadas quanto à idade (IPF01 – Idade de placa fecal 1placa<br />
fecal recém excretada, sem crosta superficial; IPF02 – Idade de placa fecal 2 – placa<br />
fecal com fina crosta superficial; IPF03 – Idade de placa fecal 3 – massa fecal com crosta<br />
significamente mais rígida; IPF04 – Idade de placa fecal 4 – placa fecal totalmente<br />
ressecada) e quanto ao grau de desestruturação/incorporação (GDI) (GDI Baixo – massa<br />
fecal com nenhuma e/ou baixa desestruturação/incorporação; GDI Médio – massa fecal com<br />
média desestruturação/incorporação; e GDI Alto - massa fecal muito ou totalmente<br />
desestruturada/incorporada) (FLECHTMANN, 1995a; FLECHTMANN, 1995b).<br />
Os dados foram tabulados no programa Excel ® (Windows) e analisados em relação à<br />
frequência de ocorrência e os percentuais relativos às classes das placas fecais.<br />
RESULTADO E DISCUSSÃO<br />
Das 1200 placas fecais analisadas, observou-se que 474 (36%) placas se<br />
encontravam com IPF 04, 377 (29%) com idade IPF 03, 279 (21%) com IPF 02 e 170 (13%)<br />
com IPF 01. A idade da massa fecal é muito importante, haja vista que os adultos das<br />
moscas-dos-chifres ovopositam preferencialmente em massas recém-excretadas<br />
(FLECHTMANN et al., 1995 b).<br />
6
Analisando o grau de desestruturação/incorporação das fezes 632 (49%) placas<br />
encontravam-se em GDI Baixo, 398 (31%) em GDI Médio e 270(21%) em GDI Alto. O baixo<br />
grau de desestruturação das placas fecais demonstra que os nutrientes presentes nas fezes<br />
bovinas estão sendo perdidas no sistema solo-planta, indica também a baixa atuação dos<br />
besouros coprófagos que favorece a proliferação da mosca-dos-chifres e de endoparasitos,<br />
os quais podem provocar um desconforto no bem estar animal, reduzir o desempenho<br />
produtivo e aumentar os custos de produção.<br />
A utilização de inseticidas do tipo “pour on” no gado, como prática sanitária, durante<br />
o período de avaliação, provavelmente agiram como redutores populacionais dos besouros<br />
coprófagos na pastagem.<br />
A presença de placas fecais integrais na pastagem pode prejudicar a ingestão de<br />
forragem pelo gado, consequentemente o ganho de peso diário, haja vista que o animal<br />
rejeita a forragem até 1,5m de raio da placa fecal (MIRANDA, 1998).<br />
CONCLUSÃO<br />
A maioria das placas analisadas encontra-se ressecadas e com baixo grau de<br />
desestruturação, podendo prejudicar a ingestão de forragem pelo gado e favorecer a<br />
proliferação de parasitos, em virtude da baixa atuação de besouros coprófagos.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
AIDAR, T; KOLLER W. W.; RODRIGUES, S. R. et al. Besouros coprófagos (Coleoptera:<br />
Scarabaeidae) coletados em Aquidauana, MS, Brasil. An. Soc. Entolmol., v.29, n.4, p. 817-<br />
820, 2000.<br />
BARROS A. T. A. Situação da resistência da Haematobia irritans no Brasil. CONGRESSO<br />
BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINARIA, 13, Ouro Preto. Anais... Ouro<br />
Preto:SBPV, 2004. (CD-ROM)<br />
BIANCHIN I.; ALVES R.G.O. Mosca-dos-chifres, Haematobia irritans: comportamento e<br />
danos em vacas e bezerros Nelore antes da desmama. Pesquisa Veterinária Brasileira,<br />
v.22, n.8, p.109-113, 2002.<br />
FLECHTMANN, C. A. H.; RODRIGUES, S. R.; COUTO, H. T. Z. Controle biológico da<br />
mosca-dos-chifres (Haematobia irritans irritans) em Selvíria, Mato Grosso do Sul - 2: ação<br />
de insetos fimícolas em massas fecais no campo. Revista Brasileira de Entomologia, v.39,<br />
n.2, p.237-247, 1995 a.<br />
FLECHTMANN, C. A. H.; RODRIGUES, S. R.; COUTO, H. T. Z. Controle biológico da<br />
mosca-dos-chifres (Haematobia irritans irritans) em Selvíria, Mato Grosso do Sul – 4:<br />
comparação entre métodos de coleta de besouros coprófagos (Scarabaeidae). Revista<br />
Brasileira de Entomologia, v.39, n.2, p.259-276, 1995 b.<br />
MIRANDA, C. H. B., Santos, J. C. C., BIANCHIN, I. Contribuição de Onthophagus gazella à<br />
melhoria da fertilidade do solo pelo enterrio de massa fecal bovina fresca. 2. Estudo em<br />
campo. Revista Brasileira de Zootecnia, , v.27, n.8, p.681-685, 1998.<br />
Marcela da Silva Dourado Castro, Tel (77) 8103-0500. E-mail:<br />
7
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE LEITE INFORMAL COMERCIALIZADO EM<br />
ITAPETINGA, BAHIA.<br />
Dayana R. de Souza* 1 , Sérgio A. de A. Fernandes 2 , Neomara B. de L. Santos 1 , Amanda dos<br />
S. Faleiro 1 , Thaiany T. Fonseca 1 .<br />
1<br />
Graduanda em Zootecnia e Bolsista de Iniciação Científica (FAPESB e Voluntária da UESB);<br />
2<br />
Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia Rural e Animal- UESB;<br />
Introdução<br />
No Brasil, o leite é obtido sob condições higiênico-sanitárias deficientes, com elevados<br />
números de microrganismos, apresentando risco à saúde da população, principalmente<br />
quando consumido sem tratamento térmico. Os cuidados higiênicos para evitar a<br />
contaminação devem ser iniciados desde a ordenha e continuados até a obtenção do<br />
produto final. Diversos microrganismos patogênicos podem ser encontrados contaminando<br />
o leite, dentre eles podem-se destacar Escherichia coli e L. monocytogenes (CATÃO E<br />
CEBALOS, 2001).<br />
A Instrução Normativa nº 51 (IN 51), que regulamenta a produção, identidade, qualidade,<br />
coleta e transporte dos leites A, B, C, pasteurizado e cru refrigerado, desde sua publicação<br />
definiu novos parâmetros de qualidade microbiológica para o leite cru refrigerado (BRASIL,<br />
2002). A avaliação da contaminação microbiológica de alimentos é um dos parâmetros<br />
importantes para determinar sua vida útil, e também para que os mesmos não ofereçam<br />
riscos à saúde dos consumidores.<br />
Assim, objetivou-se com o presente trabalho avaliar as características microbiológicas de<br />
leite informal comercializado em 3 pontos de venda em Itapetinga, Bahia.<br />
Material e métodos<br />
Os leites foram adquiridos nos meses de abril e maio de 2009, de vendedores ambulantes,<br />
nas ruas de 3 bairros distintos da cidade de Itapetinga, Bahia, identificados como amostras<br />
A, B e C. O leite foi coletado em 3 momentos, constituindo-se em 3 repetições. As amostras<br />
foram armazenadas em embalagens identificadas, devidamente higienizadas, e as amostras<br />
conduzidas sob refrigeração ao Laboratório de Microbiologia da Universidade Estadual do<br />
Sudoeste da Bahia (UESB), onde foram feitas as análises microbiológicas. As amostras<br />
foram submetidas à pesquisa de determinação do Número Mais Provável (NMP) de<br />
Coliformes a 35 °C e Coliformes a 45 °C, e contagem total de bactérias aeróbias mesófilas,<br />
segundo metodologia recomendada pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 2003).<br />
Resultados e discussão<br />
A Tabela apresenta os resultados médios obtidos para as análises microbiológicas das<br />
amostras analisadas.<br />
Tabela 1- Resultados médios de Coliformes a 35 °C, Coliformes a 45 °C, e contagem total<br />
de bactérias aeróbias mesófilas de amostras de leite informal comercializadas em<br />
Itapetinga, BA.<br />
Amostras 10 -1<br />
UFC/mL<br />
10 -2<br />
UFC/mL<br />
Contagens<br />
10 -3<br />
UFC/mL<br />
8<br />
Coliformes a<br />
35ºC<br />
(NMP/mL)<br />
Coliformes a<br />
45ºC<br />
(NMP/mL)<br />
A 58,4 X10 1<br />
12,3 x10 3<br />
Ausente 240 240<br />
B Incontável Incontável 20,6 x10 4<br />
240 240<br />
C Incontável Incontável Incontável 240 240
A elevada presença de coliformes a 35 e a 45ºC evidenciada nas amostras estudadas indica<br />
as más condições de higiene dos produtos. A presença das bactérias do grupo dos<br />
coliformes, cujo habitat da maioria é o trato intestinal do ser humano e de outros animais<br />
homeotermos, indica contaminação de origem ambiental e fecal do produto. A enumeração<br />
de coliformes totais é utilizada para avaliar as condições higiênicas do produto, pois, quando<br />
em alto número, indica contaminação decorrente de falha durante o processamento, limpeza<br />
inadequada ou tratamento térmico insuficiente. Já a detecção de elevado número de<br />
bactérias do grupo dos coliformes fecais em alimentos é interpretada como indicativo da<br />
presença de patógenos intestinais, visto que a população deste grupo é constituída de alta<br />
proporção de Escherichia coli (CARVALHO et al., 2005). Cabe ressaltar que o tratamento<br />
térmico ineficiente do leite nas práticas domésticas pode não destruir a contaminação inicial<br />
existente.<br />
Os resultados encontrados para contagens de bactérias aeróbias mesófilas também foram<br />
elevadas, com exceção da amostra A. Esse resultado era previsível em função da falta de<br />
refrigeração do leite, ficando os valores encontrados para as amostras B e C acima do limite<br />
de tolerância estabelecido pela legislação, que é de 1x10 6 (BRASIL, 2002).<br />
Cabe ressaltar que as amostras estudadas não devem ser consumidas, uma vez que não<br />
sofreram nenhum tipo de fiscalização, agindo como risco potencial ao consumidor, devido à<br />
ocorrência de fraudes econômicas e ao elevado nível de contaminação.<br />
Conclusões<br />
Os resultados das análises microbiológicas realizadas indicaram que as amostras estudadas<br />
não atenderam aos padrões microbiológicos legais, oferecendo um grande risco à saúde<br />
dos consumidores, principalmente devido à presença de coliformes a 45°C.<br />
Bibliografia<br />
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa nº 51, de<br />
18 de setembro de 2002. Regulamento técnico de produção, identidade e qualidade do<br />
leite tipo A, do leite tipo B, do leite tipo C, do leite pasteurizado e do leite cru<br />
refrigerado e o Regulamento técnico da coleta de leite cru refrigerado e seu transporte<br />
a granel. Publicada no Diário Oficial da União de 20 de Setembro de 2002, seção 1, página<br />
13.<br />
BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 22, de<br />
14 de abril 04 de 2003. Métodos Analíticos Oficiais Físico-Químicos para Controle de<br />
Leite e Produtos Lácteos. Brasília: Ministério da Agricultura, 2003.<br />
CATAO, R. M. R.; CEBALLOS, B. S. O. Listeria spp., coliformes totais e fecais e e.coli<br />
no leite cru e pasteurizado de uma indústria de laticínios, no estado da Paraíba<br />
(Brasil). Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.21, n.3, p. 281-287. 2001.<br />
CARVALHO, A.C.F.B.; CORTEZ, A.L.L.; SALOTTI, B.M.; BÜRGER, K.P.; VIDAL-MARTINS,<br />
A.M.C. Presença de microrganismos mesófilos, psicrotróficos e coliformes em<br />
diferentes amostras de produtos avícolas. Arquivos do Instituto Biológico. São Paulo,<br />
v.72, n.3, p.303-307, jul./set., 2005.<br />
Autor a ser contactado: Dayana Rodrigues de Souza<br />
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 468. ITAPETINGA/BA. CEP-45700-000. Email:<br />
dayrodriguessouza@hotmail.com Fone: (73) 997536<br />
9
ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DE NOVILHOS NELORE RECEBENDO<br />
SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO NA ÉPOCA SECA 1<br />
Daniel Lucas Santos Dias 2 , Danilo Ribeiro de Souza 3 , Marcelo Mota Pereira 2 , Vinícius Lopes<br />
da Silva 3 , Rita Kelly Couto Brandão 2<br />
1 Parte da dissertação de mestrado do segundo autor, financiada pela CAPES.<br />
2 Graduando em Zootecnia – UESB<br />
3 Mestrando em Zootecnia - UESB<br />
Introdução<br />
Um dos objetivos básicos de todo sistema de produção de bovinos em pastagem é<br />
cobrir as necessidades nutricionais dos animais durante todo o ano, mantendo uma oferta<br />
permanente de alimento em quantidade e qualidade suficientes para obter ótima resposta<br />
produtiva por parte dos animais. Todavia, nas condições de pastagem, existem grandes<br />
variações na produção de matéria seca e na qualidade da pastagem, afetando<br />
negativamente a produtividade animal e promovendo alterações no comportamento animal<br />
(PARDO et al., 2003).<br />
Os resultados encontrados na literatura, referentes às alterações provocadas pela<br />
suplementação a pasto sobre o comportamento ingestivo dos ruminantes, ainda são<br />
controversos. Assim sendo, torna-se imprescindível à realização de pesquisas que<br />
esclareça o efeito da suplementação sobre o comportamento dos animais em pastejo e seus<br />
possíveis reflexos sobre os atributos da pastagem e o desempenho animal (BRÂNCIO et al.,<br />
2003).<br />
O objetivo deste estudo foi avaliar os aspectos comportamentais de novilhos Nelore<br />
em pastagem de Brachiaria brizantha submetidos à suplementação mineral e a<br />
suplementação proteinada.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na Fazenda Boa Vista, no município de Macarani – Ba,<br />
entre os meses de agosto a outubro de 2006. Foram utilizados 18 animais da raça Nelore<br />
com 26 meses de idade e peso corporal médio de 373 kg, castrados. Os dois tratamentos<br />
foram constituídos de: T1-Suplementação mineral até a terminação e T2-Suplementação<br />
proteinada até a terminação, distribuídos em DIC com dois tratamentos e 9 repetições por<br />
tratamento. O suplemento foi fornecido duas vezes durante a semana, em cocho coberto.<br />
Todos os animais tiveram livre acesso ao cocho e a água.<br />
Foram utilizados quatro piquetes de Brachiaria brizanta cultivar Marandu com 6,5<br />
hectares cada. Enquanto dois estavam ocupados os outros dois permaneciam vazios por 28<br />
dias. A cada sete dias foi feito o rodízio dos animais para retirar os efeitos do piquete.<br />
Os aspectos comportamentais foram avaliados visualmente, com um observador em<br />
cada piquete e as observações foram feitas com a ajuda de binóculos. Para o registro do<br />
tempo gasto em cada uma das atividades descritas acima, os animais foram observados<br />
visualmente a cada 10 minutos, por dois períodos de 12 horas cada, das seis horas da<br />
manhã às 18 horas realizados no 25º e 26º dia do mês de outubro. As variáveis<br />
comportamentais estudadas foram: a média do número de mastigações merícicas por bolo<br />
ruminal (MBR), do tempo gasto para ruminação de cada bolo (TBR) e o número de bolos<br />
ruminados (NBR), no período diurno foram obtidos, registrando-se com cronômetros digitais,<br />
nove valores por animal, conforme metodologia descrita por Burger et al., (2000). O tempo<br />
de mastigação total (TMT) foi determinado pela soma entre o tempo de pastejo e o tempo de<br />
ruminação, que foram coletados durante as observações.<br />
As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do<br />
Departamento de Tecnologia Rural e Animal da Universidade Estadual do Sudoeste da<br />
Bahia – UESB. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com dois<br />
tratamentos e nove repetições por tratamento. Para analise estatística dos dados utilizou-se<br />
o programa SAEG – Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas Ribeiro Jr, (2001), bem<br />
como os resultados foram interpretados estatisticamente por meio de análise de variância e<br />
teste F a 5% de probabilidade.<br />
10
Resultados e Discussão<br />
Na tabela 1, estão apresentados os valores médios do tempo de mastigação total,<br />
quantidade de bolos ruminados, tempo gasto/bolo, número de mastigações/bolo ruminado<br />
em função da suplementação mineral e suplementação protéica para novilhos Nelore em<br />
pastejo. Para as variáveis TMT e TBR não houve significância entre os tratamentos (P><br />
0,05), uma vez que há um consumo de forragem e o suplemento caracteriza-se por ser de<br />
baixo consumo. Silva (2008) trabalhando com novilhos nelore recebendo suplementação no<br />
período seco (SM, 0,3, 0,6 e 0,9) encontrou 562, 429, 480 e 442 minutos para a TMT<br />
respectivamente e para TBR valores de 41, 38, 42 e 35 segundos. As quantidades de NBR<br />
foram de 135 e 176, respectivamente para suplementação mineral e suplementação<br />
protéica, diferindo estatisticamente (P
ASPECTOS METODOLÓGICOS DOS PERÍODOS DISCRETOS NO<br />
COMPORTAMENTO INGESTIVO DE NOVILHOS A PASTO<br />
George Abreu Filho 1* , Hermógenes Almeida de Santana Júnior 1 , Elisangela Oliveira<br />
Cardoso 1 , Gonçalo Mesquita Silva 1 , Robério Rodrigues Silva 2<br />
1 Graduando em Zootecnia/UESB.<br />
2 Professor Titular DEBI/UESB.<br />
Palavras-chaves: bovino, etologia, metodologia<br />
Introdução<br />
No estudo do comportamento ingestivo, um dos componentes mais importantes<br />
é a escolha do intervalo de tempo entre as observações, uma vez que a observação<br />
contínua dos animais é um processo que despende muita mão-de-obra, tornando-se<br />
impraticável quando se deseja observar um número elevado de animais. Alguns<br />
estudos recentes mostram algumas tendências novas, como a possibilidade de<br />
observar animais pelo modelo Scan Sampling a até trinta minutos de intervalos (Silva<br />
et al., 2005). Objetivou-se identificar os intervalos de tempo mais adequados para<br />
estudo dos períodos discretos do comportamento ingestivo de novilhos Nelore a pasto,<br />
quando comparados com a escala de 10 minutos de intervalo entre observações.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista, Maiquinique, Bahia. Foram<br />
utilizados 30 animais da raça Nelore, castrados, com média de 22 meses de idade e<br />
peso corporal médio de 325 kg. O experimento teve duração de 84 dias, de agosto à<br />
novembro de 2008. Os animais foram mantidos em sistema de produção a pasto, em<br />
pastejo continuo de Brachiaria brizantha cv Marandú.<br />
Os animais foram aleatoriamente alocados em cada um dos tratamentos<br />
abaixo: T1- Baixo NNP = Animais recebendo suplemento com baixo Nitrogênio Não-<br />
Protéico – 1% uréia; T2- URC = Animais recebendo suplemento com 6,5% de Uréia<br />
Convencional; T3- URP= Animais recebendo suplemento com 5,7 % de Uréia<br />
Protegida e 1,1% de Uréia Convencional.<br />
A avaliação do comportamento animal foi realizada, visualmente, no 42º dia de<br />
experimentação. As variáveis comportamentais estudadas foram: pastejo, ruminação,<br />
ócio e comendo no cocho (COCHO). As atividades comportamentais foram<br />
consideradas mutuamente excludentes, conforme definição de Pardo et al. (2003).<br />
Cada animal foi observado em três escalas diferentes: 10, 20 e 30 minutos de<br />
intervalo, por um período de 24 horas, a fim de identificar o tempo destinado às<br />
atividades em cada uma das escalas (Silva et al., 2005). Após a obtenção dos<br />
resultados das diversas variáveis testadas, todas foram comparadas com a escala de<br />
10 minutos de intervalo.<br />
A discretização das séries temporais foi feita diretamente nas planilhas de<br />
coleta de dados, com a contagem dos períodos discretos de pastejo, ruminação, ócio<br />
e cocho.<br />
Foi utilizado o delineamento experimental em unidades de medidas repetidas,<br />
em arranjo fatorial três por três (três fontes de NNP e três escalas de intervalo). Para<br />
análise dos dados coletados no experimento, foi utilizado o Sistema de Análises<br />
Estatísticas e Genéticas – SAEG, e os resultados foram interpretados estatisticamente<br />
por meio de análise de variância e Tukey a nível de 0,05 de probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
TABELA 1 - Valores do número de períodos de pastejo (NPP), ócio (NPO),<br />
12
uminação (NPR) e permanência no cocho (NPC) e dos tempos por período de<br />
pastejo (TPP), ócio (TPO), ruminação (TPR) e permanência no cocho (TPC), com<br />
três intervalos de observação, em novilhos Nelore suplementados a pasto.<br />
INTERVALO DE OBSERVAÇÃO<br />
ITEM<br />
1<br />
CV 2<br />
10 20 30<br />
NPP 7,2 A 6,2 B 4,8 C 20,1<br />
NPO 13,7 A 10,1 B 7,4 C 15,5<br />
NPR 10,6 A 7,9 B 6,5 C 15,6<br />
NPC 1,8 A 1,4 B 1,5 AB 41,7<br />
TPP (mim) 81,6 B 94,4 B 129,5 A 21,4<br />
TPO (mim) 32,8 C 46,1 B 57,9 A 28,4<br />
TPR (mim) 36,5 B 51,1 A 60,1 A 32,6<br />
TPC (mim) 35,0 35,2 37 23,9<br />
Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem entre si estatisticamente pelo teste Tukey a<br />
nível de 0,05 de probabilidade.<br />
1 Intervalo de tempo em minutos.<br />
2 Coeficiente de variação.<br />
Os valores de NPP, NPO, NPR, TPO e TPR apresentaram diferença estatística<br />
entre os intervalos de 20 e 30, quando comparados com o de 10 minutos. No NPC, o<br />
intervalo de observação de 10 minutos apresentou semelhança estatística com o de<br />
30 minutos, diferindo do intervalo de 20 minutos.<br />
Já os valores de TPP apresentaram valores estatisticamente iguais entre os<br />
intervalos de observação de 10 e 20 minutos, no entanto diferiu do intervalo de 30<br />
minutos de observação. No entanto, Silva et al. (2008) afirmou que qualquer intervalo<br />
entre cinco e 30 entre observações seria conveniente para o estudo dessas variáveis.<br />
Os resultados, semelhantes estatisticamente, do tempo por período de pastejo<br />
(TPP) nos intervalos de observações de 10 e 20 minutos, afirma que se o único<br />
objetivo do estudo for à coleta do TPP, poderá ser realizado em intervalos de até 20<br />
minutos, com boa confiabilidade.<br />
Para TPC não houve diferença estatística entre os intervalos de observação<br />
estudados.<br />
Conclusão<br />
Para o estudo dos períodos discretos de novilhos a pasto, não deve ser feito<br />
observações com intervalos maiores que 10 minutos.<br />
Bibliografia<br />
PARDO, R.M.P.; FISCHER, V.; BALBINOTTI, M. et al. Comportamento ingestivo diurno<br />
de novilhos em pastejo a níveis crescentes de suplementação energética. Revista da<br />
Sociedade Brasileira de Zootecnia, v.32, n.6, p.1408-1418, 2003.<br />
SILVA, R.R.; CARVALHO, G.G.P.; Magalhães, A.F. et al Comportamento ingestivo de<br />
novilhas mestiças de holandês em pastejo. Archivos de Zootecnia, v.54, p.63-74,<br />
2005.<br />
SILVA, R.R. PRADO, I.N. CARVALHO, G.G.P. Efeito da utilização de três intervalos de<br />
observações sobre a precisão dos resultados obtidos no estudo do comportamento<br />
ingestivo de vacas leiteiras em pastejo. Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 2, p. 319-<br />
326. 2008.<br />
*Autor: George Abreu Filho (77) 8125 – 6530 E-mail: georgeabreu16@hotmail.com<br />
13<br />
(%)
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE LEITE PRODUZIDO COM ORDENHA<br />
MANUAL COM VACAS MESTIÇAS<br />
Rita Kelly Couto Brandão 1 , Marcelo Mota Pereira 1 , Antonio Jorge Del Rei 2 , Danilo Ribeiro de<br />
Souza 3 , Robério Rodrigues da Silva 2<br />
1 Graduando em Zootecnia - UESB<br />
2 Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB<br />
3 Zootecnista, mestrando em Produção Animal - UESB<br />
INTRODUÇÃO<br />
Pela grande quantidade de nutrientes, o leite é considerado um alimento de grande<br />
importância para a raça humana, sendo dessa forma, consumido e comercializado por<br />
grande parte da população, principalmente crianças e idosos (GARRIDO et al., 2001).<br />
A Instrução Normativa nº 51 (IN 51), define o leite cru refrigerado, como produto<br />
oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem<br />
alimentadas e descansadas, refrigerado e mantido nas temperaturas máxima de<br />
conservação: 7ºC na propriedade rural/tanque comunitário e 10ºC no estabelecimento<br />
processador, transportado em carro tanque isotérmico da propriedade rural para um Posto<br />
de Refrigeração de leite ou estabelecimento industrial adequado, para ser processado<br />
(BRASIL, 2002).<br />
O presente estudo objetivou avaliar se a qualidade do leite cru resfriado produzido na<br />
fazenda Cabana da Ponte Agropecuária Ltda. no Sul da Bahia, está dentro dos padrões<br />
estabelecidos pela Instrução Normativa 51 para os parâmetros de gordura, proteína, lactose<br />
e extrato seco desengordurado, obtido em ordenha manual com vacas mestiças nos meses<br />
de janeiro a abril de 2009.<br />
MATERIAL E MÉTODOS<br />
Foram utilizadas vacas mestiças holandesas x zebu com variados graus de sangue e<br />
diferentes estágios de lactação, alojadas no curral da sede de cima, onde as mesmas eram<br />
ordenhadas manualmente com bezerro ao pé, e passavam pelo processo de higienização<br />
dos tetos com solução de iodo e secagem com papel toalha. O rebanho analisado pertence<br />
a fazenda Cabana da Ponte Agropecuária Ltda., situada no município de Itororó, sul da<br />
Bahia.<br />
As amostras de leite foram coletadas mensalmente, diretamente do tanque de<br />
expansão, e acondicionadas em frascos com conservante bronopol, sendo remetidas no<br />
mesmo dia para o Laboratório de Fisiologia da Lactação, da Clínica do Leite, ESALQ/USP, e<br />
encaminhadas para determinação dos teores de extrato seco desengordurado, gordura e<br />
proteína por citometria de fluxo, utilizando-se equipamento Somacount 300®, da Bentley<br />
Instruments, Incorporation.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
Na tabela 1 são observados os resultados obtidos após as analises físico-químicas do<br />
leite nos tanque de resfriamento da propriedade Cabana da Ponte, no ano 2009.<br />
Tabela 1. Resultados observados nas analises físico-químicas.<br />
2009 jan fev mar abr média<br />
Gordura 3,55 3,54 2,69 3,42 3,30<br />
Proteína 3,54 3,25 2,72 3,35 3,22<br />
Lactose 4,34 3,97 3,3 4,07 3,92<br />
SNG 8,86 8,2 6,97 8,34 8,09<br />
14
A proteína e a gordura são fundamentais para as características nutricionais da<br />
secreção e, além disso, constituem um determinante crítico nas políticas de pagamento do<br />
produto (IBARRA, 2004).<br />
Os valores médios observados no período de janeiro a abril de 2009 foram de 3,30%<br />
para gordura, 3,22 % para proteína, 3,92 % para lactose e 8,09 % para sólidos não<br />
gordurosos.<br />
Neto et al., (2008) avaliando a Composição Química e Contagem de Células<br />
Somáticas do leite de tanques no estado de Pernambuco, relatou resultados para gordura<br />
de 3,54 %, proteína de 3,12 % , extrato seco desengordurado de 8,39 % e lactose de 4,39%,<br />
Rangel (2008) avaliando dietas à base de cana-de-açúcar, observou teores de gordura de<br />
3,55 % e lactose de 4,18 %, valores estes superiores aos encontrados por este autor.<br />
O leite produzido nesta propriedade está acima dos padrões mínimos exigidos pela<br />
Instrução Normativa 51, que reza os padrões mínimos para gordura, proteína e sólidos não<br />
gordurosos de 3%, 2,9 % e 8,4 g/100 g, respectivamente. Isso evidencia que o manejo<br />
nutricional adotado nesta propriedade está suprindo as necessidades do rebanho.<br />
CONCLUSÃO<br />
As analises do leite apresentadas demonstram que o leite produzido nesta<br />
propriedade está de acordo com as exigências da instrução normativa 51.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa nº 51, de<br />
18 de setembro de 2002. Regulamento técnico de produção, identidade e qualidade do<br />
leite tipo A, do leite tipo B, do leite tipo C, do leite pasteurizado e do leite cru<br />
refrigerado e o Regulamento técnico da coleta de leite cru refrigerado e seu transporte<br />
a granel. Publicada no Diário Oficial da União de 20 de Setembro de 2002, seção 1, página<br />
13.<br />
GARRIDO, N. S. et al., Avaliação da qualidade físico-química e microbiológica do leite<br />
pasteurizado proveniente de mini e micro-usinas de beneficiamento da região de Ribeirão<br />
Preto/SP. Rev. Inst. Adolfo Lutz, 60(2):141-146, 2001.<br />
IBARRA, A. Sistema de pagamento do leite por qualidade. Visão global. In: DÜRR, J. W.;<br />
CARVALHO, M.; SANTOS, M.V. (Ed.). O compromisso com a qualidade do leite no<br />
Brasil. Passo Fundo, RS: UPF, 2004.<br />
NETO, A. C. R; Severino Benone Paes Barbosa, B. P. B; Humberto Monardes, M; et al.,<br />
COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS DE LEITE DE<br />
TANQUES NO ESTADO DE PERNAMBUCO, Anais do III CONGRESSO BRASILEIRO DE<br />
QUALIDADE DO LEITE, setembro de 2008, Recife – Pernanbuco.<br />
RANGEL, A. H. N., Campos, J. M. S., Filho, S. C.V. et al. Composição do Leite de Vacas<br />
Alimentadas com Cana-de-açúcar Suplementadas à Base de Farelo de Soja ou Diferentes<br />
Níveis de Uréia, Anais do III CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO LEITE,<br />
Recife – Pernambuco, setembro de 2008.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
15
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO INGESTIVO DE TOUROS JOVENS E VACAS COM<br />
CRIA AO PÉ EM PASTEJO<br />
Márcio Rafael Alves Bispo dos Santos¹, Jusaline Fernandes Vieira 1, 2 , Luis Henrique Almeida de Matos 1 , Maurício<br />
Passos Garcia 3 , Larissa Pires Barbosa 4<br />
1 Aluno de Graduação do curso de Zootecnia da UFRB<br />
2 Aluna Assistida pelo Programa de Permanência/ PROPAAE/UFRB.<br />
3 Aluno de Graduação do curso de Medicina Veterinária da UFRB<br />
4 Professor Adjunto I da UFRB<br />
Palavras Chave: alimentação, ócio, ruminantes.<br />
Introdução<br />
A etologia estuda o comportamento e manifestações vitais dos animais em seu ambiente de<br />
criação ou em ambientes modificados pelo homem. Esse conhecimento é essencial para a<br />
obtenção de condições ótimas de criação e alimentação (MARQUES et al., 2005). Desta<br />
forma, o estudo do comportamento ingestivo dos ruminantes é de relevância para o<br />
fornecimento de dados que podem contribuir significativamente para melhores índices de<br />
produtividade e proporcionar aos animais um manejo nutricional adequado, bem como, o<br />
consumo de alimentos (SILVA et al., 2007). Objetivou-se com este trabalho avaliar o<br />
comportamento ingestivo de novilhos e vacas com cria ao pé em pastejo.<br />
Material e Métodos<br />
O Experimento foi realizado no Setor de Bovinocultura de Corte da Universidade Federal do<br />
Recôncavo da Bahia, em Cruz das Almas/BA, em Junho de 2009. Foram utilizados 16<br />
animais anelorados devidamente identificados e separados em dois grupos (G1) – composto<br />
por oito novilhos e (G2) - composto por oito vacas com cria ao pé. Os animais foram<br />
mantidos em um único piquete de Brachiaria decumbens de 3,5 ha, com disponibilidade de<br />
forragem de 2.600kg/ha e aproximadamente 35% de matéria seca (MS).<br />
As observações foram feitas durante um período de 48horas.<br />
Para facilitar as observações, cada 24 horas foram divididas em quatro períodos: PERI<br />
06:10 às 12:00 h; PERII 12:10 às 18:00h; PERIII 18:10 às 00:00h; PERIV 00:10 às 6:00h.<br />
Cada animal foi observado em intervalos de dez minutos. A coleta de dados foi realizada por<br />
quatro observadores, se revezavam a cada 3 horas. Para observação noturna dos animais<br />
foram utilizadas lanternas, para não impedir o comportamento natural dos animais.<br />
Foram observadas as atividades de alimentação (ALIM), ruminação (RUM) e ócio<br />
(OCI), a percentagem de tempo que o animal permaneceu ruminando deitado (PRUD), em<br />
ócio deitado (POCD), a freqüência de alimentação (FAL), ruminação (FRU) e ócio (FOC). Os<br />
dados foram submetidos a analise de variância e as médias comparadas pelo teste de F e<br />
Tukey, ao nível de 5% de significância, utilizando-se o SAEG (2007).<br />
Resultados e Discussão<br />
De acordo com os dados da Tabela 1 não houve diferença significativa (P>0,05) entre os<br />
tratamentos na ALIM, o que justifica a variação na FAL, uma vez que quanto maior a FAL<br />
menor o tempo despendido na ALIM. Houve diferença significativa na RUM entre os<br />
tratamentos (P
Tratamento ALIM RUM PRUD OCI POCD FAL FRU FOC<br />
G1 1200,00 1073,75 a<br />
19,56 606,25 51,95 31,54 a<br />
30,50 38,09 a<br />
G2 1283,63 1001,82 b<br />
40,28 594,54 37,91 24,87 b<br />
33,27 31,75 b<br />
*C.V. (%) 8,49 6,96 17,93 12,50 9,38 13,14<br />
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si (P
AVALIAÇÃO FÍSICO-QUIMICA DE LEITE CRU: PERÍODO DAS ÁGUAS X PERÍODO DA<br />
SECA<br />
Julio Jaat Dias Lacerda 1 , Marcelo Mota Pereira 1 , Perecles Brito Batista 2 , Daniel Lucas<br />
Santos Dias 1 , Aracele Prates de Oliveira 2<br />
1 Graduando em Zootecnia<br />
2 Zootecnista, mestrando em Produção Animal<br />
Introdução<br />
O sistema agro-industrial do leite, devido a sua enorme importância social, é um dos<br />
mais importantes do país. A atividade é praticada em todo o território nacional em mais de<br />
um milhão de propriedades rurais e, somente na produção primária, gera acima de três<br />
milhões de empregos e agrega mais de seis bilhões ao valor da produção agropecuária<br />
nacional (VILELA et al., 2002).<br />
O Brasil pode se tornar um dos principais exportadores de produtos lácteos do mundo,<br />
para tal é necessário que tenhamos volume de produção e qualidade. Neste sentido,<br />
diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de verificar possíveis causas de<br />
variação na produção e qualidade do leite, pois a qualidade deve estar em toda a cadeia<br />
produtiva, com destaque especial para a produção primária.<br />
Objetivou-se com este estudo comparar as percentagens de gordura e proteína do<br />
leite obtido na época da seca e época das águas, no período de julho de 2008 a fevereiro de<br />
2009.<br />
Material e Métodos<br />
Este trabalho foi realizado no período de julho de 2008 a fevereiro de 2009, onde se<br />
considerou o período de 01 de junho a 30 de outubro como período das secas com<br />
precipitação de 67 mm em todo o período e de 01 de novembro de 2008 a 28 de fevereiro<br />
de 2009 como períodos das águas com precipitação total de 487 mm, no curral da sede do<br />
confinamento na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária Ltda., município de Itororó,<br />
utilizando vacas mestiças holandesas x zebu com variados graus de sangue, em estagio de<br />
lactação acima de 10 dias.<br />
Os animais foram manejados em pastagem de capim Braquiaria decumbens com<br />
cerca elétrica e sal mineral a vontade.<br />
Foram coleta 04 amostras mensais do tanque de resfriamento e estocagem, seguindo<br />
os padrões recomendados pelo Laboratório de Fisiologia da Lactação, da Clínica do Leite,<br />
ESALQ/USP, e encaminhadas sob refrigeração no mesmo dia, com conservante bronopol<br />
para determinação dos teores de gordura e proteína por citometria de fluxo, por intermédio<br />
do equipamento Somacount 300®, da Bentley Instruments, Incorporation.<br />
Para analise estatística dos dados utilizou-se o programa SAEG – Sistema de Análises<br />
Estatísticas e Genéticas (RIBEIRO JR, 2001), bem como os resultados foi interpretado<br />
estatisticamente por meio de análise de variância e teste F a 5% de probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
O conhecimento da composição do leite é essencial para a determinação de sua<br />
qualidade, pois define diversas propriedades organolépticas e industriais. Os parâmetros de<br />
qualidade são cada vez mais utilizados para detecção de falhas nas práticas de manejo,<br />
servindo como referência na valorização da matéria-prima (DÜRR, 2004).<br />
Na tabela 1 são observadas as médias dos resultados obtidos após as analises físicoquímicas<br />
do leite do curral da sede de cima da propriedade Cabana da Ponte.<br />
18
Tabela 01 – Médias das percentagens de gordura e proteína no período das secas e águas<br />
do ano do no período de julho de 2008 a fevereiro de 2009.<br />
CV = coeficiente de variação; P = significância.<br />
Verificou-se que a gordura diferenciou estatisticamente apresentando valores médio<br />
de 3,71 % , valores inferiores aos observados por Benedetti et al., (2008), avaliando o<br />
consumo e a produção de leite de vacas mestiças encontrou resultados na analise físicoquímico<br />
para gordura de 4,18%.<br />
A proteína apresentou diferença estatística apresentando valores de 3,25% na época<br />
das águas, valores estes maiores que os observados por Lacerda et al. (2008),<br />
determinando a qualidade físico-química do leite 20 propriedades produtoras de leite,<br />
localizadas Estado do Maranhão, com ordenha manual e mecânica, durante o período de<br />
verão e inverno, encontrou resultados de 3,23 % para proteína.<br />
Tanto os teores de gordura quanto de proteína diferiram estatisticamente,<br />
evidenciando que ocorreu uma diferença nos teores devido a época do ano, sendo que a<br />
alimentação tem grande influencia nesse processo.<br />
Conclusão<br />
A gordura e a proteína diferiram estatisticamente, demonstrando que ocorreu diferença<br />
entre os teores de gordura no período das águas e da seca, sendo que na época das secas<br />
tende a aumentar o teor de gordura e proteína do leite.<br />
Bibliografia<br />
Período da<br />
seca<br />
Período das<br />
águas<br />
BENEDETTI, E; Rodríguez, N. R. Campos, W E. et. al., CONSUMO DE ALIMENTOS E<br />
PRODUÇÃO DE LEITE DE VACAS MESTIÇAS MANTIDAS EM DIFERENTES<br />
PASTAGENS TROPICAIS Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 3, p. 578-589, jul./set. 2008.<br />
DÜRR, J.W. Programa nacional de melhoria da qualidade do leite: uma oportunidade única.<br />
In: DÜRR, J.W.; CARVALHO, M.P.; SANTOS, M.V. (Eds.) O compromisso com a<br />
qualidade do leite no Brasil. Passo Fundo: Editora Universidade de Passo Fundo, 2004.<br />
p.38-55.<br />
LACERDA, L. M., Mota, R. M., Sena, M. J. et al., AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE<br />
CRU DE PROPRIEDADES LEITEIRAS DE MIRANDA DO NORTE, ITAPECURÚ-MIRIM E<br />
SANTA RITA – MA, Anais do III CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO LEITE,<br />
setembro de 2008, Recife – Pernanbuco.<br />
VILELA, D.; LEITE, J. L. B.; RESENDE, J. C. Políticas para o leite no Brasil: passado<br />
presente e futuro. In: Santos, G. T.; Jobim, C. C.; Damasceno, J. C. Sul-Leite Simpósio<br />
sobre Sustentabilidade da Pecuária Leiteira na Região Sul do Brasil, 2002, Maringá. Anais...<br />
Maringá: UEM/CCA/DZO-NUPEL, 2002.<br />
RIBEIRO JR., J.I. Análises Estatísticas no SAEG (Sistema de análises estatísticas).<br />
Viçosa,: UFV, 2001. 301 p.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
19<br />
CV (%)<br />
Gordura (%)<br />
3,71 3,07 20.362 0,03322<br />
Proteína (%) 3,04 3,25 3.796 0,00036<br />
P
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CARCAÇA DE NOVILHOS NELORE<br />
SUPLEMENTADOS COM SAL MINERAL OU PROTEINADO EM PASTAGEM DE<br />
BRACHIARIA BRIZANTHA 1<br />
Danilo Ribeiro de Souza 2 , Fabiano Ferreira da Silva 3 , Jair de Araújo Marques 4 ,<br />
Gleidson Giordano Pinto de Carvalho 5 , Aracele Prates Oliveira 6<br />
1 Parte da dissertação do primeiro autor<br />
2 Mestrando em Zootecnia pela UESB. Bolsista CAPES. AGIPec-Consultoria Agropecuária;<br />
3 Professor do Curso de Zootecnia da UESB;<br />
4 Professor do Curso de Zootecnia da UFRB;<br />
5 Professor do Curso de Zootecnia da UFBA;<br />
6 Mestranda em Zootecnia pela UESB.<br />
Palavras – chave: pasto, acabamento, carcaça<br />
Introdução<br />
No Brasil o sistema de terminação de bovinos feito em pastagem, e a utilização de<br />
animais de origem zebuína permitem a produção de animais com menor percentagem<br />
de gordura corporal. Contudo é necessária a obtenção de carcaças com espessura de<br />
gordura de 3-5 mm, que permita uma proteção no resfriamento garantindo qualidade<br />
para o consumidor. A área de olho de lombo (AOL) tem sido relacionada à<br />
musculosidade e como indicador de rendimento dos cortes de alto valor comercial, e<br />
tem correlação positiva com a porção comestível da carcaça (Luchiari Filho, 2000).<br />
Objetivou-se estudar o efeito da suplementação protéica sobre as características<br />
físicas da carcaça em novilhos Nelore, terminados em pastagem.<br />
Materiais e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na Fazenda Boa Vista, município de Macarani, Bahia, no<br />
período de 26 de Agosto de 2006 a 24 de Fevereiro de 2007. Foram utilizados 18<br />
novilhos da raça Nelore com 26 meses de idade e peso vivo médio de 371,5 kg<br />
distribuídos em dois tratamentos: T1 - suplementação mineral e T2 – suplementação<br />
protéica de baixo consumo até a terminação. Foram utilizados quatro piquetes de<br />
Brachiária brizantha com 6,5 hectares, dois deles estavam sendo pastejados e dois<br />
vazios. A cada sete dias foi realizado o rodízio dos animais nos piquetes pastejados e<br />
a cada 28 dias os animais passavam para os outros dois.Todos os animais tinham<br />
livre acesso à sombra, água e mistura mineral ou proteinado de baixo consumo. Os<br />
animais foram pesados no início e fim do período experimental após jejum total de 12<br />
horas. Foi considerado como ponto de abate o momento em que os animais atingiram<br />
o peso médio de 480 kg. A escolha deste peso foi feita em função do peso adulto da<br />
raça utilizada no experimento. Os animais foram abatidos no frigorífico BERTIN. Foi<br />
mensurado o peso da carcaça fria (PCF), conformação da carcaça (CONF),<br />
comprimento de carcaça (CC), comprimento de perna (CP), espessura de coxão (EC),<br />
espessura de gordura de cobertura (EGC), cor (COR), textura (TEX), marmoreio<br />
(MAR) e área de olho de lombo (AOL). Utilizou-se o delineamento experimental<br />
inteiramente casualizado com dois tratamentos e nove repetições por tratamento. As<br />
variáveis estudadas foram avaliadas por meio de análise de variância, pelo Sistema de<br />
Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (UFV, 2001) e utilizou-se o teste F em nível<br />
de 5% de significância.<br />
Resultados e Discussão<br />
Não foram verificadas diferenças (P>0,05) entre os animais submetidos aos diferentes<br />
suplementos, quanto aos valores de CC, EC, CONF, CP, EGC, COR, TEXT e AOL.<br />
Restle e Vaz (1999) verificaram que, em animais mestiços Nelore e Hereford, a<br />
espessura de coxão diminuiu com o aumento da participação do sangue Nelore no<br />
20
cruzamento. Os valores atribuídos para cor tiveram como média 3,55 pontos,<br />
indicando que a carne produzida por estes animais apresentou um aspecto<br />
considerado atraente ao consumidor. A textura da carne do músculo Longissimus dorsi<br />
teve como média 3,66 pontos. De modo geral, animais jovens apresentam textura<br />
mais fina que animais de idade mais avançada, o que, nesse caso, está associado à<br />
maciez da carne. Houve diferença (P
COMPORTAMENTO INGESTIVO DE FÊMEAS ANELORADAS EM DIFERENTES<br />
ESTÁGIOS REPRODUTIVOS<br />
Jusaline Fernandes Vieira 1, 2 , Ana Lúcia Almeida Santana 1, 2 , Marcela Souza Brito¹, Lourival Alves Caxias Neto 1,<br />
2 , Jair de Araújo Marques³<br />
¹Graduandos em Zootecnia Pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas- BA<br />
²Alunos assistidos pelo Programa de Permanência/PROPAAE/UFRB<br />
³Prof. Adjunto I do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas/UFRB, Cruz das Almas- BA<br />
Palavras-Chave: consumo, ócio, produção.<br />
Introdução<br />
O comportamento ingestivo dos animais consiste em avaliar a quantidade e o valor<br />
nutritivo da dieta, através da eficiência do animal, bem como estabelecer a relação entre o<br />
comportamento e o consumo voluntário, para obtenção de dados visando uma melhora no<br />
desempenho zootécnico (Albright, 1993).<br />
O hábito alimentar ou comportamento ingestivo dos ruminantes é diretamente<br />
influenciado por fatores diversos, tais como, temperatura, manejo alimentar, instalações,<br />
sistema de produção, época do ano, entre outros.<br />
O sistema de produção extensiva é o mais utilizado no Brasil, já que o país<br />
apresenta grandes áreas de pastagens. Uma das finalidades da produção em pastagens é<br />
suprir as necessidades nutricionais dos animais, através da manutenção de uma oferta de<br />
forragem constante, em termos de quantidade e qualidade, que devem ser suficientes para<br />
obter desempenho satisfatório dos animais (Marques et al., 2005).<br />
Entretanto, nas condições de pastagem tropical, existem grandes variações na<br />
produção de matéria seca da forragem e na qualidade da pastagem, afetando<br />
negativamente o consumo e consequentemente a produção animal (Pardo et al., 2003).<br />
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento ingestivo de fêmeas<br />
aneloradas em diferentes estágios reprodutivos.<br />
Matérias e Métodos<br />
O referido trabalho foi realizado no setor de Bovinocultura de Corte, no Centro de<br />
Ciências, Agrárias, Ambientais e Biológicas da UFRB/Cruz das Almas/BA.<br />
Foram utilizadas 16 fêmeas aneloradas em diferentes estágios reprodutivos (oito<br />
novilhas e oito vacas com bezerro ao pé), criadas em sistema extensivo, distribuídas em<br />
piquetes de Brachiaria decumbens, com fornecimento de água e forragem ad libitun.<br />
O experimento foi desenvolvido em dois dias consecutivos, em Junho de 2009. O dia<br />
foi dividido em quatro períodos para observações, sendo, PERI: das 06:10 as 12:00 h;<br />
PERII: das 12:10 as 18:00 h; PERIII: das 18:10 as 00:00 h; PERIV: das 00:10 as 06:00 h. Os<br />
animais dos dois tratamentos foram submetidos à observação visual do comportamento<br />
ingestivo por avaliadores previamente treinados, ocorrendo um revezamento das duplas a<br />
cada três horas.<br />
Os animais foram observados concomitantemente em intervalos de 10 em 10<br />
minutos, a fim de identificar o tempo despendido às atividades de alimentação, ruminação e<br />
ócio sendo as duas últimas atividades observadas com os animais tanto em pé quanto<br />
deitados. A coleta de dados foi efetuada com o uso de planilha apropriada contendo a<br />
identificação de cada animal. No período noturno, foram utilizadas lanternas, para melhor<br />
visualização dos tratamentos sem interferir no comportamento dos mesmos.<br />
As médias obtidas foram testadas pelo teste de F, para os tratamentos e de Tukey<br />
para os períodos, ao nível de 5% de significância utilizando-se o SAEG (2007).<br />
Resultados e discussão<br />
Na Tabela 01, observa-se os resultados obtidos nas avaliações dos tratamentos<br />
novilha x vaca com bezerro ao pé.<br />
22
Tabela 1. Tempo de alimentação (ALI), ruminação (RUM) e ócio (OCI), percentagem do tempo ruminando<br />
deitada (PRU), percentagem do tempo em ócio deitado (POC), freqüência de alimentação (FAL), ruminação<br />
(FRU) e ócio (FOC) de novilhas e vacas anelorados em pastagem de Brachiaria decumbens.<br />
Tratamento ALI RUM PRU OCI POC FAL FRU FOC<br />
Novilha 1225,00 1012,50 26,24 642,50 44,00 27,75 b<br />
29,87 b<br />
34,50 b<br />
Vaca com Bezerro 1246,25 1007,50 38,78 626,25 37,67 31,25 a<br />
33,87 a<br />
39,75 a<br />
C.V. (%) 8,31 6,92 18,41 10,83 9,40 12,20<br />
Médias seguidas de letras diferentes na coluna, diferem entre si (P
COMPORTAMENTO INGESTIVO DE FÊMEAS ANELORADAS EM MEIO E FINAL DE<br />
GESTAÇÃO EM REGIME DE PASTEJO<br />
Lenon Machado dos Santos 1 , Iuran Nunes Dias 1 , Carina Anunciação dos Santos Dias 1 , Soraya Maria<br />
Palma Luz Jaeger 2 , Jair de Araújo Marques 2 .<br />
¹Graduandos em Zootecnia Pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas- BA.<br />
²Prof. Adjunto do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas/UFRB, Cruz das Almas - BA.<br />
Palavras–chave: Bovinos; Comportamento ingestivo; Manejo.<br />
Introdução<br />
O estudo do comportamento animal é cada vez mais proeminente, visto que permite<br />
um intenso conhecimento do animal, que servem de base na recomendação de técnicas de<br />
manejo adequado e coerente, sem interferir no seu comportamento natural.<br />
Segundo Marques et al. (2005), Os ruminantes, de um modo geral, respondem de<br />
forma diferente às diferentes dietas ou alimentos. Assim, o conhecimento de alimentação e<br />
nutrição destes, bem como, o conhecimento de seu comportamento ingestivo é fundamental<br />
para o sucesso da criação.<br />
O presente trabalho foi proposto com o objetivo de avaliar o comportamento ingestivo<br />
de fêmeas aneloradas no meio e final de gestação, manejadas em pastagem de Brachiaria<br />
decumbens.<br />
Material e Métodos<br />
O trabalho foi desenvolvido no setor de bovinos de corte na Universidade Federal do<br />
Recôncavo da Bahia (UFRB), no município de Cruz das Almas/BA/BR.<br />
Foram utilizadas dez fêmeas aneloradas do rebanho da UFRB com idade entre cinco<br />
a oito anos, em diferentes condições reprodutivas. Os animais foram divididos em dois<br />
tratamentos, com cinco repetições cada, sendo o Tratamento I composto por fêmeas em<br />
meio de gestação (MGE) e o II por fêmeas em final de gestação (FGE).<br />
Os animais pastaram em uma área de 3,5 ha de Brachiaria decumbens, com<br />
disponibilidade de forragem de 2.700 Kg/ ha. O teor de matéria seca foi de 32% e a relação<br />
de folha:colmo foi de 37:63, com base na matéria seca. O experimento teve duração de<br />
48:00 h consecutivas e as avaliações foram distribuídas em dois períodos: diurno e noturno.<br />
Os dados eram anotados em intervalos de 15 minutos.<br />
As observações foram realizadas por seis avaliadores treinados, revezando as<br />
duplas a cada três horas. Nos períodos noturnos as observações foram feitas com o auxílio<br />
de lanternas para melhor identificação dos animais e minimizar as possíveis alterações no<br />
comportamento normal dos mesmos.<br />
Os parâmetros avaliados foram os tempos gasto com alimentação, ruminação e ócio.<br />
Os dados foram analisados por análise de variância e as médias comparadas pelo<br />
teste de F para tratamentos e de Tukey para os períodos, ao nível de 5% de significância<br />
pelo SAEG (2001).<br />
Resultados e Discussão<br />
De acordo com os dados contidos na Tabela 1, não houve diferença significativa<br />
(P
Entretanto, o tempo de alimentação foi bastante elevado, ou seja, mais de 50% do<br />
tempo despendido nas atividades de alimentação, ruminação e ócio. Isso, pode ser<br />
explicado pela qualidade da forragem, relação folha:colmo, pois o período de avaliação<br />
corresponde a época seca do ano na região.<br />
Estes resultados concordam com Zanine et al. (2005) que afirmam que o tempo de<br />
alimentação aumenta com a diminuição da relação folha:colmo.<br />
No que se refere ao número de refeições, freqüência de ruminação e de ócio não<br />
houve diferença significativa. Embora se esperasse que os animais do tratamento FGE<br />
apresentassem um maior número de refeições em função da qualidade de alimento e pela<br />
ocupação de espaço pelo consepto em nível de abdômen.<br />
Tabela 2. Tempo despendido com alimentação (ALI), ruminação (RUM) e ócio (OCI), percentagem de tempo<br />
ruminando deitado (RUD) e em ócio deitado (OCD) e freqüência de alimentação (FAL), ruminação (FRU), e ócio<br />
(FOC) nos diferentes períodos NOTURNO (18h15min às 6h00min) e DIURNO (6h15min às 18h00min).<br />
PERÍODO ALI RUM RUD OCI OCD FAL FRU FOC<br />
DIURNO 519,00 a<br />
NOTURNO 237,750 b<br />
97,00 b<br />
285,00 a<br />
122,22 a<br />
135,65 a<br />
103,50 b<br />
197,25 a<br />
25<br />
84,27 b<br />
147,12 a<br />
*C.V. 11,01 18,39 26,80 23,86 23,51 28,57<br />
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si (P
COMPORTAMENTO INGESTIVO DE NOVILHOS E NOVILHAS EM PASTEJO CONTÍNUO<br />
DE Brachiaria decumbens<br />
Ana Lúcia Almeida Santana 1 ; Marcio Rafael Alves Bispo dos Santos 1 ; Marcela Souza Brito 1 ; Tiago Oliveira<br />
Brandão 2 ; Larissa Pires Barbosa 3<br />
1 Graduandos em Zootecnia<br />
2 Graduando em Medicina Veterinária<br />
3 Professor Adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia<br />
Palavras-chave: alimentação; ócio; ruminação.<br />
Introdução<br />
O hábito alimentar dos ruminantes é caracterizado por uma seqüência de atividades<br />
frequentemente desenvolvidas, classificadas como ingestão, ruminação e ócio. Segundo<br />
Paranhos da Costa et al. (2002), o estudo do comportamento animal é relevante para<br />
racionalizar a exploração zootécnica, empregar técnicas de manejo, instalações e<br />
alimentação, estimular a pesquisa e oferecer soluções para problemas relacionados à<br />
redução do consumo em épocas críticas, proporcionando aos animais um manejo nutricional<br />
adequado, maximizando assim a produção desejada.<br />
De acordo com Pires et al. (2000), o estudo do comportamento ingestivo dos<br />
ruminantes na região Nordeste é incipiente, apesar da sua importância, principalmente no<br />
que diz respeito às práticas de manejo alimentar condizentes com as condições climáticas.<br />
O sistema de produção extensivo é bastante utilizado na criação de bovinos no<br />
Brasil, com características complexas, diferentes fatores e interações, que, por sua vez,<br />
afetam negativamente o comportamento ingestivo dos animais e, por consequência, reduz<br />
os índices zootécnicos produtivo e reprodutivo da propriedade.<br />
Objetivou-se comparar o comportamento ingestivo de novilhos e novilhas anelorados<br />
em pastejo.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi realizado no Setor de Bovinocultura da Universidade Federal do<br />
Recôncavo da Bahia, em Cruz das Almas/Ba, em junho de 2009. Dezesseis animais foram<br />
distribuídos em dois grupos (G), sendo: G1 – composto por 8 novilhos e G2 – composto por<br />
8 novilhas. Durante todo o período experimental os animais tiveram acesso a uma área de<br />
3,5ha em pastagem de Brachiaria decumbens, com disponibilidade de forragem de<br />
2.600kg/ha e aproximadamente 35% de matéria seca (MS) e acesso a água a vontade.<br />
Os tratamentos (Novilhos x Novilhas) foram submetidos à observação visual para<br />
coleta de dados por um período de 48 horas. Para as observações noturnas foi necessário o<br />
uso de luz artificial por meio do uso de lanternas. As 48 horas foram divididas em quatro<br />
períodos de observação (PERI = 06:10-12:00h; PERII =12:10-18:00h; PERIII = 18:10-00:00h<br />
e PERIV = 00:10-06:00h), utilizando-se uma frequência de 10 minutos entre as observações.<br />
Observou-se os tempos, em minutos, de alimentação (ALI), ruminação (RUM) e ócio<br />
(OCI), bem como a percentagem de tempo que o animal permaneceu ruminando deitado<br />
(PRUD), em ócio deitado (POCD), a frequência de alimentação (FAL), frequência de<br />
ruminação (FRU) e frequência de ócio (FOC), sendo a frequência determinada como o<br />
número de intervalos de ingestão, ruminação e ócio.<br />
Para a análise dos dados utilizou-se análise de variância e as médias testadas pelo<br />
teste de F e pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. Utilizou-se o Programa<br />
Estatístico SAEG (2007).<br />
Resultados e Discussão<br />
26
Nos tempos totais despendidos para as atividades de alimentação, ruminação e ócio,<br />
não ocorreram diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos (Tabela 1), os<br />
resultados encontrados são semelhantes a resultados descritos por Novais et al. (2009),<br />
analisando vacas aneloradas em mesma condição de pastejo.<br />
Tabela 1. Comportamento ingestivo de novilhos e novilhas em pastagem de Brachiaria decumbens<br />
Grupo ALI RUM PRUD OCI POCD FAL FRU FOC<br />
Novilho 1200,00 1073,75 19,56 606,25 51,95 24,87 b<br />
30,50 31,75<br />
Novilha 1225,00 1012,50 26,24 642,50 44,01 27,75 a<br />
29,87 34,50<br />
C.V.(%) 4,47 6,82 12,54 8,15 9,81 10,31<br />
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si (P
COMPORTAMENTO INGESTIVO DE NOVILHOS NELORE RECEBENDO<br />
SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO<br />
Daniel Lucas Santos Dias 1 , Danilo Ribeiro de Souza 2 , Marcelo Mota Pereira 1 , Jaqueline<br />
Firmino de Sá 3 , Lívia Santos Costa 2<br />
1 Graduando em Zootectina – UES<br />
2 Mestrando em Zootecnia – UESB<br />
3 Doutoranda em Zootecnia-UESB<br />
Introdução<br />
O estudo do comportamento ingestivo dos ruminantes pode nortear a adequação de<br />
práticas de manejo que venham a aumentar a produtividade e garantir o melhor estado<br />
sanitário e longevidade aos animais Fischer et al., (2002). Alternativas vêm sendo utilizadas<br />
para minimizar as variações na produção de matéria seca e na qualidade da pastagem,<br />
principalmente nas épocas em que a produção de forragem é mais afetada, nas estações de<br />
outono e inverno, onde a suplementação pode permitir maiores ganhos de peso por animal<br />
e por área (ROCHA, 1999).<br />
O objetivo deste estudo foi avaliar os períodos discretos de novilhos Nelore em<br />
pastagem de Brachiaria brizantha submetidos a suplementação mineral e a suplementação<br />
proteinada.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista, no município de Macarani – Ba,<br />
entre os meses de agosto a outubro de 2006. Foram utilizados 18 animais da raça Nelore<br />
com 26 meses de idade e peso corporal médio de 373 kg, castrados. Os dois tratamentos<br />
foram constituídos de: T1-Suplementação mineral até a terminação e T2-Suplementação<br />
proteinada até a terminação, distribuídos em DIC com dois tratamentos e 9 repetições por<br />
tratamento. O suplemento foi fornecido duas vezes durante a semana, em cocho coberto.<br />
Todos os animais tiveram livre acesso à sombra, água e suplemento mineral ou suplemento<br />
proteinado. Foram utilizados quatro piquetes de Brachiaria brizanta cultivar Marandu com<br />
6,5 hectares cada. Enquanto dois estavam ocupados os outros dois permaneciam vazios<br />
por 28 dias.<br />
Os aspectos comportamentais foram avaliados visualmente, as observações foram<br />
feitas com a ajuda de binóculos. Para o registro do tempo gasto em cada uma das<br />
atividades descritas acima, os animais foram observados visualmente a cada 10 minutos,<br />
por dois períodos de 12 horas cada, das seis horas da manhã às 18 horas realizados no 25º<br />
e 26º dia do mês de outubro. As variáveis comportamentais estudadas foram: o número<br />
diurno de períodos de pastejo (NPP), ruminação (NPR), ócio (NPO) e comendo no cocho<br />
(NPC), juntamente com o tempo de duração (minutos) dos períodos de pastejo (TPP),<br />
ruminação (TPR), ócio (TPO) e comendo no cocho (TPC), com seus respectivos<br />
coeficientes de variação. A discretização das séries temporais foi realizada diretamente nas<br />
planilhas de coleta de dados, com a contagem dos períodos discretos de pastejo,<br />
ruminação, ócio e cocho, conforme descrito por (SILVA et al., 2006b).<br />
Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com dois<br />
tratamentos e 9 repetições por tratamento. Para analise estatística dos dados utilizou-se o<br />
programa SAEG – Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas Ribeiro Jr, (2001), bem<br />
como os resultados foram interpretados estatisticamente por meio de análise de variância e<br />
teste F a 5% de probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
Na tabela 1, estão apresentados os valores médios do número diurno de períodos de<br />
pastejo, ruminação, ócio e comendo no cocho, juntamente com o tempo de duração<br />
(minutos) dos períodos de pastejo, ruminação, ócio e comendo no cocho em função da<br />
suplementação mineral e suplementação protéica para novilhos Nelore em pastejo.<br />
28
Verificou-se que o número diurno de períodos de pastejo, ruminação, comendo no<br />
cocho, juntamente com o tempo de duração (minutos) dos períodos de ruminação e<br />
comendo no cocho dos novilhos diferiram estatisticamente, apresentando valores médios de<br />
7,83 e 6,55; 5,72 e 3,83; 0,50 e 1; 34,40 e 74,08; 8,88 e 16,11 respectivamente para<br />
suplementação mineral e suplementação protéica. Não houve efeito de tratamento (P
COMPORTAMENTO INGESTIVO DE NOVILHOS NELORE RECEBENDO<br />
SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO<br />
Daniel Lucas Santos Dias 1 , Danilo Ribeiro de Souza 2 , Marcelo Mota Pereira 1 , Jaqueline<br />
Firmino de Sá 3 , Lívia Santos Costa 2<br />
1 Graduando em Zootectina – UES<br />
2 Mestrando em Zootecnia – UESB<br />
3 Doutoranda em Zootecnia-UESB<br />
Introdução<br />
O estudo do comportamento ingestivo dos ruminantes pode nortear a adequação de<br />
práticas de manejo que venham a aumentar a produtividade e garantir o melhor estado<br />
sanitário e longevidade aos animais Fischer et al., (2002). Alternativas vêm sendo utilizadas<br />
para minimizar as variações na produção de matéria seca e na qualidade da pastagem,<br />
principalmente nas épocas em que a produção de forragem é mais afetada, nas estações de<br />
outono e inverno, onde a suplementação pode permitir maiores ganhos de peso por animal<br />
e por área (ROCHA, 1999).<br />
O objetivo deste estudo foi avaliar os períodos discretos de novilhos Nelore em<br />
pastagem de Brachiaria brizantha submetidos a suplementação mineral e a suplementação<br />
proteinada.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista, no município de Macarani – Ba,<br />
entre os meses de agosto a outubro de 2006. Foram utilizados 18 animais da raça Nelore<br />
com 26 meses de idade e peso corporal médio de 373 kg, castrados. Os dois tratamentos<br />
foram constituídos de: T1-Suplementação mineral até a terminação e T2-Suplementação<br />
proteinada até a terminação, distribuídos em DIC com dois tratamentos e 9 repetições por<br />
tratamento. O suplemento foi fornecido duas vezes durante a semana, em cocho coberto.<br />
Todos os animais tiveram livre acesso à sombra, água e suplemento mineral ou suplemento<br />
proteinado. Foram utilizados quatro piquetes de Brachiaria brizanta cultivar Marandu com<br />
6,5 hectares cada. Enquanto dois estavam ocupados os outros dois permaneciam vazios<br />
por 28 dias.<br />
Os aspectos comportamentais foram avaliados visualmente, as observações foram<br />
feitas com a ajuda de binóculos. Para o registro do tempo gasto em cada uma das<br />
atividades descritas acima, os animais foram observados visualmente a cada 10 minutos,<br />
por dois períodos de 12 horas cada, das seis horas da manhã às 18 horas realizados no 25º<br />
e 26º dia do mês de outubro. As variáveis comportamentais estudadas foram: o número<br />
diurno de períodos de pastejo (NPP), ruminação (NPR), ócio (NPO) e comendo no cocho<br />
(NPC), juntamente com o tempo de duração (minutos) dos períodos de pastejo (TPP),<br />
ruminação (TPR), ócio (TPO) e comendo no cocho (TPC), com seus respectivos<br />
coeficientes de variação. A discretização das séries temporais foi realizada diretamente nas<br />
planilhas de coleta de dados, com a contagem dos períodos discretos de pastejo,<br />
ruminação, ócio e cocho, conforme descrito por (SILVA et al., 2006b).<br />
Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com dois<br />
tratamentos e 9 repetições por tratamento. Para analise estatística dos dados utilizou-se o<br />
programa SAEG – Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas Ribeiro Jr, (2001), bem<br />
como os resultados foram interpretados estatisticamente por meio de análise de variância e<br />
teste F a 5% de probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
Na tabela 1, estão apresentados os valores médios do número diurno de períodos de<br />
pastejo, ruminação, ócio e comendo no cocho, juntamente com o tempo de duração<br />
(minutos) dos períodos de pastejo, ruminação, ócio e comendo no cocho em função da<br />
suplementação mineral e suplementação protéica para novilhos Nelore em pastejo.<br />
30
Verificou-se que o número diurno de períodos de pastejo, ruminação, comendo no<br />
cocho, juntamente com o tempo de duração (minutos) dos períodos de ruminação e<br />
comendo no cocho dos novilhos diferiram estatisticamente, apresentando valores médios de<br />
7,83 e 6,55; 5,72 e 3,83; 0,50 e 1; 34,40 e 74,08; 8,88 e 16,11 respectivamente para<br />
suplementação mineral e suplementação protéica. Não houve efeito de tratamento (P
Comportamento ingestivo de vacas aneloradas em diferentes<br />
condições reprodutivas em pastagens<br />
Daiane Lago Novais 1 , Carina Anunciação dos Santos Dias 1 , Aldenize das Virgens Lima 1 , Soraya Maria<br />
Palma Luz Jaeger², Jair de Araújo Marques²<br />
1 Graduandos em Zootecnia da UFRB/CCAAB, Cruz das Almas - BA.<br />
2 Prof. Adjunto do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas/UFRB, Cruz das Almas – BA.<br />
Palavras-Chave: alimentação, comportamento, observação<br />
Introdução<br />
O estudo do comportamento animal tem grande importância no emprego de técnicas<br />
de manejo, uso de instalações, bem como na alimentação dos animais e desta forma<br />
contribui substancialmente para racionalizar a exploração zootécnica. O manejo nutricional,<br />
responsável por cerca de 70% dos custos de produção, depende de vários fatores, dentre<br />
os quais o conhecimento do comportamento ingestivo, fundamental para a adequação das<br />
dietas (Marques et al., 2008).<br />
Por sua vez, a eficiência econômica da produção de bovinos em pastagens requer<br />
conhecimento de todo processo produtivo, gestão profissional do negócio, adubação e<br />
manejo de pastagens, bem como, a preocupação com o conforto, bem estar e<br />
comportamento dos animais em pastejo (Marques et al., 2006).<br />
O estudo do comportamento ingestivo dos ruminantes, pode nortear a adequação de<br />
práticas de manejo que venham a aumentar a produtividade e garantir o melhor estado<br />
sanitário e longevidade aos animais.<br />
Os padrões de comportamento constituem-se em um dos meios mais efetivos pelos<br />
quais os animais respondem aos diversos fatores ambientais. Estes padrões podem indicar<br />
métodos potenciais de incremento da produtividade animal através da utilização de<br />
diferentes tipos de manejos (Carvalho et al., 2007).<br />
Objetivou-se com este trabalho avaliar o comportamento ingestivo de vacas vazias e<br />
no final da gestação em pastagens Brachiaria decumbens.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido no Setor de Bovinocultura, no Centro de Ciências<br />
Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz<br />
das Almas/BA/BR, em março de 2009.<br />
Foram utilizadas 10 vacas aneloradas, com idade entre cinco e oito anos, em<br />
diferentes condições reprodutivas, (vacas vazias - VAZ e vacas no final da gestação - FGE),<br />
criadas em regime extensivo.<br />
Foi observado o comportamento ingestivo de VAZ e FGE a cada 15 minutos, por seis<br />
avaliadores treinados que se revezavam a cada três horas, em dois turnos (DIURNO =<br />
06h15min-18h00min; NOTURNO =18h15min- 06h00min).<br />
Foram observados: os tempos, em minutos, de alimentação (ALI), ruminação (RUM) e<br />
ócio (OCI), bem como a percentagem de tempo que os animais permaneceram ruminando<br />
deitados (RUD), em ócio deitados (OCD), a freqüência de alimentação (FAL), a freqüência<br />
de ruminação (FRU) e a freqüência de ócio (FOC), sendo as freqüências determinadas<br />
como o número de intervalos de ingestão, ruminação e ócio.<br />
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com dois tratamentos e<br />
cinco repetições e as médias obtidas foram testadas pelo teste de F, para os tratamentos e<br />
de Tukey para os períodos, ao nível de 5% de significância utilizando-se o SAEG (2001).<br />
Resultados e Discussão<br />
A Tabela 1 apresenta os resultados do comportamento ingestivo dos animais<br />
experimentais.<br />
32
Os valores referentes ao tempo gasto com a alimentação, ruminação e ócio não<br />
diferiram com a condição reprodutiva. As freqüências de alimentação (FAL) foram<br />
superiores para as vacas VAZ em relação às FGE, esta diferença foi o contrário do que se<br />
esperava, pois vacas FGE apresentam compressão do rúmen, proporcionando maior<br />
necessidade de refeições durante o dia.<br />
Tabela 1. Tempo de alimentação (ALI), ruminação (RUM) e ócio (OCI), percentagem do tempo ruminando<br />
deitada (RUD), percentagem do tempo em ócio deitado (OCD), freqüência de alimentação (FAL), ruminação<br />
(FRU) e ócio (FOC) de vacas aneloradas em final de gestação (FGE) e vazias (VAZ) em pastagem de Brachiaria<br />
decumbens<br />
PARÂMETRO ALI RUM RUD OCI OCD FAL FRU FOC<br />
VAZ 742,50 369,00 120,20 328,50 167,35 11,90a 11,40 12,30ª<br />
FGE 751,50 385,50 229,74 303,00 158,17 9,90b 10,30 9,80b<br />
C.V. 6,51 16,88 20,78 18,58 14,81 21,51<br />
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si (P
COMPORTAMENTO INGESTIVO DE VACAS HOLANDESAS A PASTO: METODOLOGIA<br />
Aracele Prates de Oliveira 2 , Marcelo Mota Pereira 1 , Hermógenes Almeida de Santana Júnior 1 ,<br />
Perecles Brito Batista 2 , Daniel Lucas Santos Dias 1<br />
1 Graduando em Zootecnia – UESB<br />
2 Zootecnista, mestre em Produção Animal<br />
Introdução<br />
Nos ruminantes, o controle da ingestão do alimento é peculiar, podendo ser<br />
caracterizado pela distribuição desuniforme de uma sucessão de períodos definidos e discretos<br />
de atividades, comumente classificadas como ingestão, ruminação e descanso ou ócio. O<br />
entendimento do comportamento ingestivo em bovinos se faz necessário para obtenção de<br />
informações que permitam proporcionar estratégias no manejo nutricional dos animais.<br />
O estudo do comportamento ingestivo dos nutrientes tem sido usado com os objetivos<br />
de estudar os efeitos do arraçoamento ou quantidade e qualidade nutritiva de forragens sobre o<br />
comportamento ingestivo: e verificar o uso potencial do conhecimento a respeito do<br />
comportamento ingestivo para melhorar o desempenho animal.<br />
Objetivou-se identificar os intervalos de tempo mais adequados para estudo do<br />
comportamento ingestivo diurno de vacas Holandesas a pasto quando comparados com a<br />
escala de 10 minutos de intervalo entre observações.<br />
Material e métodos<br />
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária LTDA., no<br />
período de 06 de outubro de 2007 a 04 de novembro de 2007, sendo 18 dias de adaptação.<br />
Foram utilizados 21 vacas, com grau de sangue 5/8 Holandês X 3/8 Zebu, em terço médio de<br />
lactação, com média de produção de 15 quilos de leite, distribuídos Inteiramente ao Acaso<br />
(DIC), em três tratamentos (nível de suplementação) e sete repetições: Baixo = nível de<br />
suplementação de 2,3 % de peso corpóreo; Médio = nível de suplementação de 2,65 % do peso<br />
corpóreo e Alta = nível de suplementação de 3,0 % peso corpóreo.<br />
TABELA 1 – Proporção dos ingredientes utilizados na suplementação com base na matéria<br />
seca.<br />
INGREDIENTES<br />
(kilogramas)<br />
NÍVEL DE SUPLEMENTAÇÃO<br />
BAIXO MÉDIO ALTO<br />
Cana-de-açúcar 1 7,11 7,11 7,11<br />
Milho moído 0,87 2,12 3,20<br />
Farelo de soja 1,72 2,28 2,72<br />
Caroço de algodão 1,56 1,55 1,72<br />
Sal mineral 0,19 0,24 0,24<br />
Cloreto de Sódio 0,02 0,03 0,03<br />
Consumo 2 11,47 13,33 15,02<br />
1 Cana-de-açúcar, adicionado de uréia, sulfato de amônia e cal hidratada, sendo utilizado na proporção 9:1:9<br />
2 Consumo de matéria seca proveniente da suplementação<br />
As variáveis comportamentais estudadas foram: alimentação, ruminação e ócio. As<br />
atividades comportamentais foram consideradas mutuamente excludentes, conforme definição<br />
de Pardo et al., (2003).<br />
Cada animal foi observado em três escalas diferentes: 10, 20 e 30 minutos de intervalo,<br />
a fim de identificar o tempo destinado às atividades em cada uma das escalas. Após a obtenção<br />
dos resultados das diversas variáveis testadas, todas foram comparadas com a escala de 10<br />
minutos de intervalo.<br />
Foi utilizado o delineamento experimental em unidades de medidas repetidas, em<br />
arranjo fatorial três por três (três níveis de suplementação e três escalas de intervalo). Para<br />
34
análise dos dados coletados no experimento, foi utilizado o Sistema de Análises Estatísticas e<br />
Genéticas – SAEG, e os resultados foram interpretados estatisticamente por meio de análise de<br />
variância e Tukey a nível 0,05 de probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
TABELA 2 - Valores dos tempos de alimentação, ruminação e ócio com três intervalos de<br />
observação, com seus respectivos coeficientes de variação (CV, %), em vacas Holandesas a<br />
pasto.<br />
INTERVALO DE OBSERVAÇÃO<br />
ITEM (mim)<br />
1<br />
CV<br />
10 20 30<br />
ALIMENTAÇÃO 206 221 216 23,3<br />
RUMINAÇÃO 110 113 119 28,7<br />
ÓCIO 171 179 172 20,7<br />
1<br />
Intervalo de tempo em minutos.<br />
Para todas as variáveis estudadas, não foram verificadas diferenças estatísticas entre os<br />
intervalos de observações 10, 20 e 30 minutos, respectivamente. Esses resultados demonstram<br />
que para a coleta de dados dessas variáveis é possível aumentar o intervalo de observação,<br />
sem interferir na precisão dos dados. Esses valores assemelham com os dados verificados por<br />
Silva et al., (2006) e Silva et al., (2008), onde constataram que qualquer intervalo entre cinco e<br />
30 entre observações seria eficiente para este tipo de estudo.<br />
Os resultados, semelhantes estatisticamente, do tempo de alimentação nos diferentes<br />
intervalos de observações, afirma que se o único objetivo do estudo for à coleta do tempo total<br />
de alimentação que é muito relacionada com as respostas animal como consumo, desempenho,<br />
eficiências e conversões alimentares, poderão ser realizados em intervalos de 10 a 30 minutos,<br />
com boa confiabilidade.<br />
No estudo do comportamento ingestivo, o maior custo para realização do mesmo, é a<br />
quantidade de mão-de-obra necessária para observação de um número necessário de animais.<br />
Sendo assim, tais resultados são de grande valia para a viabilização de estudos relacionados<br />
ao comportamento animal, pois, possibilitando a utilização de um maior número de animais, o<br />
que permite uma maior acurácia dos resultados, com um menor número de observadores, o<br />
que facilita a condução desse estudo.<br />
Mais estudos devem ser realizados com outras raças, sexo e categoria para uma<br />
afirmação de que essa metodologia é eficiente em qualquer situação de estudos do<br />
comportamento ingestivo de bovinos em pastejo.<br />
Conclusões<br />
Para estudos do comportamento ingestivo de novilhos a pasto, as observações podem<br />
ser realizados em até 30 minutos de intervalo.<br />
Bibliografia<br />
PARDO, R.M.P.; Fischer, V.; Balbinotti, M.; et al., Comportamento ingestivo diurno de novilhos<br />
em pastejo a níveis crescentes de suplementação energética. Revista da Sociedade<br />
Brasileira de Zootecnia, v.32, n.6, p.1408-1418, 2003.<br />
SILVA, R.R. SILVA, F.F. PRADO, I.N. et al., Metodologia para o estudo do comportamento de<br />
bovinos. IN: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43, João<br />
Pessoa, 2006. Anais... João Pessoa – PB: SBZ, 2006. (CD-ROM).<br />
SILVA, R.R. PRADO, I.N. CARVALHO, G.G.P. et al., Efeito da utilização de três intervalos de<br />
observações sobre a precisão dos resultados obtidos no estudo do comportamento ingestivo de<br />
vacas leiteiras em pastejo. Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 2, p. 319-326. 2008.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
35
COMPORTAMENTO INGESTIVO DE VACAS LEITEIRAS ZEBUÍNAS A PASTO:<br />
METODOLOGIA<br />
Aracele Prates de Oliveira 1 ,Marcelo Mota Pereira 2 , Hermógenes Almeida de Santana Júnior 2 ,<br />
Perecles Brito Batista 1 , Danilo Ribeiro de Souza 1<br />
1 Zootecnista, mestrando em Produção Animal - UESB<br />
2 Graduando em Zootecnia – UESB<br />
Introdução<br />
O estudo do comportamento ingestivo dos nutrientes tem sido usado com os objetivos<br />
de estudar os efeitos do arraçoamento ou quantidade e qualidade nutritiva de forragens sobre o<br />
comportamento ingestivo. As principais variáveis comportamentais estudadas em vacas leiteiras<br />
têm sido aquelas relacionadas às atividades de alimentação, ruminação e ócio.<br />
Objetivou-se identificar os intervalos de tempo mais adequados para estudo do<br />
comportamento ingestivo diurno de vacas leiteiras zebuínas a pasto quando comparados com a<br />
escala de 10 minutos de intervalo entre observações.<br />
Material e métodos<br />
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária ltda., em<br />
Itapetinga-Bahia, no período de 06 de outubro a 04 de novembro de 2007. Foram utilizados 21<br />
vacas, com grau de sangue 5/8 Zebu X 3/8 Holandês, distribuídos Inteiramente ao Acaso (DIC),<br />
em três tratamentos (nível de suplementação) e sete repetições: Baixo = nível de<br />
suplementação de 2,3 % de peso corpóreo; Médio = nível de suplementação de 2,65 % do peso<br />
corpóreo e Alta = nível de suplementação de 3,0 % peso corpóreo.<br />
Na tabela estâ representada a composição da dieta, calculado para mantença e<br />
produção de 14 quilos de leite por dia (NRC, 2001).<br />
TABELA 1 – Ingredientes utilizados na suplementação com base na matéria seca.<br />
INGREDIENTES<br />
NÍVEL DE SUPLEMENTAÇÃO<br />
(kilogramas)<br />
BAIXO MÉDIO ALTO<br />
Cana-de-açúcar 1 7,11 7,11 7,11<br />
Milho moído 0,87 2,12 3,20<br />
Farelo de soja 1,72 2,28 2,72<br />
Caroço de algodão 1,56 1,55 1,72<br />
Sal mineral 0,19 0,24 0,24<br />
Cloreto de Sódio 0,02 0,03 0,03<br />
Consumo 2 11,47 13,33 15,02<br />
1<br />
Cana-de-açúcar, adicionado de uréia, sulfato de amônia e cal hidratada, sendo utilizado na<br />
proporção 9:1:9<br />
2<br />
Consumo de matéria seca proveniente da suplementação<br />
O comportamento animal foi avaliado no 19º e 20º dia. As variáveis comportamentais<br />
estudadas foram: alimentação, ruminação e ócio. As atividades comportamentais foram<br />
consideradas mutuamente excludentes, conforme definição de Pardo et al., (2003). Para o<br />
registro do tempo gasto em cada uma das atividades descritas acima, os animais foram<br />
observados visualmente por dois períodos de oito horas e 30 minutos horas (06:10 as 14:40),<br />
totalizando 17 horas de observação.<br />
Cada animal foi observado em três escalas diferentes: 10, 20 e 30 minutos de intervalo,<br />
a fim de identificar o tempo destinado às atividades em cada uma das escalas. Após a obtenção<br />
dos resultados das diversas variáveis testadas, todas foram comparadas com a escala de 10<br />
minutos de intervalo.<br />
36
Foi utilizado o delineamento experimental em unidades de medidas repetidas, em<br />
arranjo fatorial três por três (três níveis de suplementação e três escalas de intervalo). Para<br />
análise dos dados coletados no experimento, foi utilizado o Sistema de Análises Estatísticas e<br />
Genéticas – SAEG, e os resultados foram interpretados estatisticamente por meio de análise de<br />
variância e Tukey a nível 0,05 de probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
TABELA 2 - Valores dos tempos de alimentação, ruminação e ócio com três intervalos de<br />
observação, com seus respectivos coeficientes de variação (CV).<br />
ITEM (minutos) INTERVALO DE OBSERVAÇÃO 1 CV (%)<br />
10 20 30<br />
ALIMENTAÇÃO 183 161 189 21,2<br />
RUMINAÇÃO 121 111 128 31,4<br />
ÓCIO 180 167 181 31,5<br />
1 Intervalo de tempo em minutos.<br />
Para todas as variáveis estudadas, não foram verificadas diferenças estatísticas entre os<br />
intervalos de observações 10, 20 e 30 minutos, respectivamente. Esses resultados demonstram<br />
que para a coleta de dados dessas variáveis é possível aumentar o intervalo de observação,<br />
sem interferir na precisão dos dados. Esses valores assemelham com os dados verificados por<br />
Silva et al., (2006) e Silva et al., (2008), onde constataram que qualquer intervalo entre cinco e<br />
30 entre observações seria eficiente para este tipo de estudo.<br />
Os resultados, semelhantes estatisticamente, do tempo de alimentação nos diferentes<br />
intervalos de observações, afirma que se o único objetivo do estudo for à coleta do tempo total<br />
de alimentação que é muito relacionada com as respostas animal como consumo, desempenho,<br />
eficiências e conversões alimentares, poderão ser realizados em intervalos de 10 a 30 minutos,<br />
com boa confiabilidade.<br />
Os resultados apresentados são de grande valia para a viabilização de estudos<br />
relacionados ao comportamento animal, pois, possibilitando a utilização de um maior número de<br />
animais, o que permite uma maior acurácia dos resultados, com um menor número de<br />
observadores, o que facilita a condução desse estudo.<br />
Conclusões<br />
Para estudos do comportamento ingestivo diurno de novilhos a pasto, as observações<br />
podem ser realizados em até 30 minutos de intervalo.<br />
Bibliografia<br />
NRC - NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of dairy cattle. 7.ed.<br />
Washington, D.C.: National Academy Press, 2001. 381p.<br />
PARDO, R.M.P.; Fischer, V.; Balbinotti, M.; et al., Comportamento ingestivo diurno de novilhos<br />
em pastejo a níveis crescentes de suplementação energética. Revista da Sociedade<br />
Brasileira de Zootecnia, v.32, n.6, p.1408-1418, 2003.<br />
SILVA, R.R. SILVA, F.F. PRADO, I.N. et al., Metodologia para o estudo do comportamento de<br />
bovinos. IN: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43, João<br />
Pessoa, 2006. Anais... João Pessoa – PB: SBZ, 2006. (CD-ROM).<br />
SILVA, R.R. PRADO, I.N. CARVALHO, G.G.P. et al., Efeito da utilização de três intervalos de<br />
observações sobre a precisão dos resultados obtidos no estudo do comportamento ingestivo de<br />
vacas leiteiras em pastejo. Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 2, p. 319-326. 2008.<br />
RIBEIRO JR., J.I. Análises Estatísticas no SAEG (Sistema de análises estatísticas).<br />
Viçosa,: UFV, 2001. 301 p.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
37
CONSUMO DA FORRAGEM E SUPLEMENTO DE NOVILHOS NELORE<br />
RECEBENDO SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO DE<br />
Brachiaria brizantha NA ÉPOCA DAS AGUAS 1<br />
Dicastro Dias de Souza 4 , Danilo Ribeiro de Souza 2 , Fabiano Ferreira da Silva 3 ,<br />
Marcelo Mota Pereira 4 , Alyson Andrade Pinheiro 5<br />
1 Parte da dissertação do segundo autor<br />
2 Mestrando em Zootecnia pela UESB. Bolsista CAPES;<br />
3 Professor do Curso de Zootecnia da UESB;<br />
4 Graduando em Zootecnia pela UESB;<br />
5 Doutorando em Zootecnia pela UEM.<br />
Palavras – chave: sazonalidade, pasto, suplemento<br />
Introdução<br />
O desempenho de animais em pastejo é afetado pelo consumo de forragem, sendo<br />
influenciado por vários fatores associados ao animal, ao pasto, ao ambiente e às suas<br />
interações. Em situações onde o ganho de peso não atinge o patamar estabelecido<br />
pelo potencial genético do animal, visualiza-se o uso de alimentação suplementar<br />
durante o período das águas. Se por outro lado a forrageira é de alta qualidade, o<br />
fornecimento de suplemento pode promover redução na ingestão de forragem, que é<br />
substituída pelo consumo deste. Os efeitos de substituição estão relacionados<br />
principalmente com as características qualitativas da forragem e tipo e nível de<br />
concentrado suplementar. Objetivou-se avaliar o consumo de forragem e suplemento<br />
em novilhos Nelore recebendo suplemento protéico de baixo consumo na época das<br />
águas.<br />
Materiais e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na Fazenda Boa Vista, município de Macarani, Bahia, no<br />
período de novembro de 2006 a fevereiro de 2007. Foram utilizados 18 novilhos da<br />
raça Nelore com 26 meses de idade, castrados e peso vivo médio de 400 kg<br />
distribuídos em dois tratamentos: T1 - suplementação mineral e T2 – suplementação<br />
protéica de baixo consumo. Foram utilizados quatro piquetes de Brachiária brizantha<br />
com 6,5 hectares cada. Os animais foram pesados no início e fim do período<br />
experimental após jejum total de 12 horas e foram feitas pesagens intermediárias a<br />
cada 28 dias. A suplementação foi fornecida duas vezes por semana em cochos de<br />
madeira com cobertura. A pastagem foi avaliada a cada 28 dias. Para estimar a<br />
disponibilidade de MS de cada piquete, foram tomadas 12 amostras cortadas ao nível<br />
do solo com um quadrado de 0,25 m 2 . O consumo de matéria seca (CMS) foi<br />
estimado a partir da produção fecal, verificada com auxílio de óxido crômico (Cr2O3)<br />
como 988indicador externo e da fibra em detergente ácido indigestível (FDAi) como<br />
indicador interno. O consumo de MS foi obtido por meio da seguinte equação: CMS =<br />
{[(PF*CIFZ) – IS]/CIFR} + CMSS, em que CMS é o consumo de matéria seca (kg/dia);<br />
PF é a produção fecal (kg/dia); CIFZ concentração do indicador presente nas fezes<br />
(kg/kg); IS é o indicador presente no suplemento (kg/dia); CIFR é a concentração do<br />
indicador presente na forragem (kg/kg) e o CMSS que é o consumo de matéria seca<br />
do suplemento (kg/dia). Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente<br />
casualizado com dois tratamentos e nove repetições por tratamento. Para analise<br />
estatística dos dados utilizou-se o teste F em nível de 5% de significância. As<br />
variáveis estudadas foram avaliadas por meio de análise de variância, pelo Sistema<br />
de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (UFV, 2001).<br />
Resultados e Discussão<br />
Não houve diferença (P>0,05) para CMSP, CMS, CMST e CFDN para kg consumido<br />
por dia e em relação à percentagem do peso vivo. O consumo de suplemento mineral<br />
foi de 0,100kg/animal/dia, diferente à 0,038kg/animal/dia encontrado por SILVA<br />
38
(2008), em mesma condições ambientais, o consumo de proteinado ficou abaixo do<br />
recomendado, sendo 0,126kg/animal/dia , onde a recomendação do fabricante é de<br />
100g para cada 100kg de peso vivo, devido a um maior aporte de nutrientes em<br />
conseqüência da qualidade pastagem e esta recomendação ser para o período seco<br />
do ano. O consumo de MS em % do peso vivo foi de 2,37 e 2,46% para o T1 e T2,<br />
respectivamente, semelhante ao encontrado por CANESIN et al. (2007) que relataram<br />
consumo de 2,39% do PV em pastagens de Brachiaria brizantha, no período chuvoso<br />
para uma dieta com 59,33% de NDT e com 6.990 kg de MS de forragem por hectare.<br />
Os consumos de FDN (% PV) foram elevados, 1,72 e 1,79% para o T1 e T2<br />
respectivamente, indicando que as recomendações de MERTENS (1992) o qual<br />
relatou que o limite para a regulação do consumo de ruminantes seria 1,20% do peso<br />
vivo em FDN, não se aplica a animais de corte em pastagens tropicais.<br />
Tabela 1 – Consumo de matéria seca total (CMST), da pastagem (CMSP), CMST (%, PV)<br />
CMSP (%, PV), consumo de fibra em detergente neutro (CFDN), CFDN (%, PV),<br />
no período das águas com seus respectivos coeficientes de variação e<br />
probabilidade (P).<br />
Item Sal Mineral Proteinado CV P<br />
PV (kg) 463,8 473,2 - -<br />
kg/dia<br />
CMSP (kg/dia) 10,994a 11,612a 12,990 ns<br />
CMSS (kg/dia) 0,100 0,126 - -<br />
CMST (kg/dia) 11,093a 11,738a 12,861 ns<br />
CFDN (kg/dia) 8,011a 8,461a 12,990 ns<br />
% PV<br />
CMSP(% PV) 2,37a 2,46a 11,571 ns<br />
CMSS (% PV) 0,02 0,03 - -<br />
CMST (% PV) 2,39a 2,48a 11,470 ns<br />
CFDN (% PV) 1,72a 1,79a 11,571 ns<br />
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem pelo teste F (P
CONSUMO DA FORRAGEM E SUPLEMENTO DE NOVILHOS NELORE<br />
RECEBENDO SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO DE<br />
BRACHIARIA BRIZANTHA NA ÉPOCA SECA DO ANO 1<br />
FORAGE AND SUPPLEMENT INTAKE OF NELLORE STEERS RECEIVING SALT<br />
OR PROTEIN SUPPLEMENTATION AT PASTURE OF BRACHIARIA BRIZANTHA<br />
IN DRY SEASON OF THE YEAR<br />
Lívia Santos Costa 2 , Danilo Ribeiro de Souza 2 , Fabiano Ferreira da Silva 3 ,<br />
Aires Lima Rocha Neto 4 , Marcelo Mota Pereira 5<br />
1 Parte da dissertação do segundo autor<br />
2 Mestrando(a) em Zootecnia pela UESB. Bolsista CAPES;<br />
3 Professor do Curso de Zootecnia da UESB;<br />
4 Doutorando em Zootecnia pela UESB. Bolsista FAPESB;<br />
5 Graduando em Zootecnia pela UESB.<br />
Palavras – chave: seca, braquiaria, nelore<br />
Introdução<br />
No período seco as pastagens apresentam baixos teores de proteína bruta (0,05) para CMSP, CMS, CMST e CFDN para kg consumido<br />
por dia quanto em relação à percentagem do peso vivo. Com a utilização de sal<br />
40
proteinado esperava-se um incremento no consumo, devido à disponibilidade de<br />
nitrogênio no rúmen aumentando a capacidade de degradação da fibra pelos<br />
microrganismos ruminais porem uma vez que a oferta de forragem foi alta e a taxa de<br />
lotação baixa proporcionou a seleção das folhas, minimizando os efeitos da falta de<br />
nutrientes limitantes. Nussio et al. (1998) relataram que um consumo em torno de 2,00<br />
kg de MS por 100 kg de peso vivo é normal para animais mantidos em pastagens.<br />
Neste estudo, os valores encontrados para o consumo de forragem foram 2,30 e 2,48<br />
kg de MS para cada 100 kg de peso vivo no período para o T1 e T2 respectivamente.<br />
Mertens (1992) relatou que o limite para a regulação do consumo de ruminantes seria<br />
1,20% do peso vivo em FDN. Os resultados encontrados contradizem esta teoria, pois<br />
os animais consumiram valores de 1,76 e 1,88% do peso vivo para o T1 e T2<br />
respectivamente.<br />
Tabela 1 – Consumo de matéria seca total (CMST), da pastagem (CMSP), CMST (%, PV)<br />
CMSP (%, PV), consumo de fibra em detergente neutro (CFDN), CFDN (%, PV)<br />
no período seco com seus respectivos coeficientes de variação e probabilidade<br />
(P).<br />
Item Sal Mineral Proteinado CV P<br />
PV (kg) 386,2 389,1 - -<br />
Kg/dia<br />
CMSP (kg/dia) 9,11a 9,52a 17,068 ns<br />
CMSS (kg/dia) 0,036a 0,16a - -<br />
CMST (kg/dia) 9,14a 9,68a 16,890 ns<br />
CFDN (kg/dia) 6,92a 7,24a 17,068 ns<br />
% PV<br />
CMSP(% PV) 2,30a 2,48a 11,902 ns<br />
CMSS (% PV) 0,01 0,04 - -<br />
CMST (% PV) 2,30a 2,52a 11,754 0,33097<br />
CFDN (% PV) 1,76a 1,88a 11,902 ns<br />
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem pelo teste F (P
CONTAGEM BACTERIANA TOTAL DE LEITE CRU ORDENHADO MANUALMENTE NO<br />
ANO DE 2008<br />
Murilo De Almeida Meneses 1 Marcelo Mota Pereira 1 , Antonio Jorge Del Rei 2 , Aracele<br />
Prates De Oliveira 3 , Perecles Brito Batista 3<br />
1 Graduando em zootecnia – UESB – Itapetinga - Bahia<br />
2 Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia Rural e Animal - UESB<br />
3 Zootecnista, mestrando em Produção Animal<br />
INTRODUÇÃO<br />
O mercado consumidor dos produtos de origem animal tem-se mostrado cada vez mais<br />
exigente no que se refere ao preço e à qualidade dos produtos que consome. E para que<br />
essas exigências sejam alcançadas, as indústrias devem ser rigorosas quanto à composição<br />
e o aspecto higiênico-sanitário do leite que chega à plataforma de recepção. A composição<br />
do leite é avaliada por meio de análise laboratorial para determinação dos teores de<br />
gordura, proteína, lactose e sólidos totais. A qualidade higiênico-sanitária é avaliada através<br />
da contagem de células somáticas (CCS), que avalia a saúde da glândula mamária no<br />
rebanho e da contagem total de bactérias (CTB), que indica o padrão de higiene e as<br />
condições de refrigeração adotadas para a obtenção e armazenamento do leite até o envio<br />
para a indústria, e, por último, da ausência de resíduos de antibióticos e de outros químicos<br />
(SOUZA, 2007).<br />
Condições inadequadas de obtenção do leite e práticas fraudulentas do acréscimo de<br />
substâncias geram graves transtornos de saúde pública, seja pela ação de bactérias<br />
potencialmente patogênicas, especialmente quando o leite é consumido cru, ou pelo efeito<br />
deletério ao organismo humano, causado, sobretudo, por inibidores de crescimento<br />
bacteriano ou sustâncias utilizadas para alterar o pH, além dos agentes carcinogênicos<br />
(BADINI et al., 1996).<br />
Objetivou-se, neste trabalho, determinar a qualidade do leite do tanque de<br />
resfriamento de leite da fazenda Cabana da Ponte no município de Itororó no período de<br />
janeiro a dezembro de 2008, observando se os mesmo estão dentro dos padrões<br />
estabelecidos pela Instrução Normativa 51.<br />
MATERIAL E MÉTODOS<br />
As amostras de leite foram coletadas de um rebanho composto por 380 vacas<br />
mestiças holandesas x zebu com variados graus de sangue, em diferentes estágio de<br />
lactação, no período de janeiro a abril de 2009, na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária<br />
Ltda., município de Itororó, sul da Bahia.<br />
As vacas foram ordenhadas no sistema de ordenha manual com bezerro ao pé.<br />
Foram realizadas duas ordenhas diárias, onde o ordenhador soltava o bezerro para que<br />
ocorresse a liberação do leite pelas vacas (apojar o leite), logo após retirava o bezerro para<br />
realizar o pré-dipping, com a imersão dos quartos mamários em solução de iodo. Em<br />
seguida os tetos eram secos com papel.<br />
As amostras de leite foram coletadas mensalmente no tanque de resfriamento<br />
seguindo os padrões recomendados pelo Laboratório de Fisiologia da Lactação, da Clínica<br />
do Leite, ESALQ/USP, e encaminhadas sob refrigeração ao mesmo com conservante<br />
bronopol para realização das análises de contagem de células somáticas por intermédio do<br />
equipamento Somacount 300®, da Bentley Instruments, Incorporation.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
Na tabela 1 são observadas as médias dos resultados obtidos para UFC em amostras<br />
de leite do curral do Confinamento na propriedade Cabana da Ponte, Itororó/Bahia.<br />
Tabela 1. Resultados médios observados na quantificação de UFC, em amostras de leite cru<br />
de vacas mestiças holandesas x zebu.<br />
42
2009 Jan Fev Mar Abr Media<br />
CBT<br />
( mil UFC/ml)<br />
66 1820 142 2409 1.109,25<br />
Os valores médios observados no período de janeiro a abril de 2009, foram de<br />
1.109,25 UFC/ml, valores que estão acima dos apresentados por Desmasures et al., (1997),<br />
ao avaliarem 20 propriedades leiteiras, foi de 6,9 x 10 1 UFC/mL de leite, Arcuri et al., (2006)<br />
verificaram adesão de 83% ao requisito estabelecido pela IN 51 para aeróbios mesófilos e<br />
contagem média de coliformes acima de 1,0×103UFC/mL em sete rebanhos, Sabois et al.,<br />
(1991) avaliaram 17 propriedades e verificaram contagens superiores a 1.000 UFC/mL em<br />
todas as amostras, Mutukumira et al., (1996) constataram contagens inferiores a 100<br />
UFC/mL em sete das 10 amostras analisadas e Cassoli & Machado, (2007) na Argentina,<br />
em que encontrou mediana de CBT ao redor de 70 mil UFC/m .<br />
O produtor necessita canalizar esforços na melhoria das condições higiênicas durante<br />
a ordenha, armazenamento e resfriamento rápido a temperatura de 4ºC, para reduzir os<br />
níveis de contaminação microbiana e atender ao padrão estabelecido na Instrução<br />
Normativa 51 (Brasil, 2002).<br />
CONCLUSÃO<br />
Os valores encontrados estão acima das exigências da Instrução Normativa – 51.<br />
Isso evidencia que a higiene de ordenha encontra-se deficiente necessitando de uma<br />
adequação da rotina de ordenha e resfriamento do leite, além de uma melhor qualificação<br />
na equipe de trabalho, com treinamentos específicos para obtenção higiênica do leite.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
ARCURI E.F.; BRITO M.A.V.P.; BRITO J.R.F. et al., Qualidade microbiológica do leite<br />
refrigerado nasfazendas. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. v.58,<br />
n.3, p. 440-446, 2006.<br />
BADINI, K.B.; NADER FILHO, A.; AMARAL, L.A.; GERMANO, P.M.L. Risco à saúde<br />
representado pelo consumo de leite cru comercializado clandestinamente. Revista de<br />
Saúde Pública, v. 30, p. 549-552, 1996.<br />
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa no. 051,<br />
de 18 de setembro de 2002. Diário Oficial da União, Brasília, 20 set. 2002. Seção 1, p.13-<br />
22.<br />
CASSOLI, L. D.; MACHADO, P.F. Impacto de programas de valorização da qualidade sobre<br />
a CBT. Boletim do Leite, n. 156, p. 4, julho de 2007.<br />
DESMASURES, N.; OPPORTUNE, W.; GUEGUEN, M. Lactococcus spp., yeasts and<br />
Pseudomonas spp. on teats and udders of milking cows as potential sources of milk<br />
contamination. International Dairy Journal, v.7, p.643- 646, 1997.<br />
MUTUKUMIRA, A.N.; FERESU, S.B.; ABRAHANSEN, R.K. Chemical and microbiological<br />
quality of raw milk produced by smallholder farmers in Zimbabwe. Journal of Food<br />
Protection, v.59, n.9, p.984-987, 1996.<br />
SABOIS, A.; BASILICO, J.C.; SIMONETTA, A. Microbiological quality of raw milk: incidence<br />
of aerobic and anaerobic spore-forming bacteria, yeasts and fungi. Revista Argentina de<br />
Lactologia, v.3, n.5, p.79-90, 1991.<br />
SOUZA, G.N., BRITO, J.R.F., FARIA, C.G., et al., Indicadores de qualidade do leite de<br />
rebanhos localizados na Região Sudeste dejulho/2005 a dezembro/2006, Revista Leite e<br />
Derivados, nº96, pag 104-108, jan-fev, 2007<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
43
CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS DE LEITE COM ORDENHA MANUAL<br />
Daniel Lucas Santos Dias 1 , Marcelo Mota Pereira 1 , Aracele Prates de Oliveira 2 , Perecles<br />
Brito Batista 2 , Philipe Gazzoli Farias 1<br />
1 Graduando em Zootecnia<br />
4 Zootecnista, mestrando em Produção Animal<br />
INTRODUÇÃO<br />
A avaliação da contaminação microbiológica de alimentos é um dos parâmetros<br />
importantes para determinar sua vida útil, e também para que os mesmos não ofereçam<br />
riscos à saúde dos consumidores. O leite produzido no Brasil apresenta, de maneira geral,<br />
altas contagens de microrganismos, demonstrando com isto que há deficiências na higiene<br />
de produção (CERQUEIRA et al., 1994).<br />
Para a indústria, significam problemas no processamento do leite e redução no<br />
rendimento, em razão dos teores inferiores de caseína, gordura e lactose, que resultam em<br />
produtos de baixa qualidade e estabilidade (BRITO, 1999).<br />
A Instrução Normativa nº 51/2002 (IN 51), define o leite cru refrigerado, como produto<br />
oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem<br />
alimentadas e descansadas, refrigerado e mantido nas temperaturas máxima de<br />
conservação (BRASIL, 2002).<br />
Neste estudo foi avaliada a qualidade higiênico-sanitária do leite cru obtido de<br />
propriedades leiteiras do município de Itororó, estado da Bahia, por intermédio da contagem<br />
de células somáticas (CCS) do leite cru resfriado estocado e submetido à coleta a granel no<br />
período de janeiro a dezembro de 2007, observando se os mesmo estão dentro dos padrões<br />
estabelecidos pela Instrução Normativa 51.<br />
MATERIAL E MÉTODOS<br />
Foram analisadas amostras, durante todos os meses do ano de 2007, proveniente da<br />
Sede do Confinamento na Fazenda Cabana da ponte, localizadas no município de Itororó,<br />
no estado da Bahia. Foram coletados amostras de leite cru, diretamente do tanque de<br />
expansão, em frascos esterilizados e encaminhadas sob refrigeração com conservante<br />
bronopol para determinação da CCS (em 1000 células/mL) por citometria de fluxo, por<br />
intermédio do equipamento Somacount 300®, da Bentley Instruments, Incorporation.As<br />
analises foram processadas seguindo os padrões recomendados pelo Laboratório de<br />
Fisiologia da Lactação, da Clínica do Leite, ESALQ/USP.<br />
Foram utilizadas vacas mestiças holandesas x zebu com variados graus de sangue,<br />
em estágios de lactação. Os animais foram ordenhados manualmente com bezerro ao pé. A<br />
rotina da ordenhas começa com o ordenhador soltando o bezerro para que ocorra a<br />
liberação do leite pelas vacas (apojar o leite), logo após o ordenhador retirava o bezerro<br />
para realizar o pré-dipping, com a imersão dos quartos mamários em solução de iodo. Em<br />
seguida secam-se os tetos com papel toalha.<br />
RESULTADOS E DISCURSÃO<br />
Os valores médios encontrado no referido período foi de 380.500 células/ml. A média<br />
da CCS em leite de tanques observada foi superior àquelas encontradas por Franks (2001),<br />
que observou média 112.000 células/mL na Suíça. Contudo estão abaixo dos valores<br />
apresentados por Machado et al. (2000) avaliaram 4.785 amostras de leite de tanques para<br />
CCS de rebanhos localizados nos Estados de São Paulo e no sul de Minas Gerais, Farias<br />
(2009) estudando vacas mestiças ordenhadas manualmente no ano de 2007 encontrou<br />
valores médios de 404.800 células/ml e por Meneses (2009) encontrou valores médios de<br />
407.500 células/ml.<br />
Na tabela 1 são observadas as médias dos resultados obtidos para CCS em amostras<br />
de leite do curral da Sede do Confinamento na propriedade Cabana da Ponte, Itororó/Bahia.<br />
44
Tabela 1. Resultados médios observados na quantificação de CCS, em amostras de leite<br />
cru de vacas mestiças holandesas x zebu.<br />
2007 CCS<br />
JANEIRO 1078.000<br />
FEVEREIRO 478.000<br />
MARÇO 371.000<br />
MAIO 378.000<br />
JUNHO 347.000<br />
AGOSTO 313.000<br />
SETEMBRO 248.000<br />
OUTUBRO 238.000<br />
NOVEMBRO 153.000<br />
DEZEMBRO 201.000<br />
MEDIA 380.500<br />
Os valores de CCS atingida neste estudo é abaixo das exigências da IN 51, o que<br />
reflete os cuidados com relação à sanidade da glândula mamária. O estímulo por parte das<br />
indústrias em estabelecer programas de pagamento por qualidade com base na CCS tem<br />
feito com que os produtores se qualifiquem e venham a ser bonificados por meio de<br />
pagamento de incentivos aos produtores.<br />
CONCLUSÕES<br />
Os valores encontrados na contagem de células somáticas estão dentro das<br />
exigências da Instrução Normativa – 51.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BRITO, J.R.F. O que são e como surgem as células somáticas no leite. In: MINAS LEITE:<br />
Qualidade do leite e produtividade dos rebanhos leiteiros, 1., 1999, Juiz de Fora. Anais...<br />
Juiz de Fora: 1999. p.35-39.<br />
CERQUEIRA, M.M.O.P. et al. Características microbiológicas de leite cru e beneficiado em<br />
Belo Horizonte (MG). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.46, n.6,<br />
p.713-721, 1994.<br />
FARIAS, P. G.,Pereira, M. M., Fernandes, S. A. de A.. et. al. COMPOSIÇÃO DO LEITE CRU<br />
PRODUZIDO EM PROPRIEDADE RURAL NO SUL DA BAHIA COM ORDENHA<br />
MECANICA NO ANO DE 2009, Anais do I Encontro de Qualidade de Leite da Bahia, Maio<br />
de 2009,Itapetinga - Bahia<br />
FRANKS, B. International milk quality. Disponível em: Acesso em: 24 out. 2001<br />
MACHADO, P.F.M.; PEREIRA, A.R.; SARRIES, G.A. Composição do leite de tanques de<br />
rebanhos brasileiros distribuídos segundo sua contagem de células somáticas. Revista<br />
Brasileira de Zootecnia, v.29, p.2765-3768, 2000.<br />
MENESES, M. de A., Pereira, M. M., Fernandes, S. A. de A.. et. al. COMPOSIÇÃO DO<br />
LEITE CRU PRODUZIDO EM PROPRIEDADE RURAL NO SUL DA BAHIA COM<br />
ORDENHA MECANICA NO ANO DE 2009, Anais do I Encontro de Qualidade de Leite da<br />
Bahia, Maio de 2009,Itapetinga – Bahia<br />
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.Instrução normativa nº 51, de<br />
18 de setembro de 2002. Regulamento técnico de produção, identidade e qualidade do<br />
leite tipo A, do leite tipo B, do leite tipo C, do leite pasteurizado e do leite cru<br />
refrigerado e o Regulamento técnico da coleta de leite cru refrigerado e seu transporte<br />
a granel. Publicada no Diário Oficial da União de 20 de Setembro de 2002, seção 1, p. 13.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
45
CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS E CONTAGEM BACTERIANA TOTAL DO<br />
LEITE CRU TIPO C DA REGIÃO DE MAIQUINIQUE, BAHIA 1 .<br />
Amanda dos S. Faleiro 2 ; Sérgio A. de A. Fernandes 3 ; Dayana R. de Souza 2 ; Neomara B. de<br />
L. Santos 2 ; Thaiany T. Fonseca 2 .<br />
1<br />
Este projeto contou com financiamento parcial do Laticínio Rocha, Ltda. e pelo Grupo de Estudos em Leite<br />
(GEL) da UESB;<br />
2<br />
Graduanda em Zootecnia e Bolsista de Iniciação Científica (FAPESB e Voluntária da UESB);<br />
3<br />
Prof. Adjunto - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, Itapetinga/BA.<br />
Introdução<br />
A composição do leite apresenta variações normais, que são influenciadas por diversos<br />
fatores, entre eles fatores ambientais, genéticos e fisiológicos (AULDIST et al., 1998).<br />
Dentre os fatores relacionados com a qualidade do leite está a mastite. A mastite é um<br />
processo inflamatório do úbere, acompanhado da redução de secreção de leite e mudança<br />
de permeabilidade da membrana que separa o leite do sangue. Esta doença é<br />
normalmente causada pelo desenvolvimento de bactérias no interior da glândula mamária.<br />
Uma das principais mudanças que a mastite causa no leite é o aumento no número de<br />
células somáticas. Altos níveis de bactérias têm efeito negativo sobre a qualidade do leite,<br />
especialmente no que concerne ao sabor, vida de prateleira e a segurança alimentar do<br />
produto disponibilizado ao consumidor.<br />
A qualidade do leite cru sofre influência de fatores de ordem zootécnica, como manejo,<br />
genética e alimentação; e os fatores relacionados com os procedimentos de conservação<br />
de leite, após sua obtenção. Dentre os fatores de manejo destaca-se a ordenha,<br />
principalmente em função da facilidade da contaminação do leite no ambiente em que este<br />
é obtido, sendo assim o primeiro ponto crítico de controle. Dessa forma, a higiene de<br />
ordenha é fundamental para a obtenção do leite seguro do ponto de vista alimentar, além<br />
de que, neste momento pode-se contaminar os animais que estejam em lactação,<br />
disseminando mastites. Dois instrumentos têm sido utilizados como fatores auxiliares na<br />
observação da qualidade do leite cru, a Contagem Bacteriana Total (CBT) e a Contagem<br />
de Células Somáticas (CCS). Neste sentido, objetivou-se avaliar a qualidade do leite cru de<br />
alguns fornecedores de leite de um laticínio comercial na região de Maiquinique, Bahia, e<br />
verificar a porcentagem de amostras que se enquadram nos limites da Instrução Normativa<br />
n° 51.<br />
Material e Métodos<br />
As amostras de leite foram colhidas, mensalmente, nos sistemas de produção de leite dos<br />
fornecedores de leite de um laticínio comercial na região de Maiquinique, Bahia, entre o<br />
mês de agosto de 2008 ao mês de maio de 2009. A ordenha realizada por estas<br />
propriedades foi a manual com o bezerro ao pé, com práticas higiênicas adequadas. As<br />
512 amostras foram coletadas diretamente dos tanques de expansão nas fazendas após 48<br />
horas de armazenamento e foram enviadas para a Clínica do Leite (ESALQ – USP) e logo<br />
em seguida analisadas para avaliar CCS e CBT. A CCS foi realizada por citometria<br />
fluxométrica no aparelho Somacount 300. E a CBT foi determinada mediante leitura de<br />
absorção de luz infravermelha, utilizando-se o equipamento Bentley 2000. Os resultados<br />
foram avaliados através de estatística descritiva, utilizando-se intervalos de valores<br />
estabelecidos em função da legislação vigente.<br />
Resultados e Discussão<br />
Na Tabela, estão os valores das amostras encontrados após análises laboratoriais, e de<br />
acordo com a faixa de CCS apenas 4,10% das 512 amostras analisadas encontra-se com<br />
níveis acima do estabelecido pela IN n°51, que estabelece para a região Nordeste valores<br />
de 1,0x10 6 céls/mL. Em estudo realizado em Pernambuco LIMA et al. (2006), verificaram<br />
valores de CCS abaixo de 400.000 céls/mL na maioria das amostras de leite analisadas,<br />
sendo considerado satisfatório, de acordo com os padrões preconizados pela IN n°51<br />
46
(BRASIL, 2002). Dentre os métodos utilizados para a determinação da qualidade<br />
microbiológica, destaca-se o método quantitativo com a utilização da CBT, em que são<br />
estimados o número de unidades formadoras de colônias de bactérias por mililitros de leite<br />
(UFC/mL). Neste sentido, na Tabela abaixo, estão os resultados encontrados de CBT das<br />
amostras analisadas, sendo que um total de 68,95% das amostras analisadas estão dentro<br />
do permitido. O limite legal para a CBT, para a produção de leite tipo “A” é de 10mil<br />
UFC/mL, 500 mil UFC/mL para o leite tipo “B” e 1,0x10 6 UFC/mL para o leite cru refrigerado<br />
(BRASIL, 2002). Trabalho semelhante realizado por BRITO et al. (2002), acompanhando a<br />
qualidade microbiológica do leite produzido por doze rebanhos leiteiros localizados no<br />
Estado de Minas Gerais, observaram que as médias de CBT foram abaixo de 6,5 x<br />
10 5 UFC/mL em nove rebanhos e acima de 1,0 x 10 6 UFC/mL em três rebanhos. No<br />
presente estudo 31,05% das propriedades se encontram com limites acima do permitido<br />
pela IN n°51.<br />
Tabela. Distribuição da Contagem de Células Somáticas (céls/mL) e da Contagem<br />
Bacteriana Total (UFC/mL) de 512 amostras de leite.<br />
Faixa de contagem de células somáticas (céls/mL) Ocorrência (%)<br />
Conclusões<br />
1000.000 4,10<br />
Faixa de contagem bacteriana total (UFC/mL) Ocorrência (%)<br />
1000.000 31,05<br />
Acredita-se que houve uma preocupação conjunta com a qualidade do leite representada<br />
pelo comprometimento do grupo com a higiene e refrigeração imediata do leite nos<br />
tanques de expansão. A existência de propriedades cujo leite não atendeu aos padrões<br />
estabelecidos pela IN n°51 revela a necessidade de monitoramento contínuo e<br />
implantação de medidas higiênicas e tecnológicas de intervenção nos processos de<br />
obtenção e armazenamento do leite cru.<br />
Bibliografia<br />
AULDIST, M. J., WALSH, B. J. THOMSON, N. A. Seasonal and lactational influences on<br />
bovine milk composition in New Zeland. Journal of Dairy Research, v.65, n.3, p.401-<br />
411,1998.<br />
BRASIL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Instrução<br />
Normativa 51. Regulamentos técnicos de produção, identidade, qualidade, coleta e<br />
transporte de leite. 2002.<br />
BRITO, M.A.V.P.; BRITO, J.R.F.; PORTUGAL, J.A.B. Identificação de contaminantes<br />
bacterianos no leite cru de tanques de refrigeração. In: CONGRESSO NACIONAL DE<br />
LATICÍNIOS, 19., 2002, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: Templo. 2002. p.83-88.<br />
LIMA, M. da C. G. de; SENA, M. J. de; MOTA, R. A.; MENDES, E. S.; ALMEIDA, C.C. de;<br />
SILVA, R.P.P.E. 2006. Contagem de células somáticas e análises físico-químicas e<br />
microbiológicas do leite cru tipo c produzido na Região Agreste do Estado de<br />
Pernambuco. Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.73, n.1, p.89-95, jan./mar.<br />
Autor a ser contactado: Amanda dos Santos Faleiro<br />
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 468. ITAPETINGA/BA. CEP-45700-000. Email:<br />
mandadsf@yahoo.com.br Fone: (77) 81352093<br />
47
CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS EM LEITE CRU DO TANQUE DE<br />
RESFRIAMENTO NO ANO DE 2009<br />
PHILIPE GAZZOLI FARIAS 1 , MARCELO MOTA PEREIRA 1 , ANTONIO JORGE DEL REI 2 ,<br />
ARACELE PRATES DE OLIVEIRA 3 , PERECLES BRITO BATISTA 3<br />
1 Graduando em zootecnia – UESB – Itapetinga - Bahia<br />
2 Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia Rural e Animal - UESB<br />
3 Zootecnista, mestrando em Produção Animal<br />
INTRODUÇÃO<br />
O leite é um alimento que possui um perfeito balanço de nutrientes, fornecendo ao<br />
homem macro e micronutrientes indispensáveis ao crescimento, desenvolvimento e<br />
manutenção da saúde. Como fonte de proteínas, lipídeos, carboidratos, minerais e<br />
vitaminas, torna-se um alimento vulnerável a alterações físico-químicas e deterioração por<br />
microrganismos. Estas modificações podem limitar a durabilidade do leite e seus derivados,<br />
além de problemas econômicos e de saúde pública (ARCURI et al., 2006).<br />
Células somáticas do leite é o conjunto de células de origem do sangue e células de<br />
descamação da própria glândula mamariam presentes no leite.A contagem celular somática<br />
(CCS) tem sido considerada, medida padrão de qualidade, pois está relacionada com a<br />
composição, rendimento industrial e segurança alimentar do leite.<br />
Objetivou-se, neste trabalho, determinar a qualidade microbiológica dos valores<br />
médios de contagem de células somáticas (CCS) em amostras de leite do tanque de<br />
resfriamento de leite da fazenda Cabana da Ponte no município de Itororó no período de<br />
janeiro a abril de 2009, observando se os mesmo estão dentro dos padrões estabelecidos<br />
pela Instrução Normativa 51.<br />
MATERIAL E MÉTODOS<br />
As amostras de leite foram coletadas mensalmente no tanque de resfriamento<br />
seguindo os padrões recomendados pelo Laboratório de Fisiologia da Lactação, da Clínica<br />
do Leite, ESALQ/USP, e encaminhadas sob refrigeração ao mesmo com conservante<br />
bronopol para determinação da CCS (em 1000 células/mL) por citometria de fluxo, por<br />
intermédio do equipamento Somacount 300®, da Bentley Instruments, Incorporation.<br />
Foi conduzido no período de janeiro a abril de 2009, no curral da sede de cima na<br />
Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária Ltda., município de Itororó, sul da Bahia, que se<br />
encontra nas coordenadas geográficas a 15º 18’14’’ de latitude sul e 40º12’20’’ de longitude<br />
WGr.<br />
Os animais foram ordenhados por meio de ordenha manual com bezerro ao pé. O<br />
rebanho é composto por vacas mestiças holandesas x zebu com variados graus de sangue<br />
e diferentes estágios de lactação. A rotina da ordenhas começa com o ordenhador soltando<br />
o bezerro para que ocorra a liberação do leite pelas vacas (apojar o leite), logo após o<br />
ordenhador retirava o bezerro para realizar o pré-dipping, com a imersão dos quartos<br />
mamários em solução de iodo. Em seguida secam-se os tetos com papel toalha e ocorre a<br />
retirada do leite.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
A contagem de células somáticas (CCS) do leite pode variar segundo diversos fatores,<br />
como idade do animal, estádio de lactação, estresse, época do ano e nutrição, mas o fator<br />
mais preocupante é a presença de mastite no rebanho.<br />
Na tabela 1 são observadas as médias dos resultados obtidos para CCS em amostras<br />
de leite do curral do Confinamento na propriedade Cabana da Ponte, Itororó/Bahia.<br />
TABELA 1. Resultados médios observados na quantificação de CCS, em amostras de leite<br />
cru de vacas mestiças holandesas x zebu.<br />
48
O valor médio encontrado no período de janeiro a abril do ano de 2009 foi de 536.500<br />
células/ml. A média da CCS em leite do tanque observado, foi superior àquelas encontradas<br />
por Godkin, et al., (1999), que na Província de Ontário, Canadá encontrou média de<br />
250.000 células/ml, Dias (2009) que analisando leite estocado em tanque de resfriamento<br />
de uma propriedade do sul da Bahia, com ordenha manual encontrou valores médios de<br />
242.830 células/ml, avaliação do ano de 2008.<br />
Contudo inferiores aos valores encontrados por Machado et al., (2000) onde<br />
avaliaram 4.785 amostras de leite de tanques para CCS de rebanhos localizados nos<br />
Estados de São Paulo e no sul de Minas Gerais e registraram média amostral de 549.000<br />
células/ml e a Brasil, (2002) onde a Instrução Normativa 51 reza que a partir de 01/07/2008<br />
a quantidade de máxima aceitável para leite cru é de 750.000 ml/leite .<br />
A média da CCS em leite de tanques atingida neste estudo é alta quando comparada<br />
a países de pecuária leiteira desenvolvida, o que reflete pouco cuidado dos produtores com<br />
relação à sanidade da glândula mamária e falta de estímulo por parte das indústrias em<br />
estabelecer programas de pagamento de leite por qualidade com base na CCS.<br />
CONCLUSÃO<br />
2009 jan fev mar abr média<br />
ccs 434.000 685.000 355.000 672.000 536.500<br />
A higiene de ordenha e os cuidados dispensados à sanidade da glândula mamária<br />
desempenhados nesta propriedade estão garantindo os baixos índices de CCS<br />
apresentados, estando os mesmos abaixo do limite máximo estabelecido pela Instrução<br />
Normativa 51.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
ARCURI, E. F. et al., Qualidade microbiológica do leite refrigerado nas fazendas. Arq. Bras.<br />
Med. Vet. Zootec., v. 58, n. 3, p. 440- 446, 2006.<br />
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.Instrução normativa nº 51, de<br />
18 de setembro de 2002. Regulamento técnico de produção, identidade e qualidade do<br />
leite tipo A, do leite tipo B, do leite tipo C, do leite pasteurizado e do leite cru<br />
refrigerado e o Regulamento técnico da coleta de leite cru refrigerado e seu transporte<br />
a granel. Publicada no Diário Oficial da União de 20 de Setembro de 2002, seção 1, página<br />
13.<br />
Daniel Lucas Santos Dias, D. L. S., Marcelo Mota Preira, Antonio Jorge Del rei et. al.,<br />
COMPOSIÇÃO DO LEITE CRU PRODUZIDO EM PROPRIEDADE RURAL NO SUL DA<br />
BAHIA COM ORDENHA MECANICA NO ANO DE 2009, Anais do I Encontro de Qualidade<br />
de Leite da Bahia, Maio de 2009,Itapetinga - Bahia<br />
GODKIN M. A. & Leslie K. E. 1993. Culture of bulk tank milk as a mastitis screening test: a<br />
brief review. Can. Vet. J. 34: 601-605.<br />
MACHADO, P.F.; PEREIRA, A.R.; SARRÍES, G.A. Composição do leite de tanques de<br />
rebanhos brasileiros distribuídos segundo sua contagem de células somáticas. Revista<br />
Brasileira de Zootecnia, v.29, n.6, p.1883-1886, 2000.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
49
CONVERSÃO E EFICIÊNCIA ALIMENTAR DE NOVILHOS NELORE RECEBENDO<br />
SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO DE BRACHIÁRIA<br />
BRIZANTHA NA ÉPOCA DAS ÁGUAS<br />
CONVERSION AND FEED EFFICIENCY OF STEERS NELORE RECEIVING<br />
MINERAL OR PROTEIN SUPPLEMENTATION AT PASTURE OF Brachiaria<br />
brizantha IN WATER SEASON<br />
Lívia Santos Costa 2 , Danilo Ribeiro de Souza 2 , Aires Lima Rocha Neto 4 ,<br />
Marcelo Mota Pereira 3 , Gonçalo Mesquita da Silva 3<br />
1 Parte da dissertação do segundo autor<br />
2 Mestrando(a) em Zootecnia pela UESB. Bolsista CAPES;<br />
3 Graduando em Zootecnia pela UESB;<br />
4 Doutorando em Zootecnia pela UESB. Bolsista FAPESB.<br />
Palavras – chave: consumo, forragem, ganho de peso<br />
Introdução<br />
Segundo Gomide & Gomide (2001), o desempenho animal sob pastejo, expresso em<br />
produção por animal, é condicionado por diferentes fatores, como: genética do animal<br />
e sua história prévia de consumo de forragem, valor nutritivo da forragem e eficiência<br />
na conversão da forragem consumida. A conversão depende da resposta de ganhos<br />
de peso ao consumo da forragem e concentrado e são fatores importantes na<br />
determinação do custo do ganho e da rentabilidade da suplementação. Objetivou-se<br />
avaliar a conversão alimentar e a eficiência alimentar de novilhos Nelore<br />
suplementados com sal mineral ou proteinado em pastejo na época das águas.<br />
Materiais e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na Fazenda Bela Vista, município de Macarani, Bahia, no<br />
período de novembro de 2006 a fevereiro de 2007. Foram utilizados 18 novilhos da<br />
raça Nelore com 26 meses de idade, castrados e peso vivo médio de 371,5 kg<br />
distribuídos em dois tratamentos: T1 – suplementação mineral e T2 – suplementação<br />
protéica de baixo consumo. Foram utilizados quatro piquetes de Brachiária brizantha<br />
com 6,5 hectares cada. Os animais foram pesados no início e fim do período<br />
experimental após jejum total de 12 horas e foram feitas pesagens intermediárias a<br />
cada 28 dias. A suplementação foi fornecida duas vezes por semana em cochos de<br />
madeira com cobertura. A pastagem foi avaliada a cada 28 dias. Para estimar a<br />
disponibilidade de MS de cada piquete, foram tomadas 12 amostras cortadas ao nível<br />
do solo com um quadrado de 0,25m 2 , conforme metodologia descrita por McMeniman<br />
(1997). A conversão alimentar (CA) foi determinada em função do consumo e do<br />
desempenho animal conforme a equação: CA = (CMS/GMD), em que CMS é o<br />
consumo diário de matéria seca em kg e GMD é o ganho médio diário em kg. A<br />
eficiência alimentar (EFAL) é a quantidade de gramas de carne produzidas com o<br />
consumo de 1 kg de matéria seca de alimento conforme a equação: EFAL =<br />
(GMD/CMS). Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com<br />
dois tratamentos e nove repetições por tratamento. As variáveis estudadas foram<br />
avaliadas por meio de análise de variância, pelo Sistema de Análises Estatísticas e<br />
Genéticas - SAEG (UFV, 2001) e utilizou-se o teste F em nível de 5% de significância.<br />
Resultados e Discussão<br />
Houve diferença (P
consumo, o sistema de terminação ser em pastejo e os animais serem Nelore, os<br />
resultados encontram-se coerentes, uma vez que o uso de alimentos concentrados, a<br />
utilização de confinamento e o uso de genótipos taurinos especializados para corte,<br />
permite uma melhoria na conversão e eficiência alimentar. SILVA (2008) no período<br />
chuvoso, fornecendo apenas sal mineral na terminação de novilhos Nelore em<br />
pastagem de Braquiaria brizantha, não encontrou efeito sobre nenhuma das duas<br />
variáveis testadas.<br />
Tabela 1 – Peso vivo (PV), ganho médio diário (GMD), consumo de matéria seca (CMS),<br />
conversão alimentar (CA) e eficiência alimentar (EA) no período das águas com<br />
seus respectivos coeficientes de variação e probabilidade (P).<br />
Item Sal Mineral Proteinado CV P<br />
PV (kg) 470,12 470,33 - -<br />
GMD (g) 0,606 0,634 - -<br />
CMS(kg/dia) 11,093 11,738 - -<br />
CA (kg/kg) 16,55b 20,56a 21,552 0,04938<br />
EA (kg/kg) 0,06a 0,05a 17,146 0,05368<br />
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem pelo teste F (P
CONVERSÃO E EFICIÊNCIA ALIMENTAR DE NOVILHOS NELORE RECEBENDO<br />
SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO DE Brachiária<br />
brizantha NA ÉPOCA SECA DO ANO 1<br />
CONVERSION AND FEED EFFICIENCY OF STEERS NELORE RECEIVING<br />
MINERAL OR PROTEIN SUPPLEMENTATION AT PASTURE OF Brachiaria<br />
brizantha IN DRY SEASON OF THE YEAR<br />
Vinícius Lopes da Silva 2 , Danilo Ribeiro de Souza 2 , Fabiano Ferreira da Silva 3 ,<br />
Daniel Lucas Santos Dias 4 , Saulo Tannus Azevedo 5<br />
1 Parte da dissertação do segundo autor<br />
2 Mestrando em Zootecnia pela UESB. Bolsista CAPES e CNPq;<br />
3 Professor do Curso de Zootecnia da UESB;<br />
4 Graduando em Zootecnia pela UESB;<br />
5 Zootecnista. Mestre em Produção de Ruminantes.<br />
Palavras – chave: seca, ganho de peso, consumo<br />
Introdução<br />
O uso de bovinos de corte, estratégias de alimentação e manejo adaptados às<br />
condições do Brasil são práticas necessárias para que a produção seja eficiente e<br />
competitiva. Segundo Paulino et al. (2004), a suplementação de bovinos em pastejo é<br />
uma das principais estratégias para a intensificação dos sistemas primários regionais.<br />
Esta tecnologia permite corrigir dietas desequilibradas, aumentando a eficiência de<br />
conversão das pastagens, melhorando o ganho de peso dos animais, encurtando os<br />
ciclos reprodutivos, de crescimento e engorda dos bovinos e aumentando a<br />
capacidade de suporte dos sistemas produtivos. Uma medida que é a mais explorada,<br />
sendo um indicador da produtividade do sistema de produção de gado de corte é o<br />
ganho de peso dos animais, porem a conversão alimentar (CA) e a eficiência alimentar<br />
(EA) devem ser mais estudadas, pois representam a capacidade dos animais em<br />
converter o alimento em carne. Objetivou-se avaliar a conversão alimentar e a<br />
eficiência alimentar de novilhos Nelore suplementados com sal mineral ou proteinado<br />
em pastejo na época seca do ano.<br />
Materiais e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na Fazenda Boa Vista, município de Macarani, Bahia, no<br />
período de agosto a novembro de 2006. Foram utilizados 18 novilhos da raça Nelore<br />
com 26 meses de idade, castrados e peso vivo médio de 371,5 kg distribuídos em dois<br />
tratamentos: T1 – suplementação mineral e T2 – suplementação protéica de baixo<br />
consumo. Foram utilizados quatro piquetes de Brachiária brizantha com 6,5 hectares<br />
cada. Os animais foram pesados no início e fim do período experimental após jejum<br />
total de 12 horas e foram feitas pesagens intermediárias a cada 28 dias. A<br />
suplementação foi fornecida duas vezes por semana em cochos de madeira com<br />
cobertura. A pastagem foi avaliada a cada 28 dias. Para estimar a disponibilidade de<br />
MS de cada piquete, foram tomadas 12 amostras cortadas ao nível do solo com um<br />
quadrado de 0,25 m 2 , conforme metodologia descrita por McMeniman (1997). A<br />
conversão alimentar (CA) foi determinada em função do consumo e do desempenho<br />
animal conforme a equação: CA = (CMS/GMD), em que CMS é o consumo diário de<br />
matéria seca em kg e GMD é o ganho médio diário em kg. A eficiência alimentar (EA)<br />
é a quantidade de gramas de carne produzidas com o consumo de 1 kg de matéria<br />
seca de alimento conforme a equação: EA = (GMD/CMS). Utilizou-se o delineamento<br />
experimental inteiramente casualizado com dois tratamentos e nove repetições por<br />
tratamento. As variáveis estudadas foram avaliadas por meio de análise de variância,<br />
pelo Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (UFV, 2001) e utilizou-se o<br />
teste F em nível de 5% de significância.<br />
52
Resultados e Discussão<br />
Para a conversão alimentar (CA) e a eficiência alimentar (EA) não foi verificada<br />
diferença (P>0,05). Pelos resultados obtidos, o T2 ao consumir um kg de MS ira<br />
produzir 0,05 kg de carne, enquanto o T1 consumindo a mesma quantidade ira<br />
produzir 0,04 kg de carne. SILVA (2008) trabalhando com novilhos Nelore, em pastejo<br />
de Braquiaria brizantha, fornecendo suplementação na proporção de 0, 0,3, 0,6, 0,9%<br />
do peso vivo encontrou os valores para a conversão alimentar de 20,75, 18,08, 14,75<br />
e 13,67, e para a eficiência alimentar de 0,05, 0,06, 0,07 e 0,08 respectivamente,<br />
mostrando o efeito da inclusão do concentrado no desempenho dos animais, e como<br />
não houve suplementação de alto consumo no presente experimento, os valores para<br />
os tratamentos foram semelhantes ao encontrado para o tratamento de 0%.<br />
Tabela 1 – Peso vivo (PV), ganho médio diário (GMD), consumo de matéria seca (CMST),<br />
conversão alimentar (CA) e eficiência alimentar (EA) no período seco com seus<br />
respectivos coeficientes de variação e probabilidade (P).<br />
Item Sal Mineral Proteinado CV P<br />
PV (kg) 396,87 404,11 - -<br />
GMD (g) 0,400 0,535 - -<br />
CMST (kg/dia) 9,14 9,68 - -<br />
CA (kg/kg) 23,86a 22,07a 39,85 ns<br />
EA (kg/kg) 0,04a 0,05a 38,21 0,2379<br />
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem pelo teste F (P
DENSIDADE POPULACIONAL DE PERFILHOS DA Brachiaria decumbens,<br />
CONSORCIADA COM Arachis pintoi OU SOBRE ADUBAÇÃO NITROGENADA 1<br />
Alexsandro Cotrim Pimentel Ribeiro da Costa 2 , Elisangela Oliveira Cardoso 2 , Camila Maida<br />
Albuquerque Maranhão 3 , Paulo Bonomo 3 , Marcelo Mota Pereira 2<br />
1<br />
Projeto de pesquisa financiado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB-BA;<br />
2<br />
Graduando(a) em Zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,UESB-BA;<br />
3<br />
Professor(a) do Curso de Zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB-BA.<br />
Introdução<br />
A pecuária brasileira possui como base o sistema de produção extensivo, sendo que 80%<br />
das áreas de pastagens no país são constituídas por pastagens do gênero Brachiaria, com a<br />
B. decumbens representando mais de 50% do total.<br />
A utilização de leguminosas forrageiras associadas a gramíneas torna-se uma opção viável<br />
para a substituição do nitrogênio mineral, uma vez que a leguminosa em associações<br />
simbióticas com bactérias do gênero Rhizobium, podem adicionar quantidades significativas<br />
de nitrogênio ao sistema solo – planta.<br />
Os efeitos da adubação nitrogenada sobre a população de perfilhos pode constituir um dos<br />
pontos que determinarão a produção de biomassa, juntamente com o rendimento por<br />
perfilho (NELSON et al., 1977). O perfilhamento da planta forrageira tem sido apontado<br />
como a característica mais importante para o estabelecimento da produtividade dessas<br />
plantas sendo uma resposta das plantas à fertilidade do solo, associada à época, à<br />
freqüência e ao intervalo entre cortes.<br />
O objetivo foi avaliar a densidade populacional de perfilhos, em função do consorcio da<br />
Brachiaria decumbens com o Amendoim forrageiro (Arachis pintoi) e/ou adubação<br />
nitrogenada.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido no setor de Forragicultura e Pastagem na Universidade<br />
Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga- Bahia. Foi organizado em blocos casualizados,<br />
sendo quatro tratamentos, com quatro repetições: C = controle; A = adubação nitrogenada;<br />
L = consórcio com leguminosa; AL = adubação nitrogenada + consórcio com leguminosa.<br />
As unidades experimentais consistiam de parcelas de área útil igual a 18 m 2 (3 m x 6 m). Foi<br />
estabelecida à leguminosa (Arachis pintoi), por meio de mudas, em janeiro de 2008, a fim de<br />
dar a leguminosa maior estabilidade e permitir sua associação com bactérias fixadoras de<br />
nitrogênio.<br />
Na adubação nitrogenada, considerou-se 100 de nitrogênio Kg.ha- 1 , tendo a uréia como<br />
fonte de nitrogênio e foi dividida em duas aplicações iguais, a primeira feita no dia do corte<br />
de uniformização no mês de fevereiro e a segunda dose foi aplicada 28 dias após a<br />
primeira.<br />
Para o estudo das características referentes à densidade populacional de perfilhos, Foi<br />
colhida, rente ao solo, uma amostra do capim-braquiária, e considerou-se o número de<br />
perfilhos basilares discriminados em vivos e mortos, sendo que essa amostra constitui-se<br />
por uma área delimitada de um quadrado de 0,0625m 2 segundo metodologia descrita por<br />
Fagundes et al.(2006).Os cortes do capim foram executados com intervalos de 35 dias.<br />
Os resultados foram submetidos á análise de variância, e as médias de tratamentos<br />
comparados pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico -<br />
Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG).<br />
Resultados e Discussão<br />
Houve diferença significativa na densidade populacional de perfilhos vivos (P
consócio não promoveu alteração na densidade de perfilhos vivos na Brachiaria<br />
decumbens.Durante os intervalos de corte a pastagem sofreu um ataque severo de<br />
cigarrinhas,de modo que provavelmente isto tenha vindo a interferir a fixação biológica de<br />
nitrogênio.Barcelos e Ramos (2009), relata que o N fixado varia com as condições de<br />
ambiente, sendo que dentre outros fatores o ataque de pragas e doenças acabam por afetar<br />
a fixação biológica de N.<br />
Tabela 1. Densidade de perfilhos da Brachiaria decumbens em consórcio com amendoim<br />
forrageiro (Arachis pintoi) e/ou adubação nitrogenada.<br />
Tratamentos Perfilhos (perfilhos/m 2 )<br />
Vivos Mortos<br />
Controle 928b 160a<br />
Adubação 1424a 128a<br />
Consorcio com Leguminosa 896b 128a<br />
Adubação nitrogenada + consórcio com leguminosa 1504a 144a<br />
CV (%) 2,841 31,752<br />
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.<br />
Zimmer et al. (1999), estudando os capins aruana e vencedor, observaram aumento no<br />
perfilhamento das duas forrageiras com a adubação nitrogenada.<br />
Segundo Werner e Haag (1986), dentre todos os nutrientes o N parece ser o que exerce<br />
maior influência sobre o perfilhamento, comprovado por Fagundes et al.(2006),que observou<br />
efeitos crescentes de adubação nitrogenada sobre a densidade de perfilhos vivos e<br />
vegetativos em capim-braquiaria.<br />
Não houve diferença significativa na densidade populacional de perfilhos mortos na<br />
Brachiaria decumbes (P>0,05).<br />
Conclusão<br />
A densidade populacional de perfilhos basilares vegetativos do capim braquiaria foi<br />
influenciada positivamente pela adubação nitrogenada e não influenciada pelo consórcio<br />
com o amendoim forrageiro .<br />
A densidade populacional de perfilhos mortos não foi influenciada pela adubação<br />
nitrogenada e ou o consorcio coma leguminosa.<br />
Bibliografia<br />
BARCELLOS, O.A; RAMOS, B.K.A. VII Simpósio e III Congresso de forragicultura e pastagens.<br />
Lavras-MG, p 31-55, 2009.<br />
FAGUNDES,F.L. et al. Avaliação das características estruturais do capim-braquiaria em pastagens<br />
adubadas com nitrogênio nas quatros estações do ano.Revista Brasileira de Zootecnia, v39.n1,p30-<br />
37, 2006.<br />
NELSON, C.J.;ASAY,K.H.;SLEPER,D.A. Mechanisms of canopy development of tall fescue<br />
genotypes. Crop Science, v.17,p.449-452, 1977.<br />
WERNER, J.C.; HAAG, H.P. Estudos sobre a nutrição mineral de capins tropicais. Nova Odessa:<br />
Instituto de Zootecnia, 1986. 49 p. (Boletim Técnico, 18).<br />
ZIMMER, A.H. et al. Perfilhamento e índice de área foliar remanescente dos capins aruana e<br />
vencedor (Panicum maximum), sob dois níveis de resíduos de pastejo e dois níveis de nitrogênio. In:<br />
Reunião anual da sociedade brasileira de zootecnia, 36., 1999, Porto Alegre. Anais... Porto<br />
Alegre, Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1999.<br />
Autor a ser contactado: Alexsandro Cotrim Pimentel Ribeiro da Costa<br />
End.: Rua Macarani, nº456, Camacâ, Itapetinga-BA. CEP-45700-000. e-mail:sandrocotrim@yahoo.com.br<br />
55
DESEMPENHO DE NOVILHOS NELORE RECEBENDO SUPLEMENTAÇÃO<br />
MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO DE BRACHIARIA BRIZANTHA NA ÉPOCA<br />
DAS AGUAS<br />
Danilo Ribeiro de Souza 2 , Fabiano Ferreira da Silva 3 , Robério Rodrigues Silva 3 ,<br />
Marcelo Mota Pereira 5 , Hermógenes Almeida de Santana Júnior 5<br />
1 Parte da dissertação do primeiro autor<br />
2 Mestrando em Zootecnia pela UESB. Bolsista CAPES; AGIPec- Consultoria Agropecuária<br />
3 Professor do Curso de Zootecnia da UESB. DEBI e DTRA;<br />
4 Doutorando em Zootecnia pela UESB. Bolsista FAPESB;<br />
5 Graduando em Zootecnia pela UESB.<br />
Palavras – chave: ganho de peso, valor nutritivo, sal mineral<br />
Introdução<br />
As espécies forrageiras tropicais na época da águas apresentam nutrientes em<br />
quantidade e qualidade para o desempenho, mas com as irregularidades das chuvas<br />
podem ocorrer flutuações no valor nutritivo das pastagens as quais são capazes de<br />
influenciar a produção animal (LOPES et al., 1998). Animais em pastejo durante a<br />
estação das águas, normalmente, alcançam ganhos diários de peso médio superiores<br />
a 600 gramas. Em situações onde o ganho de peso não atinge o patamar estabelecido<br />
pelo potencial genético do animal, visualiza-se o uso de alimentação suplementar<br />
durante o período das águas. Nesta situação, qualquer tentativa de suplementação<br />
deve ser exaustivamente analisada em termos da meta a ser alcançada dentro de um<br />
determinado sistema de produção de carne. Objetivou-se avaliar o desempenho de<br />
novilhos Nelore recebendo suplemento protéico de baixo consumo na época das<br />
águas.<br />
Materiais e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na Fazenda Boa Vista, município de Macarani, Bahia, no<br />
período de novembro de 2006 a fevereiro de 2007. Foram utilizados 18 novilhos da<br />
raça Nelore com 26 meses de idade, castrados e peso vivo médio de 371,5 kg<br />
distribuídos em dois tratamentos: T1 – suplementação mineral e T2 – suplementação<br />
protéica de baixo consumo. Foram utilizados quatro piquetes de Brachiária brizantha<br />
com 6,5 hectares cada. Os animais foram pesados no início e fim do período<br />
experimental após jejum total de 12 horas e foram feitas pesagens intermediárias a<br />
cada 28 dias. A suplementação foi fornecida duas vezes por semana em cochos de<br />
madeira com cobertura. A pastagem foi avaliada a cada 28 dias. Para estimar a<br />
disponibilidade de MS de cada piquete, foram tomadas 12 amostras cortadas ao nível<br />
do solo com um quadrado de 0,25m 2 , conforme metodologia descrita por McMeniman<br />
(1997). O desempenho animal foi determinado pela diferença entre o peso vivo inicial<br />
(PVI) e o peso vivo final (PVF) dividido pelo período experimental em dias. Utilizou-se<br />
o delineamento experimental inteiramente casualizado com dois tratamentos e nove<br />
repetições por tratamento. As variáveis estudadas foram avaliadas por meio de análise<br />
de variância, pelo Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (UFV, 2001) e<br />
utilizou-se o teste F em nível de 5% de significância.<br />
Resultados e Discussão<br />
Não houve diferença (P>0,05) para PVF, GMD, GPT e o GPPV, obtendo<br />
respectivamente valores de 470,22 kg, 0,620 kg/dia, 69,76 kg e 17,43 sendo estes<br />
considerados satisfatórios para o período das chuvas. Marin et al. (2003) encontraram<br />
melhor desempenho para animais recebendo suplementação energética em relação à<br />
suplementação protéica e mineral durante o período das águas (899, 747, 751<br />
g/animal/dia), respectivamente, porém a suplementação mineral foi a que apresentou<br />
melhor resultado econômico. Segundo Cabral et al. (2005) a suplementação durante o<br />
período das águas não tem proporcionado incremento significativo no desempenho<br />
56
dos animais particularmente em condições de elevada oferta de pasto e quando este<br />
apresenta um bom valor nutritivo.<br />
Tabela 1 – Peso vivo inicial (PVI), peso vivo final (PVF), ganho médio diário (GMD), ganho de<br />
peso total (GPT) e ganho de peso em relação ao peso vivo inicial (GPPVI) no<br />
período das águas com seus respectivos coeficientes de variação (CV) e<br />
probabilidade (P).<br />
Item Sal Mineral Proteinado CV P<br />
PVI (kg) 396,87 404,11 - -<br />
PVF (kg) 470,12a 470,33a 7,306 ns<br />
GMD (g) 0,606a 0,634a 17,681 ns<br />
GPT (kg) 73,25a 66,22a 17,014 0,24034<br />
GPPVI (% PV inicial) 18,45a 16,41a 16,078 0,15293<br />
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem pelo teste F (P
DESEMPENHO DE NOVILHOS NELORE RECEBENDO SUPLEMENTAÇÃO<br />
MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO DE BRACHIARIA BRIZANTHA NA ÉPOCA<br />
SECA DO ANO<br />
Danilo Ribeiro de Souza 2 , Fabiano Ferreira da Silva 3 , Paulo José Presídio<br />
Almeida 2 , Aires Lima Rocha Neto 4 , Daniel Lucas Santos Dias 5<br />
1 Parte da dissertação do primeiro autor<br />
2 Mestrando em Zootecnia pela UESB. Bolsista CNPq e CAPES; AGIPec- Consultoria Agropecuária<br />
3 Professor do Curso de Zootecnia da UESB;<br />
4 Doutorando em Zootecnia pela UESB. Bolsista FAPESB;<br />
5 Graduando em Zootecnia pela UESB.<br />
Palavras – chave: seca, proteína, ganho de peso<br />
Introdução<br />
A pastagem, com a chegada da estação seca, decresce rapidamente em<br />
digestibilidade e, particularmente, em conteúdo total de nitrogênio, levando à perda<br />
excessiva de peso, constituindo o principal fator limitante para a produção animal<br />
(LENG, 1984). Sendo assim a suplementação protéica de animais em pastejo, que<br />
permite a síntese de compostos nitrogenados microbianos, melhorando a conversão<br />
alimentar, os ganhos de peso vivo e, permitindo a continuidade da curva de<br />
crescimento dos animais durante o período de escassez e assim diminuindo os ciclos<br />
da pecuária de corte. Objetivou-se avaliar o desempenho de novilhos Nelore<br />
recebendo suplemento protéico de baixo consumo na época seca do ano.<br />
Materiais e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na Fazenda Boa Vista, município de Macarani, Bahia, no<br />
período de agosto a novembro de 2006. Foram utilizados 18 novilhos da raça Nelore<br />
com 26 meses de idade, castrados e peso vivo médio de 371,5 kg distribuídos em dois<br />
tratamentos: T1 – suplementação mineral e T2 – suplementação protéica de baixo<br />
consumo. Foram utilizados quatro piquetes de Brachiária brizantha com 6,5 hectares<br />
cada. Os animais foram pesados no início e fim do período experimental após jejum<br />
total de 12 horas e foram feitas pesagens intermediárias a cada 28 dias. A<br />
suplementação foi fornecida duas vezes por semana em cochos de madeira com<br />
cobertura. A pastagem foi avaliada a cada 28 dias. Para estimar a disponibilidade de<br />
MS de cada piquete, foram tomadas 12 amostras cortadas ao nível do solo com um<br />
quadrado de 0,25 m 2 , conforme metodologia descrita por McMeniman (1997). O<br />
desempenho animal foi determinado pela diferença entre o peso vivo inicial (PVI) e o<br />
peso vivo final (PVF) dividido pelo período experimental em dias. Utilizou-se o<br />
delineamento experimental inteiramente casualizado com dois tratamentos e nove<br />
repetições por tratamento. As variáveis estudadas foram avaliadas por meio de análise<br />
de variância, pelo Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (UFV, 2001) e<br />
utilizou-se o teste F em nível de 5% de significância.<br />
Resultados e Discussão<br />
Não foi verificada diferença (P>0,05) para o PVF, GMD, GPT e GPPVI, o que pode ser<br />
um reflexo do ano atípico de chuvas, da alta disponibilidade de forragem e baixa taxa<br />
de lotação que possibilitou a seleção das folhas pelos animais. Zanetti et al. (2000)<br />
observaram GMD de 0,36 kg/animal/dia para animais suplementados com sal<br />
proteinado e perda média diária de 0,10 kg para animais suplementados apenas com<br />
sal mineral, media inferior ao encontrado para os animais do tratamento sal mineral<br />
que obtiveram ganhos de 0,400 kg/dia, mostrando mais uma vez o efeito das<br />
condições ambientais e da disponibilidade de forragem. Tolentino et al. (2005), que<br />
avaliaram o efeito da suplementação protéica (40% PB) sobre o desempenho de<br />
bovinos em pastagens de Brachiária brizantha em pastejo alternado, observaram que<br />
no inverno todos os animais perderam peso, sem efeito dos tratamentos.<br />
58
Tabela 1 – Peso vivo inicial (PVI), peso vivo final (PVF), ganho médio diário (GMD), ganho de<br />
peso total (GPT) e ganho de peso em relação ao peso vivo inicial (GPPVI) no<br />
período seco com seus respectivos coeficientes de variação (CV) e probabilidade<br />
(P).<br />
Item Sal Mineral Proteinado CV P<br />
PVI (kg) 375,50 374,11 - -<br />
PVF (kg) 396,87a 404,11a 7,14 ns<br />
GMD (kg) 0,400a 0,535a 38,90 0,15458<br />
GPT (kg) 22,5a 30,00a 38,90 0,15458<br />
GPPVI (% PV inicial) 6,03a 7,94a 36,91 0,15223<br />
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem pelo teste F (P
DIGESTIBILIDADE APARENTE DOS NUTRIENTES EM NOVILHOS NELORE<br />
RECEBENDO SUPLEMENTAÇÃO MINERAL OU PROTÉICA EM PASTEJO DE<br />
BRACHIARIA BRIZANTHA NA ÉPOCA SECA DO ANO<br />
Marcelo Mota Pereira 4 , Danilo Ribeiro de Souza 2 , Fabiano Ferreira da Silva 3 , Daniel<br />
Lucas Santos Dias 4 , Lucas Nascimento de Oliveira 4<br />
1 Parte da dissertação do segundo autor<br />
2 Mestrando em Zootecnia pela UESB;<br />
3 Professor do Curso de Zootecnia da UESB. DEBI e DTRA;<br />
4 Graduando em Zootecnia pela UESB.<br />
Introdução<br />
Ao longo de todo ano, além da variação na taxa de crescimento, observam-se<br />
constantes mudanças na composição bromatológica e digestibilidade das forrageiras<br />
tropicais à medida que ocorre o processo de maturação fisiológica, destacando-se aumento<br />
na parede celular e sua lignificação (VAN SOEST, 1994). Fatores estes influenciam<br />
negativamente no consumo da matéria seca e disgetibilidade dos nutrientes, assim, os<br />
bovinos não conseguem suprir suas exigências nutricionais necessárias e<br />
consequentemente reduzem o desempenho. A estratégia de suplementação adequada é<br />
aquela que se destina a maximizar o consumo e a digestibilidade da forragem disponível.<br />
Este objetivo pode ser atingido através do fornecimento de todos, ou de alguns, nutrientes<br />
específicos, os quais permitirão ao animal consumir maior quantidade de matéria seca<br />
disponível, e digerir, ou metabolizar, a forragem ingerida de maneira mais eficiente.<br />
Objetivou-se avaliar a digestibilidade dos nutrientes em novilhos Nelore recebendo<br />
suplemento protéico de baixo consumo na época seca do ano.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na Fazenda Boa Vista, município de Macarani, Bahia, no<br />
período de agosto a novembro de 2006. Foram utilizados 18 novilhos da raça Nelore com 26<br />
meses de idade, castrados e peso vivo médio de 371,5 kg distribuídos em dois tratamentos:<br />
T1 – suplementação mineral e T2 – suplementação protéica de baixo consumo. Foram<br />
utilizados quatro piquetes de Brachiária brizantha com 6,5 hectares cada. Os animais foram<br />
pesados no início e fim do período experimental após jejum total de 12 horas e foram feitas<br />
pesagens intermediárias a cada 28 dias. A suplementação foi fornecida duas vezes por<br />
semana em cochos de madeira com cobertura. A pastagem foi avaliada a cada 28 dias.<br />
Para estimar a disponibilidade de MS de cada piquete, foram tomadas 12 amostras cortadas<br />
ao nível do solo com um quadrado de 0,25 m 2 , conforme metodologia descrita por<br />
McMeniman (1997). A digestibilidade aparente parcial e total, foi estimada a partir da<br />
produção fecal, verificada com auxílio de óxido crômico (Cr2O3) como indicador externo e da<br />
fibra em detergente ácido indigestível (FDAi) como indicador interno. Para estimar a<br />
produção fecal, utilizou-se o óxido crômico como indicador externo, fornecido diariamente às<br />
09 h em dose única de 10,0 gramas durante 11 dias, sendo sete dias para adaptação e<br />
regulação do fluxo de excreção do marcador e cinco dias para coleta das fezes. Para<br />
determinação do indicador interno, fibra em detergente ácido indigestível (FDAi), as<br />
amostras da forragem, das fezes foram incubados no rúmen de quatro animais fistulados<br />
por 144 h, tendo o resíduo sido assumido como indigestível. Utilizou-se o delineamento<br />
experimental inteiramente casualizado com dois tratamentos e nove repetições por<br />
tratamento. As variáveis estudadas foram avaliadas por meio de análise de variância, pelo<br />
Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (UFV, 2001) e utilizou-se o teste F em<br />
nível de 5% de significância.<br />
Resultados e Discussão<br />
60
Para os coeficientes de digestibilidade da MS, MO, PB, EE e CNF não houve diferença<br />
(P>0,05). O CDPB manteve igual devido ao maior aporte de NNP no T2, permitindo maior<br />
escape de N do rúmen e o CDCNF devido ao não incremento deste na dieta, uma vez que a<br />
suplementação foi de baixo consumo. Houve diferença (P
DISCRETIZAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS NO COMPORTAMENTO INGESTIVO DE VACAS<br />
HOLANDESAS UTILIZANDO SOMATROTOPINA BOVINA RECOMBINANTE<br />
Aracele Prates de Oliveira 1 , Marcelo Mota Pereira 2 , Hermógenes Almeida de Santana Júnior 2 ,<br />
Daniel Lucas Santos Dias 2 ,Elisangela Oliveira Cardoso 2<br />
1 Zootecnista, mestrando em Produção Animal - UESB<br />
2 Graduando em Zootecnia – UESB<br />
Introdução<br />
Nas últimas décadas, a bovinocultura leiteira tem aumentado, mesmo que lentamente,<br />
seus índices zootécnicos, entretanto, já existem muitos produtores em situações diferentes,<br />
apresentando bons índices. Com isso, essas propriedades estão sempre a busca de<br />
ferramentas que venham acrescentar a produtividade do rebanho, melhorando assim a<br />
lucratividade do sistema de produção.<br />
O Somatrotopina recombinante bovina (rbST) aumenta a produção de leite por<br />
aumentar a metabolismo e a irrigação da glândula mamária. Há a necessidade de entendimento<br />
do comportamento alimentar de vacas leiteiras, uma vez que este está intrinsecamente<br />
relacionado com o consumo e consequentemente com a produção.<br />
Objetivou-se verificar o efeito da administração da Somatrotopina bovina recombinante<br />
(rbST) na discretização de séries temporais no comportamento ingestivo de vacas Holandesas.<br />
Material e métodos<br />
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária LTDA., em<br />
Itapetinga-Bahia, no período de 13 de janeiro a 10 de março de 2009. Foram utilizadas 16<br />
vacas, com grau de sangue 5/8 Holandês X 3/8 Zebu, distribuídos Inteiramente ao Acaso (DIC),<br />
em dois tratamentos e oito repetições: Tratamento controle = sem administração; Tratamento<br />
rBST = com administração de Somatotropina bovina recombinante (rbST).<br />
Utilizou-se o sistema de suplementação entre ordenhas, em área provida de cobertura,<br />
piso de cimento, área de sol. As vacas foram ordenhadas mecanicamente em sistema de<br />
passagem 16 x 2. A pesagem do leite foi realizada em medidor automático digital de dois em<br />
dois dias.<br />
A suplementação foi fornecida no cocho, sendo apresentada sua composição na tabela<br />
1, calculado para mantença e produção de 25 quilos de leite por dia.<br />
TABELA 1 – Proporção dos ingredientes utilizados na suplementação com base na matéria<br />
seca.<br />
INGREDIENTES Quantidade (kg)<br />
Milho moído 4,31<br />
Farelo de soja 2,70<br />
Sal mineral 0,20<br />
Consumo 1 7,21<br />
1 Consumo de matéria seca proveniente da suplementação.<br />
As variáveis comportamentais estudadas foram: alimentação, ruminação e ócio. As<br />
atividades foram consideradas mutuamente excludentes, conforme definição de Pardo et al.,<br />
(2003). O comportamento foi observados visualmente a cada 10 minutos, por dois períodos de<br />
nove horas e trinta minutos horas (05:30 as 15:00), totalizando 19 horas de observação.<br />
A discretização das séries temporais foi feita diretamente nas planilhas de coleta de<br />
dados, com a contagem dos períodos discretos de pastejo, ruminação, ócio e cocho, conforme<br />
descrito por Silva et al., (2006).<br />
Para análise dos dados coletados no experimento, foi utilizado o Sistema de Análises<br />
Estatísticas e Genéticas – SAEG, e os resultados foram interpretados estatisticamente por meio<br />
de análise de variância e Tukey a nível de 0,05 de probabilidade.<br />
62
Resultados e Discussão<br />
TABELA 2 - Números de períodos de pastejo (NPP), ruminação (NPR), ócio (NPO) e<br />
permanência no cocho (NPC) e o tempo de duração dos períodos, em minutos, de pastejo<br />
(TPP), ruminação (TPR), ócio (TPO) e permanência no cocho (NPC), em vacas Holandesas a<br />
pasto com ou sem administração de rbST.<br />
ITEM TRATAMENTO CV 1 (%)<br />
CONTROLE rbST<br />
NPP 3,1 2,7 28,7<br />
NPR 5,1 5,1 18,6<br />
NPO 7,4 7,1 14,5<br />
NPC 1,0 1,1 12,1<br />
TPP 49,7 52,6 29,9<br />
TPR 41,1 48,1 21,6<br />
TPO 46,3 43,6 22,4<br />
TPC 35,0 34,8 17,7<br />
1 Coeficiente de variação.<br />
Os valores dos números de períodos de pastejo, ruminação, ócio e permanência no<br />
cocho e dos tempos por período de pastejo, ruminação, ócio e permanência no cocho não<br />
apresentaram diferenças estatísticas entre o tratamento sem ou com administração da rbST<br />
(P>0,05).<br />
O presente estudo verificou-se que não houve alteração na discretização das séries<br />
temporais no comportamento ingestivo, o que provavelmente não alterou o consumo.<br />
O TPC tanto para o tratamento controle (35,0) e o tratamento rbST (34,8), apresentaram<br />
resultados superiores aos relatados por Silva et al., (2005), que variaram de 6,56 a 13,85<br />
minutos por período.<br />
Silva (2007), trabalhando com vacas leiteiras, relataram valores inferiores para as<br />
mesmas variáveis estudadas.<br />
Conclusões<br />
A administração de Somatrotopina bovina recombinante não altera a discretização de<br />
séries temporais no comportamento ingestivo de vacas Holandesas.<br />
Bibliografia<br />
PARDO, R.M.P.; Fischer, V.; Balbinotti, M.; et al., Comportamento ingestivo diurno de novilhos<br />
em pastejo a níveis crescentes de suplementação energética. Revista da Sociedade<br />
Brasileira de Zootecnia, v.32, n.6, p.1408-1418, 2003.<br />
RIBEIRO JR., J.I. Análises Estatísticas no SAEG (Sistema de análises estatísticas).<br />
Viçosa,: UFV, 2001. 301 p.<br />
SILVA, R.R. CARVALHO, G.G.P. MAGALHÃES, A.F. et al. Comportamento ingestivo de<br />
novilhas mestiças de holandês em pastejo. Archivos de Zootecnia, v.54, p.63-74, 2005.<br />
SILVA, R.R.; SILVA, F.F.; PRADO, I.N. et al. Metodologia para o estudo do comportamento de<br />
bovinos. IN: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43, João<br />
Pessoa, 2006. Anais... João Pessoa – PB: SBZ, 2006. (CD-ROM).<br />
SILVA, R. R.; PRADO, I. N.; CARVALHO, G. G. P.; et al., Efeito da presença do bezerro sobre o<br />
comportamento ingestivo de vacas leiteiras em pastejo de Brachiaria decumbens. Revista<br />
Brasileira de Saúde e Produção Animal. Rev. Bras. Saúde Prod. An., v.8, n.1, p. 48-55, 2007.<br />
ISSN 1519 9940<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
63
Efeito da subsolagem associada a adubação na capacidade de suporte de uma<br />
pastagem degradada de Brachiaria decumbens Stapf.<br />
Lucas Simões Teixeira¹, Erivaldo Jesus da Silva², Paula Angela U. G. Alcoforado³, Joelito de<br />
Oliveira Rezende 3<br />
(1)Estudante graduação do curso de Agronomia da UFRB;(2)Estudante de pós graduação<br />
em Ciências Agrárias da UFRB; (3)Professor da UFRB<br />
Introdução<br />
Os solos com melhor aptidão agrícola são ocupados pelas lavouras anuais de grãos<br />
ou as de grande valor industrial (MACEDO, 1999), enquanto que os solos ocupados por<br />
pastagens são geralmente os mais pobres em termos de fertilidade do solo e condições<br />
físicas, quando comparados àqueles usados pelas agriculturas. O Brasil possui<br />
aproximadamente 25 % da sua área territorial ocupada com pastagens, sendo 20% dessa<br />
área constituída de pastagens degradadas apenas do gênero Brachiaria (FERREIRA et al.,<br />
1999).<br />
A degradação das pastagens ocorre quando a forrageira de interesse vai sendo<br />
excluída da pastagem e acaba sendo substituída por outras plantas de baixo valor forrageiro<br />
(SOARES FILHO, 1993). Dentre as práticas de manejo para a recuperação de pastagens<br />
degradadas, a melhoria da fertilidade do solo é de extrema importância, qualquer nutriente<br />
pode ser limitante, mas tem sido freqüente a limitação por nitrogênio e enxofre (SOARES<br />
FILHO, 1993).<br />
A camada compactada pode limitar o desenvolvimento das plantas (GROHMAN e<br />
QUEIROZ NETO, 1966; ALAVARENGA et. al., 1996), a água disponível (DIAS Jr. e<br />
ESTANISLAU,1999), as trocas gasosas (CAMARGO, 1973) e a absorção de nutrientes<br />
(PEDROTTI et. al., 1994), resultando em prejuízos à produção vegetal (BORGES et. al.,<br />
1988) e um método eficiente é a subsolagem.<br />
Para serem de importância para os sistemas de produção reais com bovinos, as<br />
técnicas de avaliação de forragens e pastos, devem ser consideradas em termos de produto<br />
por animal e produto animal por unidade de área (Mott & Moore 1970), ou seja, é definida<br />
pela capacidade de suporte da forragem. A capacidade de suporte é expressa em termos do<br />
número máximo de animais suportados pela pastagem, sem causar a degradação da<br />
mesma. Estes valores estimam os benefícios reais obtidos por diferentes pastagens,<br />
permitindo a sua comparação.<br />
O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da subsolagem e da aplicação de<br />
fertilizantes e corretivos na capacidade de suporte do capim Brachiaria decumbens Stapf<br />
num Latossolo Amarelo Coeso de Tabuleiro Costeiro do Recôncavo Baiano.<br />
Matérias e métodos<br />
O experimento foi realizado no Campus da Universidade Federal do Recôncavo da<br />
Bahia (UFRB) localizado no município de Cruz das Almas, em um pasto de capim braquiária<br />
(Brachiaria decumbens Stapf). A área experimental tem 10.800m 2 , com esquema<br />
experimental de parcelas subdivididas, sendo as parcelas destinadas a dois tratamentos de<br />
preparo de solo (1 - Com subsolagem e 2 - Sem subsolagem) a 0,50 m de profundidade e<br />
tratamentos de correção de limitações químicas (Cal., P, P+Cal., NK, PK, NPK, NPK+Cal. e<br />
NPK+Cal.+Gesso).<br />
Foram feitos cortes da parte aérea da forrageira para determinação de massa seca<br />
em estufa de circulação de ar a 65°C. Os cortes da forragem foram realizados com<br />
ceifadeira manual, em áreas de 1,0 m 2 , demarcadas por um quadro de ferro lançado<br />
aleatoriamente dentro de cada subparcela.<br />
O objetivo dos cortes foi avaliar a capacidade de suporte da pastagem em função<br />
dos tratamentos aplicados. O consumo diário de forragem de matéria seca por unidade<br />
animal foi definido em 2,5% do peso vivo, considerando uma U.A. igual a 450kg e o<br />
consumo diário igual a 11,25kg MS/dia/UA.<br />
UA = Unidade Animal<br />
1 UA = 1 bovino de 450 kg de peso vivo,<br />
1 UA = 1 vaca seca ou 1 vaca com bezerro<br />
64
O tempo de pastejo foi definido para 180 dias (abril a setembro, período das águas)<br />
com um consumo total de 2025 kg de MS. A capacidade de suporte foi definida pela<br />
disponibilidade de forragem/consumo de forragem de uma UA em 180 dias.<br />
As análises de variância e teste de média foram feitas pelo programa estatístico<br />
SISVAR.<br />
Resultados e Discussão<br />
A analise de variância (Teste F, Pr
Fontes de nitrogênio em suplementos protéicos para recria de novilhos em pastagem<br />
de capim-brachiaria<br />
Antonio Márcio Pereira da Silva 1 , Márcio dos Santos Pedreira 2 , Evanilton Moura Alves,;<br />
Gilmara Santos Guimarães 4 , Marcelo Mota Pereira 4 .<br />
1<br />
Doutorando do Programa de Pós-graduação em Zootecnia - UESB, Itapetinga – BA. Bolsista CAPES.<br />
2<br />
Professor Adjunto - DTRA - UESB, Itapetinga – BA.<br />
³ Doutorando em zootecnia do Programa de Pós-graduação em Zootecnia - UESB, Itapetinga – BA<br />
4<br />
Graduando em Zootecnia, UESB, Itapetinga.<br />
Introdução<br />
O processo de globalização da economia tem causado grandes mudanças em<br />
diversos setores do agronegócio. A produção de gado de corte no Brasil tem sido desafiada<br />
para estabelecer sistemas de produção que sejam capazes de produzir, de forma eficiente,<br />
carne de boa qualidade a baixo preço. Além disso, estes sistemas devem ser competitivos,<br />
sustentáveis e capazes de produzir animais para abate com menos de 42 meses de idade,<br />
que é a média nacional. (EUCLIDES et al., 2001).<br />
Sendo as pastagens a forma mais econômica e prática de alimentação de bovinos,<br />
torna-se, portanto, prioridade o aumento da utilização das forragens via otimização do<br />
consumo e da disponibilidade de seus nutrientes (GOMES JR. et al., 2002).<br />
O ganho de peso durante a fase de recria (crescimento) é considerado de grande<br />
importância na exploração de animais destinados ao abate, pois os ganhos de peso<br />
alcançados pelos bovinos jovens são de baixo custo e mais econômicos que aqueles<br />
obtidos em idades mais avançadas, devido às mudanças no metabolismo.<br />
Objetivou-se com esse trabalho avaliar o desempenho de novilhos castrados da raça<br />
Nelore no período da seca na fase de recria suplementados com diferentes fontes de<br />
nitrogênio.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi desenvolvido na fazenda Boa Vista, município de Macarani-BA e<br />
no laboratório de forragens da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de<br />
Itapetinga, município de Itapetinga-BA no período de agosto a novembro de 2008, com<br />
duração de 84 dias. Foram utilizados 30 animais da raça Nelore com peso médio inicial de<br />
286 kg de peso vivo, em um delineamento inteiramente casualizado com 10 repetições por<br />
tratamento (T1 = suplemento com baixo NNP – 1% uréia convencional; T2 = suplemento<br />
com 6,5% de uréia convencional; T3 = suplemento com 5,7 % de uréia de liberação lenta e<br />
1,1% de uréia convencional).<br />
A taxa de lotação inicial foi de 1,4 UA/ha em um sistema de produção a pasto em<br />
pastejo continuo, em área experimental cultivada de Brachiaria brizanta de 13,3 ha divididos<br />
em três piquetes de áreas equivalentes. A disponibilidade média de pasto com base na<br />
matéria seca no inicio e término do experimento foi de 4,4 e 2,2 toneladas/ha,<br />
respectivamente. A proporção média de folha, caule e matéria morta foi de 17% e 14%; 40%<br />
e 56% e 43% e 30%, respectivamente, no inicio e termino do experimento.<br />
Os animais foram rotacionados a cada 28 dias para minimizar o efeito de pasto,<br />
sendo pesados no início e fim do período experimental após jejum total de 12 horas e<br />
também foram feitas pesagens intermediárias a cada 28 dias sem jejum para ajuste da<br />
suplementação. Os suplementos foram formulados para uma concentração de 36% de<br />
proteína bruta (PB) e 72% de nutrientes digestíveis totais (NDT), sendo distribuídos<br />
diariamente em comedouro não coberto coletivo, na quantidade de 0,3% do peso corporal<br />
com base na matéria seca, às 10 horas da manhã, a fim de minimizar a interferência de<br />
efeito substitutivo sobre o comportamento de ingestão de forragem (ADAMS, 1985). Os<br />
dados experimentais foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo<br />
teste Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando o programa computacional SAEG (RIBEIRO<br />
JR., 2001).<br />
66
Resultados e Discussão<br />
O peso vivo inicial (PVI), peso vivo final (PVF), ganho médio por período e ganho<br />
médio diário (GMD), de acordo com os tratamentos, são apresentados na Tabela 1. O<br />
ganho de peso médio por período (14,80kg) foi maior (P0,05).<br />
Tabela 1. Peso vivo inicial (PVI), peso vivo final (PVF), ganho de peso total (GPT) e ganho<br />
médio diário (GMD) de bovinos nelore machos castrados suplementadas com fontes de<br />
nitrogênio<br />
Variáveis<br />
T1<br />
Tratamento<br />
T2 T3<br />
CV (%)<br />
PVI (kg) 282,00 289,00 287,50 -<br />
PVF (kg) 346,80 342,50 341,70 -<br />
GPT (kg) 64,80A 53,50B 54,20B 14,54<br />
GMD (kg) 0,77A 0,63B 0,64B 14,53<br />
T1 = suplemento com baixo NNP – 1% uréia convencional; T2 = suplemento com 6,5% de uréia convencional; T3<br />
= suplemento com 5,7 % de uréia de liberação lenta e 1,1% de uréia convencional.<br />
Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si (p>0,05) pelo teste Tukey.<br />
A suplementação protéica no período seco do ano permitiu GMD variando de 630 a<br />
770g/dia. O suplemento com baixo NNP (1% de uréia convencional) resultou em GMD<br />
superior aos suplementos com alto NNP, podendo ser considerado que o suprimento de aas<br />
provenientes do farelo de soja foi mais importante para o crescimento microbiano que os<br />
teores de NNP mais elevados, evidenciando não haver déficit de amônia no rúmen nas<br />
condições do tratamento 1.<br />
Conclusão<br />
A suplementação de novilhos nelore em pastagem de capim-brachiaria no período<br />
seco com farelo de soja e baixo nitrogênio não protéico resultaram em maiores ganhos de<br />
peso médio diário quando comparado ao suplemento contendo alta proporção de NNP,<br />
independente de ser de fonte convencional de uréia ou na forma de liberação lenta.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ADAMS, D.C. Effect of time of supplementation on performance, forage intake and grazing<br />
behavior of yearling beef grazing Russian roildrygrass in the fall. Journal of Animal<br />
Science, v.61, n.4, p.1037-1042, 1985.<br />
EUCLIDES FILHO, K.; EUCLIDES, V. P. B.; FIGUEREDO, G. R. Eficiência bionutricional de<br />
animais Nelore e seus mestiços com Simental e Aberdeen Angus, em duas dietas. Revista<br />
Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 30, n. 1, p. 7782, 2001.<br />
GOMES JUNIOR, P.; PAULINO, M. F.; DETMANN, E. et al. Desempenho de Novilhos<br />
Mestiços na Fase de Crescimento Suplementados Durante a Época Seca. Revista<br />
Brasileira de Zootecnia, v.31, n.1, p.139-147. 2002.<br />
MALAFAIA, P.; CABRAL, L.S; VIEIRA, R.A.M. et al. Suplementação protéico-energética<br />
para bovinos criados em pastagens: aspectos teóricos e principais resultados publicados no<br />
Brasil. Livestock Research for Rural Development, v.15, n.12, p.33, 2003.<br />
RIBEIRO Jr.,J.I. Análises Estatística no SAEG (Sistema para Análises Estatística e<br />
Genéticas). Viçosa, MG: UFV, 2001.301p.<br />
Antonio Márcio Pereira da Silva - Fone:(77) 91913562 – email:amp.silva@hotmail.com<br />
67
ÍNDICES REPRODUTIVOS EM REBANHOS LEITEIROS NO MUNICÍPIO DE<br />
MAIQUINIQUE, BAHIA 1 .<br />
Amanda dos S. Faleiro 2 ; Sérgio A. de A. Fernandes 3 ; Dayana R. de Souza 2 ; Neomara B. de<br />
L. Santos 2 ; Thaiany T. Fonseca 2 .<br />
1<br />
Este projeto contou com financiamento parcial do Laticínio Rocha, Ltda. e pelo Grupo de Estudos em Leite<br />
(GEL) da UESB;<br />
2<br />
Graduanda em Zootecnia e Bolsista de Iniciação Científica (FAPESB e Voluntária da UESB);<br />
3<br />
Prof. Adjunto - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, Itapetinga/BA.<br />
Introdução<br />
O uso do enfoque sistêmico tem evoluído em diversas áreas da ciência, entre elas a<br />
agricultura. A análise sistêmica deve instrumentalizar o pesquisador, orientar os agentes<br />
sociais e as políticas públicas no sentido da construção de novos saberes, buscando<br />
fortalecer a multi e interdisciplinaridade. De acordo com Hostiou et al. (2006) os<br />
estabelecimentos leiteiros caracterizam-se por processos de construção diversos,<br />
apresentando assim, diferentes níveis de evolução. Dessa forma, a importância de se<br />
compreender essa evolução para que se possa implementar ações de pesquisa e técnicas<br />
adaptadas a essas situações, é fundamental, o que permitiria a formulação de estratégias<br />
de desenvolvimento desses sistemas.<br />
A demanda atual de leite brasileira é de mais de 35 bilhões de toneladas. Segundo Peixoto<br />
(2000) dentre todos os fatores que afetam a eficiência de um sistema de produção de leite,<br />
a reprodução se destaca. Qualquer fazenda deixará de ser eficiente se a vaca se<br />
reproduzir de maneira irregular. Entende-se por reprodução regular o estabelecimento de<br />
prenhez no máximo de 85 dias após o parto, com o objetivo de se obter intervalos entre<br />
parições próximos de 365 dias (12 meses). Baseado nesta premissa, a condução deste<br />
trabalho objetivou realizar o diagnóstico dos sistemas de produção de leite de fornecedores<br />
de leite de um laticínio da região de Maiquinique, Bahia.<br />
Material e Métodos<br />
A metodologia utilizada para realização desse trabalho foi baseada na aplicação de<br />
questionário individual com produtores de leite. Foram entrevistados 17 produtores ligados<br />
a um laticínio comercial da região de Maiquinique, no ano de 2007, que possuem tanques<br />
de resfriamento de leite. Os temas abordados, nas entrevistas foram relacionados aos<br />
atributos da propriedade, do produtor e de sua família. Para caracterizar a atividade leiteira,<br />
considerou-se o rebanho, produção leiteira, sanidade, reprodução, manejo alimentar e<br />
mão-de-obra das propriedades. Outros temas abordados na entrevista foram às fontes de<br />
informações técnicas utilizadas pelos produtores, perspectivas futuras em relação à<br />
pecuária de leite e a relação produtor/mercado.<br />
A classificação das propriedades para efeito comparativo se deu de acordo com produção<br />
de leite, e atendeu aos seguintes parâmetros: até 50 L de leite/dia pequenos, de 51 a 200 L<br />
de leite/dia médios, e maior que 200 L de leite/dia grandes. A análise dos dados obtidos<br />
com o questionário foi realizada através de análises unidimensionais, de acordo com Otani<br />
et al. (1996), que consistem na tabulação em separado das respostas a cada pergunta,<br />
cujos resultados são expressos em números absolutos ou percentuais (LUIZ E SILVEIRA,<br />
2000).<br />
Resultados e Discussão<br />
Ao se analisar os dados obtidos por meio do questionário observa-se que, entre os<br />
produtores de leite ligados ao laticínio comercial não existem pequenas propriedades,<br />
conforme classificação estabelecida. Assim, das 17 propriedades cujos proprietários foram<br />
68
entrevistados, 3 são classificadas como média e 14 como grande. Quanto ao percentual<br />
ideal de vacas em lactação (85%), ambos os estratos (médios e grandes produtores)<br />
encontram-se abaixo das recomendações, pois a média de vacas em lactação foi de 67,4%<br />
e 63,6%, respectivamente. A produção diária por vaca observada neste trabalho foi<br />
superior ao relatado por Barreto et al. (2007), cuja produção observada variou de 1,69 a<br />
2,02 Kg/leite/lactação. Uma vez que, nas médias e grandes propriedades, a produção<br />
diária foi de 5,08 e 6,05, respectivamente. A produção de leite é um processo repetitivo que<br />
se inicia a cada parto, e deve ser interrompido cerca de 2 meses antes da próxima parição.<br />
O longo intervalo entre partos (IP) nos rebanhos leiteiros caracteriza a baixa eficiência<br />
reprodutiva. O ideal seria uma vaca parir a cada 12 meses, a primeira condição para<br />
alcançar este objetivo é fazer com que a vaca apresente cio até 60 dias pós-parto. Partindo<br />
desta premissa, observou-se um bom IP nas médias (370 dias) propriedades. Já as ditas<br />
como grandes propriedades, não tiveram eficiência quanto a este parâmetro, pois<br />
apresentaram valores de 478 dias de IP.<br />
Quanto ao período de serviço (do parto até a próxima cobrição fértil) variou entre 100 e 208<br />
dias nas médias e grandes propriedades respectivamente, sendo que o ideal seria de 60<br />
dias. O período de descanso (intervalo entre as lactações) apresentou resultados de 75 e<br />
72 dias para médias e grandes propriedades respectivamente, sendo que o ideal seria de<br />
60 dias. Observa-se contradição entre os resultados encontrados, visto que o percentual de<br />
vacas em lactação é de 67,4% e de 63,3% (médios e grandes, respectivamente), e o IP de<br />
370 e 478 dias para médios e grandes, respectivamente, dessa forma, não é possível haver<br />
baixo percentual de vacas em lactação com IP próximos do ideal.<br />
Conclusões<br />
Os sistemas de produção estudados necessitam de planejamento para melhorar os<br />
indicadores zootécnicos, apenas as propriedades classificadas como médias se encontram<br />
próximas dos índices desejados.<br />
Bibliografia<br />
BARRETO, D.; NUNES, R.L.; FERNANDES, S.A. de A.; et al. Características estruturais<br />
dos sistema de produção de leite dos produtores ligados à Associação de<br />
Produtores de Leite de Itagiba, Bahia. Revista do Instituto de Laticínios “Cândido<br />
Tostes”, v. 62, n. 357, p. 451-458. 2007.<br />
HOSTIOU, N.; VEIGA, J.B.; TOURRAND, J. F. Dinâmica e Evolução de sistemas<br />
familiares de produção leiteira em Uruará, frente de colonização da Amazônia<br />
brasileira. Rev. de Economia Rural, v. 44, n. 02, p. 295-311. 2006.<br />
LUIZ, A. J. B.; SILVEIRA, M. A. da. Diagnóstico rápido e dialogado em estudos de<br />
desenvolvimento rural sustentável. Pesq. Agropec. Bras, v. 35, n. 1, p. 83-91, jan.<br />
2000.<br />
OTANI, M. N.; CARRIERI, A. de P.; ÂNGELO, J. A. Microbacia-piloto da córrego de<br />
São Joaquim, DIRA de Campinas, Estado de São Paulo: um estudo comparativo<br />
1988-94. Informações Econômicas, v. 26, n. 1, p. 47-60, jan. 1996.<br />
PEIXOTO, A. M.; MOURA, J. C. de; FARIA, V. P de. Bovinocultura leiteira;<br />
fundamentos da exploração racional. – 3.ed.- Piracicaba: FEALQ, 2000.<br />
Autor a ser contactado: Amanda dos Santos Faleiro<br />
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 468. ITAPETINGA/BA. CEP-45700-000. Email:<br />
mandadsf@yahoo.com.br Fone: (77) 81352093<br />
69
INFLUÊNCIA DOS ESTÁGIOS PRODUTIVOS SOBRE O COMPORTAMENTO INGESTIVO<br />
DE VACAS ANELORADAS<br />
Iuran Nunes. Dias¹, Lenon Machado dos Santos¹, Daiane Lago Novais 1, 2 , Emmanuel Emydio Gomes Pinheiro³,<br />
Lourival Alves Caxias Neto 1, 2 , Evani Souza Strada 4<br />
¹Graduandos em Zootecnia Pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas- BA.<br />
²Alunos assistidos pelo Programa de Permanência/PROPAE/UFRB<br />
³Graduando em Medicina veterinária pela UFRB, Cruz das Almas-Ba<br />
4 Prof. Assistente do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas/UFRB, Cruz das Almas-BA<br />
Palavras-chave: alimentação, animal, novilha.<br />
Introdução<br />
O comportamento ingestivo dos ruminantes em pastejo pode ser caracterizado por<br />
três principais variáveis que são a alimentação, ruminação e ócio, que podem ser<br />
influenciadas por diversos fatores, como: ambiente e manejo (MACEDO et al., 2007).<br />
Atualmente têm se preocupado de forma expressiva em somar ganhos com a<br />
pecuária de corte, e uma das formas de se aumentar a produção é oferecer condições<br />
favoráveis aos animais. Para isto, torna-se de relevante importância conhecer as atividades<br />
e os hábitos alimentares dos mesmos.<br />
O estudo do comportamento animal, associado aos aspectos ecológicos e<br />
bioclimáticos, contribui para adequação do manejo e seleção de rebanhos, quando<br />
relacionados com a adaptação de um determinado animal ou espécie (MARQUES et al.,<br />
2007).<br />
O trabalho teve como objetivo avaliar a influência dos estágios produtivos sobre o<br />
comportamento ingestivo de vacas aneloradas.<br />
Matérias e Métodos<br />
O experimento foi realizado no setor de bovino de corte, do Centro de Ciências<br />
Agrárias, Ambientais e Biológicas da UFRB/Cruz das Almas/BA.<br />
Utilizou-se um total de 16 fêmeas aneloradas em distintos estágios produtivos (oito<br />
novilhas e oito vacas falhadas), distribuídas num piquete de 3,5 ha. O piquete em que os<br />
animais ficaram alojados era de Brachiaria decumbens com disponibilidade de forragem de<br />
2.600kg/ha e teor de matéria seca de 35%, aproximadamente.<br />
As observações foram feitas com duração de 48 horas entre os dias 12 e 14 no mês<br />
de Junho do ano de 2009, o dia foi divido em quatro períodos, sendo, PERI 06:10 às 12:00<br />
h; PERII 12:10 às 18:00 h; PERIII 18:10 às 00:00; PERIV 00:10 às 06:00 h, com intervalos<br />
de observações de 10 minutos.<br />
Os animais foram observados visualmente para coleta de dados, por duplas de<br />
observadores treinados, que se revesavam a cada duas horas de observação.<br />
As variáveis analisadas foram: alimentação (ALI), ruminação (RUMI), ócio (OCI), e as<br />
percentagens de tempo que o animal permaneceu ruminando deitado (PRUM) e em ócio<br />
deitado (POCI).<br />
O delineamento do experimento foi inteiramente ao acaso com dois tratamentos e<br />
oito repetições e as médias obtidas foram testadas pelo teste de F, para os tratamentos e de<br />
Tukey para os períodos, ao nível de 5% de significância utilizando-se o SAEG (2007).<br />
Resultados e discussões<br />
A Tabela 1 apresenta os resultados das atividades em função dos tratamentos. Os<br />
resultados da avaliação demonstraram que as vacas falhadas (VAF) apresentaram maior<br />
tempo de ingestão de alimento em relação às novilhas (NOV).<br />
O tempo utilizado pelas VAF na alimentação foi maior em relação as NOV, isso deve<br />
ter ocorrido em função do maior peso corporal dos animais do primeiro grupo. Todavia, a<br />
70
freqüência de alimentação foi maior para as NOV, este comportamento pode ser explicado<br />
pela dominância dos animais mais velhos sobre os mais novos.<br />
Tabela 1.Tempo de alimentação (ALIM), ruminação (RUMI) e ócio (OCI), percentagem do tempo ruminando<br />
deitada (PRUM), percentagem do tempo em ócio deitado (POCI), freqüência de alimentação (FALI), ruminação<br />
(FRUM) e ócio (FOCI) de vacas aneloradas em diferentes estágios de produção.(NOV) novilhas e (VAF) vacas<br />
falhadas em pastagem de Brachiaria decumbens<br />
Tratamento ALIM RUMI PRUM OCI POCI FALI FRUM FOCI<br />
NOV 1056,25 b<br />
1011,25 33,89 812,50 32,83 27,62 a<br />
35,37 43,75<br />
VAF 1182,50 a<br />
953,75 47,53 743,75 42,15 23,75 b<br />
35,00 40,00<br />
*C.V. (%) 6,75 8,29 10,62 6,01 13,10 11,76<br />
Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna, diferem entre si (P
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM VACAS MESTIÇAS LEITEIRAS (3/8<br />
HOLANDÊS X 5/8 GIR)<br />
Rita Kelly Couto Brandão 1 , Marcelo Mota Pereira 1 , Antonio Jorge Del Rei 2 , Elenilda Alves da<br />
Silva 1 , Philipe Gazzoli Farias 1<br />
1 Graduando em Zootecnia – UESB<br />
2 Médico Veterinário, Prof. Dr. em reprodução animal - UESB<br />
Introdução<br />
Recentemente vários trabalhos utilizando diferentes protocolos de sincronização do estro<br />
vêm sendo praticados no Brasil com o objetivo de maximizar a fertilidade produtiva e<br />
reprodutiva da pecuária bovina de corte e leiteira. A sincronização envolvendo progestágenios,<br />
estrógenos, prostaglandina, gonadotrofinas e suas combinações, pode alcançar bons índices<br />
quando utilizada em espécies que apresentam manifestação estral, porem, ainda não atingem o<br />
grau de sincronia desejado, uma vez que o estro é manifestado por um período de cinco dias ou<br />
mais (KESLER e FÁVERO,1996; MARES et al., 1997 e SINGH,1998).<br />
Dentre os protocolos de controle farmacohormonal do ciclo estral, destaca-se a, utilização<br />
de progesterona sintética associada ao valerato de estradiol, o mesmo permite a inseminação<br />
artificial em tempo fixo (IATF), sem observação de estro. A associação de outros hormônios a<br />
esses protocolos, com o intuito de se otminizar os índices de gestação, foi estudada por<br />
Bartolomeu et al., (2001) e a Gonadotrofina Corônica eqüina (ECG) é uma dessas substâncias.<br />
Contudo, os resultados apresentam-se conflitantes quanto à sua eficiência em elevar as taxas<br />
de concepção e gestação nas vacas.<br />
Esse trabalho tem como objetivo de avaliar a eficácia do uso da ECG associada a um<br />
protocolo que utiliza progesterona sintética associada ao Valerato de Estradiol, sobre taxas de<br />
concepção em fêmeas mestiças leiteiras (3/8 Holandês x 5/8 Gir) e verificando se as taxas<br />
foram influenciadas pela presença ou não de um corpo lúteo (CL) detectável através da<br />
palpação retal.<br />
Matérial e Métodos<br />
No experimento foram utilizadas 51 vacas mestiças (3/8 Holandês x 5/8 Gir) e que foram<br />
distribuídas aleatoriamente em dois tratamentos.<br />
Nos animais do tratamento 1 (T1 n = 26), aplicou-se subcutânea na fase convexa da<br />
orelha em estagio aleatório do ciclo estral no dia oito (D0), um implante de silicone contendo<br />
3mg de Norgestomet (Crestar® Intervet-SP). Imediatamente após procedeu-se a administração<br />
intramuscular de uma solução contendo 3mg de Norgestoment e 5mg de Valerato de Estradiol.<br />
Nove dias depois (D9) os implantes foram retirados e os animais inseminados em tempo fixo<br />
aproximadamente 52 a 56 horas após (D11). Nos animais destinados ao tratamento 2 (T2 n =<br />
25), foi aplicada a mesma metodologia realizada no tratamento 1, exceto pelo fato de que os<br />
animais receberam 400 UI de ECG (Novormom® Scherinhg Ploungh-SP), intramuscular no<br />
momento da retirada dos implantes (D9). As inseminações foram realizadas pelo mesmo<br />
inseminador, e o diagnostico de gestação foi realizado 45 dias após a IATF, pela palpação retal<br />
e confirmação após 60 dias. Para avaliar a taxa de concepção entre os dois tratamentos,<br />
utilizou-se um estudo de dispersão de freqüência empregando-se o teste de Qui-quadrado.<br />
Resultados e discussão<br />
Na tabela 1 são observados os resultados obtidos após os tratamentos das 51<br />
vacas.<br />
Tabela 1. Resultados observados após os tratamentos<br />
72
Tratamentos Resultados %<br />
Tratamento 1 12/26 46,2<br />
Tratamento 2 12/25 48,0<br />
Os animais submetidos aos dois tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas<br />
(P>0,05) quanto as taxas de concepção que foram respectivamente, 46,2% (12/26) e 48,0%<br />
(12/25) para os tratamentos T1 e T2. Esse resultado vem confirmar estudos anteriores como o<br />
de Kastelic et al., (1997), que também observaram que a administração do ECG não trouxe<br />
incrementos as taxas de prenhez.<br />
Esses autores concluíram que haveria um maior beneficio na aplicação do ECG, à<br />
retirada do implante, caso houvesse um grande percentual de vacas em anestro, durante o<br />
tratamento o que não ocorreu nesse experimento.<br />
Na tabela 2 são observados os resultados obtidos após os das vacas com corpo<br />
lúteo e sem apresentarem corpo lúteo.<br />
Tabela 2 Resultados observados após os tratamentos<br />
Tratamentos Resultados %<br />
Com corpo lúteo 13/31 42<br />
Sem corpo lúteo 09/20 45<br />
Verificou-se que não houve diferença entre as taxas de concepção dos animais que<br />
apresentavam um corpo lúteo (CL) palpável e os que não continham esta estrutura no dia zero<br />
(D0). Essas taxas para esses animais foram respectivamente de 42,0% (13/31) e 45,0%<br />
(09/20). Esses resultados não estão de acordo com os encontrados por Ribeiro Filho (2001) que<br />
verificou que a presença de um CL palpável afetou positivamente as taxas de prenhez.<br />
Conclusões<br />
Os resultados encontrados permitem concluir que a aplicação da ECG no momento da<br />
retirada dos implantes, faz-se desnecessária, pois não mostrou vantagem quando comparada<br />
ao tratamento que não utilizou, pelo menos em animais cíclicos. E a presença ou ausência de<br />
CL detectável no dia zero (D0), também não influenciou nesse experimento.<br />
Bibliografia<br />
Bartolomeu, C.C; Del Rei, A J M; Madureira, E.H. et al., Inseminação Artificial em tempo fixo<br />
com sincronização da ovulação em bubalinos utilizando-se CIDR-B, Crestar e Ovsynch. Revista<br />
Brasileira de Reprodução Animal V. 25, p. 334-336<br />
Kastelic, J.P; Olson, W.O; Martinez, M; Mapletoft, R.J; Machado,R. Sincronização do estro em<br />
bovinos Hereford-Angus com Crestar. Revista Brasileira de Reprodução Animal. V. 21, p.<br />
101-103, 1997.<br />
Kesler, D. J; Fávero, R.J. Estrus syncronization in beef females with morgestion in beef females<br />
with Norgestomet and Estradial Valerat II: Factors limiting and enhancing efficacy. Agripractice,<br />
V.17, n.1, 1996.<br />
Mares S.E; Peterson, L.A; Henderson,E.A; et al. Hertillity of beef herds inseminated by estrus or<br />
by time following Sincro-Mate (SMB) Treatment. Journal Animal Science. n.45 (suppl.1)<br />
p.185,1977.<br />
Ribeiro Filho, A. L Indução, sincronizada e resincronização do estro e da ovulação de vacas<br />
zebuínas. Belo Horizonte; UFMG Escola de Medicina Veterinária, 2001, p. 141(Tese de<br />
doutorado).<br />
Singh, N.K.U. Plasma progesterone profiles and fertility status of anestrus Zebu Cattle Treated<br />
with Norgestomet- Estradial – ECG redimen. Theriogenology. n.50, 1191<br />
Autor a ser contactado: Antonio Jorge Del Rei – Email – delrei@uesb br<br />
Endereço – Rod. BR 415, Km 1, 4570000 - Itapetinga, BA – Brasil<br />
73
INTERVALO ENTRE PARTOS DE BUFÁLAS LEITEIRAS MURRAH X MEDITERRÂNEO<br />
Julio Jaat Dias Lacerda 1 , Marcelo Mota Pereira 1 , Antonio Jorge Del Rei 2 , Perecles Brito<br />
Batista 3 , Aracele Prates De Oliveira 3<br />
1 Graduando em zootecnia – UESB – Itapetinga - Bahia<br />
2 Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia Rural e Animal – UESB<br />
3 Zootecnista, mestrando em Produção Animal -UESB– Itapetinga - Bahia<br />
INTRODUÇÃO<br />
O rebanho bubalino mundial desempenha importante papel na produção de proteína<br />
de origem animal, especialmente nos países do terceiro mundo. Entre as características<br />
inerentes a espécie destaca- se: rusticidade, prolificidade, adaptabilidade, vida útil até os 15<br />
anos, precocidade, docilidade e elevada taxa de produtividade em leite, carne e trabalho,<br />
aliadas às taxas de natalidade superior a 80% e mortalidade inferior a 3% ao ano<br />
(MOREIRA et al., 1994).<br />
Existe uma grande escassez de informações quanto aos índices reprodutivos das<br />
raças de búfalos criadas no país. Segundo Hafez (1995), a avançada idade ao primeiro<br />
parto, os problemas relacionados à detecção do cio, o longo período seco nas fêmeas, bem<br />
como a perda de libido no macho, são os principais obstáculos ao aumento dos índices<br />
reprodutivos nos búfalos.<br />
O intervalo entre partos é muito importante tanto para produção de carne quanto para<br />
a produção de leite. Do ponto de vista econômico, o ideal é que esse intervalo seja igual a<br />
12 meses. Em bovinos, Faria; Corsi (1979) consideram que a prenhez deva ocorrer no<br />
máximo 85 dias após o parto, objetivando a obtenção de um intervalo entre partos próximo a<br />
365 dias. Em búfalas, alguns autores também consideram esse índice como um dos mais<br />
importantes parâmetros para se medir a eficiência reprodutiva, com uma média mundial da<br />
espécie ao redor de 14,5 meses (SAMPAIO NETO et al., 2001).<br />
O objetivo deste estudo foi determinar a média do intervalo entre partos das búfalas<br />
leiteiras criadas na fazenda Cabana da Ponte Agropecuária Ltda., sul da Bahia, bem como<br />
se seus valores estão dentro dos encontrados no Brasil.<br />
MATERIAL E METODOS<br />
Foram analisadas informações de 165 fêmeas de variadas idades da raça Murrah e<br />
Mediterrâneo, referentes a dados reprodutivos armazenados no programa Prodap<br />
Profissional 2006, coletados no ano de 2008 da Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária<br />
Ltda., situada na cidade de Itororó, sul da Bahia, coordenadas geográficas, 15º 18’14’’ de<br />
latitude sul e 40º12’20’’ de longitude WGr..<br />
Os animais foram criados extensivamente em pastagem de capim Braquiaria<br />
decumbens, águada natural e fornecimento de suplementação mineral. O sistema de<br />
acasalamento foi com monta natural a campo com a utilização da relação de 1 touro da raça<br />
Murrah para 40 vacas. As práticas de sanidade com respeito às vacinações, combate aos<br />
ectoparasitas e endoparasitas, entre outras, foram observadas de acordo a necessidade.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
As búfalas apresentam um período de gestação ao redor de 10 meses.<br />
Tabela 01 – Médias do Intervalo entre partos (IEP) das búfalas Murrah e Mediterrâneo,<br />
criadas na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária Ltda.<br />
Características analisadas Média do ano de 2008<br />
Intervalo entre partos (IEP) 442<br />
74
O intervalo entre partos (IEP) observado foi de 442 dias, aproximadamente 14,73<br />
meses. Este resultado foi melhor do que o encontrado por Sampaio Neto et al., (2001), em<br />
trabalhos realizados com búfalos da raça Murrah no estado do Ceará, onde se verificou um<br />
IEP de 15 meses e Taneja (1999) , onde o mesmo relatou que as búfalas criadas na Índia<br />
apresentaram um IEP médio entre 15 e 16,7 meses.<br />
Contudo estão maiores que os valores encontrados por Cassiano et al., (2003), que<br />
estudando a influência de fatores ambientais e genéticos nas características fenotípicas de<br />
búfalo (Bubalus bubalis) das raças Carabao, Jafarabadi, Murrah, Mediterrâneo e do tipo<br />
Baio encontrou valores médios do intervalo entre partos (IEP) de 380,32 dias e Baruselli et<br />
al., (1993), em trabalhos com a finalidade de avaliar o IEP de um rebanho bubalino já<br />
estabilizado, a média do IEP foi de 375,6 dias.<br />
Zicarelli et al., (1997) afirmam que os búfalos, quando criados em localidades distantes<br />
da região equatorial, têm um comportamento reprodutivo influenciado positivamente pela<br />
diminuição de horas de luz do dia. No caso deste estudo, estes efeitos foram,<br />
provavelmente, causados pelas diferenças estacionais (estações seca e chuvosa bem<br />
definidas) que levam a alterações no suprimento de comida e conforto, já que a variação na<br />
quantidade de horas de luz por dia, durante todo o ano é muito pequena.<br />
CONCLUSÃO<br />
O Intervalo Entre Parto (IEP) encontrado esta dentro da média dos rebanhos criados<br />
no Brasil, salientando que a adoção de técnicas de suplementação na época seca bem<br />
como a adoção de um manejo reprodutivo mais qualificado, deverá diminuir esses índices.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
BARUSELLI, P. S.; OLIVEIRA, J. F. S.; MENDES, M. L. M.; JORGE, A. M.; FUJII, T.;<br />
PALAZZO, J. P. C. Diagnóstico da bubalinocultura do Vale do Ribeira. Campinas:<br />
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, 1993. 16 p. (Documento Técnico, 94).<br />
Lisângela Aparecida Pinheiro Cassiano, Arthur da Silva Mariante, Concepta McManus, et al.,<br />
Caracterização fenotípica de raças bubalinas nacionais e do tipo Baio Pesq. agropec.<br />
bras., Brasília, v. 38, n. 11, p. 1337-1342, nov. 2003<br />
FARIA, V. P.; CORSI, M. Os índices zootécnicos na pecuária leiteira. In: SIMPÓSIO SOBRE<br />
PECUÁRIA LEITEIRA, 2., 1979, São José dos Campos. Anais... Campinas: Fundação<br />
Cargill, 1979. p. 40-61.<br />
HAFEZ, E. S. E. (Ed.). Reproduction in farm animals. 6th ed. Philadelphia: Lea & Febiger,<br />
1993. 573 p.<br />
MOREIRA, P.; COSTA, A. L.; VALENTIN, J. F. Comportamento produtivo e reprodutivo de<br />
bubalinos mestiços Murrah-Mediterrâneo em pastagem cultivada em terra firme, no Estado<br />
do Acre. Rio Branco: Embrapa- CPAF-Acre, 1994. 19 p. (Boletim de Pesquisa, 13).<br />
SAMPAIO NETO, J. C.; MARTINS FILHO, R.; LÔBO, R. N. B.; TONHATI, H. Avaliação dos<br />
desempenhos produtivos e reprodutivos de um rebanho bubalino no Estado do Ceará.<br />
Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 30, n. 2, p. 368-373, 2001.<br />
TANEJA, V. K. Dairy breeds and selection. In: FALVEY, L.; CHANTALAKHANA, C. (Ed.).<br />
Smallholder dairying in the tropics. Nairobi: International Livestock Research Institute,<br />
1999. 462 p.<br />
ZICARELLI, L. de F. C.; FRANCILLO, M.; PACELLI, C.; VILLA, E. E. Influence of<br />
insemination technique and ovulation time on fertility percentage in synchronized buffaloes.<br />
In: WORLD BUFFALO CONGRESS, 5., 1997, Caserta. Proceedings... Caserta: [s.n.], 1997.<br />
p. 732-737.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
75
LEVANTAMENTO DA ESCARABEIDOFAUNA ASSOCIADOS ÀS FEZES BOVINAS EM<br />
PASTAGEM ARTIFICIAL E VEGETAÇÃO NATIVA DE CERRADO NA ÉPOCA CHUVOSA<br />
DO ANO<br />
Érica de Alcântara Câmara 1 , Danilo Gusmão de Quadros 2 , Felipe Rodrigo Santos Hordonho 1 ,<br />
Alberto Magalhães de Sá 1 , Daiana Nara Santos Oliveira 1<br />
1 Estudante de graduação de Engenharia Agronômica da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - Campus IX<br />
2 Docente da UNEB – Campus IX. Professor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB / Núcleo de Estudo e<br />
Pesquisa em Produção Animal (NEPPA). BR 242, km 4, s/n. Lot. Flamengo. Barreiras – BA. 47800-000. E-mail:<br />
uneb_neppa@yahoo.com.br Website: www.neppa.uneb.br<br />
INTRODUÇÃO<br />
Considerada praga mundial do gado bovino, presente em todo território nacional e na<br />
América do Sul, conforme enfatizado nos estudos de BIANCHIN & ALVES (2002), a moscados-chifres<br />
(Haematobia irritans) se tornou foco para diversos estudos de controle biológico,<br />
realizado hoje principalmente pelos besouros coprófagos conhecidos como “rola-bosta”.<br />
O besouro atua como competidor direto da mosca-dos-chifres se alimentando das<br />
fezes frescas dos bovinos que servem como berçário para as larvas da mosca. O enterrio<br />
das fezes realizado pelo besouro evita o desenvolvimento e a proliferação da H. irritans,<br />
promove a reciclagem dos nutrientes em formas assimiláveis a planta, promove a aeração<br />
do solo, diminui a rejeição da pastagem, incorpora matéria orgânica no solo e auxilia a<br />
rebrota do capim (RODRIGUES, 1989).<br />
O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento populacional de<br />
coleópteros coprófagos capturados com a utilização de armadilhas passivas de queda<br />
iscadas com fezes bovinas, a fim de se comparar a sua ocorrência em pastagem artificial e<br />
em vegetação nativa de cerrado, na época chuvosa do ano.<br />
MATERIAL E MÉTODOS<br />
O experimento foi conduzido na zona rural da cidade de Barreiras, região do oeste<br />
baiano, de coordenadas geográficas 12° 09' 10" S 44° 59' 24" O e 452 m de altitude. Foram<br />
montadas oito armadilhas de queda, iscadas com fezes bovinas recentes, afastadas no<br />
mínimo 100 m uma das outras; metade delas em pastagem de capim-estrela-africana sob<br />
lotação contínua e o restante em vegetação nativa de cerrado.<br />
A armadilha foram montadas semanalmente entre 17h e 18h, sendo desmontada<br />
com a coleta dos besouros capturados entre 07h e 08h do dia seguinte, durante o período<br />
de 15/01/2009 a 16/06/2009, totalizando 23 semanas e 184 amostras. Logo após a coleta,<br />
os besouros foram encaminhados ao laboratório da Faculdade da Agronomia da UNEB para<br />
medição e acondicionamento em recipientes com álcool 70% identificados por local e data<br />
de coleta.<br />
Após a medição, os besouros capturados foram classificados em função de seu<br />
comprimento conforme FLECHTMANN et al. (1995a) em: pequenos (até 5,25mm), médios<br />
(5,26 a 10,00mm) e grandes (acima de 10,00mm).<br />
Os dados foram tabulados no programa Excel ® (Windows) e analisados quanto à<br />
frequência percentual de besouros capturados em relação ao seu tamanho.<br />
RESULTADO E DISCUSSÃO<br />
Capturou-se 1.138 besouros, 60% na área nativa de cerrado e 40% na pastagem. O<br />
uso de produtos químicos no tratamento dos animais, devido sua ação residual durante o<br />
período de avaliação provavelmente influenciou esse resultados. BIANCHIN & ALVES<br />
76
(2002) relataram que besouros em contato com as fezes de animais tratados com produtos<br />
do tipo “pour-on” apresentam alta mortalidade devido sua absorção sistêmica, diminuindo<br />
significamente a população de Scarabaeidae coprófago.<br />
Dos besouros capturados 769 (68%) eram pequenos, 60% na mata e 40% no pasto;<br />
165 (14%) eram médios, 28 e 72% para mata e pasto, respectivamente; e 204 (18%) eram<br />
grandes, 84% na mata e apenas 16% no pasto.<br />
Através de análise de massas fecais em campo, FLECHTMANN et al. (1995 b)<br />
concluíram que os besouros coprófagos classificados como grandes e médios são os<br />
principais responsáveis pela desestruturação/incorporação destas massas, a despeito da<br />
indiscutível supremacia numérica dos besouros pequenos, correspondentes aos<br />
endocoprídeos. Uma quantidade alta de endocoprídeos, eventualmente pode causar uma<br />
desestruturação de razoável intensidade numa massa fecal, mas as observações de campo<br />
indicam que esta não ocorre em velocidade suficiente para interferir no ciclo da mosca-doschifres.<br />
CONCLUSÃO<br />
A ocorrência de escarabeídeos em pastagens artificiais foi menor do que no cerrado<br />
nativo. Assim, o controle biológico da mosca-dos-chifres pelo besouros coprófagos só terá<br />
sucesso se estiver associado com outras práticas agroecológicas de controle de parasitos,<br />
ou com a utilização de antiparasitários seletivos.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BIANCHIN I.; ALVES R.G.O. Mosca-dos-chifres, Haematobia irritans: comportamento e<br />
danos em vacas e bezerros Nelore antes da desmama. Pesquisa Veterinária Brasileira.<br />
v.22, n.8 p.109-113, 2002.<br />
FLECHTMANN, C. A. H.; RODRIGUES, S. R.; COUTO, H. T. Z. Controle biológico da<br />
mosca-dos-chifres (Haematobia irritans irritans) em Selvíria, Mato Grosso do Sul - 2: ação<br />
de insetos fimícolas em massas fecais no campo. Revista Brasileira de Entomologia, v.39,<br />
n.2, p.237-247, 1995 a.<br />
FLECHTMANN, C. A. H.; RODRIGUES, S. R.; COUTO, H. T. Z. Controle biológico da<br />
mosca-dos-chifres (Haematobia irritans irritans) em Selvíria, Mato Grosso do Sul – 4:<br />
comparação entre métodos de coleta de besouros coprófagos (Scarabaeidae). Revista<br />
Brasileira de Entomologia, v.39, n.2, p.259-276, 1995 b.<br />
RODRIGUES, L. R. A. Os besouros coprófagos em pastagens. In: SIMPÓSIO SOBRE<br />
ECOSSISTEMA DE PASTAGENS, Jaboticabal, 1989. Anais... Jaboticabal:FUNEP. 1989.<br />
p.97-133.<br />
Érica de Alcântara Câmara, Tel: (77) 8127- 3469 , eacamara2009@hotmail.com<br />
77
LEVANTAMENTO DE PLANTAS NATIVAS DO CERRADO COM POTENCIAL<br />
FORRAGEIRO<br />
José Avelino Cardoso 1 , Danilo Gusmão de Quadros 2 , Áurea Xavier de Souza 1 , Jamile da<br />
Silva Oliveira 1 , José Augusto Reis Almeida¹.<br />
1<br />
Estudante de graduação de Engenharia Agronômica da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) -<br />
Campus IX<br />
2<br />
Docente da UNEB – Campus IX. Professor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB / Núcleo<br />
de Estudo e Pesquisa em Produção Animal (NEPPA). BR 242, km 4, s/n. Lot. Flamengo. Barreiras –<br />
BA. 47800-000. E-mail: uneb_neppa@yahoo.com.br Website: www.neppa.uneb.br<br />
INTRODUÇAO<br />
Com cerca de 2 milhões de km 2 e ocupando 13 estados brasileiros, além do Distrito<br />
Federal, o cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, atrás apenas da floresta Amazônica<br />
(EMBRAPA, 2008). Muitas espécies nativas do cerrado possuem potencial forrageiro e, por<br />
serem bem resistentes, elas persistem a longos períodos de estiagem, podendo ser utilizada<br />
na alimentação de bovinos.<br />
O uso de espécies nativas pode ser uma alternativa econômica para o aproveitamento<br />
sustentável da região. Varias são as espécies que possuem utilização regional e muitas delas<br />
enquadram em mais de um tipo de uso (madeireiro, medicinal, frutífero, ornamental, forrageiro<br />
etc). Entretanto, o usuário comum ainda é a população regional cuja atividade é<br />
essencialmente extrativista. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das plantas<br />
nativas do cerrado com potencial forrageiro.<br />
MATERIAIS E MÉTODOS<br />
O trabalho foi realizado em fazendas de pecuária dos municípios de Angical, Riachão<br />
das Neves, Wanderlei, Barreiras, São Desidério e Santa Rita de Cássia, na região oeste da<br />
Bahia.<br />
O primeiro passo para a realização do trabalho foi à elaboração de um questionário<br />
próprio, o qual foi aplicado para vaqueiros experientes. Em seguida procedeu-se a coleta<br />
das amostras das plantas com o auxilio de um podão e/ou tesoura de poda, coletando no<br />
mínimo quatro exemplares de cada espécie. Na ocasião da coleta foram anotadas algumas<br />
características que poderiam ser perdidas durante o processo de herborização.<br />
O material coletado foi herborizado e as exsicatas montadas constando uma ficha de<br />
identificação na parte inferior. O material foi identificado até os níveis de famílias, utilizandose<br />
de chaves de identificação taxonômicas. Posteriormente o material foi incluído no Acervo<br />
Botânico, o qual foi organizado segundo um sistema de classificação por ordem alfabética<br />
das Famílias.<br />
RESULTADO E DISCUSSÃO<br />
A maioria das plantas coletadas nas fazendas foi pertencente à família Fabaceae,<br />
família de ervas arbustivas, árvores ou lianas; folhas alternas, muito raramente opostas,<br />
geralmente compostas, com estipulas, às vezes transformadas em espinhos.<br />
As principais representantes da família Fabaceae encontradas foram: Amendoim<br />
Bravo (Arachis prostrata Benth.), o Jatobá (Hymenaea stigonocarpa Mart. ex. Hayne), a<br />
Jurema Preta (Mimosa tenuiflora Willd), o Mata pasto (Senna obtusifolia) e a Estilosantes<br />
(Stylosanthes spp.). No Brasil oito cultivares de Stylosanthes spp. foram liberados<br />
comercialmente no mercado. As espécies S. guianensis, S. capitata e S. macrocephala são<br />
as principais espécies com potencial de uso no Brasil. Atualmente encontra-se no mercado<br />
dois cultivares deste gênero, o cv. Mineirão e o cv. multilinhas Campo Grande (SILVA,<br />
2004).<br />
Foi relatado na revisão de ALMEIDA et al. (1998) que vestígios de folhas de Jatobá<br />
foram detectadas na extrusa de bovinos fistulados no esôfago.<br />
78
A Jurema Preta é uma das espécies que se instala em áreas recém abertas. Mesmo<br />
chegando a 4 metros de altura, ela suporta bem a poda porque rebrota com facilidade e<br />
fornece forragem aos animais (DIACONIA, 2006).<br />
O mata pasto é uma leguminosa herbácea, que ocorre a cada ano logo no início das<br />
chuvas. Apesar de não ser consumida verde é, segundo os relatos, bem apreciada quando<br />
está seca. A palatabilidade das plantas secas indica que pode ser utilizada também como<br />
feno, para diminuir a carência alimentar dos animais no período da seca (NASCIMENTO,<br />
2006).<br />
A Euphorbiaceae foi à família com o segundo número de espécies coletadas,<br />
caracterizadas botanicamente como plantas que apresentam caules e folhas latescentes.<br />
Dentre as principais, o Amendoim bravo ou planta de leite (Euphorbia heterophylla) foi<br />
relatada como muito apreciada pelos animais na seca, bem como erva curraleira (Croton<br />
goyzensis).<br />
A Convolvulaceae, familia de plantas volúveis, apresentaram espécies consideradas<br />
de alta aceitabilidade. Foram encontradas nessa família: a corda-de-viola (Ipomoea nil) e<br />
jitirrana (Merremia cissoides). Apesar do baixo percentual de matéria seca da forragem<br />
verde da jitirana, os percentuais de proteína bruta, resíduo mineral e extrato etéreo, além da<br />
produção de massa verde que credenciam essa espécie vegetal como uma boa forrageira<br />
(LINHARES et al., 2005).<br />
A principal planta da família Malvaceae (ervas com folhas alternas, simples e<br />
serreadas) encontrada foi a malvinha (Sida spinosa). Segundo os relatos, é uma planta<br />
muito consumida por bovinos e caprinos que cresce em vários tipos de solos, principalmente<br />
em pastagens superpastejadas.<br />
CONCLUSÃO<br />
Um número significativo de espécies dos cerrados com potencial forrageiro foi<br />
identificado no presente estudo. Contudo, mais pesquisas a respeito da ocorrência, o valor<br />
nutritivo e a presença de fatores anti-nutricionais dessas espécies precisam ser realizadas,<br />
para fornecer subsídios científicos à recomendação da utilização da vegetação nativa do<br />
cerrado para produção sustentável de bovinos.<br />
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
AMEILDA, S. P.; PROENÇA, C. E. B.; SANO S. M. et al. (Eds.) Cerrado: espécies<br />
vegetais úteis. Planaltina: EMBRAPA Cerrados, 1998. 464p.<br />
DIACONIA. Produção de forragens: Banco de proteínas [série criação animal]. Recife,<br />
PE: Diaconia, 2006. 25p.<br />
EMBRAPA. Cerrado: ecologia e flora. Brasilia, DF: Embrapa informações tecnológicas,<br />
2008. 2 v. (1.279).<br />
LINHARES, P.C.F.; MARACAJÁ, P.B.; SOUZA, A.H. Avaliação das qualidades forrageiras<br />
da jitirana (Merremia aegyptia) e seu potencial uso na alimentação animal. Revista de<br />
Biologia e Ciências da Terra, v.5, n.2, p. 01-06, 2005.<br />
NASCIMENTO, M.P.S.C.B.; NASCIMENTO, H.T.S.; OLIVEIRA, M.E. et al. Análise do<br />
crescimento e valor forrageiro de mata-pasto para a produção de feno. Revista Caatinga,<br />
v.19, n.3, p.215-220, 2006.<br />
SILVA, M. P. Estilosantes - Stylosanthes spp.. Fauna e Flora do Cerrado. EMBRAPA Gado<br />
de Corte, Campo Grande, Junho 2004. Disponível em: <<br />
http://www.cnpgc.embrapa.br/~rodiney/series/flora/estilo/estilosantes.htm >. Acesso em:<br />
11/07/2009<br />
José Avelino Cardoso, Tel.: (77) 9966-4676 E-mail: zeca.gbi@hotmail.com, 07/2009.<br />
79
LEVANTAMENTO DE PLANTAS TÓXICAS EM ANGICAL E RIACHÃO DAS NEVES -<br />
BAHIA<br />
Robson Santos da Silva 1 , Danilo Gusmão de Quadros 2 , Guilherme Augusto Vieira 3 , Joice<br />
Silva de Jesus 1 , Kelin Frizon 1 .<br />
1<br />
Discente. Universidade do Estado da Bahia - UNEB - Campus IX, Faculdade de Agronomia. Barreiras, BA,<br />
Brasil.<br />
2<br />
Docente. UNEB – campus IX. Faculdade de Agronomia - Núcleo de Estudo e Pesquisa em Produção Animal.<br />
www.neppa.uneb.br<br />
3 Docente. Curso de Medicina Veterinária da UNIME /Agronegócios da Faculdade Cairu<br />
INTRODUÇÃO<br />
Os prejuízos que as plantas tóxicas causam à pecuária são constantemente apontados<br />
em vários países do mundo. Há várias razões que levam os animais a ingerirem essas<br />
plantas nocivas, como a falta de pastagens adequadas e escassez de alimentos. A ingestão<br />
dessas ervas é responsável pelas intoxicações e morte dos mesmos (ANDRADE &<br />
MATTOS, 1968).<br />
Planta tóxica de interesse pecuário, a que é ingerida por animais domésticos de<br />
fazenda, em condições naturais, e causa danos à saúde ou morte, com comprovação<br />
experimental (TOKARNIA et al., 2000). As plantas que causam “morte súbita” são as mais<br />
importantes no Brasil, pois são responsáveis por metade das mortes causadas por plantas<br />
tóxicas no País, mesmo correspondendo a 20% das plantas tóxicas de importância na<br />
pecuária (CARVALHO, 2007). O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das<br />
principais plantas tóxicas em fazendas nos municípios de Angical e Riachão das Neves,<br />
região de cerrados do oeste da Bahia.<br />
MATERIAL E MÉTODOS<br />
O trabalho foi conduzido nas fazendas Poço do Correio (Alt. 465m; S: 11° 58’ 57”, W<br />
44° 37’ 11” ), no município de Angical e na Fazenda Angico ( Alt. 536m; S: 11° 25’ 30”, W<br />
44° 56’ 56” ), no município de Riachão das Neves, ambas na região de cerrados do oeste da<br />
Bahia. As coletas foram balizadas pelo conhecimento empírico de vaqueiros experientes, os<br />
quais responderam a questionários, por meio de uma ficha padrão, contendo características<br />
botânicas, toxicidade e sintomatologia.<br />
Nas pastagens, foram coletadas cinco amostras de cada espécie, com auxílio de um<br />
podão e tesoura de poda. As plantas foram levadas ao Campus IX da UNEB para realização<br />
da herborização, inserindo o material coletado entre papel e papelão. Após fechamento, foi<br />
colocado em uma prensa de madeira e seco em estufa a aproximadamente 70ºC, pelo<br />
período necessário.<br />
Em seguida foram montadas as exsicatas, contendo um exemplar de cada espécie.<br />
A identificação das plantas tóxicas foi realizada com as chaves taxonômicas. O material foi<br />
incluído no acervo botânico da UNEB - Campus IX, sendo organizado segundo o sistema de<br />
classificação, por ordem alfabética das famílias.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
Foi encontrado um significativo número de espécies e famílias de plantas tóxicas nas<br />
duas propriedades (Tabela 1). Em Angical foram identificadas: Barbatimão<br />
(Stryphnodendron obovatum Benth.), Tamboril (Enterolobium contortisiliquum Vell. Morong)<br />
ambas pertencente à família Leguminosae-Mimosoideae; Vaquetão (Thiloa glaucocarpa<br />
80
Eichl) da família Combretaceae; Fedegoso (Senna occidentalis L. Link) da família<br />
Leguminosae-Cesalpiniaceae. Em Riachão das Neves foram encontradas: Mamona (Ricinus<br />
communis L.) e Mandioca brava (Manihot tripattita Spreng Mull.) ambas pertencentes à<br />
família Euphorbiaceae, plantas estas consideradas tóxicas para bovinos.<br />
O surgimento dos sintomas provocados pela M. tripattita da quantidade e do tempo<br />
de ingestão, podendo provocar intoxicação aguda e/ou intoxicação crônica, através de sinais<br />
de pulso rápido e pouco perceptível, dispnéia, convulsões e meteorismo. Na intoxicação<br />
aguda por R. communis surgem sintomas de inquietação, andar desequilibrado,<br />
necessidade de se deitar após uma curta marcha, dificuldades ao se deitar, tremores<br />
musculares, sialorréia, eructação excessiva e recuperação ou morte rápida. Os sintomas de<br />
intoxicação por E. contortisiliquum se for curso agudo ocorre diminuição ou ausência<br />
completa de apetite, lassidão, apatia fezes extremamente diarréicas, escuras e fétidas e<br />
morte. Se curso crônico, apatia anorexia e mucosa ocular ictérica. A S. obovatum provoca<br />
constipação, fezes fétidas, diarréicas e com estrias de sangue, apatia, parada da ruminação,<br />
emagrecimento progressivo, tremores musculares, lacrimejamento, sialorréia e erosões na<br />
mucosa bucal. A S. occidentalis provoca náuseas, vômitos, cólicas, diarréia aquosa, às<br />
vezes diarréia mucosanguinolenta, sendo suas raízes abortivas (PEREIRA, 1992). A T.<br />
glaucocarpa provoca empanzinamento, parada da ruminação e edemas subcutâneos<br />
(BARG, 2004).<br />
CONCLUSÃO<br />
O estudo demonstrou que foi encontrada uma grande variedade de espécies de<br />
plantas tóxicas nas fazendas estudadas, nos municípios de Angical e Riachão das Neves,<br />
região dos cerrados baianos, que podem causar graves prejuízos à pecuária regional.<br />
Sugere-se um melhor manejo das pastagens, controle de ervas daninhas com aplicação de<br />
herbicidas e isolamento das áreas infestadas como medidas de combate às plantas tóxicas,<br />
além de dificultar o acesso dos animais aos locais infestados.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ANDRADE, S. O.; MATTOS, J. R. de. Contribuição ao estudo de plantas tóxicas no<br />
estado de São Paulo, Instituto Biológico, p. 122, São Paulo, 1968.<br />
BARG, D. G. Plantas tóxicas. IBEHE/FACIS. Curso de Fitoterapia. Disponível em: <<br />
http://www.esalq.usp.br/siesalq/pm/plantas_toxicas.pdf> Acesso em: 14/07/2009.<br />
CARVALHO, A. V. Plantas Tóxicas que Causam Morte Súbita em Bovinos de Corte. São<br />
Paulo, julho, 2007. Disponível em: < http://www.beefpoint.com.br/<br />
?noticiaID=37796&actA=7&areaID=60&secaoID=183. >. Acesso em: 29/11/2008.<br />
PEREIRA, C. A. Plantas Tóxicas e Intoxicações na Veterinária. Goiânia: UFG. 1992. 279<br />
p.<br />
TOKARNIA, C. H.; DÖBEREINER, J.; VARGAS, P. V. Plantas Tóxicas do Brasil. Rio de<br />
Janeiro: Helianthus, 2000. 320 p. il.<br />
Robson Santos da Silva, (77) 8106-7479, nosboragro@yahoo.com.br<br />
81
Tabela 1 – Espécies de plantas tóxicas identificadas nos municípios de Angical e Riachão das Neves – BA e os<br />
principais sintomas de intoxicação em bovinos.<br />
Localidades<br />
Angical Riachao das Neves<br />
Espécies Sintomas Espécies Sintomas<br />
Barbatimao<br />
(Stryphnodendron<br />
obovatum Benth.)<br />
Tamboril<br />
(Enterolobium<br />
contortisiliquum Vell.<br />
Morong)<br />
Vaquetão<br />
(Thiloa glaucocarpa<br />
Eichl)<br />
Fedegoso<br />
(Senna occidentalis L.<br />
Link)<br />
Provoca constipação, fezes<br />
fétidas, diarréicas e com estrias<br />
de sangue, apatia, parada da<br />
ruminação, emagrecimento<br />
progressivo, tremores<br />
musculares, lacrimejamento,<br />
sialorréia e erosões na mucosa<br />
bucal.<br />
Se for curso agudo ocorre<br />
diminuição ou ausência<br />
completa de apetite, lassidão,<br />
apatia fezes extremamente<br />
diarréicas, escuras e fétidas e<br />
morte. Se curso crônico, apatia<br />
anorexia e mucosa ocular<br />
ictérica.<br />
Provoca empanzinamento,<br />
parada da ruminação e edemas<br />
subcutâneos.<br />
Provoca náuseas, vômitos,<br />
cólicas, diarréia aquosa, às<br />
vezes diarréia<br />
mucosanguinolenta, sendo<br />
suas raízes abortivas.<br />
82<br />
Mamona<br />
(Ricinus<br />
communis L.)<br />
Mandioca<br />
brava<br />
(Manihot<br />
tripattita<br />
Spreng Mull.)<br />
Intoxicação aguda surge<br />
sintomas de inquietação,<br />
andar desequilibrado,<br />
necessidade de se deitar<br />
após uma curta marcha,<br />
dificuldades ao se deitar,<br />
tremores musculares,<br />
sialorréia, eructação<br />
excessiva e recuperação ou<br />
morte rápida.<br />
Intoxicação aguda e/ou<br />
intoxicação crônica, através<br />
de sinais de pulso rápido e<br />
pouco perceptível, dispnéia,<br />
convulsões e meteorismo.
METODOLOGIA DOS ASPECTOS DO COMPORTAMENTO INGESTIVO DE VACAS<br />
LEITEIRAS A PASTO<br />
Daniele Soares Barroso1, Hermógenes Almeida de Santana Júnior 1 , Marcelo Mota Pereira 1 ,<br />
Daniel Lucas Santos Dias 1 , Danilo Ribeiro de Souza 2<br />
1 Graduando em Zootecnia<br />
2 Zootecnista, mestrando em Produção Animal<br />
Introdução<br />
O estudo do comportamento ingestivo é importante para um melhor entendimento dos<br />
efeitos dos alimentos disponibilizado aos animais. No entanto, para o desenvolvimento desses<br />
estudos são necessárias metodologias eficientes, com boas acurácias e que apresente uma<br />
considerável facilidade de condução. Sendo assim, o número de observações ideal utilizada<br />
para o estudo dos aspectos do comportamento de bovinos no Brasil é variado e/ou elevado,<br />
com isso várias pesquisas devem ser feitas nesse objetivo, com o intuito de padronizar o<br />
método de coleta de dados e diminuir as exigências de mão-de-obra.<br />
Objetivou-se identificar o número de observações mais adequadas para estudo dos<br />
aspectos do comportamento ingestivo de vacas leiteiras a pasto, quando comparados com<br />
quatro observações por turno.<br />
Material e métodos<br />
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária, em<br />
Itapetinga-Bahia, no período de 13 de janeiro de 2009 a 10 de março de 2009. Foram utilizadas<br />
16 vacas, com grau de sangue 5/8 Holandês X 3/8 Zebu, com peso corporal médio de 500 kg,<br />
distribuídos Inteiramente ao Acaso (DIC), em dois tratamentos e oito repetições:<br />
Tratamento controle = sem administração; Tratamento rbST = com administração de 500<br />
mg de Somatotropina bovina recombinante (rbST) por animal.<br />
Foi realizado o pastejo rotacionado em Brachiaria brizantha adubado periodicamente<br />
(3x no período das águas), a suplementação foi realizada entre ordenhas, em área provida de<br />
cobertura, piso de cimento, área de sol. As vacas foram ordenhadas mecanicamente em<br />
ordenha do tipo passagem com 16 x 2 . A pesagem do leite foi realizada em medidor<br />
automático digital de dois em dois dias.<br />
A suplementação foi composta por: milho moído 4,31 kg, farelo de soja 2,70 kg, sal<br />
mineral 0,20 kg, com base na matéria seca, calculado para mantença e produção de 25 quilos<br />
de leite por dia (NRC, 2001).<br />
O comportamento animal foi avaliado no 28º dia, sendo observados visualmente a cada<br />
10 minutos (SILVA et al., 2008), por dois períodos de nove horas e 30 minutos horas (05:30 as<br />
15:00), totalizando 19 horas de observação.<br />
Registrou-se o tempo médio gasto por bolo ruminado e o número de mastigações por<br />
bolo, em quatro turnos de observações (manhã, tarde, noite e madrugada), com uma (1R), duas<br />
(2R), três (3R) ou quatro (4R) repetições por turno e por animal, totalizando 80, 160, 240 e 360<br />
observações, respectivamente. Após a obtenção dos resultados das diversas variáveis<br />
testadas, todas foram comparadas com as médias de quatro repetições. Calculou-se o número<br />
de bolos ruminados por dia, velocidade de mastigação, tempo gasto por mastigação e o número<br />
de mastigações por dia.<br />
Foi utilizado o delineamento experimental em unidades de medidas repetidas, em<br />
arranjo fatorial 2 x 4 (com ou sem administração de rbST e quatro números de repetições por<br />
observação). Para análise dos dados coletados no experimento, foi utilizado o Sistema de<br />
83
Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG, e os resultados foram interpretados estatisticamente<br />
por meio de análise de variância e Tukey a 5% de probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
TABELA 1 - Valores do número mastigações por bolo (NMB), tempo por bolo (TB), números de<br />
bolos ruminados por dia (NBRD), velocidade de mastigação (VM), tempo por mastigação (TM) e<br />
o número de mastigações por dia (NMD), com uma (1R), duas (2R), três (3R) e quatro (4R)<br />
observação por turno, em vacas leiteiras a pasto.<br />
ITEM OBSERVAÇÕES POR TURNO CV 1 (%)<br />
1R 2R 3R 4R<br />
NMB 50,4 50,4 49,1 48,5 14,7<br />
TB (mim) 52,9 52,9 51,3 50,5 13,1<br />
NBRD 0,95 0,96 0,96 0,96 7,1<br />
VM (número por minuto) 1,06 1,05 1,05 1,05 7,5<br />
TM (mim) 2900 2910 2830 2802 18,6<br />
NMD 258 257 266 275 17,1<br />
1 Coeficiente de variação.<br />
Os valores de NMB, TB, NBRD, VM, TM e NMD não diferiram estatisticamente entre os<br />
diferentes números de observação por turno, quando comparados com quatro repetições por<br />
turno. Com isso, verifica-se que com uma observação por turno para verificação dos aspectos<br />
do comportamento ingestivo, os resultados não diferenciam. Presumindo-se que essa<br />
semelhança estatística com o aumento das repetições é oriunda do momento em que esses<br />
dados são coletados, pois as repetições são colhidas em um mesmo período de ruminação, e<br />
consequentemente de um mesmo conteúdo ruminal.<br />
No estudo do comportamento ingestivo, o maior custo para sua execução é a<br />
quantidade de mão-de-obra necessária para um número de observações adequado. Sendo<br />
assim, tais resultados são de grande valia para a viabilização de estudos relacionados ao<br />
comportamento animal, pois permite a utilização de um menor número de observações por<br />
turno, diminuindo, consequentemente a exigência de mão-de-obra.<br />
Não foi encontrado nenhum estudo semelhante na literatura para realizar uma<br />
comparação. Com isso, deverá ser realizados mais estudos de metodologia dos aspectos do<br />
comportamento ingestivo com o intuito de verificar quantidade de avaliações que são realmente<br />
essenciais, com a finalidade de facilitar a condução de pesquisa com comportamento.<br />
Conclusões<br />
Para estudo dos aspectos do comportamento ingestivo de vacas leiteiras a pasto podem<br />
ser feitos em até uma observação por turno, sem interferir nos valores das variáveis analisadas.<br />
Bibliografia<br />
NRC - NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of dairy cattle. 7.ed.<br />
Washington, D.C.: National Academy Press, 2001. 381p.<br />
SILVA, R.R. PRADO, I.N. CARVALHO, G.G.P. et al. Efeito da utilização de três intervalos de<br />
observações sobre a precisão dos resultados obtidos no estudo do comportamento ingestivo de<br />
vacas leiteiras em pastejo. Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 2, p. 319-326. 2008.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
84
METODOLOGIA PARA O ESTUDO DO COMPORTAMENTO INGESTIVO DE VACAS<br />
LEITEIRAS A PASTO<br />
Murilo de Almeida Meneses 1 , Hermógenes Almeida de Santana Júnior 1 ,Marcelo Mota Pereira 1 ,<br />
Roberio Rodrigues da Silva 2 , Daniele Soares Barroso 1<br />
1 Graduando em Zootecnia<br />
2 Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – Pós Doutorado<br />
Introdução<br />
Uma das novas tecnologias que podem ser utilizadas para a obtenção de ganhos em<br />
produtividade em rebanhos leiteiros é a utilização da somatotropina bovina recombinante (rbST)<br />
para vacas em lactação. A resposta à utilização de rbST em vacas leiteiras se refere a<br />
aumentos de 10 a 15% na produção de leite (ETHERTON & BAUMAN, 1998)<br />
O sistema de criação de bovinos a pasto é caracterizado por uma série de fatores e suas<br />
interações podem afetar o comportamento ingestivo dos animais, comprometendo o seu<br />
desempenho e consequentemente, a viabilidade da propriedade (PARDO et al., 2003).<br />
Objetivou-se identificar os intervalos de tempo mais adequados para estudo do<br />
comportamento ingestivo de vacas leiteiras a pasto, quando comparados com a escala de 10<br />
minutos de intervalo entre observações.<br />
Material e métodos<br />
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária, em<br />
Itapetinga-Bahia, no período de 13 de janeiro de 2009 a 10 de março de 2009. Foram utilizadas<br />
16 vacas, com grau de sangue 5/8 Holandês X 3/8 Zebu, com média de produção de 24 quilos<br />
de leite, distribuídos Inteiramente ao Acaso (DIC), em dois tratamentos e oito repetições:<br />
Tratamento controle = sem administração; Tratamento rbST = com administração de 500 mg de<br />
Somatotropina bovina recombinante (rbST) por animal.<br />
Foi realizado o pastejo rotacionado em Brachiaria brizantha adubado periodicamente<br />
(3x no período das águas), a suplementação foi realizada entre ordenhas, em área provida de<br />
cobertura, piso de cimento, área de sol. As vacas foram ordenhadas mecanicamente em<br />
ordenha do tipo passagem com 16 x 2. A pesagem do leite foi realizada em medidor automático<br />
digital de dois em dois dias.<br />
A suplementação foi composta por: milho moído 4,31 kg, farelo de soja 2,70 kg, sal<br />
mineral 0,20 kg, com base na matéria seca, calculado para mantença e produção de 25 quilos<br />
de leite por dia .<br />
O comportamento animal foi avaliado no 28º dia. As variáveis comportamentais<br />
estudadas foram: pastejo, ruminação, ócio e permanência no cocho. O comportamento foi<br />
observados visualmente a cada 10 minutos SILVA et al., (2008), por dois períodos de nove<br />
horas e 30 minutos horas (05:30 as 15:00), totalizando 19 horas de observação.<br />
Cada animal foi observado em três escalas diferentes: 10, 20 e 30 minutos de intervalo,<br />
a fim de identificar o tempo destinado às atividades em cada uma das escalas. Após a obtenção<br />
dos resultados das diversas variáveis testadas, todas foram comparadas com a escala de 10<br />
minutos de intervalo.<br />
Foi utilizado o delineamento experimental em unidades de medidas repetidas, em<br />
arranjo fatorial dois por três (com ou sem administração rbST e três escalas de intervalo).<br />
Para análise dos dados coletados no experimento, foi utilizado o Sistema de Análises<br />
Estatísticas e Genéticas – SAEG, e os resultados foram interpretados estatisticamente por meio<br />
de análise de variância e Tukey a nível de 0,05 de probabilidade.<br />
85
Resultados e Discussão<br />
TABELA 1- Valores dos tempos de pastejo, ócio, ruminação e permanência no cocho com três<br />
intervalos de observação, em vacas leiteiras a pasto.<br />
ITEM (mim) INTERVALO DE OBSERVAÇÃO 1 CV 2 (%)<br />
10 20 30<br />
PASTEJO 142 143 134 16,6<br />
ÓCIO 263 227 232 24,7<br />
RUMINAÇÃO 280 306 322 20,4<br />
COCHO 35 B 44 A 31 B 13,7<br />
1<br />
Intervalo de tempo em minutos.<br />
2<br />
Coeficiente de variação.<br />
Os tempos de pastejo, ruminação e ócio não apresentaram diferenças estatísticas entre<br />
o tratamento sem ou com administração da rbST (P>0,05). Já para o tempo de permanência no<br />
cocho houve diferença estatística entre os intervalos de observações de 10 e 30 minutos com o<br />
de 20 minutos de intervalo de observação (P
ORDENHA MECÂNICA X ORDENHA MANUAL: COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES<br />
DE CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS (CCS) E CONTAGEM BACTERIANA TOTAL<br />
(CBT)<br />
Marcelo Mota Pereira 1 , Perecles Brito Batista 2 , Sibelli Passini Barbosa Ferrão 3 , Daniel<br />
Lucas Santos Dias 1 , Aracele Prates de Oliveira 2<br />
1 Graduando em Zootecnia<br />
2 Zootecnista, Mestrando em Produção Animal<br />
3 Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia Rural e Animal - UESB<br />
Introdução<br />
No Brasil, a produção de leite, como os outros segmentos da atual sociedade, é uma<br />
atividade cada vez mais competitiva. Portanto, é importante quantificar e qualificar os fatores<br />
que podem influenciá-la, buscando ganhos efetivos na quantidade e qualidade do leite<br />
produzido, na tentativa de suprir a demanda nacional.<br />
A contagem de células somáticas (CCS) do leite pode variar segundo diversos fatores,<br />
como idade do animal, estádio de lactação, estresse, época do ano e nutrição, mas o fator<br />
mais preocupante é a presença de mastite no rebanho.<br />
Paralelamente à IN-51, diversas indústrias iniciaram programas de valorização da<br />
qualidade do leite, por meio do pagamento diferenciado de acordo com os resultados das<br />
análises de composição (gordura, proteína e sólidos totais), contagem de células somáticas<br />
(CCS) e contagem bacteriana total (CBT) (CASSOLI et al., 2005). Com isso, os produtores<br />
podem obter cerca de 10 a 20% de receita adicional, o que pode ser considerado um<br />
incentivo significativo.<br />
O presente estudo foi desenvolvido no intuito de avaliar o impacto do tipo da ordenha<br />
(manual ou mecânica) sobre os resultados de CCS e CBT e da qualidade do leite obtido na<br />
fazenda Cabana da Ponta Agropecuária ltda.<br />
Material e Métodos<br />
Este estudo foi realizado no período de novembro de 2008 a maio de 2009, no curral<br />
da sede Cima onde o leite é ordenhado de forma manual e na sala de ordenha da sede do<br />
confinamento, onde o leite é ordenhado mecanicamente no sistema duplo 16, em foco na<br />
Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária Ltda., município de Itororó, sul da Bahia.<br />
Em cada sistema de ordenha foram ordenhadas vacas mestiças holandesas x zebu<br />
com variados graus de sangue, em estagio de lactação entre 15 e 280 dias. Os animais<br />
foram ordenhados duas vezes ao dia com bezerro ao pé. A rotina da ordenhas começava<br />
com o ordenhador soltando o bezerro para que ocorra a liberação do leite pelas vacas , logo<br />
após o ordenhador retirava o bezerro para realização do teste da caneca de fundo preto e<br />
pré-dipping, com a imersão dos quartos mamários em solução de iodo . Em seguida os tetos<br />
eram secos com papel toalha.<br />
Foram realizadas 04 amostras mensais no tanque de resfriamento e estocagem de<br />
cada sistema (ordenha manual e mecânica) na fazenda Cabana da Ponte, seguindo os<br />
padrões recomendados pelo Laboratório de Fisiologia da Lactação, da Clínica do Leite,<br />
ESALQ/USP, e encaminhadas no dia para determinação da contagem de células somáticas<br />
CCS por citometria de fluxo, por intermédio do equipamento Somacount 300®, da Bentley<br />
Instruments, Incorporation e contagem bacteriana total (CBT) foi realizada no equipamento<br />
Bactocount (Bentkey Instruments).<br />
Para analise estatística dos dados utilizou-se o programa SAEG – Sistema de Análises<br />
Estatísticas e Genéticas (RIBEIRO JR, 2001), bem como os resultados foram interpretados<br />
estatisticamente por meio de análise de variância e teste F a 5% de probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
Na tabela 1 estão apresentados os valores médios de CBT e CCS das amostras<br />
obtidas em ordenha manual e mecânica no período de novembro de 2008 a maio de 2009.<br />
87
TABELA 01 - Valores médios obtidos para Contagem de Células Somáticas (CCS) e<br />
Contagem Bacteriana Total ( CBT) de amostras de leite obtidas em sistema de ordenha<br />
manual e mecânica.<br />
Ordenha<br />
Manual<br />
Ordenha<br />
mecânica<br />
88<br />
CV (%)<br />
CBT<br />
103.937<br />
27.429<br />
69,830 0,00014<br />
CCS 536.250 312.357 34,442 0,00031<br />
CV = coeficiente de variação; P = significância.<br />
Verificou-se que o CBT diferenciou estatisticamente apresentando valores médio para<br />
CBT de 103.937 células/ml para leite ordenhado manual, valor bem abaixo dos demonstrado<br />
por Guerreiro et al.(2005) que avaliando a influência da adoção de diferentes técnicas<br />
profiláticas de higiene e limpeza, durante o manejo de produção, na qualidade<br />
microbiológica de leite, apresentou índice de contaminação ao redor de 3.000.000<br />
células/ml em leite obtido com ordenha manual .<br />
Para CCS, o leite ordenhado mecanicamente foi de 312.357 células/ ml, valores estes<br />
inferiores aos apresentados por Machado et al. (2000) avaliaram 4.785 amostras de leite de<br />
tanques para CCS de rebanhos localizados nos Estados de São Paulo e no Sul de Minas<br />
Gerais e registraram média e desvio-padrão amostral de 549.00 células/mL.<br />
De acordo com NORO (2004), a qualidade do leite é reflexo de diversas práticas<br />
adotadas durante a ordenha, manutenção e limpeza dos equipamentos e utensílios, prática<br />
de manejos dos animais, descarte de animais com problemas e cuidados sanitários.<br />
Os resultados comprovam que apesar de sempre serem ordenhados da mesma forma<br />
e com cuidado ligado a higiene, a ordenha mecânica apresentou valores menores<br />
comprovando a obtenção do leite de forma mais higiênica e de melhor qualidade.<br />
Conclusão<br />
A ordenha mecânica apresentou valores menores tanto de CBT quanto de CCS,<br />
evidenciando a obtenção de um leite de melhor qualidade microbiológica.<br />
Bibliografia<br />
CASSOLI, L. D.; MACHADO, P. F.; RODRIGUES, A. C. A valorização da qualidade.Boletim<br />
do Leite, ano 11, n. 137, p. 3, novembro de 2005.<br />
GUERREIRO., P. K., MACHADO.,M. R. F., ;BRAGA., G. C. et al. Qualidade microbiológica<br />
de leite em função de técnicas profiláticas no manejo de produção, Ciência<br />
Agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 1, p. 216-222, jan./fev. 2005<br />
MACHADO, P.F.; PEREIRA, A.R.; SARRÍES, G.A. Composição do leite de tanques de<br />
rebanhos brasileiros distribuídos segundo sua contagem de células somáticas. Revista<br />
Brasileira de Zootecnia, v.29, n.6, p.1883-1886, 2000.<br />
NORO,G. Fatores ambientais que afetam a produção e a qualidade do leite em rebanhos<br />
ligados a cooperativas gaúchas. 2004. 92f. Dissertação (Mestrado Ciências Veterinárias) -<br />
Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias, UFRGS, Porto Alegre.<br />
RIBEIRO JR., J.I. Análises Estatísticas no SAEG (Sistema de análises estatísticas).<br />
Viçosa,: UFV, 2001. 301 p.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
P
PESO E RENDIMENTO DE CARCAÇA DE NOVILHOS NELORE<br />
SUPLEMENTADOS COM SAL MINERAL OU PROTEINADO EM PASTAGEM DE<br />
Brachiaria brizantha 1<br />
WEIGHT AND CARCASS YIELD OF NELORE STEERS RECEIVING MINERAL OR<br />
PROTEIN SUPPLEMENTS IN PASTURE OF BRACHIARIA BRIZANTHA<br />
Paulo José Presídio Almeida 2 , Danilo Ribeiro de Souza 2 , Fabiano Ferreira da<br />
Silva 3 , Guilherme Augusto Vieira da Silva 4 , Daniel Lucas Santos Dias 5<br />
1<br />
Parte da dissertação do segundo autor.<br />
2<br />
Mestrando em Zootecnia pela UESB. Bolsista CNPq e CAPES; AGIPec- Consultoria Agropecuária;<br />
3<br />
Professor do Curso de Zootecnia da UESB;<br />
4<br />
Professor do Curso de Medicina Veterinária da UNIME;<br />
5<br />
Graduando em Zootecnia pela UESB.<br />
Palavras – chave: suplemento, engorda, carcaça<br />
Introdução<br />
A pecuária de corte no Brasil é feita quase que exclusivamente a pasto, onde se tem<br />
como base forragem do gênero Brachiária sp. e animais de origem zebuína, sendo a<br />
raça Nelore a mais difundida. Porem a comercialização de animais para abate exige<br />
peso de carcaça e grau de acabamento, onde segundo ARBOITTE et al. (2004), existe<br />
relação positiva entre peso de carcaça e rendimento de carcaça e grau de<br />
acabamento e rendimento de carcaça. Uma vez que os níveis nutricionais da pecuária<br />
de corte brasileira têm sido baixos, principalmente pelos custos de produção, o que<br />
implica abates tardios, menor velocidade no giro do capital e influência nas<br />
características das carcaças (BRONDANI et al., 2000). O incremento de nutrientes<br />
específicos como energia, proteína, minerais e vitaminas poderão elevar o ganho de<br />
peso e a qualidade da carcaça destes animais. Objetivou-se estudar o efeito da<br />
suplementação protéica sobre o peso e rendimento de carcaça em novilhos Nelore,<br />
terminados em pastagem.<br />
Materiais e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na Fazenda Boa Vista, município de Macarani, Bahia, no<br />
período de 26 de agosto de 2006 a 24 de fevereiro de 2007. Foram utilizados 18<br />
novilhos da raça Nelore com 26 meses de idade e peso vivo médio de 371,5 kg<br />
distribuídos em dois tratamentos: T1 - suplementação mineral e T2 – suplementação<br />
protéica de baixo consumo até a terminação. Foram utilizados quatro piquetes de<br />
Brachiária brizantha com 6,5 hectares cada. Enquanto dois piquetes estavam<br />
ocupados os outros dois permaneciam vazios por 28 dias. Todos os animais tinham<br />
livre acesso à sombra, água e mistura mineral ou suplemento. Os animais foram<br />
pesados no início e fim do período experimental após jejum total de 12 horas e foram<br />
feitas pesagens intermediárias a cada 28 dias. Foi considerado como ponto de abate o<br />
momento em que os animais atingiram o peso médio de 480 kg. A escolha deste peso<br />
foi feita em função do peso adulto da raça utilizada no experimento. Os animais foram<br />
abatidos no frigorífico BERTIN seguindo o fluxo normal de abate. Foi retirada a seção<br />
de costelas, para mensurar o peso da carcaça fria (PCF), o peso da carcaça quente<br />
(PCQ), o rendimento de carcaça quente (RCQ), o rendimento de carcaça fria (RCF).<br />
Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com dois<br />
tratamentos e nove repetições por tratamento. As variáveis estudadas foram avaliadas<br />
por meio de análise de variância, pelo Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas -<br />
SAEG (UFV, 2001) e utilizou-se o teste F em nível de 5% de significância.<br />
Resultados e Discussão<br />
Não houve efeito (P>0,05) sobre peso vivo final (PVF), peso de carcaça quente (PCQ),<br />
peso de carcaça fria (PCF), rendimento de carcaça quente (RCQ) e o rendimento de<br />
89
carcaça fria (RCF). A alta disponibilidade de forragem devido à utilização da pastagem<br />
vedada, à baixa taxa de lotação e um maior índice pluviométrico ocorrido durante a<br />
fase da seca do experimento, permitiu a seleção das folhas pelos animais,<br />
consequentemente os que receberam apenas sal mineral obtiveram ganhos diários<br />
que permitiram chegar ao abate nas mesmas condições que os suplementados com<br />
proteinado. Resultados semelhantes aos observados por SILVA (2008), trabalhando<br />
com animais de valor genético e condições ambientais semelhante, fornecendo<br />
suplementação de 0, 0,3, 0,6 e 0,9% do peso vivo também não encontrou diferenças<br />
destas variáveis.<br />
Tabela 1 – Peso vivo final (PVF), peso da carcaça quente (PCQ), peso da carcaça fria (PCF),<br />
rendimento de carcaça quente (RCQ) e rendimento de carcaça fria (RCF), em<br />
função da suplementação dos tratamentos sal mineral ou proteinado com seus<br />
respectivos coeficientes de variação (CV) e probabilidade (P).<br />
Item Sal Mineral Proteinado CV P<br />
PVF (Kg) 470,11a 470,33a 7,074 ns<br />
PCQ (Kg) 249,88a 248,87a 6,853 ns<br />
PCF (Kg) 255,68a 252,22a 6,532 ns<br />
RCQ (%) 53,32a 52,88a 3,195 ns<br />
RCF (%) 54,50a 53,60a 3,460 0,33151<br />
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem pelo teste F (P
PRESENÇA OU AUSÊNCIA DO BEZERRO SOBRE O COMPORTAMENTO INGESTIVO<br />
DE FÊMEAS ANELORADAS EM PASTAGENS<br />
Jeane Lucardia dos Santos Dantas 1, 2 , Jossimara Neiva de Jesus 1, 2 , Emmanuel Emydio 2 , Luis Henrique Almeida<br />
de Matos 1 , Evani Souza Strada 3<br />
1 Graduandos em Zootecnia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/CCAAB, Cruz das Almas - BA.<br />
² Alunas Assistidas pelo Programa de Permanência da PROPAAE/ UFRB.<br />
3 Graduando em Medicina Veterinária pela UFRB/CCAAB, Cruz das Almas - BA.<br />
4 Prof. Assistente do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas/UFRB, Cruz das Almas - BA.<br />
Palavra-chave: ócio, pastejo, ruminação.<br />
Introdução<br />
Gestão profissional, adubação, manejo de pastagens, conhecimento do processo<br />
produtivo, controle zootécnico, comportamento, conforto e bem estar animal, são requisitos<br />
básicos para conquistar uma eficácia econômica na produção de bovinos em pastagens<br />
(Marques et al., 2006).<br />
Tais fatores e suas interações podem afetar negativamente o comportamento ingestivo<br />
dos ruminantes, levando uma decadência nos indicies produtivo e reprodutivo da<br />
propriedade.<br />
O estudo do comportamento ingestivo é uma ferramenta fundamental para maximizar a<br />
produção e por conseqüência, o desempenho da propriedade, elevando assim os níveis<br />
zootécnicos da mesma.<br />
Assim, objetivou-se com esse trabalho analisar o comportamento ingestivo de vacas<br />
com e sem bezerros ao pé em Cruz das Almas, Ba.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi realizado no Setor de Bovinocultura de Corte, no Centro de<br />
Ciências Agrárias Ambientais e Biológicas da UFRB, Cruz das Almas/BA, com duração de<br />
dois dias, em junho de 2009.<br />
Separou-se 16 vacas aneloradas em estágios reprodutivos distintos (vacas com e<br />
sem presença do bezerro) para utilização no ensaio.<br />
A área ocupada por esses animais era de 3,5 ha com disponibilidade de forragem de<br />
2.600Kg/ha, em pastagem Brachiaria decumbens e teor de matéria seca (MS) de,<br />
aproximadamente, 35%.<br />
As vacas foram submetidas à observação visual para coleta de dados. As observações<br />
foram divididas em quatro períodos (PERI = 06:10-12:00 h; PERII =12:10- 18:00 h; PERIII =<br />
18:10- 00:00 h e PERIV= 00:10-06:00 h) e um intervalo de 10 minutos entre as observações.<br />
As variáveis observadas, em minutos, foram: alimentação (ALI), ruminação (RUM) e ócio<br />
(OCI), e calculada a percentagem de tempo que o animal permaneceu ruminando deitado<br />
(RUD), em ócio deitado (OCD), a freqüência de alimentação (FAL), freqüência de ruminação<br />
(FRU) e freqüência de ócio (FOC), sendo a freqüência determinada como o número de<br />
intervalos de ingestão, ruminação e ócio. Para as observações noturnas foram utilizadas<br />
lanternas com o intuito de minimizar os efeitos da alteração das condições normais das<br />
atividades de pastejo.<br />
A análise foi feita com revezamento de avaliadores, anteriormente, treinados e as<br />
anotações efetuadas em etograma específico.<br />
O esboço experimental foi inteiramente casualizado com dois tratamentos e oito<br />
repetições e as médias obtidas foram testadas pelo teste de F, para os tratamentos e de<br />
Tukey para os períodos, ao nível de 5% de significância utilizando-se o SAEG (2007).<br />
Resultados e Discussão<br />
91
Observou-se que o tempo gasto nas atividades: alimentação, ruminação e ócio foram<br />
semelhantes entre os tratamentos não havendo diferença significativa (Tabela 1).<br />
Resultados como esse foi encontrado por Dias et. al. (2009) quando avaliaram o<br />
comportamento ingestivo de fêmeas aneloradas em estágios reprodutivos distintos sob<br />
mesma condição de pastejo.<br />
Tabela 1: Tempo de alimentação (ALI), ruminação (RUM) e ócio (OCI), percentagem do tempo ruminando<br />
deitada (PRUD), percentagem do tempo em ócio deitado (POCD), freqüência de alimentação (FAL), ruminação<br />
(FRU) e ócio (FOC) de vacas aneloradas com e sem bezerro ao pé em pastagem de Brachiaria decumbens.<br />
Tratamento ALI RUM PRUD OCI POCD FAL FRU FOC<br />
Vaca Falhada 1246,25 1007,50 38,78 743,75 37,67 31,25 a<br />
33,87 39,75<br />
Vaca com Bezerro 1182,50 953,75 47,53 626,25 42,16 23,75 b<br />
35.00 40,00<br />
*C.V. (%) 8,87 7,76 16,67 10,86 10,72 11,12<br />
Médias seguidas de letras diferentes na coluna, diferem entre si (P
PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DAS CULTIVARES DE Brachiaria EM RESPOSTA A<br />
ADUBAÇÃO FOSFATADA NO ESTABELECIMENTO<br />
Alexsandro Cotrim Pimentel Ribeiro da Costa 1 , George Hilton Cruz Reis 2 , Carlos Alberto<br />
Alves de Oliveira Filho, Camila Maida Albuquerque Maranhão 3 , Paulo Bonomo 3<br />
1 Graduando(a) em Zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB-BA;<br />
2 Mestrando em Zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB-BA;<br />
3 Professor(a) do Curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB-BA.<br />
Introdução<br />
Ao se considerar o estabelecimento de pastagens, a baixa disponibilidade de fósforo nos<br />
solos tropicais brasileiros tem sido relevante limitação de produção. O fósforo participa de<br />
um grande número de compostos nas plantas, essenciais em algumas vias metabólicas e<br />
nos processos de transferência de energia. O seu suprimento adequado, desde o início do<br />
desenvolvimento vegetal, é importante para a formação das partes reprodutivas.<br />
A deficiência de fósforo destaca-se como uma das maiores restrições para a pecuária,<br />
considerando-se que as pastagens são relativamente mais exigentes em fósforo que as<br />
culturas anuais, em razão da maior produção de massa seca, extração e exportação de<br />
nutrientes (Goedert & Lobato, 1984).<br />
O presente estudo teve como objetivo avaliar a produção e teor de matéria seca de<br />
cultivares de Brachiaria em resposta a adubação fosfatada.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido no setor de forragicultura e pastagem na Universidade<br />
Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, Bahia. O ensaio foi conduzido em esquema<br />
fatorial 4x4, sendo três cultivares de Brachiaria brizantha (cv. Marandú, cv. MG-5 e cv. MG-<br />
4) e uma Brachiaria decumbes cv. Basilisk em resposta a quatro níveis de fósforo (0, 75,<br />
150, 225 de P2O5 Kg.ha -1 ), O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três<br />
repetições. As unidades experimentais possuía área útil de coleta de 9 m 2 (3m x 3m) com<br />
corredores de 1m. A adubação fosfatada foi realizada no momento da semeadura, em linha<br />
próximo as sementes, utilizando o super fosfato simples como fonte de fósforo. A<br />
semeadura foi realizada em linha.<br />
Tabela 1. Análise química da amostra de solo retirada do local do experimento<br />
mg/dm 3<br />
Cmol /dm 3<br />
pH P K +<br />
Ca 2+ Mg 2+<br />
Al 3+<br />
H +<br />
S.B T V M.O<br />
5,8 5,0 0,09 3,6 3,2 0,1 2,3 6,8 9,3 74 19<br />
O corte de uniformização foi realizado 60 dias após a semeadura, a uma altura de 10 cm da<br />
superfície do solo. Os cortes experimentais, para coleta de material para análise de<br />
produção de matéria seca, foram realizados a cada 45 dias, a uma altura de 15 cm da<br />
superfície do solo. A realização dos cortes foi no intervalo de 21 de Março a 21 de Junho.<br />
As amostras foram coletadas, identificadas, pesadas e levadas à estufa de 105°C, por 24<br />
horas para determinação da matéria seca definitiva.<br />
Os resultados referentes à média de três cortes foram submetidos à análise de variância,<br />
testados a 5% de probabilidade. A interação foi desdobrada, ou não, de acordo com a<br />
significância e o efeito do fósforo foi avaliado por análise de regressão por polinômios<br />
ortogonais. Os cultivares foram comparados pelo teste F, utilizando-se o programa<br />
estatístico - Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG).<br />
Resultados e Discussão<br />
93<br />
*g/dm 3
Não houve interação (P>0,05) entre as cultivares avaliados e os níveis de fósforo para a<br />
produção de matéria seca (PMS). Para as doses de fósforo utilizadas, não houve resposta<br />
(P>0,05) quando adubadas com doses crescentes. O fósforo apresenta baixa mobilidade no<br />
solo além de pouco tempo de disponibilidade para a planta, logo após a sua aplicação<br />
(Cecato et al. 2004). Segundo Nascimento et al. (2002) trabalhando com níveis de calagem<br />
e fontes de fósforo na produção do capim Tanzânia, observou-se que a ausência de<br />
adubação levou a queda de produtividade das pastagens, porém a aplicação isolada de<br />
fósforo, não foi suficiente para expressão do potencial da forrageira.<br />
Tabela 2 - Produção de matéria seca (PMS) das cultivares de Brachiaria em resposta a<br />
adubação fosfatada durante o outono.<br />
Cultivar<br />
Doses de Fósforo (P2O5 kg/.ha)<br />
0 75 150 225 Média Equação<br />
Produção de Matéria Seca (kg/ha)<br />
Basilisk 719,65 746,42 1010,13 896,55 843,19ª<br />
Marandu 585,78 583,96 422,8 470,12 515,67 b<br />
MG4 728,7 596,74 583,04 616,33 631,20 b<br />
MG5 627,99 645,51 733,56 727,44 683,63 ab<br />
Média 665,53 643,16 687,38 677,61 Y=668,42<br />
CV (%) 27,68<br />
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste Tukey 5% de probabilidade<br />
Os cultivares apresentaram diferenças quanto à produção de matéria seca (P
PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE CULTIVARES DE Brachiaria EM RESPOSTA A<br />
ADUBAÇÃO FOSFATADA NO VERÃO<br />
Alexsandro Cotrim Pimentel Ribeiro da Costa 1 , George Hilton Cruz Reis 2 , Elisangela Oliveira<br />
Cardoso 1 , Camila Maida Albuquerque Maranhão 3 , Paulo Bonomo 3<br />
1 Graduando(a) em Zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,UESB-BA;<br />
2 Mestrando em Zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,UESB-BA;<br />
3 Professor do Curso de Zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB-BA.<br />
Introdução<br />
No Brasil geralmente as pastagens são cultivadas em solos de baixa fertilidade com<br />
reduzida disponibilidade de fósforo, sendo que depois do nitrogênio, o fósforo é o nutriente<br />
mais limitante à produção das plantas forrageiras, sendo de fundamental importância,<br />
principalmente no estabelecimento, estimulando a formação e o crescimento das raízes.<br />
Além do tipo de solo e da baixa fertilidade, as condições climáticas adversas afetam<br />
negativamente a qualidade nutritiva das forrageiras, limitando o consumo de nutrientes e<br />
não atendendo às exigências do animal. No estabelecimento de uma pastagem, deve-se dar<br />
atenção à adubação fosfatada, cujas doses, para os diferentes sistemas de produção,<br />
dependem da disponibilidade de fósforo, que varia conforme a textura do solo e o teor de<br />
fósforo remanescente (Cantarutti et al., 1999b).<br />
O presente estudo teve como objetivo avaliar a produção de matéria seca de cultivares de<br />
Brachiaria em resposta a adubação fosfatada.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido no setor de forragicultura e pastagem na Universidade<br />
Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, Bahia. O ensaio foi conduzido em esquema<br />
fatorial 4x4, sendo três cultivares de Brachiaria brizantha (cv. Marandú, cv. MG-5 e cv. MG-<br />
4) e uma Brachiaria decumbes cv. Basilisk em resposta a quatro níveis de fósforo (0, 75,<br />
150, 225 de P2O5 Kg.ha -1 ), O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três<br />
repetições. As unidades experimentais possuía área útil de coleta de 9 m 2 (3m x 3m) com<br />
corredores de 1m. A adubação fosfatada foi realizada no momento da semeadura, em linha<br />
próximo as sementes, utilizando o super fosfato simples como fonte de fósforo. A<br />
semeadura foi realizada em linha de acordo com recomendação para cada cultivar.<br />
O corte de uniformização foi realizado 60 dias após a semeadura, a uma altura de 10 cm da<br />
superfície do solo. Os cortes experimentais, para coleta de material para análise de<br />
produção de matéria seca, foram realizados a cada 45 dias, a uma altura de 15 cm da<br />
superfície do solo. A realização dos cortes foi no intervalo de 21 de dezembro a 21 de<br />
março.<br />
As amostras foram coletadas, identificadas, pesada e levadas à estufa de 105°C, por 24<br />
horas para determinação da matéria seca definitiva.<br />
Os resultados foram submetidos à análise de variância, testados a 5% de probabilidade. A<br />
interação foi desdobrada, ou não, de acordo com a significância e o efeito do fósforo foi<br />
avaliado por análise de regressão. Os cultivares foram comparados pelo teste F, utilizandose<br />
o programa estatístico - Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG).<br />
Resultados e Discussão<br />
TABELA-1 Produção de matéria seca de cultivares de Brachiaria em resposta a adubação<br />
fosfatada no verão.<br />
Doses de Fósforo (P2O5 kg/.ha)<br />
Cultivar 0 75 150 225 Média Equação<br />
Produção de Matéria Seca (kg/ha)<br />
Basilisk 1784,6 1084,7 1606,2 1366,2 1460,4A<br />
95
Marandu 1142,7 1070,1 1097,0 1187,1 1124,2B<br />
MG4 1319,8 1494,8 1134,7 1415,3 1341,1AB<br />
MG5 1577,8 1476,7 1241,2 1318,7 1403,6A<br />
Média 1456,2 1281,6 1269,8 1321,8 =1332,348<br />
CV (%) =15,669<br />
Letras iguais em coluna não diferem entre se pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.<br />
A interação entre doses de fósforo e cultivares não foi significativa (P>0,05) para a produção<br />
de matéria seca (PMS) no verão.<br />
O uso da adubação fosfatada não apresentou efeito (P>0,05) para a variável PMS.<br />
Elevados níveis de fósforo, podem não proporcionar efeitos devido à sua baixa mobilidade<br />
no solo e ao pouco tempo de disponibilidade para a planta, logo após a sua aplicação, pode<br />
se tornar em não lábil, tornando-se indisponível a planta. Além da baixa disponibilidade de<br />
fósforo, o uso de fertilizações fosfatadas complica-se pelo fato desses solos apresentarem<br />
elevada capacidade de adsorção do fosfato e acidez, fato que proporciona a transformação<br />
do fósforo solúvel em água em formas não-disponíveis para planta, como o fosfato de ferro<br />
e o fosfato de alumínio (Büll et al., 1997; Nakayama et al., 1998).<br />
Na tabela 1, as cultivares de Brachiaria apresentaram diferenças (P
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE DE BÚFALAS, CRIADAS NA REGIÃO DE<br />
MAIQUINIQUE – BAHIA<br />
Thaiany T. Fonseca*¹; Sérgio A. de A. Fernandes²; Josué de S. Oliveira³; Amanda dos S.<br />
Faleiro¹; Dayana R. de Souza¹.<br />
1 Graduanda em Zootecnia e Bolsista de Iniciação Científica (FAPESB e Voluntária da UESB);<br />
2 Prof. Adjunto - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, Itapetinga/BA.<br />
3 Mestrando em Engenharia de Alimentos/UESB<br />
Introdução<br />
Nos últimos anos tem sido realizado um intenso trabalho visando à implantação definitiva da<br />
bubalinocultura no Brasil. Havendo um aumento crescente na criação desses animais,<br />
principalmente para a produção leiteira, em decorrência das características físico-químicas<br />
peculiares do seu leite (NADER FILHO, 1984; MESQUITA et al., 2002). O leite de búfala em<br />
relação ao de outras espécies apresenta alta qualidade nutricional, por possuir elevados<br />
teores de proteína, gordura e minerais como cálcio e fósforo, proporcionando maior<br />
rendimento industrial na fabricação de produtos derivados.<br />
Os dados encontrados a respeito da composição do leite de búfalas são muito variados, pois<br />
diversos são os fatores que influenciam na proporção de seus componentes. Diante da<br />
escassez de estudos que caracterizem o leite de búfalas, objetivou-se neste trabalho<br />
determinar as propriedades físico-químicas do leite de búfalas em diferentes fases de<br />
lactação, criadas na região de Maiquinique – Bahia.<br />
Material e métodos<br />
Foram coletadas três amostras compostas de leite de búfalas, oriundas de 24 animais das<br />
raças Jafarabadi e Murrah, sob condições de pastejo, em diferentes fases de lactação<br />
caracterizando o início, meio e final da lactação. As amostras foram coletadas na Fazenda<br />
Boa Nova na região de Maiquinique, sudoeste da Bahia e imediatamente encaminhadas sob<br />
refrigeração até a Clínica do Leite (ESALQ – Piracicaba – SP). Os resultados obtidos foram<br />
analisados a partir do delineamento inteiramente casualizado pelo teste Tukey a 5% de<br />
probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
Conforme mostra na tabela, não houve interação entre a fase de lactação nos resultados de<br />
pH, acidez (p0,05). Resultados semelhantes ao<br />
encontrado por FARIA (2002). Onde o potencial de Hidrogênio (pH) está inversamente<br />
relacionado aos valores da acidez Dornic, ou seja, quanto maior o pH, menor será a acidez.<br />
Para os resultados de gordura, ST, SNG, lactose, proteína, não houve interação (p>0,05).<br />
Porém a concentração de proteína foi maior no início da lactação. Estes resultados estão de<br />
acordo com os obtidos por FARIA (2002) e FERNANDES et al. (2005), onde foram<br />
encontrados os menores teores de proteína no quinto mês da lactação e maior, no primeiro<br />
mês da lactação. Este fenômeno pode está relacionado com a produção leiteira, pois à<br />
medida que a produção se eleva, o teor de proteína diminui devido ao efeito da diluição.<br />
97
Lactação<br />
Parâmetros Início Meio Final<br />
Potencial de 6,89A 6,82A 6,87A<br />
Hidrogênio (pH)<br />
Acidez (º Dornic) 14,0A 15,2A 15,9A<br />
Crioscopia (º H) -0,535A -0,539A -0,542A<br />
Densidade (g/mL) 1,0351A 1,0357A 1,0352A<br />
Gordura (%) 5,71A 6,14A 6,26A<br />
Proteína (%) 4,34A 4,00B 4,06AB<br />
Lactose (%) 5,05A 5,19A 5,13A<br />
ST (%) 16,39A 16,56A 16,60A<br />
SNG (%) 10,51A 10,41A 10,35A<br />
Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha para fase de lactação, não diferem entre si (p>0,05) pelo<br />
teste Tukey.<br />
Conclusões<br />
As análises físico-química evidenciou as características presentes no leite de búfalas,<br />
assegurando com isso um maior rendimento industrial e um produto final de qualidade.<br />
Referências<br />
NADER FILHO, A., et al. Estuda da variação do ponto crioscópico do leite de búfala.<br />
Reev.do Inst. Cândido Toste. 39(234), 1984. Juiz de Fora-Mg.<br />
MESQUITA, ET AL. Qualidade físico-química e microbiológica do leite cru bubalino.Goiânia:<br />
Ed. da UFG, 2002.<br />
FARIA, M. H.; TONHATI, H.; CERON MUNOZ, M.; DUARTE, J.M.C.; VASCONCELLOS, B.<br />
F. Características do leite de búfalas ao longo da lactação. Revista do Instituto de Laticínios<br />
Cândido Tostes, n°324, v.54, p. 2-7, 2002<br />
FERNANDES, S. A. A.; MATTOS, W. R.; MATARAZZO, S. V.; TANHATI, H.; OTAVIANO, A,<br />
R.; LIMA, ª L. F.; RUIZ PESCE, M. L. Avaliação da produção e qualidade do leite de<br />
rebanhos de São Paulo. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, n°346/347, v.60,<br />
p. 53-58, 2005.<br />
Autor a ser contactado: Thaiany Teles Fonseca<br />
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 468. ITAPETINGA/BA. CEP-45700-000.<br />
Email: thaianytelles10@hotmail.com Fone: (75) 8145-0453<br />
98
QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE LEITE CRU ORDENHADO MANUALMENTE<br />
Rita kelly Couto Brandão 1 , Marcelo Mota Pereira 1 , Perecles Brito Batista 2, Philipe Gazzoli<br />
Farias 1 , Antonio Jorge Del Rei 3<br />
1 Graduando em Zootecnia - UESB<br />
2 Zootecnista, mestrando em Produção Animal<br />
3 Médico Veterinário, Prof. Dr. em reprodução animal - UESB<br />
INTRODUÇÃO<br />
O mercado consumidor dos produtos de origem animal tem-se mostrado cada vez<br />
mais exigente no que se refere ao preço e à qualidade dos produtos que consome. E para<br />
que essas exigências sejam alcançadas, as indústrias devem ser rigorosas quanto à<br />
composição e o aspecto higiênico-sanitário do leite que chega à plataforma de recepção.<br />
A composição do leite é avaliada por meio de análise laboratorial para determinação<br />
dos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais.<br />
Os mamíferos secretam o leite como uma forma de alimentar suas crias. É um dos<br />
alimentos mais completos, devido a seus valores nutritivos e energéticos e a sua<br />
composição físico-química. Por séculos, o homem tem utilizado o leite dos animais<br />
domésticos como vacas, búfalas, cabras e ovelhas como fonte de nutrientes importantes em<br />
sua dieta. De acordo com Harding (1995), o leite de vaca contém cerca de 87% de água,<br />
3,9% de gordura, 3,2% de proteínas, 4,6% de lactose e 0,9% de minerais e vitaminas. As<br />
suas características físico-químicas são importantes para a determinação do valor nutritivo,<br />
do processamento industrial e da remuneração ao produtor.<br />
A globalização de mercados, em função da grande e variada oferta de produtos<br />
lácteos importados, induziu o consumidor brasileiro a tornar-se mais exigente em relação à<br />
qualidade dos produtos oferecidos. A indústria, por sua vez, tem se modernizado e exigido<br />
do produtor um leite de melhor qualidade, na tentativa de tornar-se mais competitiva.<br />
O presente estudo objetivou avaliar se a qualidade do leite tipo C cru produzido<br />
verificando se estão dentro dos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa 51, para os<br />
parâmetros de gordura, proteína, sólidos não gordurosos e lactose.<br />
MATERIAL E MÉTODOS<br />
Este trabalho foi realizado no período de janeiro a dezembro de 2007, no curral da<br />
sede do Confinamento na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária Ltda., município de<br />
Itororó, sul da Bahia.<br />
O rebanho é composto por vacas mestiças holandesas x zebu com variados graus de<br />
sangue, em estágio entre 10 e 280 dias de lactação. Os animais foram ordenhados no<br />
sistema de ordenha manual com bezerro ao pé, com duas ordenhas diárias, e operações de<br />
ordenha higiênica.<br />
Foram coletadas 03 amostras mensais no tanque de resfriamento e estocagem da<br />
sede do confinamento na fazenda Cabana da Ponte, seguindo os padrões recomendados<br />
pelo Laboratório de Fisiologia da Lactação, e acondicionadas em frascos com conservante<br />
bronopol, sendo remetidas no mesmo dia para a Clínica do Leite, ESALQ/USP, para<br />
determinação dos teores de extrato seco desengordurado, gordura, lactose e proteína por<br />
citometria de fluxo, por intermédio do equipamento Somacount 300®, da Bentley<br />
Instruments, Incorporation.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
A composição química do leite, para teores médios de gordura, proteína, lactose e<br />
sólidos não gordurosos, obtidas no período de janeiro a dezembro de 2007 encontram-se na<br />
Tabela 1. A porcentagem de gordura foi de 3,81 %. Em estudo realizado em Pernambuco<br />
Lima et al., (2006), verificaram teor médio de 3,56%. O teor médio de proteína foi de 3,25 %.<br />
99
Quando comparado com os valores na literatura, é superior aos encontrados por, Lima et at.<br />
(2006), de 3,06%. O teor médio de lactose foi de 4,44%. Valores médios mais elevados<br />
foram observados por Lima et al., (2006), de 4,48%. Com relação ao teor de sólidos não<br />
gordurosos, o valor médio encontrado foi de 8,62%, valores menor que o encontrado por<br />
Dias (2009), trabalhando com vacas leiteiras no Sul da Bahia.<br />
Na tabela 1 são observadas as médias dos resultados obtidos após as analises físicoquímicas<br />
do leite do curral da sede do Confinamento.<br />
Tabela 1. Resultados observados nas analises físico-químicas.<br />
2007 jan fev mar mai jun ago set out nov dez media<br />
GORDURA 3,77 3,56 3,78 4,32 3,5 3,58 3,86 3,65 4,34 3,73 3,81<br />
PROTEÍNA 3,43 3,29 3,47 3,35 3,27 3,01 3,14 3,15 3,15 3,19 3,25<br />
LACTOSE 4,27 4,26 4,42 4,4 4,39 4,43 4,51 4,58 4,61 4,5 4,44<br />
ESD 8,68 8,46 8,99 8,68 8,58 8,32 8,6 8,64 8,64 8,63 8,62<br />
A propriedade avaliada se encontra acima dos padrões mínimos exigidos pela IN – 51,<br />
quanto a composição físico-química das amostras de leite analisada, demonstrando que<br />
implantação de medidas de intervenção nos processos de obtenção e armazenamento do<br />
leite cru e a aplicação de programas de boas práticas são alternativa para melhoria dos<br />
processos, bem como um rigoroso programa e planejamento alimentar, afeta diretamente a<br />
qualidade da matéria prima produzida.<br />
CONCLUSÃO<br />
O leite produzido nesta propriedade está acima dos valores mínimos exigidos pela IN<br />
51, demonstrando a qualidade da meteria prima.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
Dias, D. L. S., Pereira, M. M., Del Rei, A. J. et. al. COMPOSIÇÃO DO LEITE CRU<br />
PRODUZIDO EM PROPRIEDADE RURAL NO SUL DA BAHIA COM ORDENHA<br />
MECANICA NO ANO DE 2009, Anais do I Encontro de Qualidade de Leite da Bahia,<br />
Maio de 2009,Itapetinga – Bahia<br />
BRASIL. Ministério de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução<br />
Normativa no 51, de 18 de setembro de 2002. Regulamentos Técnicos de Produção,<br />
Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, do Leite tipo C, do Leite Pasteurizado<br />
e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e<br />
seu Transporte a Granel, 2002.<br />
HARDING, F. Compositional quality: milk quality. Glasgow: Blackie Academic<br />
Professional, 1995. 165p.<br />
Lima et al., 2006. Contagem de células somáticas e análises físico-químicas e<br />
microbiológicas do leite cru tipo c produzido na Região Agreste do Estado de Pernambuco.<br />
Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.73, n.1, p.89-95, jan./mar.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
100
QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE LEITE CRU ORDENHADO MANUALMENTE E<br />
REFRIGERADO<br />
Daniele Soares Barroso 1 , Marcelo Mota Pereira 1 , Aracele Prates De Oliveira 2 , Perecles<br />
Brito Batista 2 , Rita Kelly Couto Brandão 1<br />
1 Graduando em zootecnia – UESB – Itapetinga - Bahia<br />
2 Zootecnista, mestrando em Produção Animal<br />
INTRODUÇÃO<br />
A globalização de mercado tornou o consumidor brasileiro mais exigente com a<br />
qualidade dos produtos oferecidos. Com a modernização da indústria laticinista, que passou<br />
a exigir do produtor um leite de melhor qualidade, foram implementadas normas nacionais<br />
de padrão de qualidade de leite pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e<br />
pela Normativa 51 (IN 51), por intermédio do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade<br />
de Leite (BRASIL, 2002), com vistas ao estabelecimento de critérios para a produção,<br />
identidade e qualidade do leite. Isto gerou a implementação de melhorias como a coleta do<br />
leite cru refrigerado e seu transporte a granel (MARTINS, 2004).<br />
A obtenção do leite de vacas sadias, em condições higiênicas adequadas, e o seu<br />
resfriamento imediato a 4ºC são as medidas fundamentais e primárias para garantir a<br />
qualidade e a segurança do leite e seus derivados.<br />
Neste estudo foi avaliada a qualidade higiênico-sanitária do leite cru obtida na<br />
propriedade Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária ltda., estado da Bahia, avaliando se a<br />
mesma está dentro dos limites máximo estabelecido de 10 6 UFC/mL de aeróbios mesófilos<br />
em leite cru refrigerado (BRASIL, 2002), da IN51.<br />
MATERIAL E MÉTODOS<br />
Este trabalho foi realizado no período de janeiro a dezembro de 2008, no curral da<br />
sede do Confinamento na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária Ltda., município de<br />
Itororó, sul da Bahia.<br />
O rebanho é composto por uma média de 380 vacas mestiças holandesas x zebu com<br />
variados graus de sangue, em estágio entre 10 e 280 dias de lactação. Os animais foram<br />
ordenhados no sistema de ordenha manual com bezerro ao pé, com duas ordenhas diárias,<br />
e operações de ordenha higiênica.<br />
As amostras de leite foram coletadas mensalmente no tanque de resfriamento e<br />
estocagem da sede do confinamento na fazenda Cabana da Ponte, seguindo os padrões<br />
recomendados pelo Laboratório de Fisiologia da Lactação, da Clínica do Leite, ESALQ/USP,<br />
e encaminhadas para determinação dos teores de extrato seco desengordurado, gordura e<br />
proteína por citometria de fluxo, por intermédio do equipamento Somacount 300®, da<br />
Bentley Instruments, Incorporation.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
De acordo com Noro (2004), a qualidade do leite é reflexo de diversas práticas<br />
adotadas durante a ordenha, manutenção e limpeza dos equipamentos e utensílios, prática<br />
de manejos dos animais, descarte de animais com problemas e cuidados sanitários.<br />
Na tabela 1 são observadas as médias dos resultados obtidos após as análises das<br />
amostras leite de vacas da propriedade Cabana da Ponte – Itororó, no ano 2008.<br />
Tabela 1. Resultados observados das amostras de leite cru de vacas mestiças holandesas x<br />
zebu.<br />
2008 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Media<br />
CBT<br />
(mil 22 32 1628 20 143 397 82 1692 10 17 226 129 366,50<br />
UFC/ml)<br />
101
Os valores médios observados no período de janeiro a dezembro de 2008, foram de<br />
366.500 UFC/ml, valores que estão abaixo dos apresentados por (CASSOLI & MACHADO,<br />
2007) na Argentina, em que encontrou mediana de CBT ao redor de 70 mil UFC/m e<br />
Mutukumira et al., (1996) constataram contagens inferiores a 100 UFC/mL em sete das 10<br />
amostras analisadas . Contudo estão acima dos valores observados por Desmasures et al.,<br />
(1997), ao avaliarem 20 propriedades leiteiras, foi de 6,9 x 10 1 UFC/mL de leite,Sabois et al.,<br />
(1991) avaliaram 17 propriedades e verificaram contagens superiores a 1.000 UFC/mL em<br />
todas as amostras e Arcuri et al., (2006) verificaram adesão de 83% ao requisito<br />
estabelecido pela IN 51 para aeróbios mesófilos e contagem média de coliformes acima de<br />
1,0×10 3 UFC/mL em sete rebanhos.<br />
Para que a qualidade do leite seja melhorada, é importante investir na conscientização<br />
e no treinamento de pessoal, visando melhoria da higiene de produção e adequada limpeza<br />
de utensílios e equipamentos.<br />
CONCLUSÃO<br />
Os valores encontrados estão dentro das exigências da Instrução Normativa – 51. O<br />
que evidencia que a sanidade da glândula mamária e a higiene de ordenha são medidas<br />
eficazes para obtenção de uma matéria-prima dentro dos padrões estabelecidos.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
ARCURI E.F.; BRITO M.A.V.P.; BRITO J.R.F. et al., Qualidade microbiológica do leite<br />
refrigerado nasfazendas. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. v.58,<br />
n.3, p. 440-446, 2006.<br />
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa no. 051,<br />
de 18 de setembro de 2002. Diário Oficial da União, Brasília, 20 set. 2002. Seção 1, p.13-<br />
22.<br />
CASSOLI, L. D.; MACHADO, P.F. Impacto de programas de valorização da qualidade sobre<br />
a CBT. Boletim do Leite, n. 156, p. 4, julho de 2007.<br />
DESMASURES, N.; OPPORTUNE, W.; GUEGUEN, M. Lactococcus spp., yeasts and<br />
Pseudomonas spp. on teats and udders of milking cows as potential sources of milk<br />
contamination. International Dairy Journal, v.7, p.643- 646, 1997.<br />
MARTINS, M.C. Competitividade da cadeia produtiva do leite no Brasil. Revista de Política<br />
Agrícola, v.13, n.3, p.38-51, 2004.<br />
MUTUKUMIRA, A.N.; FERESU, S.B.; ABRAHANSEN, R.K. Chemical and microbiological<br />
quality of raw milk produced by smallholder farmers in Zimbabwe. Journal of Food<br />
Protection, v.59, n.9, p.984-987, 1996.<br />
NORO.G. Fatores ambientais que afetam a produção e a qualidade do leite em rebanhos<br />
ligados a cooperativas gaúchas. 2004. 92f. Dissertação (Mestrado Ciências Veterinárias)<br />
- Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias, UFRGS, Porto Alegre.<br />
SABOIS, A.; BASILICO, J.C.; SIMONETTA, A. Microbiological quality of raw milk: incidence<br />
of aerobic and anaerobic spore-forming bacteria, yeasts and fungi. Revista Argentina de<br />
Lactologia, v.3, n.5, p.79-90, 1991.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
102
QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO LEITE DE BÚFALAS CRIADAS NA REGIÃO DE<br />
MAIQUINIQUE – BA<br />
Thaiany T. Fonseca*¹; Sérgio A. de A. Fernandes²; Amanda dos S. Faleiro¹; Neomara B. de<br />
L. Santos¹; Dayana R. de Souza¹.<br />
¹Graduanda em Zootecnia e Bolsista de Iniciação Científica (FAPESB e Voluntária da UESB);<br />
²Prof. Adjunto - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, Itapetinga/BA.<br />
Introdução<br />
A utilização do leite de búfala é cada vez mais difundida, devido sua alta qualidade<br />
nutricional e por possuir elevados teores de proteína, gordura e minerais como cálcio e<br />
fósforo, que são responsáveis pelo maior rendimento industrial, permitindo assim, que se<br />
aponte o leite bubalino como uma alternativa viável para ser utilizado. Apesar do elevado<br />
valor nutritivo, de sua importância tecnológica e do crescimento de sua exploração no país,<br />
poucos estudos têm sido realizados a respeito da sua composição física, química e<br />
microbiológica, sendo estas informações de extrema importância para assegurar a<br />
qualidade final dos produtos lácteos, Onde é praticamente impossível melhorar as<br />
propriedades de um derivado, se o número de microrganismos inicialmente presentes no<br />
leite in natura é elevado (HÜNH et al., HÜNH; FERREIRO; MOURA CARVALHO, 1982).<br />
Considerando os fatores destacados, objetivou-se determinar a qualidade microbiológica do<br />
leite de búfalas em diferentes fases de lactação, criadas na região de Maiquinique – Bahia.<br />
Material e métodos<br />
Foram coletadas três amostras compostas de leite de búfalas, oriundas de 24 animais das<br />
raças Jafarabadi e Murrah, sob condições de pastejo, em diferentes fases de lactação<br />
caracterizando o início, meio e final da lactação. As amostras foram coletadas na Fazenda<br />
Boa Nova na região de Maiquinique, sudoeste da Bahia e imediatamente encaminhadas sob<br />
refrigeração até o laboratório da Indústria de Laticínios Palmeira dos Índios S.A<br />
(Valedourado – Itapetinga-BA). Onde a contagem de células somáticas foi realizada por<br />
citometria fluxométrica no aparelho Somacount 300. E a contagem bacteriana total foi<br />
determinada mediante leitura de absorção de luz infravermelha, utilizando-se o equipamento<br />
Bentley 2000. E redutase com solução de azul de metileno. Os resultados obtidos foram<br />
analisados a partir do delineamento inteiramente casualizado pelo teste Tukey a 5% de<br />
probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
De acordo com os resultados demonstrados na tabela, não houve diferença (p>0,05), para<br />
os valores da redutase, Contagem Bacteriana Total e Contagem de Células somáticas, para<br />
as fases de lactação. Comparando com as normas da Instrução Normativa nº 51 que<br />
estabelece de forma quantitativa a contagem bacteriana total (CBT), que são números de<br />
unidades formadoras de colônia de bactérias por mililitros de leite (UFC/mL). Onde o limite<br />
deve ser 1,0 x 10 6 e para contagem células somáticas (CCS) 1,0 x 10 6 . Comparando com os<br />
resultados encontrados por Terramochia (2001), após análise do leite de búfalas, constatou<br />
que CCS até 2,0 x 10 5 não interfere no processo de coagulação. Assim, os resultados<br />
positivos obtidos para a qualidade microbiológica no leite de búfalas durante os três estágios<br />
de lactação pode ser explicado pela maior presença de moléculas protetoras do teto, como<br />
queratina, lactoferrina e lactoperoxidase. Os resultados referentes a redutase encontram-se<br />
nos limites permitidos, sendo que o tempo para descoloração é inversamente proporcional<br />
ao número de germes presentes no leite, onde segundo LÜCK (1987), está diretamente<br />
ligado com o tempo de refrigeração e higiene local.<br />
103
Lactação<br />
Parâmetros Início Meio Final<br />
Redutase (minutos) 312A 347A 347A<br />
Contagem Bacterina 34.667A 18.333A 35.833A<br />
Total (UFC/mL)<br />
Contagem 87.167A 46.667A 64.000A<br />
Somáticas<br />
Médias Seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha para fase de lactação, não diferem entre si (p>0,05) pelo<br />
teste Tukey.<br />
Conclusões<br />
As amostras do leite de búfalas analisadas estão dentro dos padrões microbiológicos<br />
permitidos, garantindo assim, um produto final de boa qualidade, atendendo as exigências<br />
dos consumidores.<br />
Referências<br />
HÜNH, S.; FERREIRO, L.; MOURA CARVALHO, L. O. et al. Estudo comparativo da<br />
composição química do leite de zebuínos e bubalinos. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1982.<br />
INSTRUÇÃO NORMATICA 51, disponível em: www.esalq.usp.br/departamentos/ lan/pdf/<br />
InstrucaoNormativa51.pdf. Acessado em 14 de Julho 2009.<br />
TERRAMOCHIA S, BARTOCCI S, TRIPALDI C, DANESE V. Difficoltà alla coagulazione del<br />
latte di Búfala :caracteristiche fisico-quimiche e sanitarie. In: Congresso Nazionale<br />
sull’Allevamento del Búfale, 1, 2001,Salerno. Annali... Salerno: [s.n.], 2001. p. 256-259<br />
LÜCK, H. Control de la calidad de la industria Lactologica. In: Robinson, R.K., ed<br />
Microbiologica Lactologica. Zaragoza, Acribia 1987. v.2. p.255-94<br />
Autor a ser contactado: Thaiany Teles Fonseca<br />
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 468. ITAPETINGA/BA. CEP-45700-000.<br />
Email: thaianytelles10@hotmail.com Fone: (75) 8145-0453<br />
104
SAZONALIDADE DE PARTOS EM BUFÁLAS LEITEIRAS MURRAH X MEDITERRANEO<br />
CRIADAS EM SISTEMAS EXTENSIVO NO SUL DA BAHIA<br />
Marcelo Mota Pereira 1 , Antonio Jorge Del Rei 2 , Sérgio Augusto De Albuquerque Fernandes 2 ,<br />
Márcio Dos Santos Pedreira 2 , Perecles Brito Batista 3<br />
1 Graduando em zootecnia – UESB – Itapetinga - Bahia<br />
2 Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia Rural e Animal - UESB<br />
3 Zootecnista, mestrando em Produção Animal<br />
INTRODUÇÃO<br />
A criação de bubalinos tem demonstrado ser um mercado emergente, devido a<br />
superioridade econômica que pode apresentar em relação a outros ruminantes domésticos,<br />
principalmente no que diz respeito á fertilidade, longevidade, eficiência de conversão<br />
alimentar, rusticidade e adaptação às variadas condições climáticas e manejo. contribuindo<br />
de maneira significativa na economia mundial. Este fato pode ser verificado pelo intenso<br />
crescimento nas taxas de produção de carne e leite registrados nos últimos 10 anos pela<br />
Food and Agriculture Organization - FAO (12,4 e 28,3%, respectivamente; FAO, 2005).<br />
Os búfalos, quando criados em localidades distantes da região equatorial, têm um<br />
comportamento reprodutivo influenciado positivamente pela diminuição de horas de luz do<br />
dia (Zicarelli, 1994). Pode-se dizer que os búfalos são poliéstricos estacionais de dias<br />
curtos, semelhantemente aos ovinos e caprinos, apresentando aumento da atividade<br />
reprodutiva nos meses de outono e do inverno.<br />
O trabalho teve como objetivo avaliar se búfalas mestiças criadas na Fazenda Cabana<br />
da ponte Agropecuária Ltda. apresentavam sazonalidade de partos.<br />
MATERIAL E MÉTODOS<br />
Foram analisados dados de 176 partos, das fêmeas das raças Murrah x Mediterraneo,<br />
provenientes de um sistema de produção leiteira da Fazenda Cabana da ponte<br />
Agropecuária Ltda., situada no Município de Itororó – Bahia no período de Janeiro a<br />
dezembro do ano de 2008, coordenadas geográficas, 15º 18’14’’ de latitude sul e 40º12’20’’<br />
de longitude WGr. De acordo ao histórico pluviométrico da propriedade ocorreram<br />
precipitação de 993 mm durante o ano de 2007.<br />
Os animais foram criados exclusivamente em pastagens de Brachiaria decumbens,<br />
dividido em piquetes com cerca elétrica, sem receberem nenhum tipo de suplementação no<br />
período seco. Os animais foram ordenhados manualmente com bezerro ao pé sempre no<br />
período das 05:00 horas. O sistema de acasalamento utilizado foi o de monta natural a<br />
campo, na proporção de um touro para 40 búfalas.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
FIGURA 1 – Distribuição dos partos das fêmeas das raças Murrah x Mediterraneo ocorridos<br />
no período de janeiro a dezembro do ano de 2008 na Fazenda Cabana da ponte<br />
Agropecuária Ltda.<br />
105
A FIGURA 1 mostra a distribuição de partos ao longo de 12 meses, ocorrendo 83%<br />
dos partos nos meses de fevereiro a maio, havendo maior concentração no mês de Março<br />
com 26,1 %.<br />
ZICARELLI (1994) considera o búfalo uma espécie com preferências sazonais de<br />
atividade reprodutiva, com muitos dos partos acontecendo de julho a dezembro no<br />
hemisfério norte (Itália, Índia, Venezuela) e de janeiro a março no hemisfério sul (Brasil).<br />
As búfalas apresentam um período de gestação ao redor de 10 meses, a sazonalidade<br />
de partos observada correspondem as cobrições férteis ocorridas nos meses mais chuvosos<br />
e de menor insolação, o que caracteriza a búfala como sendo estacional de dia curto.<br />
BARUSELLI et al. (1993), encontrou forte tendência das búfalas parirem durante um<br />
curto período do ano. Os resultados encontrados estão de acordo aos relatados por outros<br />
autores: BARUSELLI (2004), em trabalho de revisão estudando o comportamento<br />
reprodutivo de búfalas no Estado de São Paulo, relatou maiores concentrações de partos<br />
nos meses de fevereiro a abril (mais de 80%),RIBEIRO NETO et al. (2006), avaliando a<br />
sazonalidade de búfalas mestiças das raças Murrah e Mediterrâneo, submetidas ao sistema<br />
de manejo da CPAFRO-EMBRAPA, Rondônia, encontrou resultados de com 90% dos<br />
partos ocorrendo nos meses de janeiro a junho, o que dá suporte ao resultado aqui obtido,<br />
entretanto, de amplitude maior (seis meses) e SAMPAIO NETO et al. (2001) que avaliando<br />
os desempenhos produtivo e reprodutivo de um rebanho bubalino no estado do Ceará,<br />
relatou concentração de partos nos meses de janeiro a junho com 79,3 %.<br />
MONTIEL-URDANETA et al. (1997), trabalhando com informações de búfalas<br />
mestiças das raças Murrah, Mediterrâneo, Jafarabadi e Nili-Ravi, na Venezuela, observaram<br />
que 82,77% dos partos ocorreram nos meses de setembro a dezembro, mostrando também<br />
que ocorre uma sazonalidade com época bem diferenciada de estacionalidade.<br />
CONCLUSÃO<br />
As búfalas mestiças, criadas na Fazenda Cabana da Ponte, Sul da Bahia, apresentam<br />
sazonalidade de partos, com concentração nos meses de fevereiro a maio.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AGENOR COSTA RIBEIRO NETO, SEVERINO BENONE PAES BARBOSA, RICARDO<br />
GOMES DE ARAÚJO PEREIRA et al. Sazonalidade de Partos em Búfalas Mestiças das<br />
Raças Murrah x Mediterrâneo no Estado de Rondônia; ZOOTEC 2006 - 22 a 26 de maio de<br />
2006.<br />
BARUSELLI, P.S. Manejo reprodutivo de bubalinos: São Paulo: Instituto Zootecnia -<br />
Estação Experimental de Zootecnia do Vale do Ribeira, 1993. 46p. Monografia<br />
BARUSELLI, P. S. Reprodução em búfalos. Disponível em:<br />
. Acessado em 02.08.2004.<br />
Food And Agriculture Organization – FAO. FAOSTAT: Agriculture data. Disponível em:<br />
http://faostat.fao.org/faostat/collections. Acesso em: 30/04/2005.<br />
MONTIEL-URDANETA, N.; ROJAS, N.; ANGULO, F.; HERNÁNDEZ, A.;ZULETA, J.;<br />
CAHUAO, N.; TORRES, I. 1997. Efecto de algunos factores ambientales sobre La<br />
estacionalidad em los partos em búfalas. Arch. Latinoam. Prod. Anim., v.5 (Supl. 1),p 423-<br />
425.<br />
SAMPAIO NETO, J.C.; MARTINS FILHO, R.: LÔBO, N.R.B.; et al.. 2001. Avaliação dos<br />
desempenhos produtivo e reprodutivo de um rebanho bubalino no Estado do Ceará. Revista<br />
Brasileira de Zootecnia, v. 30, n. 2., p.368-373. ZICARELLI, L. 1994. Management in<br />
different environmental conditions. Buffalo J., 2:17-38 (Suppl.).<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
106
TAXA DE CONCEPÇÃO DE VACAS MESTIÇAS LEITEIRAS COM ESTRO SINCRONIZADO<br />
REUTILIZANDO IMPLANTES DE NORGESTOMET E INSEMINADAS EM HORA MARCADA<br />
Philipe Gazzoli Farias 1 , Marcelo Mota Pereira 1 , Antonio Jorge Del Rei 2 , Elenilda Alves da Silva 1 ,<br />
Rita kelly Couto Brandão 1<br />
1 Graduando em Zootecnia – UESB<br />
2 Medico Veterinário, Prof. Dr. em reprodução animal - UESB<br />
Introdução<br />
A pecuária leiteira no Sudoeste da Bahia se caracteriza pela criação semi-extensiva e,<br />
conseqüentemente, com baixos índices produtivos e reprodutivos. O principal responsável por<br />
estes baixos índices são as vacas com cria ao pé devido à baixa fertilidade no período pósparto.<br />
Estes fatores levam a um aumento do intervalo entre partos, o que se reflete diretamente<br />
no numero de crias desmamadas e, conseqüentemente, na rentabilidade da atividade pecuária<br />
leiteira. O anestro pós-parto é o principal problema reprodutivo em vacas com cria ao pé<br />
resultado em perdas para atingir um intervalo desejável entre partos de 12 meses Escobar at<br />
al., (1982). A inseminação artificial (I. A.) no Brasil não tem apresentado avanços significativos,<br />
apesar de suas vantagens, sendo que somente 5% do rebanho efetivo se reproduz através<br />
desta técnica, baseada no total de doses de sêmen comercializadas. Protocolos de<br />
sincronização do ciclo estral que possibilita a I A das fêmeas sem a necessidade do<br />
acompanhamento dos sinais de estro, tem apresentado resultados satisfatórios em fêmeas<br />
bovinas (Mares 1977).<br />
Realizou-se o presente estudo objetivando verificar a eficiência da utilização do<br />
Norgestomet no protocolo (Crestarº Lab. Intervet, SP) e reutilização dos implantes na<br />
sincronização dos estros com inseminação em horários pré determinados sobre a taxa de<br />
concepção de multíparas cruzadas (Bos Taurus x Bos Indicus).<br />
Materiais e Métodos<br />
O estudo foi conduzido em uma propriedade de produção leiteira, localizada no<br />
município de Macarani, região do Sudoeste do estado da Bahia. Utilizaram-se 102 vacas<br />
multíparas mestiças (3/8 Holandês x 5/8 Gir), lactantes com escore corporal médio de 2,5<br />
(escala 1 a 5). Segundo preconizado por Ferreira; Torres; (1993). Todos os animais eram<br />
ordenhados através de ordenhadeira tipo balde ao pé, estes com produção media de 12,4 Kg<br />
de leite / dia. Os animais devidamente identificados com brincos auricular, foram divididos<br />
aleatoriamente em dois grupos de 51 fêmeas cada, respectivamente (G1, Crestar novo, e G2<br />
Crestar reutilizado) e manejados conjuntamente em pastagem de (Brachiatia brizanta CV.<br />
Marandu),recebendo sal mineralizado (Fosbovi Reprodução, Tortuga-SP) e demais praticas de<br />
manejo de acordo preconizado com a rotina da propriedade, os animais utilizados no estudo<br />
apresentavam, em media 109,5 ± 28,7 dias pós parto. No protocolo utilizado o implante novo<br />
(Crestar® ,3mg de Morgestomet, implatado sub cutâneamente na face externa da orelha, no<br />
mesmo momento aplicou-se por via intramuscular, uma solução contendo 5mg de Valerato de<br />
Estradial associação a 3 mg de Margestomet (D0). Após nove dias (D9) os implantes foram<br />
removidos e as inseminações realizadas entre 52 a 56 horas após (D11). No protocolo de<br />
reutilização os implantes utilizados aproximadamente 30 dias e conservados em refrigerador,<br />
foram novamente aplicados auricularmente como no tratamento anterior, quando se aplicou por<br />
via intramuscular 2mg de Benzoato de Estradiol (Estrogin® -SP) D0. Decorrido nove dias (D9)<br />
os implantes foram renovados e aplicados 500mg de Prostaglandina (Ciosin®- Scheringh<br />
Plough -SP) via intramuscular (D9). Procedeu-se nova aplicação de 1 mg de Benzoato de<br />
107
Estradiol 24 horas após a retirada dos implantes (D10). As inseminações foram realizadas 30<br />
horas após aplicação do Benzoato de Estradiol (D11)<br />
Resultados e Discussões<br />
Na tabela 1 são observados os resultados obtidos após os tratamentos das 102<br />
vacas multiparas<br />
Tabela 1. Resultados observados após os tratamentos<br />
Tratamentos Resultados %<br />
Grupo 1 ( Crestar novo) 27/51 54,94<br />
Grupo 2 ( Crestar reutilizado) 25/51 49,01<br />
A taxa de concepção observada no G1 (Crestar novo) foi de (27/51; 54,94%) e no G2<br />
(Crestar reutilizado) de (25/51;49,01%) (P>0,05) evidenciando a eficiência da reutilização dos<br />
implantes de Crestar® (Norgestomet)<br />
A taxa de concepção observada no G1 (Crestar novo) foi similar aos resultados<br />
relatados por (Kesler Fávero, 1996, Singh ,1998, Kaste li cet al ,1977, Bartolomeu et<br />
al.2001),corroborando com os resultados.<br />
Conclusão<br />
A não diferença observada entre os grupos (G1 e G2) sugere que a reutilização dos<br />
implantes no esquema apresentados deve ser praticado, uma vez que apresentou resultados<br />
similares. A taxa de concepção apresentava no G 2 (Crestar reutilizado) Demonstrou-se<br />
satisfatória apesar de um percentual menor em relação ao G1 (Crestar novo), sem<br />
comprometer as taxas de concepção final.<br />
Referência Bibliográfica<br />
Bartolomeu, C.C; Del Rei ,A J M; Madureira, E.H. et al., Inseminação Artificial em tempo fixo<br />
com sincronização da ovulação em bubalinos utilizando-se CIDR-B, Crestar e Ovsynch. Revista<br />
Brasileira de Reprodução Animal V .25, p. 334-336<br />
Escobar ,F.J; Galina,H.C; Fernandezbaca, S; Jará, S.L; Estúdio de la actividade reproductiva<br />
postparto em vacas cebú, criollas y F1 (cebúy Holsten). Ammveb (Ed.) Resumens: VIII<br />
Concreso Naconal de Buiatria,1982,p.213-248.<br />
Ferreira,A.M; Torres, C. A. Perda de peso corporal e cessação da atividade ovariana luteinica<br />
cíclicavacas mestiças leiteiras. Pesquisa agropecuária Brasileira, V 28, n.3,p.411-418, 1993.<br />
Kastelic, J,P; Olson, W,O Martinez, M ; Mapletoft, R.J ;Machado ,R . Sincronização do estro em<br />
bovinos Hereford-Angus com Crestar. Revista Brasileira de Reprodução Animal. V. 21, p.<br />
101-103,1997.<br />
Kesler, D. J; Fávero, R.J. Estrus syncronization in beef females with morgestion in beef females<br />
with Norgestomet and Estradial Valerat II: Factors limiting and enhancing efficacy. Agripractice,<br />
V.17, M.1, 1996.<br />
Mares S.E; Peterson, L.A; Henderson,E.A; et al. Hertillity af beef herds inseminated by estrus or<br />
by time following Sincro-Mate (S M B) Treatment. Journal Animal Science.M 45 (suppl.1)<br />
p.185,1977.<br />
Singh, N.K.U. Plasma progesterone profiles and fertility status of anestrus Zebu Cattle Treated<br />
with Norgestomet- Estradial – E.C.G redimen. Theriogenalogy. M.50,1191<br />
Autor a ser contactado: Antonio Jorge Del Rei – Email – delrei@uesb br<br />
Endereço – Rod. BR 415, Km 1, 4570000 - Itapetinga, BA – Brasil<br />
108
UTILIZAÇÃO DA SOMATROTOPINA BOVINA RECOBINANTE EM VACAS HOLANDESAS:<br />
ASPECTOS DO COMPORTAMENTO INGESTIVO<br />
Philipe Gazzoli Farias 1 , Marcelo Mota Pereira 1 , Hermógenes Almeida De Santana Júnior 1 ,<br />
Daniel Lucas Santos Dias 1 , Rita Kelly Couto Brandão 1<br />
1 Graduando em zootecnia – UESB – Itapetinga - Bahia<br />
Introdução<br />
O estudo do comportamento ingestivo dos ruminantes, pode nortear a adequação de<br />
práticas de manejo que venham a aumentar a produtividade e garantir o melhor estado sanitário<br />
e longevidade aos animais (FISCHER et al., 2002).<br />
Uma das novas tecnologias que podem ser utilizadas para a obtenção de ganhos em<br />
produtividade em rebanhos leiteiros é a utilização da Somatotropina recombinante bovina<br />
(rbST) para vacas em lactação. A resposta à utilização de rBST em vacas leiteiras se refere a<br />
aumentos de 10 a 15% na produção de leite (ETHERTON & BAUMAN, 1998).<br />
Objetivou-se verificar o efeito da administração da Somatrotopina bovina recombinante<br />
(rbST) em vacas Holandesas sobre os aspectos do comportamento ingestivo.<br />
Material e métodos<br />
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Cabana da Ponte Agropecuária ltda., em<br />
Itapetinga-Bahia, no período de 13 de janeiro de 2009 a 10 de março de 2009. Foram utilizadas<br />
16 vacas, com grau de sangue 5/8 Holandês X 3/8 Zebu, com peso corporal médio de 500 kg,<br />
com média de produção de 24 quilos de leite, distribuídos Inteiramente ao Acaso (DIC), em dois<br />
tratamentos e oito repetições: Tratamento controle = sem administração; Tratamento rbST =<br />
com administração de 500 mg de Somatotropina bovina recombinante (rbST) por animal.<br />
Foi realizado o pastejo rotacionado em Brachiaria brizantha adubado periodicamente<br />
(3x no período das águas), a suplementação foi realizada entre ordenhas, em área provida de<br />
cobertura, piso de cimento, área de sol. As vacas foram ordenhadas mecanicamente em<br />
ordenha do tipo passagem com 16 x 2 . A pesagem do leite foi realizada em medidor<br />
automático digital de dois em dois dias.<br />
A suplementação foi composta por: milho moído 4,31 kg, farelo de soja 2,70 kg, sal<br />
mineral 0,20 kg, com base na matéria seca, calculado para mantença e produção de 25 quilos<br />
de leite por dia (NRC, 2001).<br />
O comportamento animal foi avaliado no 28º dia. As variáveis comportamentais<br />
estudadas foram: pastejo, ruminação, ócio e permanência no cocho. O comportamento foi<br />
observados visualmente a cada 10 minutos (SILVA et al., 2008), por dois períodos de nove<br />
horas e 30 minutos horas (05:30 as 15:00), totalizando 19 horas de observação.<br />
Registrou-se o tempo gasto e o número de mastigações por bolo. Posteriormente foi<br />
calculado o número de bolo ruminado, a velocidade de mastigação, tempo por mastigação e o<br />
número de mastigação total, sempre considerando o período de coleta de dados (9 horas e 30<br />
minutos).<br />
Para análise dos dados coletados no experimento, foi utilizado o Sistema de Análises<br />
Estatísticas e Genéticas – SAEG, e os resultados foram interpretados estatisticamente por meio<br />
de análise de variância e Tukey a nível de 0,05 de probabilidade.<br />
Resultados e Discussão<br />
TABELA 1 - Valores do número mastigações por bolo (NMB), tempo por bolo (TB), números de<br />
bolos no período (NBP), velocidade de mastigação (VM), tempo por mastigação (TM) e o<br />
109
número de mastigações no período (NMP) em vacas leiteiras a pasto com ou sem<br />
administração de rbST.<br />
ITEM TRATAMENTO CV 1 (%)<br />
CONTROLE rbST<br />
NMB 50,4 49,5 11,8<br />
TB (minutos) 53,3 51,3 13,3<br />
NBP 237 292 29,6<br />
VM (número por minuto) 0,95 0,98 13,1<br />
TM (minutos) 1,06 1,05 13,2<br />
NMP 11736 14239 24,3<br />
1 Coeficiente de variação.<br />
O número de mastigação por bolo ruminado, tempo por bolo ruminado, número de bolo<br />
ruminado no período, velocidade de mastigação, tempo de mastigação e o número de<br />
mastigação no período não apresentaram diferenças estatísticas entre o tratamento sem ou<br />
com administração da rbST (P>0,05). Com isso, fica demonstrado que a administração de rbST,<br />
provoca aumento na produção de leite, podendo alterar qualquer outra variável a ser estudada,<br />
desde que não seja as avaliadas no presente estudo.<br />
Na literatura já é consolidado que a aplicação de rbST altera a curva de lactação, sendo<br />
que o pico de lactação aumentado e estendido por maior períodos de tempo, resultando em<br />
maiores persistência da lactação e de produção de leite. No entanto, no presente estudo<br />
verificou-se que não houve alteração nos aspectos do comportamento ingestivo, o que<br />
provavelmente não alterou o consumo. Entretanto, há uma hipótese de que a rbST aumenta a<br />
produção leiteira através da mobilização do tecido adiposo, com isso os animais destinados a<br />
administração de rbST devem possuir de bom à ótimo escore corporal, pois irão diminuir ao<br />
longo da lactação sua reserva energética, o que poderá provocar conseqüências indesejáveis<br />
ao sistema de produção como maior intervalo parto/estro, maior retorno de estro, maior<br />
intervalo entre partos, produção de bezerros debilitados, partos dificultosos, entre outros.<br />
Não foi encontrado nenhum estudo semelhante para que fosse possível realizar um<br />
paralelo ao presente estudo. Sobretudo, mais pesquisas nessa linha devem ser realizadas para<br />
uma possível consolidação dos resultados encontrados neste estudo.<br />
Conclusões<br />
A administração de somatrotopina bovina recombinante não altera os aspectos do<br />
comportamento ingestivo de vacas Holandesas.<br />
Bibliografia<br />
ETHERTON, T.D.; BAUMAN, D.E. Biology of somatotropin in growth and lactation of domestic<br />
animals. Physiol. Rev., v.78, p.745-761, 1998.<br />
FISCHER, V. et al., Padrões da distribuição nictemeral do comportamento ingestivo de vacas<br />
leiteiras, ao inicio e ao final da lactação, alimentadas com dieta à base de silagem de milho.<br />
Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, n.5, p.2129-2138, 2002.<br />
NRC - NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of dairy cattle. 7.ed.<br />
Washington, D.C.: National Academy Press, 2001. 381p.<br />
SILVA, R.R. PRADO, I.N. CARVALHO, G.G.P. et al., Efeito da utilização de três intervalos de<br />
observações sobre a precisão dos resultados obtidos no estudo do comportamento ingestivo de<br />
vacas leiteiras em pastejo. Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 2, p. 319-326. 2008.<br />
Autor a ser contactado: Marcelo Mota Pereira – Email – motinha03@bol.com.br<br />
Endereço – Rua Itambé, nº 438, bairro camacã Itapetinga – Bahia – CEP – 45700-000<br />
110
UTILIZAÇÃO DA URÉIA PROTEGIDA NO SUPLEMENTO SOBRE OS PERÍODOS<br />
DISCRETOS NO COMPORTAMENTO INGESTIVO DE BOVINOS A PASTO<br />
George Abreu Filho 1* , Hermógenes Almeida de Santana Júnior 1 , Pablo Texeira Viana 1 ,<br />
Elisangela Oliveira Cardoso 1 , Antônio Márcio Pereira Santos 2<br />
1 Graduando em Zootecnia/UESB.<br />
2 Doutorando em Zootecnia PPG/UESB.<br />
Palavras-chaves: bovino, etologia, nitrogênio<br />
Introdução<br />
O comportamento ingestivo é de fundamental importância para a avaliação de<br />
uma dieta, possibilitando ajustes no manejo alimentar para se obter maior consumo e<br />
melhor desempenho animal (MENDONÇA et al., 2004). O manejo nutricional é um dos<br />
principais fatores a ser considerado na produção de bovinos de corte, pois se sabe<br />
que a alimentação é responsável pela maior parcela dos custos da atividade. Dessa<br />
forma, a substituição parcial ou total de fontes de proteína verdadeira pelo nitrogênio<br />
não-proteíco (NNP) tem sido foco de várias pesquisas. Objetivou-se verificar o efeito<br />
da utilização da uréia protegida ou convencional no suplemento de bovinos sobre os<br />
períodos discretos no comportamento ingestivo.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista, Maiquinique, Bahia. Foram<br />
utilizados 30 novilhos da raça Nelore, castrados, com média de 22 meses de idade e<br />
peso corporal médio de 325 kg. O experimento teve duração de 84 dias, de agosto à<br />
novembro de 2008. Os animais foram mantidos em sistema de produção a pasto, em<br />
pastejo continuo de Brachiaria brizantha cv Marandú em área de 20 há.<br />
Os animais foram aleatoriamente alocados em cada um dos tratamentos<br />
abaixo: T1- Baixo NNP = Animais recebendo suplemento com baixo Nitrogênio Não-<br />
Proteíco (NNP) – 1% uréia;T2- URC = Animais recebendo suplemento com 6,5% de<br />
Uréia Convencional; T3- URP = Animais recebendo suplemento com 5,7 % de Uréia<br />
Protegida e 1,1% de Uréia Convencional.<br />
Os suplementos foram distribuídos diariamente, em comedouro não coberto<br />
coletivo na quantidade de 0,3% do peso vivo com base na matéria seca após as 10<br />
horas. Todos os animais tiveram livre acesso à sombra e água fresca.<br />
A avaliação do comportamento animal foi realizada, visualmente, no 42º dia de<br />
experimentação, por dois observadores treinados em sistema de revezamento para<br />
cada tratamento, sendo os mesmos, posicionados estrategicamente de forma a não<br />
incomodar os animais.<br />
As variáveis comportamentais estudadas foram: pastejo, ruminação, ócio e<br />
comendo no cocho (COCHO). Para o registro do tempo gasto em cada uma das<br />
atividades descritas acima, os animais serão observados a cada 10 minutos (SILVA et<br />
al., 2008), por um período de 24 horas.<br />
A discretização das séries temporais foi feita diretamente nas planilhas de<br />
coleta de dados, com a contagem dos períodos discretos de pastejo, ruminação, ócio<br />
e cocho.<br />
O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado (DIC), com três<br />
tratamentos e 10 repetições. Os resultados foram interpretados estatisticamente por<br />
meio de análise de variância e teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o<br />
Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG.<br />
Resultados e Discussão<br />
111<br />
1
TABELA 1 - Valores do número de períodos de pastejo (NPP), ócio (NPO),<br />
ruminação (NPR) e permanência no cocho (NPC) e dos tempos por período de<br />
pastejo (TPP), ócio (TPO), ruminação (TPR) e cocho (TPC), em novilhos Nelore<br />
suplementados a pasto.<br />
TRATAMENTO CV<br />
ITEM<br />
1<br />
Baixo NNP URC URP<br />
NPP 6,0 C 7,2 B 8,6 A 16,7<br />
NPO 15,1 A 13,2 B 12,5 B 9,7<br />
NPR 9,5 B 11,5 A 10,5 AB 12,4<br />
NPC 1,0 B 2,6 A 1,9 A 41,0<br />
TPP (minutos) 92,9 A 86,1 A 64,0 B 14,0<br />
TPO (minutos) 32,6 34,5 29,2 28,6<br />
TPR (minutos) 39,6 A 27,6 B 44,7 A 21,1<br />
TPC (minutos) 31,0 B 26,1 B 45,8 A 27,9<br />
Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem entre si estatisticamente pelo teste Tukey a 5%<br />
de probabilidade.<br />
1 Coeficiente de variação.<br />
O valor de NPP no URP foi maior (P
VALOR CULTURAL DE SEMENTES COMERCIAIS DE Brachiaria spp. NO COMÉRCIO<br />
DE BARREIRAS – BA<br />
José Augusto Reis Almeida¹; Danilo Gusmão de Quadros²; Gabriela Petry Gallois¹; Roldi<br />
Anderson B.M.C. de Souza¹; Daiana Silva da Rocha¹.<br />
1<br />
Graduando em Engº Agronômica pela Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Campus<br />
IX.<br />
² Professor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB / Núcleo de Estudo e Pesquisa em<br />
Produção Animal (NEPPA). BR 242, km 4, s/n. Lot. Flamengo. Barreiras – Ba. 47800-000.<br />
E-mail: uneb_neppa@yahoo.com.br Website: www.neppa.uneb.br<br />
INTRODUÇÃO<br />
Capins do gênero Brachiaria spp. são os mais plantados no País, sendo bastante<br />
utilizados na cria, recria e engorda dos bovinos de corte. Adaptam-se às mais variadas<br />
condições de solo e clima, ocupando espaço cada vez maior nos cerrados, com vantagens<br />
sobre outras espécies, devido a proporcionar produções satisfatórias de forragem em solos<br />
com baixa a média fertilidade (SOARES FILHO, 1994).<br />
A expansão de novas áreas e a reforma de pastagens provocou o aumento da<br />
demanda por sementes de gramíneas forrageiras, estimulando a busca de sementes com<br />
maior índice de pureza e germinação (ANDRADE, 1994). Com a análise da pureza, obtémse<br />
a porcentagem de sementes puras e de impurezas, logo, uma boa semente apresenta<br />
grande porcentagem de sementes puras. A germinação refere-se à capacidade da semente<br />
dar origem a uma plântula normal sob condições favoráveis. Com base nos resultados das<br />
analises de pureza e de germinação, calcula-se o valor cultural, que representa a<br />
porcentagem de sementes puras viáveis (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000). Considerando<br />
a importância da qualidade da semente no estabelecimento de pastagens, este trabalho<br />
objetivou avaliar o valor cultural de sementes comerciais de quatro espécies de Brachiaria<br />
spp. disponíveis no mercado de Barreiras – BA.<br />
METODOLOGIA<br />
O trabalho foi conduzido no município de Barreiras – BA, na Universidade do Estado<br />
da Bahia – UNEB, Campus - IX. Foi realizado um levantamento das marcas comerciais de<br />
sementes de Brachiaria disponíveis no comércio local, coletando em cada estabelecimento<br />
uma quantidade de 500g de sementes, para posterior análise. O ensaio teve cinco<br />
repetições para cada uma das dez marcas comerciais, levando em consideração quatro<br />
espécies de Brachiaria spp. (B. brizantha, B. dictyoneura, B. humidicola e B. decumbens).<br />
O material obtido foi transportado para o laboratório de sementes da UNEB -<br />
Campus – IX, onde foram realizadas as análises de pureza e viabilidade para germinação<br />
(teste do Tetrazólio) (BRASIL, 1992). Os dados obtidos foram utilizados no cálculo do VC,<br />
obtido pela formula: VC = (% pureza x % viabilidade) / 100.<br />
Os dados foram submetidos à análise de variância segundo delineamento<br />
inteiramente casualizado e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de<br />
probabilidade.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
As sementes de Brachiaria humidicola Marca Boi Gordo diferiu (P
Tabela 1 – Percentual de pureza, viabilidade e valor cultural de sementes comerciais de<br />
gramíneas forrageiras comercializadas em Barreiras – BA.<br />
Gramínea forrageira Marca comercial Pureza (%) Viabilidade (%) Valor Cultural (%)<br />
Brachiaria brizantha cv. Xaraés Boi Gordo 56,7 cd 41,6 ab 24,0 b<br />
Brachiaria brizantha MG4. Sementes Majes 55,2 d 23,0 cd 13,0 b<br />
Brachiaria humidicola Boi Gordo 100 a 50,0 ab 50,0 a<br />
Brachiaria brizantha cv. Marandu Paso Ita 55,8 d 17,4 de 10,0 b<br />
Brachiaria dictyoneura. Paso Ita 67,1 bc 10,0 de 7,00 b<br />
Brachiaria decumbens Boi Gordo 58,3 bcd 18,8 cde 11,0 b<br />
Brachiaria brizantha cv. Marandu Sementes Majes 55,3 d 4,80 e 3,00 b<br />
Brachiaria brizantha cv. Marandu Cana Branca 36,5 e 16,6 de 6,00 b<br />
Brachiaria brizantha cv. Marandu Boi Gordo 67,9 b 32,2 bc 22,0 b<br />
Brachiaria brizantha cv. Marandu Sementes Brachman 38,8 e 15,0 de 6,00 b<br />
Média geral (%) 59,2 22,9 15,2 b<br />
Coeficiente de Variação (%) 7,78 30,15 39,6 b<br />
• Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem pelo Teste de Tukey (5%)<br />
As demais marcas de sementes e espécies avaliadas não diferiram entre si (P>0,05)<br />
(Tabela 1), não obstante, tiveram VC médio abaixo de 44,2%, obtido por MARTINS et. al<br />
(1998), ao armazenar sementes de Brachiaria brizantha por 12 meses.<br />
As marcas comerciais tiveram VC analisado menor ao indicado na embalagem, com<br />
redução média 59%, na data do ensaio, consequentemente para manter a quantidade de<br />
SPV recomendada seria necessário o aumento da taxa de semeadura. Provavelmente a<br />
data de realização do trabalho ao final da época chuvosa, contribuiu para o envelhecimento<br />
das sementes, considerando que as empresas colocam as sementes no mercado no início<br />
da época chuvosa. Segundo CARVALHO & NAKAGAWA (2000), a idade da semente<br />
influencia a sua viabilidade de germinação, pois o envelhecimento promove a deterioração<br />
irreversível e inevitável independente das condições do meio.<br />
CONCLUSÃO<br />
Na época em que foram realizadas as análises, as sementes comercializadas em<br />
Barreiras, em geral, estiveram abaixo do prescrito na etiqueta de garantia, considerando que<br />
todas as sementes eram fiscalizadas, o que pode comprometer a formação de pastagens se<br />
utilizada a taxa de semeadura recomendada. O eventual aumento da taxa de semeadura<br />
para compensar o baixo valor cultural das sementes acarretaria em maior dispêndio<br />
financeiro.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
ANDRADE, R. P. Tecnologia de produção de sementes de espécies do gênero Brachiaria.<br />
In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 11, Piracicaba. Anais... Piracicaba:<br />
FEALQ, p. 49- 66. 1994.<br />
CARVALHO, N.M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 4 ed.<br />
Jaboticabal: FUNEP. 2000. 588p.<br />
MARTINS L. et. al. Valor cultural de sementes de Brachiaria brizantha durante o<br />
armazenamento. Revista Brasileira de Sementes, v. 20, n. 1, p. 60-64, 1998.<br />
SOARES FILHO, C. V. Recomendação de espécies e variedades de Brachiaria para<br />
diferentes condições. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 11, Piracicaba.<br />
Anais... Piracicaba: FEALQ. 1994. p. 25- 46.<br />
Autor. José Augusto Reis Almeida. Tel. (77) 8124 8272. Email: gutoja21@hotmail.com 07/2009<br />
114
VARIAÇÃO DO LUCRO DE NOVILHOS NELORE SUPLEMENTADOS A PASTO<br />
SOBRE DIFERENTES VALORES DE VENDA DA ARROBA DO BOI GORDO 1<br />
George Abreu Filho 2* , Hermógenes Almeida de Santana Júnior 2 , Robério Rodrigues<br />
Silva 3 , Alyson Andrade Pinheiro 2 , Ivanor Nunes Prado 3<br />
1 Projeto financiado pelo Banco do Nordeste do Brasil – BNB.<br />
2 Graduando em Zootecnia/UESB.<br />
3 Professor Titular DEBI/UESB.<br />
Palavras-chaves: bovino, economia, lucratividade<br />
Introdução<br />
A cada ano, o agronegócio brasileiro consolida sua importante posição na<br />
economia, como resultado do avanço tecnológico, do incremento na produtividade e<br />
da ocupação de novas áreas (FERNANDES et al., 2007). Segundo Paulino et al.<br />
(2004), a suplementação de bovinos em pastejo é uma das principais estratégias para<br />
a intensificação dos sistemas primários regionais. Objetivou-se avaliar o efeito da<br />
variação do lucro de novilhos nelore a pasto com quatro níveis de suplementação<br />
sobre diferentes valores de venda da arroba do boi gordo.<br />
Material e Métodos<br />
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Boa Vista, Macarani/Bahia entre os<br />
meses de agosto de 2006 e fevereiro de 2007. A parte de campo foi implantada numa<br />
área de Brachiaria brizantha cv. Marandú. Foram utilizados 40 novilhos da raça Nelore<br />
com peso inicial médio de 373,7 + 14,9 kg e 26 meses de idade distribuídos em<br />
delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e dez repetições: SM<br />
= sal mineral; C3% = 0,3% de suplementação energética e protéica; C6% = 0,6% de<br />
suplementação energética e protéica e C9% = 0,9% de suplementação energética e<br />
protéica. O concentrado teve como ingredientes o milho, farelo de soja, uréia e sal<br />
mineral. Foi realizada uma simulação, com os resultados do experimento, observandose<br />
apenas a variação no preço da arroba da carne, mantendo constante o custo de<br />
produção dos tratamentos.<br />
Os indicadores analisados foram: Preço de venda em reais por arroba – Preço<br />
médio da arroba de boi gordo (R$ 56,60), comercializada no estado da Bahia no ano<br />
de 2007, conforme Anualpec (2008), com variação de quatro pontos, apenas para<br />
mais, considerando que o preço da arroba está com valorização continua, podendo<br />
somente ocorrer incremento no valor da carne, foi considerado cada ponto como R$<br />
10,00; Renda bruta em reais por animal – O valor da arroba multiplicado pelo peso de<br />
abate (16@); Custo total em reais por animal – Valor médio da cabeça do boi magro<br />
(R$ 580,00), comercializado no estado da Bahia no ano de 2007, conforme Anualpec<br />
(2008), somado ao valor real dos custos durante o período do experimento.<br />
Para realizar as análises econômicas e dos custos de produção em diferentes<br />
sistemas de suplementação, utilizou-se estatística descritiva com auxílio de planilhas<br />
do Programa Excel.<br />
Resultados e discussão<br />
A renda bruta, em todos os tratamentos (SM, C3%, C6% e C9%), aumentou<br />
proporcionalmente com o aumento do valor de venda da arroba. Sendo o aumento de<br />
58,6%, tanto para o valor da arroba quanto para a renda bruta. Está variação do valor<br />
da arroba durante o ano é provocado pela variação na disponibilidade de forragem, e<br />
consequentemente, variação na oferta de animais para abate.<br />
O lucro em reais por animal (R$/animal) apresentou uma máxima de R$ 924,17<br />
para o SM com arroba de R$ 96,60 e um menor lucro de R$ 198,19 para o C9% com<br />
R$ 56,60. Isso ocorreu devido ao menor custo que é o sistema de criação sem<br />
suplementação concentrada, consumindo apenas sal mineral, ocorrendo uma<br />
115
diminuição crescente do lucro do SM para o C9%. Mesmo assim, o C9%, que<br />
apresentou o menor lucro, só passaria a causar prejuízo com valor da arroba abaixo<br />
do valor de custo por arroba, que foi de R$ 44,21.<br />
Após busca na literatura não foi encontrado nenhum trabalho semelhante para<br />
que fosse possível fazer um paralelo entre os estudos. Com isso, sugeri-se mais<br />
discussões sobre o assunto.<br />
TABELA 1. Variação do valor de venda da arroba dos novilhos e seu efeito sobre a<br />
renda bruta (R$/animal) e o lucro (R$/animal e R$/arroba).<br />
PREÇO DE<br />
RENDA<br />
VENDA<br />
BRUTA (R$)<br />
(R$/@)<br />
CUSTO TOTAL LUCRO<br />
(R$/ANIMAL) (R$/ @) (R$/ANIMAL) (R$/@)<br />
SM<br />
56,60 905,60<br />
284,17 17,77<br />
66,60 1065,60 444,17 27,77<br />
76,60 1225,60 621,43 38,83 604,17 37,77<br />
86,60 1385,60 764,17 47,77<br />
96,60 1545,60 924,17 57,77<br />
C3%<br />
56,60 905,60<br />
252,19 15,76<br />
66,60 1065,60 412,19 25,76<br />
76,60 1225,60 653,41 40,84 572,19 35,76<br />
86,60 1385,60 732,19 45,76<br />
96,60 1545,60 892,19 55,76<br />
C6%<br />
56,60 905,60<br />
219,25 13,70<br />
66,60 1065,60 379,25 23,70<br />
76,60 1225,60 686,35 42,90 539,25 33,70<br />
86,60 1385,60 699,25 43,70<br />
96,60 1545,60 859,25 53,70<br />
C9%<br />
56,60 905,60<br />
198,19 12,39<br />
66,60 1065,60 358,19 22,39<br />
76,60 1225,60 707,41 44,21 518,19 32,39<br />
86,60 1385,60 678,19 42,39<br />
96,60 1545,60 838,19 52,39<br />
Conclusão<br />
O aumento do valor da arroba proporcionou maiores lucros por animal, e<br />
consequentemente por arroba.<br />
Bibliografia<br />
ANUALPEC 2008. Anuário da Pecuária Brasileira. São Paulo: FNP Consultoria e<br />
Comércio, 2008. 380p.<br />
FERNANDES, A.R.M.; SAMPAIO, A.A.M.; HENRIQUE, W. et al. Avaliação econômica<br />
e desempenho de machos e fêmeas Canchim em confinamento alimentados com<br />
dietas à base de silagem de milho e concentrado ou cana-de-açúcar e concentrado<br />
contendo grãos de girassol. Revista Brasileira de Zootecnia v.36, n.4, p.855-864,<br />
2007.<br />
PAULINO, M.F.; FIGUEIREDO, D.M.; MORAES, E.H.B.K. et al. Suplementação de<br />
Bovinos em pastagens: uma visão sistêmica. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE<br />
GADO DE CORTE, 4.,2004, Viçosa, MG. Anais...Viçosa, MG: Universidade<br />
Federal de Viçosa, 2004. p.93-144.<br />
*Autor: George Abreu Filho (77) 8125 – 6530 E-mail: georgeabreu16@hotmail.com<br />
116
VIGOR DE SEMENTES DE Brachiaria brizantha cv. Marandu COMERCIALIZADAS EM<br />
BARREIRAS – BA<br />
José Augusto Reis Almeida¹; Danilo Gusmão de Quadros²; Alberto Magalhães de Sá¹, José<br />
Avelino Cardoso¹; Sammi Nascimento dos Santos¹.<br />
1<br />
Graduando em Engº Agronômica pela Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Campus<br />
IX.<br />
² Professor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB / Núcleo de Estudo e Pesquisa em<br />
Produção Animal (NEPPA). BR 242, km 4, s/n. Lot. Flamengo. Barreiras – Ba. 47800-000.<br />
E-mail: uneb_neppa@yahoo.com.br Website: www.neppa.uneb.br<br />
INTRODUÇÃO<br />
Todo setor sementeiro, incluindo o de forrageira, já se encontra em uma nova fase<br />
de transição por conta da “Lei de Sementes” (lei nº 10.711, Sistema Nacional de Sementes e<br />
Mudas, BRASIL, 2003), que vem regulamentando todo o setor, desde a produção até a sua<br />
comercialização. Com esta legislação, vários itens foram alterados e, principalmente, o<br />
controle de qualidade da semente (certificação), função exclusiva de órgãos públicos, agora<br />
pode ser efetuado também por intuições privadas.<br />
A região oeste da Bahia apresenta um rebanho de 1,5 milhões de cabeças de<br />
bovinos (IBGE, 2008), a maior parte criado em sistemas de pastagens, sendo Barreiras, o<br />
maior centro comercial de sementes de forrageiras para região.<br />
Considerando a grande necessidade de sementes comerciais na região oeste da<br />
Bahia, devido à formação de novas áreas e a reforma de pastagens, bem como a influência<br />
da qualidade das sementes no sucesso da implantação da pastagem, este trabalho teve<br />
como objetivo avaliar o vigor de sementes de Brachiaria brizantha cv. Marandu<br />
comercializadas de Barreiras – BA.<br />
METODOLOGIA<br />
O trabalho foi conduzido no município de Barreiras – BA, na Universidade do Estado<br />
da Bahia – UNEB, Campus - IX. Foi feito um levantamento das sementes de Brachiaria<br />
brizantha cv. Marandu disponíveis no comércio local, coletando em 5 estabelecimentos<br />
comerciais uma quantidade de 500g de sementes, por amostra. O material obtido foi<br />
transportado para o laboratório de sementes da UNEB - Campus – IX, onde foram<br />
realizadas as análises. Após homogenização da amostra, 100 sementes foram contadas e<br />
pesadas em balança analítica com 4 casas decimais, realizando 5 repetições para cada uma<br />
das seis marcas coletadas (tratamentos).<br />
O vigor da semente está relacionado ao seu peso assim como o estabelecimento de<br />
pastagens está correlacionado ao vigor da plântula. Para avaliar o vigor das plântulas foi<br />
realizado o teste de germinação na caixa areia, com 2 repetições para cada tratamento. A<br />
semeadura foi realizada em bandejas plásticas de dimensões 37x 23,5 x7 cm. Cada bandeja<br />
teve 5 cm preenchido com areia lavada e autoclavada a 125ºc por 48h. Em seguida, as<br />
sementes foram dispostas em 3 linhas nas profundidades 1, 2 e 3 cm, sendo colocadas 20<br />
sementes por linha. Após 30 dias, as plantas foram cortadas rente ao solo e levadas à<br />
estufa a 105ºc por 24h para obtenção da massa seca (MS). A MS obtida nas três linhas<br />
foram somadas e calculada a média por plântula (mg/plântula).<br />
Os dados foram submetidos à análise de variância segundo delineamento<br />
inteiramente casualizado e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de<br />
probabilidade.<br />
117
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
O peso de 100 sementes do lote1 das marca semente Majes, seguidas das sementes<br />
Paso Ita e do lote de sementes da marca Boi Gordo, obtiveram as melhores médias<br />
(P0,05)<br />
(Tabela 1).<br />
Os resultados de vigor de plântula obtidos neste trabalho foram semelhantes aos<br />
observados por SÁ et al. (2009), em sementes de B. brizantha cv. Marandu colhidas no<br />
campo de produção.<br />
Segundo ORTOLANI & USBERTI (1981), os principais problemas que afetam o<br />
resultado de analises de gramíneas forrageiras são a homogeneidade dos lotes e sua<br />
amostragem e a obtenção da amostra de trabalho.<br />
CONCLUSÃO<br />
A marca da semente é um parâmetro relevante que deve ser considerado quando se<br />
procura sementes vigorosas para garantir o bom estabelecimento da pastagem. Para o<br />
produtor, o apoio de instituições de ensino e pesquisa nas análises de suas sementes pode<br />
contribuir para o ajuste da taxa de semeadura, considerando, entre outros fatores, o vigor<br />
das plântulas.<br />
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
BRASIL, Ministério da agricultura, pecuária a abastecimento. Sistema Nacional de<br />
Sementes e Mudas, Lei nº 10.71,1 Brasília, 2003.<br />
EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Brachiaria<br />
brizantha cv. Marandu. EMBRAPA Gado de Corte. Campo Grande (Folder). 1985.<br />
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Efetivo do rebanho<br />
por estados e municípios. Disponível em: www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20/03/2009.<br />
ORTOLANI, D.B.; USBERTI, R. Problemas de análises em sementes de espécies de<br />
gramíneas forrageiras. Revista Brasileira de Sementes, v.03, n.2, p. 79-92, 1981.<br />
SÁ, A.M.; QUADROS, D.G; BEZERRA, A.R.G. et al. Germinação e vigor de plântulas de<br />
dois cultivares de Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf originárias de sementes<br />
colhidas manualmente e mecanicamente no oeste baiano. In: REUNIÃO ANUAL DA<br />
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 46. Maringá, 2009. Anais... Maringá: SBZ.<br />
2009. (CD-ROM)<br />
Autor. José Augusto Reis Almeida. Tel. (77) 8124 8272. Email: gutoja21@hotmail.com 07/2009<br />
118