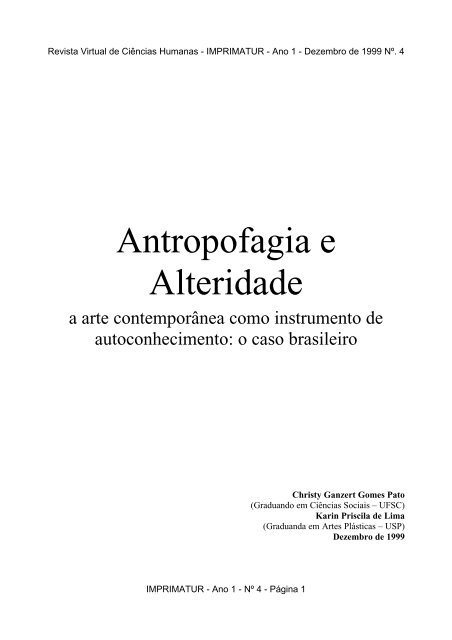Antropofagia e Alteridade - CFH
Antropofagia e Alteridade - CFH
Antropofagia e Alteridade - CFH
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
<strong>Antropofagia</strong> e<br />
<strong>Alteridade</strong><br />
a arte contemporânea como instrumento de<br />
autoconhecimento: o caso brasileiro<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 1<br />
Christy Ganzert Gomes Pato<br />
(Graduando em Ciências Sociais – UFSC)<br />
Karin Priscila de Lima<br />
(Graduanda em Artes Plásticas – USP)<br />
Dezembro de 1999
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 2<br />
Introdução<br />
“Demonstra-se que neste século nossos artistas passam a ter uma<br />
relação produtiva direta com a historia da arte, que já não tratam como<br />
história de estilos ou de imagens, mas têm a consciência do processo<br />
histórico de problematização das questões plásticas.” (Herkenhoff,<br />
1998a, p.26).<br />
Se a história da arte refere-se às evoluções da problematização de questões plásticas, nenhum<br />
outro tema poderia ser mais adequado para uma discussão sobre a história da arte no Brasil do<br />
que a antropofagia: problemática principal de nossas artes plásticas desde que a missão francesa<br />
desembarcou no Rio de Janeiro no século passado (v. Lima & Pato, 1998). Aliás, Haroldo de<br />
Campos coloca a latência permanente de modos antropofágicos até mesmo antes, no século XVII,<br />
com Gregório de Mattos.<br />
Tida como estratégia crucial no processo de constituição de uma linguagem autônoma num país<br />
de economia periférica, a antropofagia acabou se tornando um movimento que se espalha no<br />
tempo pela cultura brasileira enquanto estratégia de emancipação cultural (v. Herkenhoff, 1998a)<br />
Nesse processo de emancipação cultural, apropriamo-nos do externo, do outro, para podermos<br />
encontrar a nós mesmos, nosso eu brasileiro. “A política antropofágica [...] indaga sobre as<br />
características do Novo Mundo em relação à cultura do Velho Mundo. Nasce, assim, do encontro<br />
de culturas, ecoando sentidos polivalentes derivados do entrechoque, da catequese e da<br />
assimilação do outro [...] a antropofagia manipula valores interculturais inerentes ao processo<br />
histórico brasileiro e faz da devoração do discurso estranho um meio de expressar o próprio<br />
íntimo” (Belluzzo, 1968, p.68).<br />
Nesse sentido, nossa arte encarna toda a noção de alteridade.<br />
Formada então como base constitutiva de um diálogo com a arte internacional, nossa arte tornouse<br />
justamente isso, um diálogo. No estranhamento do olhar, ao contemplarmos (ou interagirmos<br />
com) a obra de alguns de nossos melhores artistas, terminamos por estranhar a nós mesmos. E<br />
nesse movimento nos redescobrimos.<br />
“...o que faz nossa particularidade tem traços absolutamente esquisitos. E no entanto eles estão prontos a vir<br />
comer em nossa mão, tão logo solicitados. Porque somos igualmente estranhos...” (Naves, 1996, p.13).<br />
Se, talvez por motivos semânticos, Herkenhoff diferencia antropofagia de canibalismo, definindo<br />
antropofagia como tradição cultural brasileira, e canibalismo como prática simbólica, real ou<br />
metafórica da devoração do outro (1998a, p.24). Numa análise mais pormenorizada podemos<br />
perceber que nossa antropofagia é tudo isso. Afinal, segundo o mesmo Herkenhoff, “a idéia de<br />
apropriação [grifo do autor] está no caráter da antropofagia” (ibidem). Apropriar-se para<br />
resignificar.<br />
Para criar então uma espécie de modernidade própria, a cultura brasileira redimensionou não<br />
apenas o outro externo (exocanibalismo), mas também seu próprio eu (endocanibalismo), um<br />
outro distante no passado e na tradição (cf. Sáiz, 1998).<br />
Pretendemos então analisar a passagem da antropofagia pela arte brasileira, não como um<br />
catálogo histórico de suas manifestações, mas buscando entender seu caráter de alteridade.
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
Caráter esse que se impregna de tal modo em nossa melhor arte que, por fim, a arte se torna<br />
irrealizável sem a própria participação do outro, espectador.<br />
Tencionamos aqui entender que aspecto é esse que confere à antropofagia tanto caráter estético<br />
como político. E se é a alteridade quem propicia tal efeito, talvez, ao fim do trabalho, já não<br />
sejamos mais nós...<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 3<br />
A <strong>Antropofagia</strong> Tupinambá<br />
Para compreendermos melhor a noção de alteridade contida na relação antropofágica canibal,<br />
nada mais esclarecedor do que uma rápida passada pelo célebre trabalho do professor Florestan<br />
Fernandes, A função social da guerra na sociedade Tupinambá.<br />
Diferentemente da visão de Chougnet (1998) que, analisando Montaigne, toma o canibalismo<br />
Tupinambá como uma relação onde a vingança pelo sangue é a razão de ser da antropofagia<br />
ritual, como se os Tupinambás fossem um povo extremamente vingativo. O trabalho de Florestan<br />
Fernandes nos permite compreender o canibalismo como uma prática de apropriação das forças<br />
do outro.<br />
Analisando-se os atos de “destruição” dos inimigos, a primeira observação de Florestan<br />
Fernandes é de que a noção de vingança Tupinambá não cabe dentro da nossa categoria de<br />
pensamento, como um efeito em resposta a uma causa. A relação entre “ofensa” e “punição” não<br />
eram, necessariamente, a causa da relação sacrificial. A necessidade de socorrer o espirito do<br />
parente morto parecia mais adequado à causa. Assim, o sacrifício humano não era causado pela<br />
ação dos inimigos (a existência de uma “ofensa” recente não era condição necessária para<br />
incursões guerreiras) mas por necessidades do “espirito” do parente morto por eles.<br />
O derramamento de sangue pela existência de uma “ofensa a ser punida” tinha, portanto, pequena<br />
importância na delimitação psicológica do conceito de vingança.<br />
O sentido subjetivo da noção de vingança, para os Tupinambá, se exprime sociologicamente na<br />
relação existente entre as ações que deveriam ser praticadas contra os inimigos e as obrigações<br />
definidas pela necessidade do sacrifício humano.<br />
Para se entender a vingança Tupinambá deve-se ter em mente que, para eles, quando um de seus<br />
integrantes caía em mãos inimigas, e era por eles devorado, os inimigos se apropriavam da<br />
“substância” do morto, adquirindo assim poder mágico sobre o povo ao qual ele pertencia.<br />
Na relação sacrificial, através do massacre ritual, o espirito vingado receberia de volta a<br />
“substância” de seu corpo que caíra anteriormente em poder dos inimigos, restituindo-se sua<br />
integridade. Assim, o massacre ritual da vítima era, a um só tempo, condição, princípio e fim da<br />
vingança. O sangue deveria ser derramado não como vingança, mas como uma necessidade<br />
mágica para se restituir a “substância” do parente morto. Diferente da idéia transmitida por<br />
Chougnet, onde, entre os Tupinambás, a “vingança pelo sangue se estabelece em toda sua<br />
grandeza sincera e bárbara” (1998, p.92).<br />
Mas e o caráter de alteridade?<br />
O canibalismo propriamente dito, ou seja, o ato de devorar a carne humana, constituía o momento<br />
subsequente ao massacre ritual. No massacre, o espirito que recebe o sacrifício infundiria no<br />
corpo da vítima qualidades precedentes de si mesma, neutralizando a nocividade do inimigo.
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
Dessa forma, ingeria-se não o inimigo, mas o parente morto e suas qualidades, restituindo-se<br />
também, a unidade mística do “nosso grupo”, quebrada quando da devoração do parente pelos<br />
inimigos.<br />
Outro aspecto importante para se compreender o caráter de alteridade implícito no canibalismo<br />
Tupinambá é que antes do inimigo ser devorado, ele era mantido por algum tempo na aldeia. Lá<br />
ele recebia os pertences do parente morto e até mesmo deitava-se com suas mulheres. E enquanto<br />
não ocorresse a vingança ninguém mais poderia usar os pertences do parente morto ou casar-se<br />
com alguma de suas mulheres.<br />
No entanto, essas interdições sociais têm a ver não com a pessoa do morto, mas com o domínio<br />
mágico obtido pelo inimigo sobre o morto e o círculo de projeção social dele. O que quebraria a<br />
proposta de alteridade. Mas se lembrarmos de configurações psíquicas semelhantes narradas por<br />
Todorov (1993) onde os índios, mesmo sendo considerados coisas pelos espanhóis, em outros<br />
momentos são assimilados às mulheres, temos novamente a passagem do outro ao eu,<br />
reconhecido como semelhante, pois “...antes de mais nada, o outro é nosso próprio corpo.” (1993,<br />
p.151).<br />
Quando um Tupinambá devorava o inimigo, concebia-lhe então um estatuto de semelhante e, por<br />
fim, devorava não o outro, mas a si próprio, definido na “substância” do parente. Vale notar que<br />
esse aspecto já havia sido descrito por Montaigne (1980) através dos cânticos do inimigo que,<br />
prestes a ser devorado, entoa que “...estes músculos, esta carne, estas veias [...] são vossas, pobres<br />
loucos. Não reconheceis a substância dos membros de vossos próprios antepassados: saboreai-os<br />
atentamente, sentireis o gosto de vossa própria carne” (1980, p.104).<br />
A antropofagia Tupinambá compreende, pois, dois momentos: o massacre ritual e a devoração do<br />
inimigo. No primeiro momento a antropofagia reconduzia o parente devorado ao estado de<br />
autonomia mágica (a vingança), e no segundo momento, desigualdade e identidade confluem<br />
para o ato da devoração, como síntese da própria alteridade.<br />
Voltando ao campo das artes plásticas, o conceito de antropofagia foi tomado significando-se,<br />
principalmente, apropriação e resignificação do externo. Obviamente, nessa definição, a noção de<br />
alteridade encontra-se sutilmente implícita. Mas para nosso objetivo, poderíamos estender um<br />
pouco o conceito de antropofagia, de modo a explicitar seu caráter de alteridade. Afinal, a<br />
antropofagia não é apenas apropriação e resignificação, mas também transmutação de nosso próprio eu.<br />
<strong>Antropofagia</strong> e alteridade na arte brasileira<br />
o eu brasílico<br />
Se já podemos considerar que o ato antropofágico constitui uma relação de alteridade, resta-nos<br />
então delimitar tal conceito dentro da arte contemporânea no Brasil.<br />
Mas o mais interessante da aplicação do conceito de antropofagia como alteridade, sobre a arte<br />
brasileira, é que ele pode se referir tanto ao todo da produção artística, em seu diálogo com a arte<br />
internacional (o outro) definidor de nosso eu brasílico, como no diálogo público-obra, onde o eu<br />
e o outro do espectador se esfacelam e se reagrupam diante de um estranhamento prospectivo.<br />
Tomemos primeiramente a análise do eu brasílico.<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 4
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
*<br />
A busca desse eu não é algo específico de nossa cultura e, tão pouco, é uma problemática recente.<br />
“A procura da identidade nacional é um dos grandes temas da cultura ibero-americana, que vem<br />
se tornando evidente em numerosos exemplos, fáceis de serem detectados muito antes que se<br />
consumassem as sucessivas independências dos impérios coloniais europeus. Essa necessidade de<br />
reconhecimento do que lhe é próprio é vivenciado de uma forma consciente ao longo dos séculos<br />
XVI, XVII, e XVIII, período em que se vai delineando um conjunto de características que já<br />
nestas datas devem ser vividas como diferentes e que, posteriormente, irão constituir a essência<br />
da mensagem nacionalista frente aos outros.” (Sáiz, 1998, p.111).<br />
Como exemplo dessa busca, em fins do XVII e ao longo do XVIII se faz sentir nos círculos<br />
andinos e entre artífices negros e afro-americanos na América Portuguesa uma hibridização<br />
artística: uma mistura de temas europeus e motivos pré-hispânicos; entrecruzamentos de alegorias<br />
cristãs e temas de mitologia profana; e gostos e desejos expressos em formas indígenas<br />
coexistindo nas imagens cristãs (v. Belluzzo, 1998, p.72).<br />
No entanto, mesmo sendo a antropofagia uma estratégia de afirmação cultural que se pode<br />
identificar na cultura latino-americana e, em especial, na brasileira, já em séculos anteriores (v.<br />
Lima & Pato, 1998), a antropofagia tida como um processo não apenas poético mas, acima de<br />
tudo, político - capaz de instaurar a própria condição de possibilidade de uma arte nacional -, será<br />
um fenômeno tomado de forma consciente apenas modernamente.<br />
A antropofagia como processo político consciente é um fenômeno moderno justamente porque o<br />
moderno não era uma escolha, mas uma incontornável vocação histórica, dada a nossa ausência<br />
de tradição, conforme nos lembra Mario Pedrosa. Daí a modernidade ser o marco da aparente<br />
descoberta da antropofagia, que se afirma então como solução política da linguagem.<br />
E nessa política busca de uma autonomia, a poética artística se depara com o monocromo. Será<br />
este a propiciar uma discussão do processo de constituição de autonomia da cultura de regiões<br />
periféricas frente ao processo eurocêntrico (v. Herkenhoff, 1998b, p.192).<br />
Assim, na definição de nosso eu brasílico, enquanto a antropofagia projetou um processo de<br />
emancipação cultural, foi através da cor que se organizou um modelo de identidade no Brasil.<br />
*<br />
E como não poderia deixar de ser, a definição de nossa cor identitária passa necessariamente pela<br />
experiência da antropofagia como alteridade. Afinal, será somente através do distanciamento do<br />
olhar, do estranhamento do seu eu brasílico através de sua estadia em Paris, que Tarsila irá<br />
redescobrir o Brasil, desenvolvendo uma paleta brasileira que, mesmo não totalizando o país,<br />
demarca nossa teoria de cor. Definia-se o “pintar em brasileiro”.<br />
Daí em diante o impacto da resignificação da cor nos trabalhos de nossos melhores artistas só<br />
viria a reafirmar a consolidação e demarcação de nosso eu brasílico. “Quando Lasar Segall imigra<br />
em 1924, o impacto da cor tropical resulta na mais violenta relação cromática de sua trajetória”<br />
(Herkenhoff, 1998c, p.341). A luz tropical passara a imprimir em seus trabalhos uma temperatura<br />
cromática.<br />
Assim como em Segall, a trajetória de Guignard também se perfila numa história da luz e da cor<br />
na arte brasileira. “Quando chega ao Brasil, depois de longa permanência na Europa, Guignard<br />
traz uma pintura espessa, às vezes sombria [...] A pintura pastosa se tornará transparente como<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 5
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
uma aquarela. Nossa atmosfera será como um fenômeno atmosférico úmido e em suspensão.”<br />
(idem, p.341).<br />
E em cada um de nossos artistas, a cor torna-se a marca do contágio pela antropofagia. Mesmo<br />
que não se possa afirmar a redutibilidade do Brasil a um único sistema de cor. Afinal “o carnaval<br />
tem outra pauta cromática, bem como o barroco remete a um pathos próprio. [...] A cor caipira,<br />
mesmo não dando conta do país, ao idealizar uma mescla envolvendo interior paulista, cidades<br />
mineiras e subúrbios paulistanos e cariocas, certifica a existência de uma cor viva do Brasil. O<br />
Brasil é, pois, um leque de cores para além disso. A melancolia de Goeldi, a simplicidade de<br />
Guignard e a solidez de Segall constituem a paisagem moral do Brasil e o fundo artístico mais<br />
espesso do nosso modernismo, em que a cor encontra um repouso inquietante em sua navegação<br />
com muitas bússolas.” (idem, p.345).<br />
Através da cor, consolidávamos finalmente nossa identidade artística. Mas como, felizmente, a<br />
antropofagia implica numa resignificação constante do outro e num esfacelamento e<br />
reagrupamento contínuo do eu, nossas problematizações plásticas se redesenharam em resposta<br />
aos novos desafios. Principalmente com o neoconcretismo, onde “livre das demandas ideológicas<br />
do nacionalismo oficial e da busca de uma mítica identidade cultural, a obra neoconcreta<br />
empreendia uma profunda reforma lingüistica na arte brasileira. Envolvia-se numa especulação<br />
radical sobre as possibilidades emancipatórias da arte numa sociedade regida pelo mercado, e<br />
acabava constituindo (sem quaisquer agendas a priori) um marcante ponto de vista brasileiro no<br />
universo da arte contemporânea.” (Salzstein, 1998, p.361).<br />
<strong>Antropofagia</strong> e alteridade na arte brasileira<br />
diálogos com nosso eu<br />
Nessa nova fase de nossa problemática plástica, se a idéia era alcançar o caráter emancipatório da<br />
arte, inevitavelmente a arte não mais iria definir apenas um novo eu brasílico, mas,<br />
principalmente, passaria a afetar o eu individual, o qual se pretendia emancipar das limitações<br />
impostas pelo modo de vida do capital. Reformular o conceito de arte significaria explorar<br />
vivências que libertassem o indivíduo da rigidez estética e dos condicionamentos culturais.<br />
Por certo que a preocupação com o eu individual não é exclusiva do neoconcretismo. Já em<br />
Maria Martins, sua arte é crivada por uma sensibilidade marcadamente feminina. Cada uma de<br />
suas obras articula um discurso sobre o erótico e o feminino. Como diz Katia Canton, “o desenho<br />
de suas esculturas são metonímias do desejo” (1998, p.290). E moldada numa miríade de<br />
conteúdos, apropriando-se de símbolos já repletos de um pré-significado (como as cobras,<br />
retiradas de uma mitologia da floresta amazônica), a obra de Maria Martins termina por nos<br />
passar “sinistros e atraentes comentários sobre a condição humana.” (idem, p.294). A obra de<br />
Maria Martins procura alcançar o mais profundo de nosso íntimo, num amalgama onde captam-se<br />
e sintetizam-se aspectos da vida em sua carnalidade, dor, solidão, erotismo e evanescência.<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 6
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
E em Volpi também percebemos nosso eu projetado sob a forma de um vocabulário que nos é<br />
inteligível. São bandeirinhas, janelas, portas, ... transubstanciados numa aventura cromática e de<br />
pesquisa sem fim.<br />
No entanto, será somente com Oiticica e Lygia Clark que o diálogo obra/público se instaura de<br />
maneira absoluta, onde a participação do público se torna condição necessária de realização da<br />
própria arte.<br />
A fruição em si passa a ser proposta de arte.<br />
*<br />
E é na fruição como arte que o sujeito reconstitui o processo de produção do artista, como<br />
concreção do próprio impulso interior de que a obra nasceu. O diálogo que se estabelece entre a<br />
obra e o público realiza-se no campo das vivências interiores, a obra fala à intimidade do homem<br />
e não apenas à sua exterioridade sensorial. Os trabalhos tornam-se então “receptáculos abertos a<br />
significações”.<br />
Em Oiticica o aspecto identitário brasileiro – a cor – permanece. “A compreensão da monocromia<br />
como condição moderna e eminentemente contemporânea atravessa toda a obra de Hélio<br />
Oiticica...” (Venâncio Filho, 1998, p.224). Mas agora o que se busca são novas formas de se<br />
alcançar o eu do indivíduo/espectador. A cor tem a sua função, pois a cor não se conforma a<br />
nenhum limite. E, dessa forma, Oiticica a liberta da relação figura/fundo e da pintura de cavalete,<br />
transformando-a em obra. Agora, a cor é o objeto e o objeto é a cor. A obra torna-se o corpo da<br />
cor.<br />
A cor é utilizada para se quebrar a distância que separa a obra do público. O trabalho com o<br />
branco procura reduzir o contraste, induzindo à proximidade e estimulando a introspecção. Mas a<br />
intenção de Hélio era extroverter, projetar. Daí sua proposta de uma cor energética, solar,<br />
luminosa. Em sua arte o objeto deve ser um emanador de cor.<br />
Mas mais do que a cor, a proposta de Oiticica era a de redefinir a arte como uma atividade lúdica,<br />
aberta à interferência do público e ao imprevisível. “A produção de Oiticica, a partir dos<br />
Parangolés, é nitidamente marcada pela busca para integrar a arte na experiência cotidiana. É a<br />
recusa do amedrontamento perante um mito. A proposta da ‘Antiarte’ consiste em sensibilizar o<br />
cotidiano por meio da repotencialização do ‘coeficiente’ criativo do indivíduo. O artista torna-se<br />
agora o motivador da criação, que só se realiza com a participação do ‘ator/espectador’. Ele reúne<br />
elementos e recursos diversos como cor, estrutura, música, dança, palavra e fotografia, no que<br />
define como ‘totalidade-obra’. É por meio da experiência com a cor que Oiticica rejeita a<br />
dicotomia objeto/sujeito. Funda a obra na própria relação com o sujeito que, ao realizá-la, efetiva<br />
uma operação que o leva a si mesmo, a um autoconhecimento.” (Matesco, 1998, p.386).<br />
Em Cildo Meireles, o mesmo estranhamento do olhar se dá entre o eu e o outro (a obra). Em<br />
Desvio para o vermelho, o desvio consiste em afastar-se do sentindo que pareceria mais evidente,<br />
para enveredar por sinuosidades. Saímos da identidade em direção à diferença. O que se vê é o<br />
que não se vê...<br />
*<br />
No entanto, talvez seja em Lygia Clark que possamos encontrar a máxima da fruição tida como<br />
arte. Na verdade, sua intenção era fazer da própria existência uma obra de arte. Com Lygia, o<br />
objeto artístico torna-se um quase nada, reduzido apenas ao seu essencial, “...aquilo que opera, no<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 7
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
corpo do espectador, uma experiência de desestabilização de sua subjetividade, permitindo-lhe<br />
viver a forma no momento de seu naufrágio, momento que é também o de uma germinação.”<br />
(Rolnik, 1998, p.461). A arte dela se realiza no corpo do espectador, procurando colocá-lo on line<br />
com as forças, rente à vida, lançando-o no devir (idem, p.460).<br />
“...a função dos objetos de Lygia não é a sensibilização ou a liberação catártica do corpo próprio como fonte<br />
de prazer, nem a expressão ou a constituição de uma imagem do corpo como fonte de unidade psíquica, nem o<br />
resgate das tais representações reprimidas que se encontrariam num arquivo secreto. Ao contrário, a função<br />
destes objetos é favorecer a exposição da subjetividade ao além do humano no homem: o autêntico bicho (o<br />
vivo) [...] O que ela quer é criar condições para conquistar ou reconquistar na subjetividade um certo estado<br />
no qual seja possível suportar a contingência das formas, desgrudar-se de um dentro absolutizado vivido<br />
como identidade, navegar nas águas instáveis do corpo aformal e adquirir a liberdade de fazer outras dobras,<br />
toda vez que um novo feixe de sensações no bicho assim o exigir. É como resposta a esta exigência que<br />
mudar de forma ganha sentido e valor, impondo-se como necessário para a aventura vital [...] Lygia chamou<br />
isso de ’atingir o singular estado de arte sem arte’ [...] Este é um detalhe essencial: para Lygia experimentar o<br />
estado de arte – corporificar um novo feixe de sensações, singular por definição – não se dá somente na<br />
criação de um assim chamado ‘objeto de arte’ mas também na criação da existência objetiva e/ou subjetiva. O<br />
que Lygia quer é resgatar a vida em sua potência criadora, seja qual for o terreno onde se exerça tal potência.”<br />
(idem, p.459).<br />
*<br />
E ainda que os textos que se conhece de Hélio Oiticica, Lygia Clark ou Ferreira Gullar não<br />
mencionem diretamente a poética da antropofagia, “...não se pode recusar o fato de que a obra e a<br />
reflexão deles e dos artistas ligados ao movimento neoconcreto enfatizaram ininterruptamente a<br />
mesma fenomenologia do presente exaltada nos manifestos de Oswald de Andrade e na obra de<br />
Tarsila.” (Salzstein, 1998, p.360).<br />
E assim nossa arte contemporânea chega a seu ápice. Do encontro do outro em nosso próprio eu,<br />
da apreensão das diferenças e da identidade em nossa autofagia, nos redefinimos, libertos<br />
finalmente...<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 8
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
Bibliografia<br />
ANDRADE, Oswald de<br />
1928 “Manifesto Antropófago”. Revista de <strong>Antropofagia</strong>, n.1, ano 1, maio de 1928, São<br />
Paulo, apud FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO. XXIV Bienal de São<br />
Paulo: núcleo histórico: antropofagia e histórias de canibalismo, v.1 / [curadores<br />
Paulo Herkenhoff, Adriano Pedrosa]. São Paulo: A Fundação, pp.532-535.<br />
AMARAL, Aracy<br />
1998 “Volpi: construção e reducionismo sob a luz dos trópicos”. In: FUNDAÇÃO<br />
BIENAL DE SÃO PAULO, op. cit., pp. 372-378.<br />
BELLUZZO, Ana Maria<br />
1998 “Trans-posições”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op. cit., pp. 68-<br />
75.<br />
CANTON, Katia<br />
1998 “Maria Martins: a mulher perdeu sua sombra”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE<br />
SÃO PAULO, op. cit., pp. 288-294.<br />
CHOUGNET, Jean-François<br />
1998 “Tupi or not tupi, that is the question”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO<br />
PAULO, op. cit., pp. 86-93.<br />
FERNANDES, Florestan<br />
1970 A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. 2ª ed., São Paulo: Pioneira.<br />
“O significado e a função dos ritos de destruição dos inimigos”.<br />
HERKENHOFF, Paulo<br />
1998a “Introdução Geral”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op. cit., pp.22-<br />
34.<br />
1998b “Monocromos, a autonomia da cor e o mundo sem centro”. In: FUNDAÇÃO<br />
BIENAL DE SÃO PAULO, op.cit., pp.192-199.<br />
1998c “A cor no modernismo brasileiro – a navegação com muitas bússolas”. In:<br />
FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op cit., pp.336-345.<br />
LAGNADO, Lisette<br />
1998 “Cildo Meireles – desvio para a interpretação”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE<br />
SÃO PAULO, op. cit., pp. 398-401.<br />
LIMA, Karin & PATO, Christy G.G.<br />
1998 Arte Brasileira – percalços de uma forma, mimeo.<br />
MATESCO, Viviane<br />
1998 “Corpo-cor em Hélio Oiticica”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op.<br />
cit., pp. 386-391.<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 9
Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />
MONTAIGNE, Michel Eyquem de, 1533-1592<br />
1980 (1580) Ensaios / Michel de Montaigne: tradução de Sérgio Milliet, 2ªed., São Paulo: Abril<br />
Cultural, (Os pensadores). Cap. XXXI: “Dos canibais”, p.100-106.<br />
NAVES, Rodrigo<br />
1996 A Forma Difícil – ensaios sobre arte brasileira. São Paulo, Ática.<br />
ROLNIK, Suely<br />
1998 “Por um estado de arte: a atualidade de Lygia Clark”. In: FUNDAÇÃO BIENAL<br />
DE SÃO PAULO, op. cit., pp. 456-461.<br />
SÁIZ, María Concepción García<br />
1998 “O passado também nos devora”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO,<br />
op.cit., pp.111-113.<br />
SALZSTEIN, Sônia<br />
1998 “A audácia de Tarsila”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op. cit., pp.<br />
356-363.<br />
TODOROV, Tzvetan<br />
1993 A Conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes.<br />
“Igualdade ou desigualdade”, pp.143-164.<br />
VENÂNCIO FILHO, Paulo<br />
1998 “Hélio Oiticica – trajetória monocromática”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO<br />
PAULO, op. cit., pp.224-226.<br />
IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 10