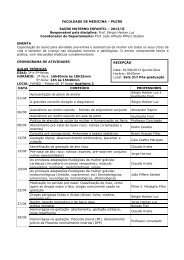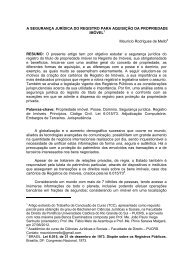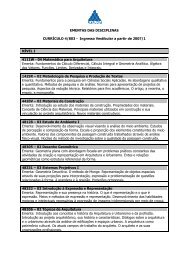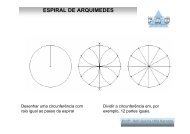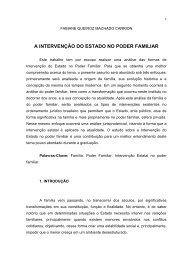You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
GRÉCIA – A CAMINHO DA DEMOCRACIA<br />
JERÔNIMO BASIL ALMEIDA<br />
RESUMO<br />
O trabalho foi elaborado com a intenção de averigüar a<br />
evolução da história política e social de Atenas, uma civilização rica e<br />
complexa, que conseguiu instaurar, em seu território, graças a<br />
inteligência de seu povo, o regime democrático.<br />
INTRODUÇÃO<br />
O presente trabalho tem como intuito descrever a evolução político-social de Atenas,<br />
dando um enfoque central no período clássico.<br />
O trabalho se dividirá em cinco capítulos. O primeiro tratará sobre Creta e Micenas, e<br />
das invasões indo-européias. O segundo versará sobre os poemas homéricos, e vamos<br />
analisar como ocorreu a formação da cidade ateniense. No terceiro, será estudado o<br />
período arcaico, onde será vislumbrado uma importante noção de justiça.<br />
Por fim, nos últimos capítulos veremos uma série de revoluções que impulsionaram o<br />
surgimento do regime democrático, que teve o seu auge com Péricles.<br />
1 PRÉ-HISTÓRIA GREGA<br />
1.1 CRETA<br />
A maior ilha do mar Egeu viu florescer em seu solo a brilhante civilização cretense<br />
(egéia). Rica e muito bem organizada, ela deixou um legado muito importante para os<br />
gregos.<br />
Vale destacar, com Fernand Braudel, o aspecto geográfico de Creta:<br />
Ao sul do mar Egeu, Creta antiga é uma ilha perdida num deserto de água<br />
salgada. Vasta, montanhosa, ela é cortada por planícies (como, por<br />
exemplo, uma ao centro, Messara, bastante longa: 40 km de comprimento
por 6 a 12 de largura), cercada por montanhas calcárias que são como<br />
outros castelos de água 1 .<br />
Creta, como vemos, estava voltada para o mar, e por causa disso desenvolveu<br />
muitos contatos marítimos, principalmente com a Grécia e com a Ásia Menor. Do século XX<br />
a.C. até XV a.C., a civilização cretense tivera grande influência comercial sobre o mar<br />
Mediterrâneo, estendendo, assim, os seus domínios até a Grécia Continental, conquistando<br />
muitas cidades. Aristóteles, na Política, afirmara a influência desta civilização sobre os<br />
gregos: “A ilha parece naturalmente disposta e bem situada para dominar o mundo grego.<br />
Domina o mar em cujo litoral se estabeleceram quase todos os Gregos” 2 .<br />
Em Creta, o rei era quem detinha o poder político, e ele era designado de Minos 3 . A<br />
capital do reino era a cidade de Cnossos, que na época do seu auge, chegou a ter uma<br />
população de mais de cem mil habitantes.<br />
A civilização cretense deixou um grande legado para a história grega: o modelo de<br />
uma sociedade organizada e a admiração por concursos ginásticos são exemplos claros da<br />
herança deixada para os gregos. Outra amostra disso, é o legado artístico, que muito serviu<br />
de modelo para a civilização micência, e os produtos da agricultura, tais como azeite de<br />
oliva, figo, que fizeram parte da alimentação do povo helênico por muito tempo. Essas<br />
exemplificações nos demonstram uma breve noção da influência cretense no mundo grego.<br />
1.2 MICENAS<br />
No século XVI a.C., os aqueus, povo de origem indo-européia, estão estabelecidos<br />
na Grécia Continental, e lá fundam a cidade de Micenas. O historiador Mário Curtis<br />
Giordani, nos fornece algumas características deste povo: “Guerreiros altos, fortes,<br />
musculosos e louros, êsses indo-europeus possuem uma inteligência viva unida à grande<br />
capacidade de assimilição” 4 .<br />
Por volta do século XIII a.C., os micênicos invadem e dominam Creta. Neste<br />
contato com o mundo cretense, eles assimilaram muito das caracteristicas desta civilização,<br />
e por conta disso, surge na história civilização creto-micênica, que existiu entre o século XIII<br />
a.C. a XII a.C.<br />
Neste período, com a derrocada de Creta, o micênicos passaram a ter hegemonia<br />
comercial no mar Egeu, e também, acabaram por conquistar muitas cidades, principalmente<br />
da Ásia Menor<br />
1<br />
BRAUDEL, Fernand. Memórias do Mediterrâneo. Rio de Janeiro: Multi Nova, 1998. p.133.<br />
2<br />
ARISTÓTELES. Política. Lisboa : Vegas, ano 1998. p. 165<br />
3<br />
Minos era o lendário rei de Creta. Após sua morte, todos os reis posteriores passaram a ser<br />
designados pelo mesmo nome.<br />
4<br />
CURTIS GIORDANI, Mario. História da Grécia. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1972. p. 89.<br />
2
Em Micenas, o sistema de governo era monárquico, e o rei era chamado de<br />
Wanax 5 . Este possuía diversas atribuições e possuái bastante poder. Era o supremo<br />
comandante do exército, e no seu palácio, ele dirigia “as encomendas de armas, o<br />
equipamento dos carros, os recrutamento de homens, a formação, a composição, o<br />
movimento das unidades” 6 . Além disso, ele era o principal chefe religioso, e exercia o seu<br />
poder sobre uma grande classe sacerdotal influente. As camadas inferiores da população<br />
eram compostas por pastores, carpinteiros, médicos, alfaiates, ouvires, etc. A mulher, após<br />
a adoção dos costumes cretenses, passou a ser mais valorizada no convívio social.<br />
Além dos aqueus, em torno de 1700 a.C. e 1400 a.C., outros povos de origem indo<br />
européia, chegaram no território grego: os eólios, que se firmaram na Tessália e em outras<br />
regiões, e os jônios que se estabeleceram na Ática. Vale mencionar, que os jônios,<br />
posteriormente, fundaram a cidade de Atenas, a pólis mais importante da Grécia Antiga e<br />
que vai ser o nosso objeto de estudo.<br />
Em 1200 a.C., ocorre a invasão dos dórios, último povo indo-europeu que chegou a<br />
Grécia. Estes novos invasores, eram essencialmente guerreiros e utilizavam armas de ferro.<br />
Foram os dórios, os responsáveis pela destruição da cidade de Micenas, provocando o fim<br />
do modelo de vida anterior. M. Finley assevera que “a civilização Micénica teve um final<br />
bastante abrupto, assinalado pela destruição dos palácios fortificados em muitas partes da<br />
Grécia” 7 .<br />
2 TEMPOS HOMÉRICOS<br />
Com a chegada dos dórios, teve-se na Grécia, a partir de então, um período onde<br />
as cidades foram destruídas, a arte e escrita desapareceram e o artesanato regrediu. Houve<br />
um processo de regressão, onde a sociedade voltou a uma fase rural e doméstica. Este<br />
período, se estende do século XII a.C. a VIII a.C., e é retratado, somente, pelos poemas<br />
Ilíada e Odisséia.<br />
2.1 ILÍADA E ODISSÉIA<br />
5 Na sociedade micênica, devemos destacar as características do poder real: “o rei concentra e unifica<br />
em sua pessoa todos os elementos do poder, todos os aspectos da soberania. Por intermédio dos escribas, que<br />
formam uma classe profissional fixada na tradição, graças a uma hierarquia complexa de dignitários do palácio e<br />
de inspetores reais, ele controla e regulamenta minuciosamente todos os setores da vida econômica, todos os<br />
domínios da atividade social”. VERNANT, Jean–Pierre. As Origens do Pensamento Grego. 11 ed. Rio<br />
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. p. 21-22<br />
6 Ibid., p. 25.<br />
7 FINLEY, M. I. Os gregos antigos. Lisboa: Edições 70, 1963. p. 14.<br />
3
Ninguém sabe, ao certo, quando obras homéricas foram escritas. Acredita-se,<br />
todavia, que a Ilíada foi escrita em 750 a.C. e a Odisséia em 735 a.C.. A autoria, destes<br />
poemas, é atribuída à Homero; porém este é um ponto muito controverso. Contudo,<br />
segundo estudos mais recentes, Homero seria cego, e teria ditado o texto das epopéias,<br />
para alguma pessoa que podia escrever. Ademais, provavelmente, o conteúdo do poema,<br />
tenha sido elaborado oralmente e teria sido cantado inúmeras vezes, até o momento, que<br />
ele fora registrado por Homero.<br />
Conforme Luiz Fernando Barzotto, este poeta, teve uma marcante influência no<br />
mundo grego, e principalmente, em Atenas, verbis:<br />
Homero teve um papel ímpar como poeta. Não era sem motivo que ele era<br />
denominado o “educador da Hélade”. Homero era invocado como<br />
autoridade em todoas as questões, especialmente naquelas que diziam<br />
respeito à moral e à religião. Em Atenas, a Ilíada e a Odisséia eram<br />
memorizadas pelos jovens, determinando o vocabulário moral, político,<br />
estético e religioso. 8<br />
A primeira obra atribuída a Homero, é a Ilíada, que narra os últimos cinqüenta dias<br />
da Guerra de Tróia, relatando a cólera de Aquiles, um dos guerreiros mais temidos de toda a<br />
Grécia. Filho de Tétis, a nereida mais encantadora, e de Peleu, um simples mortal, Aquiles,<br />
que aceitou juntar-se à campanha dos gregos, pois almejava obter glória e reconhecimento,<br />
desistira de lutar na Guerra de Tróia, pois Agamêmnon, chefe dos exércitos da Grécia, havia<br />
usurpado a sua escrava, a Briseide.<br />
Este grande herói grego, tinha um amigo íntimo, chamado Pátrocolo, que estava<br />
repelindo os troianos em combate, até ser morto por Heitor, um grande guerreiro troiano.<br />
Por conta da morte de Pátrocolo, Aquiles, cheio de ódio e dor, decide voltar a guerra e<br />
vingar a morte daquele. Por isso, ele vai atrás de Heitor, e no confronto entre ambos,<br />
Aquiles atinge o guerreiro troiano ao desferir-lhe uma lança em sua garganta. Heitor,<br />
agonizante, pede à Aquiles que não deixe o seu corpo a mercê de aves e cães. O herói<br />
grego, no entanto, nega piedade e atravessa a lança novamente em sua garganta.<br />
Uma parte muito importante deste livro, se dá quando o rei de Tróia, Príamo, vai ao<br />
encontro de Aquiles, para pedir o cadáver de seu filho Heitor:<br />
Ao rei trêmulo a núncia, em voz depressa<br />
Para o não abalar: “Coragem, disse,<br />
Nada receies, Príamo. Aqui Jove<br />
Benévolo me envia, e longe embora,<br />
De ti se compadece e tem cuidado,<br />
Que resgaste Heitor ele te ordena,<br />
E o Pelides com dádivas comovas;<br />
8 BARZOTTO, Luis Fernando. Prudência e Jurisprudência: uma reflexão epistemológica sobre a<br />
jurisprudentia romana a partir de Aristóteles. Revista Direito e Justiça da Faculdade de Direito<br />
da PUCRS, Porto Alegre, ano XXIII, v. 23, p. 222, jan. 2001.<br />
4
Que vás às naus sozinho, e idoso arauto<br />
Governe andejas mulas e a caleça<br />
Onde o morto carreies: e vai sem medo,<br />
Guiar-te-á Mercúrio aos pés de Aquiles.<br />
Do herói ofensa alguma ali não temas,<br />
Nem de qualquer: sisudo, humano e atento,<br />
Um suplicante poupará benigno 9<br />
Já a Odisséia, trata do retorno de Ulisses para a sua casa, após o término dos<br />
conflitos com Tróia. Ulisses era um renomado guerreiro grego, rei de Ítaca, que muito<br />
desejava regressar para o seu pequeno reino, tendo em vista a vontade de reaver sua<br />
esposa, Penélope, e seu filho, Telêmaco, pois não os via desde o início da guerra.<br />
Toda esta obra, gira em torno de Ulisses, que era o único guerreiro grego, que não<br />
desejava ir para guerra, pois estava vivendo de maneira hamôrnica, com sua família, em<br />
seu reino. Em sua volta para a casa, após a guerra, este herói grego se depara com muitas<br />
aventuras e obstáculos, que fazem ele ficar mais dez anos fora do seu lar. Neste trecho que<br />
vamos reproduzir, se dá o reencontro de Ulisses, com a sua esposa, que no primeiro<br />
momento, não reconhece o seu marido, já que havia se passado muitos anos que eles não<br />
se viam:<br />
Em prato o colo do marido abraça,<br />
E o beija e diz: Ulisses, foste aos homens<br />
O exemplo de prudência, não te enfades.<br />
Irmos juntos logrando os flóreos dias<br />
O céu nos invejou; perdão se ao ver-te<br />
Não fui logo lançar-me no teu seio;<br />
De que outrem, com discursos me iludisse<br />
Tremia sempre; os dolos não falecem.<br />
A Dial Grega Helena o toro nunca<br />
Do estranho compartira, a ter previsto. 10<br />
Essas duas obras da Antigüidade clássica são grandes fontes de estudo, para<br />
historiadores ou admiradores do mundo grego. Vale ressaltar, que a Ilíada, teve muita<br />
importância para os gregos, tanto que todos os livros pós-homero, acabaram a citando, e<br />
era muito comum ver os gregos antigos com muitos exemplares deste livro.<br />
2.2 Fundação de Atenas<br />
Na Ática havia muitas famílias, que viviam em absoluta independência, sendo que<br />
cada uma tinha a sua própria religião, seu próprio chefe e sua própria assembléia. Um<br />
exemplo disso, era a família dos Cecrópidas, que habitavam o rochedo aonde mais tarde<br />
9 HOMERO. A Ilíada. São Paulo: Martin Claret, 2005. p. 505.<br />
10 HOMERO. A Odisséia. São Paulo: Martin Claret, 2005. p. 394<br />
5
seria fundada Atenas, e que possuíam seus costumes próprios e tinham como divindade<br />
protetora a deusa da guerra Atenas, e o deus do mar, Posêidon.<br />
Com o tempo, vê-se que estas inúmeras famílias que estavam situadas na Ática,<br />
encontraram-se reduzidas a doze confederações, sendo que o grupo acima citado, o dos<br />
Cecrópidas, através de lutas e conquistas, obtivera mais poder e importância, e por isso,<br />
conquistou a supremacia sobre as demais confederações.<br />
Neste período, eis que aparece Teseu 11 , herdeiro dos Cecrópidas, que teve o mérito<br />
de reunir estas doze confederações que viviam na Ática, e os fez adotar o culto de Atenas<br />
Polias. Foi ele, então, o fundador da pólis ateniense, fazendo “com que o pritaneu de Atenas<br />
fosse o centro religioso de toda a Àtica” 12 .<br />
Para fundar a pólis ateniense, foi necessário seguir algumas linhas de cunho<br />
religioso. Primeiramente, o fundador Teseu consultou o oráculo de Delfos, para saber qual<br />
era o local mais apropriado para se fundar a cidade. Após a consulta, os deuses revelaram a<br />
sua vontade, que foi seguida.<br />
Com a chegada do dia da fundação, e escolhido o local para a criação da cidade,<br />
que se deu no topo de uma colina, se realizava um sacrifício que era ofertado aos deuses.<br />
Logo em seguida, depois de uma série de ritos, todas as pessoas presentes na solenidade,<br />
cavavam um fosso no local aonde seria nascida a cidade, e enterravam nele uma pequena<br />
porção de terra trazida do seu lar. Este torrão que era trazido por todos, representava o lar<br />
antigo, que era o local onde os antepassados de cada um haviam vivido e estavam<br />
enterrados.<br />
Fustel de Coulanges, explica o porquê da realização desta prática religiosa:<br />
O homem não podia se mudar sem levar consigo o seu solo e seus<br />
ancestrais. Era preciso observar esse rito para, ao mostrar o novo lugar que<br />
havia adotado, poder dizer: esta é ainda a terra de meus pais, terra<br />
patruum, patria; aqui é a minha pátria porque aqui estão os manes de minha<br />
família 13 .<br />
Ao enterrar no fosso, um punhado de terra trazido da sua antiga casa, os antigos<br />
acreditavam que ali ficaria residindo as almas dos seus heróis, e estas iriam proteger a urbe<br />
que estavava sendo criada.<br />
11 Na mitologia, Teseu se encanta com a beleza de Helena, e é mencionado como um guerreiro muito<br />
virtuoso: “Teseu, o herói respeitado por todos os povos da Grécia; Teseu, o rei de Atenas, o matador do terrível<br />
minotauro da ilha de Creta; Teseu, o guerreiro implacável que tinha libertado a Àtica dos bandidos e salteadores<br />
ferozes. Teseu era um homem maduro que já tinha vivido os seus cinqüenta invernos; depois de tantas<br />
proezas, depois de tantas façanhas, ele chegou à conclusão de que só lhe faltava um troféu, só lhe faltava um<br />
prazer: dormir com com uma filha de Zeus”. MORENO, Cláudio. Tróia: o romance de uma guerra. Porto<br />
Alegre: L&PM, 2004. p. 74-75.<br />
12 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. São Paulo: Martin Claret, 2004. p 142.<br />
13 Ibid., p. 147.<br />
6
Após, no mesmo local aonde estavam enterradas as almas dos antigos, se eregia o<br />
altar, e se ascendia o fogo sagrado. E era em volta deste fogo, que se erguia a cidade. Cada<br />
família reunida, mantivera o seu culto antigo, suas crenças, seus chefes e o seu direito a<br />
reunião. Contudo, todos eles ficaram vinculados a um culto comum, e ao governo central da<br />
cidade de Atenas.<br />
2.3 A CIDADE<br />
2.3.1 Conceito<br />
A cidade, segundo Aristóteles, é a forma de comunidade 14 mais completa e perfeita<br />
que existe, pois ela visa o maior bem, a saber: assegurar a vida boa para cada um dos seus<br />
membros. Por conta disso, respalda-se que é só na cidade que o cidadão vai poder se<br />
realizar plenamente como ser humano, por que graças a ela, é dado a todos, a oportunidade<br />
de viver bem e de encontrar a felicidade suprema (eudaimonia).<br />
Com o passar do anos, e com o aumento da população, o termo cidade passa a<br />
abranger não só o topo da colina, aonde estava o palácio do rei, os templos religiosos e as<br />
fortificações, mas também passa a designar o local onde os gregos residiam e plantavam.<br />
Por esta razão, e para diferenciar, surge a palavra pólis que referia-se a cidade alta, e a<br />
expressão astú que se relacionava com a cidade baixa. Assim, deve-se levar em conta, as<br />
sábias palavras de Gustave Glotz, que faz uma ótima análise lingüística e histórica destes<br />
termos:<br />
Por outro lado, a cidade alta não se contentou em absorver a cidade baixa<br />
“de largos caminhos”. O nome fluido de pólis comunicou-se a todos os<br />
povoados rurais que viviam à sua sombra. Por uma progressão inevitável,<br />
acabou por se estender a toda a região que obedecia à autoridade do<br />
mesmo chefe. A palavra que servira inicialmente para designar a acrópole<br />
termina por denominar uma cidade 15 .<br />
2.4 REGIME MONÁRQUICO<br />
O primeiro regime instituído em Atenas, foi a monarquia. Isto se explica pela<br />
religião. Como na cidade, quem primeiramente cuidou de tudo que estava relacionado com<br />
o aspecto religioso, presidindo ritos e cerimônias, e fazendo o culto, era o fundador, nada<br />
mais natural, que ele se tornasse o primeiro chefe da pólis, se tornando o rei, ou basileus,<br />
no dizer grego.<br />
14<br />
Para o conceito de comunidade, podemos dizer que é o conjunto de famílias, ou de outros grupos,<br />
que se unem para buscar determinado bem.<br />
15<br />
GLOTZ, Gustave. A Cidade Grega. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988. p. 9.<br />
7
O rei era o sumo sacerdote da pólis, e seu poder estava totalmente vinculado com a<br />
religião. Era ele que cuidava do fogo sagrado, e era o único que sabia das fórmulas<br />
sagradas das orações. Ademais, os gregos consideravam o rei como um ser sagrado, pois<br />
ele interegia com os deuses e sabia de suas vontades. Sua autoridade, não provinha do<br />
direito divino e nem da força física, mas governava em função da tradição.<br />
Junto ao rei, havia o Areópago que era um órgão consultivo, composto pelos mais<br />
importantes chefes de família, e a Ekklêsía que era a assembléia dos cidadãos, que ouvia<br />
todas as decisões tomadas pelo rei 16 .<br />
2.5 ESTADOS SOCIAIS<br />
Em Atenas, existiam vários grupos sociais distintos. O primeiro deles, que iremos<br />
citar, era os eupátridas, que eram os descendentes dos fundadores, e por isso gozavam de<br />
privilégios na sociedade. Eles detinham o poder político e possuíam grandes propriedades<br />
de terra.<br />
Abaixo na escala social, aparece os tetas ou clientes, que viviam junto dos<br />
eupátridas, estando submetidos ao poder deles e recebiam proteção. Não possuíam<br />
propriedade e nem direitos políticos.<br />
Também, havia os georgoi, que eram pequenos proprietários de terras, que as<br />
cultivavam pessoalmente, e os demiurgos que eram trabalhadores livres, proprietários de<br />
pequenas oficinas. Infelizmente não sabemos como surgiram estas duas classes<br />
importantes, que foram responsáveis por grandes transformações que em breve iremos<br />
tratar 17 . Todavia, Fustel de Coulanges expõe algumas causas prováveis que ocasionaram o<br />
surgimento desta classe:<br />
Por fim, na cidade de Atenas, mais posteriormente, surgiu duas classes: a dos<br />
metecos, que eram quaisquer pessoas que não tivessem nascido em Atenas; e a dos<br />
16 Esta são as primeiras instituições gregas que conhecemos. Entretanto, não temos muitos dados<br />
históricos que nos forneçam uma análise mais profunda do funcionamento e competência destes<br />
órgãos institucionais.<br />
17 Fustel de Coulanges expõe algumas causas prováveis que ocasionaram o surgimento desta classe:<br />
“A religião doméstica não se propagava; nascida no seio da família, ali permanecia; era preciso que cada família<br />
formasse sua crença, seus deuses e seu culto. Ora, pode muito bem ter ocorrido que algumas famílias não<br />
tivesse capacidade espiritual para criar essa divindade, instituir o culto, inventar o hino e o ritmo de oração. Tais<br />
famílias ficariam, só por isso, em estado de inferioridade em relação às que possuíam uma religião, e não<br />
puderam fazer sociedade com elas. Pode igualmente ter acontecido que algumas famílias tenham perdido o culto<br />
doméstico, quer por negligência e esquecimento dos ritos, quer em consequência de algum desses crimes ou<br />
máculas que proibiam ao homem aproximar-se do fogo sagrado e continuar com o culto. Enfim, poderá ter<br />
acontecido que clientes, tendo sempre seguido o culto de seu pater e não conhecendo outro, tenham sido<br />
expulsos da família, ou a tenham abandonada involuntariamente. Acrescentamos ainda que o filho de casamento<br />
civil, sem ritos, era considerado bastardo como o de uma mulher adúltera, e sabemos que, para ambos, a<br />
religião doméstica não existia. Todos esses homens excluídos das famílias e postos à margem do culto, caíram<br />
na classe dos homens sem lar”. COULANGES, op. cit., p. 260.<br />
8
escravos, que em linhas gerais, eram prisioneiros de guerra e que trabalhavam para os<br />
eupátridas.<br />
3 PERÍODO ARCAICO<br />
3.1 MILAGRE GREGO<br />
Nos tempos homéricos, os gregos romperam contatos com outros povos. Pouco se<br />
soube o que realmente houve com os gregos. A únicas fontes históricas, daquele momento,<br />
são as obras de Homero.<br />
Todavia, no período arcaico, que se estende do século VIII a.C. ao século VI a.C., é<br />
sabido, que os gregos já estão estabelecidos em cidades, falando uma língua que não era<br />
semita, desenvolvendo práticas comerciais, como a venda de vinhos, azeitos e vasos<br />
decorados, e adotando um sistema de escrita fonética dos fenícios. Ainda, é sabido que os<br />
gregos voltam a se relacionar com outros povos do mundo antigo. Braudel salienta que a<br />
“Grécia que estivera separada do mundo oriental, retoma contacto com ele, graças às<br />
cidades da costa síria, Al-Mina em particular” 18 . É neste período que vemos mudanças muito<br />
importantes no território grego e grandes transformações sociais, que passaremos a tratar<br />
agora.<br />
3.2 PERÍODO OLIGÁRQUICO<br />
A realeza ateniense perdurou por bastante tempo, até que os eupátridas acabaram<br />
por usurpar o poder do basileus.<br />
O rei acabou perdendo as suas atribuições, ficando restrito as funções religiosas.<br />
Não sabemos como ocorreu e o motivo que fez o poder real se enfraquecer; todavia,<br />
acredita-se que o rei tenha se aproximado muito das classes populares, concedendo<br />
privilégios e benécies, e isso gerou revoltas por parte dos eupátridas que conseguiram<br />
tomar o poder político para si. Assim. no século VII. a.C, já sabemos que ao lado do<br />
basileus, havia o arconte polemarco que tinha poder militar e o arconte epônimo que se<br />
tornara a maior autoridade individual do Estado.<br />
Ao lado deste arcontes, o Conselho do Areópago continuava exercendo suas<br />
funções, sendo “que todo magistrado, ao término do mandato, ingressava no Conselho do<br />
Areópago e aí ficava até o fim de seus dias” 19 .<br />
18 BRAUDEL, op. cit., p. 261.<br />
19 CASTRO, José Olegário de Freitas. Estudos econômicos políticos e sociais. Belo Horizonte:<br />
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Minas Gerais, 1959. p. 55.<br />
9
Com a chegada dos eupátridas ao poder, eles exerceram o “domínio sobre toda a<br />
população da Ática, enquanto a massa trabalhadora – camponeses, artesãos, escravos –<br />
não possuía qualquer poder de decisão política” 20 . Graças a esse supremacia dos nobres,<br />
que detinham a maior parte das terras e do poderio econômico, muitos membros do povo<br />
ateniense, para obter melhores condições de vida, se dirigiram para outros locais, mais<br />
precisamente para regiões do Mediterrâneo ocidental, e fundaram várias cidades, como<br />
Tarento e Siracusa.<br />
3.3 MORAL ARISTOCRÁTICA<br />
O nobre, é descendente dos fundadores, dos heróis gregos, possuindo status e<br />
privilégios dentro da comunidade.<br />
Para fazer jus a sua importância social, o nobre tinha que ser um modelo a ser<br />
seguido por todos. Por isto, em suas atitudes, ele sempre procurava fazer o bem e,<br />
principalmente, visava alcançar a arete. De acordo com Werner Jaeger, não há na língua<br />
portuguesa um termo equivalente para a ‘arete’, todavia explica o autor que:<br />
[...] a palavra “virtude”, na sua acepção não atenuada pelo uso puramente<br />
moral, e como expressão do mais alto ideal cavaleiresco unido a uma<br />
conduta cortês e distinta e ao heroísmo guerreiro, tavez pudesse exprimir o<br />
sentido da palavra grega 21 .<br />
A arete é a virtude, e é um atributo próprio da nobreza, sendo que nenhum escravo,<br />
meteco, ou qualquer outro elemento do povo ateniense, poderia aspirar a obter tal mérito.<br />
Até mesmos aqueles que foram de origem ilustre, mas caíram na escravidão, não puderam<br />
alcançar este atributo.<br />
Todo nobre queria alcançar a arete, pois se almejava obter a glória (kleos) e a boa<br />
fama (doxa) na pólis, para se tornar inesquecível e imortal no mundo grego. Esse modelo<br />
de moral, exigia que a nobreza apresentasse, no campo da batalha, seus talentos e<br />
qualidades, tais como a coragem e astúcia, e tivesse no convívio social, atitudes corretas e<br />
que viessem de auxílio ao bem da pólis.<br />
Havia o sentimento de dever, entre eles, de ir em busca do ideal da arete. Inclusive,<br />
ter este dever, era motivo de orgulho, pois ele significava a busca constante a um ideal que<br />
iria fazê-los ser reconhecidos pela história perpetuamente 22 .<br />
20 AQUINO, Leão R. S; FRANCO, Denize A.; LOPES, Oscar G. P. C. Historia das Sociedades: das<br />
comunidades primitivas às sociedades medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980. p. 190.<br />
21 WERNER. Jaeger. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p.25.<br />
22 O historiador Voltaire Schilling, assevera que este ideal aristocrático perdurou por muito tempo na<br />
Grécia Antiga, vinculando inclusive, grandes filósofos: “O fato de Atenas bem mais tarde ter implantado<br />
uma democracia não alterou profundamente a concepção de herói herdada dos tempos da Grécia Arcaica e de<br />
domínio aristocrático. Seus dois maiores filósofos, Platão e Aristóteles, educadores do Ocidente, por igual<br />
10
3.4 CRISE SOCIAL<br />
Por volta do século VII a.C., se tem em Atenas, uma importante luta de classes, que<br />
vai traçar o destino de todos atenienses. Inicialmente, vemos neste século a troca da<br />
economia natural pela economia de caráter monetário. Com isso, se teve o incremento do<br />
comércio e do artesanato, que fez com que pessoas alheias a nobreza, pudessem<br />
enriquecer. Exemplo disto são os atenienses que se direcionaram para outros locais da<br />
Grécia, em busca de melhores condições. Eles, com a prática do comércio, e com o esforço<br />
do seu trabalho, retornam para Atenas, com uma situação financeira muito agradável.<br />
Também, no mesmo período, importante mencionar que muitos membros das<br />
classes demiurgos e georgois, pediam empréstimos para os nobres, e davam como garantia<br />
ao cumprimento da dívida, a sua própria pessoa. Infelizmente, muitos não conseguiam<br />
solver a dívida, e por conta de tal situação, acabavam por se tornar escravos dos seus<br />
credores.<br />
Estes dois fatos acima citados, geraram crise em toda a pólis ateniense, pois começa<br />
a se surgir grandes reinvidicações por parte de toda a população. Os novos ricos, querem<br />
participar da vida política e querem privilégios, e os escravizados desejam melhorias em<br />
suas condições.<br />
Esta crise, vai provocar profundas mudanças na estrutura política social em Atenas e<br />
é graças a ela que podemos ver surgir importantes noções jurídicas, que trataremos no<br />
próximo tópico.<br />
3.5 FORMAÇÃO DA NOÇÃO DE JUSTIÇA<br />
3.5.1 Thêmis<br />
Na epopéia homérica, Thêmis é a deusa da justiça, que vive no Olimpo, e é uma<br />
das companheiras de Zeus. Ela era responsável pelo equílibrio e pela ordem dos cosmos, e<br />
continuaram presos à ética arcaica do valentão nobre e destemido como um ideal a perseguir, sendo que o<br />
último a considerou como um norte aplicável à vida dos filósofos. Muito dela foi, por igual, absorvido pelos<br />
atletas olímpicos que mantiveram as pistas de corridas e os saltos de obstáculos como um pacífico substitutivo<br />
dos campos de batalha, mantendo ente si os mesmos princípios estabelecidos pelo Código dos Cavaleiros.<br />
Grande parte da retórica democrática continuou influenciada pelos mesmos ideais éticos, de fazer com que<br />
também na política os cidadãos seguissem as regras da convivência cavalheiresca, o mesmo acontecendo<br />
com os constantes duelos verbais travados entre os homens cultos contidos nos "Diálogos" de Platão ou ainda<br />
entre os grandes oradores da cidade”. SCHILLING, Voltaire. Homero e a busca da virtude. Disponível<br />
em: . Acesso em: 14 set. 2007.<br />
11
dava decretos divinos só para as famílias proprietárias de terras, ou seja, somente para as<br />
genos.<br />
Émile Benveniste, em sua clássica obra, assevera que Thêmis é “a prescrição que<br />
fixa os direitos e deveres de cada um sob a autoridade do chefe do génos, quer seja na vida<br />
cotidiana dentro de casa ou em circunstâncias excepcionais: aliança, casamento,<br />
combate” 23 .<br />
Nota-se, a partir do conceito acima citado, que Thêmis é uma justiça indiferenciada,<br />
mais familiar do que pública, não ligada ao território, e que prescreve a conduta a ser<br />
tomada. O seu plural é thémistes, que:<br />
indica o conjunto dessas prescrições, código inspirado pelos deuses, leis<br />
não-escritas, compilação de ditos, de decretos pronunciados pelos oráculos,<br />
que fixam na consciência do juiz (no caso, o chefe da família) a conduta a<br />
seguir sempre que estiver em jogo a ordem do génos 24 .<br />
As thémistes são decretos que enunciam a Thêmis. Ambas são de origem divina, e<br />
não são inventadas por aqueles que as devem aplicar.<br />
3.5.2 Hesíodo<br />
Hesíodo nasceu na Jônia, mas acabou vivendo na Beócia, onde levou uma vida de<br />
camponês, trabalhando em sua pequena propriedade rural. Ele foi um grande poeta popular,<br />
que deixou escritas algumas obras, que tiveram muita importância para os gregos, como: Os<br />
Trabalhos e os Dias,Teogonia e Ergas.<br />
As obras de Hesíodo são dirigidas para as pessoas de sua condição social, e se<br />
destacam, principalmente, por enaltecer o trabalho e a vida no campo. Graças a elas,<br />
conseguimos ter uma boa representação de como era a vida no campo, no seu tempo: havia<br />
uma nobreza que detinha o poder político, e agricultores e pastores que viviam do seu<br />
trabalho e que tinham “uma independência espiritual e jurídica considerável” 25 .<br />
Habitualmente, esta classe humilde, se reunia no mercado e na praça e lá comentavam<br />
sobre diversos assuntos, tanto públicos como privados.<br />
Um aspecto muitíssimo importante que está presente nos poemas deste grande<br />
poeta, é que os verdadeiros heróis são os trabalhadores, pois eles que possuem a árdua<br />
tarefa de fazer cultivar alimentos nos difícieis solos da Grécia. Por isso, ao contrário de<br />
Homero, onde a arete estava relacionada com a nobreza guerreira, vemos que nos poemas<br />
23 BENVENISTE, Émile. O Vocabulário das Instituições Indo-Européias. São Paulo: Editora da<br />
Unicamp, 1995. p. 104.<br />
24 Idem, Ibidem.<br />
25 JAEGER, op.cit., p. 87.<br />
12
de Hesíodo, a arete está intimamente ligada com o homem trabalhador, que tem no dia a<br />
dia, a difícil missão de conseguir trazer o sustento para a sua casa.<br />
O trabalho passa a ser consagrado como a única forma de se adquirir a arete, sendo<br />
que tal atributo passa, a partir de Hesíodo, a se valer para toda as classes mais simples.<br />
Além desta nova concepção de virtude, vemos neste autor, uma importante noção de<br />
justiça, que esta muito relacionada com um acontecimento marcante em sua vida.<br />
Ao falecer, o pai do poeta, deixou como herança, para ele e seu irmão Perses, as<br />
suas terras. Perses, que era detentor de péssimas características tais como a invejosa e<br />
preguiçosa, saíra muito beneficiado quando houve a partilha destes bens, pois ele havia<br />
subornado os juízes. Em virtude deste fato, Hesíodo em sua obra Os Trabalhos e os Dias,<br />
se dirige ao seu irmão, e faz inúmeras críticas, tentando convencê-lo de que a<br />
desonestidade não é o melhor caminho a seguir:<br />
Ó Perses! Mete isto em teu ânimo:<br />
a Luta malevolente teu peito do trabalho não afaste<br />
para ouvir querelas na ágora e a elas dar ouvidos<br />
Pois pouco interesse há em disputas e discursos<br />
para quem em casa abundante sustento não tem armazenado<br />
na sua estação: o que a terra traz, o trigo de Deméter.<br />
Fartado disto, fazer disputas e controvérsias<br />
contra bens alheios poderias. Mas não haverá segunda vez<br />
para assim agires. Decidamos aqui nossa disputa<br />
com retas sentenças, que, de Zeus, são as melhores.<br />
Já dividimos a herança e tu de muito mais te apoderando<br />
levaste roubando e o fizeste também seduzir reis<br />
comedores-de-presentes, que este litígio querem julgar.<br />
Néscios, não sabem quanto a metade vale mais que o todo<br />
nem quanto proveito há na malva e no asfódelo. 26<br />
Neste poema, nota-se que Hesíodo tem grande esperança e fé no direito, pois sabe<br />
que Zeus protege e ampara a justiça. Para ele, não é através de atitudes injustiças que o<br />
homem vai alcançar a verdadeira prosperidade, mas sim, quando “ajustar as suas<br />
aspirações à ordem divina que governa o mundo” 27 .<br />
3.5.3 Diké<br />
Outra palavra que designa justiça é Diké, que de acordo com a mitologia, é filha de<br />
Zeus e de Thêmis. Antes de explicar a abrangência deste termo, deve-se ter presente as<br />
noções explicadas no tópico: - crise social.<br />
26 HESÍODO. Os Trabalhos e os Dias. São Paulo: Iluminuras, 1991. p. 25.<br />
27 JAEGER, op.cit., p.101.<br />
13
Com o enriquecimento de inúmeras pessoas alheias a nobreza, inclusive daqueles<br />
que saíram da pólis em busca de condições melhores, começou-se a ver em Atenas a<br />
adoção de novos valores, tais como a liberdade, vivacidade e iniciativa pessoal.<br />
Este novos ricos, junto com as classes mais humildes de Atenas, que haviam tido<br />
contato com as obras de Hesíodo, não desejavam mais que o monopólio do direito estivesse<br />
na mão dos nobres, já que “administravam a justiça segundo a tradição” 28 . Estas camadas<br />
populares, que não tinham privilégios, e que muito trabalhavam para sobreviver, começaram<br />
a reivindicar leis escritas, pois sabiam, que “direito escrito era direito igual para todos” 29 , e<br />
com isso, iria se reduzir as arbitrariedades e abusos que haviam na sociedade.<br />
Nessas reinvidicações que estavam ocorrendo na pólis ateniense, via-se, que toda<br />
a classe popular invocava e queria Diké, termo que também significa justiça, e que estava<br />
sendo usado, neste momento, como lema de uma classe que lutava contra o sistema<br />
oligárquico que pairava sobre Atenas.<br />
A palavra Diké é originária da linguagem processual, e tem uma conotação mais<br />
ampla, por ser a justiça pública, e não a do grupo. Ela significava uma justiça individual e<br />
concreta que é dada por uma sentença emanada pela autoridade pública.<br />
Entretanto, o que é mais importante, é a noção de igualdade que está implícita nesta<br />
palavra, e que deriva da idéia que “se tem de pagar igual com igual, devolver exatamente o<br />
que se recebeu e dar compensação ao prejuízo causado” 30 . Esta idéia de igualdade,<br />
integrada na concepção de justiça, se tornou, plataforma de reivindicações. Todos os<br />
membros da pólis, usam a expressão Diké, para postular melhorias e, principalmente,<br />
igualdade jurídica e social já que todos devem ter os mesmos direitos.<br />
3.5.4 Dikayosine<br />
Com a criação de leis, assunto que iremos tratar em breve, surge o termo dikayosine,<br />
que é derivado de Diké, e significa virtude da justiça. Assim, para que seja adquirida a<br />
virtude, é necessário ter obediências às leis, pois assim, se será justo e, via de regra, se<br />
pensará no bem de outros. Esse novo ideal, vai ser extendido e prevalecerá por todo o<br />
período democrático, na noção de isonomia, vigorada, principalmente, na época de Péricles.<br />
É, nesta orientação, o pensamento de Luis Fernando Barzotto:<br />
28 JAEGER, op.cit., p.134.<br />
29 Idem, Ibidem.<br />
30 Ibid., p.135.<br />
De fato, diz-se que o homem que conforma sua conduta com as leis é justo,<br />
na medida em que a lei impõe atos de virtude, como a coragem (não<br />
abandonar o posto) e a temperança (não cometer adultério ou furto). Assim<br />
14
a justiça é a disposição de cumprir os atos virtuosos prescritos pela lei,<br />
tendo em vista o bem de outrem. 31<br />
4 ATENAS : PALCO DE GRANDES TRANSFORMAÇÕES<br />
4.1 INÍCIO DA EVOLUÇÃO POLÍTICA E SOCIAL<br />
No capítulo anterior, vimos que havia um descontentamento geral, por parte da<br />
população, que não aguentava mais o poderio dos eupátridas.<br />
Neste momento vivido pelos gregos, se almejava mudanças políticas e sociais.<br />
Para isso, urgia a necessidade de leis escritas, pois elas seriam de conhecimento de todos,<br />
e poderiam ajudar a solucionar os problemas que estavam ocorrendo na pólis 32 .<br />
Por conta dessas reinvidicações sociais, fora nomeada uma comissão, que tinha<br />
seis membros chamados de tesmotetes, que junto ao rei, ao polemarco e arconte-epônimo,<br />
vieram “a constituir uma espécie de colégio, denominado Arcontado” 33 .<br />
O Arcontado, então, ficara encarregado de elaborar um código escrito. Todavia,<br />
com o tempo, observa-se que o código prometido nunca era promulgado. Assim, em 630<br />
a.C, o eupátrida Cilon, que era ligado aos interesses populares, e se valendo da crise social,<br />
armou uma conspiração com o objetivo de tomar o poder. A reação aristocrática, liderada<br />
pela família Alcmeónidas, foi ríspida, e os conspirados foram mortos, exceto Cilon que foi<br />
condenado ao exílio.<br />
Esta conspiração teve uma consequência muito importante: ela demonstrou para a<br />
nobreza que havia uma grande descontentamento social. Por isso, em 621 a.C, Drácon, que<br />
era um dos tesmotetes, conseguira fazer com que seu código fosse promulgado.<br />
4.2 AS LEIS DRACONIANAS<br />
Drácon, era um arconte, e fora o responsável pelas primeiras leis escritas na Grécia.<br />
Suas leis foram muito importantes para a história dos atenienses, por que elas tiraram toda<br />
31 BARZOTTO, Luis Fernando. O Direito ou o Justo- O direito como objeto da Ética no<br />
pensamento clássico. São Leopoldo: Anuário do Programa de Pós-graduação em Direito, 2000.<br />
p.165.<br />
32 José Olegário, em seu livro, refere o contexto que acabamos de assinalar: “Em meados do século VII<br />
a.C. Atenas atravessa grave crise social. As classes menos favorecidas – camponeses endividados e<br />
ameaçados de se transformarem em escravos, comerciantes ricos, mas destituídos de qualquer poder efetivo no<br />
Estado – revoltam-se contra a dominação dos eupátridas, exigindo a feitura de um código escrito que<br />
regulamentasse o complicado direito consuetudinário atácio, cuja interpretação, evidentemente ideológica, era<br />
prerrogativa exclusiva de exegetas nobres”. CASTRO, op.cit., p. 55.<br />
33 Idem, Ibidem.<br />
15
a competência judiciária da genos e dos outros grupos primitivos, e a transferiu para o<br />
governo da cidade. Com isso, muitos crimes que eram julgados pelo chefe da família,<br />
passaram a ser julgados pelos magistrados da pólis de Atenas.<br />
Ainda, devido ao código de Drácon, todos atenienses passaram a ter contato e<br />
conhecimento das leis, pois elas foram anexadas na Ágora. Aquino, faz uma ressalva sobre<br />
este tema:<br />
As leis draconianas, por serem escritas e afixadas na Ágora, tornaram-se do<br />
conhecimento de todos e, assim, limitaram, ou, se preferirmos, ocultaram<br />
mais o despotismo da aristocracia territorial. Entretanto, a partir de então<br />
poderia haver maior rigor no controle público sobre a aplicação das leis,<br />
antes submetidas aos critérios arbitrários e pessoais dos juízes. 34<br />
Entretanto, muito embora os avanços conseguidos, a legislação draconiana não<br />
obteve o resultado esperado, pois manteve os principais privilégios da aristocracia, e<br />
continuou determinando penas graves para qualquer delito. Além disso, a situação dos<br />
camponeses e dos ricos comerciantes continuava a mesma, e ainda permanecia a<br />
escravidão por dívidas.<br />
4.3 SÓLON<br />
O código de Drácon teve uma consequência importante: motivou as classes<br />
populares a prosseguirem em suas reivindicações. Então, no ano de 594 a.C, Sólon foi<br />
eleito como Arconte, e teve o grande mérito de implantar reformas inovadoras e ambiciosas.<br />
Sólon vai ter que trabalhar, em um contexto social, que tem de um lado a maioria da<br />
população, que quer reformas radicais, e do outro, os nobres, que almejam a manutenção<br />
de seus privilégios.<br />
4.4 REFORMAS POLÍTICAS DE SÓLON<br />
4.4.1 Abolição do Código de Drácon<br />
As leis de Drácon, não provocaram muitas mudanças no modelo social ateniense.<br />
Além disso, este código continha muitos excessos em suas leis. Por isso, Sólon, revogou a<br />
maior parte do código, e deixou inserido na vida dos atenienses, apenas a parte que<br />
dispunha sobre os homícidios dolosos.<br />
34 AQUINO; FRANCO, LOPES, op. cit., p. 191.<br />
16
4.4.2 Criação do Conselho dos Quatrocentos<br />
Em Atenas, o Conselho do Areópago tinha muita força. Ele existia desde o período<br />
monárquico, e seus membros eram todos aristocratas. Aristóteles relata alguma das<br />
características deste órgão:<br />
O Conselho do Areopago tinha o dever de velar pelas leis e possuía amplos<br />
e importantes poderes na cidade, uma vez que punia e multava os faltosos<br />
sem apelação. 35<br />
Para fazer com que o povo participe mais da vida política, Sólon criou o Conselho<br />
dos Quatrocentos, ou Boulé, que tinha em sua composição membros do povo, com mais de<br />
30 anos, e que eram sorteados pelas tribos. Infelizmente, neste período inicial, não sabemos<br />
quais eram atribuições deste conselho; todavia na época democrático, se conhece bem as<br />
suas funções, e ele se torna um importante instrumento político do povo.<br />
4.4.3 Criação do Tribunal Heliae<br />
Este tribunal, instituído por Sólon, tinha o intuito de reduzir a arbitraridade das<br />
decisões dos juízes. Por isso, qualquer cidadão que tivesse sido injustiçado em um<br />
julgamento, poderia apelar a Heliae, que iria revisar o caso. Também, vale respaldar, que<br />
não possuímos muitas informações sobre a estrutura e a maneira de agir deste tribunal, na<br />
época de Sólon.<br />
4.4.4 Classificação Censitária<br />
A legislação soloniana dividiu a população de acordo com a sua renda, a saber:<br />
Pentacosimedinas, são os que possuíam renda de 500 dracmas anuais; Cavaleiros cujas<br />
rendas eram de 300 dracmas; Zeugitas que tinham renda de 200 dracmas; e por fim, os<br />
tetas que não detinham rendimento suficiente para figurar nas classes acima citadas, sendo<br />
que não podiam ser eleitos para nenhum cargo.<br />
4.4.5 Seisachthéia<br />
A seisachthéia é a medida tomada por Sólon que proibira todo o empréstimo de<br />
dinheiro com garantia da pessoa do devedor. É assim que Aristóteles alude:<br />
35 ARISTOTELES. Constituição de Atenas. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 257.<br />
17
Quando assumiu o poder, Sólon libertou o povo naquele momento e para o<br />
futuro apostando na certeza da liberdade ilegal das pessoas; passou leis e<br />
instituiu um cancelamento de dívidas, tanto particulares quanto públicas,<br />
que os homens denominaram de seisachtheia porque os livrou de seu<br />
peso. 36<br />
Esta medida foi muito importante para o povo ateniense, pois ela tinha efeito<br />
retroativo, e todos que estavam, até então, escravizados por dívidas, puderam conquistar a<br />
liberdade almejada.<br />
Além disso, importante frisar, que muitos pequenos agricultores, em épocas<br />
anteriores e na de Sólon, tiveram que hipotecar as suas terras, pois não haviam conseguido<br />
pagar os empréstimos, com juros exorbitantes, feitos com os eupátridas. A legislação de<br />
Sólon, declarou ilegais as hipotecas realizadas e com isso, foi devolvida a posse e a<br />
propriedade destas terras para esses pequenos lavradores.<br />
Fustel de Coulanges, na obra Cidade Antiga, muito referida por nós, entende que a<br />
seisachthéia, foi muito mais ampla. Para ele, ela excluiu todos os laços de dependência dos<br />
clientes entre os eupátridas, tornando aqueles livres.<br />
4.5 A TIRANIA<br />
Por volta do ano de 560 a.C., aproveitando-se de uma manobra muito inteligente, e<br />
deste momento de discussão e revoltas político-partidárias, Pisístrato, assume o poder,<br />
tornando-se tirano.<br />
Entre todas as tiranias existentes no mundo antigo, a mais valoroza e importante, foi<br />
a de Pisístrato. Aristóteles nos conta, que para tomar o poder, ele, de maneira ardilosa, mas<br />
não violenta, desarmou toda a população e assegurou-lhes que ele se encarregaria de dirigir<br />
a pólis ateniense.<br />
4.5.1 Medidas Políticas<br />
No que se refere as medidas tomadas por Pisístrato, em seu governo, pouco<br />
sabemos. Contudo, se tem a informação de que ele regulamentou a toda questão agrária;<br />
ponto este, não tratado na legislação soloniana. Acredita-se que este tirano distribuiu para<br />
as camadas mais simples da população, parte das terras pertencentes aos eupátridas, pois<br />
no período de seu governo, se vislumbra um grande aumento de pequenas propriedades em<br />
Atenas.<br />
Além disso, Pisístrato fora responsável por grandes obras públicas. Houvera a<br />
construção de estradas, templos religiosos, aquedutos, esgotos, portos e forticações, que<br />
36 ARISTOTELES.op. cit. p. 258.<br />
18
empregaram a força de trabalho de muitas pessoas, e tornaram a cidade de Atenas o maior<br />
centro urbano de toda a Grécia.<br />
Ao morrer, em 527 a.C., Pisístrato foi substituído pelo seu filho Hippias. Este<br />
governou até 510 a.C., sendo que uma revolução os expulsou da pólis ateniense. Pisístrato<br />
era uma pessoa humanitária. voltada para o bem, que ajudava muitos gregos 37 . Em seu<br />
governo houve paz e prosperidade, e Atenas atraiu inúmeros artistas e poetas, passando a<br />
ser a maior referência cultural da Grécia.<br />
5 A ERA DEMOCRÁTICA<br />
No ano de 508 a.C., Iságoras, líder dos pedianos, foi nomeado Arconte. Em seu<br />
governo, ele concedeu privilégios aos aristocratas, e tentou fechar o Conselho dos<br />
Quatrocentos. Em virtude de sua política, o povo foi a luta e o expulsou do cenário político.<br />
5.1 CLÍSTENES: O INÍCIO<br />
Em decorrência do péssimo governo de Iságoras, entra em cena, no ano de 506 a.C,<br />
Clístenes, que fora eleito Arconte, e ficou encarregado de fazer reformas políticas e sociais<br />
em Atenas. Ele é importante para a história, pois promoveu a paz, e a pólis vai se tornar<br />
novamente virtuosa, pois todos vão obedecer as leis.<br />
Clístenes, em seu primeiro ato como governante, dividiu toda a população ateniense<br />
em dez novas tribos, que em seu interior, eram compostas por várias circunscrições<br />
territoriais, chamadas demos. As demos, nada mais eram que uma “centena de<br />
circunscrições territoriais de extensão heterogênea, compreendendo número também<br />
diversos de famílias” 38 .<br />
Antes desta importante criação, havia a velha divisão social: tinha-se quatro tribos,<br />
doze fatrias e duzentas ou trezentas gentes. Estas estruturas socias antigas, nascidas com<br />
a religião, eram puramente aristocráticas e vinculavam todas as pessoas, principalmente as<br />
mais humildes, em suas decisões e no seu agir, no dia a dia. Nelas, encontravam-se de um<br />
lado os eupátridas, descendentes dos heróis e responsáveis pelos cultos, e de outro os<br />
homens de condição inferior, como os clientes e servos, que graças a Sólon estavam livres,<br />
37 Há um acontecimento muito interessante, ocorrido na vida do tirano ateniense, que demonstra<br />
muito as características de sua personalidade: “De vez em quando ele acompanhava os magistrados, e foi<br />
num desses circuitos que se deu o incidente com um fazendeiro do Monte Himeto e a terra mais tarde<br />
denominada “isenta-de-imposto”. Pisístrato viu alguém trabalhando numa região que era pura pedra e,<br />
surpreendido, disse ao seu servidor que fosse perguntar o que aquela terra produzia. “Sofrimento e dor”,<br />
respondeu o fazendeiro. “Pisístrato deveria receber seus dez por cento de sofrimentos e dores, também”. O<br />
homem deu essa resposta sem saber que estava respondendo a Pisístrato que, delicado com tanto espírito e<br />
franqueza, isentou-o de todos os impostos”. ARISTOTELES.op. cit. p. 267.<br />
38 OLEGÁRIO, op,cit.,p. 64.<br />
19
mas, em contrapartida e em virtude da religião, ainda se matinham sob o poder e autoridade<br />
dos eupátridas. Por isso, Fustel de Coulanges, nos configura um exemplo:<br />
A velha religião apoderava-se do homem à saída da assembléia onde havia<br />
livremente votado e lhe dizia: Está ligado ao eupátrida pelo culto; deves-lhe<br />
respeito, deferência, submissão; como membro de uma fatria, tens ainda<br />
um eupátrida por chefe; na própria família, na gens em que os teus<br />
antepassados nasceram e da qual não podes sair, encontras ainda a<br />
autoridade de um eupátrida 39 .<br />
Também, as pessoas, como os metecos, que estavam fora dessas associações<br />
primitivas, sofriam bastante, pois ficavam em estado de inferioridade moral em relação aos<br />
outros. Então, Clístenes, para resolver esta situação acima descrita, criou as demos e dez<br />
outras tribos, com o intuito de reagrupar todas as classes sociais nessas novas ordens.<br />
Assim, com essa divisão populacional, ele conseguira fazer com que as antigas associações<br />
perdessem a sua importância e seu valor, e por consequência, se romperam todos os laços<br />
de dependência, criados pela religião, que havia entre os homens livres e os eupátridas, e<br />
que tornavam aqueles inferiores perante a estes.<br />
Ao misturar todas as classes sociais nessas novas tribos e demos, todos puderam<br />
estar em estado de igualdade, participando da vida política, pois o critério utilizado para<br />
incluir a população nestes novos agrupamentos, não era mais o do nascimento, como<br />
antigamente, mas sim o do domícilio de cada um. Por isso, não importa mais ser<br />
descendente dos fundadores da pólis e ter o culto hereditário, mas sim, é necessário, estar<br />
contido dentro de uma demos, para poder usufruir da cidadania e dos direitos decorrentes<br />
dela.<br />
Assim, a partir da criação das demos todos os homens livres atenienses gozavam da<br />
mesma liberdade e direitos. Agora, para poder usufruir dos direitos inerentes a cidadania,<br />
era necessário ter dezoito anos, estar registrado no livro oficial de uma das várias demos<br />
existentes em Atenas, e não ser nem escravo, nem mulher e nem estrangeiro.<br />
As demos, foram fundamentais para a sociedade ateniense. Elas que de fato<br />
implantaram a democracia, pois permitiram que todos, inclusive os menos favorecidos,<br />
pudessem conquistar a tão esperada liberdade plena. Por isso, se pode afirmar que:<br />
39 COULANGES, op.cit., p. 308.<br />
40 Ibid.,p. 309.<br />
Essa reforma definiu de vez a queda da aristocracia dos eupátridas. A partir<br />
desse momento deixou de haver casta religiosa: não mais houve privilégios<br />
de nascimento, nem na religião, nem na política. A sociedade ateniense<br />
estava inteiramente transformada 40 .<br />
20
Outra medida importante de Clístenes, foi a criação do ostracismo, para proteger a<br />
democracia. Assim, qualquer cidadão que fosse perigoso para o modelo democrático, seria<br />
condenado ao exílio por dez anos. O exilado não perdia nem as suas propriedades e nem<br />
os seus bens, sendo que passado o prazo de dez anos, ele poderia voltar a pátria e<br />
participar da vida política.<br />
Além disso, esse legislador reduziu o poder político do Areópago, pois foi tirado da<br />
sua competência, o julgamento de crimes realizados contra a segurança do Estado. Por<br />
outro lado, ele reformulou totalmente a Boulé, que passou a contar com quinhentos<br />
membros, que eram escolhidos por sorteio, à razão de cinqüenta conselheiros por cada<br />
tribo. Esta instituição passou a ter amplos poderes, e era responsável pela formulação de<br />
projetos de leis, que seriam votados pela Assembléia popular.<br />
Por fim, vemos que a Assembléia do povo foi valorizada, e tinha em sua composição<br />
atenienses, maiores de dezoito anos, devidamente registrados nas demos. Ela votava os<br />
projetos de leis, criados pela Boulé, tornando-se um órgão muito importante e atuante para o<br />
modelo democrático.<br />
Conclui-se que Clístenes implantou a democracia em Atenas. Ele que era um nobre,<br />
convenceu-se que para a pólis ser virtuosa, era necessário a ampliação do regime<br />
democrático. Por isso vemos, que através dele as antigas associações que diferenciavam as<br />
pessoas, foram suprimidas, a Ecclesia tornou-se soberana, e o Conselho da Boulé<br />
desempenhava um papel relevante para a sociedade.<br />
5.2 CONSEQUÊNCIAS DAS GUERRAS MÉDICAS<br />
As guerras médicas foram travadas entre os persas, que também eram chamados de<br />
medos, e os gregos, perdurando do ano de 492 a.C. até 451 a.C.<br />
Os gregos, apesar de serem os grandes vencedores desta batalha, ainda tinham<br />
receio de que os persas pudessem retornar. Então, para se defenderem, algumas cidades e<br />
ilhas gregas, criaram a Confederação de Delos 41 .<br />
Esta Confederação, tivera grande êxito ao derrotar, por definitivo, os persas no ano<br />
de 468 a.C. Sua sede, ficava na ilha de Delos, onde se localizava o oráculo que era muito<br />
consultado pelos gregos. Para a manutenção financeira da Confederação, toda cidade-<br />
41 Sobre a Confederação, Finley explica: “Os persas tinham sido vencidos a custo; não foram dizimados. Era<br />
opinião geral que regressariam para um terceira tentativa (que, por fim, o não tenham feito deveu-se em grande<br />
parte a problemas internos no seu império, que não podiam ter sido previstos). A prudência normal requeria,<br />
pois, medidas antecipatórias de conjunto e, uma vez que tinham de ser tomadas no Egeu e na costa da Ásia<br />
Menor, mais do que no continente, era natural que se entregasse o comando a Atenas. Organizou-se uma<br />
coligação sob a hegemonia de Atenas, com um centro administrativo na ilha de Delos (daí ser denominada pelos<br />
historiados como Liga Délia”. FINLEY, op. cit., p. 54.<br />
21
membro tinha que contribuir com homens, navios e dinheiro. Este tesouro comum, passou a<br />
ser administrado por Atenas, que tinha posição hegemônica dentro da liga.<br />
Uma consequência marcante ocasinada pelas guerras médicas, foi a criação por<br />
volta de 500 a.C., dos estrategos, que eram magistrados militares que cuidavam de todos os<br />
assuntos relacionados à vida militar 42 .<br />
Também, ressalta-se que neste período conturbado, o conselho do Areópago,<br />
aproveitando-se da ameaça exterior, voltou a ter prestígio e poder. José Olegário nos<br />
explica o porquê disso:<br />
O fato é que durante as três primeiras décadas do século V a.C. a vida<br />
política da cidade volta a ser dirigida por ex-arcontes, em detrimento do<br />
Conselho dos Quinhentos e da Ecclesia. Mas êsse ressurgir do Areópago<br />
era, àquela época, de tal forma anacrônico, que bastou desaparecer o<br />
perigo exterior que voltasse à sua posição inferioridade ante os órgãos<br />
democráticos do governo 43 .<br />
5.3 ÉPOCA CLÁSSICA: O AUGE DA EXPERIÊNCIA<br />
5.3.1 Noções Gerais sobre Democracia<br />
Segundo Aristóteles, o homem é um animal político (zôon politikón). Ele precisa viver<br />
em comunidade para poder se aperfeiçoar e viver bem. Como já vimos, a forma de<br />
comunidade mais perfeita e completa, é a cidade, e é nela que o homem poderá encontrar a<br />
felicidade suprema 44 .<br />
No interior de cada uma das cidades, existe a possibilidade de haver três regimes<br />
puros: a monarquia, oligarquia e democracia. Para o nosso trabalho, relevante é a<br />
democracia, que é o regime onde muitos governam em vista do interesse de todos. Em<br />
outras palavras, e sendo mais completo, podemos dizer que a democracia não é<br />
simplesmente o regime da maioria, mas sim é o regime onde todos os homens livres e<br />
pobres, independente da sua riqueza, tem supremacia e soberania, e visam ao bem comum.<br />
Conforme Aristóteles, esse regime surgiu quando as pessoas se deram conta de que<br />
eram iguais e começaram a requerer o reconhecimento dessa igualdade:<br />
Neste sentido, a democracia teve origem devido àqueles que se sentiam<br />
iguais num determinado aspecto, se convencerem que eram absolutamente<br />
iguais em qualquer circunstância; deste modo, todos os que são livres de<br />
um modo semelhante, pretendem que todos sejam, pura e simplesmente,<br />
iguais. 45<br />
42 CASTRO, op.cit.. 67.<br />
43 Idem, Ibidem.<br />
44 ARISTÓTELES. Política. Lisboa : Vegas, ano 1998. p.53.<br />
45 Ibid., p. 349.<br />
22
O principal valor da democracia, é a soberania do povo. É o povo que é o<br />
fundamento do poder, e todo o poder tem que ser a ele referido. Na Antígona, obra de<br />
Sófocles, um dos maiores intelectuais de Atenas no século V, vemos nítidamente e<br />
constantemente esta idéia. Esta tragédia grega conta a história de Antígona, jovem moça,<br />
que se opõe a um tirano, chamado Creonte, que lançara um decreto em Tebas que proíbia<br />
que todos os traidores da pátria fossem enterrados. O irmão falecido da personagem<br />
central, Polinice, em vida, havia se voltado contra a sua pátria, e por isso, de acordo com o<br />
decreto, ele não era digno de receber um sepultamento. Antígona triste com esta situação, e<br />
não querendo deixar seu irmão abandonado e imune as aves famintas, decide enterrá-lo,<br />
mesmo sabendo que podia ser punida. Nessa história, contada por nós de maneira lacônia,<br />
há um trecho, bastante relevante, onde Ismene fala a sua irmã, Antígona, que não quer<br />
ajudá-la a sepultar o seu irmão, pois ela não deseja ir contra o decreto do rei que fora aceito<br />
por todos os cidadãos: “Não pratico atos desonrosos, mas; afrontar a autoridade dos<br />
cidadãos me é impossível” 46 . Na sua fala, vemos que Ismene não quer desobedecer a lei<br />
elaborada pelo poder político, porque ela cumpre e respeita aquilo que foi decidido pelo<br />
povo, mesmo que venha a ter dor e sofrimento por causa de sua atitude.<br />
Através da brilhante tragédia de Sófocles, conseguimos concluir que o pensamento<br />
do homem ateniense do período democrático era o de respeitar o que era querido pelo<br />
povo, pois ele é o titular e o fundamento do poder, e é ele que participa ativamente das<br />
instituições políticas, sempre visando ao bem da comunidade.<br />
A democracia ateniense garantia a igualdade de todos os cidadãos, que pode ser<br />
muito bem expressa através de três princípios básicos: isocracia, isonomia e isegoria. A<br />
isocracia é igualdade quanto o poder. Em Atentas, em virtude deste princípio, todos os<br />
cidadãos podiam exercer qualquer função pública. Por isso, se vislumbra-se que para<br />
participar na Assembléia e na Heliae, todos os membros, eram sorteados, e não eleitos, pois<br />
assim qualquer cidadão teria chances iguais de participar destas instituições. Só em casos<br />
excepcionais, e para determinadas magistraturas, que se procedia através de eleição.<br />
A isonomia é a igualdade jurídica, ou a igualdade perante a lei. A ordem jurídica<br />
ateniense tratava todos da mesma forma, concedendo-lhe iguais direitos, e punia-os sem<br />
privilégio de foro. Em razão disso, os atenienses respeitavam e obedeciam as suas leis, pois<br />
elas sem distinção, irradiavam, perante a sociedade, os seus efeitos justos e igualitários.<br />
A isegoria ao nosso entender é o princípio mais importante. Ele representa o direito<br />
de falar, a liberdade de expressão. Todos, na Assembléia, podiam expressar as suas idéias<br />
e debater publicamente os assuntos políticos para tentar resolver os problemas da pólis e<br />
achar soluções para uma vida mais próspera na comunidade. Ademais, valorizava-se<br />
46 SÓFOCLES, Antígona. 1 ed. Porto Alegre: L&PM Pocket, 1999. p.12.<br />
23
também o direito de ser ouvido por todos, no momento em que se está falando na praça<br />
pública, na Àgora.<br />
5.4 As Reformas Políticas de Péricles<br />
Péricles foi o magistrado mais importante de Atenas. Em seu governo, ele confirma<br />
as idéias que existiam na época de Clístenes, e passa a se preocupar com os problemas da<br />
pólis. Sob o seu comando:<br />
O Estado se tornou-se ainda mais democrático; ele privou o Areópago de<br />
alguns dos seus poderes e dirigiu o Estado principalmente para o poder<br />
naval, com o resultado de que o povo teve coragem de tomar todos os<br />
campos do governo em suas mãos 47 .<br />
Vimos que Clístenes reduzira bastante o poder do Areópago. Todavia, em 462 a.C,<br />
Péricles através de uma lei, retira a principal atribuição deste orgáo, que era o de ser o<br />
guardião da constituição. Sem essa prerrogativa, esta instituição aristocrática não pode mais<br />
interferir-se na vida política e jurídica da pólis. Além disso, este legislador reduziu todas as<br />
competências secundárias do Aerópago, fazendo com que ele apenas tratasse das<br />
questões referentes ao patrimônio sagrado, e tivesse competência sobre o julgamento de<br />
crimes religiosos 48 .<br />
Outra reforma importante de de Péricles, foi permirtir o acesso de todas classes<br />
censitárias no Arcontado, pois a legislação soloniana, somente permitia que a 1ª classe<br />
censitária, a dos pentacosiomedimnos, figurasse neste órgão colegiado. No que se refere<br />
as outras magistraturas, qualquer cidadão, independente da sua renda, podia exercê-las 49 .<br />
Também é graças a Péricles, que foi implantada a mistoforia, uma medida bastante<br />
importante, que conseguiu efetivar verdadeiramente o acesso de todos no modelo<br />
democrático estabelecido. Embora, todos os cidadãos tivessem o direito de comparecer nas<br />
assembléias e em outros órgãos, muitos não participavam da vida política, por que não<br />
podiam perder um dia de trabalho. Isso acontecia, principalmente, com o camponês que<br />
tinha que se deslocar de longe e não possuía escravos para fazer o serviço em sua<br />
ausência, quando ele fosse participar das questões políticas. Para evitar esta situação,<br />
Péricles passou a remunerar quem participasse das funções públicas. Com isso, todos<br />
cidadãos, puderam abandonar temporariamente os seus trabalhos, e ir participar da política<br />
da pólis. Esta medida fora bastante relevante, por que se ela não existisse, o pobre ia<br />
continuar tendo o direito a participar da vida pública, mas jamais iria conseguir exercê-lo, e a<br />
política continuaria nas mãos dos ricos.<br />
47 ARISTOTELES. Constituição de Atenas. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p.277.<br />
48 CASTRO, op.cit., p. 69<br />
49 Idem, Ibidem.<br />
24
5.5 INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS NO AUGE DA EXPERIÊNCIA<br />
DEMOCRÁTICA<br />
5.5.1 A Assembléia Popular<br />
A Assembléia dos cidadãos, ou Ecclesia, foi o órgão que representou esplêndor da<br />
experiência democrática vivida pelos atenienses.<br />
Para participar da Assembléia, se fazia necessário ser ateniense, e ter mais de<br />
dezoito anos de idade. A mulher e o escravo, não podiam participar dela, pois como já<br />
vimos, não eram considerados cidadãos. As sessões eram públicas e se realizam na ágora,<br />
que era a grande praça central de Atenas.<br />
No que tange ao seu funcionamento, as sessões da Ecclésia iniciavam-se com um<br />
ato religioso, onde era imolado vários porcos que eram oferecidos aos deuses. Em seguida,<br />
o secretário lia o roteiro do dia e apenas citava os projetos de leis que foram preparados<br />
pelo Conselho dos Quinhentos. O presidente da Assembléia, que era denominado pelos<br />
gregos de epistato dos pritanos, entrava em cena para apresentar e explicar, as<br />
peculiaridades dos projetos de lei que iam para votação. Após isto, ele abria a possibilidade<br />
para que, qualquer um dos presentes, explanasse as suas questões relativas ao projeto, e<br />
perguntava se havia, ou não, a necessidade de reformá-lo ou alterá-lo. A partir daí, se<br />
iniciava as dicussões, e todos tinham direito de narrar as suas idéias. Este momento era<br />
muito importante, e por isso Fustel de Coulanges dispõe que:<br />
Os atenienses, como nos diz Tucídides, não acreditavam que a palavra<br />
prejudicasse a ação. Sentiam pelo contrário, a necessidade de ser<br />
esclarecidos. A política não era mais, como no regime anterior, um negócio<br />
de tradição e de fé. Era preciso refletir e ponderar sobre as razões. A<br />
discussão era indispensável, porque sendo toda a questão mais ou menos<br />
obscura, só a palavra podia clarear a verdade. O povo ateniense queria que<br />
cada questão lhe fosse apresentada sob todos os seus diferentes aspectos<br />
e que lhe mostrassem claramente os prós e os contras. 50<br />
Terminada as discussões, e o projeto tendo sido aceito, iniciava-se as votações. O<br />
voto era aberto, e se dava com o levantamento de mãos. No entanto, quando se tinha<br />
questões graves a serem votadas, o voto se tornava secreto 51 .<br />
Os gregos não gostavam de delegar poderes a seus representantes, como hoje, nós<br />
fizemos com os nosso governantes. Eles gostavam de participar da vida política, e discutir<br />
os problemas da comunidade, pois almejavam ter uma vida com paz e prosperidade. A<br />
50 COULANGES, op. cit. p. 356.<br />
51 CASTRO, op.cit. p. 76.<br />
25
Assembléia popular era o órgão máximo da democracia ateniense que se fazia presente em<br />
vários aspectos da política grega. José Olegário, nos fornece o campo de atuação e a<br />
competência desta instituição:<br />
A soberania exercida pela Assembléia abrange os principais setores da vida<br />
pública, pois a ela compete: o poder de legislativo, parte importante do<br />
poder judiciário, a orientação das relações exteriores e o contrôle do<br />
executivo, exercido por meio de vigilância contínua sôbre os magistrados 52 .<br />
A Assembléia podia legislar sobre todos os assuntos. Todavia, para se alterar as leis que<br />
estavam em vigor, se tinha que passar por um processo árduo. Isso se justifica pelo respeito<br />
e lealdade que os gregos tinham com as suas leis 53 .<br />
No campo judiciário, a Ecclesia julgava as questões de crimes de natureza política.<br />
Também era ela que condenava alguém ao ostracismo e julgava os casos envolvendo alta<br />
traição ao Estado.<br />
No que tange as relações exteriores, a Assembléia tinha competência para firmar<br />
alianças com outros Estados, declarar guerra e paz, e nomear os embaixadores. Contudo,<br />
na realidade, quem tratava e cuidava das relações exteriores era a Boulé, pois os<br />
atenienses achavam mais correto e prudente, deixar este órgão, que era permanente e mais<br />
restrito, tratar desses assuntos que eram profundamente importantes 54 .<br />
Por fim, era a Ecclésia que controlava os magistrados de Atenas. Durante dez vezes<br />
ao ano, todos os magistrados tinham que prestar contas de sua gestão.<br />
5.5.2 Magistraturas<br />
Antes de tratarmos das características das magistraturas, devemos dizer que os<br />
gregos temiam que alguém, em virtude de seu poder político, viesse a ser tornar muito<br />
poderoso, e pudesse pôr em risco a vida democrática. Por esta razão, se vê a imposição de<br />
grandes limitações ao poder discricionário dos magistrados.<br />
52 CASTRO, op.cit., p. 77.<br />
53 Para entender como se procedia a revogação de leis, no direito grego, devemos ler o texto a seguir:<br />
“O cuidado de procurar as modificações que poderiam ser de utilidade à legislação cabia especialmente aos<br />
tesmótetas. Suas propostas eram apresentadas ao Senado, que tinha o direito de rejeitá-las, mas não de<br />
convertê-las em lei. Em caso de aprovação, o Senado convocava a assembléia e comunicava-lhe o projeto dos<br />
tesmótetas. Mas o povo nada devia resolver imediatamente; adiava a discussão para outro dia, e entretanto<br />
escolhia cinco oradores com a missão especial de defender a antiga lei, enfatizando os incovenientes da<br />
inovação proposta. No dia fixado, o povo reunia-se de novo, e escutava em primeiro lugar os oradores<br />
encarregados da defesa das leis velhas, e depois os que apoiavam as novas. Ouvidos os discursos, o povo não<br />
se pronunciava ainda. Contentava-se com nomear uma comissão, muito numerosa, mas exclusivamente<br />
composta de homens que tivessem exercido as funções de juiz. Essa comissão reexaminava o assunto, ouvia de<br />
novo os oradores, discutia e deliberava. Se rejeitasse a lei proposta, seu julgamento não tinha apelação. Se a<br />
aprovasse, reunia-se novamente o povo pela terceira vez, que devia enfim votar, e então os sufrágios<br />
transformavam a proposta em lei”. COULANGES, op cit., p. 357.<br />
54 CASTRO, op.cit., p. 79.<br />
26
5.5.2.1 Características<br />
As magistraturas atenienses eram colegiais, sendo que cada colégio tinha em sua<br />
composição dez membros. Dessa forma, toda tribo, podia ter um representante em cada<br />
cargo magistral. No que se refere aos mandatos, estes eram de curta duração, sendo<br />
geralmente de um ano. Assim permitia-se que várias pessoas pudessem ser magistrados<br />
em algum dia.<br />
No entanto, importante mencionar que era proíbido o magistrado ser reeleito no<br />
mesmo cargo, como também, acumular outros da mesma natureza.<br />
Claro, que dentre essas características gerais, exista a configuração de exceções.<br />
Exemplo disso se dá no caso do estratego autocrator, que era uma magistratura<br />
desempenhada por apenas uma única pessoa, em casos de perigo na pólis 55 .<br />
Agora, sobre o processo de escolha dos magistrados, existia duas formas: o sorteio,<br />
ou a eleição. O sorteio era necessário, pois conforme sustenta José Olegário Ribeiro de<br />
Castro, permitia a participação de todos na gerência das questões públicas. Além disso, ele<br />
realçava a idéia de isonomia, um dos princípios mais importantes, da democracia grega. Já<br />
a eleição, era necessária somente nos cargos que se exigia determinado conhecimento<br />
especial. Isso acontecia com os magistrados militares, e encarregados de função técnica. As<br />
eleições ocorriam na Assembléia, durante uma sessão especial, ocorrida na 7ª ou 8ª pritânia<br />
de um ano.<br />
Todos os cidadãos que podiam ser eleitos ou sorteados para a magistratura,<br />
passavam por um processo chamado de dokimasia, que tinha com intuito, averiguar se a<br />
pessoa tinha bom comportamento no convívio social 56 .<br />
5.5.2.2 Principais Magistraturas<br />
Neste trabalho já tivemos a oportunidade de tratar das magistraturas mais<br />
importantes. Todavia necessário fazer novas considerações, a começar pelos arcontes.<br />
Como vimos, o arcontado teve grande importância, no período arcaico, pois ele que se<br />
55 CASTRO, op.cit., p.85.<br />
56 José Olegário nos informa com mais precisão, como se dava este processo: “durante o processo de<br />
dokimasia tôda a vida pregressa do cidadão indiciado era passada em revista. Os quesitos que lhe eram<br />
propostos iam desde a legitimidade de sua cidadania até seu comportamento na guerra, na vida privada e no<br />
eventual exercício anterior de outras magistraturas. Qualquer cidadão podia apresentar-se como acusador,<br />
apontando incompatibilidades do candidato com o exercício do cargo. Cabia ao Tribunal ou ao Conselho,<br />
conforme o caso, aceitar ou não as possíveis acusações, isto é, confirmar ou negar a escolha do magistrado”.<br />
Ibid., p. 87.<br />
27
apodereu de quase todos os poderes do rei. Todavia no século V, vemos que este órgão<br />
perdera seu efetivo poder, para os estrategos.<br />
Havia nove arcontes a saber: o arconte epônimo, o arconte rei, o arconte polemarco<br />
e os arcontes tesmotetas. Passaremos a tratar especificadamente de cada um agora.<br />
O arconte epônimo tinha a função de regular o calendário e tinha competência para<br />
tratar dos processos de direito de família. O arconte rei, era o líder religioso de Atenas. Ele<br />
que presidia o Areópago, e cuidava de todos os sacríficios e ritos religiosos da cidade.<br />
Ainda, era ele quem julgava os crimes de homícidio, já que esses eram considerados crimes<br />
religiosos. O arconte polemarco era o supremo comandante do exército. Com a criação dos<br />
estrategos, ele perdera suas atribuições militares. Todavia, continuou detendendo jurisdição<br />
sobre os casos atinentes aos metecos.<br />
Por fim, havia os tesmotetas, que possuíam bastante atribuições. Mário Curtis<br />
Giordani, as revela:<br />
1)Codificam as leis e assinalam os defeitos encontrados na legislação, tais<br />
como lacunas, contradições, etc<br />
2) Fixam os dias em que os tribunais devem funcionar<br />
3)Supervisionam o sorteio dos magistrados.<br />
4)Tem jurisdição sôbre a maior parte dos crimes que dizem respeito ao<br />
estado. 57<br />
Além dos arcontes, outros magistrados importantes eram os estrategos, que em<br />
número de dez, possuíam um poder imenso. Líderes supremos do exército, eles tinham<br />
autoridade diplomática, e podiam aplicar penalidades de qualquer natureza. Para atingir<br />
essa magistratura, exigia-se algumas peculiaridades, a saber:<br />
5.5.3 Conselho dos Quinhentos<br />
Para ser estratego eram exigidas condições especiais: o candidato devia<br />
ser filho de família tradicional, que já houvesse evidenciado suas virtudes<br />
cívicas, e devia possuir fortuna própria. Certamente pensava-se que o<br />
portador de tais qualidades teria razões mais fortes para defender a cidade.<br />
Por outro lado, não se seguia o princípio geral de escolher os magistrados<br />
na razão de um por tribo, o que era feito a fim de que o único critério a dirigir<br />
a eleição fôsse o valor pessoal do candidato 58 .<br />
Junto da Assembléia, outra instituição de fundamental importância foi o Conselho<br />
dos Quinhentos ou a Boulé. Este orgão se tornou indispensável para o modelo democrático,<br />
pois a Ecclêsia não tinha como tratar de todos os assuntos relevantes da pólis, ante a sua<br />
complexidade e burocracia.<br />
Este Conselho era composto, logicamente, por quinhentos membros, sendo que de<br />
cada tribo, saía por sorteio, cinqüenta membros. Além disso, para participar, era necessário<br />
57 GIORDANI, op.cit. p. 75.<br />
58 CASTRO, op.cit., p. 93.<br />
28
ter no mínimo trinta anos, pois acreditava-se que nesta idade o cidadão já gozava de<br />
experiência e maturidade.<br />
Para facilitar o seu andamento, a Boulé, se dividia em dez comissões, que<br />
abarcavam cada uma cinqüenta senadores. Cada comissão recebia o nome de pritania, e os<br />
senadores que a compunham, eram designados por prítanes. .<br />
O Conselho, tinha inúmeras atribuições, mas a mais relevante e importante, era a<br />
preparação da pauta e dos trabalhos da Assembléia. Qualquer projeto de lei, que ia para<br />
votação na Eclêsia, era elaborado pelo Conselho. Também, a Boulé julgava os funcionários<br />
acusados de roubo de dinheiro público, bem como tinha competência nos processos de<br />
dokimasia. No tocante as questões executivas, o Conselho cuidava das cobranças de<br />
impostos, e investia dinheiro em obras civis e militares.<br />
5.5.4 Tribunal da Heliae<br />
Criação de Sólon, esta instituição continha, em seu interior, uma grande presença<br />
popular. Composto por seis mil cidadãos, que eram sorteados na razão de 600 por tribo,<br />
esse Tribunal aplicava, nos casos de sua competência, as leis votadas pelo povo na<br />
Assembléia.<br />
Para fazer parte deste órgão, era necessário que o cidadão tivesse trinta anos de<br />
idade, e que tivesse em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. Além disso, para a<br />
melhor fruição dos trabalhos, o Tribunal era dividido em dez seções, que eram denominadas<br />
dicastérios, tendo cada uma delas seiscentos membros.<br />
No tocante ao seu funcionamento, cabe explicar as duas espécies de ações que<br />
existiam na época: as ações públicas (graphai) e as ações privadas (dikai). Nas ações<br />
públicas, buscava se proteger os interesses do Estado. Por isso, qualquer cidadão podia ter<br />
iniciativa de propositura. As multas aplicadas a qualquer condenado, nesse tipo de ação,<br />
seriam pagas por ele ao Estado, e o acusador receberia apenas uma porcentagem. Já as<br />
ações privadas, protegiam o interesse de uma família ou somente de um cidadão, sendo<br />
que era o(s) ofendidos que tinham legitimidade para apresentá-las. Se o condenado tivesse<br />
que pagar multa, esta seria totalmente direcionada para o ofendido 59 .<br />
Sobre o número de jurados, nas cortês, sabemos que variava:<br />
59 CASTRO, op.cit., p. 97<br />
de acôrdo com o processo em pauta. Para as ações privadas era costume<br />
convocar apenas parte de um dicastério; geralmente, 201 dicastas. Quando,<br />
todavia, fôsse atribuído à ação valor superior a 100 dracmas, exigia-se que<br />
maior número de jurados opinasse. Formavam-se, então côrtes com 401 ou<br />
29
mais membros. Tôdas as ações públicas eram também julgadas por côrtes<br />
numerosas. 60<br />
Por fim, salientamos que as decisões da Heliae eram consideradas irrevogáveis.<br />
Todavia, era permitido recurso a Ecclesia, mas esta para analisá-lo tinha que ter quórum no<br />
mínimo de seis mil votantes.<br />
5.6 ATENAS CLÁSSICA EM SEU ASPECTO SOCIAL<br />
No período clássico, havia nitidamente a presença de três classes sociais distintas<br />
em Atenas: os cidadãos, metecos e escravos.<br />
Os cidadãos, eram aqueles que exerciam plenamente os direitos civis e políticos.<br />
Possuíam ampla liberdade e estavam divididos nas diversas classes censitárias<br />
estabelecidas por Sólon.<br />
Para se obter o título de cidadão, vale relembrar, era necessário nascer em Atenas,<br />
estar registrado em uma demos, ter pai ateniense – e não ser nem mulher e nem escravo.<br />
Vale lembrar, que graças a uma lei de Péricles, do ano de 451 a.C. a mãe do cidadão,<br />
passou também a ser considerada ateniense.<br />
Já o direito à cidadania, vinha a ser adquirido após o jovem ateniense ter completado<br />
os dezoito anos, mas também, podia ser concedido através de decreto. Atingida a<br />
maioridade, o cidadão, durante dois anos, prestava serviço militar, e após disso, podia<br />
participar da Assembléia dos Cidadãos.<br />
Entre as ocupações, não custa dizer, que muitos dos cidadãos figuravam na<br />
agricultura, comércio, indústria e artesanato.<br />
Outra classe social importante, que convivia no período clássico, é a dos metecos,<br />
que eram os estrangeiros que estavam domiciliados em Atenas.<br />
Ao contrário de outros povos, os atenienses acolhiam e recepcionavam muito bem os<br />
estrangeiros, tanto em que várias regiões da cidade, vislumbra-se a presença de vários<br />
fenícios, frígios e egípcios 61 .<br />
Os metecos em relação ao Estado de Atenas, tinham que cumprir alguns deveres<br />
como o a prestação de serviço militar no exército, e o pagamento de algumas obrigações<br />
financeiras. Além disso, não podiam se casar com as atenienses, e nem tinham o direito de<br />
ser proprietários territoriais 62 .<br />
60 Ibid., p. 98.<br />
61 GIORDANI, op.cit. p. 170.<br />
62 Ibid., p. 171.<br />
30
Em casos excepcionais, e devido a obtenção de êxito em relação a serviços<br />
prestados para o Estados, se concedia para os metecos certos privilégios, como a igualdade<br />
com os cidadãos em matéria fiscal e a possibilidade de se adquirir bens imóveis 63 .<br />
No que tange as suas ocupações, os metecos, em sua grande parte,<br />
desempenhavam, atividades comerciais e industriais. Também cumpriam funções de<br />
médicos públicos, de empreitores públicos, e muitas outras relacionadas com as funções do<br />
Estado.<br />
A classe dos metecos desempenhou papel de relevância na história ateninese.<br />
Faziam inúmeras funções que auxiliavam no incremento da vida econômica da pólis, e<br />
combatiam junto dos atenienses no exército. Eles eram admiradores do regime democrático,<br />
já que indiretamente podiam influenciar, e se orgulhavam de viver na cidade mais<br />
hegemônica da Grécia.<br />
Abaixo dos metecos, na camada social, encontramos os escravos. Sobre eles,<br />
Aristóteles, na Política, salienta como os gregos encaravam a escravidão:<br />
É um escravo por natureza aquele que pode pertencer a outro (e é esta a<br />
razão por que pertence de facto) e também aquele que participa da razão o<br />
suficiente para apreender sem, contudo, a possuir; os animais distintos do<br />
homem nem sequer são capaz de participar da forma sensitiva da razão;<br />
apenas obedecem passivamente às impressões. Quanto à utilidade,<br />
escravo e animias domésticos pouco diferem; prestam ambos auxílio ao<br />
corpo, na medida das nossas necessidades. 64<br />
Através da leitura do texto aristotélico, se nota que a escravidão não era considerada<br />
injusta, mas sim algo comum e natural da vida.<br />
No período clássico de Atenas, observamos que a maioria da população não tinha<br />
muitos escravos. Apenas os que detinham uma considerável situação financeira, eram que<br />
possuíam uma grande quantidade deles. Um dado curioso, sobre isso, é o que nos revela<br />
Mário Curtis Giordani, ao dizer que Platão deixou por testamento quatro escravos a seus<br />
herdeiros, e Aristóteles tinha consigo no mínimo nove 65 .<br />
Os escravos domésticos, criavam um vínculo de amizade com os seus donos, e por<br />
isso, sempre eram bem tratados. Eles na casa, ajudavam a mulher ateniense nos seus<br />
afazeres domésticos. Preparavam os alimentos, limpavam a casa, sendo que alguns,<br />
inclusive, auxiliavam o seu senhor nos negócios. Nas grandes propriedades rurais, vemos<br />
uma boa quantidade de mão-de-obra escrava. Nelas, era somente os escravos que<br />
realizavam integralmente os trabalhos. Todavia, era na exploração de minas que se via o<br />
maior contigente de escravos. Lá eles trabalhavam em péssimas condições e não recebiam<br />
os cuidados necessários contra acidentes.<br />
63 GIORDANI, op.cit. p. 171.<br />
64 ARISTÓTELES. Política. Lisboa : Vegas, ano 1998. p.65.<br />
65 GIORDANI, op.cit. p. 194.<br />
31
Para a democracia grega, essa classe escrava foi extremamente fundamental, pois<br />
ao fazer os trabalhos do seu dono e ao ajudar em casa, eles permitiam que os cidadãos<br />
pudessem participar da vida política, sem prejuízo de seu sustento. Por isso que sem a<br />
presença dos escravos, o modelo democrático instaurado na pólis, jamais iria progredir e ser<br />
esplêndoroso.<br />
5.7 IMPORTÂNCIA DE PÉRICLES<br />
Graças a Péricles, Atenas chegou ao auge do modelo democrático. Em decorrência<br />
das medidas adotadas por ele, todos os cidadãos, conseguiam ir participar da Assembléia, e<br />
muitos puderam figurar nas magistraturas e na Boulé. Por isso, para finalizar, encerramos<br />
com as palavras proferidas por essa magnífico magistrado, em um dos seus dicursos:<br />
Nossa constituição é chamada de democracia porque o poder está nas<br />
mãos não de uma minoria mas de todo o povo. Quando se trata de resolver<br />
questões privadas, todos são iguais perante a lei, quando se trata de<br />
colocar uma pessoa diante de outra em posições de responsabilidade<br />
pública, o que vale não é o fato de pertencer a determinada classe, mas a<br />
competência real que o homem possui 66<br />
CONCLUSÃO<br />
A história político e social de Atenas até ao auge da democracia, foi marcada por<br />
muitas revoltas e avanços. Para compreendê-la é necessário percorrer um longo e intenso<br />
caminho, que nos remete sempre a brilhantes descobertas.<br />
Podemos dizer, que atingimos ao nosso objetivo, com o presente trabalho.<br />
Conseguimos entender e explicar como se procedeu a evolução político-social ateniense, e<br />
tivemos a chance de compreender que a democracia era motivo de orgulho e respeito por<br />
parte de todos os cidadãos. As instituições e magistraturas eram desempenhadas pelos<br />
seus membros com muito diálogo e entusiasmo, pois sempre se tentava ir em busca do bem<br />
de toda a comunidade política.<br />
REFERÊNCIAS<br />
AQUINO, Leão R. S; FRANCO, Denize A.; LOPES, Oscar G. P. C. Historia das<br />
Sociedades: das comunidades primitivas às sociedades medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro<br />
Técnico, 1980. p. 190.<br />
66<br />
MOTA, Myriam B; BRAICK, Patrícia Ramos. História das cavernas ao terceiro milênio. 1ed. São<br />
Paulo: Editora Moderna, 2000. p.39<br />
32
ARISTÓTELES. Política. Lisboa: Vegas, ano 1998.<br />
______. Constituição de Atenas. São Paulo: Nova Cultural, 2004.<br />
BARZOTTO, Luis Fernando. Prudência e Jurisprudência: uma reflexão epistemológica sobre<br />
a jurisprudentia romana a partir de Aristóteles. Revista Direito e Justiça da Faculdade de<br />
Direito da PUCRS, Porto Alegre, v. 23, ano XXIII, p. 222, janeiro, 2001.<br />
______. O Direito ou o Justo- O direito como objeto da Ética no pensamento clássico.<br />
São Leopoldo: Anuário do Programa de Pós-graduação em Direito, 2000. p.165.<br />
BRAUDEL, Fernand. Memórias do Mediterrâneo. Rio de Janeiro: Multi Nova, 1998. p.133.<br />
BENVENISTE, Émile. O Vocabulário das Instituições Indo-Européias. São Paulo: Editora<br />
da Unicamp, 1995. p. 104.<br />
CASTRO, José Olegário de Freitas. Estudos econômicos políticos e sociais. Belo<br />
Horizonte: Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Minas Gerais, 1959. p.<br />
55<br />
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. São Paulo: Martin Claret, 2004<br />
CURTIS GIORDANI, Mario. História da Grécia. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1972.<br />
FINLEY, M. I. Os gregos antigos. Lisboa: Edições 70, 1963.<br />
GLOTZ, Gustave. A Cidade Grega. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988<br />
WERNER. Jaeger. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2003.<br />
HESÍODO. Os Trabalhos e os Dias. São Paulo: Iluminuras, 1991.<br />
HOMERO. A Ilíada. São Paulo: Martin Claret, 2005.<br />
______. A Odisséia. São Paulo: Martin Claret, 2005.<br />
HOOD, Sinclair. OS MINÓICOS. Lisboa: Editorial Verbo.<br />
MORENO, Cláudio. Tróia: o romance de uma guerra. Porto Alegre: L&PM, 2004. p. 74-75.<br />
MOTA, Myriam B; BRAICK, Patrícia Ramos. História das cavernas ao terceiro milênio.<br />
1ed. São Paulo: Editora Moderna, 2000.<br />
SCHILLING, Voltaire. Homero e a busca da virtude. Disponível em:<br />
. Acesso em: 14 set. 2007.<br />
WERNER. Jaeger. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2003.<br />
SÓFOCLES, Antígona. 1 ed. Porto Alegre: L&PM Pocket, 1999.<br />
VERNANT, Jean–Pierre. As Origens do Pensamento Grego. 11 ed. Rio de Janeiro:<br />
Bertrand Brasil, 2000.<br />
33