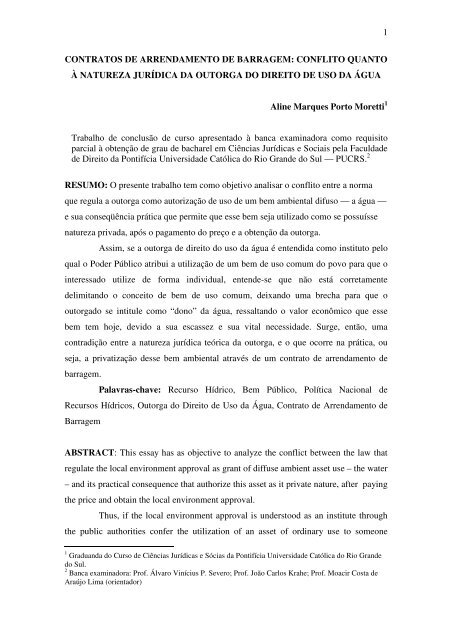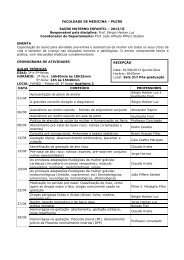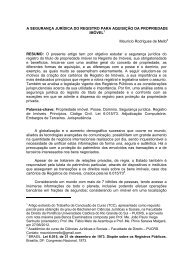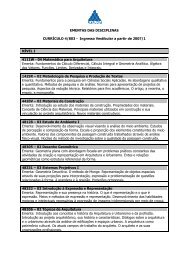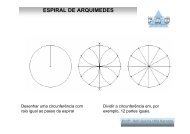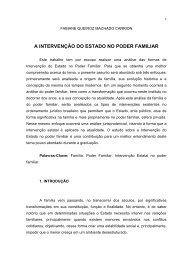1 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE BARRAGEM ... - pucrs
1 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE BARRAGEM ... - pucrs
1 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE BARRAGEM ... - pucrs
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>CONTRATOS</strong> <strong>DE</strong> <strong>ARRENDAMENTO</strong> <strong>DE</strong> <strong>BARRAGEM</strong>: CONFLITO QUANTO<br />
À NATUREZA JURÍDICA DA OUTORGA DO DIREITO <strong>DE</strong> USO DA ÁGUA<br />
1<br />
Aline Marques Porto Moretti 1<br />
Trabalho de conclusão de curso apresentado à banca examinadora como requisito<br />
parcial à obtenção de grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade<br />
de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul — PUCRS. 2<br />
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar o conflito entre a norma<br />
que regula a outorga como autorização de uso de um bem ambiental difuso — a água —<br />
e sua conseqüência prática que permite que esse bem seja utilizado como se possuísse<br />
natureza privada, após o pagamento do preço e a obtenção da outorga.<br />
Assim, se a outorga de direito do uso da água é entendida como instituto pelo<br />
qual o Poder Público atribui a utilização de um bem de uso comum do povo para que o<br />
interessado utilize de forma individual, entende-se que não está corretamente<br />
delimitando o conceito de bem de uso comum, deixando uma brecha para que o<br />
outorgado se intitule como “dono” da água, ressaltando o valor econômico que esse<br />
bem tem hoje, devido a sua escassez e sua vital necessidade. Surge, então, uma<br />
contradição entre a natureza jurídica teórica da outorga, e o que ocorre na prática, ou<br />
seja, a privatização desse bem ambiental através de um contrato de arrendamento de<br />
barragem.<br />
Palavras-chave: Recurso Hídrico, Bem Público, Política Nacional de<br />
Recursos Hídricos, Outorga do Direito de Uso da Água, Contrato de Arrendamento de<br />
Barragem<br />
ABSTRACT: This essay has as objective to analyze the conflict between the law that<br />
regulate the local environment approval as grant of diffuse ambient asset use – the water<br />
– and its practical consequence that authorize this asset as it private nature, after paying<br />
the price and obtain the local environment approval.<br />
Thus, if the local environment approval is understood as an institute through<br />
the public authorities confer the utilization of an asset of ordinary use to someone<br />
1<br />
Graduanda do Curso de Ciências Jurídicas e Sócias da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande<br />
do Sul.<br />
2<br />
Banca examinadora: Prof. Álvaro Vinícius P. Severo; Prof. João Carlos Krahe; Prof. Moacir Costa de<br />
Araújo Lima (orientador)
interested for using it in an individual way, it is understood that it is not correctly<br />
delimitate the concept of ordinary people’s asset use, leaving a rupture to authorized<br />
person label himself as the water’s owner, emphasizing the economic value this asset<br />
has today, due to its scarcity and crucial necessity. There is, so a contradiction between<br />
the legal nature theorical of the local environment approval, and what happens in<br />
practice, which is the privatization of this environmental asset through a weir’s rent<br />
contract.<br />
Key words: Water Resource; Public Asset; Brazilian Water Resource Plan;<br />
Local Environment Approval; Weir’s Rent Contract.<br />
INTRODUÇÃO<br />
A água é um recurso natural de suma importância para o desempenho da<br />
atividade agropecuária, em especial da agricultura voltada para a produção através da<br />
irrigação artificial. Assim, os agricultores são importantes usuários dos recursos<br />
hídricos, uma vez que os consomem em grande quantidade através da irrigação.<br />
No meio rural ainda prepondera a mentalidade individualista sobre a<br />
propriedade. Nesse sentido, o proprietário de imóvel onde se encontra uma barragem<br />
para captação pluvial utiliza da água conforme a sua vontade. Hoje não é possível<br />
manter essa mentalidade frente ao tratamento constitucional dado aos bens ambientais.<br />
Conforme o art. 225 da Constituição Federal, afirmado pela Lei nº 9.433/97,<br />
água é um bem difuso, gerido pelo Estado, podendo o particular utilizá-la para limitados<br />
fins quando devidamente outorgado. É através da outorga do direito de uso da água que<br />
o Poder Público atribui ao interessado o direito de usar privativamente o recurso<br />
hídrico. Todavia, gera-se uma contradição, pois, quando o particular recebe a outorga,<br />
passa a tratar a água como um bem particular e não como bem comum.<br />
No presente trabalho o que se pretende é estudar um dos casos em que essa<br />
contradição aprece com freqüência: a outorga do direito do uso da água nos chamados<br />
contratos de arrendamento de barragens. A problemática que se apresenta é: estaria o<br />
outorgado exercendo um direito de propriedade sobre a água da barragem, que é um<br />
bem público?<br />
O mencionado contrato é contrato agrário inominado e se caracteriza por um<br />
acordo de vontades entre o proprietário de imóvel, onde há uma barragem com outorga<br />
2
para o uso da água nela captada, e seu vizinho, intencionado a drenar a água existente na<br />
propriedade do outorgado com a finalidade de irrigar a sua lavoura.<br />
Criou-se, então, um conflito quanto à natureza da outorga, uma vez que, ao<br />
celebrar esse contrato, o proprietário do imóvel está “alugando” a água para um terceiro<br />
alheio a outorga, gerando a possibilidade do uso da água por uma pessoa alheia à<br />
outorga ocasionar danos ao meio ambiente.<br />
As obras existentes sobre contratos agrários, em sua maioria, procuram fazer<br />
simplesmente uma reprodução fiel do texto normativo, sem apresentar solução aos<br />
problemas e sem levantar questionamentos. Por essa razão, é importante ter uma visão<br />
da lei e também do caso concreto, pois no meio rural sempre surgirão novas relações<br />
jurídicas, muitas vezes sem normas para regulá-las.<br />
Busca-se com o tema mostrar o surgimento de uma nova problemática jurídica<br />
dentro do Direito Agrário, ou seja, o nascimento de um contrato atípico e a sua<br />
adequação à norma de Direito Ambiental.<br />
No primeiro capítulo da monografia serão desenvolvidos, de forma<br />
sistemática, os principais aspectos e conseqüências da publicização da propriedade da<br />
água, sendo abordadas questões legislativas do Direito Ambiental brasileiro. Afirma-se<br />
o Estado como gestor dos recursos hídricos, uma vez que, por serem bens difusos, não<br />
passíveis de alienação.<br />
Ademais, importante se faz o estudo da outorga e da cobrança do uso da água,<br />
ambos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, pois o Poder Público,<br />
como distribuidor e fiscalizador da água, concede a outorga a um particular com a<br />
finalidade de garantir o uso qualitativo e quantitativo.<br />
O maior objetivo do presente trabalho está no segundo capítulo, no qual é<br />
exposto como o outorgado trata a água como se sua natureza fosse de caráter privado,<br />
pois, tendo pago por seu preço, através da outorga, vê disponibilidade no bem e a<br />
possibilidade de arrendar o seu uso para irrigar a lavoura de outro proprietário de imóvel<br />
rural lindeiro.<br />
Nesse contexto, insere-se o Direito Agrário, principalmente na parte de<br />
contratos rurais, visto que o chamado contrato de arrendamento de barragem é contrato<br />
agrário inominado, caracterizado por lidar indiretamente com o exercício da terra.<br />
Esse estudo tem como finalidade tratar da diferença de como a outorga é<br />
tratada na legislação (teoria) e nos contratos rurais (prática), uma vez que, ao obter a<br />
outorga, o proprietário geralmente estabelece um contrato com o lindeiro do seu imóvel<br />
3
para que este possa irrigar a sua lavoura, já corretamente licenciada. Esse contrato tem<br />
caráter privado e é uma prática comum nos casos de arrendamento de barragens, em que<br />
o credor é o outorgado e o devedor, o seu lindeiro.<br />
1 CONSI<strong>DE</strong>RAÇÕES GERAIS SOBRE A TUTELA DA ÁGUA<br />
1.1 Histórico: passagem da água de bem privado para bem difuso a partir da<br />
Constituição de 1988<br />
Conforme o Código Civil de 1916, a água era considerada um bem privado. O<br />
proprietário do imóvel poderia explorar o bem, no tempo que viesse a tomar<br />
conhecimento dele, ou que lhe fosse interessante. Poderia a água ser pública ou privada,<br />
dependendo do terreno onde se encontrasse.<br />
As Constituições Federais anteriores a de 1988 não tiveram preocupação com<br />
a proteção ambiental de forma específica, nem mesmo foi empregada a expressão meio<br />
ambiente, o que revela total despreocupação com a natureza.<br />
O Código das Águas, Decreto nº 24.643 de julho de 1934, disciplinou as águas<br />
como públicas, comuns e privadas. Manteve, assim, a possibilidade do domínio da água<br />
estar em mãos de particulares quando não fosse classificada como comum e pública,<br />
conforme o art. 8º.<br />
Esse Decreto veio, portanto, para dar valor econômico ao bem, já que o<br />
Código Civil vigente na época somente regulamentava questões de vizinhança.<br />
Preocupava-se, em sua maior parte, com a aplicação dos recursos hídricos como fonte<br />
de geração de energia elétrica, no contexto da industrialização do país.<br />
Em 1981, foi promulgada a Lei nº 6.938, referente à Política Nacional do Meio<br />
Ambiente, posteriormente alterada pela Lei nº 7.804/89. E foi um importante marco,<br />
pois deu início ao pensamento holístico em relação ao ambiental no Brasil, isto é, referia<br />
que o homem é um todo indivisível, não podendo ser considerado individualmente;<br />
assim, tratava o ambiente como um todo. A referida Lei também instituiu o Sistema<br />
Nacional do Meio Ambiente – SINAMA, cujo órgão máximo é o Conselho Nacional do<br />
Meio Ambiente - CONAMA.<br />
Com efeito, foi em meados dos anos 70 que uma conjunção de fatores levaram<br />
a reconhecer o meio ambiente como valor merecedor de tutela maior. Na história do<br />
direito, poucos valores e bens tiveram tão considerável trajetória, passando de nada<br />
4
jurídico ao topo da hierarquia normativa. O que se iniciou foi a constitucionalização do<br />
ambiente, tanto no Brasil como no mundo, culminando com o surgimento e a<br />
consolidação do direito ambiental. Então, a tendência da legislação brasileira foi a<br />
publicização do domínio da água, até atingir a extinção da propriedade privada do bem.<br />
Ressalte-se que a matéria relativa à propriedade privada de recursos hídricos<br />
presente no Código das Águas não foi recepcionada pela Constituição Federal<br />
promulgada em 1988, e, posteriormente, foram revogados os demais dispositivos que<br />
contrariavam a Lei nº 9433/97. Todavia, permaneceram vigorando as normas que não<br />
conflitaram com a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. O que houve, neste<br />
caso, foi um afastamento da incidência daquelas normas que não estavam concordantes<br />
com o ordenamento jurídico, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei infra perante a<br />
nova Constituição, uma vez que esta mudou o tratamento do jurídico do meio ambiente,<br />
apoiando-se em técnicas jurídicas multifacetárias. A Constituição de 1988 reconheceu o<br />
ambiente como meio jurídico autônomo, e não como um conjunto fragmentário de<br />
elementos.<br />
A partir dessa nova visão jurídica do ambiental, que teve como marco a<br />
Constituição de 88, o direito do ambiente encontra sua base normativa no Capítulo VI,<br />
do Título VIII, consolidada toda no art. 225 com seus parágrafos e incisos. Segundo<br />
José Afonso da Silva 3 o dispositivo compreende 3 conjuntos de normas: primeiro no<br />
caput, onde está a norma matriz, reveladora de todo direito ao meio ambiente<br />
ecologicamente equilibrado; segundo no §1º e incisos sobre instrumentos de garantia e<br />
efetividade do direito; terceiro nos §2º a 6º, conjunto de determinações particulares<br />
voltados a determinados objetos e setores.<br />
O capítulo que trata sobre o meio ambiente é um dos mais importantes<br />
avanços na Constituição, porque o legislador dedicou ao tema um capítulo inteiro da<br />
matéria antes nem mesmo tratado em nível constitucional. 4 Somados a ele, vieram<br />
textos voltados à proteção natural, originados em todos níveis do Poder Público e da<br />
hierarquia normativa.<br />
Com a promulgação da Lei nº 9433/97, que instituiu a Política Nacional de<br />
Recursos Hídricos, conforme o art. 21, XIX da CF, a legislação infraconstitucional veio<br />
3 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional, 2. ed, São Paulo: Malheiros, 1997, p. 31.<br />
4 BENJAMIN, Antônio Herman. Introdução ao Dreito Ambinetal Brasileiro. In: BRASIL. Ministério<br />
Público do Estado de São Paulo. Manual Prático da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. v.1;<br />
São Paulo: Imprensa Oficial; 2005, p. 11.<br />
5
definir o que a Constituição já havia dito em 1988: a publicização total da propriedade<br />
da água, forte no artigo 1º.<br />
Sobre o assunto, menciona Eduardo Coral Viegas:<br />
Passados muitos anos desde a entrada em vigor da Constituição Federal<br />
atual, que não recepcionou a legislação infraconstitucional nos pontos em<br />
que estabelecia a propriedade privada sobre as águas, em 8 de janeiro de<br />
1997, visando regulamentar o art. 21, XIX, da Constituição, veio a ser<br />
publicada a Lei nº 9433, instituindo a política Nacional de recursos Hídricos,<br />
a qual foi assentada nos fundamentos de que trata o art. 1º da Lei, sendo o<br />
primeiro deles a disposição categórica de que “a água é um bem de domínio<br />
público”, cristalizando-se por meio da legislação infraconstitucional, aquilo<br />
que a Lei Magna já havia instituído, ou seja, a publicização integral da<br />
propriedade da água. 5<br />
Ocorreu, então, a extinção integral da propriedade privada dos recursos<br />
hídricos, e sua inclusão como propriedade estatal, associada ao princípio constitucional<br />
da função social da propriedade (art. 5º, XXII, CF).<br />
Apesar da Constituição de 1988 atribuir competência privativa à União para<br />
legislar sobre águas, algumas constituições estaduais não se omitiram, ao inserirem<br />
dispositivos sobre recursos hídricos.<br />
A tendência à publicização da água dá-se pela importância que o bem tem para<br />
a sociedade, buscando o Estado tutelar e garantir que todos tenham acesso a esse bem,<br />
somada à necessidade atual de planejar e controlar o seu uso. Assim ensina Maria Luiza<br />
Machado Granziera:<br />
Quanto maior a importância de um bem à sociedade, maior a tendência a sua<br />
publicização, com vista a obtenção de tutela do Estado e da garantia de que<br />
todos poderão a ele ter acesso, de acordo com os regulamentos<br />
estabelecidos. No que se refere às águas, as coisas não se passam de forma<br />
diferente. 6<br />
Como já destacado, Constituição de 88 insere pela primeira vez no Brasil o<br />
“meio ambiente” como conceito unitário, buscando garantir o direito de todos a um<br />
meio ambiente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida. Conceitua o meio<br />
ambiente como bem de uso comum do povo, razão pela qual não pode ser apropriado e<br />
é extra comércio.<br />
5 VIEGAS, Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 79.<br />
6 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas - Disciplina Jurídica das Águas Doces, 2. ed.<br />
São Paulo: Atlas, 2003, p. 88.<br />
6
Forte nos seus artigos 20, III, e 26, I, a Constituição passou a considerar as<br />
águas como bens do Estado, surgindo, então, o novo contexto: não existem mais águas<br />
particulares. Assim, conceitua a água como bem de domínio público.<br />
O legislador agiu bem ao considerar a água de domínio público, no sentido de<br />
uso comum do povo; já que a presença do Poder Público no setor hídrico deve traduzir<br />
um resultado da política de conservação e recuperação da água. Vide o art 11 Lei nº<br />
9.433, in verbis: “O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como<br />
objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo<br />
exercício dos direitos de acesso à água”<br />
O Código Civil de 1916 já havia inserido a idéia de bem de uso comum do<br />
povo para mares, rios, estradas, ruas e praças, como repete o atual Código Civil, art. 99.<br />
Então, a CF de 88 veio dar nova proporção ao conceito de bem de uso comum do povo,<br />
sem alterar o outro conceito, mas ultrapassando a idéia restrita de bem público e bem<br />
privado, adicionando as idéias de função social e função ambiental do meio ambiente.<br />
Vale lembrar que a dominialidade pública da água não transforma o Poder<br />
Público federal ou estadual em proprietário da água, mas sim o torna gestor desse bem<br />
de uso coletivo, visando ao interesse de todos. A partir da idéia de que a Administração<br />
tem o poder de autotutela do bem, ela passa a melhor informar e a aumentar a<br />
participação da sociedade civil na gestão dos meios ambientais. Deste modo, o domínio<br />
da União ou dos Estados sobre os recursos hídricos não se refere à propriedade de um<br />
bem imóvel, mas decorre do texto legal, baseado na responsabilidade atribuída ao<br />
Estado sobre a guarda e administração dos mesmos e pela edição de regras aplicáveis.<br />
As águas também receberam uma nova regulamentação legal, a fim de serem<br />
preservadas e conservadas para as gerações futuras. A Constituição de 1988 é inovadora<br />
ao caracterizar a água como recurso econômico, e os rios começaram a ser vistos no<br />
contexto das bacias hidrográficas como unidade de planejamento, e não mais como<br />
elementos isolados. 7<br />
Como conseqüências da conceituação da água como bem de uso comum do<br />
povo, o seu uso não poderá ser apropriado por um só pessoa, física ou jurídica, que faça<br />
com que haja exclusão total de outros usuários em potencial; o uso da água também não<br />
7 SILVA, Américo Luís Martins da. Direito do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. v. 2. São<br />
Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 402<br />
7
pode significar agressão ou poluição ao bem, como não pode esgotá-lo. 8 Ainda,<br />
qualquer autorização ou concessão para uso da água deve ser motivada pelo Poder<br />
Público, como veremos posteriormente. Ressalte-se que o poder público não pode<br />
priorizar interesses de grupos e excluir a maioria do acesso qualitativo e quantitativo da<br />
água. Isso seria um contra-senso, pois estaria a privatizá-la através de concessões e<br />
autorizações injustificadas, servindo ao lucro de minorias.<br />
A água, como já citado, é caracterizada pela legislação pátria como bem de uso<br />
comum, ou seja, pode ser utilizado pela coletividade em igualdade de condições, razão<br />
pela qual é proibida qualquer distinção especial para o uso, mas se exige, para esse uso,<br />
que haja uma norma a regulá-lo.<br />
O bem de uso comum tem, como direito fundamental ao meio ambiente<br />
ecologicamente equilibrado, três características: a irrenunciabilidade, porquanto é<br />
direito que não aceita renúncia; a imprescritibilidade, pois consagra entre os seus<br />
beneficiários até quem não pode exercitar seus direitos, como as gerações futuras; e a<br />
inalienabilidade, que significa o exercício próprio, indelegável, intransferível e<br />
inegociável, porque tem titularidade personalíssima. A apropriação é<br />
constitucionalmente coletivizada, referindo-se o texto constitucional a “bem de uso<br />
comum do povo”; assim, conclui-se que o poder de alienação não pode ser individual<br />
nem coletivo, já que a qualificação supraindividual é desenhada na Constituição, o que<br />
afasta, inclusive, alguma tentativa de desafetação ou destinação indireta, por meio de<br />
acordos entre o Estado e o Ministério Público. 9<br />
Ressalte-se que a tendência a publicização desse bem foi mais forte no Brasil<br />
do que em outros países, que deixaram algumas águas sobre o domínio privado. Após a<br />
edição da Lei nº 9.433/97 não há mais dúvidas sobre a publicização da água, uma vez<br />
que se fixou que “a água é um bem de domínio público”. 10<br />
1.2 O Estado como gestor da água, garantidor do controle qualitativo e<br />
quantitativo do uso do recurso hídrico<br />
8<br />
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos – Direito Brasileiro e Internacional. São<br />
Paulo. Malheiros, 2002, p.25<br />
9<br />
CANOTILHO, Joaquim José Gomes ; LEITE, José Rubens Morato (Org). Direito Constitucional<br />
Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 356.<br />
10<br />
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Op. Cit., p. 89.<br />
8
Apesar de reafirmada a dominialidade pública das águas pela Lei nº 9433/97,<br />
isso não transforma os Poderes Públicos federal e estaduais em proprietários da água, os<br />
quais deves ser vistos como simples gestores do bem de uso coletivo. Como visto, uma<br />
das características da água é sua inalienabilidade, ou seja, o Poder Público não pode,<br />
direta ou indiretamente, tornar-se comerciante de águas.<br />
O art 225 da Constituição prevê a necessidade do uso adequado dos recursos<br />
naturais. O seu caput faz referencia à palavra “todos”, o que significa que não houve<br />
particularização de um direito, não se excluiu ninguém, pois o meio ambiente é um bem<br />
coletivo, mas ao mesmo tempo de uso individual e geral, razão pela qual entra na<br />
categoria de bem de interesse coletivo, não se esgotando numa só pessoa.<br />
Através do referido dispositivo foram criadas obrigações à Administração com<br />
a coletividade, visando a assegurar o direito ao meio ambiente, como por exemplo:<br />
definir nos Estados os espaços e componentes que deverão ser especialmente<br />
protegidos, exigir o estudo prévio de impacto ambiental para obras potencialmente<br />
poluidoras, controlar a produção de bens potencialmente poluidores, entre outros.<br />
Nota-se, assim, que a gestão hídrica deve ser feita juntamente com a gestão<br />
ambiental, uma vez que a água é dependente dos outros recursos naturais para sua<br />
existência, de forma que uma das diretrizes para que se possa gerir o recurso seja a<br />
ausência de dissociação do binômio qualidade e quantidade. 11<br />
A lei brasileira assegura o direito de uso dos recursos hídricos através do<br />
instrumento jurídico da outorga, e não de sua venda ou comercialização. Como já<br />
referido as águas não pertencem ao Estado, mas a coletividade, este só detém o poder<br />
regulamentador e fiscalizador, tendo o Poder Público o dever de controle, de<br />
fiscalização e também de promoção da sustentabilidade das águas.<br />
Nessa linha, Maria Luiza Machado Granziera afirma:<br />
o domínio dos recursos hídricos, dessa forma, está muito mais próximo do<br />
“dever de zelar” do que de “exercer o poder” sobre algo. Esse “poder”, no<br />
sentido de propriedade, dá lugar à “responsabilidade pela condução do<br />
gerenciamento das águas. 12 .<br />
Por isso, quando a Lei nº 9433/97 dispõe sobre a concessão de uso dos<br />
recursos hídricos, não está dispondo sobre sua alienação. A razão pela qual é gerada a<br />
cobrança é a utilização do recurso hídrico para os fins mencionados no art. 12 da<br />
11 BARROS, Wellington Pacheco, Op. Cit., p. 79.<br />
12 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, Op. Cit., p. 75.<br />
9
eferida Lei, ou seja, quando ocorre a alteração do regime, qualidade ou quantidade das<br />
águas. É uma forma de controle do Poder Público sobre a utilização dos recursos<br />
hídricos, assegurando seu uso de forma qualitativa e quantitativa, conforme o art. 11 da<br />
Lei de Recursos Hídricos.<br />
E esse trabalho de regulamentar e fiscalizar os recursos naturais é facilitado<br />
pela descentralização de competências, uma vez que os casos podem ser melhor<br />
resolvidos na área onde o corpo hídrico se localiza, tendo em vista a vastidão do País e<br />
de alguns Estados, e respeitando a diversidade, a qualidade e a quantidade de água<br />
disponível, bem como as diversidades físicas, culturais, bióticas de cada região país,<br />
como menciona o art. 24 CF. Essa forma de compartilhar competências é uma tendência<br />
do federalismo, evitando-se que um só ente detenha todo poder sobre determinada<br />
matéria.<br />
Quando não há norma geral sobre certa matéria, cabe aos Estados legislarem;<br />
todavia, se sobrevier lei federal sobre normas gerais, fica suspensa a eficácia da<br />
legislação estadual no que for contrária à lei federal. Então, sendo a competência<br />
legislativa concorrente, cabe à União a edição de normas gerais e aos Estados-Membros<br />
das normas específicas, sempre complementando a legislação federal, vide art. 22, inc.<br />
IV, da Constituição.<br />
Mas surge uma contradição nesse inciso: é privativo da União legislar sobre<br />
águas, contudo, o art. 23, inc. VI, da Constituição Federal atribui competência<br />
concorrente à União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre meio ambiente, e,<br />
sendo a água um recurso natural, inclui-se também nesse inciso. Como solução do<br />
empasse a doutrina se manifesta no sentido de que a competência da União para legislar<br />
não se confunde com a capacidade do ente público estabelecer regras administrativas<br />
sobre os bens que se encontram sobre seu domínio, entendido como guarda e<br />
administração. Deste modo, não há dúvida da competência dos Estados em legislar<br />
sobre matéria administrativa no que se refere aos recursos hídricos que estejam sobre<br />
seu domínio, sem ferir competência privativa da União. Assim, veda-se criar direito<br />
sobre as águas, pois este é só de competência da União.<br />
Da mesma forma se manifesta o autor Celso Antônio Pacheco Fiorillo:<br />
10<br />
Diante dessa celeuma em que não restou claro ser de competência da União<br />
legislar sobre a matéria águas ou caber a ela somente a edição de normas<br />
gerais, temos que a melhor interpretação é extraída com base no art. 24, de<br />
modo que a competencia para legislar sobre normas gerais é atribuída à<br />
União, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal legislar
complementarmente e ao Município suplermentarmente, com base no art.<br />
30, II, da Constituição Federal. 13<br />
No mesmo sentido, a doutrina de Paulo Affonso Leme Machado:<br />
11<br />
[...] a normatividade dos Estados sobre a água fica, porém, dependendo do<br />
que dispuser a lei federal, definirem os padrões de qualidade da água e os<br />
critérios de classificação das águas de rios, lagos, lagoas, etc. os Estados não<br />
podem estabelecer condições diferentes para cada classe de água, nem<br />
inovar no que concerne ao sistema de classificação. 14<br />
A Constituição classificou as águas em federais e estaduais, visando evitar que<br />
fossem geridas exclusivamente pela União. Criou o sistema Nacional de Gerenciamento<br />
de Recursos Hídricos, de modo que os Estados não podem administrar as águas<br />
estaduais somente conforme suas regras internas. Há uma ampla abrangência do poder<br />
normativo da União, que deve ser utilizado para que as legislações estaduais não criem<br />
normas discriminatórias ou que estimulem políticas diferentes sobre o uso da água.<br />
Quanto aos Municípios, não sendo eles detentores de domínio hídrico, não<br />
podem fixar regras sobre a gestão das águas. Mas podem legislar de maneira<br />
suplementar, quando a matéria for de interesse local, de acordo com o art. 30, incs. I e II<br />
,da Constituição, em relação aos recursos naturais e proteção do ambiente.<br />
Como na competência legislativa, na administrativa os Municípios também<br />
não possuem competência para a gestão das águas, mas atuam em áreas correlatas, forte<br />
nos incs. V e VIII do já referido art. 30 CF, porque a competência para proteger o meio<br />
ambiente é comum a todas as entidades estatais.<br />
Ficariam, num primeiro momento, os Municípios excluídos da<br />
responsabilidade de tratar da conservação e proteção das águas. Todavia, não se pode<br />
esquecer que a qualidade e quantidade das águas das barragens, açudes, lagos e represas<br />
vão depender da implementação da política ambiental e da legislação existente, com<br />
referência principalmente ao ordenamento Municipal. Então, o Município pode, de<br />
forma restrita, ter norma autônoma, desde que comprove o interesse local, conforme o<br />
art. 30, I, CF, ou se a União e o Estado estiverem inertes no campo normativo.<br />
É de competência comum do Município, junto com a União, Estados e Distrito<br />
Federal, registrar e fiscalizar as outorgas de uso de recursos hídricos em seus territórios.<br />
Também devem os Municípios participar dos Comitês de Bacia Hidrográfica, nos quais<br />
13 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Op. Cit., p.130.<br />
14 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais,<br />
1991, p. 50.
serão aprovados Planos de Recursos Hídricos, que estabelecem prioridades no uso das<br />
águas e sugerem os valores a serem cobrados. 15<br />
Com efeito, em matéria de água, as competências exclusivas e concorrentes<br />
permanecem entrelaçadas. Por exemplo: os Estados podem estabelecer, de forma<br />
suplementar, as normas de emissão de efluentes lançadas nos cursos de água, visando a<br />
controlar a poluição e defender o recurso, de acordo com o art. 24, inc. VI da CF, mas<br />
dependem do que dispuser a lei federal para definir os padrões de qualidade das águas<br />
de rios, lagos e lagoas. 16<br />
1.3 Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos<br />
A Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei nº 9.433/97,<br />
tendo como pressuposto básico a idéia de que a água, por ser um bem de domínio<br />
público com vital importância para a sociedade, é de responsabilidade de gestão do<br />
Estado.<br />
A água é um recurso natural limitado, e a própria Política de Recursos<br />
Hídricos a determina com valoração econômica, o que é um reconhecimento de que é<br />
um bem finito e vulnerável, induzindo a um uso de forma racional, dando base<br />
instituição da cobrança pela utilização dos recursos hídricos; ou seja, como ensina<br />
Américo Luís Martins da Silva 17 , a água tem importante participação no<br />
desenvolvimento econômico e o seu potencial econômico mantém presente o interesse<br />
sobre ela.<br />
O art. 5º da Lei nº 9.433 enumera os instrumentos que são utilizados para que<br />
a execução da PNRH ocorra conforme as diretrizes e objetivos ditos na norma.<br />
Desses instrumentos, serão detalhados os institutos da outorga de uso da água<br />
e a possibilidade de sua cobrança, uma vez que são os que interessam para o presente<br />
estudo, pois têm oportunizado discussões na doutrina e jurisprudência.<br />
1.3.1 Outorga do direito de uso da água<br />
15<br />
MACHADO, Paulo Affonso leme. Recursos Hídricos - Direito Brasileiro e Internacional. Op. Cit,<br />
p. 21.<br />
16<br />
Idem. ibidem, p. 20.<br />
17<br />
SILVA, Américo Luís Martins da. Op. Cit. p. 443<br />
12
A necessidade do controle que se faz sobre o uso da água decorre da sua<br />
escassez. Conforme a água começou a ser vista como um bem escasso, de necessidade<br />
básica para vida humana e o meio ambiente, começou a ter ampliada sua valoração<br />
econômica, iniciando a necessidade de controlar o seu uso, visando a garantir sua<br />
qualidade e quantidade. Nesse contexto é que podemos entender o instituto da outorga<br />
de uso da água, assim conceituado por Granziera:<br />
13<br />
A outorga de direito de uso da água é o instrumento através do<br />
qual o Poder Público atribui ao interessado, público ou privado, o<br />
direito de utilizar privativamente o recurso hídrico. Constitui um<br />
dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos,<br />
conforme dispõe o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 9.433/97, assim<br />
como das várias políticas estaduais. 18<br />
A outorga do direito de uso, que está regulamentada pelos arts. 11 a 18 da Lei<br />
nº 9433/97, é o ato administrativo através do qual o Poder Público, titular do domínio da<br />
água, atribui ao outorgado o direito do uso do recurso hídrico que o interessa, de forma<br />
onerosa. O uso, porém, é limitado pela Administração, para que nunca atinja finalidade<br />
contrária ao seu fim natural. Então, a outorga não pressupõe livre disposição, mas sim<br />
direito de uso, conforme o art. 18 da referida Lei. Usando do mesmo raciocínio,<br />
compreende-se que a outorga é um direito de uso, e não uma alienação parcial, uma vez<br />
que inalienável o bem de uso comum do povo, que é o enquadramento dado aos<br />
recursos hídricos pela nossa CF.<br />
Não pode o interessado exigir a outorga, pois é poder discricionário da<br />
Administração 19 , a qual deve primar pelo interesse público acima do interesse<br />
individual. Veja-se que a Lei nº 9433 não fixou a forma como a Administração deve<br />
proceder perante o interessado, mas apenas autorizou a delegação do direito de uso<br />
através do instituto da outorga.<br />
O referido direito de uso é instituto oriundo do direito administrativo, pelo<br />
qual o Poder Público concede, de forma onerosa, a outrem o direito de uso do bem<br />
público água. Esse uso da água obriga que seja destinado para a finalidade que poderá<br />
ser limitada pela Administração, e nunca desviada do seu fim natural. Dessa forma que<br />
a outorga não deve ser vista como direito de disposição, mas sim somente como direito<br />
de uso.<br />
18 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Op. Cit. p. 145.<br />
19 BARROS, Wellington Pacheco de. A água na Visão do Direito. Op. Cit. p. 86
Bem lembra Barros 20 quando refere que no direito de uso, o outrogado sequer<br />
pode não usar o bem, pois por sua finalidade pública o bem precisa cumprir sua função<br />
e produzir benefícios para o povo. Se ele não o utiliza por até 3 anos, sofre a sanção de<br />
ver suspensa definitivamente a outorga, nos termos do art. 15, inc. I, Lei nº 9.433.<br />
Ressalta-se que o instituto não é originário da Lei da Política Nacional de<br />
Recursos Hídricos, uma vez que já estava inserido no Código das Águas, arts. 43 a 52,<br />
tendo-se inicialmente a idéia de contrato ou ato administrativo para realizar o controle<br />
da quantidade de água retirada e devolvida aos corpos d’água, visando principalmente o<br />
controle do uso da água para a produção de energia elétrica. Ao longo do tempo, a<br />
legislação pátria foi-se adaptando às novas necessidades de gerenciamento do bem,<br />
criando regras administrativas e planejamento específico para a água. Com efeito, a<br />
outorga se voltou para a proteção dos recursos hídricos, tornando-se hoje um<br />
instrumento essencial para a Política Nacional de Recursos Hídricos.<br />
Como salientado, a outorga não pode ficar na esfera do poder privado. Sempre<br />
deve ser observada a combinação do art 11, parágrafo único, com o art 13, ambos da Lei<br />
nº 9433, no que se referem ao objetivo da outorga de assegurar o direito de uso múltiplo<br />
da água, como, por exemplo, o uso pela fauna e para irrigação. Assim, é o Poder<br />
Público e a coletividade que devem defender o meio ambiente de forma a que o uso de<br />
um bem outorgado não torne inferior a qualidade ambiental do corpo d’água. A outorga<br />
de direito de uso é regulada na legislação brasileira no sentido de que o direito de uso da<br />
água pode ser concedido, sempre com o objetivo principal de assegurar o controle<br />
qualitativo e quantitativo do uso da água, bem como permitir o efetivo acesso ao bem,<br />
defendendo-o e preservando-o para as gerações presentes e futuras.<br />
Com propriedade, menciona Eduardo Coral Viegas:<br />
14<br />
A forma do art. 11 da Lei nº 9.433/97, os objetivos da outorga são assegurar<br />
o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício<br />
dos direitos de acesso à água. Com efeito, em razão da escassez global dos<br />
recursos hídricos, muitos países resolveram tornar público esse recurso<br />
ambiental, com a finalidade de melhor geri-lo, visando a satisfação do<br />
interesse público. Foi o que ocorreu com o Brasil, que, como enfocado<br />
acima, conferiu, por intermédio de ato de poder constituinte originário, a<br />
dominialidade dos recursos hídricos à União e aos Estados e -, por evidente,<br />
ao Distrito Federal, relativamente às águas situadas em suas terras. A partir<br />
de então, os gestores do líquido mais importante para a vida assumiram a<br />
responsabilidade de exercer seu controle quantitativo e qualitativo, assim<br />
20 BARROS, Wellington Pacheco de. Outorga do Direito de Uso da Água. palestra proferida no 1º<br />
seminário do centro de Estudos do Tribunal de Justiça – DIREITOS DA ÁGUA – realizado no dia 29 de<br />
março de 2005, disponível em<br />
WWW.tj.rs.gov.br/indtitu/c_estudos/doutrina/direito/direito_de_udo_de_água.doc Acessado em:<br />
15/07/2008.
15<br />
como o exercício efetivo dos direitos de acesso à água, a fim de defender e<br />
preservar esse bem ambiental para as presentes e futuras gerações nos<br />
termos do art. 225, caput, da Constituição Federal. 21<br />
A outorga deverá ser expedida por autoridade que seja vinculada ao ente<br />
federativo titular do domínio do recurso hídrico. A decisão sobre as prioridades para<br />
outorga está no Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pois cabe ao Comitê<br />
de Bacia Hidrográfica aprovar o Plano de Bacia, para então verificar o interesse público<br />
e fixar as diretrizes da decisão.<br />
O Plano de Recursos Hídricos é elaborado pelas Agências de água conforme<br />
sua área de atuação, de acordo com o art. 44 , inc. X, da Lei de Recursos Hídricos, e,<br />
após, deve ser aprovado pelos Comitês de Bacia Hidrográfica (art. 38, inc. III da mesma<br />
Lei). Esse plano é precondição para que seja concedida a outorga, e conterá suas<br />
prioridades. Esse foi o modo que a legislação encontrou para restringir a<br />
discrionariedade dos órgãos, já que devem primeiramente ser consideradas as<br />
prioridades contidas no referido plano.<br />
O interesse que tem a Administração em bem gerir a utilização da água potável<br />
deve estar em harmonia com o interesse específico do particular, pois é primeiramente o<br />
interesse de preservar o bem que deve prevalecer. Contudo, a fixação de prioridades<br />
para a concessão da outorga pode se dar, por exemplo, porque gerará um<br />
desenvolvimento na região, empregos e melhores condições sociais. Dessa maneira,<br />
pode ocorrer uma variação do valor da outorga: cobra-se mais pela outorga quando se<br />
busca melhorar a qualidade da água, ou cobra-se menos quando há a intenção de atrair<br />
mais empresas que queiram se implantar no local onde haja o recurso. Desse modo,<br />
nota-se que o interesse público na emissão da outorga é resultado de um conjunto de<br />
outros interesses.<br />
Quanto à competência para expedição da outorga, ensina Millaré<br />
21 VIEGAS, Eduardo Coral. Op. Cit. p. 97.<br />
A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é ato inerente ao exercício<br />
do poder de polícia administrativa, afeto, no caso, às autoridades<br />
competentes à União, dos estados ou do Distrito Federal. A União outorga o<br />
direito de uso do recurso hídrico de seu domínio, através da Agência<br />
Nacional das Águas – ANA. Nas águas de domínio estadual, ou do Distrito<br />
Federal, tal atribuição compete aos órgãos indicados em suas respectivas<br />
leis. O Poder Executivo federal, a teor do disposto no art. 14, § 1º, da Lei<br />
9.433/97, poderá delegar aos estados e ao Distrito Federal competência para<br />
a outorga de direito de uso do recursos hídricos de domínio da União. 22<br />
22 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 4ªedição. São Paulo. Revistas dos Tribunais, 2005, p. 65.
No âmbito da União, compete à Agência Nacional da Águas – ANA, a<br />
expedição da outorga do direito de uso, conforme o art. 4º, inc. IV, Lei nº 9985/2000.<br />
Entretanto, os Estados e o Distrito Federal têm o dever constitucional de intervir, dentro<br />
da área de sua competência, sobre a outorga, uma vez que o instituto é de competência<br />
do Poder Público. Por isso foram criados os Comitês de Bacia Hidrográfica, que são<br />
órgãos controlados pela Agência, visando à normatização dentro do âmbito estadual.<br />
A idéia da ANA ao delegar para os Comitês a concessão da outorga é em razão<br />
desses órgãos terem condições de mapear e analisar de forma regional a qualidade da<br />
água, uma vez que a Agência não tem conhecimento de todas as bacias hidrográficas.<br />
No nosso Estado, em face da inexistência de comitês de Bacia, a outorga é de<br />
responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA -, que compete o<br />
fornecimento da outorga ao Departamento de Recursos Hídricos – DRH -, pois é órgão<br />
existente em todas as regiões do Estado. Bom lembrar que foi somente a partir da Lei nº<br />
9.433 que a bacia hidrográfica começou a ser vista como unidade de planejamento.<br />
É importante ressaltar que quando a referida Lei trata da outorga, ela apenas<br />
formaliza o modo pelo qual a Administração deverá operacionalizar a delegação do<br />
direito de uso a um terceiro, não tendo especificado a forma como deve proceder<br />
perante a parte outorgante perante o terceiro interessado .<br />
Vendo sempre o Poder Público como gestor das águas, e não como<br />
proprietário, não há a possibilidade dele reter os recursos hídricos disponíveis, não<br />
concedendo o uso para quem o queira legalmente. Deve sim, exercer o papel de<br />
distribuidor e fiscalizador do bem. Então, mesmo a outorga sendo concedida por<br />
autorização da Administração, o seu poder arbitrário está limitado pelos princípios da<br />
proporcionalidade e da razoabilidade, beneficiando a característica de bem de uso<br />
comum do povo. 23<br />
É importante lembrar que o outorgado não possui direito adquirido junto ao<br />
bem. A administração é que lhe fornece o quantum que poderá ser utilizado. 24 Sendo a<br />
disponibilidade hídrica do recurso natural algo inconstante, o Poder Público tem o<br />
direito de modificar motivadamente a outorga – mas não pode fazê-lo arbitrariamente.<br />
Como já mencionado, a emissão da outorga está condicionada aos usos que<br />
alterem a qualidade e quantidade da água existente no corpo d’água, também incluindo<br />
23 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos – Direito Brasileiro e<br />
Internacional.Malheiros. Op. Cit, p. 67.<br />
24 Idem, Ibdem. p. 60.<br />
16
a capacitação do recurso natural e o seu lançamento no corpo hídrico. É exigida tanto do<br />
particular quanto de um órgão público que for utilizar-se da água potável. Entretanto, há<br />
hipóteses em que a outorga é inexigível, como no caso do §1º do art. 12 da Lei de<br />
Recursos Hídricos.<br />
Nessas situações há um direito subjetivo do cidadão utilizar a água sem que<br />
necessite de outorga para tanto. Mas mesmo que o uso se dê nos casos de satisfação de<br />
necessidade pessoal, derivações, captações e lançamento ou acumulações de volumes<br />
insignificantes, o Poder Público não está dispensado de inspecionar o modo como o<br />
outorgado está utilizando o bem.<br />
Em regra, sustenta-se que não há direito à exigibilidade da outorga, mas, como<br />
exceção, existe a satisfação das necessidades básicas de consumo humano ou a<br />
dessedentação de animais. São os usos prioritários a que se refere a Lei de Recursos<br />
Hídricos, na possibilidade de ocorrer situação de escassez dos recursos hídricos<br />
potáveis. Refere Granziera que a escassez é conceito em aberto, a ser definido pela<br />
autoridade administrativa. 25<br />
Ensina Leme Machado que, em regra, não há a necessidade de licitação para<br />
que seja autorizada a outorga, uma vez que não se trata da prestação de um serviço<br />
público (como o de uma empresa que distribuísse água para um município).<br />
De acordo com Barros 26 , dá-se a inexigibilidade licitatória por aplicação<br />
analógica do art. 25 da Lei nº 8.666/93, já que a participação no processo licitatório de<br />
outros interessados é impossível. Pode servir de exemplo a captação de água de um lago<br />
para a irrigação de uma lavoura de arroz.<br />
Todavia, existem os direitos de uso que pressupõem licitação, elencados no<br />
art. 37, caput, da Constituição Federal, respeitando os princípios da impessoalidade e<br />
moralidade administrativa.<br />
Para a emissão da outorga do direito de uso é necessário que haja o Estudo<br />
Prévio de Impacto Ambiental – EIA-, pois é uma exigência da legislação para a<br />
prevenção de possíveis danos ao recurso hídrico. Quem for competente para a<br />
expedição da outorga deve sempre ter conhecimento sobre a exigibilidade do estudo, e,<br />
caso este não tenha sido efetuado, deverá requerer esclarecimentos e fazer exigências à<br />
25 GRANZIERA, Maria Luiza Machado.Op. Cit. p. 190.<br />
26 BARROS, Wellington Pacheco de. Outorga do Direito de Uso da Água. Op. Cit. Acessado em:<br />
15/07/2008<br />
17
equipe multidiciplinar. Com efeito, poderá a o órgão público responsável não conceder<br />
a outorga enquanto não for apresentado o EIA.<br />
O estudo terá repercussão tanto no deferimento da outorga, quanto na sua<br />
renovação ou suspensão. Quando não tiver sido feito, sendo caso de exigência pelo<br />
órgão ambiental, a Administração não deverá conceder a outorga antes de sua<br />
apresentação. Os casos de apresentação estão previstos no art. 2º, inc.VII, da Resolução<br />
CONAMA nº 01/1986, mas esse rol não é taxativo, pois, se o órgão ambiental constata<br />
possível degradação, deverá exigir o estudo.<br />
Por ser vedado o uso privilegiado ou uso único de recursos hídricos, o EIA<br />
deve estar vinculado ao uso múltiplo da água, conforme o art 1ª, IV e 13, parágrafo<br />
único da Lei de Recursos Hídricos, e também deve respeitar a classe em que o recurso<br />
está classificado. Então, por exemplo, não há possibilidade da expedição da outorga<br />
para o particular utilizar a água para irrigação se isto ocasionar empecilhos ao consumo<br />
de água pelos animais, já que a utilização se daria de forma nociva ao meio ambiente.<br />
Quanto à relação entre licenciamento ambiental e outorga do direito de uso,<br />
nota-se que apesar de serem institutos diferentes, poderiam ser unificados se houvesse<br />
interesse da Administração. Mas se nota que a outorga é um instituto mais abrangente,<br />
pois considera juntamente o caso concreto, o Plano de Recursos Hídricos e a licença. E,<br />
uma vez concedida a outorga, o outorgado deverá apresentar o licenciamento ambiental,<br />
pois se for concedida sem esse último, não estará sendo assegurada a qualidade do<br />
recurso hídrico para as presentes e futuras gerações. A integração entre a outorga e o<br />
licenciamento é muito importante para a Política Nacional de Recursos Hídricos.<br />
A responsabilidade do ente público não termina com a emissão da outorga,<br />
pois deve fiscalizar e regulamentar o seu uso, podendo incluir diligências periódicas à<br />
área. Também cabe ação civil pública quando há o descumprimento da obrigação de<br />
fazer. 27<br />
Após a concessão da outorga, a Administração deve exercer fiscalização sobre<br />
o outorgado e sua atividade, podendo ocorrer causas suspensivas, mencionadas no art.<br />
15 da Lei nº 9433/97, decorrentes de processo administrativo em que é garantido o<br />
direito ao contraditório, ampla defesa e ao recurso administrativo<br />
A outorga poderá ser suspensa parcial ou totalmente, por prazo definitivo ou<br />
temporário. Freqüentemente, a suspensão ocorre por circunstâncias supervenientes a<br />
27 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos – Direito Brasileiro e Internacional. Op. Cit.<br />
p. 70.<br />
18
época da outorga, que não existiam no momento em que foi concedida, pois se<br />
existissem haveria a impossibilidade da outorga; mas também pode ocorrer quando o<br />
outorgado não cumpre as condições impostas inicialmente, por caducidade ou por<br />
interesse público.<br />
Para que haja suspensão, a administração deve ter motivado. Ressalte-se que a<br />
suspensão da outorga de direito do uso para irrigação não é indenizável, conforme o<br />
Dec. nº 89.496/84 que regulamentou a Lei nº 6662/79.<br />
Ainda, o art. 16 da Lei de Recursos Hídricos refere que a outorga é dada por<br />
prazo máximo de 35 anos, mas com a possibilidade de renovação. Explica Eduardo<br />
Coral Viegas 28 que é da natureza do ato administrativo ser precário, uma vez que a<br />
disponibilidade do recurso é inconstante.<br />
Apesar da fixação do prazo de outorga estar limitada no máximo, pode o<br />
outorgante estabelecer prazos distintos para cada tipo de uso.<br />
Por fim, não se pode esquecer que a outorga não é conferida à pessoa, mas sim<br />
à atividade que ela exerce. 29 Deste modo, quando alienado um terreno no qual há<br />
outorga para exploração do recurso hídrico, o novo proprietário fica com os direitos de<br />
outorgado, mas deve formalizar a transferência da outorga junto ao órgão responsável.<br />
1.3.2. Cobrança pelo uso da água<br />
Muitas são as razões que levaram à atual escassez dos recursos hídricos<br />
potáveis, como, por exemplo, a poluição ambiental, o desmatamento, o efeito estufa, o<br />
aumento da população, o desperdício, entre outras. Todos esses fatores geraram uma<br />
crise da água, que, em conseqüência, pode até mesmo desencadear conflitos pela sua<br />
obtenção.<br />
Nesse contexto surge a cobrança pelo uso da água, instrumento de combate ao<br />
escasseamento qualitativo e quantitativo, visando a incentivar o uso de maneira<br />
racional. O pagamento pela água é visto como forma de reduzir o seu consumo e<br />
possibilitar que o usuário se conscientize de que atualmente o recurso é um bem cada<br />
vez menos disponível. Assim, torna-se essencial a cobrança, uma vez que ataca uma<br />
28 VIEGAS,Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Op. Cit. p. 100.<br />
29 Idem, Ibdem. p. 105.<br />
19
parte sensível do ser humano – o bolso – para garantir o abastecimento de gerações<br />
futuras, e evitar danos causados por uma exploração exagerada do meio ambiente.<br />
Anteriormente, tanto no Brasil como no resto do mundo, a água era vista como<br />
um recurso ilimitado; hoje ela já é vista como um bem limitado. Nesse contexto,<br />
mensura-se a água dentro dos valores da economia. Todavia, isso não pode levar ao<br />
pensamento de que através do pagamento posso usá-la conforme minha vontade.<br />
Veja-se o art. 19, inc. I, da Lei nº 9433/97: “A cobrança pelo uso de recursos<br />
hídricos objetiva: I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma<br />
indicação de seu real valor [...]”.<br />
O dispositivo menciona que um dos objetivos da cobrança é o reconhecimento<br />
da água como bem econômico, exceto no caso de água utilizada para necessidades<br />
básicas de cada pessoa, pois há uma captação insignificante do ponto de vista<br />
patrimonial.<br />
Amyra El Khalili:<br />
Sobre a visão da água como mercadoria sujeita a compra e venda, manifesta<br />
20<br />
Devemos lidar com a água com o devido respeito. A água pode ser tratada<br />
como uma “commodity ambiental”, ou seja, mercadoria originária de<br />
recursos naturais em condições sustentáveis, somente se as variáveis sociais<br />
– nível de educação, distribuição de renda, saúde, empregabilidade – dos<br />
cidadãos forem levadas em consideração e se houver a participação da<br />
sociedade na manutenção, destinação e administração e principalmente na<br />
comercialização, de acordo com as leis claramente estabelecidas. Isso<br />
preservaria a soberania nacional dos povos e também contribuiria para<br />
erradicar a fome e a miséria a nível global, com respeito às leis naturais 30<br />
Esse reconhecimento é uma realidade social do mundo globalizado. A água é<br />
objeto de cobiça por grandes grupos internacionais, comparando-se sua importância<br />
hoje com a que teve o petróleo no século passado. A valorização da água e de seu preço<br />
deve ser conforme o preço da conservação, da recuperação e da melhor distribuição<br />
desse bem, o que deve ser acompanhado por um compromisso do Poder Público de<br />
forma transparente, pois essa distribuição deve dar-se de forma eqüitativa.<br />
Acerca desse tema, Viegas expõe:<br />
Quanto ao reconhecimento da água como bem econômico, por mais que se<br />
possa criticar essa assertiva do ponto de vista ambiental, não é possível<br />
deixar de reconhecer que se trata de uma realidade social globalizada, tanto<br />
que a água, hodiernamente, é alvo de cobiça e exploração pelas grandes<br />
corporações mundiais. Como se consignou dantes, a importância econômica<br />
que teve o petróleo no século XX está reservada aos recursos hídricos no<br />
30 KHALILI, Amyra El. Quem é o dono da água? Fórum de Direito Urbano e Ambiental. Belo<br />
Horizonte, ano 7, nº 38, março/abril 2008, p. 09.
21<br />
século em curso. E é justamente baseado nesse fundamento da Política<br />
Nacional de Recursos Hídricos (art. 1º da Lei das Águas) que é possível a<br />
cobrança pelo uso do líquido público. 31<br />
Quando ocorre a cobrança, são aplicados os princípios do poluidor-pagador e<br />
do usuário- pagador. Com efeito, ocorre a internalização dos lucros e a externalização<br />
dos custos de proteção ao meio ambiente, porque, se o custo da proteção do ambiente<br />
causa gastos a alguém, deve-se pagar, gerando essa externalidade. Nota-se, então, que<br />
quem perde mais é o consumidor, o Poder Público e o ambiente, pois o usuário, bem<br />
como o poluidor, tem o dever de retribuir pela utilização dos microbens ambientais e<br />
assumir os custos exigidos para prevenir ou corrigir a poluição causada por sua<br />
atividade.<br />
Conforme Granziera 32 a cobrança é instrumento econômico da Política de<br />
Recursos Hídricos, pois é relativo ao financiamento de obras contidas no Plano de<br />
Recursos Hídricos e ao entendimento da água como bem de valor econômico, cujo o<br />
uso deve ser cobrado.<br />
Importante mencionar que o pagamento pelo uso não implica a criação de<br />
qualquer tipo de direito sobre a água, uma vez que, por se tratar de bem público, é<br />
inalienável. 33 A Administração não pode autorizar usos que agridam a qualidade e<br />
quantidade das águas, bem como não pode agir sem equidade no processo.<br />
O art. 19 da Lei de Recursos Hídricos refere que a cobrança pelo uso de um<br />
corpo d’água tem como objetivo arrecadar fundos para o financiamento de atividades<br />
relativas ao Plano, que tem metas fixadas para serem cumpridas. Através da cobrança<br />
será possível colocar em prática as ações dos Planos de Recursos Hídricos previstos no<br />
arts. 6º a 8º da mencionada Lei, bem como a operacionalização das Agências de água,<br />
disciplinadas nos arts. 41 a 44 da mesma Lei.<br />
É importante lembrar que a cobrança está ligada à outorga, uma vez que a<br />
última é instrumento antecedente e indispensável à cobrança. 34 O uso lícito da água<br />
potável sujeita ao pagamento, para que assim as Agências de água, que são os órgãos<br />
encarregados pela cobrança, exerçam fiscalização sobre o mau uso.<br />
Conclui-se que não haverá cobrança de obras ou atividades que não tenham<br />
sido outorgadas. Em conseqüência, nos casos em que o legislador não fixa a<br />
31 VIEGAS, Eduardo Coral. Op. Cit. p. 97.<br />
32 GRANZIERA, Maria Luiza Machado.Op. Cit. p. 207.<br />
33 BARROS, Wellington Pacheco de. A água na Visão do Direito, Op. Cit. p. 97.<br />
34 VIEGAS, Eduardo Coral. Op. Cit. p. 97.
necessidade de outorga (art. 12, §1º, Lei nº 9433/97) não haverá cobrança. Assim regula<br />
o art. 20 da mesma Lei: só serão cobrados os usos que dependem de autorização do<br />
Poder Público.<br />
Ademais, uma vez suspensa ou revogada a outorga, cessa a cobrança, bem<br />
como a utilização do recurso hídrico, mas sempre deve ser contínua a fiscalização.<br />
A competência administrativa para efetuar a cobrança do direito de uso da<br />
água é da Agência Nacional de Águas – ANA -, responsável pela cobrança pelo uso dos<br />
recursos hídricos por parte do outorgante. Essa cobrança pode ser feita juntamente com<br />
o Comitê de Bacia Hidrográfica, que deve arrecadar, distribuir e aplicar os valores.<br />
A União ou o Estado delegam à Agencia a função de proceder à cobrança,<br />
conforme prévio regulamento. E cabe ao Comitê de Bacia sugerir ao Conselho Nacional<br />
de Recursos Hídricos os valores a serem cobrados, devendo este último fixar critérios e<br />
definir valores, conforme o art. 35, inc.X e o art. 44, inc. XI, ambos da Lei nº 9433/97.<br />
Conforme o art 21 da Lei de Recursos Hídricos, a fixação dos valores<br />
cobrados deve priorizar o volume e o regime de variação; em segundo lugar, deve<br />
analisar os lançamentos de efluentes, sua toxidade e características físico-químicas – a<br />
exemplo do que acontece com os agrotóxicos que voltam para o corpo d’água. Todos os<br />
lançamentos de efluentes na água, independente do grau de toxidade, deverão ser<br />
cobrados, na aplicação do princípio do poluidor-pagador. Os valores devem seguir as<br />
diretrizes do art. 21, inc. II, da mencionada Lei, para que haja a internalização das<br />
externalidades, à medida que os preços irão englobar o preço do cuidado ambiental no<br />
preço final do produto, como já mencionado.<br />
A aplicação dos valores arrecadados com a cobrança do uso da água será<br />
preferencialmente na bacia hidrográfica ou curso d’água em foram gerados, como<br />
afirma o art 22 da Lei de Recursos Hídricos, visando o financiamento de estudos,<br />
programas, projetos e obras que estejam inclusos no Plano de Recursos Hídricos.<br />
35 Ressalta-se que sem o referido Plano não há modo legal de se aplicarem os recursos<br />
arrecadados com a cobrança.<br />
Podemos entender que no caso da arrecadação da cobrança pelo uso de um<br />
corpo d’água em propriedade particular, o valor arrecadado deverá ser utilizado para<br />
fiscalização e financiamento de estudos sobre aquele local, ou utilizados na região onde<br />
se encontra. 36<br />
35 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Op. Cit. p. 212.<br />
36 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. Op. Cit. p. 476<br />
22
O percentual de cobrança poderá variar de um Estado para o outro, só o que<br />
não pode é deixar de acontecer essa cobrança. Ademais, será contínua e poderá ser<br />
variável ao longo da outorga. Também é negociável, pois cabe ao detentor do domínio<br />
estabelecer o preço, havendo a possibilidade de proposições e aprovações.<br />
2 PROBLEMÁTICA DA OUTORGA <strong>DE</strong> DIREITO <strong>DE</strong> USO DA ÁGUA E OS<br />
<strong>CONTRATOS</strong> CELEBRADOS NO MEIO RURAL<br />
2.1 Contratos Agrários<br />
A importância do contrato agrário reflete-se na sociedade em geral, fora do<br />
mundo jurídico, razão pela qual o Estado se ocupa em estabelecer normas rígidas sobre<br />
a sua realização.<br />
No nosso ordenamento jurídico, o s contratos agrários são disciplinados no<br />
Estatuto da Terra – Lei nº 4.504/64 –, além da Lei nº 4.947/66 e do Decreto nº<br />
59.566/66.<br />
O referido Estatuto transformou a idéia de estrutura do campo, uma vez que<br />
não se limitou a aumentar a carga tributária e a estabelecer um sistema de reforma<br />
agrária, mas também se preocupou em normatizar as relações contratuais que se<br />
derivam do uso ou posse da terra. Assim, forte no art. seu 92, e também no Decreto nº<br />
59.566/66.<br />
Antes da Lei nº 4504/64, os contratos agrários eram regidos pelo Código Civil,<br />
no qual predominava a vontade dos contratantes, ignorando-se qualquer fator externo<br />
que pudesse influenciar. Contudo, com o advento do referido Estatuto, o Código de<br />
1916 deixou de ser aplicado nas questões agrárias. A liberdade de contratar foi<br />
substituída pelo chamado dirigismo estatal, no qual o Estado passa a dirigir as vontades<br />
dos contratantes sobre o uso ou posse temporária de imóvel rural, pois, quanto maior o<br />
alcance social de um contrato, maior será o dirigismo estatal.<br />
Mesmo hoje, com o advento do Código Civil de 2002, os contratos agrários<br />
não devem ter a mesma interpretação que os presentes no Código Civil, ainda que a<br />
estrutura básica seja a equivalente, pois no contrato agrário a vontade das partes não é<br />
preponderante, mas sim tutelada pelas normas estatais. Isto faz com que os contratantes<br />
cumpram a vontade da lei, e foi esta forma que o Poder Público encontrou para proteger<br />
o mais fraco economicamente, já que deu uma proteção àquele que trabalha a terra mas<br />
23
não é o seu proprietário, pressupondo que este seja a parte econômica mais frágil na<br />
relação.<br />
Refere Wellington Barros em sua obra 37 que o dirigismo estatal foi necessário,<br />
uma vez que o proprietário rural impunha sua vontade sobre quem utilizasse suas terras<br />
de forma remunerada, imposição que retirava a liberdade contratual do interessado,<br />
porque só deveria aderir à vontade do proprietário. A intenção do legislador foi<br />
protetiva, pois o Poder Público, através do Judiciário, passa a intervir para que não<br />
ocorra a desigualdade entre as partes, procurando a justiça social.<br />
A legislação protege o produtor com a intenção de fazer com que quem produz<br />
tenha incentivo para continuar produzindo. Assim as leis incentivam a permanência do<br />
cultivador direto em sua atividade – garantindo-lhe não só a sobrevivência, mas o<br />
progresso econômico –, quando, por exemplo, proíbem o cultivador de ser obrigado<br />
contratualmente a vender toda a produção para o arrendatário e proíbem que este seja<br />
obrigado a comprar somente do armazém do proprietário.<br />
Com efeito, um dos preceitos do direito agrário é a irrenunciabilidade de<br />
direitos e vantagens, pois é a maneira do legislador proteger o contratante que tem a<br />
vontade submetida ao proprietário da terra. É também nesse sentido que a legislação se<br />
refere as cláusulas proibidas de contratar: as que proíbem quem trabalha na terra de<br />
firmar contrato quando houver cláusulas que o possam prejudicar (vide art. 93 do<br />
Estatuto da Terra e art. 13 do Dec. nº 59.566/66).<br />
O art. 103 do Estatuto da Terra reza que os princípios da justiça social,<br />
liberdade de iniciativa, valorização do trabalho e outros que venham a garantir a justiça<br />
social devem orientar o sistema agrário brasileiro.<br />
No que tange a sua classificação, os contratos podem ser típicos ou atípicos.<br />
Assim, temos o arrendamento rural e a parceria como contratos típicos. E como<br />
modalidades de contratos atípicos ou inominados, podem ser mencionados o chamado<br />
contrato de arrendamento de barragem, o comodato rural, o contrato de pastoreio, a<br />
exploração de terras entre safras, entre outros. Pode-se dizer que todo aquele acordo de<br />
vontades que concorre ao uso ou à posse temporária de um imóvel rural, com o objetivo<br />
de exercer a atividade agrícola, é contrato agrário 38 .<br />
37<br />
BARROS, Wellngton Pacheco de. Curso de Direito Agrário. v.1. 5. ed. Porto Alegre. Livraria do<br />
Advogado, 2007, p. 114.<br />
38<br />
BARBOSA, Alessandra Abreu Minadakis. A Sistematização do direito privado contemporâneo, o novo<br />
código civil brasileiro e os contratos agrários, p. 173. IN: BARROSO, Lucas Abreu. PASSOS; Cristiane<br />
Lisita. (Org) Direito Agrário Conteporâneo. Belo Horizonte. Ed Del Rey, 2004, p. 133<br />
24
O art. 13, I, §1º, da Lei nº 4.947/66, assim como o art. 39 do Decreto nº<br />
59.566/66, permitem a utilização dos contratos agrários inominados, bem como<br />
determinam ao proprietário do imóvel que observe as mesmas regras relativas aos<br />
arrendadores e parceiros 39 .<br />
Tanto os contratos típicos quanto os atípicos deverão conter cláusulas que<br />
assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção daqueles que trabalham na<br />
terra, alusivas ao princípio da irrenunciabilidade.<br />
2.1.1 Contratos de Arrendamento<br />
Especificamente quanto ao contrato de arrendamento rural, caracteriza-se<br />
como espécie de contrato agrário nominado, através do qual uma pessoa se obriga a<br />
ceder à outra o uso e gozo do imóvel rural. Está normatizado pelo art. 3º do Dec. nº<br />
59.566/66:<br />
25<br />
Art 3º - arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se<br />
obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, uso e gozo de um<br />
imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens,<br />
benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade<br />
de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista,<br />
mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da<br />
Lei.<br />
O contrato de arrendamento poderá ser feito na forma escrita ou expressa, bem<br />
como na forma verbal ou tácita. O que mais ocorre no meio rural é a forma verbal, que<br />
pressupõe a palavra dos contratantes como forma de segurança no cumprimento.<br />
Na área rural do nosso Estado, a forma mais usual de um contrato de<br />
arrendamento é a forma verbal. Na maioria das vezes a forma escrita, com sua estrutura<br />
básica, é substituída pelo acerto verbal, pois as pessoas confiam na palavra do outro<br />
contratante, e não procuram formalizar o arrendamento em instrumento contratual.<br />
Desse modo, a simples prova testemunhal pode ser suficiente para demonstrar a<br />
existência do contrato, forte no art. 14 do Decreto nº 59.566.<br />
Como em um contrato de locação urbana, o proprietário que arrenda o imóvel<br />
transfere, durante o prazo contratual, o uso e gozo do bem. O prazo pode variar, pois<br />
pode depender das partes ou não, já que não há liberdade quanto à determinação mínima<br />
da duração do arrendamento, que é de 3 anos, podendo variar conforme o tipo de<br />
39 GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini. Reflexos da Nova Ordem Contratual Cível nos<br />
Contratos Agrários, Monografia de graduação do curso de Direito da UFSM. Santa Maria: 2005, p. 31.
exploração, como, por exemplo, 3 anos para cultura permanente e 7 anos para o<br />
reflorestamento (vide art. 13, alínea a do Decreto nº 59.566).<br />
Importante lembrar que o prazo de término do contrato de arrendamento será<br />
somente no final da colheita, época de abate dos animais ou nascimento do rebanho, ou<br />
seja, se o término de um contrato foi firmado em data certa, esta poderá ser prorrogada<br />
até finalizar o seu objeto. Não é necessário aditamento ou cláusula específica nesse<br />
sentido, pois a prorrogação é automática, também não se pode cobrar preço além do<br />
estabelecido em vista da prorrogação. Todavia, não irá valer essa prorrogação caso a<br />
ultrapassagem do tempo seja por culpa ou dolo do arrendatário.<br />
O arrendamento rural é sempre contrato oneroso, e não existe liberdade na<br />
fixação do quantum, já que a legislação pátria estabelece os limites máximos, que<br />
oscilam no percentual de 15 a 30% do valor cadastrado do imóvel, conforme sua<br />
rentabilidade. Para o pagamento do preço do arrendamento é calculado conforme o<br />
imóvel arrendado e suas condições. Assim, um contrato de arrendamento de toda área<br />
do imóvel seria 15% do valor da terra nua – VTN – conforme determina o INCRA; já o<br />
arrendamento de um imóvel com benfeitorias teria que pagar em quantia igual a 15% do<br />
VTN e um arrendamento parcial seria 30% do valor da área dada em arrendamento, em<br />
função do valor do hectare que é cadastrado pelo arrendador junto ao INCRA. 40<br />
Entretanto, os 30% cobrados pela parte não podem ultrapassar os 15% do todo<br />
(potencial máximo de arrendamento)<br />
Todavia, ocorre em função dos usos e costumes, e até mesmo da boa-fé<br />
contratual, que o preço estabelecido em produtos deva ser interpretado de forma mais<br />
branda, uma vez que a utilização do preço fixada em produtos é utilizada sem ma-fé, só<br />
denotando a intenção das partes em cumprir o contrato de forma clara, embora viciada –<br />
uma vez que há uma determinação legal que o preço deverá ser em dinheiro.<br />
Como bem observou Pereira Braga 41 , o preço do aluguel integra o custo, e,<br />
caso não haja um equilíbrio entre o valor do aluguel, o investimento e o rendimento<br />
bruto, o empreendimento agrícola não obterá êxito.<br />
A contraprestação paga pelo arrendatário para o arrendador como retribuição<br />
pelo uso e gozo do imóvel, assim como nas locações prediais urbanas, é o aluguel. O<br />
40<br />
COELHO, José Fernando Lutz. Contratos Agrários – Uma Visão Neo-Agrarista. Curitiba. Juruá,<br />
2006, p. 120.<br />
41<br />
BRAGA, José dos Santos Pereira. O Direito à Terra e os Contratos Agrários”, p. 344 . In:<br />
LARANJEIRA, Raymundo (coord). Direito Agrário Brasileiro. São Paulo. LRT, 2000, p.<br />
26
preço do arrendamento deve ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, na forma do art.<br />
95, inc. XII, do Estatuto da Terra, o que é novamente uma tentativa de proteção ao<br />
arrendatário, para que possa dar a destinação que quiser ao produto extraído do<br />
arrendamento. Contudo, o pagamento pode se dar através de dinheiro ou de bens<br />
extraídos como fruto do trabalho do arrendatário, por exemplo, em número de sacas de<br />
arroz equivalente ao preço contratado.<br />
Poderá haver o subarrendamento rural, descrito no mesmo art. 3º, § 1º do Dec.<br />
nº 59.566, no qual o arrendatário transfere a outrem, em todo ou em parte, os direitos e<br />
obrigações do contrato. Nessa hipótese o arrendador deve dar sua autorização prévia e<br />
expressa, sob pena de caracterizar infração legal, que viabiliza ação de despejo.<br />
No contrato de arrendamento, qualquer modificação na titularidade do bem<br />
imóvel, como sua alienação ou hipoteca, não prejudicará o seu cumprimento. No caso<br />
de venda, respeitado o direito de preferência do arrendatário, como refere o art. 92, §§3º<br />
e 4º do Estatuto da Terra e art. 45 do Decreto nº 59.566, o novo proprietário deverá<br />
aguardar o término do contrato de arrendamento, ou seja, mesmo que adquira o bem não<br />
terá sua posse até o término do arrendamento.<br />
O mencionado direito de preferência também ocorre na renovação do contrato<br />
de arrendamento – mais uma vez para proteger o arrendatário –, mas o arrendador deve<br />
comunicar 6 meses antes do término do contrato as propostas existentes. Quando o<br />
arrendador quiser continuar com o contrato, deve respeitar o direito de preferência do<br />
arrendatário, em iguais condições com terceiros.<br />
Pode-se observar que o direito de preferência demonstra o avanço do Direito<br />
Contratual agrário no País, pois visa garantir a estabilidade social do cultivador e sua<br />
permanência na terra.<br />
Contudo, há a possibilidade de retomada do imóvel por parte do arrendador,<br />
respeitando o mesmo aviso de 6 meses antes do vencimento do contrato. A retomada<br />
deve ser motivada, para exploração direta ou mesmo em benefício de descendente. E<br />
existe também o direito de retomada de contratos em que o prazo de término não é<br />
estipulado, observando o mencionado prazo, só que do final da exploração do objeto,<br />
como, por exemplo, entre uma safra e outra.<br />
Quando o arrendatário realiza benfeitorias úteis e necessárias, que são<br />
independentes de autorização, poderá pedir indenização pelas obras após o término do<br />
contrato. Já as voluptuárias serão indenizadas somente se tiverem sido expressamente<br />
autorizadas. O conceito de benfeitorias está no art. 24 do Decreto de 1966. Ressalte-se<br />
27
que quando não houver o pagamento de indenização, é facultado ao arrendatário reter o<br />
imóvel até a data do pagamento, evitando assim o enriquecimento sem causa do<br />
arrendador.<br />
Entende-se que as benfeitorias são do proprietário, podendo elevar o preço do<br />
arrendamento: o arrendador poderá cobrar até 15% do valor das benfeitorias que<br />
estiverem na composição do contrato, quando estes melhoramentos aumentarem o<br />
rendimento do imóvel. 42<br />
O art. 95, incs. I e IV, faz referência à prorrogação e renovação do contrato de<br />
arrendamento, visto que esta última é importante para a estabilidade social do<br />
arrendatário, visando sua permanência no imóvel.<br />
A renovação pode ser presumida, quando não há declaração das partes em<br />
rescindir o contrato; também pode ser ajustada nas condições anteriores ou com<br />
modificações.<br />
As causas de extinção do contrato de arrendamento podem ser verificadas no<br />
art. 26 do já referido Decreto, mas o rol é somente exemplificativo. Cabe mencionar que<br />
poderá ser proposta ação de despejo caso o arrendatário não queira cumprir a rescisão<br />
do contrato.<br />
Importa, por fim, fazer uma rápida diferenciação do arrendamento rural e da<br />
locação urbana. Esta última tem o preço de aluguel estipulado pelo mercado, enquanto o<br />
arrendamento tem preço máximo fixado em lei, pois visa o favorecimento da produção e<br />
uma melhor distribuição da terra.<br />
Distingue-se também o arrendamento da parceria, embora tenham regras em<br />
comum. Na parceria rural predomina a produção de frutos em benefício do parceiro<br />
produtor, e a vantagem do proprietário está no lucro dessa produção, pois é dividido.<br />
Qualquer prejuízo na produção afeta tanto o proprietário quanto o parceiro, já que, no<br />
arrendamento, não há qualquer tipo de abatimento no preço do aluguel em razão de<br />
prejuízo alheio à vontade do arrendador, e o arrendatário é visto como cultivador direto,<br />
ficando com o ônus e o bônus da produção. Existe no arrendamento uma troca de<br />
interesses, e na parceria uma comunhão de riscos, um espírito de sociedade que não se<br />
apresenta no arrendamento. 43<br />
42 BRAGA,José dos Santos Pereira. Op. Cit. p. 344 . In: LARANJEIRA, Raymundo Laranjeira (coord.)<br />
Direito Agrário Brasileiro. São Paulo:LRT, 2000, p. ????<br />
43 OPITZ,Sílvia C.B; OPITZ, Oswaldo. Curso Completo de Direito Agrário. 2. ed. São Paulo:<br />
Saraiva,a, 2007, p. 98.<br />
28
2.1.2 O Chamado Contrato de Arrendamento de Barragem<br />
O denominado contrato de arrendamento de barragem se apresenta como um<br />
contrato agrário atípico, de modo que há uma escassez de doutrina referente a esse tipo<br />
de contrato, pois ele se adapta à realidade fundiária, que muitas vezes não encontra<br />
similitude nas formas legais existentes 44 .<br />
Menciona Ricardo Lorenzeti que os modelos contratuais que nascem da<br />
tipicidade estão condenados, pois o seu uso diminui consideravelmente, enquanto as<br />
formas atípicas proliferam 45 . Isso se observa no Direito Agrário, como no caso do<br />
contrato de arrendamento de barragem, uma vez que esse contrato foi denominado pelo<br />
uso costumeiro no meio rural, e ainda hoje carece de regulamentação.<br />
Quanto aos contratos inominados e à ausência de regulamentação, bem<br />
observa Lutz Coelho:<br />
29<br />
Os contratos inominados ou atípicos inexoravelmente decorrem da liberdade<br />
de contratar, aliás, postulado dos contratos, em vista a própria autonomia da<br />
vontade, sem infringir norma legal mas que pela necessidade das partes<br />
contratantes e das peculiaridades de cada situação, que pode ser climática<br />
geográfica, social, econômica, ou seja, das própria atividades humanas,<br />
resultam ajustes não contemplados pelo legislador, e que, diga-se de<br />
passagem, pode resultar da própria inérica do Estado em regular tais<br />
relações. 46<br />
Todo o acordo que tenha por objeto o uso e a posse temporária da terra, tendo<br />
em vista exercer a atividade agrária, é um contrato agrário. Assim se manifesta<br />
Alessandra Barbosa, quando refere que “como todo o Direito Agrário, a interpretação<br />
dos contratos agrários pode dar-se num contexto próprio, e isto requer o que o Professor<br />
Paulo Torminn Borges chamava “mentalidade agrarista” 47 .<br />
Alguns contratos praticados em razão da atividade agrária, como, por exemplo,<br />
compra e venda de um imóvel, aquisição de máquinas, contratações de empregados, etc,<br />
apesar de estarem relacionados com a atividade agrária, não são considerados contratos<br />
agrários. Todavia, não é o caso do contrato de arrendamento de barragem, pois a sua<br />
finalidade produtiva de irrigação da terra para fins de propiciar o ideal cultivo da<br />
lavoura tem função social e econômica que o distingue dos outros.<br />
44<br />
GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini. Op. Cit. p. 31.<br />
45<br />
LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais,<br />
1998. p. 61.<br />
46<br />
COELHO, José Fernando Lutz. Op. Cit. p. 83.<br />
47<br />
BARBOSA, Alessandra Abreu Minadakis Barbosa, A Sistematização do direito privado<br />
contemporâneo, o novo código civil brasileiro e os contratos agrários. IN: BARROSO, Lucas Abreu;<br />
PASSOS, Cristiane Lisita (org.). Direito Agrário Conteporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.
Há algumas barragens que possibilitam ao proprietário do imóvel onde estão<br />
localizadas “arrendar” a água ao vizinho agricultor, com o intuito desse último irrigar a<br />
lavoura que está em sua propriedade.<br />
Friza-se que barragem aqui é a denominação usada no meio rural para açude<br />
artificial: obra de engenharia para a captação de precipitação pluvial, decorrente de<br />
decapagem e aprofundamento do solo para a captação de água visando à irrigação de<br />
lavoura.<br />
Observa-se que a função final do contrato deverá ser produtiva ou vinculada a<br />
produção agropecuária. É nessa vinculação que o contrato de arrendamento de barragem<br />
se encontra, pois visa à maior produtividade da lavoura ao ser irrigada.<br />
Se fôssemos analisar pelo viés da agrariedade, necessária para caracterizar um<br />
contrato agrário, não encaixaríamos esse acordo de “locação de águas” como um<br />
contrato de arrendamento, uma vez que não versa sobre o exercício ou posse temporária<br />
da terra, como um contrato agrário típico. Todavia, mexe de forma indireta como o<br />
exercício da terra. Vejamos um caso de arrendamento de água de uma barragem a um<br />
lindeiro que, se não tivesse como recalcar água aquela água da propriedade vizinha, não<br />
teria como irrigar a sua lavoura de arroz, impossibilitando o exercício da terra.<br />
Desse modo, o acordo de vontades entre dois vizinhos, um proprietário do<br />
imóvel onde se encontra a barragem e o outro sem açude artificial onde possa drenar a<br />
água para irrigar a sua lavoura, caracteriza-se como contrato agrário inominado,<br />
vulgarmente denominado de contrato de arrendamento de barragem por quem realmente<br />
trabalha no meio rural.<br />
É tamanha a semelhança com um típico contrato de arrendamento rural,<br />
regulado pelo Estatuto da Terra e pelo Decreto nº 59.566/66, uma vez que versa sobre a<br />
locação de águas por um tempo determinado e mexe com o exercício da terra para que<br />
haja produtividade na lavoura, que o popular acabou comumente o chamando de<br />
contrato de arrendamento de barragem, pois esse não tem legislação que o denomine.<br />
A forma de acordo entre as partes para o “aluguel” do recurso hídrico ganhou<br />
uma denominação que se adequou às necessidades e também às peculiaridades das<br />
regiões produtoras de arroz, razão pela qual passou a ser usada.<br />
O contrato de barragem, bem como todos os contratos atípicos ou inominados,<br />
será regido pelas mesmas normas que são estabelecidas para o contrato de<br />
arrendamento, no que se referir a prazo, preço, direito de preferência, indenização de<br />
benfeitorias, etc., segundo o art. 39 do Decreto 59.566:<br />
30
Por essa razão que é notório o contrato de arrendamento de barragem como<br />
contrato agrário atípico, devendo seguir os princípios do Direito Agrário no tocante à<br />
função social da propriedade rural, aos usos locais e costumes, à boa-fé objetiva e ao<br />
atendimento ao dirigismo contratual regulado pelo Estatuto da Terra e o seu<br />
Regulamento. 48<br />
2.2 Conflito na natureza jurídica da outorga<br />
A legislação ambiental do nosso País é uma das mais avançadas no mundo de<br />
hoje, principalmente no que tange à preservação dos recursos ambientais e à união de<br />
sustentabilidade com desenvolvimento econômico. Importante lembrar do Capítulo VI,<br />
Título VIII da Constituição de 1988, dedicado inteiramente ao meio ambiente, que<br />
inovou ao estruturar as bases de uma política ambiental no país.<br />
Contudo, apesar de termos uma legislação abrangente que prevê até mesmo<br />
sanções administrativas e penais para quem danifica a qualidade e a quantidade da água,<br />
bem como órgãos ambientais estruturados, temos, de outro lado, dificuldades de<br />
implementação da legislação e da política ambiental, uma ausência de planejamento e<br />
de informações por parte dos usuários, como, por exemplo, os produtores rurais, e uma<br />
falta de integração entre as políticas públicas, aliada a conflitos institucionais.<br />
Apesar de a legislação brasileira ser, em sua maioria, baseada na imposição de<br />
padrões, avaliação de impactos e sempre exigir a obtenção de licenças ambientais, os<br />
órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização e aplicação efetiva da leis não escapam<br />
das deficiências que caracterizam o Poder Público. É nesse contexto que insiro a<br />
contradição da natureza jurídica da outorga: a lei estabelece que a água é um bem de<br />
domínio público, entretanto, por mais que se queira afirmar que a água é bem<br />
insuscetível de apropriação, a natureza das ações que se realiza após a recepção da<br />
outorga tem como conseqüência entregar a propriedade da água para o beneficiário do<br />
direito de uso.<br />
No caso concreto do denominado contrato de arrendamento de barragem, o<br />
proprietário rural que possui uma barragem para captação de água pluvial em sua<br />
propriedade, ao pagar o preço e receber a outorga do direito de uso, vê-se como<br />
proprietário do recurso hídrico, sendo, assim, passível de entregar a posse desse bem<br />
para quem lhe prestar a obrigação de pagar um aluguel, de acordo com um preço<br />
48 COELHO, José Fernando Lutz. Op. Cit. p. 86.<br />
31
predeterminado. Dessa maneira, o arrendatário trata a água como se tivesse posse sobre<br />
ela.<br />
Quando ocorre a formalização do contrato de arrendamento de barragem, que<br />
tem por objeto um bem público, a água, ela começa a ser vista de uma esfera privada<br />
pelo outorgado, que trata, então, de disponibilizá-la a um terceiro. Em se tratando de uso<br />
que concede algo, pode-se até mencionar que o direito de uso que foi atribuído, é, na<br />
verdade, a transferência do próprio direito – neste caso o direito de uso do bem da água,<br />
antes só conquistado pelo arrendador com a recepção da outorga.<br />
O outorgado trata a água como se sua natureza fosse de caráter privado, pois,<br />
tendo pago por seu preço através da outorga, vê disponibilidade no bem e a<br />
possibilidade de arrendar o seu uso para irrigar a lavoura de outro proprietário de imóvel<br />
rural lindeiro.<br />
É importante salientar que toda a atividade de irrigação tem o objetivo de<br />
preencher a função social da propriedade, irrigando a terra para produzir mais e melhor,<br />
atividade essa que utiliza a água de forma autorizada pela Administração, através do<br />
instituto da outorga.<br />
No Rio Grande do Sul, e também em todo País, a prática da irrigação é usada<br />
há muito tempo nas lavouras de arroz, onde mais se faz sentir a importância das águas e<br />
de seu sistema regadio, pois disso dependem as boas colheitas e o afastamento do perigo<br />
das pragas que prejudicam a lavoura.<br />
A irrigação racional e coordenada pelo Poder Público, através do instituto da<br />
outorga, resolve o problema de vital importância para as lavouras que necessitam desse<br />
sistema de distribuição de água, e constitui um fator de barateamento na produção<br />
rizícola nos Estados em que a produção é preponderante. 49<br />
O Brasil sempre teve políticas de apoio à irrigação, iniciadas com ações<br />
isoladas, caracterizadas pela descontinuidade, e que somente se dirigiam a metas<br />
específicas, como, por exemplo, o arroz no nosso Estado. 50 Mais recentemente, com o<br />
objetivo de racionalizar o aproveitamento dos recursos hídricos e do solo, tendo como<br />
principal foco o desenvolvimento da agricultura irrigada, foi promulgada a Lei nº<br />
6.662/79, que se refere à Política Nacional de Irrigação. Essa Lei disciplina a utilização<br />
de águas (públicas e subterrâneas) e solo para irrigação, bem como estatuiu que o uso<br />
49 OPITZ, Sílvia C.B; OPITZ, Oswaldo. Op Cit. p.122.<br />
50 BATISTA, Rosângela Pafahl, Água: Perspectiva Ambiental e Agrária. IN: LARANJEIRA, Raymundo<br />
(coord), Direito Agrário Brasileiro. São Paulo: LRT, 2000, p. 202.<br />
32
das águas públicas para irrigação e atividades decorrentes dependeria de prévia<br />
autorização ou concessão. 51<br />
Atualmente, tramita na Câmara de Deputados o Projeto de Lei nº 6.381/05,<br />
que revogaria a Lei nº 6.662 e instituiria uma nova Política Nacional de Irrigação,<br />
visando a uma agricultura irrigada mais sustentável, logo, ao uso racional da água no<br />
meio rural.<br />
Lembra Granziera que gestão dos recursos hídricos só poderá ser feita<br />
conjuntamente com a legislação sobre irrigação, e o Poder Público deve autorizar por<br />
meio de outorga o particular que desejar utilizar águas públicas para fins de irrigação ou<br />
atividades do gênero. 52<br />
No Rio Grande do Sul, as regiões produtoras de arroz têm condições<br />
favoráveis para a cultura do arroz irrigado. Prova disso é a construção de barragens –<br />
açudes artificiais – para a irrigação por declive, em substituição aos levantes 53 das<br />
nossas lavouras de arroz.<br />
Algumas barragens possibilitam aos seus proprietários arrendar as águas aos<br />
vizinhos agricultores, através do contrato de arrendamento. Aí se gera a contradição<br />
sobre a natureza jurídica da outorga do direito de uso: o outorgado trata a água como se<br />
fosse de natureza particular, pois, tendo pago o preço da outorga, vê disponibilidade no<br />
bem.<br />
No caso do contrato de arrendamento de barragem, o proprietário do imóvel<br />
rural que construiu a barragem com recurso financeiro próprio, após autorização do<br />
Poder Público e conforme as leis vigentes antes da CF 88, era visto como empreendedor<br />
na época da obra, pois tomara a iniciativa de represar a água, garantindo a sobrevivência<br />
da lavoura irrigada; hoje ele é visto como um mero membro do coletivo e deve ter<br />
autorização do órgão público para poder utilizar a água que está em sua propriedade<br />
rural e que foi por ele represada. Sendo assim, verifica-se a reivindicação, por parte do<br />
outorgado, de direitos absolutos de propriedade, ou seja, o outorgado, após pagar o<br />
preço da outorga, não está preocupado com as condições de uso que lhe foram impostas,<br />
tendo somente a idéia de apropriação privada do bem, por isso que lhe dá o direito de<br />
“alugar” o bem através de um contrato de arrendamento da água, no qual o vizinho irá<br />
retirar a água da barragem do outorgado para utilizar em sua lavoura. De certa forma,<br />
51 POMPEU, Cid Tomanik. Op. Cit. p. 266.<br />
52 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Op. Cit. p.165.<br />
53 Entende-se por levante a utilização de bomba d´água ou maquinário similar; estação de bombeamento.<br />
33
terceiriza a propriedade do bem, pois o arrendatário tem livre disposição sobre a água<br />
que pagou para o arrendador outorgado.<br />
O perigo de dano ambiental é iminente, já que a outorga foi autorizada para o<br />
uso para o qual o arrendador havia se comprometido, cuja atividade certamente não era<br />
de arrendamento do corpo hídrico. Com efeito, o arrendatário não terá sua atividade<br />
outorgada e licenciada pela Administração, nem tomará conhecimento de como<br />
proceder uma correta gestão do recurso hídrico conforme o EIA e Rima 54 , nem terá<br />
planejamento sobre o grau de poluição ou degradação que sua atividade possa causar,<br />
porquanto não teve a obrigação de apresentar laudos técnicos sobre a real atividade que<br />
irá efetuar no recurso hídrico.<br />
Os agricultores são importantes usuários de recursos hídricos, consumindo<br />
grande quantidade de água por meio da irrigação. Em vista disso, caso a atividade<br />
agrícola não seja efetuada dentro dos padrões de proteção aos recursos naturais, ela<br />
possivelmente provocará grande degradação do meio ambiente, em razão da escassez da<br />
água, da poluição gerada pelo uso de agrotóxicos e da erosão do solo.<br />
É importante ressaltar que a atividade agrícola é de grande importância para a<br />
economia do país, devendo participar do processo de gerenciamento de recursos<br />
hídricos. Todavia os conhecimentos que estão disponíveis para o proprietário rural são<br />
insuficientes para uma compreensão do que realmente são bens públicos, sua<br />
necessidade de seu uso pela coletividade, e de como as suas atividades não autorizadas<br />
podem prejudicar a qualidade e a quantidade da água. E não estamos falando somente<br />
de atividade própria do uso da água, mas também no ato de arrendar esse uso para<br />
alguém que não tenha conhecimento das diretrizes da outorga, e que poderá efetuar sua<br />
atividade sem os devidos cuidados, o que já é um imenso prejuízo para o ambiente e<br />
para o funcionamento da instituição da outorga.<br />
Assim, se a outorga é entendida como instituto pelo qual o Poder Público<br />
atribui o uso de um bem de uso comum do povo para que o interessado o utilize de<br />
forma individual, entende-se que não está corretamente delimitado o conceito de bem de<br />
uso comum, deixando uma brecha para que o outorgado se intitule como “dono” da<br />
água, ressaltando o valor econômico que esse bem tem hoje, devido a sua escassez e sua<br />
vital necessidade. Surge, então, uma contradição entre a natureza jurídica teórica da<br />
54 CARNEIRO, Ricardo. Direito Ambiental: Uma Abordagem Econômica. Rio de Janeiro: Forense,<br />
2001, p.112<br />
34
outorga, e o que ocorre na prática, ou seja, a privatização desse bem ambiental através<br />
de um contrato de arrendamento.<br />
Nota-se que a outorga, como está hoje regulamentada, somente fixa objetivos,<br />
mas não induz o proprietário-outorgado a realizar medidas que visem o uso racional da<br />
água.<br />
Existem soluções e caminhos alternativos para que seja possível oferecer<br />
maior eficiência à política ambiental brasileira. Deste modo, não podemos simplesmente<br />
nos contentar com as normas, que apesar de terem qualidades formais, enfrentam<br />
dificuldade em sua efetivação na aplicação. Precisa-se ir além.<br />
Refere, nesse sentido, Lutz Coelho:<br />
35<br />
as transformações sociais criam a necessidade do legislador acompanhar a<br />
evolução com normas jurídicas que regulem todos os conflitos, dirimindo,<br />
de forma razoável, e que se mantenha o equilíbrio social, o bem comum,<br />
sendo a função do Estado, através de um ordenamento jurídico adequado.<br />
Assim, nota-se que é em razão da ausência de regulamentação sobre o contrato<br />
de arrendamento de barragem que o outorgado acaba utilizando o recurso hídrico como<br />
se seu proprietário fosse. Isso não ocorreria se houvesse uma legislação que amparasse<br />
esse contrato atípico, uma vez que a outorga não pode acarretar propriedade da<br />
barragem.<br />
Novamente Lutz Coelho nos coloca, citando Álvaro Villaça Azevedo, a<br />
necessidade de uma regulamentação dos contratos inominados em geral, para que sejam<br />
mencionados na lei, por meio de um tratamento genérico de princípios, orientando a sua<br />
formação, limitando a sua autonomia da vontade, e como conseqüência, evitando o<br />
enriquecimento indevido. 55<br />
Por fim, torna-se necessário repensarmos a relação entre a teoria da outorga e<br />
seu real funcionamento na prática, através de um olhar multidisciplinar: novos<br />
conceitos, métodos, princípios e instrumentos, para tentarmos um entendimento de<br />
como usar esse bem comum na teoria e na prática rural diária, uma vez que está<br />
comprovado que a existência normatizada de um instituto não completa sua efetividade.<br />
A referida tarefa é difícil de ser realizada. O processo de discussão ou<br />
avaliação dos pressupostos nos quais está fincada a cultura de uma sociedade, ainda<br />
mais sendo ela ruralista, é objetivo árduo. Todavia, há a necessidade de dialogar dobre o<br />
tema como um desafio para que se torne real e prática a aplicação de normas que já<br />
55 COELHO, José Fernando Lutz. Op. Cit.. p. 84.
visam o desenvolvimento sustentável. A causa direta é o interesse do particular, mas a<br />
causa indireta é o interesse público que só tem a progredir com a utilização das águas<br />
para a agricultura.<br />
CONCLUSÃO.<br />
1. A passagem da água de bem particular para bem difuso deu-se a partir da<br />
Constituição Federal de 1988, e foi reforçada com a promulgação da Política Nacional<br />
de Recursos Hídricos – Lei nº 9.433/97. Nesse contexto, o Estado deve ser visto como<br />
garantidor e fiscalizador de seu uso, não como proprietário da água.<br />
2. A competência para legislar sobre a água é da União, podendo ser delegada aos<br />
Estados e Distrito Federal quando o recurso hídrico está sobre seu domínio. Essa foi a<br />
forma que o legislador achou para respeitar as diferenças existentes em cada região do<br />
país. Os Municípios podem legislar de forma restrita: somente quando a matéria for de<br />
interesse local.<br />
3. A Política Nacional de Recursos Hídricos tem como objetivo assegurar às presentes e<br />
às futuras gerações a disponibilidade da água, remetendo-nos à idéia de<br />
sustentabilidade. A partir da Lei nº 9.433, a bacia hidrográfica começou a ser vista<br />
como unidade de planejamento, por essa razão a outorga do direito de uso da água, no<br />
Rio Grande do Sul, é concedida pelo DRH, pois nem a ANA nem a SEMA têm<br />
possibilidade de ter um contato direto com a bacia, enquanto o DRH tem, pois é<br />
regionalizado.<br />
4. A Política de Recursos Hídricos é composta dos instrumentos constantes no art. 5º da<br />
Lei, entre eles a cobrança e a outorga. Caso o legislador desejasse, as duas poderiam<br />
estar juntas, pois a primeira é dependente da segunda, ou seja, quando não há outorga,<br />
não há cobrança.<br />
5. A outorga do direito do uso da água é concedida a um particular que tenha pretensão<br />
de utilizar a água em benefício seu ou de uma comunidade. É a maneira que o Estado<br />
encontrou para fiscalizar o uso da água, evitando um uso prejudicial ao meio ambiente.<br />
Para receber a outorga, o particular deve realizar um estudo prévio de impacto<br />
36
ambiental, e após outorgado, deverá cumprir as cláusulas da outorga, sob pena de ter a<br />
autorização suspensa.<br />
6. O proprietário de um imóvel onde houver uma barragem para captação pluvial, tendo<br />
a outorga do uso dessa água, poderá usá-la para irrigação de lavoura nos termos da<br />
autorização. Um vizinho, sem possibilidade de irrigação artificial, se pretender drenar a<br />
água existente na propriedade do primeiro para utilização própria, poderá acordar um<br />
contrato de arrendamento da água existente na barragem.<br />
7. Apesar de não encontrarmos o denominado contrato de arrendamento de barragem<br />
descrito na legislação ou na doutrina, ele existe na vida prática, e surgiu como vários<br />
dos contratos rurais inominados: em razão da necessidade de um acordo. Podemos<br />
caracterizar esse contrato como contrato agrário, uma vez que exercita a terra: sem a<br />
água, em uma área onde não há demasiada precipitação pluvial, não haveria<br />
possibilidade de crescimento de lavoura sem a irrigação de forma artificial. O nome é<br />
coloquial, mas correto, pois muitas de suas características enquadram-se nas de um<br />
contrato típico de arrendamento rural.<br />
8. Quando o particular “aluga” sua água para um terceiro, não envolvido na relação da<br />
outorga, está particularizando o bem. Então, a partir do pagamento do preço da outorga,<br />
o proprietário crê-se com direito absoluto de propriedade sobre a água captada em sua<br />
barragem, não mais se preocupando com as condições que lhe foram impostas, tendo<br />
somente a idéia de apropriação do bem, o que lhe dá autonomia para realizar o chamado<br />
contrato de arrendamento de barragem.<br />
9. Como a outorga foi autorizada para o uso do proprietário para os devidos fins, que<br />
não um contrato com terceiro, o perigo de dano ao meio ambiente é iminente, uma vez<br />
que esse terceiro não toma conhecimento do plano ou EIA, não tendo planejamento<br />
sobre o grau de dano ou poluição causado em sua atividade.<br />
10. O contrato de arrendamento de barragem se tornou acordo usual entre lindeiros em<br />
face da ausência de regulamentação específica para esse contrato inominado, somada à<br />
deficiente fiscalização após a concessão da outorga. Faz-se necessária a regulamentação<br />
desse acordo, pois os contratos agrários não podem ficar alheios às ações da sociedade:<br />
37
devem ser instrumentos para a realização da justiça social, atendendo a função social da<br />
propriedade e o acesso à exploração da terra.<br />
11. Conclui-se, então, que a outorga é falha na definição do uso do recurso hídrico<br />
somente como um bem de uso comum do povo, pois ele é considerado pelo outorgado<br />
como um bem privado, utilizado conforme sua vontade, chegando até mesmo a<br />
disponibilizá-lo a um terceiro interessado, como no caso de um contrato de<br />
arrendamento de barragem.<br />
12. Não procuro menosprezar, no presente trabalho, a outorga, apresentando-a somente<br />
como instrumento falho na política de recursos hídricos; pelo contrário, sei que ela é de<br />
imensa importância para a construção de uma forma mais justa de distribuição das<br />
riquezas hídricas potáveis. Ocorre que somente a outorga, como está na legislação, não<br />
basta, uma vez que ela só reflete propósitos e não induz o proprietário a realizar ações<br />
concretas e a providenciar medidas objetivas que tenham a intenção de racionalizar o<br />
uso da água e dos recursos ambientais como um todo.<br />
13. Por fim, faz-se necessária a observância de que a água é um bem difuso, e que<br />
qualquer apropriação ou uso contrário ao estatuído na Constituição ou Lei de Recursos<br />
Hídricos é indevido. Por isso, busca-se o entendimento entre a outorga do direito de uso<br />
da água na teoria e na prática rural diária, valorizando-se o caráter preventivo do Direito<br />
Ambiental e o caráter econômico e social do Direito Agrário.<br />
BIBLIOGRAFIA.<br />
BARROS, Wellington Pacheco. A Água na Visão do Direito. Porto Alegre: Tribunal<br />
de Justiça – Departamento de Artes Gráficas, 2005.<br />
________. Curso de Direito Agrário. v. 1, 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,<br />
2007.<br />
________, Outorga do Direito de Uso da Água, palestra proferida no 1º seminário do<br />
centro de Estudos do Tribunal de Justiça – DIREITOS DA ÁGUA – realizado no dia 29<br />
de março de 2005, disponível em<br />
www.tj.rs.gov.br/indtitu/c_estudos/doutrina/direito/direito_de_udo_de_água.doc Acessado em:<br />
15/07/2008<br />
BARROSO, Lucas Abreu; PASSOS, Cristiane Lisita (org). Direito Agrário<br />
Conteporâneo, Belo Horizonte: Del Rey, 2004.<br />
38
BENJAMIN, Antonio Herman (org.). Direito, Água e Vida. v. I. São Paulo: Imprensa<br />
Oficial, 2003.<br />
__________ (org.). Direito, Água e Vida. v. II, São Paulo: Imprensa Oficial, 2003.<br />
__________ (org.). Anais do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental, de<br />
03 a 06 de junho de 2002: 10 anos da ECO-92: O Direito e o Desenvolvimento<br />
Sustentável, São Paulo: IMESP, 2002.<br />
__________, SÍCOLI, José Carlos Meloni. (org.). Agricultura e meio ambiente. São<br />
Paulo: IMESP, 2000.<br />
CAPELLI, Sílvia; MARCHESAN, Ana Maria Moreira; STEIGLE<strong>DE</strong>R, Anelise<br />
Monteiro. Direito Ambiental. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2004.<br />
CANOTILHO, Joaquim José Gomes. LEITE, José Rubens Morato. (org.) Direito<br />
Constitucional Ambiental. São Paulo. Saraiva: 2007.<br />
CARNEIRO, Ricardo. Direito Ambiental - Uma Abordagem Econômica. Rio de<br />
Janeiro: Forense, 2001.<br />
CAUBET, Christian Guy. A Água, A Lei, A Política... E o Meio Ambiente? Curitiba:<br />
Juruá, 2004.<br />
CATALANO, Edmundo F.; Lecciones de Derecho Agrário y de Los Recursos<br />
Naturales. Buenos Aires: Zavalia, 1998.<br />
COELHO, José Fernando Lutz, Contratos Agrários – Uma visão neo-agrarista,<br />
Curitiba: Juruá, 2006.<br />
COSTA, Geraldo Gonçalves da. Ação de Despejo no Arrendamento Rural – teoria e<br />
prática. Goiânia: AB- editora, 2001.<br />
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 7. ed.<br />
São Paulo: Saraiva, 2006.<br />
FREITAS, Vladimir Passos de. Águas, Aspectos Jurídicos e Ambientais. Curitiba:<br />
Juruá, 2001.<br />
GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini, Reflexos da Nova Ordem Contratual<br />
Cível nos Contratos Agrários, Monografia de graduação do curso de Direito da<br />
UFSM, 2005.<br />
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito das Águas. 2. ed. São Paulo: Atlas,<br />
2003.<br />
LARANJEIRA, Raymundo. (coordenador). Direito Agrário Brasileiro. São Paulo:<br />
LRT, 2000.<br />
39
LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: Revista<br />
dos Tribunais, 1998.<br />
KISS, Alexandre & SHELTON, Dinah. Manual of European Environmental Law. 2.<br />
ed. United Kingdon: Cambridge University press, 1997.<br />
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos: Direito Brasileiro e<br />
Internacional. São Paulo: Malheiros, 2002.<br />
__________, Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.<br />
MARCIAL, Alberto Ballarín. Derecho Agrário – La Constitucion de 1978 y La<br />
Agricultura. 2. ed. Madrid: Revista de Direito Privado, 1978.<br />
MEIRELLES, Ely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros,<br />
2000.<br />
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 4. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2005.<br />
OPITZ, Sílvia C.B. OPITZ, Oswaldo. Curso Completo de Direito Agrário. 2. ed. São<br />
Paulo: Saraiva, 2007.<br />
POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. São Paulo: Revista dos<br />
Tribunais, 2006.<br />
SAAVEDRA, Juan Pablo. Contratos Agrários – Arrendamientos y Parcerías<br />
Rurales, Montevideo: Fundacion de Cultura Universitária, 1994.<br />
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 2. ed, São Paulo:<br />
Malheiros, 1997.<br />
SILVA, Américo Luís Martins da. Direito do Meio Ambiente e dos Recursos<br />
Naturais. v. 2 São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.<br />
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 3. ed. São Paulo: Saraiva,<br />
2005.<br />
TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. O Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente<br />
Equilibrado como Direito Fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.<br />
VIEGAS, Eduardo Coral, Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: Livraria do<br />
Advogado, 2005.<br />
ZIBETTI, Darcy Walmor. Teoria tridimensional da Função da Terra no Espaço<br />
Rural – econômica, social e ecológica, Curitiba. Juruá, 2005.<br />
KHALILI, Amyra El. Quem é o dono da água. Fórum de Direito Urbano e<br />
Ambiental, ano 7, nº 38. Belo Horizonte: Março/Abril de 2008.<br />
40