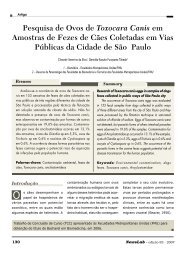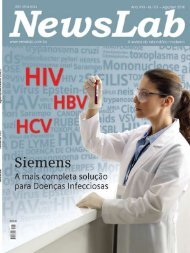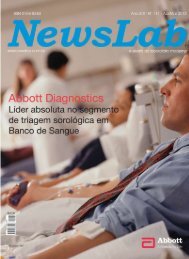Reações Transfusionais Ligadas ao Sistema ABO Luana ... - NewsLab
Reações Transfusionais Ligadas ao Sistema ABO Luana ... - NewsLab
Reações Transfusionais Ligadas ao Sistema ABO Luana ... - NewsLab
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Artigo<br />
Reações <strong>Transfusionais</strong><br />
<strong>Ligadas</strong> <strong>ao</strong> <strong>Sistema</strong> <strong>ABO</strong><br />
<strong>Luana</strong> Ludwig 1 , Adriana Zilly 2<br />
1 - Biomédica – Faculdade União das Américas, Foz do Iguaçu, PR<br />
2 - Docente do Curso de Biomedicina – Faculdade União das Américas, Foz do Iguaçu, PR<br />
Resumo<br />
Summary<br />
A medicina transfusional é uma área multidisciplinar<br />
que se ocupa com a seleção de hemocomponentes no<br />
tratamento e prevenção de doenças. Ainda que os principais<br />
sinais e sintomas não sejam específicos, são de<br />
grande valia para determinar o tipo de reação transfusional<br />
(RT) e é necessária uma investigação laboratorial<br />
e o estudo clínico dos dados do paciente. As reações<br />
hemolíticas transfusionais são as mais temidas e podem<br />
levar o paciente à morte. Vejamos alguns exemplos:<br />
a reação hemolítica aguda ou intravascular que se<br />
desenvolve devido à incompatibilidade do grupo <strong>ABO</strong>;<br />
a reação hemolítica tardia ou extravascular, onde tais<br />
pacientes apresentam aloimunização prévia como nos<br />
casos precedentes de transfusões anteriores ou gravidez.<br />
As reações não hemolíticas como a reação febril não hemolítica<br />
desenvolve-se com o aumento de mais de 1ºC da<br />
temperatura inicial, durante ou depois uma transfusão de<br />
sangue; a lesão pulmonar aguda associada à transfusão<br />
cujos pacientes desenvolvem um edema pulmonar não<br />
cardiogênico; as reações alérgicas ou urticariformes,<br />
cujos sintomas aparecem devido à hipersensibilidade do<br />
paciente a um componente do doador. Em todos os casos<br />
onde haja suspeita de uma contaminação adquirida por<br />
transfusão devem ser reavaliados os doadores de sangue.<br />
Para que seja possível realizar tal avaliação, o serviço<br />
de hemoterapia deve ter um sistema para a detecção,<br />
notificação e avaliação das complicações transfusionais,<br />
incluindo procedimentos prévios de detecção, seguido do<br />
tratamento do paciente e a prevenção de tais doenças<br />
oriundas das reações transfusionais.<br />
Palavras-chave: Transfusão sanguínea, reações transfusionais,<br />
hemoterapia<br />
<strong>ABO</strong> System-related transfusional reactions<br />
Transfusional medicine is a multidisciplinary area related<br />
to the selection of hemocomponents in the treatment<br />
and prevention of diseases. Although the main signs and<br />
symptoms are not specific, they are very important to<br />
determine the type of transfusional reaction so a laboratorial<br />
investigation and a study of the clinical data of the<br />
patient are necessary. Transfusional hemolytic reactions<br />
are the most feared and may lead to death. Some examples<br />
include acute or intravascular hemolytic reactions<br />
which develop due to incompatibility of the <strong>ABO</strong> blood<br />
group; late or extravascular hemolytic reactions where<br />
patients present with prior aloimmunization as in cases of<br />
prior transfusions or pregnancy; non-hemolytic reactions,<br />
such as non-hemolytic febril reaction, develop with the increase<br />
of 1ºC from the initial temperature during or after<br />
a blood transfusion; acute pulmonary lesions associated<br />
to transfusion when patients evolve with non-cardiogenic<br />
pulmonary edema and allergic reactions, with symptoms<br />
that appear due to hypersensitivity of the patient to one<br />
component of the donor. In all cases where there is<br />
suspicion of contamination after transfusion, the blood<br />
donors should be re-evaluated. For this re-evaluation<br />
to be possible, the hemotherapy service should have a<br />
system to detect, notify and evaluate transfusional complications,<br />
including procedures prior to their detection<br />
followed by treatment of the patient and the prevention<br />
of diseases caused by transfusional reactions.<br />
Key words: Blood transfusion, transfusional reactions,<br />
hemotherapy<br />
102<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007
Introdução<br />
M<br />
edicina transfusional é<br />
uma especialidade multidisciplinar<br />
que se ocupa com<br />
a adequada seleção de componentes<br />
sanguíneos no tratamento<br />
e prevenção de doenças (Lee<br />
et al, 1998; Henry, 1999).<br />
As reações decorrentes de<br />
transfusões sanguíneas e hemoderivados<br />
não podem ser<br />
evitadas, porém os benefícios<br />
deste procedimento devem<br />
superar os riscos. Os sinais e<br />
sintomas mais freqüentes são:<br />
mal-estar, tremores, calafrios,<br />
febre (superior a 38º C), sudorese,<br />
palidez cutânea, mialgia,<br />
taquicardia, taquipinéia, cianose,<br />
náuseas, vômitos, etc.<br />
Embora estes sinais e sintomas<br />
sejam inespecíficos, isto é, para<br />
determinar o tipo de reação<br />
transfusional (RT), é necessária<br />
a investigação laboratorial e o<br />
seguimento clínico do paciente<br />
(Lee et al, 1988; Scroferneker<br />
& Pohlmann, 1998).<br />
“Pode-se estimar que menos<br />
de 3% das transfusões sanguíneas<br />
resultam em uma RT não<br />
hemolítica febril, reação alérgica,<br />
lesão pulmonar aguda associada<br />
à transfusão e contaminação microbiana”<br />
(Henry, 1999).<br />
As complicações mais temidas<br />
durante uma transfusão<br />
sanguínea são as reações hemolíticas<br />
transfusionais, que<br />
podem ser fatais, sendo a principal<br />
causa de morte imediata<br />
relacionada à transfusão de<br />
hemoderivados. Ao transfundir<br />
um paciente, é necessário realizar<br />
previamente sua tipagem<br />
sangüínea e as provas cruzadas.<br />
As mais graves envolvem<br />
incompatibilidade <strong>ABO</strong>, onde a<br />
existência prévia de anticorpos<br />
circulantes pode levar a ativação<br />
de complemento e hemólise<br />
intravascular das hemáceas<br />
transfundidas (Scroferneker &<br />
Pohlmann, 1998).<br />
Na hemólise intravascular<br />
pode haver febre, dor torácica,<br />
náuseas, eritema, dispnéia<br />
e oligúria. Pode culminar em<br />
morte, com choque, coagulação<br />
intravascular disseminada<br />
e insuficiência renal por hemólise,<br />
ativação do complemento<br />
e liberação de citocinas. Ela<br />
é particularmente grave nos<br />
pacientes cirúrgicos anestesiados<br />
que não exibem os<br />
sintomas precoces de mialgia<br />
e calafrios (Scroferneker &<br />
Pohlmann, 1998).<br />
Hemólise extravascular ou<br />
reações hemolíticas tardias<br />
ocorrem de sete a 10 dias<br />
após a transfusão de hemácias<br />
incompatíveis e é mediada<br />
por anticorpos incompletos<br />
(classe IgG), ocorrendo um<br />
significativo aumento de bilirrubina<br />
e, por conseqüência,<br />
hepatoesplenomegalia (Oiveira<br />
& Cozac, 2003).<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007<br />
103
O diagnóstico pode ser imediato<br />
se analisados os sintomas<br />
clínicos como febre 1ºC±,<br />
calafrios, mal-estar; e tardio,<br />
através do Teste de Coombs<br />
direto positivo, icterícia, hepatoesplenomegalia,<br />
coliúria.<br />
Para uma melhor conduta, é<br />
necessário realizar uma análise<br />
laboratorial da função renal,<br />
metabólica, gasometria arterial<br />
e coagulograma (Bordin, 1997;<br />
Lee et al, 1998; Henry, 1999;<br />
Oliveira & Cozac, 2003).<br />
O tratamento recomendado<br />
para cada tipo de reação, ou<br />
melhor, prevenção de complicações<br />
no equilíbrio homeostático<br />
do organismo, é designado de<br />
acordo com o protocolo médico<br />
de cada hemocentro ou hospital<br />
(Oliveira & Cozac, 2003).<br />
O objetivo deste trabalho<br />
foi realizar um levantamento<br />
bibliográfico sobre as principais<br />
reações transfusionais do<br />
sistema <strong>ABO</strong>, assim como seu<br />
diagnóstico, com o intuito de<br />
reunir exemplos de avanços<br />
em pesquisas realizadas nos<br />
últimos anos.<br />
“Todo ato de transfusão implica<br />
em colocar antígenos do doador<br />
na presença do sistema imunitário<br />
do receptor, sejam esses<br />
antígenos levados pelas membranas<br />
celulares ou pelas proteínas<br />
plasmáticas [...]” (Chassaigne,<br />
1988; Bordin, 1997).<br />
Incidentes transfusionais são<br />
reações ocorridas durante ou<br />
após a transfusão sangüínea e<br />
a ela relacionados. Podem ser<br />
complicações relacionadas com<br />
a contaminação bacteriana, reações<br />
hemolíticas agudas – especialmente<br />
ocasionada por incompatibilidade<br />
do sistema <strong>ABO</strong>,<br />
edema pulmonar por excesso<br />
de volume, entre outros sintomas.<br />
É definida como qualquer<br />
sinal ou sintoma que ocorra no<br />
início, durante ou até 24 horas<br />
após uma transfusão (Hoffbrand,<br />
Pettit & Moss, 2004).<br />
O grande avanço tecnológico<br />
atingido nas transfusões, onde<br />
erros podem ser irreversíveis, é<br />
de suma relevância para a realização<br />
de procedimentos dentro<br />
de padrões metodológicos, em<br />
qualquer parte do Brasil (Chassaigne,<br />
1988).<br />
Reações hemolíticas<br />
Quando instalada a hemólise,<br />
são ativados na via intrínseca os<br />
fatores de coagulação da proteína<br />
XII que entram em contato<br />
com o colágeno, convertendo<br />
em uma nova conformação<br />
denominada Fator XII ativado<br />
(XIIa). A disponibilidade de fosfolipídeos<br />
nas proximidades da<br />
membrana plaquetária gera em<br />
torno desta um foco ativado de<br />
coagulação do sangue, do qual<br />
resultam malhas de fibrina, formando<br />
um tampão plaquetário.<br />
O local de hemólise apresentase<br />
com intensa vasoconstrição,<br />
pelo mecanismo neurológico de<br />
reflexo, que é a liberação da<br />
serotonina pelas plaquetas envolvidas.<br />
E, por conseqüência, o<br />
colapso e o choque são devidos<br />
à queda do débito cardíaco e<br />
no dia seguinte a oligúria atesta<br />
a insuficiência renal aguda,<br />
através dos mecanismos de<br />
depósito de fibrina, alterações<br />
hemodinâmicas e estase vascular,<br />
ocasionando o agravamento<br />
da isquemia e insuficiência renal<br />
aguda (Franco, 2001; Elias &<br />
Souza, 2006).<br />
Reação hemolítica aguda ou<br />
intravascular (RTA)<br />
Para diminuir a velocidade de<br />
incidência das reações adversas<br />
agudas, os concentrados de<br />
granulócitos devem ser infundidos<br />
em uma a duas horas, pois<br />
essas reações são freqüentes e<br />
potencialmente graves. A mais<br />
comum caracteriza-se pela<br />
elevação da temperatura do<br />
receptor durante, ou logo após,<br />
as transfusões, principalmente<br />
quando a velocidade de infusão<br />
é superior a 2 x 10 10 /hora (Santis,<br />
1999).<br />
Essa RT ocorre na maioria<br />
das vezes por incompatibilidade<br />
<strong>ABO</strong>, devido a erros durante o<br />
procedimento pré-transfusional,<br />
como tipagem <strong>ABO</strong>, ou após a<br />
bolsa estar pronta, mas com erro<br />
de identificação (Henry, 1999).<br />
Nas RTA ocorrem reações imunológicas<br />
e não imunológicas,<br />
que acometem conseqüências<br />
104<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007
no equilíbrio homeostático do<br />
organismo.<br />
A coagulação intravascular<br />
disseminada (CIVD) é caracterizada<br />
como síndrome por causa<br />
da ativação sistêmica intravascular<br />
da coagulação, que leva à<br />
deposição de fibrina na circulação<br />
(Lorenzi, 2006, p. 595).<br />
Após estudos da fisiopatologia<br />
da CIVD, apesar de esta<br />
não estar completamente elucidada,<br />
definiu-se que o principal<br />
mecanismo é a geração de<br />
trombina, onde o mecanismo de<br />
deposição de fibrina é ativado,<br />
sendo mediada pelo complexo<br />
tissular/fator VII ativado e da<br />
inibição dos anticoagulantes<br />
naturais. Esta, por sua vez,<br />
quando ocorre a inibição da<br />
atividade fibrinolítica mediada<br />
pelo aumento dos níveis do inibidor<br />
do ativador tipo I (PAI-1),<br />
gera uma trombose microvascular<br />
(Pintão & Franco, 2001).<br />
De acordo com Oliveira &<br />
Cozac (2003), o quadro clínico<br />
é composto por dor na região<br />
do tórax, no local de infusão,<br />
abdome ou flancos, hipotensão<br />
grave, febre hemoglobinúria,<br />
podendo evoluir para uma insuficiência<br />
renal aguda (IRA)<br />
devido a três fatores: vasoconstrição<br />
por liberação de catecolaminas,<br />
hipotensão sistêmica<br />
e formação de trombos intravasculares.<br />
Sendo assim, há certas medidas<br />
simples e rápidas para<br />
evitar que ocorra outro erro<br />
em um segundo paciente,<br />
realizando a conferência do<br />
mesmo com seu prontuário e<br />
verificar, quando ocorrer troca<br />
de unidades, para qual outro<br />
paciente fora enviado e tomar<br />
medidas imediatas, posteriormente<br />
descritas no diagnóstico<br />
(Lee et al, 1998; Oliveira &<br />
Cozac, 2003).<br />
Quando ocorrer hemólise<br />
intravascular, além da suspeita<br />
do diagnóstico clínico, é<br />
necessária a confirmação realizando<br />
os exames de Coombs<br />
nos quais ocorre a positividade<br />
para o teste de antiglobulina<br />
direta positivo e os achados<br />
laboratoriais são elevados<br />
dentre as primeiras 12 horas:<br />
hemoglobina plasmática, hemoglobina<br />
urinária e bilirrubina<br />
sérica, e é necessária uma<br />
avaliação do sistema renal,<br />
com dosagens de creatinina,<br />
uréia e eletrólitos (Henry,<br />
1999).<br />
Quando ocorrer uma conseqüência<br />
da RTA, como a CIVD,<br />
é necessária uma investigação<br />
maior. Clinicamente pode-se<br />
observar os sinais de resposta<br />
inflamatória sistêmica, como<br />
febre, hipotensão, acidose,<br />
manifestações de sangramento<br />
difuso como petéquias,<br />
equimoses, sangramento em<br />
locais de punção venosa, e<br />
sinais de trombose (Pintão &<br />
Franco, 2001).<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007<br />
105
Reação febril não hemolítica<br />
(RFNH)<br />
É definida como um aumento<br />
de temperatura de mais de 1ºC,<br />
durante ou brevemente depois<br />
de uma transfusão de sangue<br />
ou de um de seus componentes<br />
(Henry, 1999).<br />
A reação típica consiste de<br />
um calafrio seguido de febre,<br />
geralmente durante a transfusão<br />
ou até poucas horas depois,<br />
podendo ocorrer cefaléia<br />
e mal-estar. A reação pode ser<br />
severa ou mesmo representar<br />
risco de vida, mas geralmente<br />
essas reações são discretas e o<br />
paciente pode não perceber que<br />
está ocorrendo uma reação (Lee<br />
et al, 1998).<br />
Lesão pulmonar aguda associada<br />
à transfusão (TRALI)<br />
TRALI é o edema pulmonar<br />
não cardiogênico associado com<br />
a transfusão, sendo sua característica<br />
marcante o edema pulmonar<br />
bilateral sem a presença<br />
de insuficiência cardíaca. Ocorrendo<br />
uma angústia respiratória<br />
aguda, ela é causada por<br />
leucoaglutininas (anticorpos<br />
específicos <strong>ao</strong>s granulócitos)<br />
ou anticorpos HLA que reagem<br />
com os leucócitos para produzir<br />
agregados de leucócitos que<br />
são aprisionados nos capilares<br />
pulmonares, ou por ativação<br />
dos componentes C 3a<br />
ou C 5a<br />
do<br />
complemento, os quais subsequentemente<br />
liberam histamina<br />
e serotonina dos basófilos teciduais<br />
e plaquetas. Estas substâncias<br />
são capazes de agregar<br />
diretamente granulócitos que<br />
se alojam na circulação microvascular<br />
pulmonar (Oliveira &<br />
Sell, 2002).<br />
As diferentes formas polimórficas<br />
dos alelos HLA realizam a<br />
sensibilização do receptor, onde<br />
os linfócitos T recebem o primeiro<br />
sinal da ativação e outros<br />
estímulos secundários, levando<br />
à proliferação e à produção de<br />
citocinas. Estas, por sua vez,<br />
induzem os “clones de linfócitos<br />
T”, especificamente os CD8,<br />
que secretam anticorpos específicos<br />
para os determinantes<br />
antigênicos das moléculas HLA<br />
do doador e, em contrapartida,<br />
ocorre a formação das moléculas<br />
de memória (Oliveira & Sell,<br />
2002).<br />
O diagnóstico laboratorial é<br />
baseado na hipoxemia com valores<br />
de PaO 2<br />
/FiO 2<br />
< 300 mmHg,<br />
e se este valor for persistente,<br />
ou diminuir para 29mmHg, é<br />
necessária a utilização de oxigenação<br />
do paciente por ventilação<br />
mecânica (Silliman &<br />
McLaughlin, 2006).<br />
Reações alérgicas ou urticariformes<br />
As reações alérgicas geralmente<br />
são leves, com urticária,<br />
edema, tontura ocasional e<br />
cefaléia durante ou imediatamente<br />
após a transfusão. Com<br />
menos freqüência, pode haver<br />
dispnéia, sibilos e incontinência,<br />
indicando espasmo generalizado<br />
da musculatura lisa.<br />
Raramente pode haver choque<br />
anafilático. Reações devido à<br />
hipersensibilidade do paciente<br />
a um componente desconhecido<br />
do sangue do doador são<br />
comuns, geralmente devido a<br />
alergênios no plasma do doador<br />
ou, menos freqüentemente, a<br />
anticorpos de um doador alérgico<br />
(Chassaigne, 1988; Bordin,<br />
1997; Lee, 1998; Brand, 2000;<br />
Oliveira & Cozac, 2003).<br />
De acordo com Chassaigne<br />
(1988), as causas podem<br />
ocorrer pela imunização antiimunoglobulina<br />
A (IgA), que<br />
possui dois grupos: 1) pacientes<br />
deficientes em IgA - eles desenvolvem<br />
um anticorpo imunoglobuliba<br />
G (IgG) anti-IgA<br />
específico da classe, sendo o<br />
responsável por reações como<br />
choque anafilático; 2) pacientes<br />
não deficientes em IgA - que<br />
desenvolvem um anti-IgA de<br />
grupo antialótipo, sendo responsável<br />
por reações benignas,<br />
geralmente ocorrem em pacientes<br />
politransfundidos.<br />
O choque anafilático é uma<br />
resposta imunológica aguda,<br />
geralmente grave e às vezes até<br />
fatal, fazendo parte das reações<br />
de hipersensibilidade tipo I. Na<br />
segunda exposição <strong>ao</strong> antígeno,<br />
ocorre assim a anafilaxia que é<br />
caracterizada pela degranulação<br />
106<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007
destas células, com a liberação<br />
de mediadores pré-formados<br />
nas células como heparina, histamina,<br />
enzimas proteolíticas,<br />
além de fatores quimiotáticos<br />
para eosinófilos e neutrófilos,<br />
culminando com o aumento da<br />
permeabilidade capilar, edema<br />
e todas as características da<br />
resposta inflamatória (Scroferneker<br />
& Pohlmann, 1998).<br />
Contaminação Microbiana<br />
São caracterizadas por febre<br />
recorrente maior que 39°C ou<br />
aumento de 2°C em relação à<br />
temperatura antes do início da<br />
transfusão, ocorrendo calafrios<br />
intensos, tremores, taquicardia<br />
com variação de >120/min ou<br />
há aumento de 40/min, e o aumento<br />
ou queda de 30 mmHg<br />
na pressão arterial sistólica<br />
também pode ocorrer. Alguns<br />
sintomas são associados, como<br />
náuseas acompanhadas por<br />
vômitos, dor lombar e fadiga<br />
respiratória. Quando ocorrer<br />
qualquer dos fatores anteriores<br />
durante a transfusão, esta deve<br />
ser interrompida imediatamente.<br />
A bolsa com o hemocomponente<br />
junto com o material utilizado<br />
para transfusão devem ser encaminhados<br />
para o banco de<br />
sangue, onde serão realizados<br />
os procedimentos básicos para<br />
a averiguação da causa do incidente<br />
(Oliveira & Cozac, 2003).<br />
Os cateteres intravasculares<br />
utilizados para a infusão de<br />
medicamentos, hemoderivados<br />
e nutrição parental facilitam o<br />
tratamento do paciente hospitalizado.<br />
E um destes dispositivos<br />
oferece riscos de colonização<br />
local de inserção e/ou infecção<br />
sistêmica, sendo a sepse a mais<br />
grave. Assim, ambos precisam<br />
da higienização adequada da<br />
equipe de saúde e permanência<br />
deste dispositivo no local (Quedesa<br />
et al, 2005).<br />
Reação hemolítica tardia ou<br />
extravascular (RTH)<br />
Ocorre em 0,05 a 0,07% das<br />
transfusões realizadas. A reação<br />
hemolítica tardia é extravascular<br />
e ocorre devido à produção<br />
de anticorpos antieritrocitários.<br />
Pode ocorrer horas ou até três<br />
semanas após a segunda exposição<br />
<strong>ao</strong> antígeno em questão<br />
(Oliveira & Cozac, 2003).<br />
Estes casos de RTH tardias<br />
ocorrem em pacientes com<br />
históricos de transfusões anteriores<br />
ou gravidez. Isto é, onde<br />
o anticorpo anti-D do doador é<br />
incompatível com o do paciente,<br />
assim os anticorpos IgG são<br />
rapidamente formados e há destruição<br />
dos eritrócitos transfundidos.<br />
É uma reação hemolítica<br />
não tão grave quanto a RTH<br />
intravascular. Há febre, às vezes<br />
seguida de calafrios, e uma<br />
elevação incompleta de hemoglobina<br />
em relação <strong>ao</strong> volume<br />
transfundido; podendo também<br />
ocorrer icterícia. Os anticorpos<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007<br />
107
Kidd são responsáveis por muitas<br />
reações e provável erro de<br />
sua não detecção (Lewis, Bain<br />
& Bates, 2006).<br />
Reação transplante versus<br />
hospedeiro relacionado à<br />
transfusão<br />
De acordo com Henry (1999),<br />
quando linfócitos T alogênicos<br />
imunologicamente competentes<br />
são transfundidos para<br />
uma pessoa que é gravemente<br />
imunocomprometida por causa<br />
de deficiência ou mau funcionamento<br />
de linfócitos, linfócitos<br />
T transplantados podem<br />
enxertar-se no tecido linfóide ou<br />
hematopoiético do hospedeiro<br />
e tornam-se funcionais. Estes<br />
linfócitos T alogênicos enxertados<br />
reconhecem os antígenos<br />
sobre as células do hospedeiro<br />
e montam uma resposta imune<br />
celular ou humoral contra o<br />
hospedeiro, criando a síndrome<br />
de DEVH (Doença do Enxerto<br />
Versus Hospedeiro).<br />
O diagnóstico clínico é de<br />
fundamental importância e<br />
foram descritos dois tipos de<br />
envolvimento cutâneo. O primeiro<br />
é na primeira fase após<br />
a transfusão, com pápulas longitudinais<br />
e lesões simples. Na<br />
segunda fase, poiquiloderma<br />
é encontrada, atrofia da epiderme,<br />
densa fibrinólise local<br />
e com significativa inflamação.<br />
Em alguns pacientes são encontrados<br />
hiperqueratose, hiperpigmentação,<br />
pápulas perifolicular<br />
e em raros casos podem ser<br />
observadas vesículas bolhosas<br />
(Brand, 2000; Horwitz & Sullivan,<br />
2006).<br />
Os sintomas também podem<br />
ser expressos na ocular, do<br />
receptor da transfusão, como<br />
querato-conjuntivite, incluindo<br />
irritação, fotofobia e dor. Na<br />
cavidade bucal, a sensação de<br />
sede o tempo todo aumenta a<br />
sensitividade a alimentos ácidos<br />
e apimentados (Brand, 2000;<br />
Horwitz & Sullivan, 2006).<br />
Hemossiderose secundária<br />
Depois de repetidas transfusões<br />
de eritrócitos <strong>ao</strong> longo<br />
de muitos anos (como no caso<br />
das hemoglobinopatias), e na<br />
ausência de perda de sangue,<br />
é provocado depósito de ferro<br />
inicialmente no tecido reticuloendotelial<br />
no ritmo de 200 a<br />
250 mg/unidade de (450mL)<br />
de sangue total. Depois de<br />
aproximadamente 50 unidades<br />
em adultos e de quantidades<br />
menores em crianças, o fígado,<br />
o miocárdio e os órgãos endócrinos<br />
são lesados com conseqüências<br />
clínicas (Hoffbrand,<br />
Pettit & Moss, 2004).<br />
Infecciosas causadas por<br />
vírus e parasitas<br />
Essas reações transfusionais<br />
são praticamente extintas, pela<br />
triagem pré-sorológica e pelo<br />
aumento da sensibilidade e<br />
especificidade dos métodos laboratoriais<br />
e para critérios mais<br />
rigorosos para a seleção dos<br />
doadores (Anvisa, 2004). De<br />
2002 a 2005 a hemovigilância<br />
divulgou que no Brasil os casos<br />
para infecção de HIV por transfusão<br />
foi de 0,1745%.<br />
Os exames obrigatórios para<br />
doenças infecciosas são: pesquisas<br />
dos vírus da hepatite B<br />
e C, HIV 1 e HIV 2, HTLV I e II,<br />
Citomegalovírus, Parvovírus; e<br />
os parasitas destas patologias a<br />
seguir: Sífilis, Doença de Chagas<br />
e Malária (Anvisa, 2004).<br />
A Anvisa (2004) preconiza<br />
segundo sua Resolução RDC<br />
nº153, de 14 de junho de 2004,<br />
o seguinte: ‘Todos os casos em<br />
que haja suspeita de uma contaminação<br />
adquirida por transfusão<br />
devem ser adequadamente<br />
avaliados’.<br />
Recomenda-se um novo estudo<br />
dos doadores das unidades<br />
de sangue ou componentes<br />
suspeitos. Este estudo inclui a<br />
convocação e a retestagem de<br />
todos os doadores envolvidos.<br />
Depois da investigação do<br />
caso, os seguintes procedimentos<br />
devem ser realizados: comunicar<br />
<strong>ao</strong> médico do paciente<br />
a eventual soroconversão de um<br />
ou mais doadores envolvidos no<br />
caso; após identificar o doador,<br />
encaminhá-lo para tratamento<br />
especializado e excluí-lo do arquivo<br />
de doadores do serviço;<br />
registrar nas fichas do receptor<br />
108<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007
e do doador as medidas efetuadas<br />
para o diagnóstico, notificação<br />
e derivação; e por fim<br />
notificar a ocorrência <strong>ao</strong> órgão<br />
governamental competente (Anvisa,<br />
2004).<br />
A transmissão de patógenos<br />
através da transfusão necessita<br />
basicamente que o doador tenha<br />
o agente circulante em seu sangue,<br />
que os testes de triagem<br />
sorológica não sejam capazes<br />
de detectá-lo e que o hospedeiro<br />
seja susceptível. Além disso,<br />
o tropismo de agentes pelo<br />
desenvolvimento e adoção de<br />
novas tecnologias objetivando<br />
minimizar os riscos transfusionais,<br />
especialmente quanto à<br />
prevenção da disseminação de<br />
agentes infecto-contagiosos.<br />
A transmissão de patógenos<br />
através da transfusão necessita<br />
basicamente que o doador<br />
tenha o agente circulante em<br />
seu sangue, que os testes de<br />
triagem infecciosos por determinado<br />
componente do sangue<br />
determinam à contaminação<br />
dos diferentes hemocomponentes<br />
(concentrado de hemácias,<br />
concentrados de plaquetas,<br />
concentrados de leucócitos e<br />
plasma). Assim, o Vírus Linfotrópico<br />
da Célula T Humana<br />
(HTLV) e o Citomegalovírus<br />
(CMV) localizam-se exclusivamente<br />
nos leucócitos e o Vírus<br />
da Hepatite B (HBV) e o Vírus<br />
da Hepatite (HBC) localizam-se<br />
preferencialmente no plasma.<br />
O Trypanosoma cruzi, agente<br />
etiológico da doença de Chagas,<br />
pode estar presente em<br />
todos os hemocomponentes; o<br />
Plasmodium, agente etiológico<br />
da malária, encontra-se nas<br />
hemácias e o Vírus da Imunodeficiência<br />
Humana Adquirida<br />
(HIV), nos leucócitos e plasma<br />
(Covas, 2001; Carrazzone, Britos<br />
& Gomes, 2004).<br />
Recentemente, uma avaliação<br />
do perfil sorológico prétransfusional<br />
de receptores de<br />
sangue (n=85) foi realizada no<br />
Hospital Universitário Oswaldo<br />
Cruz da Universidade Federal<br />
de Pernambuco (UFPE). Esse<br />
estudo, pioneiro no Brasil, envolveu<br />
três grupos de receptores:<br />
sem passado transfusional,<br />
politransfundidos e eventuais.<br />
Os resultados revelaram que 37<br />
(43,6%) foram reagentes <strong>ao</strong>s<br />
mesmos testes de triagem sorológica<br />
utilizados para doadores.<br />
Destes, 23,1% foram reativos<br />
para sífilis, 3,8% para Aids,<br />
11,5% para hepatite C, 61,1%<br />
para hepatite B e 7,7% para<br />
doença de Chagas. É importante<br />
salientar que 26 (70,3%) dos<br />
receptores que apresentaram<br />
reatividade não tinham conhecimento<br />
prévio à transfusão do<br />
seu estado sorológico (Carrazzone,<br />
Britos & Gomes, 2004).<br />
Púrpura pós-transfusional<br />
(PPT)<br />
A trombocitopenia grave<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007<br />
109
púrpura é a principal característica<br />
da púrpura pós-trasnfusional,<br />
ocorrendo aproximadamente<br />
uma semana até 10<br />
dias após uma transfusão do<br />
hemoderivado. Esta situação<br />
geralmente é causada por anticorpos<br />
<strong>ao</strong> antígeno plaqueta<br />
específica PL A1 , mas pode ser<br />
causada também por outros<br />
anticorpos plaqueta específicos.<br />
Este mecanismo não está<br />
claramente compreendido,<br />
porém de alguma maneira o<br />
anti-PL A1 não apenas ataca<br />
as plaquetas PL A1 positivas<br />
transfundidas, mas também<br />
compromete as plaquetas PL A1<br />
negativas do paciente. Por<br />
sua vez a causa pode ser de<br />
uma condição circunstancial<br />
inocente, na qual uma reação<br />
antígeno anticorpo induz agregação<br />
extensa das plaquetas,<br />
ou uma substância PL A1 solúvel<br />
no plasma transfundido, que<br />
poderia ser absorvida sobre as<br />
plaquetas do paciente e reagir<br />
diretamente com o anti-PL A1 do<br />
paciente (Lee et al, 1998; Henry,<br />
1999; Beardsley, 2002).<br />
A púrpura trombocitopênica<br />
está relacionada com a captura<br />
de plaquetas, pelo seu não<br />
reconhecimento, diminuindo<br />
a ação plaquetária e tendo<br />
por conseqüência hemorragia<br />
grave, aumentando o volume<br />
do baço que pode ser palpável<br />
em 10% dos casos (Lämmle &<br />
George, 2004).<br />
Discussão e<br />
Conclusão<br />
Reações ou incidentes transfusionais<br />
são agravos ocorridos<br />
durante ou após a transfusão<br />
sangüínea e a ela relacionados.<br />
Os incidentes transfusionais<br />
podem ser classificados em<br />
imediatos ou tardios, de acordo<br />
com o tempo decorrido entre<br />
a transfusão e a ocorrência do<br />
incidente.<br />
Incidente transfusional imediato<br />
é aquele que ocorre durante<br />
a transfusão ou em até 24<br />
horas após. Os incidentes transfusionais<br />
imediatos destacados<br />
para serem notificados são:<br />
reação hemolítica aguda, reação<br />
febril não hemolítica, reações<br />
alérgicas (leve, moderada,<br />
grave), sobrecarga volêmica,<br />
contaminação bacteriana, edema<br />
pulmonar não cardiogênico<br />
(TRALI), reação hipotensiva e<br />
hemólise não imune.<br />
Incidente transfusional tardio<br />
é aquele que ocorre após 24 horas<br />
da transfusão realizada. Os<br />
incidentes transfusionais tardios<br />
destacados para serem notificados<br />
são: reação hemolítica tardia,<br />
hepatite B (HBV), hepatite<br />
C (HCV), HIV/Aids, doença de<br />
Chagas, sífilis, malária, HTLV I/<br />
II, doença do enxerto contra o<br />
hospedeiro/GVHD, aparecimento<br />
de anticorpos irregulares/<br />
isoimunização.<br />
Os incidentes tardios, para<br />
os fins de investigação, podem<br />
ser separados em dois grupos<br />
distintos. A reação hemolítica<br />
tardia, a doença do enxerto<br />
contra o hospedeiro/DEVH e<br />
o aparecimento de anticorpos<br />
irregulares, seguindor um fluxo<br />
de investigação similar <strong>ao</strong>s<br />
incidentes imediatos.<br />
A doença do enxerto contra<br />
o hospedeiro, por suas peculiaridades,<br />
é normalmente acompanhada<br />
pela equipe que faz<br />
o tratamento imunossupressor<br />
do paciente. A contaminação<br />
sangüínea por hepatite B (HBV),<br />
hepatite C (HCV), HIV/Aids, doença<br />
de Chagas e sífilis seguirão<br />
o fluxo de investigação própria<br />
da conduta diagnóstica preconizada<br />
pela Anvisa.<br />
É de interesse da população<br />
que melhorias sejam realizadas<br />
para este século, focalizando o<br />
aperfeiçoamento das técnicas<br />
utilizadas, ou <strong>ao</strong> menos sejam<br />
banidas algumas técnicas menos<br />
sensíveis e pouco específicas<br />
dos bancos de sangue,<br />
contribuindo para o aumento de<br />
hemocomponentes disponíveis<br />
no mercado, ou <strong>ao</strong> menos utilizando<br />
o sistema de leucorredução<br />
para outros componentes<br />
sanguíneos.<br />
Correspondência para:<br />
<strong>Luana</strong> Ludwig<br />
luana_ludwig@yahoo.com.br<br />
110<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007
Referências Bibliográficas<br />
1. Lee RG et al. Wintrobe: Hematologia Clínica. 1. ed. São Paulo: Monole, 738-765, 1998.<br />
2. Henry JB. Diagnóstico Clínico e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 19ª ed. São Paulo, Monole. 793-841, 1999.<br />
3. Scroferneker ML, Pohlmann PR. Imunologia Básica e Aplicada. Editora Sagra Lozzatto. 1ª ed. Porto Alegre. 115-121,<br />
505-510, 1998.<br />
4. Oliveira LCO, Cozac APCN. C. Reações transfusionais: diagnóstico e tratamento. Medicina - USP, Ribeirão Preto, n. 36,<br />
abri/dez. 2003. p. 431-438. Disponível em:< http://www.fmrp.usp.br/revista/2003/36n2e4/34reacoes_transfusionais.<br />
pdf> Acesso em: 06 out. 2006.<br />
5. Bordin JO. Temas de Hematologia. Belo Horizonte. 93-95, 142-145, 1997.<br />
6. Chassaigne M. Manual Prático de Transfusão Sanguínea. 1ª ed. São Paulo: Andrei. 151-223, 1988.<br />
7. Hoffbrand AV, Pettit J.E; Moss, P.A.H. Fundamentos em Hematologia. 4ª ed. Porto Alegre, Editora Artmed. 314-326,<br />
2004.<br />
8. Franco RF. Fisiologia da Coagulação, Anticoagulação e Fibrinólise. Medicina, Riberão Preto. 34:229-237, 2001.<br />
9. Elias DO, Souza MHL. Fundamentos da Circulação Extracorpórea. 2ª ed. Rio de Janeiro: Alfa Rio. 103-138, 2006.<br />
10. Santis GCS. Transfusão de Granulócitos. Medicina, Riberão Preto. 32:470-477, 1999.<br />
11. Lorenzi TF. Atlas de Hematologia: Clinica Hematológica Ilustrada.1.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Kooga. 150-163,<br />
334-349 e 593-611, 2006.<br />
12. Silliman CC, McLaunghlin NJD. Transfusion-related acute lung injury. Blood Reviews. USA: Elsevier. 20: 139-159,<br />
2006.<br />
13. Brand A. Immunological aspects of blood transfusions. Blood Reviews. USA: Elsevier. 14: 130-143, 2000.<br />
14. Quedesa RMB et al. Culturas de pontas de cateteres venosos centrais e perfil de resistência <strong>ao</strong>s antimicrobianos de<br />
uso clínico. RBAC, 37:45-48, 2005.<br />
15. Lewis MS, Bain BJ, Bates I. Hematologia Prática de Dacie e Lewis. 9ª ed. Porto Alegre: Artmed, 428-445, 2006.<br />
16. Horwitz ME, Sullivan KM. Cronic Graft-versus-host disease. Blood Reviews. USA: Elsevier. 1a ed. 20:15-27, 2006.<br />
17. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual técnico de Hemovigilância. Brasília. 2004. Disponível em:<br />
. Acesso em: 22 set. 2006.<br />
18. Carrazone CFV, Brito AM, Gomes YM. Importância da avaliação sorológica pré-transfusional em receptores de sangue.<br />
Revista Brasileira de Hematologia, São José do Rio Preto, 26:93-98, 2004.<br />
19. Beardsley DS. Pathophysiology of immune trombocytopenic purpura. Blood Reviews. USA: Elsevier. 16:13-14, 2002.<br />
20. Lãmmle B, George JN. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: Advances in Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment.<br />
Seminars in Hematology: USA. 41:1-3, 2004.<br />
112<br />
<strong>NewsLab</strong> - edição 84 - 2007