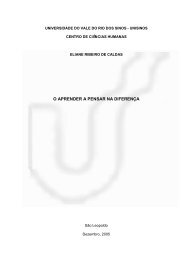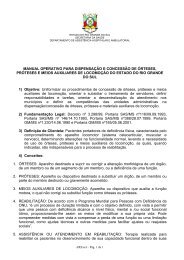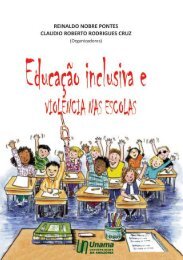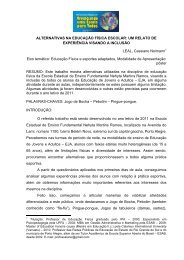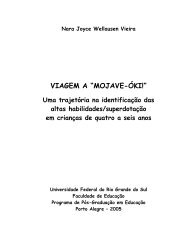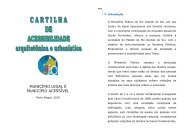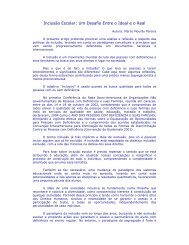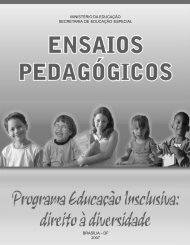A DIVERSIDADE DA CONDIÃÃO HUMANA - Faders - Governo do ...
A DIVERSIDADE DA CONDIÃÃO HUMANA - Faders - Governo do ...
A DIVERSIDADE DA CONDIÃÃO HUMANA - Faders - Governo do ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PONTIFÍCIA UNIVERSI<strong>DA</strong>DE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL<br />
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL<br />
DOUTORADO EM SERVIÇO SOCIAL<br />
A <strong>DIVERSI<strong>DA</strong>DE</strong> <strong>DA</strong> CONDIÇÃO <strong>HUMANA</strong>:<br />
deficiências/diferenças na perspectiva das relações sociais<br />
Doutoranda: IDILIA FERNANDES<br />
Orienta<strong>do</strong>ra: PROFESSORA Dra. LEONIA CAPAVERDE BULLA<br />
Tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong> apresentada para obtenção de<br />
grau de <strong>do</strong>utora em Serviço Social<br />
Porto Alegre, dezembro de 2002.
2<br />
BANCA EXAMINADORA:<br />
___________________________________________<br />
Profª Dra. LEONIA CAPAVERDE BULLA<br />
__________________________________________<br />
Profª Dra. MARIA LÚCIA MARTINELLI<br />
_______________________________________<br />
Prof. Dr. SENO ANTONIO CORNELY<br />
_________________________________________<br />
Prof. Dr. HANS GEORG FLICKINGER
3<br />
PENSAMENTO<br />
"... condições sociais petrificadas têm de ser compelidas à dança, fazen<strong>do</strong>-lhes ouvir o<br />
canto da sua própria melodia”.<br />
KARL MARX (Introdução à Crítica da Filosofia <strong>do</strong> Direito de Hegel, 1983, p.81).
4<br />
Dedico este trabalho ao amor, aquele que acontece no coração da gente, ilumina a vida,<br />
aquece o sangue das veias e dá senti<strong>do</strong> a tu<strong>do</strong>. A ti, amor de minha vida
5<br />
AGRADECIMENTOS<br />
Toda criação e obra humana se consolidam a partir de atos coletivos. Sempre que é<br />
possível dialogar, trocar idéias, experiências, projetos e sonhos algo se faz ou se fará de<br />
produtivo. A construção desta tese não é diferente disso, só foi possível construí-la com a<br />
contribuição de muitas pessoas, de diversos setores de minha vida. Portanto, tenho muitos<br />
agradecimentos a fazer e, certamente nem to<strong>do</strong>s estarão conti<strong>do</strong>s nas palavras que seguem.<br />
Vou procurar nomear algumas pessoas que foram significativas nessa construção, sob o<br />
risco de que algumas outras pessoas, também significativas, não fiquem aqui registradas:<br />
Minha orienta<strong>do</strong>ra Profª. Dra. Leonia Capaverde Bulla, não seria possível começar e<br />
finalizar este trabalho sem a tua valorosa orientação e sem teu incansável estímulo, amizade<br />
e profissionalismo. Tu és minha eterna mestra. Uma pessoa que congrega a energia de<br />
quem sabe o que deve ser feito com a <strong>do</strong>çura de quem sabe indicar os caminhos, com<br />
sabe<strong>do</strong>ria e afeto.<br />
Uma pessoa que tem si<strong>do</strong> fonte de inspiração profissional para toda a categoria de<br />
assistentes sociais, tanto pela sua obra intelectual quanto pela sua energia pessoal de pessoa<br />
comprometida com a vida e com uma sociedade ética e humana. A professora Dra. Maria<br />
Lúcia Martinelli, que muito me honra com sua presença na banca examina<strong>do</strong>ra. Eu sou<br />
muito fã de suas palavras, de seus textos e seu mo<strong>do</strong> de se relacionar com as pessoas,<br />
sempre tão próxima, tão solidária, tão inteira naquilo que faz.<br />
O professor Dr. Seno Cornely, uma figura marcante na história de minha formação<br />
profissional, desde a graduação, quan<strong>do</strong> foi meu professor e demonstrava sua "paixão" pela<br />
vida, pela política, pela profissão. Com o professor Seno comecei a aprender a construir<br />
uma interpretação dialético-crítica marxista da realidade. Os movimentos sociais, a visão<br />
política, as alternativas de articulação com a comunidade são temas significativos que<br />
aprendi com esse professor e nunca mais esqueci.
6<br />
O professor Hans Georg Flickinger, com o qual eu tive o privilégio de dialogar sobre as<br />
diferenças culturais e sobre o significa<strong>do</strong> da profissão e agora tenho a honra de aprofundar<br />
o debate em torno <strong>do</strong> "estranho", é alguém que tem colabora<strong>do</strong> muito para a construção <strong>do</strong><br />
curso de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong> de Serviço Social da PUC. Pessoalmente tive a oportunidade de<br />
aprender muito nas aulas <strong>do</strong> professor Hans e no intercâmbio cultural, em Kassel,<br />
organiza<strong>do</strong> por ele, onde um grupo de professores foi recebi<strong>do</strong> com muito profissionalismo<br />
e solidariedade.<br />
Não vou nomear meus amigos e amigas, companheiros e companheiros de jornada, de<br />
militância política, de jornada de trabalho, de luta cotidiana pela vida, o que seríamos nós<br />
sem uns aos outros? To<strong>do</strong>s fazemos parte deste grande universo e deste pequeno sistema<br />
cria<strong>do</strong> por nós. Não vivo sem vocês, nada se faz em caminhos solitários e o meu está<br />
preenchi<strong>do</strong> na GRAÇA da presença de cada um de vocês em minha vida.<br />
Em especial, sem poder nomear, quero agradecer a colaboração de to<strong>do</strong>s aqueles que se<br />
dispuseram a participar das entrevistas, <strong>do</strong>s seminários e deste debate sobre a questão da<br />
diversidade da condição humana. Muito pude aprender neste processo de pesquisa, de<br />
estu<strong>do</strong>, de discussão com diferentes grupos e só foi possível construir a tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong> a<br />
partir dessa trajetória de múltiplas vivências e elaborações.<br />
Aos meus familiares, que também não poderei nomear, tal a significância de cada um,<br />
minha imensa gratidão. Em especial, quero registrar minha eterna gratidão por aquele que<br />
foi meu companheiro durante 18 anos, Gerson muito grata pela tua paciência, dedicação e<br />
extrema bondade para comigo, em toda a nossa história.<br />
Minha filha Bruna agradecer a ti e à vida por oportunizar tua presença em meu caminho,<br />
uma das maiores alegrias e dádivas de to<strong>do</strong>s os dias, teu sorriso, tua alegria, tua diversidade<br />
que cresce, que me ensina a viver de outro jeito. Linda, que a gente possa aprender to<strong>do</strong>s os<br />
dias a recriar nossas vidas com a riqueza das cores e <strong>do</strong>s tons diversos que estão coloca<strong>do</strong>s<br />
no universo pelo qual transitamos.
7<br />
RESUMO<br />
O grande para<strong>do</strong>xo das relações sociais se coloca no fato de produzirem a necessidade<br />
de padronização <strong>do</strong>s comportamentos humanos, embora a diferença seja uma característica<br />
peculiar aos seres humanos. As pessoas vivem em seu meio social sob a égide de uma<br />
cultura de "normalidade", que se desenvolve a partir de uma lógica dicotômica que divide<br />
os seres em: normais/anormais; iguais/diferentes; perfeitos/deficitários. A conseqüência<br />
direta dessa interpretação fracionária da realidade <strong>do</strong>s seres vem a ser a segregação e a<br />
exclusão de to<strong>do</strong>s aqueles que não se encaixam nos padrões de normalidade estabelecida no<br />
contexto social. As pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades, por<br />
demonstrarem singularidades marcantes, foram submetidas a um esmaga<strong>do</strong>r processo social<br />
de exclusão e segregação, ao longo da história e da organização das sociedades. A tese que<br />
aqui se apresenta: afirma o reconhecimento da diversidade, como constitutiva da condição<br />
humana. Considera que, nas relações sociais são produzidas as interdições <strong>do</strong> acesso às<br />
diversas instâncias sociais e das possibilidades de expressão <strong>do</strong>s sujeitos. Versan<strong>do</strong> sobre a<br />
temática das deficiências/diferenças se pretende colocar em questão determina<strong>do</strong>s conceitos<br />
que situem as diferenças no la<strong>do</strong> inverso daquilo que é considera<strong>do</strong> correto, ideal para<br />
to<strong>do</strong>s. Consideram-se as diferenças como propulsoras da dinâmica das transformações <strong>do</strong><br />
social. A pesquisa desenvolvida neste trabalho se constitui em uma abordagem qualitativa,<br />
numa perspectiva dialética. Foi feito um estu<strong>do</strong> de caso de uma instituição pública que<br />
trabalha com a questão das deficiências e das altas habilidades, no Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio Grande<br />
Do Sul. Foram realiza<strong>do</strong>s entrevistas e seminários com as diversas unidades dessa<br />
instituição e seus representantes, com usuários da mesma e com pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência de movimentos sociais desse segmento. Além das entrevistas, o diário de<br />
campo, a observação participante em fóruns deliberativos de organização da sociedade em<br />
torno da questão das deficiências e das altas habilidades, serviram de subsídios para a<br />
composição dessa tese. No horizonte de novos significantes que situem os seres na<br />
possibilidade de exercer sua singularidade no contexto, se conclui que o social precisa<br />
tornar-se acessível para comportar a diversidade da condição humana.
8<br />
ABSTRACT<br />
The great para<strong>do</strong>x in social relations is established by the need of standardization of the<br />
human behaviour, since differences are a typical characteristic of human beings. People<br />
live in their social environment under the shield of ‘normality’ developed from a binary<br />
logic which divides people into categories such as: ‘normal / abnormal’, ‘similar /<br />
different’, ‘perfect / disabled’. The immediate consequence that comes from this<br />
fragmented interpretation of individuals happens to be segregation and exclusion of the<br />
ones who <strong>do</strong>n’t fit the established standards of normality. Disabled people or the ones who<br />
have highly sophisticated abilities due to their peculiarities have been submitted to this<br />
overwhelming process of social exclusion throughout the development of society. The<br />
present thesis recognizes diversity as a component of human nature; it considers that social<br />
relations prevent individuals from having access to certain instances. Considering the topic<br />
disabilities/differences it is intended that the concept which regards differences as<br />
abnormality must be dismissed. Differences are the power that moves a dynamic society<br />
forward. This research is a qualitative approach, that includes the study of a case from<br />
FADERS (Foundation for development of public policies to people who suffer from any<br />
disabilities or have highly sophisticated abilities in Rio Grande <strong>do</strong> Sul). Interviews and<br />
seminars were carried out with several units of this foundation, its personnel, users and<br />
disabled people as well. Besides the interviews, a diary and lectures about the organization<br />
of society and the aspects related to disabilities and special abilities were used to make up<br />
this thesis.
9<br />
SUMÁRIO<br />
RESUMO.............................................................................................................................................................7<br />
ABSTRACT...............................................................................................................................8<br />
APRESENTAÇÃO.................................................................................................................................. .........12<br />
INTRODUÇÃO................................................................................................................................................16<br />
I - A DEFICIÊNCIA DO CONHECIMENTO E A <strong>DIVERSI<strong>DA</strong>DE</strong> <strong>DA</strong> CONDIÇÃO <strong>HUMANA</strong>............24<br />
1.1 Diferenças e Singularidades...........................................................................................24<br />
1.2 A pessoa que é porta<strong>do</strong>ra de uma deficiência ou de altas habilidades...........................39<br />
1.3 A diversidade como condição humana..........................................................................54<br />
1.4 Identidade na perspectiva das relações sociais...............................................................67<br />
I I - RELAÇÕES SOCIAIS E SINGULARI<strong>DA</strong>DES INDIVIDUAIS..............................................................78<br />
2.1 Os horrores da história e o não reconhecimento da diversidade.....................................79<br />
2.2 Segregação nas relações sociais......................................................................................89<br />
2.3 A diferença entre os sujeitos dessa sociedade...............................................................106<br />
2.4 Relações sociais e a marca da igualdade.......................................................................108<br />
I I I - POLÍTICAS PÚBLICAS E A GARANTIA DE CI<strong>DA</strong><strong>DA</strong>NIA E PERTENCIMENTO.....................120<br />
3.1 Porta<strong>do</strong>res de um significa<strong>do</strong> social: exclusão/inclusão no caso das diferenças<br />
visivelmente aparentes........................................................................................................120<br />
3.2 A FADERS como campo de pesquisa: seu significa<strong>do</strong> social....................................125<br />
3.3 O significa<strong>do</strong> de uma política pública.........................................................................138
10<br />
IV - ACESSIBILI<strong>DA</strong>DE: "UM MUNDO PARA TODOS".........................................................................152<br />
4.1 Acessibilidade e a Questão Social...............................................................................152<br />
4.2 Acessibilidade e a questão da heterogeneidade...........................................................163<br />
4.3 Acesso a uma outra cultura..........................................................................................171<br />
V - O DESENHO <strong>DA</strong> PESQUISA E SEU FUN<strong>DA</strong>MENTO TEÓRICO -PRÁTICO..................................180<br />
5.1 Concepções acerca da construção desta travessia.........................................................180<br />
5.2 O desenho da pesquisa..................................................................................................188<br />
5.3 Os passos significativos da trajetória............................................................................194<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................................................................................206<br />
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................................218<br />
REVISTAS......................................................................................................................................................228<br />
FILMES...........................................................................................................................................................229<br />
DOCUMENTOS......................................................................................................................229<br />
ANEXOS.........................................................................................................................................................233<br />
ANEXO 1 Dez propostas para uma nova abordagem...........................................................234<br />
ANEXO 2 Parecer 658/77 Conselho Estadual de Educação.................................................235<br />
ANEXO 3 Documento de Salamanca...................................................................................236<br />
ANEXO 4 Legislação referente à pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência/compêndio org. pela<br />
FADERS................................................................................................................................237<br />
ANEXO 5 Documento da FADERS sobre o significa<strong>do</strong> <strong>do</strong> Fórum Permanente da Política<br />
Pública para PPD e PPAH..................................................................................................238<br />
ANEXO 6 Documento da FENEIS.........................................................................................239<br />
ANEXO 7 Nova Lei da FADERS...........................................................................................240
11<br />
ANEXO 8 Instrumento de pesquisa I..................................................................................241<br />
ANEXO 9 Instrumento de pesquisa II.................................................................................242<br />
ANEXO 10 Instrumento de pesquisa III..............................................................................243
12<br />
APRESENTAÇÃO<br />
Minha profissão denomina-se Serviço Social. Na qualidade de Assistente social, sou<br />
investiga<strong>do</strong>ra da área humana no âmbito das relações sociais. Parece ser este um campo<br />
extenso <strong>do</strong> conhecimento, porém, cada profissional da área faz o corte temático de seu<br />
campo específico de trabalho para analisar o real em seu dinamismo relacional. Portanto,<br />
toda esta aparente amplitude <strong>do</strong> campo social poderá se traduzir em uma forma de<br />
interpretar as partes e os fatos, em um contexto mais amplo sem perder a especificidade de<br />
cada área singular.<br />
Sou militante (embora sem filiação partidária) de um parti<strong>do</strong> de esquerda, portanto toda<br />
a leitura que faço <strong>do</strong> real é também fruto de uma visão política que analisa o mun<strong>do</strong> a partir<br />
das contradições <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> de organização social e das relações entre os sujeitos nesta<br />
estrutura. Não acredito em neutralidade da ciência. Do lugar onde se está é o lugar de onde<br />
se fala, se faz o conhecimento, que hoje é mais complexo e mais diverso <strong>do</strong> que já foi em<br />
séculos anteriores ao atual. As concepções sobre a vida, a sociedade, sobre os seres<br />
humanos, os valores e significa<strong>do</strong>s que se dão aos fatos da vida irão conosco, nos<br />
acompanham nas construções teóricas que elaboramos. Por isso, assim apresento-me.<br />
No início <strong>do</strong> curso de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong> a temática de minha pesquisa foi construída em função<br />
<strong>do</strong> “processo de trabalho <strong>do</strong> Assistente Social”, em uma abordagem marxiana. A filosofia<br />
de Marx e seu méto<strong>do</strong> orientavam e continuam a orientar a forma como preten<strong>do</strong> conduzir<br />
meu processo de trabalho profissional. Uma vez que eu tinha desenvolvi<strong>do</strong> a temática em<br />
torno <strong>do</strong> processo de trabalho <strong>do</strong> Serviço Social no mestra<strong>do</strong>, pretendia continuar nessa<br />
linha de estu<strong>do</strong>. Esse aprofundamento temático seria desenvolvi<strong>do</strong> na perspectiva de<br />
pesquisar e escrever sobre meto<strong>do</strong>logias de intervenção no real, orientadas pela filosofia<br />
marxiana. Nesta perspectiva desenvolveria um diálogo entre as obras “antigas”, clássicas<br />
com a <strong>do</strong>s autores atuais. Esse diálogo seria feito, também, sob os elementos concretos das
13<br />
práticas sociais com as quais tenho familiaridade. Tal temática não é incomum na literatura<br />
<strong>do</strong> serviço social de nosso tempo, muito embora também não seja um assunto esgota<strong>do</strong>.<br />
Por ocasião <strong>do</strong> seminário internacional, na cidade de Kassel (Alemanha, em 1999),<br />
quan<strong>do</strong> houve um intercâmbio cultural entre Brasil e Kassel, apresentei no mesmo um<br />
estu<strong>do</strong> sobre meu campo de trabalho. A temática deste seminário foi o intercâmbio entre os<br />
campos <strong>do</strong> trabalho social entre esses <strong>do</strong>is países. Nessa ocasião sistematizei os<br />
conhecimentos teórico-práticos de minha experiência na FADERS (Fundação de<br />
Articulação e Desenvolvimento da Política Pública para pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e<br />
altas habilidades <strong>do</strong> RS), em uma abordagem específica <strong>do</strong> Serviço Social, porém em<br />
constante articulação e comunicação com as demais áreas <strong>do</strong> conhecimento. Afinal não me<br />
é possível dissociar as ações de minha profissão das demais e diferentes profissões, sen<strong>do</strong><br />
que minha experiência sempre se deu em trabalho de equipe e de forma interdisciplinar,<br />
nessa Fundação.<br />
O seminário internacional foi organiza<strong>do</strong> pelo professor Dr. Hans Georg Flickinger, que<br />
é da Universidade de Kassel e da PUCRS, no Brasil e pela professora Dra. Leonia Bulla<br />
Capaverde, minha orienta<strong>do</strong>ra no Doutora<strong>do</strong> em Serviço Social da PUCRS. O evento foi<br />
muito significativo para o grupo de professores <strong>do</strong>utoran<strong>do</strong>s que lá estiveram, pois, to<strong>do</strong>s<br />
aprofundaram estu<strong>do</strong>s em suas respectivas áreas de pesquisa. Com o intercâmbio,<br />
conhecemos um pouco da realidade <strong>do</strong> serviço social europeu e suas peculiaridades<br />
distintas da realidade brasileira. Foram encontra<strong>do</strong>s, entretanto, alguns pontos em comum,<br />
mas principalmente a riqueza da descoberta <strong>do</strong> diverso.<br />
Na oportunidade daquele seminário, ao aprofundar a reflexão sobre o processo de<br />
trabalho <strong>do</strong> assistente social da FADERS e ao tematizar sobre esse campo, descobri o<br />
grande potencial investigativo da temática das deficiências/diferenças, assunto sobre o qual<br />
vinha trabalhan<strong>do</strong> e estudan<strong>do</strong>, mas sem aprofundar as reflexões investigativas. Por ter<br />
concluí<strong>do</strong> o primeiro texto sobre o assunto, na ocasião <strong>do</strong> seminário e por tê-lo apresenta<strong>do</strong><br />
e debati<strong>do</strong> em Kassel, comecei a encantar-me com a possibilidade de aprofundar esse<br />
assunto. O intercâmbio de culturas, as aproximações com a temática das deficiências na
14<br />
realidade de outro país, as ampliações <strong>do</strong> conhecimento com outras teorias foram me<br />
aproximan<strong>do</strong> cada vez mais da decisão de substituir a temática original de minha pesquisa.<br />
Para tanto, deveria eu deixar em suspenso to<strong>do</strong> o material e estu<strong>do</strong> sobre a temática inicial,<br />
da qual já acumulava alguns subsídios teóricos e práticos para compor a construção de uma<br />
tese.<br />
Um fator que pesou bastante na decisão de finalmente substituir a temática de minha<br />
pesquisa, além <strong>do</strong> incentivo de minha orienta<strong>do</strong>ra Professora Bulla, foi a apresentação, no<br />
então seminário, das “Sete Teses em Torno da experiência <strong>do</strong> Estranho”, de autoria <strong>do</strong> já<br />
menciona<strong>do</strong> Professor Flickinger. Essas belíssimas 7 teses demonstram, entre outras<br />
coisas:<br />
“Que é possível compreender aquilo que consideramos estranho (diferentes<br />
culturas, o que é diferente) na medida em que se consegue compreendê-lo,<br />
ou seja, se o tomarmos como estranho, reconhecen<strong>do</strong> sua estranheza.<br />
Admitin<strong>do</strong> sua existência, enquanto existência, enquanto diferença,<br />
enquanto algo que fora de si mesmo, pode ser o outro que nos faça<br />
experienciar a nos mesmos de outra forma. E, sen<strong>do</strong> assim compreender o<br />
estranho significa compreender melhor a si mesmo” (FLICKINGER, 1999).<br />
As “teses em torno da experiência <strong>do</strong> estranho”, <strong>do</strong> professor FLICKINGER inspiraram<br />
a caminhada que venho fazen<strong>do</strong> no desenvolver desta pesquisa e na renovação da<br />
interpretação sobre a temática das deficiências, enquanto a demonstração das diferenças<br />
que são inerentes à condição humana. As diferenças são estranhas enquanto não as<br />
admitimos como constitutivas da realidade humana, enquanto não as aceitarmos, não<br />
apenas como uma marca pessoal, de alguém que se considera diferente, mas como um<br />
registro humano e real. Nos constituímos enquanto sujeitos da vida social, não nos moldes<br />
<strong>do</strong> padrão das sociedades, porém enquanto indivíduos singulares pertencentes a sua<br />
contextualidade.<br />
A caminhada percorrida até aqui faz pensar que estranho é o mo<strong>do</strong> de vida humana, a<br />
organização <strong>do</strong>s setores da vida social. Vivemos e nos desenvolvemos em um mun<strong>do</strong><br />
pensa<strong>do</strong> e feito para to<strong>do</strong>s serem iguais, para um tipo de ser padroniza<strong>do</strong>, idealiza<strong>do</strong> e não<br />
condizente com as peculiaridades humanas que nos fazem ser, por condição, diferentes uns<br />
<strong>do</strong>s outros. Estranho é analisar a história e perceber nela tantos eventos que punem de
15<br />
forma tão violenta toda a expressão das singularidades pessoais. É estranho saber que a<br />
peculiaridade da condição humana já foi considerada como algo não humano. Pensar que a<br />
pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência foi considerada deficitária, falha, incompleta em seu to<strong>do</strong><br />
pessoal, por não responder a um padrão idealiza<strong>do</strong> de ser humano, isso causa estranheza.<br />
E, o mais estranho de tu<strong>do</strong> isso é constatar que to<strong>do</strong> o “saber” das ciências humanas, em<br />
diversos tempos históricos, não foi suficiente para demonstrar confiabilidade no potencial<br />
humano. As pessoas que apresentam diferenças marcantes, visíveis ou algum déficit<br />
específico no desenvolvimento são vistas com descrédito. Vou seguir construin<strong>do</strong> este<br />
trabalho discutin<strong>do</strong> toda essa estranheza de ser e estar em um mun<strong>do</strong> humano, onde o<br />
humano é tão desconheci<strong>do</strong> e estranho, que escapa as nossas explicações. O problema dessa<br />
estranheza toda é não a termos admiti<strong>do</strong> enquanto existente e, ao negá-la, negamos a nós<br />
mesmos, ou uma parte significativa de nossas diferenças individuais. Não somos to<strong>do</strong>s<br />
iguais, nem tão pouco completos, perfeitos ou sem algum tipo de déficit pessoal. É estranho<br />
aceitarmos, com pouca resistência, uma sociedade que diariamente, está organizada de<br />
mo<strong>do</strong> que, proporciona uma vida em que poucos podem pertencer.
16<br />
INTRODUÇÃO<br />
O desenrolar das relações sociais entre os sujeitos da sociedade vem se constituin<strong>do</strong><br />
implícita e explicitamente de uma forma que constrói um padrão de exigibilidade sobre os<br />
sujeitos. As pessoas se vêm compelidas a corresponder às expectativas sócio-culturais que<br />
a história de cada tempo escreveu, a partir <strong>do</strong>s tempos passa<strong>do</strong>s e vivi<strong>do</strong>s por inúmeros<br />
outros seres humanos que se desenvolviam enquanto pessoas em seus contextos. Na grande<br />
maioria das vezes a expectativa colocada em cada criança que nasce está imbuída na idéia<br />
de que ela deva crescer e se desenvolver bela, inteligente, “perfeita”.<br />
A criança quan<strong>do</strong> vem ao mun<strong>do</strong> é esperada com uma aspiração social previamente<br />
estabelecida, pela qual ela deve estar de acor<strong>do</strong> com to<strong>do</strong>s os sonhos que a sociedade<br />
sonhou. Esta sociedade é composta por quem? Por seus pais, seus parentes, seus vizinhos,<br />
sua comunidade, seu país, seu contexto, o mun<strong>do</strong> ao seu re<strong>do</strong>r. Refere-se aqui a um ser<br />
genérico, o ser humano, que em verdade pode ser qualquer um de nós ou cada um de nós.<br />
Seja como for, to<strong>do</strong>s os seres que vêm ao mun<strong>do</strong> o encontram previamente (antes de<br />
nascer) organiza<strong>do</strong> dentro de um padrão de funcionalidade à qual será necessário responder<br />
positivamente, sob pena da interdição <strong>do</strong> pertencimento ao mesmo.<br />
O que acontece se não for possível responder ao padrão geral <strong>do</strong>s seres humanos, se não<br />
se é igual aos demais? Se acontecer de uma pessoa apresentar diferenças “marcantes”, a<br />
família, a cultura, a sociedade, reconhecerá essa diferença como parte de seu conjunto? As<br />
mesmas condições, de acesso às instâncias da sociedade, serão oportunizadas para os que se<br />
desenvolvem dentro de condições específicas, consideradas "especiais"? Sabe-se pela<br />
história da humanidade que as diferenças são pouco toleradas nas sociedades, que inclusive<br />
foram punidas e erradicadas, em várias ocasiões. Aqueles que apresentam diferenças<br />
marcantes são excluí<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s processos sociais, especialmente da participação social.<br />
Quan<strong>do</strong> acontece de uma pessoa apresentar uma deficiência se torna muito complexa a<br />
tarefa de se presentificar num mun<strong>do</strong> to<strong>do</strong> pensa<strong>do</strong> para um "ser humano padrão". A
17<br />
exigibilidade de perfeição e de enquadre no padrão social de funcionalidade, fecha os<br />
espaços de expressão das diferentes singularidades. A sociedade se organiza de uma forma<br />
que contraria a própria condição humana, em que não é possível encontrar a padronização e<br />
igualificação. Cada subjetividade humana é <strong>do</strong>tada de um mun<strong>do</strong> rico e singular,<br />
absolutamente único.<br />
Parece haver um conflito fundamental entre as exigências impostas aos sujeitos e às<br />
condições singulares que caracterizam os mesmos. Um ponto fundamental para<br />
problematizar a concepção de ser humano pautada na homogeneização <strong>do</strong>s seres é<br />
considerar o fato da diferença ser constitutiva da humanidade. Tanto a diferença cultural,<br />
étnica, política, quanto à diferença biológica caracterizam a diversidade de possibilidades<br />
de realização individual da condição humana. A questão das deficiências deveria ser vista<br />
ten<strong>do</strong> como referência essa condição de diversidade característica <strong>do</strong> seres. Se assim fosse,<br />
não teria senti<strong>do</strong> a segregação e a exclusão, as quais foram e ainda são submetidas às<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades.<br />
A tese que aqui se apresenta tem como finalidade demonstrar de um la<strong>do</strong>, a vivacidade<br />
que pode produzir cada singularidade em sua diversidade real. Não são alguns seres que são<br />
diferentes de outros. Cada ser possui a sua diferença, sua marca pessoal deveria ser<br />
respeitada e reconhecida no social, por fazer parte da condição de ser humano. De outro<br />
la<strong>do</strong>, pretende-se chegar, com esta tese, à demonstração de que nas relações sociais são<br />
produzidas as interdições inviabilizantes da participação <strong>do</strong>s sujeitos em seu contexto.<br />
O campo social, por vezes, fecha as possibilidades de acesso ao seu meio àqueles que<br />
demonstram mais visivelmente as diferenças. Inúmeras barreiras materiais e simbólicas são<br />
criadas impedin<strong>do</strong> a expressão daqueles considera<strong>do</strong>s "sujeitos diferentes". O imenso<br />
potencial criativo e humano das pessoas porta<strong>do</strong>ras de algum déficit ou de algum talento a<br />
mais se torna uma forma de vida "estranha" que não se enquadra no molde forneci<strong>do</strong> nas<br />
relações sociais. Nesta "estranheza", as dificuldades, apresentadas por uma pessoa<br />
porta<strong>do</strong>ra de deficiência, não são vistas como déficit referente a uma parte específica <strong>do</strong> ser<br />
e sim no ser como um to<strong>do</strong>. Desta forma se percebe o ser como um to<strong>do</strong> deficitário, o que
18<br />
o coloca em um lugar social de "menosvalia", "menoridade", discriminação e exclusão<br />
social.<br />
A existência de uma cultura da “normalidade”, da padronização, leva ao não<br />
reconhecimento das diferenças e singularidades. As diferenças são peculiares à espécie<br />
humana. A subjetividade <strong>do</strong>s sujeitos, ainda não totalmente desvendada pelas ciências, se<br />
expressa singularmente, não seguin<strong>do</strong> a normas nem a padrões. As relações sociais que são<br />
estabelecidas entre as pessoas acompanham aquele padrão de normalidade, no qual os que<br />
se enquadram estão dentro e os que não se enquadram estão fora e, portanto, excluí<strong>do</strong>s da<br />
sociedade. As relações sociais produzem a exclusão e na questão das deficiências, tem<br />
produzi<strong>do</strong> uma série de segregações para as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Pelo<br />
desconhecimento das ciências em torno da questão das deficiências e da real potencialidade<br />
<strong>do</strong>s sujeitos porta<strong>do</strong>res de alguma deficiência, se tem reserva<strong>do</strong> um espaço social muito<br />
restrito àqueles que tem limita<strong>do</strong> alguma função de suas vidas.<br />
As relações sociais entre os sujeitos desta sociedade no dinamismo <strong>do</strong>s processos sociais<br />
têm dificulta<strong>do</strong> o acesso daqueles que precisam recorrer a formas alternativas de viver, que<br />
não se enquadram nas normativas sociais. O déficit pessoal é acentua<strong>do</strong> por uma questão<br />
que diz respeito não só ao indivíduo, mas também, pelo próprio processo social de<br />
pertencimento ou de exclusão <strong>do</strong> sujeito <strong>do</strong> seu meio. Pretende-se demonstrar, nesta tese, a<br />
importância de criar um outro dinamismo às relações sociais, no qual se considere algo<br />
vital e óbvio, porém ainda não existente: a garantia da inclusão das pessoas nesta sociedade,<br />
independente <strong>do</strong> déficit ou talento que ela possua. Os processos de exclusão por que<br />
passam as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência são a demonstração mais pontual e visível das<br />
barreiras criadas na sociedade em função <strong>do</strong> não reconhecimento das singularidades como<br />
parte <strong>do</strong> social.<br />
No trabalho que aqui se apresenta elegeu-se a FADERS (Fundação de Articulação e<br />
Desenvolvimento da Política Pública para Pessoas Porta<strong>do</strong>ras de Deficiência e Altas<br />
habilidade no Rio Grande <strong>do</strong> Sul), como um campo de pesquisa. O corte temático, para este<br />
estu<strong>do</strong>, ficou defini<strong>do</strong> como: a diversidade da condição humana e o entendimento <strong>do</strong>
19<br />
dinamismo das relações sociais como causa<strong>do</strong>r <strong>do</strong>s processos sociais de inclusão/exclusão,<br />
nos quais se inserem as chamadas pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Pretende-se refletir<br />
sobre as relações sociais de uma sociedade, em que as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência<br />
(PPD) e pessoas porta<strong>do</strong>ras de altas habilidades (PPAH) convivem, com sua singularidade,<br />
sob a égide da padronização. Nessa reflexão objetiva-se construir um caminho conjunto,<br />
com os demais sujeitos <strong>do</strong> contexto da temática, que possa levar a destituição <strong>do</strong>s enre<strong>do</strong>s<br />
que situam ainda hoje, à questão das diferenças, nos meandros da discriminação e da<br />
exclusão social.<br />
Pretende-se, também, ampliar esta investigação: conhecer os processos sociais de<br />
exclusão e inclusão por que passam as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, através <strong>do</strong><br />
depoimento de quem vive esses processos e daqueles que trabalham na instituição<br />
FADERS e estão trabalhan<strong>do</strong> na política pública para porta<strong>do</strong>res de deficiência e<br />
porta<strong>do</strong>res de altas habilidades. Propõe-se, de outra forma, entender a questão das<br />
diferenças como contraponto a um padrão de normalidade estabeleci<strong>do</strong> no conjunto das<br />
relações sociais de produção capitalista. Objetiva-se, outrossim, questionar os conceitos que<br />
dão significância a um tipo “ideal de homem” e trabalhar ten<strong>do</strong> em vista o senti<strong>do</strong> da vida<br />
humana, na ruptura de padrões estabeleci<strong>do</strong>s socialmente. Foram utiliza<strong>do</strong>s procedimentos<br />
de pesquisa, na instituição FADERS, que possibilitaram a reflexão e a problematização da<br />
prática institucional em relação à inclusão /exclusão das PPD e PPAH.<br />
A partir da definição da temática e <strong>do</strong>s objetivos deste estu<strong>do</strong>, formulou-se o problema<br />
de pesquisa, composto por um conjunto de indagações acerca da temática, tais como: Será<br />
possível atribuir outro significa<strong>do</strong> ao lugar ocupa<strong>do</strong> pelas diferenças no conjunto das<br />
relações sociais? O que as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência pensam sobre o processo de<br />
cidadania e como percebem uma instituição como a FADERS? Esta instituição é percebida<br />
em sua possibilidade de construção de políticas públicas, no senti<strong>do</strong> da cidadania? Como o<br />
conhecimento técnico <strong>do</strong>s profissionais especializa<strong>do</strong>s nessa área, poderá ser utiliza<strong>do</strong>, na<br />
implementação de uma política pública para PPD e PPAH, em que a tônica esteja na<br />
cidadania e na inclusão? Qual a real contribuição que uma instituição como a FADERS,<br />
poderá proporcionar aos sujeitos dessa sociedade, no senti<strong>do</strong> da construção de uma nova
20<br />
cultura em relação às deficiências/diferenças? Com o desenvolver da pesquisa de campo<br />
almeja-se poder percorrer o caminho dessas indagações e, em conjunto com os parceiros<br />
dessas reflexões, ir formulan<strong>do</strong> respostas e novas indagações, num processo de<br />
inacabamento <strong>do</strong> aprender, pelo qual será possível uma aproximação maior com os eventos<br />
<strong>do</strong> real, muito embora se considere o fato de que em seguida o mesmo escapa de uma<br />
percepção mais acurada, deixan<strong>do</strong> assim o caminho sempre em aberto para novas<br />
descobertas.<br />
No capítulo primeiro, será discuti<strong>do</strong> o (des) conhecimento acerca das<br />
deficiências/diferenças demonstran<strong>do</strong> o déficit <strong>do</strong> conhecimento, a deficiência <strong>do</strong> “saber”<br />
para responder as diferentes demandas referentes à diversidade da condição humana. A<br />
diferença como uma marca das singularidades, inerente a to<strong>do</strong> ser humano é apresentada<br />
através de ilustrações trazidas nos depoimentos das pessoas entrevistadas, na narração de<br />
histórias reais ou fictícias de personagens da literatura e da história de "personagens" <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong> social. Alguns depoimentos e vivências demonstram as diferenças de<br />
individualidades singulares e ao mesmo tempo a dificuldade <strong>do</strong>s diversos setores da<br />
sociedade de compreensão dessas singularidades.<br />
Trata-se de um imenso desconhecimento da sociedade em relação à diversidade da<br />
condição humana. Algumas situações específicas são exemplificadas para mais uma vez<br />
demonstrar o quanto à organização <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> de vida social é constituí<strong>do</strong> de maneira a<br />
excluir aqueles que não se enquadram em uma vida pensada em padrões irrealísticos de<br />
“normalidade”. Esse primeiro capítulo pretende situar o debate em torno <strong>do</strong>s significa<strong>do</strong>s<br />
sociais atribuí<strong>do</strong>s às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, em suas diferentes áreas (física,<br />
sensorial e psíquica) e das que apresentam altas habilidades. A discussão, em torno <strong>do</strong>s<br />
conceitos de identidade e alteridade, objetiva desenvolver o entendimento da concepção da<br />
diversidade da condição humana como característica <strong>do</strong> dinâmico movimento que se<br />
estabelece entre os sujeitos e seu contexto.<br />
As diferenças entre os sujeitos, que não foram reconhecidas pela história da humanidade<br />
e das ciências, serão apresentadas no capítulo segun<strong>do</strong>. Pontua-se, também, o fato das
21<br />
relações sociais serem segrega<strong>do</strong>ras, no que tange às questões <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência. Nesse aspecto os processos de inclusão/exclusão são conseqüências dessas<br />
relações sociais. Sujeito e contexto estão em uma imbricada relação dialética de inúmeras<br />
facetas. Utilizam-se depoimentos colhi<strong>do</strong>s nas entrevistas e seminários, bem como, a<br />
análise de desenhos infantis para demonstrar as conclusões realizadas em torno da<br />
interdição, colocada no social aos sujeitos e as suas diferenças.<br />
No capítulo terceiro, é apresentada a política pública que atualmente (de 1999 a 2003)<br />
passa a responder pelas questões referentes às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas<br />
habilidades, no Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul. A construção de uma política pública para<br />
atender às demandas desse segmento da população é o resulta<strong>do</strong> de um amplo debate pelas<br />
diversas instâncias <strong>do</strong> social que ultrapassam a visão em que a questão da deficiência era<br />
tratada como campo da assistência social unicamente.<br />
Há to<strong>do</strong> um movimento internacional de luta pela inclusão, pelo direito a ser diferente,<br />
pela construção de uma sociedade que se adapte às necessidades singulares <strong>do</strong>s sujeitos. A<br />
construção dessa política pública, no Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul (através da FADERS),<br />
vai ser retratada na sua perspectiva de luta pela cidadania e emancipação, pela qual busca<br />
transformar as velhas tradições e consolidar os direitos sociais de to<strong>do</strong> o cidadão a fazer<br />
parte de seu contexto. A FADERS é a instituição gestora dessa política pública e seu papel<br />
social será discuti<strong>do</strong> nesse capítulo.<br />
O quarto capítulo versa sobre o significa<strong>do</strong> da acessibilidade, como um <strong>do</strong>s resulta<strong>do</strong>s da<br />
pesquisa. As relações sociais têm como conseqüência a questão social, apreendida em seu<br />
duplo movimento, ou seja, de exclusão e de resistência <strong>do</strong>s sujeitos sociais. A interdição<br />
das possibilidades de acesso ao campo social, se constitui em uma das refrações da questão<br />
social. Para as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades, essa interdição é<br />
experiênciada de maneira mais acentuada, em função da constituição arquitetônica e<br />
simbólica da sociedade, que está pautada em um "modelo-padrão". As diferenças <strong>do</strong>s<br />
sujeitos que portam deficiência ou talentos singulares não encontram muito espaço de<br />
reconhecimento no convívio entre as pessoas. De igual forma, as pessoas não encontram
22<br />
acesso a grande parte das instâncias organizadas <strong>do</strong> social. Portanto, o debate em torno da<br />
acessibilidade, se torna imprescindível, no senti<strong>do</strong> de encontrar soluções para a interdição<br />
imposta aos sujeitos e as suas singularidades.<br />
O percurso transcorri<strong>do</strong> nesta trajetória de pesquisa e a construção da tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong><br />
serão explicita<strong>do</strong>s no capítulo quinto. Especifica-se o significa<strong>do</strong> de uma abordagem social<br />
na perspectiva da meto<strong>do</strong>logia qualitativa em pesquisa, descreven<strong>do</strong>-se também, os<br />
procedimentos a<strong>do</strong>ta<strong>do</strong>s nessa investigação. A FADERS é apresentada como uma<br />
particularidade no processo investigativo. É um <strong>do</strong>s campos de pesquisa, um lugar, a partir<br />
<strong>do</strong> qual, o real é submeti<strong>do</strong> a inúmeras indagações. Não foi apenas essa, entretanto, a única<br />
fonte de informação para a compreensão da questão da diversidade e <strong>do</strong>s processos de<br />
exclusão/inclusão. Os depoimentos foram colhi<strong>do</strong>s em entrevistas com as pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência que utilizam os serviços da FADERS e, entre pessoas que não<br />
estão ligadas a essa instituição.<br />
A temática, elegida para o desenvolver da pesquisa foi passan<strong>do</strong> por inúmeras (re)<br />
significações e as concepções sobre a mesma também foram se transforman<strong>do</strong>. As<br />
formulações teóricas apresentadas, acerca da diversidade da condição humana, são,<br />
portanto, de ordem coletiva. A proposta que aqui se apresenta, através da pesquisa, é um<br />
diálogo com os sujeitos que tem uma vivência direta com as questões referentes à temática.<br />
As vozes que foram ouvidas nesta abordagem social compõem as (re) formulações<br />
constantes que se fazem sobre o tema.<br />
A pesquisa se consolidada no desenvolver da prática institucional e extrainstitucional da<br />
própria pesquisa<strong>do</strong>ra, os campos de estu<strong>do</strong> são próximos e interliga a investigação<br />
(pesquisa) e processo de trabalho. Os resulta<strong>do</strong>s da pesquisa foram, portanto, sen<strong>do</strong><br />
discuti<strong>do</strong>s constantemente. Pretende-se tornar público esses resulta<strong>do</strong>s, divulgan<strong>do</strong> o que<br />
foi se descobrin<strong>do</strong> e (re) descobrin<strong>do</strong> sobre os processos sociais de inclusão e exclusão a<br />
que são submetidas às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e altas habilidades, a partir de seus<br />
próprios depoimentos. As relações sociais criam os processos sociais de exclusão e<br />
inclusão, em função de uma marca que é impingida a todas as pessoas, a de serem iguais.
23<br />
Esse é um papel social culturalmente almeja<strong>do</strong> para a vida humana, uma vida absurda, que<br />
não reconhece as diferenças, como característica <strong>do</strong>s seres humanos. No desenrolar desta<br />
pesquisa, a partir de estu<strong>do</strong>s de <strong>do</strong>cumentos, da revisão constante de literatura e da escuta<br />
das múltiplas vozes que foram possível ouvir, através <strong>do</strong>s depoimentos, almeja-se ter<br />
encontra<strong>do</strong> subsídios para sustentar a tese que aqui se propõe a apresentar.
24<br />
I - A DEFICIÊNCIA DO CONHECIMENTO E A <strong>DIVERSI<strong>DA</strong>DE</strong> <strong>DA</strong> CONDIÇÃO <strong>HUMANA</strong><br />
Para iniciar esta caminhada em torno da defesa <strong>do</strong> direito de ser diferente em um mun<strong>do</strong><br />
que parece ser feito para os seres serem to<strong>do</strong>s iguais será utiliza<strong>do</strong> o recurso de descrever e<br />
analisar as singularidades de algumas personalidades que serão apresentadas neste capítulo.<br />
Com este estu<strong>do</strong> pretende-se demonstrar que o conhecimento acumula<strong>do</strong> pela ciência, em<br />
suas diferentes áreas, não é suficiente para abarcar o significa<strong>do</strong> humano de cada ser.<br />
O problema que se coloca aqui se refere ao fato de que a insuficiência <strong>do</strong> saber só é<br />
agravada pela soberba de sua imposição que irá influenciar no mo<strong>do</strong> de viver das pessoas.<br />
Essa influência nem sempre foi construtiva, ten<strong>do</strong> em vista que muitos méto<strong>do</strong>s que foram<br />
cria<strong>do</strong>s, na área da pedagogia, da psiquiatria e outras, têm servi<strong>do</strong> para criar muros entre as<br />
pessoas, consolidan<strong>do</strong> fronteiras que separam "os normais" <strong>do</strong>s "não normais". Nas linhas<br />
que seguem tanto a ficção como a vida real estará fornecen<strong>do</strong> subsídios para a<br />
argumentação que pretende sustentar a idéia de que o principal déficit se localiza nas<br />
organizações das instâncias sociais, suas instituições e seus méto<strong>do</strong>s e não unicamente no<br />
sujeito.<br />
1.1 DIFERENÇA E SINGULARI<strong>DA</strong>DE<br />
A irônica obra de Macha<strong>do</strong> de Assis (1988), intitulada “O Alienista”, será citada a<br />
seguir, com certa minuciosidade, na qualidade de uma ilustração, referência para o debate<br />
em torno da limitação <strong>do</strong> conhecimento para apreender o humano. Nessa obra encontra-se<br />
uma bem formulada demonstração de como os “homens da ciência” trataram o<br />
desconheci<strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, pertinente aos seres humanos. A interioridade humana, as<br />
peculiaridades comportamentais sempre escaparam da possibilidade de sua interpretação
25<br />
exata, realmente própria à condição humana. Macha<strong>do</strong> de Assis criou o famoso personagem<br />
<strong>do</strong> Dr. Simão Bacamarte, que morava na Vila de Itaguaí, casa<strong>do</strong> com D. Evarista. O casal<br />
não teve filhos. Ele um homem de ciência dedicou sua vida a estudar a loucura. Para tanto,<br />
construiu a “Casa Verde”, uma bela construção, com diversos compartimentos para seus<br />
hóspedes, com janelas verdes.<br />
A construção dessa casa foi uma idéia que Simão Bacamarte teve de reunir em um só<br />
lugar pessoas “demenciadas”. Até então em seu contexto, os “loucos” eram tranca<strong>do</strong>s em<br />
casa e separa<strong>do</strong>s <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. O protagonista desse conto percorreu a câmara de verea<strong>do</strong>res<br />
em busca de autorização e subsídios para implementar tal obra. Ele causou grande espanto<br />
na vila com esta idéia de tratar e aglutinar os “loucos”. A Câmara lhe deu autorização e<br />
apoio, por se tratar de experimento da ciência e de ser ele um homem estudioso, que vinha<br />
de uma família com renoma<strong>do</strong>s nomes na ciência da medicina. O pai de Bacamarte foi um<br />
<strong>do</strong>s maiores médicos <strong>do</strong> Brasil, segun<strong>do</strong> esse conto de Assis.<br />
A inauguração da “Casa Verde” foi com grande “pompa”. Toda a vila participou apesar<br />
de, no início, as pessoas terem fica<strong>do</strong> perplexas com a idéia. Após a inauguração começou a<br />
grande “romaria” de exílio <strong>do</strong>s “loucos”. “De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíram<br />
loucos à casa verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família<br />
<strong>do</strong>s deserda<strong>do</strong>s <strong>do</strong> espírito. Ao cabo de quatro meses, a Casa Verde era uma povoação”<br />
(ASSIS, 1988, p.7). Foram muitas pessoas levadas, capturadas à casa verde. Simão<br />
Bacamarte, “sábio que era não recolhia ninguém sem a certeza da loucura <strong>do</strong> mesmo”,<br />
acreditava ele.<br />
Passa<strong>do</strong>s vários episódios de “prisão <strong>do</strong>s loucos” as pessoas da vila começaram a se<br />
indignar, porque uma quantidade muito grande daquela população foi recolhida de maneira<br />
arbitrária à instituição. E, o Dr. Simão prosseguia em sua experiência científica capturan<strong>do</strong><br />
“aliena<strong>do</strong>s”. Certa vez a indignação geral foi tão grande que uma pessoa da vila organizou<br />
uma rebelião para soltar os cativos. As pessoas articularam-se com a câmara, mas nada<br />
conseguiram e o alienista continuou prenden<strong>do</strong> os “loucos”. Foi chega<strong>do</strong> o dia em que o<br />
próprio Simão Bacamarte decidiu soltar to<strong>do</strong>s os que estavam na Casa Verde. O motivo?
26<br />
Ten<strong>do</strong> revisa<strong>do</strong> a estatística da instituição percebe que quatro quintos da população<br />
estavam lá em tratamento. Esse da<strong>do</strong> fez o alienista revisar sua “teoria das moléstias<br />
cerebrais” e constatar que sua <strong>do</strong>utrina estava equivocada. Se antes ele havia concluí<strong>do</strong> que<br />
“estavam fora da razão os casos de pessoas que não apresentassem o equilíbrio das<br />
faculdades mentais perfeito e absoluto” (ASSIS, 1988, p.9 ) agora seria ao contrário. Estava<br />
ele convicto de que a loucura seria reportada às pessoas que demonstram equilíbrio, retidão<br />
<strong>do</strong> caráter, generosidade, boa fé, respeito humano. O normal seria considera<strong>do</strong> o<br />
desequilíbrio e a falta de retidão.<br />
Uma vez descoberto que a exceção era o equilíbrio mental foi novamente à Câmara de<br />
verea<strong>do</strong>res solicitar a continuação de seus estu<strong>do</strong>s, desta vez recolheria à Casa Verde todas<br />
as pessoas que demonstraram tal equilíbrio mental. E assim foi que submeteu to<strong>do</strong>s os seus<br />
pacientes a um tratamento à base de tentativas de desequilibrar os seus princípios morais.<br />
Alguns foram resistentes e demoravam mais tempo para se corromper, mas aos poucos não<br />
restou mais ninguém que não respondesse ao tratamento, dan<strong>do</strong> espaço aos desvios <strong>do</strong><br />
comportamento. Por fim, foram to<strong>do</strong>s sen<strong>do</strong> libera<strong>do</strong>s da Casa Verde.<br />
Quan<strong>do</strong> saiu o último hóspede de sua instituição, Bacamarte não ficou apenas feliz, por<br />
ter descoberto a verdadeira teoria da loucura e por ter devolvi<strong>do</strong> a razão à cidade. Ficou<br />
preocupa<strong>do</strong>, surgiu-lhe uma indagação cruel: “Mas deveras estariam eles <strong>do</strong>i<strong>do</strong>s, e foram<br />
cura<strong>do</strong>s por mim, - ou o que parece cura não foi mais <strong>do</strong> que a descoberta <strong>do</strong> perfeito<br />
desequilíbrio <strong>do</strong> cérebro?” (ASSIS, 1988, p.28). As pessoas curadas eram tão<br />
desequilibradas como os outros. Tinham a loucura em potencial, logo não foram curadas.<br />
Então pela teoria não existiriam loucos em Itaguaí. Novas dúvidas surgem à mente de<br />
Bacamarte, agora sobre si mesmo, estaria ele reunin<strong>do</strong> as características <strong>do</strong> perfeito<br />
equilíbrio mental? Parecia-lhe que ele próprio reunia a sagacidade, a paciência, a<br />
perseverança, a tolerância, o vigor moral, a lealdade, em si mesmo.<br />
Por ser ele um homem muito cauteloso e, para não se precipitar em conclusões sobre si<br />
mesmo, consultou aos amigos sobre suas supostas qualidades. Acabou ten<strong>do</strong> como resposta
27<br />
que não tinha nenhum defeito, nenhum vício, nada. Era perfeito. Entretanto, como ainda<br />
duvidava de ser um homem tão virtuoso, o vigário da vila terminou com sua dúvida ao<br />
dizer que ele não percebia tamanhas virtudes por ter outra grande virtude – a modéstia.<br />
Então, após tal constatação não teve mais dúvidas. Encerrou-se na Casa Verde para estudar<br />
e curar a si. Depois de dezessete meses morreu sem ter logra<strong>do</strong> êxito algum. Alguns na vila<br />
comentavam que talvez em Itaguaí nunca houvera outro louco, além <strong>do</strong> alienista. Assim<br />
termina esse conto.<br />
As tantas voltas desse conto em torno da busca <strong>do</strong> entendimento da loucura e as<br />
“certezas” em cada conclusão teórica de um determina<strong>do</strong> momento, caricaturam a realidade<br />
<strong>do</strong> universo científico. Do la<strong>do</strong> da loucura, <strong>do</strong> la<strong>do</strong> da normalidade, onde se localiza o<br />
espírito humano? O entendimento e as certezas sobre a condição humana dependem da<br />
opinião da ciência, da legislação vigente, <strong>do</strong> jogo de forças políticas, depende de quem o<br />
diga, de quem o nomeia. Segun<strong>do</strong> esse conto de MACHADO de ASSIS, o que são<br />
destruí<strong>do</strong>s são as grandes teorias sobre a loucura. O ser humano continua sen<strong>do</strong> um enigma<br />
para os estudiosos da área.<br />
Parece relevante tentar entender nossa própria espécie, formular muitas hipóteses,<br />
encontrar grandes respostas, por vezes. O problema que se coloca são as convicções<br />
científicas que absolutizam “certezas” que não são tão verossímeis assim. Em nome destas<br />
“certezas” atrocidades são cometidas com as pessoas que ficam a mercê de tais<br />
experimentos. Conforme o relato de ASSIS (1988), todas as pessoas daquela vila passaram<br />
pela Casa Verde. De uma maneira ou de outra havia necessidade de diferenciar os “loucos”<br />
<strong>do</strong>s “normais”. Na dúvida <strong>do</strong> que é realmente a normalidade, <strong>do</strong> que é a loucura, to<strong>do</strong>s<br />
podem enquadrar-se em uma ou outra categoria.<br />
Um estudioso tão dedica<strong>do</strong> como Bacamarte formulou uma teoria, experimentou-a e por<br />
fim teve de refutá-la e formular uma nova teoria, justamente oposta à primeira. Muito bem<br />
que seja assim para que a ciência possa colaborar com o desenvolvimento e o progresso das<br />
sociedades. De acor<strong>do</strong> com o pensamento de BULLA, "Sabe-se, entretanto, que o mun<strong>do</strong><br />
físico, humano e social é infinitamente mais rico e exuberante <strong>do</strong> que a nossa possibilidade
28<br />
de compreensão" (1998 p.366). A partir dessa consideração, entende-se que o<br />
conhecimento, por natureza, apresenta limites na apreensão <strong>do</strong> real, uma vez que o mesmo<br />
é mais abrangente <strong>do</strong> que o esforço das ciências em compreendê-lo. Todavia, é necessário<br />
que se tenha o cuida<strong>do</strong>, na manipulação <strong>do</strong>s conhecimentos, com a vida <strong>do</strong>s sujeitos. Em<br />
nome <strong>do</strong> desconhecimento sobre a condição humana, não se pode mais sacrificar as<br />
singularidades humanas, interditan<strong>do</strong> suas expressões.<br />
Talvez aqui esteja a grande mensagem da irônica e genial obra de Macha<strong>do</strong> de Assis,<br />
uma vez que o protagonista <strong>do</strong> conto foi o último a se exilar e por fim a morrer.<br />
Demonstrou que, mesmo sem as devidas certezas, entregava sua vida a este<br />
desconhecimento, em nome da ciência, <strong>do</strong> poder das instituições sociais e <strong>do</strong> me<strong>do</strong> da<br />
incerteza. Se não é tão fácil compreender realmente o que significam as singularidades, ao<br />
menos se tem que admitir que as mesmas compõem a condição humana e que estas não<br />
podem ser marcadas, segregadas, excluídas ou aniquiladas. Não ficção mencionada acima<br />
há um traço de inabilidade em tratar com a questão da saúde. No que diz respeito a <strong>do</strong>ença<br />
mental, infelizmente, no mun<strong>do</strong> real e histórico onde o cenário humano se desenrola, a<br />
realidade não se apresenta muito diferente.<br />
MORANT e ROSE (1998, p.129-136) alertam para o fato de ainda hoje a <strong>do</strong>ença mental<br />
ser considerada perigosa e contagiosa. No estu<strong>do</strong> desenvolvi<strong>do</strong> pelas autoras em que<br />
abordaram funcionários de instituições psiquiátricas francesas e sobre a mídia britânica, é<br />
pontua<strong>do</strong> o fato de existir uma associação entre violência e problemas mentais. O estu<strong>do</strong><br />
indica que mídia britânica faz uma conexão entre grandes escândalos, como homicídios,<br />
estupros e a <strong>do</strong>ença mental. De igual forma especialistas em psiquiatria conceituam as<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de <strong>do</strong>ença mental como categoria de risco.<br />
De outra forma, estatísticas trabalhadas pelas autoras demonstram que é muito difícil<br />
calcular um percentual de pessoas com problemas mentais que sejam realmente violentas.<br />
E, deve considerar-se o fato de não haver aumenta<strong>do</strong> o número de tragédias envolven<strong>do</strong><br />
pessoas em condições psiquiátricas desde a década de 50 (MORANT e ROSE, p. 130).<br />
Entretanto, "o me<strong>do</strong> e o perigo" em relação a <strong>do</strong>ença mental é propaga<strong>do</strong>, comprometen<strong>do</strong>
29<br />
a imagem social daquelas pessoas que estão em sofrimento psíquico e as colocan<strong>do</strong> na<br />
condição da "necessária" estrita vigilância da comunidade e <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>.<br />
Os pressupostos generalistas consideram todas as pessoas, em sofrimento psíquico,<br />
como se estivessem em permanente situação de risco para si mesma e para a sociedade.<br />
Dessa maneira, apenas contribuem para a construção de uma imagem negativa e não<br />
condizente com a realidade. Na realidade, o que de fato acontece na vida diária de pessoas<br />
na condição da <strong>do</strong>ença mental, é em geral, um cotidiano de estigma, marginalização,<br />
ausência de varia<strong>do</strong>s recursos e o não acesso a maioria <strong>do</strong>s dispositivos sociais coloca<strong>do</strong>s<br />
para os "ditos normais". A noção de contágio é tão antiga quanto irracional, mas ainda se<br />
faz presente no imaginário social de nosso tempo, conforme indicam MORANT e ROSE: "<br />
...fica evidente que a <strong>do</strong>ença mental como 'um outro' psicossocialmente ameaça<strong>do</strong>r é tanto<br />
construí<strong>do</strong> como perpetua<strong>do</strong> por práticas sociais, discriminatórias" (1998, p. 132).<br />
As representações sobre <strong>do</strong>enças mentais feitas por profissionais que trabalham na área<br />
são em geral perpassadas pela incerteza e por ambigüidades, mesmo consideran<strong>do</strong> o fato de<br />
serem esses profissionais "especialistas". Na pesquisa de MORANT e ROSE foi constata<strong>do</strong><br />
que "38% dentre 60 profissionais de saúde mental, franceses e ingleses entrevista<strong>do</strong>s"<br />
confessaram ignorância quanto ao entendimento acerca da <strong>do</strong>ença mental. A mesma<br />
ambigüidade e incerteza é encontrada em vários textos das áreas de psicologia, psiquiatria,<br />
enfermagem e outras. De igual forma, quanto às causas e conseqüências da <strong>do</strong>ença mental<br />
também não são de <strong>do</strong>mínio <strong>do</strong> conhecimento da área psiquiátrica. Na pesquisa feita na<br />
Fundação que articula e desenvolve a política pública para pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência e de altas habilidades no Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio grande <strong>do</strong> Sul, pode-se constatar a<br />
mesma dificuldade, conforme declaração abaixo, de trabalha<strong>do</strong>res especialistas nessa área:<br />
"Trabalhamos a tanto tempo com deficientes mentais mas não os<br />
conhecemos, não entendemos como funciona a mente deles, não sabemos<br />
o que fazer com eles, quais os recursos mais adequa<strong>do</strong>s para colocar a<br />
disposição. Eles não sabem dizer o que é melhor para eles, nós não<br />
sabemos interpretar" (Seminário realiza<strong>do</strong> em agosto de 2002).
30<br />
Um mun<strong>do</strong> estranho, alheio, não familiar, um universo singular é o que caracteriza a<br />
deficiência mental, quase incognoscível aos seres em geral. O contato com esse universo se<br />
constitui em uma experiência diversa e única para quem convive. Constitui-se, também, em<br />
um mun<strong>do</strong> tão peculiar no qual vivem as pessoas que entendem a realidade por uma outra<br />
via que não é a <strong>do</strong> ordinário, <strong>do</strong> cotidiano comum as demais pessoas da realidade social.<br />
Não é possível classificar a "loucura", que escapa as delimitações <strong>do</strong> entendimento que está<br />
estabeleci<strong>do</strong> para designar o que é humano.<br />
Há um universo carrega<strong>do</strong> de conceitos que classificam as atitudes humanas, que dita o<br />
que é correto, desejável e se pode esperar das pessoas. A racionalidade humana está apta a<br />
entender a forma possível a moldar-se aos conceitos preestabeleci<strong>do</strong>s para significar o que<br />
é a razão, o que é o "normal". As pessoas porta<strong>do</strong>ras de <strong>do</strong>ença mental demonstram outras<br />
formas de estar no mun<strong>do</strong>, outro lugar para se colocar no social, que não é o exatamente<br />
espera<strong>do</strong>. A forma diferenciada de viver, de se presentificar na vida, causa estranheza e está<br />
atravessada pela idéia de que é inacessível ao entendimento comum.<br />
As formas de vida diversas que se expressam por detrás de uma experiência com a<br />
chamada deficiência mental trazem a marca <strong>do</strong> (des) humano. Vive-se em uma cultura<br />
atravessada por um quase invisível processo de descaracterização da humanidade que há<br />
nas pessoas que se expressam em um outro mo<strong>do</strong> de ser, que não o espera<strong>do</strong>. A<br />
conseqüência da experiência de tal diversidade tem si<strong>do</strong> a exclusão, a interdição das<br />
instâncias sociais àqueles que não se enquadram na moldura social.<br />
A estranheza causada pelas "disfunções" mentais constitui, segun<strong>do</strong> MORANT e ROSE,<br />
"uma forma particularmente poderosa de alteridade" (1998, p.143). O problema aqui é o<br />
fato <strong>do</strong> conhecimento apresentar limites para compreender e explicar tal alteridade. A<br />
dificuldade se torna maior por esse limite ser agrava<strong>do</strong> pela soberba de criar méto<strong>do</strong>s e<br />
normas de convívio, onde muros são consolida<strong>do</strong>s para separar a "diferença" <strong>do</strong> mun<strong>do</strong><br />
comum. Essa situação segrega, mutila aquelas subjetividades não passíveis de compreensão<br />
<strong>do</strong> mun<strong>do</strong> social.
31<br />
Perde-se muito, com o movimento que há nas diversas instituições <strong>do</strong> social, quan<strong>do</strong> se<br />
desloca para fora <strong>do</strong> convívio as pessoas que se apresentam de forma singularmente<br />
diferenciada. Não só para quem sofre diretamente a conseqüência da exclusão, igualmente<br />
para os demais que se privarão da riqueza da "mistura das cores". O convívio com as<br />
diferenças culturais e pessoais é o que pode dar mobilidade aos padrões cria<strong>do</strong>s na<br />
sociedade. Conforme se pode verificar no depoimento de um trabalha<strong>do</strong>r da área da<br />
deficiência mental:<br />
"A quantidade de coisas que eu aprendi com os deficientes mentais eu não<br />
teria a menor chance de aprender se não fosse neste convívio, nesta forma<br />
absolutamente estranha de se colocar no mun<strong>do</strong>, que é a <strong>do</strong> deficiente<br />
mental. Foi uma vivência e um aprendiza<strong>do</strong> sobre o que é ser humano,<br />
que eu jamais teria a não ser com aquele grupo super estranho, para a<br />
realidade da maioria das pessoas, e mesmo da minha" (Diário de Campo,<br />
jan. de 2001).<br />
A possibilidade de convívio com a diversidade é o caminho possível para<br />
desmistificar a estranheza sugerida no afastamento de tu<strong>do</strong> aquilo que foge ao<br />
pseu<strong>do</strong>controle da razão. Os diversos (des) caminhos de concepções e méto<strong>do</strong>s<br />
segregatórios e separatistas foram acentuan<strong>do</strong> a não familiaridade com as singularidades<br />
pessoais. Não é possível compreender aquilo <strong>do</strong> que nos afastamos por me<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />
desconhecimento. A desqualificação relegada a tu<strong>do</strong> que foge às regras estabelecidas<br />
conduziu ao desenvolvimento de relações sociais produtoras da interdição que negam<br />
acesso ao mun<strong>do</strong>, para aqueles que são considera<strong>do</strong>s "diferentes". Essa interdição produz a<br />
limitação da possibilidade de compreensão das diferenças ou <strong>do</strong>s seres rotula<strong>do</strong>s como<br />
diferentes. "Há um preconceito imenso que nos impede de dar atenção à fala de uma<br />
pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência mental. Pensa-se que ela não tem nada de importante para<br />
dizer, o que não é verdade" (Entrevista realizada em maio de 2001).<br />
O preconceito é produto <strong>do</strong> desconhecimento, que faz as pessoas desconsiderarem<br />
aquilo que não conhecem. “Devemos trazer para o campo <strong>do</strong> estu<strong>do</strong> das diferenças a<br />
questão da deficiência com toda sua amplitude de peculiaridades” (AMARAL, 1994,<br />
p.29). Segun<strong>do</strong> essa autora, a generalização reduz o entendimento, “gera o empobrecimento<br />
da compreensão”. Geralmente o entendimento acerca das questões humanas se dá de forma
32<br />
totalizante e padronizante, como se to<strong>do</strong>s fossem iguais, tivessem características idênticas,<br />
sem diferenciações.<br />
Ainda AMARAL, aborda os significa<strong>do</strong>s da diferenciação trazi<strong>do</strong>s visivelmente pelos<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência, “... o deficiente é a própria encarnação da assimetria, <strong>do</strong><br />
desequilíbrio, das des-funções. Assim sua desfiguração, sua mutilação, ameaça<br />
intrinsecamente a existência <strong>do</strong> outro” (1994 p.30). Refletin<strong>do</strong> nessa perspectiva ter-se-á<br />
nas deficiências a representação das “imperfeições, das “limitações” de to<strong>do</strong>s os seres. É a<br />
prova da incompletude humana, da irrealidade que há na perspectiva que percebe o ser e a<br />
vida como perfeita. A diferença é real, a singularidade faz parte da vida. Se faz necessário o<br />
seu reconhecimento.<br />
O “modelo médico” <strong>do</strong> século XIX “... marca to<strong>do</strong>s os diferentes comportamentos com<br />
uma mesma matriz, não procuran<strong>do</strong> relações causais...” (CECCIM, 1999, p.32). A partir<br />
da expressão da marca e <strong>do</strong>s rótulos que os indivíduos recebem por portarem determinadas<br />
diferenças, a materialidade <strong>do</strong> social é desconsiderada. Uma vez que se atribui ao ser em si<br />
a responsabilidade por “seus” impedimentos, as condições concretas <strong>do</strong> ambiente por onde<br />
circulam as pessoas não são analisadas, ou seja, as condições estruturais, que podem ser<br />
denominadas como a materialidade <strong>do</strong> social, não é levada em conta. O social é forma<strong>do</strong><br />
por uma série de indivíduos, pelas relações que se dinamizam entre esses, seus processos e<br />
por condições concretas de acesso (ou impedimentos) destes indivíduos aos diversos<br />
setores da sociedade.<br />
É preciso aprender a considerar e analisar toda a amplitude das peculiaridades na<br />
questão das deficiências. Na expectativa da perfeição muito se negou a existência de<br />
diferenciações básicas entre os seres e daquilo que é nomea<strong>do</strong> “defeito”. O que se considera<br />
defeito tem como parâmetro o “perfeito” e o espera<strong>do</strong> em relação à característica da<br />
maioria <strong>do</strong>s indivíduos. A realidade inverte tal expectativa, porque o sonho da perfeição é<br />
apenas um sonho e não um fato experiencia<strong>do</strong> no cotidiano <strong>do</strong> real. Na busca <strong>do</strong><br />
conhecimento não generalizante reconhecer-se-ão as especificidades das deficiências e suas<br />
diversidades.
33<br />
Um exemplo interessante de adaptação à realidade <strong>do</strong> sujeito pode ser trazi<strong>do</strong> a essa<br />
reflexão a partir da experiência tida na área de saúde mental, em uma situação vivida com a<br />
equipe de saúde mental e um usuário de seus serviços 1 . A equipe estudava as possibilidades<br />
de intervenção junto a um usuário com histórico de várias internações, cuja família sempre<br />
buscava o serviço quan<strong>do</strong> o mesmo estava "mais agita<strong>do</strong>" e pronuncian<strong>do</strong> "palavrões".<br />
Com a medicação fornecida no serviço de saúde essa pessoa "acalmava-se", <strong>do</strong>rmia por<br />
diversas horas e deixava de pronunciar as palavras desagradáveis. O fato é que a equipe<br />
começou a questionar a freqüência das internações, sen<strong>do</strong> que a situação não era tão grave<br />
para tal reincidência na intervenção profissional.<br />
Um monitor da equipe de saúde mental encontrou uma forma estratégica para<br />
enfrentar tal situação. Resolveu, acompanhar o referi<strong>do</strong> usuário, daquele serviço público,<br />
até um estádio de futebol para assistir uma partida de um determina<strong>do</strong> time. No contexto de<br />
um campo esportivo várias pessoas gritam, dizem palavras agressivas, utilizam-se de<br />
"palavrões". Tal contexto forneceu ao sujeito em atendimento, o exercício de sua<br />
diversidade, de forma a encontrar similitude com outros que como o mesmo estava<br />
precisan<strong>do</strong> dar espaço a uma determinada forma de expressão de sua individualidade.<br />
Naquele lugar era possível fazer algo, em maioria, que para um determina<strong>do</strong> sujeito, que já<br />
tinha um histórico de <strong>do</strong>ença mental e, portanto, um rótulo, lhe custava novas internações<br />
psiquiátricas. Esta estratégica foi estuda como exemplo das possibilidades em se criarem<br />
formas alternativas de tratamento para os sujeitos em sofrimento psíquico. Novas formas<br />
que pudessem ser mais adequadas à humanização <strong>do</strong>s atendimentos e não apenas centradas<br />
na medicação.<br />
1 A experiência foi relatada na Pré-Conferência de Saúde Mental <strong>do</strong> Distrito 4 da Região Sul de Porto Alegre<br />
(RS), realizada em setembro de 2001.
34<br />
Na situação <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência há um déficit específico a cada área das<br />
diversas deficiências, seja na área física, sensorial ou mental. Todas as áreas apresentam<br />
múltiplas singularidades que se diferenciam umas das outras. Um porta<strong>do</strong>r de deficiência<br />
mental tem déficit diferencia<strong>do</strong> de um porta<strong>do</strong>r de “Síndrome de Down”. As necessidades<br />
de um porta<strong>do</strong>r de visão subnormal são diferenciadas de um porta<strong>do</strong>r de cegueira total,<br />
embora os <strong>do</strong>is tenham um significativo déficit sensorial. Entre todas as pessoas existem<br />
diferenças marcantes que deveriam ser consideradas na composição da sociedade, de sua<br />
organização material e simbólica.<br />
A questão que se coloca é que as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, por apresentarem,<br />
diferenças marcantes, inúmeras vezes passaram por processos de classificação,<br />
categorização, hierarquização. Tais processos reforçaram a segregação e os diversos<br />
preconceitos por que passam as pessoas naquelas condições. Por conta dessas<br />
classificações: “os seres são categoriza<strong>do</strong>s segun<strong>do</strong> o problema que causam à sociedade:<br />
pobreza, delinqüência, loucura, deficiência e tantos outros” (TOMASINI, 1998, p.114).<br />
Sen<strong>do</strong> assim, o indivíduo que é responsabiliza<strong>do</strong> pelo “fracasso” de uma limitação, é<br />
retira<strong>do</strong> <strong>do</strong> espaço de direito ao usufruto da vida, por ser considera<strong>do</strong> culpa<strong>do</strong> pelos<br />
possíveis transtornos que “causa” ao seu meio.<br />
Um exemplo de situações que comprovam o dito acima, bastante comum, é a situação<br />
das crianças que não acompanham o rítimo de aprendizagem da turma de alunos da qual<br />
fazem parte. O que acontece na maioria das vezes? Essa criança é excluída, é deixada de<br />
la<strong>do</strong>, não se investin<strong>do</strong> em sua potencialidade. O sistema de relações escolares é geralmente<br />
segrega<strong>do</strong>r. Aqueles que não se encaixam num padrão geral de desenvolvimento são<br />
retira<strong>do</strong>s <strong>do</strong> processo. Não é comum ao sistema de ensino uma prática inclusiva, ou seja, a<br />
utilização de meto<strong>do</strong>logias alternativas, no senti<strong>do</strong> de estarem adequadas às peculiaridades<br />
<strong>do</strong>s alunos porta<strong>do</strong>res de deficiência. No ensino regular, dificilmente, uma criança com<br />
algum determina<strong>do</strong> tipo de déficit permanece sem ser encaminhada ao ensino especial.
35<br />
Constituem-se determina<strong>do</strong>s padrões de normalidade, como se fossem parâmetros para o<br />
pertencimento ou não pertencimento. O parâmetro estabeleci<strong>do</strong> socialmente se não for<br />
acompanha<strong>do</strong> pelos sujeitos, os mesmos ficarão de fora daquele contexto, serão "joga<strong>do</strong>s"<br />
para outro lugar, o “lugar <strong>do</strong> diferente”, <strong>do</strong> “especial”. Isso significa classificar e colocar<br />
em segun<strong>do</strong> plano tu<strong>do</strong> que for diferente. TOMASINI fala da classificação entre o<br />
“cidadão de primeira classe” e o “cidadão de segunda classe”, sen<strong>do</strong> esse último mais um<br />
<strong>do</strong>s estigmas relega<strong>do</strong>s as PPD.<br />
Uma prova de tal estigma e (des) qualificação é o teor histórico da<strong>do</strong>, por exemplo, para<br />
as atividades das classes e das escolas especiais: dão ênfase às atividades manuais em<br />
detrimento das atividades intelectuais. Com tal ênfase, a pessoa reduz, por uma questão de<br />
méto<strong>do</strong>, sua aprendizagem ao aspecto manual, a mera execução de tarefas. O indivíduo<br />
quan<strong>do</strong> não é estimula<strong>do</strong>, em sua capacidade de pensar, de refletir, de participar <strong>do</strong>s grupos<br />
com opiniões, acaba limitan<strong>do</strong> a expressão de sua individualidade (TOMASINI, 1998,<br />
p.127).<br />
Esses equívocos quanto à potencialidade das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência,<br />
provavelmente se devam, entre outras coisas ao desconhecimento, à limitação <strong>do</strong><br />
conhecimento acerca das singularidades. Singular é, o oposto de plural que significa vários.<br />
Singular é um, único, não passível à reprodução, a igualificação, é um só nome, uma só<br />
pessoa, uma única forma de ser e, o que é distinto <strong>do</strong>s demais. Singular é o que diferencia e<br />
distingue os seres uns <strong>do</strong>s outros apesar de to<strong>do</strong>s fazerem parte da mesma espécie.<br />
Porta<strong>do</strong>res e não porta<strong>do</strong>res, se assim forem classifica<strong>do</strong>s os seres, são distintos,<br />
diferencia<strong>do</strong>s entre si, porém pertencentes ao conjunto humano social. Na perspectiva da<br />
singularidade, é estranho refletir sobre a enorme tendência das normativas sociais que<br />
buscam uma padronização <strong>do</strong>s seres, que criam uma moldura social na qual to<strong>do</strong>s devam se<br />
enquadrar a despeito de sua singularidade. Por conta de tal tendência se cria um sistema<br />
opressor nas relações da sociedade, que classifica as pessoas, que consolida muralhas<br />
separatistas e limita o espaço de expressão das subjetividades.
36<br />
AMARAL (1994), se refere a uma antiga estória grega, o “Leito de Procusto”, que será<br />
ilustrativa da referida moldura social. Havia um homem poderoso, rico que tinha o costume<br />
de receber a convite pessoas estranhas ao seu reina<strong>do</strong>. Procusto recebia com toda a honraria<br />
o convida<strong>do</strong>, servin<strong>do</strong> o que havia de melhor, oferecen<strong>do</strong> to<strong>do</strong> o luxo da casa. O anfitrião<br />
oferecia inclusive um leito luxuoso, com uma determinada moldura na qual o convida<strong>do</strong><br />
deveria encaixar-se. Entretanto, se a pessoa não se adequasse a tal leito, seria compelida ao<br />
enquadre de qualquer maneira, seria cortada, esticada. “A morte era quase certa! Só poucos<br />
e raros convida<strong>do</strong>s, absolutamente adequa<strong>do</strong>s à dimensão pré-estabelecida alcançavam a<br />
velhice” (AMARAL, 1994, p. 44).<br />
É comum encontrar nas lendas gregas uma representação drástica da história e <strong>do</strong><br />
cotidiano <strong>do</strong>s povos em geral. A estória narrada acima é uma figura similar ao mo<strong>do</strong> de<br />
vida que se desenvolve em nossas sociedades, no que diz respeito ao convívio com as<br />
diferenças. Existe pouca tolerância subjacente às relações institucionais, comunais e<br />
pessoais quanto às diferenças e principalmente às diferenças visíveis, como as que<br />
apresentam os porta<strong>do</strong>res de deficiência. É com estranheza que se olham uns aos outros,<br />
quan<strong>do</strong> não se percebe no outro apenas um espelho daquilo que está simbolicamente<br />
delimita<strong>do</strong> como o que tem que ser igual. É difícil conviver e aceitar as singularidades sem<br />
querer cortá-las, emoldurá-las no quadro da sociedade. É como se nada pudesse sobrar,<br />
nada pudesse faltar. Tem que ser exato, correto, perfeito, senão é um “desvio”, um erro.<br />
VELHO diz que “o estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> desvio não é o estu<strong>do</strong> de pessoas em si mesmas, mas o<br />
estu<strong>do</strong> da classificação de pessoas na mente <strong>do</strong>s homens” (1985, p.80). Eis nesta<br />
afirmativa a indicação de que se idealiza o real, estratificam-se os comportamentos, e<br />
visualizam-se as pessoas de acor<strong>do</strong> com uma determinada lente focalista, que percebe a<br />
parte e não vislumbra o conjunto. A história das ciências por vezes, como no caso da<br />
medicina, insistiu em conceitos de “normalidade”, penalizan<strong>do</strong> desta forma os chama<strong>do</strong>s<br />
“anormais” com o exílio e a segregação.<br />
Além <strong>do</strong> aspecto da segregação para este segmento da população acontece também um<br />
"esquecimento" de que as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência fazem parte deste mun<strong>do</strong>. Para
37<br />
compor essa argumentação será trazida a crítica, feita pelo movimento Gaúcho das Pessoas<br />
Porta<strong>do</strong>ras de Deficiência, a uma estatística fictícia da população <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> 2 . Nesta<br />
estatística é suposto que: se fosse possível reduzir a população da Terra para uma aldeia de<br />
exatamente 100 pessoas, manten<strong>do</strong> todas as relações humanas existentes, se chegaria ao<br />
seguinte quadro:<br />
"57 asiáticos, 21 europeus, 14 <strong>do</strong> Hemisfério Ocidental, <strong>do</strong> norte e <strong>do</strong> sul,<br />
08 africanos; 52 seriam mulheres, 48 homens; 70 seriam não brancos; 30<br />
seriam brancos; 70 seriam não cristãos, 30 seriam cristãos; 89 seriam<br />
heterossexuais; 11 homossexuais; 06 possuiriam 59% de toda a riqueza<br />
<strong>do</strong> mun<strong>do</strong> e to<strong>do</strong>s os 06 seriam <strong>do</strong>s Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s; 80 habitariam<br />
moradias de baixo padrão; 70 não saberiam ler; 50 sofreriam de<br />
subnutrição; 01 estaria próximo da morte e 01 estaria próximo de nascer;<br />
01 teria educação universitária e 01 possuiria um computa<strong>do</strong>r. Quan<strong>do</strong><br />
consideramos nosso mun<strong>do</strong> sob uma perspectiva de tal forma comprimida,<br />
a necessidade de aceitação, compreensão e educação se torna<br />
extremamente obvia" (Doc. Mov. Gaúcho das PPD, 2002, p.2).<br />
O cerne da crítica feita a esta ficção estatística é o fato de apesar da proposta crítica que<br />
ela apresenta em torno das flagrantes desigualdades sociais e a concentração de bens, ainda<br />
assim ela não menciona as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Os porta<strong>do</strong>res de deficiência<br />
sequer são lembra<strong>do</strong>s "nessa aldeia". Não há visibilidade da questão da deficiência e suas<br />
implicações sociais. O percentual de pessoas com algum tipo de deficiência no mun<strong>do</strong> não<br />
é um número insignificante.<br />
O Documento da ONU faz referência há uma estimativa de “500 milhões de pessoas<br />
deficientes no mun<strong>do</strong>”. Neste <strong>do</strong>cumento leva-se em consideração o fato de que, na maioria<br />
<strong>do</strong>s países, pelo menos uma em cada dez pessoas tem uma deficiência física, mental ou<br />
sensorial e a presença desta deficiência repercute de forma negativa em pelo menos 25% de<br />
toda a população. Consideran<strong>do</strong> que número de pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência seja em<br />
torno de 500 milhões, dessas 350 milhões vivem em zonas que não dispõe <strong>do</strong>s serviços<br />
necessários para ajudar superar suas limitações. Essas pessoas estão expostas a barreiras<br />
físicas, culturais e sociais que constituem obstáculos à sua vida (ONU, 1992, p.5-15).<br />
No caso <strong>do</strong> Brasil, constata-se o problema da falta de precisão <strong>do</strong> da<strong>do</strong> quantitativo,<br />
referente às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Quantos são esses sujeitos? No Relatório<br />
2 Declaração feita pelo Dr. Philip Harter, da Escola de Medicina da Universidade Stanford.
38<br />
Azul (1997) é apresentada uma indagação sobre os da<strong>do</strong>s oficiais <strong>do</strong> IBGE (um <strong>do</strong>s grandes<br />
Institutos Estatísticos Brasileiros). O Censo Demográfico de 1991 refere-se a 1,498% de<br />
PPD, em uma população de 146.815.750 habitantes, ou seja, 2.198.988 são considera<strong>do</strong>s<br />
deficientes. Uma importante questão sobre essa problemática quantitativa é formulada por<br />
um <strong>do</strong>s autores desse relatório, da seguinte forma:<br />
“Se Suécia e Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s, países desenvolvi<strong>do</strong>s <strong>do</strong> ponto de vista<br />
econômico e com os indica<strong>do</strong>res sociais de qualidade de vida entre os<br />
mais eleva<strong>do</strong>s <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, trabalham com percentuais populacionais na<br />
casa <strong>do</strong>s 20%, como explicar que no Brasil, com gravíssimos problemas<br />
econômicos-sociais que possui, tenha-se obti<strong>do</strong> o índice de menos de<br />
1,5%? (LIPPO, 1997, p.149).<br />
O fato <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s para quantificar as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência serem imprecisos<br />
demonstra a importância de qualificar as pesquisas no senti<strong>do</strong> de uma maior<br />
instrumentalização para apreender o da<strong>do</strong> real. Conforme AMARAL, “nas projeções mais<br />
otimistas são mais de treze milhões as pessoas brasileiras porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Se<br />
acrescentarmos <strong>do</strong>is ou três elementos familiares teremos quase que um terço da<br />
população envolvida com a questão!” (1994 p.13). Não é pouco significativo o número de<br />
pessoas diretamente relacionadas com as deficiências/diferenças e, portanto, esta é uma<br />
questão necessária à pauta <strong>do</strong>s debates sociais.<br />
O censo de 2000 (IBGE) apontou para um número de 14,5% da população com algum<br />
tipo de deficiência. Esse percentual causou polêmicas, pois considerou para sua contagem<br />
de pessoas com deficiências visuais totais e parciais. O que foi contesta<strong>do</strong> por algumas<br />
pessoas que consideraram o conceito de deficiência visual muito abrangente e não<br />
concordam que o fato de uma pessoa usar óculos as coloque na condição da "deficiência".<br />
O problema referi<strong>do</strong> quanto à imprecisão <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s quantitativos acontece de igual<br />
forma com a definição <strong>do</strong>s termos, das palavras, da nomenclatura que designa os<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência. Alguns termos, (como será visto no item 2.1), estão a serviço de<br />
uma lógica elitista e excludente, que justifica a “dita normalidade”. O que está em questão,<br />
é a importância de perceber a pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência como cidadão, sujeito
39<br />
participante e não objeto de piedade social. Sen<strong>do</strong> assim, o termo para designar sua<br />
situação deverá ter o senti<strong>do</strong> político de contemplar o aspecto relacional das interdições.<br />
1.2 A PESSOA QUE É PORTADORA DE UMA DEFICIÊNCIA OU DE ALTAS HABILI<strong>DA</strong>DES<br />
Quem é este sujeito que se vê priva<strong>do</strong> de uma série de circunstâncias fundamentais para<br />
vida humana? Que não se enquadra no padrão estabeleci<strong>do</strong> pelas normas sociais? A<br />
Política Nacional de Educação Especial tem explicações para cada termo específico <strong>do</strong>s<br />
diferentes tipos de deficiência e considera:<br />
“Pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência é toda aquela que apresenta, em<br />
comparação com a maioria das pessoas, significativas diferenças físicas,<br />
sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiri<strong>do</strong>s, de<br />
caráter permanente, que acarretam dificuldades em sua interação com o<br />
meio físico e social” (1994 p. 22).<br />
As pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência enfrentam impedimentos diferencia<strong>do</strong>s, barreiras<br />
de naturezas diversas, o que sugere alternativas heterogêneas para o enfrentamento de cada<br />
especificidade das diferenças. O termo “porta<strong>do</strong>r de deficiência” é utiliza<strong>do</strong> no Brasil de<br />
forma genérica, abrangen<strong>do</strong> as diversas áreas da deficiência: deficiência física (paraplegia,<br />
paralisias cerebrais e outros), sensorial (visual e auditiva), cognitiva (mental e<br />
comportamental - condutas típicas) e múltipla. Assim como o termo “porta<strong>do</strong>r de altas<br />
habilidades”, também, reconheci<strong>do</strong> em to<strong>do</strong> o Brasil, com essa nomenclatura faz parte das<br />
“necessidades educativas especiais”, assim consideradas pela Política de Educação<br />
Especial. Em um próximo item será abordada com maiores detalhes a questão <strong>do</strong>s termos.<br />
O cotidiano das pessoas que tem restrições marcantes em seu viver, muitas vezes não<br />
lhes permite a promulgada “igualdade de oportunidades”. Observam-se inúmeros exemplos<br />
de exclusão de setores básicos da vida, como a escola que, geralmente, é a primeira a<br />
excluir a diferença, por falta de habilidade, por não saber lidar com diferenças. O caso <strong>do</strong>s<br />
“porta<strong>do</strong>res de altas habilidades” é típico exemplo <strong>do</strong> despreparo das escolas,<br />
especialmente, as da rede pública, que não reconhece o talento de determina<strong>do</strong>s alunos que
40<br />
tem um rítimo diferencia<strong>do</strong> para a aprendizagem em relação aos demais, não se<br />
submeten<strong>do</strong> aos padrões e não conseguin<strong>do</strong> se enquadrar no ensino tradicional.<br />
Ao não reconhecer a singularidade destes talentos, por vezes, essas crianças são<br />
relegadas ao aban<strong>do</strong>no e taxadas de “hiperativas”, “agressivas”, “perturba<strong>do</strong>ras da ordem”.<br />
Infelizmente a conseqüência dessa potencialidade não reconhecida e não acolhida em um<br />
espaço de construtividade, acaba sen<strong>do</strong> a utilização <strong>do</strong> potencial para ações autodestrutivas<br />
como organizar tráfico de drogas, assaltos, seqüestros, etc. Semelhante situação acontece<br />
com os chama<strong>do</strong>s “porta<strong>do</strong>res de condutas típicas”, que são conceitualmente considera<strong>do</strong>s<br />
pelo Doc. da Política Nacional de Educação Especial como:<br />
“Emocional e socialmente desajusta<strong>do</strong>s, por terem características de<br />
distúrbios de comportamentos, tais como: agressividade, timidez, me<strong>do</strong>,<br />
obstinação, tiques nervosos entre outros” (1994 p.13).<br />
A prática cotidiana de atendimentos aos sujeitos assim considera<strong>do</strong>s, permite<br />
problematizar esses conceitos e dar uma outra dimensão para essa questão. Pondera-se que<br />
pensar em “condutas típicas” leva a encontrar o que pode permear este conceito, ou o que<br />
pode conectá-lo a outros fatores, outras situações. Partin<strong>do</strong> de um ponto de vista relacional,<br />
pontua-se o aspecto contextual da “diferença em questão”, para situar o significa<strong>do</strong><br />
singular que pode ter para cada sujeito específico, a característica comum aos “porta<strong>do</strong>res<br />
de condutas típicas”.<br />
O dia-a-dia com crianças com tais características revela que o mo<strong>do</strong> de vida desses<br />
usuários <strong>do</strong>s serviços públicos é indica<strong>do</strong>r de complexa rede de outros condicionantes<br />
existenciais, sociais e estruturais. De um la<strong>do</strong> existem determinantes psíquicos que por<br />
vezes, limitam um desenvolvimento considera<strong>do</strong> “adequa<strong>do</strong>” ou deseja<strong>do</strong> pelo meio social.<br />
De outro la<strong>do</strong> há to<strong>do</strong> um contexto em que o sujeito se expressa e se apresenta, que está<br />
subjugan<strong>do</strong>, subestiman<strong>do</strong>, subalternizan<strong>do</strong> a expressão da individualidade. Encontram-se<br />
famílias fragilizadas em suas relações pessoais, desgastadas por um cotidiano esmaga<strong>do</strong>r,<br />
no turbilhão de uma sociedade de consumo e baixos salários, bem como um difícil acesso à<br />
qualidade de vida e de saúde física e mental.
41<br />
To<strong>do</strong>s os indivíduos desta sociedade são únicos, singulares, inseri<strong>do</strong>s em uma rede<br />
ampla de relações. Os diversos sujeitos que produzem e reproduzem suas vidas diárias<br />
estão em um cenário que está historicamente condiciona<strong>do</strong> a uma estrutura social<br />
desumaniza<strong>do</strong>ra que lhes exige a capacidade de ser “normal”, diante de tantas patologias<br />
que são referentes à estrutura social da organização <strong>do</strong>s indivíduos na sociedade.<br />
Voltan<strong>do</strong> a refletir sobre a questão das altas habilidades acontece algo similar ao que é<br />
enfrenta<strong>do</strong> na situação das deficiências, onde se centra atenção no déficit. Nessa<br />
circunstância a atenção estará centrada no potencial da pessoa. Manten<strong>do</strong>-se um problema<br />
semelhante que é o de centrar a percepção em uma parte <strong>do</strong> sujeito perden<strong>do</strong> a noção <strong>do</strong><br />
to<strong>do</strong> e a visão global <strong>do</strong> ser humano. Uma pessoa passa a ser vista pela sua diferença e não<br />
no conjunto de suas possibilidades e limites tão comum aos seres humanos. O drama <strong>do</strong>s<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência e <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de altas habilidades se assemelha aqui pelo fato<br />
de que se esquece o sujeito como um to<strong>do</strong>, se vê a parte como se fosse o to<strong>do</strong>.<br />
Os pais perdem o parâmetro com a criança com altas habilidades, perdem o referencial<br />
porque a criança foge <strong>do</strong>s padrões, há uma dificuldade em lidar com essas questões. As<br />
famílias super estimulam suas crianças em determinadas áreas, esquecen<strong>do</strong>-se de suas<br />
limitações. As crianças são colocadas a desempenhar papéis que não são adequa<strong>do</strong>s a faixaetária<br />
que elas estão, como, por exemplo, tomar decisões pela família. O nível de cobrança,<br />
de exigência com o desempenho da criança é muito alto.<br />
"Os pais chegam assusta<strong>do</strong>s ao plantão institucional, sem saber como<br />
lidar com o 'filho diferente' as reações que aparecem diante <strong>do</strong>s<br />
talentosos são semelhantes as reações diante <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência, são crianças consideradas os 'chatos' da turma" A tendência<br />
<strong>do</strong>s pais é bloquear o conhecimento <strong>do</strong> filho por me<strong>do</strong> dele. (Seminário<br />
realiza<strong>do</strong> em out. de 2001).<br />
No ambiente familiar, o potencial da criança considera<strong>do</strong> além <strong>do</strong>s parâmetros acaba se<br />
tornan<strong>do</strong> ponto de conflito nas relações familiares Os pais não conseguem entender os<br />
filhos, ficam assusta<strong>do</strong>s e desorienta<strong>do</strong>s diante da manifestação <strong>do</strong> potencial deles. Uma<br />
criança aos cinco anos de idade não pode receber a incumbência de gerenciar a família,<br />
pelo fato de apresentar alguns talentos, algo que acontece com freqüência, nessas
42<br />
circunstâncias. Isso significa a perda <strong>do</strong>s parâmetros e a dificuldade em perceber a criança<br />
primeiro enquanto criança, depois em suas particularidades.<br />
Os porta<strong>do</strong>res de altas habilidades sofrem com a inveja e a agressividade das pessoas,<br />
por isso acabam sen<strong>do</strong> excluí<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s grupos. Na relação professor aluno, por vezes o<br />
professor não sabe como lidar com o aluno que supostamente sabe mais <strong>do</strong> que ele, e<br />
algumas vezes acaba hostilizan<strong>do</strong> o aluno. Há o me<strong>do</strong> <strong>do</strong> saber <strong>do</strong> outro. O déficit e o<br />
potencial não são duas pontas antagônicas, a essência da problemática está nas relações<br />
sociais que funciona em cima de um padrão, de parâmetros organiza<strong>do</strong>s pelo social, onde a<br />
diferença não se encaixa. São muitas as questões que permeiam as altas habilidades, como<br />
se pode analisar no resulta<strong>do</strong> <strong>do</strong> debate abaixo:<br />
"Há o me<strong>do</strong> da loucura porque a criança pensa demais, por estar sempre<br />
à frente, por ser crítico demais. A fantasia de que to<strong>do</strong> o cientista é um<br />
pouco louco. A percepção da criança é maior e a sensibilidade é mais<br />
aguçada. Ex: são crianças de 3 e 4 anos tematizan<strong>do</strong> sobre a guerra,<br />
destruição, captan<strong>do</strong> o contexto atual. Questões sobre política, sobre<br />
justiça aparecem precocimente" (Seminário realiza<strong>do</strong> em out. de 2001).<br />
Aproveitan<strong>do</strong>, uma vez mais, a figura da ficção, pode-se valer <strong>do</strong> Filme Shine<br />
("Brilhante") 3 que apresenta a história de um menino talentoso, com uma grande habilidade<br />
na área musical, tocava com maestria um piano. Trata-se de um jovem da classe pobre que<br />
aprendeu com o próprio pai a tocar piano. Seu pai era um homem de características rígidas,<br />
muito disciplina<strong>do</strong> e exigente, não aceitava que o filho fosse menos <strong>do</strong> que o melhor de<br />
to<strong>do</strong>s. O menino de origem Franco-Soviética começou desde muito pequeno (6 anos) a<br />
participar de concursos de música e a ocupar os primeiros lugares. As competições que<br />
perdia deixavam o pai muito irrita<strong>do</strong> e decepciona<strong>do</strong> e o menino muito oprimi<strong>do</strong> e abala<strong>do</strong>.<br />
Tornou-se famoso na região pelos concursos que ganhou, pelas peças de grandes mestres da<br />
música que sabia tocar e por suas próprias composições.<br />
Com to<strong>do</strong> aquele talento ganhou diversos prêmios, inclusive subsídios para estudar na<br />
Inglaterra. A rigidez e a super exigência de seu pai o acompanhou por toda sua carreira. Ele<br />
3 Do original SHINE; Australian Film Finance Corporation. Produção Momentum Films - Jane Scott;<br />
Direção Scott Hicks, 1996.
43<br />
não teve uma vida de criança, nem de a<strong>do</strong>lescente, não convivia com pessoas de sua idade,<br />
não tinha diversão e vida social. Foi cria<strong>do</strong> para responder ao padrão de ser um grande<br />
músico e não decepcionar o pai. Em sua ainda juventude, durante um de seus consertos e<br />
no esforço para realizar o melhor possível perdeu os senti<strong>do</strong>s e a razão. Foi acometi<strong>do</strong> de<br />
um surto psicótico, com conseqüente internação em um hospital psiquiátrico, por longos<br />
anos, onde recebeu, entre outros tratamentos, o choque elétrico. Nunca mais se recuperou,<br />
ficou com um comportamento regressivo, como se fosse um menino, deixava transparecer<br />
um sentimento de culpa por não ter respondi<strong>do</strong> a todas as expectativas <strong>do</strong> pai. Esteve<br />
institucionaliza<strong>do</strong> por um bom tempo, seus pais não o visitavam, apenas as irmãs iam,<br />
eventualmente, vê-lo.<br />
O protagonista dessa história com o passar <strong>do</strong> tempo, foi descoberto por pessoas que<br />
reconheceram seu talento e lembraram <strong>do</strong> tempo em que ele era famoso por suas<br />
apresentações artísticas. Algumas pessoas ligadas ao meio artístico "o a<strong>do</strong>taram". Por fim<br />
foi morar com amigas e começou a fazer apresentações em bares e restaurantes. Foi<br />
recuperan<strong>do</strong> a expressão de seu talento e realizan<strong>do</strong> apresentações em lugares famosos. Os<br />
jornais da época recuperaram sua história e publicava seus feitos artísticos, relembran<strong>do</strong><br />
sua mocidade, o tempo em que ele ganhava concursos e prêmios. Recuperou sua<br />
habilidade, fez várias amizades e se casou com uma pessoa de mais idade. Entretanto,<br />
nunca recuperou sua integridade mental. Apresentava várias disfunções psíquicas, como um<br />
comportamento regressivo, a fala repetida das palavras e o autocontrole prejudica<strong>do</strong>.<br />
A história de David Helfgott é uma história real e retrata o drama de pessoas que têm um<br />
talento que as diferencia das outras pessoas e em função deste talento suas vidas centram-se<br />
no potencial, parcializan<strong>do</strong> as possibilidades <strong>do</strong> sujeito, impedin<strong>do</strong> a manifestação das<br />
demais funções da vida. A descompensação psíquica é conseqüência desta parcialização<br />
que esgota a vida de uma pessoa em torno de uma parte de seu ser. Por vezes, é muito<br />
difícil para as famílias e as pessoas em geral lidar, em suas relações pessoais, com uma<br />
criança e/ou um a<strong>do</strong>lescente que se apresente com uma singularidade marcante, que se situe<br />
em um lugar diferente <strong>do</strong> lugar dito "comum". O custo é muito alto para o exercício da<br />
diversidade, muitas vezes custa à própria vida. "O fato é que ele, ele não aprovou... Não
44<br />
aprovou. Desaprovou inteiramente.. E eles se afastaram e me deixaram aqui.." (frase <strong>do</strong><br />
protagonista <strong>do</strong> filme).<br />
A "desaprovação" passa ter um senti<strong>do</strong> social que atravessa as individualidades. O<br />
exercício da diversidade, a possibilidade de expressar as diferenças no contexto traz a tona<br />
a dificuldade de aceitação e aprovação pelas instâncias institucionais e <strong>do</strong> cultivo no social<br />
de uma moldura para os seres. Fora dessa moldura o resulta<strong>do</strong> provável é a desaprovação e,<br />
portanto a rejeição <strong>do</strong> sujeito que não se acomode na mesma. A imagem e a auto-imagem<br />
pessoal de cada ser passa por este atravessamento de exigências cultuada pelo meio social.<br />
Essa imagem pode ser desqualificada, depreciativa ou qualificada e considerada "padrão".<br />
Segun<strong>do</strong> GOFFMAN, "a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o<br />
total de atributos considera<strong>do</strong>s como comuns e naturais para os membros de cada uma<br />
dessas categorias" (1982 p.11). Como a sociedade, em geral, percebe as pessoas que tem<br />
suas diferenças flagrantemente expostas? Em um depoimento de um militante da setorial<br />
das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, de um Parti<strong>do</strong> de Esquerda, constata-se uma resposta<br />
bem realista para essa questão, que se expressa na fala que se destaca:<br />
“Como um cego é visto pela sociedade? Olham o como “ceguinho”.<br />
Toda a subjetividade, to<strong>do</strong> o talento <strong>do</strong> indivíduo, tu<strong>do</strong> é nega<strong>do</strong> nesta<br />
hora, o sujeito é reduzi<strong>do</strong> à cegueira. Até que ponto a cegueira é um<br />
substantivo? Até que ponto a cegueira é minha substância? Isto é a<br />
ideologia – concepções de certo / erra<strong>do</strong>, normal / anormal – ideologia<br />
que dá e tira prestígio para alguns e para outros. Como se trata o cego?<br />
Ou ralhan<strong>do</strong> ou com o carinho que se dá aos “loucos”. Que bonitinho! É<br />
tão inteligente é mais inteligente <strong>do</strong> que eu (Diário de Campo nov. de<br />
1999).<br />
Nesse depoimento se expressa a percepção <strong>do</strong> quanto a cultura da “normalidade” olha<br />
para a diferença acentuan<strong>do</strong> o limite, numa perspectiva totaliza<strong>do</strong>ra. É como se o porta<strong>do</strong>r<br />
de uma “deficiência” fosse idêntico a um ser deficitário em seu to<strong>do</strong>. Isto demonstra o<br />
quanto o sujeito não é reconheci<strong>do</strong> em sua totalidade, mas é identifica<strong>do</strong> pela<br />
particularidade de sua diferença, que em alguns casos são diferenças restritivas em<br />
determinadas áreas, porém, não impeditivas para o desenvolvimento das demais áreas da<br />
vida.
45<br />
Para GOFFMAN, as pessoas são socialmente enquadradas em categorias, existem<br />
determinadas afirmações em relação ao que deva ser o indivíduo que se apresenta aos<br />
grupos da sociedade. Existem atributos que uma pessoa deve possuir para pertencer a uma<br />
determinada categoria. Quan<strong>do</strong> acontece de uma pessoa se apresentar com evidências de<br />
um "atributo" que o torne diferente <strong>do</strong>s demais "assim deixamos de considerá-lo criatura<br />
comum e total, reduzin<strong>do</strong>-o a uma criatura comum e estragada" (1982 p.12).<br />
O fato de alguém não se enquadrar em atributos desejáveis ou apresentar atributos<br />
considera<strong>do</strong>s estranhos, caracteriza a situação, denominada por Goffman de "estigma". O<br />
"estigma" aparece permea<strong>do</strong> pelo descrédito que se atribui a uma pessoa, que fica marcada<br />
por aquilo que é considera<strong>do</strong> desvantagem. A desvantagem aparece na relação entre os<br />
indivíduos, especialmente para aqueles que se apresentam de forma estranha ao<br />
considera<strong>do</strong> habitual. O estigma se constitui em uma marca, um sinal que está pontuan<strong>do</strong><br />
um defeito. Tal defeito foi consolida<strong>do</strong> nos processos socais que criaram delimitações entre<br />
ordinário e o extraordinário.<br />
O extraordinário, nessa situação, tem uma conotação negativa. GOFFMAN refere-se a<br />
origem <strong>do</strong> termo "estigma" associan<strong>do</strong>-a a sinais corporais que eram utiliza<strong>do</strong>s para<br />
demonstrar que o indivíduo, assim marca<strong>do</strong>, era um escravo, um trai<strong>do</strong>r, um criminoso.<br />
Tratava-se de uma pessoa marcada, que deveria ser evitada, e que estaria sob a condição "...<br />
<strong>do</strong> indivíduo que está inabilita<strong>do</strong> para a aceitação social" (1982, p.7). No depoimento<br />
abaixo se analisa o fato da pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência mental avaliar que as pessoas,<br />
em geral, não entendem que to<strong>do</strong>s devem fazer parte <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>.<br />
"Tanto guri como guria a gente é tu<strong>do</strong> igual a eles, a gente faz tu<strong>do</strong> igual<br />
ao que eles fazem, só tem uma deficiência, a gente não tem <strong>do</strong>ença<br />
contagiosa. A gente só não tem dinheiro para a liberdade de comprar as<br />
coisas, depende da família, no resto somos iguais. Gosto muito de fazer<br />
novas amizades. Algumas mães tem me<strong>do</strong> que a gente namore os filhos<br />
delas. A mãe de um amigo meu não deixou que eu namorasse o filho dela<br />
e me proibiu de voltar na casa dela" (Entrevista realizada em nov. de<br />
2001).
46<br />
Falar em estigma é considerar as marcas que uma sociedade deixa em seus seres sociais.<br />
Quan<strong>do</strong> determina<strong>do</strong>s padrões socialmente da<strong>do</strong>s não são cumpri<strong>do</strong>s por um sujeito, o<br />
mesmo corre o risco de se tornar um estigmatiza<strong>do</strong>. Corren<strong>do</strong>-se o risco, assim, de receber<br />
uma marca, com a qual as outras pessoas irão se relacionar, antes mesmo de perceber o<br />
sujeito que está por detrás da mesma. O imaginário social está fortemente condiciona<strong>do</strong><br />
para a estranheza diante daquilo que não é da ordem <strong>do</strong> ordinário. O ordinário é percebi<strong>do</strong><br />
como o ideal, como aquilo que deve acontecer, é ordem das coisas no social, o lugar<br />
seguro. A visão sobre essa ordem "perfeita", no ordinário, se sobrepõe à percepção da<br />
pessoa enquanto pessoa, uma vez que ela não cumpra tal prerrogativa. O depoimento que<br />
segue, é significativo para demonstrar essas afirmativas:<br />
"O importante é que as pessoas entendam que não se tem que procurar o<br />
específico da problemática de uma criança para entender sua deficiência,<br />
deveria percebê-la antes de tu<strong>do</strong> como criança. Tem que ver primeiro a<br />
pessoa e depois sua marca ou sua deficiência. O que acontece é o<br />
contrário. Na escola, principalmente, é muito complicada a aceitação de<br />
tu<strong>do</strong> que foge da 'normalidade'. Sempre causa espanto uma criança com<br />
diabete, porta<strong>do</strong>ra <strong>do</strong> vírus de HIV positivo ou que portem qualquer<br />
diferença. Isso passa ser o principal, a primeira questão. A criança não é<br />
considerada, mas sua marca, seu 'defeito' sim, esse vale" (Entrevista<br />
realizada em maio de 2001).<br />
Em diversas instâncias da sociedade a situação de estigmatização é produzida e<br />
reproduzida. Em geral o início <strong>do</strong> processo discriminatório começa na família. A filiação<br />
acontece de maneira diferenciada, no caso das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Os filhos,<br />
em geral, são espera<strong>do</strong>s para responder a uma expectativa de normalidade que já é dada no<br />
social. A reação mais comum, com a chegada de uma criança com alguma deficiência, é a<br />
da rejeição e o pesar. O "luto <strong>do</strong> bebê perfeito" começa a ser considera<strong>do</strong>, como algo<br />
necessário, para que a criança real seja aceita e passe a conviver naquela família. Há um<br />
olhar <strong>do</strong>s familiares, <strong>do</strong>s parentes, <strong>do</strong>s vizinhos, que por vezes, vai definir um lugar<br />
diferencia<strong>do</strong> de inserção daquela criança no seu contexto de vida. Uma inserção, quase<br />
sempre, atravessada por muitas marcas. "A espera da mãe de uma criança perfeita, resulta<br />
que seu 'troféu veio arranha<strong>do</strong>', e aí esse 'troféu' não vai para estante, nem para vitrine, e o<br />
que é pior ele nem sairá de casa" (Entrevista realizada em jan. de 2002).
47<br />
Como resulta<strong>do</strong> desta pesquisa de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong> se obteve, em vários depoimentos e nos<br />
debates e reflexões em seminário, o resulta<strong>do</strong> de que a família contribui para o isolamento<br />
das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Isso foi denomina<strong>do</strong> de "cidadania roubada" pelas<br />
mães, pelas avós, que em geral, são as pessoas que educam as crianças e as impedem de<br />
circular pela sociedade. Há uma superproteção que impede o convívio de uma criança<br />
porta<strong>do</strong>ra de deficiência, com as demais crianças. Esse fato dificulta a troca de experiências<br />
e o processo de reconhecimento das características de pessoas que portam alguma<br />
deficiência, por parte das demais.<br />
A superproteção é apontada como característica da maioria das famílias prejudican<strong>do</strong> a<br />
inserção da mesma no social. O "muro" começa a ser construí<strong>do</strong> a partir de casa. A criança<br />
vai se tornan<strong>do</strong> frágil, não aprende a se auto - defender, a falar por si, a criar uma autoimagem<br />
construtiva. A autonomia fica prejudicada quan<strong>do</strong> há o impedimento de trocar<br />
características diferenciadas, nas relações sociais As diversas instâncias sociais se<br />
desobrigam, se (des) comprometem com o fato de terem que reconhecer as diferenças.<br />
Como conseqüência deste processo segregatório, a criança não cria "anticorpo social" e<br />
vai alcançar algum nível de cidadania e de autonomia, muito tardiamente, quan<strong>do</strong><br />
consegue. Em geral é na maioridade, após a morte <strong>do</strong>s familiares que uma pessoa "cuidada"<br />
pela família, começará a perceber que há um mun<strong>do</strong>, com o qual, ela terá que interagir mais<br />
diretamente. É freqüente acontecer <strong>do</strong>s familiares falarem sempre em nome da pessoa que é<br />
porta<strong>do</strong>ra de deficiência e das outras pessoas não se dirigirem à própria pessoa para saber a<br />
sua opinião.<br />
"Quan<strong>do</strong> vamos ao restaurante, os garçons sempre perguntam a minha esposa 'o que<br />
ele vai comer', como se eu por ser cego não pudesse responder, não é um absur<strong>do</strong>?"<br />
(Entrevista realizada em nov. de 2001). A pessoa não é tratada como sujeito de opiniões e<br />
decisões, como se não tivesse condições de fazer escolhas e dirigir sua própria vida. Algo<br />
que deveria ser trabalha<strong>do</strong> desde a infância. O incentivo a autonomia é um exercício<br />
fundamental para to<strong>do</strong>s os seres humanos, desde que se colocam no mun<strong>do</strong>, a fim de que<br />
seja possível a construção da cidadania e da democracia.
48<br />
"Na instituição que prepara os porta<strong>do</strong>res de deficiência mental para o<br />
trabalho, esses chegam em geral após os 20 anos de idade, chegam<br />
limita<strong>do</strong>s, de braços da<strong>do</strong>s com a mãe, como se fossem meninos pequenos.<br />
O potencial deles para a independência da vida diária e para o trabalho<br />
ainda não foi trabalha<strong>do</strong>. São histórias de superproteção e/ou rejeição<br />
que se alternam. Quan<strong>do</strong> trabalhamos para a autonomia destes sujeitos, a<br />
família perde a 'muleta', o 'ninho fica vazio'. É difícil para aquela família<br />
soltar o filho, deixar 'ele caminhar com as próprias pernas', ver que ele<br />
não é criança, que pode fazer muito mais" (Seminário realiza<strong>do</strong> em julho<br />
de 2001).<br />
Uma outra conseqüência da segregação é o confinamento, em seus múltiplos aspectos.<br />
Alguns desses, já foram vistos, como a situação <strong>do</strong> porta<strong>do</strong>r de deficiência ser<br />
"resguarda<strong>do</strong>", dentro de casa, impossibilita<strong>do</strong> de circular pelas ruas, de se fazer presente<br />
no mun<strong>do</strong>. Há o confinamento <strong>do</strong> próprio corpo, a proibição de mostrar suas características<br />
pessoais, como se elas tivessem que ser escondidas por se tratarem de coisas vergonhosas.<br />
Existem inúmeros exemplos dessas situações, conforme se pode demonstrar com alguns<br />
depoimentos:<br />
"Acompanhei por muito tempo uma mãe que andava com o filho de um<br />
ano no colo, tapa<strong>do</strong> até a cabeça, como se fosse um bebê, de meses, Ela<br />
fazia isso, pois achava que estava protegen<strong>do</strong> o filho <strong>do</strong> olhar e da<br />
reprovação <strong>do</strong>s outros" (Entrevista realizada em dez. 2001).<br />
"As mães e os pais de filhos com problemas deveriam colocar seus filhos<br />
na escola ou em instituições como eu estou, não deveriam esconder seus<br />
filhos em casa. Tenho muitos amigos meus que estão só em casa<br />
<strong>do</strong>rmin<strong>do</strong>, por serem deficientes. Tem uma mãe de uma amiga minha que<br />
deixa a guria escondida dentro <strong>do</strong> quarto quan<strong>do</strong> chega visita, só porque<br />
ela tem síndrome de Down (Entrevista realiza em nov. de 2001).<br />
Por muito tempo a condição da deficiência foi relegada ao confinamento e ainda em<br />
nossa sociedade contemporânea esse traço se faz presente. To<strong>do</strong>s os depoimentos referi<strong>do</strong>s<br />
nesse trabalho são de pessoas que vivem o nosso tempo presente e, em geral, demonstram o<br />
quanto nas práticas sociais, a deficiência ocupa o lugar <strong>do</strong> indesejável. Não se aprendeu a<br />
reconhecer o potencial <strong>do</strong> porta<strong>do</strong>r de deficiência e o fato de nenhuma deficiência impedir a<br />
vida e o desejo pela vida.<br />
Por maiores que sejam as limitações físicas ou psíquicas, o ser é sempre capacita<strong>do</strong> para<br />
viver, para fazer parte de seu conjunto humano, especialmente se as condições de vida<br />
forem menos adversas <strong>do</strong> que as que a sociedade tem ofereci<strong>do</strong> para as pessoas viverem. O
49<br />
estigma de incapacidade e de inutilidade outorga<strong>do</strong> às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência é<br />
uma criação cultural, não corresponde as reais condições humanas e sua principal<br />
característica: a diversidade.<br />
"A gente vive intensamente a vida da gente. Não se vegeta, a gente pode<br />
namorar, casar, ocupar cargos em alto escalão <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>, as empresas.<br />
Infelizmente o próprio deficiente as vezes não sabe disso. E, nós somos<br />
minoria para passar tu<strong>do</strong> isso para a sociedade, em que podemos fazer<br />
tu<strong>do</strong> isso"(Diário de Campo, julho de 2001).<br />
Voltan<strong>do</strong> a situação <strong>do</strong> confinamento ao próprio corpo, pode-se trazer à pauta desta<br />
análise aquilo que GOFFMAN (1984) chamou de "manipulação <strong>do</strong> estigma". A<br />
característica distintiva que é colocada na situação <strong>do</strong> estigma leva, por vezes, as pessoas a<br />
buscarem o encobrimento de sua deficiência. Isso se caracteriza pelas tentativas de<br />
esconder as marcas ou evidências daquela condição que não recebe "aprovação" no social.<br />
"Tem cegos que não usam a bengala, só usam óculos escuros para esconder a cegueira,<br />
têm vergonha, não se aceitam" (Entrevista realizada em março de 2001).<br />
GOFFMAN menciona o exemplo de pais que são hospitaliza<strong>do</strong>s por <strong>do</strong>enças mentais.<br />
Quan<strong>do</strong> a mãe tem que contar aos filhos, quase todas escondem e dizem que o pai está no<br />
hospital por uma <strong>do</strong>ença física (1984 p.102). Isso é o resulta<strong>do</strong> da <strong>do</strong>ença mental ser vista<br />
de forma estigmatizante e deixar uma marca negativa em quem está sob tais condições.<br />
Inúmeras outras situações são trazidas pelas pessoas que vivem em condições diferenciadas<br />
das consideras culturalmente como as "normais" e desejáveis. Conforme se pode analisar,<br />
segue abaixo depoimentos que retratam a situação <strong>do</strong> "encobrimento":<br />
"Tem muitas pessoas que ao saírem da instituição retiram os aparelhos<br />
auditivos para não serem identificadas nas ruas como deficiente auditiva"<br />
(Seminário realiza<strong>do</strong> em abril de 2001).<br />
"A mãe de uma menina com microcefalia, arrumava o cabelo dela bem<br />
volumoso para esconder a situação" (Seminário realiza<strong>do</strong> em abril de<br />
2001).<br />
A discussão que atualmente está permean<strong>do</strong> o debate acerca <strong>do</strong>s acessórios que as<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência precisam, para se situarem no mun<strong>do</strong>, é de extrema<br />
positividade. Faz-se necessário que se veja os recursos de outra maneira e não como
50<br />
confinamento, não os consideran<strong>do</strong> em um lugar de negatividade, não os ven<strong>do</strong> com pesar,<br />
como se fosse digno de piedade ou discriminação a pessoa que o usa. "A cadeira de roda<br />
ficou muito associada à idéia de <strong>do</strong>ença, uma pessoa numa cadeira de rodas não significa<br />
que esteja <strong>do</strong>ente" (Entrevista realizada em março de 2002).<br />
Tanto a cadeira de rodas, quanto à bengala para os cegos, os recursos de leitura em<br />
Braille, os aparelhos auditivos e to<strong>do</strong>s os outros acessórios são recursos fundamentais para<br />
a acessibilidade das pessoas que portam alguma deficiência. Portanto, tais recursos devem<br />
ser vistos como eles realmente são, ou seja, a possibilidade de acesso e não como marca de<br />
confinamento. As barreiras <strong>do</strong> preconceito, às vezes, são maiores <strong>do</strong> que as barreiras<br />
arquitetônicas e em função delas que esses recursos foram, por tanto tempo, vistos como<br />
motivo de estigma.<br />
"Sempre tive dificuldade de relacionamento devi<strong>do</strong> minha deficiência<br />
auditiva, eu não ouvia o que as pessoas diziam, embora eu reconhecesse o<br />
valor da prótese, nunca a usava devi<strong>do</strong> à vergonha. Após criar coragem e<br />
usar minha vida mu<strong>do</strong>u" (Entrevista realizada em nov. de 2001).<br />
A questão da interpretação <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, de cada sujeito e de cada fato que se localiza<br />
neste mun<strong>do</strong> é crucial para o entendimento sobre o mo<strong>do</strong> de vida das sociedades, bem<br />
como para o desenrolar das relações sociais. Há uma necessidade sempre emergente de<br />
compreensão <strong>do</strong> que se passa com a humanidade, bem como compreender a própria<br />
condição humana. Nesse processo, sempre existiu muita intolerância ao que diz respeito às<br />
situações das diferenças. Para interpretar é preciso entender, conhecer o que se interpreta. O<br />
alcance ou a limitação <strong>do</strong> conhecimento é o que vai determinar a abrangência ou a<br />
limitação das análises que são realizadas. Por conta dessas análises tantas atrocidades são<br />
cometidas como se pode observar no caso da temática aqui apresentada, numa excursão<br />
histórica.<br />
Na situação das deficiências, como em outras, terá maior peso social à interpretação<br />
dada a ela <strong>do</strong> que suas reais e concretas características e condições. Se uma pessoa é<br />
porta<strong>do</strong>ra de deficiência mental e apesar de seu déficit orgânico é capaz de aprender, de<br />
desenvolver sua potencialidade cognitiva, isto é da sua condição real. Porém, se a ciência
51<br />
ainda não se aprimorou a ponto de compreender as peculiaridades desse aprendiza<strong>do</strong> e essa<br />
mesma ciência vai realizar a interpretação <strong>do</strong> fato, a fará dentro de seu limite de<br />
compreensão.<br />
A crença naquilo que é da ciência, por muitas vezes determinou os padrões de<br />
aceitabilidade ou a rejeição de idéias vigentes nas sociedades, e por aí quantas barbáries se<br />
cometeu na história da humanidade ao tentar entender e interpretar a condição humana e<br />
sua complexa diversidade. "O século passa<strong>do</strong> foi marca<strong>do</strong> pela idéia de que o sujeito é<br />
deficitário, é patológico, quan<strong>do</strong> na verdade a deficiência está na sociedade, na cultura e<br />
no Esta<strong>do</strong> que não sabe abordar a questão das diferenças" (Entrevista realizada em set. de<br />
2001).<br />
Deixar-se conduzir pelo princípio da “igualdade de oportunidades e da plena<br />
participação”, deverá levar a um caminho de grandes rupturas com requisitos postos pela<br />
cultura e pela estrutura da sociedade, que está determinada por uma estrutura social que<br />
pré-fixou valores e padrões como um ideal para a vida humana A perspectiva da cidadania,<br />
da inclusão, é a principal reivindicação desses sujeitos, que vivem suas vidas com alguma<br />
“restrição impeditiva” e muitas outras possibilidades, por vezes não consideradas, contu<strong>do</strong>,<br />
que não os impede de ser sujeitos da história.<br />
O mun<strong>do</strong> ao re<strong>do</strong>r parece mesmo ter si<strong>do</strong> to<strong>do</strong> ele construí<strong>do</strong> para seres humanos<br />
perfeitos, sem limitações e num padrão único, sem distinções. Ao observar o cotidiano no<br />
agito das grandes metrópoles, por exemplo, encontram-se grandes empecilhos para aqueles<br />
que não condizem com as exigências da figura humana pensada na arquitetura da cidade.<br />
Os transportes coletivos caracterizam-se por aberturas de longas escadas, onde as pernas<br />
<strong>do</strong>s menos afortuna<strong>do</strong>s pela altura devem se esticar bastante para poderem entrar no<br />
veículo. As aberturas das portas de repartições públicas e privadas, geralmente são<br />
apequenadas a ponto de não comportar um sujeito que necessite, para se deslocar, <strong>do</strong> apoio<br />
de algum acessório.
52<br />
O contexto em que as pessoas vivem suas vidas parece ter si<strong>do</strong> construí<strong>do</strong> de forma a<br />
ressaltar o déficit das pessoas com diferenças acentuadas. As pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência têm “diferenças restritivas” que as faz diferir de um padrão cultural cria<strong>do</strong> e<br />
a<strong>do</strong>ta<strong>do</strong> como “normal”, como se a naturalidade para os seres humanos fosse um estilo<br />
comum a todas as pessoas. Esse estilo tende a perfeição, é uma estética imaginada para um<br />
ser perfeito, sem limitações físicas, psíquicas e de interação com seu meio social.<br />
Essa estética imaginada se reproduz na forma como a arquitetura social é planejada e<br />
executada, parece não condizer com a realidade da natureza humana. O ser humano é<br />
imperfeito por natureza, é incompleto, é inacaba<strong>do</strong>, portanto, cada um é porta<strong>do</strong>r de<br />
inúmeras limitações em áreas diversas. Não é possível aos indivíduos, enquanto seres<br />
humanos realizar toda a potência universal que está disposta no mesmo. A idéia de<br />
perfeição é um sonho, talvez um forte desejo, impossível de realização plena, no plano<br />
concreto da vida humana.<br />
As pessoas porta<strong>do</strong>ras de uma “diferença flagrantemente visível” demonstram o<br />
inacabamento, a incompletude <strong>do</strong> que é humano, de forma peculiar e, na maioria das vezes,<br />
irrevogável. Quan<strong>do</strong> se fala em considerar o cotidiano <strong>do</strong>s sujeitos que são porta<strong>do</strong>res de<br />
alguma deficiência, se está incluin<strong>do</strong> a necessidade <strong>do</strong> contexto apresentar condições para<br />
essa vivência ser possível de ser exercida com toda a dignidade que merece a vida humana,<br />
em respeito a sua singularidade e a sua incompletude. As barreiras arquitetônicas das<br />
grandes metrópoles desconsideram esta prática peculiar das diferenças, pois o planejamento<br />
urbano é pensa<strong>do</strong> para o homem padrão e não para o “homem em carne e osso”. Observa-se<br />
que não são só os “porta<strong>do</strong>res de deficiência” que sofrem restrições com as barreiras <strong>do</strong><br />
espaço construí<strong>do</strong>:<br />
“... também há os chama<strong>do</strong>s ‘deficientes temporários’, ou seja, aqueles<br />
que momentaneamente tem reduzi<strong>do</strong> sua capacidade de locomoção, tais<br />
como: fratura<strong>do</strong>s, gestantes, enfermos,... os i<strong>do</strong>sos, crianças e aqueles<br />
com problemas orgânicos: cardíacos, hipertensos, reumáticos, diabéticos,<br />
etc.” (LIPPO, 1997, p. 153).<br />
Transformar essa lógica da “homogeneização artificial <strong>do</strong> ser humano”, é um desafio,<br />
uma necessidade premente para a construção de uma sociedade democrática e humana.
53<br />
Para que isso possa se dar será preciso uma profunda revisão <strong>do</strong> conceito de normalidade,<br />
que por si mesmo, se coloca como uma fronteira, um muro que separa os “ditos normais”,<br />
<strong>do</strong>s “não normais”. Além da irrealidade dessa fronteira, ten<strong>do</strong> em vista a perspectiva da<br />
singularidade humana e não a da massificação e padronização se tem nessa, uma<br />
prerrogativa da normalidade. Tal prerrogativa coloca o “excepcional” em oposição ao<br />
“normal”, o “desviante” em oposição ao padrão estabeleci<strong>do</strong>. Essa terminologia expressa<br />
uma lógica excludente, em que alguns seres humanos ficam de fora <strong>do</strong> que é considera<strong>do</strong><br />
normal, aceito e acolhi<strong>do</strong> pela vida em sociedade.<br />
STAINBACK (1999, p.419) sugere a utilização de destaque para as palavras capacidade<br />
e eficiência, no caso da terminologia: inCAPACI<strong>DA</strong>DE e dEFICIÊNCIA. Nessa proposta,<br />
as letras iniciais daquelas palavras estariam em minúsculo com o propósito de ressaltar a<br />
potencialidade, a possibilidade, a funcionalidade. A finalidade desta troca de posição entre<br />
letras minúsculas e maiúsculas pode estar direcionada a uma valorização <strong>do</strong> potencial<br />
daqueles que apresentam algum déficit físico, sensorial ou psíquico. Entretanto, pode-se<br />
objetar que, nesse movimento de trocadilhos, ainda poder-se-á estar conservan<strong>do</strong> a mesma<br />
lógica, na qual o sujeito precisa responder à demanda social de um padrão de<br />
funcionalidade e eficiência. De outra forma, há toda uma potencialidade, não reconhecida<br />
pela sociedade, da capacidade das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, o que leva as mesmas<br />
a movimentos compensatórios, como é destaca<strong>do</strong> na entrevista que segue:<br />
"Geralmente em uma empresa que tem um porta<strong>do</strong>r de deficiência, o<br />
mesmo sempre vai se esforçar para ser o mais competente funcionário.<br />
Este é um esforço que a pessoa faz para ser aceito e também pelo fato<br />
dela já partir <strong>do</strong> déficit" (Entrevista realizada em out. de 2001).<br />
A principal contribuição da diversidade ao social é que as sociedades só se desenvolvem<br />
a partir das diferenças. Onde tu<strong>do</strong> é igual não há movimento, não há crescimento. Cada<br />
qual contribui com sua diferença, com seu jeito peculiar, com as formas alternativas e<br />
criativas para o viver. Assim, o mun<strong>do</strong> vai sen<strong>do</strong> cria<strong>do</strong> e recria<strong>do</strong> em cada tempo histórico,<br />
a partir da dinâmica de seus movimentos contraditórios.
54<br />
Toda a dinâmica que caracteriza o movimento <strong>do</strong> real comporta a diversidade, tanto<br />
quanto os seres em suas peculiaridades. Historicamente, entretanto, não tem havi<strong>do</strong> espaço<br />
para expressão, neste social, para aqueles que foram "marca<strong>do</strong>s" por uma singularidade que<br />
foge aos parâmetros. Que problema se coloca aqui? A grande deficiência parece se localizar<br />
na ignorância <strong>do</strong>s atores sociais que fazem a história, desconhecen<strong>do</strong> as reais características<br />
daqueles que constituem a sociedade humana, ou seja, os seres humanos. O que esteve e<br />
está deficiente de fato? É possível arriscar uma resposta, indican<strong>do</strong> a construção histórica<br />
da nossa estrutura social, como um fator de enorme peso, por tu<strong>do</strong> que já foi e será<br />
expresso nesta tese.<br />
1.3 A <strong>DIVERSI<strong>DA</strong>DE</strong> COMO CONDIÇÃO <strong>HUMANA</strong><br />
Entende-se por diversidade o conjunto das diferenças e peculiaridades individuais.<br />
Diversidade é esse conjunto de peculiaridades individuais que não se iguala, que é<br />
impossível padronizar, por mais que a sociedade deseje unificar. É peculiar a cada ser uma<br />
série de diferenciações que fazem parte de suas características, enquanto ser, nessas<br />
diferenciações estão contidas toda a singularidade própria <strong>do</strong>s seres humanos. Portanto, se<br />
considera como condição daquilo que caracteriza o ser humano, enquanto tal, uma vez que<br />
a partir da multiplicidade <strong>do</strong>s aspectos pessoais se forma o conjunto social <strong>do</strong>s seres.<br />
A partir dessa interpretação, assim colocada, será possível concluir que: um mun<strong>do</strong><br />
verdadeiramente humano deveria ser construí<strong>do</strong> consideran<strong>do</strong> a diversidade como<br />
fundamental à vida social. Recorren<strong>do</strong> ao Dicionário <strong>do</strong> Pensamento Social <strong>do</strong> século XX,<br />
encontra-se um conceito de "diferenciação social" que remete ao entendimento <strong>do</strong>s fatos<br />
sociais de diferença entre grupos ou categorias individuais. A diferenciação acontece em<br />
função de diversos mo<strong>do</strong>s em diferentes sociedades, por vezes codifica<strong>do</strong>s por lei, entre<br />
grupos etários, sexo, grupos étnicos e lingüísticos, entre grupos profissionais, classes e<br />
grupos de status (1996 p.206-207).
55<br />
Ocorrem várias distinções entre os diferentes grupos. O fundamental nessa abordagem é<br />
entender o fato da diferenciação social estar associada à "estratificação social". O que<br />
significa dizer que as desigualdades de poder, riqueza e prestígio social, em suas variadas<br />
formas, são as características principais <strong>do</strong> processo de diferenciação. As qualidades<br />
pessoais <strong>do</strong>s indivíduos ocupam lugares determina<strong>do</strong>s dentro da sociedade e seus<br />
compartimentos. Cada indivíduo surge dentro de algum distinto grupo que já tem<br />
estabeleci<strong>do</strong> determina<strong>do</strong> lugar no social. A partir desse lugar se estruturam diferentes<br />
condições de acesso ao mun<strong>do</strong> social.<br />
A "diferenciação social", assim entendida, está na perspectiva inversa <strong>do</strong> entendimento<br />
de que a diversidade da condição humana deve compor o mun<strong>do</strong> social. Essa diferenciação<br />
se dá por uma estrutura já culturalmente formada e não em respeito a dinâmica peculiar em<br />
que a vida humana se apresenta. A sociedade cria e reproduz a "diferenciação social" sem<br />
absorver o conjunto das diferenças singulares como parte de seu movimento.<br />
A socialização <strong>do</strong>s indivíduos se faz nos processos sociais e as diferenciações são<br />
conseqüências <strong>do</strong> mesmo processo. O movimento de se diferenciar e se igualar são<br />
consolida<strong>do</strong>s na dinâmica social. Os padrões, as normas, as regras <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> social são<br />
absorvi<strong>do</strong>s pelas pessoas afim de que elas possam se socializar e, aqui há uma<br />
igualificação, a necessidade de se tornar igual ao seu grupo. A apreensão das formas<br />
relacionais, os modelos que serão internaliza<strong>do</strong>s desde a infância vão constituí<strong>do</strong> esse<br />
processo de socialização.<br />
A diferenciação acontece entre os grupos distintos, na medida em que a socialização seja<br />
feita com determinada introjeção de costumes e padrões, diferencia<strong>do</strong>s padrões e normas se<br />
tornam estranhos àquela socialização. Se a criança teve um processo de socialização em<br />
uma cultura basicamente urbano-industrial, ela responderá a este padrão se diferencian<strong>do</strong><br />
de outra criança que construiu sua forma de se relacionar com os demais em um modelo de<br />
cultivo agrário, por exemplo.
56<br />
O problema que aqui se coloca não é a questão das culturas apresentarem traços<br />
diferencia<strong>do</strong>s e da socialização se dar de maneiras distintas. A questão centra-se na<br />
hegemonia de um modelo sobre o outro, onde acontece a subjugação daquele que é<br />
considera<strong>do</strong> inferior. Na sociedade, tal qual está colocada, uma socialização diferenciada da<br />
considerada ideal pode ser considerada uma não socialização. No decorrer <strong>do</strong>s processos<br />
históricos há inúmeros exemplos de situações, nas quais acontece uma mutilação da cultura<br />
original <strong>do</strong> sujeito, em nome da socialização "oficial". Os povos indígenas são exemplos<br />
emblemáticos desta trajetória social de violação das singularidades. Como será apresentada<br />
adiante, neste trabalho, “a cultura surda" foi mutilada em sua possibilidade de expressão<br />
gestual, em nome <strong>do</strong> "oralismo", que é algo não natural para quem não possui a audição.<br />
"Os indivíduos nascem com várias disposições potenciais características<br />
<strong>do</strong> ser humano. Sem a interação adequada com membros de uma<br />
comunidade social, em fases apropriadas <strong>do</strong> crescimento, essas<br />
disposições permaneceriam latentes e acabariam por desaparecer. Sem a<br />
atualização das capacidades de comunicação, raciocínio, atividade<br />
criativa, cooperação no jogo e no trabalho, uma criança jamais se<br />
desenvolveria no senti<strong>do</strong> de transformar-se em ser humano"<br />
(BOTTOMORE, 1988, p.342).<br />
Na referência acima colocada se trabalha com um conceito de socialização que faz uma<br />
conexão entre o sujeito potencial e o necessário espaço <strong>do</strong> meio social para sua participação<br />
e criação. Os seres trazem consigo as possibilidades criativas, mas precisam exercitá-las e<br />
expressá-las no convívio entre os outros seres de sua espécie. A socialização deveria ser<br />
não apenas espaço de introjeção para igualização, mas, sobretu<strong>do</strong>, espaço para inserção de<br />
atos criativos e diversifica<strong>do</strong>s de cada pessoa. A condição, ou seja, o mo<strong>do</strong> de ser, o esta<strong>do</strong>,<br />
a situação peculiar aos indivíduos é a condição da diversidade.<br />
As condições <strong>do</strong> contexto de vida desses mesmos indivíduos se fazem no inverso<br />
proporcional a essa diversidade. A padronização <strong>do</strong> social, a massificação das culturas, a<br />
pretensa igualificação <strong>do</strong>s comportamentos ferem a condição, a situação original de ser no<br />
mun<strong>do</strong>. O ser, em seu processo de desenvolvimento e diferenciação de outros seres,<br />
deveria ter a possibilidade de interagir e expressar com sua peculiar diversidade.<br />
Entretanto, a expectativa social é de que cada um seja igual aos demais.
57<br />
Esse é um para<strong>do</strong>xo da construção social, o que pode remeter àquela discussão filosófica<br />
de contraposição entre essência e existência. Entretanto, esse é um debate que não será<br />
aprofunda<strong>do</strong> neste trabalho, embora a relevância e profundidade dessas prerrogativas<br />
filosóficas.<br />
Os preconceitos cria<strong>do</strong>s no social são um resulta<strong>do</strong> de to<strong>do</strong> o processo que cria a norma e<br />
a partir dela o que fica fora é desvio. Sen<strong>do</strong> assim, será julga<strong>do</strong> como inadequa<strong>do</strong> e<br />
indesejável. Voltan<strong>do</strong> à questão das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, percebe-se que os<br />
diversos preconceitos, por parte da demais instâncias sociais, colocam a situação da<br />
deficiência numa categorização de desqualificação e menosvalia na escala social. A<br />
diversidade, que é condição humana, se torna mais visível, por vezes, na situação peculiar<br />
de alguma deficiência. Nessa situação, por ser mais acentuada a diferença, os impedimentos<br />
coloca<strong>do</strong>s no social são mais drásticos.<br />
Ao mesmo tempo os sujeitos, de forma imprevisível, estão sempre superan<strong>do</strong> os<br />
obstáculos, sejam físicos ou sociais e recrian<strong>do</strong> a vida e suas possibilidades. Segun<strong>do</strong><br />
SACKS (1995, p.16), há um enorme potencial criativo nas situações de <strong>do</strong>ença e de<br />
deficiência. O para<strong>do</strong>xo das <strong>do</strong>enças e deficiências é seu poder criativo. Em seu livro<br />
intitula<strong>do</strong>: Um Antropólogo em Marte, esse autor descreve a situação de sete histórias<br />
clínicas de pessoas lobotomizadas, daltônicas, com síndrome de autismo e com síndrome de<br />
Tourette. Todas as situações relatadas são reais e referentes a disfunções neurológicas.<br />
O enfoque da<strong>do</strong> ao estu<strong>do</strong> feito pelo Dr. SACKS 4 leva ao entendimento de que quan<strong>do</strong> se<br />
perde algo outras formas de acesso à vida se criam. O autor alerta para o grande risco de<br />
reduzir toda a complexidade <strong>do</strong> que é humano à distúrbios neurológicos ou psiquiátricos.<br />
Não se pode negligenciar a multiplicidade de fatores que determinam uma vida e nem<br />
deixar de perceber que a singularidade <strong>do</strong> indivíduo é irredutível (1995 p.175). As<br />
conclusões desse estu<strong>do</strong> demonstram situações específicas de pessoas acometidas de<br />
distúrbios que às distanciaram <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, <strong>do</strong> convívio com outras pessoas, todavia, foi<br />
4 A obra: Um Antropólogo em Marte, de Sacks, Oliver, narra a situação de histórias reais de pessoas com<br />
distúrbios neurológicas que tiveram o acompanhamento clínico <strong>do</strong> mesmo. Este autor é de origem inglesa,
58<br />
possível às mesmas se colocarem em situação de grande criatividade e contribuir para o<br />
desenvolvimento da sociedade.<br />
No caso <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de autismo, se tem um exemplo, que apesar da limitação<br />
relacional e as ausências freqüentes, pela qual a pessoa passa (o sujeito se ausenta <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong>), alguma forma de se colocar no mun<strong>do</strong> acontece. Apresenta-se a seguir o exemplo<br />
de duas histórias trazidas na obra <strong>do</strong> Dr. SACKS, com o objetivo de demonstrar, a<br />
diversidade enquanto condição humana e potencial criativo:<br />
Stephen, um menino que aos 2/3 anos de idade não controlava as mãos, não sentava, não<br />
ficava de pé, não andava e resistia a ficar no colo, não fixava o olhar, se escondia das<br />
pessoas, costumava gritar. Não fazia uso da linguagem, era praticamente mu<strong>do</strong>. Com<br />
diagnóstico de autismo foi para escola especial. Na escola se manteve distante das pessoas,<br />
saia freqüentemente da sala de aula. Jamais brincava com outras crianças ou interagia com<br />
outras pessoas.<br />
O referi<strong>do</strong> menino se mantinha alheio a to<strong>do</strong>s e a tu<strong>do</strong> que o cercava. Não tolerava<br />
frustrações e reagia a elas com gritos. Aos cinco anos se mostrava fascina<strong>do</strong> por figuras e<br />
as ficava contemplan<strong>do</strong> por longo tempo. Em seguida começou a desenhar, desenhava<br />
quase que em tempo integral, na escola. Aos sete anos desenhava de forma fantástica,<br />
desenhos sofistica<strong>do</strong>s, com <strong>do</strong>mínio <strong>do</strong> traça<strong>do</strong>. Totalmente isola<strong>do</strong> ele parecia aprender<br />
por si só as técnicas de desenho ou como se as possuísse de forma inata. Tinha uma<br />
prodigiosa memória visual, era capaz de apreender os edifícios mais complexos. Mostrava<br />
capacidade de aprender, guardar e reproduzir os modelos visuais, auditivos, motores e<br />
verbais mais complexos, aparentemente sem levar em conta seu contexto.<br />
Aos treze anos Stephen estava famoso na Inglaterra pelos desenhos que fazia, podia<br />
desenhar com facilidade qualquer rua que tivesse visto, mas seria incapaz de atravessá-la<br />
sozinho, sem ajuda. Poderia ver Londres inteira na imaginação, porém os aspectos humanos<br />
da cidade lhe eram inteligíveis. Não conseguiria manter uma conversa com ninguém. "Foi<br />
médico da área da neuro-psiquiátrica, trabalha nos EUA. Leciona no Albert Einstein College of Medicine
59<br />
considera<strong>do</strong> o melhor artista mirim da Grã - Bretanha, mas era visto desprovi<strong>do</strong> de<br />
intelecto e de identidade. Os testes por que passou confirmavam a gravidade de sua<br />
deficiência. Será que alguém poderia ser artista sem um 'eu’?" (p.213).<br />
O Dr. SACKS costumava visitar, acompanhar e realizar várias atividades com as<br />
pessoas que ele estudava o comportamento. O autor questiona o fato de, por algum tempo,<br />
ter ti<strong>do</strong> uma visão de Stephen, que o reduzia a sua deficiência e a sua <strong>do</strong>tação, sem podê-lo<br />
ver como um to<strong>do</strong>, como um ser humano. Para as crianças autistas as relações sociais<br />
concretas são muito difíceis de compreender, ela não tem maiores dificuldades com nada<br />
que seja abstrato. Sofrem com a chamada "deterioração da interação social com os outros"<br />
(p.253).<br />
Uma Segunda história, igualmente rica, para ilustrar a surpreendente capacidade humana<br />
de transpor os limites de uma condição diferenciada de viver é o de Temple Gardin, uma<br />
pessoa porta<strong>do</strong>ra da síndrome <strong>do</strong> autismo e que criou a "máquina de espremer ou máquina<br />
<strong>do</strong> abraço", como será visto no que segue. Aos três anos de idade, Temple não observava<br />
nenhum código de relacionamento humano.<br />
A protagonista, da ilustração aqui trazida, sofria de ataques violentos e repentinos de<br />
raiva, quan<strong>do</strong> contrariada arremessava o que tinha pela frente, costumava espalhar as fezes<br />
pelo quarto e não suportava a aproximação com as outras pessoas. Seu esta<strong>do</strong> de<br />
inacessibilidade, fixações, "violência" e completo caos quase a levou a uma internação<br />
vitalícia aos três anos de idade. Entretanto, ela se tornou uma bióloga e engenheira bemsucedida<br />
que escreveu livros e fez inúmeras palestras sobro o autismo, sem perder suas<br />
caraterísticas singulares àquela condição. Contrarian<strong>do</strong> assim o que sempre tinha si<strong>do</strong><br />
suposto por estudiosos da área, que acreditavam que os autistas eram incapazes de um<br />
autoconhecimento e de uma introspeção autêntica (SACKS, 1995, p.263).<br />
O autismo é visto como um distúrbio <strong>do</strong> afeto e da empatia, Temple considerava que foi<br />
dada ênfase demasiada nos aspectos negativos <strong>do</strong> autismo. A mesma mergulhou em<br />
(Nova York)
60<br />
pesquisas químicas, fisiológicas e de visualização cerebral sobre esta síndrome e ponderou<br />
que ainda são fragmentárias e não completas o conhecimento deste distúrbio. Em sua vida<br />
de pesquisa<strong>do</strong>ra superou a dificuldade de entender aos seres humanos se dedican<strong>do</strong> ao<br />
entendimento <strong>do</strong> comportamento animal. Parecia estar capacitada para captar o sentimento<br />
<strong>do</strong>s animais. Com essa sensibilidade e habilidade desenvolveu uma meto<strong>do</strong>logia para<br />
diminuir o sofrimento <strong>do</strong>s animais na hora <strong>do</strong> abate. Tornan<strong>do</strong>-se assim a maior projetista<br />
<strong>do</strong> mun<strong>do</strong> de calhas afuniladas para o ga<strong>do</strong>. Prestou assessoria à indústria da carne e<br />
escreveu para diversas revistas de veterinária. Inventou um sistema que acalmava o ga<strong>do</strong><br />
diminuin<strong>do</strong> assim o sofrimento <strong>do</strong> mesmo nos frigoríficos.<br />
Temple inventou a "máquina de espremer", provocou suspeita de psiquiatras como essa<br />
invenção significasse uma "regressão" ou "fixação", algo que precisaria de análise e<br />
resolução psicanalítica, mas: "ela ignorou to<strong>do</strong>s esses comentários e reações e decidiu<br />
encontrar uma 'validação' científica para seus sentimentos" (SACKS, 1995, p.271). Tal<br />
máquina tinha um mecanismo com <strong>do</strong>is la<strong>do</strong>s de madeira pesa<strong>do</strong>s e inclina<strong>do</strong>s, com<br />
aproximadamente um metro e meio cada, estofa<strong>do</strong>s com um enchimento espesso e macio.<br />
Liga<strong>do</strong>s por <strong>do</strong>bradiças a uma prancha de base longa e estrita, crian<strong>do</strong> uma calha <strong>do</strong><br />
tamanho de um corpo e em forma de V. Havia uma complexa caixa de controle numa das<br />
extremidades com tubos muito resistentes levanta<strong>do</strong> a outros mecanismos que servia para a<br />
pessoa controlar a pressão da máquina sobre o corpo.<br />
Para a autora dessa engrenagem o objetivo era fazer com que a máquina proporcionasse<br />
uma pressão firme e confortável sobre corpo, <strong>do</strong>s ombros aos joelhos. A pessoa poderia se<br />
arrastar para o centro da máquina, ligar o compressor, ter o controle na mão e assim receber<br />
uma pressão regular, vorável ou pulsante, conforme a pessoa decidir. Essa obra de Temple<br />
começou a ser projetada desde os cinco anos de idade, por ocasião de seus problemas em<br />
receber afeto. Quan<strong>do</strong> menina ela se sentia subjugada, aterrorizada quan<strong>do</strong> alguém próximo<br />
da família procurava lhe dar um abraço. O contato humano, para ela, lhe dava a impressão<br />
de que seria esmagada.
61<br />
Por mais que Temple gostasse das pessoas a proximidade física com as mesmas lhe<br />
parecia uma ameaça a sua integridade. Desde então passou a pensar na possibilidade de<br />
construir uma máquina que lhe pudesse abraçar, mas a qual ela pudesse controlar. Aos<br />
quinze anos ao ver a foto de uma calha afunilada desenhada para impedir a passagem ou<br />
conter o ga<strong>do</strong>, concluiu que com algumas adaptações para seres humanos, poderia ter a<br />
máquina que sempre imaginou. E, assim foi construída sua "máquina <strong>do</strong> abraço" com a<br />
qual sonhava desde a infância.<br />
Por mais estranho que pudesse parecer para os seres da ciência um recurso como a<br />
"máquina de Temple" pode trazer inúmeros benefícios para uma singularidade semelhante<br />
a em questão, que sofre de uma (in)suportabilidade diante <strong>do</strong> contato humano, embora<br />
precise dele como to<strong>do</strong>s os outros seres precisam. Dr. SACKS comenta que através<br />
daqueles momentos com a máquina Temple estava resgatan<strong>do</strong> sua relação afetiva com as<br />
pessoas. Com sua máquina de espremer ela podia relembrar sua mãe, sua tia, seus<br />
professores e assim de alguma forma se aproximava deles e <strong>do</strong> "mun<strong>do</strong> humano" e assim<br />
também encontrava alternativa de enfrentar a esse mun<strong>do</strong>, onde era tão difícil a arte de se<br />
relacionar com o outro.<br />
"Para ela, a máquina abre uma porta para um mun<strong>do</strong> emocional que de outro mo<strong>do</strong><br />
continuaria fecha<strong>do</strong>, e lhe permite, praticamente lhe ensina a entrar em comunhão com os<br />
outros" (SACKS, 1995, p.271). A tão complexa arte de estar com os outros é minimizada<br />
com criações alternativas por quem inventa a vida a partir <strong>do</strong> seu senti<strong>do</strong> de ser e estar no<br />
mun<strong>do</strong> das pessoas. Essa é a grande lição que se apreende com esta história real. O "mun<strong>do</strong><br />
<strong>do</strong> autismo" é um lugar aparentemente fecha<strong>do</strong> para o outro, que nega esse outro, na forma<br />
que comumente se entende ser a adequada à comunicação. Todavia novas formas de<br />
comunicação e aproximação sempre poderão ser recriadas, eis o que Temple nos ensina.<br />
A ciência médica e as demais, uma vez que estiver aberta para contemplar as<br />
possibilidades diversas <strong>do</strong> que se refere ao humano, estarão colaboran<strong>do</strong> para construir um<br />
mun<strong>do</strong> mais humano. Quan<strong>do</strong> é possível considerar os aspectos sociais, transcender aos<br />
aspectos fisiológicos das "disfunções" orgânicas encontram-se uma multiplicidade de
62<br />
alternativas para contemplar as diferenças peculiares aos seres humanos. O ponto<br />
fundamental para a vida humana se desenvolver é ter acesso ao mun<strong>do</strong> social. To<strong>do</strong>s,<br />
enquanto seres sociais, necessitam participar das instâncias sociais.<br />
O fundamental é sejam que desenvolvidas as formas de inserção no social, para to<strong>do</strong>s,<br />
independentemente de suas diferenças. Na área da psiquiatria, por exemplo, já existem<br />
avanços no que diz respeito à superação de uma visão puramente clínica fisiológica. "A<br />
psiquiatria, uma forma de tratar e definir a <strong>do</strong>ença mental tem conheci<strong>do</strong> importantes<br />
mudanças, desde a Segunda Guerra Mundial em sua prática e em suas raízes intelectuais"<br />
(BOTTOMORE, 1996, p.628). A importância <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> social passa ser considerada no<br />
estu<strong>do</strong> e tratamento de <strong>do</strong>enças e distúrbios e com isso se pode ter novas dimensões para<br />
transpor as dificuldades.<br />
"... a psiquiatria, ao longo de toda a sua história, tem si<strong>do</strong> a mais<br />
aberta das especialidades médicas às idéias sociais e, por hora, não<br />
existem razões para um pessimismo declara<strong>do</strong> sobre o desenvolvimento de<br />
uma perspectiva social efetiva no âmbito da psiquiatria" (BOTTOMORE,<br />
1996, p.631).<br />
Considerar o mun<strong>do</strong> social como um ponto significativo para o desenvolvimento da<br />
potencialidade <strong>do</strong>s sujeitos remete a possibilidade de entender que entre os diferentes<br />
sujeitos há uma alteridade importante a ser reconhecida. Considerar a alteridade <strong>do</strong> outro é<br />
o reconhecimento que em cada ser a algo que está fora de si mesmo, que o outro é um ser<br />
diferente não igualável a si próprio. As peculiaridades na perspectiva da alteridade positiva<br />
não servirão de motivo de discriminação e segregação. Entender que a alteridade não é algo<br />
negativo e estigmatizante poderá conduzir a percepção que a sociedade é composta pela<br />
diversidade e sem ela não teria como avançar.<br />
Na situação da surdez, por exemplo, se tem um tipo de diferença que delimita um mo<strong>do</strong><br />
de vida exatamente diverso <strong>do</strong> usual. A linguagem comunicada através da fala, que é o<br />
comum às sociedades em geral, não será possível para uma pessoa surda. Fica assim<br />
defini<strong>do</strong> um tipo de alteridade que, por si só, deveria compor a condição humana
63<br />
reconhecida no social. Uma outra linguagem, não falada, gesticulada e/ou sinalizada, que é<br />
própria à condição da surdez, deveria, nesse raciocínio, estar absolutamente inserida no<br />
contexto relacional. Uma linguagem <strong>do</strong>s sinais seria, nesse entendimento um recurso de<br />
comunicação e acesso ao mun<strong>do</strong> e não uma marca, um estigma ou uma alteridade negativa.<br />
"É estranho quan<strong>do</strong> se chega na escola de crianças surdas, durante o<br />
recreio não se ouve barulho algum. Em um aniversário, comemora<strong>do</strong> na<br />
escola, a festinha é feita em silêncio. Parece um outro mun<strong>do</strong> infantil, as<br />
crianças em geral são tão barulhentas e lá é aquele silêncio, é muito<br />
diferente quan<strong>do</strong> não se está acostuma<strong>do</strong> com esta realidade" (Seminário<br />
realiza<strong>do</strong> em set. de 2001).<br />
A diferença não pode mais ser subentendida como inferioridade e nem tão pouco estar a<br />
serviço e justificar a exploração e marginalidade. No caso da surdez e <strong>do</strong>s ouvintes, os<br />
segun<strong>do</strong>s, em geral, tomam como valor universal à linguagem falada, se tornan<strong>do</strong> assim o<br />
"silêncio", uma distinção, uma alteridade distintiva. O problema é tornar esta distinção uma<br />
marca de "menoridade". No desenrolar das relações sociais está fortemente impregnada a<br />
idéia de que tu<strong>do</strong> que é distinto é estranho e o que é estranho é imperfeito, deve ficar de<br />
fora.<br />
A "distinção" peculiar à surdez foi por muito tempo sinônimo de banimento e exclusão.<br />
WRIGLEY coloca que a surdez é como "um país", um "território estrangeiro". Em<br />
contraposição a visão que coloca a surdez na condição de deficiência audiológica "os<br />
sur<strong>do</strong>s definem a si mesmo de forma cultural e lingüistica" (1996 p.13). Nessa perspectiva<br />
a surdez é vista como uma identidade própria, um país com sua cultura e sua linguagem<br />
própria, uma distinção respeitável a ser reconhecida.<br />
Para pertencer à comunidade <strong>do</strong>s sur<strong>do</strong>s o grau de perda auditiva não é relevante, o<br />
importante é sua auto-identificação como sur<strong>do</strong> e especialmente o uso de uma linguagem<br />
<strong>do</strong>s sinais. O que vai definir a auto-identificação como pertencente a uma minoria<br />
lingüística ou étnica é ter uma língua própria e poder usá-la (WRIGLEY, 1996, p.15).<br />
Como será visto no próximo capítulo, os sur<strong>do</strong>s foram proibi<strong>do</strong>s de usar sua própria língua,<br />
durante muito tempo, em muitas partes <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. Esta proibição relegou as pessoas a falta<br />
de lugar no mun<strong>do</strong>, como um país sem lugar próprio, sem origem geográfica.
64<br />
As pessoas que não são ouvintes utilizam uma linguagem particular denominada Língua<br />
<strong>do</strong>s Sinais. Cada país tem sua língua de sinais específico, pois existem particularidades<br />
próprias a cada cultura. Sen<strong>do</strong> assim não se pode falar em uma linguagem internacional <strong>do</strong>s<br />
sinais. Para WRIGLEY (1996, p.23) as linguagens de sinais não são cópias visuais das<br />
línguas faladas. Existem inúmeras barreiras na comunicação para as pessoas que são<br />
ouvintes, que não se poderia admitir uma língua internacional. O mesmo ocorre com os<br />
sur<strong>do</strong>s, não seria possível uma língua <strong>do</strong>s sinais internacional.<br />
É preciso que se entenda a questão da diferença como algo que difere as identidades<br />
entre si e não pela condição de ser de cada qual. Existem características que são peculiares<br />
a cada cultura, comunidade, a uma identidade específica. Não é o negro, o índio, o porta<strong>do</strong>r<br />
de deficiência que é o especial, o diferente, as diferenças existem na diversidade da<br />
condição humana em geral.<br />
Cada qual tem suas diferenças, suas características, sua identidade. A reflexão em torno<br />
da diferença não pode ocupar o mesmo lugar da antiga divisão "normais” / "anormais". Não<br />
se pode fazer uma mera substituição de termos, onde a lógica binária permanece entre os<br />
termos os "iguais" e os "diferentes". O fun<strong>do</strong> dessa discussão está em não mais<br />
desqualificar o que não se enquadra no molde. O importante é buscar romper com a<br />
limitada visão que legitima e valoriza apenas o que foi socialmente cria<strong>do</strong> para ser o padrão<br />
geral da vida humana. Afinal a vida de cada dia e de cada ser não se enquadra em moldes,<br />
pois to<strong>do</strong>s os dias os sujeitos desta sociedade criam e recriam a história e suas múltiplas<br />
facetas.<br />
Os "muros" que são cria<strong>do</strong>s nos processos sociais categorizam os seres em "melhores" e<br />
"piores", "maiores" e os "menores", isso vai definin<strong>do</strong> quem entra e quem fica de fora <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong> social. A partir da categorização, a diversidade própria à condição humana fica<br />
relegada ao "segun<strong>do</strong> grupo", ao grupo daqueles que estão marca<strong>do</strong>s pelo signo da<br />
estigmatização e da desqualificação pessoal.
65<br />
WRIGLEY (1996, p.80) traz ao debate a questão acerca <strong>do</strong> que leva uma igreja, uma<br />
nação, uma cultura, uma identidade a se fechar em si mesma definin<strong>do</strong> uma série de<br />
diferenças como hereges, malignas, irracionais, perversas ou destrutivas. A lógica desta<br />
pergunta leva a contraposição da "lógica" que está expressa nas sociedades, onde o<br />
"normal" é discriminar tu<strong>do</strong> aquilo que é distinto. A colocação dessa questão significa<br />
reterritorializar o problema, o situan<strong>do</strong> em outro lugar que não no sujeito e suas diferenças.<br />
O problema reside na relação entre identidade pessoal e ordem social, em uma<br />
conflituosa interação, onde a dinâmica <strong>do</strong> social cria uma ordem estática que não<br />
acompanha a diversidade característica das identidades que querem se expressar no<br />
contexto ao qual pertencem sem poder pertencer. Não há uma solução única para a<br />
dificuldade de comportar no campo social o conjunto das diferenças.<br />
Faz-se necessário superar a antiga visão que reduzia a possibilidade de resposta<br />
aniquilan<strong>do</strong> as possibilidades de expressão da diversidade. Cada nação, através de suas<br />
instituições representativas, produz o lugar da identidade nacional, tal qual sítios<br />
produtivos. Para se tornar "cidadão" se aprende a aceitar a codificação estabelecida nas<br />
relações que estão postas na produtividade sitiada neste locus. O fracasso ou o sucesso será<br />
diretamente proporcional à assimilação da identidade fabricada pela cultura local. A<br />
diferença se torna, assim, um desvio e uma ameaça a esta ordem consolidada no social.<br />
"Em todas as formas de ditaduras estava a onipotência de um olhar<br />
autoconti<strong>do</strong>, um olhar certo de si e da verdade que impunha. Para esse<br />
olhar, o outro não existe, e com seu desaparecimento simbólico,<br />
comunidades são destruídas, direitos individuais são postos em questão,<br />
saberes sociais tornam-se uma ameaça, e o viver, de fato, torna-se um<br />
inferno. Contra essa sombria visão, nossa única alternativa - e nossa<br />
única esperança - é a resistência ativa <strong>do</strong> outro" (JOVCHELOVITCH,<br />
1998, p.82).<br />
A resistência ao conjunto de medidas "autocontidas" que se conjugam a partir das<br />
instituições sociais requer uma avaliação e reflexão permanente. As reações sociais que não<br />
reconhecem o outro como parte <strong>do</strong> conjunto culminam na exterminação das diferenças. Ao<br />
longo da história, como será visto no próximo capítulo, se viveu sob a égide <strong>do</strong> extermínio<br />
das deficiências. Contu<strong>do</strong>, tenha si<strong>do</strong> o aniquilamento das deficiências e diferenças uma
66<br />
marca histórica, não se pode dizer que foi completamente abolida na contemporaneidade.<br />
Atualmente com os avanços tecnológicos a área genética está desenvolven<strong>do</strong> formas de<br />
erradicação <strong>do</strong>s "defeitos genéticos humanos".<br />
Estu<strong>do</strong>s e pesquisas se voltam para vencer o déficit, para eliminar a deficiência. A<br />
engenharia genética se empenha em superar os "defeitos" considera<strong>do</strong>s congênitos, como<br />
no caso da surdez ou <strong>do</strong> autismo, por exemplo. Entretanto, se pode objetar conforme<br />
WRIGLEY: "Paddy, um intelectual Sur<strong>do</strong> moran<strong>do</strong> no Reino Uni<strong>do</strong>, considera os esforços<br />
médicos de eliminar a Surdez como um povo, uma forma clara de genocídio" (1996 p.95).<br />
Contrário a idéia de que a deficiência deva ser eliminada se tem o seguinte depoimento:<br />
"A possibilidade de escolha genética <strong>do</strong>s filhos, os avanços da ciência<br />
nesta área tende a levar as pessoas que podem fazer essa opção a uma<br />
busca de normalidade como um padrão de perfeição. Isso vai levar há um<br />
afastamento ainda maior da aceitação das diferenças e deficiências. Há a<br />
possibilidade da mãe abortar o filho se, por exemplo, for visto na ultrasonografia<br />
que a criança possui seis de<strong>do</strong>s. Isso é um retrocesso ao tempo<br />
<strong>do</strong> extermínio das deficiências. Antes matavam os que nasciam<br />
deficientes, agora se pode evitar o nascimento, matan<strong>do</strong> o feto, antes<br />
mesmo de nascer" (Entrevista realizada em março de 2002).<br />
A possibilidade de eliminar a deficiência antes da sua concepção remete, uma vez mais,<br />
à normalidade, enquanto um valor social, o "normal" e a "perfeição" continua sen<strong>do</strong> uma<br />
busca e um ideal de vida para os sujeitos. Sen<strong>do</strong> assim as deficiências/diferenças são<br />
percebidas enquanto falhas e não são reconhecidas enquanto parte da diversidade humana.<br />
De outra forma a idéia da eliminação não leva em conta o aspecto produtivo e construtivo<br />
das deficiências.<br />
Conforme o já menciona<strong>do</strong> estu<strong>do</strong> de SACKS (1995, p.175) há diversos distúrbios que<br />
distanciam as pessoas, acometidas por eles, <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, no entanto, as fazem imensamente<br />
criativas e por vezes geniais. Esse autor assinala o fato de grandes gênios da literatura, da<br />
filosofia e da arte terem si<strong>do</strong> diagnostica<strong>do</strong>s, pela literatura da área neuropsiquiátrica, como<br />
porta<strong>do</strong>res de diversas <strong>do</strong>enças neurológicas. A exemplo disso Mozart, o compositor,<br />
recebeu diagnóstico de Síndrome de Tourette. A Einstein, o gênio da física, é atribuí<strong>do</strong> a
67<br />
síndrome <strong>do</strong> autismo e a psicose maníaco - depressiva é atribuída a inúmeros artistas<br />
criativos em diferentes tempos e culturas.<br />
"Temple terminou uma palestra uma vez dizen<strong>do</strong> que 'se pudesse<br />
estalar os de<strong>do</strong>s e deixar de ser autista, não o faria - porque então não<br />
seria mais eu. O autismo é parte <strong>do</strong> que eu sou'. Por acreditar também<br />
que o autismo possa estar associa<strong>do</strong> a algo de valor, fica alarmada com a<br />
idéia de erradicá-lo" (SACKS, 1995, p.297).<br />
A demasiada ênfase no déficit das deficiências e <strong>do</strong>s distúrbios neurológicos é o que<br />
remete a impossibilidade de perceber "algo de valor" nessas circunstâncias. Entretanto,<br />
tanto na história quanto no cotidiano contemporâneo das sociedades há inúmeros exemplos<br />
<strong>do</strong> aspecto altamente positivo e produtivo que se pode obter em situações diferenciadas<br />
daquelas que se "almeja" como ideal.<br />
Ao afirmar a diversidade como condição humana se está pontuan<strong>do</strong> que não se trata de<br />
considerar que há alguns são diferentes de outros ou que esses "outros" sejam os "iguais",<br />
os "corretos" ou adequa<strong>do</strong>s diante daqueles que se diferenciam. O que está sen<strong>do</strong><br />
demonstra<strong>do</strong>, nesta tese, é que a diversidade se caracteriza pelo conjunto de distinções que<br />
se fazem entre to<strong>do</strong>s os seres. A dinamicidade da realidade humana, seu movimento<br />
constante e inacaba<strong>do</strong> leva a distinções permanente entre as pessoas. A distinção vai dan<strong>do</strong><br />
ao mun<strong>do</strong> movimento e mutação. Como condição peculiar a to<strong>do</strong>s os seres, a diversidade,<br />
vai transforman<strong>do</strong> os padrões que são coloca<strong>do</strong>s pelo tempo histórico de cada civilização.<br />
1. 4 IDENTI<strong>DA</strong>DE NA PERSPECTIVA <strong>DA</strong>S RELAÇÕES SOCIAIS<br />
O formato implícito e explícito das relações sociais parece sugerir que algo estático e<br />
permanente, sem movimentação deveria moldar as personalidades humanas. Entretanto, o<br />
real é dinâmico, não permanece o mesmo e os sujeitos que nele fazem a história estão em<br />
constante mutação. O reconhecimento dessa dinamicidade <strong>do</strong> sujeito e <strong>do</strong> contexto remete a
68<br />
um conceito de identidade onde o idêntico, o igual não se encaixa. MARTINELLI (1995,<br />
p.142) situa o conceito de identidade no campo da diversidade, <strong>do</strong> movimento, da<br />
alteridade e da diferença em contraposição a idéia de identidade como permanência.<br />
Segun<strong>do</strong> a mesma autora, referida acima, o princípio da permanência, em nossa<br />
sociedade contemporânea, ainda se faz fortemente presente (1995 p.143). A um apelo no<br />
social para que a identidade <strong>do</strong>s sujeitos permaneça igualada a um determina<strong>do</strong> tipo de<br />
identidade, que é produzida pela cultura <strong>do</strong> seu tempo histórico. Daí deve vir à idéia de que<br />
"tornar-se pessoa", signifique torna-se igual ao que foi socialmente estabeleci<strong>do</strong>, onde a<br />
consolidação da identidade pessoal deva coincidir com a identidade idealizada no social.<br />
"Ter uma deficiência parece que é igual à não ser considera<strong>do</strong> pessoa ou<br />
ser 'meia pessoa'. Em nossa sociedade as pessoas não olham para nós<br />
como se fossemos gente, olham como se a gente fosse um ser de outro<br />
planeta. Eu não me identifico com os ditos ”normais", pois eu sou<br />
diferente deles quan<strong>do</strong> eu caminho torto, mas a minha identidade humana<br />
não muda em nada (Entrevista realizada em maio de 2002).<br />
Ter uma identidade é sinônimo de uma identificação com o que está estabeleci<strong>do</strong> na<br />
cultura e no meio social. Nesta linha de pensamento se desconsidera o movimento próprio<br />
das alteridades que transformam a realidade a partir da própria condição das diferenças.<br />
Nas diferenças estão a propulsão ao desenvolvimento das novas formas de interação entre<br />
sujeito e seu meio. A igualdade pressuposta no "princípio de permanência" é o que leva ao<br />
entendimento de que as diferenças situam-se no campo da desqualificação pessoal ou da<br />
patologia.<br />
Tu<strong>do</strong> aquilo que não é idêntico ao convencional passa ser alvo de críticas,<br />
discriminações e não reconhecimento. Há uma necessária ruptura com o velho conceito de<br />
identidade atrelada a igualificação e a ausência de movimento e mutação. Um traço<br />
histórico que traz como conseqüência uma série de práticas preconceituosas e segregatórias,<br />
como se constata na situação das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, coloca<strong>do</strong> no<br />
depoimento acima referi<strong>do</strong>.
69<br />
"Assim, falar de identidade hoje pressupõe a superação da nostalgia <strong>do</strong><br />
idêntico, a ruptura com o princípio da permanência que, em nossas<br />
instituições, em muitos momentos, transmutou-se em um verdadeiro<br />
princípio de inércia, produzin<strong>do</strong> práticas sociais orientadas por um<br />
ritualismo mimético, eternas reprodutoras <strong>do</strong> já produzi<strong>do</strong>"<br />
(MARTINELLI, 1995, p.145).<br />
As práticas sociais cristalizadas e preconceituosas, reproduzidas nas diferentes<br />
instituições são a sinalização e a materialização da concepção que desconsidera a<br />
diversidade como caraterística básica <strong>do</strong>s indivíduos. Quan<strong>do</strong> se pressupõe que to<strong>do</strong>s têm<br />
que ser idênticos uns aos outros, aqueles que não se enquadram na igualidade almejada são<br />
situa<strong>do</strong>s "fora <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>" social. A concepção de identidade permeada pela idéia da<br />
igualificação consolida a existência <strong>do</strong>s processos de segregação. A identidade tem relação<br />
direta com a alteridade, que significa distinção, o outro que é distinto diferente <strong>do</strong> mesmo.<br />
Alteridade é igual a "álter" <strong>do</strong> latim "altes", que significa: o outro ou alteres <strong>do</strong> verbo<br />
alterar (Dicionário da Língua Portuguesa, 1986, p.92). Entenden<strong>do</strong> os seres como distintos<br />
uns <strong>do</strong>s outros e situan<strong>do</strong> a identidade nessa distinção não caberia nenhum tipo de<br />
discriminação, nem tão pouco uma prática de exclusão das diferenças. A diferença, a<br />
distinção passa ser, nesta visão, uma característica comum à espécie humana. O outro é<br />
aquele que altera o mesmo pela sua distinção, esta alteração é um movimento de<br />
enriquecimento <strong>do</strong> contexto geral no qual to<strong>do</strong>s fazem parte. Um contexto que é<br />
transforma<strong>do</strong> e movimenta<strong>do</strong> no desenrolar da diversidade.<br />
O problema que se coloca na discussão da identidade como campo <strong>do</strong> idêntico é que<br />
nessa constituição a identidade deixa a sua margem algo sobrante, em excesso, algo que lhe<br />
vai faltar. A falta diz respeito a tu<strong>do</strong> aquilo que será excluí<strong>do</strong>, mas que em verdade faz<br />
parte desta identidade. Quan<strong>do</strong> a diversidade não é incluída na constituição da identidade se<br />
passa pelo processo de estranheza <strong>do</strong> outro, que será percebi<strong>do</strong> como algo exterior, fora <strong>do</strong><br />
espera<strong>do</strong>.<br />
Há um fechamento na idéia de unidade e homogeneidade própria dessa visão que cria<br />
espaço para o que não se enquadra se tornar "inadequa<strong>do</strong>", indesejável e até intolerável. A<br />
sociedade ao não reconhecer a distinção como parte de seu movimento, estranha o outro e o
70<br />
exclui de seus principais processos, crian<strong>do</strong> assim o "ser correto" e <strong>do</strong>minante. A<br />
racionalidade que exclui é a mesma que cria as condições objetivas de vida onde diversos<br />
segmentos vivem a parte <strong>do</strong>s processos sociais de acesso aos recursos da sociedade. A idéia<br />
de identidade que pressupõe o "ser correto" deixa de fora parcelas significativas de seres<br />
distintos e inigualáveis ao que se considera "correto" ou "normal".<br />
“Eu sou um ser humano como outro qualquer mas não sou igual, sou<br />
diferente. Minha diferença não muda os sentimentos que eu tenho e que<br />
são iguais aos de to<strong>do</strong>s os que vivem neste mun<strong>do</strong>. Eu sinto frio, sinto<br />
calor, sinto amor, sinto ódio. Não é o que to<strong>do</strong> mun<strong>do</strong> sente? O que tem<br />
em nossa identidade de diferente das <strong>do</strong>s demais? Nos sentimentos eu me<br />
identifico com to<strong>do</strong>s deste planeta" (Entrevista realizada em maio de<br />
2002).<br />
Em muitas circunstâncias a noção de identidade tem servi<strong>do</strong> para criar distinções de<br />
condições de vida ao mesmo tempo em que propicia o não reconhecimento das distinções<br />
individuais. O problema centra-se na primeira distinção que não deveria ocorrer na mesma<br />
medida em que a segunda distinção deveria ser o pressuposto principal da identidade. Em<br />
uma outra perspectiva de identificação a identidade inclui a pluralidade das características<br />
humanas e sociais.<br />
Consideran<strong>do</strong>-se a distinção de singularidades, se abriria espaço no campo social para as<br />
diferenciações individuais, o que poderia reduzir e/ou evitar o imenso abismo da<br />
diferenciação das condições objetivas de vida entre as pessoas. Em outras palavras se no<br />
horizonte social tivesse espaço aberto para considerar identidade como construções plurais<br />
de individualidades não se criariam tantos "muros" para separar os distintos <strong>do</strong>s "comuns".<br />
A propósito da distinção negativa criada historicamente entre os segmentos da sociedade,<br />
JOVCHELOVITCH, pontua que:<br />
"Tanto o sujeito negro como a mulher foram historicamente construí<strong>do</strong>s<br />
por representações marcadas pela violência simbólica e por um conjunto<br />
de exclusões. Mas ambos (e certamente a mulher negra com mais esforço)<br />
lutaram, e lutam, para não serem reduzi<strong>do</strong>s a essas representações.<br />
Produzir contra-representações, outras representações, que não reduzam<br />
a objetividade da condição negra e feminina às tentativas de lhe construir<br />
enquanto negatividade tem si<strong>do</strong> parte <strong>do</strong>s movimentos negros e <strong>do</strong><br />
movimento de mulheres" (1998 p.78).
71<br />
As representações sociais e especialmente as condições concretas de vida <strong>do</strong>s sujeitos<br />
sociais denunciam as inúmeras mutilações a que são sujeitas as distinções. A negatividade<br />
dessas representações, referida pela autora acima, bem como também das condições dizem<br />
respeito à idéia de que o outro é diferente. A diferença não é vista como distinção e sim<br />
como desqualificação. Aqui se trata de perceber na diferença a marca <strong>do</strong> desigual como se<br />
fosse o desacor<strong>do</strong>, o desalinho, ou o desvio. Não se considera o fato de que cada ser tem<br />
suas diferenças e que o conjunto delas constitui o mun<strong>do</strong> social percebe-se o outro como<br />
diferente.<br />
O equívoco está coloca<strong>do</strong>, na distinção categorial, ou seja, se faz uma linha divisória<br />
entre a categoria <strong>do</strong>s "iguais" e categoria <strong>do</strong>s diferentes. Nessa categorização recai a<br />
negatividade sobre aqueles que se diferenciam, como um estigma, uma marca. Há uma<br />
demarcação de fronteiras que separa o que permanece e o que fica fora. Assim o mun<strong>do</strong><br />
social se divide em "o nós e o eles". No depoimento abaixo se pode captar um sentimento<br />
que expressa essa prática social separatista:<br />
"É terrível e muito comum observar nos discursos de políticos e<br />
estudiosos, que querem ser progressistas, se referirem a nós porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência como 'vocês'. Dizem 'vocês' precisam de rampas, 'vocês' que<br />
estão nesta condição de exclusão, 'vocês' que lutam com dificuldade para<br />
fazer parte <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>. 'Vocês' que não sou eu, é isso que querem dizer.<br />
'Vocês' lá e eu aqui. Querem falar em inclusão <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência, mas já estão nos separan<strong>do</strong> na própria fala deles. Onde já foi<br />
colocada uma barreira, uma divisória entre vocês para lá e nós para cá”<br />
(Diário de Campo, fev. de 2001).<br />
TOMAZ (2000, p.74) assinala a lógica binária que subentende uma forma afirmativa de<br />
expressar a identidade na qual será positivo aquilo "que se é" negativisan<strong>do</strong> o que é <strong>do</strong><br />
outro. Trata-se de uma identidade positivada, auto-referenciada que remete a si própria<br />
como ideal. Uma relação que não está explícita, mas subjacente à idéia divisória da<br />
diferença. Nessa cisão "ser branco, ser jovem, ser heterossexual, ser homem" é a identidade<br />
na qual a diferença se opõe: "ser negro, ser velho, ser homossexual, ser mulher". Esse<br />
raciocínio fracionário concebe a diferença em oposição à identidade.
72<br />
Aquilo que eu sou é positivo, aquilo que o outro é será negativo. Entretanto, de encontro<br />
a isso se tem que identidade e diferença se estabelecem em uma relação de estreita<br />
dependência. Para TOMAZ aparentemente a identidade se esgota a si mesma ao afirmar<br />
uma posição, como por exemplo, o fato de "ser brasileiro". Todavia a necessidade desta<br />
afirmação só se justifica pelo fato de existir o seu contrário, ou seja, o fato de haver outros<br />
que não sejam brasileiros. Não haveria senti<strong>do</strong> afirmar uma identidade se o mun<strong>do</strong> fosse<br />
homogêneo (2000 p.75).<br />
Na dialética da coexistência <strong>do</strong>s contrários no mesmo real, a afirmação é parte de "uma<br />
extensa cadeia de negações" em que a diferença é colocada de mo<strong>do</strong> negativo. O que se<br />
inclui numa afirmação é a própria negação, porém a mesma, em geral, se encontra oculta,<br />
não se percebe, de imediato, sua existência. Identidade e diferença fazem parte <strong>do</strong> mesmo<br />
processo de constituição e expressão de cada indivíduo. Tanto uma como outra são<br />
produzidas nos processos sociais e na relação entre subjetividade e contextualidade. O<br />
processo de socialização, que por si mesmo é social, produz tanto a diferenciação quanto a<br />
identificação permanente <strong>do</strong>s sujeitos.<br />
TOMAZ (2000, p.76) alerta para o fato das diferenças não serem "derivações" da<br />
identidade, como se fosse possível avaliar o que somos como norma e o que não somos<br />
como a diferença. Sen<strong>do</strong> que a avaliação da diferença se faz plena de negatividade e<br />
desqualificação. As diferenças não estão aí como essências ou elementos da natureza para<br />
serem desvendadas, respeitadas ou toleradas, elas são criadas por contraste na produção da<br />
inserção social daquela interação entre sujeito e contexto. Perceber a identidade como uma<br />
criação social e cultural leva a entender que socialmente são criadas as barreiras que<br />
impedem o reconhecimento das diferenças como parte <strong>do</strong> campo social e mesmo humano.<br />
"O fato de eu ser cego não impede meus sentimentos humanos como de<br />
qualquer outra pessoa, eu quero namorar, casar, trabalhar, ir ao cinema,<br />
no bar como to<strong>do</strong> mun<strong>do</strong> quer. Minha deficiência não impede a vida e<br />
muito menos o desejo por ela. Isso é a pior exclusão que a sociedade nos<br />
impõe, é uma exclusão de concepção, nos colocam fora da vida. Nós não<br />
vegetamos estamos cheios de vida, pertencemos a este mun<strong>do</strong>, no qual nos<br />
barram a entrada, muitas vezes, isso é injusto" (Entrevista realizada em<br />
jan. de 2002).
73<br />
No depoimento acima se tem o exemplo das barreiras construídas por uma cultura que<br />
percebe na diferença visível, como no caso da cegueira, um fator de exclusão das áreas<br />
comuns à vida humana. Os porta<strong>do</strong>res de deficiência, por não se enquadrarem num<br />
processo de identificação igual ao padrão são coloca<strong>do</strong>s em um lugar social de<br />
diferenciação. No qual a mesma é sinônimo de impossibilidade <strong>do</strong> exercício próprio a vida<br />
<strong>do</strong>s seres.<br />
Se diferenciar no mesmo processo de se identificar deveria ser concebi<strong>do</strong> como uma<br />
forma criativa e alternativa de inserção social. Nessas circunstâncias, tratar-se-á de criar<br />
formas alternativas de estar no mun<strong>do</strong> da vida. O que está em questão como fun<strong>do</strong> desta<br />
discussão é que é preciso incluir todas as formas de expressões humanas não importa<strong>do</strong> o<br />
fato de ser ou não diferente. Não se trata de diferenciar para demarcar divisões de<br />
possibilidades e impossibilidades, trata-se de contemplar no mun<strong>do</strong> social a diversidade da<br />
condição humana.<br />
A sociedade parece se conceber enquanto grupo homogêneo, constituí<strong>do</strong> de pessoas<br />
"normais", cujo conceito de normalidade se faz a partir de padrões estéticos e produtivos<br />
que desconsideram a existência singular <strong>do</strong>s seres. Toda a idéia de identidade produzida<br />
pelo social está permeada na concepção dessa normalidade. A heterogeneidade manifesta<br />
nas diferentes personalidades e, justo aí reside a riqueza <strong>do</strong> humano que é relegada ao<br />
"desvio". Num contexto que cria divisões entre as pessoas basean<strong>do</strong>-se num pressuposto de<br />
igualificação de identidades, cria também parâmetros para hierarquização. No campo da<br />
identidade e das diferenças se manifestam relações de poder, onde quem se enquadra no<br />
padrão detém o poder de fazer parte <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> e comandá-lo.<br />
"Normalizar significa eleger -arbitrariamente- uma identidade específica<br />
como parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e<br />
hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as<br />
características positivas possíveis, em relação às quais todas as outras<br />
identidades só podem ser avaliadas de forma negativa à identidade<br />
normal e 'natural', desejável e única" (TOMAZ, 2000, p. 83).<br />
A questão que se interpõe na situação de classificação de identidades é a hegemonia de<br />
determinada identidade sobre as outras, o que traz a conseqüência da exclusão de tantas
74<br />
outras singularidades. A participação social é uma necessidade humana, o mun<strong>do</strong> que se<br />
coloca ao re<strong>do</strong>r <strong>do</strong>s seres é um mun<strong>do</strong> para ser explora<strong>do</strong>, por onde to<strong>do</strong>s deveriam poder<br />
circular e ter acesso a sua constituição e transformação constante.<br />
Os processos que consolidam a criação de inúmeras barreiras impeditivas da expressão<br />
de seus sujeitos são processos que desumanizam a vida social. Nesse senti<strong>do</strong> se pode<br />
objetar até que ponto o mun<strong>do</strong> que criamos histórica e cotidianamente é um mun<strong>do</strong><br />
acessível a toda esta diversidade característica da humanidade. A participação é um<br />
processo social necessário para todas as pessoas. Constitui-se, a participação, em "(...)<br />
requisito de realização <strong>do</strong> próprio ser humano(...). O desenvolvimento social <strong>do</strong> homem<br />
requer participação nas definições e decisões da vida social" (SOUZA, 1993, p.83).<br />
Justamente esse requisito tão fundamental foi interdita<strong>do</strong> pelo imperativo da<br />
"normalidade", não viabilizan<strong>do</strong> o acesso das diferenças na participação <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> social<br />
ou dificultan<strong>do</strong> muito este acesso.<br />
A esta altura deste debate que remete ao entendimento <strong>do</strong>s processos sociais de exclusão<br />
e no caso da identidade, a exclusão de identidades não desejáveis, pode-se valer de<br />
CASTEL para ampliar a discussão acerca <strong>do</strong> conceito de exclusão, a partir das objeções<br />
trazidas por ele. Esse autor pontua o cuida<strong>do</strong> em não reduzir a questão social à exclusão,<br />
percebe a relação entre exclusão e sociedade salarial e concebe esse conceito em situações<br />
específicas e não de forma generalizante.<br />
Segun<strong>do</strong> CASTEL (2000, p.40-43) a heterogeneidade <strong>do</strong> uso <strong>do</strong> termo exclusão, seu<br />
uso impreciso para as fraturas sociais, em geral, acaba ocultan<strong>do</strong> a especificidade de cada<br />
situação social singular. O mesmo considera que toda a "tradição da ajuda social" vem<br />
nesta linha e o seu des<strong>do</strong>bramento é a categorização de "população-alvo" (2000 p.29). Os<br />
"excluí<strong>do</strong>s" tornam-se assim uma categoria para qual se direcionará algumas ações das<br />
organizações governamentais ou não governamentais. Mais uma vez rótulos e estigma que<br />
não demonstram o real problema da sociedade. As consideradas "populações com<br />
problemas", ou "populações de risco", ou ainda as "populações em esta<strong>do</strong> de
75<br />
vulnerabilidade social" serão focadas como alvo de ações <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> e da sociedade civil<br />
organizada.<br />
O problema coloca<strong>do</strong> aqui é o fato de que na categorização desta população de<br />
"excluí<strong>do</strong>s" recaí sob o sujeito o pesar de portar o déficit pessoal que a torna "inapta" para<br />
vida social. Entretanto, o que CASTEL alerta é para a situação em que a maioria das<br />
populações caracterizadas como "problema” não são "inváli<strong>do</strong>s, deficientes ou casos<br />
sociais", são pessoas que estão fora <strong>do</strong> merca<strong>do</strong> de trabalho e, portanto se tornam<br />
"inválidas" pela conjuntura.<br />
A marginalização <strong>do</strong>s chama<strong>do</strong>s "excluí<strong>do</strong>s" acontece em função da estrutura social e<br />
não por causa de uma incapacidade pessoal. O tratamento deveria se reportar ao social e<br />
não ao sujeito, num enfrentamento <strong>do</strong> desemprego, da exclusão <strong>do</strong> merca<strong>do</strong> de trabalho que<br />
coloca as pessoas em situação de miséria (2000 p.31). A concepção de exclusão não explica<br />
a sociedade em se seus processos que produzem a retirada das pessoas de seu contexto.<br />
Para CASTEL (2000, p. 39) existem sociedades de exclusão: como no caso das<br />
escravagistas, onde há ausência total de direitos e reconhecimento social; os criminosos<br />
condena<strong>do</strong>s à prisão perpétua ou à morte; os guetos, os "dispensários" para leprosos; os<br />
"asilos" para loucos; a situação de certas categorias da população que se vêem obrigadas a<br />
um status especial que lhe permite coexistir na comunidade, privadas de direitos e<br />
participação social, como no caso <strong>do</strong>s indígenas que são regi<strong>do</strong>s por um código especial. A<br />
característica básica desta sociedade de exclusão é que ela impõe uma condição específica<br />
para um grupo que o diferencia <strong>do</strong>s demais. Ela mobiliza regras estritas e uma estrutura<br />
oficial para garantir um status "menor" defini<strong>do</strong> no conjunto <strong>do</strong> social.<br />
No conceito da exclusão defini<strong>do</strong> nessa perspectiva em debate não se aplica aos sujeitos<br />
que estão inseri<strong>do</strong>s num contexto, fazem parte <strong>do</strong> mesmo e se desenvolvem dentro de suas<br />
leis. No caso aqui refleti<strong>do</strong> a lei <strong>do</strong> merca<strong>do</strong>, com base na competitividade, expulsa os<br />
cidadãos <strong>do</strong>s espaços sociais e produz espaço para a marginalização das pessoas.
76<br />
Entenden<strong>do</strong>-se por marginalização o processo social que cria a necessidade, cria a falta e a<br />
interdição <strong>do</strong> acesso aos bens sociais.<br />
A atual estrutura social está formatada para produzir o "sobrante", o "marginal", aqueles<br />
que ficaram de fora <strong>do</strong> seu movimento produtivo. É uma situação de "precarização", de<br />
"vulneralização", onde to<strong>do</strong>s fazem parte, alguns pelo la<strong>do</strong> de dentro outros pelo la<strong>do</strong> de<br />
fora. Nas relações sociais se cria a cisão, a expulsão, bem como, também, serão cria<strong>do</strong>s os<br />
espaços de retomada destas fraturas e a (re) construção de uma nova ordem para o social.<br />
Pois, somos: "privilegia<strong>do</strong>s por vivermos neste final de século, onde tu<strong>do</strong> parece estar<br />
impregna<strong>do</strong> de seu contrário..." (MARTINELLI, 1995, p.145). Conforme sugere a autora<br />
as possibilidades de transformação se dão justamente nessa pulsão <strong>do</strong> movimento<br />
contraditório <strong>do</strong> real.<br />
Para poder mudar as coisas desta sociedade é preciso desnudar seus processos de<br />
<strong>do</strong>minação e expulsão que na maioria das vezes se constróem de forma oculta. Com esta<br />
preocupação pode se constatar um outro aspecto marcante no entendimento <strong>do</strong>s<br />
significantes da identidade, ao percebê-la como: "uma categoria política disciplina<strong>do</strong>ra das<br />
relações entre as pessoas e grupos, onde o outro é transforma<strong>do</strong> em estranho, inimigo ou<br />
exótico", é o que nos demonstra SAWAIA (2001 p. 123). Para essa autora o aspecto dual<br />
que há na identidade, que tanto serve para identificar e respeitar a alteridade, quanto para<br />
classificar e regular o outro, poderá ser constata<strong>do</strong> quan<strong>do</strong> se aprende a detectar as<br />
intenções que levam a indagar pela identidade.<br />
As relações de poder, estabelecidas na sociedade, levam ao movimento de especulação<br />
sobre a identidade <strong>do</strong> outro. Neste caso se constata que o escragavista ao requerer sobre a<br />
identidade <strong>do</strong> negro, bem como quan<strong>do</strong> o coloniza<strong>do</strong>r requer pela identidade <strong>do</strong> indígena, o<br />
fazem com intenções específicas. Tais intenções são analisadas por SAWAIA, como uma<br />
forma de controle sobre o outro. Neste caso será preciso prestar atenção em "quem" indaga<br />
pela identidade <strong>do</strong> outro e com qual finalidade o faz, por quê e para quê indagar? Esta<br />
autora exemplifica a tendência histórica de "bisbilhotice internacional" fazen<strong>do</strong> referência<br />
a Margaret Thatcher (ministra inglesa), quan<strong>do</strong> a mesma ao encomendar uma pesquisa
77<br />
sobre a identidade <strong>do</strong>s alemães, faz isso antes de tomar uma decisão de apoiar ou não o<br />
merca<strong>do</strong> europeu (2001 p.123).<br />
Entender identidade enquanto um conceito político significa perceber as contradições<br />
históricas e atuais que estão permean<strong>do</strong> não apenas o conceito, mas as práticas sociais que<br />
se seguem a partir dele. O uso separatista que se pode fazer a partir da perspectiva que vê<br />
no outro o "inimigo" ou a ameaça leva à segregação e a todas as suas conseqüências. Essa<br />
análise demonstra o quanto conceitos e discursos não estão desprovi<strong>do</strong>s de um resulta<strong>do</strong><br />
que é senti<strong>do</strong> na materialidade das vidas humanas.<br />
A simbologia, toda a ordem de signos que permeiam a ideologia que vigora no social vai<br />
apontar para uma determinada forma e condição de vida para as pessoas. Nesse senti<strong>do</strong> é<br />
fundamental perceber a identidade na conexão com as relações sociais, e buscar conhecer o<br />
lugar que esta particularidade está ocupan<strong>do</strong> na totalidade da vida social. O fato é que a<br />
identidade tanto expressa a individualidade humana, seu campo de subjetividade, quanto<br />
demonstra a relação <strong>do</strong> ser social e seu movimento na sociedade. Portanto, se conclui que<br />
identidade será mais bem entendida, quan<strong>do</strong> for analisada, no campo das relações sociais e<br />
<strong>do</strong>s seus sujeitos.
78<br />
I I - RELAÇÕES SOCIAIS E SINGULARI<strong>DA</strong>DES INDIVIDUAIS<br />
A temática da diversidade não se coloca de forma deslocada <strong>do</strong> contexto social e<br />
histórico que envolve to<strong>do</strong>s os seres. Apenas de forma aparente poderia se cogitar que<br />
indivíduo e sociedade não estivessem em uma profunda interligação. A significativa<br />
imbricação entre sociedade e o sujeito indica uma verdadeira unidade entre ambos. O ser se<br />
constrói em sociedade, essa é construída a partir da dinâmica movimentação entre os seres.<br />
A contemporaneidade é o tempo presente, que se fez, enquanto conseqüência da história e<br />
<strong>do</strong>s inúmeros processos que ao longo da mesma foram se consolidan<strong>do</strong>. A consolidação<br />
histórica <strong>do</strong>s processos sociais é o resulta<strong>do</strong> de tu<strong>do</strong> aquilo que seus sujeitos construíram e<br />
reconstruíram em seu permanente movimento.<br />
Partin<strong>do</strong> da concepção relacional para interpretar, tanto o campo social quanto às<br />
pessoas que nesse se localizam, deparar-se-á com conceitos que não reduzem as<br />
explicações sobre os fatos da vida a uma perspectiva individual. O ser se constitui enquanto<br />
tal, no mun<strong>do</strong> das relações sociais e nessas refaz seu mun<strong>do</strong> e se reconstitui no mesmo.<br />
Para analisar a questão da diversidade, ou seja, se é possível admitir que cada indivíduo é<br />
porta<strong>do</strong>r de inúmeras características que o diferencia <strong>do</strong>s demais, entende-se também que<br />
multiplicidade de expressões se coloca em um mun<strong>do</strong> padroniza<strong>do</strong>. Por mais que haja uma<br />
dinâmica intensa na forma como as pessoas vivam a história, não é possível negar a<br />
tendência unificante que existe no social.<br />
Parece para<strong>do</strong>xal, se tem um movimento próprio de tu<strong>do</strong> aquilo que está coloca<strong>do</strong> no<br />
universo da vida humana, tu<strong>do</strong> sempre está em mutação. Entretanto, há também, nesse<br />
mesmo universo, a conservação de normas, padrões, regulamentos, para que o caos não se<br />
estabeleça. O problema aqui coloca<strong>do</strong> diz respeito a sobreposição da estática à dinâmica, se<br />
esses <strong>do</strong>is aspectos fazem parte <strong>do</strong> real, um se sobrepor ao outro leva a situações concretas<br />
de desigualdades de condições.
79<br />
O que tem ocorri<strong>do</strong>, historicamente, é o fato de que a criação de padrões, no campo<br />
social, tem subjuga<strong>do</strong> a expressão das diferenças. A pre<strong>do</strong>minância da exaltação de uma<br />
ordem determinada e de um padrão socialmente consolida<strong>do</strong> tem afasta<strong>do</strong> a possibilidade<br />
da convivência entre as singularidades <strong>do</strong>s indivíduos. Nesse capítulo, apresenta-se uma<br />
análise histórica e crítica da produção da cultura da "normalidade" em detrimento <strong>do</strong>s<br />
sujeitos que foram considera<strong>do</strong>s "anormais".<br />
2.1 OS HORRORES <strong>DA</strong> HISTÓRIA E O NÃO RECONHECIMENTO <strong>DA</strong> <strong>DIVERSI<strong>DA</strong>DE</strong><br />
A história nos conta seus horrores e as atrocidades cometidas pela ignorância falta de<br />
informações precisas e de compreensão sobre a natureza humana. Sabe-se que na Idade<br />
Média a rejeição aos porta<strong>do</strong>res de deficiência era tamanha a ponto da eliminação destes<br />
sujeitos. A Idade Moderna faz inúmeros estu<strong>do</strong>s e experiências enfatizan<strong>do</strong> o aspecto<br />
patológico da deficiência, centran<strong>do</strong> a patologia no sujeito. Na Idade contemporânea, houve<br />
um primeiro momento, em que a chamada “Educação <strong>do</strong>s Deficientes” era pensada em<br />
instituições que segregavam as pessoas. Na metade <strong>do</strong> séc. XX, a educação evoluiu no<br />
senti<strong>do</strong> de “oferecer aos porta<strong>do</strong>res de deficiência” condições de vida semelhantes a das<br />
outras pessoas, “poden<strong>do</strong>” esses utilizar as ofertas de serviços e oportunidades existentes na<br />
sociedade, o que antes jamais se poderia pensar (FADERS, 1991).<br />
Em uma incursão histórica pelas formas como as diversas instâncias da sociedade<br />
tratavam a questão das deficiências deparar-se-á com o imenso despreparo das ciências nas<br />
explicações desta questão. Uma grande inabilidade caracterizou por diversos anos o tipo de<br />
relação que os “ditos normais” estabeleceram com os sujeitos que apresentavam<br />
singularidades tão diversas daquelas previstas no padrão da sociedade. O mais dramático<br />
desses fatos sociais é que por conta <strong>do</strong> estranhamento diante das diferenças, se tenha<br />
cometi<strong>do</strong> tantos equívocos históricos que não apenas prejudicaram as pessoas porta<strong>do</strong>ras<br />
de deficiência, como também tornaram suas vidas muito difíceis e por vezes até foram<br />
sacrificadas em sua própria existência.
80<br />
CECCIM (1999, p.26) lembra em seus estu<strong>do</strong>s, que as crianças porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiências físicas e mentais, na antiga Esparta, eram relegadas ao aban<strong>do</strong>no e eliminadas.<br />
A Grécia sempre cultuou o atletismo, a estética, a força <strong>do</strong>s guerreiros, em função dessa<br />
cultura os porta<strong>do</strong>res de deficiência eram considera<strong>do</strong>s sem alma, não pessoas, com uma<br />
existência subumana, assim como as mulheres também o eram consideradas da mesma<br />
forma. A Idade Média vai mudar essas práticas, com a influência da Igreja Católica, os<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência passam a ser considera<strong>do</strong> filho de Deus e, portanto pessoas, seres<br />
com alma e merece<strong>do</strong>ras de proteção.<br />
A visão católica, no entanto, centrava seu entendimento na culpa, no castigo e na pena.<br />
O sujeito é culpa<strong>do</strong> pela sua deficiência, que a recebeu como “castigo <strong>do</strong>s céus por seus<br />
peca<strong>do</strong>s” ou por culpa de seus antepassa<strong>do</strong>s. Segun<strong>do</strong> CECCIM (1999, p.27) se substitui a<br />
exposição e o assassínio pelo “dilema caridade-castigo” e pela “ambigüidade proteçãosegregação”.<br />
Muitas instituições segrega<strong>do</strong>ras são criadas nessas épocas, isolan<strong>do</strong> as<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, “tratan<strong>do</strong>-as” de mo<strong>do</strong> que pudessem se<br />
recuperar <strong>do</strong> “peca<strong>do</strong>” de terem nasci<strong>do</strong> “naquelas condições”. Dessa forma também<br />
“protegiam” a sociedade <strong>do</strong> convívio com as diferenças.<br />
Apesar de toda a “proteção” que a visão cristã tenha forneci<strong>do</strong> aos porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência, não mais permitin<strong>do</strong> a eliminação <strong>do</strong>s mesmos e os colocan<strong>do</strong> em instituições<br />
fechadas, a Inquisição (século XV), vai penalizar com o extermínio as pessoas<br />
consideradas estranhas. Novamente nos estu<strong>do</strong>s de CECCIM (1999), é aponta<strong>do</strong> a prática<br />
<strong>do</strong>s inquisi<strong>do</strong>res como uma forma de extermínio aos hereges, às feiticeiras, às criaturas<br />
bizarras e aos loucos. Esses últimos eram considera<strong>do</strong>s criaturas diabólicas por lhe<br />
faltarem a razão, assim como os que tinham “vista torta”, que era “torta” em função das<br />
visões <strong>do</strong> demônio e conversas com espíritos <strong>do</strong> mau.<br />
As luzes <strong>do</strong> perío<strong>do</strong> Iluminista (século XVIII) vão descaracterizan<strong>do</strong> a força <strong>do</strong><br />
pensamento religioso. As inúmeras descobertas no campo das filosofias e das ciências<br />
médicas vão mudan<strong>do</strong> o mun<strong>do</strong>. Começam a controlar várias <strong>do</strong>enças e as deficiências
81<br />
passam a ser vistas <strong>do</strong> ponto de vista clínico, sen<strong>do</strong> passível ao tratamento médico e ao das<br />
ciências em geral. A deficiência passa a ser tratada no campo médico, embora se tenham<br />
ocorri<strong>do</strong> alguns equívocos. No caso da <strong>do</strong>ença mental, as formulações psiquiátricas de<br />
Pinel (século XIX), por exemplo, indicavam a incurabilidade. A loucura era vista<br />
unicamente <strong>do</strong> ponto de vista fisiológico, tratada de forma orgânica e medicamentosa,<br />
portanto na visão da medicina a loucura foi uma questão de <strong>do</strong>ença, sem outras<br />
possibilidades, sem considerar a possibilidade educativa e as alternativas diversas para o<br />
aprender.<br />
Fechava-se a questão na impossibilidade pelo “déficit intelectual”. Foi uma forma de<br />
perceber e explicar a <strong>do</strong>ença mental que deu base a um modelo, considera<strong>do</strong> por CECCIM,<br />
fatalista unitário e segrega<strong>do</strong>r (1999 p.32). Esse autor destaca as produções científicas <strong>do</strong><br />
início <strong>do</strong> XX, onde pontua que um médico brilhante daquela época, o Dr. ESQUIMOL<br />
(1772-1840), era leitura obrigatória para a formação médica e de profissionais da área,<br />
influencian<strong>do</strong> várias gerações, tinha como uma de suas principais idéias: “... os idiotas são<br />
o que virão a ser durante toda a vida” (p.32). Não há alternativa para a aprendizagem,<br />
nesta perspectiva. Os porta<strong>do</strong>res de deficiência mental foram considera<strong>do</strong>s incapacita<strong>do</strong>s<br />
para a socialização e para a aprendizagem. Os <strong>do</strong>entes mentais foram denomina<strong>do</strong>s<br />
cretinos, idiotas ou imbecis, e para CECCIM “troca-se a danação divina à condenação<br />
médica” (1999, p.30-31).<br />
Durante to<strong>do</strong> o século XIX e início <strong>do</strong> século XX a questão da educação na área da<br />
deficiência foi tratada de forma muito problemática. Os alunos porta<strong>do</strong>res de deficiência<br />
foram considera<strong>do</strong>s perigosos e prejudiciais ao desenvolvimento da aprendizagem <strong>do</strong>s<br />
demais. Houve uma forte tendência à segregação das crianças que portavam alguma<br />
deficiência. Eram colocadas em alas <strong>do</strong>s fun<strong>do</strong>s das grandes instituições sociais, sem<br />
direito ao estu<strong>do</strong>, sofren<strong>do</strong> um controle institucional que as apartavam <strong>do</strong> convívio com<br />
outras crianças, como se fossem indesejáveis à convivência social. Aquelas crianças foram<br />
consideradas perigosas, subversivas à ordem “normal” das contingências da vida <strong>do</strong>s<br />
grupos da sociedade.
82<br />
Até a década de 30 (século XX), o “movimento de eugenia” tornou ainda mais<br />
desumano a vida <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência. Segun<strong>do</strong> STAINBACK (1999 p.38). Esse<br />
“movimento de eugenia” (entre 1900 e 1930) generalizou a idéia de que as pessoas com<br />
deficiência eram porta<strong>do</strong>ras de tendências criminosas devi<strong>do</strong> à sua composição genética e<br />
isso seria uma ameaça à civilização. A partir desses conceitos, uma série de práticas<br />
segrega<strong>do</strong>ras foi ainda mais desenvolvida, como a esterilização, a expansão das escolas e<br />
classes especiais nas escolas públicas.<br />
Nas décadas de 50 e 60 <strong>do</strong> século XX houve grande expansão e desenvolvimento das<br />
escolas e classes especiais para atender aos alunos chama<strong>do</strong>s “especiais”. Foi igualmente<br />
nessas décadas, entretanto, que os pais de crianças com deficiência deram início a diversas<br />
organizações que começavam a exigir os direitos <strong>do</strong>s alunos estudarem de forma menos<br />
segrega<strong>do</strong>ra e receber uma educação em “ambientes escolares mais normaliza<strong>do</strong>s”<br />
(STAINBACK, 1999, p. 39). Os pais organiza<strong>do</strong>s começam a questionar e a problematizar<br />
o sistema de ensino, como um sistema que exclui seus filhos porta<strong>do</strong>res de deficiência,<br />
percebem e denunciam o caráter segrega<strong>do</strong>r das instituições, que até então prestam<br />
“assistência” às questões da deficiência.<br />
Esse movimento se estendeu por outras décadas e foi até os tribunais, pressionan<strong>do</strong> o<br />
legislativo a mudar as normas e leis que eram vigentes até o momento. Alguns Esta<strong>do</strong>s<br />
norte-americanos começam (década de 70 <strong>do</strong> século XX) a promulgar leis que<br />
normatizavam o chama<strong>do</strong> “ato de educação para todas as crianças porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência, levan<strong>do</strong> para década de 80 o grande desafio de o ensino regular para to<strong>do</strong>s<br />
(SATAINBACK op.cit. p. 40). A partir <strong>do</strong>s movimentos <strong>do</strong>s sujeitos da sociedade e de<br />
uma evolução de conceitos acerca <strong>do</strong>s significa<strong>do</strong>s da deficiência, a forma de encaminhar<br />
suas demandas vai ten<strong>do</strong> um outro rumo. A questão da inclusão surge no desenrolar destes<br />
processos, assunto que será tematiza<strong>do</strong>, adiante, em um outro capítulo. Quanto a história<br />
<strong>do</strong>s processos sociais nos quais inseriram-se as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, é dito o<br />
seguinte:<br />
“De forma bastante sintética, pode-se mapear o percurso dessa viagem<br />
seguin<strong>do</strong> uma linha mais ou menos clara: <strong>do</strong> extermínio à integração,<br />
passan<strong>do</strong> por uma escala na segregação: da“exposição” das crianças
83<br />
gregas à tentativa de oferecimento de oportunidades iguais, passan<strong>do</strong><br />
pelo “asilamento” (AMARAL, 1994, p. 14).<br />
Uma outra situação similar à situação da <strong>do</strong>ença mental aconteceu na questão da<br />
deficiência auditiva, onde por muito tempo os sur<strong>do</strong>s foram submeti<strong>do</strong>s a imposição da<br />
aprendizagem nos moldes da chamada “oralidade”. Ou seja, a singularidade de um sujeito<br />
que não ouve é constrangida a ter que aprender com méto<strong>do</strong>s que se servem<br />
exclusivamente de recursos <strong>do</strong>s ouvintes. A linguagem gestual e a <strong>do</strong>s sinais eram vedadas<br />
aos sur<strong>do</strong>s. Os sur<strong>do</strong>s foram submeti<strong>do</strong>s a uma “ditadura” da oralidade. Para SKLIAR: “...<br />
os sur<strong>do</strong>s foram objeto de uma única e constante preocupação por parte <strong>do</strong>s ouvintes: a<br />
aprendizagem da língua oral e, como se fosse uma conseqüência direta, sua integração ao<br />
mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s demais... ouvintes e normais (1999 p.108).<br />
Para o autor acima referi<strong>do</strong>, existiram motivos políticos, filosóficos e religiosos, mas<br />
não educativos para que a língua <strong>do</strong>s sinais ter si<strong>do</strong> proibida, como aconteceu no<br />
Congresso de Milão em 1880 e que influenciou a educação até a década de 70. Nesse<br />
Congresso foi decreta<strong>do</strong>, por um determina<strong>do</strong> e pequeno número de educa<strong>do</strong>res, que a<br />
língua oral era superior a língua <strong>do</strong>s sinais e, portanto essa segunda estava condenada em<br />
sua utilização.<br />
Naquela época a Itália tinha um projeto de alfabetização e a língua <strong>do</strong>s sinais<br />
representava um desvio, uma vez usada particularizaria uma forma de linguagem<br />
diferenciada da oficial, eis aqui um motivo político. A superioridade <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> das idéias<br />
proclamada por ARISTÓTELES 5 , representada pela “palavra”, era a expressão <strong>do</strong> que<br />
vigorava em termos filosóficos, naquele Congresso. E, em termos religiosos a influência da<br />
igreja Católica prezava muito a palavra para que as pessoas pudessem se confessar<br />
(SKLIAR, 1999 p.108-10).<br />
5 ARISTÓTELES (384 a.C. a 322 a.C.), um <strong>do</strong>s maiores filósofos da filosofia antiga, considera<strong>do</strong> sucessor<br />
de Platão, no que diz respeito ao senti<strong>do</strong> da<strong>do</strong> a palavra "filosofia", como saber racional e reflexivo. Para<br />
MORENTE (1930 p.27), Aristóteles faz avançar extraordinariamente o cabedal <strong>do</strong>s conhecimentos adquiri<strong>do</strong>s<br />
reflexivamente e a filosofia passa ser cada vez mais o conjunto <strong>do</strong> saber humano.
84<br />
Conforme essa breve incursão histórica, se pode constatar, o quanto de atrocidades foi<br />
cometi<strong>do</strong> às singularidades <strong>do</strong>s sujeitos, em nome de interesses, ideologias e da ignorância<br />
<strong>do</strong>s recursos técnicos que se dispunham. Sen<strong>do</strong> que só a partir da década de 70 os sur<strong>do</strong>s<br />
começam a ter o direito de buscar as alternativas compatíveis com sua forma peculiar de<br />
existência e de possibilidade de expressão e aprendizagem. O referi<strong>do</strong> Congresso teve um<br />
peso demasiadamente expressivo nas condições de educação e comunicação <strong>do</strong>s sur<strong>do</strong>s, no<br />
senti<strong>do</strong> negativo e prejudicial, uma vez que desrespeita, desconsidera as diferenças<br />
peculiares da surdez, se é impossível para um sur<strong>do</strong> ouvir, como impor ao mesmo uma<br />
aprendizagem pela via da audição? Em mea<strong>do</strong>s <strong>do</strong> século XVIII até metade <strong>do</strong> século XIX,<br />
a educação pela via da língua <strong>do</strong>s sinais era aceita e considerada normal, após o Congresso<br />
de 1880 fica instituí<strong>do</strong>: “... o pre<strong>do</strong>mínio absoluto de uma única equação, segun<strong>do</strong> a qual<br />
a educação <strong>do</strong>s sur<strong>do</strong>s se reduz à língua oral” (SKLIAR, 1999, p.109).<br />
Um outro fator que demonstra a inabilidade <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> da ciência e o mun<strong>do</strong> da cultura<br />
social em lidar com as diferenças é a diversidade de uma terminologia para designar a<br />
questão das deficiências. Diversidade que expressa uma série de conceitos equivoca<strong>do</strong>s<br />
quanto a temática, a exemplo deste fato se tem o que segue para denominar as pessoas que<br />
possuem diferenças visíveis: idiotas, imbecis, cretinos, mongolóides, retarda<strong>do</strong>s, bobos da<br />
corte, aberrações, anjos, pequenas criaturas de Deus, infaustos, pára-raios, membros<br />
desafortuna<strong>do</strong>s da sociedade, nefelibáticos, deforma<strong>do</strong>s, deficientes, porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência, especiais (CECCIM, 1999, p.48).<br />
Os primeiros termos menciona<strong>do</strong>s nessa listagem remetem a uma cultura de<br />
impropérios que as pessoas se dizem umas as outras com intenção ofensiva, em casos de<br />
desentendimentos e injúrias. Palavras que são utilizadas, muito comumente, nas relações<br />
afetivas de amor e ódio quan<strong>do</strong> de uma parte se objetiva desqualificar, menosprezar a outra<br />
parte. É uma demonstração <strong>do</strong> quanto se tratou ao longo da história (ainda é tratada) a<br />
questão das deficiências com enorme intolerância às suas singularidades, com profun<strong>do</strong><br />
desconhecimento de causa e desrespeito a diversidade da condição humana.
85<br />
Na pesquisa, que aqui se apresenta, ficou evidencia<strong>do</strong> o fato de ainda hoje não se ter<br />
clareza da nomenclatura adequada a ser utilizada para se referir às pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência e de altas habilidades. O correto seria que as próprias pessoas envolvidas na<br />
questão possam opinar e indicar qual o termo correto. No que diz respeito aos movimentos<br />
sociais das PPD, aqui no Rio Grande <strong>do</strong> Sul, a tendência é a utilização e a preferência pelo<br />
termo: "pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência e pessoa porta<strong>do</strong>ra de altas habilidades". Na área<br />
da Educação ainda é usual o termo "porta<strong>do</strong>res de necessidades especiais".<br />
O termo excepcional parece ter si<strong>do</strong> supera<strong>do</strong> nas diversas áreas. Entretanto, ainda são<br />
muito diversas as opiniões sobre a terminologia adequada. Em algumas áreas específicas,<br />
como no caso da surdez, é preferi<strong>do</strong> o termo sur<strong>do</strong> ao termo deficiente auditivo. Nessa<br />
situação há diferenciação entre os que têm perda total da audição, portanto, os sur<strong>do</strong>s, e<br />
aqueles que tem graus de deficiência auditiva. O mesmo ocorre com os cegos, que em geral<br />
preferem ser assim denomina<strong>do</strong>s, porém, existe diferença entre os que são totalmente<br />
cegos e os que têm visão “subnormal" e possui uma deficiência visual severa, sem a perda<br />
total da visão, e, portanto não são cegos. Na ilustração que segue se apresenta uma<br />
explicação específica para os termos:<br />
"Eu não me importo se me chamam de cego ou de deficiente visual, penso<br />
que a maioria <strong>do</strong>s cegos não gostam da palavra deficiência e preferem a<br />
palavra cegueira. Quem tem visão subnormal não deve ser chama<strong>do</strong> de<br />
cego, mas é um deficiente visual. To<strong>do</strong> o cego é deficiente visual, mas nem<br />
to<strong>do</strong> deficiente visual é cego. Faz diferença se você tem 2% ou 3% de<br />
visão para saber um pouco sobre as cores, se alguém ascende à luz, se<br />
encherga vultos. Todas estas peculiaridades vão fazer diferença na<br />
orientação da pessoa por onde elas andam, não é tu<strong>do</strong> igual" (Entrevista<br />
realizada em maio de 2001).<br />
A mudança de nomenclatura, por si só, não transforma o senti<strong>do</strong> da<strong>do</strong> aos termos, há<br />
uma transformação cultural que tem que ser consolidada. Na situação <strong>do</strong>s chama<strong>do</strong>s<br />
"porta<strong>do</strong>res de altas habilidades", o termo tem muda<strong>do</strong> para a comunidade acadêmica, que<br />
entende que esse termo é mais abrangente, por abarcar diversos tipos de talentos. Essa<br />
abrangência se refere ao fato de ampliar a idéia de que os talentos se desenvolvam<br />
unicamente na área cognitiva, incluin<strong>do</strong> outras áreas de expressão (música, dança,<br />
esporte...). Entretanto, essa visão que pretende entender mais amplamente e singularmente<br />
o significa<strong>do</strong> da "super<strong>do</strong>tação", se torna algo que não é assimila<strong>do</strong> tão facilmente pela
86<br />
comunidade em geral (familiares, parentes, vizinhos). A população em geral continua<br />
utilizan<strong>do</strong> o termo "super<strong>do</strong>ta<strong>do</strong>".<br />
Muitas vezes acontece que determina<strong>do</strong>s termos se tornarem longos demais e dificultar<br />
a sua expressão no dia-a-dia. Para dar um senti<strong>do</strong> acadêmico e um novo significa<strong>do</strong> aos<br />
nomes muitas vezes a explicitação se torna extensa. Quem cria os termos os fundamenta<br />
em uma lógica ou contra lógica que nem sempre é fácil de ser utilizada no cotidiano, por<br />
outras pessoas. "Há muitas palavras para designar as deficiências. Palavras que<br />
distanciam, que são muito longas e difícil de pronunciar" (Entrevista realizada em jan. de<br />
2002).<br />
Em outras entrevistas, realizadas neste percurso, foi apontada a dificuldade com os<br />
termos em função de uma não aceitação da própria deficiência. Em uma resistência no<br />
enfrentamento da questão, o nomear as deficiências está permea<strong>do</strong> de uma necessidade de<br />
ocultá-la, como se fosse algo ruim em si mesmo. Não querer falar no assunto, não poder<br />
pronunciar as palavras referentes às deficiências, pode estar denotan<strong>do</strong> formas de<br />
preconceito semelhante a situações em que se dispõe de rótulos para se referir às pessoas<br />
de diferentes realidades existenciais ou sociais. A opinião abaixo ilustra esse debate:<br />
"O preconceito está no melindre em falar as coisas como elas são. Gor<strong>do</strong><br />
é gor<strong>do</strong>, negro é negro, mulher é mulher, homem é homem, deficiente<br />
mental é deficiente mental, não tem que ter vergonha de dizer o que é"<br />
(Seminário realiza<strong>do</strong> em 2001).<br />
Na dinâmica da diversidade de opiniões e das problemáticas apresentadas na reflexão<br />
sobre o termo ideal para designar a questão da terminologia, ressalta-se o processo de<br />
mutação das diferentes formas de analisar a questão da deficiência. Não há uma forma<br />
única apontada. Há avanços nesse debate, pois, se considera, atualmente, de forma mais<br />
significativa às singularidades, são apresenta<strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s da realidade <strong>do</strong> contexto <strong>do</strong> sujeito<br />
para avaliar as situações. Os termos como "excepcional", foram aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>s, o que parece
87<br />
ser muito positivo, ten<strong>do</strong> em vista o senti<strong>do</strong> histórico da palavra 6 . O debate em torno da<br />
terminologia adequada vai continuar. Para se obter avanços mais significativos talvez<br />
sejam preciso novas superações históricas no convívio social com as deficiências<br />
/diferenças. Quan<strong>do</strong> a ampliação de conceitos e práticas acerca da diversidade remeterem<br />
os seus sujeitos sociais a um autêntico reconhecimento das diferenças. E, quan<strong>do</strong> esse<br />
reconhecimento estiver capacita<strong>do</strong> a romper com barreiras físicas, de comunicação e de<br />
atitudes.<br />
O termo, a<strong>do</strong>ta<strong>do</strong> na apresentação desta tese é: pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência e pessoa<br />
porta<strong>do</strong>ra de altas habilidades, por estar em sintonia com a demanda vinda <strong>do</strong>s movimentos<br />
sociais desse segmento e na pauta da discussão e implementação de uma política pública<br />
para essa área. De outra forma, de to<strong>do</strong>s os termos utiliza<strong>do</strong>s nos parece o mais indica<strong>do</strong><br />
por remeter ao entendimento de que é uma pessoa que porta uma deficiência e não um to<strong>do</strong><br />
deficiente. Assim como parece adequa<strong>do</strong> a expressão a seguir apresentada, para se referir<br />
aos termos em contraposição aos "rótulos":<br />
"Acho esta questão de rótulo totalmente desnecessária, nada importante<br />
e até discriminatória. Acredito que não há necessidade de rotular uma<br />
pessoa por qualquer que seja sua diferença, os rótulos foram feitos para<br />
produtos e não para pessoas" (Entrevista realizada em ago. de 2001).<br />
Um último aspecto que será analisa<strong>do</strong> sobre a questão <strong>do</strong>s nomes e <strong>do</strong> significa<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />
nomear está coloca<strong>do</strong> nos estu<strong>do</strong>s de BRIZOLA, quan<strong>do</strong> a autora reflete sobre os nomes<br />
escolhi<strong>do</strong>s para as escolas especiais. No estu<strong>do</strong> da autora, às escolas especiais, ao contrário<br />
das escolas "comuns" que escolhem nomes de celebridades, são nomeadas, da seguinte<br />
forma: O sorriso de Amanhã, Recanto de amor; Cantinho da Esperança; Pequenos passos;<br />
Pedacinho <strong>do</strong> Céu; Morada da Ternura (2000, p191/192). Nessa nomeação transparece uma<br />
denotação de compaixão, de infantilidade, é uma nomeação análoga a que se utiliza para<br />
6 Na lei federal (brasileira) de 1961, o termo excepcional era aplicável a to<strong>do</strong> o indivíduo situa<strong>do</strong> acima<br />
(super<strong>do</strong>ta<strong>do</strong>) ou abaixo (sub<strong>do</strong>ta<strong>do</strong>) da "norma" em uma ou mais das seguintes áreas: físicas, psicológicas,<br />
sociais, aban<strong>do</strong>no, indigência, marginalidade, delinqüência (BRIZOLA, 2000, p.179).
88<br />
nomear as creches. Historicamente a educação especial tem essa conotação de menoridade,<br />
de abnegação, como será mais bem analisa<strong>do</strong> no próximo sub-capítulo desta tese.<br />
Pode-se valer das questões formuladas, da mesma autora, para problematizar o<br />
significa<strong>do</strong> desses nomes, se tem: Que tipo de concepção se tem <strong>do</strong> espaço institucional<br />
escolar? É procedente categorizar a instituição escola como um "pedacinho de céu?” O que<br />
se espera da educação ministrada no "lar da esperança?” Que papel esta escola deve<br />
cumprir em relação aos próprios alunos e em relação à comunidade? O significa<strong>do</strong> desses<br />
nomes parece revelar uma "mea culpa", uma dívida social que só pode ser sanada se<br />
oferece as pessoas "um novo amanhã", "uma nova vida", "através de uma corrente de<br />
carinho" (BRIZOLA, 2000, p.192).<br />
A situação de esses nomes estarem sen<strong>do</strong> designa<strong>do</strong>s para as escolas especiais parece ser<br />
revela<strong>do</strong>ra da atitude paternalista das instituições desta sociedade para com as pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Há uma conexão importante entre os significantes nomeais e a<br />
dinâmica presente nas relações sociais. Nessa situação em particular, está se falan<strong>do</strong> da<br />
forma como a sociedade em geral se relaciona com as deficiências. Essa reflexão aponta<br />
para estreita conexão entre o senti<strong>do</strong> de nomear uma escola, a estrutura e a cultura de uma<br />
sociedade que trata de questões referentes às deficiências como se fossem de cunho<br />
"menor".<br />
No que se refere às concepções, onde realmente a humanidade avançou desde a Idade<br />
Antiga? Pode-se questionar, o que mu<strong>do</strong>u? Foram as pessoas nascidas com alguma<br />
deficiência que apresentam outras características naturais? Ou será que foi a atual<br />
capacidade das ciências, da lógica, das filosofias, da política, de revisarem suas posturas,<br />
suas concepções? Em uma profunda revisão, a partir de outra perspectiva, se abrem novas<br />
oportunidades de se aprender algo a mais com a magnitude da vida humana e assim vão se<br />
transforman<strong>do</strong> os velhos conceitos. Para que isso aconteça um processo crítico de análise<br />
deve ser aciona<strong>do</strong>. No senti<strong>do</strong> de revisar os diferentes parâmetros que foram construí<strong>do</strong>s<br />
nas diferentes instâncias concretas e simbólicas da vida social. As representações feitas,
89<br />
mesmo que em nível inconsciente, atingem a forma concreta de viver das pessoas e sua<br />
forma de acesso ao mun<strong>do</strong> que está consolida<strong>do</strong> a seu re<strong>do</strong>r.<br />
2.2 SEGREGAÇÃO NAS RELAÇÕES SOCIAIS<br />
Não há justificativa cabível para o processo social de segregação pelo qual passaram e<br />
ainda passam as pessoas que têm uma singularidade que se diferencia de forma<br />
visivelmente marcante. O despreparo das ciências, o pouco investimento <strong>do</strong>s governos em<br />
políticas públicas nessa área tem dificulta<strong>do</strong> um caminho inclusivo às pessoas porta<strong>do</strong>ras<br />
de deficiência. Inclusão que deveria significar a possibilidade para to<strong>do</strong>s os sujeitos da<br />
sociedade fazerem parte, pertencerem à mesma de mo<strong>do</strong> integral, de maneira que não<br />
houvessem grupos excluí<strong>do</strong>s, que ficam à margem <strong>do</strong>s processos sociais e <strong>do</strong>s recursos<br />
ofereci<strong>do</strong>s aos demais. Pensar em uma sociedade onde toda a pessoa, pela única razão de<br />
ser pessoa, já tivesse de antemão garanti<strong>do</strong> o seu direito de pertencer e participar é pensar<br />
em uma sociedade que ainda não foi construída, pela qual se deve lutar.<br />
“A alternativa segrega<strong>do</strong>ra das relações sociais, ainda que não produza separação<br />
física ou de localização espacial, opera com a determinação unitária de comportamentos<br />
<strong>do</strong>s indivíduos” (CECCIM, 1999, p. 47). Vive-se sob uma condição social, na qual as<br />
pessoas devem corresponder às exigências de um padrão que determina que o mo<strong>do</strong> de ser<br />
não pode fugir às normas estabelecidas. Há uma normatização das relações entre as<br />
pessoas da sociedade que é opressiva <strong>do</strong> ponto de vista das subjetividades e singularidades<br />
<strong>do</strong>s sujeitos. Especialmente àqueles que não se enquadram nos padrões por diferenciações<br />
de estrutura física, psíquica, emocional ou da forma de olhar o mun<strong>do</strong>, sofrem com a<br />
violenta padronização de um mun<strong>do</strong> feito para to<strong>do</strong>s serem iguais, a despeito da realidade<br />
da condição humana que traz em si a diversidade e não a igualidade.<br />
A separação <strong>do</strong>s demais, o isolamento, a segregação, em geral, é o que acontece àqueles<br />
que “desviam-se <strong>do</strong> caminho” da padronização. As diversas instituições reproduziram e<br />
reproduzem fortemente este processo social da igualização. Nessas e em inúmeras ocasiões
90<br />
as diferenças não são aceitas, por vezes, são reprimidas com atitudes regula<strong>do</strong>ras e<br />
punitivas, a fim de que se atinja uma generalização <strong>do</strong>s comportamentos. A questão da<br />
normalidade está diretamente ligada à questão da segregação, pois o que não é "normal" é<br />
considera<strong>do</strong> um desviou, algo que deve ficar escondi<strong>do</strong>. O depoimento a seguir denúncia à<br />
maneira como as próprias instituições que "recebem" pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência<br />
fazem isso de forma a acentuar a segregação:<br />
"As instituições tem acessibilidades para automóveis, para entrada das<br />
pessoas há escadas. Essa é uma situação muito comum às instituições que<br />
atendem pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. O motivo de tal fato é<br />
esconder a deficiência, as entidades de porta<strong>do</strong>res de deficiência colocam<br />
carros a disposição para as pessoas não ficarem "expostas", para que a<br />
sociedade não os veja. É para esconder o "deficiente", não é para facilitar<br />
o acesso (Entrevista realizada em jan.2002).<br />
Nessa lógica as pessoas se separam em normais e desviantes, essas últimas ficam<br />
segregadas, ficam fora da chamada “sociedade da normalização”. Não se teria aqui a<br />
fórmula da segregação? Seu significa<strong>do</strong> é a exclusão, a expulsão e a desigualdade de<br />
condições de vida para aqueles que são "diferentes". “No passa<strong>do</strong>, foi decidi<strong>do</strong> que<br />
algumas crianças ou alguns adultos deveriam ser excluí<strong>do</strong>s de nossas vidas, das salas de<br />
aula e das comunidades regulares porque eram considera<strong>do</strong>s uma ameaça à sociedade”<br />
(STAINBACK, 1999, p.28). Em diversos níveis essa situação segregatória é reproduzida,<br />
inclusive pelas famílias. Não é uma prática pouco comum os pais buscarem "proteger" seus<br />
filhos <strong>do</strong> olhar <strong>do</strong>s outros, <strong>do</strong> olhar de reprovação, de rejeição, de incômo<strong>do</strong>, <strong>do</strong> olhar da<br />
"normalidade" sobre a deficiência, <strong>do</strong> olhar que não percebe, que não reconhece, no outro,<br />
a possibilidade de ser diferente. O depoimento, a seguir, ilustra essa reflexão:<br />
"Muitas vezes o esconder a criança porta<strong>do</strong>ra de alguma deficiência<br />
acontece em nome da proteção da mesma. Vejo como exemplo o caso de<br />
uma mãe que carregava seu filho cego no colo, tapa<strong>do</strong> como se fosse um<br />
recém nasci<strong>do</strong>, ele já tinha 1 ano de idade. Sua justificativa era estar<br />
protegen<strong>do</strong> seu filho das outras pessoas., para não chocar as pessoas"<br />
(Entrevista realizada em jan.2002).<br />
Olhan<strong>do</strong> para o déficit, muitas vezes, os "cuida<strong>do</strong>res" desistem de investir na pessoa. A<br />
velha idéia de que uma pessoa porta<strong>do</strong>ra de uma deficiência vivia por menos tempo está
91<br />
ligada ao fato dessas pessoas não receberem os cuida<strong>do</strong>s adequa<strong>do</strong>s na infância. Por vezes<br />
os cuida<strong>do</strong>s com higiene e com o corpo é relega<strong>do</strong> pelo fato da pessoa ser porta<strong>do</strong>ra de<br />
uma deficiência, bem como os cuida<strong>do</strong>s com a aparência. Nas entrevistas realizadas na<br />
pesquisa se obteve vários exemplos de situações, tais como: o fato da criança não ser<br />
levada ao dentista por ser porta<strong>do</strong>ra de alguma síndrome; uma criança porta<strong>do</strong>ra de<br />
deficiência vestida de maneira pouco alinhada, enquanto seus irmãos não porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência são vesti<strong>do</strong>s de acor<strong>do</strong> com os costumes da época. Na entrevista abaixo se tem<br />
uma ilustração dessa problemática:<br />
"Muitas vezes estas crianças são criadas sem estímulo da família, sem<br />
alimentação adequada, sem carinho, pois se achava que a perspectiva de<br />
vida era mais curta para tais crianças. Justamente pelo fato de não serem<br />
tratadas com to<strong>do</strong> o cuida<strong>do</strong> necessário acabavam por viver menos".<br />
(Entrevista realizada em nov. de 2001).<br />
O déficit é acentua<strong>do</strong> de tal forma com se fosse o to<strong>do</strong> e não apenas parte <strong>do</strong> ser que<br />
porta uma deficiência, e nessa concepção esquece-se de perceber outras habilidades, outras<br />
possibilidades, potencialidades destes sujeitos. É justamente a sua capacidade que deveria<br />
ser reforçada e não a impossibilidade. Parece ser difícil para as pessoas, em geral, perceber<br />
na pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência, um ser humano integral, não fragmenta<strong>do</strong>, não<br />
reduzi<strong>do</strong> a sua parte deficitária. No cotidiano das pessoas que portam alguma deficiência se<br />
repetem inúmeras situações que demonstram essa análise, como se poderá constatar na<br />
entrevista que segue:<br />
"Um dia meu ginecologista me encaminhou para fazer uma ultrasonografia,<br />
quan<strong>do</strong> eu estava lá na clínica esperan<strong>do</strong> para realizar o<br />
exame, o médico <strong>do</strong> local me indagou, o porquê eu estar ali para fazer<br />
aquele exame. Ele não estava entenden<strong>do</strong> os motivos de uma mulher numa<br />
cadeira de rodas se preocupar com questões ginecológicas. As pessoas<br />
desistem da pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência, pelo fato de ter uma<br />
deficiência é como se to<strong>do</strong>s os outros setores de sua vida ficassem nulos.<br />
Aí eles pensam que não precisamos nos vestir bem, cuidar de nosso corpo,<br />
sair para namorar" (Entrevista realizada em out. de 2001).<br />
Com essa limitação da percepção acerca das reais condições pessoais de alguém que<br />
porta uma deficiência, as pessoas que se encontram nessa condição foram tratada de forma<br />
a serem reforçadas em sua "impossibilidade". Não se teve um real investimento em seu<br />
potencial. Torna-se freqüente o relato, que se encontra nas entrevistas e se apresenta nos<br />
resulta<strong>do</strong>s desta pesquisa, que diz respeito a uma certa "desistência" da pessoa porta<strong>do</strong>ra de
92<br />
deficiência, que é mencionada no depoimento acima. STAINBACK, alerta para o fato <strong>do</strong><br />
negativismo em relação à pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência ter suas raízes no mo<strong>do</strong> de vida<br />
competitivo da vida social que leva à i<strong>do</strong>latria <strong>do</strong>s “vence<strong>do</strong>res” e a evitar os “perde<strong>do</strong>res”<br />
(1999 p.415).<br />
A imagem da vitória e da derrota esteve associada ao modelo humano atlético, alto, em<br />
plena forma física e psíquica, um padrão pouco encontra<strong>do</strong>, porém, consolida<strong>do</strong> no<br />
imaginário social, como sen<strong>do</strong> um padrão ideal de ser humano. Fora desse padrão, àqueles<br />
que recebem o rótulo de “deficientes”, são vistos na perspectiva de uma possibilidade<br />
menor, no que diz respeito ao seu desempenho cognitivo. Segun<strong>do</strong> STAINBACK,<br />
instituições e méto<strong>do</strong>s de ensino e avaliação tiveram uma expectativa muito reduzida em<br />
relação às crianças porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Por muito tempo foi disseminada a idéia de<br />
“ponto máximo”, na qual se acreditava que a aprendizagem, no caso das deficiências,<br />
pudesse chegar a um determina<strong>do</strong> limite e, a partir desse nada mais poderia ser aprendi<strong>do</strong>.<br />
Para as pessoas em geral, não porta<strong>do</strong>ras de deficiência, se considera a aprendizagem<br />
como um processo inacaba<strong>do</strong> a se desenvolver ao longo da vida. Considerar a existência de<br />
um “limite máximo”, para àqueles que portam algum tipo de déficit físico ou metal, não<br />
seria uma outra forma de exclusão? Aqui se tem uma exclusão de um processo natural à<br />
espécie humana, ou seja, seu crescimento pessoal constante, cada um a seu rítimo, a seu<br />
estilo próprio, mas nem por isso menos humano ou menos similar aos seus semelhantes.<br />
Novamente se esbarra na grande deficiência <strong>do</strong> conhecimento e das estratégias <strong>do</strong>s<br />
méto<strong>do</strong>s pedagógicos para lidar com as diferenças e sua perversa conseqüência direta, ou<br />
seja, a segregação. Na falta da compreensão não se buscou a alternativa para a diversidade,<br />
então foi mais fácil separar, excluir, expulsar, desqualificar.<br />
Os méto<strong>do</strong>s das instituições da sociedade para lidar com as diferenças e com a<br />
diversidade humana, sempre foram méto<strong>do</strong>s excludentes e que não ofereceram igualdade<br />
de oportunidades a todas as pessoas. Os mesmos parecem terem si<strong>do</strong> constituí<strong>do</strong>s para o<br />
favorecimento daqueles que respondem ao padrão de exigibilidade social. Um aspecto que<br />
ratifica esse entendimento é o fato daqueles méto<strong>do</strong>s estarem pauta<strong>do</strong>s em um olhar por
93<br />
demais “negativista, pessimista” sobre as características e o desempenho das pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência.<br />
“Os pais e os educa<strong>do</strong>res que encorajam as crianças com deficiência a ter apenas<br />
amigos com deficiência e a participar apenas de eventos sociais para pessoas com<br />
deficiência perpetuam a segregação” (STAINBACK, 1999, p.410). Nessas situações, os<br />
grupos se fortalecem entre si em uma identidade de diferenças, com a liberdade de se<br />
expressarem sem ter que responder ao padrão de desempenho exigi<strong>do</strong> pelo social.<br />
Entretanto, há um grande risco nessas práticas, se for à única alternativa de convivência<br />
social.<br />
O risco de perpetuação da segregação se localiza no fato de não pressionar o conjunto<br />
de outros segmentos sociais para o entendimento e o reconhecimento da diversidade<br />
humana. Em uma prática separatista se descaracteriza a responsabilidade da sociedade em<br />
apresentar condições alternativas que incluam as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiências com<br />
suas peculiaridades. A sociedade deve se adaptar às diferenças, oferecer acessibilidade e<br />
ser inclusiva. Não se pode deixar de la<strong>do</strong> a discussão contextual, na qual está mergulhada<br />
toda e qualquer problemática humana. Se de um la<strong>do</strong>, os condicionamentos físicos abatem<br />
os seres, de outro la<strong>do</strong>, o contexto onde eles se desenvolvem vai dar direcionamentos<br />
diferencia<strong>do</strong>s para os mesmos.<br />
No que diz respeito às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, várias instâncias da sociedade,<br />
desde a década de 80, tem feito um debate importante com vários avanços, contrapon<strong>do</strong> o<br />
chama<strong>do</strong> "modelo médico da deficiência" a um modelo de "inclusão social". No "modelo<br />
médico da deficiência" as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência são consideradas <strong>do</strong>entes,<br />
desamparadas, dependentes, inúteis, inválidas, isentas <strong>do</strong>s deveres comuns (SASSAKI,<br />
1997, p.28). Nesse modelo as pessoas são objetos da atenção institucional e não sujeitos.<br />
Essa afirmativa se comprova na reiterada forma <strong>do</strong>s profissionais da área da deficiência se<br />
referir ao porta<strong>do</strong>r de deficiente como uma "eterna criança", que não cresce, que sempre<br />
será tutelada, que terá alguém para falar e responder por si. Há uma prática institucional e
94<br />
cultural que leva a uma interlocução com uma pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência mediada<br />
pelo seu tutor.<br />
A possibilidade de participação e expressão ficou interditada pelo costume de não se<br />
consultar a opinião da própria pessoa sobre sua condição, seus desejos e suas reais<br />
possibilidades. Há um lugar de "menoridade" que é reserva<strong>do</strong> àqueles que têm algum<br />
déficit visível. Nesse lugar acontece uma interdição, posta pelas instâncias sociais, das<br />
condições para o exercício de participação, de autonomia e de cidadania. Sen<strong>do</strong> assim, ao<br />
sujeito são colocadas barreiras que lhe afastam da inserção em seu contexto, lhe é nega<strong>do</strong> o<br />
direito de fazer parte, de assumir responsabilidades, de ter deveres e direitos dentro da<br />
sociedade. Tal qual as crianças devem aguardar pelos adultos para poder "receber" aquilo<br />
de que precisam.<br />
O percurso histórico <strong>do</strong>s equívocos de percepções e méto<strong>do</strong>s acerca das deficiências e<br />
seus significa<strong>do</strong>s para os sujeitos vem sugerin<strong>do</strong> a importância da qualificação deste<br />
debate. Uma superação necessária trata de abrir os espaços institucionais para o<br />
entendimento que portar uma deficiência não é sinônimo de desqualificação pessoal, nem<br />
se trata de "menoridade". As próprias famílias, por vezes em uma situação na qual a<br />
estrutura familiar está marginalizada, acabam fazen<strong>do</strong> uso da deficiência para obterem<br />
recursos <strong>do</strong> governo.<br />
O pedir esmolas associa<strong>do</strong> a imagem das deficiências é uma estratégia de sobrevivência<br />
que ainda acontece. Ocasiões como essas dificultam o processo de ruptura com a imagem<br />
de desvalia, entretanto, estão representan<strong>do</strong>, não apenas expressões individuais, mas,<br />
sobretu<strong>do</strong> um determina<strong>do</strong> tipo de sociedade. Essa sociedade que prioriza o consumo tanto<br />
quanto a "venda" da própria imagem de "<strong>do</strong>ente" para a possibilidade de obter recursos<br />
para a sobrevivência.<br />
Uma discussão conseqüente sobre a "<strong>do</strong>ença como um projeto" foi enfrentada por<br />
CARRETEIRO (2001, p.87-94) sinalizan<strong>do</strong> a situação em que as instituições estão<br />
oferecen<strong>do</strong> aos indivíduos "projetos - <strong>do</strong>enças". O que acontece é que para que a pessoa se
95<br />
inclua em determina<strong>do</strong>s projetos ou programas governamentais e receba um "benefício",<br />
ela necessitará comprovar um esta<strong>do</strong> de debilitação extrema<strong>do</strong>. Caso contrário o sujeito<br />
estará impossibilita<strong>do</strong> de participar <strong>do</strong>s programas institucionais. Essa é uma situação que<br />
está colocada na dinâmica de uma sociedade altamente excludente e que segun<strong>do</strong><br />
CARRETEIRO trabalha com a "pulsão de morte" em detrimento da "pulsão de vida" nos<br />
meandros de suas instituições que atendem à Seguridade Social.<br />
"As instituições podem oferecer aos indivíduos 'projetos-<strong>do</strong>ença' e estes<br />
podem aceitá-los para ter legitimada a cidadania e certas condições de<br />
sobrevida. Quan<strong>do</strong> isso acontece as instituições estão sen<strong>do</strong> trabalhadas<br />
pelas pulsões mortíferas que desqualificam a força <strong>do</strong>s sujeitos. Estes,<br />
aceitan<strong>do</strong> o 'projeto-<strong>do</strong>ença', escapam da possibilidade de serem<br />
considera<strong>do</strong>s como 'extranumerários'. (Carreteiro, 2001, p.94).<br />
O reconhecimento institucional se faz em cima da condição <strong>do</strong> "corpo <strong>do</strong>ente" ou<br />
deficiente e aqui se tem no déficit uma tonalidade compensatória e necessária para uma<br />
inclusão institucional. O indivíduo está assinala<strong>do</strong> enquanto "inváli<strong>do</strong>" e, portanto, não<br />
"sobrante" na instituição. Esse é um registro que desconsidera as implicações <strong>do</strong>s<br />
mecanismos sociais que geram as <strong>do</strong>enças, as deficiências, e especialmente que está<br />
geran<strong>do</strong> a necessidade compensatória. Nesse processo há distanciamento da construção da<br />
cidadania e <strong>do</strong> trabalho com potencialidades, uma vez que a tônica é a fragilidade e a<br />
<strong>do</strong>ença para pertencer. Então, são situações em que os indivíduos são leva<strong>do</strong>s a fazer uso de<br />
sua <strong>do</strong>ença, de sua deficiência para conseguir passagem de ônibus, para receber recursos<br />
financeiros. Pessoas que fazem uso de exames de baixa imunidade (no caso de porta<strong>do</strong>res<br />
de HIV - positivo) para a permanência em programas e nas disputas de vagas institucionais.<br />
A reflexão que se faz presente neste momento, remete aos diversos aspectos de<br />
organização social que propiciam a desumanização da vida humana. Por outro, no debate<br />
com as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, no tempo presente, é aponta<strong>do</strong> a importância de<br />
se criar espaços institucionais que trabalhem a perspectiva <strong>do</strong> porta<strong>do</strong>r de deficiência que<br />
está capacita<strong>do</strong> para as atividades.<br />
É preciso (re) significar a imagem "<strong>do</strong> deficiente incapacita<strong>do</strong>" e apostar em suas<br />
potencialidades, transforman<strong>do</strong> a imagem da deficiência como <strong>do</strong>ença, na percepção da
96<br />
deficiência como um aspecto da vida da pessoa. Esse aspecto precisa ser contempla<strong>do</strong> mas<br />
não super dimensiona<strong>do</strong>. Na construção de uma política governamental comprometida com<br />
a cidadania não se poderá descuidar da percepção de que "a <strong>do</strong>ença como projeto" deverá<br />
ser superada, com certa urgência.<br />
"Para quem é porta<strong>do</strong>r de uma deficiência é fundamental ver nas<br />
instituições, a presença <strong>do</strong> deficiente trabalhan<strong>do</strong>, atuan<strong>do</strong>, produzin<strong>do</strong>,<br />
fazen<strong>do</strong> parte da equipe de saúde, não só como usuário, mas contribuin<strong>do</strong><br />
para ensinar como se faz quan<strong>do</strong> a deficiência acontece na vida da gente.<br />
Em conjunto com outros profissionais, o porta<strong>do</strong>r de deficiência poderá<br />
mostrar para o reabilitan<strong>do</strong> a imagem da deficiência produtiva. Poderá<br />
mostrar os deficientes fazen<strong>do</strong> coisas, especialmente para a criança isso é<br />
importante". Somente essa imagem pode nos demonstrar, nesta hora, que<br />
podemos começar de novo e reconstruir nossas vidas" (Entrevista<br />
realizada em set. de 2001).<br />
Em função daquele "modelo médico da deficiência" e daquela forma de olhar para a<br />
deficiência a sociedade tem ti<strong>do</strong> dificuldade em fazer o devi<strong>do</strong> e necessário reconhecimento<br />
<strong>do</strong>s processos sociais que estão impedin<strong>do</strong> o desenvolvimento <strong>do</strong> potencial das pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de diferenças. A estrutura arquitetônica e cultural da sociedade apresenta<br />
inúmeras barreiras, por serem pensadas para um padrão único de ser humano e não para<br />
comportar diversas singularidades com determina<strong>do</strong>s limites e restrições. Essa estrutura, em<br />
verdade, comporta a exclusão, em que muitos ficam de fora <strong>do</strong> desenvolvimento da<br />
sociedade, sem possibilidades de participar, de se sentirem pertencentes ao seu meio. No<br />
caso das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência é exatamente o que se passa, por não<br />
acompanharem o rítimo imposto pelo padrão socialmente estabeleci<strong>do</strong> para a vida <strong>do</strong>s<br />
sujeitos, são consideradas incapazes.<br />
Há um <strong>do</strong>cumento intitula<strong>do</strong>: DEZ PROPOSTAS PARA UMA NOVA ABOR<strong>DA</strong>GEM da<br />
CORDE (Coordena<strong>do</strong>ria Nacional para a Integração da Pessoa Porta<strong>do</strong>ra de Deficiência),<br />
que contempla sugestões de como as instituições, as pessoas e a sociedade em geral devem<br />
se referir e tratar com a questão das deficiências. Esse <strong>do</strong>cumento pontua<br />
fundamentalmente a importância da percepção da potencialidade que há na situação da<br />
deficiência (ver anexo1, esse <strong>do</strong>cumento).
97<br />
Tornou-se habitual perceber, em análises sobre as dificuldades naturais da vida, uma<br />
tendência em ressaltar o la<strong>do</strong> negativo <strong>do</strong> déficit. É um entendimento que centra no sujeito<br />
a patologia e não discute as relações em que o mesmo está inseri<strong>do</strong>. É necessário que as<br />
análises acerca das deficiências possam perceber o contexto e o fato <strong>do</strong> ser humano se<br />
constituir enquanto ser de relações sociais. Nos meandros dessas relações sociais os sujeitos<br />
se constituem, se moldam e se transformam. O fato de a existência humana estar imbricada<br />
na trama de tantas vidas indica que a análise acerca das problemáticas individuais não pode<br />
acontecer dissociada a este movimento rico <strong>do</strong> real e da vida, em sua multiplicidade e em<br />
sua singularidade.<br />
Na situação <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência, há uma série de discriminações que os<br />
colocam na já referida condição de "menoridade" diante <strong>do</strong> padrão de exigência social de<br />
uma "normalidade" irreal e massificada. Situação análoga ocorre com as pessoas que se<br />
encontram na “maioridade”, ou em idades avançadas. Os i<strong>do</strong>sos são outro exemplo de<br />
exclusão, em que a situação não é diferente, no que diz respeito às discriminações.<br />
Nas sociedades ocidentais, o i<strong>do</strong>so não é considera<strong>do</strong> em seu acúmulo de vivências e<br />
conhecimentos, não é respeita<strong>do</strong> em seu desenvolvimento maduro. Cultuam-se ideologias<br />
que ratificam a beleza <strong>do</strong> corpo, a juventude, a perfeição <strong>do</strong>s movimentos físicos, a super<br />
produtividade <strong>do</strong> indivíduo, o conhecimento imediato, o descartável, a lei <strong>do</strong> "mais forte",<br />
"mais esperto", "mais veloz", "mais belo" e da "mais-valia".<br />
A perspectiva simbólica de "menoridade" que é atribuída aos porta<strong>do</strong>res de deficiência<br />
atravessa e permeia o entendimento <strong>do</strong> significa<strong>do</strong> histórico da<strong>do</strong> à educação especial.<br />
Quan<strong>do</strong> se fala em educação especial, a exemplo <strong>do</strong> que já foi coloca<strong>do</strong> sobre os termos<br />
utiliza<strong>do</strong>s e os nomes destina<strong>do</strong>s às escolas especiais, o que se destaca é uma "educação"<br />
menor, inferior à educação "normal". O traço de "educação menor" se apresenta na<br />
característica de um sistema de ensino que tem sua tônica mais na assistência <strong>do</strong> que na<br />
escolarização.
98<br />
Onde há toda uma preocupação em assistir a criança muito mais <strong>do</strong> que em investir nas<br />
condições para que ela possa aprender o que deve ser aprendi<strong>do</strong> em uma escola. A<br />
educação especial tem um caráter de "apêndice indesejável" ou obra de pessoas<br />
"abnegadas" que assistem aos "deficientes". O que acontece nessa área é que muitas ações<br />
são realizadas de acor<strong>do</strong> com a "boa vontade" e não em um planejamento político que<br />
projete a inclusão das características peculiares <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência no ensino. A<br />
entrevista abaixo demonstra o aspecto pouco valoriza<strong>do</strong> da<strong>do</strong> a educação:<br />
"Quan<strong>do</strong> a gente vai para o interior <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> o que se percebe é que há<br />
política pública para o asfalto, para a construção de canteiros de flores,<br />
para as 'coisas da cidade", mas para as pessoas não há políticas públicas.<br />
O ministério público responde por inúmeros processos e multas por lesar<br />
o patrimônio priva<strong>do</strong> daqueles que o tem. Entretanto, quan<strong>do</strong> se trata de<br />
adequar recursos na escola para crianças porta<strong>do</strong>ras de deficiência se<br />
pensa em fazer rifas, gincanas para arrecadar fun<strong>do</strong>s. Infelizmente essa é<br />
a realidade de muitos municípios” (Entrevista realizada em jan.2002).<br />
As escolas por muito tempo tiveram práticas excludentes com ênfase no déficit, não nas<br />
possibilidades e no dinamismo próprio da condição de ser humano. Pensar em uma escola<br />
inclusiva significa considerar a convivência plena entre as diferenças, sem me<strong>do</strong> de incluir<br />
a diversidade e as formas alternativas de aprendizagem. Significa considerar que além <strong>do</strong>s<br />
méto<strong>do</strong>s tradicionalmente conheci<strong>do</strong>s para o ensino outros méto<strong>do</strong>s podem ser usa<strong>do</strong>s,<br />
méto<strong>do</strong>s que correspondam às peculiaridades de sujeitos que não são iguais aos outros. É<br />
importante entender aqui, que não ser igual não significa ser incapaz de aprender.<br />
É muito recente (em países em desenvolvimento) o movimento pela inclusão, data da<br />
década de 90 (século XX), onde começou a ter maior força. Na década de 80 já havia um<br />
movimento incipiente em países desenvolvi<strong>do</strong>s e há uma projeção para os primeiros 10<br />
anos <strong>do</strong> século XXI, o seu desenvolvimento em to<strong>do</strong>s os países (SASSAKI, 1997, p.17). O<br />
<strong>do</strong>cumento da ONU, em relação às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, declara que "... a<br />
incapacidade existe em função da relação entre as pessoas deficientes e o seu<br />
ambiente..."(1992, p. 6). Isso demonstra que, de forma internacional, já se faz presente nos<br />
debates, a questão das interdições contextuais, como um fator importante a ser considera<strong>do</strong><br />
na organização das cidades. As barreiras físicas, culturais, sociais, devem ser pensadas
99<br />
como impedimentos, e, portanto eliminadas em um processo que possibilidade aos sujeitos<br />
uma maior acessibilidade à vida em sociedade.<br />
No plano Nacional de Educação, em ocasião <strong>do</strong> Segun<strong>do</strong> Congresso de Educação<br />
(1997), no qual o mesmo foi consolida<strong>do</strong>, o diagnóstico realiza<strong>do</strong> acerca das condições da<br />
educação especial, pontua que: "a educação especial sempre foi tratada como apêndice da<br />
educação regular, com caráter assistencialista, discriminatório e excludente e continua<br />
com tal conotação na Lei de Diretrizes e Bases (LDB)" (BRIZOLA, 2000, p. 38). A<br />
educação especial é tema da LDB em 1961, uma lei que é proscrita para educa<strong>do</strong>res da<br />
época e já vinha sen<strong>do</strong> gestada desde 1946. É uma lei que coloca a educação especial em<br />
contraste com a educação comum, geral, "normal" (ver no anexo 2, o parecer 658/77). A<br />
crítica que se faz à educação especial é o fato dela ter se torna<strong>do</strong> um subsistema à parte,<br />
uma "superestrutura" que segrega o processo educativo em geral, crian<strong>do</strong> uma cisão entre o<br />
ensino comum e o ensino especial.<br />
O que era para ser uma meto<strong>do</strong>logia de ensino ou para ser trata<strong>do</strong> como construção de<br />
técnicas, abordagens específicas e peculiares às condições <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência, se<br />
torna um sistema de ensino. Um sistema que cria uma "duplicidade de educações". Nesse<br />
caso objetivos e finalidades <strong>do</strong> ensino se fazem de acor<strong>do</strong> com as características <strong>do</strong> usuário<br />
da educação e não em função <strong>do</strong> fim educacional que é educar.<br />
Em 1994 a Declaração de Salamanca (EUA), (ver anexo 3) preconiza pela "educação<br />
para to<strong>do</strong>s", uma escola de boa qualidade para to<strong>do</strong>s, uma escola inclusiva. O objetivo<br />
dessa Declaração é a inclusão de grupos tradicionalmente excluí<strong>do</strong>s da escola "comum". Há<br />
a idéia de deslocar <strong>do</strong> eixo da educação especial a atenção aos porta<strong>do</strong>res de deficiência e<br />
colocar no âmbito da educação comum. Uma educação em nova perspectiva, que esteja<br />
qualificada para abarcar os diferentes grupos (meninos de ruas, mulheres, vítimas de<br />
guerras, porta<strong>do</strong>res de deficiências, altas habilidades, etc.). A segregação <strong>do</strong>s alunos com<br />
dificuldades de aprendizagem passa a ser questionada e se desenvolvem conceitos que<br />
remetem à escola a responsabilidade de ser "exitosa para to<strong>do</strong>s". É firma<strong>do</strong> um debate em
100<br />
torno da necessária superação das atitudes discriminatórias e excludentes para com aqueles<br />
alunos que sempre foram rotula<strong>do</strong>s como "problemáticos".<br />
Na proposta da escola inclusiva se abrem espaços para a aceitação e o reconhecimento<br />
das diferenças. Os alunos porta<strong>do</strong>res de deficiência passam a estudar junto com os não<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência. Segun<strong>do</strong> BRIZOLA (2000, p.56), apesar das superações<br />
conceituais e reflexivas deste debate, que já vem desde a década de 70 e culmina na<br />
Declaração de Salamanca, os avanços concretos são lentos e graduais, mesmo nos dias de<br />
hoje.<br />
Um outro problema aponta<strong>do</strong> pela autora é o fato de que esse Documento, apesar <strong>do</strong>s<br />
avanços, não traz uma declaração incisiva e radical para que as escolas especiais deixem de<br />
existir. O que faz é destacar a preocupação com a proliferação das escolas especiais, como<br />
espaço segrega<strong>do</strong>r. Essa autora faz uma significativa reflexão acerca <strong>do</strong> processo histórico<br />
de exclusão escolar e da ineficácia <strong>do</strong> ensino especial. Demonstran<strong>do</strong>, a mesma, as<br />
dificuldades atuais de se incluir na escola.<br />
A tendência à educação inclusiva é um debate internacional e da mesma forma as<br />
medidas para sua implementação. Diversos países <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> têm feito esse debate em torno<br />
da necessidade de uma "escola para to<strong>do</strong>s", sem discriminações e que pudesse colocar fim<br />
aos estigmas e a segregação. No Brasil, a constituição de 1988 e a Política Nacional de<br />
Educação Especial de 1994 oficializaram as pretensões de "integração escolar e social das<br />
pessoas com deficiências". O Ministério de Educação e Cultura (MEC), órgão <strong>do</strong> governo<br />
Federal Brasileiro, em 1995 lançou um <strong>do</strong>cumento que dispõe sobre o "Processo de<br />
Integração Escolar <strong>do</strong>s Alunos Porta<strong>do</strong>res de Necessidades Especiais no Sistema de Ensino<br />
Brasileiro".<br />
O mesmo anuncia o esforço de implementar medidas para que as pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência (temporária ou permanente) tenham o direito à educação. Entretanto, esse<br />
cabedal legal não tem si<strong>do</strong> capaz de gerar mudanças mais concretas (BRIZOLA, 2000,<br />
p.57). Atualmente, no que diz respeito à experiência porto-alegrense, ainda é complexa a
101<br />
inclusão de crianças com qualquer diferença e dificuldade na escola dita regular. A<br />
exemplo disso, o depoimento abaixo:<br />
"Eu sou porta<strong>do</strong>ra de deficiência física desde que nasci, meu mari<strong>do</strong><br />
também é, hoje em dia temos muitas facilidades de inclusão na sociedade,<br />
conseguimos trabalho, nos locomovemos com certa facilidade nos lugares<br />
onde já costumamos ir. Porém, para nosso filho com síndrome de Down a<br />
dificuldade para incluí-lo na escola é imensa. Isso que eu sou professora,<br />
conheço a lei e brigo muito para mantê-lo no ensino. O lugar mais difícil<br />
de incluir é na escola, na minha experiência familiar, onde somos três<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência" (Entrevista realizada em set. de 2001).<br />
No cotidiano de instituições que trabalham com porta<strong>do</strong>res de deficiência se apresenta<br />
constantemente a expressão dessa dificuldade de inclusão escolar. Para aqueles que<br />
conseguiram entrar na escola é por vezes difícil permanecer na mesma. Um outro aspecto<br />
considerável a realizar no que tange a questão da inclusão escolar se expressa na<br />
dificuldade de se trabalhar com a inclusão de forma qualificada e não como depósito de<br />
alunos nas salas de aula, sem o devi<strong>do</strong> preparo <strong>do</strong>s professores, sem equipamentos<br />
especializa<strong>do</strong>s e sem estar de acor<strong>do</strong> com as necessárias demandas de cada aluno.<br />
Os governos precisam investir na educação de recursos e não utilizar a “inclusão” como<br />
pretexto para reduzir custos orçamentários na área da educação especial. “Incluir a<br />
educação das crianças especiais dentro da discussão educativa global não significa, então,<br />
incluí-las fisicamente nas escolas comuns, mas hierarquizar os objetivos filosóficos,<br />
ideológicos e pedagógicos da Educação Especial” (SKLIAR, 1999, p.15).<br />
Uma grande e importante polêmica que vem a tona em diversos debates entre<br />
profissionais da área da educação e das demais áreas que se envolvem na questão, remete a<br />
preocupação de que a “inclusão” possa ser igual a um modelo inconseqüente, sem o<br />
preparo que as áreas especializadas sempre tiveram com a educação especial. A segregação<br />
nas práticas institucionais e especialmente nas escolas é secular, portanto será uma tarefa<br />
nada simples de executar, haja vista o despreparo das mesmas diante desta necessidade de<br />
mudança, porém: “... nenhum destes argumentos pode realmente justificar a segregação<br />
<strong>do</strong>s alunos com deficiência ou de qualquer outro aluno da escola regular e da vida<br />
comunitária” (STAINBACK, 1999, p. 433).
102<br />
Portanto a escola, as instituições em geral, os professores, os profissionais das diversas<br />
áreas, os pais, os familiares, os diversos setores da sociedade, deverão aprender a se<br />
comunicarem com as diferenças. Isso significa em última análise aprender a se comunicar<br />
com a sua própria condição de pessoa, ou seja, com a característica da diversidade que é<br />
peculiar à espécie humana. A mudança que deverá ocorrer é cultural, no que diz respeito ao<br />
olhar para as diferenças. Uma nova visão e uma nova prática que desenvolvam novos<br />
processos sociais, nos quais pertencer a seu próprio grupo humano não seja mais uma<br />
questão para o debate e sim uma prática comum à vivência humana.<br />
"É certo que as diferenças e a pluralidade da vida não têm encontra<strong>do</strong><br />
lugar na escola: é como se as crianças, jovens e adultos, ao desfrutarem<br />
das atividades escolares, tivessem de se despir de suas singularidades,<br />
peculiaridades e, mesmo suas semelhanças para compor um to<strong>do</strong><br />
homogêneo, estável, previsível e quiçá, imutável" (BRIZOLA, 2000<br />
p.123).<br />
Não se aprende desde criança a valorizar a vida em sua plenitude natural e singular.<br />
Aprende-se a a<strong>do</strong>rar o belo, e o belo é o imediato produtivo <strong>do</strong> momento atual. É uma<br />
questão sociocultural não saber valorizar as conquistas pessoais que serão sempre<br />
particularizadas e diferenciadas. O que se aprende é cultuar um padrão de exigência de uma<br />
super "competência" para acompanhar o rítimo de uma sociedade que não pára de se<br />
desenvolver, <strong>do</strong> ponto de vista da tecnologia e seu aprimoramento. Entretanto, <strong>do</strong> ponto de<br />
vista da humanicidade das relações sociais há muito que se aprender e avançar quanto aos<br />
conceitos e práticas sociais, referentes à questão das diferenças.<br />
Segun<strong>do</strong> SASSAKI o "modelo médico" (1997, p. 28-35), responde adequadamente a<br />
uma visão que tem como parâmetro, um padrão de normalidade. Nesse modelo é como se<br />
houvesse um organismo absolutamente perfeito, em que to<strong>do</strong> e qualquer problema que<br />
venha ocorrer junto ao mesmo, seja uma disfunção, uma desorganização patológica. É<br />
evidente que os avanços da medicina, das ciências em geral, da tecnologia trazem<br />
conseqüências muito positivas para nossa sociedade, desenvolvem e aprimoram os tempos<br />
vivi<strong>do</strong>s pelos sujeitos, inclusive deixan<strong>do</strong> a vida mais fácil de ser vivida e agradável. O que
103<br />
acontece, de igual forma, é que a visão <strong>do</strong> organismo perfeito, uma vez transposto para o<br />
entendimento social desconsidera as relações.<br />
Quan<strong>do</strong> o indivíduo é percebi<strong>do</strong> isoladamente em sua "<strong>do</strong>ença", consequentemente é<br />
responsabiliza<strong>do</strong> pela “sua disfunção”. Dessa forma não se apreende as contradições<br />
inerentes aos processos sociais que interditam as possibilidades <strong>do</strong>s sujeitos terem acesso à<br />
qualidade de vida. Qualidade de vida é uma questão crucial para uma existência melhor<br />
vivida e isto deve significar possibilidades de inclusão, de pertencimento, de trabalho como<br />
atividade prazerosa, cria<strong>do</strong>ra, onde o sujeito se expressa, se mostra, se encontra. Em<br />
qualquer faixa-etária o lazer, o descanso, as atividades agradáveis, a "lu<strong>do</strong>terapia" são<br />
importantes, são formas de qualificar o mo<strong>do</strong> de vida, de enfrentar as adversidades que se<br />
colocam em to<strong>do</strong>s os caminhos a fim de que o sujeito possa se sentir pertencente a seu meio<br />
e incluí<strong>do</strong>. Para isso a sociedade deve se adaptar às diferenças deve se tornar acessível às<br />
singularidades.<br />
A questão da qualidade de vida não é algo isola<strong>do</strong> <strong>do</strong> contexto social e estrutural da<br />
sociedade, muito antes pelo contrário, quanto melhor desenvolvi<strong>do</strong> for um país, um<br />
continente, <strong>do</strong> ponto de vista <strong>do</strong> desenvolvimento econômico, mais tenderá a oferecer<br />
condições para uma vida digna a to<strong>do</strong>s os seus compatriotas. Sociedades exploradas,<br />
subdesenvolvidas, pobres de "pão" e de cultura não oferecem condições ao<br />
desenvolvimento em geral das pessoas. A compreensão sobre os limites impostos pela<br />
estrutura social é fundamental para entender os problemas de cada sujeito social, que nela<br />
se inserem.<br />
É preciso que se desenvolvam projetos de qualidade de vida com conhecimentos acerca<br />
<strong>do</strong>s problemas que envolvem as pessoas em suas particularidades, mas para, além disso,<br />
que haja clareza da importância das lutas sociais. Só uma estrutura social que permita<br />
"Equiparação de Oportunidades", "Autonomia" e "Independência" para seus sujeitos poderá<br />
garantir qualidade de vida. A relação entre a estrutura da sociedade e a vida particular de<br />
cada um se consolida de forma absolutamente imbricada. E, será significativo, pontuar o<br />
campo social o caracteriza<strong>do</strong>, conforme a orientação de CORNELY, de maneira a encontrar
104<br />
no mesmo um senti<strong>do</strong> humano: "Que, por social, é finalista, pois deve inscrever-se nos<br />
esforços para a construção de uma sociedade mais humana, mais equânime, mais justa e<br />
mais solidária" (1998 p.48).<br />
Necessário, se faz, compreender as engrenagens <strong>do</strong> sistema social para encontrar as<br />
estratégias importantes e ações que articuladas aos movimentos coletivos possam enfrentar<br />
e superar as barreiras postas no social para que a vida se torne possível para to<strong>do</strong>s..<br />
Especialmente buscar a necessária superação da imposição da vida social em detrimento <strong>do</strong><br />
sujeito deste social, que reduz suas possibilidades. Na perspectiva da "inclusão social", a<br />
sociedade é pensada sob uma outra ótica que não aquela que a percebe de forma perfeita e<br />
adequada ao desenvolvimento humano. Nessa se percebem as limitações contextuais no<br />
teci<strong>do</strong> social e as dificuldades que existem para além de cada sujeito, o modelo, o padrão<br />
social é o que dificulta o indivíduo de se manifestar plenamente. Em uma análise de<br />
contraversão <strong>do</strong> entendimento clínico, se percebe as patologias no contexto e não<br />
exclusivamente no indivíduo. SASSAKI diz o seguinte, quanto ao assunto:<br />
"A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a<br />
construção de um novo tipo de sociedade através de transformações,<br />
pequenas e grandes, nos ambientes físicos (espaços internos e externos,<br />
equipamentos, aparelhos e utensílios, mobiliário e meios de transporte) e<br />
na mentalidade de todas as pessoas..." (1997, p.42).<br />
Quan<strong>do</strong> se analisa por demais um la<strong>do</strong> <strong>do</strong>s fatos se tende a não conseguir perceber os<br />
outros. No caso das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, poderá ser um fato que algumas<br />
funções e habilidades referentes ao desenvolvimento <strong>do</strong> indivíduo vão se tornan<strong>do</strong><br />
diferenciadas <strong>do</strong> movimento <strong>do</strong>s demais na mesma faixa-etária, e deficitários, <strong>do</strong> ponto de<br />
vista clínico. O fundamental, porém, é buscar encontrar possibilidades contextuais para a<br />
continuidade <strong>do</strong> desenvolvimento da vida, nas etapas em que ela se encontra. Ou seja, é<br />
preciso desenvolver as contingências estruturais da vida humana de forma favorável à vida,<br />
no seu significa<strong>do</strong> pleno.<br />
Uma transformação nas formas de pensar a sociedade, de perceber as potencialidades<br />
humanas será fundamental para revolucionar o mo<strong>do</strong> de vida nesta sociedade. Trabalhar
105<br />
com processos de conscientização, de clarificação de novos significa<strong>do</strong>s para a relação<br />
sujeito-sociedade, onde se possam contemplar explicações e ações que conduzam ao<br />
reconhecimento das diferenças e à inclusão <strong>do</strong>s sujeitos em seu próprio contexto. Ao<br />
considerar o sujeito social como um ser de relações, se faz necessário buscar as conexões<br />
entre as pessoas e o lugar onde elas se expressam, onde elas construíram sua história e se<br />
constituíram enquanto pessoa.<br />
A complexidade da vida humana é uma marca da civilização deste milênio, que por mais<br />
que seja novo conserva sua característica mais antiga: o fato de possuir um emaranhamento<br />
entre seus sujeitos. As pessoas na vida comum das sociedades resolvem suas questões<br />
pessoais ten<strong>do</strong> que passar por inúmeras mediações que são inerentes a seu meio. Para se<br />
resolver "problemas pessoais" é necessário buscar soluções que sejam, também, <strong>do</strong><br />
conjunto, ten<strong>do</strong> em vista o emaranha<strong>do</strong> da díade pessoa-contexto. Todas as ciências já<br />
fizeram esta descoberta, entretanto, para uma transformação da cultura que privilegia a<br />
visão <strong>do</strong> sujeito patológico, em uma cultura que privilegie os processos sociais, ainda se<br />
tem um longo caminho pela frente.<br />
Quan<strong>do</strong> se estuda a patologia fisiológica, em primeira vista, se tem a impressão de um<br />
sujeito patológico em sua totalidade. Na contraposição a esta visão se pode ter a perspectiva<br />
que situa a patologia no processo da sociedade. Por mais que se possa admitir o fato <strong>do</strong><br />
corpo humano ter seu processo individual, por vezes apresentan<strong>do</strong> determina<strong>do</strong>s déficits,<br />
limitações que o atingem de forma pessoal, não há como negar a influência extrapessoal. A<br />
fundamental significância <strong>do</strong> contexto é ratificada na perspectiva da "inclusão social", que<br />
pretende abarcar o sujeito em seu contexto, privilegian<strong>do</strong> a aceitação das diferenças, ou<br />
seja, das diversidades que são inerentes a cada ser humano.<br />
A diversidade da vida humana é uma expressão forte de que as diferenças são inerentes<br />
à condição humana. A vida em sociedade cria padrões e uma exigibilidade em cumpri-los.<br />
Padrões esses que nem sempre correspondem ao ser humano comum, parecem pensa<strong>do</strong>s<br />
para um super humano, super ativo, super produtivo e "normal", em "funcionalidade<br />
perfeita". Problematizan<strong>do</strong> o padrão social e consideran<strong>do</strong> a incapacidade das estruturas
106<br />
sociais para atender as necessidades daqueles que são diferentes <strong>do</strong> "normal instituí<strong>do</strong>" pelo<br />
social, se vai amplian<strong>do</strong> a compreensão acerca da diversidade da condição humana.<br />
2.3 A DIFERENÇA ENTRE OS SUJEITOS DESSA SOCIE<strong>DA</strong>DE<br />
A sociedade capitalista tem seus padrões estabeleci<strong>do</strong>s de funcionalidade, dentre esses<br />
se destacam a eficiência, a produtividade, a lucratividade, a estética padronizada em um<br />
modelo de beleza pré-fixada pela imagem de grandes artistas de cinema. Os chama<strong>do</strong>s<br />
“deficientes”, os que têm estatura baixa, os que possuem peso acima da média, os que têm<br />
a cor da pele escura, os que já viveram muitos anos, os que estão <strong>do</strong>ente, os que não<br />
possuem recursos econômicos para o consumo e, outros tantos estão fora <strong>do</strong> “enquadre<br />
social”, daquilo que é deseja<strong>do</strong> idealmente, para a vida cotidiana, nesse modelo de<br />
sociedade.<br />
A vida, entretanto, se apresenta em suas inumeráveis facetas e, nessas não é possível um<br />
“enquadre social”, sem perder muito daquilo que constitui essencialmente os indivíduos<br />
enquanto seres humanos singularmente diferencia<strong>do</strong>s uns <strong>do</strong>s outros. Se for possível<br />
padronizar objetos, reproduzí-los por meio de uma máquina, com a espécie humana<br />
pensante o mesmo não acontece, pelo menos até o presente momento na<br />
contemporaneidade.<br />
Historicamente, as diferenças não são consideradas na constituição social. Em<br />
conseqüência, as pessoas porta<strong>do</strong>ras de “diferenças restritivas” são estigmatizadas. O fato<br />
de o sujeito ser porta<strong>do</strong>r de uma deficiência não significa que a sua totalidade enquanto ser<br />
seja deficiente. Embora isto pareça óbvio, infelizmente, na prática não é assim, porque na<br />
maioria das vezes, o entendimento da deficiência centra no indivíduo como um to<strong>do</strong> a<br />
responsabilidade pela inadequação. É como se a identidade pessoal fosse deficiente. Há<br />
uma naturalização da questão e assim não se considera o fator relacional da inadequação,
107<br />
onde o que de fato acontece é uma “interdição das possibilidades <strong>do</strong> processo de<br />
singularização” (LIPPO, 1997, p. 148).<br />
O autor referi<strong>do</strong> acima trabalha com o conceito de “interdição”, situan<strong>do</strong> no contexto,<br />
as dificuldades da pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência. O contexto não é adequa<strong>do</strong> para<br />
satisfazer as necessidades de cada diferença, para comportar as diferenças, pois este é feito<br />
de forma padronizada. Esse autor considera importante substituir a palavra deficiência, por<br />
interdição, para deslocar <strong>do</strong> sujeito a perspectiva da patologia. Cada pessoa, em<br />
determinadas circunstâncias, fica limitada em desenvolver seu processo de singularização,<br />
em função da interdição posta pelos impedimentos <strong>do</strong> meio social, que é assim visto em<br />
sua responsabilidade, pelo fenômeno da inadequação.<br />
O “Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência” reconhece a<br />
responsabilidade da estrutura social na questão das diferenças e sinaliza a importância de<br />
um outro padrão de vida social, para evitar os acontecimentos que causam as deficiências.<br />
Os requisitos aponta<strong>do</strong>s, como significativos, para alcançar os objetivos <strong>do</strong> programa são:<br />
“... o desenvolvimento econômico e social, a redistribuição da renda e <strong>do</strong>s recursos<br />
econômicos e a melhoria <strong>do</strong>s níveis de vida da população” (Doc. Internacionais ONU,<br />
1992, p.5).<br />
Um outro aspecto importante de ser menciona<strong>do</strong> no que diz respeito às<br />
responsabilidades sociais se refere às medidas na área da prevenção. Sabe-se que muitas<br />
deficiências poderiam ser evitadas se existissem medidas contra a desnutrição, a<br />
contaminação ambiental, a insuficiência de assistência pré e pós-natal, as moléstias<br />
transmissíveis pela água, deficiências causadas pela poliomielite, sarampo, tétano,<br />
coqueluche e, pelos diversos tipos de acidentes. Fatores <strong>do</strong> contexto social ocasionam<br />
determinadas deficiências. Seria imprescindível, portanto, que a fome, a miséria, as<br />
guerras, as catástrofes, fossem evitadas, assim como deveriam ser evita<strong>do</strong>s os modelos de<br />
sociedade que causam a exclusão e a pobreza para imensa maioria das pessoas.
108<br />
Num modelo social que propicia a pobreza e a exclusão, se constata um “..múltiplo<br />
gradiente causal liga<strong>do</strong> a configurações sócio-geográfico-político-econômicas: más<br />
condições de atendimento médico, lastimáveis condições de alimentação, precárias<br />
condições de saneamento básico, estarrece<strong>do</strong>ras condições de segurança <strong>do</strong> trabalho..”<br />
(AMARAL,1994, p.13). Este entendimento remete à responsabilidade das políticas<br />
públicas, da estrutura social em reordenar tais configurações, imprimin<strong>do</strong> um novo modelo<br />
de estrutura à sociedade.<br />
Os governantes não podem mais se manter indiferentes a essa realidade e precisam<br />
assumir o compromisso de um planejamento humaniza<strong>do</strong> que inclua as diferenças e<br />
considere a realidade <strong>do</strong>s seres humanos. O movimento organiza<strong>do</strong> das pessoas porta<strong>do</strong>ras<br />
de deficiência tem um significativo papel na transformação <strong>do</strong> que está posto. Já conseguiu<br />
muitos avanços e sua luta deverá engrossar a fileira da resistência contra a exclusão. A<br />
sociedade civil em geral, também, tem o importante papel de aprender a lidar com as<br />
diferenças e validar a heterogeneidade e a pluralidade da existência humana.<br />
2.4 RELAÇÕES SOCIAIS E A MARCA <strong>DA</strong> IGUAL<strong>DA</strong>DE<br />
O entendimento de cada fato na sociedade, na perspectiva das relações sociais, não<br />
significa jogar ao campo social toda a responsabilidade das problemáticas humanas. Não é<br />
uma absolutização <strong>do</strong> social, enquanto produtor de todas as dificuldades individuais. Em<br />
uma perspectiva relacional o que se tem é o entendimento <strong>do</strong> dinamismo processual entre o<br />
sujeito e seu contexto. As relações se fazem entre as pessoas e, portanto podem ser refeitas,<br />
transformadas. Cada individualidade se desenvolve em determinadas condições sociais e<br />
estruturais, condições que são consideradas nessa análise relacional. O indivíduo é um,<br />
porém, não o único no espaço e as teias relacionais que se consolidam em torno de cada um<br />
é o que vai dan<strong>do</strong> senti<strong>do</strong> às construções e vivências humanas.
109<br />
Toman<strong>do</strong> algumas palavras emprestadas de VELHO, a estrutura social não é uma<br />
“entidade oposta, distinta a indivíduos biológicos e psicológicos” (1985 p.16). O que<br />
acontece é uma intensa inter-relação entre o sujeito e seu contexto e não uma dicotomia<br />
entre indivíduo e sociedade. Não é o caso de depositar na sociedade to<strong>do</strong>s os enre<strong>do</strong>s<br />
humanos, por que a mesma, se for vista de forma abstrata, é o to<strong>do</strong> ou nada, onde não há<br />
sujeito. O que dá movimento à estrutura social é justamente as construções materiais,<br />
históricas, culturais e simbólicas que vão sen<strong>do</strong> tecidas por cada indivíduo, cada grupo<br />
humano, cada comunidade singular e por to<strong>do</strong> o emaranha<strong>do</strong> relacional que permeia os<br />
contextos onde se desenvolvem as pessoas em seu tempo histórico. A realidade pessoal <strong>do</strong><br />
indivíduo não se dissocia de sua realidade sociocultural, histórica e da organização de sua<br />
vida material.<br />
Todavia, cada indivíduo é responsável pela sua potencialidade, é capaz de fazer as<br />
rupturas necessárias com àquilo que é da<strong>do</strong> historicamente, especialmente se tais condições<br />
são adversas a sua condição. Não se desconsidera, na análise relacional <strong>do</strong>s fatos que<br />
existem limitações e dificuldades que são singulares e referentes ao indivíduo. “O ser de<br />
um sujeito é incompreensível fora da dialética de suas relações e de seu meio,<br />
historicamente situa<strong>do</strong>s e diversifica<strong>do</strong>s” (TOMASINI, 1998, p.115). Quan<strong>do</strong> se pensa na<br />
deficiência como <strong>do</strong>ença ou disfunção se desconsidera o processo social que se<br />
desenvolvem na sociedade e a própria potencialidade <strong>do</strong>s sujeitos em desenvolver sua<br />
expressão de criatividade.<br />
“Na realidade, embora os homens se encontram enreda<strong>do</strong>s em<br />
múltiplos condicionamentos, existem possibilidades e espaços, ainda que<br />
limita<strong>do</strong>s, para sua ação transforma<strong>do</strong>ra. E a história tem testemunha<strong>do</strong><br />
esse contínuo movimento <strong>do</strong>s homens, tentan<strong>do</strong> superar as circunstâncias<br />
adversas e melhorar as suas condições de existência, através de sua<br />
práxis humano-social” (BULLA, 1992, p.20).<br />
Os estereótipos, os estigmas e os inúmeros preconceitos cria<strong>do</strong>s na dinâmica das<br />
relações sociais poderiam ser representa<strong>do</strong>s na figura de um “biombo” que separa a<br />
“normalidade” da “não normalidade”. Ser desviante significa ter recebi<strong>do</strong> um rótulo,<br />
significa estar sen<strong>do</strong> coloca<strong>do</strong> em um lugar defini<strong>do</strong> como o da “anormalidade”. Isto é uma
110<br />
criação sociocultural, que produz conceitos que dividem os seres humanos, é a marca da<br />
igualidade, to<strong>do</strong>s “devem ser iguais”. Segun<strong>do</strong> VELHO, o “desvio” é cria<strong>do</strong> pelo social,<br />
quan<strong>do</strong> este assim o nomeia de “desviante”. Se o “desvio” é nomea<strong>do</strong> e institucionaliza<strong>do</strong>,<br />
passa ter um senti<strong>do</strong> sociológico (1985 p. 61).<br />
Para VELHO, a gênese fisiológica das deficiências é menos significativas <strong>do</strong> que as<br />
atitudes que se aprende ter diante das mesmas (1985 p. 60). Quanto mais rígi<strong>do</strong>s forem os<br />
padrões de normalidade mais excludentes serão os processos sociais que envolvem a<br />
questão das deficiências. Os conceitos e preconceitos que uma cultura cria vão moldan<strong>do</strong> os<br />
comportamentos e definin<strong>do</strong> as formas relacionais que serão mais ou menos<br />
humaniza<strong>do</strong>ras. Na perspectiva da normalidade to<strong>do</strong>s devem balizar seus comportamentos<br />
segun<strong>do</strong> um padrão comportamental simbolicamente consolida<strong>do</strong> nas relações sociais.<br />
Nas séries iniciais começa para todas as pessoas, que nela tiveram a oportunidade de<br />
ingressar, uma jornada de capacitação ao “mun<strong>do</strong>” da normalidade. Se for norma que as<br />
crianças devem alfabetizar-se aos 7 (sete) anos, aquelas que nesta idade apresentam<br />
resistências a enquadrarem-se, nesse tempo cronológico à aprendizagem correspondente,<br />
suspeitar-se-á, da impossibilidade da criança.<br />
Uma dificuldade específica não precisaria ser transposta para o to<strong>do</strong> <strong>do</strong> ser. Há aqui uma<br />
análise unilateral e totalizante ao mesmo tempo. Se a criança que entrou na escola para<br />
aprender a ler e a escrever, "não aprendeu”, se considera que o problema é dela. Se esta<br />
mesma criança tiver outras potencialidades nem terá oportunidade de demonstrar, de<br />
expressar, pois o rótulo que recebe de “não educável” estará permean<strong>do</strong> to<strong>do</strong> o seu ser. A<br />
subjetividade da pessoa é desconsiderada, quan<strong>do</strong> ela é percebida como alguém que “se<br />
desvia”, por não se enquadrar.<br />
“Uma vez definidas como desviantes, a tendência será sempre procurar nas crianças os<br />
sinais e sintomas <strong>do</strong> seu desvio; quaisquer manifestações de sua parte servirão de prova de<br />
sua “excepcionalidade” (VELHO, 1985, p.73). A oposição entre a “normalidade” e a<br />
“excepcionalidade” demonstra uma forma relacional de desigualdade de condições.
111<br />
Aqueles que ficam <strong>do</strong> la<strong>do</strong> oposto da "normalidade" são penaliza<strong>do</strong>s, com a limitação <strong>do</strong>s<br />
méto<strong>do</strong>s de ensino, que não são adequa<strong>do</strong>s à singularidade diversas e não oferecem as<br />
mesmas oportunidades para o aprender.<br />
Existe uma enormidade de casos e pesquisas 7 que comprovam que muitas crianças, após<br />
diagnóstico de algum tipo de déficit, são consideradas pela escola, “potencialmente”<br />
incapazes de se alfabetizarem. Essas são tratadas de mo<strong>do</strong> diferencia<strong>do</strong>, não recebem<br />
estímulo para acompanhar essa aprendizagem. Em condições, como essas, é nega<strong>do</strong> o<br />
direito de aprender, de se desenvolver, de se relacionar com o mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s objetos, de<br />
manipular as coisas que estão fora <strong>do</strong> sujeito, mas que na relação com os mesmos, os<br />
constituem.<br />
“Todas as suas relações com o mun<strong>do</strong> - ver, ouvir, cheirar, saborear,<br />
pensar, observar, sentir, desejar, agir, amar -, em suma, to<strong>do</strong>s os órgãos<br />
de sua individualidade, como órgãos que são de forma diretamente<br />
comunal, são, em sua ação objetiva (sua ação com relação ao objeto), a<br />
apropriação desse objeto, a apropriação da realidade humana. A maneira<br />
como eles reagem ao objeto é a confirmação da realidade humana”<br />
(MARX, 1983, p. 120).<br />
O destaque ao pensamento <strong>do</strong> autor acima cita<strong>do</strong> será aqui analisa<strong>do</strong>, no que tange as<br />
relações sujeito-sociedade e sujeito-objeto de comunicação com mun<strong>do</strong>. Primeiramente se<br />
pode entender que os senti<strong>do</strong>s humanos são individuais por fazerem parte de um sujeito<br />
único. Ao mesmo tempo são os senti<strong>do</strong>s também “comunais”, pois ao expressá-los no<br />
mun<strong>do</strong> eles estarão em relação direta com os senti<strong>do</strong>s de outros seres humanos. A<br />
possibilidade de expressar esses senti<strong>do</strong>s, pela manipulação daquilo que é exterior ao<br />
indivíduo, ou seja, <strong>do</strong>s objetos, será justamente aí o ponto no qual reside a consolidação da<br />
“realidade humana”.<br />
7 O Texto de VELHO (1985) apresenta vários exemplos de crianças que sofreram processos de discriminação<br />
e de não investimento em seu potencial cognitivo, por serem porta<strong>do</strong>res de alguma deficiência. O texto de<br />
TOMASINI (1998), de igual forma aponta exemplos, nesse senti<strong>do</strong>. O livro de AMARAL (1994), também<br />
aponta exemplos de crianças que são “diagnosticadas” pelas professoras como incapazes de aprender, sem ao<br />
menos terem ti<strong>do</strong> oportunidade de exercitar sua potencialidade. Na pesquisa de campo, que aqui se apresenta,<br />
no cotidiano profissional se tem feito a escuta de diversos depoimentos nesse senti<strong>do</strong>. Profissionais que<br />
trabalham na área das deficiências têm questiona<strong>do</strong> o sistema de méto<strong>do</strong>s que sempre foram aplica<strong>do</strong>s às<br />
crianças porta<strong>do</strong>ras de deficiência. E, principalmente, a perspectiva que não deposita nenhum crédito no<br />
potencial <strong>do</strong> sujeito.
112<br />
O sujeito cria sua realidade humana na conexão de sua vida pessoal à vida social e na<br />
dinâmica relacional com o mun<strong>do</strong>, ou seja, na vida prática. Negar o direito de se<br />
presentificar no mun<strong>do</strong> é uma forma de desumanizar o ser, de esvaziar seu senti<strong>do</strong> de vida.<br />
Justamente esta negativa é uma realidade muito presente para aquelas pessoas que portam<br />
algum tipo de déficit seja físico, sensorial ou mental. A condenação à segregação de<br />
inúmeras pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência é um arbítrio que desconsidera a própria<br />
condição de ser humano, daqueles que são considera<strong>do</strong>s diferentes: “... que se vê refleti<strong>do</strong><br />
na imagem daqueles que o têm como um ser humano não completo ou não completamente<br />
humano” (TOMASINI, 1998, p. 125).<br />
Não ser considera<strong>do</strong> um ser humano por apresentar diferenças, deficiências, déficits nas<br />
áreas <strong>do</strong> desenvolvimento é a demonstração da dificuldade de compreensão acerca da<br />
própria condição humana, por parte daqueles que são humanos e vivem em sociedade. É<br />
estranho pensar que para o ser humano seja tão difícil reconhecer sua própria condição de<br />
diversidade. A história, entretanto, é testemunha desse fato, que se está procuran<strong>do</strong> debater<br />
e demonstrar nesse trabalho: a imensa intolerância com a diversidade como indicativa de<br />
que a referência da igualidade, possa ser para a humanidade um “porto seguro”.<br />
A perspectiva de que to<strong>do</strong>s devem ser iguais é irreal, pode estar a serviço da garantia de<br />
um real estático que não muda, que não se transforma, que não coloca em questão os<br />
padrões estabeleci<strong>do</strong>s e fixa<strong>do</strong>s no campo social. Não estaria aqui uma possível explicação<br />
para o “terror” que causam as diferenças e deficiências? As pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência constróem formas alternativas de viver e se desenvolver neste mun<strong>do</strong><br />
padroniza<strong>do</strong>, igualiza<strong>do</strong>. Descobrem to<strong>do</strong>s os dias, formas diferenciadas para se inserirem<br />
no cotidiano da sociedade. Não são iguais, não se enquadram nas freqüências de<br />
desempenho exigidas pela cultura da competitividade comum. Entretanto, não deixam de<br />
criar a história de uma outra forma e demonstrar que a vida também é possível fora das<br />
normas criadas, além da cerca que delineia o que é possível, o que é certo, o que é belo, o<br />
que é a vida.
113<br />
As pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência subvertem a ordem, as diversas ordens <strong>do</strong> social.<br />
Nesse senti<strong>do</strong>, se faz necessário reconhecimento <strong>do</strong> potencial de revolucionar o cotidiano<br />
que são <strong>do</strong>ta<strong>do</strong>s os porta<strong>do</strong>res de deficiência. Se existe uma configuração adequada à vida<br />
humana e nessa não há espaço para a inclusão das pessoas com suas singularidades, essas<br />
mesmas pessoas reinventam a vida. O cotidiano de cada individualidade está imerso em<br />
um conjunto de fatores sociais, constituí<strong>do</strong>s no conjunto da sociedade, influencian<strong>do</strong> a<br />
individualidade de cada um.<br />
O campo social está historicamente permea<strong>do</strong> pela estrutura social, cultural econômica<br />
e normativa. As relações se constituem de forma a oferecer condições de vida desiguais e<br />
opressoras entre os sujeitos. Os indivíduos possuem uma relativa autonomia devi<strong>do</strong> à<br />
consolidação normativa que impõe rígidas formas para o viver humano. Aqueles que<br />
vivem de mo<strong>do</strong> diferencia<strong>do</strong> podem estar representan<strong>do</strong> uma ameaça as normatizações e às<br />
disciplinas criadas na ordem das coisas da sociedade pelo fato de serem “diferentes”.<br />
GUARESCHI, quan<strong>do</strong> analisa o que foi nomea<strong>do</strong> por ele de “categoria excluí<strong>do</strong>”, diz o<br />
seguinte:<br />
“Hoje, como ontem, são excluí<strong>do</strong>s da sociedade pelos poderosos <strong>do</strong><br />
tempo os que desafiam, por serem competi<strong>do</strong>res em potencial. Os que<br />
constrangem, com seu comportamento diferente, contesta<strong>do</strong>r,“anormal”,<br />
ou bizarro. Os que ameaçam, por muito terem si<strong>do</strong> feri<strong>do</strong>s, por não<br />
conhecerem horizontes” (1992, p. 3).<br />
Por essas razões acima descritas se encontra nas pessoas com vivências diferenciadas<br />
uma certa “desobediência” das convenções sociais. Sua “inconveniência” pode estar<br />
provin<strong>do</strong> deste desempenho transgressor que influência a história da sociedade e vai<br />
abrin<strong>do</strong> novos espaços para as diversas expressões da vida. A sociedade condiciona a vida<br />
individual, tanto quanto as experiências singularizadas vão transforman<strong>do</strong> a maneira de<br />
viver em sociedade. Nesta dialética da vida o desenrolar das potencialidades e<br />
possibilidades humanas vão apresentan<strong>do</strong> seus diversos matizes, suas tonalidades<br />
múltiplas.<br />
A radicalização dessa dialética levaria a necessária desconstituição das normatizações e<br />
<strong>do</strong> pressuposto da igualização que submete a to<strong>do</strong>s a uma vida padrão. Na perspectiva das
114<br />
relações sociais, se entende que esse pressuposto de igualização impõe um padrão de<br />
desempenho que deve ser igual sem se preocupar em oferecer igualdades de condições.<br />
Nesse senti<strong>do</strong> não se fala em igualdade e sim em igualização. As oportunidades não são as<br />
mesmas para to<strong>do</strong>s, porém a exigibilidade social de desempenho está padronizada.<br />
Quanto a “desobediência”, FROMM traz uma contribuição importante, que se pode<br />
aproveitar nessa análise. Esse autor considera que a história da humanidade começou por<br />
atos de desobediência, Adão e Eva burlaram as normas <strong>do</strong> paraíso e só depois daí<br />
começaram a conhecer o mun<strong>do</strong> (1984, p.9). Para FROMM, nessa obra, a humanidade<br />
evolui por “atos de desobediência”, confrontan<strong>do</strong> o poder vigente e as opiniões antigas<br />
que não se abrem ao novo. Se for possível “desobedecer” é possível criar novas formas de<br />
viver a vida social e encontrar alternativas para dar movimento à dinâmica das relações<br />
entre os seres deste conjunto chama<strong>do</strong> humanidade.<br />
No que diz respeito às deficiências, pouco se estu<strong>do</strong>u sobre a relação entre o indivíduo e<br />
a sociedade (AMARAL, 1994, p. 94). A importante conexão que aqui se faz não foi uma<br />
temática o suficientemente refleti<strong>do</strong>, debatida, no conjunto das instâncias que se dedicam<br />
ao entendimento das deficiências. O percurso histórico, nessa área, demonstrou que quan<strong>do</strong><br />
se fala em deficiência se está pontuan<strong>do</strong> déficits individuais. Há um importante e vigoroso<br />
trabalho a se consolidar no senti<strong>do</strong> de desconstituir tais equívocos da história, no que tange<br />
ao reconhecimento <strong>do</strong> valor humano daqueles que por portarem diferenças mais marcantes,<br />
não deixam de ser constituí<strong>do</strong>s, enquanto sujeitos, da essência comum à sua espécie.<br />
Os meios de comunicação sempre exercem uma influência incisiva <strong>do</strong> meio sobre o<br />
sujeito, através da veiculação de imagens, personagens marcantes vão deixan<strong>do</strong> suas<br />
mensagens de como deverá ser a forma “correta” de viver a vida, sobre quais os<br />
comportamentos são adequa<strong>do</strong>. Esses vão indican<strong>do</strong> qual a forma de avaliação<br />
(julgamento) sobre os fatos da realidade deverão ser consagra<strong>do</strong>s.<br />
O meio de comunicação de massas se torna normativo, veicula normas e maneiras de<br />
ser. Nesse particular, AMARAL faz uma análise significativa, da forma como esses meios
115<br />
de comunicação têm trata<strong>do</strong> a temática das deficiências, concluin<strong>do</strong> que isso acontece de<br />
maneira preconceituosa, estigmatizante, reforçan<strong>do</strong> a ideologia da normalidade e <strong>do</strong>s<br />
estereótipos (1994 p.64). O porta<strong>do</strong>r de deficiência para ser considera<strong>do</strong>, sociologicamente,<br />
tem que ser “super-herói” e fazer coisas extraordinárias para ser aceito.<br />
AMARAL faz referência a uma análise significativa sobre um famoso desenho,<br />
intitula<strong>do</strong> “Dumbo”. Nessa análise é pontua<strong>do</strong> o fato de Dumbo ser um elefantinho que<br />
nasce com uma deformidade física nas orelhas. Elas são grandes demais em comparação ao<br />
comum <strong>do</strong>s elefantes. Essas orelhas “grandes demais” não foram percebidas pela família<br />
de imediato, até então, o elefantinho era bem aceito e bem quisto por to<strong>do</strong>s. Na ocasião em<br />
que o personagem principal espirra e suas orelhas saem de trás <strong>do</strong> corpo, se abrin<strong>do</strong>, to<strong>do</strong>s<br />
ficam consterna<strong>do</strong>s e começa um processo de rejeição ao mesmo, por parte de to<strong>do</strong>s de seu<br />
convívio (SATOW apud AMARAL, 1994, p.63).<br />
“Dumbo” passa por inúmeras humilhações, zombarias, inclusive pelo fato de seu nome<br />
ter si<strong>do</strong> troca<strong>do</strong>, inicialmente se chamaria Jumbo, e, passou em função da deficiência a se<br />
chamar “Dumbo”, que significa tolo, estúpi<strong>do</strong>. O elefantinho passou por um processo de<br />
desconsideração e agressão, em seu ambiente de vida, num circo, que só teve fim quan<strong>do</strong><br />
ele pode voar e se tornou uma estrela, um astro <strong>do</strong> circo. Teve ele, nosso herói, que superar<br />
o comum <strong>do</strong>s mortais, para ser aceito, para ser considera<strong>do</strong> pelo social e assim essa história<br />
infantil teve um final feliz. Pode-se analisar e perceber o estigma coloca<strong>do</strong> na questão da<br />
deficiência, nesse “simples” desenho, muito assisti<strong>do</strong> por crianças em todas as partes <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong>. A aceitação das deficiências passa por um esforço muito grande de auto superação<br />
e superação da própria espécie humana, uma vez que tem que ir além <strong>do</strong>s limites atingi<strong>do</strong>s<br />
por aqueles que simplesmente vivem.<br />
Os desenhos infantis, em geral, estão carrega<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s diversos estigmas que permeiam a<br />
visão da sociedade sobre a deficiência, de vítima à “super-herói”. Ainda valen<strong>do</strong>-se da<br />
análise de AMARAL, várias situações representadas nas estórias assistidas por crianças<br />
demonstram isto, vejamos: um exemplo de quan<strong>do</strong> a idéia subjacente ao filme é a de<br />
“culpabilização da vítima” – ursinhos são castiga<strong>do</strong>s fican<strong>do</strong> mu<strong>do</strong> ou mancos, por falar
116<br />
demais ou por incomodar as pessoas. A idéia de “correlação linear entre deficiência e<br />
traços de caráter” – “o aleija<strong>do</strong> por ter um bom coração pode tornar-se um lin<strong>do</strong> rapaz<br />
ou o menino cruel que passa a ser repulsivo”. Quan<strong>do</strong> a mensagem é “a normalização<br />
como saída – o patinho feio que se descobre afinal cisne” (1994 p.59).<br />
Existem outras formas de visualizar os preconceitos que permeiam a representação da<br />
deficiência, nas estórias e contos que situam a mesma como: a “solidão inexorável” – a<br />
menina paralítica que só tem como interlocutor um pássaro. O deficiente/diferente no<br />
lugar <strong>do</strong> exótico – o exemplo <strong>do</strong> elefantinho Dumbo. A idéia de “santificação” – o menino<br />
é cura<strong>do</strong> de seu mal por ser bon<strong>do</strong>so. Por fim, a visão da deficiência sob o prisma da<br />
“necessidade de compensação desmesurada” – um pássaro que não voa, mas é sabi<strong>do</strong> e<br />
faz vôos imaginários (AMARAL, 1994, p.60). Todas essas imagens estão perpassadas<br />
destes conteú<strong>do</strong>s eiva<strong>do</strong>s de subestimação da pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência em seu meio,<br />
como bem nos demonstrou esse autor na relação acima de correspondência entre a estória<br />
infantil e seu significa<strong>do</strong>.<br />
O cotidiano é rico na repetição de valores, modelos, senti<strong>do</strong>s que se passam de maneira<br />
implícita esses significantes subjacentes às mensagens. Rara vez se consegue ter<br />
visibilidade de seus reais significa<strong>do</strong>s. Essa circulação simbólica de imagens e conceitos<br />
contribui muito negativamente para o processo de conscientização <strong>do</strong> potencial criativo<br />
que há na diversidade humana. Essas ideologias reforçam a igualidade, a padronização e a<br />
“normalidade”. Como se poderá mudar as relações sociais se a simbologia que envolve as<br />
mesmas continuar veiculan<strong>do</strong> a expressão da estereotipia? Em que tipo de sociedade se<br />
vive? Os valores que compõem o teci<strong>do</strong> social são valores realmente humanos? Se forem<br />
humanos como podem excluir da vida pessoas, pelo fato das mesmas apresentarem<br />
peculiaridades, déficits, diferenças?<br />
O tempo histórico presente é marca<strong>do</strong> por miséria, desigualdades, concentração de<br />
renda, de terra, de informatização, de poder. É marca<strong>do</strong> também por resistências, pelas<br />
lutas <strong>do</strong>s movimentos sociais, pelo heróico enfrentamento das adversidades, por parte <strong>do</strong>s<br />
excluí<strong>do</strong>s de setores da vida. Na ideologia de um projeto societário neoliberal, está
117<br />
implícita a concepção de que cada um por si deve “resolver” sua vida sen<strong>do</strong> responsável<br />
por seu fracasso ou sucesso. Isso perpassa as diversas relações que se estabelecem nos<br />
grupos da sociedade.<br />
A exclusão é resulta<strong>do</strong> de um processo social que privilegia aqueles que tiveram<br />
oportunidades de desenvolverem as potencialidades da expressão humana. Alguns estão<br />
dentro <strong>do</strong> círculo social que se fecha em torno de uma minoria privilegiada. Outros tantos<br />
estarão fora, excluí<strong>do</strong>s, segrega<strong>do</strong>s. Para ANDERSON, que faz um balanço <strong>do</strong> sistema<br />
político neoliberal, na contemporaneidade, acontece o seguinte:<br />
“Provavelmente nenhuma sabe<strong>do</strong>ria convencional conseguiu um<br />
pre<strong>do</strong>mínio tão abrangente desde o início <strong>do</strong> século como o neoliberal hoje.<br />
Este fenômeno chama-se hegemonia, ainda que, naturalmente, milhões de<br />
pessoas não acreditem em suas receitas e resistam a seus regimes. A tarefa<br />
de seus opositores é a de oferecer outras receitas e preparar outros<br />
regimes” (1996 p.23).<br />
O “regime” neoliberal é hegemônico, impõe à sociedade seu rítimo, sua disciplina e<br />
uma determinada ordem. Todavia sempre há na realidade humana e nas construções sociais<br />
um dinamismo que lhe permite ir desconstituín<strong>do</strong> o que é da<strong>do</strong> no social. Se há uma<br />
imposição de um modelo de vida, há também a força daqueles que podem se contrapor<br />
pela consciência de suas reais condições de vida e pelas suas organizações e articulações<br />
coletivas. As pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência se organizaram em várias partes <strong>do</strong> mun<strong>do</strong><br />
e através de seus movimentos e de suas práticas coletivas foram remodelan<strong>do</strong> os matizes<br />
de uma sociedade excludente, que os subjuga em suas subjetividades.<br />
Sabe-se que muito ainda tem que se avançar no crescimento da consciência e nos<br />
processos de conscientização acerca <strong>do</strong> reconhecimento das deficiências/diferenças na<br />
engrenagem da vida social. Entretanto, to<strong>do</strong>s os avanços e conquistas na área da inclusão e<br />
a perspectiva da cidadania se devem aos movimentos daqueles que em condições de<br />
desigualdades se articulam historicamente para revolucionar seu cotidiano e o curso de<br />
nossa história.
118<br />
A exemplo disso, se tem o “ideal da igualdade de oportunidades” em to<strong>do</strong>s os setores da<br />
vida, que foi oficialmente promulga<strong>do</strong> pela ONU no ano de 1981. Posteriormente, esse<br />
<strong>do</strong>cumento, vai servir de base para a Assembléia Geral da ONU aprovar o <strong>do</strong>cumento de<br />
normas sobre a “equiparação de oportunidades”. Esses <strong>do</strong>cumentos pontuaram a exigência<br />
de novas práticas na sociedade. Essas práticas deverão ser inclusivas, em respeito e em<br />
consideração à diversidade da condição humana. As deficiências/diferenças deverão estar<br />
incluídas no processo de organização <strong>do</strong> diversos setores da vida em comunidade.<br />
SASSAKI (1997, p.148-3) defende a idéia <strong>do</strong> “desenho universal” como uma evolução<br />
<strong>do</strong> desenho acessível. As construções acessíveis, com desenho arquitetônico sem barreiras,<br />
estão sinalizan<strong>do</strong> o lugar destina<strong>do</strong> exclusivamente para pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência.<br />
Esse autor chama atenção para o aspecto contraditório que há nesse desenho. Se de um la<strong>do</strong><br />
é “muito bem vin<strong>do</strong>” para as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência por se adaptarem a sua<br />
realidade e lhes permitir o acesso, de outro la<strong>do</strong> ainda são estigmatizantes. O “símbolo<br />
Internacional de Acesso” delimita o espaço destina<strong>do</strong> aos porta<strong>do</strong>res, e de certa forma<br />
marca um espaço institucional especial, lembran<strong>do</strong> o "modelo médico".<br />
No desenho universal a arquitetura seria pensada de forma inclusiva consideran<strong>do</strong> as<br />
necessidades em geral das pessoas, ten<strong>do</strong> em vista suas diferenças e peculiaridades. Se o<br />
planejamento arquitetônico fosse inclusivo, poderia dar conta de um maior número de<br />
diversidades, de necessidades. O desenho inclusivo, pensa<strong>do</strong> para todas as pessoas, deverá<br />
considerar os déficits físicos, sensoriais tanto quanto qualquer outra necessidade humana<br />
(SASSAKI, 1997, p.141).<br />
Esse tipo de desenho é um ideal que já está sen<strong>do</strong> propaga<strong>do</strong> pelos movimentos<br />
inclusivistas e deve estar presente no debate sobre a questão das diferenças. A importância<br />
dessa discussão se reflete no fato de demonstrar a possibilidade de um desenho universal<br />
em contraposição aos modelos segrega<strong>do</strong>res, que colocam uma delimitação entre os<br />
porta<strong>do</strong>res e os não porta<strong>do</strong>res de deficiência. Sen<strong>do</strong> assim não haveria nada para registrar<br />
o lugar <strong>do</strong> "especial".
119<br />
O debate em torno das possibilidades da acessibilidade conduz a um repensar <strong>do</strong><br />
conceito de autonomia. Não se deve reduzir o conceito de autonomia a uma perspectiva de<br />
possibilidades individuais. Entende-se que esse conceito é mais bem concebi<strong>do</strong> de forma<br />
relacional, ou seja, consideran<strong>do</strong> as circunstâncias contextuais <strong>do</strong>s sujeitos e suas múltiplas<br />
imbricações. Isso quer dizer que o indivíduo para conquistar sua autonomia deve estar<br />
inseri<strong>do</strong> em um contexto que propicie igualdade de condições para tanto. As condições de<br />
cada contexto específico sinalizarão as interdições que impossibilitam a inserção das<br />
pessoas, com maior ou menor grau de autonomia.<br />
Se o contexto for por demais impeditivo, pelas barreiras que colocam diante das<br />
deficiências/diferenças, como se poderá falar em autonomia? Autonomia é também um<br />
conceito relacional, que depende das relações entre os sujeito e a estrutura de seu ambiente.<br />
O sujeito é capaz de transformar o contexto, de resistir às barbáries da cultura. Entretanto,<br />
ao analisar o conceito de autonomia dever-se-á levar em conta além <strong>do</strong> indivíduo e sua<br />
potencialidade, a forma como foram organiza<strong>do</strong>s, na sociedade, seus setores de acesso, ou<br />
seja, a materialidade <strong>do</strong> social. Na dialética <strong>do</strong> cotidiano entre indivíduo e sociedade, a<br />
individualidade mediada pela coletividade, será a expressão <strong>do</strong> coletivo como<br />
representativo da autêntica individualidade, uma vez que o coletivo seja a expressão da<br />
maioria, e não lei da minoria, ter-se-á uma sociedade humana.
120<br />
I I I - POLÍTICAS PÚBLICAS E A GARANTIA DE CI<strong>DA</strong><strong>DA</strong>NIA E PERTENCIMENTO<br />
Até o presente momento deste trabalho foram percorri<strong>do</strong>s os conceitos, o entendimento<br />
acerca <strong>do</strong>s significantes da temática em torno da diversidade humana. As relações sociais<br />
foram consideras fator crucial para a análise das questões referentes aos indivíduos e suas<br />
demandas singularizadas. Discutiu-se a conecção entre autonomia <strong>do</strong>s sujeitos e as<br />
condições contextuais estarem mais ou menos favoráveis ao desenvolvimento da mesma.<br />
Em função da grande interdição, posta no social, às singularidades, se faz necessário que<br />
sejam construídas formas de inclusão social para atender àqueles que ficaram de fora.<br />
O presente capítulo vai apresentar uma política pública para pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência e de altas habilidades no Esta<strong>do</strong> Do Rio Grande <strong>do</strong> Sul. A construção dessa<br />
política é o resulta<strong>do</strong> de vários movimentos sociais e vem a ser consolidada na gestão<br />
pública de um governo popular, no perío<strong>do</strong> de janeiro de 1999 a janeiro de 2003. No<br />
perío<strong>do</strong> de janeiro 1999 a agosto de 2002 se desenvolveu a pesquisa que dá origem a esta<br />
tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong>, ten<strong>do</strong> como um de seus campos de investigação a FADERS, que é<br />
atualmente, a gestora dessa política pública. Nas linhas que seguem será desenvolvida toda<br />
essa experiência de investigação e prática social e profissional.<br />
3.1 PORTADORES DE UM SIGNIFICADO SOCIAL: EXCLUSÃO/INCLUSÃO NO CASO <strong>DA</strong>S<br />
DIFERENÇAS VISIVELMENTE APARENTES<br />
Pode-se constatar diariamente, conforme os padrões da sociedade, que o ser humano se<br />
faz humano quan<strong>do</strong> não se diferencia. Nesses padrões não é adequa<strong>do</strong> apresentar a<br />
incompletude, natural à espécie humana. “O homem seria homem se não fosse sur<strong>do</strong>, se<br />
não fosse cego, se não fosse retarda<strong>do</strong> mental, se não fosse negro, se não fosse<br />
homossexual, se não fosse fanático religioso se não fosse indígena, etc. Nada mais
121<br />
absur<strong>do</strong>” (SKLIAR, 1999, p.11). A incompletude é uma característica das pessoas, porém<br />
é pouco tolerada ao se mostrar de forma visível e explícita. As pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência foram (conforme visto no capítulo <strong>do</strong>is) relegadas à confinação em instituições<br />
segrega<strong>do</strong>ras, especializadas, fechadas, distantes das cidades, por demonstrarem de mo<strong>do</strong><br />
visível essa incompletude.<br />
O fato constata<strong>do</strong> acima significou que àquelas pessoas viveram por muito tempo, na<br />
história, de mo<strong>do</strong> a estarem apartadas <strong>do</strong> convívio com as demais pessoas da sociedade.<br />
Seu contexto era segregatório e reserva<strong>do</strong> àqueles outros considera<strong>do</strong>s seus “iguais”. Nessa<br />
situação, o significa<strong>do</strong> social das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência esteve permea<strong>do</strong> por um<br />
olhar que não percebeu, na diversidade, a condição de ser humano. Falar em inclusão das<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência demonstra o fato de um segmento populacional desta<br />
sociedade, estar de fora da mesma. Pretende-se a inclusão, pois o que se passa no cotidiano<br />
social é um brutal processo de exclusão, de expulsão das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência<br />
<strong>do</strong> convívio da sociedade.<br />
Por um princípio humano a inclusão de qualquer pessoa em seu contexto deveria ser<br />
uma condição natural de vida, algo que necessariamente deveria acontecer com to<strong>do</strong>s os<br />
sujeitos e não deveria estar em questão. Como pode ser discuti<strong>do</strong> se as pessoas devem ou<br />
não pertencer ao seu meio? Os processos sociais de exclusão são uma inversão <strong>do</strong> valor<br />
humano, desconsideran<strong>do</strong> esse valor como único como primeiro.<br />
Infelizmente a inclusão é uma questão não resolvida nos processos de convivência entre<br />
as pessoas “ditas normais” com aquelas que se apresentam fora desse padrão de<br />
“normalidade” e só faz senti<strong>do</strong> ter na pauta <strong>do</strong>s debates sociais essa temática, porque a<br />
exclusão é uma realidade vivenciada por aqueles que apresentam singularidades mais<br />
marcantes. Inclusão e exclusão são os <strong>do</strong>is la<strong>do</strong>s de uma realidade desumana, presente<br />
ainda hoje, como resulta<strong>do</strong> da herança cultural <strong>do</strong> desconhecimento acerca das diferenças.<br />
Seguin<strong>do</strong> o curso da história a palavra inclusão é posterior a palavra integração social.<br />
Uma vem para superar à outra num senti<strong>do</strong> progressivo <strong>do</strong> convívio entre as pessoas. Sabe-
122<br />
se que posteriormente ao tempo da eliminação (em algumas culturas) das pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência veio à fase asilar e segrega<strong>do</strong>ra. A superação da fase segregatória<br />
se dá a partir <strong>do</strong> debate em torno da necessária integração <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência no<br />
contexto das relações sociais. As diversas instituições da sociedade começaram a aprender<br />
a lidar com as diferenças de maneira a procurar um conhecimento específico, especializa<strong>do</strong><br />
na área, e assim as instituições passam a se especializar, se tornan<strong>do</strong> “especiais”. Assim<br />
foram surgin<strong>do</strong> à escola especial, as classes especiais, os clubes sociais especiais.<br />
Conforme SASSAKI (1997, p.31), a partir <strong>do</strong> final da década de 60 (<strong>do</strong> século XX)<br />
houve um movimento para integrar as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência no trabalho, na<br />
família, no lazer, no sistema de ensino. Inicia-se, assim, uma nova abordagem sobre a<br />
questão das diferenças, na qual o objetivo é a inserção <strong>do</strong> porta<strong>do</strong>r de deficiência em seu<br />
contexto de vida. O que vai acontecer, nessas circunstâncias de integração, é uma ruptura<br />
com o velho padrão de exclusão e segregação. Entretanto, existe uma questão importante a<br />
ser ponderada nesse processo:<br />
“A integração constitui um esforço unilateral tão somente da pessoa com<br />
deficiência e seus alia<strong>do</strong>s (a família, a instituição especializada e algumas<br />
pessoas da comunidade que abracem a causa da inserção social), sen<strong>do</strong><br />
que estes tentam torná-la mais aceitável no seio da sociedade”<br />
(SASSAKI, 1997, p.34).<br />
A integração social ainda segue a lógica <strong>do</strong> chama<strong>do</strong> “modelo médico da deficiência”<br />
que ressalta a patologia <strong>do</strong> sujeito, visan<strong>do</strong> sua adaptação ao sistema da sociedade. Nesse<br />
senti<strong>do</strong>, as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência devem fazer um grande esforço de superação<br />
pessoal para se capacitar ao convívio no meio ambiente. Ainda não se discute a necessária<br />
adaptação da estrutura social, a acessibilidade <strong>do</strong> desenho arquitetônico das cidades e a<br />
importância da ruptura com o padrão de normalidade, instituída pelo conjunto de normas e<br />
valores que regem o mo<strong>do</strong> de organização da sociedade. Em tal perspectiva, os diversos<br />
setores da sociedade ficam isentos ainda de serem repensa<strong>do</strong>s, em sua forma de<br />
organização e em suas práticas para atenderem aos direitos das pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência.
123<br />
As décadas de 60, 70,80 (século XX) propiciaram o desenvolvimento <strong>do</strong>s princípios da<br />
integração social. A partir de 1980 e durante a década de 90 é que se começa a repensar e<br />
construir outros princípios que vão orientar a concepção da inclusão social. Um importante<br />
princípio que orientou a perspectiva da integração social foi o chama<strong>do</strong> princípio de<br />
“normalização” que pressupunha um ambiente mais comum ou normal à cultura das<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Dá-se início ao processo de ruptura com a idéia de que<br />
tu<strong>do</strong> tem que ser “especial”. O outro princípio dessa perspectiva é o da inserção, ou seja, as<br />
pessoas devem estar inseridas no seu meio e não em instituições fechadas.<br />
Quan<strong>do</strong> se começa a pensar nas implicações <strong>do</strong>s processos sociais na questão das<br />
diferenças, outros importantes princípios vão sen<strong>do</strong> propaga<strong>do</strong>s e vão orientar a perspectiva<br />
da inclusão, tais como: “autonomia”, “independência” e “equiparação de oportunidades”.<br />
Esses princípios estão presentes no relatório da ONU (1994). A origem desse <strong>do</strong>cumento<br />
está nos movimentos sociais, lidera<strong>do</strong>s por grupos de pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência que<br />
já vinham trabalhan<strong>do</strong> com o movimento de vida independente e reivindican<strong>do</strong> o direito de<br />
reconhecimento dessas questões (SASSAKI, 1997, p.36-8).<br />
Os <strong>do</strong>cumentos internacionais da ONU, que apresentam relatórios com representações de<br />
vários países <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, instituem em 1992, “um programa de ação mundial para as<br />
pessoas com deficiência”, esse programa é orienta<strong>do</strong> pelos princípios da “igualdade” e<br />
“equiparação de oportunidades” (ONU, 1992). O principio de “equiparação de<br />
oportunidades” pressupõe um ajuste <strong>do</strong> meio ambiente ao sujeito, uma vez que requer <strong>do</strong>s<br />
diversos setores da sociedade uma maior disponibilidade para to<strong>do</strong>s.<br />
A igualdade de direitos para todas as pessoas demanda investimento em acessibilidade<br />
para incluir as diversas questões das diferenças. A acessibilidade pode se traduzir pela<br />
inclusão da escrita em Braille, da linguagem <strong>do</strong>s sinais e <strong>do</strong> rebaixamento <strong>do</strong>s níveis nas<br />
ruas. Inicia-se, assim, a implicação <strong>do</strong>s segmentos sociais no processo de propiciar a<br />
qualidade de vida e a possibilidade de expansão das potencialidades daqueles sujeitos até<br />
então considera<strong>do</strong>s “incapazes”, "desajusta<strong>do</strong>s”. A sociedade e seus meios de acesso à<br />
participação <strong>do</strong>s indivíduos começa a ser pensada, questionada. A partir desses movimentos
124<br />
da própria sociedade surge a exigência de uma nova lógica de organização <strong>do</strong>s setores e<br />
serviços comuns da rede social.<br />
Segun<strong>do</strong> SASSAKI, “neste final de século, estamos viven<strong>do</strong> a fase de transição entre a<br />
integração para a inclusão” (1997 p.43). A inclusão se pauta no princípio de<br />
reconhecimento da diversidade da condição humana, pois, repensa a condição contextual<br />
<strong>do</strong>s sujeitos, aceitan<strong>do</strong> suas diferenças, consideran<strong>do</strong>-as, incluin<strong>do</strong>-as na organização da<br />
vida social. A partir desses conceitos vai se delinean<strong>do</strong> uma nova perspectiva de olhar para<br />
o ser e o seu contexto, em que o pertencimento de cada um a sua comunidade passa ser<br />
visto como um direito. Todas as pessoas têm o direito de fazer parte deste to<strong>do</strong> no qual se<br />
desenvolvem enquanto seres <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>.<br />
MARX, pensa<strong>do</strong>r <strong>do</strong> século XIX, já dizia que o “indivíduo é o ser social” e expressou<br />
esta idéia na seguinte formulação: “A vida humana individual e a vida-espécie não são<br />
coisas diferentes, conquanto o mo<strong>do</strong> de existência da vida individual seja um mo<strong>do</strong><br />
necessariamente mais específico ou mais geral da vida individual” (1983 p.119). Este<br />
pensamento parece expressar uma imbricação muito profunda entre o ser e seu conjunto seu<br />
contexto. O indivíduo único porta<strong>do</strong>r de sua individualidade deve estar incluí<strong>do</strong> nesse<br />
conjunto, sob pena de desumanização das relações da sociedade.<br />
Todavia, acompanhan<strong>do</strong> ainda o pensamento marxiano, há um mo<strong>do</strong> “necessariamente<br />
mais específico” na existência individual apesar da imbricação com o contextual. É<br />
justamente a característica específica que singulariza o ser humano, o diferencia de outro<br />
ser humano, e que deveria ser reconhecida e contemplada pelo contexto. A relação dialética<br />
entre o ser e seu mun<strong>do</strong> remete ao entendimento de que toda e qualquer problemática<br />
humana é perpassada pelas relações sociais. De um la<strong>do</strong>, o contexto é integra<strong>do</strong>r <strong>do</strong> sujeito,<br />
faz parte de seu desenvolvimento para se tornar mais humano. Por outro la<strong>do</strong> o sujeito<br />
precisa estar além <strong>do</strong> seu contexto, acima de tu<strong>do</strong>, preservan<strong>do</strong> sua integridade individual,<br />
que não é passível de padronização nem de coletivização.<br />
Não é possível conservar, nos dias de hoje, uma opinião que centralize a patologia no
125<br />
sujeito. Não se pode mais considerar o "déficit", seja físico, sensorial, intelectual como o<br />
to<strong>do</strong> ou o aspecto principal de uma pessoa. Faz-se necessário o reconhecimento da<br />
importância de cada singularidade <strong>do</strong> sujeito e entender que a problemática, que a real<br />
deficiência se localiza nas relações sociais e na estrutura da sociedade que, muitas vezes,<br />
está impedin<strong>do</strong> a expressão e o exercício da diversidade. Não importa se há algum déficit, a<br />
perfeição não existe mesmo. Todas as pessoas têm o direito de fazer parte deste mun<strong>do</strong>,<br />
afinal a vida social deveria e deverá ser feita para os seres sociais que cada sujeito<br />
representa.<br />
É isso que parece estar na base, na filosofia da nova política pública para pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades e é isso que o movimento organiza<strong>do</strong> desse<br />
segmento da população está reivindican<strong>do</strong> que seja garanti<strong>do</strong> na prática <strong>do</strong>s atendimentos,<br />
no cotidiano institucional e nas demais articulações que serão feitas pela instituição hoje<br />
responsável no Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul por essa política. Essa instituição serviu como<br />
o cenário onde se desenvolve parte da pesquisa <strong>do</strong> presente estu<strong>do</strong>.<br />
3.2 A FADERS COMO CAMPO DE PESQUISA: SEU SIGNIFICADO SOCIAL<br />
O princípio que conduz aos percalços da compreensão de uma nova forma de pensar o<br />
trabalho institucional e extrainstitucional na questão das chamadas pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiências é à busca de um projeto político que priorize a cidadania e a inclusão social. A<br />
seguir, será situa<strong>do</strong>, o contexto institucional no qual a investigação foi aprofundada, que se<br />
denomina FADERS – Fundação de Articulação e Desenvolvimento da Política Pública para<br />
Pessoas Porta<strong>do</strong>ras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande <strong>do</strong> Sul.<br />
A FADERS vem ordenan<strong>do</strong> suas ações de atendimento especializa<strong>do</strong> às Pessoas<br />
Porta<strong>do</strong>ras de Deficiência – PPD e às Pessoas Porta<strong>do</strong>ras de Altas Habilidades – PPAH. A<br />
partir de 1989 a Fundação passou por uma reforma institucional, visan<strong>do</strong> uma ação mais<br />
dinâmica e humanista. Com objetivo de alterar as tradicionais atitudes assistencialistas para
126<br />
dar lugar a uma política de direitos humanos, procuran<strong>do</strong> garantir aos sujeitos “porta<strong>do</strong>res<br />
de deficiência” e de altas habilidades, seu lugar de direito e de fato na sociedade, a<strong>do</strong>tan<strong>do</strong><br />
dessa forma uma política de inclusão. Essa Instituição está vinculada a Secretaria de<br />
Educação <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul, com personalidade jurídica de direito priva<strong>do</strong>,<br />
autonomia administrativa, financeira e na gestão de seus bens.<br />
No final <strong>do</strong> ano de 1998 houve a eleição para governa<strong>do</strong>r <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>, com a vitória <strong>do</strong><br />
Parti<strong>do</strong> <strong>do</strong>s Trabalha<strong>do</strong>res, que assumiu o governo em janeiro de 1999. Essa vitória<br />
eleitoral teve repercussões significativas para a Fundação que é subordinada, em última<br />
instância, ao governo <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>. É um governo popular que assume a esfera estadual,<br />
orientan<strong>do</strong>-se “pelo princípio de um governo democrático, popular e participativo no qual<br />
a sociedade civil organizada tem lugar assegura<strong>do</strong> na formulação de políticas públicas e<br />
na gestão <strong>do</strong>s recursos públicos” (Programa de <strong>Governo</strong>, 1999, p.1).<br />
Na gestão Democrática Popular (1999 a 2003), foi defini<strong>do</strong> um “Programa Mínimo de<br />
<strong>Governo</strong>” que propõe: definição de uma política Estadual Global, não restrita apenas às<br />
“áreas tradicionais” da Saúde, Educação e Assistência Social, para integração das pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência (PPD) e de altas habilidades (PPAH), com a participação direta<br />
das mesmas; garantia da participação das PPD e das PPAH, por meio de suas entidades<br />
representativas, no planejamento, execução e avaliação desta política estadual via conselhos<br />
ou organismos similares; definição e regulamentação da lei relativa aos direitos <strong>do</strong>s<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência e altas habilidades; regulamentação de lei preven<strong>do</strong> mecanismo<br />
para punir aos que discriminem socialmente as PPD e PPAH; a<strong>do</strong>ção pelo governo, em<br />
cada uma das suas políticas públicas setoriais, <strong>do</strong>s preceitos conti<strong>do</strong>s no “Programa de<br />
Ação Mundial para as Pessoas Porta<strong>do</strong>ras de Deficiência” da Organização das Nações<br />
Unidas – ONU.<br />
Historicamente a questão da deficiência vem sen<strong>do</strong> tratada de forma clientelista,<br />
paternalista, oferecen<strong>do</strong> alternativas na linha <strong>do</strong> “mero atendimento”, sem propostas de<br />
efetiva mudança social, sem uma política ampla e ao mesmo tempo específica para rever os<br />
impedimentos que a vida social traz às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. O meio social é
127<br />
padroniza<strong>do</strong> e segrega<strong>do</strong>r, dificultan<strong>do</strong> ainda mais o acesso das PPD, a uma vida de<br />
participação plena e igualdade de condições.<br />
A sociedade está estruturada de forma inadequada às necessidades <strong>do</strong>s sujeitos<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência e de altas habilidades, não está organizada de maneira a<br />
contemplar as diferenças <strong>do</strong>s sujeitos sociais. São muitas as barreiras sociais, econômicas,<br />
políticas e culturais. Será preciso construir políticas públicas que visem promover a<br />
“Equiparação de Oportunidades”.<br />
O Programa de <strong>Governo</strong> <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul (FADERS, 1999), consoli<strong>do</strong>u<br />
novas propostas de atuação a partir <strong>do</strong> questionamento <strong>do</strong> fato <strong>do</strong>s programas de governo,<br />
vigentes até então, serem inadequadas às necessidades <strong>do</strong>s sujeitos porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência. Tal inadequação foi expressa na forma restrita dessas políticas contemplarem<br />
apenas às áreas da Educação, Saúde e Assistência. O que vinha acontecen<strong>do</strong> era uma<br />
redução das necessidades <strong>do</strong> sujeito, excluin<strong>do</strong>-se outros significativos aspectos da vida<br />
<strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência não foram contempla<strong>do</strong>s por programas de governos<br />
anteriores.<br />
“É como se o universo de necessidades <strong>do</strong> indivíduo porta<strong>do</strong>r de<br />
deficiência coubesse dentro da Saúde, Educação e Assistência Social,<br />
como se esse indivíduo, por ser porta<strong>do</strong>r de uma ‘diferença restritiva’ não<br />
tivesse nenhuma necessidade nas áreas <strong>do</strong> trabalho, da agricultura, <strong>do</strong><br />
transporte, da cultura, <strong>do</strong> desporto e <strong>do</strong> lazer, entre outras mais”<br />
(FADERS, 1999, p.3).<br />
A origem histórica da FADERS está atrelada à divisão de ensino especial da Secretaria<br />
de Educação <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul. No ano de 1973 foi criada a FAERS<br />
(FUN<strong>DA</strong>ÇÃO RIO-GRANDENSE DE ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL). Esta fundação recebeu<br />
a incumbência de supervisionar e acompanhar as escolas estaduais especiais desse Esta<strong>do</strong>.<br />
Em 1988 a FAERS foi extinta sen<strong>do</strong> criada em sua substituição a FADEDS, naquela época<br />
com a função de coordena<strong>do</strong>ra da educação especial no Esta<strong>do</strong>. O problema que aqui surge,<br />
na própria origem desta instituição, remete ao próprio senti<strong>do</strong> da educação especial, como<br />
já foi visto no capítulo <strong>do</strong>is. Conforme esse estu<strong>do</strong> concluiu-se que na educação especial há
128<br />
uma preocupação em "assistir" as demais áreas da vida <strong>do</strong> sujeito, fato esse que não<br />
acontece no ensino dito "normal".<br />
A educação, nesta perspectiva, requer atenção a outras incumbências extrainstitucionais<br />
(assistência social, saúde, trabalho, etc.). A educação "comum" não se responsabiliza pelas<br />
outras necessidades <strong>do</strong>s alunos. A educação especial com a preocupação de atender<br />
aspectos varia<strong>do</strong>s da vida <strong>do</strong> sujeito acumula encargos e deixa de la<strong>do</strong> seu aspecto essencial<br />
que é garantir o desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem. As controvérsias <strong>do</strong> ensino<br />
especial sugerem o equívoco de sua própria institucionalização. O que acontece é a falência<br />
de um modelo de ensino que foi cria<strong>do</strong> de mo<strong>do</strong> a produzir a segregação das diferenças, em<br />
um momento crucial da vida <strong>do</strong> sujeito, que é o ingresso escolar. Quan<strong>do</strong> o sujeito deveria<br />
ter a oportunidade de exercer sua singularidade compartilhan<strong>do</strong>-a com a outras<br />
diferenciadas singularidades, ele é impedi<strong>do</strong>.<br />
Aqui o social, através de suas instituições consolida uma interdição significativa, que<br />
isola, segrega, separa e impossibilita a expressão e a convivência com as diferenças de cada<br />
um. As escolas especiais têm funciona<strong>do</strong> como "muro" que separa os ditos "normais"<br />
daqueles que são considera<strong>do</strong>s fora da normalidade. As contradições históricas da FADERS<br />
remetem-se a essa ligação com o ensino especial. Ao segregar um determina<strong>do</strong> segmento<br />
da sociedade, por colocá-lo no lugar de especial, se "tornou necessário" criar uma estrutura<br />
que atendesse "especialmente" aos sujeitos em questão.<br />
O espaço público, o Esta<strong>do</strong> passa a responder a esta demanda de forma separada. As<br />
repartições públicas que assim se fazem por áreas de necessidades da população passam a<br />
atender por características da população. No caso das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiências, é<br />
criada uma estrutura para atender especificamente "aos deficientes". Aqui está o equívoco e<br />
o que foi qualifica<strong>do</strong> pela atual administração da FADERS como "mini Esta<strong>do</strong>". Segun<strong>do</strong><br />
se pode constatar a partir da opinião que segue:<br />
"A FADERS se constituiu a partir de uma concepção de atendimento<br />
baseada no entendimento de que, por suas especificidades, as demandas<br />
das PPD e PPAH deveriam ser solucionadas através de procedimentos e<br />
ações isoladas das ações dirigidas à população em geral. Este
129<br />
entendimento, de atender em separa<strong>do</strong>, ainda que tivesse o objetivo de<br />
inserir socialmente as PPD, oferecen<strong>do</strong> serviços de habilitação e ou<br />
reabilitação, educação especial, etc. acabou por criar uma espécie de<br />
“mini Esta<strong>do</strong>” exclusivo para esta população" (Entrevista realizada em<br />
nov. de 2001).<br />
O Esta<strong>do</strong> deveria atender a to<strong>do</strong>s sem demarcação de um lugar especial a fim de<br />
promover cidadania e "equiparação de oportunidades". O fato de o atendimento acontecer<br />
de forma em separa<strong>do</strong> para pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades<br />
constitui a FADERS como uma espécie de gueto, um mun<strong>do</strong> à parte <strong>do</strong> convívio social.<br />
Dessa forma, a lógica <strong>do</strong> mini Esta<strong>do</strong> exclusivo para aquela população, cria uma espécie<br />
"mundinho especial" que acaba segregan<strong>do</strong>. Não há como incluir socialmente, as pessoas, a<br />
partir de um processo reabilitatório que separa e exclui <strong>do</strong> convívio. Um outro aspecto<br />
problemático deste modelo institucionaliza<strong>do</strong> de atender às deficiências/diferenças pode ser<br />
avalia<strong>do</strong> e sintetiza<strong>do</strong> na opinião de um funcionário da área de assessoria de planejamento<br />
da FADERS:<br />
"Este modelo não consegue dar conta da demanda, pois, por um la<strong>do</strong>, a<br />
Fundação não está estruturada para atender a demanda crescente<br />
regionalmente, não possui orçamento suficiente. E, por outro la<strong>do</strong><br />
desobriga as demais instituições e a própria sociedade de se relacionar,<br />
acumular conhecimento ou mesmo aceitar e conviver produtivamente com<br />
a diferença. É fundamental para romper este ciclo, capacitar órgãos<br />
públicos e priva<strong>do</strong>s para o atendimento desta população, junto com os<br />
demais, oportunizar a to<strong>do</strong>s uma relação cotidiana com a PPD e PPAH<br />
para desmistificar me<strong>do</strong>s e incompreenções" (entrevista realizada em<br />
jan/2002).<br />
A criação de uma instituição que se ocupou especificamente com as questões relativas a<br />
um segmento da população aconteceu em um tempo no qual o procedimento segregatório<br />
era ti<strong>do</strong> como o mais adequa<strong>do</strong> para atender às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiências. Na sua<br />
trajetória de mais de 20 anos, instituição FADERS vem tentan<strong>do</strong> se reordenar, buscan<strong>do</strong><br />
consolidar uma concepção de cidadania <strong>do</strong> seu público-alvo o que sistematicamente vem<br />
sen<strong>do</strong> discuti<strong>do</strong> entre os seus trabalha<strong>do</strong>res e seus dirigentes. Na atual administração estão<br />
sen<strong>do</strong> constituí<strong>do</strong>s importantes avanços para a concretização de tal mudança.<br />
A atual direção da Fundação teve como meta: constituir a FADERS como coman<strong>do</strong><br />
único defini<strong>do</strong>r da política para as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades.<br />
Dessa forma ela se torna à instância de interlocução com a sociedade civil, defini<strong>do</strong>ra e
130<br />
articula<strong>do</strong>ra das ações de governo para esse setor social, forma<strong>do</strong>ra e capacita<strong>do</strong>ra de<br />
recursos humanos para o conjunto <strong>do</strong> governo. Esse é o contexto de propostas em que se<br />
encontrava a FADERS na ocasião da pesquisa.<br />
Apesar das propostas de mudança, a instituição apresenta em seu funcionamento<br />
institucional to<strong>do</strong> um lega<strong>do</strong> histórico cultural, no qual se faz presente um cotidiano de<br />
práticas muito fragmentárias. Tais práticas ainda não contemplam ações mais globais e<br />
específicas, ou seja, que considere tanto a amplitude das necessidades, quanto a<br />
singularidade de cada sujeito social. Ações assistencialistas por muito tempo trataram a<br />
questão da deficiência, se reportan<strong>do</strong> mais a um “não-sujeito” <strong>do</strong> que a um sujeito que tem<br />
limita<strong>do</strong> alguma faceta de sua vida social. Na “Função de Execução Especializada<br />
Complementar”, a FADERS, possui 11 (onze) unidades de atendimento que desenvolvem<br />
suas atividades nas áreas de prevenção, estimulação precoce, diagnóstico e tratamento,<br />
escolarização e preparação para o trabalho. A seguir as unidades da FADERS, em POA:<br />
Centro de Avaliação, Diagnóstico e Estimulação Precoce – CADEP;<br />
Centro de Treinamento Ocupacional de Porto Alegre – COPA;<br />
Centro de Atendimento Especializa<strong>do</strong> para Deficientes da Audição – CAE<strong>DA</strong>;<br />
Escola de 1º Grau Professora Lígia Mazzeron para Educação Especial<br />
Centro Louis Braille – CLB;<br />
Escola de 1° Grau Incompleto INTERCAP;<br />
Núcleo de Atendimento da FADERS na Zona Sul – PAM/3;<br />
Núcleo de Atendimento ao Porta<strong>do</strong>r de Síndrome <strong>do</strong> Autismo;<br />
Núcleo de Atendimento às Pessoas de Altas Habilidades.<br />
As unidades da FADERS se constituem em um potencial campo de trabalho para os<br />
trabalha<strong>do</strong>res da área social, em que os mesmos desenvolvem suas ações em conjunto com<br />
equipes técnicas de diferentes áreas. Nessa prática social, há toda uma luta por um trabalho<br />
de humanização das relações sociais que envolvem os sujeitos em questão. A FADERS, até<br />
o presente momento, ainda se mantém com um trabalho fragmentário, <strong>do</strong> ponto de vista <strong>do</strong><br />
conjunto de suas Unidades. Cada Unidade tem uma ou mais equipes de trabalho, que por<br />
vezes, tem uma meto<strong>do</strong>logia diversa da outra, inclusive diferenças bem marcantes nessas<br />
meto<strong>do</strong>logias. Uma equipe, por exemplo, trabalha centran<strong>do</strong> sua ação no aspecto clínico
131<br />
<strong>do</strong>s atendimentos, sem muita referência às redes sociais. Uma outra equipe trabalha<br />
fundamentalmente com as redes, com a concepção <strong>do</strong> trabalho contextual.<br />
Outro aspecto marcante da instituição é que cada unidade, núcleo ou escola trabalha<br />
especificamente em uma única área da deficiência, como foi descrito acima. A integração<br />
entre as diversas áreas da deficiência não é a ideal. O fluxo de comunicação e parceria entre<br />
os diversos setores, também, nem sempre corresponde ao espera<strong>do</strong>. To<strong>do</strong>s estes aspectos<br />
críticos, estão na pauta <strong>do</strong> dia das reflexões <strong>do</strong> corpo técnico e se pretende transformar essa<br />
realidade institucional, na possibilidade de uma FADERS coesa, com uma integridade<br />
maior. Os aspectos históricos e conjunturais das administrações anteriores, como foi visto,<br />
contribuíram para esse mo<strong>do</strong> de organização fragmentária da dinâmica institucional.<br />
Existem, entretanto, projetos e vontade política para que essa realidade se torne diferente.<br />
No processo desta nova gestão se problematizou algumas questões da prática social de<br />
implementação de um novo projeto político na FADERS. Houve uma intenção política, por<br />
parte <strong>do</strong>s novos dirigentes, de modificar a realidade institucional, na qual a mesma<br />
começasse a representar uma ruptura com um histórico segrega<strong>do</strong>r. Por outro la<strong>do</strong>, por<br />
parte de seu corpo funcional, há o entendimento de que os profissionais, ao longo de to<strong>do</strong>s<br />
esses anos, vêm acumulan<strong>do</strong> um saber específico na área das diferenças. Muito embora,<br />
uma certa fragmentação nas ações institucionais seja característica <strong>do</strong> contexto das práticas<br />
de trabalho <strong>do</strong>s profissionais, isso não tira o mérito <strong>do</strong> conhecimento adquiri<strong>do</strong> nessas<br />
ações. Sen<strong>do</strong> assim a grande discussão atual acontece em torno da possibilidade <strong>do</strong> trabalho<br />
técnico da FADERS, a partir de suas unidades de atendimento se tornarem "unidades de<br />
referência" no Esta<strong>do</strong> de um trabalho desenvolvi<strong>do</strong> na área das deficiências.<br />
"A FADERS, hoje, é o gestor estadual de uma política de direitos – a<br />
Política Pública Estadual para PPD e PPAH – e sua principal atribuição<br />
é promover a garantia <strong>do</strong>s direitos desta população propon<strong>do</strong> e<br />
articulan<strong>do</strong> a implantação desta política. Em decorrência, to<strong>do</strong> o trabalho<br />
da FADERS neste senti<strong>do</strong> é, principalmente, extrainstitucional. Mesmo no<br />
que se refere ao atendimento direto nas Unidades, a parceria com as<br />
ONGs e OGs se faz necessária, na medida em que o atendimento presta<strong>do</strong><br />
visa a constituição de espaço de pesquisa e produção de conhecimento, o<br />
que implica em integração com outras instituições e com a população<br />
alvo da política, principalmente" (Entrevista realizada em nov. de 2001) .
132<br />
A dinâmica institucional está passan<strong>do</strong> por um processo de reordenamento técnico para<br />
adequação interna da instituição à nova lei da FADERS. Em setembro de 2001 foi aprovada<br />
a nova lei da FADERS. A mudança da legislação vem adequar a lei aos movimentos da<br />
sociedade que questionam as históricas formas de segregação institucional (Ver no anexo 4<br />
a nova lei da FADERS). Em cada unidade estão sen<strong>do</strong> realiza<strong>do</strong>s vários debates sobre o seu<br />
funcionamento e os novos parâmetros institucionais. Esse espaço tem si<strong>do</strong> nomean<strong>do</strong> de<br />
“Interunidade”.<br />
Os profissionais estão ten<strong>do</strong> a possibilidade de refletir sobre suas práticas, enquanto se<br />
estabelece a comunicação entre as diferentes unidades da FADERS. Aproveita-se esse<br />
espaço fecun<strong>do</strong> de debate como um <strong>do</strong>s campos de pesquisa, no qual foi possível<br />
aprofundar a reflexão em torno da temática: A diversidade da condição humana sob a ótica<br />
das relações sociais e seus processos de exclusão/inclusão que envolve as<br />
deficiências/diferenças.<br />
Com a técnica de seminário e de entrevistas foram abordadas as Unidade da FADERS,<br />
conforme será explicita<strong>do</strong> no capítulo cinco deste trabalho (que trata da meto<strong>do</strong>logia de<br />
pesquisa).Dessa se consolida um debate sobre o novo perfil da instituição, em que se<br />
chegou a determina<strong>do</strong>s resulta<strong>do</strong>s, os quais a seguir serão expressos através algumas falas<br />
selecionadas. No debate com os profissionais que trabalham na área da educação,<br />
destacam-se algumas dificuldades que estiveram presentes na reflexão e avaliação <strong>do</strong>s<br />
técnicos da Fundação:<br />
"As outras crianças da escola regular não aceitam as crianças<br />
diferentes. As professoras, por vezes, reforçam esse mal estar. A primeira<br />
rejeição começa em casa, portanto temos que fazer um grande trabalho de<br />
sensibilização para que esta criança seja vista em seu potencial: mostrar<br />
seu trabalho, visitar outras escolas, fazer parcerias com diversos setores<br />
<strong>do</strong>s órgãos públicos e priva<strong>do</strong>s (centro cultural, CTG, Jardim Botânico,<br />
etc..); levar as crianças para rua; receber visita na escola de outras<br />
escolas de ensino regular; permitir que a criança porta<strong>do</strong>ra de deficiência<br />
mental seja vista e possa conviver com os outros. No ensino regular os<br />
professores não estão prepara<strong>do</strong>s para trabalhar com as deficiência.<br />
Sentem me<strong>do</strong> e rejeição e aí está a importância de nosso trabalho"<br />
(seminário realiza<strong>do</strong> em dez. de 2001).<br />
"Nós os profissionais da educação sempre fomos os que mais<br />
excluímos. Somos responsáveis pela exclusão. Ainda bem que estamos nos
133<br />
dan<strong>do</strong> conta disso. Quan<strong>do</strong> o pai usa a lei para forçar o filho a ficar<br />
"incluí<strong>do</strong>" na escola regular, a criança fica excluída da turma, o<br />
professor nem sempre ajuda a incluí-lo" (seminário realiza<strong>do</strong> em dez. de<br />
2001).<br />
Uma dificuldade muito comum que fica expressa no atendimento à crianças porta<strong>do</strong>ras<br />
de deficiência se refere ao fato das escolas muitas vezes solicitarem o apoio técnico da<br />
FADERS para manter as crianças na escola. Ou seja, o que acontece é um condicionamento<br />
da criança ao tratamento para manter-se na escola. Isso é uma situação que demonstra a<br />
dificuldade da inclusão e da permanência das crianças na escola.<br />
Há um processo "sutil" de exclusão e até de expulsão em função <strong>do</strong> comportamento<br />
diferencia<strong>do</strong> de crianças porta<strong>do</strong>ras de alguma deficiência. Essas crianças são<br />
estigmatizadas, deixadas de la<strong>do</strong>. Nesse senti<strong>do</strong> o debate entre os profissionais da FADERS<br />
aponta a necessidade de um respal<strong>do</strong> substancial em várias políticas inclusivas para que se<br />
garanta a permanência das crianças nas escolas, contemplan<strong>do</strong> suas diferenças. Faz-se<br />
necessário uma ampla interlocução entre os diversos setores <strong>do</strong> governo para garantir a<br />
inclusão.<br />
De outra forma a instituição FADERS deve trabalhar colocan<strong>do</strong> em pauta o potencial <strong>do</strong><br />
sujeito, mostran<strong>do</strong> seu trabalho, sua capacidade criativa e de autonomia. É um amplo<br />
trabalho que começa com as famílias, perpassan<strong>do</strong> as diversas áreas da socialização. No<br />
caso <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência mental, por exemplo, ainda são muito marcantes os<br />
preconceitos que levem a uma imagem da pessoa incapacitada para o convívio com os<br />
demais, impossibilitadas da capacidade de criatividade e produtividade. Os depoimentos a<br />
seguir refletem esse aspecto, respectivamente de um funcionário da FADERS e de um<br />
usuário:<br />
"Uma professora levou as crianças de uma escola com porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência mental para uma atividade na praça e uma senhora que estava<br />
com seu filho se retirou, retiran<strong>do</strong> até o cachorro <strong>do</strong> local. A impressão<br />
que sempre fica é essa que as pessoas rejeitam, que elas tem me<strong>do</strong> dessas<br />
crianças diferentes, como se essas crianças não"servissem" para o<br />
convívio com os "normais" (seminário realiza<strong>do</strong> em out. de 2001).<br />
"As pessoas deviam entender que nós não somos excepcionais, to<strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong> é irmão, não devia ter tanta discriminação, outro dia eu fui dar um
134<br />
beijo no rosto de uma senhora e ela virou a cara" (entrevista realizada em<br />
out. de 2001).<br />
Os depoimentos acima sinalizam as barreiras sociais que distanciam as pessoas por suas<br />
condições singulares. Sinalizam também a reflexão que os profissionais da FADERS estão<br />
fazen<strong>do</strong> acerca da necessidade de trabalhar para além da instituição e para além da pessoa<br />
porta<strong>do</strong>ra de deficiência. É um trabalho com a sociedade, suas organizações, suas<br />
instituições que precisa ser concretiza<strong>do</strong>. Não são apenas as condições materiais da<br />
sociedade que precisam ser trabalhadas, também sua condição simbólica, suas<br />
representações, especialmente no que diz respeito às deficiências É preciso aprender uma<br />
outra forma de olhar para a diversidade das características humanas e as reconhecer como<br />
parte <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> humano e não como "um mun<strong>do</strong> à parte".<br />
É, necessário, nesse senti<strong>do</strong> trabalhar na construção de espaços de cidadania, que podem<br />
se traduzir por participação, pelo exercício <strong>do</strong> pertencimento <strong>do</strong> sujeito ao seu meio. Há um<br />
certo consenso entre os trabalha<strong>do</strong>res da FADERS, sobre a análise, que se faz necessário<br />
investir em um trabalho que propicie a visibilidade da pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência nos<br />
espaços <strong>do</strong> social, a fim de as pessoas não fiquem confinadas à instituição, separadas <strong>do</strong><br />
contexto. O depoimento de uma assistente social que segue exemplifica esse entendimento.<br />
"Aqui no nosso centro de atendimento os usuários vêm a instituição<br />
como passagem, um lugar onde eles estão para o tratamento e depois<br />
voltam para suas casas. Não há mais aquela velha idéia de confraternizar<br />
na instituição, de fazer "festinhas", reuniões entre os "seus". Eles sabem<br />
que devem estar nas ruas, no social. Aqui é apenas um lugar de referência<br />
para o atendimento de suas questões específicas mas não para seu<br />
confinamento" (seminário realiza<strong>do</strong> em abril de 2001).<br />
Acontece um processo de reflexão, uma auto-análise por parte <strong>do</strong>s profissionais que se<br />
dão conta <strong>do</strong>s processos de segregação que são cria<strong>do</strong>s na instituição. Na própria prática<br />
<strong>do</strong>s profissionais de diferentes áreas que, por muito tempo reforçaram atitudes paternalistas,<br />
que acabam esvazian<strong>do</strong> o senti<strong>do</strong> da cidadania em ações "cuida<strong>do</strong>ras" em um olhar para o<br />
outro não o reconhecen<strong>do</strong> como um outro de potencialidade e possibilidades. Isso ficou<br />
evidente no seminário em uma das unidades da FADERS, que trabalha com oficina para o<br />
trabalho. Nesse debate a análise pontuou uma a reflexão sobre uma prática que hoje busca
135<br />
desenvolver atividades com pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência mental no senti<strong>do</strong> de uma<br />
ocupação "mais adulta". Isso significa dizer que o trabalho vai se voltar para atender<br />
aqueles usuários consideran<strong>do</strong> sua capacidade de fazer escolhas, de dizer o que querem<br />
desenvolver em suas atividades.<br />
O espaço propicia<strong>do</strong> vai ser caracteriza<strong>do</strong> como preparação para o trabalho e não mais<br />
como uma escola para crianças grandes, como ocorria no passa<strong>do</strong>. Sen<strong>do</strong> assim, ao invés de<br />
se priorizar atividades festivas (tipo Juninas), a prioridade será promover seminários para<br />
comemorar e debater sobre o significa<strong>do</strong> <strong>do</strong> dia <strong>do</strong> trabalho. Essas mudanças de prioridades<br />
vão mudan<strong>do</strong> a prática institucional e o senti<strong>do</strong> da<strong>do</strong> à concepção das deficiências. As<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência mental, em geral eram tratadas, (ainda são) como "eternas<br />
crianças". Os méto<strong>do</strong>s institucionais não avançavam no exercício de uma outra condição,<br />
reduziam a possibilidade criativa a uma menoridade, infantilizan<strong>do</strong> o sujeito.<br />
Na linha de auto análise institucional pode se destacar também o entendimento que quer<br />
romper com a imagem <strong>do</strong>s "profissionais <strong>do</strong> bem" legada aos que trabalham com pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência. BRIZOLA (2000, p.188) menciona o fato <strong>do</strong> professor de<br />
educação especial ser caracteriza<strong>do</strong>, como um "indivíduo especial" para o atendimento aos<br />
"especiais", um ser "benevolente e amável". Esse é um olhar lança<strong>do</strong> aos profissionais<br />
dessa área que indicam a descaracterização <strong>do</strong> aspecto profissional, o substituin<strong>do</strong> pela<br />
característica da "bondade", da "boa vontade".<br />
Por detrás da idéia de que é necessário um "<strong>do</strong>m" especial para trabalhar com as<br />
deficiências se colocam questões de desqualificação e superqualificação ao mesmo tempo<br />
desse trabalho, conforme será demonstra<strong>do</strong> no que segue. O que está em pauta nesse<br />
processo é o fato de acontecer uma redução <strong>do</strong>s "possíveis" profissionais que "estão aptos"<br />
para o ofício, apenas os especialistas. Nessa perspectiva os lugares de atendimento, em<br />
geral, sejam na área da saúde, da pedagogia, da psicologia e outras áreas interditam a<br />
possibilidade de atendimento àqueles que são considera<strong>do</strong>s "especiais". A conseqüência da<br />
perspectiva da superespecialização nas áreas das deficiências é a exclusão.
136<br />
Em geral, o argumento utiliza<strong>do</strong> pelos serviços públicos e priva<strong>do</strong> para o não<br />
atendimento das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência é o fato de "não haver qualificação,<br />
preparo para tanto". Como se a pessoa por portar uma deficiência fosse um ser à parte <strong>do</strong><br />
conjunto humano, precisan<strong>do</strong> de uma tecnologia "tão especial", quanto sua suposta<br />
condição "especial" de ser humano. Isso parece ser um grande resquício da idéia de<br />
excepcionalidade, algo para além ou para aquém <strong>do</strong> humano.<br />
Esse processo está hoje em um embrionário processo de revisão. De outro la<strong>do</strong>, os<br />
profissionais que se "dedicaram" à área específica das deficiências, por serem considera<strong>do</strong>s<br />
requisitos de bondade, estão desqualifica<strong>do</strong>s no aspecto <strong>do</strong> profissionalismo. Os méritos<br />
desses profissionais são interpreta<strong>do</strong>s como habilidade em lidar com uma situação menos<br />
profissional <strong>do</strong> que "humanitária". Aqui acontece uma desvalorização <strong>do</strong> trabalho que é<br />
visto como "capacidade de suportar o déficit" e não como produção de um processo de<br />
trabalho, enquanto tal. Esses aspectos podem ser ilustra<strong>do</strong>s na fala de uma pedagoga da<br />
FADERS:<br />
"Existem muitas frases que já ouvimos para caracterizar o que pensam <strong>do</strong><br />
nosso trabalho, tais como: 'vocês são umas heroínas por abraçar esta<br />
causa; Deus vai recompensar vocês pela dedicação ao trabalho; Ainda<br />
bem que existem pessoas como vocês para realizar esta árdua tarefa'.<br />
Frases como essas demonstram que os profissionais não são respeita<strong>do</strong>s<br />
tanto quanto não há respeito pela condição de cidadão de nossa<br />
clientela. Já é hora de mudar esta história" (seminário realiza<strong>do</strong> em out.<br />
de 2001).<br />
A política pública deve garantir a possibilidade da inclusão, deve penalizar os atos<br />
discriminatórios. O trabalho técnico da FADERS deve estar volta<strong>do</strong> para uma lapidação da<br />
sociedade para se adaptar ao sujeito porta<strong>do</strong>r de deficiência, se trata de um processo de<br />
trabalhar as instâncias sociais, nas diversas ações institucionais e especialmente<br />
extrainstitucionais. Esse é o resulta<strong>do</strong> para o qual se encaminha a síntese <strong>do</strong> debate que<br />
atualmente pode ser trava<strong>do</strong> com aqueles que trabalham com a questão da deficiência.<br />
A política pública e a lei em si não garantem a inclusão, se faz necessário, um trabalho<br />
de face-a-face com as diversas instituições sociais para uma mudança de mentalidade e de<br />
disponibilidade de mudança com a questão em pauta. Nessa perspectiva a FADERS, como
137<br />
articula<strong>do</strong>ra da política pública da área das deficiências e das altas habilidades, tem a<br />
função de organização de redes de atendimento, de articulação de fluxos de inserção <strong>do</strong>s<br />
usuários de seu serviço na rede pública <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>. Um outro exemplo, da preocupação<br />
quanto a divulgação da política pública e <strong>do</strong> como se lida com a situação da deficiência, se<br />
coloca no depoimento abaixo:<br />
"É preciso perder o me<strong>do</strong> das deficiências, o me<strong>do</strong> de falar no assunto, o<br />
me<strong>do</strong> de saber como se lida com elas, de aprender como tratar de uma<br />
pessoa que é porta<strong>do</strong>ra de deficiência. Ela precisa de ajuda, o fato de<br />
ajudá-la não vai ferir sua cidadania. Precisamos ensinar a sociedade a<br />
trabalhar com esse assunto é a diferenciar que um cego quan<strong>do</strong> vai<br />
atravessar uma rua precisa de ajuda, mas um cadeirante numa esquina<br />
para<strong>do</strong> não significa que esteja pedin<strong>do</strong> esmolas. O que tem que ser<br />
aprendi<strong>do</strong> é que a pessoa mesma vai dizer como ela deve ser ajudada, são<br />
coisas básicas, mas que quem não viveu uma situação de deficiência<br />
desconhece. É por aí nosso trabalho educativo" (seminário realiza<strong>do</strong> em<br />
set. de 2001).<br />
Um aspecto polêmico e problemático, das reformulações institucionais, dizem<br />
respeito ao fato da política pública contemplar tanto as deficiências quanto às pessoas com<br />
altas habilidades (parte deste debate já foi apresenta<strong>do</strong> no capítulo um desta tese).<br />
Conforme já foi explicita<strong>do</strong> a FADERS é oriunda da educação especial e sen<strong>do</strong> assim,<br />
como no modelo <strong>do</strong> ensino especial, trata das questões referentes às deficiências tanto<br />
quanto da super<strong>do</strong>tação. Entretanto, há uma dificuldade institucional de incorporação da<br />
demanda das altas habilidades. Em função da maior demanda vir das questões referentes às<br />
deficiências e pelo fato das diferentes unidades da FADERS se ocuparem dessa demanda<br />
há um processo de estranhamento quanto às altas habilidades. Todavia no debate com a<br />
unidade que trata das questões referente à área da super<strong>do</strong>tação, há a seguinte<br />
argumentação sobre o assunto:<br />
"O problema <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de altas habilidades é o fato de não ter<br />
reconheci<strong>do</strong> sua identidade na instituição, ele não é visto e portanto não é<br />
defendi<strong>do</strong>, não é considera<strong>do</strong>, não é trata<strong>do</strong>. Na política pública para<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência e de altas habilidades, este último fica em<br />
detrimento <strong>do</strong> porta<strong>do</strong>r de deficiência. Há uma disputa irracional, a<br />
política é para a deficiência e não para a diferença. Em 1999 se criou<br />
uma política pública para porta<strong>do</strong>res de deficiência e de altas<br />
habilidades, na prática ainda não se viu muitos avanços para os<br />
porta<strong>do</strong>res de altas habilidades (seminário realiza<strong>do</strong> em dez. de 2001).
138<br />
A avaliação colocada acima é demonstrativa <strong>do</strong> descontentamento por parte daqueles<br />
que colocam em pauta questões referentes às altas habilidades. É uma questão que não está<br />
resolvida nessa política pública. A maior parte das ações está voltada para a causa das<br />
deficiências. Concretamente o que se tem de ações se refere à capacitação na Secretaria de<br />
Educação <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> para trabalhar no ensino regular, consideran<strong>do</strong> a especificidade de<br />
alunos porta<strong>do</strong>res de altas habilidades.<br />
Há também um projeto que envolve várias secretarias <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> aproveitan<strong>do</strong> o espaço<br />
<strong>do</strong> museu <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> para colocá-lo à disposição dessa demanda. A conclusão desse debate,<br />
trazida por aqueles que trabalham especificamente com esse segmento institucional, avalia<br />
as ações como restritas se comparadas a todas as articulações que estão sen<strong>do</strong><br />
desencadeadas na área das deficiências. O sistema social exclui, retiran<strong>do</strong> muitas vezes a<br />
possibilidade de expressão da criatividade e <strong>do</strong> potencial, tanto para as deficiências como<br />
para os talentos.<br />
3.3 O SIGNIFICADO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA<br />
A atenção à área das deficiências/diferenças sempre esteve na lateralidade da<br />
preocupação <strong>do</strong>s governos. O esforço <strong>do</strong> governo atual, referente ao perío<strong>do</strong> da pesquisa, se<br />
deu no senti<strong>do</strong> de situar a discussão no centro das preocupações e debates da política<br />
pública desenvolvida pelo governo <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> RS para atender essa área. No segun<strong>do</strong><br />
seminário anual das políticas públicas para PPD e PPAH constata-se na declaração <strong>do</strong><br />
presidente <strong>do</strong> fórum permanente das políticas públicas para PPD e PPAH a expressão de<br />
um sentimento de ambigüidade em relação ao avanço dessas políticas:<br />
"De um la<strong>do</strong> o desenvolvimento da política para PPD e PPAH traz muitas<br />
mudanças às ações <strong>do</strong> governo e pequenas 'revoluções'. De outro la<strong>do</strong> há<br />
ainda muita exclusão da saúde, <strong>do</strong> trabalho, <strong>do</strong> lazer, da educação e de<br />
diversas áreas da vida das pessoas que portam deficiências e<br />
singularidades marcantes. Estamos avança<strong>do</strong> na política pública,<br />
entretanto, os avanços tornam-se pequenos diante da magnitude das
139<br />
dificuldades que foram criadas na sociedade ao longo da história para<br />
tratar destas questões (Diário de Campo, nov. de 2001).<br />
O que se precisa é de uma política que garanta cidadania para superar a marca<br />
assistencialista existente nas instituições que trabalham com a questão das deficiências. No<br />
horizonte de uma nova política o norte indica<strong>do</strong> é: "as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e<br />
de altas habilidades precisam de equiparação de oportunidades e não de amparo"<br />
(Caderno de Resoluções 2001, p.5). Nesse senti<strong>do</strong>, a nova atribuição da FADERS, na<br />
qualidade de gestora da política pública dessa área, esteve passan<strong>do</strong> por um reordenamento<br />
técnico para se adequar às novas atribuições políticas e a nova lei. Uma das maiores<br />
controvérsias dessa Fundação é o fato de apesar de mencionar no próprio nome uma<br />
abrangência de caráter Estadual, funciona apenas na capital porto-alegrense.<br />
To<strong>do</strong> o direcionamento <strong>do</strong> trabalho institucional desenvolve-se na cidade, fican<strong>do</strong> o<br />
interior <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> sem atendimento na área. BRIZOLA (2000, p.74), em seu estu<strong>do</strong> sobre a<br />
política pública na área da educação especial, pontuava, de forma crítica, a situação da<br />
história da educação especial estar reduzida a um enfoque porto-alegrense A mesma<br />
situação foi reproduzida na história da FADERS. Ao longo <strong>do</strong>s 28 anos de existência da<br />
FADERS uma parcela pequena de pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades<br />
foram atendidas. Esse fato trouxe como conseqüência a pouca visibilidade institucional. A<br />
nova política pública tem como objetivo tornar referência, de atendimento na área das<br />
deficiências e altas habilidades, as unidades da FADERS. Há, também, a função de<br />
articular a rede de atenção nessa área, construin<strong>do</strong> uma ampla interlocução com diversos<br />
setores governamentais e não governamentais para qualificar a atenção às demandas da<br />
área.<br />
A FADERS se torna órgão gestor da política pública aproveitan<strong>do</strong> os recursos <strong>do</strong><br />
Esta<strong>do</strong>. No novo modelo de gestão foi instituí<strong>do</strong>: O FÓRUM PERMANENTE <strong>DA</strong> POLÍTICA<br />
PÚBLICA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DE ALTAS HABILI<strong>DA</strong>DES. Esse<br />
fórum presidi<strong>do</strong> pela FADERS reúne instâncias <strong>do</strong> governo e da sociedade civil, as diversas<br />
organizações e entidades representativas de pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas
140<br />
habilidades. (ver no anexo 4, a Legislação referente à pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência, em<br />
compêndio elabora<strong>do</strong> pela FADERS).<br />
No Fórum acima menciona<strong>do</strong> foram debati<strong>do</strong>s to<strong>do</strong>s os assuntos referentes a essa<br />
política e as ações previstas e desenvolvidas, é uma instância de participação e deliberação.<br />
Esse espaço de debate e proposição tem si<strong>do</strong> construí<strong>do</strong> de mo<strong>do</strong> a superar a lacuna de<br />
atenção ao interior <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>. De forma estratégica o Fórum funciona de forma rotativa,<br />
sen<strong>do</strong> realiza<strong>do</strong> em diversas regiões <strong>do</strong> interior <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>. Dessa forma a política pública<br />
pretende atingir o Esta<strong>do</strong> como um to<strong>do</strong> e superar seu traço de atenção porto-alegrense (ver<br />
no anexo 5, o <strong>do</strong>cumento da FADERS: o significa<strong>do</strong> <strong>do</strong> Fórum e as ações desenvolvidas a<br />
partir <strong>do</strong> mesmo). O depoimento abaixo é demonstrativo <strong>do</strong> debate que tem ocorri<strong>do</strong> nesse<br />
espaço:<br />
"A tarefa das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades é<br />
propor a instauração de um novo olhar da sociedade sobre si mesma,<br />
propor que a sociedade seja capaz de reconhecer, aceitar a questão das<br />
diferenças. A quase totalidade das pessoas enfrenta a questão das<br />
diferenças e a segregação que daí provenha causa sofrimento. Em nosso<br />
inconsciente há um vasto elenco de crenças: o racismo, o machismo, as<br />
atitudes paternalistas diante das deficiências e <strong>do</strong>s i<strong>do</strong>sos. Isso tem<br />
origem no inconsciente. O poder público precisa assumir esta tarefa de<br />
(re)construção da subjetividade coletiva que gerou a discriminação.<br />
Realizar ações técnicas de políticas integradas. Projetos na educação, na<br />
cultura em busca da autonomia" (Diário de Campo, nov.2001).<br />
Um amplo debate tem aconteci<strong>do</strong> em torno <strong>do</strong> reconhecimento e <strong>do</strong> necessário exercício<br />
<strong>do</strong> "protagonismo da pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência". A tendência histórica das<br />
instituições foi o paternalismo e o "falar por", "falar em nome de", hoje o movimento<br />
organiza<strong>do</strong> das PPD não quer mais que se repita essa história e quer se colocar no<br />
protagonismo das lutas e das ações que possam levar a autonomia e a cidadania <strong>do</strong>s<br />
sujeitos. De um la<strong>do</strong> o necessário protagonismo que coloca à frente das deliberações, o<br />
sujeito porta<strong>do</strong>r de deficiência. Por outro la<strong>do</strong> à articulação <strong>do</strong> movimento das PPD com as<br />
demais instâncias sociais, a fim de que não haja isolamento e a perpetuação da segregação.<br />
Na seqüência analisam-se <strong>do</strong>is depoimentos de participantes das reuniões <strong>do</strong> Fórum<br />
Permanente, opiniões que demonstram a reflexão sobre aspectos menciona<strong>do</strong>s:
141<br />
"A ppd deve ser agente ativa. Depende de nós como sujeitos ativos,<br />
reivindicar seus espaços, ocupan<strong>do</strong> aquilo que a sociedade nos nega. Por<br />
vezes as ppd introjetam os sentimentos de impossibilidade que são<br />
coloca<strong>do</strong>s socialmente. A discriminação contra o negro, o índio, a mulher<br />
é reconhecida pela sociedade mais que a questão <strong>do</strong> deficiente. A questão<br />
<strong>do</strong> deficiente ainda se confunde com a questão da assistência versus<br />
cidadania. Não podemos correr o risco de tornar este Fórum, um gueto<br />
das ppd, devemos nos articular com os diversos conselhos que estão na<br />
sociedade. No Fórum já existe uma autocrítica por parte das pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência em relação a si mesma, para uma necessidade<br />
de abertura <strong>do</strong> movimento, <strong>do</strong> seu esforço de integração, de superar a<br />
tendência a auto segregação" (Diário de Campo, agosto de 2002).<br />
"O movimento das ppd deve conversar com os diversos órgãos <strong>do</strong> governo<br />
para sugerir adequações segun<strong>do</strong> a demanda das pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência e altas habilidades. É um protagonismo necessário, por isso a<br />
importância <strong>do</strong> Fórum destacar esse protagonismo para construção de<br />
um novo olhar sobre a diferença. Nossa grande estratégia é mesmo nosso<br />
protagonismo. O marco constitucional é um avanço que ainda não<br />
garante a inclusão" (Diário de Campo nov.2001).<br />
O sujeito protagonista de sua história é aquele que busca e encontra a possibilidade de<br />
gerenciar sua própria vida, de realizar suas próprias escolhas e decisões. Conforme já foi<br />
dito inúmeras vezes este ideal de protagonismo esteve interdita<strong>do</strong>, pois sempre havia outras<br />
pessoas para falar pelas pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Nas instâncias sociais, em geral,<br />
se fala em nome das mesmas, o que caracteriza uma prática tutelar muito comum a essa<br />
situação. Na contraposição a essa vivência de "proteção" se abrem os horizontes de<br />
protagonismo, no qual o sujeito indica os caminhos a serem percorri<strong>do</strong>s por aqueles que<br />
quiserem se agregar a luta por um mun<strong>do</strong> de maior acessibilidade e reconhecimento da<br />
diversidade humana. Nessa perspectiva o Esta<strong>do</strong>, controla<strong>do</strong> pelos cidadãos, num exercício<br />
permanente de participação, é o propulsor dessa proposta.<br />
Se assim fosse, como nesse ideário, to<strong>do</strong>s deveriam fazer parte de uma construção<br />
coletiva <strong>do</strong> projeto político a ser implementa<strong>do</strong> pelas instâncias governamentais. A<br />
concepção de cidadania em pauta no debate da política pública para pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência e de altas habilidades está permeada na concepção aqui retratada. Conclui-se,<br />
então, que não se constrói cidadania com benesses, com distribuição de cadeiras de rodas,<br />
com fornecimento de próteses e órteses ou com benefício continua<strong>do</strong> para pessoas<br />
diagnosticadas como "incapazes" ou "inválidas". Devi<strong>do</strong> à segregação histórica desse
142<br />
segmento da população, alguns recursos da política de assistência social precisam ser<br />
garanti<strong>do</strong>s. A tônica das reivindicações <strong>do</strong> movimento organiza<strong>do</strong> das pessoas porta<strong>do</strong>ras<br />
de deficiência requer, entretanto, como a palavra de ordem deste momento histórico, a<br />
cidadania.<br />
A questão das deficiências foi sempre tratada unicamente como uma questão de<br />
assistência. O que se coloca agora é o reconhecimento que a pessoa porta<strong>do</strong>ra de uma<br />
deficiência, como qualquer outra, tem necessidades inerentes às diversas áreas da vida<br />
humana. A constituição Federal garante os direitos <strong>do</strong>s cidadãos. Os porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência, como cidadãos são, portanto, constituí<strong>do</strong>s de direitos. Uma política<br />
diferenciada é discriminatória, porém, ainda é requerida e considerada necessária pelo<br />
movimento social das PPD. Tal necessidade provém <strong>do</strong> processo histórico das relações<br />
sociais que deixou uma imensa dívida com amplos setores sociais que sofrem<br />
discriminação étnica, de gênero, de idade ou outra condição específica.<br />
Fundamentalmente, será necessário que se considere aos dispositivos presentes na<br />
POLÍTICA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA,<br />
indican<strong>do</strong> em seus princípios, no artigo 5º, inciso III: "respeito às pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade por<br />
reconhecimento <strong>do</strong>s direitos que lhes são assegura<strong>do</strong>s, sem privilégios e sem<br />
paternalismos" (BRASIL, 2000, p.196).<br />
A grande tônica, dessas reivindicações, recai sobre a necessidade de acesso ao poder<br />
público o que requer uma adaptação <strong>do</strong> mesmo às necessidades deste segmento que, por ter<br />
si<strong>do</strong> relega<strong>do</strong> à exclusão, precisa de algumas ações compensatórias. E, por essa razão<br />
justifica-se a construção de uma política específica para área das deficiências, o que não<br />
significa privilégios ou paternalismo para a mesma. Na opinião que segue é apresenta<strong>do</strong> o<br />
seguinte argumento:<br />
"A sociedade é muito competitiva. O deficiente não pode competir de<br />
igual para igual com outra pessoa que não é deficiente. Sempre estará em<br />
desvantagem. A lei que garante cota para o emprego de pessoas com<br />
deficiência é justa, porque só assim o deficiente concorre com outros em
143<br />
condições de igualdade. A competitividade e a exclusão da sociedade vai<br />
afetar as pessoas em geral e aos deficientes será bem sofrível. Para as<br />
crianças que estão nas ruas não há recursos que dirá para os deficientes"<br />
(Entrevista realizada em jun. de 2001).<br />
Na entrevista acima está sen<strong>do</strong> feita uma referência à legislação que garante<br />
percentagem (reserva de merca<strong>do</strong>) nas empresas para pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Na<br />
Constituição Federal 8 já há uma previsão de cota determinada de vagas para pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência em empresas e concursos públicos. A legislação Estadual e<br />
Municipal, também, dispõe de leis que referem a essa reserva de vagas. Há o entendimento<br />
que o governo deva garantir acesso ao merca<strong>do</strong> de trabalho, através da legislação (ver no<br />
anexo 4, já menciona<strong>do</strong>, a legislação específica da área).<br />
Foi implanta<strong>do</strong> (Lei 11.393/99, legislação Estadual) um programa denomina<strong>do</strong>:<br />
PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO (PPE), que se constitui em uma parceria entre a FADERS e<br />
a Secretaria de Trabalho Cidadania e Assistência Social e reserva em torno de 800 vagas<br />
em to<strong>do</strong> o Esta<strong>do</strong> no merca<strong>do</strong> formal. Entretanto, apesar <strong>do</strong> esforço inclusivo dessa política<br />
ainda há várias dificuldades de implementação, tais como está expressa na avaliação, que<br />
segue:<br />
"O merca<strong>do</strong> de trabalho está muito fecha<strong>do</strong> para os cegos, mesmo com a<br />
lei de reserva de merca<strong>do</strong>, as vagas acabam fican<strong>do</strong> para os deficientes<br />
físicos, os sur<strong>do</strong>s. Uma pessoa vesga, por exemplo, é considerada<br />
deficiente visual e será preferida a um cego. A pessoa que não tem um<br />
de<strong>do</strong> também pode ser considerada deficiente física e assim as vagas são<br />
preenchidas com aqueles que estão em melhores condições" (entrevista<br />
realizada em nov.2001).<br />
8 Esfera Federal: Lei 8112 de 11/12/91 - art.5º; Lei 8213 de 24/07/91 - art.93; Resolução 01<strong>do</strong> ministério<br />
público Federal de 04/08/94; Decreto Federal 3298 de 20/12/99 - art.36. Esfera Estadual: Lei 8064 de<br />
29/11/85; Lei 10228 de 06/07/94. Esfera Municipal: Lei complementar 346 de 17/04/95.
144<br />
O merca<strong>do</strong> de trabalho é por si só um campo que se fecha cada vez mais em exigências<br />
de produtividade condizentes com as leis <strong>do</strong> merca<strong>do</strong>. Uma legislação que interfira nessa<br />
lógica se faz permeada das contradições <strong>do</strong> próprio sistema já estabeleci<strong>do</strong> que é<br />
excludente. A exclusão é a característica <strong>do</strong> funcionamento deste modelo social, sen<strong>do</strong> uma<br />
de suas marcas. Muito embora a legislação não garanta por si só a inclusão, é uma forma de<br />
pressionar os mecanismos sociais às mudanças. Alguns avanços significativos, a partir <strong>do</strong><br />
momento em que é promulgada a lei da FADERS, podem ser exemplifica<strong>do</strong>s.<br />
A FADERS é procurada, atualmente, por gerentes de lojas de grande porte, para<br />
obterem subsídios sobre a melhor forma de adaptar os estabelecimentos que atenda também<br />
às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. A Fundação é solicitada a prestar orientação sobre<br />
como montar cursos aos funcionários de estabelecimentos comercias, para ensiná-los a lidar<br />
com a questão das deficiências. Cópias da legislação estão sen<strong>do</strong> requeridas, por diversos<br />
órgãos públicos e priva<strong>do</strong>s, o que permitirá que a lei seja estudada e aplicada. Contu<strong>do</strong>,<br />
apesar <strong>do</strong>s avanços não se pode deixar de considerar o que é trazi<strong>do</strong> no depoimento abaixo:<br />
"O PPE para deficiente mental não funciona direito. Para as exigências<br />
<strong>do</strong> merca<strong>do</strong> o deficiente mental não preenche as expectativas. É um<br />
trabalho artesanal para colocá-los no merca<strong>do</strong> de trabalho. A lei <strong>do</strong>s 10%<br />
os empresários usam para os deficientes físicos. Os deficientes mentais<br />
ficam de fora por não trabalharem com números e coisas abstratas. A<br />
idéia de uma cooperativa foi uma alternativa de produção e prestação de<br />
serviços" (Seminário realiza<strong>do</strong> em maio de 2001).<br />
Parece ocorrer um processo de avanços legais e de concepções que ainda não está<br />
acompanha<strong>do</strong> pela materialização das possibilidades de concretização da inclusão que é<br />
pensada e prevista nos códigos legais. Todavia, está acontecen<strong>do</strong> um movimento maior, na<br />
comunidade em geral, para compreender a situação das deficiências e organizar alternativas<br />
de adequar o meio ao sujeito. Aqui se trabalha na perspectiva <strong>do</strong>s processos sociais, pois<br />
começa entrar em questão a sociedade e seus mecanismos.<br />
Nessa proposta, não é mais sobre o sujeito que recai o déficit. Retira-se <strong>do</strong> mesmo a<br />
marca da falha e problematizam-se os déficits ambientais. Trata-se da valorização <strong>do</strong>
145<br />
aprendiza<strong>do</strong> sobre as deficiências. Força-se o "social" a colocar-se como mediação de<br />
possibilidades para o sujeito ter acesso ao mun<strong>do</strong>. De outra forma obteve-se também no<br />
resulta<strong>do</strong> desta pesquisa, opiniões divergentes quanto ao mérito dessa luta política. Existem<br />
algumas opiniões que remetem a uma outra lógica de pensamento, como se poderá apreciar<br />
abaixo:<br />
"Descrevo abaixo algumas leis que considero discriminatórias:<br />
Constituição Estadual -Art. 19, inciso V - reserva de merca<strong>do</strong>; art.192 e<br />
art.214, parágrafos 1° e1°; Lei 8064/85 - ingresso de PPD no serviço<br />
público; Lei 10.288/94 - ingresso de PPD no serviço público; Lei 8899/94<br />
- Passe livre interestadual; Lei 7713/88 - Imposto de Renda; Lei 8989/95 -<br />
Isenção de IPI na aquisição de automóveis, alteradas pelas leis 9144/95 e<br />
9317/96; Lei 10869 - isenção pagamento IPVA para pessoa porta<strong>do</strong>ra de<br />
deficiência física; Decreto Legislativo 10315/99 - isenção de ICMS para<br />
veículos de PPD" (Entrevista realizada em out. de 2001).<br />
As considerações feitas acima são demonstrativas <strong>do</strong> descontentamento, por parte de<br />
alguns, quanto os aspectos de lei que foram menciona<strong>do</strong>s. Alguns funcionários da<br />
FADERS consideram que determinadas leis, a exemplo das referidas no depoimento,<br />
fornecem privilégios aos que são porta<strong>do</strong>res de deficiência. A reserva de vagas em cargos<br />
públicos, determinadas isenções de pagamento de impostos, como no caso de impostos<br />
sobre a compra e manutenção de veículos, é apontada como política de privilégio.<br />
Além desse aspecto, essas leis são consideradas, também, de cunho discriminatório,<br />
pois, pressupõe a incapacidade da pessoa de conquistar seus espaços sem o amparo legal. O<br />
argumento trazi<strong>do</strong> em considerações, como aquelas acima mencionadas, está atravessa<strong>do</strong><br />
pela recusa das leis pontuais e específicas para as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. A idéia<br />
subjacente aqui é de que o conceito de cidadania, por si só, pudesse dar conta da questão <strong>do</strong><br />
acesso ao mun<strong>do</strong>. Conforme se pode analisar na continuidade daquele depoimento:<br />
"O que é realmente necessário são leis que assegurem a acessibilidade e<br />
igualdade de condições sem discriminações, seja para concorrer a um<br />
cargo público através de concurso ou vestibular, como qualquer outro<br />
cidadão; também pagan<strong>do</strong> seus impostos, adquirin<strong>do</strong> bens sem precisar<br />
isenção, assim exercen<strong>do</strong> sua cidadania" (Entrevista realizada em out. de<br />
2001).
146<br />
O que se pode objetar, no debate, com essa perspectiva de cidadania que recusa<br />
"benesses", é o fato de que dada às condições de extrema desigualdade consolidadas na<br />
sociedade, as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência situam-se na contextualidade com uma<br />
enorme desvantagem, que a lei poderia amenizar. O objetivo que está subjacente a essa<br />
legislação não é o paternalismo ou uma política de privilégios e sim a "correção" <strong>do</strong> atraso<br />
histórico que propiciou essa condição de desigualdade e segregação, em que vivem as<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência.<br />
Fazen<strong>do</strong> uma analogia à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que pressupõe<br />
uma série de medidas compensatórias aos segmentos historicamente excluí<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s bens<br />
sociais, conforme seus princípios e diretrizes, há uma preocupação de: "Respeito à<br />
dignidade <strong>do</strong> cidadão, a sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de<br />
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedan<strong>do</strong>-se qualquer<br />
comprovação vexatória de necessidade" (BRASIL, 2000, p.35).<br />
Considera-se, portanto, que não há nessas medidas legais a intenção ou o estímulo a<br />
práticas assistencialistas que possam ferir a cidadania ou levar a privilégios. Trata-se de<br />
entender como direito das pessoas acessar políticas, que minimamente, devolvam aos<br />
sujeitos o espaço de acesso que as instâncias sociais foram lhe interditan<strong>do</strong>. Na mesma<br />
linha de argumentação contrária às leis de garantia de cotas para pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência e isenção de impostos, há uma outra opinião, que a seguir se apresenta. Tal<br />
opinião revela o descontentamento com as medidas que dispõem sobre as adaptações nos<br />
ônibus da região metropolitana.<br />
Em algumas cidades brasileiras, alguns transportes coletivos estão sen<strong>do</strong> adapta<strong>do</strong>s para<br />
responder as necessidades de pessoas que são porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Por parte de<br />
algumas pessoas contrárias a essas medidas de adaptação arquitetônica, tal<br />
descontentamento se torna demonstrativo <strong>do</strong> quanto é complexo contemplar as diferenças<br />
no conjunto das relações sociais, como se pode analisar:<br />
"Os ônibus adapta<strong>do</strong>s tiram espaço <strong>do</strong>s que não são deficientes, são três<br />
lugares para uma cadeira e muitas pessoas de pé. Os trabalha<strong>do</strong>res
147<br />
cansa<strong>do</strong>s no final <strong>do</strong> dia têm que ficar mal acomoda<strong>do</strong>s e muitas vezes<br />
nenhum deficiente pega o ônibus. Há rampas, ônibus adapta<strong>do</strong>s e não há<br />
espaço. A exigência de direitos acaba se tornan<strong>do</strong> um privilégio<br />
(Seminário realiza<strong>do</strong> em maio de 2001).<br />
O social deveria ser o lugar onde to<strong>do</strong> o sujeito tivesse a possibilidade de inserção.<br />
Quan<strong>do</strong> se discute a significação da inclusão, para determina<strong>do</strong>s setores populacionais, na<br />
verdade se está discutin<strong>do</strong> algo que nem deveria estar em questão. Segmentos marca<strong>do</strong>s por<br />
diferenças específicas ficaram à margem de muitos processos da sociedade e hoje há um<br />
movimento para recuperar essa possibilidade de inserção. Opiniões divergentes a essa luta<br />
são demonstrativas da complexidade das relações sociais e da capacidade de uma sociedade<br />
de pensar a si mesma como um espaço para to<strong>do</strong>s.<br />
Sem um trabalho se sensibilização social e conscientização <strong>do</strong> que é direito e <strong>do</strong> que é<br />
dever não será possível comportar um mun<strong>do</strong> humano. A construção de uma política<br />
pública para pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades é uma oportunidade de<br />
se ter esse assunto em pauta. De igual forma, é uma maneira de alimentar reflexões e ações<br />
que possam significar um permanente (re) pensar sobre as verdadeiras possibilidades <strong>do</strong><br />
social se tornar um espaço de humanização das relações.<br />
Representantes <strong>do</strong> movimento organiza<strong>do</strong> das PPD fazem uma crítica significativa ao<br />
próprio movimento que muitas vezes não engrenou em estratégias de inserção social.<br />
Houve um certo engessamento <strong>do</strong> movimento às ações paternalistas de vários governos. O<br />
público em geral estava em busca de benefícios e não de direito ao acesso à educação, à<br />
saúde, esporte, lazer, etc. Não havia uma busca das áreas de atuação.<br />
Algumas associações de porta<strong>do</strong>res de deficiência reproduziram o direcionamento<br />
assistencialista das instituições, centran<strong>do</strong> sua atenção em distribuição de recurso e<br />
prestação de assistência. As organizações de pessoas deficientes não foram gerenciadas por<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e sim tuteladas, em geral, por pessoas envolvidas com a<br />
questão como familiares ou profissionais da área. Esse é um fator de crítica e auto-análise<br />
que atualmente representantes <strong>do</strong> movimento das PPD estão afirman<strong>do</strong>.
148<br />
Um outro aspecto crítico desse movimento social foi aponta<strong>do</strong> como a não vinculação<br />
da discussão <strong>do</strong> movimento "pelas deficiências" à estrutura social e a falta de uma<br />
discussão estrutural, que colocasse em questão as condições da sociedade para se adequar<br />
às demandas da diversidade. Os dirigentes das entidades de PPD tinham um funcionamento<br />
fecha<strong>do</strong> em si mesmo, sem uma interlocução maior com os movimentos sociais em geral.<br />
Essa situação teve como conseqüência à chamada "cultura de guetos", ou seja, grupos de<br />
cegos, grupos de sur<strong>do</strong>s, grupos de deficientes físicos e assim por diante. Daí provem um<br />
tipo de movimento que não vislumbrava uma "política para to<strong>do</strong>s". Com essa dificuldade<br />
não se colocava em questão a denúncia das relações sociais de discriminações e barreiras<br />
arquitetônicas e culturais. A tônica dada à discussão era da integração <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de<br />
deficiência à sociedade e não da revisão das interdições sociais 9 .<br />
"Não é pelo fato da pessoa ser porta<strong>do</strong>ra de deficiência que ela não tenha<br />
ideologia, que não defenda esta ou aquela política, de direita ou de<br />
esquerda, muitas vezes a própria entidade de deficientes está<br />
desenvolven<strong>do</strong> uma política segrega<strong>do</strong>ra, de exclusão, não adequada ao<br />
social" (Entrevista realizada em jan.2002).<br />
De outra forma, a construção <strong>do</strong>s recursos políticos para uma nova perspectiva de<br />
cidadania <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência são construí<strong>do</strong>s pelas próprias pessoas porta<strong>do</strong>ras<br />
de deficiência. O dinamismo <strong>do</strong> movimento entre as pessoas e a possibilidade de ampliação<br />
da conscientização de determina<strong>do</strong>s processos que se desenvolvem no social vão<br />
transforman<strong>do</strong> o tom <strong>do</strong>s discursos e das práticas sociais. Foi isso que aconteceu quan<strong>do</strong> se<br />
passou de um momento de práticas assistencialistas e segregatórias, no próprio movimento<br />
social das PPD, para um outro momento de busca de direitos e revisão <strong>do</strong> social. Algumas<br />
associações de deficientes carregam toda a história de preconceito. O atendimento fica na<br />
linha <strong>do</strong> paternalismo, numa visão da ppd como incapaz. Essas idéias foram sen<strong>do</strong><br />
recicladas e superadas e o movimento social foi se emancipan<strong>do</strong> da visão assistencialista,<br />
conforme indica a opinião que segue.<br />
9 A construção da argumentação referente aos movimentos sociais das PPD se fez com base no debate feito<br />
com pessoas ligadas às diferentes entidades de PPD. Essa construção se construiu, também, a partir da<br />
observação e participação nos fóruns representativos das PPD e deliberativos sobre a nova política pública<br />
para pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e altas habilidades.
149<br />
"Quan<strong>do</strong> as próprias ppd passaram a coordenar suas entidades a velha<br />
idéia começou a mudar. A Associação Riograndense de Paralíticos e<br />
Amputa<strong>do</strong>s (ARPA) e a Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes,<br />
foram pioneiras na idéia <strong>do</strong> protagonismo da ppd. Foi uma briga no<br />
início para o próprio porta<strong>do</strong>r de deficiência poder coordenar missas, por<br />
exemplo, para participar concretamente e não apenas receber ajuda, mas<br />
avançamos" (Entrevista realizada em jan.2002).<br />
O depoimento acima é ilustrativo das superações de contradições existentes nos<br />
movimentos sociais. A sociedade vai avançan<strong>do</strong> no embate de diferentes perspectivas e no<br />
desenrolar <strong>do</strong>s emaranhamentos da teia social. A possibilidade de se obter maior<br />
visibilidade no conjunto das relações sociais, aumentará a capacidade de buscar alternativas<br />
de resolutividade, para às questões referente ao social, que não centralizem o déficit no<br />
sujeito.<br />
A ARPA (Associação Riograndense de Paralíticos e Amputa<strong>do</strong>s), é uma associação que<br />
investe no desporto e no desempenho <strong>do</strong> potencial de pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência<br />
física. Desde 1969, quan<strong>do</strong> foi fundada, busca trabalhar com os aspectos sadios e potenciais<br />
das PPD. Propiciar aos porta<strong>do</strong>res de deficiência dar visibilidade ao fato de ser possível<br />
exercer atividades físicas compatíveis com suas condições. Atualmente, a mesma, está<br />
utilizan<strong>do</strong> uma estratégia de articulação com as escolas de ensino fundamental que visa<br />
superar o preconceito.<br />
A estratégia de articulação escolar se fez no senti<strong>do</strong> de levar para as escolas e, portanto,<br />
para as crianças e a<strong>do</strong>lescentes a imagem positiva da deficiência. Sen<strong>do</strong> assim, as crianças<br />
das escolas são convidadas a assistir jogos de basquete em cadeira de rodas, corrida entre<br />
cadeiras de rodas e outras atividades <strong>do</strong> tipo. Essa medida é uma forma de mudar a velha<br />
visão de confinamento, que se dá em geral a uma cadeira de rodas. Na circunstância de<br />
atividades esportivas é possível perceber o quanto em uma cadeira de rodas é possível ter<br />
mobilidade, agilidade e a mesma participação no social. Será possível demonstrar, portanto,<br />
que o fundamental, é propiciar as condições adequadas às pessoas e suas peculiaridades.
150<br />
To<strong>do</strong> esse movimento de transformações na maneira como se pode construir uma outra<br />
interlocução com a diversidade da condição humana requer atitudes políticas de novos<br />
"contratos sociais". Há uma exigência <strong>do</strong> movimento que faz a sociedade de mudar e<br />
romper com velhos muros que separam e dividem às pessoas por suas diferenças. No<br />
Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul (no caso da FADERS) houve um significativo avanço<br />
político, quan<strong>do</strong> essas questões passam a ser tratadas no âmbito da cidadania.<br />
É um avanço tardio, se for considerar o tempo histórico em que se está viven<strong>do</strong>. Os<br />
processos sociais, entretanto, possuem um ritmo próprio que, na maioria das vezes é<br />
moroso e com inúmeros retrocessos após trabalhosas superações. O processo de<br />
conscientização e capacitação das sociedades, para consolidar uma forma de viver, em que<br />
o sujeito esteja em primeiro lugar, não se faz de forma linear. É um caminho a ser<br />
construí<strong>do</strong>, num permanente ensaio de superação de muitos padrões e estruturas<br />
historicamente configuradas por to<strong>do</strong>s os seres.<br />
A FADERS é uma instituição que tem um significativo papel político a desempenhar na<br />
sociedade. Como uma Fundação que representa a causa das Diferenças, deverá se empenhar<br />
em articular inúmeras ações que se encaminhem para uma atenção adequada aos interesses<br />
e necessidades diferenciadas daqueles sujeitos que dela venham a utilizar seus serviços. Os<br />
seres humanos não são iguais e algumas pessoas, por serem porta<strong>do</strong>ras de diferenças mais<br />
marcantes, não estão <strong>do</strong> la<strong>do</strong> oposto da normalidade. A pesquisa realizada no contexto<br />
específico dessa instituição poderá levar ao entendimento de outros contextos da sociedade<br />
em geral, se for considerada a possibilidade de encontrar ressonâncias entre o que se passa<br />
no universo institucional, e o que se dá de forma mais geral.<br />
A cultura da dita “normalidade”, infelizmente é algo que diz respeito a uma construção<br />
histórico social, mesmo sen<strong>do</strong> essa diferente da realidade subjetiva <strong>do</strong>s seres humanos.<br />
Normalidade não faz senti<strong>do</strong>, se for considerada a magnitude e a singularidade da vida<br />
humana. Levan<strong>do</strong>-se em conta a imprecisão e o inacabamento de tu<strong>do</strong> que diz respeito ao<br />
humano, a palavra normalidade se esvazia, se perde em meio a um dinamismo que não se<br />
enquadra em nenhum padrão. Todas as pessoas são diferentes umas das outras,
151<br />
incompletas, imperfeitas e assim se faz a caracterização de seres humanos, em um dia-a-dia<br />
com inúmeras “restrições impeditivas”. Espera-se que o trabalho com as diferenças sirva<br />
para desinventar os impecilhos que restringem a expressão da vida e para desmontar o mito<br />
da perfeição, que se estiver presente nos “céus”, não o estará na Terra, por certo.
152<br />
IV - ACESSIBILI<strong>DA</strong>DE: "UM MUNDO PARA TODOS"<br />
Um <strong>do</strong>s resulta<strong>do</strong>s desta pesquisa, a partir de depoimentos e de estu<strong>do</strong>s tanto<br />
<strong>do</strong>cumentais como teóricos conduz ao entendimento <strong>do</strong> significa<strong>do</strong> e da relevância da<br />
acessibilidade. Como foi visto no capítulo <strong>do</strong>is, desde a década de 60 (século XX), de uma<br />
forma internacional, começa o debate em torno da inclusão das pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência e de altas habilidades. A discussão é frutífera, em seu desenrolar vão surgin<strong>do</strong><br />
novas práticas sociais e novas formas de conceber o significa<strong>do</strong> das deficiências. A questão<br />
da acessibilidade vem na esteira das análises que ampliam os horizontes acerca <strong>do</strong> conceito<br />
de déficit, incluí<strong>do</strong> a responsabilização <strong>do</strong>s processos sociais que criam as interdições. No<br />
que se segue, se fará a exposição <strong>do</strong> apreendi<strong>do</strong> no estu<strong>do</strong> em torno das interdições e da<br />
necessária consolidação de uma nova cultua. Sen<strong>do</strong> que se almeja, que a mesma, seja capaz<br />
de criar um "mun<strong>do</strong> acessível para to<strong>do</strong>s".<br />
4.1 ACESSIBILI<strong>DA</strong>DE E A QUESTÃO SOCIAL<br />
Para a discussão em torno da acessibilidade se tem como ponto de partida que: os<br />
lugares da sociedade são em sua maioria inacessíveis, impon<strong>do</strong> inúmeras restrições. O<br />
modelo de ensino é discriminatório, preconceituoso, suas meto<strong>do</strong>logias não são inclusivas.<br />
As políticas públicas nessa área têm si<strong>do</strong> compensatórias, residuais e não têm incidi<strong>do</strong><br />
sobre uma direção que organize os setores sociais de maneira a abarcar as necessidades de<br />
to<strong>do</strong>s os seus cidadãos.<br />
O ponto fundamental de conexão entre to<strong>do</strong>s esses fatores que dificultam a vida das<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência talvez pudesse ser sintetiza<strong>do</strong> em uma frase: o não<br />
reconhecimento das diferenças individuais. Há que se percorrer um longo caminho social,<br />
passar por uma grande desconstituição da cultura <strong>do</strong> “ser humano padrão”, ainda vigente, a<br />
fim de que amadureçam as concepções que consolidem o entendimento da diversidade da
153<br />
condição humana e para a compreensão de que uma das características fundamentais da<br />
humanidade é a diferença.<br />
Antes de adentrar mais profundamente na questão da acessibilidade como resposta à<br />
diversidade se pode fazer alguns alertas quanto ao "espetáculo da diversidade".<br />
THOMPSON considera que: "Não podemos nos deixar cegar pelo espetáculo da<br />
diversidade a tal ponto que sejamos incapazes de ver as desigualdades estruturadas da<br />
vida social" (1995 p.426). Qual a reflexão que se pode fazer a partir deste enuncia<strong>do</strong>?<br />
Existe uma especificidade <strong>do</strong>s sujeitos, quanto à raça, etnia, gênero, questões referentes às<br />
deficiências, a homossexualidade e tantas outras formas peculiares <strong>do</strong>s sujeitos se situarem<br />
no social. As políticas públicas nem sempre estão atentas a esta diversidade e tratam de<br />
todas as questões de uma foram homogêneas.<br />
Faz-se necessário atender mais peculiarmente a cada demanda. A situação das pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência é uma ilustração de uma singularidade localizada na<br />
contextualidade, como os demais segmentos sociais e suas características próprias. Embora<br />
exista toda essa diversidade há, entretanto, algo comum às diferenças e esse aspecto se<br />
localiza na estrutura da sociedade, repercutin<strong>do</strong> na vida de to<strong>do</strong>s. Eis, um ponto crucial, que<br />
está sen<strong>do</strong> demonstra<strong>do</strong> neste trabalho: o fato da adversidade das condições de vida de<br />
diferentes pessoas estarem sob uma condição que é similar a to<strong>do</strong>s.<br />
A estrutura social é composta de forma a gerar as desigualdades de condições de vida e<br />
a consolidar os processos de exclusão. A sociedade não é algo abstrato, se faz na totalidade<br />
das relações <strong>do</strong>s seres sociais, na força da conjugação <strong>do</strong>s múltiplos movimentos <strong>do</strong>s<br />
sujeitos que nela se inter-relacionam e a transformam constantemente. A vida humana tem<br />
uma dimensão concreta, o desenvolvimento histórico das condições <strong>do</strong>s meios produtivos<br />
de vida das pessoas. O mo<strong>do</strong> de vida <strong>do</strong>s sujeitos das sociedades está atravessa<strong>do</strong> por<br />
diversos fatores concretos tanto quanto pelos fatores de ordem imaterial.<br />
A materialidade da vida social é vivida de forma a expressar uma organização desta<br />
sociedade, em que os sujeitos, em uma grande maioria, se encontram em uma situação de
154<br />
não acesso aos bens necessários, primários e secundários. São várias as estatísticas que<br />
apontam os altos índices de miséria, de analfabetismo, de corrupção, de descaso com as<br />
políticas públicas e com o social. De outra forma, a riqueza que tem si<strong>do</strong> produzida no<br />
mun<strong>do</strong> nos últimos anos, é bastante significativa. A tecnologia se hiper-desenvolve desde a<br />
década de 80, a concentração de renda se torna cada vez mais intensa.<br />
A produção da riqueza social e a produção da miséria social, da exclusão são <strong>do</strong>is<br />
processos que fazem parte <strong>do</strong> mesmo contexto de sociedade, permeada pela mesma<br />
estrutura econômica. Temos uma sociedade na qual a constituição das relações entre os<br />
sujeitos é mediada pelo capitalismo. Isso significa que as relações sociais são mediadas pela<br />
lei da concentração da terra, <strong>do</strong> capital de giro e atualmente da informatização, nas mãos de<br />
uma restrita minoria.<br />
Segun<strong>do</strong> IAMAMOTO (2000, p.27), a contradição fundamental da sociedade capitalista<br />
é o fato <strong>do</strong> trabalho ser coletivo, a produção social é cada vez mais coletiva, em<br />
contrapartida, há uma forte apropriação privada da atividade, das condições e <strong>do</strong>s frutos <strong>do</strong><br />
trabalho. Na relação capital trabalho, a questão social é produzida, o capital se apropria <strong>do</strong><br />
trabalho, ocasionan<strong>do</strong> assim fortes desigualdades nos meandros da sociedade.<br />
A riqueza é socialmente produzida por uma coletividade de trabalha<strong>do</strong>res que a<br />
produzem nos mais varia<strong>do</strong>s setores da sociedade. Entretanto, seu produto final, ou seja,<br />
sua própria produção fica concentrada em poder de uma minoria restrita, que são os <strong>do</strong>nos<br />
<strong>do</strong>s meios de produção, os grandes capitalistas, os mega empresários. O sistema social que<br />
está consolida<strong>do</strong> onde os sujeitos desenvolvem suas vidas. É um sistema onde prevalece a<br />
concentração de renda, de terra, de informação e informatização. A questão social se<br />
expressa de maneira contraditória. “Na tensão entre a produção da desigualdade e a<br />
produção da rebeldia” (IAMAMOTO, 2000, p.28).<br />
De um la<strong>do</strong>, se avalia a necessária leitura das opressões e da exclusão vivida pelos<br />
sujeitos e de outro la<strong>do</strong> às criações, as alternativas construídas por esse mesmo sujeito para<br />
o enfrentamento deste contexto de vida. A questão social, na sua forma mais diversa, em
155<br />
variadas expressões cotidianas, poderá ser analisada: “tais como os indivíduos a expressam<br />
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública,<br />
etc.”.<br />
De acor<strong>do</strong> com IAMAMOTO (2000) apreender a questão social é entender também as<br />
múltiplas formas de pressão social, de invenção e (re) invenção da vida construída no<br />
cotidiano. A exclusão e a inclusão são processos que fazem parte <strong>do</strong> mesmo universo. A<br />
desigualdade produzida nas relações sociais é enfrentada por movimentos <strong>do</strong>s sujeitos desta<br />
sociedade que lutam pela inclusão.<br />
A inclusão só é uma meta por essa não acontecer naturalmente, como deveria ser, nas<br />
sociedades. Uma vez que cada sujeito é parte <strong>do</strong> seu contexto, essencialmente deveria<br />
poder estar pertencen<strong>do</strong> ao mesmo. Toda a luta pelos direitos humanos é uma luta por<br />
pertencimento, é uma luta das pessoas para que possam estar inseridas em seu contexto de<br />
vida. A sociedade civil, em seus diferentes movimentos, se organiza para reivindicar os<br />
direitos <strong>do</strong>s seus diversos segmentos sociais. Os sujeitos vão consolidan<strong>do</strong> práticas sociais<br />
que fortalecem a coletividade das relações em áreas específicas das necessidades humanas.<br />
De acor<strong>do</strong> com o movimento contraditório que pode ser li<strong>do</strong> no real, se percebe que o<br />
social é campo da expressão de inúmeras limitações postas pelo contexto aos indivíduos.<br />
De outra forma, o social, se caracteriza por ser campo da possibilidade de expressão <strong>do</strong>s<br />
sujeitos. Ser e contexto são as duas faces da mesma moeda onde gira a vida humana. Não<br />
há dicotomia possível entre esses <strong>do</strong>is la<strong>do</strong>s da existência, o que há é um enorme elo que<br />
liga cada particularidade ao um universo maior. O social é parte <strong>do</strong> universo da vida <strong>do</strong>s<br />
seres, não é uma abstração por si só, existe em função da movimentação <strong>do</strong>s seres em seu<br />
contexto. Apresenta-se, esse social, em conformidade com os movimentos que vão fazen<strong>do</strong><br />
seus agentes em seu tempo histórico.<br />
O social se transforma constantemente, em conformidade com a intenção e ação de seus<br />
protagonistas, os sujeitos. O social é campo da expressão de cada um e de to<strong>do</strong>s os sujeitos<br />
que nele vão organizan<strong>do</strong> sua forma de viver, o mo<strong>do</strong> de vida e os meios de produzi-la no
156<br />
conjunto de sua imensa dinâmica humana e coletiva. Em uma visão marxiana sobre a<br />
realidade humana, o indivíduo concreto é uma síntese das inúmeras relações sociais. A<br />
individualidade humana se encontra atravessada por uma diversidade de vetores externos à<br />
interioridade, esses permeiam a consciência individual <strong>do</strong>s seres.<br />
Os diversos vetores são construí<strong>do</strong>s historicamente, em contextos culturais específicos a<br />
cada época e a cada povo. O indivíduo é único e indivisível, se constitui enquanto tal, na<br />
trama das múltiplas relações da sociedade. Não há dicotomia entre indivíduo e sociedade,<br />
entre sujeito e objeto, singular e universal. Há uma interdependência entre o sujeito e seu<br />
contexto natural e social. Existe uma forte conexão entre as partes e o to<strong>do</strong>, ou seja, entre o<br />
ser que é uma parte <strong>do</strong> universo e to<strong>do</strong> este conjunto que consolida a vida humana,<br />
situan<strong>do</strong>-a no universo natural, político, ideológico, cultural, social, econômico e mais uma<br />
vez humano.<br />
“..Todas as suas relações humanas com o mun<strong>do</strong> – ver, ouvir, cheirar,<br />
saborear, pensar, observar, sentir, desejar, agir, amar-, em suma, to<strong>do</strong>s<br />
os órgãos de sua individualidade, como órgãos que são de forma<br />
diretamente comunal, são, em sua ação objetiva (sua ação com relação ao<br />
objeto), a apropriação desse objeto, a apropriação da realidade<br />
humana..” (MARX, 1983, p.120).<br />
O ser social é o sujeito que pertence a seu contexto. O indivíduo singular é um ser<br />
genérico, ou seja, pertencente ao gênero humano. DUARTE (2000, p.122) considera que a<br />
vida <strong>do</strong>s indivíduos deveria traduzir a universalidade e a liberdade já conquistadas pelo<br />
gênero humano. O sujeito se objetiva em suas atividades criativas e materializa sua<br />
subjetividade em atos, no meandro de suas relações sociais. A criação de espaços e recursos<br />
para o desenvolvimento da vida humana é uma conquista histórica de seres que constróem a<br />
história, portanto, em respeito a generacidade da condição humana, deveria ser universal o<br />
acesso de todas as pessoas, neste espaço construí<strong>do</strong> e conquista<strong>do</strong>. Cada ser, por condição,<br />
tem direito a participar, a fazer parte <strong>do</strong> seu mun<strong>do</strong>, de seu contexto.<br />
Ten<strong>do</strong> em vista o entendimento da questão social e suas conseqüências não se pode<br />
perder, na leitura da diversidade, o horizonte de toda a estrutura da sociedade. Necessário<br />
se faz considerar a cultura, a diversidade, as singularidades, as questões de gênero, da livre
157<br />
expressão sexual, da deficiência e todas as particularidades no conjunto <strong>do</strong> social.<br />
Não se pode perder de vista na particularidade, a visibilidade de um contexto onde cada<br />
situação se localiza de alguma forma em conexão com as demais situações e com o to<strong>do</strong><br />
articula<strong>do</strong> que cria determinadas estruturas. Estruturas, essas, que mesmo ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> criadas<br />
na história por sujeitos, por isso mesmo, podem ser transformadas, uma vez identificadas e<br />
trabalhadas no senti<strong>do</strong> de sua superação. No horizonte dessa perspectiva se analisa a<br />
condição colocada na situação das pessoas porta<strong>do</strong>ra de deficiência:<br />
"Deficiência é a perda ou limitação de oportunidade de participar da vida<br />
comunitária em condições de igualdade com as demais pessoas. Assim<br />
além das perdas inerentes à própria deficiência, a pessoa se torna incapaz<br />
em função de seu meio e de muitas atividades organizadas da sociedade,<br />
como informação, comunicação e educação, que dificultam que pessoas<br />
com deficiência participem em condições de igualdade" (FREC, 2000, p.<br />
2).<br />
As condições <strong>do</strong> meio social são os maiores impecilhos para a participação e expressão<br />
das pessoas que tenham algum tipo de deficiência. O contexto desfavorável limita ainda<br />
mais uma condição que requer formas alternativas para sua expressão. As pessoas<br />
pertencentes à classe sócio-econômica precária, já passaram por uma série de processos de<br />
exclusão tem ainda maior dificuldade de incluir um filho porta<strong>do</strong>r de deficiência nas<br />
instâncias institucionais dessa sociedade.<br />
A falta de conhecimento sobre os direitos, sobre a legislação é um grande distancia<strong>do</strong>r<br />
<strong>do</strong> acesso ao social. A maioria das instituições não atende as pessoas, quan<strong>do</strong> as mesmas,<br />
apresentam algum tipo de deficiência. As características específicas e diferenciadas da<br />
pessoa porta<strong>do</strong>ra de alguma deficiência, associada ao grande desconhecimento que se tem<br />
acerca destas características cria inúmeros muros de separação. A conseqüência direta <strong>do</strong><br />
desconhecimento é o difícil acesso ao mun<strong>do</strong> para quem porta alguma deficiência.<br />
"Os familiares percorrem diversos locais em busca de atendimento para<br />
seus filhos. Na maioria encontram-se desesperança<strong>do</strong>s de ter sua<br />
demanda de atendimento suprida. É muito árdua a busca de recursos<br />
nesta área, pois há poucos locais de atendimento na esfera pública"<br />
(Seminário realiza<strong>do</strong> em nov. de 2001).
158<br />
Os familiares, muitas vezes, também têm dificuldade de entender uma criança<br />
"diferente". Os mesmos oscilam entre <strong>do</strong>is extremos: ou superprotegem a criança,<br />
dificultan<strong>do</strong> a sua "saída" para o mun<strong>do</strong> ou a relegam ao aban<strong>do</strong>no. Na família começa um<br />
processo de interdição que é reforça<strong>do</strong> nos diferentes lugares <strong>do</strong> social. A falta de recursos,<br />
presente nas condições de vida de quem não tem acesso aos meios sociais vai limitan<strong>do</strong> a<br />
possibilidade de expressão <strong>do</strong> potencial que existe nas pessoas que apresentam ou déficit ou<br />
talento diferencia<strong>do</strong> <strong>do</strong> demais.<br />
"Estas pessoas passam por diversos processos de exclusão, desde o<br />
vizinho ou usuário <strong>do</strong> ônibus que encara a mãe com olhar de reprovação<br />
(como se as características típicas da condição <strong>do</strong> filho fossem falta de<br />
cuida<strong>do</strong> e de educação) até a inclusão da criança ou a<strong>do</strong>lescente em<br />
recursos da comunidade" (Seminário realiza<strong>do</strong> em nov. de 2001).<br />
Esse tipo de situação, posta no social, vai minimizan<strong>do</strong> o potencial pessoal que precisa<br />
ser explora<strong>do</strong> e expressa<strong>do</strong>. De igual forma, essas experiências, vão distancian<strong>do</strong> a pessoa<br />
<strong>do</strong> exercício da participação e inscrição no social. Nenhuma deficiência impede que a<br />
pessoa seja cidadã, os impecilhos para essa vivência estão nas barreiras arquitetônicas,<br />
atitudinais e culturais <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> social. Os muros que são levanta<strong>do</strong>s em uma cultura que<br />
contempla a existência de outras belezas parecem significar a ausência <strong>do</strong> reconhecimento<br />
das diferenças como parte da vida. Essa realidade leva a um sentimento que será expresso a<br />
seguir e que aponta para o primeiro potencial não reconheci<strong>do</strong>, pela sociedade, em uma<br />
pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência, que é:<br />
“O fato de ser pessoa, o porta<strong>do</strong>r de deficiência não é considera<strong>do</strong> gente,<br />
e provo o que digo com exemplo: os engenheiros ao projetar um edifício<br />
não se perguntam quanto custa a prevenção de incêndio, mas se<br />
perguntam quanto custa a acessibilidade. Isto é não considerar o<br />
porta<strong>do</strong>r de deficiência gente, com necessidades humanas de acesso, de<br />
estar incluí<strong>do</strong>. Não crer na pessoa, cria uma sociedade culturalmente<br />
egoísta, que trabalha com um padrão de ser humano que não existe, cria<br />
um espaço físico separa<strong>do</strong>r que permite alguns irem outros não. Cria um<br />
sistema de locomoção individual, segrega<strong>do</strong>r (Entrevista realizada em<br />
out. 2000).<br />
O depoimento acima apresenta<strong>do</strong> é uma denúncia de um mo<strong>do</strong> de vida social que exclui<br />
as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência de sua própria condição humana, de ser pessoa. Há que
159<br />
se refletir muito profundamente nos diversos setores sociais, comunais e das relações<br />
pessoais sobre os significa<strong>do</strong>s sociais das deficiências/diferenças. Bem como, será<br />
importante refletir sobre a própria condição humana e suas múltiplas formas de expressão,<br />
ou a ausência da possibilidade dessa expressão.<br />
A sociedade e suas instâncias estão distantes <strong>do</strong> entendimento aproxima<strong>do</strong> <strong>do</strong> que<br />
significam as diferenças em seus matizes peculiares. Ainda será necessário muito trabalho<br />
para transformar a cultura da “normalidade” e abrir espaço ao entendimento de que ser<br />
diferente não significa ser inferior. A fim de que seja possível olhar as diferenças sem os<br />
sentimentos diminutos, sem a menosvalia que traz a impressão <strong>do</strong> ser menor, menos<br />
importante, menos humano. Conforme se pode analisar:<br />
"As instituições de identificação ainda colocam na carteira de identidade,<br />
no espaço para a assinatura, o carimbo escrito analfabeto, ainda que o<br />
porta<strong>do</strong>r de deficiência visual seja alfabetiza<strong>do</strong>. Nas escolas uma criança<br />
com visão subnormal cursan<strong>do</strong> a 1ª série <strong>do</strong> ensino fundamental, sen<strong>do</strong><br />
esta sua primeira experiência escolar, é colocada sentada no fun<strong>do</strong> da<br />
sala (Entrevista realizada em out. 2000).<br />
Todas essas experiências são muito comuns, nessa área, onde o sujeito é desqualifica<strong>do</strong><br />
de sua condição humana. No desenrolar das relações sociais o lugar ocupa<strong>do</strong> pelas<br />
diferenças individuais não condiz com a condição de cidadania. Um exemplo disso, pode se<br />
apontar no fato das pessoas, geralmente, diante de um deficiente visual e seu acompanhante<br />
dirigem a palavra ao acompanhante, se referin<strong>do</strong> ao deficiente visual na terceira pessoa,<br />
como se ele não pudesse falar por si, não reconhecesse suas necessidades ou não tivesse<br />
opinião própria. "Acho que o mo<strong>do</strong> como a exclusão se torna visível, revela uma cegueira<br />
<strong>do</strong> social. O social fica impedi<strong>do</strong> de ver a criança, o jovem, a mulher, o homem que estão<br />
antes da deficiência visual” (Entrevista realizada em out. 2000).<br />
O resulta<strong>do</strong> desse processo é a discriminação e a segregação. Há um campo imenso para<br />
ser explora<strong>do</strong> no setor da conscientização e sensibilização das comunidades acerca das<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência. As oportunidades de refletir, de debater sobre essas<br />
questões serão importantes para um processo de conscientização. Os movimentos sociais
160<br />
organiza<strong>do</strong>s têm um relevante papel na desconstituição de uma cultura que aponta a<br />
possibilidade de acesso à vida por uma única via, a da “normalidade”.<br />
Existem formas alternativas para desenvolver o mo<strong>do</strong> de organização da vida social que<br />
não se reduzem somente ao que foi instituí<strong>do</strong> como o possível para as pessoas que se<br />
enquadram em tais “possibilidades”. Os espaços dentro das cidades precisam passar por<br />
uma maior abertura de adequação às necessidades das pessoas que portam alguma<br />
deficiência.<br />
As atuais políticas públicas, como foi visto no capítulo três, estão trabalhan<strong>do</strong> no<br />
rompimento das barreiras arquitetônicas. Entretanto, vários aspectos ainda precisam ser<br />
supera<strong>do</strong>s. Será fundamental atingir mais profundamente a questão <strong>do</strong>s fundamentos dessas<br />
barreiras, que têm origem no não reconhecimento das diferenças. Para que se trabalhe de<br />
forma mais efetiva, a adaptação tem que ser feita contemplan<strong>do</strong> as múltiplas formas de<br />
necessidade de expressão.<br />
Todas as adaptações possíveis têm que ser planejadas. A exemplo das singularidades das<br />
deficiências, foi coloca<strong>do</strong>, em uma entrevista: "É preciso que se entenda que os cegos não<br />
enxergam, mas ouvem e falam. A dificuldade e a falta de habilidade em lidar com os<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência já começa na família que não está preparada para isso"<br />
(Entrevista realizada em maio de 2002).<br />
O fundamental, para o reconhecimento das diferenças, é que as pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência possam estar circulan<strong>do</strong> pela cidade, nas ruas, nos bares, nos restaurantes, nas<br />
escolas, no cinema, nos clubes, nas igrejas, nos locais de trabalho, enfim, no mun<strong>do</strong> da<br />
vida. Cidadania é um exercício de pertencimento e, na área das deficiências, tem que ser<br />
exerci<strong>do</strong> ainda com maior vigor para poderem se consolidar. "Quanto maior o número de<br />
pessoas com deficiência visual estiverem, nos restaurantes, por exemplo, maior será a<br />
obrigatoriedade destes oferecerem cardápios em BRAILLE" (Entrevista realizada em junho<br />
de 2002).
161<br />
O mesmo pode acontecer com aqueles que são porta<strong>do</strong>res de deficiências físicas e tem<br />
alguma limitação em partes <strong>do</strong>s movimentos <strong>do</strong> corpo, precisan<strong>do</strong> utilizar acessórios como<br />
cadeiras de rodas, bengalas, órteses e próteses em geral. Nessa condição as pessoas não<br />
estarão condenadas a não se locomoverem, caso os locais da sociedade sejam acessíveis.<br />
Os locais públicos e priva<strong>do</strong>s deverão ser planejamentos incluin<strong>do</strong> a questão da<br />
acessibilidade, quan<strong>do</strong> se levar em conta a "equiparação de oportunidades". As diferenças,<br />
as singularidades devem ser contempladas a fim de que as pessoas porta<strong>do</strong>ras de alguma<br />
deficiência possam exercer sua singularidade e o direito à cidadania, à participação em<br />
to<strong>do</strong>s setores da sociedade.<br />
Se o fato da diferença for constitutivo da humanidade for reconheci<strong>do</strong> como verdadeiro<br />
a sociedade deverá apreender as formas de adaptar seus espaços para to<strong>do</strong>s os seus sujeitos.<br />
Para tanto será importante conhecer as inúmeras possibilidades existentes em termos de<br />
tecnologia assistida, recursos de comunicação, adequação ambiental, etc., que possam<br />
oferecer às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e altas habilidades condições de equiparação<br />
de oportunidades às outras pessoas.<br />
"A sociedade deve ser orientada no que diz respeito sobre a<br />
acessibilidade das PPD, por exemplo: as rampas de acesso, a divulgação<br />
das Libras – Língua Brasileira de Sinais, simbologia BRAILLE, etc..<br />
Trabalhar com o paradigma da Cidadania faz com que eu enquanto<br />
agente social precise estar intimamente liga<strong>do</strong> aos grupos a qual me<br />
proponho a trabalhar, respeitan<strong>do</strong> sua cultura, sua especificidade, não<br />
buscar somente o clínico, mas o “ser social” (Entrevista realizada em<br />
out. 2000).<br />
Diante de todas essas reflexões e depoimentos se conclui que a situação colocada nas<br />
deficiências requer uma transformação no tipo de relação social que está estabelecida. "E a<br />
sociedade que tem que se organizar de forma a contemplar a diversidade que a constitui,<br />
talvez o correto seja falar em reconstrução social e não em inclusão e integração"<br />
(Entrevista realizada em dez. de 2002). A necessidade de reconstruir a sociedade se<br />
demonstra também pelo fato de que as condições deste social são impeditivas tanto na<br />
situação de algum déficit como na situação <strong>do</strong>s talentos.
162<br />
O resulta<strong>do</strong> desta pesquisa e a experiência profissional na área têm trazi<strong>do</strong>, na questão<br />
das altas habilidades, o quanto o contexto poderá desperdiçar o talento. Na área das altas<br />
habilidades determina<strong>do</strong>s mitos não obstaculizam menos o potencial das pessoas que a<br />
possuem, <strong>do</strong> que os mitos em relação às deficiências. Por exemplo, o mito da perfeição e<br />
de que o potencial não se perde, desconsidera o fato de que se uma pessoa não tiver um<br />
ambiente favorável e acolhe<strong>do</strong>r seu talento não terá espaço para expressão e<br />
desenvolvimento.<br />
"Nós costumamos comparar duas situações atendidas por esta equipe: um<br />
menino de 17 anos, talentoso na área lingüistica, é um poeta, está<br />
terminan<strong>do</strong> o 2º grau, é pobre, negro, se considera feio e se queixa que<br />
apesar de seu talento (mais de 400 poesias escritas), não consegue estágio<br />
e diz que as vagas são preenchidas por outros jovens com mais poder<br />
aquisitivo, brancos e bonitos. O outro menino também de 17 anos, com<br />
talento na área acadêmica, com pais universitários, bom nível econômico,<br />
viveu parte de sua vida no exterior e tem planos de receber uma bolsa de<br />
iniciação científica" (Seminário realiza<strong>do</strong> em out. de 2002).<br />
Na ilustração acima se analisa a situação de <strong>do</strong>is jovens que são talentosos e apresentam<br />
uma condição de vida diferenciada. Tal condição de vida está impedin<strong>do</strong> o primeiro a<br />
incluir seu talento no social e poder desenvolvê-lo. O contexto social favorece ou<br />
desfavorece as condições <strong>do</strong> sujeito. O segun<strong>do</strong> rapaz, daquele exemplo, está inseri<strong>do</strong> na<br />
escola, no trabalho e na possibilidade de projetar seu futuro, tem suas características<br />
pessoais respeitadas. A exclusão social e política sofrida pela classe popular levam a uma<br />
realidade de privações e interdições da potencialidade humana.<br />
Voltan<strong>do</strong> a mencionar o estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> Dr. SACKS, que foi apresenta<strong>do</strong> no capitulo<br />
primeiro, esse autor considera que o talento e a arte não reconhecida continuará<br />
"definhan<strong>do</strong> em enfermarias", se referin<strong>do</strong> à situação de um menino, porta<strong>do</strong>r da síndrome<br />
de autismo e com altas habilidades artísticas 10 , o mesmo considera que: "Stephen pode ser<br />
limita<strong>do</strong>, esquisito, idiossincrático, autista, mas lhe foi permiti<strong>do</strong> alcançar o que poucos de<br />
nós conseguimos, uma significante representação e investigação <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>" (1995 p.251).<br />
10 No capítulo I, item 1.3 Diversidade da Condição Humana, desta tese, foi apresenta<strong>do</strong> o estu<strong>do</strong> feito por Drº<br />
SACKS sobre Stephen.
163<br />
O fundamental para o desenvolvimento humano é o reconhecimento da humanidade que<br />
existe em cada um e o espaço para a expressão da humanicidade <strong>do</strong>s sujeitos. Para<br />
transformar condições de vida urge que se invista em práticas educativas, que no dizer de<br />
MARTINELLI:<br />
"É uma prática que se despoja da visão assimétrica <strong>do</strong>s sujeitos com os<br />
quais se trabalha e que se posiciona diante deles como cidadãos, como<br />
construtores de suas próprias vidas. É, portanto, prática <strong>do</strong> encontro, da<br />
possibilidade <strong>do</strong> diálogo, da construção partilhada" (1995 p.147).<br />
As condições de vida que relegam os sujeitos ao aban<strong>do</strong>no e a miséria são gera<strong>do</strong>ras de<br />
impossibilidades e crueldades diversas. A problemática das diferenças e das deficiências se<br />
potencializa, se maximiza na estrutura e nas relações sociais que segrega, separa, distância,<br />
coloca fora e não congrega o ser social em seu conjunto. A globalização que caracteriza o<br />
sistema econômico social internacional, congrega o mun<strong>do</strong> <strong>do</strong> merca<strong>do</strong> e <strong>do</strong> consumo, ao<br />
mesmo tempo em que propicia a fragmentação <strong>do</strong>s sujeitos, afastan<strong>do</strong> uns <strong>do</strong>s outros, os<br />
distancian<strong>do</strong>. Será função de uma política pública, comprometida com a cidadania, educar a<br />
sociedade civil e a mídia na construção de novas representações <strong>do</strong> humano que não estejam<br />
apenas pautadas em um padrão fixo de produtividade e beleza.<br />
4.2 ACESSIBILI<strong>DA</strong>DE E A QUESTÃO <strong>DA</strong> HETEROGENEI<strong>DA</strong>DE<br />
Quan<strong>do</strong> a sociedade estiver educada na compreensão das deficiências e suas<br />
características poderão compreender que as pessoas com alguma deficiência não se<br />
constituem enquanto um grupo homogêneo. Há vários tipos de deficiência, em cada uma<br />
delas há características não semelhantes e que requerem um enfrentamento das barreiras<br />
colocadas a elas adequadas a sua condição específica. Para as pessoas com profundas lesões<br />
físicas, sensoriais ou mentais mais acentuadas existem barreiras ambientais e culturais,<br />
impedin<strong>do</strong> mais ou menos o seu cotidiano <strong>do</strong> que a outras pessoas com as mesmas lesões,<br />
mas em grau menos acentua<strong>do</strong>.
164<br />
Os fatores como gênero, etnia/raça, são classificações válidas, <strong>do</strong> ponto de vista<br />
biológico e localizam as pessoas em um grupo específico, sem ferir sua humanicidade. Ao<br />
contrário os padrões de "normalidade" são construções histórico sociais e que ao classificar<br />
criam a linha divisória da discriminação social. Na questão das deficiências há divisão por<br />
áreas, tais sejam: deficiência física, deficiência sensorial (visual e auditiva), deficiência<br />
mental e deficiência orgânica médica. Cada uma dessas áreas vai comportar subdivisões.<br />
As pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, como to<strong>do</strong>s os seres, são heterogêneas em suas<br />
condições. Deve se evitar a massificação da forma de entendimento e enfrentamento das<br />
situações que se apresentem e que são peculiares e não iguais.<br />
Essa peculiaridade é demonstrativa de que as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência não<br />
constituem um grupo único e a parte na sociedade, mas, em última análise fazem parte<br />
deste conjunto de características heterogêneas próprio da humanidade. "Acontece muito de<br />
falarem gritan<strong>do</strong> comigo como se eu fosse sur<strong>do</strong>, ou ao me conduzirem, me erguem como<br />
se eu tivesse uma deficiência física, eu tenho que explicar que sou apenas cego" (Entrevista<br />
realizada em jan. de 2002). Tem-se, nesse depoimento a ilustração da forma como as<br />
pessoas em geral lidam com a diversidade, não perceben<strong>do</strong> suas nuanças. Em verdade, o<br />
próprio termo "pessoa porta<strong>do</strong>ra de deficiência", ainda é bastante genérico para designar a<br />
questão, mas é o que parece mais adequa<strong>do</strong>, nesta conjuntura, ao menos de forma didática<br />
para delimitar um lugar no social que não desconsidere a condição peculiar das<br />
deficiências.<br />
Muito embora não se possa esquecer que "ninguém é igual a ninguém" e não existe um<br />
único ser que não tenha alguma ou várias limitações e "imperfeições", mesmo que essas<br />
não sejam visíveis. Na pesquisa se pôde constatar que diferenças de gênero têm similitudes<br />
em determinadas atitudes diante da deficiência. Uma situação muito comum que foi<br />
relatada na ocasião <strong>do</strong>s seminários e das entrevistas diz respeito ao fato das mulheres, em<br />
grande maioria, que não são porta<strong>do</strong>ras de deficiência estarem abertas a serem<br />
companheiras de homens porta<strong>do</strong>res de deficiência.
165<br />
A cultura <strong>do</strong> padrão estético se reproduz numa situação onde os homens cultuam na<br />
feminilidade as normas estabelecidas pelo social para a escolha da parceira. Um homem,<br />
em geral, busca a "perfeição das formas" e dificilmente se colocaria no lugar <strong>do</strong> "cuida<strong>do</strong>r".<br />
Existem exceções para este fato, mas são situações esporádicas, não é o comum, ver um<br />
homem (não porta<strong>do</strong>r de deficiência) como parceiro de uma mulher porta<strong>do</strong>ra de<br />
deficiência. Um casal onde o homem é porta<strong>do</strong>r de deficiência e a mulher não é porta<strong>do</strong>ra<br />
de alguma deficiência, é algo absolutamente comum. E, mesmo os homens que são<br />
porta<strong>do</strong>res de deficiência, geralmente, preferem mulheres que não tenham algum déficit.<br />
"A reabilitação da mulher cega parece muito mais rápida <strong>do</strong> que a <strong>do</strong><br />
homem cego. Parece ser cultural o fato da mulher aceitar melhor as<br />
dificuldades. Um outro fator muito marcante, em nossa experiência destes<br />
anos to<strong>do</strong>s de trabalho na área, é que muitas mulheres videntes casam<br />
com homens cegos, mas os homens videntes raramente aceitam parceiras<br />
cegas. O homem cego também geralmente prefere se unir a uma mulher<br />
vidente" (Seminário realiza<strong>do</strong> em julho de 2001).<br />
O aspecto da função cuida<strong>do</strong>ra e maternal na figura da mulher, que é da cultura, fica<br />
transparente na situação das deficiências em alguns aspectos marcantes que se repetem no<br />
cotidiano da vida social. Uma situação muito freqüente para quem trabalha em instituições<br />
que atendam estas questões é constatar, quase que exclusivamente, a presença da mulher<br />
como responsável por um filho porta<strong>do</strong>r de deficiência. Um discurso muito comum na falas<br />
dessas mulheres é que seus parceiros não aceitaram a condição de uma criança que foge aos<br />
padrões. Percebe-se que é difícil para o homem enfrentar situações que fogem da<br />
"normalidade", como se pode observar: "Quan<strong>do</strong> um filho nasce com alguma diferença<br />
normalmente quem assume é a mãe, o pai quase sempre vai embora, deixan<strong>do</strong> claro que o<br />
motivo é esse" (Seminário realiza<strong>do</strong> em julho de 2001).<br />
Uma outra situação muito comum, nesta mesma linha de dificuldade, é o fato de: "No<br />
caso da cegueira adquirida após o casamento, na maioria das vezes, se acontece com a<br />
mulher há a separação. Ao contrário, se for o homem que adquirir a cegueira, a mulher<br />
permanece ao seu la<strong>do</strong>" (Seminário realiza<strong>do</strong> em julho de 2001). Essas situações peculiares<br />
são demonstrativas de que, de uma certa forma, a cultura molda os comportamentos porque
166<br />
atravessa a subjetividade das pessoas ten<strong>do</strong> uma conseqüência direta na materialidade de<br />
seu mo<strong>do</strong> de viver.<br />
Embora haja uma força propulsora no movimento das relações sociais para que as coisas<br />
não sejam sempre as mesmas, a tendência a reprodução é um fato. Todavia, a criatividade<br />
humana ultrapassa to<strong>do</strong>s os limites e nas mais diversas situações é sempre possível<br />
transformar o real. Na situação particular <strong>do</strong>s sur<strong>do</strong>s, por exemplo, existe uma forma<br />
peculiar de viver essa singularidade que não se enquadra na forma comum de oralidade que<br />
está presente no tipo de comunicação que se estabelece em nossa sociedade, como já foi<br />
aborda<strong>do</strong> no capítulo <strong>do</strong>is.<br />
O mun<strong>do</strong> <strong>do</strong>s ouvintes, da comunicação oral não é um mun<strong>do</strong> acessível àqueles que têm<br />
um déficit auditivo e não podem ouvir. Entretanto, estes sujeitos pelo fato de não poderem<br />
ouvir não estão impossibilita<strong>do</strong>s de se comunicarem com o mun<strong>do</strong>, desde que a<br />
comunicação possa se dar de formas alternativas, peculiares, adequadas a estas<br />
singularidades.<br />
"O que é mais interessante sobre as crianças surdas não é o fato de que<br />
seus ouvi<strong>do</strong>s não funcionam, mas a rapidez com que aprendem através de<br />
formas visuais da linguagem quan<strong>do</strong> têm oportunidade. Contu<strong>do</strong>, a<br />
educação para as crianças surdas ainda está centrada basicamente na<br />
condição de seus ouvi<strong>do</strong>s e não nos caminhos abertos a seu aprendiza<strong>do</strong>"<br />
(WRIGLEY, 1996, p.100).<br />
O limite para o conhecimento e a inserção esteve nas imposições e concepções sociais<br />
que os impediram, em um determina<strong>do</strong> tempo histórico, de exercer sua singularidade. Ou<br />
seja, se eles uma vez sur<strong>do</strong>s, não podem se valer da linguagem oral (padrão), criam uma<br />
linguagem própria, a <strong>do</strong>s sinais e gestos. Tal linguagem deve ser incluída nos processos<br />
sociais o que implica em se transformar em uma linguagem aceita, considerada e não<br />
apenas utilizada em lugares restritos e em contextos específicos.<br />
“A surdez, como déficit biológico, não priva os sur<strong>do</strong>s da faculdade da linguagem, mas<br />
total ou parcialmente, da língua oral” (SKLIAR, 1999, p.127). Se esta sociedade<br />
possibilitasse a coexistência de uma linguagem alternativa adequada às peculiaridades de
167<br />
uma comunicação não oral, seria possível às crianças que nascem com o déficit biológico<br />
da surdez, inserir-se na linguagem.<br />
“O modelo bilingüe propõe, então, dar acesso à criança surda às<br />
mesmas possibilidades psicolingüísticas que tem a ouvinte.. O objetivo <strong>do</strong><br />
modelo bilíngüe é criar uma identidade bicultural, pois permite à criança<br />
surda desenvolver suas possibilidades dentro da cultura surda e aproximarse,<br />
através dela, à cultura ouvinte” (SKLIAR, 1999, p.144).<br />
Tem-se no modelo apresenta<strong>do</strong> pelo autor acima referi<strong>do</strong>, um caminho inclusivo na<br />
questão das diferenças que acontecem em função da surdez. Esse modelo se reporta às<br />
experiências escolares que poderão trabalhar de forma a contemplar em seus currículos a<br />
inclusão de duas línguas, duas culturas diferentes, <strong>do</strong>is contextos diferencia<strong>do</strong>s de mo<strong>do</strong> de<br />
vida. Atualmente o movimento social organiza<strong>do</strong> <strong>do</strong>s sur<strong>do</strong>s exige o reconhecimento de<br />
que a pessoa surda é um sujeito com identidade surda. Querer tornar o sur<strong>do</strong> igual ao<br />
ouvinte é uma forma de desrespeito a transpirar identidade e condição de cidadão.<br />
É fundamental, para acessibilidade <strong>do</strong>s sur<strong>do</strong>s, a veiculação de meios visuais e<br />
tecnologia privilegian<strong>do</strong> os sinais. A Língua <strong>do</strong>s sinais 11 vai ao encontro <strong>do</strong> direito, que o<br />
sur<strong>do</strong> tem, de usar a comunicação visual. A cultura surda se expressa na sua linguagem<br />
peculiar e precisa ser incentivada entre os sur<strong>do</strong>s, em respeito às suas diferenças. Os<br />
direitos reivindica<strong>do</strong>s pelos sur<strong>do</strong>s, estão expressos no <strong>do</strong>cumento abaixo (ver anexo 6, o<br />
<strong>do</strong>cumento na íntegra), que requerem, conforme se destaca:<br />
"(...) Considerar que a integração/inclusão é prejudicial à cultura, á<br />
língua e à identidade surdas (...) Considerar que a integração da pessoa<br />
surda não passa pela inclusão <strong>do</strong> sur<strong>do</strong> em ensino regular, deven<strong>do</strong> o<br />
processo ser repensa<strong>do</strong> (...) Propor o fim da política de<br />
inclusão/integração, pois ela trata o sur<strong>do</strong> como deficiente e, por outro<br />
la<strong>do</strong>, leva ao fechamento de escolas de sur<strong>do</strong>s e/ou ao aban<strong>do</strong>no <strong>do</strong><br />
processo educacional pelo aluno sur<strong>do</strong>(...) (FENEIS, 2000, p.17).<br />
11 "Compreende-se como Língua Brasileira de Sinais o meio de comunicação de natureza visual-gestual, com<br />
estrutura gramatical própria, oriunda da comunidade de pessoas surdas <strong>do</strong> Brasil, sen<strong>do</strong> a forma de<br />
expressão <strong>do</strong>s porta<strong>do</strong>res de deficiência auditiva e a sua língua natural" (Diário Oficial: Porto Alegre/ RS,<br />
03/01/2000).
168<br />
O destaque feito às considerações, acima referidas, acentua o fato quase para<strong>do</strong>xal de<br />
estar sen<strong>do</strong> requeri<strong>do</strong>, pelos sur<strong>do</strong>s, um movimento contrário à inclusão, que tem si<strong>do</strong> a<br />
tônica dessas análises. Entretanto, a pluralidade das características de cada especificidade e<br />
a história dessas, por si só justificam o enfrentamento que assim se coloca, mesmo sen<strong>do</strong><br />
esse coloca<strong>do</strong> na contramão <strong>do</strong> debate consolida<strong>do</strong>. Para os sur<strong>do</strong>s garantir cidadania e<br />
pertencimento ao mun<strong>do</strong> passa pela preservação da sua identidade e cultura surda. Isso<br />
significa a demarcação da singularidade de mo<strong>do</strong> que alguns espaços sejam de fato<br />
específicos, como no caso da educação.<br />
Conforme a Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão: "o acesso igualitário<br />
a to<strong>do</strong>s os espaços da vida é um pré-requisito para os direitos humanos universais e<br />
liberdades fundamentais das pessoas”. (2001, p.1). Dessa forma se compreende a<br />
exigência da preservação da identidade surda como uma forma de garantir sua inserção no<br />
mun<strong>do</strong> social 12 . Entretanto, para além das diferenças, a possibilidade de concretização da<br />
cidadania requer um preparo das pessoas, das instituições, de suas técnicas e <strong>do</strong>s diversos<br />
setores da sociedade para lidar com a diversidade da condição humana.<br />
Problematizan<strong>do</strong> um pouco mais sobre a questão da inclusão se pode dizer que incluir<br />
não significa apenas juntar no mesmo ambiente físico diversidade de culturas e idéias. Fazse<br />
necessário que aconteça a conexão e uma real relação entre as diferenças, para que se<br />
efetivem práticas inclusivas. Nem sempre apenas a consolidação de política estabelecerá<br />
uma lei consegue garantir a inclusão. "Pelas novas legislações as instituições são<br />
obrigadas a aceitar as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, mas em que condições isso se<br />
faz?" (Entrevista realizada em jan. de 2002) É preciso realizar um trabalho que vá à raiz da<br />
dificuldade em interagir com as diferenças. Isso requer a transformação de velhas<br />
concepções e a garantia de acesso à recursos adequa<strong>do</strong>s a fim de que a diversidade possa<br />
ser contemplada nos espaços sociais. O que, por sua vez, pressupõe investimento<br />
econômico e cultural.<br />
12 "Em dezembro de 1999, pela lei n.º 11.405, é oficializa<strong>do</strong> em nosso Esta<strong>do</strong> (RGS) a LIBRAS assim como<br />
os demais recursos de expressão a ela associa<strong>do</strong>s, como meios de comunicação objetiva e de uso corrente.<br />
Fica assegura<strong>do</strong> aos sur<strong>do</strong>s o direito à informação e ao atendimento em toda a Administração pública, direta e<br />
indireta por servi<strong>do</strong>r em condições de comunicar-se através da LIBRAS" (BRIZOLA, 2000, p.223).
169<br />
"A lei diz que toda a escola não pode discriminar crianças<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência. Entretanto, na prática as escolas<br />
não têm recursos e não estão prepara<strong>do</strong>s para receber as<br />
diferenças, os professores não estão prepara<strong>do</strong>s para receber<br />
a criança com algum déficit no desenvolvimento ou com<br />
alguma síndrome. As coisas são feitas mais na boa vontade<br />
<strong>do</strong> que com condições estruturadas adequadas" (Entrevista<br />
realizada em jan. de 2002).<br />
Analisan<strong>do</strong> essa fala se pode ilustrar a complexidade da inclusão, que é atualmente uma<br />
afirmação de legislações e declarações internacionais, como tem si<strong>do</strong> aponta<strong>do</strong> ao longo<br />
deste trabalho. Contu<strong>do</strong>, o cotidiano de pessoas com deficiência denuncia o despreparo de<br />
um mun<strong>do</strong> que não foi feito para to<strong>do</strong>s e sua "lógica" de funcionamento ocasiona a<br />
separação entre as pessoas. Para CECCIM (2000), se pode incluir crianças em uma sala de<br />
aula e essa continuar segregada, se ela não for atendida em sua necessidade de expressão.<br />
Para o mesmo, "(des) segregar" é tirar a segregação e essa última é o que tem que ser<br />
altera<strong>do</strong>.<br />
A inclusão pode acontecer, manten<strong>do</strong> a segregação, o que não muda a situação das<br />
pessoas. "Se um aluno negro estiver em sala de aula, mas ninguém falar com ele, se ele não<br />
for solicita<strong>do</strong> a participar, ele continuará segrega<strong>do</strong> dentro <strong>do</strong> grupo onde está incluí<strong>do</strong>"<br />
(Diário de Campo, maio de 2000). A verdadeira inclusão tem que garantir o fim da<br />
segregação, da separação e propiciar como parte de seu movimento, a diversidade.<br />
A grande dificuldade da vivência escolar das crianças porta<strong>do</strong>ras de algum tipo de<br />
deficiência, segun<strong>do</strong> SKLIAR (1999), é resulta<strong>do</strong> <strong>do</strong> “modelo clínico terapêutico”, e<br />
conforme SASSAKI <strong>do</strong> “modelo médico da deficiência” x “modelo social da deficiência”<br />
(1997). Há entre esses "<strong>do</strong>is modelos" um similar limite, que é a ênfase em uma visão<br />
clínica da deficiência. Em uma “obsessão curativa da medicina” não são consideradas as<br />
possibilidades educativas das crianças, a visão está centrada no aspecto "cura-<strong>do</strong>ença".
170<br />
O “modelo clínico terapêutico” luta contra o déficit, contra a deficiência e, nesse<br />
processo, há uma baixa expectativa pedagógica em relação à criança, um superinvestimento<br />
clínico em detrimento <strong>do</strong> investimento pedagógico. Não se desenvolve uma reflexão que<br />
implique o sistema de ensino e seus méto<strong>do</strong>s. A criança é jogada para fora da escola pela<br />
“necessária” visita a inúmeros especialistas, terapeutas que devem dar respal<strong>do</strong> ao<br />
desenvolvimento destas crianças, que são porta<strong>do</strong>ras de algum déficit. Quantas crianças<br />
freqüentaram a escola e ao fisioterapeuta, ao neurologista, ao psiquiatra, ao fonaudiólogo,<br />
ao psicólogo, ao terapeuta de família e a outros especialistas, tu<strong>do</strong> ao mesmo tempo.<br />
No caso das crianças surdas, muitas foram obrigadas a sair das salas de aula para<br />
transitar pelos médicos com o objetivo de “corrigir os defeitos da fala” (SKLIAR, 1999,<br />
p.111). A super valorização de uma visão na qual a deficiência é uma <strong>do</strong>ença e a obstinação<br />
em “vencer” o déficit é equivalente a uma não aceitação <strong>do</strong>s limites humanos significa se<br />
trata de uma rejeição das possibilidades de construir alternativas de potencialidades dentro<br />
das restrições que alguns déficits produzem. O “modelo médico” de igual forma acentua o<br />
déficit, centra seu entendimento e sua técnica na patologia <strong>do</strong> sujeito. “O modelo social da<br />
deficiência”, aponta<strong>do</strong> por SASSAKI, questiona o modelo anterior, de mo<strong>do</strong> que:<br />
“Pelo modelo social da deficiência, os problemas da pessoa com<br />
necessidades especiais não estão nela tanto quanto estão na sociedade.<br />
Assim, a sociedade é chamada a ver que ela cria problemas para as<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de necessidades especiais, causan<strong>do</strong>-lhes<br />
incapacidades (ou desvantagem) no desempenho de papéis sociais ..”<br />
(1997, p.47).<br />
A questão da acessibilidade se impõe como uma prerrogativa para uma sociedade que se<br />
pretenda democrática e que queira cumprir os princípios da ONU da “igualdade e<br />
equiparação de oportunidades”. Nessa perspectiva de inserção, se tem uma implicação<br />
contextual para responder às demandas <strong>do</strong>s indivíduos e a responsabilidade de incluir nos<br />
processos sociais, a característica singular <strong>do</strong> seres. Não é mais o sujeito patológico que se<br />
percebe, a estrutura da sociedade é que deve ser abrangente e abarcar as diferenças de seus<br />
sujeitos. Sen<strong>do</strong> assim inverteu-se a lógica <strong>do</strong> “modelo médico” e da necessária adaptação<br />
<strong>do</strong> sujeitos ao seu meio e a uma cultura previamente determinada.
171<br />
Nesta ótica talvez seja possível compreender, conforme SACKS, que: uma criança<br />
porta<strong>do</strong>ra de alguma deficiência se desenvolve como qualquer outra criança, por outro<br />
percurso, de outra maneira, por outros meios. Para o pedagogo é importante estar ciente da<br />
singularidade desse caminho (1995 p.17). A padronização de conceitos, de méto<strong>do</strong>s de ação<br />
não mais responde às diversas e diferenciadas necessidades <strong>do</strong>s sujeitos desta sociedade.<br />
Inverter essa lógica levará a encontrar senti<strong>do</strong> na convivência com singularidades<br />
diferenciadas entre os indivíduos. Deveria ser construí<strong>do</strong> um lugar, no qual, a expectativa<br />
sobre a vida social possa ser o encontro das singularidades individuais muito mais <strong>do</strong> que<br />
de uma igualidade entre os sujeitos.<br />
4.3 ACESSO A UMA OUTRA CULTURA<br />
Uma vez mais se pode aproveitar a arte ou um expoente dessa para tematizar sobre a<br />
questão da diversidade e as relações sociais. A referência que se vai utilizar para iluminar<br />
essa análise será a figura de CHARLIE CHAPLIN, no que diz respeito a um aspecto de sua<br />
vida. Trata-se de um ator inglês, considera<strong>do</strong> um <strong>do</strong>s mestres da comédia cinematográfica.<br />
O governo britânico pretendia homenagear no ano 1956 13 esse artista pela genialidade de<br />
sua arte. Entretanto, a condecoração foi suspensa por sugestão <strong>do</strong> corpo diplomático<br />
britânico, que na época considerou perigoso ofender a opinião pública americana.<br />
O governo americano, através de uma investigação da Comissão parlamentar "Un-<br />
American" apontou CHAPLIN como "defensor notório de causas esquerdistas" e<br />
comunista, em 1952. Na época este ator inglês ao sair <strong>do</strong>s Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s foi proibi<strong>do</strong> de<br />
voltar e se estabeleceu na Suíça. "Um Chaplin frágil e em cadeira de rodas recebeu a<br />
distinção real de cavaleiro da Rainha Elizabeth mais de duas décadas depois, em 1975, 18<br />
meses antes de morrer" (exclusivo/noticias/ terra/ online/2002/07/21; p.1).
172<br />
O que se tem com o esse exemplo ilumina duas facetas de uma reflexão que se enquadra<br />
na linha de pensamento desenvolvida nesta tese. Primeiramente, a relação entre sujeito e o<br />
contexto. Um sujeito, independentemente <strong>do</strong> fato de sua genialidade ou de seu déficit, se<br />
não corresponder às expectativas <strong>do</strong> meio social, fica fora <strong>do</strong> mesmo, em algum aspecto.<br />
Foi o que aconteceu com CHARLIE CHAPLIN, muito embora fosse ele um <strong>do</strong>s maiores<br />
mestres da história <strong>do</strong> cinema, toda sua genialidade foi reduzida a seu "mau<br />
comportamento". Uma vez que o artista demonstra contraposições ao que estava<br />
estabeleci<strong>do</strong> na ordem <strong>do</strong> social não recebera as condecorações oficias, as quais têm direito,<br />
pela importância social de sua obra. E, aqui se tem o necessário enquadre em um molde,<br />
sob pena da exclusão.<br />
Dentro dessa linha analítica uma outra face da questão se demonstra no fato de<br />
CHAPLIN após se apresentar como uma figura "frágil", <strong>do</strong> ponto de vista da imagem<br />
pessoal se torna então "apto" para ser condecora<strong>do</strong>. O artista já não significa uma ameaça<br />
ao sistema estabeleci<strong>do</strong> e "merece" ser premia<strong>do</strong> por estar em uma condição de<br />
"desvantagem" pessoal: velho e em cadeira de rodas. A condição de menoridade reportada<br />
a situações de deficiência e também a condição da terceira idade minimizam o significa<strong>do</strong><br />
político de uma pessoa que teve uma história com essa marca. Portanto, sen<strong>do</strong> assim, o<br />
artista pode ser homenagea<strong>do</strong> sem ofender as autoridades norte-americanas e sem colocar<br />
em risco a diplomacia britânica.<br />
TOMAZ (2000, p.95) considera que não se pode pensar que a questão em relação à<br />
diversidade cultural se reduza a "tolerância e ao respeito". A colocação assim referida<br />
remete ao fato de se tratar o assunto no âmbito de "sentimentos nobres" que obscurecem a<br />
própria realidade acerca das diferenças. Nas escolas, em geral, pode acontecer algo assim:<br />
"apenas uma das professoras aceitou acolher em sua sala uma menina em cadeira de<br />
rodas, foi considerada uma heroína, tinha paciência de carregá-la, levá-la ao banheiro,<br />
fazer os outros colegas aceitá-la. Ela aceitou uma dura tarefa". (Diário de campo, ago. de<br />
2002).<br />
13 Segun<strong>do</strong> informações de arquivos recém-desclassifica<strong>do</strong>s divulga<strong>do</strong>s pelo escritorio de Registros Públicos,
173<br />
Circunstâncias como essa demonstram a dificuldade de inserção, nas principais<br />
instituições <strong>do</strong> social e de grande importância para a participação <strong>do</strong> sujeito, de pessoas que<br />
se encontram em situação diferenciada das demais. A primeira situação, geralmente, é a de<br />
fechamento <strong>do</strong> acesso. A segunda situação é <strong>do</strong> "acolhimento", da "tolerância" para com a<br />
diferença, quan<strong>do</strong> se consegue chegar a essa. Nessa ótica acontece um encobrimento das<br />
relações de poder que permeiam os processos sociais que produzem tanto a identidade<br />
quanto a diferença. A idéia que perpassa o conceito de tolerância parece saturada de<br />
sentimentos paternalistas e de superioridade. Esses são conceitos que não demonstram o<br />
caráter político presente nas relações sociais e nos fatos <strong>do</strong> cotidiano e da historia.<br />
A chamada "tolerância para com a diferença" situa a estranheza diante <strong>do</strong> outro como<br />
algo natural e não relacional. Não se faz a conexão entre sujeito e contexto. A preocupação<br />
que parece estar permean<strong>do</strong> tais conceitos leva a se considerar, que: "(...) o outro é o outro<br />
gênero, o outro é a cor diferente, o outro é a outra sexualidade, o outro é a outra raça, o<br />
outro é a outra nacionalidade, o outro é o corpo diferente" (TOMAZ, 2000, p.97). Tu<strong>do</strong><br />
aquilo que não condiz com o pensamento oficial e hegemônico de uma época significa "o<br />
outro".<br />
Tolerar significa aceitar a diferença como algo ainda de fora dessas relações sociais e<br />
não como algo constitutiva das mesmas. A diversidade cultural é uma questão social e<br />
política, com esse entendimento se conclui que não se trata de respeitar e/ou tolerar a<br />
diversidade e sim reconhecer a mesma como condição humana e social <strong>do</strong>s seres. Portanto,<br />
necessário se faz à construção de uma nova cultura ou de uma "reconstrução social", que<br />
comporte a real dinâmica <strong>do</strong>s sujeitos e <strong>do</strong> movimento em seu contexto.<br />
"A questão cultural <strong>do</strong>s preconceitos é muito forte, é um grande entrave.<br />
Hoje em dia já existem comissões para avaliar as barreiras arquitetônica<br />
<strong>do</strong>s prédios da cidade, mas não existe nada para avaliar a situação <strong>do</strong>s<br />
preconceitos e concepções. A questão cultural <strong>do</strong> culto à normalidade e a<br />
uma estética determinada é muito forte (Diário de Campo, ago. de 2001).<br />
cita<strong>do</strong>s no jornal SUN<strong>DA</strong>Y TELEGRAPH, Grã Bretanha (exclusivo/noticias/ terra/ online/2002/07/21; p.1).
174<br />
THOMPSON (1995, 175-181), em seu estu<strong>do</strong> sobre os diferentes senti<strong>do</strong>s da cultura,<br />
acentua, denominan<strong>do</strong> de "concepção simbólica", que a análise da cultura pressupõe a<br />
percepção de "camadas de significa<strong>do</strong>s". Significa<strong>do</strong>s esses que os indivíduos estão<br />
"produzin<strong>do</strong>, perceben<strong>do</strong> e interpretan<strong>do</strong>” em ações e expressões diárias. A produção de<br />
uma prática social significativa para os indivíduos se traduz na possibilidade dessa<br />
produção de senti<strong>do</strong> se concretizar nas vivências e trocas entre os sujeitos ou na<br />
impossibilidade disso acontecer.<br />
A produção <strong>do</strong> significa<strong>do</strong> é reproduzida no cotidiano, ou seja, se cultua os significantes<br />
e a tendência é repeti-los até que seja possível construir novos significa<strong>do</strong>s. A produção da<br />
cultura está imersa em relações de poder e inseridas em contextos históricos-sociais<br />
determina<strong>do</strong>s. Nesses contextos podem estar explícitos ou implícitos relações de poder que<br />
são produzidas e reproduzidas, no meio onde o senti<strong>do</strong> é cria<strong>do</strong> na vivência e a experiência<br />
social se reflete no senti<strong>do</strong>. Cultura e contexto social estão em uma conexão direta, onde a<br />
inter-relação entre ambos é permeada pela estruturada da sociedade.<br />
"Quan<strong>do</strong> relações de poder estabelecidas são sistematicamente<br />
assimétricas, então a situação pode ser descrita como de <strong>do</strong>minação.<br />
Relações de poder são sistematicamente assimétricas quan<strong>do</strong> indivíduos<br />
ou grupos de indivíduos particulares possuem um poder de maneira<br />
estável, de tal mo<strong>do</strong> que exclua - ou se torne inacessível, em grau<br />
significativos a - outros indivíduos ou grupos de indivíduos, não<br />
importan<strong>do</strong> a base sobre a qual esta exclusão é levada a efeito"<br />
(THOMPSON, 1995, p.199-200).<br />
Na temática em questão, acerca da diversidade da condição humana e das deficiências<br />
nesse contexto, a exclusão e o não acesso ao social vêm na esteira da produção simbólica e,<br />
de uma cultura de normalidade que atinge a materialidade <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> de vida <strong>do</strong>s grupos<br />
desta sociedade. Um mo<strong>do</strong> de vida, no qual a exclusão é uma tonalidade marcante para<br />
to<strong>do</strong> aquele ser que não corresponde ao molde imagina<strong>do</strong> para as pessoas se enquadrarem.<br />
As relações de poder que permeiam a questão da produção da cultura vão balizar a forma<br />
como os seres se situam na complexidade de seu convívio. O lugar que cada qual vai<br />
ocupar na totalidade da vida em sociedade é aponta<strong>do</strong> por esta construção. Lugar esse que<br />
dá e/ou tira a possibilidade de acesso ao social.
175<br />
Portanto, a conexão entre a produção simbólica e a expressão prática da vida das pessoas<br />
está atravessada pela estrutura social que criou as condições de acesso e de interdição. Daí<br />
se pode concluir que, para as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência terem acesso a uma nova<br />
condição de vida será necessário ter acesso a produção de uma nova cultura. E, será<br />
fundamental a transformação daquilo que se cultiva ou se cultua no meio social. Essa<br />
transformação é requerida constantemente nas falas das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência,<br />
como se pode constatar:<br />
"No eleva<strong>do</strong>r quan<strong>do</strong> se chega de cadeira de rodas eles querem te mandar<br />
para o eleva<strong>do</strong>r de carga: pô! eu não sou carga eu sou gente! Há um<br />
enorme desconhecimento da sociedade, uma cultura que não contribui<br />
para que as condições sejam melhores para a PPD" (Entrevista realizada<br />
em dez. 2001).<br />
Nesta altura <strong>do</strong> debate se podem retomar algumas considerações de GOFFMAN (1982),<br />
no senti<strong>do</strong> de fazer um contraponto ao mesmo, a partir <strong>do</strong> resulta<strong>do</strong> obti<strong>do</strong> na pesquisa<br />
desta tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong>. Esse autor faz algumas recomendações sobre determinadas<br />
habilidades que os "estigmatiza<strong>do</strong>s" podem adquirir para se relacionarem com os<br />
"normais". Tais habilidades vão servir para seu "bom ajustamento" no meio social, para não<br />
"tornar constrange<strong>do</strong>r" o convívio com os demais. Conquistar, essas habilidades, se torna<br />
um esforço que o sujeito porta<strong>do</strong>r de um "estigma" poderá fazer a fim de ser aceito e<br />
compreendi<strong>do</strong> pelas pessoas, em sua situação, sem maiores distanciamentos.<br />
Há, nesses pressupostos, um senti<strong>do</strong> de adaptação, no qual a pessoa estigmatizada<br />
deverá se moldar a uma sociedade que não está preparada para conviver e reconhecer a<br />
diversidade. Nessa perspectiva, será preciso, desenvolver habilidades para responder<br />
positivamente ao padrão coloca<strong>do</strong> na vigência das relações sociais. Caberá ao sujeito e não<br />
ao meio a transformação das condições que estão colocadas. Tal entendimento pode ser<br />
analisa<strong>do</strong>, nas palavras de GOFFMAN:<br />
"(...) Observações indelicadas de menosprezo e de desdém não devem ser<br />
respondidas na mesma moeda. O indivíduo estigmatiza<strong>do</strong> deve não<br />
prestar atenção a elas, ou, então, fazer um esforço no senti<strong>do</strong> de uma<br />
reeducação complacente <strong>do</strong> normal, mostran<strong>do</strong>-lhe, ponto por ponto,<br />
suavemente, com delicadeza, que a despeito das aparências, é, no fun<strong>do</strong>,<br />
um ser humano completo (...) quanto mais o estigmatiza<strong>do</strong> se desvia da
176<br />
norma, mais admiravelmente deverá expressar a posse <strong>do</strong> eu subjetivopadrão<br />
se quiser convencer os outros de que o possui (...) (1982 p. 127).<br />
Na linha de raciocínio <strong>do</strong> trecho acima destaca<strong>do</strong> está coloca<strong>do</strong> a tolerância que a pessoa<br />
dever adquirir em relação ao seu contexto e aos "outros" desse contexto. O "outro" aqui é<br />
aquele que está na posição social "correta" em contraposição ao "desvio" apresenta<strong>do</strong> por<br />
quem porta um "estigma". A tolerância que vai significar a capacidade de compreender a<br />
incapacidade, <strong>do</strong> social, de entender que as diferenças e as deficiências não significam a<br />
impossibilidade <strong>do</strong> ser pertencer ao mun<strong>do</strong> humano. O fato dele se diferenciar da "normapadrão",<br />
não o faz menos humano.<br />
O que perpassa a perspectiva, em questão, é a necessidade de ajustamento ao social. Ao<br />
contrário desta visão, atualmente é coloca<strong>do</strong> com ênfase, pelo atual movimento social das<br />
pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, pela nova política pública para PPD e PPAH, que é a<br />
sociedade que deve se adaptar às singularidades individuais. A "posse <strong>do</strong> eu subjetivo<br />
padrão" é contrariada pelas idéias mais progressistas, que hoje em dia se colocam, acerca<br />
<strong>do</strong> debate da diversidade, como foi demonstra<strong>do</strong> ao longo deste trabalho. A exemplo disso,<br />
se pode apreciar em um trecho da entrevista que segue, o seguinte:<br />
"Um cego para atravessar uma rua precisa de ajuda, mas ajudá-lo não é<br />
sair empurran<strong>do</strong> qualquer cego que se vê pela rua, tem que perguntar<br />
para ele se quer ser ajuda<strong>do</strong> e qual a forma mais adequada de prestar<br />
esta ajuda, só a pessoa pode dizer. O treinamento das pessoas, em geral,<br />
para conhecer as reais necessidades da PPD é fundamental para melhor<br />
a inserção da mesma e o desconhecimento é o maior entrave" (Entrevista<br />
realiza em maio de 2002).<br />
Não se trata de trabalhar com as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência para que elas<br />
aprendam a entrar na engrenagem social, mas de ampliar os horizontes desta engrenagem.<br />
Só assim se poderá construir uma sociedade verdadeiramente democrática onde se possa<br />
exercer o direito à cidadania. Aproveitan<strong>do</strong> aqui o conceito de cidadania formula<strong>do</strong> por<br />
MARTINELLI (1998, p142-145), situa a cidadania na esfera <strong>do</strong> "pertencimento das<br />
pessoas à sociedade", em contraposição a idéia de cidadania atrelada ao merca<strong>do</strong><br />
econômico e ao poder de consumo. Ser cidadão é poder pertencer ao seu mun<strong>do</strong>, fazer parte<br />
<strong>do</strong> mesmo. A problemática posta na questão das deficiências, no emaranha<strong>do</strong> das relações
177<br />
sociais, é justamente a interdição desse pertencimento. Para reversão deste quadro social<br />
será preciso que haja maior conhecimento, nas instâncias da sociedade, acerca das<br />
adaptações necessárias <strong>do</strong> ambiente e da cultura para incluir as pessoas que portam<br />
deficiências ou quaisquer diferenças menos habituais.<br />
"Se nas lojas os vende<strong>do</strong>res fossem mais prepara<strong>do</strong>s poderíamos ir mais<br />
às compras, se os guardas de rua receberem treinamento saberão abordar<br />
de forma adequada um cego, um sur<strong>do</strong>. A sociedade precisa crescer no<br />
contato com gente diferente (Entrevista realizada em dez. de 2001).<br />
Na entrevista acima, se constata que o acesso da pessoa aos lugares depende <strong>do</strong> fato de<br />
que haja nos mesmos uma outra maneira de recepção, alternativas diferenciadas de<br />
abordagens entre as pessoas, algo que pode ser cria<strong>do</strong> de acor<strong>do</strong> com a necessidade <strong>do</strong><br />
outro. A possibilidade <strong>do</strong> convívio entre as diferenças e a "troca das cores" poderá<br />
consolidar o conhecimento acerca desta questão e a permanência <strong>do</strong> diverso na dinâmica<br />
relacional entre as pessoas. O acesso das pessoas ao seu meio está imbrica<strong>do</strong> na<br />
oportunidade de convivência e conhecimento. O molde de convivência apresenta regras<br />
fixas de ser e se comportar nos grupos, fora desses se corre o risco de segregação. Eis o<br />
aspecto das relações sociais que precisa ser revisto e reinventa<strong>do</strong>.<br />
"Eu aprendi a me comunicar com minha noiva surda olhan<strong>do</strong> para os<br />
movimentos da mão dela. Cada vez que eu olho para os gestos que ela faz<br />
mais eu apren<strong>do</strong> o que ela diz" (Entrevista realizada em nov. de 2002).<br />
O que se pode inferir desse exemplo, será o fato de olhar para o outro, tal qual ele se<br />
apresenta e, a partir daí ser possível a percepção <strong>do</strong> reconhecimento, enquanto sujeito,<br />
desse outro. Na experiência pessoal informada acima a pessoa aprende a entender seu<br />
parceiro a partir <strong>do</strong> momento em que se dispõe a decifrar seus gestos. Isso é possível,<br />
quan<strong>do</strong> se abrirem os horizontes da expectativa acerca <strong>do</strong> que deve ser o outro, ou seja,<br />
quan<strong>do</strong> se supera o objetivo de que todas as pessoas estejam aptas ao enquadramento no<br />
molde que define o que é ser humano. As pessoas precisam ter ocasião de se encontrarem<br />
umas com as outras em de novas práticas sociais e não unicamente naquela que está<br />
estabelecida previamente pelas convenções sociais.
178<br />
"A prática social, dialeticamente concebida, na perspectiva que a estamos trabalhan<strong>do</strong>,<br />
é, por excelência, a possibilidade de operar com projetos políticos que tenham por<br />
horizonte a consolidação da democracia e da cidadania" (MARTINELLI, 1995, p.148).O<br />
novo rumo a ser toma<strong>do</strong> afim de que se tenha "um mun<strong>do</strong> para to<strong>do</strong>s" requer essa<br />
tonalidade de prática social mencionada pela autora. Uma prática social que abra espaço<br />
para o pertencimento de to<strong>do</strong>s os seus sujeitos sociais.<br />
Pertencimento é um direito de to<strong>do</strong> o ser pelo simples fato de já fazer parte da<br />
humanidade, uma vez que seja humano. Todavia, se tem uma construção social que segrega<br />
uma infinidade de pessoas <strong>do</strong> convívio em sociedade, por to<strong>do</strong>s os fatos já menciona<strong>do</strong>s<br />
neste trabalho. Para as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades ter um lugar<br />
garanti<strong>do</strong> no contexto da vida em comunidade requer acessibilidade. A construção<br />
arquitetônica e simbólica das cidades não se concretizou incluin<strong>do</strong> as diferenças marcantes.<br />
Acessibilidade significa tornar a sociedade capacitada, apta a reconhecer que a diversidade<br />
faz parte de seu movimento e será preciso criar estruturas, em suas instâncias, que<br />
comportem as múltiplas variações da expressão humana.<br />
De acor<strong>do</strong> com a CARTA PARA O TERCEIRO MILÊNIO 14 : "No terceiro milênio, a meta de<br />
todas as nações precisa ser a de evoluírem para sociedades que projetam os direitos das<br />
pessoas com deficiência mediante o apoio ao pleno empoderamento e inclusão delas em<br />
to<strong>do</strong>s os aspectos da vida" (1999, p.1). Conforme o demonstra<strong>do</strong> ao longo deste trabalho há<br />
um movimento internacional que requer, para as PPD, a inclusão <strong>do</strong> direito a fazer parte <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong>. O que por si só já indica o nível de distanciamento de uma vida realmente humana,<br />
no qual se encontra a sociedade.<br />
Ten<strong>do</strong> em vista que a requisição desse direito significa que, em pleno século XXI, ainda<br />
não se organizou um mo<strong>do</strong> de vida social comportan<strong>do</strong> os diferentes sujeitos em sua<br />
constituição enquanto tal. Sen<strong>do</strong> assim, a acessibilidade arquitetônica e cultural é a via pela<br />
qual a heterogeneidade <strong>do</strong>s sujeitos poderá ser incluída. Na história da humanidade e, como<br />
14 Esta Carta foi aprovada no dia 09 de setembro de 1999, em Londres, Grã-Bretanha, pela Assembléia<br />
Governativa da REHABILITATION INTERNACIONAL, estan<strong>do</strong> Artur O' Reilly na Presidência e David<br />
Henderson na Secretaria Geral.
179<br />
um resulta<strong>do</strong> da questão social, foram criadas inúmeras interdições e barreiras que<br />
impediram determina<strong>do</strong>s sujeitos de ter acesso ao mun<strong>do</strong>. O reconhecimento, embora<br />
tardio, de toda essa interdição é um traça<strong>do</strong> que conduz a desconstituição das interdições a<br />
partir da transformação da cultura e das condições materiais estabelecidas até então.
180<br />
V- O DESENHO <strong>DA</strong> PESQUISA E SEU FUN<strong>DA</strong>MENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO<br />
O percurso percorri<strong>do</strong> até está altura <strong>do</strong> desenvolvimento desta tese será descrito neste<br />
último capítulo. Serão descritos os passos desenvolvi<strong>do</strong>s nesta travessia, em que se pôde<br />
dialogar com os diversos sujeitos que deixaram suas opiniões e reflexões acerca da temática<br />
da diversidade e as relações sociais. Refletin<strong>do</strong> sobre as diferentes áreas das deficiências<br />
procurou-se a necessária interlocução com os sujeitos que vivenciam suas diversas<br />
diferenças, enquanto uma limitação física, sensorial ou psíquica nos processos desta<br />
sociedade.<br />
A pesquisa proposta tornou-se viável graças à interlocução com as pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência em suas áreas diversas, com profissionais da FADERS e com gestores da<br />
política pública para pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades. A partir desse<br />
debate, foi possível realizar uma construção conjunta de formulações acerca <strong>do</strong> significa<strong>do</strong><br />
das diferenças e <strong>do</strong> processo social de exclusão/inclusão que envolve essa questão. Neste<br />
capítulo serão explicitadas as concepções que deram base à meto<strong>do</strong>logia de pesquisa e os<br />
procedimentos desenvolvi<strong>do</strong>s em sua implementação.<br />
5.1 CONCEPÇÕES ACERCA <strong>DA</strong> CONSTRUÇÃO DESTA TRAVESSIA<br />
A temática desta tese versou sobre a diversidade na perspectiva das relações sociais,<br />
ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> desenvolvida a partir da vivência e da interpretação de uma investiga<strong>do</strong>ra na<br />
área de atuação <strong>do</strong> Serviço Social. Um <strong>do</strong>s campos de pesquisa, a FADERS, foi o locus<br />
específico de prática social, muito embora a especificidade da área social esteja justamente<br />
em uma perspectiva de abranger diversos ângulos e aspectos <strong>do</strong> real. Na qualidade de<br />
assistente social e investiga<strong>do</strong>ra deste social almejou-se desvendar e revelar os meandros<br />
nebulosos <strong>do</strong> contexto de ação, com o objetivo de dar maior visibilidade nas situações<br />
apresentadas e enfrentadas no real.
181<br />
A partir da superação progressiva da opacidade que cerca os processos sociais e da<br />
aproximação sucessiva daquilo que pode ser o real e sua problemática principal. A<br />
finalidade da pesquisa foi a de poder encaminhar estratégias de ações na trilha da<br />
transformação permanente das situações demandas pelo real, um trabalho que não pode ser<br />
pensa<strong>do</strong> de forma solitária e que só poderá tomar corpo no conjunto, nas parcerias que se<br />
vão consolidan<strong>do</strong> ao trilhar os caminhos. A pesquisa apresentada ao longo deste trabalho<br />
foi construída em uma abordagem qualitativa, será explicitada neste capítulo.<br />
Algumas palavras são consideradas "chaves" para a compreensão das mais<br />
significativas características de uma abordagem qualitativa na pesquisa, para a apreensão<br />
<strong>do</strong> conteú<strong>do</strong> que dá senti<strong>do</strong> ao que diversos autores denominam de qualitativo. Essas<br />
palavras vão dan<strong>do</strong> senti<strong>do</strong> e forma àquilo que se vai pesquisar e ao instrumental que se irá<br />
dispor para equipar tal investida. Na perspectiva qualitativa o dispositivo meto<strong>do</strong>lógico em<br />
si não se constitui na parte principal da pesquisa, mas é o que pode dar mobilidade a<br />
investigação, é o que pode levar ao real, de forma a poder abordá-lo estrategicamente, de<br />
um jeito organicamente pensa<strong>do</strong>, a fim de submeter o real às inúmeras indagações <strong>do</strong><br />
investiga<strong>do</strong>r e daqueles outros sujeitos implica<strong>do</strong>s no processo de investigação.<br />
As palavras que se destacaram para explicar o entendimento sobre este tipo de<br />
abordagem, foram: processo; significa<strong>do</strong>s; descrição; interpretação; ambiente natural;<br />
revelação; prática social; fortalecimento; conexão; relação; cotidiano-sociedade e<br />
transformação. Em torno dessas palavras, desenvolve-se, uma concepção sobre o<br />
significa<strong>do</strong> da pesquisa qualitativa em uma abordagem social.<br />
O substancial dessa investigação foi a discussão sobre os processos sociais de uma<br />
sociedade que suprime as diferenças e quer submeter as subjetividades individuais a um<br />
padrão ideal e irreal de ser humano. Pretendeu-se indagar esses processos sociais que se<br />
desenvolveram, de forma a não permitir a inclusão e a condenar a presentificação <strong>do</strong>s<br />
sujeitos em seu contexto, os relegan<strong>do</strong> à exclusão e ao isolamento.
182<br />
As pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades, por apresentarem suas<br />
diferenças de forma mais visível, sofrem de um brutal processo de exclusão social,<br />
exatamente pelo fato de significarem, também, a expressão da condição de vida real que se<br />
contrapõe a vida social idealizada <strong>do</strong> homem perfeito, em um padrão da dita “normalidade’.<br />
A visibilidade <strong>do</strong>s chama<strong>do</strong>s “defeitos” e daquilo que é considera<strong>do</strong> fora <strong>do</strong> padrão de<br />
“normalidade” põe em cheque esse próprio conceito e to<strong>do</strong> o processo social de uma<br />
sociedade histórica e culturalmente organizada para atender e incluir o ser humano<br />
“perfeito”, “normal”, “possui<strong>do</strong>r” e “belo”.<br />
A prática da pesquisa é apresentada, também, em caráter estratégico para que se dê o<br />
processo de fortalecimento de to<strong>do</strong>s aqueles sujeitos envolvi<strong>do</strong>s no processo da<br />
investigação. No desenrolar da investigação, se faz necessário realizar parcerias, com a<br />
finalidade de encontrar novas alternativas para abordar a questão em pauta. Trata-se de um<br />
somatório de forças para atingir um objetivo em comum que é tornar determina<strong>do</strong> lugar um<br />
local de expressão <strong>do</strong> sujeito, enquanto um ser político participativo e <strong>do</strong>ta<strong>do</strong> <strong>do</strong> direito de<br />
estar incluí<strong>do</strong>, de fazer parte, de se presentificar no mun<strong>do</strong> ao qual pertence. Na palavra<br />
chave, transformação, se encontra o propósito <strong>do</strong> processo de trabalho e o próprio senti<strong>do</strong><br />
<strong>do</strong> investigar.<br />
Para que compreender se não for para mudar? Ou melhor, para mudar o real é preciso<br />
conhecê-lo mais concretamente, e por isso é preciso indagá-lo, perscrutá-lo, revisá-lo<br />
constantemente. Nesse senti<strong>do</strong> a prática institucional, cotidiana e social na qual, a<br />
pesquisa<strong>do</strong>ra, se inseriu como trabalha<strong>do</strong>ra e investiga<strong>do</strong>ra <strong>do</strong> social, deve ser uma prática<br />
sempre revisionada, questionada, desconstituída e reconstruída a fim de que se faça jus ao<br />
movimento dinâmico e contraditório presente na realidade da vida social e subjetiva.<br />
A realidade estruturada e concreta inclui relações ocultas e invisíveis entre os elementos<br />
<strong>do</strong> to<strong>do</strong>, a serem desvendadas. O que é da<strong>do</strong> ou oculto não significa uma forma eterna de<br />
existência. O que é, pode deixar de ser na fase posterior, consideran<strong>do</strong> a provisoriedade da<br />
história. Para LOWY (1978) o estruturalismo histórico indica a importância da apreensão<br />
das leis ocultas <strong>do</strong> to<strong>do</strong> em sua historicidade.
183<br />
O méto<strong>do</strong> dialético é apropria<strong>do</strong> para captar o evoluir histórico de um fenômeno social<br />
desde seu interior, realizan<strong>do</strong> as conexões necessárias, relacionan<strong>do</strong> as partes entre si e<br />
situan<strong>do</strong>-as na totalidade concreta. Esse méto<strong>do</strong> adentra no “âmago” de um fenômeno, em<br />
busca de sua essência. Sai da superfície e aparências iniciais, não se contentan<strong>do</strong> com a<br />
primeira impressão ou com afirmativas isoladas sobre a contextualidade, procuran<strong>do</strong><br />
entender o dinamismo da realidade social. Propõe-se à crítica e autocrítica constantes.<br />
O fenômeno se apresenta na experiência imediata, separa<strong>do</strong> <strong>do</strong> seu contexto, <strong>do</strong> seu<br />
significa<strong>do</strong> e de sua essência. O imediatismo e a evidência <strong>do</strong>s fenômenos <strong>do</strong> cotidiano<br />
penetram a consciência <strong>do</strong>s indivíduos, segun<strong>do</strong> KOSIK (1976 p.210). Na relação entre<br />
fenômeno e essência, a essência não se manifesta diretamente aos investiga<strong>do</strong>res porque<br />
fenômeno e essência não se dão ao mesmo tempo.<br />
A essência, apenas sob certos aspectos, de forma parcial, se manifesta no fenômeno. O<br />
fenômeno esconde a essência, ao mesmo tempo em que a indica de alguma maneira. A<br />
“coisa em si”, “a estrutura oculta da coisa” deverá ser desvendada por quem quer<br />
compreender o real. Esse precisará desmontar o caráter imediato e deriva<strong>do</strong> <strong>do</strong>s fenômenos<br />
para explicar o mun<strong>do</strong> de forma crítica e “destruir a pseu<strong>do</strong>concreticidade” que, para<br />
KOSIK, significa o mun<strong>do</strong> das criações fetichizadas.<br />
“.. não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou<br />
representam, e tampouco <strong>do</strong>s homens pensa<strong>do</strong>s, imagina<strong>do</strong>s e<br />
representa<strong>do</strong>s para, a partir daí chegar aos homens em carne e osso.<br />
Parte-se <strong>do</strong>s homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida<br />
real, expõe-se também o desenvolvimento <strong>do</strong>s reflexos ideológicos e <strong>do</strong>s<br />
ecos desse processo de vida” (MARX, 1993, p. 37).<br />
A fim de que seja possível adentrar o âmago <strong>do</strong>s fenômenos se faz necessário encontrar<br />
as conexões no mo<strong>do</strong> de vida <strong>do</strong>s sujeitos que vivem e fazem a história da humanidade. O<br />
contexto humano é relacional. Há uma conexão entre os indivíduos sociais e a sociedade.<br />
MARX (1993) parte, em seus pressupostos, da forma como as pessoas organizam os meios<br />
de produzir e reproduzir o necessário para suas vidas, constituin<strong>do</strong> assim sua vida social,<br />
que é essencialmente prática.
184<br />
Considerar o aspecto prático da vida social é incluir a análise <strong>do</strong> conjunto de<br />
circunstâncias que envolvem a atividade <strong>do</strong>s sujeitos. Perceber a possibilidade de alteração<br />
das atividades é considerar que o sujeito pode introduzir mudanças em sua própria vida e<br />
no contexto social. No cotidiano da vida de cada um os fenômenos se apresentam como se<br />
fossem objetivos, absolutamente reais e concretos. A aparência não é igual à essência. O<br />
méto<strong>do</strong> dialético se propõe a um desmonte, a destruição da aparente “objetividade <strong>do</strong><br />
fenômeno”. Pretende conhecer a verdade <strong>do</strong> fenômeno por detrás de sua aparência. Para se<br />
chegar ao conhecimento da realidade ou a “verdade aproximativa” desta realidade, se faz<br />
necessário, deslocar os fatos <strong>do</strong> seu contexto real, isolan<strong>do</strong>-os e tornan<strong>do</strong>-os independentes.<br />
KOSIK (1976, p.15), denomina de decomposição <strong>do</strong> to<strong>do</strong> o movimento da investigação<br />
em que cada elemento <strong>do</strong> objeto em estu<strong>do</strong>, suas reificações, suas transformações, devem<br />
ser compreendidas a partir de sua situação no conjunto. Desconsideram-se tanto conceitos<br />
gerais quanto fatos puramente individuais. O desmonte é aproximativo, pois, a realidade é<br />
complexa o bastante para possibilitar a análise <strong>do</strong> conjunto <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s concretos, mesmo<br />
com o objeto desmonta<strong>do</strong>. O que acontece são aproximações sucessivas “no vai e vem<br />
permanente entre o to<strong>do</strong> e as partes” (GOLDMANN, 1986, p.36).<br />
Vai-se avançan<strong>do</strong> no conhecimento geral <strong>do</strong>s fatos à medida que se melhor conhece seus<br />
elementos, assim será possível, o retorno “ao conjunto de maneira operatória”. Para<br />
compreender o senti<strong>do</strong> <strong>do</strong>s fatos <strong>do</strong> real e sua estrutura é preciso tomar distância <strong>do</strong>s<br />
mesmos e submetê-los à própria prática: “o homem só conhece a realidade na medida em<br />
que ele cria a realidade humana e se comporta antes de tu<strong>do</strong> como ser prático”<br />
(GOL<strong>DA</strong>MANN, 1986, p.22).<br />
No caráter prático indica<strong>do</strong> acima está também o caráter concreto que sugere a<br />
descoberta <strong>do</strong> homem que vive a sua vida diária, por detrás da realidade reificada e da<br />
cultura <strong>do</strong>minante. Para se chegar a este concreto, é preciso negar a imediaticidade, a<br />
“concreticidade sensível”, ou seja, o conhecimento que se tem no momento inicial de<br />
aproximação com as situações que se colocam no cotidiano, aprofundan<strong>do</strong> as primeiras<br />
impressões e in<strong>do</strong> em busca <strong>do</strong>s desvendamentos necessários das obscuridades <strong>do</strong> real, de
185<br />
suas tramas e inter-relações.<br />
Realiza-se um movimento contínuo de oscilação entre o conjunto e as partes, <strong>do</strong> to<strong>do</strong><br />
através da mediação da parte na localização <strong>do</strong> específico, <strong>do</strong> singular no to<strong>do</strong>. O<br />
materialismo dialético-histórico considera o específico, o singular, o particular, a totalidade.<br />
Considera a atividade concreta <strong>do</strong>s seres humanos, atividade em seu conjunto, em seu<br />
movimento histórico sem isolar as partes. Busca perceber as relações internas <strong>do</strong>s<br />
fenômenos na conexão entre seus elementos.<br />
“... é o movimento <strong>do</strong> to<strong>do</strong> para a parte e da parte para o to<strong>do</strong>, <strong>do</strong><br />
fenômeno para essência e da essência para o fenômeno, da totalidade<br />
para contradição, da contradição para a totalidade, <strong>do</strong> objeto para o<br />
sujeito, <strong>do</strong> sujeito para o objeto” (KOSIK, 1986, p.30).<br />
No dinamismo <strong>do</strong> méto<strong>do</strong> dialético se considera um outro aspecto fundamental: o<br />
caráter total da atividade humana que indica a ligação entre história <strong>do</strong>s fatos econômicos<br />
sociais e a história das idéias. A realidade social não pode ser recortada em partes<br />
estanques, segmentalizadas, a mesma é dinâmica, complexa, concreta, totalizante.<br />
Aceitan<strong>do</strong> a totalidade, como categoria <strong>do</strong> méto<strong>do</strong> dialético, se percebe a realidade como<br />
um to<strong>do</strong> estrutura<strong>do</strong>, não caótico, com leis íntimas, que deverão ser desvendadas por<br />
conexões necessárias, que possam mostrar o lugar ocupa<strong>do</strong> pelos fatos no contexto em que<br />
a realidade se apresenta.<br />
Sen<strong>do</strong> assim um fato pode vir a ser compreendi<strong>do</strong>, entretanto, mesmo que to<strong>do</strong>s os fatos<br />
fossem desvenda<strong>do</strong>s, o conjunto deles não indicaria a apreensão da totalidade, que não é a<br />
soma de to<strong>do</strong>s os fatos. A infinitude <strong>do</strong>s aspectos e propriedades da realidade indica que<br />
essa é incognoscível em sua totalidade concreta. O to<strong>do</strong> estrutura<strong>do</strong> não é perfeito, nem<br />
acaba<strong>do</strong>, vai sen<strong>do</strong> cria<strong>do</strong> em um processo que apresenta um movimento em espiral. Para<br />
KOSIK, na concepção <strong>do</strong> materialismo dialético, não se pretende conhecer o quadro total<br />
da realidade, nem to<strong>do</strong>s os aspectos da realidade. A totalidade aparece como categoria de<br />
análise <strong>do</strong> real e suporte meto<strong>do</strong>lógico e o: “... conhecimento de fatos e conjuntos de fatos<br />
vem a ser conhecimento <strong>do</strong> lugar que eles ocupam na totalidade <strong>do</strong> próprio real” (KOSIK,<br />
1986, p41).
186<br />
Na sociedade capitalista não há autonomia da economia, nem autonomia das relações<br />
sociais. Há uma complexidade social de implicações e conexões entre as várias esferas da<br />
vida social com a unidade formada pela estrutura econômica. Acontece o que FRIGOTTO<br />
(1989) denomina de “imperativo <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> humano de produção social da existência”. A<br />
teoria <strong>do</strong> materialismo histórico considera o significa<strong>do</strong> da estrutura econômica e<br />
demonstra a influência <strong>do</strong> mesmo sobre as demais esferas da vida e com isso o referi<strong>do</strong><br />
"imperativo <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> de produção", como algo presente no cotidiano. Esses conceitos não<br />
relegam a segun<strong>do</strong> plano as outras esferas da vida social, nem tampouco as consideram de<br />
ordem inferior.<br />
Não há nenhuma redução, na perspectiva dialética, da consciência social, da filosofia, da<br />
arte, da cultura às condições econômicas. O que acontece é uma investigação profunda <strong>do</strong>s<br />
fatos e de suas conexões. Trata-se de uma atividade analítica que pretende o<br />
desmascaramento <strong>do</strong> “núcleo terreno das formas espirituais” (KOSIK, 1976). O<br />
radicalismo da filosofia dialética materialista significa o fato de seu méto<strong>do</strong> buscar a raiz da<br />
realidade social, ou seja, busca entender o homem como sujeito objetivo, concretamente<br />
histórico, que cria a realidade social, a partir <strong>do</strong> próprio fundamento econômico. “O caráter<br />
social <strong>do</strong> homem, não consiste apenas em que ele sem o objeto não é nada, consiste antes<br />
de tu<strong>do</strong> em que ele demonstra a própria realidade em uma atividade objetiva” (KOSIK,<br />
1976, p.113).<br />
O méto<strong>do</strong> dialético com base em MARX não faz nenhum reducionismo à economia,<br />
apenas parte da atividade prática objetiva <strong>do</strong>s homens para desenvolver e explicitar os<br />
fenômenos culturais e demais fenômenos da vida social. A indicação da dimensão social<br />
no estu<strong>do</strong> <strong>do</strong>s fatores humanos é também apontada por GOLDMANN que entende o<br />
pensamento dialético acentuan<strong>do</strong> o caráter total da vida social e não considera possível<br />
separar “seu la<strong>do</strong> material <strong>do</strong> seu la<strong>do</strong> espiritual” (1986 p.66). Para esse autor a<br />
pre<strong>do</strong>minância <strong>do</strong>s fatores econômicos acontece na relação dialética <strong>do</strong> homem como ser<br />
vivo e consciente, situa<strong>do</strong> no mun<strong>do</strong>, no ambiente de realidades econômicas, sociais,<br />
políticas, intelectuais e religiosas.
187<br />
GOLDMANN amplia o senti<strong>do</strong> da palavra econômico, de acor<strong>do</strong> com MARX,<br />
observan<strong>do</strong> o senti<strong>do</strong> relacional dessa palavra. A forma de relação de produção da<br />
existência social, como uma forma de relação dentro <strong>do</strong> contexto da sociedade, vai<br />
“determinan<strong>do</strong> a consciência <strong>do</strong>s homens”. Essa determinação fica bem explícita por<br />
KOSIK (1976) que nos fala <strong>do</strong> recíproco intercâmbio de pessoas e coisas, a personificação<br />
das coisas e a coisificação das pessoas. Na vida cotidiana, é comum, situar-se diante <strong>do</strong><br />
“fetiche” <strong>do</strong> consumo, das máquinas, da sociedade industrial, eletrônica, informatizada, que<br />
foi toman<strong>do</strong> lugar da sociedade humanizada, gerenciada por leis éticas que reconhecem o<br />
valor <strong>do</strong> homem em primeiro lugar. Isso indica, conforme KOSIK:<br />
“.. às coisas se atribuem vontade e consciência, e por conseguinte o<br />
seu movimento se realiza consciente e voluntariamente e os homens se<br />
transformam em porta<strong>do</strong>res ou executores de movimento das coisas”<br />
(1976, p. 174).<br />
A vida fechitizada é apenas uma faceta da vida humana. O homem é o sujeito capaz de<br />
romper com o que está estrutura<strong>do</strong>. Tem a possibilidade de transformar, por suas ações, a<br />
construção social que ele mesmo realizou, através da consciência e da ação. Entender esse<br />
potencial significa reconhecer um fato humano vivencia<strong>do</strong> histórica e concretamente. A<br />
história demonstrou inúmeras vezes o poder de superação e transformação <strong>do</strong> ser humano e<br />
social, na dialética da existência social.<br />
O fato de considerar os vários aspectos da totalidade social e, nesta ótica, entender os<br />
conflitos da vida social, suas contradições, não deve significar compreender apenas o la<strong>do</strong><br />
da impossibilidade. A característica fundamental da contradição é a inclusão <strong>do</strong>s aspectos e<br />
não a parcialidade. O conceito de contradição não encerra nenhuma limitação<br />
intransponível, mas justamente a pulsão conflitiva que poderá levar a importantes<br />
superações:<br />
“... De repente, tem-se a noção de que o termo contradição tu<strong>do</strong><br />
justifica, mas igualmente, tu<strong>do</strong> limita. Ao invés de ser trata<strong>do</strong><br />
teoricamente na leitura <strong>do</strong> contexto profissional, o conceito serve ao<br />
assistente social para fechar qualquer questão...” (KARSH, 1989, p.167).<br />
O tratamento da<strong>do</strong>, na perspectiva dialética, ao conceito de contradição é dirigi<strong>do</strong> ao<br />
processo de conscientização que poderá levar aos desvendamentos necessários da realidade
188<br />
social. A denúncia da perversão <strong>do</strong> sistema de produção e convivência entre as pessoas, não<br />
leva a paralisação das ações, nem tampouco ao engessamento das perspectivas de seu<br />
enfrentamento. Entretanto, se considera de fundamental importância meto<strong>do</strong>lógica o<br />
entendimento das contradições sociais.<br />
A situação das pessoas porta<strong>do</strong>ra de deficiência, que foi demonstrada nesta pesquisa<br />
aponta para o movimento de superação histórica <strong>do</strong>s sujeitos, que vai <strong>do</strong> extermínio a<br />
construção de políticas públicas de acessibilidade. E, também, o avanço da discussão nesta<br />
área que hoje remete à necessária transformação cultural e ao entendimento de que é o<br />
social e não o sujeito que deve se adaptar. O movimento social das PPD, bem como a nova<br />
tendência na literatura da área, tem aponta<strong>do</strong> para a necessidade da "reconstrução social",<br />
como se demonstrou nos capítulos anteriores.<br />
Na Ideologia Alemã, MARX (1993) dizia que a realidade é inclusiva. Nela convivem<br />
tanto os elementos da conservação como os da transformação. Portanto, convivem ao<br />
mesmo tempo forças para preservar a ordem arcaica das coisas, como para impulsionar uma<br />
nova ordem. As contradições da sociedade mostram os conflitos e a existência de forças<br />
antagônicas. Nesta luta entre humanismo e perversidade social, seus sujeitos precisam<br />
apostar na dialética <strong>do</strong> possível e construir estratégias de superações <strong>do</strong> cotidiano que tende<br />
a repetir antigos padrões.<br />
5.2 O DESENHO <strong>DA</strong> PESQUISA<br />
Na perspectiva <strong>do</strong> materialismo histórico se pode, didaticamente, vislumbrar um núcleo<br />
conjuga<strong>do</strong> de três elementos inseparáveis. É possível também falar de uma unidade que<br />
congrega três elementos. Esses elementos ou dimensões <strong>do</strong> movimento da realidade<br />
constituem-se em: uma posição ética, um méto<strong>do</strong> e uma práxis. Tais dimensões da<br />
intervenção no real, no caso a pesquisa, estão imbricadas em uma dinâmica de múltiplas<br />
relações. A ética, nessa perspectiva, é uma ética libertária, que almeja um determina<strong>do</strong> tipo<br />
de sociedade, na qual haja espaço para expressão da subjetividade <strong>do</strong>s seres. Nesse espaço
189<br />
cada qual poderia se encontrar livre das opressões de uma estrutura social que cria diversos<br />
impedimentos ao desenvolvimento <strong>do</strong>s sujeitos. É uma ética que considera fundamental a<br />
luta pela autonomia <strong>do</strong>s sujeitos, pela sua livre expressão na sociedade.<br />
Quanto ao méto<strong>do</strong>, significa a forma de chegar ao real por meio de várias estratégias e<br />
articulações que sejam construídas situcionalmente, ou seja, de acor<strong>do</strong> com as<br />
circunstâncias, para ultrapassar o imediato. O méto<strong>do</strong> é o movimento das estratégias para<br />
buscar a concretização da finalidade das ações. Ten<strong>do</strong> em vista uma ética libertária serão<br />
necessárias alternativas de construções de mediações que sejam direcionadas para<br />
superação das obscuridades <strong>do</strong> real. O méto<strong>do</strong>, na perspectiva dialética, é pensa<strong>do</strong> para o<br />
desmonte <strong>do</strong> fetichismo das relações sociais, para se obter clareza <strong>do</strong>s processos de<br />
alienação e ao mesmo tempo para o trabalho de conscientização, que é o contrário da<br />
alienação.<br />
Quan<strong>do</strong> se fala na dimensão da práxis estão incluídas as duas dimensões anteriores da<br />
ética e <strong>do</strong> méto<strong>do</strong>. A sociedade, a vida humana está sempre em movimento, em constantes<br />
mutações. A transformação faz parte <strong>do</strong>s processos humanos e sociais. A práxis é o<br />
movimento das atividades que não se limitam às ações repetidas, reiteradas e reificadas. A<br />
perspectiva da revolução <strong>do</strong> cotidiano também pode estar presente na prática da pesquisa,<br />
como uma práxis. Conforme afirma Souza: “... quem tem o princípio descobre o méto<strong>do</strong><br />
(1993 p.144). O princípio de cidadania e de "equiparação de oportunidades" poderá<br />
conduzir a méto<strong>do</strong>s de pesquisa que percorram naquela direção.<br />
Não que se possa hiperdimensionar a capacidade de uma pesquisa de mudar as coisas <strong>do</strong><br />
real, no imediato. O que se pode é entender que a orientação ética vai balizar os méto<strong>do</strong>s<br />
escolhi<strong>do</strong>s e vai direcionar a investigação para alguma intenção determinada. A postura<br />
ética, o méto<strong>do</strong> e a práxis não são elementos que se separem, estão interliga<strong>do</strong>s. A conexão<br />
é inevitável, o méto<strong>do</strong> não é algo que se isole da intencionalidade e da necessidade de<br />
direcionar o conjunto de ações planejadas na direção que é apontada por uma ética e por<br />
uma filosofia. A ética expressa a visão que se tem <strong>do</strong> sujeito e da sociedade onde se insere<br />
este sujeito, bem como o compromisso com a dignidade da vida humana.
190<br />
A consideração <strong>do</strong>s valores humanos e, portanto o aspecto qualitativo na investigação<br />
leva a seu caráter de revelação. O cotidiano <strong>do</strong> pesquisa<strong>do</strong>r com to<strong>do</strong>s os seus significa<strong>do</strong>s<br />
e significantes desenvolvi<strong>do</strong>s no seu “ambiente natural”, se torna uma variável considerável<br />
ao processo de pesquisa. O pesquisa<strong>do</strong>r tem certa familiaridade com os fenômenos que irá<br />
investigar e o desenrolar da pesquisa vai revelar suas percepções parciais. Essas vão se<br />
amplian<strong>do</strong> a partir <strong>do</strong>s chama<strong>do</strong> “insight” que acontece posteriormente a uma descrição<br />
minuciosa. Deve ser realizada uma análise cuida<strong>do</strong>sa e profunda <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s encontra<strong>do</strong>s e<br />
da inclusão de to<strong>do</strong>s os aspectos existentes no contexto onde se dá a relação sujeito–objeto<br />
e sujeito-sujeito. Nesse senti<strong>do</strong> é preciso ter consciência <strong>do</strong>s valores e ideologias que<br />
permeiam as pesquisas nos processos históricos que envolveram os fenômenos estuda<strong>do</strong>s.<br />
“Ninguém hoje ousaria negar a evidência de que toda ciência é comprometida.<br />
Ela veicula interesses e visões de mun<strong>do</strong> historicamente construídas e se submete e<br />
resiste aos limites da<strong>do</strong>s pelos esquemas de <strong>do</strong>minação vigentes (MINAYO,1998, p.<br />
21).<br />
Torna-se imprescindível o reconhecimento de que o fenômeno ideológico permeia o<br />
campo de conhecimento e o campo de ação, especialmente no que diz respeito a ciências<br />
humano - sociais. A ideologia é algo que invade as ciências sociais, de mo<strong>do</strong> intrínseco.<br />
Não dar atenção a esse fato significa não perceber o sujeito enquanto ator principal <strong>do</strong><br />
conhecimento. GOLDMANN considera que nas ciências humanas, além das dificuldades<br />
comuns às ciências físico-químicas, enfrentar-se-á também “dificuldades específicas<br />
provindas da interferência da luta de classes sobre a consciência <strong>do</strong>s homens, em geral, e<br />
sobre a sua própria em particular” (1986 p.49).<br />
O pesquisa<strong>do</strong>r não está isento de sua ideologia e seus interesses pessoais ao se propor a<br />
uma investigação. De um determina<strong>do</strong> lugar, de uma posição específica <strong>do</strong> social, o<br />
pesquisa<strong>do</strong>r, estará intervin<strong>do</strong> nesse real, é preciso ter consciência desses elementos que<br />
estão presentes na pesquisa. Para além da consciência, os trabalha<strong>do</strong>res <strong>do</strong> social devem ter<br />
o compromisso, em suas investigações de demonstrar, denunciar os processos sociais de<br />
exclusão, de exploração, de injustiça, de <strong>do</strong>minação, de discriminações e preconceitos a fim<br />
de que as ações destes possam se dirigir com o propósito e no senti<strong>do</strong> da movimentação
191<br />
desses processos sociais. Na perspectiva qualitativa, se entende que as circunstâncias estão<br />
em constante transformação e se poderá acompanhar essa dinâmica a partir de um radical<br />
conhecimento <strong>do</strong> real.<br />
A ampliação da consciência é um processo necessário à pesquisa. Igualmente<br />
significativo será o reconhecimento das reais condições de vida das pessoas e da conexão<br />
dessas condições com os condicionamentos historicamente construí<strong>do</strong>s em um determina<strong>do</strong><br />
tipo de sociedade. O Atual sistema social se consoli<strong>do</strong>u em uma estrutura de desigualdades,<br />
onde os sujeitos não estão to<strong>do</strong>s com as mesmas oportunidades para se desenvolverem<br />
enquanto sujeitos. Muitos <strong>do</strong>s indivíduos desta sociedade não estão incluí<strong>do</strong>s, não tem<br />
acesso as mesmas possibilidades <strong>do</strong> que outros, para a participação em tu<strong>do</strong> àquilo que dá<br />
dignidade à vida humana como: alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde, lazer,<br />
esporte, cultura, liberdade de escolha.<br />
Há uma conexão entre o cotidiano de inúmeras pessoas à conjuntura e à estrutura social,<br />
essa conexão precisa ser revelada, desnudada em cada pesquisa que se atente a uma<br />
finalidade transformativa. Os vários olhares lança<strong>do</strong>s aos fenômenos <strong>do</strong> real devem ir<br />
mudan<strong>do</strong> o olhar inicial, reconstituin<strong>do</strong> a forma de analisar determina<strong>do</strong>s conceitos, nesse<br />
caminho se vai superan<strong>do</strong> a interpretação inicial. Nesta superação estão incluídas as<br />
diversas vozes que são consideradas na pesquisa. A perspectiva <strong>do</strong>s pesquisa<strong>do</strong>s é<br />
importante e vai moldan<strong>do</strong> a investigação qualitativa, as respostas vão sen<strong>do</strong> construídas a<br />
partir <strong>do</strong> como os outros da pesquisa percebem a realidade. Tem–se uma construção prévia<br />
a ser considerada e contextualizada.<br />
“Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da<br />
pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e<br />
produzem práticas adequadas para intervir nos problemas que<br />
identificam. Pressupõe-se, pois que, elas têm um conhecimento prático, de<br />
senso comum e representações relativamente elaboradas que formam uma<br />
concepção de vida e orientam as suas ações individuais. Isto não significa<br />
que a vivência diária, a experiência cotidiana e os conhecimentos práticos<br />
reflitam um conhecimento crítico que relacione esses saberes particulares<br />
com a totalidade, as experiências individuais com o contexto geral da<br />
sociedade” (CHIZZOTTI, 1998, p. 83).
192<br />
As construções <strong>do</strong>s pesquisa<strong>do</strong>res e pesquisa<strong>do</strong>s estão em uma interação dialética e em<br />
um processo permanente de reconstrução, em que a conscientização, a investigação, a<br />
capacitação técnico-política vão consolidar em novas descobertas. O aspecto da<br />
capacitação técnico-política diz respeito à percepção das contradições e das conexões entre<br />
os fenômenos <strong>do</strong> real. Quan<strong>do</strong> se percebe essa conexão, se pode ter uma ampliação da<br />
análise e evitar as interpretações fragmentárias <strong>do</strong>s fatos sociais. Há uma necessária ruptura<br />
com o padrão da lógica formal, recebida das ciências positivistas e, nesse senti<strong>do</strong>, uma<br />
superação das análises tradicionalmente estudadas.<br />
Segun<strong>do</strong> MINAYO (1998, p.22), a expressão qualitativo, para pesquisa é uma<br />
redundância, pois toda a investigação deve se ocupar de aspectos quantitativos tanto<br />
quanto de qualitativos. O qualitativo significa os aspectos humanos, o que se apreende das<br />
relações humanas, os significa<strong>do</strong>s atribuí<strong>do</strong>s pelos sujeitos desta sociedade ao seu mo<strong>do</strong> de<br />
viver, das formas como a vida social das pessoas é organizada. “Isto implica considerar o<br />
sujeito de estu<strong>do</strong>: gente, em determinada condição social, pertencente a determina<strong>do</strong><br />
grupo social ou classe com suas crenças, valores e significa<strong>do</strong>s” (MINAYO, 1998, p.22).<br />
Uma pesquisa que se ocupa <strong>do</strong>s sujeitos como parte <strong>do</strong> conjunto <strong>do</strong> qual o mesmo faça<br />
parte, localiza as individualidades em sua contextualidade, em seu tempo histórico, na<br />
construção cultural e estrutural desse tempo. Cada época histórica vai constituin<strong>do</strong> a vida<br />
social de cada ser individual. O ambiente natural e o contexto que envolve os sujeitos da<br />
investigação são aspectos relevantes a serem considera<strong>do</strong>s na pesquisa qualitativa. Alguns<br />
autores trabalham com estes conceitos de contexto e de "ambiente natural", destaca-se aqui<br />
o estu<strong>do</strong> sobre a obra de EGON GUBA, realiza<strong>do</strong> por CASTRO 15 (1994, p.59)<br />
No estu<strong>do</strong> referi<strong>do</strong> acima, considera-se que, no ambiente natural, o objeto de estu<strong>do</strong><br />
adquire senti<strong>do</strong> e significa<strong>do</strong> no seu contexto original de ocorrência. O pesquisa<strong>do</strong>r deve<br />
abarcar to<strong>do</strong>s os fatores e influências <strong>do</strong> contexto, através de uma observação prolongada e<br />
15 As observações feitas neste ensaio sobre Egon Guba são o resulta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Estu<strong>do</strong> dirigi<strong>do</strong> em Leitura<br />
Independente sobre: Pesquisa Qualitativa, com a Professora Dra. Marta L. S. de Castro que tem os seguintes<br />
textos sobre o autor: Meto<strong>do</strong>logia da Pesquisa Qualitativa: reven<strong>do</strong> as idéias de Egon Guba, in Paradigmas e
193<br />
persistente, em uma tarefa exigente e complexa, que requer a apreensão da múltipla rede<br />
relacional, a ser verificada e incluída no estu<strong>do</strong>. Na perspectiva naturalística, denominada<br />
assim, por GUBA:<br />
“... o processo de pesquisa é realiza<strong>do</strong> por seres humanos, que<br />
vivenciam a experiência de uma forma holística e integrada. Assim to<strong>do</strong>s<br />
os” “insights”, emoções, intuições são incorpora<strong>do</strong>s de uma forma<br />
sistemática no processo de pesquisa. Esse processo ocorre mesmo no<br />
paradigma tradicional, mas é coloca<strong>do</strong> fora <strong>do</strong> <strong>do</strong>mínio da ciência. No<br />
paradigma naturalístico é reconheci<strong>do</strong> e incorpora<strong>do</strong> ao decurso da<br />
investigação. O pesquisa<strong>do</strong>r vem inteiro para a pesquisa e se modifica no<br />
seu decorrer” (GUBA apud CASTRO, 1994, p.57).<br />
O pesquisa<strong>do</strong>r passará por um processo de ressocialização com os novos conceitos. Para<br />
MINAYO (1998, p. 23) o investiga<strong>do</strong>r deve dispor de um instrumental significativo para<br />
abordar a realidade de forma que possa submetê-la as suas questões e ter as chaves para<br />
desvendá-la. A interpretação e análise são formas de aprofundar o entendimento de tu<strong>do</strong><br />
aquilo que foi coleta<strong>do</strong>. Para tanto não se pode ficar a mercê de “divagações abstratas ou<br />
pouco precisas em relação ao objeto de estu<strong>do</strong>” e para isto o investiga<strong>do</strong>r deverá ter a<br />
capacidade pessoal “de fazer, das preocupações sociais, questões públicas e indagações<br />
perscruta<strong>do</strong>ras da realidade” (MINAYO, 1998, p 23).<br />
Perscrutar a realidade para quê? Essa questão parece ser significativa e deverá se<br />
orientar pela perspectiva política que aponta o compromisso <strong>do</strong> pesquisa<strong>do</strong>r com os<br />
interesses sociais <strong>do</strong>s sujeitos pesquisa<strong>do</strong>s. Nesse senti<strong>do</strong>, a pesquisa se torna uma prática<br />
social em um processo de descrição, interpretação e revelação <strong>do</strong>s significa<strong>do</strong>s <strong>do</strong>s<br />
fenômenos em seu contexto, em seu ambiente natural. Nessa revelação, demonstra-se a<br />
conexão entre cotidiano e sociedade que propicia o fortalecimento <strong>do</strong>s sujeitos para o<br />
enfrentamento da questão social, com a finalidade da transformação das condições dadas.<br />
A partir <strong>do</strong> desenvolvimento da pesquisa, pretende-se fazer uso público das questões,<br />
das problematizações e das respostas encontradas junto às diferentes vozes consultadas.<br />
Essas vozes podem dizer <strong>do</strong> real significa<strong>do</strong> da temática das deficiências/diferenças nos<br />
Meto<strong>do</strong>logias de Pesquisa em Educação, POA: EDIPUCS,1994. Ver também o texto: Colocan<strong>do</strong> Em Prática<br />
o Paradigma Naturalístico, nov.1996.
194<br />
meandros das relações sociais. Como diz BADER “... é fundamental que as pessoas que<br />
ainda partilham da utopia da emancipação <strong>do</strong>s homens das humilhantes condições de vida,<br />
entrem em comunicação permanente” (1995 p.107). Diversas estratégias podem ser<br />
lançadas para essa comunicação e, a pesquisa pode ser uma delas. Para to<strong>do</strong>s aqueles que<br />
desejam alternativas para a sociedade e o enfrentamento de toda a exclusão presente no<br />
mo<strong>do</strong> de vida de parte significativa da população, é preciso perscrutar o real. Faz-se<br />
necessário aprofundar conhecimentos, construir articulações, projetos e parcerias.<br />
Parece relevante poder dar visibilidade na questão das diferenças, a <strong>do</strong>is processos,<br />
pelos quais passam as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência: o processo de exclusão social; e<br />
seu processo real de potencialidade. Nesse senti<strong>do</strong>, pretendeu-se tornar público, neste<br />
trabalho, a voz daqueles que vivenciaram tais processos, para demonstrar mais uma vez o<br />
grande déficit de uma sociedade que aprende muito morosamente a lidar com as<br />
singularidades. A partir disso, esta pesquisa foi orientada: "(...) pela produção de novas<br />
práticas sociais que tenham na consolidação da democracia e no fortalecimento da<br />
cidadania a sua busca fundante...” (MARTINELLI, 1995, p.146).<br />
Cidadania e democracia são princípios através <strong>do</strong>s quais se pode alcançar uma vida<br />
verdadeiramente humanizada. Para tanto, será fundamental que a sociedade, em suas<br />
diversas instâncias, esteja capacitada para reconhecer o potencial que há em cada<br />
individualidade. Os processos de exclusão, pelos quais passam as pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência, são o indício <strong>do</strong> despreparo e da incapacidade desta sociedade para o exercício<br />
da real cidadania. A deficiência só é instalada, plenamente, quan<strong>do</strong> são negadas as<br />
oportunidades ao exercício <strong>do</strong> convívio comunitário e <strong>do</strong>s direitos básicos da vida. A<br />
pesquisa foi mais um recurso para fazer esse debate.<br />
5.3 OS PASSOS SIGNIFICATIVOS <strong>DA</strong> TRAJETÓRIA<br />
Os pesquisa<strong>do</strong>res têm a tarefa de superar a imediaticidade <strong>do</strong>s fenômenos e “adentrar<br />
seu âmago” em busca de sua essência, daquilo que existe por detrás das aparências e não se<br />
percebe no cotidiano. O cotidiano é um campo fundamental para o estu<strong>do</strong> e
195<br />
aprofundamento, exatamente pelo fato desse ser algo desvendável em seu conteú<strong>do</strong> mais<br />
profun<strong>do</strong> que não é da<strong>do</strong> a priori. Em função da nebulosidade <strong>do</strong> real é significativa a<br />
escolha adequada da instrumentalidade que colocará em prática os fundamentos da<br />
pesquisa. Pretende-se a seguir explicitar os passos desenvolvi<strong>do</strong>s na trajetória da pesquisa,<br />
que aqui se apresentou. Os fenômenos <strong>do</strong> real estão por toda à parte e não se mostram em<br />
uma conexão aparente.<br />
A complexidade e dinamicidade inacabada <strong>do</strong>s acontecimentos singular-sociais levam<br />
os mesmos a se apresentarem de forma multifacetada e muitas vezes fragmentada. Como<br />
desvendar o cotidiano? Como aprofundar os conteú<strong>do</strong>s essenciais para interpretá-lo e<br />
conectá-lo à realidade conjuntural e estrutural da sociedade em geral?<br />
Conforme já foi visto, na abordagem qualitativa, existe uma forma diferenciada da<br />
forma tradicional para indagar o real, conten<strong>do</strong> alguns pontos importantes a serem<br />
considera<strong>do</strong>s. Na forma tradicional há uma preocupação com o controle <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s, com a<br />
generalização estatística <strong>do</strong> resulta<strong>do</strong> da pesquisa, o que não será significativo para a<br />
pesquisa qualitativa, que se preocupa em compreender múltiplas possibilidades e suas<br />
conexões e não com leis universais.<br />
E, nesse senti<strong>do</strong>, os resulta<strong>do</strong>s podem servir para uma interpretação e generalização<br />
analítica, que podem explicar outros contextos com características semelhantes. A ênfase é<br />
dada a uma compreensão profunda <strong>do</strong>s contextos onde se inserem os fenômenos estuda<strong>do</strong>s,<br />
procuran<strong>do</strong> contemplar o entendimento e a variação máxima de elementos que fazem parte<br />
<strong>do</strong> to<strong>do</strong>. O importante, nessa abordagem, é a localização de cada parte no to<strong>do</strong>, em uma<br />
visão de totalidade e de conjunto. O conhecimento sobre a realidade, jamais se esgota, uma<br />
vez que a mesma é construída por seres humanos sociais em movimento. A totalidade,<br />
também, não poderá ser apreendida completamente, pois sempre estará além <strong>do</strong><br />
conhecimento possível de se obter acerca da mesma.<br />
A instrumentalidade requer a possibilidade de apreensão <strong>do</strong>s significa<strong>do</strong>s atribuí<strong>do</strong>s e<br />
experecia<strong>do</strong>s pelas pessoas abordadas na pesquisa. O tom da<strong>do</strong> à investigação, que aqui se
196<br />
apresenta, se expressa na demonstração <strong>do</strong>s senti<strong>do</strong>s produzi<strong>do</strong>s pelos sujeitos<br />
investiga<strong>do</strong>s. Procurou-se demonstrar como as pessoas, em uma condição de diversidade<br />
visível, expressam sua forma de entender a sociedade à qual pertencem. Através de vários<br />
depoimentos colhi<strong>do</strong>s - nas entrevistas, nos debates, nos fóruns de organização das pessoas<br />
porta<strong>do</strong>ras de deficiência, nas histórias reais e fictícias sobre a forma de viver uma<br />
singularidade em um contexto que exige o "enquadre no molde social”, consoli<strong>do</strong>u-se a<br />
tese, em tono da temática da diversidade.<br />
Para embasar a busca de apreender o sujeito por detrás de sua experiência de vida, podese<br />
recorrer a MARTINELLI, quan<strong>do</strong> a mesma considera que “... se a pesquisa pretende ser<br />
qualitativa e pretende conhecer o sujeito, precisa ir exatamente ao sujeito, ao contexto em<br />
que vive sua vida" (1994 p.14). Para essa autora, as pesquisas quantitativas contribuem para<br />
dar visibilidade aos aspectos circunstanciais da vida das pessoas e as condições materiais<br />
dessas. No entanto, em uma abordagem qualitativa, é possível que se obtenha o<br />
conhecimento sobre "mo<strong>do</strong> de vida" das pessoas. MARTINELLI acena desta forma, com a<br />
possibilidade de através da pesquisa, adentrarmos no entendimento acerca da "experiência<br />
social" <strong>do</strong>s sujeitos. Sen<strong>do</strong> assim, será possível entender e expor como os sujeitos estão<br />
construin<strong>do</strong> e viven<strong>do</strong> suas vidas.<br />
“Será necessária uma grande perspicácia para compreender que as<br />
idéias, as concepções e as noções <strong>do</strong>s homens, numa palavra, a sua<br />
consciência, mudam de acor<strong>do</strong> com qualquer modificação registrada nas<br />
suas condições de vida, nas suas relações sociais, na sua existência<br />
social” (MARX, 1979, p.12).<br />
Na citação acima, Marx sugere a significativa observação das condições de vida e <strong>do</strong><br />
mo<strong>do</strong> de vida <strong>do</strong> sujeito para a compreensão da realidade <strong>do</strong> mesmo. É importante<br />
considerar a localização <strong>do</strong> sujeito em sua cultura e verificar os diversos aspectos de sua<br />
vivência. Na perspectiva da pesquisa qualitativa se busca aprofundar o entendimento<br />
relacional e conecta<strong>do</strong> entre os fatos <strong>do</strong> cotidiano e os sujeitos. Tal qual os analisas sociais,<br />
os sujeitos <strong>do</strong> cotidiano refletem e analisam suas vidas e a <strong>do</strong>s demais. Esse processo<br />
interpretativo por parte <strong>do</strong> sujeito é denomina<strong>do</strong> por THOMPSON (1995, p. 359) de "pré-
197<br />
interpretação", que segun<strong>do</strong> o mesmo será "re-interpreta<strong>do</strong>" pelos analistas sociais ou<br />
pelos pesquisa<strong>do</strong>res.<br />
A interpretação social, nessa ótica, será o resulta<strong>do</strong> de uma "re-interpretação" de algo<br />
que já está previamente "pré-interpreta<strong>do</strong>". O interessante, nessa perspectiva, é que a<br />
interpretação das palavras, <strong>do</strong>s significa<strong>do</strong>s dessas e das vivências <strong>do</strong>s sujeitos, considera<br />
os senti<strong>do</strong>s atribuí<strong>do</strong>s pelos mesmos. Através das diversas falas que ilustraram a exposição<br />
desta tese, se esteve demonstran<strong>do</strong> esse processo de interpretar o mun<strong>do</strong> vivi<strong>do</strong> pelos seus<br />
diferentes sujeitos. De forma muito expressiva, esses sujeitos, demonstram a interpretação<br />
que construíram sobre suas experiências e seu contexto.<br />
Um outro aspecto a ser considera<strong>do</strong> é o fato de que as hipóteses formuladas pelos<br />
pesquisa<strong>do</strong>res tradicionais são, normalmente, uma formulação resultante de um processo de<br />
acumulação <strong>do</strong> conhecimento teórico e sensível <strong>do</strong> mesmo, em determina<strong>do</strong> campo <strong>do</strong> real.<br />
Há um fundamento prévio, uma teoria precursora que vai desencadear o processo da<br />
pesquisa. Na pesquisa qualitativa, o tom meto<strong>do</strong>lógico será da<strong>do</strong> pela sua “característica<br />
emergente”, ou seja, não serão definidas questões a priori, como no caso das hipóteses.<br />
O início é da<strong>do</strong> pela delimitação de um foco inicial que vai ser defini<strong>do</strong> no decorrer da<br />
investigação. Não estarão defini<strong>do</strong>s, nem determina<strong>do</strong>s, nem estabeleci<strong>do</strong>s previamente os<br />
passos da pesquisa. O foco inicial poderá sofrer alterações transforman<strong>do</strong> assim os rumos<br />
da pesquisa. O foco vai sen<strong>do</strong> mais bem defini<strong>do</strong> a partir <strong>do</strong> desenvolvimento <strong>do</strong> processo<br />
de coleta e análise de da<strong>do</strong>s que não se separam, quan<strong>do</strong> começam a emergir determina<strong>do</strong>s<br />
elementos, que, também, se tornam mais freqüentes. É, também chamada de “design”<br />
emergente, a forma, o desenho que vai definin<strong>do</strong> a amostra intencional e configuran<strong>do</strong> os<br />
caminhos da pesquisa. Conforme diz CASTRO:<br />
“A dicotomia entre coleta e análise de da<strong>do</strong>s, característica da<br />
pesquisa tradicional, se transforma. Os <strong>do</strong>is processos são realiza<strong>do</strong>s de<br />
forma simultânea, levan<strong>do</strong> a autodefinição da própria dinâmica <strong>do</strong><br />
processo de pesquisa. À medida que vai se realizan<strong>do</strong> a coleta, vai sen<strong>do</strong><br />
construída a interpretação, até ser alcança<strong>do</strong> um nível de redundância<br />
das informações que indicam que o pesquisa<strong>do</strong>r conseguiu o máximo de<br />
variação possível sobre um da<strong>do</strong> contexto” (1994 p. 56).
198<br />
Há uma constância na coleta e análise de da<strong>do</strong>s durante o ato de investigar, este<br />
movimento vai delimitar a amostra que não será aleatória e nem terá sua tônica com base<br />
em quantidades numéricas. A amostra é construída a fim de contemplar informações<br />
relativas ao contexto, nesse senti<strong>do</strong> é intencional, pois relacionada aos da<strong>do</strong>s, pretende<br />
explicá-los de forma conectada. Para responder às indagações da pesquisa, se busca<br />
intencionalmente um conjunto de condições: “... sujeitos que sejam essenciais, segun<strong>do</strong> o<br />
ponto de vista <strong>do</strong> investiga<strong>do</strong>r, para o esclarecimento <strong>do</strong> assunto em foco; facilidade para<br />
se encontrar com as pessoas; tempo <strong>do</strong>s indivíduos para as entrevistas etc.” (TRIVIÑOS,<br />
1987, p.132).<br />
A tônica se coloca na variedade de explicações, em entender e explicar os fenômenos,<br />
no detalhamento da multiplicidade e especificidades de cada contexto que o faz singular,<br />
único. Cada fenômeno em seu contexto está envolto em uma complexidade relacional, em<br />
uma teia imensa de interconexões, que se pretende desvendar, para explicar e para<br />
transformar o real. As informações iniciais são buscadas em fontes que tenham explicações<br />
sobre o estu<strong>do</strong> em questão, de maneira que na continuidade se complemente o<br />
conhecimento anterior. Em função dessas características não é necessário um rigor no<br />
tratamento estatístico <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s e sim a procura daquilo que possa dar senti<strong>do</strong> aos da<strong>do</strong>s.<br />
Segun<strong>do</strong> MARTINELLI:<br />
"Como não estamos procuran<strong>do</strong> medidas estatísticas, mas sim tratan<strong>do</strong><br />
de nos aproximar de significa<strong>do</strong>s, de vivências, não trabalhamos com<br />
amostras aleatórias, ao contrário, temos a possibilidade de compor<br />
intencionalmente o grupo de sujeitos com os quais vamos realizar nossa<br />
pesquisa" (1994 p.15).<br />
Conforme a orientação <strong>do</strong>s autores acima referi<strong>do</strong>s foi possível compor para esta<br />
pesquisa uma amostra intencional formada por: profissionais das diversas unidades da<br />
FADERS, gestores da política pública para pessoas porta<strong>do</strong>ra de deficiência e alta<br />
habilidades e por pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência (nas diferentes áreas). As questões<br />
nortea<strong>do</strong>ras para o estu<strong>do</strong> e que deram origem aos processos de pesquisa e a escolha <strong>do</strong>s<br />
instrumentos, são as seguintes: Como os conhecimentos específicos, <strong>do</strong>s profissionais
199<br />
especializa<strong>do</strong>s na área poderá ser utiliza<strong>do</strong>, congregan<strong>do</strong> esforços para a implementação de<br />
uma política pública para PPD e PPAH, onde a tônica esteja na cidadania e na inclusão?<br />
Como a FADERS poderá contribuir na construção de novos processos sociais que incluam<br />
as diferenças, que permitem a expressão de subjetividades singulares e que não submetem<br />
as pessoas à ditadura de um padrão de “normalidade”? Como as pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência e de altas habilidades estão ven<strong>do</strong> seu processo se cidadania no conjunto das<br />
relações sociais?<br />
O des<strong>do</strong>bramento da temática desta pesquisa coloca esse conjunto de questões, acima<br />
referi<strong>do</strong>, que foram trabalhadas no processo reflexivo, onde se pretendeu intensificar o<br />
debate. A dinâmica institucional esteve passan<strong>do</strong> por um processo de reordenamento<br />
técnico. Em cada unidade foram sen<strong>do</strong> realiza<strong>do</strong>s vários debates sobre o seu funcionamento<br />
e os novos parâmetros institucionais. Esse espaço tem si<strong>do</strong> nomea<strong>do</strong> de “Interunidade”. Os<br />
profissionais tiveram a possibilidade de refletir sobre suas práticas e de estabelecer<br />
comunicação entre as diferentes unidades da FADERS.<br />
Um espaço para o debate que foi amplamente aproveita<strong>do</strong> como um <strong>do</strong>s campos de<br />
pesquisa, no qual foi possível aprofundar a reflexão em torno da temática: a diversidade da<br />
condição humana sob a ótica das relações sociais e seus processos de exclusão/inclusão<br />
que envolve as diferenças (pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades). E,<br />
com esse debate foi possível, também, realizar uma auto-reflexão por parte <strong>do</strong>s<br />
funcionários da Fundação.<br />
A operacionalização desse processo aconteceu através de uma técnica de seminários que<br />
foram realiza<strong>do</strong>s nas unidades da FADERS, utilizan<strong>do</strong> um instrumento como base para o<br />
debate. Sen<strong>do</strong> assim, foi possível apresentar neste trabalho as opiniões referente a questão<br />
em pauta e consolidar o aprofundamento da construção teórico-prática, como um resulta<strong>do</strong><br />
da pesquisa. Para consolidar a pesquisa de forma mais abrangente foram utiliza<strong>do</strong>s três<br />
distintos instrumentos direciona<strong>do</strong>s aos profissionais das diversas unidades, aos dirigentes,<br />
aos administra<strong>do</strong>res da Fundação, seus assessores de diversas áreas, planeja<strong>do</strong>res, os que<br />
fazem o elo entre a Fundação e os setores <strong>do</strong> <strong>Governo</strong> Estadual que deram respal<strong>do</strong> a
200<br />
construção <strong>do</strong> projeto político da FADERS; as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência nas áreas:<br />
física, sensorial e psíquica.<br />
Dessa forma, se compõem os sujeitos que tiveram voz nesta pesquisa. No caso <strong>do</strong>s<br />
sujeitos porta<strong>do</strong>res de deficiência, o grupo de pessoas que foram entrevistadas não ficou<br />
restrito unicamente aos usuários <strong>do</strong> serviço da FADERS, foram ouvidas também, outras<br />
pessoas ligadas a temática que não utilizam esse serviço. O estu<strong>do</strong> e aprofundamento das<br />
argumentações poderão se transformar em importante subsídio para a construção e<br />
implementação da nova política para as PPD e PPAH, que está sen<strong>do</strong> gestada e coordenada<br />
pela FADERS (ver no anexo 7, sobre a nova política pública, projeto de lei da nova<br />
FADERS).<br />
O instrumento número um, é forma<strong>do</strong> por questões de identificação e questões para o<br />
debate, direciona<strong>do</strong> para os técnicos da FADERS (ver anexo 8). As questões para o debate<br />
remetem à reflexão em torno <strong>do</strong> entendimento das características e <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> de vida das<br />
pessoas, que utilizam os serviços da FADERS; para uma análise das condições<br />
institucionais de oferecer um serviço orienta<strong>do</strong> para a cidadania; sobre o senti<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />
trabalho em termos de política pública para PPD e PPAH; sobre as interlocuções<br />
necessárias com outras instituições para viabilizar tal política e sobre o acompanhamento<br />
desses profissionais nos processos sociais de exclusão/inclusão das pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiência e altas habilidades que tenham procura<strong>do</strong> os serviços da FADERS.<br />
O instrumento número <strong>do</strong>is é dirigi<strong>do</strong> às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, conten<strong>do</strong><br />
questões de identificação e questões para o debate (ver anexo 9). Nessas últimas, a reflexão<br />
é sugerida em torno: das vivências e das limitações que o contexto oferece; das<br />
potencialidades e possibilidades que a sociedade não reconhece nas PPD e PPAH;<br />
indagações quanto a avaliação sobre as instituições que pretendem atender suas demandas;<br />
como deverão ser essas instituições; o que deve contemplar uma política pública nessa área;<br />
quais os preconceitos em relação às diferenças, presentes na sociedade; vivências em<br />
processos sociais de exclusão/inclusão e em movimentos sociais significativos em busca<br />
<strong>do</strong>s direitos sociais.
201<br />
O instrumento número três é direciona<strong>do</strong> aos planeja<strong>do</strong>res, assessores, dirigentes e<br />
pessoas que são responsáveis pela gestão da política pública para PPD e PPAH (ver anexo<br />
10). As questões para o debate indagam a respeito da visão <strong>do</strong>s dirigentes sobre as pessoas<br />
que utilizam o serviço da FADERS e seu mo<strong>do</strong> de vida; sobre as ações que são necessárias<br />
desencadear para problematizar com a sociedade a questão das diferenças, <strong>do</strong>s processos<br />
sociais de exclusão/inclusão e para implementar uma política nessa área; sobre as<br />
articulações necessárias para implementação desta política e as interlocuções<br />
extrainstitucionais.<br />
Muito embora, haja uma especificidade <strong>do</strong>s instrumentos para cada segmento da<br />
pesquisa (profissionais, gestores e sujeitos porta<strong>do</strong>res de deficiência), utilizada na<br />
investigação, no momento da exposição <strong>do</strong>s resulta<strong>do</strong>s optou-se por não diferenciar as<br />
categorias, nas respostas. Ao longo <strong>do</strong> trabalho se vai conjugan<strong>do</strong> as respostas das pessoas<br />
de acor<strong>do</strong> com o assunto desenvolvi<strong>do</strong> nos capítulos. São apresentadas as falas, os<br />
depoimentos, as opiniões que foram colhidas no senti<strong>do</strong> de demonstrar o que está sen<strong>do</strong><br />
pensa<strong>do</strong> na multiplicidade de análise sobre o tema. Não se fez diferenciações pela<br />
especificidade <strong>do</strong> instrumento, na ocasião da demonstração dessas falas. A análise <strong>do</strong>s<br />
da<strong>do</strong>s foi construída por categorias reflexivas em cima daquilo que emergiu da pesquisa.<br />
Nem sempre a opinião revelada condizia com a opinião da pesquisa<strong>do</strong>ra, o que não<br />
inviabilizou a demonstração da mesma, enquanto da<strong>do</strong> presente no real.<br />
Para CHIZZOTTI a pesquisa qualitativa privilegia algumas técnicas de pesquisa:<br />
observação participante, observação da vida cotidiana em seu contexto ecológico, história<br />
ou relatos de vida, análise de conteú<strong>do</strong>, entrevista não diretiva, a escuta de narrativas,<br />
lembranças e biografias, análise de <strong>do</strong>cumentos (1998 p.85). Essas técnicas aliadas a<br />
criatividade <strong>do</strong> pesquisa<strong>do</strong>r, sua habilidade em trabalhar com os da<strong>do</strong>s e transformá-los em<br />
conhecimento sobre o real, faz parte <strong>do</strong> instrumental que contribui na produção <strong>do</strong><br />
conhecimento e a validação da pesquisa.
202<br />
Para maior dinamicidade, na pesquisa, foi sugeri<strong>do</strong> por GUBA, (apud CASTRO, 1994,<br />
p.62) que, na operacionalização, se disponha de algumas técnicas, tais como: descrição<br />
consistente; observação continuada; envolvimento <strong>do</strong> pesquisa<strong>do</strong>r em seu contexto;<br />
discussão com colegas; análise de caso por àqueles que tem opinião contrária ao já<br />
encontra<strong>do</strong> na investigação; inclusão <strong>do</strong>s que participaram da pesquisa na construção <strong>do</strong>s<br />
resulta<strong>do</strong>s e triangulação <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s. O rigor investigativo com que é processada a pesquisa<br />
qualitativa, em seu diferencial meto<strong>do</strong>lógico, demonstra o esforço para atingir seus fins de<br />
descrição e interpretação <strong>do</strong> real, bem como sua validade investigativa.<br />
O processo de pesquisa que consoli<strong>do</strong>u esta tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong> se desenvolveu no<br />
perío<strong>do</strong> de março 2000 a agosto de 2002. Nesse perío<strong>do</strong>, foram utiliza<strong>do</strong>s como<br />
instrumental, conforme já menciona<strong>do</strong> acima: as entrevistas semi-estruturadas, seminários<br />
reunião e debates, relatório <strong>do</strong>s seminários, técnica de análise de conteú<strong>do</strong> das entrevistas e<br />
reuniões; seminários em grande grupo para apreciação da análise de conteú<strong>do</strong> e <strong>do</strong>s<br />
resulta<strong>do</strong>s finais da pesquisa. A construção desta tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong> se fez a partir <strong>do</strong><br />
conjunto desse debate e da revisão bibliográfica e <strong>do</strong>cumental. Há que se fazer um destaque<br />
para o que é chama<strong>do</strong> de observação participante, como um recurso fundamental, nessa<br />
trajetória.<br />
Ten<strong>do</strong> em vista o fato da pesquisa<strong>do</strong>ra estar inserida na instituição FADERS, e fazer<br />
parte <strong>do</strong> movimento social das pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência, o locus de pesquisa é<br />
campo <strong>do</strong> processo de trabalho cotidiano, um lugar ao qual se busca aprofundar o<br />
desvendamento de seus significantes, com o objetivo de ampliar as possibilidades de<br />
concretização da cidadania e da inclusão. O Diário de Campo se tornou em um importante<br />
instrumento onde se colocaram as anotações da escuta cotidiana institucional. A<br />
participação nos fóruns e outros espaços de deliberações acerca da nova política pública<br />
para pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e altas habilidades, foram de igual forma registradas<br />
no Diário de Campo. Essas anotações deram base para vários momentos de análise e<br />
demonstração da tese que aqui foi afirmada.
203<br />
O principal foco desse estu<strong>do</strong> foi à própria instituição FADERS, estudá-la significou<br />
utilizar aquele espaço para realizar, o que é denomina<strong>do</strong> em pesquisa de "estu<strong>do</strong> de caso".<br />
Para TRIVIÑOS (1987, p.133), o estu<strong>do</strong> de caso é um <strong>do</strong>s tipos mais relevantes, de<br />
pesquisa qualitativa. O objeto desta categoria de pesquisa “é uma unidade que se analisa<br />
aprofundadamente”. Pelo que indicam vários autores o estu<strong>do</strong> de caso é uma forma de<br />
estudar as situações de forma a buscar uma apreensão complexa, múltipla, que pretende<br />
reconhecer de forma conjunta o real, ter a percepção de to<strong>do</strong>s os aspectos possíveis que<br />
estão interagin<strong>do</strong> naquela realidade.<br />
Na investigação apresentada neste trabalho se utilizou o que é denomina<strong>do</strong> por<br />
TRIVIÑOS de “estu<strong>do</strong> de caso de Análise Situacional”, que se refere a eventos específicos<br />
que podem ocorrer numa organização. O pesquisa<strong>do</strong>r quer conhecer os pontos de vista e<br />
circunstâncias que são peculiares aos diversos sujeitos envolvi<strong>do</strong>s no fenômeno (1987<br />
p.136). A realidade empírica da instituição é explorada por diferencia<strong>do</strong>s ângulos e se<br />
busca em várias outras fontes uma fundamentação para explicar essa realidade. As<br />
evidências empíricas da instituição são aproveitadas, pelo investiga<strong>do</strong>r, para demonstrar<br />
alguns aspectos de sua temática e estabelecer correlações com múltiplos contextos.<br />
O estu<strong>do</strong> de caso que aqui se apresenta é referente a FADERS, que é uma instituição que<br />
tem um significativo papel político a desempenhar na sociedade. Como uma Fundação que<br />
representa a causa das diferenças, deverá se empenhar em articular inúmeras ações que se<br />
encaminhem para uma atenção adequada aos interesses e necessidades diferenciadas<br />
daqueles sujeitos que dela venham a utilizar seus serviços. Os seres humanos não são iguais<br />
e algumas pessoas, por serem porta<strong>do</strong>ras de diferenças mais marcantes não estão <strong>do</strong> la<strong>do</strong><br />
oposto da normalidade.<br />
Estudar esse contexto institucional específico poderá levar ao entendimento de outros<br />
contextos da sociedade em geral, uma vez que existe a possibilidade de encontrar<br />
ressonâncias entre o que se passa nesse universo institucional e o que se dá de forma mais<br />
geral. A cultura da dita “normalidade”, infelizmente é algo que diz respeito a uma
204<br />
construção histórico social, mesmo sen<strong>do</strong> essa diferente da realidade subjetiva <strong>do</strong>s seres<br />
humanos.<br />
A análise pode se diferenciar em uma macroanálise, provinda daquelas temáticas que<br />
sejam mais abrangentes e sirvam para uma generalização analítica, para um número<br />
significativo de contextos. E, em uma microanálise que orienta um entendimento singular,<br />
específico de um determina<strong>do</strong> contexto, serve para explicitar singularidades com<br />
profundidade. As explicações encontradas no movimento <strong>do</strong> desvendamento, tem um<br />
núcleo de argumentação, este núcleo deve estar suficientemente esclareci<strong>do</strong> para o<br />
pesquisa<strong>do</strong>r, na ocasião da exposição das explicações encontradas para os fenômenos <strong>do</strong><br />
real e para que possa deixar claro como foram construí<strong>do</strong>s os argumentos.<br />
O processo de coleta/análise e teorização vai se desenrolan<strong>do</strong> até que “variação natural<br />
<strong>do</strong> fenômeno” diminua sua potencialidade e os da<strong>do</strong>s comecem a se repetir, então acontece<br />
o que é denomina<strong>do</strong> de “redundância”, onde a “variação básica <strong>do</strong> fenômeno foi<br />
identificada”. Neste momento a pesquisa se encaminha para o seu término. Com uma<br />
argumentação similar a esta MARTINELLI menciona o "ponto de saturação", como o<br />
momento em que "conseguimos identificar que chegamos ao conjunto das informações que<br />
poderíamos obter em relação ao tema" (1994 p. 15).<br />
O processo e o resulta<strong>do</strong> desta pesquisa remete ao entendimento de que investigar o<br />
locus onde se vive de alguma forma o cotidiano é uma forma de se distanciar e se<br />
aproximar ainda mais <strong>do</strong> mesmo. A banalização <strong>do</strong> vivi<strong>do</strong> leva a perda <strong>do</strong>s seus<br />
significantes. Encontra-se senti<strong>do</strong> nos fatos <strong>do</strong> real se a atenção estiver voltada para seu<br />
movimento mais sutil. O cotidiano tende a encobrir o extraordinário, que na verdade faz<br />
parte de seu emaranha<strong>do</strong>. Um recorte deste real, formaliza<strong>do</strong> na pesquisa e em seus<br />
dispositivos de apreensão <strong>do</strong>s meandros deste real poderá levar a uma compreensão onde se<br />
ampliam alguns horizontes.<br />
A idéia de que o sujeito se inclina a méto<strong>do</strong>s que sejam a extensão das suas atividades<br />
vitais: olhar, escutar, falar, ler; e as atividades intelectuais: pensar, intuir, analisar, etc.,
205<br />
justificativa os méto<strong>do</strong>s qualitativos, enquanto os mais adequa<strong>do</strong>s aos pesquisa<strong>do</strong>res. É<br />
possível reconhecer que as características subjetivas e ideológicas <strong>do</strong> pesquisa<strong>do</strong>r estarão<br />
presentes na pesquisa. O pesquisa<strong>do</strong>r usa to<strong>do</strong>s os seus senti<strong>do</strong>s e nesse aspecto sua própria<br />
potencialidade humana, ao se presentificar, se faz meio de encontrar os caminhos de<br />
apreensão <strong>do</strong> real. Algo semelhante a esse raciocínio, se encontra nas colocações de um<br />
pensa<strong>do</strong>r <strong>do</strong> séc. XIX, no que segue:<br />
“O vende<strong>do</strong>r de minerais só vê seu valor comercial, não sua beleza ou<br />
suas características particulares; ele não possui senso mineralógico.<br />
Assim, a objetificação da essência humana, tanto teórica quanto<br />
praticamente, é necessária para harmonizar os senti<strong>do</strong>s humanos, é<br />
também para criar os senti<strong>do</strong>s humanos correspondentes a toda a riqueza<br />
<strong>do</strong> ser humano e natural” (MARX,1983, p.122).<br />
E, para que essa objetivação <strong>do</strong>s senti<strong>do</strong>s humanos aconteça, se faz necessário que seja<br />
criada e cultivada a “riqueza da sensibilidade humana”. Na ocasião da pesquisa se tem uma<br />
oportunidade de afinar os instrumentos, ou seja, a sensibilidade natural de toda a<br />
subjetividade humana com a instrumentalidade <strong>do</strong>s dispositivos técnicos da pesquisa.<br />
Evidentemente, o que deverá guiar esta composição da subjetividade com a objetividade,<br />
será a intencionalidade que orienta o desejo da descoberta e o para onde se quer ir com<br />
mesma.<br />
O percurso desenvolvi<strong>do</strong>, ao longo da trajetória da pesquisa, possibilitou o exercício da<br />
inserção no mesmo contexto, no qual, campo de pesquisa e campo de processo de trabalho<br />
da investiga<strong>do</strong>ra se aproximaram de forma complementar. Os dispositivos instrumentais<br />
específicos escolhi<strong>do</strong>s nesta abordagem de pesquisa contribuíram para delimitar o estu<strong>do</strong> e<br />
aprofundamento <strong>do</strong> cotidiano institucional e extrainstitucional.<br />
A experiência cotidiana no setor público de atendimento e construção de políticas<br />
públicas demandadas pela área das deficiências e das altas habilidades sinalizou o caminho<br />
para construção desta pesquisa. Portanto, a expressão "to<strong>do</strong>s os senti<strong>do</strong>s humanos" estão<br />
presentes neste processo, fala da presentificação que foi possível acontecer ao investigar<br />
sobre a diversidade da condição humana na perspectiva das relações sociais.
206<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
As relações humanas estão permeadas por contradições sociais e individuais. Os<br />
indivíduos que compõem o social se imbricam em constantes conflitos que, por sua vez,<br />
não se resolvem de forma imediata. Há uma necessária reconstrução da forma de viver em<br />
grupo e em sociedade que se precisará aprender. Os grupos sociais vão se configuran<strong>do</strong> de<br />
acor<strong>do</strong> com o movimento <strong>do</strong>s seus indivíduos dentro deles, ao mesmo tempo esses<br />
indivíduos se movimentam num espaço prefigura<strong>do</strong>, no qual terá menor ou maior<br />
dificuldade em expressar seu potencial humano.<br />
O ser humano é o ser social, aquele que não sobrevive fora de um contexto humano.<br />
Cada um, desde que nasce convive com a emergência da presença <strong>do</strong> outro em sua vida.<br />
Quiçá fosse possível para as pessoas sobreviverem sem a presença de alguém para sua<br />
proteção, especialmente nos primeiros anos de vida. Alguns animais até conseguem, ao<br />
serem aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>s por suas progenitoras, ensaiar seus primeiros passos e se desenvolver<br />
sem o necessário respal<strong>do</strong> de "cuida<strong>do</strong>res".<br />
Os seres humanos são absolutamente dependentes uns <strong>do</strong>s outros, por condição de sua<br />
própria existência. A vida associativa, em to<strong>do</strong>s os tempos históricos da humanidade, é<br />
elementar. Essa característica da vida humana leva a reflexão em torno da complexa arte<br />
das relações humanas. Todavia, seja algo natural para os seres, a interdependência, o "ter<br />
que estar uns com os outros", isso por si só não garante que as relações humanas sejam<br />
satisfatórias para aqueles que dela dependam.<br />
Constitui-se em uma dialética de opostos entre a necessidade de estar com o outro e a<br />
possibilidade de que essa interdependência torne a vida das relações algo agradável,<br />
equânime, justo, que proporcione bem estar a to<strong>do</strong>s. As dificuldades da vida associativa são<br />
inúmeras, entretanto, sem os outros não se pode existir. Na complexa teia da<br />
interdependência entre as pessoas se encontra também o potencial da existência, <strong>do</strong>s
207<br />
movimentos de transformação <strong>do</strong> real e das possibilidades de superações <strong>do</strong>s emaranha<strong>do</strong>s<br />
que o convívio em sociedade proporciona a cada sujeito.<br />
O ser constrói sua vida para um mun<strong>do</strong> já posto, em conjunção com outros seres, ao<br />
mesmo tempo, semelhante e diferente dele. Cria-se a si mesmo crian<strong>do</strong> o mun<strong>do</strong>, a<br />
identidade pessoal se encontra atravessada por tu<strong>do</strong> que já foi cria<strong>do</strong> na coletividade e seus<br />
contextos históricos, econômicos, culturais, simbólicos. Aquilo que cada ser cria, pratica ou<br />
produz repercute na vida <strong>do</strong>s demais, reflete na vida coletiva de seres individuais, porém,<br />
igualmente sociais. Embora as pessoas vivam em seu cotidiano experiências singulares e<br />
únicas, essas vivências têm algo incomum com as demais pessoas <strong>do</strong> conjunto social.<br />
As pessoas são diferentes umas das outras. As experiências são construídas<br />
particularmente, todavia, há algo comum a to<strong>do</strong>s os seres: o fato da vida social ter uma<br />
materialidade que deveria oferecer acesso para a expressão <strong>do</strong>s sujeitos. Ao contrário <strong>do</strong><br />
que deveria ser, acontece que essa vida social, muitas vezes, está interditan<strong>do</strong> aquela<br />
expressão. De qualquer forma, as experiências são processos em mutação, dialeticamente<br />
transformáveis.<br />
Na perspectiva das relações sociais, esta tese, versou sobre a questão das<br />
deficiências/diferenças e em torno dessa temática foi desenvolvi<strong>do</strong> um conjunto de<br />
questões, para as quais encontraram-se algumas respostas e outras tantas indagações,<br />
expressas ao longo <strong>do</strong>s capítulos deste trabalho. Conforme foi demonstra<strong>do</strong> na análise<br />
apresentada, nessa trajetória de construção de uma interpretação <strong>do</strong> sujeito em seu contexto,<br />
à questão das diferenças não é algo que esteja bem resolvi<strong>do</strong> no campo social.<br />
A primeira grande controvérsia trazida a este debate se expressa no fato de que apesar de<br />
to<strong>do</strong>s os seres terem o direito de pertencerem a seu mun<strong>do</strong>, pelo fato de fazer parte <strong>do</strong><br />
mesmo, isso se torna algo muito complica<strong>do</strong> quan<strong>do</strong> este sujeito não corresponde ao padrão<br />
espera<strong>do</strong> pelo social e pela cultura. As pessoas porta<strong>do</strong>ras de singularidades marcantes, de<br />
deficiências e de altas habilidades deparam-se com as inúmeras interdições <strong>do</strong> contexto.
208<br />
Tais interdições foram historicamente construídas e obstruem o desenvolvimento <strong>do</strong>s<br />
sujeitos, limitam ou impedem o acesso aos diversos setores da sociedade.<br />
Quan<strong>do</strong> uma criança vem ao mun<strong>do</strong> apresentan<strong>do</strong> alguma diferença significativa,<br />
alguma deficiência, será inserida em um contexto, no qual as condições para o seu<br />
desenvolvimento não serão as mesmas oportunizadas as outras crianças, consideras "não<br />
diferentes". Na trama das relações sociais não se consoli<strong>do</strong>u um espaço para o<br />
reconhecimento da diversidade de características peculiares aos seres humanos. Portanto, as<br />
condições de acesso ao mun<strong>do</strong> não são iguais para todas as pessoas.<br />
Na grande maioria das vezes, uma criança porta<strong>do</strong>ra de deficiência será percebida como<br />
um "problema" para a família e para escola. Conforme foi dito em uma entrevista,<br />
mencionada neste trabalho, o filho espera<strong>do</strong>, quan<strong>do</strong> nasce porta<strong>do</strong>r de alguma deficiência<br />
será considera<strong>do</strong> um "troféu arranha<strong>do</strong>", expressão que indica a expectativa préestabelecida<br />
na vida das pessoas, mesmo antes de nascer, de corresponder ao padrão social.<br />
No caso de uma não correspondência entre a expectativa social e a expressão singular, a<br />
conseqüência, em geral, é a exclusão/segregação das pessoas.<br />
As pessoas que se enquadram na moldura criada pela cultura da “normalidade” têm<br />
maior possibilidade de inserção social. Aqueles indivíduos que demonstram outra forma de<br />
se presentificar na vida social, tem na mesma um grande desafio para vencer, conseguir<br />
participar e, fazer parte dela, será sempre um esforço de superação das interdições. A<br />
hostilidade que está perpassan<strong>do</strong> a relação com as diferenças é demonstrativa <strong>do</strong> fato de<br />
que ainda não se reconheceu a diversidade, enquanto característica peculiar da humanidade.<br />
Na complexidade da vida em sociedade, desde o seu primeiro ambiente, ou seja, a<br />
começar pela família se estabelecem relações cognitivas, em que se apreende uma forma de<br />
ser e se colocar no mun<strong>do</strong>. Uma vez que esse aprendiza<strong>do</strong> não seja favorável ao sujeito e ao<br />
seu desenvolvimento posterior, enquanto, um ser capacita<strong>do</strong> para se presentificar em seu<br />
contexto, será importante desaprender certas "lições". Quan<strong>do</strong> uma criança for tratada com<br />
desprezo, desconsideração, rejeição em função de sua condição social, de limitações físicas,
209<br />
psíquicas ou motivos de ordens diversas, isso poderá levá-la a uma inserção social hostil ou<br />
submissa.<br />
A escola e demais instituições, inúmeras vezes, rejeitam e excluem as crianças que não<br />
correspondem ao "grau de normalidade", exigi<strong>do</strong> por um padrão socialmente estabeleci<strong>do</strong>.<br />
As tramas sociais tecidas e reproduzidas perpassam todas as esferas da sociedade. Os<br />
indivíduos, as famílias, as instituições estão to<strong>do</strong>s interliga<strong>do</strong>s nessas tramas compon<strong>do</strong> a<br />
organização <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> de viver das pessoas em sociedade. O conjunto forma<strong>do</strong>, a partir daí,<br />
não será uma totalidade fechada, irrevogável. O movimento <strong>do</strong>s indivíduos, no interior<br />
desse conjunto, poderá mudar sua configuração.<br />
Em função da possibilidade de mutabilidade é que se considera significativo o<br />
desaprender de preconceitos e discriminações cria<strong>do</strong>s no cultivo de um padrão. Aquela<br />
criança que aprendeu o pouco valor <strong>do</strong> ser humano, em situações diferenciadas, na medida<br />
de um processo de conscientização, de reflexão e convívio com os demais, poderá<br />
consolidar um novo aprender e perceber que tem direito a voz e a vez, tanto quanto to<strong>do</strong>s os<br />
outros seres <strong>do</strong> Planeta.<br />
Nasce-se e se vive a partir <strong>do</strong>s grupos de origem para continuar a grande obra da vida<br />
humana. Essa grande obra, porém, se consolida em pequenas práticas de cada sujeito em<br />
seu contexto. Nos liames dessa prática, cada qual poderá tanto reproduzir o historicamente<br />
construí<strong>do</strong> ou buscar a transposição de tais construções. No desaprender, nas rupturas com<br />
o que está estabeleci<strong>do</strong> na sociedade, poderá estar conti<strong>do</strong> o potencial de superações<br />
históricas significativas para os sujeito que se perceberam "fora <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>".<br />
As transformações vão se dan<strong>do</strong> na práxis social <strong>do</strong>s sujeitos e nesse processo vão se<br />
colocan<strong>do</strong> as possibilidades de expressão <strong>do</strong>s sujeitos, enquanto partes integrantes,<br />
pertencentes ao seu contexto. A identidade pessoal passa por essa mediação pelo contexto,<br />
com os grupos em que cada um se faz pertencente. O sujeito transita por uma coletividade<br />
que lhe é externa tanto quanto o constitui como sujeito, se tornan<strong>do</strong> parte dele. A arte de se
210<br />
relacionar com os demais, é também a arte de se encontrar em um mun<strong>do</strong> humano<br />
produzi<strong>do</strong> por quem o vive.<br />
Ao mesmo tempo em que as individualidades criam o mun<strong>do</strong>, são submetidas a<br />
determinantes extra-subjetivos, que ultrapassam a sua possibilidade de escolha. A<br />
subjetividade humana se produz num contexto de materialidade e totalidade. Todavia, a<br />
construção social da subjetividade não pressupõe um engessamento <strong>do</strong> indivíduo ao seu<br />
meio, mas sim da capacidade dele se diferenciar, se individualizar a partir dessa<br />
interdependência com os demais seres.<br />
A consciência crítica e lúcida sobre os determinismos sociais será o fio condutor de uma<br />
vida sem os mesmos. A reconstrução da vida social requer em primeira instância, colocá-la<br />
em questão e o enfrentamento de suas contradições, através de rupturas com práticas sociais<br />
não condizentes com a dignidade humana. Não se pode perder de vista que as grandes<br />
alterações históricas, a forma de viver <strong>do</strong>s sujeitos sociais, se dão a partir de um caminho<br />
conjuga<strong>do</strong> e não no isolamento ou na fragmentação de atividades solitárias.<br />
Na discussão da identidade e diferença, enquanto uma unidade, interpõe-se a ruptura<br />
com a interpretação fracionária que considera o "outro" como o diferente. Trata-se aqui de<br />
um entendimento que incorporou a perspectiva onde o eu e o outro são distintos, são<br />
singulares, portanto, único. To<strong>do</strong>s os seres são diferentes uns <strong>do</strong>s outros, apesar de fazerem<br />
parte de um conjunto humano com inúmeras semelhanças e, especialmente da premência da<br />
igualdade de condições. Faz-se necessário, que as condições de acesso ao mun<strong>do</strong> sejam<br />
iguais para to<strong>do</strong>s. Isso inverteria a histórica "necessidade" de que as pessoas pudessem ser<br />
iguais umas as outras.<br />
No senti<strong>do</strong> da igualdade de condições surge o conceito de acessibilidade, no que diz<br />
respeito às pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de altas habilidades. Uma vez que, ao longo<br />
da história da organização social, foram interditadas as possibilidades de acesso ao social<br />
por aqueles que não se enquadram no mesmo, ter-se-á que reconstruir esse mo<strong>do</strong> de<br />
organização, ten<strong>do</strong> em vista a acessibilidade de pessoas que portam diferenças marcantes.
211<br />
A questão da acessibilidade remete a uma nova forma de pensar a arquitetura das cidades, a<br />
construção de formas alternativas de comunicação nas diversas áreas das deficiências, mas<br />
especialmente na construção de uma nova cultura.<br />
Construir um mun<strong>do</strong> acessível para to<strong>do</strong>s requer desconstituir velhos conceitos de<br />
homogeneidade e perceber a imensa riqueza presente na diversidade. Quan<strong>do</strong> for possível<br />
conceber: "(...) o social como processo e não como estrutura" (MARTINELLI, 1998,<br />
p.146) poder-se-á considerar a urgência de revisar conceitos, méto<strong>do</strong>s e práticas sociais que<br />
cristalizaram uma única forma de relação possível entre as diferentes pessoas da sociedade.<br />
Como bem indicou a autora, torna-se necessário entender esse campo, o social, no qual se<br />
movem vidas humanas, como dinâmico, processual e, portanto, passível de transformações<br />
permanentes.<br />
A estrutura consolidada na sociedade, resultante <strong>do</strong> fazer <strong>do</strong>s seres, não torna o social<br />
um lugar de estagnação das formas historicamente construídas. Há sempre espaço para a<br />
mudança de hábitos, de culturas e de práticas. Na situação das pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiências, torna-se urgente que cada vez mais se superem os traços históricos de<br />
segregação e os "muros" que separam os ditos "normais" <strong>do</strong>s "anormais". A materialidade<br />
da organização social deverá abrir espaço para contemplar a diversidade das singularidades,<br />
quan<strong>do</strong> se pensar em criar um mun<strong>do</strong> verdadeiramente humano.<br />
O indivíduo se constitui enquanto tal nas relações sociais e na experimentação <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong>, ou seja, na sua relação pessoal com os objetos que o rodeiam, o externo a si<br />
mesmo. A possibilidade de criar, de superar obstáculos, começa desde ce<strong>do</strong>, na infância,<br />
quan<strong>do</strong> a criança acessa os recursos externos e vai se capacitan<strong>do</strong> para adentrar no lugar<br />
estranho ao seu mun<strong>do</strong> interior, o seu contexto. Na relação sujeito-objeto, o primeiro vai<br />
moldan<strong>do</strong> o segun<strong>do</strong>, vai transforman<strong>do</strong>-o em algo adequa<strong>do</strong> a si mesmo. Esse movimento<br />
se constitui em uma atividade, em uma prática, que por ser humana passa ser social.<br />
Pelo fato <strong>do</strong> sujeito ser capaz criar e recriar os objetos de seu mun<strong>do</strong> externo e a partir<br />
disso tornar os resulta<strong>do</strong>s desse movimento algo que vai influenciar a coletividade,
212<br />
transforman<strong>do</strong> o real num constante movimento, se pode dizer que assim será consolidada a<br />
práxis social. Isso significa, situar a atividade <strong>do</strong>s seres, na relação sujeito-objeto e nas<br />
relações sujeito-sujeito, enquanto prática potencialmente transformativa. O meio e os<br />
objetos sofrem constantes mutações a partir das ações humanas. To<strong>do</strong>s os atos e<br />
organizações históricas são criações da humanidade.<br />
"Os animais só constróem de acor<strong>do</strong> com os padrões e necessidades da<br />
espécie a que pertencem, enquanto o homem sabe produzir de acor<strong>do</strong> com<br />
os padrões de todas as espécies e como aplicar o padrão adequa<strong>do</strong> ao<br />
objeto. Assim, o homem constrói também em conformidade com as leis <strong>do</strong><br />
belo" (MARX, 1983, p.96).<br />
No pensamento secular, acima referi<strong>do</strong>, a práxis social poderá ser analisada enquanto a<br />
capacidade produtiva <strong>do</strong>s indivíduos de responder às demandas humanas <strong>do</strong> ser. Sen<strong>do</strong><br />
assim, se considera a possibilidade em que os sujeitos possam adequar os objetos as suas<br />
necessidades humanas. Uma vez que o ser seja capaz de produzir para responder as<br />
demandas de "todas as espécies" e fosse capaz de ajustar esta capacidade construtiva "em<br />
conformidade com as leis <strong>do</strong> belo" estaria, então, capacita<strong>do</strong> a construir um mun<strong>do</strong><br />
verdadeiramente humano.<br />
Se for considera<strong>do</strong> que, a expressão "as leis <strong>do</strong> belo" daquela citação de MARX, possa<br />
aqui nessa análise, ser interpretada como as leis de justiça, de equanimidade de condições<br />
para to<strong>do</strong>s os seres, então se teria que os seres humanos serão capazes de construir um<br />
mun<strong>do</strong> em que haja possibilidade de inserção para to<strong>do</strong>s os seus sujeitos. Nesse aspecto,<br />
toda a temática desta tese, toma uma tonalidade de contraversão ao historicamente da<strong>do</strong>.<br />
Seria preciso que se transformassem as formas relacionais e a cultura da "normalidade"<br />
para a construção de uma nova práxis social, em que o "belo" significasse o<br />
reconhecimento da diversidade da condição humana.<br />
Será plenamente possível atribuir outro significa<strong>do</strong> ao lugar ocupa<strong>do</strong> pelas diferenças<br />
no conjunto das relações sociais, a partir <strong>do</strong> momento em que se inicia o processo de<br />
desconstituição da cultura e <strong>do</strong> mito da padronização <strong>do</strong>s indivíduos. Vários segmentos da<br />
sociedade fazem atualmente esse debate e enfrentam a histórica barreira da divisão entre o
213<br />
que é normal/ anormal, igual /diferente, pertencente/ excluí<strong>do</strong>. Na ocasião da pesquisa e da<br />
construção desta tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong>, houve a oportunidade de constatar, através de<br />
entrevistas, depoimentos, estu<strong>do</strong>s <strong>do</strong>cumentais e bibliográficos, que há um movimento<br />
social de superação dessa lógica binária.<br />
As pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência entrevistadas e escutadas nos depoimentos <strong>do</strong><br />
diário de campo revelam que atualmente estão mais conscientes de seus direitos de<br />
cidadania e pertencimento. As novas concepções acerca das deficiências/diferenças<br />
conduzem a conclusão acerca da necessidade de que a sociedade possa se adequar às<br />
peculiaridades individuais. Supera-se, dessa forma, a antiga perspectiva de que o sujeito é<br />
que deve estar capacita<strong>do</strong> e adequa<strong>do</strong> ao real. Entretanto, esses avanços conceituais e até<br />
mesmo em termos de legislação, ainda não são suficientes para superar toda uma história de<br />
segregações e preconceitos com a questão das deficiências e diferenças.<br />
A desigualdade de condições, uns poucos ten<strong>do</strong> acesso ao mun<strong>do</strong> e tantos outros sem a<br />
possibilidade de inserção no mesmo é uma característica da sociedade contemporânea.<br />
Esse aspecto é também resulta<strong>do</strong> histórico das relações sociais que produzem a questão<br />
social. Não são exclusivamente as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiência e altas habilidades que<br />
foram compelidas à exclusão. O sistema social produz desigualdades gritantes e em seu<br />
funcionamento, está prioriza<strong>do</strong> o capital em detrimento <strong>do</strong>s sujeitos. O ser humano em<br />
primeiro lugar, não é ainda o princípio que rege as práticas políticas e sociais internacionais<br />
entre as nações <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> atual.<br />
Vive-se o tempo da urgência em inverter os valores que regem as práticas sociais e<br />
convertê-los na possibilidade construtiva de valorização da vida. Através desta pesquisa se<br />
teve a oportunidade de debater, em diferentes perspectivas, o papel hoje de instituições que<br />
existem para atender às demandas da área das deficiências e altas habilidades. O resulta<strong>do</strong><br />
desse debate foi demonstra<strong>do</strong> ao longo da tese que aqui foi exposta e conduz ao<br />
entendimento de que: a cidadania, a autonomia, o protagonismo, o reconhecimento das<br />
diferenças, enquanto características da humanidade, são conceitos chaves para uma nova
214<br />
cultura que aponte para um horizonte de maior amplitude e afirme a diversidade da<br />
condição humana.<br />
Em função dessas concepções acima referidas, as instituições que trabalham nessa área<br />
devem superar o traço histórico <strong>do</strong> protecionismo, <strong>do</strong> assistencialismo e da segregação. No<br />
Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio grande <strong>do</strong> Sul, a FADERS, tem ti<strong>do</strong> o papel político de revisar as velhas<br />
práticas e concepções acerca <strong>do</strong> atendimento às deficiências e altas habilidades. Foi criada<br />
uma nova lei, a instituição passa por um reordenamento técnico. Busca adequar-se a nova<br />
proposta de funcionamento a partir de uma construção conjunta entre os profissionais,<br />
pessoas usuárias de seus serviços, entidades de porta<strong>do</strong>res de deficiências e de altas<br />
habilidades, organizações sociais e a sociedade civil em geral.<br />
Apesar de to<strong>do</strong> o movimento que há em torno da mudança de perspectiva sobre a forma<br />
como se deve entender e lidar com as deficiências/diferenças, o trabalho social de<br />
conscientização, organização e capacitação para uma nova práxis social, se constitui ainda<br />
em uma longa caminhada a percorrer. A história apresenta situações que tendem à<br />
cristalização e devi<strong>do</strong> a isso a sua superação pode levar muito tempo para acontecer.<br />
Superar preconceitos, os padrões antigos que são passa<strong>do</strong>s de gerações para gerações, não é<br />
uma tarefa simples e rápida de se concluir.<br />
Determina<strong>do</strong>s padrões historicamente consolida<strong>do</strong>s são como mitos que, uma vez<br />
cria<strong>do</strong>s, prendem as pessoas a sua figura. Pode-se concluir este trabalho recorren<strong>do</strong>, uma<br />
vez mais, a figuras ilustrativas. Uma figura da mitologia grega, o PAN, conheci<strong>do</strong> no<br />
Ocidente pelo nome de diabo, serve aqui para a interpretação da analogia entre o padrão e<br />
mito:<br />
"A figura <strong>do</strong> diabo nos mostra um sátiro – criatura metade homem,<br />
metade bode – dançan<strong>do</strong> ao som da gaita que está seguran<strong>do</strong> com a mão<br />
esquerda. Na mão direita segura <strong>do</strong>is fios, amarra<strong>do</strong>s ao pescoço de duas<br />
pessoas de tamanho menor. Essas pessoas – um homem e uma mulher –<br />
também tem chifres como os <strong>do</strong> sátiro e, embora tenham as mãos e os pés<br />
livres para dançar, estão presos às cadeias <strong>do</strong> me<strong>do</strong> e <strong>do</strong> fascínio pela<br />
música. A cena tem lugar dentro de uma gruta escura. As figuras que<br />
dançam, na realidade são livres se desejarem, pois as mãos estão soltas<br />
para retirar as correntes a qualquer momento. A servidão ao diabo é uma
215<br />
questão que o consciente pode resolver" (BURKE E GREENE, 1988,<br />
P.66).<br />
A história desse mito da mitologia grega pode ser comparada a vivência das pessoas em<br />
sociedade. Os padrões cria<strong>do</strong>s no social condicionam os seres a responder afirmativamente<br />
a perspectiva colocada pelo mesmo. Acontece uma imposição de valores e idéias que são<br />
cultuadas pelo contexto. O aprisionamento que se estabelece por ocasião <strong>do</strong>s padrões<br />
sociais, parece ser voluntário como o que ocorre na situação <strong>do</strong> casal que está preso ao<br />
PAN por uma corda, porém, se encontram com as mãos livres e poderiam se libertar.<br />
O fato de o casal ter "as mãos e os pés livres para dançar" poderá ser compara<strong>do</strong> à<br />
situação <strong>do</strong>s sujeitos que têm a possibilidade de a partir de uma tomada de consciência de<br />
sua própria condição dentro de seu contexto, ir a busca da libertação daquela condição.<br />
PAN é um grande fetiche, mas não é absoluto, mesmo em sua condição de sátiro que<br />
subjuga e mantém seres sob seu <strong>do</strong>mínio pode-se observar as possibilidades de saída e<br />
afastamento <strong>do</strong> fascínio que sua música exerce sobre as pessoas.<br />
Em nossa sociedade são inúmeras as situações que levam a reprodução de padrões e<br />
mitos pré-fixa<strong>do</strong>s pela falta de clareza e consciência <strong>do</strong>s processos sociais que<br />
desencadeiam tais situações. Tematizan<strong>do</strong> sobre as diferenças e, portanto, sobre o<br />
significa<strong>do</strong> <strong>do</strong> "estranho" no conjunto das relações sociais padronizadas é possível ponderar<br />
que a "estranheza" diante <strong>do</strong> diverso é conseqüência <strong>do</strong> desconhecimento que se tem acerca<br />
da real condição <strong>do</strong>s seres humanos. O aprisionamento às idéias que cultuam a<br />
"normalidade", enquanto o padrão de identidade acerta<strong>do</strong> para to<strong>do</strong>s os seres não permite<br />
reconhecer, e por isso estranhar, que no outro tanto quanto no eu não há possibilidade de<br />
padronização.<br />
Afirmar a diversidade da condição humana significa expressar que tu<strong>do</strong> aquilo que vem<br />
da possibilidade de ser e estar no mun<strong>do</strong> não tem como se encaixar em regras e rótulos<br />
fecha<strong>do</strong>s como os que se pode colocar em objetos. A extraordinária dinâmica presente em<br />
cada singularidade pessoal está muito além <strong>do</strong>s condicionantes. As imposições históricas às<br />
pessoas que portam singularidades marcantes podem ter mutila<strong>do</strong> vidas e interdita<strong>do</strong> o
216<br />
aceso de muitos ao mun<strong>do</strong>, todavia, jamais poderão alterar a característica própria a to<strong>do</strong>s<br />
os seres, sua particularidade inalienável.<br />
A sociedade é composta, entre outros aspectos, pela diversidade de seus sujeitos e pela<br />
estrutura consolidada pelas relações entre os mesmos. No emaranha<strong>do</strong> dessas relações os<br />
padrões cria<strong>do</strong>s se fixam e se reproduzem na materialidade <strong>do</strong> mo<strong>do</strong> de vida, tanto quanto<br />
em seus símbolos, seus ritos, seus mitos. Se não é possível ainda reconhecer, no conjunto<br />
das relações sociais, a diversidade como sua parte integrante, então se encaminham as<br />
regras de convivência pela travessia da igualdade de comportamentos. Torna-se um<br />
equívoco buscar igualdade entre os sujeitos, quan<strong>do</strong> os mesmos são diferentes, por<br />
condição.<br />
O maior para<strong>do</strong>xo de to<strong>do</strong> esse equívoco, entretanto, é o fato de não se considerar que a<br />
maior necessidade, para as pessoas poderem expressar suas singularidades, está na<br />
possibilidade da igualdade de condições. No decorrer da pesquisa realizada, na ocasião<br />
deste trabalho, no debate com as pessoas porta<strong>do</strong>ras de deficiências e com aqueles que<br />
estão mais próximos dessa questão, pode constatar-se: que a estranheza causada numa<br />
situação que foge ao ordinário e ao cotidiano dito "comum", acontece por falta de<br />
oportunidade de convivência com as diferenças.<br />
A condição de segregação e exclusão a que foram submetidas às pessoas porta<strong>do</strong>ras de<br />
deficiências e diferenças marcantes privou os "demais" <strong>do</strong> entendimento <strong>do</strong> significa<strong>do</strong> da<br />
diversidade. A grande riqueza e o potencial criativo conti<strong>do</strong> em situações que não se<br />
enquadram no comum é um universo ainda a ser desvenda<strong>do</strong>, pelo conjunto da sociedade.<br />
Há uma necessária inversão de concepção a ser feita, que substitua a idéia de que é um<br />
"problema" ser diferente, pela descoberta de que nas diferenças se localizam as<br />
possibilidades de mutação das diversas ordens <strong>do</strong> social.<br />
Na qualidade de assistente social e de pesquisa<strong>do</strong>ra <strong>do</strong> campo de trabalho, encerramos<br />
parte desse processo de construção da afirmação de uma tese, para colocá-la novamente na<br />
condição de processualidade que poderá levá-la a novos desmontes. Foi possível realizar
217<br />
vários estranhamentos, no processo de consolidação das afirmações feitas, no decorrer<br />
deste trabalho. O principal desses estranhamentos diz respeito ao fato <strong>do</strong> imenso<br />
desconhecimento que se tem da condição peculiar à própria espécie. Ao la<strong>do</strong> desse, um<br />
outro estranhamento significativo é considerar que a sociedade se organiza de uma forma<br />
que não comporta seus sujeitos, em seu conjunto completo, deixan<strong>do</strong> muitos de fora das<br />
possibilidades de acesso a seus "bens". De fato, isso tu<strong>do</strong> é muito estranho.<br />
Muito embora todas as críticas que se colocaram, nesta trajetória, no que diz respeito à<br />
organização da sociedade e a dificuldade de construir um mun<strong>do</strong> humano, com espaço para<br />
to<strong>do</strong>s, não se perde no horizonte, a expectativa de que: "Ser jovem é um delito. A realidade<br />
comete esse delito to<strong>do</strong>s os dias, na hora da alvorada; e também a História, que cada<br />
manhã nasce de novo" (GALEANO, 2001, p.130). A possibilidade de superação de toda a<br />
estranheza que divide e segrega os seres, é um norte para a reconstrução social. No<br />
desenvolver <strong>do</strong>s processos sociais, na contradição de seus movimentos, estão presentes as<br />
forças que impulsionam as grandes transformações sociais, tanto quanto a conservação de<br />
seus antigos padrões. A alvorada de um novo tempo se dará a partir da consciência que o<br />
tom das relações sociais será enuncia<strong>do</strong> por cada um de seus autores sociais.
218<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AMARAL, Lígia Assumpção. Pensar a Diferença/Deficiência. Brasília: CORDE, 1994.<br />
ANDERSON, Pierry. Balanço <strong>do</strong> neoliberalismo. In: Pós-Neoliberalismo: as políticas<br />
sociais e o Esta<strong>do</strong> democrático. 3.ed. São Paulo: editora Paz e Terra, 1996.<br />
ANTUNES, Ricar<strong>do</strong>. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade<br />
<strong>do</strong> mun<strong>do</strong> <strong>do</strong> trabalho. São Paulo: Cortez, 1995.<br />
ARRU<strong>DA</strong>, Ângela (org.) Representan<strong>do</strong> a Alteridade. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,<br />
1998.<br />
ASSIS, Macha<strong>do</strong>. O Alienista: e outros contos. São Paulo: Moderna, 1988.<br />
BAPTISTA, Myriam Veras. A Ação Profissional no cotidiano. In: O Uno e o Múltiplo<br />
nas Relações entre as Áreas <strong>do</strong> Saber. São Paulo: Cortez, 1995.<br />
BECKER, Howard S. Méto<strong>do</strong>s de Pesquisa em Ciências Sociais. 3 ed. São Paulo:<br />
Hucitec, 1997.<br />
BIANCHETTI, Lucídio e Freire. Um Olhar sobre a Diferença: interação, trabalho e<br />
cidadania. São Paulo: Papirus, 1998.<br />
BOTTOMORE, Tom. Dicionário <strong>do</strong> Pensamento Marxista. Tradução de Waltensir<br />
Dutra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 1983.<br />
BOTTOMORE, Tom; OUTHWAITE, William. Dicionário <strong>do</strong> Pensamento Social <strong>do</strong><br />
Século XX. Tradução de Álvaro Cabral e Eduar<strong>do</strong> Francisco Alves. Rio de Janeiro:<br />
Jorge Zahar Editor Ltda, 1996.
219<br />
BRIZOLA, Francéli. Educação Especial no Rio Grande <strong>do</strong> Sul: análise de um recorte no<br />
campo das políticas públicas. Dissertação de mestra<strong>do</strong>. V.1. Porto Alegre:<br />
Universidade Federal <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul/Faculdade de Educação, 2000.<br />
BULLA, Leonia Capaverde. Serviço Social, Educação e Práxis: tendências teórica e<br />
meto<strong>do</strong>lógicas. Tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong>. Porto Alegre: Universidade Federal <strong>do</strong> Rio Grande<br />
<strong>do</strong> Sul/ Faculdade de Educação, 1992.<br />
BULLA, Leonia Capaverde (organiza<strong>do</strong>ra). A Pesquisa Em Serviço Social e Nas Áreas<br />
Humano-Sociais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.<br />
BURKE, S. J; GREENE, L. O Tarô Mitológico: uma abordagem para a leitura <strong>do</strong> Tarô.<br />
Tradução Anna M.D Luche. São Paulo: Siciliano, 1988.<br />
CARVALHO, R. E. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 1997.<br />
CARR, Wilfred e Kemmis. Teoria Crítica de la Enseñanza: la investigación- acción en<br />
la formasción del profesora<strong>do</strong>. Tradução de J. A. Bravo. Barcelona: Martinez<br />
Roca, 1988.<br />
CARRETEIRO, Tereza Cristina. "A Doença como Projeto" - uma contribuição à análise<br />
de formas de filiações e desfiliações sociais. In: As Artimanhas da Exclusão: análise<br />
psicossocial e ética da desigualdade social. 2 ed. Petrópolis: Editoras Vozes, 2001.<br />
CASTEL, Robert. As Armadilhas da Exclusão. In: Desigualdade e a Questão Social.<br />
2.ed. São Paulo: EDUC, 2000.<br />
_______________. As Transformações da Questão Social. In: Desigualdade e a Questão<br />
Social. 2.ed. São Paulo: EDUC, 2000.<br />
CASTRO, Marta L. S. Meto<strong>do</strong>logia da Pesquisa Qualitativa: reven<strong>do</strong> as idéias de
220<br />
Egon Guba. In: Paradigmas e Meto<strong>do</strong>logias de Pesquisa em Educação: notas para<br />
reflexão. Porto Alegre: EDIPUCS, 1994.<br />
CECCIM, Ricar<strong>do</strong> Burg. Exclusão e Alteridade: de uma nota de imprensa a uma nota<br />
sobre deficiência mental. In: Educação e Exclusão: abordagens sócio-antropológicas<br />
em educação especial. 2 ed. Porto Alegre: editora Mediação, 1997.<br />
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciência Humanas e Sociais. 3 ed. São Paulo:<br />
Cortez, 1998.<br />
CORNELY, Seno Antonio. As Estratégias de Enfrentamento <strong>do</strong> Trabalha<strong>do</strong>r Social<br />
Frente às Demandas Emergentes no Limiar <strong>do</strong> Século XXI. In: A Pesquisa Em<br />
Serviço Social e Nas Áreas Humano-Sociais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.<br />
COSTA, Mara Regina Nieckel. Um Estu<strong>do</strong> Sobre o A<strong>do</strong>lescente porta<strong>do</strong>r de Altas<br />
Habilidades: seu "olhar" sobre si mesmo seu "olhar" sobre o "olhar" <strong>do</strong> outro.<br />
Dissertação de Mestra<strong>do</strong>. Porto Alegre: UFRGS, 2000.<br />
DUARTE, Marco José de O. Formação Profissional e Produção de<br />
Subjetividade: contribuição de uma análise micropolítica. In: cadernos de<br />
comunicação CBSS, Bahia, 1995.<br />
DUARTE, Newton. A Individualidade Para –Si: contribuição a uma teoria histórico-<br />
social da formação <strong>do</strong> indivíduo. 2.ed. São Paulo: editora Autores Associa<strong>do</strong>s, 1999.<br />
DUVEEN, Gerard. A Construção da Alteridade. In: Representan<strong>do</strong> a Alteridade.<br />
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1998.<br />
FERNANDES, Idilia. Virada <strong>do</strong> Século: uma discussão teórico-meto<strong>do</strong>lógica sobre o<br />
Serviço Social. Dissertação de Mestra<strong>do</strong> Porto Alegre: Faculdade de Serviço Social/<br />
PUCRS, 1995.
221<br />
FILHO, José Carlos Moreira da Silva. Filosofia Jurídica da Alteridade. Curitiba: Juruá<br />
Editora, 1999.<br />
FRIGOTTO, Gaudêncio. O Enfoque da Dialética Materialista Histórica na Pesquisa<br />
Educacional. In: Meto<strong>do</strong>logia de Pesquisa Educacional. São Paulo: Cortez, 1989.<br />
FROMM, Erich. Da Desobediência: e outros ensaios. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de<br />
Janeiro: Zahar Editores, 1984.<br />
GALEANO, Eduar<strong>do</strong>. Dias e Noites de Amor e de Guerra. Tradução de Eric<br />
Neopomuceno. Porto Alegre: L&PM POCKET, 2001.<br />
GENTILLI, Raquel de Matos Lopes. A prática como defini<strong>do</strong>ra da identidade<br />
profissional <strong>do</strong> Serviço Social. In: Política Social e Direitos. Revista Serviço Social e<br />
Sociedade N. º 53. São Paulo: Cortez, março de 1997.<br />
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.<br />
Tradução de Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4 ed. Rio de Janeiro: Zahar<br />
Editores, 1982.<br />
GOLDMANN, Lucien. Dialética e Cultura. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.<br />
__________________. Epistemologia e Filosofia Política. Lisboa: Editora Presença,<br />
1984.<br />
_________________. Ciências Humanas e Filosofia. 10 ed. São Paulo: Difel, 1986.<br />
GONÇALVES, Luiz Oliveira et al. O Jogo da Diferenças: o multiculturalismo e seus<br />
contextos. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.
222<br />
GUARESCHI, Pedrinho A. A Categoria “Excluí<strong>do</strong>s”. In: Psicologia, Ciência e Profissão.<br />
Ano 12 n.º 2 .<br />
GIL, Antonio Carlos. Méto<strong>do</strong>s e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas:<br />
1995. POA: Edipucrs, 1994.<br />
HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: Identidade e Diferença: a perspectiva<br />
<strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s culturais. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.<br />
HANS, Georg Flikinger. O sujeito desapareci<strong>do</strong> na teoria marxiana. I. sobre Marx.<br />
Texto.<br />
___________________. Trabalho e Emancipação: observações a partir da teoria<br />
marxiana.<br />
Porto Alegre: Veritas, v. 37, n.º 148, 1992.<br />
___________________. A lógica Imanente <strong>do</strong> Liberalismo Moderno. Texto.<br />
___________________. Teses em Torno da Experiência <strong>do</strong> Estranho. Texto.<br />
IAMAMOTO, Marilda V. et al. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de<br />
uma interpretação histórico-meto<strong>do</strong>lógica. São Paulo: Editoras Celats, 1982.<br />
IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação<br />
profissional. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000.<br />
________________. Meto<strong>do</strong>logias e Técnicas <strong>do</strong> Serviço Social. Caderno Técnico 23.<br />
Brasília: Sesi - DN, 1996.<br />
IAMAMOTO, Oswal<strong>do</strong>. H. É o Cotidiano uma Questão para o Marxismo? In: Revista
223<br />
de Serviço Social e Sociedade nº 54 – julho 1997.<br />
JANUZZI, Gilberta S. de Martino e Nicoláo – “Porta<strong>do</strong>res de Necessidades Especiais”<br />
no Brasil: reflexões a partir <strong>do</strong> censo demográfico 1991, Revista Integração, 7 ( 18),<br />
1997.<br />
JOFFE, Hélène. Degradação, desejo e o "outro". In: Representan<strong>do</strong> a Alteridade.<br />
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1998.<br />
JOVCHELOVITCH, Sandra. Re (des) cobrin<strong>do</strong> o outro: para um entendimento da<br />
alteridade na teoria das representações sociais. In: Representan<strong>do</strong> a Alteridade.<br />
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1998.<br />
KARSH, Úrsula. O Serviço Social na Era <strong>do</strong>s Serviços. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1989.<br />
KOSIK, Karel. Dialética <strong>do</strong> Concreto. 3.ed. tradução de Célia Neves e Alderico Toríbio.<br />
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.<br />
LIPPO, Humberto Pinheiro. Os Direitos Humanos e as ‘Pessoas Porta<strong>do</strong>ras de<br />
Deficiência’ In: Relatório Azul, Assembléia Legislativa, Porto Alegre:1997.<br />
______________________. As Políticas Públicas e as Pessoas Porta<strong>do</strong>ras de<br />
Deficiência. In: Formação e Desenvolvimento de Pessoal em Lazer e Esporte. São<br />
Paulo: Papirus, 2003.<br />
LOWY, Michael. Méto<strong>do</strong> Dialético e Teoria Política. 2.ed. Tradução de Reginal<strong>do</strong> Di<br />
Piero. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.<br />
MARTINELLI, Maria Lúcia (org.) O Uso de Abordagens Qualitativas na pesquisa em<br />
Serviço Social. Cadernos <strong>do</strong> Núcleo de Estu<strong>do</strong>s e Pesquisa sobre Identidade. PUCSP:<br />
NEPI, maio 1994.
224<br />
MARTINELLI, Maria Lúcia (org.) O Uno e o Múltiplo nas Relações entre as Áreas <strong>do</strong><br />
Saber. São Paulo: Cortez Editora, 1995.<br />
MARTINELLI, Maria Lúcia. Uma Abordagem Sócio Educacional. In: O uno e o<br />
Múltiplo nas Relações entre as Áreas <strong>do</strong> Saber. São Paulo: Cortez Editora, 1995.<br />
MARTINELLI, Maria Lúcia. O Serviço Social na Transição para o Terceiro Milênio:<br />
desafios e perspectivas. In: Revista Serviço Social e Sociedade. Temas<br />
Contemporâneos. N. º 57. São Paulo: Cortez, Julho de1998.<br />
MARX, Karl. Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844. In: Fromm,<br />
Erich. A Concepção Marxista <strong>do</strong> Homem. 8 ed. Zahar Editores, Rio de Janeiro: 1983.<br />
___________. A Ideologia Alemã. Tradução de José Carlos Bruni e Marco Aurélio<br />
Nogueira. 9.ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1993.<br />
___________. Crítica da Filosofia <strong>do</strong> Direito de Hegel. 2.ed. Lisboa: Editorial Presença,<br />
1983.<br />
___________. Miséria da Filosofia. Tradução de Luís M. Santos. São Paulo: Edições<br />
Mandacaru Ltda., 1990.<br />
________. Sobre Literatura e Arte. Tradução de Olinto Beckerman. São Paulo: Global<br />
Editora, 1979.<br />
MAZZOTTA, Marcos J.S. Educação Especial no Brasil: história e políticas públicas. São<br />
Paulo: Cortez, 1996.<br />
MEDINA, Antônia da Silva. Supervisão Escolar: da ação exercida a ação repensada –<br />
uma experiência na rede municipal de ensino. Tese de <strong>do</strong>utora<strong>do</strong>. Porto Alegre:
225<br />
FACED/PUCRS, 1993.<br />
MELLO, Thiago de. Faz Escuridão Mas Eu Canto. 17º edição revista, Rio de Janeiro:<br />
Bertrand, Brasil, 1999.<br />
MINAYO, Maria Cecília de S. O Desafio <strong>do</strong> Conhecimento: Pesquisa<br />
Qualitativa em Saúde. 3 ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 1998.<br />
MORANT, Nicola & ROSE, Diana. Loucura, multiplicidade e alteridade In:<br />
Representan<strong>do</strong> a Alteridade. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,1998.<br />
MORENTE, Manuel Garcia. Fundamentos de Filosofia: lições preliminares. Tradução<br />
de Guilhermo de la Cruz Corona<strong>do</strong>. 8.ed. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1980.<br />
NETTO, José Paulo. Transformações Societárias e Serviço Social: notas para uma<br />
análise prospectiva da profissão no Brasil. In: Revista Serviço Social e Sociedade. O<br />
Serviço Social no Século XXI. N.º 50, São Paulo: Cortez, 1996.<br />
___________. O Méto<strong>do</strong> em Marx. Transcrição de aulas para o <strong>do</strong>utora<strong>do</strong> - disciplina: o<br />
méto<strong>do</strong> em Marx. São Paulo: PUCSP, 1994.<br />
NOVO DICIONÁRIO <strong>DA</strong> LINGUA PORTUGUESA. 2.ed. Da Academia Brasileira de<br />
Letras e da Academia Brasileira de Filologia. Editora Novas Fronteiras. Rio de<br />
Janeiro: 1986.<br />
OMOTE, Sadão. Deficiência e não-deficiência: recortes <strong>do</strong> mesmo teci<strong>do</strong>. Revista<br />
Brasileira de Educação Especial, Piracicaba, v.1,n.2,1994.<br />
PAULA, João Antônio. A Produção <strong>do</strong> Conhecimento em Marx. In: Cadernos Abess Nº<br />
5 A produção <strong>do</strong> conhecimento e o Serviço Social. São Paulo, 1995.
226<br />
PAUGAM, Serge. O Enfraquecimento e a Ruptura <strong>do</strong>s Vínculos Sociais-uma<br />
dimensão essencial <strong>do</strong> processo de desqualificação social. In: As Artimanhas da<br />
Exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. 2 ed. Petrópolis: Editoras<br />
Vozes, 2001.<br />
SACKS, Oliver. Um Antropólogo em Marte: sete histórias para<strong>do</strong>xais. Tradução<br />
Bernar<strong>do</strong> Carvalho. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.<br />
SALAZAR, Maria Cristina (apresentação). La Investigacion-acción participativa:<br />
inicios y desarrollos. Buenos Aires: Editoral Hvmanitas, 1991.<br />
SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construin<strong>do</strong> uma sociedade para to<strong>do</strong>s. Rio de<br />
Janeiro: WVA, 1997.<br />
SATOW, Suely H. Dumbo: estigma e marginalização. Revista de Psicologia Social,<br />
EDUC n.º 7, 1985.<br />
SAWAIA, Bader (org.) As Artimanhas da Exclusão: análise psicossocial e ética da<br />
desigualdade social. 2 ed. Petrópolis: Editoras Vozes, 2001.<br />
_______________. Identidade - Uma Ideologia Separatista? In: As Artimanhas da<br />
Exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. 2 ed. Petrópolis:<br />
Editoras Vozes, 2001.<br />
SAWAIA, Bader Burithan. A Falsa Cisão Retalha<strong>do</strong>ra <strong>do</strong> Homem. In: O<br />
Uno e o Múltiplo nas Relações entre as Áreas <strong>do</strong> Saber. São Paulo: Cortez, 1995.<br />
SERRANO, Maria Glória Perez. Investigacion-accion:aplicaciones al campo social y<br />
educativo. Madrid: Dykinson, 1990.<br />
SKLIAR, Carlos (Org.). Educação e Exclusão: abordagens sócio-antropológicas em
227<br />
educação especial. 2.ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 1999<br />
SOUZA, Maria Luiza. Desenvolvimento de Comunidade e Participação.<br />
4.ed. São Paulo: Cortez , 1993.<br />
STAINBACK, Susan e STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educa<strong>do</strong>res.<br />
Tradução de Magda França Lopes. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.<br />
THOMPSON, John B. Ideologia e Cultura Moderna: teoria social crítica na era da<br />
comunicação de massa. Rio de Janeiro, Vozes, 1995.<br />
TOMASINI, Maria Elisabete Archer. Expatriação Social e a Segregação Institucional<br />
da Diferença: reflexões. In: Um olhar sobre a Diferença. São Paulo: Papirus, 1998.<br />
TOMAZ, Tadeu da Silva (org.). Identidade e Diferença: a perspectiva <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s<br />
culturais. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.<br />
______________________. A produção Social da Identidade e da Diferença. In:<br />
Identidade e Diferença: a perspectiva <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s culturais. Petrópolis, Rio de<br />
Janeiro: Vozes, 2000.<br />
TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: A<br />
Pesquisa Qualitativa em Educação. São Paulo: Atlas, 1987.<br />
VÁZQUEZ, A. Sáncchez. Filosofia da Praxis. Tradução de Luiz F. Car<strong>do</strong>so. 4 ed. Rio de<br />
Janeiro: Paz e Terra, 1977.<br />
VELHO, Gilberto (org.). Desvio e Divergência: uma crítica da patologia social. 5. ed. Rio<br />
de Janeiro: Zahar Ed., 1985.<br />
VIEIRA, Nara Joyce Wellausen. "Gênio da lâmpada quebrada!” um estu<strong>do</strong> psicanalítico
228<br />
da relação professora - aluno porta<strong>do</strong>r de altas habilidades. Dissertação de Mestra<strong>do</strong>.<br />
Porto Alegre: UFRGS/FACED, 1999.<br />
WANDERLEY, Luiz Eduar<strong>do</strong> W. Enigmas <strong>do</strong> Social. In: Desigualdade e a Questão<br />
Social. 2.ed. São Paulo: EDUC, 2000.<br />
WANDERLEY, Mariangela Belfiore et al (org.). Desigualdade e a Questão Social. 2.ed.<br />
São Paulo: EDUC, 2000.<br />
WERNEK, Cláudia. Ninguém mais vai ser Bonzinho na Sociedade Inclusiva. Rio de<br />
Janeiro: WVA, 1997.<br />
WOODWARD, Kathryn. Identidade e Diferença: uma introdução teórica e conceitual. In<br />
Identidade e Diferença: a perspectiva <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s culturais. Petrópolis, Rio de<br />
Janeiro: Vozes, 2000.<br />
WRIGLEY, Owen. The Politcs of Deafness. Gallauder University Press, 1996.<br />
REVISTAS<br />
Teorias & Fazeres: caminhos da educação popular. Vol.v. Gravataí: Secretaria<br />
Municipal de Educação e Cultura, 1999.<br />
A Integração <strong>do</strong> Aluno com Deficiência na Rede de Ensino: com os pés no cotidiano.<br />
Vol. 3. Brasília: MEC.<br />
Serviço Social e Sociedade. Revista Quadrimestral de Serviço Social:<br />
______________________ N. º 50. São Paulo: Cortez, abril, 1996.
229<br />
______________________ N. º 54. São Paulo: Cortez, julho, 1997.<br />
______________________ N. º 57. São Paulo: Cortez, Julho, 1998.<br />
______________________N. º 64. São Paulo: Cortez, novembro, 2000<br />
FILMES<br />
BRILHANTE (<strong>do</strong> original Shine). Produção Momentun Films, Jane Scott,<br />
Australian, 1996.<br />
FADERS: Altas Habilidades - buscan<strong>do</strong> novas concepções. Produção FADERS.<br />
<strong>Governo</strong> <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul, 1999.<br />
CICLO DE PALESTRAS: Falan<strong>do</strong> Sobre Alfabetização à Síndrome de Down.<br />
Produção ASFADES, 1999.<br />
CICLO DE PALESTRAS: A Estimulação Precoce em Crianças com Transtornos e<br />
Sua Inclusão no Ensino Regular. Produção ASFADES, 2000.<br />
SEMAPI: Vida em Movimento. Produção SEMAPI, 1999.<br />
CICLO DE PALESTRAS: Sobre Segregação e (Des) segregação, com Ricar<strong>do</strong><br />
Ceccim. Produção ASFADES, 2000.<br />
DOCUMENTOS
230<br />
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA SUPERDOTADOS. Altas<br />
habilidades/super<strong>do</strong>tação e talentos: manual de orientação para pais e professores.<br />
Porto Alegre: ABSD/RS, 2000.<br />
BRASIL. Atenção à Pessoa Porta<strong>do</strong>ra de Deficiência no Sistema Único de Saúde.<br />
Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde -<br />
Coordenação de Atenção a Grupos Especiais. Brasília: 1995.<br />
BRASIL, COLETÂNEA DE LEIS (revista e ampliada) Lei de regulamentação da<br />
profissão, Código de ética, LOAS, ECA, SUS, PNI, LDB, PPD. CRESS-10ª região:<br />
POA; 2000.<br />
CADERNO DE RESOLUÇÕES. I Seminário Anual da Política Pública Estadual para<br />
PPDs e PPAHs. RS: <strong>Governo</strong> <strong>do</strong> Rio Grande <strong>do</strong> Sul, 2001.<br />
CARTA PARA O TERCEIRO MILÊNIO. Tradução Romeu Kazumi Sassaki.<br />
Rehabilitation International. Londres: Secretaria Geral, 1999.<br />
CORDE (Coordena<strong>do</strong>ria Nacional para Integração da Pessoa Porta<strong>do</strong>ra de Deficiência)<br />
Declaração de Salamanca e linha de ação. Brasília: 1994.<br />
DECLARAÇÃO INTERNACIONAL DE MONTREAL SOBRE INCLUSÃO.<br />
Tradução Romeu Kazumi Sassaki. Congresso Internacional 'Sociedade<br />
Inclusiva'. Montreal: 2001.<br />
DECRETO N. º 39.678 DE 23 DE AGOSTO DE 1999. Política Pública Estadual para<br />
Pessoas Porta<strong>do</strong>ras de deficiência e de Altas Habilidades.<br />
DESCOBRINDO O CI<strong>DA</strong>DÃO COM POTENCIAIS DE TALENTO. Linhas Básicas<br />
Para Uma Proposta de Política Pública Estadual para as Altas Habilidades.
231<br />
POA: NAPPAH/FADERS, 2000.<br />
DEZ PROPOSTAS PARA UMA NOVA ABOR<strong>DA</strong>GEM. Pessoa Porta<strong>do</strong>ra de<br />
Deficiência. POA: FADERS, 2001.<br />
DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO<br />
BÁSICA. Parecer N. º: 17/2001. UF: Conselho Nacional de Educação, 2001.<br />
FADERS. Educação Direito de To<strong>do</strong>s. POA: 1991<br />
FADERS. Relatório Geral. POA: 1995 a 1998.<br />
FADERS. Política Pública para PPD e PPAH no <strong>Governo</strong> Democrático e Popular.<br />
POA: 1999.<br />
FADERS. Proposta para uma nova FADERS. POA: 1999.<br />
FENEIS. Federação Nacional de Educação e Integração <strong>do</strong>s Sur<strong>do</strong>s. Projeto para<br />
Educação <strong>do</strong>s Sur<strong>do</strong>s. POA: Escritório Regional, 2000.<br />
FREC. Federação Riograndense de Entidades de e para Cegos. Proposta para a Definição<br />
de uma Nova Política Pública Estadual Global. POA: Entidades de Cegos <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong><br />
<strong>do</strong> RS, 2000.<br />
FÓRUM PERMANENTE <strong>DA</strong> POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS<br />
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DE ALTAS HABILI<strong>DA</strong>DES. Regimento<br />
Interno. POA: <strong>Governo</strong> <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> RS, 1999.<br />
LEGISLAÇÃO REFERENTE Á PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.<br />
Compêndio de leis organiza<strong>do</strong> por Maria Cristina Schneider da Silva. POA:<br />
FADERS, 2002.
232<br />
LEI NOVA <strong>DA</strong> FADERS. LEI 11.666, DE 06 DE SETEMBRO DE 2001.<br />
ORGANIZAÇÃO <strong>DA</strong>S NAÇÕES UNI<strong>DA</strong>S - ONU. Documentos internacionais.<br />
Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência. Tradução de<br />
Thereza Christina F. Stummer. Edita<strong>do</strong> por CEDIPOD-Documento disponível na<br />
Internet no site http://www.mbonline.com.br/cedipod/W6pam.htm, 1992.<br />
PARECER N. º 658/77. Conselho Estadual de Educação. RS: 1977.<br />
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Secretaria de<br />
Educação Especial / MEC: Brasília, 1994.<br />
POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL PARA PPD E PPAH. Nova política Pública para<br />
PPD E PPAH. POA: FADERS, 2001.<br />
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Educação Especial um Direito<br />
Assegura<strong>do</strong>. Brasília: a Secretaria, 1994.<br />
RELATÓRIO AZUL. Porta<strong>do</strong>res de deficiência. Assembléia Legislativa, POA: 1997.
ANEXOS<br />
233
234<br />
ANEXO 1<br />
DEZ PROPOSTAS PARA UMA NOVA ABOR<strong>DA</strong>GEM
235<br />
ANEXO 2<br />
PARECER 658/77 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
236<br />
ANEXO 3<br />
DOCUMENTO DE SALAMANCA
237<br />
ANEXO 4<br />
LEGISLAÇÃO REFERENTE À PESSOA PORTADORA<br />
DEFICIÊNCIA/ COMPÊNDIO ORG. PELA FADERS
238<br />
ANEXO 5<br />
DOCUMENTO <strong>DA</strong> FADERS SOBRE O SIGNIFICADO DO FÓRUM<br />
PERMANENTE <strong>DA</strong> POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPHA E AS<br />
AÇÕES DESENVOLVI<strong>DA</strong>S
239<br />
ANEXO 6<br />
DOCUMENTO <strong>DA</strong> FENEIS
240<br />
ANEXO 7<br />
NOVA LEI <strong>DA</strong> FADERS
241<br />
ANEXO 8<br />
INSTRUMENTO DE PESQUISA I
242<br />
ANEXO 9<br />
INSTRUMENTO DE PESQUISA II
243<br />
ANEXO 10<br />
INSTRUMENTO DE PESQUISA III
244